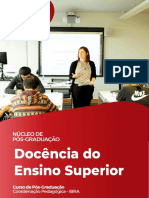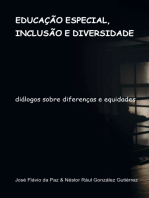Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila de Didatica Do Ensino Superior PDF
Apostila de Didatica Do Ensino Superior PDF
Enviado por
karloTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila de Didatica Do Ensino Superior PDF
Apostila de Didatica Do Ensino Superior PDF
Enviado por
karloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
F FA AC CU UL LD DA AD DE ES S I IN NT TE EG GR RA AD DA AS S D DE E J JA AC CA AR RE EP PA AG GU U
DIRETORIA ACADMICA
NCLEO DE EDUCAO A DISTNCIA - NEAD
DIDTICA DO
ENSINO
SUPERIOR
2
MDULO I
Unidade I Apresentao da Disciplina
O curso de Ps-Graduao em Docncia do Ensino Superior que voc est
participando uma iniciativa das Faculdades Integradas de Jacarepagu - FIJ.
O oferecimento do curso Docncia do Ensino Superior tem como macro objetivo
oferecer aos profissionais de diversas reas mais uma oportunidade de reflexo sobre o fazer
pedaggico do professor de 3 Grau, na perspectiva de novas metodologias que dem conta de
um novo caminhar, de uma nova viso necessria ao educador do sculo XXI.
Nesse curso, voc, ter a oportunidade de fazer uma anlise crtico-interpretativa
do contexto e desafios colocados para a educao da ps-modernidade ou contemporaneidade
como preferem alguns pensadores da atualidade, em especial, no saber fazer e como fazer o ato
pedaggico em tempo de avano cientfico-tecnolgicos que ocorrem nos dias de hoje.
Como se sabe, a sociedade deste milnio vem sendo marcada por significativas
transformaes no mundo do trabalho, da produo e das relaes sociais, apontando carncias
de um novo perfil de educadores capazes de instrumentalizar os cidados das diversas reas do
conhecimento humano para uma nova convivncia participativa e crtica nesta nova sociedade.
Paralelamente, vivencia-se tambm o desafio de se acatar novos projetos para a
educao brasileira que d conta dessa formao continuada dos profissionais como declara o
texto legal, a NLDBEN, Lei Darcy Ribeiro (lei n 9.394-96) , de formar novos profissionais,
trabalhadores e cidados, que devem estar atrelados e cientes do mundo cientfico e tecnolgico
de que fazem parte, visando a construo de uma sociedade mais igualitria e justa para todos.
Este o desafio posto a todos ns educadores enquanto formadores de novos
profissionais. contribuir para a construo de um novo projeto educativo, uma nova formulao
pedaggica altura das exigncias e carncias do mundo contemporneo. papel, de todos
aqueles, de fato, comprometidos com a melhoria e redesenhamento da nova ordem mundial, no
contexto scio-poltico-histrico-cultural e educacional do nosso Pas.
A pergunta que no se quer calar, ento, que tipo de educao, que tipo de
didtica se requerem e possam contribuir para a formao de cidados trabalhadores, com o
espelhamento que esta sociedade atual est a nos exigir? Que currculo deve garantir o
desvelamento do ato educativo, como ato poltico, como nos diz Paulo Freire, isto , transformador
dos sujeitos inseridos no processo em rede de conhecimentos e saberes que possa assegurar
efetivo entendimento histrico da poca em que vivemos, do mundo contemporneo e dos
fundamentos tericos da Educao hoje. Em outras palavras, que contedos privilegiar para que
os sujeitos democrticos possam se apropriar/instrumentalizar desses novos conhecimentos
cientfico- tecnolgicos em rede e como esses saberes, enquanto fios condutores dos
conhecimentos, se tecem? Que metodologias, mtodos e recursos esto a nossa disposio para a
preparao de profissionais, capazes de responderem aos novos paradigmas e perfil profissional,
que os levem a serem capazes de tomar decises, de administrar conflitos oriundo dos cotidianos
do mundo do trabalho, resolver e solucionar problemas, de serem gestores de situaes novas,
comunicarem-se com eficincia diante das mdias existentes e atuarem com participao e
autonomia da ao pedaggica?
Tendo como corpus referenciais tericos e prticos que sero trabalhados nos
diversos mdulos do Curso, voc, junto s orientaes semi-presenciais de seu tutor-orientador,
poder responder a essas e outras indagaes provocativas, e, com isso, ir delineando uma nova
formatao do projeto poltico-pedaggico que se clama para a formao docente no ensino
superior do qual faro parte. Ainda, a partir da ao-reflexo-ao, poder tambm, repensar sua
futura prtica pedaggica cotidiana no encaminhamento de novas alternativas didticas da ao
docente, no af de se descortinar metodologias realmente crticas e transformadoras da relao
Homem-Mundo oxigenadas por dilogos atuais e produtivos.
3
Desta forma quer se frisar, que o ponto de partida e de chegada do Curso de
Docncia do Ensino Superior, no ensinar ou traar regras rgidas e tecnocrticas do simples ato
de ensinar ou transmitir to somente os contedos programticos oferecidos pelos diversos
currculos oficiais para as diversas reas de conhecimento, mas apresentar elementos didtico-
educativos que possam auxilia-los no (re)pensar de sua ao docente futura e,
conseqentemente, no projeto pedaggico da construo de uma nova escola, no mbito do
ensino superior.
O Curso foi organizado para voc buscar e aprofundar entendimento dos
elementos bsicos de uma didtica crtica, que parta do dilogo dos diversos componentes do ato
pedaggico como processo de ensino (Pressupostos e caractersticas da Didtica; o Contexto no
qual ocorre ao ato pedaggico; ensinar e aprender como processo complementares na produo
e construo em redes de conhecimento; A comunicao docente e suas implicaes na prtica do
professor; o entendimento do projeto educativo e pesquisa.), sem perder o referencial com o
tempo-espao em que vivemos e atuamos.
Entendemos pois, que a Educao um processo em eterna discusso, logo no a
concebemos que seja um produto pronto e acabado enquanto ponto de chegada. Ao contrrio,
defendemos que por se tratar de um Curso de Educao a Distncia (EAD), toda a organizao,
estrutura, funcionamento e desenvolvimento desse tipo de modalidade de ensino, devero por isto
mesmo, ser alvo de avaliao contnua por todos os professores e cursistas envolvidos, para que
se possa corrigir rotas, administrar pontos possveis de estrangulamento e aperfeioamento. Seu
produto final, ser sim, a significativa contribuio de todos os envolvidos para desvelar posturas
pedaggicas ultrapassadas e apontar para novas reflexes, debates e proposies para projetos
educativos que a escola do sculo XXI requer.
MDULO II:
PRESSUPOSTOS E CARACTERSTICAS DA DIDTICA
Unidade I - Didtica: Algumas Reflexes
Como e o que levar em conta ensinar/aprender no Sculo XXI, ou qual a Didtica
ideal que d conta para este desafio? Essa com certeza uma questo complexa a ser
respondida de imediato, pois seu objeto difcil de ser delimitado, alm do que a sua conceituao
polissmica. Lemos, por exemplo, nas literaturas especializadas termos como didtica geral,
didtica aplicada, didtica terica, didtica tradicional, didtica crtica etc., sem falar em didticas
outras todas com objetos especficos, como didtica da Educao Fsica, da Histria , do
Portugus, de Ingls e muitas outras reas do conhecimento humano.
A didtica est inserida na pedagogia e tem a escola em todos os seus movimentos
como locus para ao pedaggica. A pedagogia, enquanto cincia da educao, necessita de
outras cincias como a psicologia, a sociologia, a biologia, a filosofia, a histria, entre outras, para
complet-la; da o seu status polissmico, ou seja, a crise da disciplina didtica.
Como pode se entender, ento, a amplitude conceitual do termo Didtica?
O texto que segue foi elaborado Baline prof da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e que oportunamente apresenta uma anlise interessante e introdutria ao entendimento
do que Didtica, apresenta uma argumentao no sentido acima exposto e que pode esclarecer
voc repensar sua futura prtica docente:
Didtica
"De modo geral, a palavra Didtica se associa arrumao, ordem, logicidade,
clareza, simplificao e costuma, portanto tambm conotar rigor, bitolamento, limitao,
quadratura. Se ela adquiriu significados negativos, supe-se que a origem deles esteja no prxis,
ou seja, o exerccio regular da Didtica, em todos os nveis de ensino, seria responsvel pelo seu
4
desprestgio ou m fama. Realmente, muitos manuais de Didtica esto cheios de itens e subitens,
regras e conselhos: o professor deve, o professor no deve e ficam, portanto, muito prximos dos
receiturios ou listagens de permisses e proibies, tentando inutilmente disfarar o seu vazio
atrs de excessivo formalismo.
Corroborando todas estas restritivas, fez-se popular o seguinte conceito de Didtica
- disciplina com a qual ou sem a qual tudo fica tal e qual.
De fato, convm perguntar como aprenderam os nossos antepassados, entregues a
professores leigos, cuja preocupao maior era a competncia conteudstica, a manuteno do
respeito ctedra e a sua pessoa, que do alto do seu tablado despejava sobre os alunos seu saber
irrefutvel. Por outro lado, com tanta didtica hoje em voga, enriquecida pela psicologia, pela
anlise de sistemas e por toda a tecnologia do ensino, como explicar que o ensino continue
piorando sempre, como a querer comprovar a inutilidade desses recursos ?
Alis estaro eles sendo utilizados ? E se realmente esto, haver em seu emprego
uma dose mnima de conscincia, de adequao, de esprito de busca e pesquisa ? Ou tudo
acontece na simples cpia ou transplante de modelos inadequados realidade brasileira e, por
isso, devidamente rejeitados ?
Como saber tambm se o caos do ensino seria bem maior , sem as tentativas de
reformulao, sem o esforo das Faculdades de Educao com licenciaturas, sem os cursos de
reciclagem, sem as ps-graduaes em Educao ?
O momento pedaggico dos piores, reflete os problemas da sociedade doente,
inflacionada, violenta, desigual. No adianta, pois, esperar milagres da Didtica. Conviria, ao
contrrio, tomar conscincia dos seus limites e possibilidades e impedir que ela fosse mais um
elemento de manipulao do homem, de violao dos seus direitos, de repetio do passado.
Enfrentar o amanh com as armas de ontem garantir, previamente, a derrota. Desistir de lutar,
sob o pretexto de falta de equipamento, covardia. No h verbas, no h material, mas o
recurso humano, o mais vlido, existe, e a est a exigir um azeitamento interior, capaz de acion-
lo.
De um professor de Didtica espera-se que seja pelo menos um didata, no na
acepo vulgar da palavra, mas no sentido de reconhecer que suas atitudes valem bem mais que
suas tcnicas, que, trocando com seus alunos o que ele , abrir caminhos mais amplos do que se
apenas trocar com eles o que sabe, tentando mold-los a si, ao seu fazer didtico. Do professor de
Didtica natural que o aluno cobre um pouco mais do que de qualquer outro professor: em
primeiro lugar, ele exige respeito ao que ele (aluno) ; em segundo lugar, que ele vivencie e
comprove numa lio de autenticidade o que ele (professor) considera correto, mas que tenha
tambm abertura para valorizar outras opes...
Uma Didtica de vida estaria frente de qualquer Didtica legista ou receitante; a
vivncia didtica seria prefervel permanncia no exerccio didtico isolado ou atomizado. Ser o
professor conseguir integrar, harmoniosamente e com amor, as habilidades antes treinadas em
separado. Se em cada habilidade ele se coloca, sua humanidade ultrapassar a tcnica,
conferindo-lhe espaos inusitados.
A Didtica deve ampliar seu objeto de estudo, ampliando-a, libertando-a de padres
rgidos e estagnantes, abrindo-lhe perspectiva que possam redimension-la e torn-la um
instrumento til ao ensino. Uma Didtica Crtica e Criativa tentaria responder aos constantes
ataques de que a Didtica no leva a nada e at colabora para o emperramento do sistema
escolar.
No se trata de negar as bases tcnico-cientficas em que se assenta a Didtica,
mas de, em as mantendo, acrescentar-lhes uma possibilidade a mais - a da ousadia, a do
incomum, a do ilgico, a nfase a tudo o que foge aos padres cotidianos e rotineiros. Parte-se do
pressuposto de que se a Didtica se alicera na psicologia da aprendizagem e se alimenta da
5
tecnologia do ensino, nada impede o seu enriquecimento ou extrapolao na dinmica da
criatividade e no processo crtico da realidade.
Por certo, praticando a criatividade e incrementando o senso crtico, professores e
alunos no se tornaro melhores, mas possvel que se preparem um pouco mais para o futuro,
que transfiram mais facilmente as aprendizagens de hoje para o contexto de amanh e que
possam tornar-se menos temerosos e mais felizes na superao de situaes diversas e adversas.
A Didtica deve alertar a todos os professores do Brasil, pas de jovens no sentido
de que despertem para o fato de que o ensino est perdendo terreno, antes mesmo de adquiri-lo,
pela cansativa repetio das mesmas mesmices, antes teis, hoje irrisrias, na vida acelerada e
imprevisvel de sculos, que passaram a durar de cinco a dez anos no mximo.
Opta-se pela crena de que a boa Didtica a que incentiva a produo e no a
reproduo, a divergncia muito mais que a convergncia, a crtica em lugar da tranqila
aceitao, a dvida em detrimento das certezas preestabelecidas, o erro provisrio em lugar do
acerto fcil. Prope-se tambm que a essa Didtica se chame DIDTICA CRTICA: alm da fuso
de princpios cientficos e recursos tcnicos com a valorizao da funo criativa e busca do
desvelamento da conscincia crtica do professor-aluno, ela "amplia" seu campo de atuao por
aplicar-se a todos os nveis de ensino e por estar aberta a todas as contribuies plausveis que
vieram subsidi-la. (Baline Bello Lima)
Para aprofundarmos a temtica proposta para este mdulo, traamos a seguir a
linha espao-tempo histrico da Didtica no panorama brasileiro para entendermos sua real
evoluo conceitual.
Unidade II - Breve panorama histrico da educao brasileira
Histrico e evoluo da Didtica: 1549 aos nossos dias
A retrospectiva histrica da Didtica abrange duas partes: na primeira abordado o
papel da disciplina antes de sua incluso nos cursos de formao de professores a nvel superior,
compreendendo o perodo que vai de 1549 at 1930; a segunda parte procura reconstituir a
trajetria da Didtica a partir da dcada de 30 at os dias atuais.
So destacados os aspectos scio-econmicos, polticos e educacionais que servem
de pano de fundo para identificar as propostas pedaggicas presentes na educao, bem como os
enfoques do papel da Didtica.
Primrdios da Didtica: O perodo de 1549/1930
Scrates quando perguntava aos discpulos: "pode-se ensinar a virtude?" ou na
lectio e na disputatio medievais j havia uma idia de Didtica implcita. Mas o traado de uma
linha imaginria em torno de eventos - que caracterizam o ensino fato do incio dos tempos
modernos, e revela uma tentativa -, de distinguir um campo de estudos autnomo.
Sculo XVII: surgimento da Didtica.
A inaugurao de um campo de estudos com esse nome tem uma caracterstica que
vai ser reencontrada na vida histrica da Didtica: surge de uma crise e constitui um marco
revolucionrio e doutrinrio no campo da Educao. Da nova disciplina espera-se reformas da
Humanidade, j que deveria orientar educadores e destes, por sua vez, dependeria a formao
das novas geraes. Justifica-se, assim, as muitas esperanas nela depositadas, acompanhadas,
infelizmente, de outras tantas frustraes.
Constata-se que a delimitao da Didtica constituiu a primeira tentativa que se
conhece de agrupar os conhecimentos pedaggicos, atribuindo-Ihes uma situao superior da
mera prtica costumeira, do uso ou no do mito. A Didtica surge graas ao de dois
6
educadores, RATIOUIO (1571-1635) e COMENIO ((1582-1670), ambos provenientes da Europa
Central, que atuaram em pases nos quais se havia instalado a Reforma Protestante.
COMNIO escreveu, entre outras obras, a Didtica Magna (1633) , instituindo a
nova disciplina como "arte de ensinar tudo a todos". Dessa ambio participa tambm RATQUIO,
e ambos, pautados por ideais tico-religiosos, acreditam ter encontrado um mtodo para cumprir
aqueles desgnios de modo rpido e agradvel. Na verdade a instruo popular crucial para a
reforma religiosa, e a busca de procedimentos que propiciassem rendimento ao ensino torna-se
importante. Obedecem utopia da poca: a idia baconiana da ateno natureza -esta o
modelo que os didatas supem imitar quando aconselham seguir sempre do fcil ao difcil, ir das
coisas s idias e do particular ao geral, tudo sem pressa. Numa poca em que o latim dominava,
propunham iniciar o ensino pela lngua materna e por meio de livros ilustrados, como exemplificou
COMNIO. Tem-se notcias de experincias educacionais realizadas conforme os princpios
expostos, embora nem todas tivessem tido sucesso. No existem fronteiras, na obra do sculo
XVII, entre Educao e Ensino, pois o objeto da Didtica abrange o ensino de conhecimentos,
atitudes e sentimentos.
Essa etapa da gnese da Didtica a faz servir, com ardor, causa da Reforma
Protestante, e esse fato marca seu carter revolucionrio, de luta contra o tipo de ensino da Igreja
Catlica Medieval. Doutrinariamente, seu vnculo com o preparo para a vida eterna e, em nome
dela, com a natureza como "nosso estado primitivo e fundamental ao qual devemos regressar
como princpio"
Observa-se, entretanto, que, na Europa Ocidental Catlica, outros pensadores
tambm j haviam discutido, como humanistas, a reforma de procedimentos educacionais,
Os jesutas foram os principais educadores de quase todo o perodo colonial,
atuando, aqui no Brasil, de 1549 a 1759.
No contexto de uma sociedade de economia agrrio-exportadora-dependente,
explorada pela Metrpole, a educao no era considerada um valor social importante. A tarefa
educativa estava voltada para a catequese e instruo dos indgenas, mas, para a elite colonial,
outro tipo de educao era oferecido:
O plano de instruo era consubstanciado no Ratio Studiorum, cujo ideal era a
formao do homem universal, humanista e cristo. A educao se preocupava com o ensino
humanista de cultura geral, enciclopdico e alheio realidade da vida da Colnia. Esses eram os
alicerces da Pedagogia Tradicional na vertente religiosa que, de acordo com SAVIANI (1984, p.12),
marcada por uma viso essencialista de homem, isto , o homem constitudo por uma essencial
universal e imutvel. A essncia humana considerada criao divina e, assim, o homem deve se
empenhar para atingir a perfeio, para fazer por merecer a ddiva da vida sobrenatural. (Ibid.,
p.12).
A ao pedaggica dos jesutas foi marcada pelas formas dogmticas de
pensamento, contra o pensamento crtico. Privilegiavam o exerccio da memria e o
desenvolvimento do raciocnio; dedicavam ateno ao preparo dos padres-mestres, dando nfase
formao do carter e sua formao psicolgica para conhecimento de si mesmo e do aluno.
Dessa forma, no se poderia pensar em uma prtica pedaggica e muito menos em
uma Didtica que buscasse uma perspectiva transformadora na educao.
Os pressupostos didticos diludos no Ratio enfocavam instrumentos e regras
metodolgicas compreendendo o estudo privado, em que o mestre prescrevia o mtodo de
estudo, a matria e o horrio; as aulas ministradas de forma expositiva; a repetio visando
repetir, decorar e expor em aula; o desafio, estimulando a competio; a disputa, outro recurso
metodolgico era visto como uma defesa de tese. Os exames eram orais e escritos, visando avaliar
o aproveitamento do aluno.
7
O enfoque sobre o qual o papel da Didtica, ou melhor, da Metodologia de Ensino,
como denominada no Cdigo pedaggico dos jesutas, est centrado no seu carter meramente
formal, tendo por base o intelecto; o conhecimento marcado pela viso essencialista de homem.
A Metodologia de Ensino (Didtica) entendida como um conjunto de regras e
normas prescritivas visando a orientao do ensino e do estudo. Como afirma PAIVA (1981, p. 11),
um conjunto de normas metodolgicas referentes aula, seja na ordem das questes, no ritmo
do desenvolvimento e seja, ainda, no prprio processo de ensino.
Aps os jesutas, no ocorrem no pas grandes movimentos pedaggicos, como so
poucas as mudanas sofridas pela sociedade colonial e durante o Imprio e a Repblica. A nova
organizao instituda por Pombal, pedagogicamente, representou um retrocesso. Professores
leigos comearam a ser admitidos para as aulas-rgias introduzidas pela reforma pombalina.
Por volta de 1870, poca de expanso cafeeira e da passagem de um modelo
agrrio-exportador para um urbano-comercial-exportador, o Brasil vive o seu perodo de
iluminismo. Segundo SAVIANI (1984, p. 275), tomam corpo movimentos cada vez mais
independentes da influncia religiosa.
No campo educacional, suprime-se o ensino religioso nas escolas pblicas, passando
o Estado a assumir a laicidade. aprovada a reforma de Benjamin Constant (1890) sob a
influncia do positivismo. A escola busca disseminar uma viso burguesa de mundo e sociedade, a
fim de garantir a consolidao da burguesia industrial como classe dominante.
Os indicadores de penetrao da Pedagogia Tradicional em sua vertente leiga so
os Pareceres de Rui Barbosa, de 1882 e a primeira reforma republicana, a de Benjamin Constant,
em 1890.
Esta vertente da Pedagogia Tradicional mantm a viso essencialista de homem,
no como criao divina, mas aliada noo de natureza humana, essencialmente racional. Essa
vertente inspirou a criao da escola pblica, laica, universal e gratuita. (SAVIANI, 1984, p. 274).
A essa teoria pedaggica correspondiam as seguintes caractersticas: a nfase ao
ensino humanstico de cultura geral, centrada no professor, que transmite a todos os alunos
indistintamente a verdade universal e enciclopdica; a relao pedaggica que se desenvolve de
forma hierarquizada e verticalista, onde o aluno educado para seguir atentamente a exposio
do professor; o mtodo de ensino, calcado no cinco passos, formais de Hebart (preparao,
apresentao, comparao, assimilao, generalizao e aplicao).
assim que a Didtica, no bojo da Pedagogia Tradicional leiga, est centrada no
intelecto, na essncia, atribuindo um carter dogmtico aos contedos; os mtodos so princpios
universais e lgicos; o professor se torna o centro do processo de aprendizagem, concebendo o
aluno como um ser receptivo e passivo. A disciplina a forma de garantir a ateno, o silncio e
a ordem.
A Didtica compreendida como um conjunto de regras, visando assegurar aos
futuros professores as orientaes necessrias ao trabalho docente. A atividade docente
entendida como inteiramente autnoma face poltica, dissociada das questes entre escola e
sociedade. Uma Didtica que separa teoria e prtica.
A Pedagogia tradicionalista leiga refletia-se nas disciplinas de natureza pedaggica
do currculo das Escolas Normais desde o incio de sua criao, em 1835.
A incluso da Didtica como disciplina em cursos de formao de professores para o
ento ensino secundrio, ocorreu quase um sculo depois, ou seja, em 1934.
A Didtica nos Cursos de Formao de Professores a partir de 1930
O perodo de 1930/1945: A Didtica tradicional, cumpre renov-la.
8
Na dcada de 30, a sociedade brasileira sofre profundas transformaes, motivadas
basicamente pela modificao do modelo scio-econmico. A crise mundial da economia capitalista
provoca no Brasil a crise cafeeira, instalando-se o modelo scio-econmico de substituio de
importaes.
Paralelamente, desencadeia-se o movimento de reorganizao das foras
econmicas e polticas o que resultou em um conflito: a Revoluo de 30, marco comumente
empregado para indicar o incio de uma nova fase na histria da Repblica do Brasil.
No mbito educacional, durante o governo revolucionrio de 1930, Vargas constitui
o Ministrio de Educao e Sade Pblica. Em 1932 lanado o Manifesto dos Pioneiros da Escola
Nova, preconizado a reconstruo social da escola na sociedade urbana e industrial.
Entre os anos de 1931 e 1932 efetivou-se a Reforma Francisco Campos. Organiza-
se o ensino comercial; adota-se o regime universitrio para o ensino superior, bem como organiza-
se a primeira universidade brasileira. A Faculdade de Filosofia Cincias e Letras da Universidade de
So Paulo foi o primeiro instituto de ensino superior que funcionou de acordo com o modelo
Francisco Campos. A origem da Didtica como disciplina dos cursos de formao de professores a
nvel superior est vinculada criao da referida Faculdade, em 1934, sabendo-se que a
qualificao do magistrio era colocada como ponto central para a renovao do ensino. No incio,
a parte pedaggica existente nos cursos de formao de professores era realizada no Instituto de
Educao, sendo a includa a disciplina Metodologia do Ensino Secundrio, equivalente
Didtica hoje nos cursos de licenciatura.
Por fora do art. 20 do Decreto-Lei n. 1190/39, a Didtica foi instituda como curso
e disciplina, com durao de um ano. A legislao educacional foi introduzindo alteraes para, em
1941, o curso de Didtica ser considerado um caso independente, realizado aps o trmino do
bacharelado (esquema trs + um).
Em 1937, ao se consolidar no poder com auxlio de grupos militantes e apoiado pela
classe burguesa, Vargas implanta o Estado Novo, ditatorial, que persistiu at 1945.
Os debates educacionais so paralisados e o prestgio dos educadores passa a
condicionar-se s respectivas posies polticas, como afirma PAIVA (1973, p. 125).
O perodo situado entre 1930 e 1945 marcado pelo equilbrio entre as influncias
da concepo humanista tradicional (representada pelos catlicos) e humanista moderno
(representada pelos pioneiros). Para SAVIANI (1985, p. 276) a concepo humanista moderno se
baseia em uma viso de homem centrada na existncia, na vida, na atividade. H predomnio do
aspecto psicolgico sobre o lgico. O escolanovismo prope um novo tipo de homem, defende os
princpios democrticos, isto , todos tm direito a assim se desenvolverem. No entanto, isso
feito em uma sociedade dividida em classes, onde so evidentes as diferenas entre o dominador
e as classes subalternas. Assim, as possibilidades de se concretizar este ideal de homem se voltam
para aqueles pertencentes classe dominante.
A caracterstica mais marcante do escolanovismo a valorizao da criana, vista
como ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesses devem
ser respeitados. O movimento escolanovista preconizava a soluo de problemas educacionais em
uma perspectiva interna da escola, sem considerar a realidade brasileira nos seus aspectos
poltico, econmico e social. O problema educacional passa a ser uma questo de escolar e
tcnica. A nfase recai no ensinar bem, mesmo que a uma minoria.
Devido predominncia da influncia da Pedagogia Nova na legislao educacional
e nos cursos de formao para o magistrio, o professor absorveu o seu iderio.
Conseqentemente, nesse momento, a Didtica tambm sofre a sua influncia, passando a
acentuar o carter prtico-tcnico do processo ensino-aprendizagem, onde teoria e prtica so
justapostas.
O ensino concebido como um processo de pesquisa, partindo do pressuposto de
que os assuntos de que tratam o ensino so problemas.
9
Para CANDAU (1982, p. 22), os mtodos e tcnicas mais difundidas pela Didtica
renovada so: centros de interesse, estudo dirigido, unidades didticas, mtodos dos projetos, a
tcnica de fichas didticas, o contrato de ensino, etc....
A Didtica entendida como um conjunto de idias e mtodos, privilegiando a
dimenso tcnica do processo de ensino, fundamentada nos pressupostos psicolgicos e
psicopedaggicos e experimentais, cientificamente validados na experincia e construdos em
teoria, ignorando o contexto scio-poltico-econmico.
A Didtica, assim concebida propiciou a formao de um novo perfil de professor: o
tcnico.
O perodo de 1945/1960: o predomnio das novas idias e a Didtica
Esta fase correspondente acelerao e diversificao do processo de substituio
de importaes e penetrao do capital estrangeiro. O modelo poltico baseado nos princpios
da democracia liberal com crescente participao das massas. o Estado populista ---
desenvolvimentista, representando uma aliana entre o empresariado e setores populares, contra
a oligarquia. No fim do perodo, comea a delinear-se uma polarizao, deixando entrever dois
caminhos para o desenvolvimento: o de tendncia populista e o de tendncia antipopulista.
Neste contexto, insere-se a educao. A poltica educacional, que caracteriza essa
fase, reflete muito bem a ambivalncia dos grupos no poder como destaca FREITAG (1979,
p.54).
Em 1946, o Decreto-Lei n. 9053 desobrigava o curso de Didtica e, j sob a
vigncia da Lei Diretrizes e Bases, Lei 4024/61, o esquema de trs mais um foi extinto pelo
Parecer n. 242/62, do Conselho Federal de Educao. A Didtica perdeu seus qualificativos geral
e especial e introduz-se a Prtica de Ensino sob a forma de estgio supervisionado.
Entre 1948-1961, desenvolvem-se lutas ideolgicas em torno da oposio entre
escola particular e defensores da escola pblica. A disseminao das idias novas ganha mais
fora com a ao do Instituto Nacional de Estudos Pedaggicos (INEP). As escolas catlicas se
inserem no movimento renovador, difundindo o mtodo de Montessori e Lubienska.
Outros indcios renovadores comeam a ser disseminados nessa dcada, entre os
quais se destacam o Ginsio Orientado para o Trabalho (GOT), os Ginsios Pluricurriculares, os
Ginsios Vocacionais.
Paralelamente a essas iniciativas renovadoras que comearam a ser implantadas,
um outro redirecionamento vinha sendo dado escola renovada, fortemente marcada pela nfase
metodolgica, que culminou com as reformas promovidas no sistema escolar brasileiro no perodo
de 1968/1971.
Pela fora do convnio celebrado entre o MEC/Governo de Minas Gerais --- Misso
de Operaes dos Estados Unidos (PONTO IV) criou-se o PABAEE (Programa Americano Brasileiro
de Auxlio ao Ensino Elementar), voltado para o aperfeioamento de professores do Curso Normal;.
Nesses cursos, comearam a ser introduzidos os princpios de uma tecnologia educacional
importada dos Estados Unidos. Dado o seu carter multiplicador, o iderio renovador-tecnicista foi-
se difundindo.
importante frisar que, nesta fase, o ensino de Didtica tambm se inspirava no
liberalismo e no pragmatismo, acentuando a predominncia dos processos metodolgicos em
detrimento da prpria aquisio do conhecimento. A Didtica se voltava para as variveis do
processo de ensino sem considerar o contexto poltico-social. Acentuava-se desta forma, o
enfoque renovador-tecnicista da Didtica na esteira do movimento escolanovista.
O perodo ps-1964: os descaminhos da Didtica
O quadro que se instalou no pas com o movimento de 1964 alterou a ideologia
poltica, a forma de governo e, conseqentemente, a educao.
10
O modelo poltico-econmico tinha como caracterstica fundamental um projeto
desenvolvimentista que buscava acelerar o crescimento scio-econmico do pas. A educao
desempenhava importante papel na preparao adequada de recursos humanos necessrios
incrementao do crescimento econmico e tecnolgico da sociedade de acordo com a concepo
economicista de educao.
O sistema educacional era marcado pela influncia dos Acordos MEC/USAID, que
serviram de sustentculo s reformas do ensino superior e posteriormente do ensino de 1 e 2
graus. Por influncia, tambm dos educadores americanos foi implantada, pelo Parecer 252/69 e
Resoluo n. 2/69 do Conselho Federal de Educao, a disciplina "Currculos e Programas", nos
cursos de Pedagogia, o que, de certa forma, provocou a superposio de contedos da nova
disciplina com a Didtica.
O perodo compreendido entre 1960 e 1968 foi marcado pela crise da Pedagogia
Nova e articulao da tendncia tecnicista, assumida pelo grupo militar e tecnocrata.
O pressuposto que embasou esta pedagogia est na neutralidade cientfica,
inspirada nos princpios de racionalidade, eficincia e produtividade. Buscou-se a objetivao do
trabalho pedaggico da mesma maneira que ocorreu no trabalho fabril. Instalou-se na escola a
diviso do trabalho sob a justificativa de produtividade, propiciando a fragmentao do processo e,
com isso, acentuando as distncias entre quem planeja e quem executa.
A Pedagogia Tecnicista est relacionada com a concepo analtica de Filosofia da
Educao, mas no como conseqncia sua. SAVIANI (1984, p. 179), explica que a concepo
analtica
"(...) no tem por objeto a realidade. Refere-se, pois, clareza e consistncia
dos enunciados relativos aos fenmenos eles mesmos. (...) A ela cabe fazer a assepsia da
linguagem, depur-la de suas inconsistncias e ambigidades. No sua tarefa produzir
enunciados e muito menos prticas."
A afinidade entre as duas encontra-se, no no plano das conseqncias, mas no
plano dos pressupostos de objetividade, racionalidade e neutralidade.
O enfoque do papel da Didtica a partir dos pressupostos da Pedagogia Tecnicista
procura desenvolver uma alternativa no psicolgica, situando-se no mbito da tecnologia
educacional, tendo como preocupao bsica a eficcia e a eficincia do processo de ensino. Essa
Didtica tem como pano de fundo uma perspectiva realmente ingnua de neutralidade cientfica.
Neste enfoque, os contedos dos cursos de Didtica centram-se na organizao
racional do processo de ensino, isto , no planejamento didtico formal, e na elaborao de
materiais instrucionais, nos livros didticos descartveis. O processo que define o que
professores e alunos devem fazer, quando e como o faro.
Na Didtica Tecnicista, a desvinculao entre teoria e prtica mais acentuada. O
professor torna-se mero executor de objetos instrucionais, de estratgias de ensino e de avaliao.
Acentua-se o formalismo didtico atravs dos planos elaborados segundo normas pr-fixadas. A
Didtica concebida como estratgia para o alcance dos produtos previstos para o processo
ensino-aprendizagem.
A partir de 1974, poca em que tem incio a abertura gradual do regime poltico
autoritrio instalado em 1964, surgiram estudos empenhados em fazer a crtica da educao
dominante, evidenciando as funes reais da poltica educacional, acobertada pelo discurso
poltico-pedaggico oficial.
Tais estudos foram agrupados e denominados por SAVIANI (1983, p. 19) de
"teorias crticas-reprodutivistas", que, apesar de considerar a educao a partir dos seus aspectos
sociais, concluem que sua funo primordial a de reproduzir as condies sociais vigentes. Elas
11
se empenham em fazer a denncia do carter reprodutor da escola. H uma predominncia dos
aspectos polticos, enquanto as questes didtico-pedaggicas so minimizadas.
Em conseqncia, a Didtica passou tambm a fazer o discurso reprodutivista, ou
seja, a apontar o seu contedo ideolgico, buscando sua desmistificao de certa forma relevante,
porm relegando a segundo plano sua especificidade.
CANDAU (1982, p. 28) afirma que "(...) junto com esta postura de denncia e de
explicitao do compromisso com o 'status quo' do tcnico aparentemente neutro, alguns autores
chegaram negao da prpria dimenso tcnica da prtica docente."
Sob esta tica, a Didtica nos cursos de formao de professores passou a assumir
o discurso sociolgico, filosfico e histrico, secundarizando a sua dimenso tcnica,
comprometendo, de certa forma, a sua identidade, acentuando uma postura pessimista e de
descrdito relativo sua contribuio quanto prtica pedaggica do futuro professor.
Contudo pode-se perceber que se, de um lado, a teoria crtico-reprodutivista
contribuiu para acentuar uma postura de pessimismo, por outro lado, a atitude crtica passou a ser
exigida pelos alunos e os professores procuram rever sua prpria prtica pedaggica a fim de
torn-la mais coerente com a realidade scio-cultural. A Didtica questionada e os movimentos
em torno de sua reviso apontam para a busca de novos rumos.
A dcada de 80: momento atual da Didtica
Ao longo dos anos 80, a situao scio-econmica do pas tem dificultado a vida do
povo brasileiro com a elevao da inflao, elevao do ndice de desemprego, agravado mais com
o aumento da dvida externa e pela poltica recessionista, orientada pelo Fundo Monetrio
Internacional (FMI).
Na primeira metade da dcada de 80, instala-se a Nova Repblica, iniciando-se,
desta forma uma nova fase da vida do pas. A asceno do governo civil da Aliana Democrtica
assinala o fim da ditadura militar, porm conserva inmeros aspectos dela, sob formas e meios
diferentes. (FALCO, 1986, p. 27).
A luta operria ganha fora, passando a se generalizar por outras categorias
profissionais e, dentre elas, os professores.
nessa dcada que os professores se empenham para a reconquista do direito e
dever de participarem na definio da poltica educacional e na luta pela recuperao da escola
pblica.
A realizao da I Conferncia Brasileira de Educao foi um marco importante na
histria da educao brasileira. Constitui um espao para se discutir e disseminar a concepo
crtica de educao, pois, como afirma SAVIANI (1984, p.24), "a preocupao com a perspectiva
dialtica ultrapassa, na filosofia da educao, aquele empenho individual de sistematizao e se
torna objeto de um esforo coletivo."
A concepo dialtica ou crtica no foi dominante no nosso texto educacional. Ela
se organizou com maior nitidez a partir de 1979.
Para a concepo dialtica de Filosofia da Educao, no existe um homem dado "a
priori", pois no coloca como ponto de partida uma determinada viso homem. Interesse-se pelo
ser concreto. A tarefa da filosofia explicitar os problemas educacionais e compreend-los a partir
do contexto histrico em que esto inseridos (SAVIANI, 1984, p.24)
A educao no est centrada no professor ou no aluno, mas na questo central da
formao do homem. A educao est voltada para o ser humano e sua realizao em sociedade.
Nesse sentido, GADOTTI afirma que, no bojo de uma Pedagogia Crtica, "a educao se identifica
como o processo de hominizao. A educao o que se pode fazer do homem de amanh".
12
(1983, p. 149) uma pedagogia que se compromete com os interesses do homem das camadas
desfavorecidas.
A escola se organiza como espao de negao da dominao e no mero
instrumento para reproduzir a estrutura social vigente.
Nesse sentido, agir no interior da escola contribuir para transformar a prpria
sociedade.
Ora, no meu entender a Didtica tem uma importante contribuio a dar em funo
de clarificar o papel scio-poltico da educao, da escola e, mais especificamente, do ensino.
Assim, o enfoque da Didtica, de acordo com os pressupostos de uma Pedagogia
Crtica, o de trabalhar no sentido de ir alm dos mtodos e tcnicas, procurando associar escola-
sociedade, teoria-prtica, contedo-forma, tcnico-poltico, ensino-pesquisa. Ela deve contribuir
para ampliar a viso do professor quanto s perspectivas didtico-pedaggicas mais coerentes,
com nossa realidade educacional, ao analisar as contradies entre o que realmente o cotidiano
da aula e o iderio pedaggico calcado nos princpios da teoria liberal, arraigado, na prtica dos
professores.
Na dcada de 80, esboam-se os primeiros estudos em busca de alternativas para a
Didtica, a partir dos pressupostos da Pedagogia Crtica.
A Didtica no mbito desta pedagogia auxilia no processo de politizao do futuro
professor, de modo que ele possa perceber a ideologia que inspirou a natureza do conhecimento
usado e a prtica desenvolvida na escola. Neste sentido, a Didtica Crtica busca superar o
intelectualismo formal do enfoque tradicional, evitar os efeitos do espontanesmo escolanovista,
combater a orientao desmobilizadora do tecnicismo e recuperar as tarefas especificamente
pedaggicas, desprestigiadas a partir do discurso reprodutivista. Procura, ainda, compreender e
analisar a realidade social onde est inserida a escola.
preciso uma Didtica que proponha mudanas no modo de pensar e agir do
professor e que este tenha presente a necessidade de democratizar o ensino. Este concebido
como um processo sistemtico e intencional de transmisso de contedos culturais e cientficos.
evidente que a Didtica, por si, no condio suficiente para a formao do professor crtico.
No resta dvida de que a tomada de conscincia e o desvelamento das contradies que
permeiam a dinmica da sala de aula so pontos de partida para a construo de uma Didtica
Crtica, contextualizada e socialmente comprometida com a formao do professor.
Final do sculo: a Didtica oscila entre diferentes paradigmas
Um paradigma (ou um conjunto de paradigmas) aquilo que os membros de
uma comunidade partilham e,inversamente, uma comunidade cientfica consiste em homens
que partilham um paradigma. (Kuhn, A Estrutura das Revolues Cientficas)
Trocando-se a palavra cientfica por educacional obtm-se uma afirmativa que
merece ser considerada. Qual o paradigma compartilhado, quanto Didtica? Como que a
comunidade educacional interpreta esse paradigma?
Considera-se que a dificuldade de responder a essas questes encontra-se no fato
de que no h um paradigma, mas talvez paradigmas em conflito. Atreve-se dizer que boa parte
dessa situao se deve a uma espcie de contaminao entre Didtica disciplina e o contedo
dos cursos. Explicando melhor, o continente didtico acolhe diferentes contedos, em termos de
tendncias doutrinrias ou tericas. Ou seja, algumas obras ou cursos privilegiam determinadas
inflexes sociolgicas, psicolgicas, filosficas - , mas nem sempre as mesmas. Interpretam, o
Ensino de muitos modos. H diferenas entre posies tericas e diretrizes metodolgicas ou
tecnolgicas. E condena-se o continente por seu contedo.
Na verdade h uma ao de retorno do segundo sobre o primeiro e pode-se
acusar certas restries Didtica (quando se torna somente uma srie de tcnicas docentes...)
ou certas expanses da rea (quando se expande at tornar-se uma sociopoltica do ensino). H
13
outros exemplos, facilitados pela complexidade do fenmeno didtico, por seus mltiplos aspectos,
pelo comprometimento da sala de aula com a escola, com as comunidades, com a sociedade, com
a cultura que interpreta a realidade da vida.
Consideraes Finais
O percurso feito, do sculo XVII at nossos dias, indicou alguns marcos no
desenvolvimento histrico da Didtica. Viu-se que seu primeiro objeto, o Mtodo, correspondendo
ao modo de agir.sobre o educando, recuou ao fundo do palco quando sua outra face, o prprio
educando ou aprendiz, reclamou seus direitos. Um reviver metodolgico, no sculo XIX, ps em
relevo as caractersticas de ordem e seqncia, no processo didtico, antes que a Escola Nova,
retornando ao puerocentrismo, em sua aspirao cientfica, recorresse psicologia da criana.
O panorama do final do sculo XX e incio do Sculo XXI no simples. A Didtica
est impregnada de todas as inquietaes da poca e, entre as muitas frentes de pesquisa e
explorao, ora requer auxlio da psicologia profunda de origem freudiana, ora recorre s
correntes neomarxistas. A oscilao entre uma tendncia psicolgica que acentua a relevncia da
compreenso da inteligncia humana e sua construo e outra que se apia na viso sociolgica
das relaes escola-sociedade, parece dominar o contedo da disciplina. Esta, em conseqncia,
vai-se familiarizar com teorias de origem epistemolgica e social, sem perder, no entanto; seu
compromisso com a prtica do ensino. Nos programas de Didtica, essa fermentao ideolgica
nem sempre consegue um resultado harmnico: os novos temas ainda no tiveram funo
aglutinadora e vem-se programaes enviesadas com exclusividade, de um lado ou de outro. No
se entenda, entretanto, que defendo a possibilidade de uma "Didtica Marxista" ou "Didtica
Sociolgica" ou "Didtica Cognitivista" ou qualquer outra adjetivao que indique um ponto de
vista exclusivo sobre seu campo de estudos. Pois ocorre que, por constituir-se a Didtica numa
disciplina que pode ser desmembrada em vrios planos (exemplifiquei com os planos humano,
tcnico e cultural), v-se que, em cada um deles, contribuies de reas diferentes se tornam
teis e mesmo necessrias: Sua dupla dimenso (vertical e horizontal) e o ciclo didtico sempre
recomeado, por outro lado, vinculam-na diretamente prtica e esta, em sua complexidade,
exige recursos e tcnicas, cuja eficincia objeto de pesquisa e experimentao. Mas no existem
duas Didticas, uma terica e outra prtica: so duas faces da mesma moeda, e, como elas,
interdependentes.
Um esclarecimento final, sobre o conceito foco da Didtica: o Ensino. Revela uma
inteno: a de produzir aprendizagem; palavra-ao, palavra-ordem, palavra-prospectiva,
palavra que revela um resultado desejado. Mas, depois de PIAGET, no se pode mais entender o
ensino como a simples apropriao de um contedo: uma informao, um conhecimento ou uma
atitude, por exemplo. O ato assimilador, essncia da aprendizagem legtima, correspondente ao
ensino que merece esse nome, ter como subproduto (sub ou super?) alguma mobilizao da
inteligncia redundando em progresso cognitivo, em capacidade ampliada para conhecer ( ou
aprender). desse fenmeno que trata a Didtica: do ensino que implica desenvolvimento,
melhoria. E mais: no se limita o bom ensino ao avano cognitivo intelectual, mas envolver
igualmente progressos na afetividade, moralidade ou sociabilidade, por condies que so do
desenvolvimento humano integral.
Deixamos claro que a Didtica, como disciplina e campo de estudos, parece acelerar
o progresso no sentido de uma autoconscincia de sua identidade -encontrada em seu ncleo
central -e de sua necessria interdisciplinaridade. Conseguir plenamente a autonomia, sem
prejudicar suas fecundas relaes com disciplinas afins, um projeto que, a meu ver, depende
tanto de um esforo terico e reflexivo, quanto de um avano no campo experimental. Creio que
tarefa para o sculo XXI.
Resumindo:
Em 1994, o grupo de Trabalho (GT) de Metodologia e Didtica da Associao de
Pesquisadores em Educao (ANPED) mudou seu nome para GT de Didtica e a definiu como
14
campo de estudos e prticas, cujo objeto a prtica pedaggica de sala de aula e
suas relaes com a instituio escolar, com o sistema educacional e com o sistema
social mais amplo. Da, conclui-se que:
Didtica , pois, a teoria pedaggica ou a teoria do ato educativo pois:
1. teoria pedaggica multifacetada, porque precisa para sua teorizao outras
reas do conhecimento (cincias da educao), e, portanto, sua fundamentao interdisciplinar.
O conhecimento deve se tornar interdisciplinar enquanto objeto e no se tornar interdisciplinar
depois de construdo.
2. teoria pedaggica porque histrica. A neutralidade cientfica impossvel,
assim como a neutralidade poltica. logo, o ato pedaggico ato poltico e histrico. um projeto
histrico e poltico, porque aponta para o tipo de cidado que se quer ajudar a construir; da
realidade que se quer transformar. Neste sentido, a teoria pedaggica evidencia formas de se
chegar l, a partir da anlise crtico-interpretativa do fenmeno social.
3 teoria pedaggica porque teoria e prtica pedaggica em viso curricular
moderna. Isso se deve pela articulao crtica da escola e a sociedade onde est inserida como um
todo; a sua funo social fazer exaustivamente esta anlise do real/realidade, objetiva, desta
forma, o aluno na sua auto-organizao enquanto ser/estar no Mundo e com ele interage por ser
social, histrico, poltico e cultural.
O escolacentrismo (escola como redentora dos problemas sociais - mas,
conscientizadora dos problemas sociais) negado pela modernidade, buscando-se resgatar o
ensino, a educao e a (in)formao.
ATIVIDADES 1
1. A partir do texto Didtica de Balina Lima trace, em linhas gerais, as principais
caractersticas que devem fundamentar uma didtica crtica par ao sculo XXI.
2. Faa um quadro-sntese da evoluo do conceito de didtica atravs dos tempos; Para
facilitar trace uma matriz analtica a partir do roteiro sugestivo que apresentamos: Ano ou perodo;
aspectos conceituais apresentados pelos autores nas diversas pocas.
3. Localize e transcreva do texto 1.2 a definio contempornea da Didtica e sua sntese.
Aps essa anlise, construa uma texto pessoal do que Didtica. Para facilitar a elaborao do
seu texto, relembre seus professores inesquecveis, didaticamente reconhecidos por todos seus
colegas de turma.
INDICAES DE LEITURAS 1
GADOTTI, Moacir. Histrias das idias pedaggicas. Rio de Janeiro :
Editora tica S.A. 1993.
O autor faz uma trajetria das idias pedaggicas elaboradas por diversos
pensadores da Antigidade aos dias de hoje, atravs de textos de autores que marcaram
decisivamente suas pocas. Os textos esto agrupados por perodos e tendncias e apresentam
uma introduo, o contexto de cada perodo e informaes biogrficas sobre o tempo-espao e as
condies scio-polticas em que os textos foram produzidos, alm de apresentar algumas
questes para reflexo.
HAIDT, Regina Clia Cazaux. Curso de didtica geral. So Paulo : Ed.
tica. 2003.
A autora parte das razes mais profundas da Didtica suas ligaes com a filosofia
e a psicologia -, chegando progressivamente as grandes ramificaes da ao didtica:
15
planejamentos de ensino, recursos e avaliao. Oferece, ainda, um captulo sobre a informtica e
a educao, tema bem atual e oportuno.
RANCIRE, Jacques. O mestre ignorante: cinco lies sobre a
emancipao intelectual. Traduo de Llian do Valle Belo Horizonte : autntica,
2002.
Neste livro, Rancire enuncia sem hesitaes a idia bastante simples, de que a
emancipao intelectual tarefa singular, que no poderia ser delegada, mas que depende mais
do homem do que do cidado. Em outras palavras, demonstra cinco histrias que permitem o
repensar de nossas verdades pelas quais educamos e nas quais nos educamos, deixando para o
leitor a reflexo do que educar/ensinar pela liberdade de pensar.
EVOLUO DO ENSINO DA DIDTICA
16
MDULO III
A PRTICA PEDAGGICA: CONCEPES E TENDNCIAS
O objetivo desta unidade fazer com que o cursista possa analisar as contradies existentes
entre as diferentes concepes de educao e modo como tais concepes manifestaram
concretamente nas prticas pedaggicas brasileiras.
1.1 INTRODUO
Para analisarmos a Didtica e o seu papel na prtica pedaggica, faz-se necessrio explicar
quem o educador e como ele concebe o fenmeno educativo, tendo em vista as diretrizes que
orientam sua atuao pedaggica.
Entendendo educao no seu sentido mais amplo, podemos dizer que educadores so todos
os membros de uma sociedade. No entanto, a educao sistemtica, planejada com objetivos
definidos e realizada atravs do ensino, que um tipo de prtica educativa, exige um profissional
da educao com formao adequada. Mas, qual a formao adequada? A resposta est no
entendimento que temos do que ser educador.
interessante citar Rubens Alves que compara, de forma metafrica, o educador com o
professor:
Eu diria que os educadores so como velhas arvores. Possui uma face, um nome,
uma histria a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale a relao que
os liga aos alunos, sendo que cada aluno uma entidade sui generis, portador de
um nome, tambm de uma histria sofrendo tristezas e alimentando esperanas. E
a educao algo para acontecer neste espao invisvel e denso, que se estabelece
a dois. Espao artesanal... Mas professores so habitantes de um mundo diferente,
onde o educador pouco importa, pois o que interessa um crdito cultural que o
aluno adquire numa disciplina identificada por uma sigla, sendo que, para fins
institucionais, nenhuma diferena faz aquele que a ministra. Por isso mesmo,
professores so entidades descartveis, coadores de caf descartveis, copinhos
plsticos de caf descartveis.
(Rubem Alves, 1983, p. 17-18)
O educador olha os seus alunos como pessoas com necessidades, dificuldades, fraquezas e
pontos fortes, procurando, com esta postura, contribuir para seu crescimento nos diferentes
aspectos.
A importncia da conscincia poltica do educador outro ponto a ser ressaltado. Como diz
Freire (1988), a educao um ato poltico um ato que sempre praticado a favor de algum,
de um grupo, de algumas idias e, conseqentemente, contra outro algum, contra outro grupo e
contra outras idias.
O educador algum que deixa sua marca na educao de seus alunos.
Dessa forma, entendemos que os diferentes posicionamentos pessoais e profissionais do
educador envolvem diferentes modos de compreender e organizar o processo ensino-
aprendizagem, e, por isso, a sua ao educativa e a sua prtica pedaggica retratam sempre uma
opo poltica. Segundo Mizukami (1986), subjacente a esta prtica estaria presente, implcita ou
explicitamente, de forma articulada ou no, um referencial terico que compreendesse os
conceitos de homem, mundo e sociedade, cultura, conhecimento etc... (p. 4).
Cada tendncia pedaggica est embasada em teorias do conhecimento advindas de
pesquisas nas reas de Psicologia, Sociologia ou Filosofia e resulta de uma relao sujeito-
17
ambiente, isto , deriva de uma tomada de posies epistemolgicas em relao ao sujeito e ao
meio.
No entanto, o educador pode adotar um ou outro aspecto das diferentes tendncias, desde
que seja coerente com a sua filosofia de educao. Ou seja, mesmo sendo um progressista, o
professor pode adotar uma metodologia prpria de tendncia escolanovista, considerando sempre
as premissas bsicas da abordagem que privilegia em sua prxis.
importante ressaltar que at hoje no encontramos uma teoria que d conta de todas as
expresses e complexidades do comportamento dos indivduos em situaes de ensino-
aprendizagem. Da nossa preocupao em ressaltar o carter parcial deste estudo sobre as
correntes pedaggicas que sero apresentadas, podendo outras abordagens tericas virem a ser
sugeridas por outros autores.
Veja agora o papel que a Didtica vem desempenhando nas principais teorias ou tendncias
pedaggicas que esto influenciando a formao do professor brasileiro.
1.2 AS TENDNCIAS NO-CRTICAS
Se voltarmos muito longe no tempo, vamos encontrar a Didtica Magna de Comnio,
considerado o pai da Didtica, que, no sculo XVII, procurou um mtodo que pudesse ensinar
tudo a todos. Esta a Didtica Tradicional, cuja grande contribuio ter chamado a ateno
para a organizao lgica do processo ensino-aprendizagem, nos seus aspectos mais gerais
(Candau, 1998, p. 29).
A supervalorizao do mtodo, que foi peculiar na Teoria do Mtodo nico, abstrato e formal,
estava embasa em uma psicologia tipicamente racionalista. Comnio, Pestalozzi e Herbart
formularam um mtodo que acreditavam ser dotado de valor universal, ser capaz de imprimir
ordem e unidade em todos os graus do saber.
Herbart estruturou um mtodo tendo por base a ordem psicolgica de aquisio do
conhecimento. Este mtodo foi organizado de acordo com as seguintes etapas: preparao,
apresentao, associao, sistematizao e aplicao.
Tal seqncia, apresentada por Herbart , at hoje, seguida por muitos mestres. Alguns
destes fazem parte do grupo que comunga da tendncia tradicional de educao, entendendo que
a Didtica deve estar voltada para a divulgao dos contedos de ensino, com fim em si mesmo.
a valorizao do contedo pelo contedo. Nesta tendncia, o centro do processo ensino-
aprendizagem o professor, que assume uma postura autoritria e privilegia a exposio oral
sobre qualquer outro procedimento de ensino.
Outros professores adaptam esta proposta de ensino em suas aulas, tendo em vista as
possibilidades que esta oferece para a organizao e planejamento das mesmas. No Brasil, desde
os jesutas, cuja influncia religiosa se deu at o final do Imprio e o inicio de Primeira Repblica,
prevaleceu a tendncia pedaggica tradicional.
A Didtica, nessa tendncia, est embasada na transmisso cultural, concebendo o aluno
como um ser passivo, atribuindo um carter dogmtico aos contedos de ensino e percebendo o
professor como figura principal do processo ensino-aprendizagem. Na avaliao do aprendizado
utilizam-se provas e argies, apenas para classificar o aluno.
J nos anos de 1920, a tendncia tradicional comea a sofrer criticas com o despontar da
tendncia Liberal Renovada Progressivista (Escola Nova) que lhe faz oposio, apesar de a
tendncia tradicional ainda prevalecer na pratica da maioria dos professores brasileiros.
No final do sculo XIX e inicio do sculo XX, a Psicologia desponta como cincia
independente, dando grandes contribuies educao. Traz como grande novidade a seguinte
afirmao: o individuo que aprende, a aprendizagem se d na pessoa. Portanto, o processo
ensino-aprendizagem tem de estar centrado no aluno, e no no professor.
18
Ora, se o processo ensino-aprendizagem deve estar centrado no aluno, este aluno deve ser
ativo, participar diretamente do seu processo de aprendizagem. Sendo assim, em vez da
exposio oral, deve-se dar preferncia aos mtodos ativos, os contedos devem ser os meios
para o desenvolvimento de habilidades e os sentimentos tambm devem ser trabalhados, fato
justificado pela grande influencia da Psicologia. A avaliao passa a ter conotao qualitativa e
comea a ser considerada pelo professor, que passa a valorizar no mais a quantidade de
conhecimento. A auto-avaliao surge na prtica escolar como conseqncia da viso do aluno
como pessoa e da valorizao dos aspectos qualitativos que ele demonstra na apreenso dos
conhecimentos.
Para Mizukami (1986), a abordagem Liberal Progressivista ou Escolanovista (Escola Nova)
poderia ser denominada didaticista, em virtude da grande importncia atribuda aos aspectos
didticos.
Educadores como Ansio Teixeira, Loureno Filho e Fernando de Azevedo, retornando dos
Estados Unidos, onde a Escola Nova estava bastante difundida, passam a preconizar esta
tendncia, criticando de maneira contundente a tendncia tradicional.
Mesmo sendo 1932 o ano que ocorreu o grande alarde em torno da Escola Nova em nosso
pas, foi somente em 1960 que ela atingiu o auge, refluindo logo depois. importante frisar que
esta tendncia trouxe informaes indiscutveis para a pratica pedaggica, como as modificaes
nos papis do professor e do aluno, em conseqncia da compreenso de que a aprendizagem se
d na pessoa; o individuo que aprende, dentre outras. Entretanto, aluno ativo implica escola
equipada com laboratrios e salas-ambiente, recursos didticos que geram custos. Sendo a nossa
escola pblica carente de recursos, a implantao dessa proposta educativa tornou-se difcil. A
maioria dos professores no estava bem preparada e se sentia insegura, ainda que a nova
tendncia marcasse o tom dos cursos de formao.
Sobre este momento, costuma-se dizer que os docentes no s se sentiam despreparados
para assumir uma nova prtica, condizente com a Nova Escola, mas tambm no queriam ser
tradicionais. Isto fez com que eles deixassem de fazer , na prtica pedaggica o que sabiam e
fizessem mal feito o novo.
Podemos dizer que a Didtica da Escola Nova centra-se na preocupao de como facilitar o
processo ensino-aprendizagem de forma a possibilitar ao aluno uma participao ativa neste
processo, respeitando suas caractersticas, seus interesses, seus sentimentos, para que a escola
seja um local prazeroso e que retrate a vida da maneira mais fidedigna possvel.
A grande influncia da Psicologia na Educao fez com que os educadores apresentassem
uma proposta educacional no-diretiva, de liberdade para aprender, estimulado pelos trabalhos de
Carl Rogers, psiclogo norte-americano que desenvolvia um trabalho teraputico na linha no
diretiva, centrada na pessoa.
Nesta proposta, o trabalho pedaggico acaba por confundir-se com o psicolgico e torna-se
secundrio; o importante ajudar o aluno a se conhecer, a se relacionar, a se auto-realizar.
Assim, o professor passaria a ser um especialista em relaes humanas, mais preocupado com as
questes psicolgicas do que com as pedaggicas e sociais, ou seja, mais um psiclogo do que um
educador. Por isso, se essa tendncia, num primeiro momento, seduziu os educadores, num
segundo momento passou a cargo dos orientadores educacionais e psiclogos escolares.
Na segunda metade do sculo XX, com o crescimento da sociedade industrial, fortemente
calcada na tecnologia, desponta uma outra tendncia: a Tecnicista.
Na tendncia tradicional, o processo ensino-aprendizagem estava centrado no professor, ao
passo que na Escola Nova centrava-se no aluno. Agora, na tendncia tecnicista, os meios passam
a ser o foco, como forma de garantir os resultados do processo ensino-aprendizagem, e os
mtodos de ensino tornam-se sofisticados.
19
Outra vez a Psicologia faz-se muito presente na educao, mostrando, agora, que todos so
capazes de aprender qualquer coisa desde que estimulados. A tendncia tecnicista adequa-se
perfeitamente a uma sociedade industrializada que precisa aumentar, cada vez mais, a sua
produo e, nesse sentido, tornar os indivduos mais produtivos.
No inicio de 1960, o Brasil chega ao final de um modelo econmico intitulado substituio de
importaes com a implantao de indstrias de grande porte, como as automobilsticas. Isso
significou a nossa entrada no mundo capitalista, que, naquela ocasio, era movido pela produo
industrial.
O bom desempenho alcanado pelas indstrias devia-se, em grande parte, ao avano
tecnolgico. Isto levou todos os setores sociais a se tornarem tecnologizados, inclusive a
educao, com a adoo pela escola da separao entre o pensar e o fazer. Foi o momento em
que surgiram novas profisses na rea educacional: o administrador escolar, o orientador
educacional e o supervisor escolar, este ltimo pensado bem moda da indstria. Estes
profissionais formavam a equipe que planejava o processo didtico a ser colocado em prtica pelos
professores. Evidentemente, este modelo no funcionou, gerando nos professores, verdadeiro
horror em relao aos planejamentos de ensino.
O professor sempre planejou as aulas sua maneira, relacionando os contedos que daria e
se organizando em funo disto. No modelo tecnicista, esta forma de planejar j no servia, pois
havia uma equipe responsvel por isto, alijando o professor se seu prprio fazer. Este passou a
achar que o planejamento no servia para nada.
O planejamento didtico, com base neste modelo fabril, estabelecia objetivos de forma bem
operacionalizada. A idia era que, ao se organizar o trabalho aos poucos, isto , dando pequenos
passos de cada vez, a possibilidade de sucesso era bem maior. A metodologia sofreu grande
sofisticao pois agora ela passou a ser o foco principal do processo ensino-aprendizagem.
Nas escolas surgiram os mtodos individualizados, como a instruo programada e o mdulo
instrucional, entre outros, tendo como principais caractersticas o respeito ao ritmo prprio do
aluno e s diferenas individuais. Nesta tendncia, a avaliao voltou-se para toso o processo de
ensino, utilizando procedimentos extremamente tcnicos. Os contedos valorizados eram os de
carter cientfico, exigidos para a capacitao profissional em uma sociedade industrial e
tecnolgica.
A legislao brasileira, nesse momento, admitia a possibilidade de qualificar o professor em
nvel superior e o contedo dos cursos de formao de professores no seria mais que a verso do
tecnicismo educacional.
A didtica, na tendncia tecnicista, enfatizou o carter prtico-tcnico do ensino,
desconsiderando, como as tendncias anteriores, os condicionantes sociais.
A vida dos professores ficou mais complicada quando a tendncia tecnicista foi implantada
oficialmente com a promulgao da Lei n 5.692/71 para o ensino de 1 e 2 graus (denominao
da poca). O tecnicismo exigia a aplicao de uma metodologia extremamente sofisticada e
distante da realidade da maioria dos professores das escolas brasileiras. Alm do que, a nfase na
tcnica, no processo de ensino, gerou um grande esvaziamento nos contedos, o que contribuiu
enormemente para a desestruturao da educao no nosso pas.
As teorias apresentadas at ento, segundo a Psicologia, apiam-se em diferentes concepes
do homem e do modo como ele constri o conhecimento. Esse processo de apropriao do
conhecimento enfatiza ora os fatores de interao internos (endgenos), ora os externos
(exgenos), o que os estudiosos denominam de abordagens inatistas (importncia dos fatores
endgenos) ou ambientalistas (ao do meio e da cultura sobre a conduta humana).
Poder-se-ia dizer que, at o advento do tecnicismo, a Didtica enfatizava mais o processo de
ensinar do que o contexto. Da a denominao no-critica que se d as tendncias tradicionais,
liberal escolanovista, liberal no-diretiva e liberal tecnicista, pois elas no se ocupam da realidade,
20
no relacionam as questes educacionais s sociais, no se percebendo, portanto, condicionadas
por estas.
1.3 AS TENDNCIAS CRTICAS
A dcada de 1980 se inicia ainda sob a efervescncia e ansiedade do restabelecimento do
estado democrtico de direito no Brasil, aps um longo perodo de ditadura militar. A partir de
ento, movimentos sociais ganham fora em todo pas. A classe operria se une aos professores
na luta pela participao nas decises poltico-educacionais, pela recuperao da escola pblica e
pela democratizao do ensino.
A Didtica passa a sofrer grande influncia das teorias crticas da educao. Esta orientao
se deu a partir dos diferentes enfoques e confrontos de seus pesquisadores, em um pluralismo de
idias e de inquietudes que norteava sua trajetria em novos rumos.
Espaos para troca de saberes entre educadores aconteciam em todo pas. Buscava-se
repensar a didtica a partir da nfase da competncia poltica dos educadores, contrapondo-se a
anterior viso tcnica da Didtica como disciplina instrumental. Essa busca resultou ento na
historizao da Didtica com a educao premente para o novo projeto histrico que emergia no
Brasil, uma Didtica Fundamental.
Algumas das preocupaes que orientaram as investigaes na rea giravam em torno das
seguintes questes: ideologia, poder, alienao, conscientizao, reproduo, contestao do
sistema capitalista, classes sociais, emancipao, resistncia, relao teoria-prtica, educao
como prtica social, o educador como agente de transformao, articulao do processo educativo
com a realidade.
Sobressaiu, nas posies dos educadores progressistas, a influncia marxista em suas vrias
interpretaes.
1.3.1 As Pedagogias progressistas
No Brasil, a pedagogia crtica libertadora de Paulo Freire atribuiu educao o papel de
denncia das condies alienantes do povo, passando a fundamentar as crticas dos professores
que apontavam os mecanismos de opresso da sociedade de classes.
A teoria pedaggica de Paulo Freire no tem uma proposta explcita para a Didtica. H, no
entanto, uma didtica implcita na orientao do trabalho escolar, cujo ensino centrado na
realidade social, ou seja, uma didtica que busca desenvolver o processo educativo como tarefa
que se d no interior dos grupos sociais e por isso o professor coordenador das atividades que
se organizam sempre pela ao conjunta dele e dos alunos.
A preocupao de Freire girava em torno da educao das classes populares, inicialmente de
carter extra-escolar, no formal. Seus princpios e prticas, tornaram-se pontos de referncia
para professores no mundo todo. Para citar alguns:
1. a valorizao do cotidiano do aluno;
2. a construo de uma prxis educativa que estimula a sua conscincia crtica, tornando-se o
sujeito de sua prpria histria;
3. o dilogo amoroso entre professor e aluno;
4. o professor como mediador entre o aluno e o conhecimento;
5. o ensino dos contedos desvelando a realidade.
Tais princpios e aes contriburam para uma concepo prpria e poltica do ato de educar,
numa postura filosfica que influenciou a forma didtica de atuar de muitos professores que
trabalham tambm na educao formal.
21
Outras correntes antiautoritrias aparecem no Brasil contrapondo-se ao sistema de explorao
e dominao ideolgica, tais como a Pedagogia Histrico-Crtica e a Pedagogia Crtico-Social dos
Contedos.
A Pedagogia Histrico-Crtica fundamenta-se em uma teoria crtico-pedaggica capaz de
orientar a prtica cotidiana dos professores, assumindo a pedagogia como cincia da educao e
para a educao.
A Pedagogia Crtico-Social dos contedos atribuiu grande importncia Didtica,
considerando que esta tem como objetivo a direo do processo de ensinar, tendo em vista as
finalidades sociopolticas e pedaggicas e as condies e meios formativos, convergindo para
promover a auto-atividade dos alunos que a aprendizagem.
Para Libneo, um dos principais expoentes dessa teoria, o que importa que os
conhecimentos sistematizados sejam confrontados com as experincias socioculturais e com a vida
concreta dos alunos, de forma a assegurar o acesso aos conhecimentos sistematizados a todos
como condio para a efetiva participao do povo nas lutas sociais.
Para o autor, os professores no devem, de maneira nenhuma, perder de vista o contedo da
sua disciplina, contextualizando e orientado o aluno para aplic-lo na sua vida prtica. Para tanto,
a seleo do contedo deve ser feita considerando a sua utilidade e seu carter cientifico. O autor
defende os contedos que, por sua natureza, possibilitam maior capacidade de interveno e
analise da realidade.
Nesse sentido, a Didtica corpo de conhecimentos tericos e prticos medeia o
pedaggico e a docncia. Isto significa que ela faz a ligao entre o para qu (opo poltico-
pedaggica) e o como da prtica escolar (a prtica docente).
A partir dessa fase, percebe-se na educao de todo o pas uma releitura de autores como
Freire, da Pedagogia Libertadora, e Freinet, da Pedagogia Libertria, de Piaget e Vygotsky
considerados construtivistas, num tipo de Pedagogia ainda procura de uma denominao.
1.4 A PEDAGOGIA DE CLESTIM FREINET
A pedagogia de Clestin Freinet (1896-1966) tinha como preceito a reflexo, a
experimentao e o compromisso com uma escola democrtica e popular, procurando
proporcionar aos filhos do povo os instrumentos necessrios sua emancipao, atravs da
autogesto e educao pelo trabalho. Propunha como atividade para os alunos a produo de
textos livres, a imprensa escolar, a correspondncia interescolar, a biblioteca de trabalho, o
fichrio escolar cooperativo, a horta, o uso do tear, os atelis de artes. Esse conjunto de tcnicas
tinha como objetivo dar condies aos indivduos para exercerem a cidadania. O autor organizou
junto com os alunos o livro da vida, no qual eram registrados os fatos mais interessantes
vivenciados no cotidianos escolar.
1.5 OS ESTUDOS DE PIAGET
Os estudos de Jean Piaget (1896-1980) tinham como preocupao a epistemologia (teoria do
conhecimento) em uma perspectiva interdisciplinar e construtivista. O autor elaborou a teoria
psicogentica, que procurava mostrar por quais mudanas qualitativas a criana passa, desde o
estgio inicial de uma inteligncia prtica at o pensamento formal. Para o autor, o conhecimento
resulta de uma interao do sujeito que conhece (cognoscente) com o objetivo a ser conhecido. A
aprendizagem depende do estgio de desenvolvimento atingido pela criana. Ela criana
ativa em todas as etapas de sua vida e procura compreender o que passa a seu redor atravs de
esquemas mentais (assimilao, ao, operaes) e se modifica como resultado da maturao
biolgica, das experincias, das trocas interpessoais e das transmisses culturais.
22
1.6 A TEORIA DE VYGOTSKY
A teoria de Vygotsky baseou-se no vnculo histrico-cultural, em uma nova relao entre
sujeito e objeto no processo de construo do conhecimento. Ele e sua equipe utilizaram-se de
uma abordagem interdisciplinar e construtivista para investigar o reflexo que o mundo exterior
exerce no mundo interior dos indivduos, a partir da interao destes com a realidade. Para o
grupo, a aprendizagem favorece o desenvolvimento das funes mentais e comea desde que a
criana nasce.
O conhecimento se d a partir da ao ativa e interativa da criana sobre a realidade. A
aprendizagem escolar deve favorecer o desenvolvimento real (possibilidades que os alunos tm
para realizarem sozinhos as tarefas) e o desenvolvimento proximal (possibilidades que as crianas
revelam quando as atividades so mediadas por um professor ou um colega experiente). Para o
terico, as mudanas que ocorrem com as pessoas decorrem da interao destas com a prpria
histria, cultura e sociedade.
As teorias anteriormente referidas passaram a revigorar o cenrio da educao brasileira,
tendo em vista a ento necessidade de defesa da ao libertadora do sujeito humano silenciado
pela realidade objetiva de mercado. Para a Didtica, essas tericas auxiliaram a reflexo dos
professores, sobre o processo de ensino-aprendizagem, no que dizia respeito relao professor-
aluno, s operaes mentais dos alunos, ao conhecimento, importncia das atividades
socializadas e de interao na sala de aula, utilizao de atividades do interesse e produo dos
alunos, organizao dos contedos, avaliao do aluno, etc.
1.7 DA PERSPECTIVA DA INCERTEZA INCERTEZA
DE PERSPECTIVAS
A partir de 1990, passamos a vivenciar a era das incertezas na vida da sociedade brasileira e
na educao. H uma consolidao do projeto neoliberal, ampliam-se as formas de excluso social
e cultural e uma intensificao da globalizao econmica e da mundializao da cultura com o
processo de globalizao e a crise de paradigmas no nvel das diferentes cincias.
Ao mesmo tempo que se verificava uma valorizao acentuada da educao, nos Encontros
Nacionais de Didticas e Prtica de Ensino (ENDIPEs), debatiam-se vrios temas: o saber e o
trabalho docente, a profissionalizao, a qualidade do ensino a partir da sala de aula, a nova lei,
as prticas desumanizadoras e a produo do conhecimento na rea de Didtica. Questionavam-se
os valores do neoliberalismo e as formas institudas da racionalidade econmica. Considerando a
falta de perspectivas, os educadores mostravam a necessidade de se trabalhar pelas prticas
didtico-pedaggicas transformadoras luz do materialismo histrico-dialtico.
A partir de ento, as pesquisas na rea da Didtica Crtica, em geral, voltaram-se para o
interior da escola de ensino fundamental, com o objetivo de compreender melhor o seu cotidiano e
o fazer pedaggico.
Outros educadores e profissionais das reas da Sociologia, Psicologia e Filosofia colaboraram
na investigao sobre a prtica pedaggica escolar. Diversas experincias educacionais ocorreram
em todo o pas, deflagrados pelo esprito da nova Lei de Diretrizes e Bases, Lei n 9.394/96;
reformas curriculares forma realizadas e orientadas, na maioria das vezes, por polticos
educacionais vindos de fora, ditados, muitas vezes, por organismos internacionais tais como o FMI
e o Banco Mundial. Ao mesmo tempo, cada vez mais, as cincias questionavam o paradigma
cientfico at ento utilizado como base da produo e divulgao do conhecimento. Afirmavam
que o mundo e o sujeito histrico tambm so construes culturais e os conhecimentos no
devem ser tratados de forma compartimentalizada, propondo o paradigma holstico para se
trabalhar os saberes, isto , propondo-se que se estudassem as diferentes reas do conhecimento
de forma interligada, como o todo que as formam. A educao tambm inclinava-se para essa
viso holstica, enfatizando cada vez mais a integrao de contedos e a percepo do aluno no
23
s como um ser intelectual, mas considerando tambm os aspectos emocional, fsico, cultural,
social e de gnero.
Repercutiram no Brasil, nesse perodo, pesquisas realizadas na Europa e nos Estados Unidos
sobre a formao docente cuja perspectiva era o ensino como prtica reflexiva. O ensino, por esta
perspectiva, era encarado como uma forma de investigao e experimentao.
Outras contribuies para a didtica comeavam a surgir nesse perodo vindas de outras
reas do conhecimento, entre elas a preocupao com os aspectos culturais. A escola ento
percebida como espao de produo cultural e de poltica cultural. Questes como a diversidade
cultural e a pedagogia da diferena constituram temas do multiculturalismo, da educao e de um
currculo multicultural.
Ainda h de se considerar o grande desenvolvimento tecnolgico no campo da informao e
da comunicao, passando a exigir dos educadores preparo para a sua utilizao, o que reacende
o aprender a aprender da Escola Nova.
Atualmente surgem novas exigncias. O aluno deve ser capaz de buscar informaes em
diferentes mdias e transform-las em conhecimento. Faz-se necessria a formao continuada de
professores, como conseqncia dos desafios impostos pela rea tecnolgica.
Finalmente, poderamos dizer que o mundo ps-moderno esta dificultando a crtica s
questes sociais em educao. A insegurana desse perodo passa a exigir uma relao constante
sobre os fins dessa sociedade, de forma a fundamentar cientfica, tcnica e filosoficamente a
prpria prtica didtica, reformulando-a quando for o caso.
Leitura Complementar
Quando falamos que um professor muito tradicional, conservador ou conteudista,
isto enciclopedista ao extremo na quantificao de contedos que transmite aos seus alunos, ou
quando dizemos que determinado professor metodologicamente maravilhoso pela sua exposio,
que est sempre antenado com o seu tempo, seu tratamento com os alunos dialgico, suas
avaliaes so instrumentos qualitativos por excelncia, visto que a nota de seus trabalhos
somatrio de todo um processo de aprendizagem dos alunos, no sentido mais amplo da funo
cognitiva e afetiva de suas relaes, etc., pensamos imediatamente porque estas diferenas
existem dentro do fazer docente.
Por isso temos que estar atentos e buscarmos reflexes mais aprofundadas sobre
quem educa o educador? A resposta, como todo ato em Educao, no simples , pois sabemos
que os cursos de graduao, na busca de qualidade de ensino, privilegia essa ou aquela teoria,
essa ou aquela tendncia pedaggica, como metodologia e caractersticas prprias, alijando do
processo de formao muitas vezes, a discusso maior do ato educativo, promovendo
condicionamentos que interferem nos papis desempenhados pelos professores e que recaem de
forma at nefasta e desestimuladora nos alunos.
Os quadros que segue, apresentam caractersticas da pedagogia progressiva e
liberal, tendncias que orientaram (ou ainda continuam orientando, a prtica educativa dos
professores de nossas escolas). Indica vrios caminhos que podero ser apontados a partir destas
reflexes para que o professor criticamente situado possa analisa-los, auxiliando-os para uma
redefinio de um projeto de democratizao do ensino em nossas escolas, inclusiva as do ensino
superior.
24
PEDAGOGIA PROGRESSIVA
DISCRIMINAO LIBERTADORA LIBERTRIA CRTICO-SOCIAL DOS
CONTEDOS
PAPEL DA
ESCOLA
Objetiva uma
transformao social.
Atuar na transformao
da personalidade do
aluno, contaminando
todo o sistema.
Preparao do aluno para o
mundo adulto e suas
contradies.
CONTEDOS DE
ENSINO
So extrados da
problematizao da
prtica de vida dos
educandos.
Resultam de
necessidades e
interesses manifestos
pelo grupo.
No basta que os contedos
sejam apenas ensinados, ainda
que bem ensinados, preciso
que se liguem de forma
indissocivel, sua significao
humana e social.
MTODOS Atravs de dilogos. Vivncia grupal. Vai-se da ao compreenso e
da compreenso ao, at a
sntese (unidade entre a teoria e
a prtica).
RELACIONAMENT
O PROFESSOR-
ALUNO
Relao horizontal.
Educando e educador
se posicionam como
sujeito do ato do
conhecimento.
Relao no-diretiva. Participao ativa do aluno.
PRESSUPOSTOS
DA
APRENDIZAGEM
O que aprendido
no decorre de uma
imposio ou
memorizao, mas,
do nvel crtico de
conhecimento.
Aprendizagem informal
via-grupo.
Verificao da bagagem cultural
do aluno.
MANIFESTAES
NA PRTICA
ESCOLAR
Confunde-se com
"educao popular".
Interao contedos/realidades
sociais.
PEDAGOGIA LIBERAL
DISCRIMINAO TRADICIONA
L
RENOVADA
PROGRESSISTA
RENOVADA NO-
DIRETIVA
TECNICISTA
PAPEL DA
ESCOLA
Preparao
intelectual e
moral do
aluno.
Adequar as
necessidades
individuais sua
realidade social.
Mudana na
educao. Momento
de psicologismo da
educao.
Modeladora do
comportamento humano,
atravs de tcnicas
especficas.
CONTEDOS DE
ENSINO
So
separados
da
experincia
dos alunos e
da realidade
social
Contedos,
estabelecidos
atravs de
experincias e
situaes-problemas
e desafios
cognitivos.
Facilitar os
estudantes a buscar
por si mesmo os
conhecimentos.
Cincia objetiva
eliminando qualquer
subjetividade.
MTODOS Expositivo e
memoriza
o.
Aprender fazendo. Prevalecendo quase
exclusivamente o
esforo do professor,
atravs de sua
criatividade.
Preocupao com a tele
educao.
RELACIONAMEN- Predomina a Professor no ocupa No h rigidez nas O professor o elo de
25
TO PROFESSOR-
ALUNO
autoridade
do
professor:
Aluno:
passivo
lugar de destaque.
um auxiliar de
desenvolvimento.
normas disciplinares. ligao entre a verdade
cientfica e o aluno.
PRESSUPOSTOS
DA
APRENDIZAGEM
repassar os
conheciment
os para o
esprito da
criana.
A motivao
depende do
estmulo.
Aprender: atividade
de descoberta.
Auto-avaliao do
aluno.
O ensino um processo
de condicionamento,
atravs do uso de
reforamento das
respostas que se quer
obter.
MANIFESTAES
NA PRTICA
ESCOLAR
Predominant
emente
autoritria.
Choque com uma
prtica pedaggica
tradicional.
Prtica no
pedaggica.
Atravs das leis:5540/68
e 5692/71.
A prtica escolar consiste na concretizao das condies que asseguram a
realizao do trabalho docente. Tais condies no se reduzem ao estritamente "pedaggico", j
que a escola cumpre funes que lhe so dadas pela sociedade concreta que, por sua vez,
apresenta-se como constituda por classes sociais com interesses antagnicos. A prtica escolar,
assim, tem atrs de si condicionantes scio-polticos que configuram diferentes concepes de
homem e de sociedade e, conseqentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola,
aprendizagem, relaes professor-aluno, tcnicas pedaggicas etc. Fica claro que o modo como os
professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam o contedo das matrias. ou escolhem
tcnicas de ensino e avaliao tem a ver com pressupostos terico-metodolgicos, explcita ou
implicitamente.
Uma boa parte dos professores, provavelmente a maioria, baseia a sua prtica em
prescries pedaggicas que viraram senso comum, incorporadas quando de sua passagem pela
escola ou transmitidas pelos colegas mais velhos; entretanto. essa prtica contm pressupostos
tericos implcitos. Por outro lado, h professores interessados num trabalho docente mais
conseqente, professores capazes de perceber o sentido mais amplo de sua prtica e de explicitar
suas convices. Inclusive h aqueles que se apegam ltima tendncia da moda, sem maiores
cuidados em refletir se essa escolha trar, de fato, as respostas que procuram.
Deve-se salientar. ainda, que os contedos dos cursos de licenciaturas, ou no
incluem o estudo das correntes pedaggicas. ou giram em tomo de teorias de aprendizagem e
ensino que quase nunca tm correspondncia com as situaes concretas de sala de aula, no
ajudando os professores a formar um quadro de referncia para orientar a sua prtica.
Em artigo publicado em 1981. Saviani descreveu com muita propriedade certas
confuses que se emaranham na cabea de professores. Aps caracterizar a pedagogia tradicional
e a pedagogia nova. indica o aparecimento, mais recente, da tendncia tecnicista e das teorias
crtico-reprodutivistas, todas incidindo sobre o professor. Ele escreve: "Os professores tm na
cabea o movimento e os princpios da escola nova. : A realidade, porm, no oferece aos
professores condies para instaurar a escola nova, porque a realidade em que atuam
tradicional. (...) Mas o drama do professor no termina a. A essa contradio se acrescenta uma
outra: alm de constatar que as condies concretas no correspondem sua crena, o professor
se v pressionado pela pedagogia oficial que prega a racionalidade e a produtividade do sistema
do seu trabalho. isto . nfase nos meios {tecnicismo), (...) A est o quadro contraditrio em que
se encontra o professor: sua cabea escola-novista, a realidade tradicional; (...) rejeita o
tecnicismo porque sente-se violentado pela ideologia. oficial; no aceita a linha crtica porque no
quer receber a denominao de agente repressor.
1
1
SAVIANI, Dermeval. Tendncias pedaggicas contmporneas, p.65.
26
necessrio esclarecer que as tendncias no aparecem em sua forma pura. nem
sempre so mutuamente exclusivas. nem conseguem captar toda a riqueza da prtica concreta.
So, alis, as limitaes de qualquer tentativa de classificao. De qualquer modo, a classificao e
a descrio das tendncias podero funcionar como instrumento de anlise para o professor
avaliar sua prtica de sala de aula.
ATIVIDADE 2
2.1 Faa uma comparao em linhas gerais entre a pedagogia liberal da pedagogia progressista.
2.2 Segundo Paulo Freire, seria o dilogo - o confronto entre as experincias dos sujeitos com os
saberes acumulados que proporcionaria ao educando uma vida menos fragmentada e ingnua do
mundo em que vive. Voc concorda com esses posicionamentos do autor?
2.3 Das tendncias apresentadas neste mdulo, qual tendncia voc mais se identifica? Justifique
sua resposta.
INDICAO DE LEITURAS
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro. : Paz e Terra,
1996.
Neste livro, Paulo Freire faz uma profunda reflexo sobre a formao docente ruma
autonomia discente. Segundo Moacir Gadotti, na busca permanente de aprendizado, poucas
vezes encontramos textos apropriados como este. Nele Paulo Freire nos ensina a ensinar partindo
do ser professor. Numa linguagem acessvel e didtica ele reflete sobre saberes necessrios
prtica educativo-crtica fundamentados numa tica pedaggica e numa viso de mundo
aliceradas em rigorisidade, pesquisa, criticidade, risco, humildade, bom senso, tolerncia, alegria,
curiosidade, esperana, competncia, generosidade, disponibilidade... molhadas pela esperana.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. So Paulo : Cortez ? autores
associados, 1993.
Neste livro, Saviani rene quatro textos que tiverampapel fundamental nos debates
em torno da educao, na dcada de 80 e que continua fundamentando a prtica de uma
pedagogia crtica at os dias atuais. O referido autor associa as teorias da educao e o problema
da marginalidade com o fenmeno da escolarizao. Nos estudos Escola e democracia so
abordados e discutidas os fundamentos da pedagogia histrico-crtica e o papel da educao na
sociedade de um saber construdo ao longo da Histria. O ltimo texto 0 Onze teses sobre
educao e poltica tem por objetivo encaminhar, de modo explcito, a discusso das relaes
entre educao e poltica, que atravessa, de ponta a ponta, o contedo da obra.
SNYDERS, George. Alunos felizes: reflexes sobre a alegria na escola a
partir de textos literrios. Prefcio por Paulo Freire e traduo de Ctia
ainda Pereira da Silva. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1996..
A singularidade da minha escola transformar os contedos escolares a ponto de
colocar em primeiro plano a obra-prima e a alegria que o aluno pode extrair da obra prima; uma
escola que ambiciona confrontar o aluno com as conquistas humanas essenciais, na esperana de
que ele alcance assim as alegrias essenciais. Eis como Georges Snyders define neste livro seu
projeto pedaggico. Trabalhando com uma noo ampla de obra-prima, que inclui no apenas as
grandes obras artsticas e literrias do passado e do presente, mas tambm as grandes
descobertas cientficas, as conquistas da tcnica, do pensamento e da moral, o autor mostra, por
meio de exemplos tirados da literatura, que possvel criar uma escola alegre, uma vez que
existiram e existem embora constituam uma minoria alunos felizes.
27
MDULO IV
Unidade I - As Teorias Do Conflito E A Prtica Docente
Os objetivos desta unidade podem ser assim formulados:
1. Relacionar as teorias do conflito problemtica da reproduo e da ideologia
subjacente no campo da prtica docente;
2. Distinguir e descrever as trs posies dominantes nas teorias do conflito, revelando
os seus vnculos com a natureza do trabalho docente;
3. Descrever as lacunas existentes pelas teorias do conflito a partir do exame de suas
semelhanas com as teorias do consenso.
Segundo Petitat (2002), a oposio existente entre as teorias do consenso e as teorias do
conflito ainda constitui um dominante debate intelectual no campo da Sociologia. O debate entre
essas teorias coloca em questo a seguinte contradio: enquanto as teorias do consenso esto
centradas na problemtica da integrao social e do equilbrio, as teorias do conflito colocam os
conflitos de classe no cerne da explicao da realidade social, na qual se circunscreve o espao da
educao.
Portanto, o conjunto dessas teorias apresenta diferentes interpretaes da
sociedade como um todo. Para as teorias do consenso, a sociedade concebida como
um sistema integrado ou em vias de integrao de elementos que so
complementares. J para as teorias do conflito, a sociedade concebida como uma
unidade configurada por elementos contraditrios cuja estabilidade garantida pela
manuteno das relaes de dominao. Para as primeiras teorias (as do consenso), o
conceito-chave o de ordem, enquanto para as teorias do conflito o de controle.
Assim sendo, a oposio existente entre o conjunto dessas teorias bastante profundo
e reflete no modo de interpretao da escola, de sua gnese, de suas funes e de suas
relaes com a sociedade como unidade contraditria de elementos.
No interior da corrente conflitualista h diferentes posies tericas; todavia, destacaremos
nesta aula trs posies, a saber: 1. a reproduo social; 2. a teoria da correspondncia; 3. a
reproduo cultural. Iniciaremos nosso estudo examinando as concepes marxistas de Louis
Althusser e de Bowles-Gintis; em seguida examinaremos a teoria de Bourdieu-Passeron.
A TEORIA DA REPRODUO SOCIAL E A PRTICA DOCENTE
Louis Althusser, no seu trabalho Ideologia e aparelhos ideolgicos de Estado, publicado pela
primeira vez em 1969, apresenta-nos uma interpretao da instituio escolar claramente poltica
e, mais concretamente, marxista. O seu meritrio trabalho prope um modelo explicativo do modo
como se reproduzem as rel aes de produo nas soci edades capi tal i stas.
Todas as formaes sociais devem, ao mesmo tempo que produzem, e precisamente para
poderem produzir, reproduzir as condies da sua produo. Necessitam, por isso, reproduzir as
foras produtivas e as relaes de produo existentes. Althusser vai concentrar mais ateno na
ltima questo, na reproduo das relaes de produo.
Althusser (1989) concebe a forma de articulao de uma sociedade constituda por duas
instncias: a infra-estrutura ou base econmica; e a superestrutura, composta por sua vez por
dois nveis, o jurdico-poltico (o direito e o Estado) e a ideologia (as diferentes ideologias:
religiosa, moral, jurdica, poltica etc.). E, para isso, no hesita em recorrer a uma metfora
especial, a de comparar a sociedade com um edifcio com diversos andares, na base, a infra-
estrutura, e sobre esta dois andares, a superestrutura, mostrando assim uma considervel rigidez
conceitual, pois, segundo as suas prprias palavras, os andares superiores no poderiam
sustentar-se no ar por si prprios, se no se apoiassem, precisamente, sobre a sua base (p. 77).
28
Pressupe, dessa forma, um total determinismo, em ltima instncia, por parte da base
econmica; a superestrutura no teria, por conseguinte, qualquer autonomia, no desempenharia
qualquer papel de relevo como motor de transformao da sociedade.
Na superestrutura, a diferenciao dos dois nveis atrs referidos (o jurdico-poltico e o
ideolgico) vai ter tambm duas funes diferentes. Assim, os aparelhos repressivos de Estado (o
governo, o ministrio, a polcia, os tribunais, as prises etc.) ocupar-se-o em conservar o poder
de uma forma mais direta e visvel; funcionam mediante a violncia pelo menos em ltima
instncia (j que a represso, por exemplo administrativa, pode revestir-se de formas no fsicas)
(Althusser, 1989, p. 84).
Por outro lado, os aparelhos ideolgicos de Estado (AIE) so integrados pelo conjunto das
seguintes instituies:
1. AIE religioso (o sistema das diferentes igrejas);
2. AIE escolar;
3. AIE familiar;
4. AIE jurdico (este pertence simultaneamente aos aparelhos repressivo e ideolgico de
Estado);
5. AIE poltico (o sistema poltico com os diferentes partidos polticos);
6. AIE sindical;
7. AIE da informao (imprensa, rdio, televiso etc.);
8. AIE cultural (as belas-artes, desportos, literatura etc.).
Todos os aparelhos acima funcionam em primeiro lugar mediante a ideologia e em segundo
lugar tambm atravs da represso. Os aparelhos repressivos de Estado nem sempre funcionam
apenas mediante a violncia, antes deixando tambm um pequeno espao ideologia, embora
esta seja neles muito secundria. Na realidade, a diferena entre os dois aparelhos est no peso
diferente que atribuem violncia e represso.
Tambm diferente o peso de cada um dos diversos aparelhos ideolgicos de Estado de
acordo com o perodo histrico vigente; assim, na etapa pr-capitalista era a Igreja o principal,
uma vez que concentrava no s as funes religiosas, mas tambm as escolares e grande parte
da funo de informao e de cultura. Pelo contrrio, nas sociedades capitalistas desenvolvidas a
escola o principal AIE.
A escola como aparelho ideolgico de Estado, segundo a teorizao de Althusser, passa a
desempenhar uma funo prioritria na manuteno das relaes sociais e econmicas existentes.
A instituio educativa , de todos os aparelhos ideolgicos de Estado, aquele que cumpre a
funo dominante na reproduo das relaes de explorao capitalistas, j que , alm disso, o
que dispe de mais anos de audincia obrigatria e, inclusivamente, gratuita para a totalidade das
crianas e jovens da sociedade.
A importncia da escola, segundo Althusser, ser-nos-ia dada por caractersticas como as
seguintes: recebe as crianas de todas as classes sociais, obrigando-as a frequentarem
indefectivelmente as suas instalaes durante um considervel nmero de anos, e prepara-as e
classifica-as para desempenharem na sociedade diferentes tipos de funes. Destas, as principais
seriam:
a funo de explorados (com conscincia profissional, moral, cvica, nacional e apoltica
altamente desenvolvida);
a funo de agentes da explorao (saber dirigir e falar aos operrios);
a funo de agentes da represso (saber mandar e fazer-se obedecer ou saber utilizar a
demagogia da retrica dos dirigentes polticos);
a de profissionais da ideologia (sabendo tratar as conscincias com a demagogia oportuna,
acomodando-se ao discurso da Moral, da Virtude, da Transcedncia, da Nao etc.).
29
Esta funo seria levada a cabo tanto com as novas metodologias pedaggicas como com
as mais tradicionais, e boa parte do xito dever-se-ia ao fato de as escolas trabalharem com
crianas precisamente durante os anos em que estas so mais vulnerveis, dependendo ainda do
aparelho de Estado familiar. A instituio acadmica tem, assim, como tarefa fomentar o
desenvolvimento de diversas competncias imersas na ideologia dominante. Na escola aprendem-
se tcnicas e conhecimentos, mais ou menos rudimentares ou profundos, de cultura cientfica ou
literria diretamente utilizveis nos diferentes postos da produo (uma instruo para operrios,
outra para os tcnicos, uma terceira para os engenheiros, uma ltima para os quadros superiores).
Ao mesmo tempo que faz essa aprendizagem, o conjunto dos estudantes adquire na instruo
acadmica as regras do bom comportamento, isto , da atitude adequada que deve observar, de
acordo com o posto para o qual est destinado. A educao moral, a instruo cvica e a filosofia
seriam as disciplinas que, de forma mais direta, estariam encarregadas de socializar
ideologicamente os alunos.
atravs da reproduo das qualificaes e da reproduo da submisso s regras da ordem
estabelecida, ou seja, ideologia dominante, que se consegue a reproduo da fora de trabalho.
Todos os materiais e prticas que estruturam a vida cotidiana de professores e estudantes na
instituio escolar contribuem para reforar as relaes de poder existentes em cada sociedade
especfica.
No pensamento althusseriano, a escola vista como uma caixa negra onde na realidade no
se passa nada; tudo segue uma linearidade perfeita; no existem verdadeiras possibilidades de
analisar e modificar esses objetivos e contedos da educao. A escola, como tal, no pode
contribuir em nada na luta pela transformao das estruturas de produo e das relaes sociais
existentes. Isto quer dizer que a ideologia tem de distribuir os indivduos pelos diferentes postos
da diviso do trabalho e convenc-los da justeza e da inevitabilidade dessa mesma distribuio.
Neste sentido, em Alhtusser, muito difcil o aparecimento de um pensamento e de prticas
contra-hegemnicas. O pensamento althusseriano cai assim num determinismo de base
econmica.
Autores como Gramsci (1990) e Poulantzas (1990) criticam o economicismo e a idia de que a
economia , em ltima instncia, o fator condicionante e determinante, pois atribuem um papel
prioritrio luta poltica e ideolgica a diversos nveis dentro do aparelho ideolgico de Estado.
O estruturalismo althusseriano tem a grande vantagem de plasmar a vinculao causal
existente entre as relaes e as prticas sociais nas diversas instituies com as ideologias. No
entanto, o seu modelo apresenta uma srie de inconvenientes, pressupe uma poltica de
conspirao por parte do Governo e dos responsveis da poltica educativa com vista a planificar
de antemo o sucesso e o insucesso escolar dos diferentes membros da comunidade estudantil.
Professores e estudantes so concebidos como pessoas obedientes e, no fundo, passivas,
dominadas por ideologias que atuam de maneira to inconsciente que quase impossvel
desvend-las e submet-las a uma anlise reflexiva. Parece que a reproduo ideolgica no
suscetvel de apresentar falhas facilmente. De igual modo, em nenhum momento, se explica de
que forma tanto os alunos como o coletivo docente poderiam alterar a situao estabelecida.
A TEORIA DA CORRESPONDNCIA E A PRTICA DOCENTE
Um passo frente para desvendar o interior dessa caixa negra que a instituio
escolar na perspectiva da reproduo dado por Samuel Bowles e Herber Gintis com a sua
elaborao da teoria da correspondncia (1981), a partir de uma fundamentao terica com
fortes semelhanas com a althusseriana.
Bowles e Gintis realizam uma descrio claramente politizada da vida cotidiana das
salas de aula, captando imediatamente a crucial importncia poltica do currculo oculto,
especialmente da forma do currculo como recurso para a reproduo, coeso e estabilidade das
relaes sociais de produo e distribuio.
30
As indagaes de Bowles e Gintis, embora totalmente dominadas pelo
quantitativismo, destinam-se a procurar de modo prioritrio pontos de unio entre o mbito
escolar e outras esferas e lugares sociais, em especial com as estruturas derivadas dos modelos
econmicos de carter capitalista e, mais concretamente, com as necessidades dos grupos sociais
nos quais reside uma maior concentrao do poder e do controle. Como resultado disso, os seus
estudos vo provocar uma viragem muito significativa nas teorias pedaggicas existentes at o
momento, viragem que tem entre as suas peculiaridades a defesa de um maior radicalismo
poltico.
Tal radicalismo vai lev-los a duvidar de posicionamentos mais reformistas e a no
aceitar estratgias destinadas a conseguir mudanas parciais ou progressivas como meio de fazer
frente aos numerosos problemas sociais de sociedades como a dos Estados Unidos. Consideram
que a poltica de remendos inaceitvel, dado que, no caso de ser posta em prtica, vai levar
necessariamente ao fracasso e, inclusivamente, iro muitas vezes existir fortes presses e
obstculos que impossibilitaro a sua entrada em vigor.
O radicalismo terico defendido por ambos os investigadores fora-os a adotarem e
a comprometerem-se com vias de transformao prtica. Desta forma, como deduo dos seus
diagnsticos, concluem que apiam o desenvolvimento de um movimento socialista revolucionrio
nos Estados Unidos por considerar uma alternativa socialista capaz de proporcionar o nico acesso
a um futuro progresso real em termos de justia, libertao pessoal e bem-estar social. As
mudanas revolucionrias, segundo Bowles e Gintis (1981), mesmo as violentas, desencadearam
foras progressistas macias no passado. O desenvolvimento e a articulao da viso de uma
alternativa socialista, assim como a capacidade de enfrentar necessidades humanas concretas
atuais, para os autores, exigem um partido baseado nas massas, capaz de ajudar nas lutas dirias
dos trabalhadores e empenhado numa transformao revolucionria da economia estado
unidense.
Para Giroux (1986), uma especificao to clara desse compromisso pode,
de fato, vir a ter efeitos contraditrios e acabar por servir para reforar as estruturas
escolares atuais espera de outros tempos e de outros ventos. possvel que chegue a
provocar nos professores uma sensao de inutilidade no trabalho que desenvolvem
cotidianamente nas escolas, ou provvel que crie neles a sensao de estarem a
servio das foras opressoras da classe capitalista. Com isso, teoricamente, as
modalidades de ao atravs de um trabalho profissional so anuladas.
As suas anlises funcionalistas das relaes entre o sistema educativo e a economia
levam-nos a pensar por alto o papel das pessoas, ao consider-las como seres passivos, incapazes
de fazer frente a um destino irremedivel. A base econmica determina inexoravelmente a
superestrutura.
Bowles e Gintis, no momento de realizar a sua proposta terica da correspondncia,
recorrem a um teste de confrontao e validao como o de comparar as mudanas nas
instituies educativas atravs dos tempos com as transformaes na estrutura da produo e
distribuio de cada sociedade concreta. A importncia dessa estratgia metodolgica de carter
comparativo bvia, uma vez que podemos constatar que quase metade da sua obra-chave, A
instituio escolar na Amrica capitalista, dedicada a esse assunto.
Ambos os autores chegam ao seu modelo terico aps terem analisado aquilo que
podemos denominar como a tradio do pensamento liberal educativo. Essa teoria liberal vinha e
vem atribuindo um papel determinante ao sistema educativo como motor de transformao da
sociedade; a escolarizao como caminho para uma sociedade mais humana, uma sociedade em
que as relaes de explorao no tenham lugar.
A partir do Iluminismo, vai-se generalizar a atribuio de um papel preponderante
educao como motor de transformao e avano da produo e da hominizao.
O debate escolar vai se concentrar volta de duas tendncias liberais: por um
lado, o pensamento de Dewey e o movimento da Escola Democrtica, e, por outro, o derivado da
31
economia neoclssica e do funcionalismo, a que tem vindo sido chamada Escola Tecnocrtica e
Meritocrtica.
Essas tendncias vo defender o pressuposto de que todos somos iguais por
nascimento, que a herana gentica no tem grande importncia porque, de qualquer forma, pode
ser compensada, e que possvel tambm compensar os condicionantes sociais e econmicos.
Portanto, o esforo pessoal, os sucessos de cada indivduo e, portanto, os nveis educativos
alcanados que determinam em ltima instncia os horizontes das aspiraes individuais. So os
mritos individuais, fruto do esforo pessoal, que vo decidir o acesso estrutura ocupacional.
Assim sendo, as diferenas sociais so fruto da diferente dedicao ao estudo por
parte de cada pessoa. Deste modo, seguindo este posicionamento terico, se desejarmos uma
sociedade mais igualitria teremos de nos preocupar em garantir a igualdade de oportunidades;
neste caso, oferecer a possibilidade, ou melhor, a obrigatoriedade da educao a todos os
cidados.
Por conseguinte, do ponto de vista do modelo tecnocrtico e meritocrtico, as
desigualdades econmicas so fruto das escolhas individuais ou de insuficincias pessoais, e no o
resultado de determinada estrutura econmica e das relaes sociais vigentes.
Bowles e Gintis constatam o fracasso da poltica liberal e dos modelos educativos
dela derivados. Servindo-se de uma ampla variedade de fontes estatsticas, descritivas e histricas,
conseguem confirmar que a educao nas sociedades capitalistas atuais uma das principais
estratgias que se utilizam para a reproduo deste modelo de sociedade e, portanto, da
desigualdade.
Assim, segundo os representantes da teoria da correspondncia, a desigualdade
econmica e os nveis educativos de desenvolvimento alcanados por cada homem ou mulher so
desde logo condicionados e definidos em primeira instncia pelo mercado, pela propriedade e
pelas relaes de poder que definem o sistema capitalista.
As crticas que esta posio terica recebe ao cair num excessivo reducionismo
economicista vo ser bastante numerosas. Ainda que em diversos momentos de sua obra paream
optar por estabelecer certas relaes entre a base e a superestrutura, em termos marxistas, no
fundo acabam por cair numa posio mais prxima das teorias funcionalistas. Em momento algum
se apresentam claras possibilidades de contestar e, portanto, de criar grandes contradies ao
sistema de produo e distribuio capitalista que conduzam ao seu desaparecimento.
A TEORIA DA REPRODUO CULTURAL E A PRTICA DOCENTE
Outro modelo que tambm pretende explicar a funo da instituio escolar como
reprodutora da ordem social e cultural estabelecida o de Pierre Bourdieu. Inclusivamente, uma
das suas obras mais importantes, realizada em colaborao com Jean-Claude Passeron, tem por
ttulo A reproduo. Ambos os autores se dedicam nesse trabalho a elaborar uma teoria do
funcionamento do sistema educativo e a explicar de que forma este desempenha um papel
decisivo na perpetuao da sociedade capitalista, do seu modo de produo e da sua estratificao
social.
A anlise terica que realizam parte do pressuposto de que as sociedades humanas
esto divididas de forma hierrquica em classes e que esta hierarquizao se mantm e perpetua
atravs daquilo que denominam como a violncia simblica. Este termo, segundo especificam
ambos os investigadores, indica expressamente a ruptura com todas as representaes
espontneas e concepes espontanestas da ao pedaggica como ao no violenta e a sua
incorporao como parte de uma teoria geral da violncia, mas da violncia legtima. Da que a sua
proposta terica seja conhecida tambm por outros autores como teoria da violncia simblica
(Saviani, 1998).
Esta teoria tem como pretenso compreender e dar resposta a trs questes
decisivas:
32
Como que a educao garante que alguns grupos sociais possam manter uma
posio dominante;
Por que que s determinados grupos sociais podem participar na definio da
cultura dominante;
Atravs de que mecanismos a natureza arbitrria de certas normas, costumes,
contedos e valores obtm um forte grau de consenso e, por conseguinte, a sua legitimao,
condicionando decisivamente, desta forma, os processos de socializao, em especial das geraes
mais jovens.
Desde a dcada de 60 que a instituio escolar vem sendo objeto de anlises
diversas, coincidentes ao apontar, por um lado, que o insucesso escolar e o abandono das
instituies de ensino afetam em percentagens muito superiores as crianas de determinadas
classes e grupos sociais, as que na estrutura hierrquica de cada sociedade ocupam os escales
de menor poder e prestgio; e por outro lado, que o conjunto de estudantes que chegam aos
nveis superiores do sistema educativo e s especialidades mais prestigiosas dos estudos
universitrios descendente das famlias que gozam de maior poder e prestgio social. No
respeitante Frana, no momento em que Bourdieu constri a sua proposta terica, os trabalhos
de Baudelot e Establet (1976) vieram dar um grande contributo com dados decisivos de carter
quantitativo.
No devemos esquecer a permanncia na cultura francesa e, em geral, em todas as
sociedades ocidentais, de uma ideologia que denuncia as desigualdades de oportunidades de que
so alvo muitos grupos sociais, mas, por sua vez, deposita uma excessiva confiana nas
instituies escolares como compensadoras dessas desigualdades sociais. Na opinio de Bourdieu,
esta uma das razes que nos impedem de ver a educao institucionalizada como conservadora
e realmente injusta, ainda que de um modo formal se mostre equitativa. Desta forma, embora nos
encontremos perante uma ideologia que aparentemente critica um modelo de sociedade e o seu
sistema poltico, no fundo os seus resultados no fazem outra coisa seno legitim-los. Os
produtos das reformas educativas que essas polticas levam a cabo, por mais de uma vez,
continuam sem modificar de forma decisiva os valores que as instituies acadmicas fomentam;
os contedos culturais que impem, os mtodos pedaggicos que adotam, os critrios de seleo
e controle, os processos de orientao etc., contribuem para que se continue a beneficiar os
grupos sociais mais favorecidos e a prejudicar os mais desfavorecidos.
A equidade formal do sistema de ensino traduz-se numa falsa neutralidade da
escola ao tratar todos os membros do corpo estudantil como iguais em direitos e deveres, apesar
das desigualdades de fato. A teoria da violncia simblica tem procurado uma explicao para esta
desigualdade nos xitos e fracassos nas instituies educativas. Pretende investigar atravs de que
processos objetivos os estudantes das classes e grupos sociais mais desfavorecidos so
negativamente sancionadas e vo sendo continuamente excludas do sistema de ensino.
A formulao dessa teoria, cuja apresentao excessivamente formalista, consta
de cinco proposies principais, com numerosas subproposies e esclios. Tudo isso estruturado
de forma hierrquica e unidirecional, tal como indica o prprio plano elaborado pelos autores. Para
Bourdieu e Passeron (1982), as proposies so as seguintes:
Proposio 0: refere-se definio de violncia simblica;
Proposio 1: refere-se ao pedaggica;
Proposio 2: refere-se autoridade pedaggica;
Proposio 3: refere-se ao trabalho pedaggico;
Proposio 4: refere-se ao sistema de ensino.
Esta teoria considera que as divises em classe e grupos sociais e as configuraes
ideolgicas e materiais sobre as quais elas se apiam so transmitidas e reproduzidas atravs da
violncia simblica (0). Ou seja, o poder detido por uma classe social utilizado para impor uma
definio de mundo, para definir significados e apresent-los como legtimos, dissimulando o poder
que essa classe tem para o fazer e escondendo, alm disso, que essa interpretao da realidade
33
coincide com os seus prprios interesses de classe. Assim, a violncia simblica refora com o seu
prprio poder as relaes de poder nas quais ela se apia e contribui, dessa forma, como sublinha
Weber (1989), para a domesticao do dominado. A cultura encontra-se, portanto, dominada
pelos interesses de classe.
A violncia simblica vai exercer-se muito diretamente atravs da ao pedaggica
(1). De fato, Bourdieu e Passeron declaram de forma explcita que toda ao pedaggica
objetivamente uma violncia simblica enquanto imposio, por um poder arbitrrio, de uma
arbitrariedade cultural. Dentro da concepo de ao pedaggica entram todas as tentativas de
instruo, quer as que so levadas a cabo pela prpria famlia e outros grupos da sociedade que
no tm inteno expressa de educar, quer a que se desenvolve no quadro da educao escolar.
Esta ao rotulada como violenta, visto que se exerce numa relao de comunicao em que as
inter-relaes so do tipo desigual; existe uma classe ou grupo social que tem maior poder e que
o utiliza para realizar uma seleo arbitrria que vai precisar de recorrer a uma maior ou menor
coao, uma vez que os significados que impe no correspondem a princpios universais.
Dado que estamos perante uma situao definida como de imposio, preciso, por
isso mesmo, tratar de a dissimular. Entre as estratgias vlidas para levar a cabo o trabalho de
ocultao est a de lanar mo do conceito de autoridade. Se a ao pedaggica quiser ter xito
na distribuio do capital cultural ter de recorrer autoridade pedaggica (2). O reconhecimento
da legitimidade de inculcar vai condicionar a recepo da informao nos seus destinatrios, ou
seja, a possibilidade de transformar essa informao em formao. Em virtude da autoridade
pedaggica, qualquer agente ou instituio pedaggica surge automaticamente como digno de
transmitir aquilo que transmite e, portanto, fica autorizado a impor a sua recepo e a controlar a
sua mensagem mediante um sistema de recompensas e sanes que goza da aprovao dessa
coletividade. Mas tambm preciso no esquecer em momento algum que a autoridade
pedaggica fruto de uma delegao de autoridade; dispe desta na qualidade de mandatria das
classes ou grupos sociais cuja arbitrariedade cultural impe.
Uma vez que se trata de um trabalho de inculcar, a ao pedaggica implica
tambm um trabalho pedaggico (3), com uma durao temporal suficiente para produzir nos
destinatrios uma formao capaz de deixar marcas persistentes.
Segundo Bourdieu (1992), esse processo de socializao vai criar em cada pessoa
um habitus. Este produto de uma interiorizao de princpios da cultura dominante, das suas
categorias de percepo e de apreciao da realidade e vai ter efeitos reprodutores. Atravs das
prticas dele derivadas perpetua-se a arbitrariedade cultural de que fruto, e o modelo social do
qual depende a ao pedaggica. O habitus se constri atravs de um processo educativo e
constitui a garantia da sobrevivncia de uma cultura, pois equivalente, no mbito da cultura,
transmisso do capital gentico no mbito da Biologia.
No obstante, o trabalho pedaggico contribui para produzir e reproduzir a
integrao intelectual de uma sociedade. assim que podemos explicar, segundo Bourdieu (1990),
que
cada cultura detenha um cdigo comum e que os utilizadores desse cdigo possam
associar o mesmo sentido s mesmas palavras, aos mesmos comportamentos e s mesmas obras.
Cada cultura pressupe pontos de convergncia, problemas similares e maneiras comuns de
abordar esses problemas.
O trabalho pedaggico no s contribui para dar referncias sobre como deve ser
interpretada a realidade como tambm define itinerrios, formas e mtodos de resoluo de
problemas que se colocam s pessoas que possuem um mesmo habitus.
Uma condio fundamental para que este habitus se forme a de que o trabalho
pedaggico que lhe vai dar origem seja contemplado como legtimo pelos seus destinatrios; isso
facilitar no s a construo de um habitus duradouro mas tambm um interesse crescente pelo
consumo dessa arbitrariedade cultural. desta forma que se legitima a cultura dominante e que
os dominados a interiorizam, lhe conferem o seu reconhecimento e que, simultaneamente,
34
aprendem a no conferir valor a outras formas culturais diferentes ou incompatveis com a
legtima. Os prprios setores sociais cuja cultura marginalizada ou desprezada convertem-se em
aliados dos seus inimigos. Tudo aquilo que no se identificar com a arbitrariedade cultural que a
ao pedaggica impe fica automaticamente excludo, v negada a sua existncia.
Por conseguinte, preciso que o sistema de ensino (4) se auto-reproduza, para o
que necessrio contar com profissionais ou agentes da reproduo, formados e qualificados para
garantir um trabalho pedaggico especfico e regulamentado, ou seja, um trabalho escolar. Os
prprios profissionais da reproduo escolar necessitam receber uma formao homognea a fim
de serem dotados de instrumentos e tcnicas que facilitem o seu futuro trabalho de
homogeneizadores das populaes a seu cargo. Alm disso, o fato de se lhes conceder um
reconhecimento pblico por este tipo de capacitao - converte-os, por exemplo, em funcionrios
pblicos do sistema de ensino - leva a que no necessitem de conquistar e confirmar
continuamente a sua autoridade pedaggica.
A teoria da reproduo cultural no explica de forma clara como o capital cultural
com o qual se sai do sistema educativo negociado nos prprios locais de trabalho; em que
condies que o habitus concreto uma vez que a pessoa se afasta do sistema escolar sofre
variaes ou mudanas profundas, fruto de outras experincias reflexivas na prxis social; ou de
que modo que as disfunes na esfera da produo podem provocar contradies que levem
transformao ou, inclusivamente, substituio desse modelo de produo e distribuio, apesar
dos sistemas de ensino vigentes.
A teorizao que Bourdieu leva a cabo, segundo autores como Giroux (1986) e e
McLaren (1997), cai na rigidez das teorias estruturalistas e funcionalistas da socializao e da
reproduo, nas quais no fcil ver possibilidades de resistncia e de contestao por parte dos
estudantes ou do professorado. No entanto, no podemos deixar de destacar a importante
contribuio que Bourdieu realiza no mbito da educao institucionalizada ao colocar em
destaque a relevncia dos sistemas simblicos no momento de considerar, analisar e planificar os
sistemas escolares.
E, assim, chegamos ao final desta unidade. Desejamos que todos tenham
desfrutado dos ensinamentos aqui apresentados. Antes de passarmos prxima unidade, convm
examinarmos sumariamente as questes estudadas nesta unidade:
1. Denomina-se teoria do conflito, no campo da Sociologia da Educao, o conjunto de teorias
que concebe a sociedade e a realidade social a partir das contradies de classe e de suas
relaes com a reproduo da dominao e da ideologia.
2. As teorias do conflito diferem das teorias do consenso porque estas centram suas anlises na
problemtica da integrao social e na reproduo do equilbrio.
3. Entre as teorias do conflito destacamos trs posies, a saber: a reproduo social, a teoria da
correspondncia e a reproduo cultural.
4. Insere-se no interior da teoria da reproduo social a anlise de Louis Althusser denominada
Aparelhos ideolgicos de Estado. Segundo Althusser, a manuteno do atual sistema de
produo e das relaes de poder dependem do uso da fora quanto do uso da ideologia.
Assim, a produo das condies de produo baseia-se na produo de valores que
sustentam as relaes de produo, no uso da fora e da ideologia, que apiam as classes
dominantes em todos os espaos de controle e na produo do conhecimento e das
habilidades importantes para as formas especficas de trabalho.
5. A teoria da correspondncia, postulada por Bowles e Gintis, parte do argumento de que os
padres hierarquicamente estruturados de valores, normas e habilidades, caractersticos das
sociedades capitalistas, refletem-se na dinmica social do cotidiano da escola. As relaes
35
sociais estabelecidas na escola inculcam nos estudantes as atitudes e disposies necessrias
para a ocultao dos imperativos da lgica do capital.
5. A teoria da reproduo cultural, elaborada por Bourdieu e Passeron, comea com o
pressuposto de que a estratificao das sociedades e as configuraes ideolgicas e materiais
nas quais elas se sustentam esto mediadas e so reproduzidas atravs do que eles chamam
de violncia simblica. Assim, a educao concebida como uma relevante fora social e
poltica no processo de reproduo das classes, j que se coloca como transmissora neutra
dos benefcios da cultura dominante, permitindo que as escolas promovam a desigualdade
em nome da justia e da objetividade.
EXERCCIO DE AUTO-AVALIAO
1. Quais so as interpretaes da sociedade colocadas pelas teorias do consenso e pelas
teorias do conflito?
2. Qual conceito-chave dado pelas teorias do consenso e pelas teorias do conflito?
3. Qual o principal representante da teoria da reproduo social?
4. Quais so os autores que elaboraram a teoria da correspondncia?
5. Quais so os representantes da teoria da reproduo cultural?
6. Faa uma breve sntese das trs posies tericas que habitam a corrente conflitualista,
tentando enfatizar o papel da prtica docente em cada uma delas.
LEITURA COMPLEMENTAR
SAVIANI, D. Escola e democracia. SP: Cortez, 2000.
Leia o primeiro captulo deste livro, intitulado s teorias da educao e o problema da
marginalidade, e tente elaborar um quadro sinptico com as teorias crtico-reprodutivistas.
Logo em seguida, discuta a sua sntese com o tutor.
Unidade II A Prtica Pedaggica e o Processo Didtico
O objetivo desta unidade fazer com que o cursista possa analisar a construo da didtica
como disciplina cujo objeto a prtica pedaggica, bem como analisar os seus processos
fundamentais.
A Didtica Crtica e Plural
As sociedades contemporneas se transformam mudando as nossas formas de agir, pensar e
sentir. Muitas situaes que presenciamos hoje na educao indicam que caminhamos para uma
nova etapa na configurao de um novo cenrio. Diante de tal constatao, o acesso
informao, o acesso ao conhecimento e qualidade do ensino nas escolas nos desafiam, visto
que as respostas, prontas e seguras que tnhamos, necessitam hoje ser revisadas luz de um
novo homem, de um novo mundo e de uma nova sociedade. Todas as reas do conhecimento,
como a prpria Didtica, buscam novas formas de atualizao, de modo a compreender seu papel
para a melhoria da qualidade do ensino.
O novo sculo tambm denominado por alguns autores de ps-modernidade, com as
diferentes interpretaes que o termo sugere. Ele j aponta diversas conseqncias no mbito do
comportamento das sociedades globais, nas relaes com a cultura dos grupos e no trabalho
rotineiro dos professores. Estes, ao mesmo tempo em que se sentem ameaados pela nova
configurao, tem que lidar com a explorao da informao, com as questes da ubjetividade
36
humana, das diferenas, da diversidade cultural, da linguagem digital, alm de outras questes
cotidianas de trabalho. Nesse sentido, entendemos que a Didtica caminha para a investigao da
produo dos saberes docentes e como estes se aplicam na rotina escolar. Quaisquer que sejam
os significados e os problemas sinalizados pela educao brasileira na atualidade, devemos
considerar as articulaes e os compromissos assumidos pela Didtica Crtica dos anos 1980 em
sua perspectiva emancipatria. Da mesma forma, no podemos nos certificar dos rumos futuros
da Didtica. O que tentamos nesta unidade caminhar pelas trilhas abertas no cotidiano escolar,
atravs do dilogo com alunos e professores dos cursos de formao de professores e dos estudos
desenvolvidos at ento na rea, e de leituras de outras reas afins.
Sabemos que a realidade exerce grande influncia na prtica pedaggica, seja em contexto
macro, externo (histrico, sociopoltico e cultural), seja em contexto micro (cotidiano das
escolas, relaes e trabalho). Dessa forma, os professores devem estar preparados para discutir
essas relaes e outras ligadas aprendizagem, aos processos internos da aquisio do
conhecimento, do aperfeioamento e das competncias profissionais. Por outro lado, tambm
importante compreender o cruzamento de saberes que se d no cotidiano escolar: o saber
docente, os saberes sociais de referncia e os saberes j construdos pelos alunos, ou desenvolver
competncias necessrias formao continuada de professores (Perrenoud, 1999).
O que buscamos aqui, ao propor uma Didtica Crtica e Plural, possibilitar a reflexo dos
professores sobre algumas proposies que encaminhamos em seguida, de forma a ajud-los a
enfrentar os desafios da prtica pedaggica.
O saber social do professor
Para muitos educadores, no existe sujeito coletivo fora da realidade autnoma dos indivduos
e de suas conscincias individuais. Trabalhar a conscincia e a autonomia no uma tarefa fcil
no mbito pessoal e profissional, em qualquer funo ou nvel de ensino. Quem atua no magistrio
sabe das dificuldades que algumas escolas enfrentam com determinados profissionais, seja no
trato individual dirio, seja em assuntos que envolvam a convocao dos profissionais para
determinados compromissos pedaggicos, ou ento, quando tentam a integrao mais coletiva de
todos os profissionais na instituio. Para algumas escolas, sempre um processo muito
desgastante solicitar a participao de determinadas pessoas, mesmo que seja em reunies
pedaggicas ou de pais, em discusso sobre o projeto poltico-pedaggico, ou ainda em um
projeto de aprendizagem interdisciplinar. Alguns dos professores alegam falta de tempo e de
salrio.
Sabemos que a crtica atuao dos profissionais no simplista como parece. Ela demanda
outras anlises sobre a atual situao dos professores no pas, o que transcende a prpria
discusso do seu envolvimento nas escolas. Porm, preciso trazer para o debate dos professores
a idia de pertena social, a importncia de vestir a camisa da escola tendo em vista a
realizao profissional e coletiva. Um grupo unido e participativo mais confiante diante dos seus
saberes, dos seus desafios profissionais, e no hesita diante das adversidades.
Defendemos com isso a necessidade de o grupo sair da condio de simples agrupamento nos
locais de trabalho, que caracteriza determinadas posturas profissionais, em detrimento de aes
mais coletivas, visando tomada de decises e o desenvolvimento das lideranas nas escolas, seja
na elaborao do projeto educativo, seja na organizao dos planos de curso, seja nos debates
sobre temticas de interesse para a coletividade escolar. Precisamos entender a importncia da
confrontao (positiva) de idias para o enriquecimento do grupo no contexto escolar.
Essa dialtica precisa ser estimulada a partir da premissa de que o embate de idias no
significa o embate das pessoas. O que propomos a discusso salutar que admite e respeita as
diferenas individuais e, a partir dela, ajudar o grupo a crescer. Dessa forma, o desenvolvimento
dessa habilidade propicia o respeito s particularidades do outro, fortalece as relaes individuais e
coletivas criando um novo grupo de referncia mais forte e determinado.
37
As possibilidades de trocas de saberes na escola e na prtica pedaggica so muitas, entre as
quais destacamos:
1. os centros de estudos de temas relevantes eleitos pelos professores;
2. a discusso dos contedos disciplinares, do projeto poltico-pedaggico;
3. as trocas de experincia;
4. a utilizao de diferentes tcnicas para melhoria da aprendizagem a partir de
experincia no relacionamento interpessoal nas turmas;
5. a organizao pedaggica de reunio de pais.
Assim sendo, de grupo-dependente ou grupo-objeto, propomos um grupo-dialtico nas
escolas que visa, a partir das contradies reais da prtica, dialogar com seus partcipes, de forma
a construir as finalidades de ao da escola.
A diversidade cultural
dever da educao dar conta das diferenas, seja no mbito escolar institucional da sala de
aula, seja no mbito mais pulverizado das diferenas individuais.
A perspectiva de trabalho intercultural crtico na escola possibilita articulaes de aes
pedaggicas entre diferentes profissionais, em torno das questes dos universos culturais dos
alunos, e a elaborao de estratgias para a minimizao das desigualdades culturais.
Forquin (1993) sugere um entendimento interessante para o emprego da palavra cultura:
palavra-chave, palavra-guia, palavra interseo do vocabulrio da educao (p. 12).
O referido autor comenta a diferenciao entre cultura escolar e cultura da escola como
fundamental para aprofundar as relaes entre escola e cultura (s). para ele, a cultura da escola
representada por seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginrio, seus mo dos prprios de
regulao e de transgresso; j a cultura escolar entendida como conjunto de contedos
cognitivos e simblicos e como objeto de transmisso no contexto escolar.
A questo cultural vem sendo apontada por educadores crticos como valiosa fonte de
enriquecimento para o processo de ensino na sala de aula e na escola, visto que a socializao e a
humanizao decorrentes dessas prticas so funes educativas bsicas da escola. As praticas
pedaggicas precisam ser cada vez mais plurais, articulando a igualdade e a diferena no trabalho
escolar, alm do intercultural, do pluralismo de vozes e idias, dos estilos e dos sujeitos
socioculturais no enriquecimento dos debates em sala.
Nessa perspectiva, muitas so as trocas e os conhecimentos construdos a partir da
experincia de integrao dos prprios alunos, dos alunos com os professores, pelo uso de
materiais e meios tecnolgicos e didticos, nas atividades concretas desenvolvidas. Na cultura
escolar e na cultura da escola, comportamentos e valores so constantemente trocados.
Na literatura atual, encontramos inmeros suportes tericos buscando compreender as
atividades concretas de sincronizar a cultura escolar e a cultura da escola com a cultura da famlia,
a partir da colaborao de diversas prticas, tais como:
a) o ensino com monitoria;
b) a orientao e distribuio das tarefas de casa;
c) a avaliao;
d) o estudo em grupos;
e) as festividades culturais;
f) a narrao de histrias;
g) a organizao de projetos e pesquisas cujas temticas estejam relacionadas
aos interesses e s necessidades da comunidade.
38
O ensino culturalmente relevante quando as experincias dos alunos, suas vivncias, so
utilizadas no s como uma forma de manter sua cultura, mas tambm como uma forma de se
aprender a superar os efeitos negativos da cultura dominante.
Devido s mltiplas identidades microculturais e s caractersticas especficas dos alunos
presentes em uma sala de aula (sexo, raa, classe social, lngua, religio), cada indivduo
afetado diferentemente pelas aes e relaes que se constroem nos grupos: familiar, social e
escolar. Por isso, precisamos valorizar a dimenso afetiva, fsica, social, tica, artstica de cada
pessoa, fortalecendo sua auto-estima e, com isso, ampliando as possibilidades reais de novas
expresses culturais.
Considerando os resultados de muitas pesquisas (inclusive no exterior) sobre a eficincia dos
professores junto aos alunos oriundos de minorias, chegou-se concluso que havia a
necessidade:
a) da crena dos professores em que todos os alunos podem ser bem-sucedidos e que
deviam comunicar isto a eles;
b) do empenho profissional dirio em torno do progresso dos alunos;
c) da criao de um ambiente na sala de aula propcio para que os alunos se sintam
valorizados e sejam capazes de obter sucesso nos seus estudos.
Zeichner (1993) fornece a seguinte informao sobre os resultados das pesquisas
desenvolvidas por Knapp e Turnbul sobre fatores associados ao sucesso escolar de crianas em
desvantagem social, relevando alguns princpios de atuao docente que fizeram a diferena para
o sucesso da aprendizagem:
a) os professores conhecem e respeitam a formao cultural e lingstica dos alunos e
comunicam-lhes esse respeito de forma pessoal;
b) o programa escolar possibilita e incentiva os alunos a desenvolverem experincias e outras
maneiras de pensar que lhe so pouco familiares;
c) as suposies, as expectativas e as formas de fazer as coisas na escola so dados a
conhecer aos alunos na medida em que os professores explicam e modelam estas
dimenses da aprendizagem escolar.
Estes princpios criam um lao pessoal de acolhimento do professor pelos alunos. Contudo, h
necessidade de um elo entre a cultura escolar, da escola e a da famlia, isto , de ajudar os alunos
a aprender a cultura escolar e a da escola, mantendo simultaneamente a sua identidade cultural.
Trabalhar, levando em considerao a cultura escolar, a da escola e o contexto do aluno,
parece ser a chave das afirmaes contemporneas sobre o sucesso do ensino e da aprendizagem
escolar de qualquer estudante.
A DIDTICA E A LINGUAGEM DIGITAL
Com a velocidade dos avanos tecnolgicos e o desenvolvimento da sociedade informatizada
das ltimas dcadas, proliferaram os meios tecnolgicos com finalidade, graus e complexidades
diferenciadas. Lvy (1993) reconhece que a terceira forma de apropriao do conhecimento se d
pela linguagem digital, no espao das novas tecnologias eletrnicas de comunicao e informao.
A tecnologia digital caracteriza-se pela velocidade. um fenmeno descontnuo. Ela
representa um novo tempo, redimensionando o espao, revolucionando nossa maneira de ver,
compreender e sentir.
Os novos paradigmas tecnolgicos so determinados de vrios campos do conhecimento,
inclusive do mercado de trabalho, e esto presentes em todo o mundo, chegando at a pases
como o Brasil, em que as desigualdades sociais e regionais so ainda muito grandes.
Na educao brasileira, as possibilidades de utilizao da linguagem digital nas escolas, para
um estudante com novos interesses e capacidades, ainda precisam ser mais investigados.
39
Reconhecemos hoje a importncia da educao diante da cultura da mdia para a organizao das
relaes sociais e das subjetividades. Visto que o conhecimento televisivo possibilita, muitas vezes,
atravs dos seus apelos e sedues, a banalizao da conduta de crianas e jovens. A televiso
entra somente nos quartos da juventude, bem como atua na forma o do gosto e da
personalidade.
Outras caractersticas marcantes dessa nova gerao so a compulso para a msica em
detrimento da leitura e o interesse maior pelo mundo virtual. Para ele o tempo se desnaturaliza. O
momento presente est desconectado de qualquer histria. Muitos estudos mostram que os alunos
ficam mais horas frente Tv e ao computador do que na sala de aula. Cada gerao de jovens
cyborg est associada s caractersticas de velocidade do ecossistema digital na qual ela nasceu.
Nossas escolas sabem lidar com esses novos estudantes? So eles diferentes dos de pocas
anteriores? Quem so os aliengenas na sala de aula?
Tendo em vista as novas formas de subjetividade, a responsabilidade dos professores
aumentou diante das escolhas variadas que precisam fazer para mediar essa relao no processo
de ensino. Isto porque a atual gerao de alunos se relaciona com as novas mdias de forma
diversa, e j se reconhecem sinais de um novo processo de produo de conhecimento, ainda
praticamente desconhecido na escola.
A prtica docente precisa, portanto, ser revisada, porque h o risco de ser o professor o
aliengena na sala de aula. As metodologias at ento adotadas precisam relacionar outras reas
do conhecimento afins a esses novos estudos sobre a tecnocultura contempornea, considerando
as constantes alteraes da linguagem digital, dos procedimentos didticos do professor, bem
como da dinmica da sala de aula; sem perder o rigor, nada fixo. O professor atua como
mediador do conhecimento, admite as possibilidades do ensino alm do presencial e escolar; do
semipresencial, a distancia, ou em outros espaos, o que circula a informao.
Os trabalhos de equipe, o ensino tutoriado e a pesquisa so fortes aliados metodolgicos
desde que planejados, coordenados e avaliados sob a orientao do professor. Da perspectiva
linear da metfora arbrea, caminhamos para um trabalho didtico-pedaggico em redes de
trocas e conhecimentos; de negociaes permanentes capazes de desenvolver a inteligncia
coletiva.
Uma vez que vivemos o tempo das emergente culturas audiovisuais, ao contrrio de outros
tempo em que muitos professores foram condicionados a pensar como um livro, caminhamos
para um novo aluno que pensa atravs de imagens em movimento, em mundos virtuais.
Considerando essa realidade, somos obrigados a reavaliar nossas prioridades individuais para o
ensino-aprendizagem, investir em trocas mais coletivas de informao e de praticas de trabalho,
retomar nosso compromissos com as diferenas individuais, sociais e culturais, tendo em vista o
desejo de emancipao de alunos.
AS FUNES DIDTICAS DO PROFESSOR
No tocante s funes didticas do professor, podemos estabelecer quatro categorias,
segundo a literatura na rea:
1) Responsabilidade no processo ensino-aprendizagem:
criao de um clima de trabalho positivo
seleo de contedos adequados e relevantes
seleo e organizao de recursos e facilidades
qualidade didtica na apresentao
atuao moderadora de interao no processo
40
avaliao e feedback
2) Responsabilidade de ao tutorial:
facilidade na comunicao entre componentes do grupo
orientao ao aluno
desenvolvimento pessoal do aluno
melhoria profissional do aluno
favorecimento s relaes interpessoais e de grupo
favorecimento da comunicao com o grupo
3) Responsabilidade em atividades de desenvolvimento profissional:
participao em atividades profissionais (congresso, seminrios, encontros)
elaborao e compartilhamento de materiais e experincias
participao em entidades e instituies profissionais
4) Servios na comunidade:
assessoria s instituies pblicas e privadas
servio de consultoria
cooperao com a administrao
As funes didticas do professor voltam-se tanto para o processo ensino-aprendizagem com
responsabilidade do docente como para o seu desenvolvimento profissional e a incumbncia de
prestar servios comunidade.
Partindo da tese de que o professor um profissional reflexivo, crtico, competente na sua
disciplina, que realiza atividades de investigao e de participao como um membro da
instituio, podemos agrupar as funes didticas do professor em trs grandes blocos:
1 funo docente
2 funo investigadora
3 funo gestora
Na funo de docncia, que se caracteriza por sua complexidade, representa um cenrio
psicossocial vivo em contnua transformao, na qual existe interao das mltiplas variveis e
condies internas e externas da aula. Os problemas nessa funo, de natureza eminentemente
prtica, quase nunca so previsveis. Assim, como investigador, o professor deve buscar a
explicao para os fenmenos que ocorrem nesse contexto.
A funo investigadora deve atuar como elemento gerador da docncia. atravs da
investigao que so planificadas e desenvolvidas as inovaes. A investigao deve ocorrer no
mbito de disciplina e da prpria atividade docente para ter condies de transformar os processos
de ensino-aprendizagem e produzir inovao e melhorias.
A funo gestora se caracteriza pela responsabilidade de que o professor tem em participar
do bom funcionamento da circulao da informao, tomada de decises e aplicaes de poltica
institucional.
41
Podemos, ai nda, tambm destacar as segui ntes funes que o professor deve
desenvol ver:
estudo e investigao (pesquisa)
ensino, sua organizao e aperfeioamento
comunicao de sua investigao
inovao e comunicao das inovaes pedaggicas
tutoria e avaliao dos alunos
participao responsvel na seleo de outros professores
avaliao da docncia e da investigao (pesquisa)
participao na gesto acadmica
estabelecimento de relaes com o exterior, mundo do trabalho e da cultura
promoo de relaes e intercmbio interdepartamental e interinstitucional
contribuio para criar clima de colaborao entre professores
A FORMAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES E O PROCESSO DIDTICO
Ultimamente, muito tem sido divulgado sobre o professor. So realizados, anualmente, em
nvel nacional e internacional, conferncias, congressos, seminrios e debates sobre as funes,
profissionalizao, desvalorizao, preparao tcnica e comprometimento poltico do docente, que
na maioria das vezes est acoplado ao projeto neoliberal que vem se alastrando aceleradamente
tanto nos pases do primeiro como nos do terceiro mundo.
A formao inicial e continuada do professor constitui um dos grandes desafios a serem
avaliados e redimensionados para que o profissional possa analisar criticamente o projeto
econmico, poltico e social e atuar satisfatoriamente nesse contexto de contradies, desacertos,
desafios, ensaios e at perspectivas.
A formao inicial do professor aquela que antecede o ingresso profissional. a preparao
que o individuo obtm atravs do curso de formao de professores (licenciatura) e, quando o
caso, a ps-graduao, e tem como objetivo habilit-lo ao exerccio do magistrio.
A formao continuada do professor realiza-se de forma permanente aps o ingresso no
exerccio profissional e tem como imperativo principal atualizar a formao inicial.
A formao profissional do professor no pode ser compreendida pelo somatrio da formao
inicial mais o acmulo de cursos, de conhecimentos especficos e tcnico-pedaggicos. um
processo de reflexo critica sobre a pratica pedaggica.
A formao inicial do professor deve capacitar o futuro docente para assumir a tarefa
educativa em toda a sua complexidade e flexibilidade. necessrio estabelecer uma preparao
que proporciona ao professor conhecimentos e gere atitude que valorize a necessidade de
atualizao permanente em funo das mudanas que se produzem. indispensvel que os
professores estejam preparados para entender as transformaes que vo surgindo nos diferentes
campos, e que sejam receptivos e abertos a concepes pluralistas. mister introduzir na
formao inicial uma metodologia que esteja presidida pela investigao-ao-reflexo e que
vivencie o contraste entre teoria e prtica. A prtica dever ser o centro de formao do professor,
permitindo interpretar, reinterpretar e sistematizar a experincia.
A formao inicial do professor dever acompanhar a transformao histrica das exigncias
das demais profisses. O docente ter que possuir uma slida formao inicial.
Nvoa (1991) sugere que a formao continuada do professor considere as cinco teses
seguintes:
1 alimentar-se de perspectivas inovadoras que tenham a escola como referncia;
2 valorizar as alternativas participativas e de formao mtua;
42
3 alicerar-se numa reflexo na prtica sobre a prtica, valorizando os saberes dos
professores;
4 incentivar a participao de todos os docentes;
5 investir na transformao qualitativa em vez de instaurar novos dispositivos
de controle.
Avanando na discusso, apresentamos os cinco modelos assinalados por Imbernn (1994)
para a formao continuada do professor. O temo modelo, para o referido autor, refere-se ao
marco organizador e de gesto de processos de formao em que se estabelecem diversos
sistemas de orientao, organizao, interveno e avaliao de formao.
MODELO 1: Modelo de formao orientado individualmente.
Nesse modelo, o prprio professor planeja as atividades de formao que ele cr satisfazer
suas necessidades. Fundamenta-se na crena de que o professor, no decorrer das suas atividades,
aprende muitas coisas por si mesmo atravs da leitura, conversa com colegas, na aplicao de
novas metodologias de ensino, na reflexo de sua prtica e por fim, com sua prpria experincia
profissional.
O modelo de formao continuada orientado individualmente tem referncia nas idias de
Rogers e Dewey, e principalmente nas investigaes sobre os processos de aprendizagem de
adultos. Esse modelo sem dvida extremamente importante e oportuno, porm a formao
permanente deve ser compartilhada e no simplesmente transferida, como se fosse
responsabilidade unicamente do docente.
MODELO 2: Modelo de observao/avaliao
Muitas vezes o professor recebe poucas devolues sobre sua atuao nas aulas, e em certas
ocasies, manifesta a necessidade de saber como est sua prtica no cotidiano. O modelo de
observao/avaliao objetiva conectar essa necessidade e pode ser realizado entre pares e
coordenadores. Tal modelo muitas vezes fracassa, pois o professor considera sua aula um lugar
privado e no o v como ajuda, crescimento, formao.
Esse modelo se apia na referncia de que a reflexo e a analise so meios fundamentais
para o desenvolvimento profissional e na premissa de que a reflexo individual sobre uma prtica
pode melhorar a observao de outras.
MODELO 3: Modelo de desenvolvimento e melhora
Esse modelo tem lugar quando o professor est envolvido em tarefas de desenvolvimento
curricular mediante projetos didticos. Esses conhecimentos podem ser obtidos atravs de leituras,
discusses, observaes e ensaio e erro. O fundamento desse modelo est na concepo de que
os adultos aprendem de maneira mais eficaz quando tm necessidade de conhecer algo concreto
ou tm de resolver um problema.
Outra perspectiva que apia esse modelo a de que as pessoas adultas que esto prximas
de seu trabalho tm uma melhor compreenso do que se requer para melhorar. Esse modelo
observa determinados passos:
1. identificao da situao-problema;
2. planejamento;
3. execuo;
4. avaliao / replanejamento.
43
MODELO 4: Modelo para treinamento
Nesse modelo, o organizador seleciona as estratgias mercadolgicas formativas que se
supe iro ajudar o professor a obter os resultados esperados. O modelo se apia na concepo
bsica de que h uma srie de comportamentos e tcnicas que merecem ser reproduzidos na sala
de aula e os docentes podem mudar sua maneira de atuar e aprender a reproduzir
comportamentos em suas classes que no tenham sido aprendidos previamente. Para que esse
modelo alcance seus objetivos, indispensvel a elaborao de um diagnstico para detectar as
reais necessidades dos professores.
MODELO 5: Modelo de investigao ou indagativo
Esse modelo requer que o professor identifique uma rea de interesse, recolha informaes,
interprete-as e realize as mudanas necessrias no ensino. Essa atividade pode ser realizada em
pequenos ou grandes grupos ou individualmente.
Esse modelo se fundamenta na capacidade do professor em formular questes vlidas sobre
sua prpria prtica e marcar objetivos que tratem de responder s questes e realizar uma
investigao. A utilizao desse modelo requer determinados passos:
1. identificao da situao-problema.
2. planejamento da coleta de informaes sobre o problema;
3. anlise dos dados;
4. realizao das mudanas pertinentes;
5. obteno de novos dados e idias para anlise dos efeitos da interveno e continuidade
do processo.
EXERCCIO DE AUTO-AVALIAO
Responda as questes abaixo com base no contedo desta unidade:
1. Elabore uma atividade de aula utilizando como estratgia o grupo dialtico.
2. Como voc encara a questo da cultura no interior da discusso educacional?
3. Qual a diferena entre cultura escolar e cultura da escola?
4. Quais so os desafios colocados pela linguagem digital no campo do ensino?
5. Qual a diferena existente entre formao inicial e formao continuada?
LEITURA COMPLEMENTAR
CONTRERAS, J. A autonomia de professores. SP: Cortez, 2002.
Leia o captulo sete intitulado As chaves da autonomia profissional dos professores e faa
um breve resumo, destacando as idias principais. Logo em seguida, procure o seu tutor e
discuta com ele o produto desta leitura.
INDICAES DE LEITURA
CANDAU, Vera Maria (org.). Magistrio: construo cotidiana. Petrpolis, RJ : Editora Vozes Ltda.
1997.
Este livro parte da convico profunda de que hoje necessrio um reconhecimento
pblico, explcito e conseqente da importncia de professores e professoraas na promoo de
uma educao e de uma escola a servio da construo de uma sociedade autenticamente
democrtica e de acesso de todos e todas a uma cidadania plena. Quer oferecer elementos que
44
nos permitam renovar diariamente com resistncia, valentia e esperana a identidade profissional
do educador.
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.). A formao continuada e gesto
da educao. So Paulo : Cortez, 2003.
Esta obra expe ao pblico uma grande contribuio de pensar especfico sobre a
relao da educao continuada e da gesto da educao. Reunindo textos de autores de vrios
pases, o livro pretende colocar disposio do leitor uma reflexo til para pensar a situao
atual da formao continuada como uma determinao importante da gesto da educao. E de
como a gesto em educao, pelo contedo e forma de desenvolvimento e interveno, contribui
com a formao continuada. Destina-se a todos que formam profissionais da educao, a todos
que formam profissionais da educao, como gestores da Educao, professores, supervisores,
orientadores , diretores.
Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa Encontro Nacional de
Didtica e Prtica de Ensino (ENDIPE) Rio de Janeiro : DP&A, Vol.I e II,
2000.
Este foi o tema do X ENDIPE Encontro Nacional de Didtica e Prtica de Ensino. O
Objetivo dos dois volumes analisar em novos desafios da prtica pedaggica na perspectiva da
multiplicidade de sujeitos, sberes, espaos e tempos, presentes na sua dinmica e as implicaes
desta problemtica para a formao de professores e para as polticas pblicas de Educao.
MDULO V
Unidade I Implicaes Metodolgicas Na Comunicao Docente-Discente.
A Prof Maria Isabel Cunha fez uma pesquisa entre alunos de Ensino Mdio e do
Ensino Superior, no tocante ao que consideram um bom professor, identificando em seus
resultados, que os aspectos afetivos que permeiam a relao professor-aluno foram mais
enfatizados pelos entrevistados.
O texto que segue, a autora, apresenta a situao pesquisada e discute os
resultados do seu trabalho, atravs de uma anlise que extrapolando os aspectos afetivos citados
pelos alunos, destaca a Escola como instituio capaz de promover condicionamentos que
interferem nos papis desempenhados por professores e alunos.
A RELAOPROFESSOR-ALUNO
2
Ao pesquisar com os alunos de 2. e 3. graus sua percepo de bom professor,
percebo que, entre as justificativas apresentadas, muitas aparecem dizendo respeito s relaes
professor-aluno. Compreendo que difcil dicotomizar a imagem do bom professor. Na idia dos
alunos, as coisas se entrelaam e certamente possuem influncias semelhantes e recprocas. Com
isso quero dizer que dificilmente um aluno apontaria um professor como bom ou melhor de um
curso, sem que este tenha as condies bsicas de conhecimento de sua matria de ensino, ou
habilidades para organizar suas aulas, alm de manter relaes positivas. Entretanto, quando os
alunos verbalizam o porqu da escolha do professor, eles enfatizam os aspectos afetivos.
Entre as expresses usadas esto " amigo", " compreensivo", " gente como a
gente", " se preocupa conosco", " disponvel mesmo fora da sala de aula ", " coloca-se na
posio do aluno ", " honesto nas observaes ", " justo ", etc. Estas expresses caracterizam
que a idia de bom professor, presente hoje nos alunos de 2 e 3 graus, passa, sem dvida, pela
capacidade que o professor tem de se mostrar prximo, do ponto de vista afetivo.
2
CUNHA, Maria Isabel. A relao professor-aluno. In: Repensando a didtica. 4 ed. So Paulo: 1990. p.145-158.
45
Entretanto, interessante observar que quase impossvel, a no ser para fins
didticos e de pesquisa, tentar depurar, distinguir atitudes do professor que se referem
especificamente a este lado da relao professor-aluno.
O comportamento do professor ~ um todo e depende, certamente, da cosmoviso
que ele possui. No sei at que ponto importante ou possvel classificar os professores. At
porque tambm eles, como fruto da contradio social, nem sempre apresentam comportamentos
lineares e totalmente coerentes com uma corrente filosfica. inegvel, porm, que a forma de
ser e agir do homem revela um compromisso. E esta forma de ser que demonstra, mais uma
vez, a no-neutralidade do ato pedaggico.
Mas fica a questo: quais os limites da idia da relao professor-aluno? O que ns
concebemos quando tentamos exercitar esta conceituao? Restringe-se o mesmo conceito a
aspectos afetivos, tais como os citados pelos alunos? Parece que no. As virtudes e valores do
professor que consegue estabelecer laos afetivos com seus alunos repetem-se e intrincam-se na
forma como ele trata o contedo e nas habilidades de ensino que desenvolve.
Assim, novamente valho-me da palavra dos alunos, para demonstrar minhas idias.
Dizem eles:
- Escolho este professor como o melhor pela forma com que nos faz pensar;
colocando o contedo terico no como verdade acabada, mas questionando-o "
-O que me agrada no professor X que ele est sempre pronto a responder as
nossas dvidas, ele at estimula a gente a ter dvidas. O professor y o melhor
porque ele transmite para a gente o gosto que ele tem pela Matemtica. Ele nos
mostra o prazer de aprender.
Para mim est muito claro, nestes depoimentos, que a relao professor-aluno
passa pelo trato do contedo de ensino. A forma com que o professor se relaciona com a sua
prpria rea de conhecimento fundamental, assim como sua percepo de cincia e de
produo de conhecimento. E isto interfere na relao professor-aluno, parte desta relao.
Outro aspecto que se entrelaa a metodologia do professor. Um professor que
acredita nas potencialidades do aluno, que est preocupado com sua aprendizagem e com seu
nvel de satisfao, exerce prticas de sala de aula de acordo com esta posio. E isto tambm
relao professor-aluno. Dizem os alunos que, entre as caractersticas de seus melhores
professores, esto " toma as aulas agradveis e atraentes", " estimula a participao do aluno", "
sabe se expressar de forma que todos entendam", " induz crtica, curiosidade e pesquisa",
"procura formas inovadoras de desenvolver a aula", "faz o aluno participar do ensino", etc.
Parece conseqncia natural que o professor que tem uma boa relao com os
alunos preocupe-se com os mtodos de aprendizagem e procure formas dialgicas de interao.
importante dizer que os alunos no apontam como melhores professores os
chamados " bonzinhos ". Ao contrrio. O aluno valoriza o professor que exigente, que cobra
participao e tarefas. Ele percebe que esta tambm uma forma de interesse, se articulada com
a prtica cotidiana da sala de aula.
Entretanto, vale tambm chamar a ateno para um aspecto muito significativo:
quando os alunos hoje apontam o bom professor, s em situaes raras referem-se ao
posicionamento poltico do professor. Isto significa dizer que esta no uma dimenso apreendida
pelos alunos e que no faz parte fundamental da sua percepo do bom professor. claro que
sabemos que o comportamento do professor manifesta uma postura poltica. Mas ao que parece
este no um dado consciente para os alunos e talvez sequer seja para o professor.
Analisando a amostra dos vinte professores escolhidos como melhores pelos alunos,
a questo posicionamento poltico expresso no uma constante. Em alguns casos acontece, mas
em muitos outros no. Para os nossos alunos atuais, o bom professor aquele que domina o
contedo, apresenta formas adequadas de apresentar a matria e tem bom relacionamento com o
46
grupo. Entre os alunos universitrios h, inclusive, ressalvas escritas, como: " Apesar de no ter
posies polticas mais avanadas, escolho este professor porque...". Isto demonstra que alguns
alunos desejariam que s boas qualidades citadas sobre o professor se somasse um
posicionamento poltico claro. Mas esta ainda no uma idia formada na expectativa dos alunos.
Um ltimo aspecto a considerar na fala dos alunos o valor que eles do ao prazer
de aprender, algo que se poderia traduzir como um clima positivo na sala de aula. O senso de
humor do professor, " o gosto de ensinar ", " o tomar a aula agradvel, interessante" so aspectos
que eles apontam como fundamentais.
A anlise destes dados encaminha-me para algumas questes : por que esta a
expectativa dos alunos atuais sobre o bom professor ? Como pesa a definio de papis para o
professor e o aluno ? Que ideologia est sustentando estas expectativas ? Qual a interferncia do
institucional nas expectativas dos alunos ? Como o cotidiano da relao professor-aluno resulta
numa prtica pedaggica ?
A expectativa e a ideologia
No h dvida de que existe entre os alunos e professores um jogo de expectativas
relacionadas ao respectivo desempenho. A Escola como instituio social determina aos seus
prprios integrantes os comportamentos que deles se espera. Por outro lado, mas tambm por ser
instituio social, ela determinada pelo conjunto de expectativas que a sociedade faz sobre ela.
Este fluxo que reproduz a ideologia dominante.
Segundo CHAU ( 1980, p. 92 ), " a ideologia resulta da prtica .social, nasce da
atividade social dos homens no momento em que estes representam para si mesmos essa
atividade" (...) "No entanto", continua a autora, " as idias dominantes em uma sociedade numa
poca determinada no so todas as idias existentes na sociedade, mas so apenas as idias da
classe dominante, dessa sociedade nessa poca, ou seja, a maneira como ela representa para si
mesma sua relao com a o natureza, com os demais homens, com a sobrenatureza (deuses),
com o Estado, etc..
Por certo, ento, os papis escolares esto definidos ideologicamente tambm na
sociedade, identificados com a classe dominante, passando pelas formas de produo e
distribuio do conhecimento.
As condies de classe social dos alunos determinam um rol de expectativas sobre o
seu desempenho. E em muitos casos a escola serve apenas para ratificar esta expectativa, para
convencer os jovens a aceitar o fracasso, ou seja, para aceitao da sua situao na sociedade.
Analisar, pois, as relaes que acontecem entre professor-aluno puramente no
campo psicolgico ou afetivo , no mnimo, um comportamento ingnuo. Elas acontecem no palco
de uma sociedade e, portanto, so profundamente marcadas pelas contradies sociais.
Os professores vivem num ambiente complexo onde participam de muitas
interaes sociais por dia. So eles tambm frutos da realidade cotidiana das escolas e, muitas
vezes, so incapazes de fornecer uma viso crtica aos alunos, porque eles mesmos no a tm,
porque se debatem no espao de ajustar seu papel realidade imediata da escola, perdendo a
dimenso social mais ampla da sociedade.
Alm disso, sobre o professor e o aluno h todo o peso das relaes institucionais.
Segundo BERGER e LUCKMANN (1983, p.80), "as instituies controlam a conduta humana
estabelecendo padres previamente definidos de conduta, que a canalizam em uma direo por
oposio a muitas outras que seriam teoricamente possveis (...) As instituies tm sempre uma
histria, da qual so produtos e isto implica em controle".
A instituio interfere na expectativa tanto dos professores, como do aluno. Na
anlise do depoimento dos alunos, percebi que havia aspectos diferenciados, por exemplo, entre
os alunos de 2 e 3 graus. Apesar da viso geral do bom professor ser semelhante, percebi que
47
entre os alunos de 2 grau h muitas expectativas de maior direcionamento do processo ensino-
aprendizagem por parte dos professores.
Eu poderia dizer que os alunos de 2 grau requerem um professor mais diretivo. Se
analisarmos, porm, a escola de 2 grau como instituio, veremos que ela toda mais diretiva
(horrios dos alunos e professores, definio de contedos, calendrio escolar, movimentao dos
alunos no espao escolar etc.). O ambiente institucional passa esta idia de ordem aos integrantes
de sua comunidade, e estes valores passam a ser parte das expectativas dos alunos. Poderia,
tambm, ser levantada a hiptese de que o aluno de 2 grau ainda representa um extrato de
classe social mais baixa, ou com idade inferior em relao ao 3 grau e, portanto, .mais habituado
a obedecer e a receber a ordem institucional com mais facilidade. Um professor que atua nos dois
graus de ensino chegou a expressar:
" Na Universidade mudo meu comportamento em algumas coisas. L sou mais
independente e os alunos so mais maduros. A escola de 2 grau tem ainda de preocupar-se com
a formao de certos hbitos que requerem mais rigidez (...)".
Este exemplo a tentativa de expressar o valor institucional na definio dos
papis. A histria da instituio tambm parece importante nos valores que passa para os
professores e alunos. Quando a anlise destas relaes acontece no ambiente de uma escola
tcnica industrial, por exemplo, senti que no se poderia explicar o processo interativo sem
entender a histria e os valores da instituio. A influncia do modelo empresarial encontrou plena
ressonncia neste tipo de escola. A obedincia, a hierarquia e a disciplina sempre foram valores
privilegiados na organizao escolar. Entretanto, h uma combinao de uma disciplina severa
com um ambiente de cordialidade e participao que reina na Escola. H uma proposta de
harmonia e consenso ao invs de trabalhar com o conflito. Para isto, muito contriburam a idia de
neutralidade da cincia e da tecnologia, e a viso positivista liberal da formao da sociedade.
Alunos e professores que convivem numa escola deste tipo recebem as influncias
institucionais e passam a exercer comportamentos de acordo com a expectativa formada.
Modificar esta situao possvel, mas, sem dvida, com muito mais esforo do que num
ambiente onde o questionamento lugar-comum ou em que a expectativa no seja ,
primordialmente o mercado de trabalho.
BERGER e LUCKMANN (1983, p.104) dizem que toda conduta , institucionalizada
envolve um certo nmero de papis. Assim, eles participam do carter controlador da instituio.
Dizem, ainda, que, "em virtude dos papis que desempenha, o indivduo introduzido em reas
especficas do conhecimento socialmente objetivado, no somente no sentido cognitivo, mas
tambm no sentido do' conhecimento' de normas, valores e mesmo aes".
Portanto, parece que ser professor e ser aluno extrapola a relao de ensinar-
aprender os contedos de ensino. Mas envolve uma absoro de aprendizagens valorativas muito
intensa. O importante que haja conscincia deste processo, para que os protagonistas do
processo pedaggico no sejam manipulados por idias que nem sempre gostariam de servir. o
professor e o aluno no podem ser engolidos pelo ritual escolar. Precisam ser sujeitos conscientes,
definidores deste ritual.
O professor: intervenientes no seu desempenho
O professor nasceu numa poca, num local, numa circunstncia que interferem no
seu modo de ser e de agir. Suas experincias e sua histria so fatores determinantes do seu
comportamento.
O conhecimento do professor construdo no seu prprio cotidiano, mas ele no
s fruto da vida na escola. Ele provm, tambm, de outros mbitos e, muitas vezes, exclui de sua
prtica elementos que pertencem ao domnio escolar. A participao profissional, ou em
movimentos sociais, religiosos, sindicais, polticos e comunitrios, pode ter mais influncia no
cotidiano do professor, que a prpria formao acadmica.
48
A prtica e os saberes que podem ser observados no professor so o resultado da
apropriao que ele fez da prtica e dos saberes histrico-sociais. A apropriao uma ao
recproca entre os sujeitos e os diversos mbitos ou integraes sociais. S que elas so diferentes
nos sujeitos, isto , eles se apropriam de diferentes coisas em funo de seus interesses, valores,
crenas, etc. Isto demonstrado pelo diferenciamento existente entre o comportamento dos
professores que seguem propostas pedaggicas distintas, refletindo e antecipando sua histria.
A questo principal est em desvendar o que acontece com o professor que
determina que ele assuma uma postura pedaggica.
Levanto a hiptese de que atravs da produo do conhecimento que melhor se
favorece o crescimento da conscincia crtica, e no pela tentativa de passar, unicamente, com a
palavra, a crtica aos outros. Produzir conhecimentos significa colocar os sujeitos da aprendizagem
numa perspectiva de indagao que leve' ao estudo e reflexo. Estes podem tomar possveis, de
forma coletiva, a construo do conhecimento sobre a prpria realidade. A pesquisa, nesta
perspectiva, passa a ter um sentido especial e uma funo poltica. E preciso envolver o professor
na tarefa de investigar e analisar o seu prprio mundo. Somente quando o professor se sentir
sujeito da Histria, consciente de sua prtica, capaz de estabelecer relaes entre a sua e as
demais condies sociais, que poder agir em direo modificao das relaes pedaggicas e
sociais.
A compreenso da dimenso poltica da educao interferiu muito na forma de
compreender o papel do professor e, por conseguinte, suas caractersticas, competncias e
compromissos. O professor passou a ser visto situado no seu tempo e se percebeu com nitidez
que, como diz , GOFFMAN (1985, p.29), o papel social a formulao de direitos e deveres ligados
a uma determinada situao social. Desta forma, o papel do professor no pode ser deslocado do
contexto onde se manifesta.
E a concepo que temos de nosso papel um fator muito importante, chegando
at a ser percebido como uma segunda natureza, parte integral de nossa personalidade. Ele se
forma como resultado da interao dos indivduos com os demais, com seu grupo social, com a
sociedade a que pertence. BERGER e LUCKMANN lembram, ainda, a importncia da identidade,
conceito j desenvolvido na linha psicolgica. S que alertam sobre o fato de que a identidade
tambm um produto social construdo na relao dialtica entre indivduo e sociedade.
O educador um ser do mundo. No pode ser pensado independentemente desta
perspectiva; "no um indivduo isolado, uma individualidade parte que emite pareceres
limitados numa relao unvoca com a escola e a sociedade" (FRANCO, 1984, p.12).
independente e expressa uma contnua interao e influncia com outros sujeitos, com a escola e
a sociedade.
Assim sendo, no se pode analisar as relaes que o professor - estabelece com o
aluno, seno a partir de situaes concretas de sua histria e de sua vida.
As pesquisas tm mostrado que os professores afirmam que sua prtica cotidiana
tem mais importncia no seu modo de ser, do que a formao acadmica que porventura tiveram.
E, ainda, que o seu comportamento docente inspirado em professores que marcaram a sua
prpria trajetria educacional. Estes dados reforam a necessidade de tratar os processos
pedaggicos de forma contextualizada. Mostram que a relao professor-aluno fundamental,
capaz de deixar marcas no indivduo por grande parte da existncia. preciso resgat-la,
compreend-la e redimension-la.
ATIVIDADES 4A
4.1 - A partir do texto apresentado, identifique as condies que caracterizam o
bom professor, segundo as seguintes categorias:
Contedos
49
Mtodos -
Relao professor-aluno
4.2 Na sua avaliao, por que o aluno no ocnsegue perceber na metodologia do
professor seu carter poltico-pedaggico determinantes de seu trabalho educativo?
4.3 descreva em breves palavras, quais as principais causas e possveis efeitos, no
tocante a aprendizagem do aluno, com relao ao desempenho do professor em sala de aula?
COMO MELHORAR A COMUNICAO PROFESSOR-ALUNO
3
*
O texto a seguir a parte introdutria do 8 captulo do livro Estratgias de Ensino-
Aprendizagem, escrito por Juan Daz Bordenave e Adair Martins Pereira. Bordenave paraguaio e
doutorado em Comunicao pela Universidade do Estado de Michigan. H muitos anos trabalha no
Instituto Interamericano de Cincias Agrcolas. Adair Pereira mineira e ps-graduada em
Planejamento Educacional, na PUC-Rio. professora de Metodologia de Ensino na Universidade
Federal de Minas Gerais.
A inteno dos autores, neste texto, a de provocar uma sadia inquietao em seus
leitores, fazendo-lhes um convite para resolver um problema que todo professor enfrenta
diariamente: como melhorar a comunicao professor-aluno frente s dificuldades presentes nesta
relao.
A eficcia mxima da comunicao no alcanada seno quando a
mensagem compreendida pelo receptor", Abraham Moles.
I. O problema
No atual sistema de ensino centralizado no professor e na matria, , a tarefa de
transmitir conhecimentos a maior carga que o professor carrega sobre os ombros. Por sua vez, o
aluno que deseja passar de ano v-se obrigado a absorver uma considervel e cada dia maior
quantidade de informaes: conceitos, nomes, fatos, datas, cores, relaes, quantidades,
frmulas, processos, normas etc., a maioria das quais ele recebe "via professor ".
A emisso, transmisso e recepo de informao, entretanto, apenas uma das
funes da comunicao entre professor e alunos. Da boa comunicao, dependem no s a
aprendizagem, mas tambm o respeito mtuo, a cooperao e a criatividade.
Vamos tentar identificar os principais problemas que atualmente atrapalham a
comunicao professor-aluno, visando a descobrir os pontos de estrangulamento:
O problema fundamental, a nosso ver, consiste no fato de que o professor em
geral no percebe que um mau comunicador, da mesma maneira que so poucos os padres que
acham ruins seus sermes.
O professor est mais preocupado em expor sua matria, isto , em falar, que
em comunicar, isto , despertar ateno e interesse, mobilizar a inteligncia do aluno, ser
entendido por este, e induzi-lo expresso e ao dilogo. O professor acha que sua funo consiste
em transmitir conhecimentos e que obrigao do aluno ouvir e compreender. No percebe que a
ateno e a aprendizagem so processos psicolgicos que, s vezes, devem ser provocados.
s vezes, o professor tem suas idias to mal, ou to perfeitamente organizadas,
que no h nelas lugar para a imaginao criativa dos alunos. Ambos os extremos produzem uma
comunicao falha: quando as idias do professor esto desorganizadas, sua mensagem confusa
e insegura, e os alunos no conseguem perceber a estrutura do assunto. Quando esto
3
BORDENAVE. J.D. e PEREIRA, M. Estratgias de aprendizagem. Rio de Janeiro : Vozes, 1988. p. 183-185.
50
demasiadamente organizadas, o professor em geral no gosta de ser interrompido, nem de aceitar
contribuies dos alunos. Ele evita tudo o que ameaa desorganizar o belo edifcio mental que traz
preparado.
O professor expe, partindo da premissa de que, se os alunos mais inteligentes
da primeira fila entendem o que ele fala, todos os demais tambm entendero. E no se preocupa
em verificar se isto ocorreu ou no.
O professor utiliza conceitos ou termos que ainda no existem na experincia dos
alunos. Ou, se existem, provvel que cada um lhes atribua um significado diferente. Vejamos um
exemplo: o professor emprega o termo "conjuntura". Se perguntasse aos alunos o que entendem
por "conjuntura", ficaria surpreendido com respostas to variadas, como "acontecimentos de curto
prazo", "situao em um perodo dado", "articulao de ossos", "contexto", "interseo de
estradas", "coincidncia de opinies", etc.
O professor no se preocupa em aumentar o vocabulrio dos alunos, o que
poderia ser feito, explicando o significado e diversas aplicaes dos novos termos.
O professor coloca tantas idias em cada exposio, que somente algumas delas
so compreendidas e retidas. Pela pressa em dar a maior quantidade de matria possvel, o
professor no repete as idias principais, nem se detm o tempo necessrio, para que os alunos
de raciocnio mais lento as assimilem.
Alguns professores falam to rpido ou articulam as palavras to mal, que muitas
das idias no so percebidas pelos alunos. Outros professores falam em voz to baixa ou em tom
to montono, que no conseguem manter a ateno dos alunos.
O professor no utiliza meios visuais para comunicar conceitos ou relaes que
exigem apresentao grfica. Assim, um professor de Entomologia descreve apenas verbalmente
os insetos do algodo : tamanho,forma, cor etc., caractersticas todas que exigem visualizao
objetiva.
O professor utiliza os meios visuais de uma forma inadequada: por exemplo,
emprega o quadro-negro sem planejamento algum, escrevendo e desenhando ora aqui, ora ali,
com muita confuso e desordem. As letras muito pequenas ou pouco claras so mal decifradas
pelos alunos das ltimas fileiras. Outro exemplo: o lbum-seriado empregado por alguns
professores como um roteiro de aula, e no como uma srie de estmulos para o pensamento dos
alunos. Outros projetam filmes, como substituto da aula, sem justificar seu papel na estratgia
didtica.
Mas, de todas essas deficincias, a pior a tendncia do professor ao monlogo,
"salivao
4
sem dilogo, o que traduz sua falta de interesse pela participao ativa dos alunos.
Quanto mais passivos e "bem disciplinados " forem os alunos, mais felizes so alguns professores.
Entretanto, no justo atribuirmos toda a responsabilidade das deficincias da
comunicao ao professor. Os alunos tambm contribuem com sua importante quota de
problemas:
O aluno tem uma forte tendncia a no prestar ateno ao que o professor est
dizendo. Por diversas razes (a fora competitiva de outros estmulos atuantes em sua vida:
namoradas, esportes, trabalho, famlia, sade; as suas atitudes negativas contra figuras de
autoridade; o seu desinteresse pela matria em pauta), o aluno pode passar considerveis
perodos na classe, pensando ou fazendo qualquer outra coisa, em lugar de atender s palavras do
professor.
Muitos alunos tm preguia de pensar e, aplicando a lei do menor esforo,
adotam uma atitude de passividade e desligamento. ( verdade que esta atitude pode ser um
produto de experincias escolares anteriores, em que justamente se estimulava a passividade).
4
Salivao o termo criado pelo Prof. Lauro de Oliveira Lima, para referir-se pejorativamente exposio oral.
51
O aluno que, por preguia, quer confiar em sua memria, no toma notas das
idias expostas pelo professor. Depois, percebe que esqueceu mais da metade.
O aluno pode manter uma atitude antagnica de rejeio e revolta contra um
determinado professor. Essa disposio mental gera um bloqueio inconsciente contra a assimilao
da matria ensinada.
Certas matrias difceis e abstratas, como Matemtica, Estatstica, Teoria
Econmica etc., exigem do aluno exercitar uma atividade intelectual fora do comum. Por falta de
prtica do pensamento operatrio abstrato (J. Piaget), o aluno no acompanha o raciocnio e
apenas memoriza as equaes e teoremas, sem realmente compreender sua estrutura e alcance.
Esse um produto tpico da educao "bancria": o professor pensa pelo aluno e, quando este se
v obrigado a pensar por sua conta, sua falta de prtica o trai.
O aluno, s vezes, pensa que entendeu o que o professor est falando e no
pede esclarecimentos. Porm, mais tarde, comprova que no entendeu realmente.
A causa mais sria da ineficincia comunicativa do aluno, entretanto, a sua
falta de desejo de aprender: quando existe esse desejo, todos os demais obstculos de ordem
fsica ou psicolgica so vencidos pelo aluno. Mas, muitos nunca vo alm de uma atitude de
"aceitar serem ensinados", sem jamais chegar a um desejo positivo e entusiasta de aprender.
Apesar disto ser, em parte, um problema o qual o professor deve ajudar a resolver, cabe ao aluno
a deciso pessoal de sua prpria modificao.
TEXTO COMPLEMENTAR
ENSINAR NO S COMUNICAR
"O professor x tem uma admirvel facilidade de exposiao. da sua aula
numa forma to bem estruturada e to clara, que entendemos tudo: no
precisamos nem perguntar nada. ele um grande comunicador!"
Mas, ser um grande professor'?
Muitos professores acham que seu dever comunicar o mximo do que sabem aos
alunos, na forma melhor estruturada , possvel. Da, por exemplo, o abuso do lbum-seriado,
empregado como roteiro estruturado da matria. "
Ensinar; entretanto, no somente transmitir; no somente .
: transferir conhecimentos de uma cabea a outra, no somente transferir
conhecimento de uma cabea para outra, no somente comunicar. Ensinar fazer pensar,
estimular para a identificao e resoluo de problemas; ajudar a criar novos hbitos de
pensamento e de ao.
Isto no significa que a exposio no deva ter estrutura alguma, ou que seja
melhor o professor ser um mau comunicador. Significa, sim, que a estrutura da exposio deve
conduzir problematizao e ao raciocnio, e no absoro passiva das idias e informaes do
professor. Significa, ainda, que o professor deve ser um comunicador dialogal, e no um
transmissor unilateral de informao. Ser um comunicador, por outro lado, no agir como um
showman, e, menos ainda, como um persuasivo doutrinador. Significa desenvolver "empatia":
colocar-se no lugar do aluno e, com , ele, problematizar o mundo, para que, ao mesmo tempo que
aprende novos contedos, desenvolva seu mximo tesouro: sua habilidade de pensar.
52
ATIVIDADE 4 B
4.4 Identifique no texto Como melhorar a comunicao docente de Bordenave,
os principais entraves entrentados por professor e o aluno no cotidiano escolar. Redija um
comentrio, sobre as principais causas desses problemas, apontando formas de soluciona-los.
4.5 Como voc definiria o professor-comunicador.
INDICAO DE LEITURA
REYZBAL, Maria Victoria. A comunicao oral e sua didtica. Bauru: So
Paulo: EDUSC, 1999.
A obra trata de discutir os mais significativos tipos de discursos orais., a busca da
recuperao e do aperfeioamento da oralidade (postura to necessria nos dias atuais), com
apresentao pormenorizada de tcnicas e procedimentos didticos, que incorporados ao dia-a-
dia escolar, podem constituir um instrumental extremamente valioso, principalmente para
professores.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Tcnicas de ensino: por que no?
2 ed Campinas, SP : Papirus, 1998 (Coleo magistrio: Formao e
trabalho pedaggico).
Imprimir tecnicidade ao trabalho pedaggico-escolar sempre esteve no horizonte
humano. A obra assenta-se na discusso sobre as tcnicas de ensino nessa perspectiva, algumas
questes afloram: que relaes a tcnica de ensino guarda com a experincia de ensinar? a
tcnica de ensino algo mecnico, no sentido de que ele determina e condiciona uma srie de fases
a serem seguidas no processo de ensinar? Ou constituem as tcnicas de ensino um conjunto de
orientaes normativas, por meio das quais se consegue algo? Tais questes e similares so
discutidas pelos diversos autores participantes da obra.
BRANDO, Carlos Rodrigues. A pergunta a vrias mos: a experincia da
pesquisa no trabalho do educador. So Paulo : Cortez, 2003 (Srie saber
com o outro; v.1)
Em um momento de seus escritos, Jean Piaget disse: no acredito na pesquisa
solitria. Acredito na pesquisa solidria. Este livro envolve um conjunto de escritos em que esta
idia essencial repensada, revisitada, e proposta de diferentes maneiras. O livro no se preocupa
em descrever e mesmo propor mtodos especficos do como fazer uma boa pesquisa. Suas
perguntas fundadoras so outras: Como tornar a prtica da pesquisa na educao um trabalho
cooperativo e solidrio? Como tornar tantos estilos de pesquisa, quanto aos seus participantes, o
mais participante possvel? De que maneira viver a investigao cientfica como uma experincia
sria e confivel, ao mesmo tempo que plural, criativa e sempre aberta ao dilogo?
DEMO, Educar pela pesquisa. Campinas, So Paulo: Autores Associados.
1996
O que melhor distingue a educao escolar e universitria sua instrumentao
pela pesquisa. Por outro lado, se no aparecer esta instrumentao, ficar sem distintivo prprio,
no se diferenciando de outros lugares educativos na sociedade. Educar pela pesquisa do
conhecimento. Este o meio, educao o fim. Significa tambm no separar os dois
componentes do mesmo todo hierrquico, ou seja, a pesquisa no se basta em ser princpio
educativo. No se faz antes pesquisa, depois educao, ou vice-versa, mas, no mesmo processo,
educao atravs da pesquisa.
53
Bibliografia Bsica:
CUNHA, Maria Isabel. A aula universitria como espao de construo. In: Caderno de Educao,
n 07, Pelotas. 1996.
LUKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educao. So Paulo: Cortez, 1994
_______ e outros. Fazer universidade: uma proposta metodolgica. So Paulo: Cortez, 1990.
MASETO, Marcos Tarciso (org). Docncia na Universidade. Campinas; So Paulo: Papirus, 1998.
MERCADO, Lus Paulo Leopoldo. Utilizao das Novas Tecnologias nos Espaos de Aprendizagem,
Macei, mimeo, pp14.
MOREIRA, Daniel A. (org.) Didtica do Ensino Superior. Tcnicas e Tendncias. So Paulo:
Pioneira, 1997.
MOURA, Tnia Maria de Melo. Planejamento de Ensino: fundamentos terico-prticos. Texto
mimeo, Macei, abril de 2000.
PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competncias para Ensinar. Convite viagem. Traduo: Patrcia
Chitonni Ramo. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIMENTA, S. O professor reflexivo no Brasil. So Paulo: Cortez, 2002
TAVARES, Maria das Graas M. Extenso Universitria: Novo paradigma de universidade? Macei:
EDUFAL, Natal EDUFRN, 1997.
VEROSA, Elcio de Gusmo. Histria do Ensino Superior em Alagoas: Verso & Reverso. Macei:
EDUFAL, 1997.
Bibliografia Complementar (Aprofundamento):
ABREU, Maria Clia de & MASETTO, Marcos Tarciso. O professor universitrio em aula. 10
a
ed.,
So Paulo: MG Editores associados, 1990
COLL, Csar e Derek Edwards (orgs.) Ensino, Aprendizagem e Discurso em Sala de Aula.
Traduo: Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONTRERAS, J. A. A autonomia dos professores. So Paulo: Cortez, 2002
MASETTO, Marcos Tarciso. Didtica: a aula como centro. 4
a
ed., So Paulo: FTD, 1997.
MEIRIEU, Philippe. Aprender... Sim, mas como? 7
a
ed. Traduo: Vanise Pereira Dresch. Porto
Alegre: ARTMED, 1998.
MERCADO, Luiz Paulo Leopoldo. Formao Continuada de Professores e Novas Tecnologias.
Macei: EDUFAL/INEP/COMPED, 1999.
MIZUKAMI, Maria da Graa Nicoletti. Ensino: As Abordagens do Processo. So Paulo: EPU, 1986.
MOURA, Tnia Maria de Melo. A Prtica Pedaggica dos Alfabetizadores de Jovens e Adultos.
Contribuies de Freire, Ferreiro e Vygotsky. Macei: EDUFAL/INEP, 1999.
PERRENOUD, Philippe. Avaliao. Da excelncia Regulao das Aprendizagens. Entre duas
lgicas. Traduo: Patrcia Chittoni Ramos. Porto Alegre: ARTMED, 1999.
54
PERRENOUD, Philippe. Formar professores em contextos sociais em mudanas: Prtica reflexiva e
participao crtica. Revista Brasileira de Educao, n 12. Set/Dez, 1999.
ZABALA, Antoni. A prtica educativa. Como ensinar. Trad. Ernani F. Rosa Porto Alegre: ArtMed,
1998.
WACHOWICZ, Llian Anna. O Mtodo Dialtico na Didtica. Campinas; So Paulo: Papirus, 1989.
VASCONCELOS, Maria Lcia M. Carvalho. A formao do professor de terceiro grau. So Paulo:
Pioneira, 1996
LEITURAS
BETTEGA, Maria Helena. Educao Continuada na era digital. So Paulo: Cortez Editora, 2004
DELORS, Jacques. Relatrio da UNESCO: A Educao um tesouro a descobrir. So Paulo: Cortez
Editora, 2003
GRISPUN, Miriam P. S. Zippin. Educao Tecnolgica: Desafios e Perspectivas. So So Paulo:
Cortez Editora, 2002
MORIN, Edgar. tica, cultura e educao. So Paulo: Cortez Editora, 2003
____________ . Sete saberes necessrios Educao do Futuro. So Paulo: Cortez Editora, 2003
TEDESCO, Juan Carlos (org.). educao e novas tecnologias: esperana ou incerteza. So Paulo:
Cortez Editora, 2003
VDEO
O Homem Cinzento (Sistema de Telensino) UFRJ/CEP
FONTES DIGITAIS
ASSUNTO SITE
PANORAMA ATUAL DA EDUCAO A
DISTNCIA NO BRASIL
http://www.aquifolium.com.br/educacional/artigos/p
anoread.html
O VOCBULO DIDTICA www.centrorefeducacional.pro.br/didat.htn
Você também pode gostar
- Calistenia PLANO DE 6 MESESDocumento13 páginasCalistenia PLANO DE 6 MESESgokumen100% (2)
- Projeto de Avaliação Psicológica para Processo Seletivo de Conselho TutelarDocumento9 páginasProjeto de Avaliação Psicológica para Processo Seletivo de Conselho TutelarAlexandre Miranda0% (1)
- VF Manual Nee ProfsDocumento90 páginasVF Manual Nee ProfsCelso Orlando MatuassaAinda não há avaliações
- Modulo de Metodologia de Investigação CientíficaDocumento103 páginasModulo de Metodologia de Investigação CientíficaAdelia CossaAinda não há avaliações
- EXERC1Documento4 páginasEXERC1mandita_rios0% (1)
- Caderno de Metolologia PDFDocumento192 páginasCaderno de Metolologia PDFCamille Nagel100% (1)
- Docência Do Ensino Superior Apostila 1Documento136 páginasDocência Do Ensino Superior Apostila 1Cesar Augusto Azambuja100% (1)
- Papeleta 02Documento1 páginaPapeleta 02Douglas Salvador100% (1)
- DIDÁTICADocumento59 páginasDIDÁTICAcledisonjgAinda não há avaliações
- DIDÁTICADocumento173 páginasDIDÁTICApaulssantosAinda não há avaliações
- Bases Do Ensino Ativo - Uni 01Documento28 páginasBases Do Ensino Ativo - Uni 01Matheus RibeiroAinda não há avaliações
- Módulo 4 - Produção de Material Didático Digital para Educação A DistânciaDocumento43 páginasMódulo 4 - Produção de Material Didático Digital para Educação A DistânciaAlbertoMesaque100% (1)
- Didatica 2 PDFDocumento84 páginasDidatica 2 PDFValdeci Sousa FrançaAinda não há avaliações
- Didatica Docencia e Tutoria No Ensino Superior Web PDFDocumento200 páginasDidatica Docencia e Tutoria No Ensino Superior Web PDFHelenaAquatiliumAinda não há avaliações
- Modelos PedagogicosDocumento5 páginasModelos PedagogicosAlbert KerschbaumAinda não há avaliações
- Didática Do Ensino Superior. (DES) PDFDocumento22 páginasDidática Do Ensino Superior. (DES) PDFAna Cláudia Do NascimentoAinda não há avaliações
- Joana Paulin RomanowskiDocumento147 páginasJoana Paulin RomanowskiMarcio OliveiraAinda não há avaliações
- O Curriculo e o Desenvolvimento Curricular-LibreDocumento99 páginasO Curriculo e o Desenvolvimento Curricular-LibreSamuel GuimarãesAinda não há avaliações
- E Book Ensino Aprendizagem e MetodologiasDocumento353 páginasE Book Ensino Aprendizagem e MetodologiasBruno Leal BarbosaAinda não há avaliações
- Oq e Gestao Do ConhecimentoDocumento16 páginasOq e Gestao Do ConhecimentoAlan RodriguesAinda não há avaliações
- Prática Pedagógica em QuímicaDocumento114 páginasPrática Pedagógica em QuímicaSérgio José MickyAinda não há avaliações
- MetodologiaPesquisa Moresi2003Documento108 páginasMetodologiaPesquisa Moresi2003sandreymar100% (3)
- Tecnologias Da Informacao e Da ComunicacDocumento241 páginasTecnologias Da Informacao e Da ComunicacHudson FrotaAinda não há avaliações
- Organização Do Trabalho Docente U5Documento22 páginasOrganização Do Trabalho Docente U5Tatiana OliveiraAinda não há avaliações
- Didática e Metodologia Do Ensino SuperiorDocumento91 páginasDidática e Metodologia Do Ensino SuperiorMatheus LetsmanAinda não há avaliações
- Avaliação: Um Tema PolêmicoDocumento28 páginasAvaliação: Um Tema PolêmicoMárcia Genovêz0% (1)
- Como Num Espelho Texto UmDocumento29 páginasComo Num Espelho Texto UmSandra Mattos100% (1)
- Trabalho de Campo II MIC 1 Carlitos Carlos MucorreDocumento10 páginasTrabalho de Campo II MIC 1 Carlitos Carlos MucorreMeritoManuelAlfandegaMmaAinda não há avaliações
- LIVRO - Gestão Da Educação No Município - Genuíno BordignonDocumento69 páginasLIVRO - Gestão Da Educação No Município - Genuíno BordignonSthephanie SchulzAinda não há avaliações
- (Ebook) Formacao Continuada Dialogando Paulo FreireDocumento321 páginas(Ebook) Formacao Continuada Dialogando Paulo FreirePaulo Tiago Oliveira AlvesAinda não há avaliações
- Manual Iramuteq PDFDocumento35 páginasManual Iramuteq PDFRafaela RochaAinda não há avaliações
- Guia Prático para A Elaboração de Trabalhos AcadêmicosDocumento166 páginasGuia Prático para A Elaboração de Trabalhos Acadêmicosfsouza87100% (5)
- Modulo de Psico Desen AprendDocumento228 páginasModulo de Psico Desen AprendInacio Manuel Winny Nhatsave100% (1)
- BNCC - Dialogo CríticoDocumento109 páginasBNCC - Dialogo CríticoIvson SilvaAinda não há avaliações
- Ementa Didatica Do Ensino SuperiorDocumento5 páginasEmenta Didatica Do Ensino SuperiorsimoneAinda não há avaliações
- Apostila COCDocumento40 páginasApostila COCAna Paula FerrazAinda não há avaliações
- Engenharia de Software I: Carlos Helmar DuarteDocumento124 páginasEngenharia de Software I: Carlos Helmar DuarteCaminhanteNoturnoAinda não há avaliações
- Didática em MatemáticaDocumento51 páginasDidática em MatemáticaQuesia HorstsAinda não há avaliações
- Davidov O Que É Atividade de EstudoDocumento7 páginasDavidov O Que É Atividade de EstudoCaritaAinda não há avaliações
- Construção Do Conhecimento Científico PDFDocumento118 páginasConstrução Do Conhecimento Científico PDFjeantibh100% (1)
- Livro Currículo EscolarDocumento113 páginasLivro Currículo EscolarKeyla SoreneAinda não há avaliações
- Esp T Aprendizagem 2015 2Documento268 páginasEsp T Aprendizagem 2015 2José Lauro StrapassonAinda não há avaliações
- DEFICIÊNCIA E ESCOLARIZAÇÃO - Novas Perspectivas de AnáliseDocumento478 páginasDEFICIÊNCIA E ESCOLARIZAÇÃO - Novas Perspectivas de AnáliseAguinaldo Rodrigues GomesAinda não há avaliações
- Praticas Ped. - Impacto Dos Pais...Documento16 páginasPraticas Ped. - Impacto Dos Pais...Miguel DomingosAinda não há avaliações
- Planejamento Pedagogico e Avaliacao Do AprendizadoDocumento111 páginasPlanejamento Pedagogico e Avaliacao Do AprendizadoDamien DuncanAinda não há avaliações
- 2 - O-Currículo-Da-QuímicaDocumento47 páginas2 - O-Currículo-Da-QuímicaDaniel SoaresAinda não há avaliações
- E-Learning: Estudo Sobre As Componentes Mais Usadas Pelos IntervenientesDocumento141 páginasE-Learning: Estudo Sobre As Componentes Mais Usadas Pelos IntervenientesJoao VagarinhoAinda não há avaliações
- Brito Guilherme 2023 Formacao de Professores 27abr2023Documento499 páginasBrito Guilherme 2023 Formacao de Professores 27abr2023Lucas Victor SilvaAinda não há avaliações
- Modulo MatematicaDocumento175 páginasModulo MatematicaFernanda Nicacio100% (1)
- Instituto Superior de Ciências Da Educação de BenguelaDocumento16 páginasInstituto Superior de Ciências Da Educação de BenguelaAlladin&Eventos AO100% (1)
- Integração e InterdisciplinaridadeDocumento176 páginasIntegração e InterdisciplinaridademazfigAinda não há avaliações
- Fundamentos Teóricos e Metodológicos Da Língua PortuguesaDocumento83 páginasFundamentos Teóricos e Metodológicos Da Língua PortuguesaJassiara QueirozAinda não há avaliações
- Introducao A Logica MatematicaDocumento10 páginasIntroducao A Logica MatematicaANTONIELSON SOUSA100% (1)
- Texto de Apoio de Didactica Geral PDocumento109 páginasTexto de Apoio de Didactica Geral PMATATEU SILVESTRE ANDRÉAinda não há avaliações
- DidaticaDocumento102 páginasDidaticaIvanilda LeiteAinda não há avaliações
- Formação Docente e Prática de Ensino: tensionamentos e desafiosNo EverandFormação Docente e Prática de Ensino: tensionamentos e desafiosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Setor Privado e a Educação Superior Brasileira no Governo Lula e DilmaNo EverandO Setor Privado e a Educação Superior Brasileira no Governo Lula e DilmaAinda não há avaliações
- Educação Especial, Inclusão E DiversidadeNo EverandEducação Especial, Inclusão E DiversidadeAinda não há avaliações
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasNo EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasAinda não há avaliações
- Ensaios da Educação Básica: Conflitos, Tensões e DesafiosNo EverandEnsaios da Educação Básica: Conflitos, Tensões e DesafiosAinda não há avaliações
- Estudos de políticas educacionais e administração escolar (Vol. 2)No EverandEstudos de políticas educacionais e administração escolar (Vol. 2)Ainda não há avaliações
- Sequencia Didatica - BullyingDocumento1 páginaSequencia Didatica - BullyingMARTA OLIVEIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Plano - Museologico - MHN 2008Documento32 páginasPlano - Museologico - MHN 2008joanderson rodriguesAinda não há avaliações
- Pgdi Secretário 2023 CledimarDocumento2 páginasPgdi Secretário 2023 CledimarCledimar NogueiraAinda não há avaliações
- Vanda Machado - Exu - o Senhor Dos Caminhos e Da AlegriaDocumento17 páginasVanda Machado - Exu - o Senhor Dos Caminhos e Da AlegriawandersonnAinda não há avaliações
- Brasilidades Bahianas 02Documento79 páginasBrasilidades Bahianas 02quituteira100% (2)
- Chatbots - Como Usá-Los para Otimizar o Atendimento Ao ClienteDocumento12 páginasChatbots - Como Usá-Los para Otimizar o Atendimento Ao ClienteMonys MartinsAinda não há avaliações
- Matemática AplicadaDocumento34 páginasMatemática AplicadaMaria Helena MacedoAinda não há avaliações
- Tecido Epitelial - Partedoisset2007Documento19 páginasTecido Epitelial - Partedoisset2007Eduardo GarciaAinda não há avaliações
- Cordel IlustradoDocumento32 páginasCordel IlustradoIsabel SantanaAinda não há avaliações
- 1 ZAVAGLIA Criterios de CientificidadeDocumento13 páginas1 ZAVAGLIA Criterios de CientificidadeTamires Vieira Pinheiro de CastroAinda não há avaliações
- Nacional I DadeDocumento14 páginasNacional I DadeMax RyvertonAinda não há avaliações
- Especial Dia Dos Namorados Carta Abra Quando... - Noite de OutonoDocumento1 páginaEspecial Dia Dos Namorados Carta Abra Quando... - Noite de OutonoanaAinda não há avaliações
- Edital 80 - 2024 - Vagas Remanescentes Técnico Subsequente EaD 2024 1Documento13 páginasEdital 80 - 2024 - Vagas Remanescentes Técnico Subsequente EaD 2024 1Wandson Santos Barros BorgesAinda não há avaliações
- 2 - Arteterapia-E-Oficina-De-ArteDocumento21 páginas2 - Arteterapia-E-Oficina-De-ArteFernando TinocoAinda não há avaliações
- 20161214-Premio de Referencia para Opcoes de Acoes - EventoDocumento19 páginas20161214-Premio de Referencia para Opcoes de Acoes - EventoleleoleleoAinda não há avaliações
- Manual Celta 2009Documento129 páginasManual Celta 2009Guilherme Dias0% (1)
- Estudo Dirigido ÉticaDocumento1 páginaEstudo Dirigido ÉticaPauloLeitãoAinda não há avaliações
- Colecao Agrinho 7Documento56 páginasColecao Agrinho 7emilene silvaAinda não há avaliações
- Jurisdição - Conceito Principios Fundamentos Políticos - Slides - Flávia PitaDocumento24 páginasJurisdição - Conceito Principios Fundamentos Políticos - Slides - Flávia PitafapitataAinda não há avaliações
- Noções de Estatistica AplicadaDocumento22 páginasNoções de Estatistica AplicadaVagner Roberto MoreiraAinda não há avaliações
- 1interpretação e Produção de TextosDocumento3 páginas1interpretação e Produção de TextosCarolina Moreira0% (1)
- Entrevista Por CompetênciaDocumento9 páginasEntrevista Por Competênciawellington Evans Pereira GomesAinda não há avaliações
- Ufrj RJ 2011 0 Prova Completa C Gabarito 2a EtapaDocumento34 páginasUfrj RJ 2011 0 Prova Completa C Gabarito 2a EtapaCarl100% (1)
- Meus 5 Momentos para Higiene Das MãosDocumento1 páginaMeus 5 Momentos para Higiene Das MãosLuiz Alfredo CunhaAinda não há avaliações
- Aula 2 - Guarda e Regime de ConvivênciaDocumento18 páginasAula 2 - Guarda e Regime de ConvivênciaKarinaAinda não há avaliações
- AÇÃO ALIMENTOS BB CORRIGIDO - AssinadoDocumento5 páginasAÇÃO ALIMENTOS BB CORRIGIDO - AssinadoHiram CamaraAinda não há avaliações