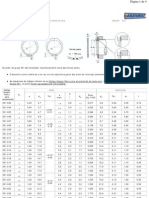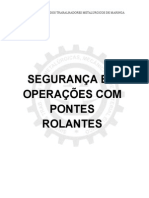Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila de Pneumatica
Apostila de Pneumatica
Enviado por
Eduardo MarquesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila de Pneumatica
Apostila de Pneumatica
Enviado por
Eduardo MarquesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tecnologia Pneumtica
Circuitos Pneumticos e Comandos
Eletropneumticos
Ailson Marins
Sal t o
2009
I FSP I ns t i t ut o Feder al de Educ a o, Ci nc i as e Tec nol ogi a de So Paul o
Campus Sal t o
Sumrio Pgi na
1. nt roduo 1
2. Produo do ar compri mi do 11
3. Di st ri bui o do ar compri mi do 16
4. Preparao do ar compri mi do 22
5. At uadores l i neares 37
6. Mot ores pneumt i cos 53
7. Vl vul as 55
8. Seqnci a de movi ment os 82
9. Ti pos de esquemas 88
10. Si mbol ogi a 97
11. El et ropneumt i ca 103
12. Exerc ci os 111
13. Component es el t ri cos dos ci rcu t os 112
14. Bi bl i ografi a 132
1 - INTRODUO
Pneumt i ca o est udo dos movi ment os e f enmenos dos gases
Origem da palavra:
Dos ant i gos gregos provm a pal avra "pneuma, que si gni f i ca f l ego, vent o e
f i l osof i cament e, al ma; deri vado dest a surgi u o concei t o de pneumt i ca.
Foi no scul o X X que o est udo do comport ament o do ar e de suas caract er st i cas
t ornou-se si st emt i co; i ni ci al ment e desacredi t ada, quase sempre por f al t a de
conheci ment o e i nst ruo, a pneumt i ca f oi acei t a e soment e aps 1950 f oi
aprovei t ada na produo i ndust ri al , t ornando sua rea de apl i cao cada vez
mai or.
Nota: Ent ende- se por "ar compri mi do o ar at mosf ri co compact ado por mei os
mecni cos, conf i nado em um reservat ri o, a uma det ermi nada presso.
Propriedade dos gases
Como qual quer subst nci a, os gases possuem propri edades espec f i cas.
Essas propri edades so:
A) COMPRESSBLDADE:
a propri edade que o gs t em de permi t i r a reduo do seu vol ume sob a ao
de uma f ora ext eri or.
B) ELASTCDADE:
a propri edade que permi t e ao gs ret ornar ao seu vol ume pri mi t i vo, uma vez
cessado a f ora ext eri or que o havi a compri mi do.
C) EXPANSBLDADE:
a propri edade que o gs t em de ocupar sempre o espao ou vol ume t ot al dos
reci pi ent es. A expansi bi l i dade o i nverso da compressi bi l i dade.
D) DFUSBLDADE:
a propri edade pel a qual um gs ou vapor, post o em cont at o com o ar, se
mi st ura i nt i mament e com el e.
1
1! "antagens no uso do ar #omprimido:
- encont rado com f aci l i dade e em grande quant i dade no ambi ent e.
- Est ando acondi ci onado em reservat ri o, de f ci l t ransport e e di st ri bui o,
podendo ser ut i l i zado no moment o que se quei ra.
- Funci onament o perf ei t o, mesmo em si t uaes t rmi cas ext remas.
- Si st ema de f i l t ragem t orna o ar compri mi do l i mpo.
- Event uai s vazament os no pol uem o ambi ent e.
- Permi t e al canar al t as vel oci dades de t rabal ho.
- O equi pament o seguro cont ra sobrecarga.
1$ Desvantagem no uso do ar #omprimido:
- Cust o el evado na produo, armazenament o e di st ri bui o do ar.
- Vari aes de vel oci dade devi do compressi bi l i dade do ar.
- Escapes rui dosos, obri gando ao uso de si l enci adores.
1% Renta&ilidade do ar #omprimido:
Para o cl cul o da rent abi l i dade real do ar compri mi do, no devem ser
consi derados soment e os cust os de energi a empregada; deve- se l evar em cont a,
t ambm, o processo mai s econmi co, em razo da aut omat i zao, barat eando o
produt o.
Com a ut i l i zao de mqui nas aut omat i zadas e o emprego do ar compri mi do,
podemos reduzi r a ut i l i zao do t rabal ho braal , pri nci pal ment e em reas
i nsal ubres e em condi es peri gosas; o que l eva t ambm a uma reduo do cust o
f i nal do produt o.
2
1 ' (undamentos das l ei s )* si #as dos gases
Voc j deve saber que a superf ci e t errest re est permanent ement e envol vi da
por uma camada de ar.
+,-,D,S .,SOS,S D, ,T-OS(/R,
Essa massa gasosa (ar), denomi nada at mosf era, t em composi o aproxi mada de
78% de Ni t rogni o, 21 % de Oxi gni o e 1% de out ros (di xi do de carbono,
argni o, hi drogni o, neni o, hl i o, cri pt ni o, xenni o, et c. ).
Para mel hor compreender as l ei s e as condi es do ar, devemos pri mei rament e
consi derar as grandezas f si cas, em nosso pa s adot amos as uni dades de
medi das do Si st ema nt ernaci onal (S ), mas comum o uso de uni dades que no
pert encem ao S , pri nci pal ment e em di sci pl i nas i nst rument ai s como: Hi drul i ca,
Ref ri gerao, Pneumt i ca, et c.
3
1 0 .rande1as2 s* m&ol os e uni dades
4
1 3 (or4a e press5o
Em pneumt i ca, f ora e presso so grandezas mui t o i mport ant es.
F o r a : um agent e capaz de def ormar (ef ei t o est t i co) ou acel erar (ef ei t o
di nmi co) um corpo.
Pr e s s o : o quoci ent e da di vi so do mdul o (i nt ensi dade) de uma f ora pel a
rea onde el a at ua.
Re g r a d o T r i n g u l o :
16 Prin#*pio de Pas#al
Um f l ui do, ao ser compri mi do em um reci pi ent e f echado exercer presso i gual
em t odos os sent i dos.
Podemos veri f i car i st o f aci l ment e, f azendo uso de uma bol a de f ut ebol .
Apal pando- a, observamos uma presso uni f ormement e di st ri bu da em sua
superf ci e.
5
F
P A
F
P A
F
P
A
a si gni i ca di !i so
" si gni i ca #ul t i $l i cao
a
b
17 Press5o atmos)8ri#a
a presso que a at mosf era exerce sobre os corpos, at uando em t odos os
sent i dos. El a equi l i bra uma col una de 760mm (al t ura), de mercri o, 0
C e ao
n vel do mar.
Quem i magi nou e l evou a ef ei t o essa exper i nci a f oi o f si co i t al i ano Torri cel l i , de
onde vem o nome de barmet ro de Torri cel l i .
El e usou um t ubo de vi dro com cerca de 1m de compri ment o, e um dos ext remos
f echado. Encheu- o de mercri o e t ampou o out ro ext remo com o dedo; depoi s
i nvert eu o t ubo e mergul hou- o num reci pi ent e t ambm com mercri o.
6
Quando retirou o dedo, o lquido desceu at atingir certa altura
formando uma coluna.
A coluna de mercrio manteve-se em equilbrio pela presso
atmos!rica e"ercida sobre a supercie do mercrio no recipiente#
$edindo essa coluna% ao nvel do mar% Torricelli constatou que media
&'(mm% a partir do nvel de mercrio do reservat)rio#
119 Rela45o entre unidades de )or4a
1 Kp = 1 Kgf 1 Kp = 9, 81 N
Para cl cul os aproxi mados, consi deramos: 1 Kp = 10N
1 11 /:ui val ;n#i a entre uni dades de press5o
presso
Pa
(n/ m
2
)
at m bar
Kp/ cm
2
( Kgf/cm
2
)
Torr
(mm de
Hg)
met ro da
col una de
gua
1 Pa 1
9, 87
x 10
- 5
10
- 5
0, 102
x 10
- 4
7, 5
x 10
- 3
10, 2
x 10
- 5
1 at m
1, 013
x 10
5
1 1, 013 1, 033 760 10, 33
1 bar 10
5
0, 987 1 1, 02 750 10, 2
1 kp/ cm
2
9, 81
x 10
4
0, 968 0, 981 1 736 10
1 Torr 133
1, 31
x 10
- 3
1, 31
x 10
- 3
1, 36
x 10
- 3
1
13, 6
x 10
- 3
1m col una
de gua
9, 81
x 10
- 3
9, 68
x 10
- 2
9, 81
x 10
- 2
0, 1 73, 6 1
Para cl cul os aproxi mados, consi deramos:
Onde:
at m -at mosf era;
mm Hg -al t ura da col una de mercri o em mi l met ros;
bar -uni dade do CGS = 10
6
bri as (do grego bari s = pesado);
kp/ cm - qui l opond por cent met ro ao quadrado;
kgf / cm - qui l ograma f ora por cent met ro ao quadrado;
kPa - qui l opascal ;
mca - al t ura da col una de gua em met ros;
PS - Pound Square nch (l bf / pol ) : l i bra-f ora por pol egada
ao quadrado.
7
1atm < 309mm=g < 1&ar < 1>g)? #m
!
< 199>Pa < 19m#a < 1%2 3 PSI @l &)? pol
!
A
AT *+,-.
O aparel ho que mede a presso (manmet ro normal ) i ndi ca apenas a presso
rel at i va.
Port ant o, em t ermos de presso absol ut a, necessri o somar mai s uma
at mosf era(1 at m) ao val or i ndi cado no manmet ro.
*/*$P0 .
O manmet ro i ndi ca:
Press5o Rel ati va Press5o ,&sol uta
3 at m 3 at m + 1 at m = 4 at m
8 bar 8 bar + 1 at m = 9 bar (1 at m = 1 bar)
5 kgf / cm
2
5 kgf / cm
2
+ 1 at m = 6 kgd/ cm
2
(1at m = 1kgf / cm
2
)
2 PS 2 PS + 1 at m = 16, 7 PS (1 at m = 14, 7 PS )
8
P
r
e
s
s
o
R
e
l
a
t
i
v
a
S
o
b
r
e
p
r
e
s
s
o
S
u
b
p
r
e
s
s
o
P
r
e
s
s
o
A
b
s
o
l
u
t
a
1 atm Zero rel ati vo
Zero absol uto
1 1! Temperatura
a quant i dade de energi a cal ri ca em t rnsi t o. A t emperat ura i ndi ca a
i nt ensi dade de cal or.
No est udo dos gases, a t emperat ura expressa em Kel vi n, t ambm conheci da
como escal a de t emperat ura absol ut a.
As escal as de t emperat ura mai s ut i l i zadas so:
Cel si us (C), Fahrenhei t (F) e Kel vi n (K)
Observe as di f erenas ent re as escal as apresent adas na f i gura abai xo:
Como pode ser vi st o na i l ust rao, as t rs escal as apresent am (ent re
congel ament o e vapori zao da gua) as segui nt es quant i dades de di vi ses, na
presso at mosf ri ca normal = 1 at m :
Escal a Cel si us (C) -------- 100
di vi ses
Escal a Kel vi n (K) -------- 100
di vi ses
Escal a Fahrenhei t
(F)
-------- 180
di vi ses
Como base nesses dados, obt emos as equaes de converses ent re as t rs
escal as:
9
Temperatura de
vaporizao da gua
Temperatura de
congelamento da gua
100 C
212 F
373 K
0 C 32 F
273 K
E
s
c
a
l
a
C
l
s
i
u
s
E
s
c
a
l
a
F
a
h
r
e
n
h
e
i
t
E
s
c
a
l
a
K
e
l
v
i
n
C = 5 x ( F 32 )
9
K = 5 x ( F 32 ) + 273
9
K = C + 273 C = K - 273
11$ Beis (*si#as dos gases
Lei de Boyl e/ Mari ot t e (Robert Boyl e e Edna Mari ot t eA
Consi derando- se a t emperat ura const ant e, ao reduzi r o vol ume, aument a a
presso (t ransf ormao i sot rmi ca).
Lei de Gay Lussac (Joseph Loui s gay LussacA
Consi derando- se a presso const ant e, ao aument ar a t emperat ura, aument a o
vol ume (t ransf ormao i sobri ca).
Lei de Charl es (Jacques Al exandre Charl es)
Consi derando- se o vol ume const ant e, ao aument ar a t emperat ura, aument a a
presso (t ransf ormao i sot rmi ca)
10
! PRODUO DO ,R +O-PRI-IDO
Ao proj et ar a produo ou consumo de ar, devero ser consi deradas poss vei s
ampl i aes e f ut uras aqui si es de equi pament os pneumt i cos.
Uma est ao compressora f ornece o ar compri mi do para os equi pament os,
at ravs de uma t ubul ao, e uma ampl i ao post eri or da i nst al ao t orna-se cara.
Os vri os t i pos de compressores est o rel aci onados di ret ament e com a presso
de t rabal ho e a capaci dade de vol ume, exi gi das para at ender s necessi dades da
i ndst ri a.
11
! 1 +ompressor de ;m&ol o #om movi mento l i near
A) Compressor de mbol o:
Basei a- se no pri nc pi o de redu45o de vol ume.
st o si gni f i ca que o ar da at mosf era aspi rado para um ambi ent e
f echado (Cmara de compresso) onde um pi st o (mbol o) compri me o
ar sob presso.
B) Compressor de membrana:
O mbol o f i ca separado, por uma membrana, da cmara de suco e
compresso, i st o , o ar no ent ra em cont at o com as part es desl i zant es.
Assi m, o ar f i ca i sent o de res duos de l eo, e por essa razo, esses
compressores so os pref eri dos das i ndst ri as al i ment ci as, qu mi cas e
f armacut i cas.
12
! ! +ompressores de ;m&ol o rotati vo
A) Compressor rot at i vo mul t i cel ul ar (pal het as):
Dot ado de um compart i ment o ci l ndri co, com abert uras de ent rada e
sa da, onde gi ra um rot or f ora de cent ro.
B) Compressor de f uso rosqueado (paraf uso):
%oi s $ar a usos &el i coi dai s, de $er i s c'nca!o e con!e(o, co#$r i #e# o ar , )ue *
condu+i do a(i al #ent e,
13
!$ .eneralidades
A) Volume de ar fornecido
a quant i dade de ar f orneci do pel o mbol o do compressor em movi ment o.
Exi st em duas i ndi caes de vol ume f orneci do.
- t eri co (vol ume i nt erno x rpm)
- ef et i vo (vol ume t eri co perdas)
B) Presso
- presso de Regi me a presso f orneci da pel o compressor, e que vai da
rede di st ri bui dora at o consumi dor.
- Presso de Trabal ho a presso necessri a nos post os de t rabal ho. Essa
presso geral ment e de 6 bar, e os el ement os de t rabal ho so const ru dos
para essa f ai xa de t rabal ho, consi derada presso normal ou econmi ca.
C) Acionamento
Em i nst al aes i ndust ri ai s, na mai ori a dos casos, o aci onament o se d por
mot or el t ri co.
Trat ando-se de uma est ao mvel , o aci onament o geral ment e por mot or a
expl oso (gasol i na, l eo di esel ).
D) Regulagem
Para combi nar o vol ume de f orneci ment o com o consumo de ar, necessri a
uma regul agem do compressor (mecni ca ou el t ri ca), a part i r de doi s val ores
l i mi t es pr-est abel eci dos: presso mxi ma e m ni ma.
14
E) Refrigerao
O aqueci ment o ocorre em razo da compresso do ar e do at ri t o, e esse cal or
deve ser di ssi pado.
necessri o escol her o t i po de ref ri gerao mai s adequado, conf orme o grau de
aqueci ment o do compressor.
Em compressores pequenos, sero suf i ci ent es pal het as de aerao para que o
cal or sej a di ssi pado.
Compressores mai ores sero equi pados com vent i l ador, e em al guns casos,
devem ser equi pados com ref ri gerao a gua ci rcul ant e ou gua corrent e
cont nua.
F) Local de instalao e manuteno
A est ao de compressores deve ser mont ada dent ro de um ambi ent e f echado,
com prot eo acst i ca, boa aerao e o ar sugado deve ser f resco, seco e l i vre
de poei ra.
A manut eno do compressor um f at or mui t o i mport ant e, poi s del a depende o
seu bom f unci onament o e a sua rent abi l i dade.
Port ant o, i mpresci nd vel el aborar pl anos de manut eno e segui r as i nst rues
recomendadas pel o f abri cant e.
No pl ano dever const ar, obri gat ori ament e, a veri f i cao do n vel do l eo de
l ubri f i cao nos l ocai s apropri ados, e part i cul arment e nos mancai s do
compressor, mot or e crt er, bem como a l i mpeza dos f i l t ros de ar e da vl vul a de
segurana do reservat ri o de ar, poi s, se a mesma f al har, haver peri go de
expl oso do reservat ri o, ou dani f i cao da mqui na.
15
3. DISTRIBUIO DO AR COMPRIMIDO
$1 ReservatCrio de ar #omprimido
(UNO: est abi l i zar a di st ri bui o do ar compri mi do, el i mi nar as osci l aes de
presso na rede di st ri bui dora e, quando h um moment neo al t o consumo de ar,
uma garant i a de reserva.
A grande superf ci e do reservat ri o ref ri gera o ar supl ement ar; assi m, part e da
umi dade condensada e separa-se do ar no reservat ri o, sai ndo pel o dreno.
16
3.2. Rede condutora principal
Cada mqui na, cada di sposi t i vo requer quant i dades adequadas de ar, que
f orneci da pel o compressor, at ravs da rede di st ri bui dora.
O di met ro da t ubul ao deve ser escol hi do de manei ra que, mesmo com um
consumo de ar crescent e, a queda de presso, do reservat ri o at o equi pament o
no ul t rapasse 0, 1 bar; uma queda mai or de presso prej udi ca a rent abi l i dade do
si st ema e di mi nui consi deravel ment e a sua capaci dade.
A escol ha do di met ro da t ubul ao no real i zada por quai squer f rmul as
emp ri cas ou para aprovei t ar t ubos por acaso exi st ent es em depsi t o, mas si m
consi derando:
* Vol ume corrent e (vazo);
* Compri ment o da rede;
* Queda de presso admi ss vel ;
* Presso de t rabal ho;
* Nmero de pont os de est rangul ament o na rede.
17
Nota: Na di st ri bui o do ar compri mi do deve-se est ar at ent o a poss vei s
vazament os na rede, para que no haj a perdas de presso e el evao nos cust os.
$$ -ontagem da rede de distri&ui45o de ar #omprimido
Em uma rede de di st ri bui o i mport ant e no soment e o corret o
di mensi onament o mas t ambm a mont agem das t ubul aes
As t ubul aes de ar compri mi do requerem manut eno regul ar, razo pel a qual as
mesmas no devem, se poss vel , ser mont adas dent ro de paredes ou de
cavi dades est rei t as.
A) Rede de distribuio em circuito aberto:
As t ubul aes, em especi al nas redes em ci rcui t o abert o, devem ser mont adas
com um decl i ve de 1% a 2%, na di reo do f l uxo.
Por causa da f ormao de gua condensada, f undament al , em t ubul aes
hori zont ai s, i nst al ar os ramai s de t omadas de ar na part e superi or do t ubo
pri nci pal .
Dessa f orma, evi t a-se que a gua condensada que event ual ment e est ej a na
t ubul ao pri nci pal possa chegar s t omadas de ar at ravs dos ramai s.
Para i nt ercept ar e drenar a gua condensada devem ser i nst al adas deri vaes
com drenos na part e i nf eri or na t ubul ao pri nci pal
B) Rede de distribuio em circuito fechado:
18
Part i ndo da t ubul ao pri nci pal , so i nst al adas as l i gaes em deri vao.
Quando o consumo de ar mui t o grande, consegue-se, medi ant e esse t i po de
mont agem, uma manut eno de presso uni f orme.
O ar f l ui em ambas as di rees.
$% -aterial de tu&ula45o
A) Tubulaes principais:
Na escol ha do mat eri al da t ubul ao t emos vri as possi bi l i dades:
Cobre Tubo de ao pret o Ao-l i ga
Lat o Tubo de ao zi ncado (gal vani zado) Mat eri al si nt t i co
B) Tubulaes secundrias:
Tubul aes base de borracha (manguei ras) soment e devem ser usadas onde f or
requeri da uma cert a f l exi bi l i dade e onde, devi do a um esf oro mecni co mai s
el evado, no possam ser usadas t ubul aes de mat eri al si nt t i co.
Hoj e, as t ubul aes base de pol i et i l eno e pol i ami do so mai s f reqent ement e
usadas em maqui nri os, poi s permi t em i nst al aes rpi das e so ai nda de bai xo
cust o.
19
$' +oneDEes para tu&ula4Ees
Os di versos t i pos de conexes podem ser ut i l i zados para t ubos met l i cos, de
borracha ou mat eri ai s si nt t i cos, desde que respei t adas as rest ri es e
recomendaes de apl i cao dos f abri cant es.
1one"o para t ubul a2es pri nci pai s:
l ange
1one"2es roscadas para t ubos com cost ura 3gal vani 4ados5:
1one"o para t ubos l e" vei s 1one"o para t ubos r gi dos
de pol i et i l eno ou pol i ami da: sem cost ura:
conexo rpida
20
21
4. PREPARAO DO AR COMPRIMIDO
Ant es de ser di st ri bu do pel a rede aos consumi dores, o ar compri mi do deve
passar por processos de t rat ament o e preparao:
Onde:
1) Fi l t ro de suco;
2) Compressor;
3) Resf ri ador (t emp. ent r. . = 90 a 200C t emp. sa da = 40C);
4) Separador de gua;
5) Reservat ri o de ar;
6) Fi l t ro ent rada do secador;
7) Secador de ar (t emp. ent r. = 30 a 40C t emp. sa da = 4C);
8) Fi l t ro de sa da do secador;
9) Tomada de ar compri mi do;
10) Uni dade de conservao (f i l t ro regul ador de presso l ubri f i cador).
%1 Res)riadores ou Tro#adores de +alor
Os compressores reduzem o vol ume do ar para que a presso aument e. Como
presso e t emperat ura so di ret ament e proporci onai s, o ar at i nge t emperat uras
el evadas.
O ar compri mi do a al t a t emperat ura, al m de reduzi r a ef i ci nci a do compressor,
poderi a ai nda causar aci dent es ao operador e dani f i car os component es
pneumt i cos.
Em compressores de di versos est gi os, normal ment e se ut i l i zam resf ri adores
i nt ermedi ri os (ent re est gi os). Dependendo da produo ef et i va de ar, esses
resf ri adores t rabal ham sob a at uao do ar ou da gua.
22
Si stema de re)ri gera45o de um #ompressor:
Si stema de re)ri gera45o posteri or F #ompress5o:
23
%! Se#adores de ar #omprimido
A gua (umi dade) j penet ra na rede com o prpri o ar aspi rado pel o compressor,
os secadores servem para ret i rar a umi dade do ar compri mi do, est ej a el a em
est ado l qui do ou em f orma de vapor.
i mport ant e sal i ent ar, ent ret ant o, que o ar deve ser secado ant es de ser
di st ri bu do na rede, devi do ao f at o de os component es pneumt i cos, em sua
mai ori a, serem met l i cos e, port ant o, suj ei t os corroso.
A i nci dnci a da umi dade depende, em pri mei ra est nci a, da umi dade rel at i va do
ar que, por sua vez, depende da t emperat ura e condi es ambi ent ai s.
A umi dade absol ut a a quant i dade de gua cont i da em 1m
3
de ar.
A quant i dade de sat urao a quant i dade de gua admi t i da em 1m
3
de ar a uma
det ermi nada t emperat ura. Nesse caso, a umi dade rel at i va de 100% (pont o de
orval ho).
No di agrama do pont o de orval ho (a segui r) pode-se observar a quant i dade de
sat urao t emperat ura correspondent e.
Umi dade Rel at i va = umi dade absol ut a x 100%
Quant i dade de Sat urao
6u a n t i d a d e d e 7 g u a 3 6a 5 a d mi t i d a p e l o c o mp r e s s o r 3 g 8 m
9
5
Qa = umi dade rel at i va x quant i dade de sat urao
100%
24
DI,.R,-, DO PONTO D/ OR",B=O
/Dempl o
Para um pont o de orval ho de 313 k (40 C), 1m
3
de ar cont m 50g de gua.
25
O ar compri mi do pode ser secado de t rs manei ras di f erent es:
A) Secagem por absoro
Absoro a f i xao de uma subst nci a (l qui da ou gasosa) no i nt eri or da
massa de out ra subst nci a (sl i da)
Trat a-se de um processo qu mi co que consi st e no cont at o do ar compri mi do
com o el ement o secador (cl oret o de cl ci o, cl oret o de l t i o).
A gua ou vapor, em cont at o com esse el ement o, mi st ura-se qui mi cament e
com el e, f ormando um res duo que dever ser removi do peri odi cament e do
absorvedor.
26
B) Secagem por adsoro
Adsoro a f i xao de uma subst nci a na superf ci e de out ra subst nci a.
um processo f si co em que o ar compri mi do ent ra em cont at o com um
el ement o secador que t em a f uno de ret er a umi dade e l i berar ar seco.
Esse el ement o, const i t u do de quase 100% de di xi do de si l ci o (Si O
2
),
conheci do no mercado como s* l i #a gel .
27
C) Secagem por resfriamento
Funci ona pel o pri nc pi o da di mi nui o da t emperat ura do pont o de orval ho.
O pont o de orval ho a t emperat ura qual deve ser resf ri ado um gs para se
obt er a condensao do vapor de gua nel e cont i do.
O ar compri mi do a ser secado ent ra no secador, passando pri mei ro pel o t rocador
de cal or (vapori zador), o ar quent e que est ent rando resf ri ado.
Forma-se um condensado de l eo e gua que el i mi nado pel o t rocador de cal or.
Esse ar compri mi do pr-resf ri ado ci rcul a at ravs do t rocador de cal or
(vapori zador) e assi m sua t emperat ura desce at 1, 7 C, aproxi madament e.
Dessa manei ra, o ar submet i do a uma segunda separao de condensado de
gua e l eo.
Post eri orment e, o ar compri mi do pode ai nda passar por um f i l t ro f i no, a f i m de
el i mi nar os corpos est ranhos.
28
%$ Unidade de #onserva45o
A uni dade de conservao t em a f i nal i dade de puri f i car o ar compri mi do, aj ust ar
uma presso const ant e do ar e acrescent ar uma f i na nebl i na de l eo ao ar
compri mi do, para f i ns de l ubri f i cao.
Devi do a i sso, a uni dade de conservao aument a consi deravel ment e a
segurana de f unci onament o dos equi pament os pneumt i cos.
A uni dade de conservao uma combi nao de:
:i mb o l o g i a :
29
A). Filtro de ar comprimido
A funo do filtro de ar reter as partculas de impurezas, bem como a gua condensada,
presente no ar que passa por ele.
Funcionamento:
30
O ar compri mi do, ao ent rar no copo do f i l t ro, f orado a um movi ment o de
rot ao por mei o de rasgos di reci onai s. Com i sso, por mei o de f ora cent r f uga
separam-se i mpurezas mai ores e got cul as de gua, que se deposi t am ent o
no f undo do copo
O condensado acumul ado no f undo do copo deve ser el i mi nado, o mai s t ardar,
ao at i ngi r a marca do n vel mxi mo, j que, se i st o no ocorrer, ser arrast ado
novament e pel o ar que passa.
As part cul as sl i das mai ores que a porosi dade do f i l t ro, so ret i das por est e.
Com o t empo, o acmul o dessas part cul as i mpede a passagem do ar.
Port ant o, o el ement o f i l t rant e (bronze si nt eri zado ou mal ha de nyl on) deve ser
l i mpo ou subst i t u do em i nt erval or regul ares.
Em f i l t ros normai s, a porosi dade encont ra-se ent re 30 e 70 mi crons.
Fi l t ros mai s f i nos t m el ement os com porosi dade at 3 mi crons.
Dreno automtico do Filtro de ar:
Se houver acentuado deposio de condensado, convm substituir a vlvula de descarga manual
por uma automtica.
F u n c i o n a me n t o :
31
Pel o f uro, o condensado at i nge a cmara ent re as vedaes.
Com o aument o do n vel do condensado, o f l ut uador se ergue. A um
det ermi nado n vel , abre-se a sa da; o ar compri mi do exi st ent e no copo
passa por el a e desl oca o mbol o para a di rei t a.
Com i sso, abre-se o escape para o condensado. Pel o escape, o ar s
passa l ent ament e, mant endo-se a sa da do condensado, abert a por um
t empo mai or.
B) Regulador de presso
Tem por f i nal i dade mant er const ant e a presso de t rabal ho (secundri a)
i ndependent ement e da presso da rede (pri mri a) e consumo de ar.
A presso pri mri a t em que ser mai or que a secundri a.
32
R*;<0 A=.R =* PR*::-. 3 c o n t # # # 5
F u n c i o n a me n t o :
33
A presso regul ada por mei o de uma membrana. Uma das f aces da
membrana submet i da presso de t rabal ho; do out ro l ado at ua uma mol a
cuj a presso aj ust vel por mei o de um paraf uso de regul agem.
Com o aument o da presso de t rabal ho, a membrana se movi ment a cont ra a
f ora da mol a. Com i sso a seco nomi nal de passagem na sede da vl vul a
di mi nui progressi vament e ou f echa t ot al ment e. sso si gni f i ca que a presso
regul ada pel o f l uxo.
Na ocasi o do consumo, a presso di mi nui e a f ora da mol a reabre a vl vul a.
Com i sso, para mant er a presso regul ada, h um const ant e abri r e f echar da
vl vul a.
Para evi t ar a ocorrnci a de vi brao i ndesej vel sobre o prat o da vl vul a,
exi st e um amort eci ment o por mol a ou ar.
Se a presso aument ar mui t o do l ado secundri o, a membrana pressi onada
cont ra a mol a. Com i sso, abre-se a part e cent ral da membrana e o ar em
excesso sai pel o f uro de escape para a at mosf era.
O regul ador sem escape no permi t e a sa da para a at mosf era, do ar cont i do
no si st ema secundri o, devi do a i sso, ut i l i zado para gases t xi cos ou
i nf l amvei s (maari co).
Se, do l ado secundri o no houver consumo de gs, a presso cresce e f ora
a membrana cont ra a mol a. Dest a f orma, a mol a pressi ona o pi no para bai xo e
a passagem f echada pel a vedao.
Soment e quando houver demanda de gs pel o l ado secundri o que o gs do
l ado pri mri o vol t ar a passar.
C).Lubrificador
Nos el ement os pneumt i cos encont ram-se peas mvei s que devem ser
submet i das l ubri f i cao, para garant i r um desgast e m ni mo, mant er t o m ni ma
quant o poss vel s f oras de at ri t o e prot eger os aparel hos cont ra corroso.
Medi ant e o l ubri f i cador, espal ha- se no ar compri mi do uma nvoa adequada de
l eo.
Os l ubri f i cadores operam, geral ment e, segundo o pri nc pi o venturi . A
di f erena de presso ( queda de presso) ent re a presso exi st ent e ant es do
bocal nebul i zador e a presso no pont o est rangul ado do bocal sero aprovei t adas
para sugar l eo de um reservat ri o e mi st ur-l o com o ar em f orma de nebl i na.
O l ubri f i cador de ar soment e comea a f unci onar quando exi st e um f l uxo
suf i ci ent ement e grande.
Quando houver pequena demanda de ar, a vel oci dade no bocal i nsuf i ci ent e para
gerar uma depresso (bai xa presso) que possa sugar o l eo do reservat ri o.
Deve- se, port ant o, prest ar at eno aos val ores de vazo (f l uxo) i ndi cados pel o
f abri cant e.
Pri nc pi o Venturi :
34
Funcionamento do lubrificador
35
A corrent e de ar no l ubri f i cador vai de , para G.
A vl vul a de regul agem = obri ga o ar a ent rar no depsi t o /, pel o canal (.
Pel o ef ei t o de suco no canal +, o l eo t ransport ado pel o t ubo ascendent e
B at a cmara D.
Nest a cmara, o l eo got ej ado na corrent e de ar e arrast ado.
Medi ant e o paraf uso H, aj ust a-se quant i dade de l eo adequada.
O desvi o do ar compri mi do at o depsi t o real i za- se at ravs da cmara (,
onde se ef et ua o f enmeno da aspi rao.
As got as grandes demai s caem no ambi ent e /.
Soment e a nebl i na ar-l eo chega sa da G, at ravs do canal ..
No emprego da uni dade de conservao, deve-se observar os segui nt es pont os:
1. A vazo de ar (m
3
/ h) det ermi nant e para o t amanho da uni dade.
Demanda (consumo) de ar mui t o grande provoca queda de presso nos
aparel hos.
Deve- se observar ri gorosament e os dados i ndi cados pel o f abri cant e.
2. A presso de t rabal ho nunca deve ser superi or i ndi cada no aparel ho, e a
t emperat ura ambi ent e no deve ser superi or a 50
C (mxi mo para copos de
mat eri al si nt t i co).
%%-anuten45o da unidade de #onserva45o
A) Filtro de ar comprimido
Quando o f i l t ro no dot ado de dreno aut omt i co, o n vel de gua condensada
deve ser cont rol ado regul arment e, poi s a gua no deve ul t rapassar a al t ura
det ermi nada no copo.
A gua condensada acumul ada pode ser arrast ada para a t ubul ao de ar
compri mi do e equi pament os.
O el ement o f i l t rant e, component es pl st i cos, vedaes e copo devem ser l i mpos
com gua e sabo neut ro (bi odegradvel ).
Secar com ar compri mi do l i mpo e seco na presso mxi ma de 2bar.
B) Regulador de presso de ar comprimido
Quando exi st e um f i l t ro de ar compri mi do i nst al ado ant es do regul ador, di spensa-
se prat i cament e a manut eno desse regul ador.
C) Lubrificador de ar comprimido
Cont rol ar o n vel de l eo no copo reservat ri o.
Se necessri o, compl ement ar o l eo at o n vel i ndi cado (3/ 4 do copo).
Use l eo mi neral com especi f i cao: SO VG 32 (vi scosi dade = 32 cst -
cent i st okes).
Regul agem do cont a-got as em t orno de 1 a 2 got as por mi nut o.
Component es pl st i cos, vedaes e copo devem ser l i mpos com gua e sabo
neut ro (bi odegradvel ).
Secar com ar compri mi do l i mpo e seco na presso mxi ma de 2bar.
36
5. Atua!"#$ %&'#a"#$ ()&%&'"!$)
O at uador l i near um el ement o de mqui na que t ransf orma a energi a pneumt i ca
em movi ment os ret i l neos.
/Dempl os de apl i #a45o:
C) Aci onament o de prensa
37
A) Aci onament o de vl vul a B) Aci onament o de cadi nho de
De f echament o f undi o
O&serva45o:
A gerao de um movi ment o ret i l neo com el ement os mecni cos, conj ugados com
aci onament os el t ri cos, rel at i vament e cust osa e est l i gada a cert as
di f i cul dades de f abri cao e durabi l i dade.
'1 +omponentes de um atuador:
LEGENDA
1 Cami sa 7 Anel raspador (l i mpador da hast e)
2 Hast e 8 Regul agem do amort eci ment o di ant ei ro
3 mbol o 9 Vedao do amort eci ment o
4 Vedao do mbol o 10 Regul agem do amort eci ment o t rasei ro
5 Vedao da hast e 11 Tampa t rasei ra
6 Bucha de gui a da hast e 12 Tampa di ant ei ra
A cami sa @1A na mai ori a dos casos f ei t a de um t ubo de ao t ref i l ado a f ri o, sem
cost ura. Para aument ar a vi da t i l dos el ement os de vedao, a superf ci e i nt erna
do t ubo bruni da.
Para casos especi ai s, o ci l i ndro f ei t o de al um ni o ou l at o, ou de ao com
superf ci e i nt erna de cromo duro. Est es equi pament os sero empregados para
t rabal hos nem sempre cont nuos ou onde exi st e possi bi l i dade de corroso mui t o
acent uada.
Para t ampas @11A e @1! usa-se normal ment e mat eri al f undi do (al um ni o f undi do ou
f erro mal evel )).
A f i xao das t ampas pode ser f ei t a com t i rant es, roscas ou f l anges.
38
A hast e @!A geral ment e f ei t a com ao benef i ci ado, revest i da com camada de
cromo para prot eo de corroso.
A rosca da hast e geral ment e l ami nada, a f i m de evi t ar rupt ura.
Para a vedao da hast e do mbol o, exi st e um anel ci rcul ar @'A na t ampa ant eri or.
A hast e do mbol o est gui ada na bucha de gui a @0A Est a bucha pode ser de
bronze si nt et i zado ou de mat eri al si nt t i co met al i zado.
Na f rent e dessa bucha, encont ra-se o anel l i mpador @3A, que evi t a a ent rada de
part cul as de p e de suj ei t a no ci l i ndro. Assi m no necessri a out ra prot eo.
Comparao ent re uma rosca l ami nada e usi nada:
Materiais das vedaes:
Bruna N (-10 C at 80 C)
Perbunam (-20 C at 80 C)
Vi t on (-20 C at 190 C)
Tef l on (-80 C at 200 C)
39
'! Tipos de veda4Ees para atuadores lineares:
' $ Ti pos de #i l i ndros
A) Atuadores lineares de simples ao
Esses at uadores so aci onados por ar compri mi do de um s l ado e, port ant o,
t rabal ham em uma s di reo.
O ret rocesso ef et ua-se medi ant e uma f ora ext erna ou por mol a.
A f ora da mol a cal cul ada para que el a possa f azer o pi st o ret roceder a
posi o i ni ci al , com uma vel oci dade suf i ci ent ement e al t a, sem di spender grande
energi a.
40
Em at uadores com mol a mont ada, o curso do mbol o l i mi t ado pel o
compri ment o da mol a. Por essa razo, so f abri cados com compri mentos at
aproxi madament e 100mm.
Empregam-se esses el ement os de t rabal ho pri nci pal ment e para fi xar, expul sar,
prensar, el evar, al i ment ar, et c.
Quando o at uador possui r mol a na cmara t rasei ra, poder ser usado para
t ravament o.
A grande vant agem o ef ei t o de f rei o, empregado em cami nhes, carret as,
vages f errovi ri os, et c.
B) Atuador linear de dupla ao:
Os movi ment os de avano e ret orno nos at uadores de dupl a ao so produzi dos
pel o ar compri mi do e, por i sso, podem real i zar t rabal ho nos doi s sent i dos de seu
movi ment o.
Est es at uadores podem, em pri nc pi o, t er curso l i mi t ado, porm deve-se l evar em
consi derao as possi bi l i dades de def ormao por f l exo e f l ambagem.
So encont rados, normal ment e, com curso at 2000mm.
41
Os at uadores de dupl a ao, t ambm desi gnados por dupl o ef ei t o, so
empregados em t odos os casos em que necessri a f ora nos doi s sent i dos do
movi ment o, devendo- se, ent ret ant o observar que os esf oros de f l exo sobre a
hast e dos ci l i ndros devem ser evi t ados ao mxi mo, at ravs do uso de gui as,
f i xaes osci l ant es, et c. , para que no haj a desgast e acent uado de bucha, gaxet a
do mancal e gaxet a do mbol o.
C) Atuador linear com amortecimento nos fins de curso
Quando vol umes grandes e pesados so movi ment ados por um at uador, emprega-
se um si st ema de amort eci ment o para evi t ar i mpact os secos e dani f i cao das
part es.
Ant es de al canar a posi o f i nal , um mbol o de amort eci ment o i nt errompe o
escape di ret o do ar, dei xando soment e uma passagem pequena, geral ment e
regul vel .
Com o escape de ar rest ri ngi do, cri a-se uma sobrepresso que, para ser venci da,
absorve grande part e da energi a, o que resul t a em perda de vel oci dade nos f i ns
de curso.
nvert endo o movi ment o do mbol o, o ar ent ra sem i mpedi ment o, pel as vl vul as,
no ci l i ndro, e o mbol o pode ret roceder com f ora e vel oci dade t ot ai s.
Possibilidades de amortecimento:
Os at uadores dot ados de amort eci ment o vari vel so os mai s usados.
42
D) Atuador linear de haste dupla (haste passante)
A hast e mai s bem gui ada devi do aos doi s mancai s de gui a, o que possi bi l i t a a
admi sso de uma l i gei ra carga l at eral .
Os el ement os si nal i zadores podem ser mont ados na part e l i vre da hast e do
mbol o.
Nest e caso, f ora i gual em ambos os l ados (mesma rea de presso).
E) Atuador linear tipo tandem (geminado):
Trat a-se de doi s at uadores de dupl a ao que f ormam uma s uni dade.
Assi m, com presso si mul t nea nos doi s mbol os, a f ora ser a somada.
Recomendado para obt er grande desempenho quando a rea t i l do at uador
pequena.
43
F) Atuador linear de posio mltipla
Est e at uador f ormado por doi s ou mai s at uadores de dupl a ao.
Os el ement os est o uni dos um ao out ro como most ra a i l ust rao.
Os at uadores movi ment am-se i ndi vi dual ment e, conf orme o l ado de presso.
Com doi s at uadores de cursos di f erent es, obt m-se quat ro posi es.
ut i l i zado para carregar est ant es com est ei ra t ransport adora, aci onar al avancas
e como di sposi t i vo sel eci onador.
44
;5 Atuador linear de impacto
Recebe est a denomi nao devi do f ora a ser obt i do pel a t ransf ormao de
energi a ci nt i ca.
um at uador de dupl a ao especi al com modi f i caes.
Di spe i nt ernament e de uma pr-cmara (reservat ri o)
O mbol o, na part e t rasei ra, dot ado de um prol ongament o.
Na parede di vi sri a da pr-cmara, exi st em duas vl vul as de ret eno.
Est as modi f i caes permi t em que o at uador desenvol va i mpact o, devi do al t a
energi a ci nt i ca obt i da pel a ut i l i zao da presso i mpost a ao ar.
Funci onament o:
Ao ser comandado, o ar compri mi do envi ado ao at uador ret i do i ni ci al ment e e
acumul ado na pr-cmara i nt erna, at uando sobre a pequena rea da seco do
prol ongament o do mbol o.
Quando a presso at i nge um val or suf i ci ent e, i ni ci a- se o desl ocament o do pi st o,
que avana l ent ament e, at que em det ermi nado i nst ant e o prol ongament o do
mbol o se desal oj a da parede di vi sri a, permi t i ndo que t odo o ar armazenado f l ua
rapi dament e, at uando sobre a rea do mbol o.
No i nst ant e em que ocorre a expanso brusca do ar, o pi st o adqui re vel oci dade
crescent e at at i ngi r a f ai xa onde dever ser mai s bem empregado.
O i mpact o produzi do at ravs da t ransf ormao da energi a ci nt i ca f orneci da ao
pi st o, acresci da da ao do ar compri mi do sobre o mbol o.
Quando se necessi t a de grandes f oras durant e curt os espaos de t empo, como
o caso de rebi t agens, gravaes, cort es, et c. , est e o equi pament o que mel hor
se adapt a. No ent ant o, el e no se prest a a t rabal hos com grandes def ormaes.
Sua vel oci dade t ende a di mi nui r aps cert o curso, em razo da resi st nci a
of ereci da pel o mat eri al ou pel a exi st nci a de amort eci ment o no cabeot e
di ant ei ro.
As duas vl vul as de ret eno menci onadas possuem f unes di st i nt as.
Uma del as permi t e que o at uador ret orne t ot al ment e posi o i ni ci al ; o
prol ongament o do mbol o veda a passagem pri nci pal do ar.
45
A out ra vl vul a permi t e que a presso at mosf ri ca at ue sobre o mbol o, evi t ando
uma sol dagem ent re a parede di vi sri a e o mbol o, devi do el i mi nao quase
que t ot al do ar ent re os doi s, o que t enderi a f ormao de um vcuo parci al .
H) Atuador rotativo de giro limitado (cremalheira)
Na execuo com at uador de dupl a ao, a hast e do mbol o t em um perf i l
dent ado (cremal hei ra).
A hast e do mbol o aci ona, com est a cremal hei ra, uma engrenagem,
t ransf ormando o movi ment o l i near em movi ment o rot at i vo, esquerda ou di rei t a,
sempre segundo a di reo do curso.
De acordo com a necessi dade, o movi ment o rot at i vo poder ser de 45
, 90
, 180
e
at 320
.
Um paraf uso de regul agem possi bi l i t a a det ermi nao do campo de rot ao
parci al dent ro da rot ao t ot al .
O moment o de t oro depende da presso, da rea do mbol o e da rel ao de
t ransmi sso.
O aci onament o gi rat ri o emprega-se para vi rar peas, curvar t ubos, regul ar
i nst al aes de ar condi ci onado, aci onar vl vul as de f echament o, vl vul as
borbol et a, et c.
) Atuador rotativo de giro limitado (aleta giratria)
Como nos at uadores rot at i vo t i po cremal hei ra, j descri t os, t ambm nos at uadores
t i po al et a gi rat ri a poss vel um gi ro angul ar l i mi t ado.
O movi ment o angul ar rarament e vai al m de 300
A vedao probl emt i ca e o di met ro em rel ao l argura, em mui t os casos,
soment e possi bi l i t a pequenos moment os de t oro (t orque).
46
5.4. Tipos de fixao
Um f at or si gni f i cat i vo para o rendi ment o f i nal posi t i vo de si st ema pneumt i co o
posi ci onament o de cada um dos seus component es;
Det ermi na- se o t i po de f i xao dos at uadores pel a mont agem dos mesmos em
mqui nas e di sposi t i vos.
i mport ant e que sua f i xao sej a perf ei t a, de modo que possamos aprovei t ar
t oda energi a f orneci da pel o equi pament o, ao mesmo t empo, evi t ando danos ao
ci l i ndro.
47
'' +l#ulos de atuadores lineares
,A (or4a do ;m&olo
A f ora do mbol o, exerci da com o el ement o de t rabal ho, depende da presso de
ar, do di met ro da cami sa e da resi st nci a de at ri t o dos el ement os de vedao.
Fora t eri ca no avano de um at uador l i near:
Fora efetiva no avano de atuador linear de simples ao retorno por
mola
D
Onde:
F
t
= Fora terica em kgf P = Presso de trabalho em kgf / cm
2
F
r
= Fora de resistncia ao atrito em kgf A
av
= (A
c
rea da camisa) = rea til
F
m
= Fora da mola de recuo em kgf D = Dimetro da camisa em cm
F
ea
= Fora efetiva no avano em kgf
Fora ef et i va no avano de at uador l i near de dupl a ao
D
Onde:
F
t
= Fora terica em kgf
F
ea
= Fora efetiva no avano em kgf
F
r
= Fora de resistncia ao atrito em kgf =3 a 20% de F
t
Fora ef et i va no recuo de at uador l i near de dupl a ao
48
F
ea
=
F
t
- ( F
r
+ F
m
)
F
t
= P . A
av
A
av
= F
t
P
A
av
= 0,785 x D
(2)
F
ea
=
F
t
- F
r
,av
,
av
d ,
I
,
r
D
Onde:
F
t
= Fora terica em kgf d = dimetro da haste em cm
F
er
= Fora efetiva no recuo em kgf A
r
= rea til de recuo em cm
2
F
r
= Fora de resistncia ao atrito em kgf
=3 a 20% de F
t
A
c
= rea da camisa em cm
2
P = Presso de trabalho em kgf / cm
2
A
h
= rea da haste em cm
2
D = Dimetro da camisa em cm
49
F
t
= P x A
r
A
r
= A
c
- A
h
A
c
= 0,785 x D
2
F
er
= F
t
- F
r
A
h
=0,785 x d
2
*"empl o: 17l cul os de oras de um at uador l i near de dupl a ao:
Fora de avano Fora de recuo
1 Passo: Cl cul o da r ea de avano 1 Passo: Cl cul o da r ea da cami sa ( Ac )
,av <9236' D D
@!A
,# < ,av < 1720!' #m
!
Aav =0,785 x ( 5 cm )
2
Aav =0,785 x 25 cm
2
2 Passo: Clculo da rea da haste (Ah)
,av < 1720!' #m
!
,I < 9236' D d
@!A
Ah = 0,785 x ( 2 cm )
2
Ah = 0,785 x 3 cm
2
,I < $21% #m
!
2 Passo: Cl cul o da f or a t er i ca
(t <P ,av 3 Passo: Clculo da rea de recuo (Ar
Ft = 6 kgf/cm
2
x 19,625 cm
2
,r < ,# - ,I
(t < 11323' >gf Ar = 19,625 cm
2
- 3,14 cm
2
,r < 102%6' #m
!
3 Passo: Cl cul o da f or a de at r i t o 4 Passo: Clculo da fora terica (Ft)
Fr = Fora de resistncia ao atrito em kgf= 3 a 20% de
Ft
(t < P J ,r
Fr = 10% de Ft Ft = 6 kgf/cm
2
x16,485 (t < 76271 >g)
Fr = 10% de 117,75 kgf
(r < 11233' >g) 5 Passo: Clculo da fora de atrito (Fr)
Fr = Fora de resistncia ao atrito em Kg = 3 a 20% de Ft
4 Passo: Cl cul o da f or a ef et i va Fr = 10% de Ft
(ea < (t - (r Fr = 10% de 98,91 >g) < 72671 >g)
Fea = 117,75kgf - 11,775 kgf
Fea = 105,975 kgf 6 Passo: Clculo da fora efetiva
(ea < 190 >g) (er < (t - (r
( e r < 7 6 2 7 1 > g ) - 7 2 6 7 1 > g )
Fer = 88,019 kgf (er < 66 >g)
50
T a b e l a " Pr e s s o - F o r a d e a v a n o p a r a Ci l i n d r o s Pn e u m t i c o s
Pr esso
de
Tr abal ho
kgf / cm
2
Di Kmet r o do #i l i ndr o em mm
6 12 16 25 35 40 50 70 100 140 200 250
(or 4a do ;m&ol o em >g)
1
F
O
R
A
D
O
M
B
O
L
O
E
M
k
g
f
0, 2 1 2 4 8 12 17 34 70 138 283 433
2 0, 4 2 4 9 17 24 35 69 141 277 566 866
3 0, 6 3 6 13 26 36 53 104 212 416 850 1300
4 0, 8 4 8 17 35 48 71 139 283 555 1133 1733
5 1, 0 5 10 21 43 60 88 173 353 693 1416 2166
6 1, 2 6 12 24 52 72 106 208 424 832 1700 2600
7 1, 4 7 14 30 61 84 124 243 495 971 1983 3033
8 1, 6 8 16 34 70 96 142 278 566 1110 2266 3466
9 1, 8 9 18 38 78 108 159 312 636 1248 2550 3800
10 2, 0 10 20 42 86 120 176 346 706 1386 2832 4332
11 2, 2 11 22 46 95 132 194 381 777 1525 3116 4766
12 2, 4 12 24 50 104 144 212 416 848 1664 3400 5200
13 2, 6 13 26 55 113 156 230 451 919 1803 3683 5633
14 2, 8 14 28 60 122 168 248 486 990 1942 3966 6066
15 3 15 30 63 129 180 264 519 1059 2079 4248 6498
B) Di me n s e s d o c i l i n d r o
Deve-se evi t ar curso mui t o l ongo, poi s a hast e ser f aci l ment e sol i ci t ada a
f l ambagem e f l exo.
Di met ros aci ma de 300mm e cursos aci ma de 2000 mm t orna a pneumt i ca
i nvi vel devi do ao consumo de ar (rent abi l i dade).
C) Ve l o c i d a d e d o s c i l i n d r o s
A vel oci dade dos ci l i ndros pneumt i cos depende da carga, do compri ment o da
t ubul ao ent re a vl vul a e o ci l i ndro, da presso de ar e da vazo da vl vul a de
comando.
A vel oci dade t ambm i nf l uenci ada pel o amort eci ment o nos f i ns de curso.
Quando a hast e do mbol o est na f ai xa de amort eci ment o, a al i ment ao de ar
passa at ravs de um regul ador de f l uxo uni di reci onal , provocando assi m uma
di mi nui o moment nea da vel oci dade.
A vel oci dade do mbol o em ci l i ndros normai s vari a de01 a1, 5 m/ s.
Com ci l i ndros especi ai s (ci l i ndros de i mpact o) podem ser al canadas vel oci dades
de at 10m/ s.
A vel oci dade do mbol o pode ser regul ada com vl vul as apropri adas.
Para vel oci dades menores ou mai ores empregam-se vl vul as regul adoras de f l uxo
e vl vul a de escape rpi do.
51
=5 Co n s u mo d e a r
i mport ant e conhecer o consumo de ar da i nst al ao, para se poder produzi - l o e
conhecer as despesas de energi a.
Cal cul am-se o consumo de ar para uma det ermi nada presso de t rabal ho, um
det ermi nado di met ro de ci l i ndros e um det ermi nado curso, da segui nt e f orma:
Rel ao de compresso x superf ci e do mbol o x curso
A rel ao da compresso (baseada ao n vel do mar) ser assi m cal cul ada:
1, 013 bar + presso de t rabal ho (bar)
1, 013 bar
Com o aux l i o do di agrama de consumo de ar, pode ser cal cul ado mai s si mpl es e
rapi dament e o consumo do equi pament o.
Para os usuai s di met ros do ci l i ndro e para presses de 1 a 15 bar, os val ores
so expressos l i t ros por cent met ro de curso (l / cm).
O consumo de ar dado em l i t ros por mi nut o (ar aspi rado).
T a b e l a " Co n s u mo d e a r p a r a c i l i n d r o s
Di
Ci l .
em
mm
Pr ess5o de ser vi 4o em &ar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+onsumo de ar em I ? #m de #ur so do #i l i ndr o
6 0, 0005 0, 0008 0, 0011 0, 0014 0, 0016 0, 0019 0, 0022 0, 0025 0, 0027 0, 0030 0, 0033 0, 0036
12 0, 002 0, 003 0, 004 0, 006 0, 007 0, 008 0, 009 0, 010 0, 011 0, 012 0, 013 0, 014
16 0, 004 0, 006 0, 008 0, 010 0, 011 0, 014 0, 016 0, 018 0, 020 0, 022 0, 024 0, 026
25 0, 010 0, 014 0, 019 0, 024 0, 029 0, 033 0, 038 0, 043 0, 048 0, 052 0, 057 0, 062
35 0, 019 0, 028 0, 038 0, 047 0, 056 0, 066 0, 075 0, 084 0, 093 0, 103 0, 112 0, 121
40 0, 025 0, 037 0, 049 0, 061 0, 073 0, 085 0, 097 0, 110 0, 122 0, 135 0, 146 0, 157
50 0, 039 0, 058 0, 077 0, 096 0, 115 0, 134 0, 153 0, 172 0, 191 0, 210 0, 229 0, 248
70 0, 076 0, 113 0, 150 0, 187 0, 225 0, 262 0, 299 0, 335 0, 374 0, 411 0, 448 0, 485
100 0, 155 0, 213 0, 307 0, 383 0, 459 0, 535 0, 611 0, 687 0, 763 0, 839 0, 915 0, 991
140 0, 303 0, 452 0, 601 0, 750 0, 899 1, 048 1, 197 1, 346 1, 495 1, 644 1, 793 1, 942
200 0, 618 0, 923 1, 227 1, 531 1, 835 2, 139 2, 443 2, 747 3, 052 3, 356 3, 660 3, 964
250 0, 966 1, 441 1, 916 2, 393 2, 867 3, 342 3, 817 4, 292 4, 768 5, 243 5, 718 6, 193
F r mu l a p a r a c l c u l o d o c o n s u mo d e a r c o n f o r me a t a b e l a a c i ma
+ilindros de simples a45o +ilindros de dupla a45o
L < s n : @l?minA L < ! @s n :A @l?minA
Q = volume de ar (l/min) n = nmero de cursos por minuto (ciclos)
s = comprimento de curso (cm) q = consumo de ar por cm de curso
52
*"empl o:
Qual o consumo de ar de um ci l i ndr o de dupl a ao, com di met r o de 50mm, com 100mm de
cur so, que r eal i za 10 cur sos por mi nut o, submet i do pr esso de ser vi o i gual a 6 bar .
L < ! @ s n :A @ l mi nA Q = 2 . ( 10cm . 10. 0, 134)
s = 100mm = 10cm Q = 2 . 13, 4
n = 10 cur sos por mi nut o L < !02 6 l ? mi n
q = 0, 134 ( conf or me t abel a do consumo de ar )
0 -ot o r e s p n e u m t i # o s
O mot or pneumt i co com campo angul ar i l i mi t ado um dos el ement os
pneumt i cos mai s usados na i ndst ri a moderna.
Seu campo de apl i cao dos mai s di versos.
Com mot or pneumt i co, pode- se execut ar operaes t ai s como:
Paraf usar Li xar
Furar Pol i r
Roscar Rebi t ar, et c.
6 . 1 . Ca r a c t e r s t i c a s d o s mo t o r e s p n e u m t i c o s
1. Trabal ham normal ment e nas pi ores condi es ambi ent ai s, di spensando
qual quer t i po de prot eo;
2. Especi al ment e i ndi cados para reas cl assi f i cadas com ri sco de expl oso;
3. El i mi nam o ri sco de choques el t ri cos, f a scas e superaqueci ment o, normai s
nos si mi l ares aci onados por energi a el t ri ca;
4. Sent i do de rot ao f ci l de i nvert er;
5. Regul agem sem escal a de rot ao e do moment o de t oro.
53
0 ! T i p o s ma i s ut i l i 1 a d o s
A) Mo t o r d e p i s t o a x i a l :
A capaci dade do mot or depende da presso de ent rada, nmero de pi st es, rea
dos pi st es e curso dos mesmos.
O modo de t rabal ho dos mot ores de pi st o axi al si mi l ar aos mot ores de pi st o
radi al .
Um di sco osci l ant e t ransf orma a f ora de 5 ci l i ndros, axi al ment e posi ci onados, em
movi ment o gi rat ri o. Doi s pi st es so al i ment ados si mul t aneament e com ar
compri mi do.
Com i sso, obt er-se- um moment o de i nrci a equi l i brado, garant i ndo um
movi ment o uni f orme e sem vi braes do mot or.
B) $o t o r d e p a l > e t a s 3 0 a me l a s 5 :
Graas sua const ruo si mpl es e pequeno peso, geral ment e os mot ores
pneumt i cos so f abri cados como mqui nas rot at i vas, com l amel as.
Est es seguem pri nc pi o i nverso ao dos compressores de cl ul as ml t i pl as
(compressor rot at i vo).
O rot or f i xado excent ri cament e em um espao ci l ndri co e dot ado de ranhuras.
As pal het as col ocadas nas ranhuras sero, af ast adas pel a f ora cent r f uga, cont ra
a parede i nt erna do ci l i ndro, e assi m a vedao i ndi vi dual das cmaras est ar
garant i da
Por mei o de pequena quant i dade de ar, as pal het as sero af ast adas cont ra a
parede i nt erna do ci l i ndro, j ant es de aci onar o mot or.
Em t i po de const ruo di f erent e, o encost o de pal het as f ei t o por presso de
mol as.
Mot ores dest e t i po t m, geral ment e de t rs a dez pal het as, que f ormam cmaras
de t rabal ho no mot or, nas quai s pode at uar o ar, sempre de acordo com o
t amanho da rea de at aque das pal het as. O ar ent ra na cmara menor,
expandi ndo- se na medi da do aument o da cmara.
54
7. VLVULAS
Composio de comandos pneumticos
Os comandos pneumt i cos podem ser subdi vi di dos em:
- el ement os de si nai s; el ement os de comando; el ement os de t rabal ho
Todos os el ement os de comando e de si nai s que t em por f i nal i dade i nf l uenci ar o
f l uxo de i nf ormaes ou energi a (nesse caso o ar compri mi do) so denomi nados
vl vul as, i ndependent ement e de sua f orma const rut i va.
As vl vul as so subdi vi di das, segundo as suas f unes, em ci nco grupos:
1. Vl vul as di reci onai s; 4. Vl vul as de presso;
2. Vl vul as de bl oquei o; 5. Vl vul as de f echament o.
3. Vl vul as de f l uxo ou de vazo;
31 "lvulas dire#ionais
So el ement os que i nf l uenci am o percurso de um f l uxo de ar, pri nci pal ment e nas
part i das, nas paradas e na di reo do f l uxo.
Em esquemas pneumt i cos, usam-se s mbol os grf i cos para descri es de
vl vul as. Est es s mbol os no caract eri zam os di f erent es t i pos de const ruo, mas
soment e a f uno das vl vul as.
As vl vul as di reci onai s caract eri zam-se por:
a) nmero de posi es; d) t i po de aci onament o;
b) nmero de vi as; e) t i po de ret orno;
c) posi o de repouso; f ) vazo.
OBS: "Os s mbol os dos component es pneumt i cos so represent ados at ravs da
norma: SO 1219 em subst i t ui o norma: D N 24300.
( SO: nt ernaci onal St andardi sat i on Organi sat i on Organi zao nt ernaci onal para
Normal i zao).
(D N: Deut sches nst i t ut f r normung nst i t ut o Al emo para Normal i zao).
A) Nmero de posi es:
As vl vul as so si mbol i zadas graf i cament e com quadrados. O nmero de
quadrados i ndi ca o nmero de posi es ou manobras di st i nt as que uma vl vul a
pode assumi r.
Para mel hor compreenso, t omemos uma t ornei ra comum como exempl o.
Est a t ornei ra poder est ar abert a ou f echada.
55
No pri mei ro desenho, a t ornei ra est f echada e n5o permi t e a passagem da gua.
No segundo desenho, a t ornei ra est abert a e permi t e a passagem da gua.
As duas si t uaes (posi es) que a t ornei ra pode se encont rar so represent adas
graf i cament e, por doi s quadrados.
B) Nmero de vi as:
As vi as de passagem de uma vl vul a so i ndi cadas por l i nhas nos quadrados
represent at i vos de posi es, e a di reo do f l uxo, por set as.
Os f echament os ou bl oquei os de passagem so i ndi cados dent ro dos quadrados,
com t raos t ransversai s.
t raos ext ernos i ndi cam as conexes (ent rada e sa da) e o nmero de t raos
i ndi ca o nmero de vi as.
Em geral , as conexes so represent adas nos quadrados da di rei t a.
56
Tri ngul o no s mbol o represent a vi as de exaust o do ar (escape).
dent i fi cao dos ori f ci os (vi as) das vl vul as di reci onai s:
+ON/JO B/TR,S DM .I TOS
Al i ment ao (presso) P 1
ut i l i zao A, B, C 2, 4
escapes de ar R, S, T 3, 5
pi l ot agem X, Z, Y 10, 12, 14
C) Posi o de repouso:
Denomi na- se posi o de repouso ou posi o normal da vl vul a, a posi o em que
se encont ram os el ement os i nt ernos quando a vl vul a no est aci onada.
Geral ment e represent ada do l ado di rei t o do s mbol o.
Assi m t emos:
- Vl vul a normal f echada @NFA que no permi t e passagem do f l ui do na posi o
normal .
- Vl vul a normal abert a (NA) que permi t e passagem do f l ui do na posi o normal .
57
No exempl o da t ornei ra, represent ado pel a f i gura da pgi na ant eri or, podemos
caract eri zar uma vl vul a de duas vi as, duas posi es.
Consi derando- se que a t ornei ra, na posi o normal , no permi t a a passagem da
gua, e el a normal f echada (NF).
Se a mesma t ornei ra, na posi o normal , permi t i r a passagem de gua, el a
normal abert a (NA).
Na represent ao grf i ca de vl vul as com 3 posi es de comando, a posi o do
mei o consi derada como posi o de repouso, nesse caso, nel a que
represent amos as conexes.
D) Tipos de acionamentos:
Conf orme a necessi dade, os mai s di f erent es t i pos de aci onament o podem ser
adapt ados s vl vul as di reci onai s.
Os s mbol os de aci onament o so desenhados hori zont al ment e nos quadrados.
58
Exempl os:
Acionamento por fora muscular
*#"a% B!t+! A%a,a')a P#a%
Acionamento mecnico
R!%#t# A-a%-a!" .at&%/! 0!%a
a-a%-a!"
Acionamento pneumtico (direto):
P"#$$+! -!$&t&,a P"#$$+! &1#"#')&a%
Aci onament o pneumt i co (i ndi ret o): Aci onament o el t ri co
P"#$$+! -!$&t&,a &'&"#ta ($#",!--&%!ta!) (2!%#'3&#).
Acionamento combinado indireto (servo pilotado):
2!%#'3&# !u 0a'ua% au4&%&a" # $#",! -&%!taa
E) Tipo de retorno:
Retorno o desacionamento, que posiciona uma vlvula direcional de 2 posies, posio de
repouso. O retorno pode ser feito por uma mola, um piloto, etc. , que normalmente representado
do lado direito do smbolo.
59
F) Vazo:
especi f i cada de acordo com os mt odos de medi o da vazo nomi nal .
Os f abri cant es de component es pneumt i cos especi f i cam nos cat l ogos dos
produt os, os val ores da vazo nomi nal .
Exempl os de si mbol ogi as de vl vul as di reci onai s:
Vlvula direcional de 3/2 vias, Vlvula direcional de 3/2 vias,
(3 vias e 2 posies), (3 vias e 2 posies),
NF(Normal Fechada), NF (Normal Fechada),
acionada por boto, acionada por presso positiva,
retorno por mola. retorno por mola.
Vl vul a di reci onal de 3/ 2 vi as, Vl vul a di reci onal de 5/ 2 vi as,
(3 vi as e 2 posi es), aci onada por dupl o sol eni de ou,
NA(Normal Abert a), manual auxi l i ar e servo pi l ot ada .
aci onada por sol eni de,
ret orno por mol a.
60
Vlvula direcional 5/3vias, Vlvula direcional 5/3 vias,
Centrofechado, acionada centro aberto positivo, acionada.
por duplo solenide ou manual por duplosolenide ou manual
Auxiliar e servo pilotado, auxiliar e servo pilotada,
centrada por molas. centrada por molas.
Exemplo de aplicao de vlvula direcional em sistema pneumtico
1Posio: DESACONADA 2Posio: ACONADA
311 +ara#ter*sti#as de #onstru45o em vlvulas dire#ionais
O pri nc pi o de const ruo da vl vul a det ermi na:
- A f ora de aci onament o;
- A manei ra de aci onar;
- A possi bi l i dade de l i gao;
- O t amanho da const ruo.
Segundo o t i po de const ruo, as vl vul as di st i nguem- se em doi s grupos:
A) Vlvulas de sede ou de assento
A.1) Cnico
A.2) Prato
61
-. /0l !ul as cor redi as
B.1.) Longitudinal (carretel)
B.2.) Carretel com assento tipo prato suspenso
B.3.) Giratria (disco)
A) Vlvulas de sede ou de assento
A.1.) Vlvulas de assento cnico
Descri o: Vl vul a di reci onal 3/ 2vi as, NF, aci onada por apal pador, ret orno
por mol a.
1 Posi o 2 Posi o
FUNCONAMENTO
1 Posio de comutao: "DESACONADA
Uma mola pressiona o mbolo, em formato semi-esfrico, contra o assento da vlvula,
bloqueando a passagem de presso 1(P) para a via 2(A) de utilizao, que se encontra
interligada conexo 3(R).
2 Posio de comutao: "ACONADA
Acionando-se a haste ou apalpador, o mbolo deslocado do seu assento, a presso 1(P)
interligada via 2(A) gerando um sinal de sada. Nesta posio o escape 3(R) est bloqueado.
62
A.2.) Vlvulas de assento (sede) formato de disco plano ou prato
Descrio: Vlvula direcional 3/2vias, acionada por apalpador, retorno por mola
Des#ri 45o: Vl vul a di reci onal 3/ 2vi as, NF aci onada por rol et e, servo
comandada (ou servo pi l ot ada), ret orno por mol a.
O&serva45o: O servo comando t em por f i nal i dade di mi nui r a f ora de
aci onament o, como acont ece em vl vul as de comando
mecni co.
FUNCONAMENTO
1 Posio de comutao: "DESACONADA
O fluxo de ar de presso na via 1(P) e do servo piloto esto bloqueados.
A via de utilizao 2(A) est interligada via de escape 3(R).
63
2 Posio de comutao: "ACONADA
Ao acionar-se a alavanca do rolete, abre-se a vlvula de servo comando, o ar comprimido flui para
a membrana e movimenta o prato da vlvula principal para baixo.
Primeiramente, fecha-se a passagem da via 2(A) para a via 3(R), em seguida, abre-se a
passagem do fluxo de ar da via 1(P) para a via 2(A), gerando um sinal de sada.
OBSERVAO: " Este tipo de construo possibilita o seu emprego como vlvula normal
fechada (NF) ou normal aberta (NA), bastando para isso, girar em 180 o cabeote de atuao,
conforme mostra a figura a seguir.
Descrio: Vlvula direcional 3/2vias, NA, acionada por rolete, servo comandado ou servo
pilotada, retorno por mola.
FUNCONAMENTO
1 Posio de comutao: "DESACONADA
O fluxo de ar de presso na via 1(P) est interligado via de utilizao 2(A), gerando um sinal de
sada, e a presso de comando que chega na vlvula de servo pilotagem est bloqueada.
A via de escape 3(R) est obstruda.
64
2 Posio de comutao: "ACONADA
Ao acionar-se a alavanca do rolete, abre-se a vlvula de servo comando, o ar comprimido flui para
a membrana e movimenta o prato da vlvula principal para baixo.
Primeiramente, fecha-se a passagem da via 1(P) para a via 2(A), em seguida, abre-se a
passagem do fluxo de ar da via 2(A) para a via 3(R), exaurindo o sinal de sada.
Descri o: Vl vul a di reci onal 3/ 2vi as, NF, aci onada por si mpl es presso pi l ot o
, ret orno por mol a.
1 Posi o 2 Posi o
FUNCONAMENTO
1 Posio de comutao: "DESACONADA
O comando 12(Z) est sem presso pi l ot o; com i st o a mol a mant m o prat o para
ci ma, bl oqueando a vi a 1(P).
A vi a de ut i l i zao 2(A) est i nt erl i gada vi a de escape 3(R).
2 Posi o de comut ao: N,+I ON,D,O
nj et ando-se uma presso pi l ot o sobre o prat o, se dar o seu desl ocament o para
bai xo, desde que est a presso sej a mai or que a f ora da mol a. Com i st o o f l uxo
de ar compri mi do da vi a 1(P) ser i nt erl i gado vi a 2(A) de ut i l i zao.
A vi a 3(R) est ar bl oqueada.
65
Descrio: Vlvula direcional 3/2vias, NF, acionada por simples presso piloto , retorno por mola.
1 Posio 2Posio
FUNCONAMENTO
1 Posio de comutao: "DESACONADA
Na posio de repouso, isto , com a bobina (campo) eletromagntica desenergizada as molas
mantm a camisa e o carretel para baixo bloqueando a passagem da via de presso 1(P).
2 Posio de comutao: "ACONADA
Ao energiar-se a bobina, o ncleo mvel ser atrado pelo campo eletromagntico, levantando-se
do assento de vedao da vlvula. Com isto, o fluxo de ar ir passar da via 1(P) para a via 2(A) de
utilizao.
OBSERVAO: Vlvula direcional 2/2 vias pode ser usada, por exemplo para abertura de
passagem de fluxo de vapor, gua de refrigerao de equipamentos ou drenagem de
condensados.
66
Descrio: Vlvula direcional 3/2 vias; NF; acionada por solenide ou por acionamento auxiliar
manual e servo comandado (pilotada); retorno por mola.
1 Posi o 2 Posi o
FUNCONAMENTO
1 Posio de comutao: "DESACONADA
Na posio de repouso, isto , com a bobina (campo) eletromagntica desenergizada, a camisa e
o carretel so mantidos para baixo bloqueando a passagem do servo piloto.Nesta mesma posio,
a mola do carretel da vlvula principal o mantm bloqueando a passagem da via de presso 1(P).
2 Posio de comutao: "ACONADA
A bobina ao ser energizada, o ncleo mvel ser atrado pelo campo eletromagntico,
levantando-se do assento de vedao da vlvula. Com isto, o fluxo de ar do servo piloto ir passar
e acionar para baixo o carretel da vlvula principal, abrindo-se a passagem da via presso 1(P)
para a via de utilizao 2(A).
67
B) Vlvulas corredias
B.1) Longitudinal (carretel)
Descrio: Vlvula direcional 5/2 vias; acionada por duplo piloto (presso positiva) - Vlvula de
Memria.
FUNCONAMENTO
1 Posio de comutao:
njetando-se um sinal de impulso de presso piloto 12(Y), sem a presena de presso piloto em
14(Z), o carretel deslocado e mantido direita e as vias esto interligadas da seguinte forma:
Via 1(P) ligada via 2(B);
Via 4(A) ligada via 5 (R);
Via 3(S) bloqueada.
2 Posio de comutao:
njetando-se um sinal de impulso de presso piloto 14(Z), sem a presena de presso piloto em
12(Y), o carretel deslocado e mantido esquerda e as vias esto interligadas da seguinte forma:
Via 1(P) ligada via 4(A);
Via 2(B) ligada via 3(S);
Via 5(R) bloqueada.
68
B.2.) Carretel com assento tipo prato suspenso
Descrio: Vlvula direcional 5/2 vias; acionada por duplo piloto (presso positiva) ou manual
auxiliar - Vlvula de Memria.
(UN+I ON,-/NTO
1 Posi o de comut ao:
nj et ando- se um si nal de i mpul so de presso pi l ot o 1%@PA, sem a presena de
presso pi l ot o em 1!@QA, o carret el desl ocado e mant i do esquerda e as vi as
est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:
"i a 1@PA l i gada F vi a %@,AR
"i a !@GA l i gada F vi a $@SAR
"i a '@RA &l o:ueada
2 Posi o de comut ao:
nj et ando- se um si nal de i mpul so de presso pi l ot o 1!@QA, sem a presena de
presso pi l ot o em 1%@PA, o carret el desl ocado e mant i do di rei t a e as vi as
est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:
"i a 1@PA l i gada F vi a !@GAR
"i a %@,A l i gada F vi a ' @RAR
"i a $@SA &l o:ueada
OBS: Opci onal ment e, est a vl vul a, t ambm pode ser aci onada manual ment e.
69
a#ionamento manual
auDiliar
B. 3) Vl vul a corredi a gi rat ri a (di sco)
Descri o: Vl vul a di reci onal 4/ 3 vi as, cent ro f l ut uant e: (P bl oqueado, A
e B l i gados R), aci onada por al avanca, cent rada por det ent e (t rava).
FUNC ONAMENTO
Posi o de comut ao - 1:
Com a al avanca na posi o cent ral , as vi as est o i nt erl i gadas da segui nt e
f orma:
Vi a (P) bl oqueada;
Vi as (A) e (B) i nt erl i gadas vi a (R) de escape.
OBS: Nest a posi o, def i ne- se o t i po de cent ro da vl vul a. Na f i gura aci ma o
cent ro denomi nado: "f l ut uant e.
Posi o de comut ao - 2:
Nest a posi o as vi as est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:
Vi a (P) l i gada vi a (B);
Vi a (A) l i gada vi a (R) de escape.
Posi o de comut ao - 3:
Nest a posi o as vi as est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:
Vi a (P) l i gada vi a (A);
Vi a (B) l i gada vi a (R) de escape.
A prxi ma f i gura most ra uma vl vul a di reci onal de 5 vi as (5/ 2) dupl a pi l ot o, de
const ruo pequena (t i po mi ni at ura), que opera segundo o pri nc pi o de assent o
f l ut uant e.
70
Vl vul a di reci onal 5/ 2 vi as (pri nc pi o de assent o f l ut uant e)
Esta vlvula comutada atravs de impulso em Z e Y, mantendo a posio, mesmo sendo
retirada presso de comando. uma vlvula bi-estvel.
Com o impulso em Z, o pisto desloca-se.
No centro do pisto de comando encontra-se um prato com um anel, vedante, o qual seleciona os
canais de trabalho A e B, com o canal de entrada de presso P.
A exausto efetua-se atravs dos canais R ou S.
Com impulso em Y, o pisto retorna posio inicial.
71
3! "lvulas de &lo:ueios
Vlvulas de bloqueio so aparelhos que impedem a passagem do fluxo de ar em uma direo,
dando passagem na direo oposta.
nternamente, a prpria presso aciona a pea de vedao positiva e ajusta, com isto, a vedao
da vlvula.
A) Vlvula de reteno
Esta vlvula pode fechar completamente a passagem do ar em um sentido determinado.
Em sentido contrrio, o ar passa com a mnima queda possvel de presso.
O bloqueio do fluxo pode ser feito por cone, esfera, placa ou membrana.
72
B) Vlvula alternadora (funo lgica "OU)
Esta vlvula tem duas entradas P1 e P2 e uma sada, A.
Entrando ar comprimido em P1, a pea de vedao fecha a entrada P2 e o ar flui de P1 para A.
Quando o ar flui de P2 para A, a entrada P1 bloqueada.
Com presses iguais e havendo coincidncia de sinais P1 e P2, prevalecer o sinal que chegar
primeiro.
Em caso de presses diferentes, a presso maior fluir para A.
A vl vul a al t ernadora empregada quando h necessi dade de envi ar si nai s de
l ugares di f erent es a um pont o de comando.
Para det ermi nar a quant i dade de vl vul as al t ernadoras necessri as num ci rcui t o
pneumt i co, ut i l i za- se a segui nt e regra:
N de vl vul as = n de si nai s menos (-) 1
Ex: 4 si nai s (P1, P2, P3, P4) 1 = 3 ELEMENTOS "OU
73
C) Vlvula de simultaneidade (funo lgica "E)
Tambm chamada de vl vul a de duas presses, est a vl vul a possui duas
ent radas, Pl (X) e P! (Y), e uma sa da ,.
Para se consegui r presso cont nua na sa da de ut i l i zao A, necessri o
si nal (pneumt i co) ao mesmo t empo em P1 e P!, ou sej a, ent rando soment e
um si nal em P1 ou soment e P!, a pea de vedao i mpede o fl uxo de ar para
,.
Exi st i ndo di f erena de t empo ent re si nai s (si mul t neos) de ent rada com a
mesma presso, o si nal at rasado vai para a sa da ,.
Com presses di f erent es dos si nai s de ent rada, a presso mai or f echa um l ado
da vl vul a e a presso menor vai para a sa da ,.
Emprega-se est a vl vul a pri nci pal ment e em comando de bl oquei o, comandos
de segurana e funes de cont rol e em combi naes l gi cas.
Para det ermi nar a quant i dade de vl vul as necessri as no ci rcui t o, ut i l i za-se a
segui nt e regra:
N de vl vul as = n de si nai s menos (-) 1
Ex: 4 si nai s (P1, P2, P3, P4) 1 = 3 ELEMENTOS "E
74
DA "lvula de es#ape rpido
Quando se necessi t a de movi ment os rpi dos do mbol o nos ci l i ndros, com
vel oci dade superi or quel a desenvol vi da normal ment e, ut i l i za- se a vl vul a de
escape rpi do.
A vl vul a possui conexes de ent rada @PA, de sa da @RA e de al i ment ao @,A .
Havendo f l uxo de ar compri mi do em P, o el ement o de vedao i mpede a
passagem do f l uxo para o escape R e o ar f l ui para ,.
El i mi nando a presso em P, o ar, que ret orna por ,, desl oca o el ement o de
vedao cont ra a conexo P e provoca o bl oquei o; dest a f orma, o ar escapa por
R, rapi dament e, para a at mosf era.
Evi t a-se, com i sso, que o ar de escape sej a obri gado a passar por uma
canal i zao l onga e de di met ro pequeno at a vl vul a de comando.
Observao:
Recomenda- se col ocar a vl vul a de escape rpi do di ret ament e no ci l i ndro, ou
ent o, o mai s prxi mo do mesmo.
75
3$ "lvulas de press5o
A) Vlvula reguladora de presso
Este tipo de vlvula j foi descrito no captulo: Unidade de Conservao.
B)Vlvula de Seqncia
Est a vl vul a ut i l i zada em comandos pneumt i cos, quando h necessi dade de
uma presso det ermi nada para o processo de comando (comandos em
dependnci a da presso e comandos seqenci ai s). O cabeot e pressost at o (que
"moni t ora a presso) normal ment e acopl ado a uma vl vul a base de 3 ou 4 vi as.
Quando al canada no canal de comando P uma presso pr-det ermi nada, mai or
que a presso regul ada na mol a do cabeot e, o ar aci ona o mbol o de comando
que abre a passagem de P (al i ment ao) para , (ut i l i zao).
C) Vlvula limitadora de presso
Ut i l i za- se est a vl vul a, pri nci pal ment e, como vl vul a de segurana ou de al vi o.
Est a no permi t e que o aument o da presso no si st ema sej a aci ma da presso
admi ss vel (pr-det ermi nada).
Quando al canada a presso mxi ma na ent rada da vl vul a, o mbol o
desl ocado da sua sede permi t i ndo a exaust o do ar at ravs do ori f ci o de escape.
Quando a presso excedent e el i mi nada, at i ngi ndo o val or de regul agem, a mol a
recol oca o mbol o na posi o i ni ci al , vedando a passagem ao ar.
76
3% "lvula reguladora de )luDo
Est a vl vul a t em por f i nal i dade i nf l uenci ar o f l uxo do ar compri mi do. O f l uxo ser
i nf l uenci ado i gual ment e em ambas as di rees.
A) Vl vul as regul adoras de f l uxo bi -di reci onal :
O f l uxo ser i nf l uenci ado i gual ment e em ambas as di rees.
B) Vl vul as regul adoras de f l uxo uni di reci onal :
A regul agem do f l uxo f ei t a soment e em uma di reo.
Uma vl vul a de ret eno f echa a passagem numa di reo e o ar pode f l ui r
soment e at ravs da rea regul adora.
Em sent i do cont rri o, o ar passa l i vre at ravs da vl vul a de ret eno abert a.
Empregam-se est as vl vul as para regul agem da vel oci dade em ci l i ndros
pneumt i cos.
S vantaT oso montar as vl vul as regul adoras di retamente no #i l i ndro
77
3' "lvulas de )e#Iamento:
So vl vul as que abrem e f echam a passagem do f l uxo de ar compri mi do.
Est as vl vul as so, em geral , de aci onament o manual .
Ti pos:
S mbol o:
30 +om&ina4Ees de vlvulas
Em pneumt i ca, mui t as vezes f az-se a uni o de duas ou mai s vl vul as, para
consegui r condi es di f erent es de apl i cao do seu f unci onament o i ndi vi dual .
A) Vlvulas de retardo (repouso-fechada)
A vl vul a de ret ardo empregada quando h necessi dade, num ci rcui t o
pneumt i co, de um espao de t empo ent re uma e out ra operao em um ci cl o de
operaes.
Est a uni dade consi st e em uma vl vul a de 3/ 2 vi as NF, com aci onament o
pneumt i co, de uma vl vul a regul adora de f l uxo uni di reci onal e de um
reservat ri o de ar.
78
Tor nei r a1 r egi st r o 2a!et a
Funo:
O ar de comando f l ui da conexo P (pi l ot agem) para o reservat ri o, passando pel a
vl vul a regul adora de f l uxo com presso e vel oci dade mai s bai xas.
Al canada a presso de comut ao necessri a no reservat ri o, a vl vul a 3/ 2 vi as
permi t e a passagem do ar pri nci pal de P para A . O t empo de aument o da presso
no reservat ri o i gual ao do ret ardament o do comando da vl vul a.
Ret i rando-se o ar de Z, a vl vul a vol t ar sua posi o de repouso.
"l vul a de retardo
Tempori 1ador N(
B) Vlvula de retardo (repouso-aberta)
A vl vul a de ret ardo compost a de uma vl vul a de 3/ 2 vi as NA, uma vl vul a
regul adora de f l uxo uni di reci onal e um reservat ri o de ar.
Tambm nesse caso, o ar de comando ent ra pel a conexo Z. Uma vez
est abel eci da no reservat ri o de ar presso necessri a para comando, a vl vul a
3/ 2 vi as aci onada e f echa-se a passagem de P para ,.
Ret i rando o ar de P, a vl vul a vol t ar sua posi o normal .
O t empo necessri o para est abel ecer presso no reservat ri o corresponde ao
t empo de ret ardament o.
Em ambos os t i pos de vl vul a, NF ou NA, o t empo de ret ardament o de o h 30
segundos.
Com um acumul ador adi ci onal esse t empo pode ser aument ado.
Para a t empori zao exat a, o ar deve ser l i mpo e a presso const ant e.
79
"l vul a de retardo
Tempori 1ador N,
33 Divisor &inrio @)lip-)lopA
A vl vul a f l i p-f l op compost a de uma vl vul a 3/ 2 vi as NF, aci onament o
pneumt i co de ret orno por mol a, um pi st o de comando com hast e bascul ant e e
um came.
Est a vl vul a apl i ca- se para aci onament o al t ernado de avano e ret orno de ci l i ndro
ou como di vi sor de si nai s.
A flip-flop uma vlvula de atuao pneumtica que, a cada impulso na conexo Z, permanece
aberta ou fechada, ou seja, os canais permanecem interligados de P para A ou de A para R.
A sada em A tem a funo binria "SM-NO.
80
36Glo#o de #omando &imanual:
O aparelho pneumtico de comando bimanual deve ser usado em todos os casos nos quais o
operador exposto a perigos de acidentes no servio manual, por exemplo, quando comanda
cilindros pneumticos ou equipamentos onde ambas as mos devem estar em segurana.
Um sinal permanente na sada A produzido somente quando ambas as entradas da vlvula
recebem simultaneamente, isto , dentro de 0,2 a 0,5 segundos, presso mediante duas vlvulas
de boto de 3/2 vias.
Soltando-se uma ou ambas as vlvulas de boto, a passagem de ar interrompida de imediato.
Os cilindros ou vlvulas conectadas em A voltam sua posio inicial.
81
6 Se:U;n#ia de movimentos
Quando os procedimentos de comandos de instalaes pneumticas so complicados, e estas
instalaes tm de ser reparadas, importante que o tcnico de manuteno disponha de
esquemas de comando e seqncia, segundo o desenvolvimento de trabalho das mquinas.
A m confeco dos esquemas resulta em interpretao insegura, que torna impossvel, para
muitos, a montagem ou a busca de defeitos, de forma sistemtica.
pouco rentvel ter de basear a montagem ou a busca de defeitos empiricamente.
Antes de iniciar qualquer montagem ou busca de defeitos, importante representar seqncias de
movimentos e estados de comutao, de maneira clara e correta.
Essas representaes permitiro realizar um estudo, e, com ele, ganhar tempo no momento de
montar ou reparar o equipamento.
Exemplo:
Pacotes que chegam sobre um transportador de rolos so elevados por um cilindro pneumtico A
e empurrados por um cilindro B sobre um segundo transportador.
Assim, para que o sistema funcione devidamente, o cilindro B dever retornar apenas quando A
houver alcanado a posio final.
Possibilidades de representao da seqncia de trabalho, para o exemplo dado:
A) Rel ao em seqnci a cronol gi ca:
O ci l i ndro , avana e el eva os pacot es;
O ci l i ndro G avana e empurra os pacot es no t ransport ador;
O ci l i ndro , ret orna;
O ci l i ndro G ret orna.
82
B) Forma de t abel a:
Passo de
t rabal ho
Movi ment o
ci l i ndro A
Movi ment o
ci l i ndro B
1 avano --
2 -- avano
3 ret orno --
4 -- ret orno
C) Manei ra de escrever abrevi ada:
Avano +
Ret orno
A+ B+ A- B-
D) Represent ao grf i ca em f orma de di agrama:
Di agrama de movi ment o
Di agrama de f unci onament o
Di agrama de comando
D1A Diagrama de movimento
Onde se f i xam est ados de el ement os de t rabal ho e uni dades const rut i vas.
O di agrama de movi ment o pode ser:
Di agrama de t raj et o e passo
Di agrama de t raj et o e t empo
83
- Di agrama de traT eto e passo:
Represent a a seqnci a de operao de um el ement o de t rabal ho e o val or
percorri do em cada passo consi derado.
Passo a vari ao do est ado de movi ment o de qual quer el ement o de t rabal ho
pneumt i co.
No caso de vri os el ement os de t rabal ho para comando, est es so
represent ados da mesma manei ra e desenhados uns sob os out ros.
A correspondnci a real i zada at ravs de passos.
Para o exempl o ci t ado si gni f i ca que, do passo 1 at o passo 2, a hast e do
ci l i ndro A avana da posi o f i nal t rasei ra para a posi o f i nal di ant ei ra, sendo
que est a al canada no passo 2.
Ent re o passo 2 e 4 a hast e permanece i mvel .
A part i r do passo 4, a hast e ret orna, al cana a posi o f i nal t rasei ra no passo
5, compl et ando um ci cl o de movi ment o.
Para o exempl o apresent ado, o di agrama de t raj et o e passo possui const ruo
segundo a f i gura a segui r.
84
Recomendamos que, para a di sposi o do desenho, observe-se o segui nt e:
Convm represent ar os passos de manei ra l i near e hori zont al ment e;
O t raj et o no deve ser represent ado em escal a, mas com t amanho i gual
para t odas as uni dades const rut i vas;
J que a represent ao do est ado arbi t rri a, pode-se desi gnar, como no
exempl o ant eri or, at ravs da i ndi cao da posi o do ci l i ndro ou at ravs de
si nai s bi nri os, i st o , 0 para a posi o f i nal t rasei ra e l ou L para a posi o
f i nal di ant ei ra;
A desi gnao da uni dade em quest o deve ser posi ci onada esquerda do
di agrama.
- Di agrama de traT eto e tempo:
Nesse di agrama o t raj et o de uma uni dade const rut i va represent ada em
f uno do t empo.
Para represent ao em desenho, t ambm so vl i das as recomendaes para
o di agrama de t raj et o e passo.
At ravs das l i nhas pont i l hadas (l i nhas de passo), a correspondnci a com o
di agrama de t raj et o e passo t orna-se cl ara, porm, di st nci a ent re os passos
est em f uno do t empo.
Enquant o o di agrama de t raj et o e passo of erece a possi bi l i dade de mel hor
vi so das correl aes, no di agrama de t raj et o e t empo podem ser
represent adas, mai s cl arament e, sobreposi es e di f erenas de vel oci dade de
t rabal ho.
No caso de se desej ar const rui r di agramas para el ement os de t rabal ho rot at i vo
como, por exempl o, mot ores el t ri cos e mot ores a ar compri mi do, devem ser
ut i l i zados as mesmas f ormas f undament ai s.
Ent ret ant o, a seqnci a das vari aes de est ado no t empo no consi derada,
i st o , no di agrama de t raj et o e passo, uma vari ao de est ado comum, como
o l i gar de um mot or el t ri co, no t ranscorrer durant e um passo i nt ei ro, mas
ser represent ada di ret ament e sobre a l i nha de passo.
85
D!ADiagrama de #omando
No diagrama de comando, o estado de comutao de um elemento de comando representado
em dependncia dos passos ou dos tempos.
Como o tempo de comutao insignificante ou praticamente instantneo, esse tempo no
considerado.
Exemplo:
Estado de abertura de um rel b.
O rel no passo 2 f echa novament e no passo 5.
Na el aborao do di agrama de comando recomenda-se:
- Desenhar, sempre que poss vel , o di agrama de comando, em combi nao
com o di agrama de movi ment o, de pref erenci a em f uno de passos;
- Que os passos ou t empos sej am represent ados l i near e hori zont al ment e;
- Que a al t ura e a di st nci a, que so arbi t rri as, sej am det ermi nadas de
f orma a proporci onar f ci l supervi so.
Quando se represent a o di agrama de movi ment o e de comando em conj unt o, est a
represent ao recebe o nome di agrama de )un#i onamento.
86
O di agrama de f unci onament o para o exempl o da pgi na ant eri or est
represent ado na f i gura abai xo.
No di agrama, observa-se o est ado das vl vul as que comandam os ci l i ndros (1. 1
para a, 2. 1 para B) e o est ado de uma chave f i m de curso 2. 2, i nst al ada na
posi o di ant ei ra do ci l i ndro A.
Como j menci onado, os t empos de comut ao dos equi pament os no so
consi derados no di agrama de comando.
Ent ret ant o, como most ra a f i gura aci ma, (vl vul a f i m de curso 2. 2), a l i nha de
aci onament o para vl vul as (chaves) f i m de curso deve ser desenhada ant es ou
depoi s da l i nha de passo, uma vez que, na prt i ca, o aci onament o no se d
exat ament e no f i nal do curso, mas si m, cert o t empo ant es ou depoi s.
Est a manei ra de represent ao det ermi na t odos os comandos e seus
conseqent es movi ment os.
Est e di agrama permi t e cont rol ar, com mai or f aci l i dade, o f unci onament o do
ci rcui t o e det ermi nar erros, pri nci pal ment e sobreposi o de si nai s.
87
7 Tipos de es:uemas
Na const ruo de esquemas de comando, t emos duas possi bi l i dades que i ndi cam
a mesma coi sa.
As al t ernat i vas so:
1. Esquemas de comando de posi o.
2. Esquemas de comando de si st ema.
Veremos as vant agens e i nconveni ent es dest es doi s t i pos de esquemas nos
exempl os a segui r.
,A /s:uema de #omando de posi45o
Podemos veri f i car que no esquema de comando de posi o est o si mbol i zados
t odos os el ement os (ci l i ndros, vl vul as e uni dade de conservao). Onde
real ment e se encont ram na i nst al ao.
Est a f orma de apresent ao vant aj osa para o mont ador, que pode ver de
i medi at o onde deve mont ar os el ement os.
Ent ret ant o, t em o i nconveni ent e de mui t os cruzament os de l i nhas (condut ores de
ar), onde podem ocorrer enganos na conexo dos el ement os pneumt i cos.
88
GA /s:uema de #omando de sistema
Est baseado numa ordenao, isto , todos os smbolos pneumticos so desenhados em
sentido horizontal e em cadeia de comando.
A combinao de comandos bsicos simples, de funes iguais ou diferentes, resulta em um
comando mais amplo, com muitas cadeias de comando.
Este tipo de esquema, em razo da ordenao, alm de facilitar a leitura, elimina ou reduz os
cruzamentos de linhas.
No esquema de comando, deve-se caracterizar os elementos pneumticos, em geral
numericamente, para indicar a posio que ocupam e facilitar sua interpretao.
71 Ordem de #omposi45o
Para facilitar a composio de esquema de comando, recomenda-se o seguinte procedimento:
Desenhar os elementos de trabalho e suas respectivas vlvulas de comando:
Desenhar mdulos de sinais (partida, fim de curso, etc.);
Conectar as canalizaes de comando (pilotagem) e de trabalho (utilizao) segundo a seqncia
de movimento;
Numerar os elementos;
Desenhar o abastecimento de energia;
Verificar os locais onde se tornam necessrios os desligamentos de sinais para evitar as
sobreposies de sinais;
Eliminar as possibilidades de contrapresso nos elementos de comando;
Eventualmente, introduzir as condies marginais;
Desenhar os elementos auxiliares;
Certificar-se de que, mesmo colocando presso nas vlvulas, o primeiro movimento do elemento
de trabalho s se dar depois de acionada vlvula de partida.
89
7! Denomina45o dos elementos pneumti#os
Para denomi nar os el ement os usamos o segui nt e cri t ri o:
1. El ement os de t rabal ho
2. El ement os de comando
3. El ement os de si nai s
4. El ement os auxi l i ares
De acordo com o esquema ant eri or t emos:
. 0 El ement os de t rabal ho;
. 1 El ement os de comando
. 2, . 4. . . Todos os el ement os que i nf l uenci am o avano do el ement o de
t rabal ho consi derado (nmeros pares);
. 3, . 5. . . Todos os el ement os que i nf l uenci am o ret orno (nmeros mpares);
. 01, . 02. . . El ement os auxi l i ares, ent re o el ement o de comando e o el ement o
de t rabal ho;
0. 1 , 0. 2. . . El ement os de al i ment ao (uni dade de conservao, vl vul as de
f echament o), que i nf l uenci am t odas as cadei as de comando.
90
(50 #%#0#'t! # t"aba%/! ()&%&'"!$6 0!t!"#$ pneumticos,
unidades de avano, etc.), com as correspondentes vlvulas,
considerado como cadeia de comando nmero 1, 2, 3, etc).
Por isso, o primeiro nmero da denominao do elemento indica a que
cadeia de comando pertence o elemento.
O nmero de pois do ponto indica de que elemento se trata.
7$ So&reposi45o de sinais
Em comandos pneumticos pode aparecer contraposio de sinais que impede o funcionamento
da seqncia de movimento. O exemplo abaixo demonstra isto:
91
Observa-se que o ci rcui t o pneumt i co apresent ado na pgi na ant eri or, n5o
execut a a seqnci a de movi ment o desej ada, devi do sobreposi o de si nai s em
b0 e a1.
Not a-se que o ci l i ndro , permanece recuado mesmo com o comando de avano,
at ravs do bot o start.
H di versos mei os para sol uci onar est e probl ema:
5. A) Por rol et e escamot evel (gat i l ho);
6. B) Por cort e de si nal ;
7. C) Por vl vul a de memri a;
8. D) Por mt odo cascat a;
9. E) Por mt odo passo a passo.
,A Sol u45o da se:U;n#i a ,V GV G- ,- por gati l Io:
Des#ri 45o de )un#i onamento:
10. Aci onando- se o bot o st art , o ci l i ndro A avana. Ant es do f i nal do seu curso
de avano, a vl vul a de gat i l ho a1 aci onada e o ci l i ndro B
avana. Exat ament e no f i nal do curso de avano do ci l i ndro B, a vl vul a de
rol et e b1 aci onada para ef et uar o recuo dest e mesmo ci l i ndro. Ant es do f i nal
do seu curso de recuo, a vl vul a de gat i l ho b0 aci onada e o ci l i ndro A recua.
NOT,: Conf orme i ndi cao das set as ( ) no ci rcui t o, a vl vul as de gat i l ho a1
aci onada soment e no avano e a vl vul a b0 soment e no recuo.
92
GA Sol u45o da se:U;n#i a ,V GV G- ,- por #orte de si nal :
Des#ri 45o de )un#i onamento:
,van4o do #i l i ndro ,:
33, Aci onando-se o bot o start, o ci l i ndro , avana.
Avano do ci l i ndro B:
32, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro ,, o rol et e a1 aci onado e o ci l i ndro G
avana. Enquant o o rol et e a1 permanece aci onado, o cort e de si nal ! processa
um t empo, para em segui da cort ar a presso de pi l ot agem 1%.
Re#uo do #i l i ndro G:
34, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro G, o rol et e &1 aci onado comandando
o recuo desse ci l i ndro.
Re#uo do #i l i ndro ,:
35, No f i nal do curso de recuo de G, o rol et e &9 aci onado e o ci l i ndro , recua.
Enquant o o rol et e &9 permanece aci onado, o cort e de si nal 1 processa um
t empo, para em segui da cort ar a presso de pi l ot agem 1!.
93
+A Sol u45o da se:U;n#i a ,V GV G- ,- por vl vul a de memCri a:
Des#ri 45o de )un#i onamento:
,van4o do #i l i ndro ,:
36, Aci onando- se o bot o start, a vl vul a de memri a 1 aci onada cort ando a
presso de pi l ot agem 1!; a vl vul a de memri a ! t ambm aci onada
preparando a presso de pi l ot agem 1% de comando de avano do ci l i ndro G.
Si mul t aneament e, o ci l i ndro , avana.
,van4o do #i l i ndro G:
37, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro , , o rol et e a1 aci onado e o ci l i ndro
G avana.
Re#uo do #i l i ndro G:
38, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro G, o rol et e &1 aci onado, a vl vul a de
memri a ! desaci onada, cort ando a presso de pi l ot agem 1%.
Si mul t aneament e, a vl vul a de memri a 1 desaci onada, preparando a
presso de pi l ot agem 1! de comando de recuo do ci l i ndro ,, e t ambm o
ci l i ndro G recua.
Re#uo do #i l i ndro ,:
39, No f i nal do curso de recuo de G, o rol et e &9 aci onado e o ci l i ndro , recua.
94
DA Solu45o da se:U;n#ia ,V GV G- ,- por m8todo #as#ata:
Des#ri 45o de )un#i onamento:
,van4o do #i l i ndro ,:
39, Aci onando- se o bot o start, a vl vul a de memri a 1 aci onada, o grupo n1
pressuri zado e o ci l i ndro , avana.
,van4o do #i l i ndro G:
20, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro , , o rol et e a1 aci onado e o ci l i ndro
G avana.
Re#uo do #i l i ndro G:
23, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro G, o rol et e &1 aci onado, a vl vul a de
Memri a 1 desaci onada, o grupo nW! pressuri zado e o ci l i ndro G recua.
Re#uo do #i l i ndro ,:
22, No f i nal do curso de recuo do ci l i ndro G, o rol et e &9 aci onado e o ci l i ndro ,
recua.
95
/A Solu45o da se:U;n#ia ,V GV G- ,- por m8todo passo a passo:
Des#ri 45o de )un#i onamento:
,van4o do #i l i ndro ,:
24, Aci onando- se o bot o start, a vl vul a de memri a 3/ 2vi as do grupo n1
aci onada, est e grupo pressuri zado e o grupo nW% despressuri zado.
Com o grupo nW1 pressuri zado, a vl vul a de i mpul so 5/ 2vi as
comut ada(t rocada de posi o) e o ci l i ndro , avana.
,van4o do #i l i ndro G:
25, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro , , o rol et e a1 aci onado, a vl vul a de
memri a 3/ 2vi as do grupo nW ! comut ada, est e grupo pressuri zado e o
grupo nW1 despressuri zado.
Com o grupo nW! pressuri zado, a vl vul a de i mpul so 5/ 2vi as comut ada e o
ci l i ndro G avana.
Re#uo do #i l i ndro G:
26, No f i nal do curso de avano do ci l i ndro G , o rol et e &1 aci onado, a vl vul a de
memri a 3/ 2vi as do grupo nW $ comut ada, est e grupo pressuri zado e o
grupo nW! despressuri zado.
Com o grupo nW$ pressuri zado, a vl vul a de i mpul so 5/ 2vi as comut ada e o
ci l i ndro G recua.
Re#uo do #i l i ndro ,:
27, No f i nal do curso de recuo do ci l i ndro G , o rol et e &9 aci onado, a vl vul a de
memri a 3/ 2vi as do grupo nW% comut ada, est e grupo pressuri zado e o
grupo nW$ despressuri zado.
Com o grupo nW% pressuri zado, a vl vul a de i mpul so 5/ 2vi as comut ada e o
ci l i ndro , recua.
96
19 SI-GOBO.I,
Conforme NBR 8896, 8897, 8898 (baseada nas SO 1219,5598, 5599, DN 24300, DN/ SO1219,
CETOP RP100)
Linha de trabalho Unio de linhas
7&'/a # #$)a-#
(#4au$t+!)
Linhas cruzadas no
conectadas
7&'/a # )!0a'!
(-&%!ta.#0)
Conexo com engate
rpido
7&'/a # )!'t!"'! 8u#
D#%&0&ta u0 )!'9u't! #
1u':;#$ #0 u0 <'&)!
)!"-!
Conexo com engate
rpido desconectado
=!'t# # -"#$$+!
Conexo de descarga
simples e no
conectvel
(escape livre)
7&'/a 1%#4>,#%
Conexo de descarga
rosqueada para
conexo
(escape dirigido)
Plugue ou conexo
bloqueada
Silenciador
97
Reservatrio
pneumtico
(acumulador)
Filtro com dreno
automtico
Resfriador Lubrificador
Purgador de gua com
dreno manual
Unidade
condicionadora
(smbolo simplificado)
Purgador de gua com
dreno automtico
Cilindro de simples
ao, retorno por
fora externa
Desumidificador de ar
Cilindro de dupla ao
com haste simples
Filtro
Cilindro de simples
ao, retorno por
mola
Filtro com dreno
manual
Cilindro com dois
amortecedores
regulveis de fim de
curso
98
Cilindro de dupla ao
com haste dupla
Vlvula Alternadora
(funo lgica OU)
Compressor
Vlvula de escape
rpido
Motor Pneumtico com
um sentido de fluxo
Vlvula de
simultaneidade
(Funo lgica E)
Motor Pneumtico com
dois sentidos de fluxo
Manmetro ou
Vacumetro
(a linha pode ser
conectada em qualquer
ponto da circunferncia)
Motor pneumtico com
campo de rotao
limitado (oscilante)
Termmetro
Vlvula de reteno
simples sem mola
Medidor de vazo
(Rotmetro)
Vlvula de reteno
simples com mola.
(indicar sempre ao lado
da mola a presso de
abertura)
Pressostato rearmado
por mola ajustvel
99
Vlvula de fechamento
manual (registro)
Vlvula direcional
3vias, 2 posies
normal aberta
Vlvula de controle de
vazo com orifcio de
passagem fixo
Vlvula direcional 3
vias 3 posies,
posio central
fechada
Vlvula de controle de
vazo com orifcio de
passagem regulvel
Vlvula direcional 4
vias 3 posies,
posio central
fechada
Vlvula de controle de
vazo com orifcio de
passagem regulvel
(unidirecional)
Vlvula direcional 4
vias 3 posies,
posio central com
sadas em exausto
Vlvula direcional
2vias, 2 posies
normal fechada
Vlvula direcional
4vias, 2 posies
Vlvula direcional 2vias
2 posies normal
aberta
Vlvula direcional
5vias, 3 posies
normal fechada
Vlvula direcional 3
vias 2posies, normal
fechada
Acionamento de
vlvula por boto
100
Alavanca
Trava (detente)
Pedal
Acionamento direto
por piloto externo
(por aplicao ou por
aumento de presso)
Apalpador ou came
Acionamento direto
por piloto externo
(por despressurizao)
Mola
Acionamento direto
por piloto externo por
reas de atuao
diferentes
Rolete
Acionamento direto
por piloto interno
(por aplicao ou por
acrscimo de presso)
Rolete articulado
Acionamento direto
por piloto interno
(por despressurizao)
Acionamento por
solenide
Acionamento indireto
por piloto interno
(por aplicao ou por
acrscimo de presso)
Solenide operado
proporcionalmente
(vlvula proporcional e
servovlvula)
Acionamento indireto
por piloto interno
(por despressurizao)
101
Acionamento
combinado(por solenide
ou piloto hidrulico)
Operada por presso
em ambas as
direes
Acionamento
combinado(por solenide
com piloto pneumtico)
Vlvula de alvio, de
segurana ou
limitadora de presso
diretamente acionada
Acionamento por
solenides e centragem
por molas
Vlvula de alvio, de
segurana ou
limitadora de presso
comandada por piloto
distncia
Acionamento indireto
por piloto interno
e centragem por molas
Vlvula redutora de
presso com conexo
de descarga
102
11 INTRODUO , /B/TROPN/U-XTI+,
Uma mquina industrial apresentou defeito. O operador chamou a manuteno mecnica, que
solucionou o problema.
ndagado sobre o tipo de defeito encontrado, o mecnico de manuteno disse que estava na
parte eltrica, mas que ele, como mecnico, conseguiu resolver. Onde termina a parte mecnica e
comea a parte eltrica?
Nesta aula voc aprender noes de manuteno de partes eletroeletrnicas existentes em
mquinas. Para uma melhor compreenso, necessrio que voc reveja as aulas de eletricidade
e eletrnica no mdulo de automao.
111 -:uinas eletrome#Kni#as
Mquinas eletromecnicas so combinaes de engenhos mecnicos com circuitos eltricos e
eletrnicos capazes de comand-los. Defeitos nessas mquinas tanto podem ser puramente
mecnicos como mistos, envolvendo tambm a parte eletroeletrnica, ou ento puramente
eltricos ou eletrnicos.
Com trs reas tecnolgicas bem distintas nas mquinas, uma certa diviso do trabalho de
manuteno necessria. H empresas que mantm os mecnicos de manuteno, os
eletricistas e os eletrnicos em equipes separadas.
interessante notar que a boa diviso do trabalho s d certo quando as equipes mantm
constante a troca de informaes e ajuda mtua. Para facilitar o dilogo entre as equipes, bom
que elas conheam um pouco das outras reas.
Um tcnico eletrnico com noes de mecnica deve decidir bem melhor quanto natureza de
um defeito do que aquele desconhecedor da mecnica. O mecnico com alguma base
eletroeletrnica tanto pode diferenciar melhor os defeitos como at mesmo resolver alguns
problemas mistos.
Conhecimentos sobre tenso, corrente e resistncia eltricas so imprescindveis para quem vai
fazer manuteno em mquinas eletromecatrnicas. Recordando:
Tens5o el8tri#a @UA a fora que alimenta as mquinas. A tenso eltrica medida em volt (V).
As instalaes de alta-tenso podem atingir at 15.000 volts. As mais comuns so as de 110V,
220V e 380V. Pode ser contnua (a que tem polaridade definida) ou alternada.
+orrente el8tri#a @IA o movimento ordenado dos eltrons no interior dos materiais submetidos
a tenses eltricas. A corrente eltrica medida em ampre (A). Sem tenso no h corrente, e
sem corrente as mquinas eltricas param. A corrente eltrica pode ser contnua (CC) ou
alternada (CA).
Resist;n#ia el8tri#a @RA a oposio passagem de corrente eltrica que todo material
oferece. Quanto mais resistncia, menos corrente. Mquinas eltricas e componentes eletrnicos
sempre apresentam uma resistncia caracterstica. A medida da resistncia, cujo valor expresso
em ohm (D), um indicador da funcionalidade das mquinas e de seus componentes.
103
11! ,parelIos el8tri#os
Os aparelhos eltricos mais utilizados na manuteno eletroeletrnica so: voltmetro,
ampermetro, ohmmetro, multmetro e osciloscpio. Os aparelhos eltricos podem ser digitais ou
dotados de ponteiros. Os dotados de ponteiros so chamados de analgicos.
"olt*metro: utilizado para medir a tenso eltrica tanto contnua (VC) quanto alternada (VA).
,mper*metro: utilizado para medir a intensidade da corrente eltrica contnua (CC) e alternada
(CA).
OIm*metro: utilizado para medir o valor da resistncia eltrica.
-ult*metro: serve para medir a tenso, a corrente e a resistncia eltrica.
104
Os#ilos#Cpio: permite visualizar grficos de tenses eltricas variveis e determinar a freqncia
de uma tenso alternada.
11$ -edidas el8tri#as
Para se medir a tenso, a corrente e a resistncia eltricas com o uso de aparelhos eltricos,
devem ser tomadas as seguintes providncias:
escolher o aparelho com escala adequada;
conectar os dois fios ao aparelho;
conectar as duas pontas de prova (fios) em dois pontos distintos do objeto em anlise.
-edida de tens5o
A medida de tenso eltrica feita conectando as pontas de prova do aparelho aos dois pontos
onde a tenso aparece. Por exemplo, para se medir a tenso eltrica de uma pilha com um
multmetro, escolhe-se uma escala apropriada para medida de tenso contnua e conecta-se a
ponta de prova positiva (geralmente vermelha) ao plo positivo da pilha, e a ponta negativa
(geralmente preta) ao plo negativo.
105
Em multmetros digitais, o valor aparece direto no mostrador. Nos analgicos, deve-se observar o
deslocamento do ponteiro sobre a escala graduada para se determinar o valor da tenso.
Nas medidas de tenso alternada, a polaridade das pontas de prova no se aplica.
-edida de #orrente
A corrente eltrica a ser medida deve passar atravs do aparelho. Para isso, interrompe-se o
circuito cuja corrente deseja-se medir: o aparelho entra no circuito, por meio das duas pontas de
prova, como se fosse uma ponte religando as partes interrompidas.
Em sistemas de corrente contnua, deve-se observar a polaridade das pontas de prova.
Em circuitos de alta corrente, muitas vezes inconveniente e perigosa a interrupo do circuito
para medies. Em casos assim, faz-se uma medio indireta, utilizando um modelo de
ampermetro denominado "alicate, que abraa o condutor percorrido por corrente. O aparelho
capta o campo eletromagntico existente ao redor do condutor e indica uma corrente proporcional
intensidade do campo.
-edida de resist;n#ia
As medidas de resistncia devem ser feitas, sempre, com o circuito desligado, para no danificar
o aparelho. Conectam-se as pontas de prova do aparelho aos dois pontos onde se deseja medir a
resistncia.
O aparelho indica a resistncia global do circuito, a partir daqueles dois pontos. Quando se deseja
medir a resistncia de um componente em particular, deve-se desconect-lo do circuito.
106
Pane el8tri#a
Diante de uma pane eltrica, deve-se verificar primeiramente a alimentao eltrica, checando a
tenso da rede e, depois, os fusveis.
Os fusveis so componentes eltricos que devem apresentar baixa resistncia passagem da
corrente eltrica. ntercalados nos circuitos eltricos, eles possuem a misso de proteg-los contra
as sobrecargas de corrente.
De fato, quando ocorre uma sobrecarga de corrente que ultrapassa o valor da corrente suportvel
por um fusvel, este "queima, interrompendo o circuito.
Em vrios modelos de fusvel, uma simples olhada permite verificar suas condies. Em outros
modelos necessrio medir a resistncia.
Em todos os casos, ao conferir as condies de um fusvel, deve-se desligar a mquina da rede
eltrica.
Fusvel "queimado pode ser um sintoma de problema mais srio. Por isso, antes de
simplesmente trocar um fusvel, bom verificar o que ocorreu com a mquina, perguntando,
olhando, efetuando outras medies e, se necessrio, pedir auxlio a um profissional
especializado na parte eltrica.
11% Resist;n#ia2 aterramento e #ontinuidade
Resist;n#ia de entrada
A resistncia eltrica reflete o estado geral de um sistema.
Podemos medir a resistncia geral de uma mquina simplesmente medindo a resistncia a partir
dos seus dois pontos de alimentao. Em mquinas de alimentao trifsica, mede-se a
resistncia entre cada duas fases por vez. Essa resistncia geral denominada de resistncia de
entrada da mquina.
Qual a resistncia eltrica de entrada de uma mquina em bom estado? Esta pergunta no tem
resposta direta. Depende da mquina, porm, duas coisas podem ser ditas.
,A Se a resistncia de entrada for zero, a mquina est em curto-circuito. sto fatalmente levar
queima de fusvel quando ligada. Assim, natural que o curto-circuito seja removido antes de ligar
a mquina. Para compreender o conceito de curto-circuito, observe a figura a seguir.
107
Podemos ver pela figura que a corrente eltrica sai por um dos terminais da fonte eltrica (pilha ou
bateria), percorre um fio condutor de resistncia eltrica desprezvel e penetra pelo outro terminal,
sem passar por nenhum aparelho ou instrumento. Quando isso ocorre, dizemos que h um curto-
circuito. O mesmo se d, por exemplo, quando os plos de uma bateria so unidos por uma chave
de fenda, ou quando dois fios energizados e desencapados se tocam.
Quando ocorre um curto-circuito, a resistncia eltrica do trecho percorrido pela corrente muito
pequena, considerando que as resistncias eltricas dos fios de ligao so praticamente
desprezveis. Assim, pela lei de Ohm, se U (tenso) constante e R (resistncia) tende a zero,
necessariamente (corrente) assume valores elevados. Essa corrente a corrente de curto-
circuito.
Resumindo:
Circuito em curto pode se aquecer exageradamente e dar incio a um incndio. Para evitar que
isso acontea, os fusveis do circuito devem estar em bom estado para que, to logo a
temperatura do trecho "em curto" aumente, o filamento do fusvel funda e interrompa a passagem
da corrente.
108
GA Se a resistncia de entrada for muito grande, a mquina estar com o circuito de alimentao
interrompido e no funcionar at que o defeito seja removido.
Vimos a importncia da medida da resistncia na entrada de alimentao eltrica. No caso em
que a resistncia for zero, podemos dizer ainda que a mquina est sem isolamento entre os
pontos de alimentao. Sim, pois o termo curto-circuito significa que os dois pontos de medio
esto ligados eletricamente, formando assim um caminho curto para passagem de corrente entre
eles. Contudo, o teste de isolamento pode ser aplicado tambm em outras circunstncias.
,terramento
nstalaes eltricas industriais costumam possuir os fios "fase, "neutro e um fio chamado de
"terra. Trata-se de um fio que de fato ligado terra por meio de uma barra de cobre em uma
rea especialmente preparada. O fio neutro origina-se de uma ligao terra no poste da
concessionria de energia eltrica. A resistncia ideal entre neutro e terra deveria ser zero, j que
o neutro tambm se encontra ligado terra; mas a resistncia no zero.
At chegar s tomadas, o fio neutro percorre longos caminhos. Aparece uma resistncia entre
neutro e terra, que todavia no deve ultrapassar uns 3 ohms, sob pena de o equipamento no
funcionar bem. Assim, um teste de resistncia entre neutro e terra pode ser feito com ohmmetro,
porm, sempre com a rede desligada.
O fio terra cumpre uma funo de proteo nas instalaes. As carcaas dos equipamentos
devem, por norma, ser ligadas ao fio terra. Assim, a carcaa ter sempre um nvel de tenso de
zero volt comparado com o cho em que pisamos. Nesse caso, dizemos que a carcaa est
aterrada, isto , no mesmo nvel eltrico que a terra.
Opostamente, uma carcaa desaterrada pode receber tenses eltricas acidentalmente (um fio
desencapado no interior da mquina pode levar a isso) e machucar pessoas. Por exemplo, se
algum tocar na carcaa e estiver pisando no cho (terra), fica submetido a uma corrente eltrica
(lembre-se de que a corrente circula sempre para o neutro, isto , para a terra), levando um
choque, que poder ser fatal, dependendo da intensidade da corrente e do caminho que ela faz ao
percorrer o corpo.
109
O isolamento entre a carcaa dos equipamentos e o terra pode ser verificada medindo-se o valor
da resistncia que deve ser zero. Nas residncias, sempre bom manter um sistema de
aterramento para aparelhos como geladeiras, mquinas de lavar e principalmente chuveiros. Um
chuveiro eltrico sem aterramento uma verdadeira cadeira eltrica!
+ontinuidade
Outros problemas simples podem ser descobertos medindo a resistncia dos elementos de um
circuito. Por exemplo, por meio da medida da resistncia, pode-se descobrir se h mau contato,
se existe um fio quebrado ou se h pontos de oxidao nos elementos de um circuito. Resumindo,
para saber se existe continuidade em uma ligao, basta medir a resistncia entre suas pontas.
Esse procedimento recomendado sempre que se tratar de percursos no muito longos.
110
1! /J/R+M+IOS
1. Relacione a primeira coluna com a segunda.
Grandeza fsica Aparelho
a) ( ) Tenso eltrica 1. Ampermetro
b) ( ) Corrente eltrica 2. Voltmetro
c) ( ) Resistncia eltrica3. Ohmmetro
4. Osciloscpio
2. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmaes.
a) ( ) Escolha de uma escala apropriada, uso de duas pontas de provas e conexo das pontas de
prova a dois pontos distintos so etapas que aparecem nas trs modalidades de medidas
eltricas.
b) ( ) Em medida de tenso contnua, as pontas de prova do voltmetro devem ser ligadas aos
plos positivo e negativo da fonte de tenso observando-se a polaridade.
c) ( ) Em medida de corrente, o circuito deve ser desligado e interrompido, colocando-se o
ampermetro de tal forma que a corrente o atravesse.
d) ( ) Ao se medir resistncia de um circuito, ele deve estar desligado.
Assinale com X a alternativa correta.
3. Os fusveis "queimam porque:
a) ( ) sempre apresentam defeitos de fabricao;
b) ( ) so atravessados por correntes acima do valor para os quais foram fabricados;
c) ( ) sofrem desgastes naturais;
d) ( ) sofrem aumentos sbitos de resistncia eltrica;
e) ( ) possuem elevadas resistncias.
4. Em um curto-circuito:
a) ( ) a corrente zero e a resistncia elevada;
b) ( ) a resistncia zero e a tenso elevada.;
c) ( ) a resistncia alta e a corrente elevada;
d) ( ) a resistncia zero e a corrente elevada;
e) ( ) a tenso e a corrente so nulas.
5. Em uma instalao eltrica com aterramento, o fio .................. deve estar ligado
....................................dos equipamentos. A tenso entre a carcaa e o terra, nesses casos,
..................... volt.
A melhor seqncia de palavras que preenche corretamente as lacunas da afirmao :
a) ( ) terra, carcaa, zero.
b) ( ) neutro, fonte, um.
c) ( ) fase, carcaa, zero.
d) ( ) terra, fonte, meio.
e) ( ) neutro, carcaa, zero.
6. Quando falamos em continuidade de uma ligao eltrica, estamos querendo dizer que:
a) ( ) a medida da resistncia eltrica de ponta a ponta na ligao infinita;
b) ( ) a medida da resistncia eltrica de ponta a ponta na ligao zero;
c) ( ) visualmente a ligao contnua;
d) ( ) somente corrente contnua pode circular pela ligao;
e) ( ) somente corrente alternada pode circular pela ligao.
111
1$ +O-PON/NT/S /BSTRI+OS DOS +IR+UITOS
Os componentes eltricos utilizados nos circuitos so distribudos em trs categorias:
os elementos de entrada de sinais eltricos,
os elementos de processamento de sinais,
e os elementos de sada de sinais eltricos.
1$1 /lementos de /ntrada de Sinais
Os componentes de entrada de sinais eltricos so aqueles que emitem informaes ao circuito
por meio de uma ao muscular, mecnica, eltrica, eletrnica ou combinao entre elas. Entre os
elementos de entrada de sinais podemos citar a botoeiras, a chave fim de curso, o sensor de
proximidade e o pressostato, entre outros, todos destinados a emitir sinais para energizao ou
desenergizao do circuito ou parte dele.
Gotoeira
A botoeira uma chave eltrica acionada manualmente que apresenta, geralmente, um contato
aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando eltrico, a
botoeira caracterizada como pulsadora ou com trava.
A$ b!t!#&"a$ -u%$a!"a$ &',#"t#0 $#u$ )!'tat!$ 0#&a't# ! a)&!'a0#'t! # u0 b!t+! #6
#,&! a a:+! # u0a 0!%a6 "#t!"'a0 ? -!$&:+! &'&)&a% 8ua'! )#$$a ! a)&!'a0#'t!.
112
Essa botoeira possui um contato aberto e um contato fechado, sendo acionada por um boto
pulsador liso e reposicionada por mola. Enquanto o boto no for acionado, os contatos 11 e 12
permanecem fechados, permitindo a passagem da corrente eltrica, ao mesmo tempo em que os
contatos 13 e 14 se mantm abertos, interrompendo a passagem da corrente. Quando o boto
acionado, os contatos se invertem de forma que o fechado abre e o aberto fecha. Soltando-se o
boto, os contatos voltam posio inicial pela ao da mola de retorno.
As botoeiras com trava tambm invertem seus contatos mediante o acionamento de um boto,
entretanto, ao contrrio das botoeiras pulsadoras, permanecem acionadas e travadas mesmo
depois de cessado o acionamento.
Esta botoeira acionada por um boto giratrio com uma trava que mantm os contatos na ltima
posio acionada. Como o corpo de contatos e os bornes so os mesmos da figura anterior e
apenas o cabeote de acionamento foi substitudo, esta botoeira tambm possui as mesmas
caractersticas construtivas, isto , um contato fechado nos bornes 11 e 12 e um aberto 13 e 14.
Quando o boto acionado, o contato fechado 11/12 abre e o contato 13/14 fecha e se mantm
travados na posio, mesmo depois de cessado o acionamento. Para que os contatos retornem
posio inicial necessrio acionar novamente o boto, agora no sentido contrrio ao primeiro
acionamento.
113
Outro tipo de botoeira com trava, muito usada como boto de emergncia para desligar o circuito
de comando eltrico em momentos crticos, acionada por boto do tipo cogumelo.
Mais uma vez, o corpo de contatos e os bornes so os mesmos, sendo trocado apenas o
cabeote de acionamento. O boto do tipo cogumelo, tambm conhecido como boto soco-trava,
quando acionado, inverte os contatos da botoeira e os mantm travados. O retorno posio
inicial se faz mediante um pequeno giro do boto no sentido horrio, o que destrava o mecanismo
e aciona automaticamente os contatos de volta a mesma situao de antes do acionamento.
Outro tipo de boto de acionamento manual utilizado em botoeiras o boto flip-flop, tambm
conhecido como divisor binrio, o qual alterna os pulsos dados no boto, uma vez invertendo os
contatos da botoeira, outra trazendo-os posio inicial.
114
+Iaves (im de +urso
As chaves fim de curso, assim como as botoeiras, so comutadores eltricos de entrada de sinais,
s que acionados mecanicamente. As chaves fim de curso so, geralmente, posicionadas no
decorrer do percurso de cabeotes mveis de mquinas e equipamentos industriais, bem como
das hastes de cilindros hidrulicos e ou pneumticos.
O acionamento de uma chave fim de curso pode ser efetuado por meio de um rolete mecnico ou
de um rolete escamotevel, tambm conhecido como gatilho. Existem, ainda, chaves fim de curso
acionadas por uma haste apalpadora, do tipo utilizada em instrumentos de medio como, por
exemplo, num relgio comparador.
Esta chave fim de curso acionada por um rolete mecnico e possui um contato comutador
formado por um borne comum 11, um contato fechado 12 e um aberto 14. Enquanto o rolete no
for acionado, a corrente eltrica pode passar pelos contatos 11 e 12 e est interrompida entre os
contatos 11 e 14. Quando o rolete acionado, a corrente passa pelos contatos 11 e 14 e
bloqueada entre os contatos 11 e 12. Uma vez cessado o acionamento, os contatos retornam
posio inicial, ou seja, 11 interligado com 12 e 14 desligado.
115
116
Esta outra chave fim de curso tambm acionada por um rolete mecnico mas, diferentemente da
anterior, apresenta dois contatos independente sendo um fechado, formado pelos bornes 11 e 12,
e outro aberto, efetuado pelos bornes 13 e 14. Quando o rolete acionado, os contatos 11 e 12
abrem, interrompendo a passagem da corrente eltrica, enquanto que os contatos 13 e 14
fecham, liberando a corrente.
Os roletes mecnicos acima apresentados podem ser acionados em qualquer direo que
efetuaro a comutao dos contatos das chaves fim de curso. Existem, porm, outros tipos de
roletes que somente comutam os contatos das chaves se forem acionados num determinado
sentido de direo. So os chamados roletes escamoteveis, tambm conhecidos na indstria
como gatilhos.
Est a chave f i m de curso, aci onada por gat i l ho, soment e i nvert e seus
cont at os quando o rol et e f or at uado da esquerda para a di rei t a. No
sent i do cont rri o, uma art i cul ao mecni ca
faz com que a haste do mecanismo dobre, sem acionar os contatos comutadores da chave fim de
curso. Dessa forma, somente quando o rolete acionado da esquerda para a direita, os contatos
da chave se invertem permitindo que a corrente eltrica passe pelos contatos 11 e 14 e seja
bloqueada entre os contatos 11 e 12. Uma vez cessado o acionamento, os contatos retornam
posio inicial, ou seja, 11 interligado com 12 e 14 desligado.
Sensores de Proximidade
Os sensores de proximidade, assim como as chaves fim de curso, so elementos emissores de
sinais eltricos os quais so posicionados no decorrer do percurso de cabeotes mveis de
mquinas e equipamentos industriais, bem como das haste de cilindros hidrulicos e ou
pneumticos. O acionamento dos sensores, entretanto, no dependem de contato fsico com as
partes mveis dos equipamentos, basta apenas que estas partes aproximem-se dos sensores a
uma distncia que varia de acordo com o tipo de sensor utilizado.
Existem no mercado diversos tipos de sensores de proximidade os quais devem ser selecionados
de acordo com o tipo de aplicao e do material a ser detectado. Os mais empregados na
automao de mquinas e equipamentos industriais so os sensores capacitivos, indutivos,
117
pticos, magnticos e ultra-snicos, alm dos sensores de presso, volume e temperatura, muito
utilizados na indstria de processos.
Basicamente, os sensores de proximidade apresentam as mesmas caractersticas de
funcionamento. Possuem dois cabos de alimentao eltrica, sendo um positivo e outro negativo,
e um cabo de sada de sinal. Estando energizados e ao se aproximarem do material a ser
detectado, os sensores emitem um sinal de sada que, devido principalmente baixa corrente
desse sinal, no podem ser utilizados para energizar diretamente bobinas de solenides ou outros
componentes eltricos que exigem maior potncia.
Diante dessa caracterstica comum da maior parte dos sensores de proximidade, necessria a
utilizao de rels auxiliares com o objetivo de amplificar o sinal de sada dos sensores,
garantindo a correta aplicao do sinal e a integridade do equipamento.
Os sensores de proximidade capacitivos registram a presena de qualquer tipo de material. A
distncia de deteco varia de 0 a 20 mm, dependendo da massa do material a ser detectado e
das caractersticas determinadas pelo fabricante.
118
Os sensores de proxi mi dade i ndut i vos so capazes de det ect ar apenas
mat eri ai s met l i cos, a uma di st nci a que osci l a de 0 a 2 mm,
dependendo t ambm do t amanho do mat eri al a ser det ect ado e das
caract er st i cas especi f i cadas pel os di f erent es f abri cant es,
Os sensores de proximidade pticos detectam a aproximao de qualquer tipo de objeto, desde
que este no seja transparente. A distncia de deteco varia de 0 a 100 mm, dependendo da
luminosidade do ambiente. Normalmente, os sensores pticos por barreira fotoeltrica so
construdos em dois corpos distintos, sendo um emissor de luz e outro receptor. Quando um
objeto se coloca entre os dois, interrompendo a propagao da luz entre eles, um sinal de sada
ento enviado ao circuito eltrico de comando.
119
Outro tipo de sensor de proximidade ptico, muito usado na automao industrial, o do tipo
reflexivo no qual emissor e receptor de luz so montados num nico corpo, o que reduz espao e
facilita sua montagem entre as partes mveis dos equipamentos industriais. A distncia de
deteco entretanto menor, considerando-se que a luz transmitida pelo emissor deve refletir no
material a ser detectado e penetrar no receptor o qual emitir o sinal eltrico de sada.
Os sensores de proximidade magnticos, como o prprio nome sugere, detectam apenas a
presena de materiais metlicos e magnticos, como no caso dos ims permanentes. So
utilizados com maior freqncia em mquinas e equipamentos pneumticos e so montados
diretamente sobre as camisas dos cilindros dotados de mbolos magnticos. Toda vez que o
mbolo magntico de um cilindro se movimenta, ao passar pela regio da camisa onde
externamente est posicionado um sensor magntico, este sensibilizado e emite um sinal ao
circuito eltrico de comando.
Pressostato
Os pressostatos, tambm conhecidos como sensores de presso, so chaves eltricas acionadas
por um piloto hidrulico ou pneumtico. Os pressostatos so montados em linhas de presso
hidrulica e ou pneumtica e registram tanto o acrscimo como a queda de presso nessas
linhas, invertendo seus contatos toda vez em que a presso do leo ou do ar comprimido
ultrapassar o valor ajustado na mola de reposio.
120
Se a mola de regulagem deste pressostato for ajustada com uma presso de, por exemplo, 7 bar,
enquanto a presso na linha for inferior a esse valor, seu contato 11/12 permanece fechado ao
mesmo tempo em que o contato 13/14 se mantm aberto. Quando a presso na linha ultrapassar
os 7 bar ajustado na mola, os contatos se invertem abrindo o 11/12 e fechando o 13/14.
1$! /lementos de Pro#essamento de Sinais
:s co#$onent es de $r ocessa#ent o de si nai s el *t r i cos so a)uel es )ue
anal i sa# as i n or #a;es e#i t i das ao ci r cui t o $el os el e#ent os de ent rada,
co#"i nando1 as ent r e si $ar a )ue o co#ando el *t r i co a$r esent e o
co#$or t a#ent o i nal dese< ado, di ant e dessas i n or #a;es, Ent r e os el e#ent os
de $rocessa#ent o de si nai s $ode#os ci t ar os r el *s au(i l i ares, os cont at or es de
$ot nci a, os r el *s t e#$or i +adores e os cont ador es, ent re out r os, t odos
dest i nados a co#"i nar os si nai s $ara energi +ao ou desener gi +ao dos
el e#ent os de sa= da,
121
Rel8s ,uDiliares
Os rels auxiliares so chaves eltricas de quatro ou mais contatos, acionadas por bobinas
eletromagnticas. H no mercado uma grande diversidade de tipos de rels auxiliares que,
basicamente, embora construtivamente sejam diferentes, apresentam as mesmas caractersticas
de funcionamento.
Este rel auxiliar, particularmente, possui 2 contatos abertos (13/14 e 43/44) e 2 fechados (21/22 e
31/32), acionados por uma bobina eletromagntica de 24 Vcc. Quando a bobina energizada,
imediatamente os contatos abertos fecham, permitindo a passagem da corrente eltrica entre
eles, enquanto que os contatos fechados abrem interrompendo a corrente. Quando a bobina
desligada, uma mola recoloca imediatamente os contatos nas suas posies iniciais.
Alm de rels auxiliares de 2 contatos abertos (NA) e 2 contatos fechados (NF), existem outros
que apresentam o mesmo funcionamento anterior mas, com 3 contatos NA e 1 NF.
122
Este outro tipo de rel auxiliar utiliza contatos comutadores, ao invs dos tradicionais contatos
abertos e fechados. A grande vantagem desse tipo de rel sobre os anteriores a versatilidade do
uso de seus contatos.
Enquanto nos rels anteriores a utilizao fica limitada a 2 contatos Na e 2 NF ou 3 NA e 1 NF, no
rel de contatos comutadores pode-se empregar as mesmas combinaes, alm de, se
necessrio, todos os contatos abertos ou todos fechados ou ainda qualquer outra combinao
desejada. Quando a bobina energizada, imediatamente os contatos comuns 11, 21, 31 e 41
fecham em relao aos contatos 13, 24, 34 e 44, respectivamente, e abrem em relao aos
contatos 12, 22, 32 e 42. Desligando-se a bobina, uma mola recoloca novamente os contatos na
posio inicial, isto , 11 fechado com 12 e aberto com 14, 21 fechado com 22 e aberto com 24,
31 fechado com 32 e aberto com 34 e, finalmente, 41 fechado com 42 e aberto em relao ao 44.
123
+ontatores de Pot;n#ia
Os contatores de potncia apresentam as mesmas caractersticas construtivas e de
funcionamento dos rels auxiliares, sendo dimensionados para suportarem correntes eltricas
mais elevadas, empregadas na energizao de dispositivos eltricos que exigem maiores
potncias de trabalho.
124
Rel8s Tempori1adores
Os rels temporizadores, tambm conhecidos como rels de tempo, geralmente possuem um
contato comutador acionado por uma bobina eletromagntica com retardo na ligao ou no
desligamento.
Este rel temporizador possui um contato comutador e uma bobina com retardo na ligao, cujo
tempo ajustado por meio de um potencimetro. Quando a bobina energizada, ao contrrio dos
rels auxiliares que invertem imediatamente seus contatos, o potencimetro retarda o
acionamento do contato comutador, de acordo com o tempo nele regulado. Se o ajuste de tempo
no potencimetro for, por exemplo, de 5 segundos, o temporizador aguardar esse perodo de
tempo, a partir do momento em que a bobina for energizada, e somente ento os contatos so
invertidos, abrindo 11 e 12 e fechando 11 e 14. Quando a bobina desligada, o contato
comutador retorna imediatamente posio inicial. Trata-se, portanto, de um rel temporizador
com retardo na ligao.
125
Este outro tipo de rel temporizador apresenta retardo no desligamento. Quando sua bobina
energizada, seu contato comutador imediatamente invertido. A partir do momento em que a
bobina desligada, o perodo de tempo ajustado no potencimetro respeitado e somente ento
o contato comutador retorna posio inicial.
Out ro t i po de rel t empori zador encont rado em comandos el t ri cos o
c cl i co, t ambm conheci do como rel pi sca- pi sca. Est e t i po de rel
possui um cont at o comut ador e doi s pot enci met ros que cont rol am
i ndi vi dual ment e os t empos de ret ardo de i nverso do cont at o, Quando a
bobi na energi zada, o cont at o comut ador i nvert i do ci cl i cament e,
sendo que o pot enci met ro da esquerda cont rol a o t empo de i nverso do
cont at o, enquant o que o da di rei t a o t empo de ret orno do cont at o a sua
posi o i ni ci al .
126
+ontadores Predetermi nadores
Os rel s cont adores regi st ram a quant i dade de pul sos el t ri cos a el es
envi ados pel o ci rcui t o e emi t em si nai s ao comando quando a cont agem
desses pul sos f or i gual ao val or nel es programados. Sua apl i cao em
ci rcui t os el t ri cos de comando de grande ut i l i dade, no soment e para
cont ar e regi st rar o nmero de ci cl os de movi ment os ef et uados por uma
mqui na mas, pri nci pal ment e, para cont rol ar o nmero de peas a serem
produzi das, i nt errompendo ou encerrando a produo quando sua
cont agem at i ngi r o val or nel es det ermi nado.
Est e cont ador predet ermi nador regi st ra em seu di spl ay o nmero de
vezes em que sua bobi na f or energi zada ou receber um pul so el t ri co de
um el ement o de ent rada de si nal , geral ment e de um sensor ou chave f i m
de curso. At ravs de uma chave sel et ora manual , poss vel programar o
nmero de pul sos que o rel deve cont ar, de manei ra que, quando a
cont agem de pul sos f or i gual ao val or programado na chave sel et ora, o
rel i nvert e seu cont at o comut ador, abri ndo 11/ 12 e f echando 11/ 14.
127
Para ret ornar seu cont at o comut ador posi o i ni ci al e zerar seu
most rador, vi sando o i n ci o de uma nova cont agem, bast a emi t i r um
pul so el t ri co em sua bobi na de reset R1/ R2 ou, si mpl esment e aci onar
manual ment e o bot o reset l ocal i zado na part e f ront al do most rador.
13. 3. El ement os de Sa da de Si nai s
Os component es de sa da de si nai s el t ri cos so aquel es que recebem
as ordens processadas e envi adas pel o comando el t ri co e, a part i r
del as, real i zam o t rabal ho f i nal esperado do ci rcui t o. Ent re os mui t os
el ement os de sa da de si nai s di spon vei s no mercado, os que nos
i nt eressa mai s di ret ament e so os i ndi cadores l umi nosos e sonoros, bem
como os sol eni des apl i cados no aci onament o el et romagnt i co de
vl vul as hi drul i cas e pneumt i cas.
128
I n d i # a d o r e s B u mi n o s o s
Os i ndi cadores l umi nosos so l mpadas i ncandescent es ou LEDs,
ut i l i zadas na si nal i zao vi sual de event os ocorri dos ou prest es a
ocorrer. So empregados, geral ment e, em l ocai s de boa vi si bi l i dade que
f aci l i t em a vi sual i zao do si nal i zador.
I ndi #adores Sonoros
Os i ndi cadores sonoros so campai nhas, si renes, ci garras ou buzi nas,
empregados na si nal i zao acst i ca de event os ocorri dos ou prest es a
ocorrer. Ao cont rri o dos i ndi cadores l umi nosos, os sonoros so
ut i l i zados, pri nci pal ment e, em l ocai s de pouca vi si bi l i dade onde um
si nal i zador l umi noso seri a pouco ef i caz.
129
Sol enCi des
So bobi nas el et romagnt i cas que, quando energi zadas, geram um
campo magnt i co capaz de at rai r el ement os com caract er st i cas
f errosas, comport ando-se como um i m permanent e.
>u#a el et r o!0l !ul a, &i dr 0ul i ca ou $neu#0t i ca, a "o"i na do sol en?i de * enr ol ada
e# t orno de u# #agnet o i (o, $r eso @ car caa da !0l !ul a, en)uant o )ue o
#agnet o #?!el * i (ado di ret a#ent e na e(t r e#i dade do carr et el da !0l !ul a,
Auando u#a cor r ent e el *t r i ca $er cor r e a "o"i na, u# ca#$o #agn*t i co * ger ado
e at rai os #agnet os, o )ue e#$urr a o car r et el da !0l !ul a na di r eo o$ost a a do
sol en?i de )ue oi ener gi +ado, %essa or #a, * $oss= !el #udar a $osi o do
carr et el no i nt eri or da !0l !ul a, $or #ei o de u# $ul so el *t r i co,
Em el et rovl vul as pneumt i cas de pequeno port e, do t i po assent o, o mbol o da
vl vul a o prpri o magnet o mvel do sol eni de. Quando o campo magnt i co
gerado, em conseqnci a da energi zao da bobi na, o mbol o da vl vul a
at ra do, abri ndo ou f echando di ret ament e as passagens do ar compri mi do no
i nt eri or da carcaa da vl vul a.
130
131
1% GI GBI O.R,(I ,
T/+NOBO.I , /B/TROPN/U-XTI +,
naIp (Ncl eo de Aut omao Hi drul i ca e Pneumt i ca) do SENA - SP,
T/B/+URSO !999 PRO(I SSI ON,BI P,NT/
MANUTENO MECN CA
CH CAGO PNEUMAT C. So Paul o , s. d. [ Cat l ogo]
FESTO D DAT C. I ntrodu45o F Pneumti #a I ndustri al . So Paul o , 1995 .
FRANCO , Srgi o Nobre et al . +omandos Pneumti #os . So Paul o , SENA ,
1985 .
MORE RA , l l o da Si l va . +ompressores : I nstal a45o 2 (un#i onamento e
-anuten45o . So Paul o, SENA , 1991 . {Sri e t ecnol . i nd. 2 ]
132
Você também pode gostar
- Fenomeno Fisico 1Documento5 páginasFenomeno Fisico 1Haislan Araujo100% (2)
- Cálculo de Cabo GuiaDocumento22 páginasCálculo de Cabo GuiaVitor PiresAinda não há avaliações
- Resistência 2 - Tensão de CisalhamentoDocumento37 páginasResistência 2 - Tensão de CisalhamentoMaiara NogueiraAinda não há avaliações
- Catálogo Geral Motor VentiladorDocumento48 páginasCatálogo Geral Motor VentiladorDenisio MedeirosAinda não há avaliações
- TOP 50 ATACADO NACIONAL - Revista AnamacoDocumento7 páginasTOP 50 ATACADO NACIONAL - Revista AnamacoMN NTAinda não há avaliações
- TOP 50 - RANKING VAREJO 2019 - Revista AnamacoDocumento6 páginasTOP 50 - RANKING VAREJO 2019 - Revista AnamacoMN NTAinda não há avaliações
- Fabricação Do VidroDocumento33 páginasFabricação Do VidroMárcio RosaAinda não há avaliações
- Brigada de Incêndio - Básico - 16hDocumento99 páginasBrigada de Incêndio - Básico - 16hthereaper ghostAinda não há avaliações
- Brigada de IncêndioDocumento38 páginasBrigada de IncêndioTalita BarbosaAinda não há avaliações
- Limites Temperatura e Pressão Tanques de Armazenamento3 PDFDocumento8 páginasLimites Temperatura e Pressão Tanques de Armazenamento3 PDFNilsonAinda não há avaliações
- Especif Tecnica e Memorial Descritivo Reservt Metalico Totoni PDFDocumento3 páginasEspecif Tecnica e Memorial Descritivo Reservt Metalico Totoni PDFJulio Pansera JrAinda não há avaliações
- Treinamento Brigada - 2020Documento118 páginasTreinamento Brigada - 2020Ana SilvaAinda não há avaliações
- NBR 14787-2002 Espaço ConfinadoDocumento10 páginasNBR 14787-2002 Espaço ConfinadoengnandaAinda não há avaliações
- NBR 09967 - 1987 - Talhas Com Acionamento MotorizadoDocumento9 páginasNBR 09967 - 1987 - Talhas Com Acionamento MotorizadoCreysson82Ainda não há avaliações
- Anéis de Retenção para Eixos PDFDocumento4 páginasAnéis de Retenção para Eixos PDFJulian de FaveriAinda não há avaliações
- Aula Base Sobre Mola PDFDocumento25 páginasAula Base Sobre Mola PDFWILLIAM GonçalvesAinda não há avaliações
- Catalogo de Anel Elastico - Furos PDFDocumento2 páginasCatalogo de Anel Elastico - Furos PDFfabioh1Ainda não há avaliações
- TCC - Capitulo Calculo para Dimensionamento de Molas para Dispensador de PratosDocumento31 páginasTCC - Capitulo Calculo para Dimensionamento de Molas para Dispensador de Pratosjonathan viniciusAinda não há avaliações
- PT Ponte Rolante Caldeiraria Rev3Documento32 páginasPT Ponte Rolante Caldeiraria Rev3LuizFernandoCarvalho100% (1)
- Ventilador Industrial PDFDocumento79 páginasVentilador Industrial PDFgibsonguiAinda não há avaliações
- Projeto de Elementos de Máquina I - Elevador de CargaDocumento48 páginasProjeto de Elementos de Máquina I - Elevador de CargaAlexandreAinda não há avaliações
- NBR 15514Documento22 páginasNBR 15514eepricardoAinda não há avaliações
- Guia de Utilização de Células de CargaDocumento38 páginasGuia de Utilização de Células de CargaOsmar GomesAinda não há avaliações
- Treinamento de Brigadas 2020Documento72 páginasTreinamento de Brigadas 2020Ednaldo TavaresAinda não há avaliações
- Ventiladores - OKDocumento14 páginasVentiladores - OKRenata VicentinoAinda não há avaliações
- Teoria Sobre Parafuso de PotênciaDocumento8 páginasTeoria Sobre Parafuso de PotênciaLeonardo SantosAinda não há avaliações
- RA13 A RA15 06 06 06Documento4 páginasRA13 A RA15 06 06 06Mauro GarciaAinda não há avaliações
- 02 Majoração e Linearização de CargasDocumento56 páginas02 Majoração e Linearização de CargasRodney Pedroza100% (1)
- Resistência Dos Materiais - pptx-2Documento59 páginasResistência Dos Materiais - pptx-2Savio fonseca ufosAinda não há avaliações
- Cores de Segurança AbntDocumento4 páginasCores de Segurança Abntmarcospaulo01Ainda não há avaliações
- Memorial Descritivo Projeto Plataforma ElevatóriaDocumento4 páginasMemorial Descritivo Projeto Plataforma ElevatóriaPaulo CoutoAinda não há avaliações
- Ponte RolanteDocumento89 páginasPonte RolanteGuilherme 1234Ainda não há avaliações
- Lista de Exercícios - Tração - 20130312224839Documento5 páginasLista de Exercícios - Tração - 20130312224839gustavoffdAinda não há avaliações
- Manual de Manutenção e Operação - Cabine PinturaDocumento10 páginasManual de Manutenção e Operação - Cabine PinturaIvanAinda não há avaliações
- NR 12 - Soluções para Adequação Da Nova NR 12 e Aplicações em SegurançaDocumento25 páginasNR 12 - Soluções para Adequação Da Nova NR 12 e Aplicações em SegurançaAlison SilvaAinda não há avaliações
- Artigo Galpões em Pórticos de AçoDocumento4 páginasArtigo Galpões em Pórticos de AçoEduardo SiqueiraAinda não há avaliações
- PFC - Análise e Projeto Estrutural de Pórtico em Aço para Edifício Industrial Com Ponte Rolante - Rev1Documento125 páginasPFC - Análise e Projeto Estrutural de Pórtico em Aço para Edifício Industrial Com Ponte Rolante - Rev1Thiago AiresAinda não há avaliações
- Apostila Tecnologia Da SoldagemDocumento113 páginasApostila Tecnologia Da SoldagemGiovanna MirandaAinda não há avaliações
- Trabalho Ponte Rolante 2 Nota PDFDocumento39 páginasTrabalho Ponte Rolante 2 Nota PDFMaria AugustaAinda não há avaliações
- N-0134C - Chumbadores para ConcretoDocumento33 páginasN-0134C - Chumbadores para ConcretoAna Carolina TrindadeAinda não há avaliações
- Trabalho de Conclusao de CursoDocumento14 páginasTrabalho de Conclusao de CursoLorena AndradeAinda não há avaliações
- Cabos de AçoDocumento2 páginasCabos de AçoLucas de SouzaAinda não há avaliações
- Memorial de Cálculo - Braço DesparafinaçãoDocumento9 páginasMemorial de Cálculo - Braço DesparafinaçãoMarcio PerroniAinda não há avaliações
- 13 Dimensões Mínimas e MáximasDocumento62 páginas13 Dimensões Mínimas e MáximasAndre FerreiraAinda não há avaliações
- Met - Aula 2 e 3 - C3b3rgc3a3os Flexc3adveis de Elevac3a7c3a3o PDFDocumento51 páginasMet - Aula 2 e 3 - C3b3rgc3a3os Flexc3adveis de Elevac3a7c3a3o PDFGuilherme 1234Ainda não há avaliações
- Resumo AndaimesDocumento34 páginasResumo Andaimes084250Ainda não há avaliações
- Cálculo Esmagamento MáximoDocumento4 páginasCálculo Esmagamento MáximoMarcelo LimaAinda não há avaliações
- Laudo Aterramento Cinzel - Hosp Urgência e Emergência Região TocantinaDocumento12 páginasLaudo Aterramento Cinzel - Hosp Urgência e Emergência Região Tocantinagabrielinacio01Ainda não há avaliações
- Força CentrífugaDocumento3 páginasForça CentrífugaAnonymous yEP1XKvPKAinda não há avaliações
- A Arte de Projetar, André Luis FaturiDocumento41 páginasA Arte de Projetar, André Luis Faturi_blackmore_Ainda não há avaliações
- Aposila - Ponte Rolante 08hsDocumento52 páginasAposila - Ponte Rolante 08hsAnderson Marcos100% (1)
- Memorial de Cálculo PadrãoDocumento8 páginasMemorial de Cálculo Padrãobruno531Ainda não há avaliações
- NBR - 15526 - 2016 - Redes de Distribuição Interna para Gases CombustíveisDocumento52 páginasNBR - 15526 - 2016 - Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveisbrunoavsilveira100% (1)
- Silo e Angulo de RepousoDocumento99 páginasSilo e Angulo de RepousoDiogo C. Fattori100% (1)
- Relatório de Soldagem - Defeitos de SoldaDocumento5 páginasRelatório de Soldagem - Defeitos de SoldaLorena PessanhaAinda não há avaliações
- Realtório FinalDocumento178 páginasRealtório FinalkromettalAinda não há avaliações
- 10 - Uniões Por InterferênciaDocumento21 páginas10 - Uniões Por InterferênciaSergio Cabral100% (1)
- Pdem Aula 3 Rv15Documento40 páginasPdem Aula 3 Rv15Danilo FerreiraAinda não há avaliações
- Rodas PontesDocumento87 páginasRodas PonteseducrocoAinda não há avaliações
- Pneumática BásicaDocumento133 páginasPneumática BásicaMilton Xavier DiasAinda não há avaliações
- Pneumática Básica - ApostilaDocumento135 páginasPneumática Básica - ApostilaRenan VieiraAinda não há avaliações
- Apostila PneuDocumento47 páginasApostila PneuMarlon SantosAinda não há avaliações
- Pneumatica 1Documento9 páginasPneumatica 1Filipe Alberto De MagalhãesAinda não há avaliações
- Ebook Produtividade Nas VendasDocumento26 páginasEbook Produtividade Nas VendasSergio Duarte - CelebranteAinda não há avaliações
- Elaborando Plano de MKT Digital para Feiras EventosDocumento25 páginasElaborando Plano de MKT Digital para Feiras EventosMN NTAinda não há avaliações
- 61 Grandes Ideias de Vendas e Marketing - Raul CandeloroDocumento25 páginas61 Grandes Ideias de Vendas e Marketing - Raul CandeloroEnrico CardosoAinda não há avaliações
- Comunicação e Marketing Digitais - Conceitos, Práticas, Métricas e InovaçõesDocumento246 páginasComunicação e Marketing Digitais - Conceitos, Práticas, Métricas e InovaçõesJornalistas da Web100% (2)
- Google Marketing ADOLPHODocumento70 páginasGoogle Marketing ADOLPHOMileide SabinoAinda não há avaliações
- Administraçao de Vendas PDFDocumento55 páginasAdministraçao de Vendas PDFGuilherme Felix FelixAinda não há avaliações
- 61 Grandes Ideias de Vendas e Marketing - Raul CandeloroDocumento25 páginas61 Grandes Ideias de Vendas e Marketing - Raul CandeloroEnrico CardosoAinda não há avaliações
- TÉCNICAS DE VENDAS - Apostila PDFDocumento19 páginasTÉCNICAS DE VENDAS - Apostila PDFClayton LeiteAinda não há avaliações
- Sequestro e Emissãoes de Carbono em Função Da Mudança No Uso Da Cobertura Da Terra AmazônicaDocumento30 páginasSequestro e Emissãoes de Carbono em Função Da Mudança No Uso Da Cobertura Da Terra AmazônicaLip LorenAinda não há avaliações
- NegociarDocumento160 páginasNegociarMN NTAinda não há avaliações
- Energia NuclearDocumento9 páginasEnergia NuclearDomingas Bia SilvaAinda não há avaliações
- A Presença Holandesa No CearáDocumento12 páginasA Presença Holandesa No CearáMN NT100% (1)
- Máquinas para Ganhar Dinheiro - 17 Opções de Baixo InvestimentoDocumento8 páginasMáquinas para Ganhar Dinheiro - 17 Opções de Baixo InvestimentoMN NTAinda não há avaliações
- Aprenda A Fazer Um Cálculo Luminotécnico Rápido e Simplificado!Documento5 páginasAprenda A Fazer Um Cálculo Luminotécnico Rápido e Simplificado!MN NTAinda não há avaliações
- Apostila Tribologia PDFDocumento17 páginasApostila Tribologia PDFjonalthan1987Ainda não há avaliações
- HCRZ Cli MD 2021Documento39 páginasHCRZ Cli MD 2021pkorikassaAinda não há avaliações
- Aerodnâmica de Alta Velocidade PDFDocumento61 páginasAerodnâmica de Alta Velocidade PDFElton CacefoAinda não há avaliações
- Reologia Da Manufatura AditivaDocumento15 páginasReologia Da Manufatura AditivaJaqueline MedeirosAinda não há avaliações
- OP1 CapítuloV Agita e MisturaDocumento129 páginasOP1 CapítuloV Agita e MisturaDaniel NóbregaAinda não há avaliações
- Noções Básicas de Catálise PDFDocumento10 páginasNoções Básicas de Catálise PDFWadson Leite BarbosaAinda não há avaliações
- Apostila 02 - Episteme Cursos Online - Química Orgânica Medicina Ext - Prof. Alexandre Oliveira-OnlineDocumento165 páginasApostila 02 - Episteme Cursos Online - Química Orgânica Medicina Ext - Prof. Alexandre Oliveira-OnlineFelipe AntonioAinda não há avaliações
- LM1022 LumerDocumento6 páginasLM1022 LumerantonyAinda não há avaliações
- Química - Pré-Vestibular Impacto - Entalpia - Variação e GráficosDocumento2 páginasQuímica - Pré-Vestibular Impacto - Entalpia - Variação e GráficosQuímica Qui100% (1)
- EntropiaDocumento1 páginaEntropiaBarteloide Ricardo ErnestoAinda não há avaliações
- Trabalho Inorgânica IIDocumento20 páginasTrabalho Inorgânica IICarmen PaulinoAinda não há avaliações
- 2.dinâmica I PDFDocumento66 páginas2.dinâmica I PDFGermano de Jesus TobiasAinda não há avaliações
- DIFRAÇÃODocumento4 páginasDIFRAÇÃODouglas José Correia GomesAinda não há avaliações
- 4 - Gases 1 Lei TermodinamicaDocumento8 páginas4 - Gases 1 Lei TermodinamicaPaulinha TorresAinda não há avaliações
- 7 - Regimes de EscoamentoDocumento7 páginas7 - Regimes de EscoamentofluizpAinda não há avaliações
- Chuva AcidaDocumento2 páginasChuva Acidafazendarenato68Ainda não há avaliações
- Questões Por Assunto UECE (Química)Documento218 páginasQuestões Por Assunto UECE (Química)Thauzer DiegoAinda não há avaliações
- Rela ImpactoDocumento8 páginasRela ImpactojoseAinda não há avaliações
- Apostila 1Documento14 páginasApostila 1araujo.priscila1618Ainda não há avaliações
- Tipos de CementaçãoDocumento3 páginasTipos de Cementaçãoizaias jrAinda não há avaliações
- Seminário Hidráulica - PrecipitaçãoDocumento40 páginasSeminário Hidráulica - PrecipitaçãoManuel PassosAinda não há avaliações
- Hidrodinamica - Testes de Aquifero PDFDocumento14 páginasHidrodinamica - Testes de Aquifero PDFLaura VillalbaAinda não há avaliações
- ELE064 An Alise de Circuitos El Etricos IDocumento32 páginasELE064 An Alise de Circuitos El Etricos IEdson Sousa CosendeyAinda não há avaliações
- Gat105 - Mecanica de Sistemas Dinamicos - 22c - 2020 1Documento2 páginasGat105 - Mecanica de Sistemas Dinamicos - 22c - 2020 1Alexandre VartuliAinda não há avaliações
- Teorema Do Trabalho MaximoDocumento12 páginasTeorema Do Trabalho Maximoguilherme cavalcantiAinda não há avaliações
- Descrição Euleriana e Lagrangeana de Um Escoamento - Cap 3 Cinematica Dos Fluidos e 4 Equacoes FundamentaisDocumento31 páginasDescrição Euleriana e Lagrangeana de Um Escoamento - Cap 3 Cinematica Dos Fluidos e 4 Equacoes FundamentaisThay SantosAinda não há avaliações
- Apostila Classificação PeriódicaDocumento9 páginasApostila Classificação Periódicagiselle castorAinda não há avaliações
- 4 - Dilatação TérmicaDocumento41 páginas4 - Dilatação TérmicaFrancisco AugustoAinda não há avaliações