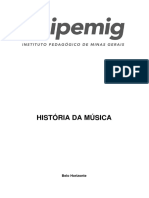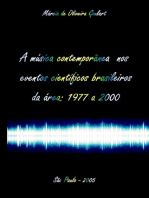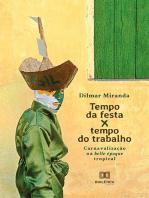Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anppom 2003
Anppom 2003
Enviado por
Nicolas Pedrozo SalazarTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anppom 2003
Anppom 2003
Enviado por
Nicolas Pedrozo SalazarDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Reitora
Wrana Maria Panizzi
Vice-Reitor
Jos Carlos Ferraz Hennemann
Pr-Reitor de Pesquisa
Carlos Alexandre Netto
Pr-Reitora Adjunta de Ps-Graduao
Jocelia Grazia
Diretor do Instituto de Artes
Crio Simon
Vice-Diretor do Instituto de Artes
Flvio Roberto Gonalves
Coordenador do Programa de Ps-Graduao em Msica
Ney Fialkow
Chefe do Departamento de Msica
Helena de Souza Nunes
Diretoria da ANPPOM 2001-2003
Diretoria
Presidente: Maurcio Alves Loureiro (UFMG)
1 Secretria: Martha Tupinamb de Ulha (UNI-RIO)
2 Secretrio: Fernando Iazzetta (USP)
Tesoureira: Bernadete Zagonel (UFPR)
Conselho Diretor
Manuel Veiga (UFBA)
Jorge Antunes (UnB)
Vanda Freire (UFRJ)
Liane Hentschke (UFRGS)
Conselho Fiscal
Carlos Alberto Figueiredo Pinto (UNI-RIO)
Jamary Oliveira (UFBA)
Glacy Antunes (UFG)
Jos Augusto Mannis (UNICAMP) (Suplente)
Catalina Estela Caldi (UNI-RIO) (Suplente)
Conselho Editorial
Silvio Ferraz, Editor (PUC-SP)
Carlos Palombini (UFMG)
Irene Tourinho (UFG)
Fausto Borm (UFMG)
COMISSO ORGANIZADORA
Coordenao Geral
Profa. Dra. Liane Hentschke (UFRGS)
Vice-Coordenao
Prof. Dr. Ney Fialkow (UFRGS)
Coordenao Cientfica
Profa. Dra. Luciana Del Ben (UFRGS)
Coordenao de Subreas
- Educao Musical:
Profa. Dra. Jusamara Souza (UFRGS)
- Composio:
Prof. Dr. Celso Loureiro Chaves (UFRGS)
Prof. Dr. Antonio Carlos Borges Cunha (UFRGS)
- Msica e Tecnologia:
Prof. Dr. Eloi Fernando Fritsch (UFRGS)
- Musicologia:
Profa. Dra. Maria Elizabeth Lucas (UFRGS)
- Prticas Interpretativas:
Profa. Dra. Cristina Capparelli Gerling (UFRGS)
Comisso Cientfica
Profa. Dra. Luciana Del Ben (UFRGS) (Coordenadora)
Prof. Dr. Antonio Carlos Borges Cunha (UFRGS)
Profa. Dra. Any Raquel Carvalho (UFRGS)
Prof. Dr. Eloi Fernando Fritsch (UFRGS)
Profa. Dra. Jusamara Souza (UFRGS)
Profa. Dra. Maria Elizabeth Lucas (UFRGS)
Coordenao Artstica
Prof. Dr. Antonio Carlos Borges Cunha
Equipe de Apoio Administrativo
Secretaria Geral: Ftima Ramos (PPG Msica, UFRGS)
Ncleo de Apoio a Eventos Instituto de Artes, UFRGS
Ncleo Setorial de Informtica Instituto de Artes, UFRGS
Agradecimentos
Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS
Programa de Ps-Graduao em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS
Pinacoteca Baro de Santo ngelo (Instituto de Artes, UFRGS)
Espao Ado Malagoli (Instituto de Artes, UFRGS)
Orquestra Sinfnica de Porto Alegre (OSPA)
Centro Acadmico Tasso Correa
Apresentao
Os encontros da Associao Nacional de Pesquisa e Ps-Graduao em
Msica (ANPPOM) constituem-se no principal frum de circulao da produo
cientfica musical brasileira, congregando diferentes subreas da Msica. Visando a
acolher o crescimento significativo dessa produo cientfica, os eventos promovidos
pela ANPPOM ampliaram seu escopo, assumindo a dimenso de congresso.
O Programa de Ps-Graduao em Msica da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, que j havia sediado os encontros da ANPPOM em 1989 e 1991,
realiza agora o XIV Congresso da ANPPOM. O objetivo geral do XIV Congresso da
ANPPOM promover a discusso e o debate qualificado sobre Msica como cincia e
arte, suas interfaces, produo de conhecimento e atividades acadmicas nas
subreas de Educao Musical, Composio, Msica e Tecnologia, Musicologia e
Prticas Interpretativas. Pretende ainda oportunizar a reflexo e a troca de
informaes sobre a pesquisa e o ensino, alm da divulgao da produo cientfico-
musical.
O XIV Congresso da ANPPOM prope-se a sinalizar possveis caminhos para
o fortalecimento da rea de Msica como campo acadmico-cientfico e artstico,
discutindo o estado atual da rea bem como as perspectivas que se lhe impem na
contemporaneidade. Torna-se significativamente oportuno tambm discutir formas de
produo e divulgao do conhecimento na rea de Msica e polticas de fomento
produo cientfico-musical. Para tanto, sero discutidas as seguintes temticas
internas:
1. A produo de conhecimento na rea de Msica: balano e perspectivas
2. Polticas para a pesquisa em Msica
3. Produo e divulgao cientfica e artstica na rea de Msica
Este volume traz, alm da programao do evento, os resumos das
comunicaes e psteres enviados pelos autores e autoras e aprovados pela
Comisso Cientfica. Os trabalhos foram avaliados de acordo com os seguintes
critrios, estabelecidos a partir das orientaes fornecidas na Chamada de Trabalhos:
clareza em relao aos objetivos de pesquisa, consistncia dos pressupostos tericos,
rigor metodolgico, pertinncia e relevncia do tema e/ou dos resultados e concluses
previstos (no caso de psteres) ou advindos do processo investigativo (no caso de
comunicaes).
A ANPPOM e a Comisso Organizadora do XIV Congresso da ANPPOM
agradecem o apoio decisivo dos rgos de apoio pesquisa (CNPq, CAPES,
FAPERGS e UFRGS/Propesq), os quais asseguraram a viabilizao deste evento.
Porto Alegre, 18 de agosto de 2003.
Luciana Del Ben
Coordenadora Cientfica
Apoio
Para visualizar o ndice de ttulos,
clique sobre o sinal |+| do lado esquerdo das palavras
e depois sobre o ttulo ou autor escolhido.
Para visualizar apenas o texto, pressione a tecla F5.
Para retornar ao ndice, pressione novamente a tecla F5.
1
A msica das flautas sagradas do Xingu
Accio Tadeu Camargo Piedade
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
acacio@cfh.ufsc.br / acacio@udesc.br
Resumo. Nesta comunicao pretendo apresentar anlises e aspectos da etnografia da msica indgena
das flautas sagradas do alto Xingu. O ritual no qual estas flautas so tocadas est ligado ao chamado
complexo das flautas sagradas, que existe em diversas sociedades amaznicas e em outras partes do
mundo, envolvendo cerimnias restritas aos homens, nas quais eles utilizam instrumentos musicais de
sopro que as mulheres so proibidas de ver. Em geral h uma mitologia que sustenta este rito, sendo que
h um mito que conta que antigamente os instrumentos pertenceram s mulheres. Esta comunicao rene
temticas como o xamanismo e mundo sobrenatural, o sistema musical e musicalidade nativa, a
cosmologia e os sistemas simblicos da cultura Xinguana, mas seu foco central a anlise das estruturas
musicais de um repertrio desta msica instrumental das flautas sagradas, tendo como base gravaes e
dados etnogrficos de minha pesquisa entre os ndios Wauja em 2001 e 2002.
Palavras-chave: flautas sagradas, msica indgena, Etnomusicologia
Abstract. In this paper, I intend to present analyses and aspects of the ethnography of the Indigenous
music of sacred flutes from the upper Xingu. The ritual in which these flute are played is linked to the so-
called complex of the sacred flutes, which exists in several amazonian societies and in other parts of the
world, involving men's ceremonies during which they play wind instruments which women are not
allowed to see. Usually, there is a mythology sustaining these rituals, and one myth tells that in ancient
times the instruments pertained to women. This communication unites topics like xamanism and
supernatural world, the musical system and native musicality, cosmology and Xinguano culture's
symbolic system, but it focuses mainly on the analysis of the musical structures of a repertoire of the
instrumental music of sacred flutes, based on data and recordings from my research among the Wauja
Indians in 2001 and 2002.
Keywords: sacred flutes, Indigenous music, Ethnomusicology
H na etnologia das terras baixas da Amrica do Sul um conjunto de ritos chamado de
complexo das flautas sagradas, que envolve cerimnias executadas exclusivamente por
homens, muitas vezes de iniciao pubertria masculina, utilizando instrumentos musicais de
sopro que as mulheres so proibidas de ver. Estes rituais exibem um complexo simbolismo que
interliga msica, mundo sobrenatural e relaes de gnero, trazendo as flautas sagradas como
emblemas centrais do sistema. Estudei a msica destes instrumentos sagrados entre os Tukano do
noroeste amaznico, onde envolvem o rito de iniciao masculina conhecido como jurupari
(Piedade,1997,1999a), e em outro momento esbocei uma comparao entre este sistema
simblico-musical do noroeste amaznico e aquele correspondente da rea do alto Xingu, onde
2
no est ligado iniciao, mas onde h as casas das flautas (Piedade, 1999b, 2000). Aps
trabalho de campo intensivo entre os ndios Wauja, na Terra Indgena do Xingu, estou agora
elaborando uma etnografia da msica das flautas sagradas, especialmente do ritual chamado
kawoka, em meu doutoramento em antropologia. Considero o sistema simblico-musical destas
flautas um complexo cultural generalizado em toda a rea do alto Xingu. O repertrio musical
das flautas sagradas xinguanas constitui integralmente um gnero musical prprio, no sentido de
que configura uma unidade musical-simblica, e decorre da que no trato a msica como mero
comentrio ou ilustrao do sistema simblico, mas sim como um ncleo de significado onde se
encontram codificados nexos scio-culturais observveis em vrias esferas da cultura.
As flautas sagradas esto no centro da viso de mundo xinguana, centralidade que se
expressa espacialmente pela casa das flautas, edificao onde so guardados os instrumentos
sagrados, casa que tambm chamada de casa dos homens (espao exclusivamente
masculino), localizada sempre no centro das aldeias circulares xinguanas. Quando as flautas
sagradas so tocadas, tanto dentro da casa dos homens e quanto fora, no ptio da aldeia, as
mulheres e crianas se fecham em suas casas. Se uma mulher v os instrumentos, penalizada
com um estupro coletivo, por todos os homens da aldeia, exceto aqueles que configurariam
incesto. A centralidade das flautas sagradas xinguanas est tambm na cosmologia e mitologia:
os mitos xinguanos mostram que originalmente as flautas sagradas eram peixes (Menezes
Bastos, 1999a, p.227; Basso, 1985, p.290-1), e h na linguagem cotidiana uma forte associao
entre peixes e mulheres: os nativos dizem que vo pescar mulher. Outra associao que se
ajunta aqui a questo do sexo: considerado um assunto da mais alta relevncia, as atividades
erticas e sexuais representam um aspecto central da filosofia xinguana (Mello, 1999; Gregor,
1982,1985). Apesar do aparente carter de smbolo flico das flautas -por exemplo, dizem que o
estupro ritual coletivo feito pelas flautas-, as flautas ao mesmo tempo so associadas ao rgo
genital feminino, inclusive dito que elas menstruam (Basso, 1985, p.304). Alm disso, as
pinturas corporais que os homens Kamayur usam na performance das flautas sagradas jaku
so chamadas maycurmiko, menstruao (Menezes Bastos, 1999a, p.229). O ritual das flautas
exibe uma violncia simblica masculina, cujo ponto mximo a ameaa de estupro coletivo,
que pode ser explicada pelo fato de que, ao tocar os instrumentos os homens esto combinando
seus sentimentos com uma forma particularmente intensa de sentimentos sexuais femininos que
decorre do contato com os seres poderosos que mais claramente os manifestam (Basso, 1985,
3
p.306). Estes espritos poderosos so chamados de modo diferente por cada povo xinguano, pelos
Kamayur de mama' e pelos Wauja de apapaatai, e constituem uma categoria fundamental das
cosmologias nativas. Os Wauja dizem que o esprito mais poderoso e perigoso dentre todos o
kawoka, que o dono das flautas sagradas, o nico que no tem mscara, pois a flauta sua
mscara (Mello, 1999). Os espritos ganham, na maioria das lnguas xinguanas, o sufixo kuma,
que pode ser traduzido por hper, j que estes poderosos seres sobrenaturais se definem pela
distncia cognitiva e pelo excesso (cf. Franchetto, 1996, p.46). Neste sentido, as flautas, quando
tocadas, bem como as mscaras quando usadas nos rituais, so concentraes materiais do hper-
poder violento dos apapaatai. Neste sentido, a msica das flautas sagradas pode ser tomada
como uma linguagem hper-significativa, que concentra de forma codificada os smbolos da
cultura.
H uma relao sistemtica que se estabelece entre msica de flautas, sopro e
xamanismo. Beaudet (1997) prope que h uma contigidade entre a arte do xamanismo -onde
se d a emisso, pela voz humana, de sopros audveis e visveis (graas fumaa do tabaco)- e a
msica (aerofnica), esta sendo identificada atravs de sopros audveis e invisveis produzidos
pelos instrumentos musicais. Em outras palavras, haveria no caso um jogo estrutural entre a
visibilidade e a audibilidade dos sopros (ver Menezes Bastos e Piedade, 1999, p.47). Assim
como o verbo da lngua waypi p significa sopro sonoro (Beaudet, 1997, p.9) e uma
categoria fundamental para este povo, tambm entre os Kamayur h uma profunda similaridade
entre os conceitos de soprar e cantar. importante notar que estas associaes se relacionam
ao caso das flautas sagradas: as mulheres so proibidas de ver os instrumentos, mas na verdade
devem ouvi-los (Piedade, 1997), este fato apontando para um jogo entre visibilidade e
audibilidade que de natureza gnosiolgica, como sustenta Menezes Bastos (1999b). Seguindo
as idias de Lvi-Strauss sobre a lgica do sensvel (1989,1991), pode-se postular um nexo entre
fumaa de tabaco/msica e o visvel/invisvel: tanto nos rituais de cura como na construo
simblica dos corpos (pintura corporal), estes nexos operam transformaes cosmolgicas
profundamente correlacionadas a codificaes estticas. Os sentidos da viso e audio so
centrais para o xamanismo xinguano: o visvel liga-se ao diagnstico da doena, enquanto o
audvel relaciona-se cura propriamente dita. Desta forma, os rituais com flautas sagradas e toda
sua expressividade plstico-musical-coreogrfica podem ser aproximados a um grande ato de
xamanismo coletivo. Lembro que o termo wauja ejekepei significa soprar -tanto um
4
instrumento musical, fumaa de cigarro, ou para esfriar comida quente- ou rezar, no sentido da
cura xamnica com tabaco (Mello, 1999, p.95). Se msica a lngua das mscaras de apapaatai
(cf. Barcelos Neto, 1999, p.212), um mergulho no cdigo musical poder encontrar traos do
sistema fonmico desta linguagem. Creio tambm que este sistema -que julgo ser tanto motvico-
harmnico-formal quanto rtmico, acentuativo, articulativo, respiratrio e coreogrfico- um
ncleo de sentido que perpassa toda a musicalidade xinguana.
O exemplo abaixo uma transcrio da melodia principal de uma pea do ciclo intitulado
mepiyawakapotowo ("dois dedos"), conforme executada em uma flauta kawok pelo mestre de
flautas dos Wauja. Esta pea uma entre as cinco peas que constituem o referido ciclo, todas
elas breves como esta, pouco mais de um minuto em um andamento aproximado de
, sendo que todas so tematicamente relacionadas. A primeira linha corresponde a um tipo de
bordo na nota mais grave, que varia de ciclo para ciclo, e tem um carter rtmico-timbrstico
semelhante ao que encontrei na msica de flautas sagradas dos Tukano: a altura meldica em si
no o aspecto principal aqui, e sim muito mais o timbre de respirao curta e ritmada. Esta
estrutura musical tem muita similaridade com a forma como os xinguanos dizem que
"cumprimentam" os espritos, em um tipo de tosse curta, ritmada. O bordo , portanto, um sinal
da presena dos espritos. A linha 2 a primeira frase do tema, repetida na linha 3 com uma
variao nas notas finais, esta variao tem um carter de resoluo, ou resposta, e constitui o
motivo que engendra a linha 4, conduzindo novamente ao bordo. As linhas 5, 6 e 7 constituem
uma repetio geral do tema, e na linha 8 surge o segundo tema, que se abre explorando as notas
mais agudas do instrumento. As linhas 9-12 constituem uma elaborada re-apresentao do
primeiro tema que pe em ao princpios de jogo motvico de inverso, incluso e excluso (cf.
Menezes Bastos, 1990). Por fim, a ltima linha similar linha 4, onde h um desenvolvimento
do motivo tera menor ascendente, que conduz ao bordo, mas aqui conduzindo ao toque final,
que caracterstico de todas as peas do ciclo "dois dedos". Alis, a estrutura formal
semelhante em todas estas peas, e os motivos so inter-relacionados, ou inter-referentes. Os
princpios de variabilidade, ou jogo motvico, so empregados em todo o repertrio das flautas
sagradas: frases com quatro motivos se re-apresentam com a supresso de um deles, e outra vez
com a incluso de outro, ou inverso de um intervalo. Veja-se um exemplo: a frase da linha 2
subdivide-se nos trs motivos a,b e c. Na re-exposio do tema, na linha 9, o motivo c aparece
alterado, invertido em c', pois o intervalo inicial descendente se torna ascendente. Outro
5
exemplo: na linha 10, h a excluso do motivo b. No h espao suficiente aqui para mais
exemplos do emprego destes princpios, mas pode-se dizer que a transcrio musical e a anlise
musical revela estruturas musicais que constituem a musicalidade dos flautistas xinguanos, sendo
que os nativos mostram que h um conhecimento tcito, sem cobertura verbal, destas estruturas e
princpios variacionais, e que alis esto presentes em outros repertrios musicais destes grupos,
como as canes dos rituais de iamurikuma (cf. Mello 1999) e de jawari (cf. Menezes Bastos
1990). Isto pode ser verificado nas repeties de uma mesma pea, que apresentam o mesmo
jogo variacional, bem como nas verses solfejadas, nas quais as peas so cantadas utilizando-se
slabas "n", "na", "ri", e outras. Estas verses solfejadas, sempre em um volume muito baixo,
so ensinadas a algumas mulheres, as quais colocam "letra", transformando-as no repertrio
feminino de canes iamurikuma. Nesta transformao ocorrem alteraes significativas nas
estruturas musicais, no apenas em funo da prosdia, e isto em tal ordem que muitas vezes fica
difcil, para o ouvido estrangeiro, entender os xinguanos quando dizem que msica de flauta e
canto iamurikuma so uma mesma coisa (ver Mello 1999).
O conjunto instrumental das flautas sagradas consiste de um trio destes aerofones, a parte
principal tocada pelo mestre ao centro, as outras duas por acompanhantes que se posicionam um
6
a cada lado dele. Toca-se a maioria dos ciclos em p, danando para frente e para trs. Os
instrumentos so idnticos, e podem ser trocados, e durante a performance so constantemente
molhados com gua: o esprito tem sede. O sistema de acompanhamento da melodia principal
nico, uma espcie de cantocho das duas outras flautas em unssono. No discurso nativo, a
flauta principal "canta" (apai, no sentido de cantar cano), enquanto as outras duas apenas
seguem, um recurso muito diferente do sistema de alternncia tipo hoquet que observei nos
trompetes sagrados dos Tukano (ver Piedade 1999a). Diferentemente do noroeste amaznico,
onde a msica de jurupari est ligada iniciao masculina, no alto Xingu os rituais de flautas
sagradas so geralmente ligados cura de uma pessoa doente, como alis so a maioria dos
rituais internos, que tm a motivao bsica da doena e o impulso essencial da cura: trata-se,
como no xamanismo, de uma poltica cosmolgica, ou seja, uma negociao ou luta entre o xam
e os espritos, na qual h uma transformao da animosidade em aliana e da manuteno desta
ltima. O apapaatai deve ser agradado pela execuo de sua msica. Quando ela tocada, ele
est presente, alis, conforme o discurso nativo, nos rituais no h propriamente representaes
dos apapaatai, mas sim objetos que os tornam presentes nesta dimenso humana, como as
mscaras e as flautas kawoka, que constituem roupas para esta presentificao. O erro, por
parte dos flautistas, um perigo que sempre est espreita, pode causar doena e morte. O
mestre tem que conhecer bem a estrutura dos ciclos de peas, que muitas vezes so enormes,
com mais de vinte peas inter-relacionadas tematicamente de forma sutil. O mestre tem que guiar
a performance sem hesitaes, deve conhecer todas as repeties, excluses, inverses, dominar
o jogo motvico, os passos de dana. Ao mesmo tempo, h um grande prazer esttico por parte
dos msicos e da audincia, os homens apreciam as flautas e valorizam o mestre de flautas, as
mulheres se fecham nas casas e as escutam. O corao das aldeias xinguanas a casa das flautas.
Referncias
BARCELOS NETO, Aristteles. Arte, Esttica e Cosmologia entre os ndios Waur da
Amaznia Meridional, dissertao de mestrado em antropologia social, PPGAS/UFSC, 1999.
BASSO, Ellen B. A musical view of the universe: Kalapalo myth and ritual performances.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press,1985.
BEAUDET, Jean-Michel. Souffles d' Amazonie: Les Orchestres "Tule" des Waypi. Nanterre:
Socit d' Ethnologie, (Collection de la Socit Franaise D' Ethnomusicologie, III), 1997.
7
FRANCHETTO, Bruna. Mulheres entre os Kuikro. Revista Estudos Feministas, 4/1:35-54,
1996.
GREGOR, T. Mehinku: O Drama da Vida Diria em uma Aldeia do Alto-Xingu. So Paulo,
Nacional, 1982.
_ Anxious Pleasures: The Sexual Lives of Amazonian People, Chicago: The University of
Chicago Press, 1985.
LVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. Campinas: Papirus, 1989.
O Cru e o Cozido, So Paulo: Brasiliense, 1991.
MELLO, Maria Ignez C. Msica e Mito entre os Wauja do Alto Xingu, dissertao de Mestrado
em Antropologia Social. PPGAS/UFSC, 1999.
MENEZES BASTOS, Rafael J. A Festa da Jaguatirica: uma partitura crtico-interpretatuiva.
Tese de doutoramento em Antropologia Social. USP, 1990.
A Musicolgica Kamayur: para uma antropologia da comunicao no Alto-
Xingu.Braslia: Fundao Nacional do ndio, 1999a.
Apap World Hearing: On the Kamayur Phono-Auditory System and the
Anthropological Concept of Culture. The World of Music, v.41, n.1, p.85 - 96, 1999b.
MENEZES BASTOS, Rafael Jos e PIEDADE, Accio Tadeu de C. Sopros da Amaznia: sobre
as msicas das sociedades tupi-guarani, Mana, 5-2, pp. 125-143, 1999.
PIEDADE, Accio Tadeu de C. Msica Yep-masa: Por uma Antropologia da Msica no Alto
Rio Negro, dissertao de mestrado em antropologia social, UFSC, 1997.
Flautas e Trompetes Sagrados no Noroeste Amaznico: Sobre Gnero e Msica do
Jurupari (1999) Horizontes Antropolgicos, 11, pp. 93-118, 1999a.
Um Estudo Comparativo dos Aerofones Sagrados no Noroeste Amaznico e no Alto
Xingu. Comunicao realizada na III Reunin de Antropologa del Mercosur, Posadas-
Argentina, 1999b.
Antropologia da Msica dos aerofones masculinos nas terras baixas da Amrica do Sul.
Comunicao realizada no XXIV Encontro Nacional da ANPOCS, GT Etnologia Indgena,
Petrpolis, 2000.
Estratificao na textura atravs do uso de conjuntos com classes de alturas:
Poesildio n. 6 de Almeida Prado
Adriana Lopes
1
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
adrimauricio@dglnet.com.br
Resumo. Este trabalho foi desenvolvido no campo da anlise musical. O objetivo demonstrar que o uso de
conjuntos promove a estratificao na textura da pea Poesildio n.6 para piano, composto por Almeida
Prado. A metodologia prev: uma breve apresentao dos dados biogrficos do compositor; a diviso de sua
obra em quatro fases; a contextualizao da obra 16 Poesildios; e a insero da pea Poesildio n.6 na
obra. Uma anlise de aspectos da superfcie e da estrutura no Poesildio n.6, bem como observaes
relacionadas a tempo, dinmica, timbre, textura e estrutura, considerando a formao de conjuntos tambm
sero apresentados. A concluso verifica possveis interaes entre os dados levantados e identifica os
elementos geradores de unidade e/ou convergncia.
Palavras-chave: Almeida Prado. Msica para piano Anlise. Teoria dos conjuntos.
Abstract. This work refers to musical analysis and its main focus is in the demonstration how pitch class use
promotes stratification on texture in the piece Poesildio n.6 for piano, by the Brazilian composer Almeida
Prado. The methodology starts by a brief biography of the composer, the division of his work into phases,
and observes Poesildios in this context. Then it presents and explores some aspects as surface and structure
in Poesildio n.6. It also explores these aspects in relation to tempo, dynamics, timbre, texture and structure,
with special emphasis on set theory analysis. The conclusion verifies possible interactions between all these
aspects, identifying elements of unity.
Key words: Almeida Prado. Piano music Musical analysis. Set theory.
Almeida Prado
2
Considerado um dos expoentes da criao musical brasileira da atualidade (Krieger, 2002, p.36),
sua obra marcada pela qualidade, inventividade, domnio tcnico e por sua vasta e ininterrupta
produo, que conta hoje com aproximadamente 350 obras.
Nascido em Santos (08/02/1943), Jos Antnio Rezende de Almeida Prado comps sua primeira
pea aos 9 anos de idade Adeus, para piano. Aos 11 anos, sob a orientao da pianista e
compositora Dinor de Carvalho (1953-8), interpretou o Concerto-Rond em R maior de Mozart.
Durante cinco anos (1960-5), estudou composio com Camargo Guarnieri e aprimorou seu
conhecimento em harmonia, contraponto e anlise musical com Osvaldo Lacerda. Comps sua
primeira obra para orquestra: Variaes para piano e orquestra (1963). Nos quatro anos
1
Bolsista da FAPESP.
2
Fonte: Lopes, 2002, pp. 8-17 e 35-85.
subseqentes, a amizade com o compositor Gilberto Mendes (1965-9) aproximou-o de obras
compostas na Europa durante a primeira metade do sculo XX.
Agraciado com o primeiro prmio no I Festival de Msica da Guanabara (1968) pela obra
Pequenos funerais cantantes, mudou-se para Paris. Estudou harmonia, contraponto e anlise com
Nadia Boulanger e foi aluno na classe de composio de Olivier Messiaen (1969-73).
De volta ao Brasil, filiou-se ao Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Ministrou
aulas de Anlise e Composio (1975-2000), foi Diretor do Instituto (1983-7) e recebeu o ttulo de
Doutor (1985).
Durante sua carreira, alcanou renome internacional. Recebeu cinco prmios da Associao Paulista
de Crticos de Arte (1965, 1967, 1976, 1993 e 1996) e trs Prix Lili Boulanger (Paris, 1970 e
Boston, 1972 e 1973), dentre muitos outros. Foi homenageado em conferncias sobre sua obra
(Genebra, 1974) e ministrou conferncias sobre msica brasileira (Universidade de Indiana, 1984 e
Academia Rubin, 1989-90), dentre muitas outras atividades e homenagens.
Sua obra pode ser dividida em quatro fases precedidas pelas composies da infncia, de acordo
com as tcnicas de composio utilizadas.
A fase da infncia (1951-59) inclui peas para piano compostas livremente. A 1 Fase,
Nacionalista (1960-65), contm obras compostas sob a orientao de Camargo Guarnieri, que
refletem o estudo do folclore segundo a esttica de Mrio de Andrade, marcado pelo uso do
modalismo. A 2 Fase, Ps-tonal (1965-73), reflete o contato com os sistemas de estruturao
musical desenvolvidos aps o advento da tonalidade, na Europa, a partir do incio do Sculo XX. A
3 Fase, de Sntese (1974-82), e a 4 Fase, Ps-Moderna (1983 at hoje), refletem o domnio sobre
as tcnicas de composio apreendidas, liberdade no uso das mesmas, fuso de conceitos e a
concepo do Sistema de organizao das ressonncias, utilizado na composio de Cartas
celestes. A determinao da 4 fase foi estabelecida pelo prprio compositor, que declara ter
iniciado um processo de auto-releitura em 1983, durante a composio dos 16 Poesildios para
piano. Durante as duas ltimas Fases, cinco temticas principais coexistem em sua obra.
As peas com Temtica Mstica possuem uma motivao espiritual, fundamentada em ritos
judaico-cristos (Sinfonia Apocalipse, para solistas vocais, coro e orquestra, 1987). As obras com
Temtica Ecolgica refletem sua preocupao com a ecologia (Rios, para piano, 1975). As
composies com Temtica Astrolgica incluem as catorze Cartas Celestes (1974 a 2001). A
composio de peas com Temtica Afro-brasileira motivada pela beleza plstica dos ritos de
religies afro-brasileiras (Sinfonia dos Orixs, para orquestra, 1985-86). Finalmente, as obras com
Temtica livre incluem os 16 Poesildios, para piano (1983 e 1985).
16 Poesildios para piano
A obra Poesildios contm 16 peas, que apresentam um agrupamento das diversas tendncias
contemporneas: atonalismo, tonalismo, modalismo, politomodalismo, ritmos irregulares,
polirritmia, acentos isolados, variaes de compasso. Transparecem sua constante busca por novas
sonoridades do piano, por nova estruturao formal e sua tendncia ao universalismo. As
possibilidades tmbricas do piano, os diversos tipos de toque, o uso do pedal direito e as
ressonncias so particularmente explorados nessas peas.
A obra 16 Poesildios foi composta em dois momentos: 1983 (Poesildios 1-5) e 1985 (Poesildios
6-16). A grande maioria das peas foi escrita em Campinas. A denominao Poesildio, criada pelo
compositor, refere-se forma que traz combinaes de poesia e preldio. Peas curtas, pictricas,
evocativas de atmosferas e lugares (Gandelman, 1997, p.237).
3
O Poesildio n.1 foi inicialmente composto para violo, motivado pelo fragmento potico escrito
por Fernando Pessoa, sob o heternimo de Ricardo Reis, em 16/06/1914 (Pessoa, 1990, p.257):
S o ter flores pela vista fora
Nas leas largas dos jardins exatos
Basta para podermos
Achar a vida leve.
3
A partitura dos Poesildios 1-5 para piano, editada pela TONOS Musikverlag traz o seguinte esclarecimento:
"'Poesildio a metamorfose de um preldio. Uma poesia utilizada como base para um preldio, sem que o texto seja
interpretado pela voz humana (Almeida Prado).
A adaptao do Poesildio n.1 para o piano deu incio ao ciclo de peas. A inscrio notada no
incio de cada partitura mostra que a composio dos Poesildios 2-5 foi elaborada com base em
pinturas especficas, realizadas por artistas plsticos que trabalhavam no Instituto de Artes da
UNICAMP no perodo em que o compositor Almeida Prado foi o Diretor (1983-87). Cada uma
dessas peas dedicada ao artista plstico de cuja pintura partiu a composio. Os Poesildios 6-16
possuem o subttulo Noites. A composio de cada pea um amlgama da personalidade do
homenageado, de uma obra sua (plstica ou literria), de uma srie de obras visuais criadas por ele,
ou ainda do total de sua obra.
Nesses 16 Poesildios, o tratamento prestado ao tempo, dinmica, textura, ao timbre e
estrutura est relacionado escolha e ao uso do material, formado com base na organizao de
conjuntos (organizados a partir da escala cromtica ou de modos utilizados de maneira
pandiatnica), de trs maneiras principais e distintas: (1) utiliza diversos conjuntos contrastantes -
Poesildios n. 2, 3, 6 e 15; (2) emprega dois conjuntos contrastantes - Poesildios n. 4, 9, 11, 13 e
16; e (3) usa um ou mais conjuntos no contrastantes - Poesildios n. 1, 5, 7, 8, 10, 12 e 14.
Grande parte das peas est vinculada ao uso do conjunto [0 3 7] - a trade maior ou menor - mas
como inexiste a formao de progresses harmnicas funcionais ou o tratamento das dissonncias,
fica descaracterizado o uso da tonalidade.
Poesildio n.6, Noites de Tquio
A composio do Poesildio n.6, Noites de Tkio foi motivada pela obra do artista plstico de
descendncia japonesa Noboru Ohnuma.
Figura 1 Noboru Ohnuma. Sem ttulo. Srie Trao. Campinas, 1987.
4
Esta pea, que inicia o segundo ciclo de Poesildios, foi composta em Campinas, no dia 09/08/1985
e dedicada ao Noboru Ohnuma, com amizade e admirao.
5
O compositor Almeida Prado
comenta:
Trata-se de uma releitura sonora do original do Noboru. [...] Nessa pea, h uma imitao
do coto, aquele instrumento japons que tem trs cordas. Existem, principalmente, propostas
que depois so desenvolvidas. [...] Repare que [...] quando saio do Nacionalismo [...] renovo
a textura. Ou seja, no tendo nenhum libi anterior, sou totalmente livre para fazer o que
quiser. [...] Imaginei uma escala japonesa e trabalhei sobre isso. (Lopes, 2002, pp.81-2).
Esta anlise tem a inteno de identificar o material utilizado pelo compositor, sua ampliao e sua
influncia na formao da textura. Pretende ainda revelar os aspectos responsveis pela unidade da
pea. Para tanto, foram utilizadas - de maneira no ortodoxa, nem excludente - as tcnicas de
4
Tcnica: Nanquim sobre papel. Dimenses: 0,315 x 0,46 m.
5
O local, a data da composio e a dedicatria esto de acordo com o manuscrito do compositor.
anlise: teoria dos conjuntos (Lester, 1989 e Straus, 2000) e anlise do contorno meldico atravs
do estudo das pequenas unidades musicais, que compem a arquitetura musical com base na lgica
e na coerncia (Schoenberg, 1991).
O tempo ricamente trabalhado nesta pea. Uma multiplicidade de atmosferas e andamentos
sugerida pela diversidade de indicaes: Calmo noturnal (c.2), Lento sagrado (c.19-20), Rpido
estelar (c.21-28). Mudanas mtricas ocorrem tanto na quantidade de tempos por compasso, quanto
na unidade que determina esses tempos (2/4, 4/8, 4/4, 5/8, 13/8 e Tempo livre). O uso de barras de
compasso pontilhadas indica mudanas no material e/ou no andamento, ou ainda a valorizao da
ressonncia. Tais procedimentos promovem uma desestabilidade no mbito do tempo.
A dinmica varia amplamente (entre pp e ff). detalhadamente trabalhada, especialmente nas
seguintes situaes: crescendos e decrescendos que partem de p e chegam a f, ocupando um nico
segmento de compasso (exemplo 1, na Figura 2); crescendos e decrescendos acentuados pela
ocorrncia concomitante de acelerandos e rallentandos, ocupando um nico compasso (exemplo 2);
notas subseqentes de mesma altura, com dinmicas diferentes e alternadas (exemplo 3); e vozes
sobrepostas com dinmicas distintas (exemplo 4).
Exemplo 1
Exemplo 2
Exemplo 3 Exemplo 4
Figura 2 Tempo, di nmica e timbre (c.1, 13 e 14).
No mbito do timbre, passagens com staccatos se justapem a trechos com amplo uso do pedal
direito do piano (exemplos 3 e 4, na Figura 2). As primeiras fazem uma aluso esttica ao coto. Os
registros extremos do piano so amplamente explorados e a ressonncia valorizada atravs do uso
contnuo do pedal direito e da notao que utiliza ligaduras que no conectam uma altura outra,
nem delineiam frases (exemplo 2, na Figura 2).
O material desta pea, formado por quatro conjuntos, organizado com base no subconjunto [0 1 5
6], apresentado no compasso1 (Figuras 3 a 6).
Conjunto 1 Variaes do conjunto 1
1.1
[0 1 4 6] <111111> 4-Z15
1.2
[0 1 5 6] <2 0 0 1 2 1> 4-8
Forma Primria do conjunto 1: [0 1 3 7 8]
Forma Primria das quatro primeiras alturas: subconjunto [0 1 5 6]
Vetores: <2 1 1 2 3 1 > e <2 0 0 1 2 1>
Classificao por Allen Forte: 5-20 e 4-8 (Forte, 1973, pp.179-181)
Figura 3 Material: Conjunto 1 e suas principais variaes (c. 1, 2 e 35).
Conjunto 2 Variaes do conjunto 2
2.1
[0 1 6] <1 0 0 0 1 1> 3-5 [0 1 6] <1 0 0 0 1 1> 3-5
2.2
[0 1] <1 0 0 0 0 0>
Classe de intervalos 1
Figura 4 Material: Conjunto 2 e suas principais variaes (c. 1, 20 e 35).
Conjunto 3 Variao do conjunto 3
[0 1 3 5 6 8] <2 3 3 2 4 1> 6-Z25
3.1
[0 1 2 5 6 8] <3 2 2 3 3 2> 6-Z43
Figura 5 Material: Conjunto 3 e sua principal variao (c. 1 e 19).
Conjunto 4 Variaes do conjunto 4
4.2
4.1
c. 13
[0 2 3 5] <1 2 2 0 1 0> 4-10
[0 1 6 7] < 2 0 0 0 2 2> 4-9
[0 1 2 5 6] <3 1 1 2 2 1> 5-6
Figura 6 Material: Conjunto 4 e suas principais variaes (c. 1, 13 e 28).
A disposio dos quatro conjuntos e variaes no decorrer da pea promove a estratificao na
textura, ou seja, segmentos com textura homofnica e polifnica aparecem justapostos e/ou
sobrepostos:
6
6
O uso de cores facilita a compreenso do mecanismo de justaposio e sobreposio de conjuntos. As formas do
conjunto 1 utilizam a cor vermelha; as do conjunto 2, a cor rosa; as do conjunto 3, verde; e as formas do conjunto 4
empregam a cor azul.
Figura 7 Justaposio e sobreposio dos conjuntos contribuindo para a estratificao na textura.
A pea pode ser dividida em duas partes, determinadas pelo uso do material e por mudanas no
andamento e no carter. A Parte 1 (c. 1-12) apresenta os quatro conjuntos da pea, seguidos da
sobreposio de variaes dos conjuntos 1, 3 e 4. A Parte 2 (c. 13-35) emprega variaes dos
quatro conjuntos justapostas e sobrepostas, recorrendo freqentemente ampliao deste material
(comparar o material do conjunto 3 na cor verde nos c.1 e 21, bem como nos c. 14, 16 e 18).
Conclui-se que a pea no tem um centro. As formas dos conjuntos so mais importantes do que
uma altura especfica produzem variedade e valorizam o contraste, por serem empregados de
maneira modular, pouco desenvolvida e alternada, bem como por terem indicao de compasso, de
dinmica, de carter, de andamento, de mtrica, de uso do pedal e de tipos de toque diversos e
prprios. A justaposio / sobreposio desse rico material resulta na estratificao da textura.
No entanto, a coerncia mantida. Isto decorre do fato destes conjuntos serem bastante prximos,
empregando as mesmas idias em sua concepo. O intervalo 1 (2m), separado por intervalos
maiores do que ele, forma a idia principal da pea. Assim sendo, a incidncia dos conjuntos [0 1 3
7 8] e [0 1 2 5 6] grande e relevante na superfcie da pea. O conjunto [0 1 5 6] sintetiza a idia
principal, sendo o responsvel pela unidade: abre a pea (com as alturas r-mib-sol-lb), est
contido na formao dos quatro conjuntos utilizados e encerra a pea.
Assim, o compositor garante a obteno da diversidade e da unidade. A primeira, evidenciada na
estratificao da textura, se d atravs da justaposio e da sobreposio do material com base na
formao de conjuntos. A segunda deve-se ao fato desses conjuntos serem correlatos.
Referncias bibliogrficas
FORTE, Allen. The structure of atonal music. New Haven: Yale University Press, 1973.
GANDELMAN, Saloma. 36 compositores brasileiros: obras para piano (1950/1988). Rio de
Janeiro: Funarte; Relume Dumar, 1997.
KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey: Prentice-Hall,
1999.
KRIEGER, Edino. Acadmicos: Cadeira 15. Brasiliana. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de
Msica, n.10, pp.36-37, janeiro de 2002.
LESTER, Joel. Analytic approaches to Twentieth Century music. New York: W. W. Norton, 1989.
LOPES, Adriana da Cunha Moreira. A potica nos 16 Poesildios para piano de Almeida Prado:
anlise musical. Dissertao (Mestrado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Instituto de Artes, Departamento de Msica, 2002.
PESSOA, Fernando. Obra potica. RJ: Nova Aguilar, 1990.
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composio musical. Trad. Eduardo Seincman. So
Paulo: EDUSP, 1996.
STRAUS, Joseph. Introduction to post tonal theory. 2 ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2000.
1
Corredor interpretativo: gerao de interpretantes na msica barroca
Aldo Barbieri
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP)
313159@uol.com.br
Resumo. O presente trabalho prope estudar a gerao de novos interpretantes pelo signo
musical, no caminho que vai do compositor ao intrprete, passando pelo editor. Prope-se uma
possvel anlise das relaes legi-signo/sin-signo (type/token) em diferentes interpretaes de
uma mesma obra de musical, para demonstrar a ao do corredor interpretativo como elemento
que permite msica barroca gerar uma cadeia de interpretantes maior que a de vrios outros
perodos histricos. Como exemplo, analisa-se brevemente a gerao de novos interpretantes num
trecho curto da Sonata em Si Menor BWV 1030 de J. S. Bach considerando-se a diferena de
tratamento em duas edies, que ocasionar diferenas de resultados nas execues subseqentes.
Foram escolhidas as edies de Louis Moyse e de Kurt Soldan. Uma edio autntica
estritamente fiel ao manuscrito- realizada por Hans Eppstein e publicada em 1978 tomada como
parmetro e chamada aqui de manuscrito. Embora no haja uma interdependncia entre as trs
edies, a comparao considerada vlida por serem todas atualizaes do legi-signo gerado
pela pena de J. S. Bach.
Palavras-chave: semitica, msica, interpretao.
Abstract.
Keywords: semiotics, music, interpretation
O corredor interpretativo como legi-signo
H um consenso entre os estudiosos de que duas execues de uma mesma obra
musical nunca podero ser idnticas. As diferenas entre vrias execues de uma obra se
devem a uma multiplicidade de fatores, muitos dos quais extra-musicais alm dos
fatores discretos e imponderveis. Alguns fatores esto diretamente ligados ao corredor
interpretativo descrito abaixo, o qual, como veremos, condicionado por relaes legi-
signo/sin-signo. Com o presente trabalho, pretende-se demonstrar o funcionamento do
corredor interpretativo como elemento que, na execuo de uma obra, permite uma
gerao de interpretantes maior em determinado gnero ou estilo musical que em outros.
Como exemplo, estuda-se a gerao de interpretantes de uma obra do perodo barroco
aplicando-se dois corredores interpretativos diversos.
Considera-se aqui uma determinada obra, antes de qualquer edio chamada
2
de manuscrito como o primeiro legi-signo da cadeia
1
. Uma edio dessa obra um sin-
signo, a reproduo de uma srie de qualidades do manuscrito. Ao mesmo tempo, um
legi-signo em relao execuo. Da mesma forma, cada execuo a rplica do legi-
signo ou cadeia de legi-signos gerada pelo manuscrito reproduo de uma srie de
qualidades da edio, encontradas tambm no manuscrito original
2
.
E tambm a rplica do corredor interpretativo, o critrio legi-signo
escolhido pelo intrprete para conduzir uma certa execuo sin-signo de uma
determinada obra; a liberdade do intrprete de aplicar certos elementos de execuo e
excluir outros
3
. O termo indica a norma de estilo e/ou execuo que o intrprete deve
seguir para no incorrer em uma leitura equivocada
4
. Na msica erudita ocidental (e
mesmo em certos setores da msica popular) estas diretrizes e critrios podem ser
controversos, conforme a escola de interpretao, o prestgio do intrprete e as tendncias
interpretativas em voga. Portanto, no deve surpreender que haja vrias leituras de uma
mesma obra, com diferenas enormes e todas vlidas. Por exemplo, uma obra para
teclado de Bach interpretada por um pianista e por um cravista devero obrigatoriamente
seguir corredores interpretativos distintos semm que um deles seja necessariamente
errado.
Aqui a edio interpretada de msica do perodo barroco ou seja,
ornamentada pelo editor vista como uma sua releitura pessoal, uma vez que a msica
barroca era escrita praticamente sem sinais de ornamentao, articulao e dinmica e
com a harmonia apenas indicada. justamente a presena de tantos elementos de
1
Considerando-se que a cadeia sgnica seja infinita, a escolha de um de seus elementos como primeiro s
pode ser feita atravs de um corte arbitrrio. No presente caso, tomou-se como primeiro elemento da cadeia
a edio de Eppstein. Isto permitiu tambm contornar a impossibilidade de acesso ao original de Bach.
2
Uma execuo tambm pode se tornar um modelo, ou objeto-primeiro para outra execuo, do mesmo
intrprete ou de outro.
3
O conceito de corredor interpretativo encontra um paralelo com o conceito de liberdade de composio
em msica, que anlogo ao conceito de liberdade de performance do corpo, conceitos traados por
Lidov (1987: 71-72).
4
Em grandes linhas, caso o no cumprimento da norma estilstica seja deliberado, o intrprete estar
executando uma releitura ou citao da obra. Porm, se o no cumprimento for involuntrio, o intrprete
estar incorrendo em erro de interpretao, que um conceito bastante elstico e discutvel. Assim, o no
cumprimento da norma considerado erro por no transmitir aquilo que o compositor disps ou por no
faz-lo com o que se estipulou como esprito de interpretao da poca ou estilo. Porm, dada a elasticidade
do conceito, tanto artistas como crticos podem julgar um conceito de execuo por parmetros mais ou
menos rigorosos. Tambm, freqentemente este julgamento abrange parmetros extra-musicais, como
interesse pessoal, poltico ou comercial.
3
improvisao propiciando a amplitude do corredor interpretativo que permite
msica barroca gerar um nmero de interpretantes maior que o de outros estilos cuja
interpretao mais rgida.
Ou seja, a execuo de msica barroca seguindo as indicaes feitas por um
editor fica limitada a um corredor interpretativo que condiciona a gerao de um nmero
de interpretantes menor que o da execuo improvisada.
A rplica do legi-signo
Num certo nvel as aes do intrprete e do editor ocorrem atravs do
mecanismo em linha: o intrprete reproduz qualidades encontradas na edio, as quais
por sua vez reproduzem qualidades encontradas no manuscrito
5
. A cadeia de relaes da
execuo ao manuscrito se articula numa srie de objetos-segundos que reproduzem
qualidades de um objeto-primeiro precedente e acabam se tornando um objeto-primeiro
em si, como no esquema 1. Uma determinada execuo se refere a uma determinada
5
Na verdade, algumas das qualidades, uma vez que no h duas execues idnticas.
Manuscrito: primeiro legi-signo da cadeia
Em relao aos demais
objetos:legi-signo
Edio
Em relao ao
manuscrito: sin-signo
Partitura/partes
Em relao aos demais
objetos: legi-signo
Em relao aos demais
objetos: sin-signo
Execuo
Em relao aos demais
objetos: sin-signo
Em relao
excuo: legi-signo
Esquema 1: cadeia de relaes do manuscrito execuo, ao em linha.
4
edio, a qual se refere a um determinado manuscrito
6
.
Em outro nvel, a ao ocorre em leque: certas qualidades do manuscrito so
reproduzidas pelas diversas edies e os diversos intrpretes individuais reproduzem
determinadas qualidades seja da edio, seja do manuscrito, conforme o esquema 2. Um
manuscrito pode gerar diversas edies, cada qual podendo produzir diversas execues
por diversos intrpretes. A cadeia de relaes do manuscrito execuo produz relaes
em que um objeto-primeiro pode gerar vrios objetos-segundos.
Em outras palavras, a ao em linha parece ocorrer em cada ramo da ao em
leque. A ao do manuscrito execuo uma generalidade; a ao da execuo ao
manuscrito uma particularidade. Conclui-se que a ao do manuscrito execuo seja
um tipo (legi-signo), e a ao da execuo ao manuscrito seja uma ocorrncia (sin-signo),
ambas acontecendo concomitantemente, em nveis diferentes, conforme demonstrado nos
esquemas acima.
6
Obviamente, uma edio, ou mesmo execuo, pode se utilizar de fontes diferentes, por exemplo, um
fragmento de manuscrito, uma primeira edio e uma cpia manuscrita de poca. Porm, neste caso,
sempreuma fonte predominante. E esta sempre far referncia a um objeto-primeiromesmo que no seja
possvel encontr-lo.
Manuscrito
Edio A Edio B Edio C Edio D Edio N
Intrprete A Intrprete B Intrprete C Intrprete D Intrprete N
Esquema 2: Cadeia de relaes do manuscrito execuo: ao em leque.
Execuo A Execuo B Execuo C Execuo D Execuo N
5
A interpretao barroca
A execuo da msica barroca ocorria atravs da interpretao de um mnimo de
indicaes feitas pelo compositor, como a cifragem do baixo contnuo. A realizao
destas indicaes era improvisada. Para tanto, o intrprete utilizava elementos que ia
adquirindo em seu aprendizado e atravs da experincia. Em sua formao, o intrprete
aprendia uma srie de elementos de execuo e a ocasio e o modo de aplic-los ou no.
O quadro 1 traz uma tabela de ornamentos do tipo cujo estudo fazia parte da formao
do msico a qual explica como executar ornamentos escritos. Os ornamentos
variavam de grafia, de nome e de modo de execuo segundo a regio e a poca. O
intrprete tinha a liberdade, dentro de certas regras do bom gosto, de aplic-los tambm
onde no havia indicao nenhuma. O quadro 2 exemplifica o que pode ser diferena
entre a execuo plana e a ornamentada.
Tocar o que est escrito?
Em um recital de msica barroca estruturado nos moldes da estrita interpretao
filolgica ou histrica, no h nenhum problema em se chegar a um determinado
resultado interpretativo dentro de parmetros bastante elsticos. Mesmo que este
Quadro 1: Tabela de ornamentos de J. S. Bach encontrada no Clavier-Buchlein, mtodo de teclado escrito
para seu filho Wilhelm Friedmann. Os pentagramas superiores de cada sistema trazem o modo como o
ornamento escrito, e os inferiores, como deve resultar a execuo. Com obras didticas como esta, ensinava-se
ao aluno como aplicar e executar certos ornamentos em determinadas situaes e no em outras. A partir de um
certo ponto do aprendizado, o aluno conseguia identificar cada situao, mesmo sem nenhuma anotao na
parte, e improvisar dentro do estilo.
6
resultado se aproxime muito do da execuo de uma obra com a interpretao pronta,
ou seja, com indicaes do editor. Alm do resultado, o que importa o modo como
alcan-lo. O intrprete pode chegar aos mesmos resultados atravs da amplido do
corredor interpretativo proporcionada pelo estilo, usando uma fonte primria, ou seja,
uma transcrio do manuscrito ou edio original. E, utilizando rplicas de instrumentos
de poca, ou mesmo instrumentos originais, pode encontrar e reproduzir suas
mesmas limitaes e recursos
7
.
No quadro 3 possvel fazer uma comparao entre uma edio com indicaes
do revisor (Moyse) e outra sem a adio de indicaes (Soldan). Ambas foram
comparadas a uma edio tomada como referncia: a reviso de Eppstein. Esta, elaborada
a partir de documentos de poca, reproduz fielmente articulaes, ligaduras, dinmicas e
demais sinais de expresso.
7
A corrente dos intrpretes e desta forma de execuo histrica conhecida genericamente como msica
antiga. Convm lembrar que o termo amplo e se refere mais a um modo de conduzir a interpretao que a
tocar a msica de determinados perodos histricos.
A)
C)
Quadro 2: Realizao de baixo contnuo e da
ornamentao de um fragmento da Sonata Prima, das Sonatas
Metdicas de Telemann. O bloco A traz uma cpia facsimilar da
edio original, feita a partir de uma chapa de cobre da poca. O
pentagrama superior a verso plana, ou seja, no ornamentada. O
pentagrama do meio traz a mesma parte, com a ornamentao
sugerida pelo prprio autor. O pentagrama inferior traz a linha do
baixo contnuo, com as cifras que indicam a harmonia a ser
improvisada na mo direita. O baixo era tocado pela mo esquerda
do cravista e dobrado por um instrumento grave, quando estivesse
disponvel. Na ltima linha h indicaes de dinmicas estruturais
-aqui, ecos expressivos- do prprio autor. O bloco B traz uma
transcrio do mesmo trecho em caracteres de imprensa modernos.
O bloco C traz nove compassos do movimento com o contnuo
realizado, ou seja, com as harmonias desenvolvidas a partir das
cifras agregadas linha do baixo. Aqui tambm o primeiro
pentagrama traz a verso plana; o segundo, a ornamentao do
autor e o terceiro, o baixo cifrado. Dos pentagramas adicionais, o
superior traz os acordes indicados pelas cifras, chamada de
realizao plana, que reproduz a figurao rtmica do baixo, sem
acrescentar outro elemento rtmico, meldico ou de contraponto -
que devem ser improvisados. O pentagrama adicional inferior
reproduz a mesma linha do baixo, mas sem as cifras.
B)
Nenhuma das edies traz no ttulo
o nmero da obra no ndice BWV.
A edio de Soldan anterior
compilao deste ndice.
possvel que aprimeira edio de
Moyse tambm o seja.
Articulaes: As sugstes do
fragmento A foram anotadas pelo
revisor. O fragmento B no traz
sugestes, como o manuscrito.
Dinmica: o fragmento A traz
indicaes sugeridas pelo
editor, que no constam da
edio original. Como o
manuscrito, o fragmento B no
traz nenhuma sugesto. O
fragmento A indica ainda
dinmicas para piano,
inexeqveis ao cravo.
Ornamentao: o fragmento
A traz as sugestes de
ornamentao do editor,
enquanto o fragmento B
deixa a ornamentao livre,
como o manuscrito.
Quadro 3: Diferenas encontradas revises feitas por Moyse e Soldan na Sonata em Si menor de J. S.
Bach. A liberdade de interpretao dada pelo estilo barroco leva revisores modernos a indicar interpretaes
diversificadas e igualmente vlidas. Porm neste caso, ao segu-las o intrprete perde a mais importante
caracterstica da msica barroca: o carter de improvisao. E justamente este o elemento que lhe permite
gerar um nmero de interpretantes maior que a msica dos perodos clssico e romntico - embora talvez no to
amplo quanto o de certas correntes da msica contempornea. O fragmento A da edio de Moyse; o
fragmento B da edio de Soldan.
Andamento: Ambos os
fragmentos trazem a
indicao do manuscrito.
FRAGMENTO A
FRAGMENTO B
7
A edio de Soldan traz um detalhado relatrio de reviso, em que se comenta
cada correo em cada movimento das sonatas, a cada compasso em que ocorre. Os
prefcios de seus dois volumes trazem detalhes sobre a escrita e a correo de erros de
grafia dos manuscritos e sobre o perodo da vida de Bach em que as obras foram
compostas, alm de um relatrio sobre a harmonizao do contnuo das sonatas do
segundo volume, realizada por Waldemar Whl.
J Moyse, no prefcio de sua edio, indica seus critrios: mudar algumas das
indicaes [da Bach-Gesellschaft] onde achssemos que fosse apropriado, para
possibilitar o uso pleno dos recursos da flauta moderna. Mais adiante, diz que suas
indicaes de dinmica que seriam improvisadas numa interpretao com parmetros
de poca so baseadas em sua interpretao pessoal. Moyse tambm se refere a
sonatas para flauta e piano, embora este instrumento ainda no fosse de uso corrente no
tempo de Bach. O quadro 3 apresenta algumas das diferenas entre as edies num trecho
curto.
Concluso
Um dos problemas que os alunos de msica enfrentam em seu aprendizado o
modo de interpretar cada obra; como tratar as diferenas interpretativas de cada perodo,
estilo ou autor, que nem sempre so claras. O estudo da interpretao um processo
longo e complicado, que inclui a audio de diversos intrpretes e a abordagem de uma
mesma obra segundo diversos pontos de vista. Neste aspecto, a edio das Sonatas de
Bach por Louis Moyse mostra-se til ao trazer uma interpretao j pronta, que o aluno
iniciante pode preparar seguindo as indicaes expressivas do editor. Neste caso, o
professor deve deixar claro que, em se tratando de msica barroca, aquela frmula
interpretativa apenas uma, dentre muitas possibilidades. Esta edio pode portanto
servir como parte do aparelho didtico. Porm, numa interpretao artstica plena, a
liberdade do intrprete e a cadeia de interpretantes gerada por ela seriam limitadas pelas
indicaes do editor. Assim, uma edio com tais revises no deveria ser executada em
um recital que tenha como eixo uma estrita interpretao histrica, sob pena de
deslocamento deste eixo.
Por outro lado, a edio de Soldan a mais fiel s fontes primrias
8
justamente por trazer as exguas indicaes originais. O executante experiente, que tem o
conhecimento da interpretao histrica ter o instrumental para construir uma
interpretao coerente a partir dela. Este intrprete encontrar nesta edio uma preciosa
base sobre a qual dispor seus prprios elementos interpretativos. Com ela o intrprete
poder explorar a amplido expressiva do corredor interpretativo da msica barroca. Isso
lhe possibilitar gerar uma cadeia de interpretantes limitada apenas pelas regras do estilo
e no pelas razes do editor.
Bibliografia
BACH, Johann Sebastian (1968). Explication unterschiedlicher Zeiche, so
gewisse Manieren artig zu spiele andeuten. extrado do Livrinho de Cravo de Wilhelm
Friedmann Bach. In: _____. The Musical Offering * The Goldberg Variations.
Melville (Estados Unidos): Belwin Mills/Kalmus.
_____. Sechs Sonaten BWV 1030 - 1035. Reviso de Kurt Soldan, realizao do
contnuo de Waldemar Whl. 2 vols. Leipzig: Peters, [s.d., prefcio com data de 1939]. O
catlogo de Pierreuse cita uma 1 edio de uma das sonatas da coleo por esta editora
em 1936; porm no h referncia publicao da coleo completa pela Peters.
_____ (1964). Sonatas for flute and Piano. Reviso de Louis Moyse. Nova
York/Londres: Schirmer.
_____ (1978). Sonaten fr Flte und Klavier. Vol. I - Die vier authentischen
Sonaten; vol. II - Drei Bach zugeschriebne Sonaten. Edio autntica realizada por Hans
Eppstein a partir dos manuscritos originais. Munique: G. Henle Verlag. O catlogo de
Pierreuse no faz nenhuma referncia a esta edio.
BARBIERI, Aldo (1992). Uma abordagem para o estudo do conceito de obra
aberta na msica barroca europia. (Monografia para o IV Curso de ps-graduao
Latu Sensu ao nvel de especializao em Cultura e Arte Barroca), Ouro Preto:
Universidade Federal de Ouro Preto.
9
_____ (2000). Abertura na msica barroca: obra aberta e obra mais aberta. In:
CD de comunicaes do IV Frum do CLM. So Paulo: Centro de Linguagem Musical do
Programa de Comunicao e Semitica da PUC-SP.
_____ (2001). Proposta de estudo do paradoxo do intrprete. In: Caderno de
comunicaes do V Congresso Brasileiro de Semitica. So Paulo: ABS Associao
Brasileira de Semitica (no prelo).
_____ (2002a). Sons, Signos, Mensagens: Perspectivas para a Semitica
Musical (dissertao de mestrado em Comunicao e Semitica) So Paulo: Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo.
_____ (2002b). "Proposta de estudo do paradoxo do intrprete". In: Caderno de
publicaes da I Conferncia Brasiliense de Semitica. Braslia: Associao Brasiliense
de Comunicao e Semitica (no prelo).
ECO, Umberto (1979). Tratado Geral da Semitica. So Paulo: Perspectiva.
_____ (1997). Obra Aberta. So Paulo: Perspectiva, 8 ed.
GEIRINGER, Karl (1989). Johann Sebastian Bach. Segunda edio: Rio de
Janeiro, Jorge Zahar Editor.
GREIMAS, A. J. (1979). Dicionrio de Semitica. So Paulo: Cultrix, 9 ed.
HATTEN, Robert, S. (1994). A Peircean Perspective on the Growth of
Markedness and Musical Meaning. In: PARRET, Herman. Peirce and Value Theory -
on Peircean ethics and Aesthetics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 349-
358.
HENDLEY, Geoffrey (ed.) (1975). The Larousse Encyclopedia of Music.
Londres: Hamlyn.
LIDOV, David (1987). Mind and Body in Music. In: Semiotica vol. 66 n 1/3.
Amsterdam: Mouton de Gruyter, pp. 69-97.
10
LINDE, Hans-Martin. Pequeno Guia para a Ornamentao da Msica do
Barroco. Traduo de H. J. Koellreuter. So Paulo: Musiclia S. A./Ricordi [s. d.].
MARTINEZ, Jos Luiz (1998). Uma Teoria Semitica da Msica na Teoria
Geral dos Signos de Charles Peirce. In: Anais da ANPPOM, pp. 344-357: Rio de
Janeiro, ANPPOM.
PIERREUSE, Bernard (1982). Flute Litterature. Prefcio de Henri Pousseur.
Paris: Editions Jobert/Editions Transatlatiques.
ROEDERER, Juan G. (1998). Introduo fsica e psicofsica na msica. So
Paulo: Editora da Universidade de So Paulo.
SANTAELLA, Lcia (1990). O que semitica. 9 ed. So Paulo: Brasiliense.
TARASTI, Eero (1994). Can Peirce be Applied to music?. In: PARRET,
Herman. Peirce and Value Theory - on Peircean ethics and Aesthetics.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 335-348.
TELEMANN, Georg Philipp. 12 Methodische Sonaten Op. 13. Fac-simile da
edio original, ca. 1732. [s.c.e.; s.d.].
_____. 12 Methodische Sonaten Op. 13. Edio autntica realizada a partir da
edio original. [s.c.e.; s.d.].
_____. 12 Methodische Sonaten Op. 13. Edio com realizao plana do
contnuo. [s.c.e.; s.d.].
VEIGA OLIVEIRA, Jos da (1986). Johann Sebastian Bach - a Plenitude do
Gnio. So Paulo: Secretaria de Estado da Cultura.
WALTER, Bruno (1958). Musica e Interpretazione. Milo: G. Ricordi & C.
O uso de materiais pr-existentes em composio musical
Alexandre Birnfeld
Fundao Municipal de Artes de Montenegro (FUNDARTE)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
birnfeld@cpovo.net
Resumo. Neste trabalho sero abordados os processos composicionais das peas Pampa
Guarany para fagote e orquestra de cordas e A grande iluso do carnaval para cinco
vozes, fagote, dois teclados eletrnicos e contrabaixo eltrico. Inicio com consideraes
expressivas e recursos tcnicos e materiais que so compartilhados por ambas as peas.
Aps, feita uma anlise de cada pea enfocando a utilizao de materiais pr-existentes na
criao do mpeto, definio da estrutura formal, derivao dos materiais de alturas, ritmos
e utilizao como citao ou variao. Materiais musicais, grosso modo, so sons e
silncios; a expresso "materiais pr-existentes" usada aqui como sons e silncios j
elaborados e utilizados em uma pea por outro compositor.
Palavras-chave: composio, processos composicionais, materiais pr-existentes.
1 INTRODUO
Neste trabalho sero abordados os processos composicionais das peas Pampa Guarany,
para fagote e orquestra de cordas, e A grande iluso do carnaval, para cinco vozes, fagote,
dois teclados eletrnicos e contrabaixo eltrico. Inicio com consideraes expressivas e
recursos tcnicos e materiais que so compartilhados por ambas as peas. Aps, feita uma
anlise de cada pea, enfocando a utilizao de materiais pr-existentes na criao do
mpeto, definio da estrutura formal, derivao dos materiais de alturas, ritmos e utilizao
como citao ou variao. Materiais musicais, grosso modo, so sons e silncios; a
expresso "materiais pr-existentes" usada aqui como sons e silncios j elaborados e
utilizados em uma pea por outro compositor.
2 CONSIDERAES EXPRESSIVAS
Apesar das diferenas entre as duas peas aqui apresentadas, ambas possuem uma
eloqncia provocada por uma dualidade, um embate interno que contrasta dois estados de
nimo opostos. Um, representado de forma introspectiva, lento e melanclico; outro,
representado de forma extrovertida, agitado e festivo. Esses antagonismos ora so
confrontados bruscamente, ora sofrem transformaes graduais passando de um estado a
outro.
Os momentos introspectivos buscam envolvimento num drama de aspecto sombrio
representando uma atmosfera ritualstico-dramtico-desesperadora. Nesses ambientes o
tempo musical lento, e as formas gestuais so horizontais, sem direcionamento,
simulando um clima de angstia e depresso.
Os momentos extrovertidos so caracterizados por agitao rtmica e meldica, frases
eufricas e gestos com direcionamentos ascendentes ou descendentes.
3 RECURSOS TCNICOS E MATERIAIS
A seguir descrevo materiais e recursos tcnicos utilizados para obter as sonoridades que, no
meu entender, melhor simbolizam as intenes expressivas de cada pea.
O rudo, usado como elemento de indeterminao e complexidade tmbrica, uma
caracterstica marcante do conjunto de peas aqui apresentado. Aparece ora integrado ao
discurso das peas, ora como sendo o elemento condutor do drama.
O caos rtmico ou meldico usado como elemento tenso e expresso, tanto em pequenas
sees quanto em grandes movimentos.
A organizao das alturas destas duas peas baseada em sries dodecafnicas, que so
utilizadas tanto de forma ortodoxa quanto livre. Quando usadas de maneira livre, as sries
funcionam como estoque de possveis notas e seqncias. Isso ocorre principalmente em
locais onde uma linha meldica evidente, pois a maneira como componho no admite que
mtodos ou procedimentos tenham precedncia sobre uma idia ou sentido meldico que
desejo imprimir a uma frase.
Por outro lado, evito usar progresses e resolues harmnicas e o uso da tnica, fixa ou
que se desloque atravs de modulaes. O pulso rtmico constante nas divises do
compasso, que evidencia a mtrica da msica, tambm evitado.
4 PAMPA GUARANY
4.1 INTRODUO
Pampa Guarany, para fagote e orquestra de cordas, foi composta entre maro e setembro
de 2001. O mpeto que motivou o carter expressivo e concepo da forma, bem como a
definio dos materiais de alturas e ritmos, originam-se da msica Nostalgia na Estncia,
de Noel Guarany, cantor e compositor de msica nativista do Rio Grande do Sul.
A msica Nostalgia na Estncia lembra-me os campos da regio da fronteira, um lugar que
me passa a impresso de solido, onde os sons que se ouvem vm de longe, e tudo, devido
ao grande alcance da viso, se passa lentamente, quase esttico, imvel. Musicalmente
essas imagens e sentimentos foram representados com sons contnuos que se aproximam e
se afastam com intervenes aperidicas de rudos esparsos.
A orquestra de cordas foi o primeiro meio de expresso a ser escolhido. As notas longas em
forma de linhas e blocos sonoros com mltiplas possibilidades de dinmicas, timbres e
rudos de percusso no corpo dos instrumentos surgiram junto com a concepo da idia
sonora. O fagote foi escolhido pela grande extenso de alturas, que possibilita executar
linhas e gestos meldicos no registro grave, e pelas possibilidades de timbres com altos
ndices de ruidosidade.
4.2 DERIVAO DOS MATERIAIS DE ALTURAS
Os materiais de alturas e ritmos so derivados da msica Nostalgia na Estncia, de onde
foram retiradas duas melodias, "A" e "B", respectivamente exemplos 1 e 2, que so usadas
tanto em citaes completas quanto alteradas ritmicamente ou em forma de excertos,
motivos ou intervalos. Alm dessa utilizao, foi definido um material de alturas atravs da
seleo de notas que, a meu ver, servem de base para a construo da melodia "A". Essas
notas, na ordem em que aparecem na melodia, formam o primeiro pentacorde de mi menor.
Com esse pentacorde, transposto para l menor, foram criadas duas sries de doze sons, S1
(tabela 1) e S2 (tabela 4); e aplicadas a essas, alm da tabela de transposies
dodecafnicas (O, I, R, RI), a tabela de permutao P1 (tabela 2) e P2 (tabela 5) e as
relaes de notas vizinhas (tabelas 7 a 10), de acordo com a teoria de Len Biriotti. Utilizei
tambm o procedimento de transformao multiplicativa de Charles Wuorinen, M1 (tabela
3) e M2 (tabela 6).
Exemplo 1: melodia "A", extrada de Nostalgia na Estncia, [18 a 33].
Exemplo 2: melodia "B", extrada de Nostalgia na Estncia, [34 a 49].
Tabela 1: Srie S1, formada a partir da melodia "A" de Nostalgia na Estncia.
S1
0
C B D A E F C# D# F# G G# Bb
S1
1
C# C D# Bb F F# D E G G# A B
S1
10
Bb A C G D D# B C# E F F# G
S1
3
D# D F C G G# E F# A Bb B C#
S1
8
G# G Bb F C C# A B D D# E F#
S1
7
G F# A E B C G# Bb C# D D# F
S1
0
C B D A E F C# D# F# G G# Bb
S1
1
C# C D# Bb F F# D E G G# A B
S1
10
Bb A C G D D# B C# E F F# G
S1
11
B Bb C# G# D# E C D F F# G A
S1
9
A G# B F# C# D Bb C D# E F G
S1
6
F# F G# D# Bb B G A C C# D E
S1
5
F E G D A Bb F# G# B C C# D#
S1
4
E D# F# C# G# A F G Bb B C D
S1
2
D C# E B F# G D# F G# A Bb C
Tabela 2: Permutaes "P1", aplicadas srie "S1
0
", de acordo com a teoria de Len
Biriotti.
S1
0
C B D A E F C# D# F# G G# Bb
P1
11
B D A E F Bb C C# D# F# G G#
P1
2
D A E F Bb G# B C C# D# F# G
P1
9
A E F Bb G# G D B C C# D# F#
P1
4
E F Bb G# G F# A D B C C# D#
P1
5
F Bb G# G F# D# E A D B C C#
P1
1
C# C B D A E D# F# G G# Bb F
P1
3
D# C# C B D A F# G G# Bb F E
P1
6
F# D# C# C B D G G# Bb F E A
P1
7
G F# D# C# C B G# Bb F E A D
P1
8
G# G F# D# C# C Bb F E A D B
P1
10
Bb G# G F# D# C# F E A D B C
Tabela 3: Multiplicaes "M1", aplicadas srie "S1
0
", de acordo com o procedimento de
Charles Wuorinen.
M1
0
C F D D# E B G A F# C# G# Bb
M1
7
G C A Bb B F# D E C# G# D# F
M1
10
Bb D# C C# D A F G E B F# G#
M1
9
A D B C C# G# E F# D# Bb F G
M1
8
G# C# Bb B C G D# F D A E F#
M1
1
C# F# D# E F C G# Bb G D A B
M1
5
F Bb G G# A E C D B F# C# D#
M1
3
D# G# F F# G D Bb C A E B C#
M1
6
F# B G# A Bb F C# D# C G D E
M1
11
B E C# D D# Bb F# G# F C G A
M1
4
E A F# G G# D# B C# Bb F C D
M1
2
D G E F F# C# A B G# D# Bb C
Tabela 4: Srie "S2", formada a partir da melodia "A" de Nostalgia na Estncia.
S2
0
C B D A E D# F# C# G# G Bb F
S2
1
C# C D# Bb F E G D A G# B F#
S2
10
Bb A C G D C# E B F# F G# D#
S2
3
D# D F C G F# A E B BB C# G#
S2
8
G# G Bb F C B D A E D# F# C#
S2
9
A G# B F# C# C D# Bb F E G D
S2
6
F# F G# D# Bb A C G D C# E B
S2
11
B BB C# G# D# D F C G F# A E
S2
4
E D# F# C# G# G Bb F C B D A
S2
5
F E G D A G# B F# C# C D# Bb
S2
2
D C# E B F# F G# D# Bb A C G
S2
7
G F# A E B BB C# G# D# D F C
Tabela 5: Permutaes "P2", aplicadas srie "S2
0
", de acordo com a teoria de Len
Biriotti.
S2
0
C B D A E D# F# C# G# G Bb F
P2
11
B D A E D# F C F# C# G# G Bb
P2
2
D A E D# F Bb B C F# C# G# G
P2
9
A E D# F Bb G D B C F# C# G#
P2
4
E D# F Bb G G# A D B C F# C#
P2
3
D# F Bb G G# C# E A D B C F#
P2
6
F# C B D A E C# G# G Bb F D#
P2
1
C# F# C B D A G# G Bb F D# E
P2
8
G# C# F# C B D G Bb F D# E A
P2
7
G G# C# F# C B Bb F D# E A D
P2
10
Bb G G# C# F# C F D# E A D B
P2
5
F Bb G G# C# F# D# E A D B C
Tabela 6: Multiplicaes "M2", aplicadas srie "S2
0
", de acordo com o procedimento de
Charles Wuorinen.
M2
0
C F D D# E A F# G G# C# Bb B
M2
7
G C A Bb B E C# D D# G# F F#
M2
10
Bb D# C C# D G E F F# B G# A
M2
9
A D B C C# F# D# E F Bb G G#
M2
8
G# C# Bb B C F D D# E A F# G
M2
2
D# G# F F# G C A Bb B E C# D
M2
6
F# B G# A Bb D# C C# D G E F
M2
5
F Bb G G# A D B C C# F# D# E
M2
4
E A F# G G# C# Bb B C F D D#
M2
11
B E C# D D# G# F F# G C A Bb
M2
2
D G E F F# B G# A Bb D# C C#
M2
1
C# F# D# E F Bb G G# A D B C
Tabela 7: Relaes de notas vizinhas da srie "S1
0
", de acordo com a teoria de Len
Biriotti.
C Bb B C# B C D D# D B A F# A D E G
E A F G# F E C# - Bb C# F D# - C D# C# - F# - D
F# D# G D G F# - G# - A G# G Bb E Bb G# - C F
Tabela 8: Relaes de notas vizinhas da srie "M1
0
", de acordo com a teoria de Len
Biriotti.
C BB - F G F C D A D F D# - F# D# D E C#
E D# - E G# B E G BB G B A C A G F# - F
F# A C# - D C# F# - G# - D# G# C# - Bb E Bb G# - C B
Tabela 9: Relaes de notas vizinhas da srie "S2
0
", de acordo com a teoria de Len
Biriotti.
C F - B - F# B C - D - C# D B - A - G# A D - E G
E A - D# - Bb D# E - F# - F F# D# - C# - C C# F# - G# B
G# C# - G D G G# - Bb - A Bb G F E F Bb - C - D#
Tabela 10: Relaes de notas vizinhas da srie "M2
0
", de acordo com a teoria de Len
Biriotti.
C B F F# F C D G D F D# - G# D# D E C#
E D# - A Bb A E F# - B F# A G C G F# - G# F
G# G C# - D C# G# Bb D# Bb C# - B E B Bb C A
4.3 FORMA
A estrutura formal da pea foi definida a partir da concepo da sonoridade fornecida pelo
mpeto. O prximo passo foi descobrir quanto tempo de durao total de msica esse tipo
de sonoridade sustentaria. Cantando e ouvindo interiormente, imaginei a primeira parte
da pea e cronometrei seu tempo, figura 1 - incio. Depois de repetir diversas vezes essa
vivncia, conclu que a durao da primeira parte seria de 3min 30s. Considerando este
tempo como a parte menor de um todo dividido pela seo urea, cheguei durao total da
pea: 10min 30s. Com os valores da parte menor e durao total, projetei a pea em sees
que foram sendo ajustadas durante o processo de composio.
Figura 1: projeto de Pampa Guarany.
Figura 2: Forma final de Pampa Guarany.
4.4. TCNICAS DE CITAO E VARIAO
Na terceira seo, [97 a 99], exemplo 3, feito um contraponto com as melodias "A" e "B",
exemplo 3, que so descaracterizadas por variaes rtmicas. Cada um dos 8 violinos toca a
melodia "B" com ritmos irregulares e acentos em pontos diferentes, enquanto as violas,
violoncelos e contrabaixo tocam a melodia "A" em pizzicato Bartk.
Exemplo 3: Pampa Guarany, compassos [97 e 99]
Na quarta seo, [113 a 116],exemplo 4, a periodicidade rtmica e a sincronia tornam o
pulso perceptvel, trazendo um relativo repouso a esta regio. O ritmo constante derivado
do acompanhamento de Nostalgia na Estncia e a citao completa das melodias "A" e
"B", envoltas pelos multifnicos do fagote, trazem para a ambincia sonora desta pea a
msica de Noel Guarany.
Exemplo 4: Pampa Guarany, compassos [113 a 116]
5 A GRANDE ILUSO DO CARNAVAL
5.1 INTRODUO
Escrita para cinco msicos, cada qual com mais de uma funo, esta pea foi composta para
cinco vozes, fagote, dois teclados eletrnicos e contrabaixo eltrico. O mpeto esttico e
composicional foi extrado da frase "Tristeza no tem fim, felicidade sim", da msica A
felicidade, de Tom Jobim e Vincius de Moraes (exemplo x), de onde tambm foram
retiradas outras partes do texto e das melodias, e das quais foram derivados materiais de
ritmo, alturas e at mesmo o ttulo: A grande iluso do carnaval.
Exemplo 5: Incio de A felicidade de Tom Jobim e Vincius de Moraes, Transcrio de
Almir Chediak.
O pequeno trecho que serviu de mpeto para a construo de A grande iluso do carnaval,
[51 a 57], mostrado no exemplo 6, foi criado a partir das impresses e sentimentos que a
frase de Tom Jobim e Vincius de Moraes transmitem. Imaginei uma atmosfera de tormento
e aflio sem fim. Representei este ambiente atravs dos instrumentos no registro grave
sem alturas definidas e com glissandos microtonais. Para representar o tempo sem fim,
estes sons graves so mantidos constantes durante toda a seo. Para esse tipo de
sonoridade, o teclado eletrnico de grande importncia, pois um som pode ser mantido
indefinidamente. As vozes simbolizam dor e sofrimento falando a palavra "no" no registro
grave, de forma a lembrar o "no" como colocado na frase "tristeza no tem fim". Este
mpeto deu origem a toda a terceira seo, a partir da qual a pea foi planejada e composta.
Exemplo 6: mpeto de A grande iluso do carnaval, primeiro manuscrito.
5.2 FORMA
A partir do mpeto da pea, foi construda toda a seo 3. A partir da durao desta seo,
144s, estimei o dobro para a durao da pea (aproximadamente 5 minutos). A seo urea
desta seo foi posicionada coincidentemente com a seo urea total da pea, conforme
figura 3. O arco descendente neste projeto indica que a movimentao rtmica e meldica
inicia no pico mximo e decresce at a seo urea da pea, crescendo novamente at o
mximo, no final da pea.
Figura 3: Projeto de A grande iluso do carnaval.
Figura 4: Forma final de A grande iluso do carnaval.
Esta pea possui quatro sees em forma de um arco descendente, a forma final permanece
fiel ao projeto, tendo apenas algumas diferenas nas duraes da primeira e da segunda
seo.
5.3 DERIVAO DOS MATERIAIS DE ALTURAS
As alturas foram retiradas das frases "Tristeza no tem fim, felicidade sim", e "A felicidade
como uma gota de orvalho (...)" (tabelas 11 e 12). Os ataques das frases foram
transformados em sries nas quais foram aplicadas apenas as transposies usadas no modo
original, isto , sem as outras trs formas de utilizao de uma srie: retrogradao,
inverso e inverso retrogradada.
Tabela 11: srie da frase "Tristeza no tem fim ..." e as suas 12 transposies.
S0 E A C B G E E G E F# D# E
S1 F A# C# C G# F F G# F G E F
S2 F# B D C# A F# F# A F# G# F F#
S3 G C D# D A# G G A# G A F# G
S4 G# C# E D# B G# G# B G# A# G G#
S5 A D F E C A A C A B G# A
S6 A# D# F# F C# A# A# C# A# C A A#
S7 B E G F# D B B D B C# A# B
S8 C F G# G D# C C D# C D B C
S9 C# F# A G# E C# C# E C# D# C C#
S10 D A A# A F D D F D E C# D
S11 D# A# B A# F# D# D# F# D# F D D#
Tabela 12: srie retirada da frase "A felicidade como uma gota ..." e suas 12
transposies.
S0 E G F E E D C# D F F E D C
S1 F G# F# F F D# D D# F# F# F D# C#
S2 F# A G F# F# E D# E G G F# E D
S3 G A# G# G G F E F G# G# G F D#
S4 G# B A G# G# F# F F# A A G# F# E
S5 A C A# A A G F# G A# A# A G F
S6 A# C# B A# A# G# G G# B B A# G# F#
S7 B D C B B A G# A C C B A G
S8 C D# C# C C A# A A# C# C# C A# G#
S9 C# E D C# C# B A# B D D C# B A
S10 D F D# D D C B C D# D# D C A#
S11 D# F# E D# D# C# C C# E E D# C# B
5.4 TCNICAS DE CITAO E VARIAO
A segunda seo, [21 a 43], possui o ritmo medido e constante gerado pelo contraponto
feito com a frase "Tristeza no tem fim, felicidade sim", tocada a quatro vozes, cada uma
em uma transposio. Esse contraponto tem a finalidade de gerar uma quinta frase com
uma sonoridade completamente diferente daquela (exemplo 7). Teclados 1 e 2 e
contrabaixo tocam, respectivamente, as transposies S0 e S5, S9 e S1 da frase de Tom
Jobim com os ritmos alterados, de forma que a resultante do conjunto uma frase que
segue sua linha, passando de um instrumento para o outro.
Exemplo 7: A grande iluso do carnaval, compassos [21 a 24].
A terceira seo, [44 a 81], exemplo 8, tem uma caracterstica soturna. A voz 1 canta, com
notas longas, os mesmos intervalos das melodias que correspondem s palavras do texto "a
felicidade", "tristeza" e "no", enquanto as outras vozes falam e lamentam expressando dor,
medo e tristeza. Os instrumentos tocam ritmos sem alturas definidas na regio grave, o que
auxilia na criao de uma ambincia pesada.
Exemplo 8: A grande iluso do carnaval, compassos [46 a 49]
Na quarta seo, [82 a 116],exemplo 9, instrumentos e vozes tocam a frase "a felicidade
como uma gota de orvalho". A voz 1 canta a melodia com o ritmo aumentado oitavada pela
flauta, enquanto as outras vozes e instrumentos cantam a mesma melodia, cada um em uma
tonalidade e repetindo a mesma slaba vrias vezes. O clculo das duraes do texto de
cada voz nesta seo obedece a propores das duraes do texto original.
Exemplo 9: A grande iluso do carnaval, compassos [83 a 85].
7. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARTOLOZZI, BRUNO. New Sounds for Woodwind. Oxford University Press, London.
1967.
BIRIOTTI, LEN. Tcnica del Sistema de Estructuras por Permutaciones. Montevideo
??artigo??
HUNTLEY, H. E. The Divine Proportion A Study in Mathematical Beauty. Dover
Publications, inc., New York. 1970.
KRAMER, JONATHAN D. The Time of Music. New Meanings New Temporaties
New Listening Strategies. Schirmer Books. New York, N. Y. 1988.
WUORINEN, CHARLES. Simple Composition. Longman Inc., New York. Longman
Music Series.
KANDINSKY,WASSILY. Do Espiritual na Arte. Martins Fontes. So Paulo. 1996.
A potica de Bachelard e a medida da escuta onrica
Alexandre Fenerich
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
afenerich@bol.com.br / afenerich@yahoo.com
Resumo: A especificidade radical da msica eletroacstica acusmtica impossibilita anlises que
no levem em conta aspectos subjetivos ou inter-subjetivos da escuta. A potica de Bachelard
aborda o devaneio analisando imagens poticas pelo vis fenomenolgico, e por isso foi tomada
como modelo para o entendimento da escuta onrica, voltada para o devanear. Assim, concluiu-se
que uma anlise da msica acusmtica que no passe pelo devaneio do pesquisador estaria
negligenciando a forma pela qual o ouvinte imagina a msica, forma esta que particular a cada
um. Um confronto de anlises de escuta, porm, poderia dizer algo acerca do contedo de uma
msica, enriquecendo o entendimento do delicado fenmeno da audio potica.
Palavras-chave: msica eletroacstica, anlise, Bachelard
Abstract: The extreme specificity of acousmatic electroacoustic music makes impossible an
analysis that does not take account of hearing subjective or inter-subjective aspects. Bachelards
poetics considers the daydream, analyzing poetic images under phenomenological approach.
Because of that, it was taken as a model for understanding the oneiric hearing focused on the
daydream. Thus, it was deduced that an acousmatic musical analysis without researchers
daydream will take no notice of the way a listener imagines music, in such a way that is particular
to each one. On the other side, a listening analysis confrontation could probable tell something
about a musical content, which will enlarge the knowledge of the poetic hearing phenomenon.
Key-words: electroacoustic music, analysis, Bachelard
A msica eletroacstica do gnero acusmtico, ou seja, aquela cujo emissor do
som, o corpo sonoro, no visto pelo espectador, traz para a sua anlise um problema
metodolgico, pois no pode ser notada de maneira precisa ou esquemtica; nem mesmo
pode ser reduzida a objetos descritveis, pois sua fruio, e mesmo sua percepo, no
passa por objetos definidos e precisos - como ocorre com a msica baseada na notao
tradicional - e as tentativas de utilizao de mtodos que busquem unidades perceptivas
mnimas a fim de encontrar corpos estveis nos quais uma anlise se possa basear de
maneira inequvoca, como foi a de Pierre Schaeffer, esbarram quase sempre numa
reduo limitadora do entendimento da escuta, sobretudo nos seus aspectos subjetivos.
Tomemos como exemplo uma msica que queira traar um cenrio, um espao
imaginrio no qual um personagem atue, como o caso de La Tentation de Saint Antoine,
de Michel Chion: aqui o texto falado faz parte de um complexo sonoro mais amplo, o
qual conduz para a representao de uma cena imaginria em que todos os elementos
dramticos so representados exclusivamente pelo som. Uma anlise dessa representao
que no discorra sobre a forma como a msica opera na construo do imaginrio do
ouvinte no vai se ater ao essencial do jogo e naquilo para o qual foi criado, mas essa
anlise no pode tomar como objeto somente a msica em si: o cerne da questo como
se opera a escuta nos seus valores poticos; de que maneira a ela aciona o imaginrio;
como ela formula imagens.
Quais as ferramentas para tal anlise? Iremos busc-las em Gaston Bachelard,
pois esse rigoroso epistemlogo escreveu tambm uma srie de obras dedicadas ao estudo
do imaginrio potico, o qual valorizado como uma forma prpria de apreenso e de
recriao da realidade (Pessanha, 1979, p. VIII). Em A Potica do Devaneio, por
exemplo, traa-se um percurso a partir da leitura de textos poticos a fim de estabelecer
os limites do devaneio atravs da manifestao potica. E se a imagem potica pode
ressoar em um vasto universo sensorial, acreditamos que tambm a msica acusmtica,
por tocar em objetos sensveis percepo, pode faz-lo. Esta uma comparao
arriscada, mas esperamos poder tra-la ao final de nosso texto, o qual vai tentar
esmiuar o trajeto analtico de Bachelard pelo devaneio, substncia da escuta onrica.
A msica acusmtica, ento, lida com objetos cuja natureza se assemelha da
imagem potica, pois se baseia, sobretudo, na escuta do som fixado em suporte, o qual
admitido em todas as suas propriedades sensveis. Esta caracterstica leva a uma total
abertura semntica, pois o sentido do som no mediado (ou, diramos, filtrado) por
uma notao. O compositor de msica eletroacstica, primeiro ouvinte dos sons que
escolheu, volta-se para sua prpria percepo e d aos sons um sentido prprio. Ele
abandona, portanto, o auxlio de abstraes, distantes que so da escuta, para fiar-se
somente em sua ouvidos. Mas uma tal msica cujo inventrio sensorial inesgotvel e
infinito
1
(Chion, 1991, p. 9) torna ineficaz uma anlise que se baseie em critrios
objetivos criando no observador a mesma perplexidade com a qual se deparou
Bachelard ao analisar a imagem potica:
Fiel aos nossos hbitos de filsofo das cincias, tnhamos tentado considerar as
imagens fora de qualquer tentativa de interpretao pessoal. Pouco a pouco, esse
mtodo, que tem a seu favor a prudncia cientfica, pareceu-me insuficiente para
1
(...) linventaire sensoriel est inpuissable et infinit
fundar uma metafsica da imaginao. Por si s, a atitude prudente no ser
uma recusa em obedecer dinmica imediata da imagem? (Bachelard, 2000, p.
3)
Pois o devaneio potico em Bachelard uma atividade de uma conscincia que se
distende, se dispersa e, por conseguinte, se obscurece
(Bachelard, 2001, p. 5), portanto
no mais uma conscincia. Analisar um devaneio uma atividade paradoxal, pois a
anlise potica pertence ao signo de animus. A alma humana bifurca-se, tem um feminino
e um masculino, anima e animus (Bachelard, 2001, p. 58), e nesta bifurcao o devaneio
potico ressoa em anima, mas o fazer potico atividade de animus: o poeta conserva
muito distintamente a conscincia de sonhar para dominar a tarefa de escrever seu
devaneio (Bachelard, 2001, p. 153).
As imagens poticas, que so devaneios conduzidos pela poesia possuem, como o
som acusmtico, o poder de evocar devaneios, de atuar em anima: Todos os sentidos
despertam e se harmonizam no devaneio potico. essa polifonia dos sentidos que o
devaneio potico escuta e que a conscincia potica deve registrar (Bachelard, 2001, p.
6). No possvel efetuarmos a separao entre sujeito e objeto numa anlise de uma
imagem potica: ao nvel da imagem potica, a dualidade do sujeito e do objeto
irisada, reverberante, incessantemente ativa em suas inverses (Bachelard, 2000, p. 4).
Pois em devaneios do cosmos o sonhador entra no terreno da fuso profunda entre a
conscincia de si e do mundo; num devaneio do cosmos o mundo torna-se o sonhador.
Em imagens que remetam a uma lembrana profunda dos elementos naturais, como do
fogo, da gua, do ar e da terra, pode-se tocar nesta unidade primordial de conscincia,
pode-se atingir o complexo imaginao e lembrana dos primeiros devaneios da infncia.
Pois "os primeiros interesses psquicos que deixam traos indelveis em nossos sonhos
so interesses orgnicos. (...) na carne, nos rgos, que nascem as imagens materiais
primordiais. (Bachelard, 1998, p.9). Na infncia os devaneios so sempre superlativos,
atestam a fora da novidade. Vo ser mais tarde pontos essenciais do crculo de imagens
que o sonhador possui.
Nesse sentido, a poesia toca estes pontos escondidos da imaginao, evoca uma
vida j vivida e traz de volta impresses profundas, memrias essenciais das formas do
Grifo nosso
mundo, registro das sensaes primeiras da gua, do calor, da casa, do lago; das imagens
essenciais. Pois
Em sua primitividade psquica, Imaginao e Memria aparecem em um
complexo indissolvel. Analisamo-las mal quando as ligamos percepo. O
passado rememorado no simplesmente um passado da percepo. J num
devaneio, uma vez que nos lembramos, o passado designado como valor de
imagem. A imaginao matiza desde a origem os quadros que gostar de rever
.
Para ir aos arquivos da memria, importa reencontrar, para alm dos fatos,
valores. (Bachelard, 2001, p.99).
O sonhador que se abre para as imagens da poesia ento tocado por imagens do
mundo, suas imagens, seu mundo. Sua percepo de si mistura-se e conflui-se com a
percepo que tem do mundo. No h a dvida metdica, terreno de animus, no campo
do devaneio:
Para duvidar dos mundos do devaneio, seria preciso no sonhar, seria preciso sair
do devaneio. O homem do devaneio e o mundo de seu devaneio esto muito
prximos, tocam-se, compenetram-se. Esto no mesmo plano de ser; se for
necessrio ligar o ser do homem ao ser do mundo, o cogito do devaneio h de
enunciar-se assim; eu sonho o mundo; logo, o mundo existe tal como eu o sonho.
(Bachelard, 2001, p. 152).
Por vezes basta um s estmulo da percepo, aliado a um devaneio, para
despertar todo um corpo de afetos:
O odor musgoso e sonolento das velhas moradas o mesmo em todo lugar, e
muitas vezes, (...) bastava-me fechar os olhos em alguma casa antiga para logo
me reportar sombria vivenda dos meus ancestrais dinamarqueses e reviver
assim, no espao de um instante, todas as alegrias e todas as tristezas de uma
infncia habituada ao suave odor, to cheio de chuva e de crepsculo das antigas
moradas(Milosz apud. Bachelard, 2001, p.132).
Mas aqui o autor toca em um ponto central para a nossa investigao em direo
msica eletroacstica: O odor permanece na palavra (idem, ibidem, p. 133) o
devaneio da palavra restitui ao sonhador o devaneio particular: mas a palavra potica no
singular; sendo signo, permanece aberta ao sonhador para este apropriar-se dela
Grifo nosso
conforme sua individualizao particular. Apesar de uma tal distino, a associao
sinestsica se estabelece: embora Bachelard ocupe-se essencialmente de textos poticos,
fato que se observa em suas terminologias, seu conceito de devaneio potico parece
abranger todas as reas:
nessa linha que Novalis pde dizer claramente que a liberao do sensvel em
uma esttica filosfica se fazia conforme a escala: msica, pintura, poesia. No
tomaremos nossa conta essa hierarquia das artes. Para ns, todos os pncaros
humanos so pncaros.Os pncaros nos revelam prestgios de novidades
psquicas. (Bachelard, 2001, p.179).
Como atuariam ento formas de arte que utilizam objetos para a percepo, como
o so as artes plsticas, o cinema ou a msica? A arte do pintor a arte de ver belo
(Bachelard, 2001, p.175). Este belo justamente o olhar de devaneio, olhar de anima
capaz de despertar onirismos arcaicos. um olhar em que o sonhador acredita que entre
ele e o mundo h uma troca de olhares, como no duplo olhar do amado e da amada
(Bachelard, 2001, p.175). Mas se o pintor deve pintar nessa viso mais elevada, o poeta
se limita a proclam-la (Bachelard, 2001, p.178). Ento que difere o olhar do sonhador
sobre, por exemplo, uma paisagem e sobre uma paisagem pintada? Simplesmente esta
seleo, este substrato que o pintor recolhe de seu olhar liso sobre o mundo, ou seja, do
recorte que foi executado com a destreza de animus, mas que foi investigado em um
devaneio, sob anima. Portanto, ao nos depararmos com a obra adentramos em um
devaneio organizado por algum, que por sua vez conduz a outros devaneios: realidade
dentro de realidade, a obra sendo mais um fenmeno a ser vivido.
desta forma que o som considerado em suas propriedades sensveis jamais ser
entendido, em uma escuta onrica, de forma impessoal, atravs de uma atitude
prudente, como seria prprio de uma anlise cientfica. O som acusmtico, da mesma
forma que a imagem potica, leva a devaneios diversos que, embora sejam reais e sempre
presentes, so particulares a cada ouvinte. Tais devaneios so impulsionados por
caractersticas prprias ao som particular, impressas no suporte e, portanto, imutveis;
ocorrem seja no imaginar de sua suposta fonte, seja no acompanhar de sua trajetria, seja
no fantasiar do espao em que este acontece.
Tomemos ento esta que uma das caractersticas da msica eletroacstica, a de
oferecer ao compositor, pela gravao, o arranjo e o domnio de um espao interno
obra
2
(Chion, 1991, p.50). Ora, espao interno de um som gravado aquele que fica
impresso no suporte - em oposio a um espao externo, que leva em conta as condies
de sua difuso. So exemplos de parmetros de um espao interno os diferentes planos de
presena ou ausncia, os graus de reverberao e a repartio do som entre os canais.
Porm, estes no passam por uma percepo objetiva, mas subjetiva ou intersubjetiva,
evocando conceitos de significado pouco preciso. Critrios acsticos correlatos, como
intimidade, definio (ou clareza) e presena (ou textura), usados para definir a qualidade
acstica de uma sala de concertos, so de difcil mensurao, pois dependem de uma
apreciao subjetiva que geralmente aferida atravs de questionrios estatsticos
realizados em ouvintes, em uma metodologia que nem sempre exclui o gosto e a esttica
do cientista em seus resultados
3
. Uma escuta passando por esses parmetros remete a
lugares precisos no imaginrio do ouvinte, conduzindo a devaneios de sua relao com o
mundo. Assim que um som sem reverberao, mdio-agudo, intenso pouco a pouco e
de pouca densidade de massa pode soar para mim ameaador e hostil; um tal som no
existe na natureza do cotidiano: a ausncia de reverberao traz a ele uma artificialidade
estranha vivncia acstica; sua progressiva apario pelo acrscimo de intensidade em
uma regio de freqncia que pode ferir os ouvidos diretamente pode ser descrita como
perfurante, lesiva; em geral, tal som me traz uma carga semntica de represso.
Este simples exemplo atesta o poder de imagem que tal msica suscita. Para
salient-la precisei realizar uma breve anlise potica, tendo a liberdade e a abertura para
esmiuar o devaneio que um tal som me proporcionou. Portanto, a partir da escuta
podemos sair do terreno de anima para entrarmos no de animus, a fim de realizarmos um
texto, potico que seja, que organize as imagens vivenciadas no campo do devaneio. Uma
tal investigao poder formular, atravs da comparao de vrias audies, de
singularidades diferentes, um vocabulrio comum para no aproximarmos dessa
experincia essencial de renovao, de recriao do mundo, que a escuta potica.
2
(...) le propre de la musique des sons fixs est justement doffrir au compositeur, par lenregistrement, la
disposition et la matrise dun espace interne louvre
3
cf. Beranek, 1996, p.478.
Referncias bibliogrficas:
BACHELARD, Gaston. A gua e os sonhos. So Paulo: Martins Fontes, 1998. Trad. Antnio de
Pdua Danesi.
BACHELARD, Gaston. A potica do devaneio. So Paulo: Martins Fontes, 2001. Trad. Antnio
de Pdua Danesi.
BACHELARD, Gaston. A potica do espao.So Paulo: Martins Fontes, 2000. Trad. Antnio de
Pdua Danesi.
BERANEK, Leo. Concert and opera hall: how they sound. Woodbury: Acoustical Society of
America, 1996.
CHION, Michel. Lart ds sons fixes: ou la musique concrtement. Fontaine: ditions Metamkine
/ Nota Bene / Sono Concept, 1991.
PESSANHA, Jos Amrico. Bachelard: vida e obra. In: BACHELARD, Gaston. Os
Pensadores. So Paulo: Abril Cultural, 1979. p. VI-XIV.
Avanos tecnolgicos no SIEDP
Alexandre Bezerra Viana
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
viana@musica.ufrn.br
Agamenon Clemente de Morais J unior
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
agamenon@musica.ufrn.br
Resumo. Este artigo apresenta as inovaes desenvolvidas no Sistema Inteligente para o
Desenvolvimento do Dedilhado Pianstico SIEDP, programa que tem como objetivo
auxiliar alunos iniciantes do curso de piano no que diz respeito ao desenvolvimento da
tcnica do dedilhado. As inovaes ocorrem tanto na interface com o usurio como no
desenvolvimento e utilizao da frmula fitness utilizada pelo programa.
Palavras-chave: Msica e Computao, Inteligncia Artificial e Algoritmo Gentico
Abstract. This paper presents the innovations developed in Intelligent System to Pianos
fingering Learning Aid SIEDP, program that has the intention to aid beginner students of
the Piano Course in the development of fingering technique. The innovations occur as in the
interface with user as in the development and utilization of fitness formula used by the
program.
Keywords: Computer Music, Artificial Intelligence and Genetic Algorithm
1- Introduo ao SIEDP
O SIEDP Sistema Inteligente para o Ensino do Dedilhado Pianstico um programa
criado por profissionais da rea de Msica, Engenharia Eltrica e Sistemas e Computao [1]
[2] com o objetivo de auxiliar os alunos iniciantes do curso de piano na procura de dedilhados
timos (dedilhados que exijam o menor esforo possvel por parte do executante) atravs da
utilizao de duas ferramentas oriundas da Inteligncia Artificial (Algoritmo Gentico, Sistema
Especialista e Redes Neurais).
O SIEDP na sua verso original apresentada no SBCM98 possua algumas restries:
interface no amigvel, funo fitness baseada apenas nas teclas brancas, regras do sistema
especialista limitadas a uma oitava, resultados repetidos (clones). O objetivo do trabalho
apresentado no mestrado em informtica [2] era tentar minimizar a tarefa de encontrar um
dedilhado timo para melodias piansticas. Para se chegar a um dedilhado timo de uma obra
musical necessria a anlise de um especialista do instrumento. Um aluno iniciante nunca ter
a certeza de qual dedilhado usar num determinada pea musical. Portanto, a tarefa de
encontrar um dedilhado timo bastante desmotivadora e desgastante.
O dedilhado pianstico timo, aquele que o aluno consegue executar o trecho
musical da forma mais cmoda possvel (sem tenses musculares) e, quando o trecho exigir
velocidade de execuo, o pianista possa faz-lo da melhor maneira possvel [1].
O presente trabalho apresenta uma nova verso do SIEDP, na qual tentou-se sanar as
dificuldades causadas pelas restries da verso original.
2- Interface
Um usurio que utilizasse a verso original do SIEDP pela primeira vez sentiria
dificuldade tanto em controlar a entrada de dados, como entender o resultado do
processamento realizado do programa.
2.1- Entrada de dados
O usurio deveria digitar ou carregar um arquivo com a melodia a ser analisada
codificada em valores numricos. Cada termo numrico representava uma tecla do piano.
Dessa forma, para que se pudesse utilizar o SIEDP deveria-se possuir o conhecimento prvio
desse cdigo e conseguir convert-lo em uma seqncia numrica em notas musicais (figura
1).
Figura 1. Janela principal da verso original do SIEDP
Na verso atual, a melodia a que se prope analisar carregada a partir de um
arquivo codificado no padro MIDI. Esse arquivo pode ser editado em editores de partitura
com uso bastante difundido como o Encore e o Finale tornando a tarefa de entrada de dados
bastante simplificada (figura 2).
2.2- Resultado do processamento
De acordo com especificaes, na sua maioria definidas pelo usurio, o SIEDP, na
sua verso original, apresentaria uma lista com 50 seqncias numricas representando os
melhores dedilhados encontrados dos quais um seria escolhido pelo usurio (figura 3).
Na verso atual, o SIEDP analisa a lista dos melhores dedilhados, escolhe o de menor
comprimento e apresenta ao usurio como resultado proposto para implementao (figura 4).
3- Funo fitness
A funo fitness a funo que especifica ao SIEDP a forma de calcular os
comprimentos dos resultados obtidos atravs de um Algoritmo Gentico [3] e assim prepara a
lista dos 50 melhores resultados citadas no item 2.2. Na verso original, a funo fitness foi
criada a partir das necessidades de ento (utilizar apenas as teclas brancas) e armazenada
como parte do cdigo fonte do programa, ou seja, sua utilizao estaria restrita a um contexto
que fosse semelhante ao que lhe deu origem (problema da adaptao). Na verso atual, a
funo fitness armazenada em um arquivo fitness.sdp que construdo a partir de
configuraes de ambiente (configuraes que simulam um conjunto de necessidades reais)
armazenadas em um arquivo ambiente.sdp facilmente editvel pelo usurio atravs do prprio
SIEDP. Dessa forma, a funo fitness pode ser aplicada a qualquer situao. O problema da
adaptao est resolvido. A figura 5 mostra os valores obtidos pela forma atual da frmula
fitness, onde Delta n o intervalo analisado (positivo se for ascendente e negativo se for
descendente) e Delta D, a diferena entre os pesos dos dedos seguindo a frmula: Delta D =
d2 d1, onde d2 o peso do dedo utilizado para tocar a segunda nota e d1 o peso do
dedo utilizado para tocar a primeira nota.
4- Limitao do Sistema Especialista (SE)
Os SE so programas de computadores que tomam decises ou resolvem
problemas usando o conhecimento e as regras definidas por um especialista humano de uma
determinada rea.. [4]
Na forma original o Sistema Especialista utilizado pelo SIEDP dependia
necessariamente de ao humana para que o seu conjunto de regras de deciso fosse
ampliado e/ou aperfeioado e essas mesmas regras tinham sua ao restrita a uma oitava. Na
verso atual, o Sistema Especialista inicialmente composto de algumas poucas regras
definidas por um especialista. A partir dessas regras e se adaptando o mximo possvel s
novas situaes (novas melodias), o SE se auto edita, ampliando e/ou corrigindo o seu banco
de regras atravs de procedimentos de Redes Neurais [5].
5- Clones
Um fator que exigia do SIEDP um tempo maior de processamento, quando da verso
original, era o aparecimento e permanncia de clones, isto , valores repetidos que, por
possurem pesos iguais, permaneciam na listagem dos 50 melhores resultados em todas as
geraes a partir da qual apareciam. A nova verso do SIEDP possui uma rotina que remove
os clones que aparecem em cada gerao do Algoritmo Gentico. Dessa forma, necessrio
um nmero menor de geraes (e por conseqncia tempo e clculo computacional menores
de processamento) para que se possa encontrar o dedilhado timo.
6- Previso do tempo de processamento
Na verso original do SIEDP, o nmero de geraes depois das quais o AG
apresentaria o melhor valor encontrado era definido pelo usurio que tinha de saber quantas
geraes seriam necessrias para que o melhor valor fosse realmente o valor timo. Como o
nmero de notas era definido como sendo de no mximo 10, bastava ao usurio saber um
nico valor que seria aplicado a qualquer situao. Com o SE podendo trabalhar com um
nmero qualquer de geraes, torna-se um problema saber o nmero de geraes depois das
quais se ter o dedilhado timo. Para resolver este problema, foi utilizada, para calcular a
quantidade provvel de geraes necessrias, a seguinte frmula:
G
o
= int (K.N
d
*10
19
/ N
c
)
Onde G
o
o nmero provvel de geraes depois das quais ter-se- o
resultado timo, N
d
o nmero de dedilhados possveis para a melodia que est sendo
analisada, N
c
o nmero de valores por gerao (atualmente 50) e K a constante de
Boltzmann (considerando apenas seu valor numrico 1,3805 * 10
-16
). A aplicabilidade da
Constante de Boltzmann no SIEDP pode ser justificada partindo-se da idia de que a
obteno de valores a partir do AG um sistema catico e assim, podermos afirmar que
possui uma variabilidade informacional que se comporta de forma semelhante entropia dos
elementos fsicos. A prpria frmula utilizada para encontrar o valor de G
o
no passa de uma
adaptao da Frmula da Entropia de Boltzmann s necessidades de processamento do
SIEDP [6].
7- Prosseguimento da pesquisa
O presente trabalho tem como objetivo principal trazer melhorias ao SIEDP, que
uma ferramenta utilizada para encontrar o dedilhado timo de uma melodia pianstica. O
sistema inicial possua algumas restries quanto interface do usurio, mdulos do AG, SE e
funo fitness (usado no clculo do comprimento do dedilhado). A partir desta pesquisa, uma
melhora substancial foi proporcionada ao sistema uma vez que foram resolvidos os problemas
acima descritos. Alm disso, foi adicionado ao sistema o conceito de Redes Neurais, para
que o SE possa se adaptar novas situaes.
Acredita-se que a melhor forma de se testar um sistema seja atravs de sua
utilizao prtica. A principal melhoria para alunos de msica utilizarem o sistema foi a
melhoria na interface. Agora os alunos podem entender com mais facilidade o propsito e
funcionamento do atual sistema.
8- Referncias
[1] VIANA, A. B., Sistema Inteligente para o Ensino do Dedilhado Pianstico SIEDP.
Dissertao de Mestrado. Universidade Federal da Paraba, 1998.
[2] VIANA, A. B., CAVALCANTI, J.H.F, ALSINA, P.J. Sistema Inteligente para a
Escolha do Melhor Dedilhado Pianstico. V SIMPSIO BRASILEIRO DE
COMPUTAO E MSICA. 3-5 de Agosto de 1998. Belo Horizonte - MG.
[3] GREFENSTETTE, J. J. Optimization of Control Parameters for Genetic Algorithms.
IEEE Transactions Systems, Man, and Cybernetics, vol. SMC-16, n1, 1986. p. 122-
128.
[4] Encarta. Encyclopedia. Microsoft, 1997.
[5] GAINES, B. R., BOOSE, J. H. Knowledge acquisition for knowledge-based systems,
vol.1, Academic Press Limited, 1988.
[6] MORIN, Edgar. O mtodo vol. 1- a natureza da natureza, 3 ed, Publicaes Europa-
Amrica Ltda, 1999.
O ensino da msica na escola fundamental: um estudo exploratrio
Alcia Maria Almeida Loureiro
aliciamalmeida@zipmail.com.br
Resumo: O trabalho em foco pretende refletir sobre o entendimento do atual processo e da
dinmica do fenmeno musical dentro das instituies escolares de ensino fundamental. A
abordagem do tema atravs da confluncia de dois caminhos: o da pesquisa bibliogrfica e o da
pesquisa de campo, possibilitou-nos o entendimento de uma prtica educativa musical praticamente
inexistente dentro do contexto escolar. A reflexo terica, a partir do material escrito sobre
Educao Musical, revelou-nos uma acentuada desarticulao entre o falar sobre msica e o
fazer musical, o que acabaria por apontar, sob a tica de atores envolvidos no trabalho de campo,
para o uso e funes inadequados da prtica musical, em desarmonia com a realidade do aluno e
dissonante com o contexto sociocultural brasileiro.
Palavras-chave: Ensino de Msica, Ensino Fundamental, Currculo
Abstract: This project in focus intends to reflect about the understanding of the process and the
dynamic of the musical phenomenon inside the elementary educational institutions. The themes
approach embodies the confluence of two ways: the bibliographical research one and the field
research one made possible the understanding that the musical educational practice is almost non-
existent within the school context. The theoretical reflection based on the written material about
musical education revealed us an extreme disconnection between talking about music and the
making of music which would end up, through the eyes of agents involved whit the field work,
pointing to the musical practices inappropriate use and function, in disharmony whit students
reality and dissonant with the Brazilian social-cultural context.
Keywords: Teaching Music, Elementary School, Curriculum
Este estudo teve por objetivo analisar o ensino da msica na escola
fundamental. Para compreendermos melhor as razes que levaram a msica a se distanciar
do cotidiano escolar brasileiro buscamos o apoio da literatura atual em Educao Musical
confrontando-a com a fala de especialistas da rea e de professores incumbidos de seu
ensino numa escola pblica estadual de Belo Horizonte.
No que diz respeito aos tericos da Msica, especialmente os que tratam da
Educao Musical, h o consenso de que a funo e o significado do ensino de msica na
escola fundamental esto aqum dos que hoje lhe so atribudos.
A literatura veio contribuir para o esclarecimento das questes iniciais
apontadas neste trabalho, tornando evidente que, embora ausente dos currculos, a educao
musical est em busca de novos caminhos.
Vimos ao longo deste estudo, que o ensino da msica no Brasil passou por
perodos de grande efervescncia sonora interrompidos, entretanto, por momentos de
angustiante silncio. medida que nos aprofundvamos em nossa reflexo sobre o ensino
da msica como prtica escolar, esses momentos tornavam-se esclarecedores para o
entendimento da funo atribuda msica como disciplina escolar.
Nas ltimas dcadas, o ensino da msica vem sendo praticamente excludo do
currculo escolar do ensino fundamental das escolas brasileiras. Sua prtica no vem sendo
trabalhada sistematicamente, decorrendo da estar condenada a permanecer fora do
contexto das propostas pedaggicas de prticas educacionais.
O quadro bastante desolador do ensino da msica na escola fundamental, com
pouqussimos professores de msica atuando de forma efetiva e educativa, e com milhares
de alunos distantes do contexto prazeroso e relevante do fazer musical, levou-nos a refletir
sobre esta prtica e sua complexidade dentro do cotidiano escolar.
Este trabalho, que busca compreender o sentido e o significado da educao
musical no ensino fundamental, traz como objetivo central detectar e analisar o silncio
musical nas escolas e suas implicaes no processo de trabalho escolar.
Nesta perspectiva, realizamos um estudo histrico buscando elementos que
pudessem ajudar a entender este processo de esvaziamento pelo qual passou o ensino da
msica que, como j foi mencionado, terminou por afast-la de nossas escolas, fazendo
com que nelas no se cante mais.
A pesquisa teve como marco histrico o perodo compreendido entre 1930 e
1980. A escolha deste marco se justifica pela importncia que a msica ocupou na
educao brasileira no contexto da Era Vargas e pela crise em que j se encontra no incio
da dcada de 80 do sculo passado, em virtude das mudanas introduzidas no ensino desta
disciplina pela Lei n 5692/71.
O estudo realizado evidenciou as premissas reguladoras dos fundamentos do
ensino da msica no Brasil neste perodo. Nelas podem-se observar diferentes perspectivas
que acabaram por gerar propostas curriculares diferenciadas.
O ensino da msica atravs do Canto Orfenico e da Iniciao Musical (dcada
de 30) absorveu, respectivamente, o mesmo discurso modernista de musicalizar a todos,
embora por caminhos diferentes: o primeiro, por intermdio da educao de massa,
buscando musicalizar os alunos da escola pblica; o segundo, a partir do iderio
escolanovista, voltava-se para o atendimento individualizado da criana.
Mais tarde, nos anos 70, dentro da tendncia tecnicista, surge uma proposta
curricular com a integrao das artes e um professor que tecnicamente deveria estar
preparado em vrias linguagens artsticas, proposta esta influenciada pelo movimento arte-
educao em efervescncia no pas, neste perodo.
De acordo com a nova poltica alteraes so realizadas no currculo das
escolas. Entre estas modificaes, a disciplina Msica passa a integrar, juntamente com as
Artes Plsticas e o Teatro, a disciplina Educao Artstica, estabelecida pela Lei n
5692/71.
Embora acreditassem na possibilidade de desenvolver a sensibilidade pelas artes
e o gosto pelas manifestaes artstico-estticas, na prtica, o que ocorreu foi uma
interpretao equivocada dos termos integrao e polivalncia, que terminou por diluir os
contedos especficos de cada rea ou por exclu-los da escola. A partir deste momento, o
ensino da msica na escola de ensino regular vem sendo sistematicamente desvalorizado no
mbito educacional brasileiro.
A presente comunicao se prope a explorar os discursos que orientaram a
trajetria do ensino da msica na escola fundamental brasileira, analisando sua gnese, sua
natureza scio-pedaggica e suas conseqncias para o ensino desta disciplina.
Atravs desta anlise foi possvel compreender que o ensino da msica hoje
requer uma proposta curricular que considere as diferenas culturais, o respeito
individualidade e s experincias de cada aluno e, principalmente, as vivncias musicais
que eles trazem para dentro do espao escolar.
Nessa trajetria, marcada por transformaes culturais, sociais e polticas, o
ensino da msica refletiu a influncia de diversas concepes pedaggicas das
concepes tradicional, progressista e, mais recentemente, da concepo interacionista.
Entretanto, pudemos constatar a predominncia da abordagem tradicional nas prticas
educativas musicais. Esse fato se evidenciou na escola pesquisada, mesmo apesar de as
professoras entrevistadas terem participado do Projeto Msica na Escola, da Secretaria de
Educao de Minas Gerais, no perodo de 1997/98. Atravs da anlise de seus depoimentos,
observamos que a msica foi utilizada, inicialmente, como suporte didtico no processo de
alfabetizao e como apoio para a manuteno da disciplina escolar: A msica pode
ajudar na disciplina. O ritmo ajuda na alfabetizao, na multiplicao. (Professora D);
Esse ano eu no coloquei a msica ainda. A sala est mais tranqila. O ano passado eu
estava com uma turma muito difcil. A eu colocava muita msica. (Professora C). Hoje,
sua prtica est restrita a festividades do calendrio escolar: O jeito que eu dou desta
forma. com musiquinha no dia que a gente pode, no dia que o som est liberado. E,
tambm, essas questes de homenagens do Dia das Mes, Dia dos Pais. A, a gente
introduz a msica. (Professora B); No h atividades com msica com freqncia. S em
festas, danas, festas comemorativas. S em festinhas, assim que eu uso. (Professora C).
Alm disso, verificamos que a vivncia musical cotidiana das professoras e as
orientaes recebidas durante o desenvolvimento do Projeto Msica na escola, no foram
suficientes para afinar o canto dessa escola com a realidade musical do seu aluno.
Apesar de existir um consenso entre a produo cientfica, as educadoras
musicais e as professoras de ensino fundamental sobre a importncia da msica na
educao da criana e do jovem, como mostra a pesquisa, sua implementao na escola,
quando ocorre, est muito distante de seu verdadeiro significado priorizando, como j foi
mencionado, aspectos disciplinares e atividades festivas.
O fato que se h msica como disciplina escolar, pouco tempo reservado
para a sua prtica, a no ser como recreao ou como recurso didtico, auxlio imediato
para a promoo de festas escolares ou para minimizar as dificuldades no processo de
ensino e de aprendizagem. Os professores continuam reduzindo essa disciplina realizao
de atividades ldicas, com aspectos agradveis, em que o produto final mais importante
do que o processo de aprendizagem que busca, como objetivo, a aquisio de um novo
conhecimento.
A msica como atividade educativa, quando inserida no contexto escolar
encontra ainda uma srie de limitaes, tais como carncia de material msico-pedaggico,
salas adequadas, tempo disponvel reduzido, alm de turmas numerosas e heterogneas.
Outro limite que se impe educao musical escolar diz respeito ausncia de
um mtodo atrativo e realista que, em concordncia com o desenvolvimento psicossocial do
aluno, lhe possibilite um aprendizado prazeroso, acessvel e voltado para o seu crescimento
pessoal. So raras as escolas que dispem de um trabalho musical bem orientado e
metodologicamente estruturado, com possibilidades de garantir a sua continuidade. O
processo de ensino-aprendizagem requer constante adequao e renovao de atividades e
de materiais msico-pedaggicos, conhecimento e disponibilizao de recursos
metodolgicos que possam promover as condies necessrias como forma de assegurar a
apreenso do conhecimento musical, o constante interesse do aluno e que, assim, possa
devolver a alegria musical.
O espao acadmico, nesse sentido, pode ser um produtor de msica. Isto
significa que a escola pode abrir caminhos para um fluxo amplo de idias, de fantasias,
estreitando laos nas relaes sociais, estimulando a criatividade nos indivduos e nos
grupos. Contudo, preciso dar educao musical um carter progressivo, que deve
acompanhar a criana ao longo de seu processo de desenvolvimento escolar. Momentos
devem ser adaptados s suas capacidades e interesses especficos. preciso ter conscincia
e clareza para introduzir o aluno no domnio do conhecimento musical. Isso significa que
fundamental o papel da escola no estudo da cultura musical, pois nela, como terreno de
mediao, podero ocorrer as trocas de experincias pessoais, intuitivas e diferenciadas.
Da a necessidade de no perdermos de vista as prticas musicais que respondem a
movimentos sociais e culturais que vo alm dos muros da escola mas refletem, mais cedo
ou mais tarde, no interior da sala de aula.
Desacertos so cometidos no ensino da msica em decorrncia do
desconhecimento da natureza dos elementos fundamentais como o som, o ritmo, a melodia,
o ouvido musical, a harmonia e a inspirao no momento do fazer musical. Para isso,
necessrio considerar bases novas, mais amplas, que nos possibilitem transcender e
libertarmo-nos das idias preconcebidas que entraram no decurso do ensino de msica. No
necessrio rejeitar os valores tradicionais. O que importa entender que existe hoje uma
diversidade de formas de pensar, de lidar e de gostar de msica revelados no cotidiano
escolar que devem ser considerados na articulao e no entrelaamento da construo do
conhecimento musical.
Entendemos que preciso romper com os mecanismos que fazem com que a
escola simplesmente tome para si a postura de reafirmar a familiaridade musical dada a
alguns por seu meio sociocultural. O objetivo principal est na grande massa escolar, em
milhares de alunos de escolas pblicas e privadas que, na ausncia de uma poltica
educacional coerente com a formao plena do aluno, encontram-se desprovidos de uma
educao musical que os acompanhe no percurso da escolaridade bsica.
O silenciamento das escolas foi conseqncia de um processo em que pesaram
fatores de ordem poltica, cultural e pedaggica. Dessa forma, no basta apenas reintroduzir
a msica no currculo escolar das escolas. Sua insero no universo escolar depende, antes
de mais nada, de uma reflexo mais profunda da atual realidade educacional brasileira para
que nela a msica possa ser vista e entendida como um componente curricular importante
para a formao do indivduo como um todo.
Depende, ainda, de uma vontade poltica e de investimentos, sobretudo na
formao do professor. Se, atualmente, so raras as escolas que se propem a realizar um
trabalho bem orientado e metodologicamente estruturado para o ensino da msica, no
menos rara a presena do professor especializado para dispor-se a um trabalho dinmico e
de qualidade.
Dessa forma, as indicaes nos Parmetros Curriculares no so suficientes
para romper esse silncio que ecoa no interior das escolas. Fruto de uma poltica
educacional equivocada, esse silncio que calou as vozes de milhares de crianas e jovens,
deve se constituir num ponto de partida para um novo caminho para a msica na escola.
Caminho esse pautado pelo seu entendimento como uma linguagem com possibilidades de
transformar, modificar e estabelecer uma nova concepo de homem, de sociedade e de
mundo.
Esses parecem ser, no mago da situao, os maiores obstculos para a incluso
da msica na escola de ensino fundamental do pas.
preciso, em nome do resgate da alegria escolar (Snyders, 1992), tomarmos
conscincia das verdadeiras carncias pedaggicas no domnio do ensino musical e projetar
um plano estratgico, transparente e inovador, que tenha objetivos claros e bem definidos
que possam ser efetivados no cotidiano da vida escolar.
A escola, como espao de construo e reconstruo do conhecimento, pode
surgir como possibilidade de realizar um ensino de msica que esteja ao alcance de todos.
A ousadia ficaria por conta de tentativas de democratizar o acesso arte, de se projetar
nesta tarefa de renovao, reconstruo e, mais ainda, de apoiar as atividades pedaggicas
musicais, considerando-as qualitativamente significativas.
Se o verdadeiro objetivo aproximar o aluno da msica, levando-o a gostar de
ouvi-la, apreci-la e compreend-la, preciso, com urgncia, preencher o vazio musical no
cotidiano escolar o qual, ao mesmo tempo, como num acellerando, deixa-se escapar aos
nossos olhos, e como um allargando, deixa-se escapar aos nossos ouvidos.
Nessa perspectiva, ao buscar elementos para compreender a atual situao do
ensino da msica na escola fundamental brasileira, acreditamos estar contribuindo para o
debate e o dilogo necessrios reintroduo da msica no universo escolar, certos de que,
para isso, h um longo caminho a ser percorrido.
No podemos permitir que a msica se cale nas escolas brasileiras.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
LOUREIRO, Alcia M. Almeida. O ensino da msica na escola fundamental: um estudo
exploratrio. 2001. Dissertao (Mestrado) Universidade Catlica de Minas Gerais.
SNYDERS, George. A escola pode ensinar as alegrias da msica? So Paulo: Cortez,
1992.
Projeto Msica na Escola - Mdulo I - Proposta de Prestao de Servios, Belo
Horizonte, fev. 1997.
Projeto Msica da Escola A msica das Escolas Pblicas do Estado de Minas Gerais,
1998.
Projeto Msica na Escola Mdulo II Proposta de Prestao de Servios, Belo
Horizonte, 1998.
Legislao
BRASIL. Lei n. 5692, de 11 ago. 1971. Reforma do ensino de 1 e 2 graus, 1971.
BRASIL. Ministrio da Educao e do Desporto. Parmetros Curriculares Nacionais:
Arte. Ensino de primeira quarta sries, 1997.
BRASIL. Ministrio da Educao e do Desporto. Parmetros Curriculares Nacionais:
Arte. Ensino de quinta oitava sries, 1998.
1
Entrevistando docentes universitrios/ professores de instrumento:
convites ao dilogo
Ana Lcia Louro
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
analouro@aol.com
Resumo: Esta comunicao relata um recorte do processo de coleta de dados de uma pesquisa
realizada a partir de entrevistas com dezesseis professores de instrumento que lecionam em trs
diferentes universidades do Rio Grande do Sul (Brasil). O foco desta investigao a construo
de identidades profissionais desses professores e a metodologia centra-se na Histria Oral. A
partir de uma questo metodolgica especfica: Como dialogar com amigos chegados em
entrevistas de histria oral, mantendo-se a abertura para pontos de vista diferentes? Procura-se
ampliar as reflexes para a temtica do dilogo, presente em todo o processo da pesquisa. No
final, ao se referir sobre anlise de dados sugerida a possvel contribuio dessa investigao
para subsidiar dilogos entre diferentes subreas na rea de msica.
Palavras-chave: dilogo; professores de msica; entrevistas
Abstract: This presentation deals with the data collection process of one research developed
through interviews. Sixteen instructors from three different Rio Grande do Sul (Brasil)
universities were interviewed, this instructors teaches instrumental courses in the under-
graduation level. The research focus on the construction of their professional identities. The
methodology is based on Oral History, staring from a specific methodological issue: How to
develop a dialogue with close friends on Oral History interviews and, at the same time, keeping
the possibility of different view points? The dialogue issue is amplified for all the research
process. Finally, when talking about data analyses possibilities of this research to inform
dialogues between different subfields of music is suggested.
Key-words: dialogue; music teachers; interview
Nesta comunicao relatada uma pesquisa que trata sobre docentes
universitrios/professores de instrumento, entendidos como os professores que lecionam
disciplinas de instrumento principal nos cursos de bacharelado em msica, focalizando
processos de construo de suas identidades profissionais.
As seguintes questes permeiam a pesquisa: Quem so os professores que
ensinam instrumento nos cursos de bacharelado?
1
Como falam de si mesmos? Como
falam das definies que os outros colegas de curso, e de outras reas acadmicas
1
Apesar das perguntas estarem sendo feitas no impessoal eu tenho conscincia que o fato de ser professora
universitria da rea de msica informa a minha anlise
2
fazem deles? Como se relacionam com as identidades do seu ofcio de ensinar
instrumento a nvel universitrio construdas historicamente pelos seus grupos sociais?
De que maneira esse modo de se narrar a si mesmos diz de seus grupos sociais? Tais
questes foram formuladas a partir de questionamentos profissionais trazidos pelos
professores, presentes na literatura e/ou nas reflexes sobre minhas experincias
pessoais.
Participaram da pesquisa dezesseis professores de trs universidades federais
localizadas no estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados est ocorrendo em trs
momentos: aps um contato inicial, foi feita uma primeira entrevista com os todos os
professores, posteriormente foi feita uma segunda entrevista, e em alguns casos uma
terceira. As segundas entrevistas tiveram como ponto de partida a transcrio da primeira
e posteriormente perguntas baseadas na citaes de trechos da entrevista anterior. Num
terceiro momento ser apresentada aos professores a transcrio da segunda entrevista.
As entrevistas citadas nesta comunicao advm das primeiras entrevistas, mas sua
anlise est informada pelo momento atual da pesquisa. Outras anlises das primeiras
entrevistas e a descrio desse processo de coleta de dados podem ser vistos em Louro e
Arstegui (2003).
Um dos aspectos desafiadores da presente pesquisa que vrios professores so
meus colegas e/ou amigos prximos. Essa se torna uma questo metodolgica relevante
considerando a pergunta: Como dialogar com amigos chegados em entrevistas de
histria oral, mantendo-se a abertura para pontos de vista diferentes? Nesta comunicao
gostaria de destacar esse problema metodolgico enfrentado na pesquisa citada.
Esse texto foi originalmente escrito como trabalho final da disciplina
Hermeneutics and Constructionism que assisti durante meu doutorado sanduche na
University of Illinois nos Estados Unidos. O texto original trazia mais citaes sobre
filosofia hermenutica e sobre dilogo genuno, enquanto conceito central do texto.
Considerando que a questo central, exposta anteriormente, se mostra igualmente
instigante para um relato da pesquisa, estou apresentando o presente texto nesse
congresso com as devidas adaptaes.
Entrevistando uma amiga
3
Em maio de 2001 fiz a primeira entrevista com um dos professores que minha
amiga. Ns comeamos almoando juntas e conversando como boas amigas. Quando
chegamos ao seu apartamento ela se sentou de forma confortvel no sof e me disse
Ento vamos trabalhar? Eu perguntei se ela tinha alguma pergunta sobre a pesquisa.
Ela respondeu: No. Eu estou aqui para responder as tuas perguntas. Ela imaginou que
eu tinha um questionrio fechado, quando na realidade as perguntas eram de carter
aberto. Nesse momento eu tentei explicar que mais que simples perguntas e respostas eu
gostaria de saber, de forma mais livre de um esquema rgido de entrevista, a opinio
dela enquanto professora de instrumento que atua em cursos superiores.
Esta professora, como os outros, havia respondido ao meu convite de participar da
pesquisa feito a todos os professores efetivos que atuam com disciplinas de instrumento
nas trs universidades pblicas do Rio Grande do Sul. Como eu tambm tenho esse tipo
de atuao muitos dos professores contatados so meus amigos, alguns de forma bastante
prxima. Considerando-se que o tipo de pesquisa, entrevista de Histria Oral, que era
proposto, a amizade antes de ser um empecilho se tornou um fator de reflexo para a
minha estratgia metodolgica.
Eu estava cansada naquele dia, por essa razo algumas vezes eu fazia perguntas
mecanicamente. Em alguns momentos eu utilizava a estratgia de s ouvir o que ela
estava falando, tentando no demonstrar a minha desaprovao atravs de palavras ou
linguagem corporal. Por exemplo, quando ela falou da relao professor - aluno
enfatizando a necessidade de rigor por parte do professor com a qual eu no concordava.
Tentei mostrar o menos possvel de que eu no estava de acordo com o que ela estava
dizendo. Foram momentos como esse que me fizeram pensar na questo: Por que era to
difcil fazer com que meus amigos mais chegados falassem em profundidade sobre as
suas experincias profissionais? Falar em profundidade para mim significa colocar em
palavras as construes de significados que esto presentes no processo de falar das suas
prprias experincias. Naquele momento, como em outros ao longo da pesquisa, eu tive
medo de que a tenso entre diferentes opinies sobre a nossa profisso pudesse gerar
conflitos que perturbassem a nossa relao de amizade. Para mim perd-la como amiga
sempre foi um problema maior do que perd-la como participante da pesquisa. A questo
4
que permaneceu para o processo da metodologia da pesquisa foi Quais estratgias
podem ser usadas para convidar os participantes a falar com profundidade sem gerar uma
tenso que perturbe minha relao com eles, seja essa de amizade, mais ou menos
profunda, e/ou de coleguismo, mais ou menos intenso?
No final da entrevista ela mudou novamente para as nossas conversas de amigas,
como ela tinha feito no comeo, e terminamos a entrevista com ela caminhando comigo e
me perguntando sobre questes relacionadas minha vida pessoal. Ao longo dessa
entrevista eu ia me dando conta de que eu precisava mais do que regras sobre como
conduzir a entrevista, eu precisava de estratgias flexveis que me auxiliassem a decidir
as melhores atitudes a tomar.
P Pr ro oc ce ed di im me en nt to os s o ou u e es st tr ra at t g gi ia as s m me et to od do ol l g gi ic ca as s? ?
As experincias anteriores de pesquisa geralmente influenciam a maneira como se
compreende o significado da construo da metodologia de pesquisas mais recentes.
Como algum que teve uma experincia de um design experimental na minha pesquisa
de mestrado (Louro, 1995) eu tenho a tendncia de enxergar o mtodo como algo que
gera conhecimento. Na medida em que o processo da presente pesquisa, que possui um
desenho qualitativo, foi avanando tambm foi tornando-se mais clara a minha
compreenso da diferena entre buscar procedimentos na minha metodologia que
conduzissem a achados e a interpretao da construo de significados.
O que era difcil de compreender no comeo da presente pesquisa era que o tipo
de conhecimento que eu estava buscando no era necessariamente gerado pelo mtodo
mas pelas maneiras que o significado construdo no processo da pesquisa. Schwandt
(1997) um dos autores que aponta uma variedade de crticas sobre a concepo de que o
conhecimento gerado unicamente pelo mtodo. Ele aborda como exemplo a filosofia
hermenutica que
Desafia a idia de que a compreender o nosso mundo social deve ser determinado pelo
mtodo, e de que o conhecimento produto de uma conscincia metdica...Um
pesquisador ps-moderno pode utilizar uma estratgia como a desconstruo mas nunca
um mtodo. Essas estratgias devem permitir o paradxico de mltiplos significados e do
jogo de infinitas variedades de interpretao (p.160-161).
5
Mais do que uma querela em torno da possibilidades de exposio matemtica das
questes em estudo ou validao de um estudo que no tomo uma totalizao da
sociedade como objeto (Boudon,1989) a questo trazida por Schwandt parece centram-se
na tomada ou no de uma teoria da significao relacional (Oliva, 1989) na construo
das metodologias de pesquisa. Sendo assim no as possibilidades determinstica, do uso
de hipteses ou a capacidade de generalizao do estudo de um recorte pontual que est
sendo questionado mas a aquisio do conhecimento que no se desenvolve pelo mtodo
de maneira apriorstica e sim nas relaes que so estabelecidas entre as estratgias
metodolgica e as construes de significados ao longo do processo da pesquisa.
A busca de possibilidades de dilogos
Na entrevista que mencionei anteriormente como exemplo escolhi a estratgia do
silncio. Minhas respostas eram em geral eu estou ouvindo voc atravs da voz ou da
linguagem corporal. Silncio nesse momento significava arriscar meus preconceitos
porque eu estava dando espao para ela falar e espao interno em mim de ouvi-la. Esse
processo de construo de um espao onde eu tentasse ouvi-la, mais ou menos sob a sua
tica prpria, pode ser compreendido como um acordo de interpretao. Como
explicado por McFadzean, no seu artigo sobre o uso da filosofia hermenutica em
entrevistas de Histria Oral, importante chegar a um acordo de interpretao:
A Hermenutica um processo dialogal no qual a compreenso de um texto iniciada
atravs do desenvolvimento de um acordo de interpretao entre o autor do texto e o
historiador....O segundo processo o dilogo hermenutico entre o entrevistador e o
sujeito, que o testemunho gravado, um acordo interpretativo (MacFadzean, 1999, p.32).
No caso da minha pesquisa, esse acordo no significa no apontar as diferenas de
opinio entre os participantes e eu, mas que os meus entrevistados tero uma voz na tese,
e que essa voz ser retratada da maneira que ns, juntos atravs de um acordo,
estabelecemos. O meu silncio faz parte do estabelecimento desse acordo, na medida que
abre espao para a escuta. Tal silncio no significava um procedimento de entrevista.
O que eu precisava era uma reflexo bem feita sobre o processo da entrevista; para ser
utilizada nos momentos em que se fizesse necessrio, essa estratgia ou outras. A
6
grande estratgia apenas estar aberta, no me aprisionar nos meus preconceitos
iniciais, mas saber que eles sempre estariam presentes tanto como a minha inteno de
estar aberta para o dilogo.
O dilogo presente em todo o processo da pesquisa
Essa necessidade da busca de um dilogo que se reala como uma preocupao de
estratgia metodolgica tambm permeia todos os outros momentos da pesquisa. Dessa
forma nesse momento em que estou analisando os dados e escrevendo a tese eu
novamente me encontro em busca desse dilogo. Dentro dos temas que vo surgindo, um
parece especialmente falar de dilogo, dessa vez entre professores performers e
professores de outras subreas. Como um dos professores entrevistados que menciona a
separao dos professores por reas de atuao e a ausncia de um dilogo mais fecundo
entre eles.
O dilogo estudado como uma boa estratgia metodolgica tambm a proposta
de reflexo trazida para a pesquisa, de que para alm da coleta de dados e busca de
possibilitar o reconhecimento das vozes, o dilogo presente na pesquisa tambm possa
ser um convite aos colegas na rea de msica. O tema presente nas entrevistas do
dilogo ou no entre reas performticas e no-performticas, e outros temas sero
discutidos visando instrumentalizar os dilogos possveis dos professores da rea de
msica em suas reflexes sobre suas prticas, de forma individual ou como parte de
grupos em busca da melhoria constante dos fazeres de nossos ofcios.
Referencias Bibliogrficas:
BOUDON, Raymond. Os mtodos em sociologia So Paulo: tica, 1989.
LOURO, Ana Lcia e ARSTEGUI, Jos Luis Docentes universitrio/professores de
instrumento: suas concepes sobre educao e msica. Porto Alegre, Em pauta,
nmero14, vl.22, 2003. (no prelo).
7
LOURO, Ana Lcia. Reproduo de canes: processos cognitivos na interao com as
estruturas musicais. Dissertao (mestrado em Educao Musical)- Programa de Ps-
graduao em msica, Universidade Federal Rio Grande do Sul, 1995.
McFADZEAN, Andrew. Interviews with Robert Bowie: The use of Oral Testimony in
writing the biography of professor Robert Richardson Bowie, Washington policy planner
and Harvard university professor New York, Oral History Review 26/2,p.29-46, 1999.
OLIVA, Alberto Critrios de demarcao, recodificao emprica do extracientfico e
teoria relacional In Carvalho, Maria Ceclia Maringoni Paradigmas filosficos da
atualidade Campinas: Papirus, 1989. p.249-288.
SCHWANDT, Thomas A. Dictionary of qualitative inquiry, London: Sage publication,
1997.
En busca de la nacionalidad, un caso mexicano
Ananay Aguilar Salgado
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
ananayaguillar@yahoo.com
Resumen: Este texto se preocupa especficamente en mostrar cmo Mario Lavista, compositor
mexicano nacido en 1943, toca el tema de la nacionalidad, aun siendo un autor libre de cualquier
corriente nacionalista. Basada en el anlisis tanto musical como de contexto de su pera Aura, se
ver cmo a partir de una temtica universal, con un lenguaje armnico y una estructura
aparentemente sin ninguna referencia a su pas de origen, su primera pera resulta construida
sobre una concepcin que se revela en su ms ntima acepcin como netamente mexicana.
Palabras clave: mexicanidad, pera, estructura circular
Abstract: This text specifically shows how Mario Lavista, a Mexican composer born in 1943,
touches the subject of nationalism, while being an author free of any nationalistic current. Based
on a musical as well as a contextual analysis of his opera Aura, it will become clear how from an
universal thematic, with a harmonic language and a structure apparently without no reference to
its country of origin, his first opera is constructed on a conception that reveals in its more intimate
meaning as purely Mexican.
Key words: mexicanism, opera, circular structure
Basado en mi tesis Aura, un anlisis de la pera de Mario Lavista, este texto se
preocupa especficamente en mostrar cmo Mario Lavista, conciente o inconcientemente,
toca el tema de la nacionalidad, aun siendo un autor libre de cualquier corriente
nacionalista. Se ver cmo a partir de una temtica universal, con un lenguaje armnico y
una estructura aparentemente sin ninguna referencia a su pas de origen, su primera pera
resulta construida sobre una concepcin que se revela en su ms ntima acepcin como
netamente mexicana.
Nacido en 1943, Mario Lavista tuvo bsicamente la misma formacin que sus
contemporneos latinoamericanos: estudi en Paris con Nadia Boulanger y Jean Etienne-
Marie, particip de seminarios ofrecidos por Henri Pousseur y Christopher Caskel y en
cursos dictados por Karlheinz Stockhausen y Gyrgy Ligeti y asisti a los estrenos de
obras ya clsicas como algunas de Boulez y Berio. De regreso a Mxico se dedic a la
improvisacin, especficamente a la creacin-interpretacin simultnea junto a la
experimentacin con medios acsticos.
Despus de la composicin de una serie de obras primordialmente conceptuales y
cansado de la intelectualidad del vanguardismo y su exigencia de renovacin constante,
Lavista comienza a buscar un lenguaje propio mediante el uso de citas, a travs del cual
revelara su afinidad por la historia y su reinvencin. Sin embargo, Lavista afirma su
lenguaje armnico con la adopcin de los intervalos de quinta y tritono, que enriquece
posteriormente a travs de la utilizacin de las nuevas tcnicas instrumentales. Durante la
experimentacin con esas tcnicas escribe una serie de obras para solistas antes de
comenzar a involucrarse con agrupaciones instrumentales mayores y es como
culminacin de esos aos de aprendizaje en ese territorio que surge Aura, su obra de
mayor duracin.
Aura, que lleva el mismo nombre de la obra del mexicano Carlos Fuentes, trata un
tema conocido para todos: el del amor inmortal. Henry James en una de sus obras de
teatro aborda el tema, as como Yukio Mishima, Francisco de Quevedo en su poema
titulado Amor ms all de la muerte, y otros tantos autores de todos lo tiempos,
nacionalidades y gneros. El libreto, basado sin embargo enteramente en la obra
homnima, aborda el tema de la siguiente manera: Felipe Montero, un joven historiador,
entra, movido por un anuncio, a trabajar en la revisin de las memorias del difunto
General Llorente. Como condicin para confiarle el trabajo, la anciana viuda, Consuelo,
le exige vivir en su casa mientras termina. All, la seora le presenta a Aura, su joven y
hermosa sobrina, de quien Felipe se enamora perdidamente. Con el tiempo nos enteramos
de que la supuesta sobrina en realidad es una invocacin mgica de la juventud de
Consuelo y Felipe la reencarnacin del general, continuando la relacin amorosa ms all
de la muerte.
El lenguaje armnico que Mario Lavista utiliza para la realizacin de su obra es
un juego de simetras y asimetras entre la quinta perfecta, el tritono y las terceras
mayores y menores que implica todo el conjunto de sonidos de la escala cromtica. El
sistema tiene adems la caracterstica de partir de lo ms simple la quinta- hacia una
complejidad en aumento segn los niveles de organizacin, los cuales siempre se cierran
sobre s mismos.
La quinta do-sol es el eje fundamental, del que parte y al que vuelve el sistema. El
primer nivel organizacional esta formado por una dupla de intervalos: do-sol y reb-solb.
Ntese que estos intervalos de quinta estn en relacin de tritono, lo que implica que, de
seguirse la serie, se llegara inmediatamente al mismo lugar de partida: do-sol. El
segundo nivel incluye la tercera menor, exactamente la mitad del tritono. Lo que acontece
es similar a lo ocurrido en el nivel anterior: se forma una serie de cuatro quintas que
desembocan nuevamente en el intervalo fundamental. (Ej.1)
Hasta ahora en la creacin de los niveles organizacionales han intervenido las
terceras menores como particin del tritono, y este como mitad de la octava para la
organizacin de una serie de quintas. Sin embargo, los intervalos no han intervenido entre
ellos directamente como suceder en los siguientes niveles.
En el tercer nivel entra a hacer parte la cualidad asimtrica de la quinta,
permitiendo una interesante posibilidad de enlace. Al tomar mi y mib como notas
centrales del intervalo do-sol y unirlo con las notas de los extremos, se forman dos
terceras mayores que se insertan dentro del primer nivel con la siguiente serie: do-mi
mib-sol solb-sib la-do# (reb) do-mi. Nuevamente la serie se cierra sobre s misma.
(Ej.2)
El cuarto y ltimo nivel involucra esta vez la asimetra dentro del tritono,
formando terceras mayores y menores en su interior. Es decir que para el tritono do-fa#
(solb) cabra la posibilidad de inserir en l las terceras do-mib y re-fa# do-mi y mib-
solb. Si una de estas combinaciones se extiende en una serie sucesiva alternando terceras
mayores y menores, puede obtenerse una sucesin de cuatro octavas sin que ninguna se
repita hasta cerrarse nuevamente en la tercera inicial. (Ej.3)
Como pudo observarse, el cuarto nivel de complejidad ya incluye todos los
parmetros que se han ido planteando desde el comienzo: la asimetra de la quinta, el
tritono, las terceras mayor y menor y la caracterstica de cerrarse sobre s mismo.
Sin olvidarnos de esta ltima cualidad, veamos cmo Lavista usa el lenguaje
armnico recin explicado. La obra est formada enteramente por temas que sugieren
algunas abstracciones como el amor, los recuerdos y la transformacin, las invocaciones
y algunos momentos rutinarios, que van entrelazndose unos a otros hasta el final. El uso
del lenguaje armnico se corresponde con los elementos involucrados en la historia de
una manera bastante representativa. As, por ejemplo, la frase inicial, que da paso al
primer tema, el de la casa, ilustra la posibilidad tmbrica de la orquesta de crear msica a
partir de los dos sonidos fundamentales do y sol.
El tema de la casa est basado en el segundo nivel y a medida que van entrando
cada vez ms elementos a la obra (o a la casa de la cual no hay salida) las relaciones
armnicas se hacen cada vez ms complejas. Ntese que, dado que los elementos de los
niveles estn contenidos uno dentro del otro, el sistema permite sobreponer unos sobre
otros con mltiples posibilidades de entramados armnicos que formarn cada uno un
tema distinto. Estos temas no sufren desarrollos en el sentido clsico de la palabra, pero s
transformaciones en su mayora tmbricas.
Recordemos la experiencia de Lavista en el campo de las nuevas tcnicas
instrumentales, que lo lleva a escribir esta obra con la riqueza tmbrica fruto de un
proceso de lenta maduracin. Esta cualidad le permite al compositor darse el lujo de
utilizar los temas armnica y formalmente casi de manera esttica variados slo en su
plasmacin tmbrica, aunque siempre respetando la concepcin inicial, es decir, el
significado sonoro que le imprime a cada uno de los elementos presentes en la historia.
Los temas y motivos que conforman los elementos de la casa al transformarse
transmiten una recurrencia del tiempo, una serie de sucesos repetitivos, que conjugados,
dan paso al desarrollo de una historia cerrada en s misma. La obra de hecho termina
como inici, es la repeticin invertida de los primeros veintids compases: el tema de la
casa, las quintas pertenecientes al primer nivel y, finalmente, el ncleo germinal, al que
todo vuelve.
Ntese que tanto el libreto, que cuenta una historia sobre la recurrencia del
tiempo, el lenguaje armnico, con una concepcin en que cada serie vuelve sobre s
misma y la estructura, de momentos recurrentes que llevan de nuevo al comienzo, como
una serpiente mordindose la cola, contienen cada uno por s mismo y en conjunto la
misma idea intrnseca de circularidad. Aunque podra plantearse que tanto el lenguaje
como la estructura son consecuentes con la historia escogida, no es la primera vez que
Lavista utiliza tal concepcin en la creacin de un lenguaje, ni en su estructuracin, lo
que hace sospechar que la preferencia por la obra de Fuentes no es ni mucho menos
casual.
La continua insistencia lavistiana en el uso de las formas circulares revela un
mayor sentido si se toman en cuenta las influencias aztecas en la cultura mexicana. Estas
se entienden mejor por medio de la explicacin del calendario azteca, pues revela un
mundo vuelto hacia el pasado, dominado por la tradicin. Segn Todorov (1989), en
Occidente la cronologa tiene dos dimensiones: una cclica, que seran los das y los
meses, cuya numeracin se repite cada tanto, y una lineal, representada por la adicin del
ao, puesto que este sigue una sucesin sin repeticin que viene desde y va hacia el
infinito. Por el contrario, entre los mayas y los aztecas, es el ciclo el que domina, pues
aunque tambin existe una sucesin de das, meses y aos, la cuenta de los aos se
reanuda tambin cada cierto nmero de estos, es decir que no estn situados en un tiempo
absoluto. Su historia es entonces, una que se repite continuamente, y su acepcin de los
acontecimientos es slo viable en la medida en que vuelven unos sobre otros. As, por
ejemplo, se conoce el da de una invasin, pero no se sabe si ocurri hace veinte o hace
quinientos aos. Se trata, entonces, de un calendario que descansa en la certeza de que el
tiempo se repite, lo que significa que el conocimiento del pasado lleva al del porvenir; de
ah la importancia que para ellos tiene la profeca, y en relacin con eso, la tradicin. No
es casual el que la imagen del calendario, tanto grfica como mental, est dada por la
rueda.
Volviendo sobre la historia y la preferencia de Lavista por el texto de Fuentes,
vale considerar que al igual que muchos de los artistas coterrneos, este autor siente una
gran afinidad por la historia, como ya se mencion respecto a Lavista. Cabe explicar que
Mxico se destaca entre otros pases latinoamericanos por una fuerte conciencia de su
cultura, su historia, sus lderes y sus ancestros. Aparte del legado irrefutable de la
poderosa cultura azteca, la cercana al hoy en da ms poderoso pas de occidente,
Estados Unidos, Mxico ha luchado mucho por no ser absorbido culturalmente por su
vecino pas. Esto lo confirma una slida formacin histrica y cultural en los colegios,
sumada a unas tradiciones muy distintivas dentro de las cuales las expresiones artsticas
tienen una amplia cabida.
En Aura, en particular, Fuentes toca un tema que es quizs el ms mexicano de
todos: la finsima lnea entre la vida y la muerte. La muerte, un motivo que por lo general
despierta en occidente el temor hacia lo desconocido, la tristeza por la prdida y el culto
por lo oculto y tenebroso, es en este pas motivo de celebracin, como sucede el Da de
los difuntos. El autor, adems, logra insertar el tema de la inmortalidad en un ambiente en
el que se unen la magia, la inevitabilidad del destino y la extemporalidad plasmada a
travs la conjugacin de tiempos que se lleva a cabo en una casa antigua del centro
histrico de la Ciudad de Mxico con la presencia del General Llorente, lo que nos lleva
de vuelta a las formas circulares de acepcin de la vida.
Llegados a este punto, resulta evidente la afirmacin hecha al comienzo. Aunque
se trata de un compositor involucrado en los movimientos que su tiempo le exige, nutrido
por diversas corrientes pertenecientes a Occidente como el mundo conceptual
debussyano, al tiempo que reinterpreta el leitmotiv wagneriano y hace uso de las tcnicas
del renacimiento instrumental italiano, a travs del cual plasma su propio lenguaje
armnico con parmetros universales de simetras y asimetras, Mario Lavista no olvida
que es mexicano, lo que expresa no slo en la circularidad quiz explicable desde la
cultura azteca, sino precisamente en el hecho de la variedad de sus fuentes y en su bien
lograda sntesis. Es as como Lavista logra afirmar su nacionalidad, a la vez que se
sobrepone a la dicotoma que representa el ser latinoamericano.
Bibliografa
AGUILAR SALGADO, Ananay: Aura, anlisis de la pera de Mario Lavista. Tesis de
grado para el ttulo de Terico Musical, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y
Humanidades, Departamento de Msica, Bogot, 2002
CARMONA, Gloria: Lavista, Mario. En: CASARES RODICIO, Emilio, dir.: Diccionario
de la msica espaola e hispanoamericana. Sociedad general de autores y editores, 2000
CORTEZ, Luis Jaime, ed.: Mario Lavista, Textos en torno a la msica. Mxico, D.F.:
CENIDIM, 1988
DELGADO, Eugenio: El lenguaje musical de Aura. En: Revista Heterofona, vol. XXVI,
no. 108, enero-junio de 1993, Organo del CENIDIM, Mxico
FUENTES, Carlos: Aura. Madrid: Editorial Alianza, S.A., 1994
LARA, Ana: Entrevista a Mario Lavista, realizada en diciembre 1992. En: Revista
Heterofona, vol. XXVI, no. 108, enero-junio de 1993, Organo del CENIDIM, Mxico
MORENO RIVAS, Yolanda: La composicin en Mxico en el siglo XX. Mxico, D.F.:
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996
TODOROV, Tzvetan: La conquista de Amrica: el problema del otro. Mxico: Siglo XXI
Editores, S.A. de C.V., 1989
WAGAR, Carol Jeann: Stylistic Tendencies in Three Contemporary Mexican
Composers: Manuel Enrquez, Mario Lavista and Alicia Urreta. Doctoral Dissertation,
Stanford University, 1986
Abordagem Nordoff-Robbins de musicoterapia (musicoterapia
criativa): em que contexto surgiu, o que trouxe e para onde apontou?
Andr Brandalise
abranda@portoweb.com.br
Resumo: Conhecer o contexto histrico de uma profisso fundamental para que seu
desenvolvimento continue ocorrendo de forma coerente. Este estudo terico ilustra, em uma linha
de tempo, as evolues de paradigmas musicoterpicos as entendendo no somente como
movimentos tcnicos mas como marcas poltico-sociais. Neste contexto histrico destacam-se
alguns criadores e suas filosofias. Entres eles, Paul Nordoff e Clive Robbins que, alm de terem
sido pioneiros na contruo de uma abordagem musicoterpica, tendo tido influncia prioritria na
Filosofia da Msica, influenciaram uma nova gerao de musicoterapeutas a alcanar um novo
paradigma de Musicoterapia: o Msico-centramento.
Palavras-chave: musicoterapia; histria; paradigma msico-centrado
Abstract: It is very important to know the historic context of a profession in order for it to
continue to grow in a coherent manner. This theoretical study intends to illustrate, on a time line,
the Music Therapy paradigmatic evolution, seeing it not only as technical improvements but as
important social and political contributions. In addition, it will focus among the various important
creators of Music Therapy, the philosophy of Paul Nordoff and Clive Robbins who, beyond
pioneering and creating an approach to Music Therapy, having had prior influence from Music
Philosophy, have influenced a new generation of Music Therapists that could reach a new
Paradigm to Music Therapy: the Music Centered Approach.
Keywords: music therapy history music centered paradigm
A Musicoterapia possui histria e h que se conhec-la para que se possa, a ento,
descobrir novos caminhos, novas possibilidades, originalidades. Menciono originalidade
fazendo intencionalmente referncia ao reconhecimento da identidade da profisso que surge da
interdisciplinaridade e que se desenvolve rumando ao desenvolvimento e solidificao de um
discurso prprio, de um posicionamento filosfico, prtico e terico prprio implicando em um
tambm singular posicionamento poltico-social.
A Musicoterapia, como profisso, surge aps a Segunda Guerra Mundial e, neste
perodo, era vinculada e possua sua prtica autorizada pela medicina, profisso a qual a
funo do curador sempre esteve associada. O feiticeiro tinha uma funo de mdico e era
ele o escolhido por uma tribo, pelo fato de ser a pessoa que conhecia as frmulas, para se
2
relacionar com o enfermo e com o Deus vingativo ao qual o enfermo havia ofendido
1
. A
musicoterapeuta inglesa Juliette Alvin
2
, em seu livro intitulado Musicoterapia, dizia que a
tarefa do musicoterapeuta moderno aplicar a msica ao tratamento sob a orientao mdica
(...).
Na dcada de 60 e 70 houve o incio da ruptura com o vnculo com a medicina. O
desenvolvimento terico-prtico da Musicoterapia, ento, passou a ocorrer atravs de uma
forte conexo com as chamadas foras da psicologia o que trouxe muito benefcio ao
desenvolvimento da profisso. Deste perodo surgiram os cinco modelos de Musicoterapia que
foram reconhecidos internacionalmente durante o IX Congresso Mundial de Musicoterapia,
realizado na cidade de Washington, em 1999. So eles: Musicoterapia comportamental
(behaviorista), Musicoterapia Analtica (de Mary Priestley), Musicoterapia de Benenzon, o
Mtodo GIM (Guided Imagery and Music) e a abordagem musicoterpica Nordoff-Robbins.
A figura que segue prope uma visualizao clara do que chamei Linha de Tempo e
Evoluo Paradigmtica pretendendo relacionar determinados pensadores, e suas propostas e
influncias paradigmticas, a um entendimento histrico e evolutivo da Musicoterapia mundial.
Cabe aqui ressaltar que este esquema no pretende apresentar as contribuies de outros
profissionais musicoterapeutas em outros setores (clnico, pedaggico, poltico, social etc.)
igualmente importantes para o desenvolvimento da rea.
FIGURA 1: Linha do Tempo e Evoluo Paradigmtica
Musicoterapia Musicoterapia Msico-centramento
e e como Paradigma
Medicina Psicologia Musicoterpico
Sistematizado
[Brandalise, Brasil, 2001]
Diane Austin (1990)
1
Alvin, 1990, p. 41.
2
1990, p. 203.
3
(EUA)
Rolando dith
Mary Priestley Benenzon Lecourt
(Inglaterra) (Argentina) (Frana) Clifford Madsen
(EUA)
Psicanlise Behaviorismo Humanismo
1945 60/70 2001
Nordoff-Robbins GIM
(EUA e Inglaterra, 1974) (EUA,1978)
PRTICAS MSICO-CENTRADAS
NO SISTEMATIZADAS COMO
PARADIGMA influenciam...
No tampouco inteno deste artigo detalhar as caractersticas de todos os modelos
descritos na figura 1. Visa, isto sim, pontuar o movimento histrico em relao evoluo dos
paradigmas em Musicoterapia bem como contextualizar o surgimento de dois modelos
especficos que foram responsveis pelo que considero um legado nova gerao de
musicoterapeutas no mundo: o Mtodo GIM e a Abordagem Nordoff-Robbins.
Simultaneamente aqueles modelos que eram pensados e desenvolvidos em forte conexo com
algumas das linhas da Psicologia, principalmente a psicanlise de Freud e Melanie Klein e o
behaviorismo, os musicoterapeutas Paul Nordoff , Clive Robbins e Helen Bonny criavam e
praticavam os seus princpios motivados pela mais profunda crena no poder tranformacional
da msica e da Experincia Criativa. Provavelmente no tinham conscincia da importncia do
legado que construam para ser deixado s futuras geraes de musicoterapeutas. Tal legado
4
consistia no surgimento de novos pensamentos filosficos e, conseqentemente, no
encaminhamento a novas teorias, novos princpios, novas tcnicas que pomoveriam o
descolamento com a ntima conexo da Musicoterapia com as foras da Psicologia e o rumo
para os descobrimentos das caractersticas intrnsecas do fenmeno prprio da profisso de
Musicoterapia: os FENMENOS MUSICOTERPICOS. Iniciava mais uma importante
etapa evolutiva no processo de construo da identidade singular da profisso.
Helen Bonny
3
dizia que a busca e o encontro dos tesouros da profisso deveriam
ocorrer no "quintal da prpria casa." Trata-se de uma nova etapa histrica onde a escuta e o
olhar do musicoterapeuta passam a acreditar e a buscar estes tesouros prprios. Barbara
Hesser
4
diz que na experincia da msica em nossas vidas e nas vidas das pessoas com as
quais trabalhamos que se encontra a essncia e o corao da Musicoterapia. Se mantivermos
estas experincias como centro de nossas atividades profissionais (prtica clnica, teoria e
pesquisa) naturalmente passaremos a reconhecer os pricpios prprios. Penso que Paul e
Clive encontraram na sua prtica, principalmente na ocorrida na dcada de 60 quando
trabalharam com Edward, Anna, Terry e Audrey
5
, algumas importantes partes deste tesouro e
nos deixaram como legado.
Paul Nordoff costumava citar, entre outros, dois importantes autores: Rudolf Steiner e
Victor Zuckerkandl. O primeiro trouxe a influncia de um pensar o Homem", uma diferente
conscincia sobre a vida. Tambm influenciou Paul e Clive a refletirem sobre a chamada
Euritmia. Steiner a definia como sendo a arte do uso do movimento
6
. A partir de reflexes
sobre o poder do movimento, Nordoff desenvolveu pensar sobre as notas musicais e a
prpria msica. Zuckerkandl, filsofo da msica, foi o pensador que mais influenciou Paul
Nordoff como musicoterapeuta. So significativas as semelhanas entre a obra de ambos
principalmente quando se relaciona Healing Heritage (livro editado por Clive e Carol Robbins
sobre pensamentos de Paul Nordoff publicado em 1998) a Sound and Symbol (livro de
3
Bonny apud Hesser, 1996, p. 14.
4
1996, p. 18.
5
Importantes casos clnicos da Nordoff-Robbins que receberam, de Clive Robbins, a nota mais alta quanto
s suas importncias para a pedagogia da abordagem.
6
Robbins & Robbins apud Nordoff apud Zuckerkandl, 1998, p. 33.
5
Zuckerkandl cuja primeira edio foi publicada em 1956). Zuckerkandl
7
considerava as notas
eventos e dizia que quando ouve-se uma melodia ouve-se uma converso de foras
8
. Paul via
as notas como foras, dotadas de qualidades dinmicas, quando relacionadas umas com as
outras em um sistema. Dizia que os intervalos possuiam dinmica experencial
9
. Para
Zuckerkandl
10
sucesses de notas no eram movimentos em relao a uma ordem baseada
em alturas, mas em relao a uma ordem baseada nas foras das notas. Nordoff concordava e
trabalhava neste sentido. Dizia que quando se trabalha com primeiras e segundas inverses no
se est trabalhando com simples acordes mas com foras dinmicas
11
. Paul e Clive passavam
a desenvolver no somente uma forma de praticar a musicoterapia, como tambm de repensar
os sons e a msica. Em msica experencia-se o mundo
12
. Foi somente em 1973, j com 14
anos de existncia, que o trabalho da dupla foi relacionado viso Humanista de Maslow e, em
1976, a tornaram pblica. Este fato me faz inferir que a abordagem Nordoff-Robbins no
surge, na dcada de 60, sob influncia prioritria de alguma fora da Psicologia mas, da
Filosofia da Msica (influncia prioritria da obra de Victor Zuckerkandl sobre a forma de
aplicar clinicamente os sons e a msica pensadas por Paul Nordoff, que fazem parte da
metodologia terico-prtica da Nordoff-Robbins). Por esta razo o retngulo referente ao
Humanismo, posicionado na figura 1 exposta neste trabalho, no recebeu um direcionamento
relativo a ter influenciado a construo filosfica de nenhum modelo musicoterpico descrito.
A ABORDAGEM MUSICOTERPICA NORDOFF-ROBBINS
(Musicoterapia Criativa)
Em 1958 Paul Nordoff lecionava no Bard College, nos Estados Unidos. Durante seu
ano sabtico foi a Europa e conheceu trabalhos de msica ligados sade. Visitou o Sunfield
Childrens Home onde Clive trabalhava. Retornando aos EUA, solicitou a extenso do seu
7
Victor Zuckerkandl austraco e nasceu em 1896. Mudou-se para os Estados Unidos na dcada de 40 e
escreveu vrios livros discutindo o tema msica.
8
Robbins & Robbins apud Nordoff, 1998, p. 33.
9
Robbins & Robbins apud Nordoff apud Zuckerkandl, 1998, p. 66.
10
1973, p. 95.
11
Robbins & Robbins apud Nordoff, 1998, p. 52.
12
Zuckerkandl, 1973, p. 348.
6
ano sabtico para investigar musicoterapia e teve o pedido negado. Abandonou a Universidade
e retornou a Londres (ao Sunfield).
Em 1959 Paul iniciava trabalho clnico com uma criana chamada Johnny Morrisey (uma
das crianas para as quais Creative Music Therapy
13
foi dedicado). Clive trabalhava como
professor, em educao especial, no Sunfield Childrens Home. Inquietaes o fizeram
encontrar Hep Geuter (que foi sua influncia intelectual) e Paul Nordoff (sua influncia prtica).
Paul e Clive criam Pif-Paf Poltrie e Three Bears (dois famosos jogos sonoro-clnicos).
Paul permaneceu no Sunfield Childrens Home de setembro de 59 a junho de 60.
Em dezembro deste ano, Paul e Clive mudam-se para os Estados Unidos.
Iniciam trabalho clnico com uma menina chamada Audrey, de sete anos de idade).
A maior parte do trabalho da dupla foi desenvolvido na Filadlfia. Segundo Clive o
trabalho surgiu na Inglaterra, mas cresceu na Filadlfia. Surge a primeira formao na
approach (abordagem) que consistia em duas disciplinas na Crane School of Music na State
University of New York (onde Carol Robbins
14
conheceu o trabalho e fez seu treinamento).
Tornam-se, em 1967, Lecturing Fellows da American-Scandinavian Foundation e
divulgavam a abordagem. Logo, comeavam a escrever Creative Music Therapy .
No Goldie Leigh Hospital, em 1974, foi momento significativo na produo e
consolidao da teoria criada por Paul Nordoff e Clive Robbins.
A filosofia de trabalho Nordoff-Robbins visa acessar, na Experincia Criativa, a
originalidade, o novo, o desconhecido. Para que o musicoterapeuta possa facilitar tal processo
preciso que seja educado para que alcance um perfil chamado Musicalidade Clnica que
consiste em uma complementao de caractersticas tais como a liberdade criativa, a
espontaneidade, a intuio, a musicalidade, a responsabilidade clnica (o comprometimento) e a
inteno
15
.
13
Livro publicado por Paul Nordoff e Clive Robbins em 1977.
14
Importante musicoterapeuta Nordoff-Robbins, falecida no ano de 1997.
15
FONTE: aulas ministradas por Clive Robbins, no Nordoff-Robbins Center for Music Therapy, em Nova
York em 1997.
7
* A RESPONSABILIDADE CLNICA: fundamental que aquele indivduo que
pretende ser musicoterapeuta tenha interesse pelo ser humano primeiramente. importante que
tenha o compromisso, envolvendo a tica, por tudo o que diz respeito a estes indivduos com
os quais trabalhar. Finalmente, no que diz respeito responsabilidade clnica, que entenda que
seu trabalho no deve somente ficar restrito ao espao de um consultrio mas que deve ser
ampliado com lentes de pesquisador comunidade. Ser este olhar (o do pesquisador),
como mencionado anteriormente, que no permitir que o clnico cegue frente ao fenmeno.
* A CONSTRUO MUSICAL: o musicoterapeuta deve possuir uma grande
familiarizao com a linguagem musical uma vez que o material que surge e que pertence
relao. Logo, uma educao musical slida importante envolvendo noes de performance
(em instrumentos harmnicos, meldicos, canto e percusso), harmonia, anlise musical, histria
das artes e percepo fundamentalmente.
* A INTUIO CLNICA: envolve sensibilidade, acerto e erro, explorao e
maturidade clnica. Na cultura Ocidental intuio tende a no ser muito valorizada sendo
atribuda a tal ao um carter de menor importncia, de adivinhao e no de conhecimento.
* A INTENO CLNICA: a experincia clnica traz o chamado know how (o
saber como). J na Grcia antiga o mdico Caelius Aurelianus
16
condenava o emprego
indiscriminado da msica. H que se refletir sobre o motivo de realizar uma interveno clnico-
musical utilizando o blues com determinada pessoa. No seria o jazz o estilo mais
apropriado quela necessidade e aquele momento? Por que utilizar Sol Maior e no de uma
escala musical do Oriente Mdio? Por que no inverter o acorde? Questionamentos
importantes a serem considerados antes de se intervir clinicamente com algum instrumento ou
de se articular a voz na clnica musicoterpica onde alguma pessoa est inserida. Saber como
nada mais que a aquisio de uma percepo (advinda de experincia) sobre a utilizao
16
Alvin, 1990, p. 58.
8
clnica dos elementos sonoro-musicais, sobre uso das tcnicas e sobre a construo dos
objetivos clnicos segundo a demanda e a disponibilidade daquele com o qual se trabalha.
* A LIBERDADE CRIATIVA: adquirir liberdade criativa implica disponibilidade
teraputica associada maturidade clnica. Estar disponvel para as situaes clnicas que
vieram a ocorrer segundo as necessidades do paciente. Chega-se a uma maior segurana
profissional que conduz espontaneidade clnica.
* A ESPONTANEIDADE CLNICA: envolve o que a Nordoff-Robbins chama de
o musical pessoal, a experincia de vida sonoro-musical do musicoterapeuta associada
inspirao.
Visando facilitar o processo de indivduos o musicoterapeuta Nordoff-Robbins focaliza,
entre outras, uma importante estratgia teraputica: a deteco, no processo clnico, do
chamado Tema Clnico. Entendo o Tema Clnico
17
como sendo determinado contexto
musical (geralmente uma ou duas frases musicais) com o qual o paciente interaja de forma
bastante particular. Tal deteco o acesso simultneo do que chamarei de rea de inciso
clnico-musical bem como deteco da lupa sonora, ou seja, uma vez que o Tema Clnico
tenha sido lido pelas lentes do musicoterapeuta o mesmo ter o instrumento (lupa sonora) para,
ento, realizar insero clnico-musical em reas mais aprofundadas da Identidade Sonora do
indviduo com o qual trabalha. Detectar uma rea de inciso sonora (identificando o tema
clnico) implica em um alcance com maior preciso a uma determinada rea da Identidade
Sonora de um indivduo. A que o mesmo permitiu aos sons e s msicas da relao alcanarem
no seu aqui e agora do processo.
Um dos princpios bsicos da teoria Nordoff-Robbins o fato de acreditarem que todo
ser humano possui uma rea chamada Music Child (musicalidade), caracterizada como sendo
a rea de habilidades e sensibilidades
18
. Este um ncleo saudvel que por vezes confronta-se
17
Brandalise, 2001, p. 34.
18
Aigen, 1997, p. 71.
9
com a patologia instalada como Condition Child (condio). A utilizao clinicamente
adequada dos sons, ou seja, as intervenes clnico-sonoras e clnico-musicais (contendo os
Temas Clnicos) so as responsveis pelo desbloqueamento desta barreira (condition child)
acessando a Music Child. Quando ocorre tal movimento, segundo a teoria Nordoff-Robbins, o
self do indivduo atualizado bem como sua rea de sensibilidades e o mesmo (indivduo)
torna-se uma nova pessoa (new person)
19
. E, esta dinmica, ad infinitum.
A Musicoterapia Criativa, proposta por Paul Nordoff e Clive Robbins, no somente
uma abordagem musicoterpica mas uma filosofia de vida. Segundo Kenneth Aigen
20
, a
abordagem (...) surge no somente por propor uma maneira de se entender o fenmeno
musicoterpico mas, de se estar junto a um sistema de valores de vida de algum.
NOVAS REFLEXES A PARTIR DO LEGADO NORDOFF-ROBBINS
A prtica clnica da abordagem Nordoff-Robbins possui, como uma de suas principais
caractersticas, o chamado olhar msico-centrado, algo que considero das mais importantes
indicaes para as futuras construes terico-filosficas no campo da Musicoterapia. O que
significa possuir tal olhar? Significa, historicamente, um novo entendimento sobre o papel clnico
dos sons e da msica em Musicoterapia e o reposicionamento dos agentes teraputicos. Era
preciso, no entanto, sistematiz-lo como paradigma. Para realizar tal tarefa senti como
necessidade:
- repensar msica. Passava a entend-la como entidade, ou seja, fenmeno que
apresenta sua incompletude (suas necessidades uma vez instalada em um Sistema) e o desejo
por completar-se uma vez relacionada com o Homem;
- repensar a relao Msica-Homem. Ou seja, o entendimento de que msica
uma necessidade humana e que quando estruturada por um processo de composio,
relaciona-se com ele;
- repensar a dinmica musicoterpica entre Paciente-Msica-Terapeuta a partir
da instalao da chamada relao teraputica e do surgimento da entidade como resultado
19
Robbins & Robbins, 1991, pp. 58 e 59.
10
criativo deste Encontro. A estruturao do chamado Tringulo de Carpente e Brandalise
onde a msica, contendo suas foras e essncias, exerce a funo de terapeuta principal
(primary therapist
21
).
FIGURA 2: o Tringulo de Carpente e Brandalise
22
MSICA
A msica buscando contato
MSICA DO TERAPEUTA MSICA DO PACIENTE
a msica do terapeuta a msica do paciente
buscando contato buscando contato
A partir da criao do Tringulo, surge o entendimento de que no somente paciente
e terapeuta so agentes que desejam na e com a relao. A msica tambm o faz; ela deseja
contato. Desenvolvi o Tringulo, juntamente com meu colega norte-americano John
Carpente, influenciado por uma das inquietaes que moveram o professor Clive Robbins e o
pianista Paul Nordoff e que os fez desenvolver um perfil do musicoterapeuta clnico que
passar a posicionar-se com a mesma importncia que a msica na vida psquica do indivduo
20
1996, p. 25.
21
Termo utilizado pela MT GIM norte-americana Madelaine Ventre, para descrever o papel da msica na
dinmica do processo musicoterpico, em 13 de outubro de 2000 durante X Simpsio Brasileiro de
Musicoterapia, Porto Alegre, RS, Brasil.
11
que est sendo trabalhado. Sero: TERAPEUTA - MSICA - PACIENTE e a msica no
ser mais o veculo para a terapia mas, a prpria terapia, singularidade da profisso.
Atravs deste movimento, desde repensar a msica at o novo entendimento sobre a
dinmica musicoterpica, surgiu a percepo do que chamei as cinco caractersticas do novo
paradigma musicoterpico: o Msico-centramento.
- a MSICA uma ao de foras
23
;
- a MSICA trata (contendo as chamadas foras essenciais);
- a MSICA o terapeuta principal;
- a MSICA entendida como parte de uma instalao triangular, no mais
posicionada entre terapeuta e paciente;
- Olhares e Escutas na prtica musicoterpica com nfase aos sons e msica,
associados, entretanto, necessidade do conhecimento sobre o ser humano em seu
aspecto bio-psico-social e espiritual.
Sob influncia terico-filosfica da Nordoff-Robbins pude construir o entendimento
sobre o fenmeno Msica como Entidade que possui, em e por sua estrutura, necessidade
de se completar. Cada nota, em uma escala, aponta para alm de si
24
. Indica. Faz relao com
o campo tonal e deseja (desejo este diferente do humano por ser despersonalizado)
25
. Estas
necessidades, so produzidas e compartilhadas quando o Homem com a Msica interage.
Passei a definir Musicalidade como sendo a habilidade que todo ser humano possui para a
integrao e a interao com a dinmica de relaes entre as notas. Estas envolvem o conflito,
no campo dinmico (espao onde se apresentam diferenas de foras entre as notas e no
somente de alturas), entre seus desejos de completude versus as contraforas (foras que
22
Brandalise, 2001, p. 30.
23
Zuckerkandl apud Nordoff apud Robbins & Robbins, 1998, p.32.
24
Zuckerkandl, 1973, p. 44.
25
Hospers apud Levinson apud Brandalise, 2001, pp. 21 e 22.
12
pretendem manter a nota em seu lugar contra a vontade dela)
26
. Vejo, atualmente, a relao do
Homem com a msica quase como uma relao de Homem com Homem. A diferena que
msica no se estrutura com marcas (condies causais) mas com essncias despersonalizadas.
Estas essncias so reconhecidas por inteligncias musicais e cabe ao musicoterapeuta,
educado em sua musicalide clnica, facilitar para que a relao teraputica realize o esculpir
clnico (clinical shaping
27
) da msica. Nesta dinmica, objetiva-se que ocorra a
potencializao do que h de teraputico na pea musical da relao possibilitando a des-
coberta/unfolding
28
de um indivduo, seu tratamento. Penso que quanto mais essncias exitirem
em um tecido semitico (neste caso, na msica) mais Integridade Interna
29
conter, logo, mais
potncias clnicas estaro prontas a serem reveladas pela relao teraputica. Defino
Integridade Interna, na msica, como sendo o equilbrio entre a qualidade dinmica da nota
(foras que a habitam) e o desejo de quem a compem (terapeuta e paciente). Esta entidade
criada poder conter uma quantidade grande de essncias vindo a ampliar suas possibilidades
para alm-setting. Poder ser Universal.
CONSIDERAES FINAIS
A filosofia Nordoff-Robins um grande garimpo onde pude encontrar partes do
tesouro mencionado por Helen Bonny. Com ele, alm de outras influncias, pude sistematizar
um novo paradigma: o Msico-centramento. A Musicoterapia Msico-centrada inicia a escrita
de uma nova etapa na histria da Musicoterapia no mundo que traz o significativo valor das
mensagens transmitidas por uma trajetria anterior e a crescente necessidade pelo surgimento
de teorias que, nascidas da prtica da prpria Musicoterapia, inscrevam marcas em sua
personalidade, fortalecendo sua identidade.
26
Zuckerkandl, 1973, p. 249.
27
Robbins, Clive IN: Aigen, 1996, prefcio.
28
Termo Nordoff-Robbins que signfica des-coberta.
29
Termo utilizado pela Prof MT Madelaine Ventre, em aula na New York University, fazendo referncia a
uma das caractersticas necessrias para que uma pea musical possa ser considerada parte do repertrio
clnico GIM.
13
Os fenmenos singulares Musicoterapia ocorrem a todo momento em nossos
settings. Cabe realizarmos as des-cobertas. importante, segundo Gary Ansdell
30
, sermos
capazes de viajar na fluncia de evento a evento. No h receitas na clnica musicoterpica.
H, isto sim, a fluncia de eventos no tempo, onde sons e msicas so esculpidos pela relao
teraputica.
Vivamos nossa histria para que possamos extrair os mais variados caminhos que nos
foram sinalizados pelas geraes que nos antecederam. Que venha o futuro como espao de
acolhimento e de olhar ao cada vez maior crescimento da Musicoterapia.
Referncias Bibliogrficas
AIGEN, Kenneth. BEING IN MUSIC: Foundations of Nordoff-Robbins Music
Therapy. New York : MMB Music, 1996.
_______________. Paths of Development in Nordoff-Robbins Music Therapy. EUA:
Barcelona Publishers, 1998.
________________. Entrevista concedida ao musicoterapeuta Andr Brandalise.
Revista Brasileira de Musicoterapia. Rio de Janeiro, n 3, ano iii, 1997.
ALVIN, Juliette. Musicoterapia. Barcelona: Paids, 1990.
ANSDELL, Gary. Music for Life. Londres: Jessica Kingsley Publishers, 1995.
BRANDALISE, Andr. Musicoterapia Msico-centrada. So Paulo: Apontamentos,
2001.
HESSER, Barbara. An Evolving Theory of Music Therapy. New York: manuscrito no
publicado (NYU), 1996.
NORDOFF,Paul and ROBBINS,Clive. Creative Music Therapy. New York: The John
Day Company, 1977.
ROBBINS, Clive; ROBBINS, Carol. Healing Heritage: Paul Nordoff Exploring the the
Tonal Language of Music. EUA: Barcelona Publishers, 1998.
ZUCKERKANDL, Victor. Sound and Symbol. EUA: Princeton University Press, 1973.
30
1995, p. 110.
Refletindo sobre o conhecimento do fenmeno musical:
Um estudo multi-caso sobre recepes do segundo movimento de Trs
Miniaturas para Violino e Piano de K. Penderecki
Andr Cavazotti
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
cavazotti@ufmg.br
Resumo: Anlise fenomenolgica das descries de sete sujeitos a partir de cinco audies do
segundo movimento da obra Trs Miniaturas para Violino e Piano de K. Penderecki. O objetivo
da anlise foi identificar como o referido movimento se apresenta a estes sujeitos. A
metodologia utilizada foi desenvolvida a partir dos trabalhos de fenomenologia aplicada
msica de Thomas Clifton. A anlise revelou que: 1) as percepes das essncias de espao,
tempo, elemento ldico e sentimento ocorrem de forma entrelaada, com significados
correspondentes entre as diferentes essncias; 2) os sujeitos indicaram de forma bastante similar
as subdivises do movimento.
Palavras-chave: anlise musical fenomenolgica, K. Penderecki, T. Clifton
Abstract: This study is a phenomenological analysis of the descriptions of seven subjects after
five listenings of the second movement of Three Miniatures for Violin and Piano by K.
Penderecki. The aim of the analysis was to identify how the piece presents itself to these
subjects. The methodology used was developed from the the works on phenomenology applied
to music by Thomas Clifton. The analysis of the descriptions revealed that: 1) the perceptions of
the essences of space, time, play element and feeling present themselves in an intertwined way,
with corresponding meanings among different essences; 2) the subjects indicated the
subdivisions of the movement in a remarkably similar way.
Keywords : phenomenological music analysis, K. Penderecki, T. Clifton
O presente estudo consiste em uma breve reflexo fenomenolgica sobre as
recepes de sete sujeitos sobre audies do segundo movimento da obra Trs
Miniaturas para Violino e Piano (1959) de Krysztof Penderecki (1933 ). O objetivo foi
identificar como este movimento se apresenta a estes sujeitos. A fundamentao terica
foi desenvolvida a partir do trabalho de Thomas CLIFTON (1983) sobre fenomenologia
aplicada msica.
O que motivou a realizao deste estudo foi a busca de metodologias analticas
que dessem conta do fenmeno musical em sua integralidade e que reaproximassem a
teoria da msica da experincia musical. Neste sentido, o mtodo fenomenolgico, ao
considerar que o fenmeno musical constitudo na relao sujeito-objeto, pode
oferecer perspectivas interessantes.
Os estudos de fenomenologia aplicada msica de Thomas Clifton, publicados
em seu livro Music as heard: a study in applied phenomenology (CLIFTON, 1983),
2
baseiam-se na filosofia fenomenolgica desenvolvida por Edmund Husserl (1859-
1938). O olhar da fenomenologia husserliana pode ser assim caracterizado:
A fenomenologia nega a diviso idealista da realidade em subjetivo e
objetivo, aparente e real, e busca evitar a reduo de um plo ao outro. Na
experincia humana real, insiste a fenomenologia, no h um abismo que necessite
de uma ponte metafsica, no h uma relao mutuamente exlusiva entre
conhecedor e conhecido (...) Aparncias (...) no so ilusrias e suspeitas, mas
fontes potentes de conhecimento fundante (BOWMAN, 1998, p. 255).
A fenomenologia aplicada msica no busca explicar a msica, ou aquilo a
que ela se refere, ou representa, ou mesmo parece. Atravs do mtodo descritivo, visa
recuperar a riqueza da experincia musical da forma mais integral possvel buscando
identificar os elementos ontolgicos de determinado fenmeno musical. Estes elementos
constitutivos so denominados essncias.
A partir de suas investigaes sobre o fenmeno musical, CLIFTON (1983)
concluiu que a experincia musical constituda por, pelo menos, quatro essncias:
tempo, espao, elemento ldico e sentimento.
Esta anlise se concentrar em relatos de sete sujeitos a partir de audies do
segundo movimento de Trs Miniaturas para Violino e Piano de K. PENDERECKI
(1962; 1999)
1
. Os sujeitos, todos matriculados em perodos diversos do curso de
bacharelado em msica, possuam tanto formao quanto experincia musical bastante
diversificadas. Para as audies do movimento do qual nenhum dos sujeitos tinha
conhecimento prvio , foi-lhes pedido que registrassem suas recepes do movimento,
considerando a composio assim como ela seapresenta.
O procedimento analtico foi realizado em quatro etapas: 1. insero de todos os
relatos em cpia ampliada da partitura; 2. tabulao dos relatos por sujeito/evento (vide
TAB.1); 3. classificao dos relatos de acordo com as quatro essncias musicais
propostas por T. Clifton (vide TAB.2); 4. anlise dos relatos.
1
Neste movimento, a parte do pianista consiste em manter o pedal de sustentao sonora pressionado.
3
FIG.1: K. PENDERECKI: Trs Miniaturas para Violino e Piano, 2
o
movto.(PENDERECKI, 1962),
com subdivises indicadas pelos sujeitos.
Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 Sujeito 5 Sujeito 6 Sujeito 7
Comentrios
gerais
H um jogo entre mpares e pares:
mpares so mais incisivos no
comeo, mas os pares vencem no
final, como na 5
a
sinf. de
Beethoven
Em primeiro lugar,
percebe-se o contraste de
gestos (elementos)
Seo 1 1) em arco bruto,
estouvado, incmodo
1 pontos 1) forte, encorpado; firme,
pesado
1) idia completa
Seo 2 2) sutil, pequeno,
silencioso
2 esttica 2) etreo, leve; pouco
palpvel
Seo 3 3) repentino,
inconveniente
3 impactual 3) => 1 [forte, encorpado;
firme, pesado]
Seo 4 4) distante, delicado
queda
4 brilhante, pequena 4) => 2 fugindo? [etreo,
leve; pouco palpvel]
2) aproximao
sutil e salto a
partir de um
impulso para um
plano superior
com afastamento
Seo 5 5) Alerta, como
quem percebe a
presena de outrem
fuga 5 pontos 4b) 3) relutncia
Seo 6 6) irritado, agastado mantm 6 cida, afastamento 5) 4) duas camadas
Seo 7 7) esgotado interrupo 7 impactual 5) golpe abrupto
Seo 8 8) persuasivo e
perseverante
8 pontos e doce 6) relutncia
Seo 9 9) resignado 9 esttica, pouco
brilhante
7) aproximao
Seo 10 10) contundente 10 seca e ascendente 8) asceno
Seo 11 11) tranqilo
11
Variaes de
dinmica e
alturas: espao:
alturas,
timbres. Parece
haver uma
diferena de
distncia a
partir da
exploso dos
parmetros das
dinmicas,
alturas e
timbres.
Timbres:
metlico,
fosco,
brilhante.
O superagudo
da [sic] idia
mesmo de
altura. Timbres
grosseiros:
idia de
rusticidade.
distante
9) confirmao
TAB.1: Relatos de audio do segundo movimento de Trs Miniaturas para Violino e Piano,
de K. PENDERECKI, por sujeito/evento.
Tempo Espao Elemento ldico Sentimento
Comentrios
gerais
Em primeiro lugar, percebe-se o contraste de gestos jogo entre pares e mpares: mpares
so mais incisivos no comeo, mas
os pares vencem no final, como na
5
a
Sinfonia de Beethoven
Seo 1 idia
completa
pesado, firme, encorpado, forte, pontos bruto, estouvado, incmodo
Seo 2 esttico pequeno, etreo, leve, pouco palpvel sutil [duas ocor.]
Seo 3 repentino impactual, forte, encorpado, firme, pesado inconveniente
Seo 4 distante, fugindo, brilhante, pequena, etreo, leve, pouco palpvel,
afastamento
delicado
Seo 5 pontos fuga 5) Alerta, como quem percebe a presena
de outrem; relutncia; fuga
Seo 6 duas camadas, afastamento, mantm cido, irritado, agastado
Seo 7 interrupo impactual, golpe abrupto esgotado
Seo 8 pontos doce, relutante, persuasivo, perseverante
Seo 9 esttico pouco brilhante, aproximao resignao
Seo 10 ascendente, asceno, seco contundente
Seo 11 distante tranqilo, confirmao
TAB.2: Relatos de audio do segundo movimento de Trs Miniaturas para Violino e Piano,
de K. PENDERECKI, por essncia/evento.
Sees: 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
4
A anlise preliminar dos relatos indicou a existncia de alto grau de
concordncia nas percepes de subdivises no movimento analisado, revelando
diferentes perspectivas sobre o movimento, que vo do microscpico (como aqueles que
identificaram onze sees no movimento) ao macroscpico (no qual prevalece a
percepo do movimento como um todo, sem identificao de subdivises; vide
TAB.3):
Nmero e delimitao de sees:
Suj. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suj. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suj. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suj. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Suj. 6
1 2 3 4 5 6
Suj. 2
1 2 3 4
Suj. 4
1
TAB.3: Subdivises do segundo movimento de Trs Miniaturas para Violino e Piano,
de K. PENDERECKI, por sujeito/evento.
Observamos que a concordncia acima apontada ocorre tambm nos relatos
sobre o contedo de cada uma das sees (vide TAB.1). Discorreremos brevemente,
ento, sobre algumas possveis relaes entre os elementos musicais e os termos
utilizados para descrev-los.
Percebendo as Sees 2, 3 e 4 como uma nica seo, o Sujeito 7 (vide FIG.1 e
TAB.1, lin. 8) a descreveu como aproximao sutil e salto a partir de um impulso para
um plano superior com afastamento. Esta descrio, abundante em termos constitutivos
do espao e tempo musicais, revela a percepo de um gesto constitudo por trs
movimentos: aproximao, impulso e salto. Ressaltamos que a descrio do
destino do segundo movimento (um plano superior) implica a percepo de diferentes
planos do espao musical. Neste sentido, h tambm a noo de distncia e movimento,
indicadas pelos termos aproximao e afastamento.
2
A aproximao sutil constitui-
se a partir de primeira altura, em ppp, tremolo e sul ponticello. O impulso acontece na
prxima altura (R), onde a indicao de ataque violento (sff) e o fato de ser tocado em
duas cordas no ponto de contato que resulta em sonoridade centrada (ord.) concentra
fora suficiente para o salto para um plano superior com afastamento. Este plano
constitui-se como superior e afastado devido dinmica (pp) e ao ponto de contato: a
2
interessante notar que o Sujeito 4 escreveu que, em sua recepo desta obra, parace haver uma
diferena de distncia a partir da exploso dos parmetros das dinmicas, alturas e timbres (vide TAB.1,
col. 5).
5
frico do arco na regio das cordas Mi e L localizada entre o cavalete e o estandarte
produz uma sonoridade muito aguda e descentrada.
Ao afirmar que neste movimento em primeiro lugar, percebe-se o contraste de
gestos, o Sujeito 6 (vide TAB.1, col. 7) sugere contraste como um elemento
estruturalmente importante neste movimento. O Sujeito 3, ao declarar que neste
movimento h um jogo entre mpares e pares: mpares so mais incisivos no comeo,
mas os pares vencem no final (vide TAB.1, col. 4), aponta um sentido agnico, de
disputa (que, de acordo com CLIFTON [1983, p. 239], um dos aspectos do elemento
ldico), para o elemento contraste neste contexto. Considerando que o critrio para a
identificao de disputa foi indicado pelo sujeito com o termo incisivo, procuramos
identificar cada seo levando em conta os termos empregados para indicar a
constituio de cada uma delas (vide TAB.2) , em graus de alta e baixa incisividade.
Considerando inciso como golpe com instrumento cortante (HOUAISS, 2001),
fenomenologicamente podemos afirmar que este termo remete experincia corporal de
corte, impacto, penetrao etc., e que pressupe a presena de fora, energia.
Termos utilizados nas descries das sees (extrados da TAB.2) Grau de
incisividade
Seo 1 pesado, firme, forte, encorpado, bruto, estouvado Alto
Seo 2 leve,pouco palpvel,etreo, sutil Baixo
Seo 3 pesado, firme, forte, encorpado Alto
Seo 4 leve, pouco palpvel, etreo, afastamento, delicado Baixo
Seo 5 alerta Alto
Seo 6 afastamento Baixo
Seo 7 impactual, golpe abrupto Alto
Seo 8 perseverante, persuasivo Alto
Seo 9 aproximao, esttico, resignao Baixo
Seo 10 ascenso, contundente Alto
Seo 11 tranqilo Baixo
TAB.4: Fundamentao para relato do Sujeito 6 sobre elemento agonstico no segundo
movimento de Trs Miniaturas para Violino e Piano, de K. PENDERECKI, por sujeito.
A tabela acima evidencia o alto grau de incisividade das sees 1, 3, 5, 7, 8 e 10
e o baixo grau de incisividade das sees 2, 4, 6, 9 e 11. Isto justifica e fundamenta o
seguinte comentrio do Sujeito 3: mpares so mais incisivos no comeo, mas os pares
vencem no final (vide TAB.1, col. 4).
Sinteticamente, o presente estudo evidenciou trs aspectos particularmente
interessantes sobre o conhecimento do fenmeno musical. O primeiro a unidade de
sentido evidenciada em descries de um mesmo trecho musical atravs de termos
referentes a essncias musicais distintas. O segundo o alto grau de concordncia entre
relatos de diferentes sujeitos sobre um mesmo trecho musical. E o terceiro que as
6
divergncias observadas nos relatos revelam algumas das diferentes facetas de uma
mesma obra musical.
Considerando a riqueza revelada nos relatos acima analisados, podemos afirmar
que as descries de experincias musicais configuram-se como um valioso instrumento
para o (re-)conhecimento do fenmeno musical.
Referncias bibliogrficas
BOWMAN, Wayne D. Philosophical perspectives on music. New York: Oxford
University Press, 1998.
CLIFTON, Thomas. Music as heard: a study in applied phenomenology. New Haven:
Yale University Press, 1983.
HOUAISS, Antnio. Dicionrio Eletrnico Houaiss da Lngua Portuguesa. [CD-
ROM]. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
PENDERECKI, Krysztof. Miniatury for violin and piano. Roman Mints, violino;
Evgenia Chudinovich, piano. Black Box, 1999. (CD BBM1025.)
______. Miniatury [na] skrsypce i fortepian. Varsvia: P. W. Polskich, 1962. (1
partitura para violino e piano.)
As articulaes no Magnificat em r maior de J. S. Bach
Andr Luiz Muniz Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
almo@musica.ufrn.br
Resumo: O presente trabalho constitui-se de um estudo do Magnificat em R Maior de Johann
Sebastian Bach luz de seu significado retrico. Aspectos de grafia das articulaes so
apresentados em consonncia com as prticas musicais existentes poca de composio da obra.
Uma vez observados os artifcios composicionais e interpretativos, conclui-se que a inteno de
Bach era intensificar a veemncia de palavras como Louvar, humildade, soberba e misericrdia.
Estes aspectos esto em conformidade com a viso teolgica da igreja luterana e o intrprete
poder valer-se dos mesmos para conceber sua interpretao.
Palavras-chave: Johann Sebastian Bach; retrica; anlise/apreciao.
Abstract: The present work consists of a study of the Magnificat in D Major of Johann Sebastian
Bach to the light of its rhetorical emphasis. Aspects of articulation are presented according to the
musical practices in the Baroque Period. Once observed these compositional and interpretative
procedures, one reachs the conclusion that Bachs intention was the intensification of vehement
words such as praise, humility, pride, and mercy. These aspects are in accordance with the
theological view of the Lutheran church and the performer can refer to them to conceive his own
interpretation.
Keywords: Johann Sebastian Bach; rethoric; analysis/appreciation
A articulao to crucial para a msica como para o
discurso; sem ela o mais coerente dos discursos pode ser
considerado sem sentido. particularmente importante na
msica do perodo barroco devido nfase exagerada dada
pelos compositores e tericos na arte da retrica,
capacidade de mover e convencer o pblico. Alm disso,
dada a extenso de dinmica relativamente estreita dos
instrumentos barrocos, a articulao - a relao de tempo
entre cada nota e sua vizinha - o principal significado de
expresso.
1
(Butt, 1995, Prefcio ix). Traduo do autor
1
BUTT, John. Bach Interpretation. New York: Cambridge University Press, 1995, prefcio ix. Articulation is
as crucial to music as it is to speech; without it the most coherent of discourses can be rendered
meaningless. It is particularly important in music of the Baroque era in view of the stress laid by composers
and theorists on the art of rhetoric, the ability to move and convince an audience. Furthermore, given the
relativity narrow dynamic range of Baroque instruments, articulation the relation in time of each note to its
neighbor is the principal means of expression.
A escolha da articulao ser um momento crucial na vida de um intrprete,
visto que neste ato poder-se- vislumbrar o tipo de afeto por ele visionado, seu conhecimento
histrico dos processos de grafia e o conhecimento ou no de prticas interpretativas que
estiveram no domnio da tradio oral, fato que no se pode desconhecer, pois, como afirmou
Couperin (1727-1789) Ns escrevemos diferente do que ns executamos.(Veilhan, 1977,
Prefcio iii). Sabe-se que Bach pretendia diminuir a distncia entre composio e execuo,
restringindo a liberdade da segunda ao, mas deve-se atentar para o fato de que fatores
tcnicos e musicogrficos ainda esto por ser completamente elucidados, se que um dia sero,
e isto garante um espao para escolhas pessoais no ato da concepo interpretativa.
As primeiras fontes a serem levadas em considerao na hora de se estudar a
articulao na msica so os autgrafos, isto , o manuscrito da obra feito pelo prprio
compositor. Dadelsen observa que este material, em geral, bem mais marcado do que as cpias
posteriores. Pode-se observar tambm o inverso: uma profuso de articulaes que
absolutamente no estavam presentes no manuscrito, como pode ser aferido mediante a
comparao da parte vocal do primeiro movimento, entre os compassos 31 e 42, da edio
Urtext
2
da Neuen Bach-Ausgabe e da edio Peters (figuras 31 e 32).
2
Palavra de origem alem que designa uma edio onde as notas e as indicaes do prprio compositor
aparecem com exatido e qualquer acrscimo editorial, interpolao ou interpretao claramente
distinguida.
A partir deste momento, sero isolados alguns casos para que se possa
visualizar melhor o problema e, em seguida, se sugerir uma possibilidade de leitura e resoluo do
mesmo. No intuito de evitar incoerncias, todas as figuras foram retiradas da edio Urtext da
Neuen Bach-Ausgabe.
Movimento I
FIGURA 3. Movimento I, Magnificat, compassos 38-45.
Podem-se vislumbrar dois problemas relativos articulao neste trecho: o
primeiro diz respeito ao legato colocado no momento em que se pronuncia a palavra anima, e o
segundo, ao fato de o desenho utilizado na palavra magnificat, e que tem como base musical um
arpejo ascendente com uso de colcheias, estar em algumas vozes escrito em legato (c. 40) e
outras vezes sem indicao de articulao (c. 39).
O caso da palavra anima, aparentemente, uma tentativa de afirmar at qual
nota a vogal a dever ser emitida, fato notrio, igualmente, porque quando a figurao rtmica
sofre alterao, como no caso do compasso 43 (tenor e contralto), a ligadura tambm ser
alterada. Neste caso especfico, pode-se atentar para o fato de que, conforme Butt, a execuo
em detach em notas rpidas tinha prioridade sobre o estilo legato.
3
(Butt, 1995, p.13). Esta
preconizao tambm estaria de acordo com o afeto desta pea, na qual o trabalho vocal
intencionalmente tenta adquirir um carter mais instrumental, o que mais uma vez reforaria, por
meio do uso de um correto decoratio
4
, a idia de jbilo contida neste movimento.
Marshall
5
, em seu livro The Compositional Process of J. S. Bach (1972),
desenvolve um estudo, no qual compara as articulaes presentes nos rascunhos de Bach s
encontradas nas partituras autografadas. Com base nele, possvel observar que elas podem ser
inseridas em um dos seguintes casos:
1. Omisso do texto, ou texto parcialmente escrito;
2. Determinao das notas que sofrero alterao, geralmente ornamentos;
3. Clarificao da execuo da sncope, ou determinao dos grupos de notas que
pertenceriam mesma harmonia.
3
Butt, op. cit., p. 13. ...A detached performance of runs had priority over a legato style.
4
A mesma coisa que elocutio, que um dos cinco componentes estruturais do processo retrico. O
decoratio a performance do discurso, a forma como se podem traduzir as idias, textuais ou musicais,
adicionando-lhe ornamentos que garantam ao argumento grande nfase.
5
MARSHALL, Robert Lewis. The compositional process of J. S. Bach. Princeton: Princeton University
Press, 1972. 2 v.
Nestes casos, muitas das ligaduras seriam omitidas na verso final, uma vez
que serviriam muito mais como uma bssola ou lembrete ao compositor durante o processo
composicional.
Butt atenta para o fato de que muitas ligaduras foram escritas ao mesmo tempo
das notas, e no raro, passagens idnticas esto grafadas sem o uso da ligadura em determinado
compasso e com o uso da mesma em outro. Isto seria decorrente da prpria evoluo do
processo composicional, e desta maneira, elas poderiam, genericamente, ser utilizadas em todas
as passagens similares. As ligaduras tambm poderiam indicar quais os motivos que, dentro de
um determinado movimento, tm a mesma origem.
A anlise da partitura, no que concerne ao fato de a palavra anima ser
executada com a utilizao do arpejo, mas estar grafada sem o uso da ligadura, no conclusiva:
pode ser causado pelo fato de o texto no ter sido escrito em sua totalidade no momento da
composio, ou seria decorrente da pressa de se finalizar o material para a execuo, como
tambm indica que em qualquer uma das variaes nas quais o material tem a mesma origem,
visto que o arpejo no necessariamente apresentado em ordem direta.
Uma concluso definitiva talvez poderia ser obtida por intermdio do mtodo
de anlise utilizado por Marshall, no qual se confrontaria o manuscrito autografado e as partes.
Todavia, a possibilidade de se ter articulaes distintas para o mesmo desenho parece a menos
sensata. Desta forma, o melhor caminho seria executar todas as aparies deste com o uso de
ligaduras.
Movimento VI
O sexto movimento ter a sua idia de articulao abstrada das melodias
executadas pelo tenor e pelo contralto. O carter plangente est presente na escolha da
tonalidade menor, no ritmo pastoral e at no uso das surdinas nos instrumentos de corda. Em
consonncia com este carter mais introspectivo, Bach utiliza um desenho de ligadura tpica de
compassos compostos, nos quais a subdiviso em teros de tempo preponderante. Este
desenho caracterizado pela ligadura que une o conjunto de trs colcheias. Mas, a ausncia de
ligaduras se faz sentir a partir do compasso 2 (violino II e viola) na partitura. Nas partes, a
situao menos conflitante e somente poder-se- questionar a ausncia do padro do legato
no segundo tempo do compasso 4 do violino I e no segundo tempo do compasso 11 do violino e
flauta II.
Preconizar a utilizao contnua da figurao em legato para todos os
conjuntos de trs colcheias uma possibilidade real. Primeiro, nos compassos supracitados,
sempre se poder fazer jus a analogias com outros instrumentos. No segundo tempo do
compasso 4, a flauta I, que dobra o desenho do violino I, tem a ligadura escrita em sua parte.
Mais adiante, no segundo tempo do compasso 11, a ausncia de ligaduras, tanto no violino II
como na flauta II deixar a situao um pouco mais enigmtica. Neste caso, pode-se observar o
desenho semelhante dos violinos I, executado uma sexta acima. Esta utilizao de sextas paralelas
em muito se assemelha figura de retrica denominada falso bordo, e com base nesta
constatao, ser possvel a utilizao da regra mesma figurao, mesma articulao.
O violoncelo, do terceiro tempo do compasso 30 at o quarto do compasso
31, desenvolve um interessante trabalho, em que notas da mesma altura esto ligadas. Butt
desenvolve o seguinte raciocnio a este respeito:
Notas repetidas na mesma altura sob ligaduras caem em
duas categorias: aquelas nas quais as ligaduras so
adicionadas para uma seqncia de notas repetidas em
agrupamentos mtricos regulares; aquelas que definem
padres recorrentes que comeam no contratempo, os quais
podem ser identificados como figuras rtmicas especficas
dentro da msica. Exemplos na primeira categoria so
comuns por todo os anos de Leipzig, as ligaduras cobrindo
trs, quatro ou seis notas, de acordo com a mtrica. Tais
ligaduras so particularmente comuns nas passagens em
arioso ou recitativo, ou nas meditativas sees B de rias.
Eles fornecem um fundo discreto e coerente, causando um
diminuendo natural dentro de cada grupo.
6
(Butt, 1995,
p.111) Traduo do autor
A figurao de notas iguais escritas em legato no violoncelo garantir um
tratamento similar quele dado ao tenor, no compasso 31, e os dois daro um carter de
finalizao introspectiva parte cantada pelo duo, todavia, sem perder a noo de movimento,
uma vez que os instrumentos ainda retomaro pela ltima vez a melodia que traduz todo o afeto
deste movimento.
Movimento XII
O ltimo movimento do Magnificat possui uma abertura na qual os acordes
que pontuam o aparecimento das palavras Pater, Filio e Spiritui Sancto, so interligados pelo
uso de floreios que tm as tercinas como figurao rtmica. Em analogia a todo o simbolismo
associado ao nmero trs, presentes nesta parte, poder-se- preconizar a execuo destes
ornamentos dentro de um grande legato. Esta articulao, se eventualmente aplicada neste local,
daria um carter perptuo, etreo pea e estaria de acordo com a idia de unidade
inquebrantvel atribuda Santssima Trindade.
O nico problema est na grafia rtmica empregada aqui, em que existe uma
superposio de metros ternrio e binrio. Quantz apresenta o seguinte pensamento sobre a
execuo destas superposies:
Assim, somente devemos executar a semicolcheia que
segue ao ponto aps a terceira nota da tercina e no ao
mesmo tempo que esta. Sem isto poderemos confundir [este
ritmo] com o compasso 12/8, de forma que estas diferentes
6
Butt, op. cit., p. 111. Repeated notes of the same pitch under slurs fall into two categories: those in which
slurs are added to a sequence of repeated notes in regular metrical groupings; those defining recurring
patterns beginning off the beat, which can be identified as specific rhythmic figures within the music.
Instances in the first category are common throughout the Leipzig years, slurs covering three, four or six
notes, according to the meter. Such slurs are particularly common in arioso or recitative passages, or in
meditative B sections of arias. They provide a background which is both unobtrusive and coherent, causing
a natural diminuendo within each group.
formas de notas devero ser tratadas bem diferencialmente
uma da outra.
7
(Veilhan, 1977, p. 30) "Traduo do autor"
Contrariamente posio de Quantz, Banner (1745) preconiza a seguinte
soluo para estes casos, quando diz observe quando compuser nunca colocar trs notas
contra duas, esta uma das mais proibitivas situaes musicais.
8
(Donington, 1982, p. 52)
Donington e Veilhan, de onde estas duas citaes foram extradas, concordam
no aspecto de que quando o ritmo essencialmente constitudo de tercinas, poder-se-
interpretar os valores pontuados como se fossem semelhantes a uma semnima e uma colcheia
dentro de uma quiltera. Isto decorrente da inexistncia dessa forma de grafia quela poca.
Assim, a grafia dessa passagem na atual notao seria a seguinte:
FIGURA 4. Movimento XII, Gloria Patri, compasso 1-11.
7
Veilhan, op. cit., p. 30. "Il ne faut alors entoner la petite note qui suit le point, quaprs la troisime note du
triolet et non pas au mme temps avec elle. Sans cela on pourrait les confondre avec la mesure 12/8, de
deux sortes de notes devant tre traites bien diffremment lune de lautre.
8
Citado em DONINGTON, Robert. Baroque music style and performance a handbook. New York: Norton,
1982. Observe in composing never to put three notes against two, this being one of the most prohibited
musical situations.
CONCLUSO
A anlise das articulaes encontradas na partitura do Magnificat foi
executada luz do mtodo preconizado por Butt e Dadelsen. Pode-se observar coerncia entre
a metodologia dos autores e as articulaes utilizadas no Magnificat, da seguinte forma:
1 Figuras de retrica, sobretudo as de caracterstica ornamental, so grafadas com uso de
ligadura, porm, dependendo do contexto, no obrigatoriamente, implicam uma execuo em
legato. Isto mais efetivo nas partes vocais com utilizao de notas de pequena durao em
andamentos rpidos.
2 As articulaes so grafadas de forma mais detalhada nas partes do que na partitura, da
edio Brenreiter. Portanto, o melhor comparar estes dois documentos, e em caso de
divergncia, optar pela grafia presente nas partes.
3 Apesar do escrito nos itens anteriores, Butt adverte que ligaduras escritas sobre um conjunto
de pequenas notas somente so coerentes no que tangem nota sobre a qual iniciada a
execuo em legato. Especificamente no Magnificat, no momento em que utilizada uma
tirata, no oitavo movimento, este autor aponta para a possibilidade de modificao da escrita, de
forma a deixar a execuo mais orgnica, do ponto de vista tcnico, para os instrumentistas.
4 Em poucos momentos poder-se- encontrar a utilizao de uma determinada articulao e,
na reexposio da passagem, ela no estar grafada. Neste caso recomenda-se o uso de
articulaes similares em todas as passagens.
Estes resultados somente puderam ser aferidos pelo fato de Alfred Drr
preservar, incondicionalmente, as articulaes encontradas nas partes e na partitura autografadas.
BIBLIOGRAFIA
BARTEL, Dietrich. Musica poetica. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. 471 p.
BUTT, John. Bach interpretation. New York: Cambridge University Press, 1995. 278 p.
DONINGTON, Robert. Baroque music: style and performance a handbook. New York:
Norton, 1982. 206 p.
____. String playing in baroque music. London: Faber Music, 1977. 126 p.
MARSHALL, Robert Lewis. The compositional process of J. S. Bach. New Jersey: Princeton
University Press, 1972. 2 v.
VEILHAN, Jean Claude. Les regles de linterpltation musicale lepoque baroque. Paris:
Alphonse Leduc, 1977. 101 p.
1
Etnomusicologia participativa: derrubando portas abertas?
Das novas vozes nativas e dos ainda velhos discursos dos pesquisadores
Angela Lhning
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
ppgmus@ufba.br
Resumo: O presente texto pretende trazer reflexes sobre a necessidade de redefinio dos
processos e atividades desenvolvidos durante as tantas pesquisas em andamento, mais e mais
confrontando-se com uma outra realidade de relao entre os tradicionalmente pesquisados e os
seus pesquisadores. Ou ento invertendo a argumentao: podemos afirmar que os chamados
pesquisados, representando as mais diversas culturas brasileiras, esto going native e assumem
sempre mais a postura de pesquisadores de si mesmos como um grande potencial de reivindicao
poltica. Algo de errado ou desentoante? Ou estaramos presenciando e vivendo os primeiros sinais
de novos rumos da pesquisa de campo participante e de uma etnomusicologia participativa e, em
ltima conseqncia, do mundo acadmico - intelectual na rea das humanas e artes? Quais seriam,
portanto, outras possibilidades de preparao e de acompanhamento na formao de novos
pesquisadores e de futuros profissionais, sensveis aos novos tempos e mltiplos nas suas
percepes e habilidades.
Palavras-chave: etnomusicologia participativa; novas tendncias; pesquisadores e pesquisados
Abstract: This article makes some reflections about the necessity of the redifinition of processes
and activities occuring during many researches which are more and more being confronted with
other realities related to the subject of the so called researched and the researchers. We can
affirm that the so called researched, representive for the most diferent musical cultures in Brazil,
now are going native and more and more becoming researchers of themselves with a great
potencial of political reindivication. Would this be something strange or out of tuned? Or are we
observing the first signs of new paths of participating research and ethnomusicology and,
consequently, of the academical intelectual world in the arts and the humanities. What would be
possible alternatives for preparation to the new generation of researchers e future profissionals with
sense of sensibility for the new era and multiple perceptions and habilities?
Keywords: participative ethnomusicology; new trends; researchesr and researched
O incmodo e sua metamorfose:
Desde o Encontro Internacional de Etnomusicologia - Msicas africanas e indgenas,
realizado em Belo Horizonte em 2000, observei um crescente nmero de procedimentos e
posturas, supostamente, imprprias e atpicas dentro do mundo da pesquisa e de sua
apresentao em foros acadmicos, como a presena de colaboradores nativos ndios
brasileiros, congueiros mineiros, africanos - sentados lado a lado com os seus respectivos
pesquisadores, lanando olhares inusitados sobre terrenos supostamente j explorados pela
cincia.
Estas novas experincias vividas naquela e em outras ocasies me trouxeram como
conseqncia concreta e urgente, a necessidade, e at obrigao, de repensar atitudes,
2
mtodos, parcerias e novas formas de ao em relao ao contato e a insero de
expectativas mtuas, superando fronteiras e ampliando horizontes, especialmente em busca
de novas formas de aplicao de conhecimento adquiridos. Isso passa tambm, e talvez em
primeiro lugar, por um caminho de melhor preparo dos nossos alunos para estas realidades
e aes culturais que esto surgindo aparentemente com timidez, embora com bastante
segurana. Poderamos denominar estas novas vozes de representaes tnicas, sociais e
culturais, devido ao leque grande de origens e interesses.
Esta fase coincide com movimentos provocados e atrelados a datas comemorativas da
histria brasileira em geral, como os festejos dos chamados 500 anos do Descobrimento
em 2000, que levou a um fortalecimento de movimento da populao indgena,
especialmente na rea do Nordeste brasileiro, como um dos que mais foi exposto
erradicao da sua cultura nativa durante o tempo colonial, com durao dos mesmos 500
anos, festejados na ocasio. Por outro lado podemos observar um movimento bastante
fortalecido e experiente no tocante s culturas afro-brasileiras que, h muito mais tempo,
esto se organizando de forma autnoma. Mas mesmo assim, e apesar destes precedentes
histricos e motivaes diversas, somente h pouco tempo podemos observar o que
gostaria de tornar o ponto central de minha observao e reflexo:
A presena de pessoas que at pouco tempo atrs fizeram parte do grupo dos chamados
pesquisados, colaboradores informantes, atores sociais, agora assumindo eles mesmos a
posio do pesquisador, questionador, interlocutor entre comunidades diversas, tradies
existentes e a sociedade circunscrita. Esta, at ento, se colocava numa posio
inequivocada em relao aos papeis a serem assumidos pelos envolvidos nesta relao de
trocas de conhecimentos e experincias e suas posteriores possveis aplicaes, muitas
vezes deixando prevalecer o olhar de fora e sua possvel utilidade para interesses
particulares ou institucionais, alheias s questes que envolviam as pessoas pesquisadas.
Podemos, sim, em geral constatar a ausncia de pesquisas socialmente comprometidas,
obviamente, contando, como sempre na vida, com algumas louvveis excees.
Mesmo tendo existido uma fase na antropologia em que se discutiam questes e
procedimentos de uma antropologia aplicada ou em seguida uma etnomusicologia
aplicada, estas buscas dos anos 80 no chegaram a interferir no pensar e agir da maioria
dos pesquisadores brasileiros que, no tocante etnomusicologia brasileira, comearam a
3
atuar de forma mais organizada e institucionalizada apenas posterior a esta data (ver Davis,
1992 e Seeger, 1995).
Coincidentemente ou no, os acontecimentos de ordem social/ poltica que tornaram o
Brasil um pas mais consciente, especialmente a partir dos anos 90, fizeram com que as
exigncias e necessidades de aes culturais fossem mais presentes, fazendo com que
pessoas que, at ento, tivessem assumido mais papeis sociais subalterno, de postura
receptiva e no reindivicadora, invertessem estes papis, elas mesmas tornando-se porta-
vozes de expectativas diversas, formando aos poucos um coro cuja repercusso vocal
atinge tambm os ambientes universitrios e acadmicos, tornando-se impossvel no
perceb-lo ou no ouvi-lo. Mas eis a difcil pergunta: como trabalhar com estas vozes,
literalmente afinadas de forma diferente, em ambientes ainda no preparados para entender
e receber, por sua vez, as informaes contidas?
Neste contexto podemos citar inmeros exemplos: A partir dos acontecimentos dos
festejos acidentados dos 500 anos na Bahia - lembremos das cenas de confrontos
sangrentos entre polcia de choque e a populao local indgena - fortaleceu-se um
movimento de identidades indgenas na Bahia de tamanho inesperado. At ento
acreditava-se que os ndios de verdade s existiriam em regies mais distantes, j que os
ndios do litoral nordestino supostamente foram dizimados de forma irreversvel, por terem
sido os primeiros a enfrentar os portugueses e sentido as conseqncias deste confronto
histrica. Porm, hoje existe um movimento fortssimo em Salvador e em todo o Estado da
Bahia, no qual os prprios ndios reassumiram a sua condio de ndio, durante tanto
tempo renegada por questo de pura sobrevivncia numa sociedade que no deixava
espao para diferenas tnicas. E no meio de projetos que em parte ainda surgiram como
trabalhos sobre os ndios, hoje os prprios ndios se tornam os principais articuladores do
levantamento de sua histria, cultura e msica, por suas vez buscando alianas com
pessoas interessadas pela causa, sendo estes pessoas ligadas ao meio universitrio, a
ONGs ou outros organismos. Desta forma surgem os primeiros pesquisadores tnicos,
diversos deles ligados a cursos universitrios ou envolvidos em cursos de educao escolar
diferenciada para seus povos.
O mesmo acontece em diversos segmentos da cultura afro-brasileira, que aps uma fase de
sucessiva aceitao e visibilidade social, chegando a recente incluso do tema da histria
4
afro-brasileira no curriculo escolar, comea a se projetar atravs de pesquisadores que so
das comunidades e invertem os papis clssicos. Devido a problemtica de uma recente e
crescente onda de intolerncia por parte de religies evanglicas que, em particular, esto
travando uma campanha contra as religies afro-brasileiras, especialmente no ambiente
baiana, podemos observar a formao de novas alianas que, desta forma, nunca existiram
antes. Organizam-se encontros supra-confessionais, em relao s diversas
denominaes internas no candombl, as chamadas naes, onde as prprias casas de
candombl assumem as lideranas e comeam a se preocupar com o levantamento e a
documentao de suas histrias e trajetrias. J outras casas criam novas formas de ensino
e transmisses de conhecimento, desta forma sistematizando aquilo de forma bastante
particular que por tanto tempo foi denominado de conhecimento emprico e informal.
Podemos mencionar oficinas de percusso para formao de futuros alabs, os msicos
percussionistas, como na Casa Branca em Salvador, ou encontros de alabs para levantar
as histrias dos mais velhos como ocorreu em outras casas na Ax Op Afonj e na Casa
de Oxumar. Existem jovens pesquisadores oriundos do mundo da capoeira, universitrios
iniciados no candombl, a fim de contar a sua histria a partir de outros enfoques e
trabalhar outras formas de compreender aquele enorme complexo que costumamos chamar
de msica, finalmente percebendo as ligaes intrnsecas com outras expresses que
passam pelo corpo, ativam outras tantas memrias e delimitam novas estticas ..... Estes
novos personagens aparecem nos diversos mbitos: no meio acadmico, na sala de aula,
em encontros, congressos, aes de cunho poltico ... ser que a estrutura universitria
convencional de fato est preparada para receb-los de igual para igual, sem preconceitos
ou continua existindo um comportamento de no aceitao e de no incluso destes novos
representantes? (ver Dias, 1990).
Analisando as informaes colocadas h pouco: trata-se no somente de uma nova
clientela universitria ou de novas formas de ao social que obviamente precisam ser
recebidas com base em um questionamento dos contedos do chamado conhecimento
veiculado pelas publicaes j existentes ou que virem a existir. Trata-se, mais do que isso,
da necessidade, a partir dos fatos aqui resumidamente explanados, de refletir sobre as
novas exigncias que todos nos devemos ter em relao a uma formao universitria e sua
futura possibilidade de ao na vida e em uma profisso como professor e/ ou pesquisador,
frente a outras realidades de convivncia social entre grupos e trocas de conhecimentos dos
mesmos, foradamente, e no por ltimo, devido a fatores de natureza poltica nacional
5
e/ou internacional, causando constantes processos de modificao dos cenrios culturais
com nfase em atitudes afirmativas.
Precisamos rever as nossas expectativas em relao formao acadmica, saber incluir
estes novos representantes nativos, o que requer tambm uma reviso de atuaes,
distribuio de conhecimentos e de futuros empregos o que at traz um outro caracter para
o j to habitual formato de congressos cientficos e reunies na medida que lidam com
estes conhecimentos culturais que transbordam categorias supostamente prefixadas pela
delimitao feita historicamente. Efetivamente no mais possvel realizar pesquisas que
no visam uma aplicabilidade concreta ou incluem aspectos de responsabilidade social.
Tradicionalmente os nossos cursos de msica, de antropologia ou histria no se
preocupam com esta dimenso da construo do conhecimento, e da conseqente
preparao de alunos que no apenas reproduzem formatos de atuao profissional
transmitidos pela tradio acadmica, mas tambm tenham a flexibilidade de atuar em
reas de cenas musicais ou culturais diversas, incluindo reas como poltica cultural,
produo cultural participativa, aes sociais e afirmativas e outras mais.
Precisamos nos perguntar a quem devemos dar futuramente a palavra como especialista:
mais e mais teremos entre os chamados especialistas os antigos nativos, e, como
conseqncia, a viso das pessoas de fora entrar em concorrncia com a das de
dentro.... ! Desta forma precisamos construir novas parcerias de pesquisa e atuao,
vislumbrando tambm outros formatos e outras finalidades de teses e trabalhos finais, para
assim redimensionar um novo conjunto orquestral de conhecimentos, cuja afinao
certamente vai mudar para uma menos hegemnica, at ento expressando estruturas de
poder, finalmente sendo menos racista e sexista, mas melhor distribuda em timbres
diferenciados que refletem novas necessidades e realidades. Talvez tenha chegado,
finalmente, a hora de reeducar os ouvidas da academia com suas estruturas e seus discursos
ainda fora de sintonia com os sons que chegam da rua e dos matos.
Um olhar sobre o futuro:
A descrita e iniciada discusso de novas obrigaes, a comparao de experincias
relatadas na literatura, a anlise de caminhos j trilhados e a busca por possveis
alternativas, chegou a ser uma das tnicas em todas as disciplinas e atividades
desenvolvidas na rea de etnomusicologia nos ltimos anos, j tem trazido diversos
6
posicionamentos e atuaes de impacto da parte de estudantes e pesquisadores. Aparecem
atuaes em conjunto com representaes tnicas-polticas, aes que incluem indivduos
ou grupos dos contextos da chamada cultura popular e tradicional em aes educativas em
espaos e contextos acadmicos, criando novas alianas e pontos de vista. Mas certamente
ainda necessitamos de discusses mais amplas, que aos poucos possam abrir a
possibilidade de um real redimensionamento de nossa ao profissional como
pesquisadores e profissionais na rea de msica nas suas mais diversas dimenses,
repensando todas as reas e formas em vista de uma ao voltada para o humano e suas
diversas expresses culturais.
Referncias bibliogrficas
DAVIS, Martha Ellen. Alternatives careers, and the unity between theory and practice in
ethnomusicology. Ethnomusicology, Illinois, v. 36, n 3, p. 361-381, 1992.
DIAS, Carlos A. O indgena e o invasor. Caderno de Centro de Filosofia e Cincias
Humanas, v. 19, pp.29-79.
SEEGER, Anthony. Ethnomusicologists, Archives, Profissional Organizations, and the
Shifting Ethics of Intelectual Property. Yearbook for Traditional Music, v. XXVIII, pp. 87
105.
Reflexes sobre transcrio etnomusicolgica
ngelo Nonato Natale Cardoso
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
angelonnc@yahoo.com.br
Resumo: O presente trabalho tem como foco um processo que vem sendo utilizado pela
etnomusicologia ao longo de sua histria: a transcrio. Nosso objetivo discutirmos o que e como
se deve transcrever. Na busca desta meta destacamos a importncia da percepo e a inteno de
quem transcreve. Tambm procuramos ampliar o conceito tradicional de transcrio inserindo
neste processo, alm da msica, o contexto. Uma vez que a etnomusicologia no estuda o evento
sonoro isoladamente, tal ampliao tem como inteno facilitar os propsitos desta disciplina.
Palavras-chave: transcrio, etnomusicologia, percepo
Abstract: This article focus the process that has been used by the ethnomusicology through history:
the transcription. Our purpose is to discuss what and how we should transcribe. In search of this
aim, we emphasize the importance of the perception and the intention of whom transcribe. Also we
search to amplify the traditional concept of transcription inserting the context on this process. Since
that the ethnomusicology does not study the musical sound isolated, this ampliation has the
intention to facilitate the purpose of this discipline.
Keywords: transcription, ethnomusicology, perception.
Introduo
"Msica no ... msica so..."
1
Proferida em sala de aula para demonstrar a
impossibilidade de uma definio nica de msica, implicitamente, a frase do
etnomusiclogo Manuel Veiga carrega consigo a viso da existncia de uma multiplicidade
musical. Esta real perspectiva etnomusicolgica v os elementos formadores do fenmeno
que denominamos "msica" assumirem as configuraes mais variadas ao longo do mundo.
Ou seja, tanto em culturas diferentes quanto na mesma cultura, a msica pode possuir
elementos, regras e organizaes prprias que a caracterizam diferenciando-as uma das
outras.
*Aproveito o espao para agradecer as valiosas sugestes de Angela Lhning, Manuel Veiga e Felipe
Amorim
1
Frase proferida pelo etnomusiclogo Manuel Veiga em aula inaugural, na Universidade Federal da Bahia, no
dia 09/07/2002
J comprovada e notria a existncia desta diversidade musical, duas necessidades
bsicas podem ser levantadas para um estudo que busca o entendimento de uma msica nas
concepes de quem a pratica: 1) a necessidade de identificar os elementos caractersticos
que constituem a msica de um determinado grupo, e; 2) a necessidade de comunicar estes
elementos, uma vez que nem todos os grupos musicais os explicam verbalmente e nem
teriam razo de faz-lo. Dentre as reas que lidam com o entendimento da diversidade
cultural, encontra-se a etnomusicologia a qual tem-se atribudo o cumprimento destas
necessidades. A ela credita-se a funo de no apenas reproduzir e informar sobre as
diversas linguagens musicais, mas tambm a funo de decodificar os significados e
relaes subjacentes aos eventos sonoros desses idiomas musicais. Desta forma, o
etnomusiclogo um intrprete, um tradutor.
Para realizar sua funo de tradutor, o etnomusiclogo utiliza as ferramentas que ele
acha necessrio, entre elas, encontramos uma que o acompanha desde o princpio da
histria da etnomusicologia - a transcrio. sobre esta ferramenta que o presente trabalho
est centrado. Nas pginas seguintes buscaremos discutir uma definio atual para
transcrio e a existncia de um objetivo e um smbolo grfico nico/ideal para esta
ferramenta.
Transcrio e percepo: dois eventos entrelaados
Segundo Bruno Nettl, "em etnomusicologia, o processo de notao sonora, de
reduzir o som ao smbolo visual, chamado transcrio"
2
(Nettl, 1964, p. 98). Ou seja, a
transcrio uma transfigurao dos sinais sonoros para smbolos grficos. Ela , ento, um
cdigo secundrio; uma representao de sons musicais com a funo de registro e
comunicao. Este ponto de vista fundamental e deve estar claro: a transcrio no a
msica, ela representa algo externo a ela. Apesar da ligao entre a representao e o
2
"In ethnomusicology, the process of notating sound, of reducing sound visual symbol, is called
transcription".
Todas as tradues aqui apresentadas foram realizadas pelo autor do presente trabalho.
objeto, trata-se de dois sistemas distintos: o evento sonoro como sistema principal que (ou
tenta ser) translado para um sistema secundrio que a transcrio.
Levantemos dois pontos sobre transcrio: quais tipos de smbolos grficos seriam
os mais adequados na transcrio e o que devemos transcrever? Para responder tais
questionamentos necessrio entendermos que as diversas linguagens musicais,
independentemente da cultura, so um contnuo de possibilidades para a percepo de
qualquer indivduo, seja um leigo ou um pesquisador. Tal fato ocorre porque, como observa
Edson Zampronha, "aquilo que chamamos de percepo deve ser necessariamente uma
construo. Ou seja, no basta abrir os olhos para ver, no basta 'abrir' os ouvidos para
ouvir. Deve-se aprender a ver, deve-se aprender a ouvir" (Zampronha, 2000, p. 185).
Ainda nas palavras de Zampronha, "a percepo a forma como a mente configura o
mundo. uma interpretao, uma construo". Desta maneira, cada ser humano aprende a
perceber o mundo a sua volta, incluindo o universo sonoro, de acordo com sua bagagem
fsico/cultural. Uma vez assimilado determinado evento, ele torna-se um modelo, um
esteretipo que pode ser reutilizado em ocasies diferentes. "Essa associao de uma
experincia a outra uma propriedade de todo pensamento" (Jenks em Zampronha 2000, p.
172)
Sendo assim, a interpretao de uma determinada msica, faa ela parte de uma
linguagem musical conhecida ou no, varia conforme a percepo do indivduo. Quando a
msica pertence a uma linguagem familiar, os esteretipos utilizados pelo ouvinte so em
maior quantidade do que quando ele ouve algo desconhecido. Mas mesmo quando o
ouvinte est diante de um idioma musical totalmente estranho, ele tende a perceber este
idioma a partir
de referenciais que ele j possui. Como observa Jean Molino, "a percepo da msica
funda-se na seleo, dentro do contnuo sonoro, de estmulos organizados em categorias e,
em grande parte, com origem nos nossos hbitos perceptivos" (Molino, 1975, p. 137). Em
suma, qualquer evento sonoro um campo de possibilidades interpretativas que depende de
quem est exposto a ele.
Consequentemente, uma mesma msica pode gerar transcries distintas, cada qual
subordinada interpretao do ouvinte. Sendo assim, nenhuma transcrio perfeita ou
completa. Podemos dizer que uma transcrio explicita mais o ngulo de quem se olha do
que exatamente aquilo que observado. Tal fato pode ser explicado na distino entre
signo e sinal (Zampronha, 2000, pp. 42-43). Sinais so eventos fsicos e signos so
processos mentais. Sendo assim, a msica constituda de sinais que despertam processos
mentais distintos em cada indivduo. Estes signos so singulares em cada membro porque
cada um possui uma vivncia com "hbitos perceptivos" nicos. Nesta tica, transcrio e
percepo se entrelaam, pois dois ouvintes diante do mesmo sinal musical, criaro
construes mentais diferentes que, por sua vez, originaro transcries distintas.
Contudo, deve-se tomar cuidado para no adotarmos uma posio de relativismo
extremo. A interpretao variada, mas est conectada ao evento sonoro. A percepo
constitui sua interpretao conforme a lgica interna do indivduo, mas esta lgica
determinada de forma no taxativa pelo evento sonoro. O evento sonoro propicia as
possibilidades de interpretao que sero feitas sobre ele, embora no especifique quais
nem como sero efetuadas. Tambm os signos, isto , os processos mentais do intrprete
podem ser alterados na medida em que estes vo incorporando novas informaes sobre os
sinais. E desta capacidade que se vale o etnomusiclogo, da mudana de ngulo em que
se observa o evento sonoro. Ele no consegue abandonar sua vivncia perceptiva, mas
procura acrescentar perspectiva de quem efetua o evento sonoro e, como veremos
posteriormente, tal mudana de posicionamento fundamental para a transcrio
etnomusicolgica. por meio desta assimilao - de uma nova perspectiva - que o
etnomusiclogo se vale para decodificar quais so os elementos relevantes em um evento
sonoro para uma determinada cultura. Nesta busca, ele pode descobrir que estes elementos
significativos no so necessariamente sonoros e que a compreenso da significao mica
da msica encontra-se no contexto geral onde ela se realiza.
O smbolo grfico ideal
Mas voltemos ao nosso primeiro questionamento: qual o smbolo grfico ideal para
esta representao que denominamos transcrio? Desde as primeiras transcries a
notao ocidental tem sido utilizada. Entretanto, como observa Ter Ellingson, "elas [as
transcries] eram escritas em notao europia porque esta era a nica tecnologia
disponvel, no por qualquer razes 'cientficas'"
3
(Ellingson, 1992, p. 112). Mas embora o
surgimento de novas tecnologias possibilitando e requerendo o uso de novos smbolos
grficos, a notao tradicional ainda est presente, acrescida de sinais ou no, na maioria
dos trabalhos etnomusicolgicos. A razo disso reside no que apontamos anteriormente: o
etnomusiclogo um tradutor e quem traduz realiza uma converso de linguagem para fins
de entendimento, de comunicao; o etnomusiclogo realiza uma transfigurao para um
sistema que ser de domnio mais amplo - a notao tradicional.
Contudo, ao empregarmos a notao convencional na transcrio, alguns problemas
podem ser levantados. Um deles seria a incompatibilidade de sistemas de linguagem
musical. Ou seja, msicas de outras culturas tm caractersticas incompatveis com a
notao tradicional. Por exemplo: sistemas de afinaes distintos ou formas de cantar
lineares inviveis de se transcrever em uma notao pontual, como a nossa. Outro problema
resultante da transcrio em notao ocidental, que passamos a exprimir nossas idias em
funo de esteretipos, direcionamos a percepo musical para modelos pr-estabelecidos
que nem sempre correspondero ao objeto sonoro.
H tempos algumas solues j tm sido apresentadas para tentar diminuir as falhas
das transcries em notao convencional. Otto Abraham e Erich M. von Hornbostel
aconselhavam acrescentar smbolos s notaes tradicionais
4
para representar quelas
caractersticas que no encaixavam dentro do sistema notacional tradicional. Em relao
aos esteretipos criados pela notao ocidental, a soluo se apresenta atravs da gravao.
Tendo acesso ao registro sonoro, aos modelos perceptivos pr-estabelecidos sero
acrescentados novos modelos, possibilitando uma leitura da transcrio sem a utilizao de
imagens mentais incompatveis com o objeto sonoro.
Mas a transcrio continua a ser uma representao de algo e no o algo. Talvez esta
seja mais uma razo de seus desvios. E para aumentar seu grau de desvio ela representa
algo que no esttico, que est em constante mudana. O objeto musical mais complexo
que a sua transcrio, no s como fenmeno acstico, mas como originador de
possibilidades interpretativas. A transcrio redutora dessa complexidade, pois alm de
3
"They were written in European notation because this was the only technology available, not for any
'scientific' reasons."
4
Ver Nettl 1964, 107.
selecionar um aspecto da msica ressaltado por uma tica, ela representa um momento no
tempo e espao.
Contudo, tal seleo torna-se necessria j que "...qualquer um tipo de notao deve
selecionar do fenmeno acstico aquilo que o anotador considera mais essencial, ou ela
seria to complexa que ela prpria seria muito difcil de perceber"
5
(Nettl, 1964, p. 98).
Esta "seleo" a qual Nettl refere, vai interferir na escolha do smbolo grfico a ser
utilizado na transcrio. Por esta razo, mesmo tendo em mos solues para amenizar os
desvios da notao tradicional como meio de representao, trabalhos etnomusicolgicos
muitas vezes optam por outros smbolos grficos na transcrio ou, s vezes, pela no
transcrio. Tais procedimentos so perfeitamente compreensveis, pois, respondendo ao
primeiro questionamento, no existe um smbolo grfico ideal/nico para todas as
transcries. O que existe so opes que variam de acordo com a inteno do transcritor,
variam de acordo com a sua seleo. Ou seja, o smbolo grfico utilizado como meio de
transcrio pelo etnomusiclogo vai depender exclusivamente do que este quer enfatizar.
Se o etnomusiclogo quiser salientar determinado aspecto de um idioma musical, sua
escolha para o smbolo grfico dever ser aquela que melhor atenda a sua inteno. Isso nos
leva ao segundo questionamento: o que transcrever?
Elementos da transcrio etnomusicolgica: "som, comportamento e conceito"
Como mencionamos, a msica nos proporciona vrias possibilidades de
interpretao, o que quer dizer que podemos ter simultaneamente representaes diferentes
entre si. Prestar ateno em um aspecto da msica faz com que ele seja ressaltado. O ngulo
e a seleo da observao so condicionadas pelos hbitos perceptivos que fazem parte da
vivncia do ouvinte. Porm, um etnomusiclogo no deve se deter apenas na percepo
daqueles valores da msica que ele julga relevantes. Como bom intrprete, ele deve
considerar os valores significativos na concepo de quem pratica o evento sonoro, ele deve
5
"...for either a type of notation must select from the acoustic pehnomena those which the notator considers
most essencial, or it will be so complex that it itself will be too difficult to perceive".
acrescentar a perspectiva de quem efetua a msica. o que Ter Ellingson chama de
"transcrio conceitual":
"Em uma transcrio conceitual, caractersticas essenciais so presumidas j serem
conhecidas por meio de uma pesquisa de campo, lies de performance, estudo de
escritas tradicionais, notaes aurais, processos de aprendizagem e liderana. A
transcrio ento torna-se um meio no de descoberta, mas de definir e exemplificar
a incorporao acstica de conceitos musicais essenciais para a cultura e a
msica".
6
(Ellingson 1992, pp. 141-142)
Porm, ser que apenas a transcrio dos objetos sonoros, mesmo baseado nos
conceitos nativos, bastaria para o entendimento das caractersticas de uma msica fora de
sua cultura? Provavelmente no. O som faz parte de uma rede de eventos que apenas vistos
em conjunto pode-se tentar decodific-lo. Por esta razo, a etnomusicologia busca o estudo
da msica ligada a um contexto, pois, transcrever os elementos sonoros ignorando seus
elementos circunvizinhos resulta em ignorar o prprio significado da msica. Alan P.
Merriam, em seu modelo tripartite - som, conceito e comportamento - apontava esta
perspectiva etnomusicolgica:
"O produto musical inseparvel do comportamento que o produz; o
comportamento, em troca, pode apenas em teoria ser distinguido do conceito que
est subjacente a ele; e todos esto amarrados atravs da avaliao aprendida do
produto do conceito . . . . Seno entendemos um, no podemos corretamente
aprender os outros; se falhamos no conhecimento das partes, ento o todo est
irreparavelmente perdido"
7
(Merriam, 1978, p. 35)
Ellingson e Merriam no esto sozinhos nesta perspectiva que d relevncia aos
elementos que circundam o evento sonoro. Para John Blacking
"...os diferentes sistemas cognitivos subjacentes da msica seriam melhor
entendidos se msica no for destacada de seu contexto e considerada como 'objetos
6
"In a conceptual transcription, essential features are presumed to be already known through fieldwork,
performance lessons, study of traditional written and aural notations and learnig and leadership processes. The
transcription then becomes a means not of discovering, but of defining and exemplifying the acoustical
embodiment of musical concepts essencial to the culture and music."
7
"The music product is inseparable from the behavior that produces it; the behavior in turn can only in theory
be distinguished from the concepts that underlie it; and all are tied together through the learning feedback
from product to concept . . . . if we do not understand one we cannot properly understand the others; if we fail
to take cognizance of the parts, then the whole is irretrievably lost."
snicos' mas tratada como sons humanamente organizados cujos padres esto
relacionados aos processos cognitivos e sociais de uma sociedade e cultura em
particular"
8
(Blacking, 1995, p. 55)
Uma vez que compartilhamos com a viso dos autores citados acima, que o
entendimento musical no deve se restringir apenas ao som, acreditamos que tambm
devam ser includos em uma transcrio etnomusicolgica aqueles elementos significativos
para a busca da compreenso do que chamamos "msica". Isto , por meio de smbolos
grficos o pesquisador deve procurar a insero, em sua transcrio, daqueles elementos
conectados com o fenmeno musical, independentemente de quais formas sejam estes, pois
transcrever pode significar "copiar textualmente" (Aurlio, 1986, p.1700). Portanto, em
nossa perspectiva, uma viso de transcrio etnomusicolgica deve ser ampliada e ir alm
da definio de Nettl. Enquanto para Nettl, em etnomusicologia, o processo de "reduzir o
som ao smbolo visual chamado transcrio", em nossa perspectiva, na etnomusicologia,
o processo de reduzir som, comportamento e conceito, ao smbolo visual deve ser chamado
transcrio. Peguemos, por exemplo, a msica realizada nos rituais pblicos de candombl.
A msica, nestes cultos, tem uma interao to grande com a dana, que no apenas a
msica coordena os movimentos coreogrficos do danarino, mas esse, por meio de seus
gestos, determina a seqncia e quais padres rtmicos sero usados na msica. Nesta
religio, nem sempre o bom msico aquele que possui mais tcnica na execuo do
instrumento, mas aquele que tem maior capacidade de interao com quem dana. Se, neste
culto, msica e dana se completam e contribuem para formar um todo, a transcrio deve
ser um reflexo desta mistura, incluindo, alm dos eventos sonoros, os passos e gestos
principais das coreografias. Somente desta maneira se ter uma idia dos parmetros que
regem a msica nestes rituais.
Sendo assim, para o etnomusiclogo, transcrio no deve ser apenas uma
representao dos sinais sonoros em smbolos grficos, mas um translado de sinais, sejam
sonoros, comportamentais ou conceituais, para smbolos grficos. Nesta perspectiva a
transcrio passa a ser realizada atravs de uma tica mais ampla, buscando uma viso mais
panormica. A msica no recortada de seu contexto para uma anlise isolada, pois nos
8
"...the cognitive systems underlying different styles of music will be better understood if music is not
detached from its context and regarded as 'sonic objects' but treated as humanly organized sound whose
patterns are related to the social and cognitive processes of a particular society and culture."
interessa a viso do objeto sonoro, do contexto e como eles se conectam. Desta maneira,
considerando msica como uma estrutura organizada em um sentido amplo, ela torna-se
singular, cada evento sonoro torna-se portador de um significado nico. Por esta razo
"msica no ...msica so..."
Como mencionamos, no existe uma msica, mas sim vrias msicas; a perspectiva
futura para as transcries a heterogeneidade. Assim como no encontramos um smbolo
grfico nico/ideal para uma transcrio etnomusicolgica, no se pode definir uma
frmula singular de como se deve transcrever. O etnomusiclogo, embasado em uma
pesquisa de campo, deve julgar quais elementos so relevantes em sua transcrio.
Portanto, o que definir o smbolo grfico mais indicado e o que transcrever o objetivo.
Para sabermos como transcrever e o que transcrever, devemos saber para qu transcrever. E
mesmo aps termos decidido para qu, como e o qu transcrever, no podemos esquecer a
realidade: transcrio uma representao, um cdigo secundrio, ela representa algo
externo a ela, a transcrio a sombra de algo refletido na parede de uma caverna.
Referncias bibliogrficas
BLACKING, John. The problem of musical description. In: BYRON, Reginald (Ed.).
Music, culture, and experience: selected papers of John Blacking. Chicago e Londres:
University of Chicago Press, 1995. p. 54-72.
ELLINGSON, Ter. Transcription. In: MYERS, Helen (Ed.). Ethnomusicology: an
introduction. New York: W. W. Norton & Company, 1992. p. 110-152.
MERRIAM, Alan. The anthropology of music. Evanston: Northwestern University Press,
1978.
MOLINO, Jean. 1975. Facto musical e semiologia da msica. In: SEIXO, Maria Alzira
(Org.) Semiologia da msica. Lisboa: Veja, 1975. p. 109-64
NETTL, Bruno. Theory and method in ethnomusicology. The Press London. 1964.
ZAMPRONHA, Edson S. Notao, representao e composio - um novo paradigma da
escritura musical. So Paulo: Fapesp, 2000.
Interao homem-mquina na performance musical por meios mistos
Anselmo Guerra de Almeida
Universidade Federal de Gois (UFG)
anselmo@musica.ufg.br
http://www.musica.ufg.br/lpqs
Resumo: Programas e composies musicais interativas so desenvolvidos em nosso laboratrio,
usando MAX-MSP e Csound, experimentando o acompanhamento do computador a instrumentos
acsticos com processamento e gerao de sons em tempo real. A divulgao dos produtos
artsticos executada pelo Grupo de Msica Eletroacstica. Essa estrutura deve estimular as
atividades prticas em disciplinas oferecidas no mestrado e na graduao de nossa instituio, alm
dos projetos e dissertaes.
Palavras-chave: msica computacional, performance musical, interao homem-mquina.
Abstract: We are developing interactive music systems in our laboratories using MAX-MSP and
Csound, making experiences with computer accompaniment to acoustical instruments and real time
processing. There is a group dedicated to present the musical production. Besides the projects and
dissertations, this structure intends to stimulate experimental disciplines at the graduated and
undergraduate courses offered at our institution.
Keywords: computer music, musical performance, man-machine interaction.
Introduo
Desde a dcada de 50, a msica computacional, ou computer music, tem-se deparado com o
problema da representao do conhecimento e a performance musical (ROADS 1996). As
primeiras questes levantadas eram a respeito dos mtodos de sntese e da utilizao de
funes e algoritmos para o modelamento de timbres. Max Mathews difundiu a sntese por
computador principalmente com seu programa MUSIC V, escrito na linguagem
FORTRAN-4. Nos dias atuais podemos observar muitos dos fundamentos do MUSIC V
traduzidos para o Csound, linguagem baseada na linguagem C (VERCOE 1992 e 1994).
A criao de timbres musicais por computador nos levou investigao das qualidades que
tornariam o som musical. Ao mesmo tempo, grandes eram as inquietaes a repeito da
performance dessa msica que inicialmente podia somente ser ouvida por meio eletnico
pr-definido e imutvel, como o da fita magntica. Esforos foram empenhados no sentido
de permitir tomadas de deciso durante a performance, interagindo com instrumentos
acsticos, por meio de novas interfaces (MOORE 1990).
Com os avanos tecnolgicos, novas possibilidades foram surgindo para a performance
musical, e a interface entre msico e as mquinas teve um impulso com a criao do
protocolo MIDI (IMA 1983) (LOY 1985). Com este, o gesto musical, quantizado em
nmeros por vrios parmetros, podia transitar entre sintetizadores e computadores. Porm,
MIDI tem aplicaes condicionadas a certos limites, uma vez que havia sido subestimada a
quantidade de informao contida no gesto musical, discretisada em pacotes de nmeros
por segundo (MOORE 1988).
Os estudos se aprofundaram tanto em reas como psicoacstica, cognio musical, como
reas especficas da computao, como engenharia de software e design de interfaces,
gerando conhecimentos interdisciplinares como a representao do conhecimento em
msica (DESAIN 1988 e 1992) (POPE 1988).
O estado da arte em performance interativa o sistema que apresenta comportamentos
inteligentes, como o reconhecimento de pades ritmicos e/ou meldicos produzidos por um
performer humano, onde o computador capaz de interagir, gerando acompanhamento ou
processamento sonoro em tempo real (PUCKETTE 1995, 1988, 1990, 1990a, 1991, 1992,
1995) (ROWE 1994)(MACHOVER 1991) (DANNEMBERG 1984 e 1989). A impresso
desse interao homem-mquina a de ter o computador como um partner obediente aos
gestos do msico e no a de um performer escravo de um metrnomo fixo por meio de uma
reproduo mecnica.
Nesse sentido, existe um vasto campo de pesquisa a ser explorado, no sentido de se obter
resultados prticos satisfatrios. Por fim, podemos apontar a relevncia desse tipo de
pesquisa, no s para seu emprego esttico musical, mas tambm para o progresso da
compreenso dos processos cognitivos do homem.
Objetivos
Em nossa pesquisa pretendemos criar uma estrutura especfica para experimentos em
performance musical interativa, explorando as possibilidades da interface homem-
computador. A partir desses experimentos, visamos apresentar produo bibliogrfica, alm
dos produtos estticos, atravs de composies e performances.
Os trabalhos so desenvolvidos na linha de pesquisa em Composio e Novas Tecnologias,
pertencente a uma reas de concentrao de nosso curso de ps-graduao, Criao e
Expresso, interagindo com outra linha de pesquisa da mesma rea: Performance Musical e
suas Interfaces. A pesquisa envolve a orientao de mestrandos com projetos que envolvam
tecnologia musical, cognio, o ensino da msica computacional ou o ensino da msica
com a mediao do computador.
Metodologia
A metodologia empregada, desenvolvida a partir da tese de doutorado do presente autor,
adota uma abordagem interdisciplinar (ou multidisciplinar) descrita a seguir:
- mtodos de interao homem-mquina: (DIX et al 1993) (BAECKER et al 1996)
(HARRISON e THIMBLEBY 1990) (HELANDER 1988) (LANDAUER 1988)
(TOOK 1990);
- design de interface homem-mquina: Alan Key, Erikson (LAUREL 1990) (CARROT et
al 1988) (HARSON e HIX 1989) (HIX 1990) (NORMAN 1988) (SHNEIDERMAN
1987);
- human factors: (SUMMERSGILL e BROWNE 1989);
- computao e interdisciplinaridade: (CURTIS et al 1988);
- engenharia de software: Andy DOWNTON (1991) (GHEZZI 1991) (HABERMANN
1991) (MYERS e ROSSON 1992) (MYERS 1989);
- computer music e mtodos de sntese: Curtis ROADS (1996), Richard MOORE (1990)
(VERCOE 1992 e 1994);
- sistemas musicais interativos: Miller PUCKETTE (1985, 1988, 1990, 1990a, 1991,
1992, 1995), Robert ROWE (1994), Tod MACHOVER (1991) e DANNEMBERG
(1984 e 1989);
- cognio musical e representao do conhecimento: Peter DESAIN (1988 e 1992) e S.
POPE (1988).
A ao tem por veculo a utilizao do ambiente de programao orientada ao objeto
denominado MAX-MSP (OPCODE 1995), especfico para uso musical. MAX-MSP
trabalha tanto com o gerenciamento de mensagens MIDI (IMA 1983) (LOY 1985), como o
processamento digital (DSP) em tempo real. Temos tambm em vista a utilizao da
linguagen para sntese sonora Csound (VERCOE 1992 e 1994), compatvel com MAX-
MSP.
Infraestrutura
Nosso projeto est acomodado em uma estrutura de cinco ambientes, que conta com cerca
de 56 metros quadrados, assim sendo: Sala de Operaes do Estdio (14m2); Sala de
Gravao com isolamento acstico (9m2); depsito (4m2), Sala de apoio (9m2) e Sala de
Laboratrios e Multimdia (20m2), sem contar com a rea do auditrio e o palco, com os
quais a sala de operaes do estdio est interligada.
Equipamento bsico: 3 computadores G 4 ; 1 computador PowerBook G3 ; 1 sistema de
gravao digital Digidesign DIGI-001; 4 monitores nearfield Tannoy Reveal; 1
amplificador Alesis RA 100; 1 sistema de gravao digital Pro Tools 24 Mix Plus; 1 Mixer
Mackie 1604 VLZ PRO; 10 Microfones Dinmicos Sennheizer; 2 Microfones Condensados
Shure sm81; 1 Microfone Neumann TLM 103; 1 processador de sinais Lexicon MPX 1; 1
mdulo sampler Digidesign/Sample Cell II; 4 caixas acsticas Tannoy T12; 2
amplificadores Crest Audio VS450 225W RMS/ch 4 ohms; 1 multicabo 24 vias.
Concluso
Os Laboratrios de Pesquisa Sonora da UFG desenvolvem programas e composies
musicais interativas usando-se MAX-MSP e Csound , realizando experincias com o
acompanhamento de computador a instrumentos acsticos com processamento e gerao de
sons em tempo real. A divulgao dos produtos artsticos so veiculados atravs do Grupo
de Msica Eletroacstica, formalizado como projeto de extenso, composto pelo
coordenador deste projeto, por alunos de ps-graduo e do bacharelado em composio
musical. Os produtos musicais esto sendo registrados em CD e formato audio-visual. Essa
estrutura deve tambm estimular as atividades prticas em disciplinas oferecidas no
mestrado (Composio e Novas Tecnologias; Msica Computacional) e na graduao
(Acstica e Tecnologia Musical; Psicoacstica e Psicologia da Msica; Laboratrio de
Eletroacstica). Um dos produtos recentes foi a pesquisa que resultou na dissertao de
mestrado de um de nossos orientandos, intitulada AMD - Ambiente Musical Distribudo,
o qual permite que, atravs de uma rede de computadores, msicos possam interagir com
elementos sonoros via internet. O AMD tem sido usado pelo nosso Grupo de Msica
Eletroacstica. Em andamento, temos mais dois projetos de dissertao abordando mtodos
de sntese e performance interativa, um projeto de iniciao cientfica (PIBIC) na rea de
psicoacstica, e dois projetos finais de alunos do curso de Composio.
Apoio: FUNAPE - Fundao de Apoio Pesquisa da UFG
Copidesque: Betty Sanson
Referncias Bibliogrficas
DANNEMBERG, Roger. An On-line Algorithm for Real-Time Accompaniment. In:
Proceedings, Internationall Computer Music Conference. Paris: Computer Music
Association, 1984.
DANNEMBERG, Roger. Real-Time Scheduling and Computer Accompaniment. In:
Current Directions of The Arts and Technology III. New London: Connecticut College,
1989.
DESAIN, Peter. Direct Manipulation and the Design of User Interfaces. In: CC-AI - The
Journal for the Integrated Study of AI, Cogn. Science and Applied Epistemology, vol.5, #3-
4, 1988.
DESAIN, P. & H. Honing. Music Mind and Machine, studies in computer music, music
cognition and artificial inteligence. Thesis Publishers, Amsterdam, 1992.
DIX, A., J. Finlay, G. Abowd & R. Beale. Human-Computer Interaction, Mass: Prentice-
Hall, 1993 .
DOWNTON, Andy (Ed.). Engineering the Human-Computer Interface, NY: McGraw-
Hill,1991.
ERICKSON, T.D. Working with Interface Metaphors. In: Laurel, Brenda (Ed.) The Art of
Human-Computer Interface Design, Mass: Addison-Wesley Publishing Company, Inc,
1990.
GHEZZI, C., M. Jazayeri & D. Mandrioli. Fundamentals of Software Engineering. UK:
Prentice-Hall, Inc., 1991
HABERMANN, Fritz. Giving Real Meaning to 'easy-to-use' Interfaces, IEEE Software,
July 1991, pp. 90-91, 1991.
HARTSON, H.R. & D. Hix. Human-Computer Interface Development: Concepts and
Systems for its Management, ACM Computing Surveys, March 1989, Vol. 21, No. 1, pp. 5-
92, 1989.
HARRISON, M. & H. Thimbleby. Formal Methods in Human-Computer Interaction,
Mass: Cambridge University Press, 1990.
HELANDER, Martin. Handbook of Human-Computer Interaction , North-Holland, 1988.
HILLER, L. e L. Isaacson. Experimental Music. New York: McGraw-Hill, 1959.
HILLER, L. e R. Baker. Computer Cantata: a study in composicional method. Perspectives
of New Music 3:62-90, 1964
HILLER, L. e J. Cage. HPSCHD: an interview by Larry Austin. Source 2(2): 10-19, 1968.
HIX, Deborah. Generations of User-Interface Management Systems, IEEE Software, Sept.
90, pp. 77-89, 1990.
HONING, H. Issues on the Representation of Time an Structure in Music. In Cross, I. (Ed.)
Proceedings of the 1990 Music and Cognitive Sciences. Contemporary Music Review.
London: Harwood Press, 1992.
IMA. MIDI musical instrument digital interface specification 1.0. Los Angeles:
International MIDI Association, 1983.
KEY, Alan. User Interfaces: A personal View, In: Laurel, Brenda (Ed.). The Art of
Human-Computer Interface Design. Mass: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.,
1990.
LANDAUER, T. K. Research Methods in Human-Computer Interaction. In: Helander,M.
(Ed.). Handbook of Human-Computer Interaction. Elsevier Science - Publishers B.V, pp.
905-927, 1988.
LAUREL, Brenda (org). The Art of Human-Computer Interface Design. Mass: Addison-
Wesley Publishing Company, Inc., 1990.
LOY, G. Musicians make a standard: the MIDI phenomenon. Computer Music Journal
9(4): 8-26, 1985.
LOY, G. Composing with computers a survey of some composicional formalisms and
music programming languages. In M. Mathews e J. Pierce, (Editores). Current Directions
in Computer Music Research. Cambridge, Massachusets: MIT Press, pp. 292-398, 1989.
MATHEWS, M. e F. R. Moore. GROOVE--a program to compose, store, and edit
functions of time. Communications of the Association for Computing Machinery 13(12):
715-721, 1970.
MACHOVER, T. et al. Hyperinstruments: Musically Inteligent and Interactive
Performance and Creativity Systems. Report to Yamaha Corporation. Mass.: MIT Press,
1991.
MOORE, Richard. The dysfunctions of MIDI. Computer Music Journal 12(1): 19-28,
1988.
MOORE, Richard. Elements of Computer Music. New Jersey: Prentice Hall, 1990.
MYERS, Brad A. Encapsulating Interactive Behaviors Factors in Computing Systems.
Proceedings SIGCHI'89, Austin, TX, pp. 319-324, 1989.
MYERS, Brad A. e Mary Beth Rosson. Survey on User Interface Programming
Conference Proceedings, Monterey, California, pp.195-202, 1992.
MYERS, Brad A. , Editor.Languages for Developing User Interfaces. Mass: Prentice-
Hall,1992
NELSON, T. H. The Right Way to Think About Software Design. In: Brenda Laurel (Ed.)
The Art of Human-Computer Interface Design. Mass: Addison-Wesley Publishing
Company Inc., 1990.
NORMAN, D. Design Principles for Human-Computer Interfaces. In: R.Baecker & W.
Buxton (Editores). Readings in Human-Computer Interaction: A Multidisciplinar
Approach. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publ. Inc., 1988.
NORMAN, D. Why Interfaces Don't Work?. In: Brenda Laurel (Ed.) The Art of Human-
Computer Interface Design. Mass: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1990.
OPCODE Systems, Inc. Max Reference Manual. Palo Alto, CA., 1995.
POPE, S. Music notations and the representations of musical structure knowledge.
Perspectives on New Music n. 24, 1988.
PUCKETTE, Miller. A real-time music performance system. Cambridge, Massachusetts:
MIT Experimental Music Studio, 1985.
PUCKETTE, Miller. The Patcher. Proceedings of the 1988 International Computer Music
Conference. San Francisco: International Computer Music Association, pp.420-429, 1988.
PUCKETTE, Miller. Amplifying Musical Nuance. Paris: IRCAM Document, 1990.
PUCKETTE, Miller. EXPLODE: A User Interface for Sequencing and Score Following,
Proceedings: International Computer Music Conference, Glasgow, 1990a.
PUCKETTE, Miller. Combining Event and Signal Procesing in the MAX Graphical
Programming Environment. Computer Music Journal 15(3): pp. 68-77, 1991.
PUCKETTE, M. e A. Lippe. Score Following in Practice. Proceedings, International
Computer Music Conference. San Francisco: Computer Music Association, pp. 182-185,
1992.
PUCKETTE, Miller. Score Following Using the Sung Voice. Proceedings, International
Computer Music Conference. San Francisco: Computer Music Association, pp. 175-178,
1995.
PUCKETTE, M. e D. Zicarelli. MAX - An Interactive Graphical Programming
Environment. Menlo Park: Opcode Systems, 1990.
ROADS, Curtis. Composing Grammars. San Francisco: Computer Music Association,
1978.
ROADS, Curtis. The Computer Music Tutorial, Mass: MIT Press, 1996.
ROWE, Robert. Interactive Music Systems, Mass: MIT Press, 1994.
SCHAWANAUER, S. M., & d. Levitt, Editores. Machine Models of Music, Mass: MIT
Press, 1983.
SHNEIDERMAN, B.. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-
Computer Interaction, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1987.
SUMMERSGILL, R. & D. P. Browne. Human Factors: Its Place in System Development
Methods, Journal of Human Factors Society, Vol.14, No.3, pp. 227-234, 1989.
TODD, N. A connexionis approach to algorithmic composition, Computer Music Journal
13(4): 27-43, 1989.
TOOK, R. Putting design in practice: formal specification and the user interface. In: M.
Harrison e H. Thimbleby (Editores). Formal Methods in Human-computer Interaction
Cambridge: University Press, 1990.
VERCOE, B. Csound Manual and Tutorials. Mass: MIT Press, 1992.
VERCOE, B. "The Synthetic Performer in the Context of Live Performance." Proceedings,
International Computer Music Conference. Paris: Computer Music Association, 1994.
1
1
Msica e resposta emocional
Antenor Ferreira Corra
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
antenorferreira@yahoo.com.br
Resumo: So inegveis as reaes emotivas provocadas pela msica nos mais variados ouvintes, fato que
sugere a questo: por que reagimos emocionalmente musica ? A palavra reao um efeito, implicando a
existncia de sua ao geradora: o estmulo sonoro, responsvel pelo desencadear emotivo. Pesquisas atuais
comparam esta situao ao processo cognitivo, no qual a percepo, integrada a elementos motivadores, leva
ao conhecimento. Estes elementos objetivam assegurar que todas informaes sejam canalizadas em
benefcio mximo do organismo. Isto indicaria que as respostas emotivas aos estmulos acsticos
correspondem recompensas lmbicas primordiais programadas durante o processo de evoluo da espcie
humana, apontando para uma possvel participao da msica na cadeia evolutiva. Este trabalho fundamenta-
se nas pesquisas psicoacsticas de Juan Roederer e objetiva analisar os processos relacionados escuta
musical e sua respectiva resposta emocional, confrontando outras hipteses que levaram, como concluso
parcial, proposio da readaptao emocional para a escuta do repertrio contemporneo.
Palavras-chave: percepo musical, psicoacstica, readaptao emocional
Abstract: Theres no doubt about the power of music to promote emotional reactions in different sorts of
listeners. That fact creates this question: why do we react emotionally to music ?
The word reaction implies an effect and the existence of a cause wich produces that effect. Sonorous
stimulus are responsible for the emotive unleash. Recent researches compare this situation to the cognitive
process in which the perception brings knowledge aggregating elements of motivation wich assure that all
information will be in course toward of the maximum benefit of organism. One supposes that the emotive
responses to the acoustic stimulus correspond to the primitive limbic rewards already planed through
evolucionist process of human kind, what indicates that the music had taken part in the evolutive chain.
This work, founded at psychoacoustic researches of Juan Roederer, attempts to analyse the inherent process
of musical listening and its emotional feedback. The results, so far, indicates the need for an emotional
readaptation for the appreciation of contemporary music.
Keywords: music perception , psychoacoustic , emotional readaptation
Introduo: Msica e o enfoque psicolgico
Um assunto j h tempo instigante o fato inegvel da msica provocar reaes
emocionais. Esta simples constatao tem sido objeto de muitos estudos e experimentos, bem como
motivo de controvrsias e crticas.
Schoenberg, ao comentar a idia geralmente aceita de que a msica expressa algo, diz que
do ponto de vista puramente esttico, no expressa nada de extra musical e segue do ponto de
vista psicolgico, porm, nossa capacidade de associaes mentais e emotivas ilimitada
(SCHOENBERG, 1993, p. 119). Esta afirmao, ao bipolarizar a percepo musical, oferece duas
vertentes para a interpretao de um discurso musical: a esttica e a psicolgica. Bipartio que
implica em considerar o polo psicolgico como subjetivo, incontrolvel por parte do compositor,
pois as associaes emotivas no se encontram no plano racional. O aspecto esttico denotaria
2
2
objetividade, porque se atem a elementos intra musicais, tecnicamente manipulados e organizados
no plano composicional.
A colocao da percepo esttica em um mbito objetivo menos paradoxal do que pode
parecer, pois revelar-se- como uma mudana de enfoque. Entender esttica como o estudo do belo
implica em um juzo de valores, pessoal portanto. Porm, no novo enfoque a carga arbitrria
continua, s que a apreciao deste belo dever ser realizada em elementos intrnsecos obra
musical, restando pouca, ou nenhuma, relevncia s associaes extra musicais que surgiro.
Reencontramos assim, o que Dalhaus (1991, p. 123) salientava a respeito daquilo que chamou
imediatidade mediada pela reflexo, ou seja, o imediatismo de uma primeira sensao (advinda da
contemplao artstica), efmera que o , mergulha na reflexo, pois o momento de contemplao
no desvinculado das nossas referncias e experincias anteriores, mas est inexoravelmente
atrelado ao, que Kant denominou, juzo histrico. A subjetividade, em verdade, inter-subjetiva.
A vertente esttica havia gerado veemente polmica com o trabalho de Hanslick que, j em
1854 na primeira edio do seu Do Belo Musical, negava a capacidade da msica em expressar
sentimentos, e afirmava que a natureza do belo na msica reside unicamente nos seus componentes
internos, suprimindo-lhe, portanto, a capacidade em portar uma linguagem simblica, cujas reaes
poderiam ser previsveis e unvocas.
Deve-se constatar, entretanto, a diferena de contedos expressos pela msica, que
permitem uma clara diferenciao entre a audio de uma marcha militar e uma cano de amor,
por exemplo. Como explicar esta distino considerando apenas os aspectos sintticos,
estruturadores do discurso musical ? Nota-se, tambm, a utilizao musical em situaes que
necessitam da equivalncia comportamental de um dado grupo, como em rituais religiosos, ritos
de procriao, manipulao ideolgica, manifestao de rebeldia e em manobras militares. Por
outro lado, no enfoque psicolgico no h dvidas quanto a manifestao destas reaes emocionais
despertadas pela audio musical, derivando da muitos estudos que tentam entender e explicar
como e porque se do estas relaes.
Dentro desta perspectiva psicolgica desenvolve-se este texto, abordam-se alguns aspectos
relacionados ao processo de escuta musical e sua respectiva resposta emocional. Comparam-se
recentes trabalhos realizados nesta rea com as consideraes e hipteses formuladas por Juan
Roederer, as quais representam o embasamento terico deste trabalho. Tambm sero relatadas
teorias sobre a aquisio da fala e especializao cerebral. Por fim, sugere-se como hiptese o
processo de readaptao emocional para a escuta do repertrio musical contemporneo.
3
3
Estmulo, motivao e cognio
Ao tentar compreender a constatao inicial de que reagimos emocionalmente msica, ser
interessante entender como os estmulos sonoros so analisados e processados pelo crebro.
curioso notar que o auxilio da fisiologia j era requisitado no citado livro de Hanslick em
que comenta:
certo que a causa de todo sentimento provocado pela msica deve residir no modo particular
como uma impresso auditiva afeta os nervos. Mas a maneira que a excitao do nervo acstico
chega como qualidade de sensao determinada at a conscincia . . . permanece mais alm do
poente escuro onde nenhum investigador ousou atravessar . . . o que a fisiologia oferece cincia
musical de suma importncia para nosso reconhecimento das impresses acsticas ( HANSLICK,
1947, p 98).
Hanslick descreveu o seguinte percurso:
Excitao do nervo acstico conscincia
Estmulo fsico estado de nimo
Sensao sentimento
Esta situao reagrupada seria entendida como: a sensao advinda de um estmulo fsico
externo excita o nervo acstico e convertida pela conscincia em sentimento, que por sua vez
induz a um estado de nimo. Os investigadores hodiernos j possuem condies de se aventurarem
e ultrapassar o poente limitador da poca de Hanslick, e uma importante proposio surgida foi a
insero de mais um componente neste percurso: a motivao.
Deduz-se das consideraes de Roederer (p. 262) o seguinte esquema para a trajetria dos
estmulos em geral (auditivos, visuais, olfativos, gustativos e tcteis) cognio:
todas as referncias s formulaes de Roederer pertencem mesma obra (vide bibliografia), portanto informarei
apenas o nmero da pgina correspondente s respectivas citaes.
4
4
reforo
Percepo motivao cognio estado afetivo
ou
Modificao da motivao
e ateno perceptiva
redes corticais
sistema lmbico
Segundo Roederer, nos atos perceptivos a cognio advm de uma motivao. No processo
cognitivo so provocadas mudanas de estado afetivo que podero reforar ou modificar a
motivao e a ateno perceptivas. Note-se que a percepo de estmulos sonoros (msica e fala)
compreende tarefas cognitivas, pois estes estmulos devem ser analisados, processados,
armazenados e recuperados, independentemente do contedo musical parecer visar mais os estados
afetivos do que informativos. Neste processo a motivao e a emoo tem um importante papel na
medida em que inibem ou reforam a aquisio da informao. Constata-se tambm que as funes
cognitivas so controladas pelas redes corticais, enquanto os impulsos motivadores e a resposta
emocional esto sob o controle do sistema lmbico, porm, estas estruturas cerebrais esto inter
conectadas por redes neuronais que possibilitam seu trabalho conjunto. Com isso, ao receber uma
informao analisada como positiva, o sistema lmbico provocaria uma resposta afetiva no
inibidora , manifestando uma espcie de sinal verde para que os estmulos perceptivos continuem
a ser recebidos. Pode-se dizer que a motivao atribui um prazer ao aprendizado, e as informaes
adquiridas sero armazenadas na memria com o objetivo de assegurar que todos os processos
corticais sejam realizados para o mximo benefcio do organismo (Panksepp, apud Roederer,
1998, p. 263) .
Se uma das funes do sistema lmbico controlar a motivao de entradas sensoriais, o
crtex cerebral, por sua vez, gerencia o comportamento inteligente e as funes cognitivas. Mas o
que ocorre no sistema nervoso quando uma informao sensorial se manifesta ? A hiptese de
Roederer da distribuio espacial e temporal de impulsos eltricos, na qual os estmulos
sensoriais teriam uma correspondncia de sinais eltricos na rede neural do crtex cerebral. Assim
sendo, a cognio nada mais do que a ocorrncia de uma distribuio neural especfica que
corresponde biunivocamente com o estmulo percebido. A lembrana de algo implicaria em uma
reconfigurao neural de acordo com uma disposio semelhante anteriormente assimilada. Esta
hiptese encontra fundamentao em recentes experimentos baseados em registros de
5
5
microeletrodos que estimulam eletrofisiologicamente o crebro, bem como em tcnicas de
tomografia de psitrons e de ressonncia magntica. Estes equipamentos podem mapear e oferecer
uma fotografia do crebro, que permite avaliar sua atividade neuronal. Roederer (p. 230) relata os
experimentos realizados por Herrington e Schneidau em 1968, nos quais registra-se a atividade
neuronal de um sujeito ao observar um determinado objeto. Posteriormente, pede-se que ele apenas
imagine o objeto. Verificou-se que esta segunda atividade apresenta atividade neural semelhante
primeira, isto , nas duas operaes as mesmas regies do crtex so ativadas.
Que motivao seria oferecida para a captao de estmulos musicais ?
Ao que parece as mensagens musicais no transmitem informaes biologicamente
relevantes para a espcie humana, porm, vrias pesquisas comprovam a existncia de
manifestaes musicais em todas as culturas. Teria a msica alguma funo ou participao na
evoluo da espcie humana ? A busca destas respostas normalmente conduz origem da aquisio
da fala pela espcie humana, pois em princpio, os dois processos se utilizam do mesmo aparato
para captar os estmulos externos e de redes neurais centrais correlatas.
Hipteses sobre a origem da fala
As ocorrncias transformacionais (evolutivas) que teriam possibilitado o processo de
aquisio da fala quando apreciadas em conjunto (co-evoluo) podem ser descritas dessa maneira:
na medida em que o crnio dos primeiros homondeos foi crescendo, formou-se na regio da
garganta uma caixa de ressonncia adequada voz, a posio da laringe baixou e nossos sistemas
sensoriais se aperfeioaram. Tudo isto resultou em uma plataforma adequada para o
desenvolvimento da fala (MIRANDA, 2000, p. 3).
Condillac (1715-1780) tal como Rousseau (1712-1778) situa as inflexes voclicas como
anteriores linguagem verbal. Nesta concepo, no incio as primeiras manifestaes lingsticas
seriam compostas por inflexes, gritos, vocalizaes, risos e entonaes diversas, que variavam em
altura, durao, timbre, intensidade, as quais seriam indcios de estados afetivos (tristeza, alegria)
ou advertncias, complementadas com gestos manuais ou faciais. Estas elocues seriam espcies
de melodias de sons voclicos.
Para Rousseau, a quantidade de variaes de tom (altura e timbre) diminuiu na medida em
que houve a necessidade da convivncia em grupo, o convvio social exigiu uma expresso mais
precisa e menos apaixonada das idias, dando lugar ao surgimento das articulaes (consoantes).
Desta passagem da paixo para a razo, os aspectos meldicos do lugar gramtica e
posteriormente argumentao lgica. As antigas vocalizaes e inflexes meldicas no so
abandonadas, mas so direcionadas para uma nova forma de expresso: msica.
6
6
Na hiptese de Rousseau, observa-se que o caminho para a fala estaria aberto por elementos
relacionados com a habilidade musical, como identificao de altura, sensibilidade a padres de
tempo, avaliao de intensidade e de contorno meldico.
Estas hipteses divergem da proposio de Roederer. Segundo ele, na percepo da fala
humana, o sistema auditivo levado ao seu limite de percepo acstica e interpretao (p. 264).
Portanto, deduz-se que o sistema auditivo j apresentava conformao, ao menos em parte,
adequada para possibilitar anlises da grande variedade de estmulos acsticos oriundos do
ambiente e da fala. Roederer ento sugere: concebvel que, com a evoluo da linguagem
humana e o surgimento de reas corticais especializadas na percepo da fala, uma diretriz tenha
surgido para treinar o sentido acstico no reconhecimento de padres sonoros sofisticados (p. 265).
A diferena bsica entre estas hipteses est na primazia que oferecem msica ou fala como
possvel ponto de partida para a aquisio da linguagem. Pergunta-se: tendo a percepo musical
advindo de uma diretriz criada para o aperfeioamento da compreenso da fala, por que as
informaes oriundas destes dois tipos de estmulo so analisadas em hemisfrios cerebrais
diferentes ?
A motivao na percepo de sons musicais explicada por Roederer como princpio para a
aquisio da linguagem, isto , haveria uma reao emocional ou recompensa lmbica para a
realizao dos atos relacionados fala, como ouvir, analisar, armazenar e vocalizar sons musicais.
Desta maneira, a constatao inicial de que a msica desperta reaes emocionais, estaria
compreendida considerando-se o processo de aquisio da fala e as recompensas lmbicas, ou
motivaes, envolvidas na busca de algum contedo fontico.
Especializao cerebral
Sabe-se que uma fissura divide o crebro em duas metades chamadas hemisfrios. Cada um
destes hemisfrios especializado no controle de diferentes aes. Uma das explicaes para esta
especializao e respectiva diviso de tarefas, surgidas ao longo da evoluo da espcie humana, a
da economia de tempo: visando evitar atrasos entre a recepo, processamento e transmisso de
dados, se fez necessrio manter o mais prximo possvel as reas envolvidas nestas operaes,
otimizando seus mecanismos de inter- relao.
Notavelmente, a fala controlada pelo hemisfrio dominante (hemisfrio esquerdo em 97%
das pessoas) enquanto a percepo musical controlada pelo hemisfrio direito (menor).
Esta especializao cerebral faz com que cada hemisfrio tenha um modo de operao
diferenciado. O dominante envolve a anlise seqencial de subpartes, o menor opera sinteticamente,
envolvendo a percepo global, gestltica, dos estmulos. Os sons e, consequentemente, a msica
so tratados pelo hemisfrio menor, so percebidos globalmente. Um exemplo simples desta
7
7
percepo integral que os componentes parciais (harmnicos) no so ouvidos isoladamente, mas
como uma unidade de impresso nica. J os eventos de curta durao, fragmentados (ritmo e
seqncias curtas de sons meldicos), so processadas no hemisfrio dominante (Cf. p. 270).
Roederer explica que, apesar do aparente contra senso envolvendo percepo meldica
(hemisfrio menor) e rtmica (hemisfrio dominante), nosso crebro reconhece mensagens musicais
como de natureza global, representao de imagens auditivas holsticas integrais (p. 272).
Como dito anteriormente, h uma motivao, uma resposta lmbica programada para reforo
ou modificao da ateno perceptiva. Esta programao tambm existe para os estmulos musicais.
Ao pensar na msica atual (denominada contempornea e, muitas vezes, classificada como cerebral
ou matematizada) e na resistncia encontrada para sua assimilao por parte do pblico, iniciado ou
no, pode-se especular guisa de hiptese, que pelo fato destes estmulos serem reconhecidos como
eventos de curta durao, e no globalmente, seu processamento seja direcionado ao hemisfrio
dominante, responsvel pela interpretao das operaes de ordem lgica. Estas interpretaes
requisitariam uma motivao distinta daquela prevista para a percepo de estmulos musicais
gestlticos, eventos de longa durao. Participa-se agora, de uma espcie de re-adaptao
emotvica, ou seja, uma nova maneira de escuta, para as quais as respostas lmbicas estejam se
configurando, posto que ainda no apresentam uma resposta biolgica comportamental programada.
Concluso
O processo adaptativo/evolutivo da espcie humana conduziu especializao cerebral e
conseqente diviso de tarefas entre os hemisfrios cerebrais. Ao hemisfrio esquerdo, dominante,
coube o controle da linguagem, processos matemticos e de operaes lgicas, entre outros. Em
contrapartida, o hemisfrio menor, direito, se encarregou de operaes de sntese, percepo global
e do pensamento criativo. cada percepo sensorial participante do processo cognitivo
corresponde uma resposta comportamental por parte do sistema lmbico (motivao), que pode
inibir ou modificar a ateno perceptiva para os estmulos em questo. Isto chamado de motivao
do processo cognitivo.
A percepo musical envolve tarefas cognitivas complexas, desde o instante em que o
estmulo acstico captado pelo aparelho auditivo at sua transmisso (envio, anlise, comparao,
armazenagem, recuperao) e interpretao pelo crebro. Este processo tambm compreende as
respostas lmbicas biologicamente programadas, que segundo Roederer, so recompensas para
aperfeioar nossa ateno auditiva e tambm sua respectiva anlise, armazenagem e vocalizao de
sons, objetivando a aquisio da linguagem (p. 265). A msica cumpriu assim sua parte no
processo evolutivo da espcie humana, afirmao reiterada por Roederer em 17 de novembro de
8
8
1989, por ocasio de sua participao no Alaska Science Forum , artigo intitulado What Is Music?
(n 953): obviamente msica deve ter um valor para a sobrevivncia.
Enquanto linguagem e processo criativo a msica aumentou seu grau de complexidade,
atingindo o estgio atual em que classificada por muitos como cerebral, matemtica e
intelectualizada. Com base neste processo, e fundamentado nas investigaes psicoacsticas de
Juan Roederer, especula-se que nosso sistema lmbico no tenha, ainda, resposta prvia para estes
estmulos musicais cujas informaes direcionam-se ao crtex do hemisfrio dominante. Participa-
se de uma readaptao emocional destes estmulos, que necessitam uma programao biolgica
distinta daquela prevista na percepo integral, gestltica, dos estmulos musicais, sobre quais j
atua o condicionamento cultural.
Bibliografia
ALPERN, Mathew. Processos Sensoriais. Traduo Joo Cludio Todorov. So Paulo: Ed. Herder
e EdUSP, 1971, pp 107-163.
DAHLHAUS, Carl. Esttica Musical. Traduo Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 1991.
__________ . Analysis and Value Judgent. Traduo: Siegmund Levarie. New York, Pendragon
Press, 1983.
DEUTSCH, Diana (ed.). The Psychology of Music. San Diego: Academic Press, 1982.
GUILLAUME, Paul. Psicologia da Forma. Traduo Irineu de Moura. So Paulo: Cia. Editora
Nacional, 1960.
HANSLICK, Eduard. De lo Bello en la Musica. Traduo Alfredo Cahn. Buenos Aires: Ricordi
Americana, 1947.
MIRANDA, E. Reck. Sobre as Origens e a Evoluo da Msica. In: Revista Eletrnica de
Musicologia, Vol. 5.2/ dezembro de 2000. Dept de Artes da UFPr.
ROEDERER, Juan G. Introduo fsica e psicofsica da msica. Traduo Alberto Luis da Cunha.
So Paulo: Edusp, 1998.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Ensaio sobre a origem das lnguas. In: Coleo Os Pensadores.
Traduo Lourde Santos Machado. So Paulo: Nova Cultural, 1991.
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da Composio Musical. Traduo Eduardo Seincman. So
Paulo: Edusp. 1993.
WERTHEIMER, Michael. Pequena Histria da Psicologia. Traduo Llio L. de Oliveira. 4 ed.
So Paulo: Ed. Nacional, 1978.
1
Tradio e ideologia no Il Aiy: um relato da pesquisa de campo
Antonio Loureno Filho
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
alfzig2002@yahoo.com.br
Resumo: O presente trabalho aborda tpicos da minha pesquisa sobre o bloco afro Il Aiy,
destaque dado para uma reflexo com relao s definies de pesquisa de campo, contexto
(campo) e informante. Partindo de uma perspectiva etnomusicolgica, abordamos o bloco afro Il
Aiy, sua importncia para os seus integrantes e sua filosofia, assumindo um ponto de vista mico.
Procurando relacionar elementos sociais e musicais na busca da compreenso das relaes
humanas, este trabalho desenvolve-se dentro das atuais correntes da etnomusicologia.
Palavras-chave: Pesquisa de campo, etnomusicologia, bloco afro Il Aiy.
Abstract: This paper is about the research Im conducting on the Brazilian group Il Aiy,
reporting the definition of the fieldwork, the field itself and the informant. From an
ethnomusicology point of view, it was approached the Brazilian group Il Aiy and its importance
to the members and its philosophy. Searching the relation between the music and the social
elements to understand the human relationship, this work develops in the modern concept of
ethnomusicology.
Keyword: fieldwork, ethnomusicology, Il Aiy.
1. Introduo
A pesquisa de campo um dos aspectos mais relevantes nos estudos
etnomusicolgicos. Segundo Hughes, em Helen Myers (1992), pesquisa de campo ou
trabalho de campo pode ser definido como a
observao das pessoas em seu local (...) estando com elas em alguma atividade a
qual, com a sua permisso, permitir uma observao ntima de certas partes de seu
comportamento, e o repasso dessas informaes de maneira til para as cincias
sociais mas que no seja prejudicial ao observado
1
(Myers, 1992, p. 23).
A pesquisa de campo propriamente dita centra-se na coleta de dados relacionados a
um tema que se deseja estudar. E por essa razo devemos ter objetivos e mtodos bem
1
observation of people in situ() staying with them in some role which, while acceptable to them, will allow
both intimate observation of certain parts of their behaviour, and reporting it in ways useful to social science
but not harmful to those observed.
2
definidos. Contudo, como veremos, estes objetivos e mtodos podem ser modificados no
decorrer da prpria pesquisa.
Este trabalho aborda minha pesquisa, seu contexto e seus informantes, ressaltando a
importncia deste ltimo e as suas relaes com o pesquisador. Descreve ainda o objeto
pesquisado - o bloco afro Il Aiy - e a sua importncia, do ponto de vista mico.Portanto,
busca entender o que pesquisa campo e os fatores que a envolvem, e a compreenso da
filosofia do bloco Il Aiy.
2. Pesquisa de campo, contexto e informante
Todo trabalho etnomusicolgico tem aspectos fundamentais, dentre eles: a pesquisa
de campo, o contexto (campo) e os informantes. Estes trs itens, os quais fazem parte da
minha pesquisa so aqui abordados e definidos. Segundo Helen Myers, para o
etnomusiclogo o campo pode ser uma rea geogrfica ou lingstica; um grupo tnico, um
bairro, uma cidade(...)
2
, (Myers, 1992, p. 23), ou seja um local ou situao onde deve-se
levantar os dados a serem pesquisados, sejam eles obtidos atravs dos informantes, de
observao direta ou pesquisa bibliogrfica. Enfim um local onde em uma situao nica
sero levantados dados a serem pesquisados.
A pesquisa de campo no inclui apenas o evento musical, mas tambm a
performance, tanto musical quanto cultural; ou seja, os ritos e mitos que esto envolvidos
no objeto a ser pesquisado. No basta ao etnomusiclogo saber o que acontece ao seu redor,
ele necessita saber o porqu. E para realizar tal intento faz-se necessrio uma inteirao
progressiva entre pesquisador e as pessoas que ele estuda.
Conseqentemente, na pesquisa de campo descobrimos o lado humano da
etnomusicologia, pois nos relacionamos diretamente com pessoas e necessitamos estreitar
laos de amizade a fim de podermos ter uma conversa franca e aberta com os nossos
informantes, o que muitas vezes fundamental. Neste sentido, conhecer o compositor
Juraci Tavares tem sido de fundamental para esse trabalho. Juraci estudante da UFBA e
compe canes para o Il Aiy. Graas ao seu apoio, conheci pessoas influentes dentro do
2
For the ethnomusicologist the field can be a geographical or linguistic area; an ethnic group; a village, town,
suburb or city()
3
bloco; tambm o fato dele pertencer academia e estar prximo s pessoas do bloco afro,
propicia informaes mais compatveis com o trabalho acadmico. Devido sua ligao
com o Il Aiy, Juraci tem fornecido informaes relevantes que poderiam ter passado
desapercebidas.
Em minhas visitas ao Il Aiy conheci tambm outras pessoas e pude observar
detalhes distintos de seu relacionamento, como, por exemplo, a forma de se cumprimentar.
Gestos como este, que aparentemente podem ser considerados irrelevantes, fazem parte da
formao da identidade cultural do Bloco. A partir destas observaes: Analisei as
peculiaridades do local (do bairro, do bloco, da cidade). Busquei compreender os diversos
aspectos da msica, da vestimenta, dos costumes do bloco, suas questes filosficas e
expectativas. Identifiquei, segundo a viso do bloco, elementos relacionados s razes
africanas e como estes se refletem na msica e no comportamento do bloco.
De fundamental importncia, foi constatao de uma busca constante das
tradies africanas no bloco do Il Aiy, visando promover a auto-estima e a valorizao do
negro na sociedade de Salvador. Enfim, todos estes aspectos levantados no campo so
utilizados para verificarmos a formao de uma identidade afro-baiana.
A medida em que continuo minha pesquisa vou verificando novos fatos
simultaneamente com o aprofundamento de aspectos j levantados. Constato, assim, o
quanto pode ser mutvel a pesquisa de campo; ou seja, a pesquisa etnomusicolgica no
um produto acabado, surgem a cada passo novos conhecimentos. Por exemplo, meu
despertar para a importncia da BandEr
3
como formadora dos futuros msicos do Il
Aiy.
Sem o intermdio de uma pesquisa de campo, no seramos capazes de captar a
importncia das informaes obtidas, tais como as citadas anteriormente. Por esta razo,
Helen Myers enfatiza a importncia da pesquisa de campo, considerada-a a base para todos
os resultados, ou seja, a base para a etnomusicologia (Myers, 1992, p. 21). O que Myers
ressalta, pude constatar in loco.
3. O objeto pesquisado: O Il Aiy.
3
A BandEr um grupo formado por jovens, os quais recebem aulas de msica, dana, corte-e-costura e
cidadania. Um dos objetivos o ingresso, futuramente, de integrantes dessa banda no grupo principal a
Banda Aiy.
4
Pela cor do pano
nota-se que sou africano
Sou Il Aiy
E venho saudando povos Bantus
4
O Il Aiy um bloco afro que, desde a sua formao em 1974, tem criado
representaes de negritude e narrativas sobre a identidade afro-baiana. A construo desta
identidade se d atravs de valores da tradio e da ideologia do bloco que tem como
referncia os valores positivos da frica, tais como a sua religiosidade.O Bloco afro Il
Aiy tem uma importncia destacada para os afro-descendentes de Salvador, pois tem como
uma das principais bandeiras a valorizao do negro e a sua auto-estima.
A importncia dos blocos carnavalescos para a cidade de Salvador enfatizada pela
antroploga Goli Guerreiro:
Os blocos afro so considerados a forma mais visvel de expresso e mobilizao
afro-baiana. Essas organizaes carnavalescas se identificam e so identificadas
como comunidades culturais em defesa do negro e de sua cultura, constituem-se em
plos nos quais questes tnicas so colocadas em pauta e seus membros se
conscientizam de sua negritude, atravs da construo de uma identidade que busca
a valorizao do negro em termos estticos e culturais. (Guerreiro, 2000, p. 49).
Esta valorizao do negro tem sido uma constante no bloco afro Il Aiy que desde
a sua formao tem criado representaes de negritude e narrativas sobre a identidade, a
fim de compor uma imagem negra positiva e africanizada. Esta informao foi obtida por
mim atravs de entrevista realizada com o msico Bira Reis, o qual foi um dos primeiros
participantes do bloco Olodum. Reis confirma este pensamento ao declarar que o Il Aiy
foi o primeiro bloco afro a mudar o pensamento vigente. Homenageando frica,
colocaram uma conotao tambm ideolgica, poltica e social dentro do trabalho.(Reis,
2002).
Atravs desta homenagem frica e do enfoque dado as razes africanas, o Il Aiy
unifica o grupo utilizando elementos musicais, adereos, vestimenta, coreografia, entre
outros. Criando desta forma uma identidade afro-baiana atravs de valores culturais
positivos trazidos da Me frica. Estes se refletem nas suas vestes coloridas, em seus
5
penteados, no ritmo do samba-reggae, na utilizao de instrumentos (somente de
percusso), nos temas de suas canes e em seus adereos. Sua utilizao corporifica uma
africanidade idealizada positivamente e promove para os seus integrantes um significado de
liberdade e de valorizao enquanto ser humano. Estes valores incentivam a auto-estima
dos integrantes do bloco, fazendo com que seus folies sintam-se orgulhosos e felizes,
gerando, assim, nesta festa contagiante que o carnaval, um ambiente feliz e de perfeita
harmonia.
Quanto ao significado do nome, encontramos vrias terminologias distintas.
Segundo Schaun os vocbulos Il Aiy quer dizer a senzala do barro preto na lngua
nag, o abrigo do homem preto (Schaun, 2002, p. 81). O que confirmado pelo Caderno
de Educao n 1, do Il Aiy, que cita O Il quando faz da Senzala do Barro Preto o
piso da negritude, inaugura um espao socialmente construdo (Il Aiy,1995, p. 24).
Goli Guerreiro atribui a origem do nome lngua ioruba, o qual representa: Casa de
Negros, Abrigo de Negros ou ainda Terreiro de Negros (Guerreiro, 2000, p. 30).
Pelas observaes acima e atravs da minha pesquisa, observamos que o Il Aiy
o bloco carnavalesco que se prope reafirmao das tradies da frica em Salvador,
sendo um dos principais responsveis pelo movimento denominado de afro-baianidade. O
Il vem reafirmando o seu compromisso de luta por uma sociedade sem desigualdades,
sem excluses e com conscincia de suas origens (Conceio 2001, p. 10) propiciando a
construo de uma identidade. Esta identidade de fundamental importncia, propiciando o
fortalecimento da comunidade e a auto-estima de seus associados, que passam a ver no
negro um motivo de orgulho.
Um dos pontos culminantes onde se observa o orgulho de pertencer ao Il Aiy o
carnaval. Este aspecto, juntamente com a beleza do bloco, realado pelas manchetes dos
jornais. O jornal A Tarde do dia 03/03/2003, traz na sua capa a seguinte manchete:
Como bonito de se ver: A sada do Il Aiy sempre um dos momentos mgicos
do Carnaval de Salvador, festa onde a emoo um permanente estado de esprito.
Todos os sons e ritmos conduzem alegria e estimulam apelos em favor da paz e da
confraternizao. (A Tarde, 2003, p. 1)
No campo, tive a oportunidade de acompanhar de perto esta afirmao, em especial
4
Trecho da msica Me frica composta para o Il Aiy por Valter Farias e Adailton (1996).
6
na cerimnia do pad
5
, que ocorreu no sbado noite, do carnaval deste ano, no bairro do
Curuzu-Liberdade. A cerimnia contou com a presena de Vov
6
, Me Hilda
7
, Baianas, e
inmeros jornalistas. Nesta cerimnia foi usado incenso, jogado pipoca e canjica, soltado
pombos, tocada cornetas e rufados os tambores; tudo para pedir a proteo dos Orixs e dar
inicio a sada do Il Aiy. Observei a presena de artistas entre eles Caetano Veloso e a
atriz Fernanda Torres, a qual saiu junto com o povo e a Banda Aiy
8
, subindo a ladeira do
Curuzu at a Liberdade e depois do Campo Grande at a praa Castro Alves.
Mas que bloco esse que rene tanta gente e que as pessoas do Curuzu admiram e
saem junto festejando na maior harmonia e com uma alegria contagiante? o bloco afro Il
Aiy fundado no ano de 1974 e que alm do suingue musical, tem como principal bandeira
ideolgica defesa do negro promovendo a sua auto-estima, atravs da identidade e das
tradies africanas.
O Il reverencia a cultura afro-brasileira no que esta tem de mais original: a sua
religiosidade, o seu imaginrio, a sua iconografia, a Arck. A sua apario,
enquanto bloco carnavalesco vem precedido de um discurso poltico, esttico,
eminentemente pedaggico e cultural. (Schaun, 2002, p. 86).
4. Concluso
Atualmente, observa-se que em funo da interdisciplinaridade e dos avanos nas
reas das cincias sociais, amplia-se tambm os problemas e necessidades da pesquisa
etnomusicolgica. Uma destas necessidades a de observar as atividades musicais de um
determinado grupo e relacionar os elementos sociais e musicais envolvidos na busca da
compreenso musical. Compreenso esta que, no meu entender, poder levar a uma
compreenso maior entre o fazer musical e a sociedade.
5
Pad encontro: cerimnia que precede uma festa pblica, e na qual so chamados Exu, os ancestrais e as
iami oxorong. Faz-se uma pequena oferenda para satisfaz-los, a fim de que garantam um feliz desenrolar
para a festa, que se realizar noite.(Lhning,1990 p. 237).
6
Vov Antnio Carlos dos Santos Vov o fundador, idealizador e criador da Associao Cultural bloco
Carnavalesco Il Aiy, atualmente o presidente do Il Aiy. (Il Aiy,Caderno de Educao,vol V,1997).
7
Me Hilda - Hilda Dias dos Santos ( Iyalorix Hilda de Jitolu), me do Vov, tem uma participao decisiva
para o surgimento do primeiro bloco afro no Brasil. Atualmente a primeira pessoa na diretoria do bloco.(Il
Aiy, Caderno de Educao, vol. V, 1997).
7
As dificuldades da pesquisa de campo so inmeras, cabe ao etnomusiclogo propor
solues para alguns dos problemas identificados e divulgar os conhecimentos adquiridos.
Acredito que todo o conhecimento deve levar a melhoria e o bem estar do ser humano.
Para o etnomusiclogo o sucesso da pesquisa de campo est no equilbrio entre a
participao e observao. Este equilbrio entre a participao e observao tem sido uma
busca constante no meu trabalho de campo, bem como o respeito cultura pesquisada.
Como props Malinowski
O objetivo final da pesquisa o de apreender o ponto de vista dos nativos, seu
relacionamento com a vida, sua viso de seu mundo. a nossa tarefa estudar o
homem e devemos, portanto, estudar tudo aquilo que mais intimamente lhe diz
respeito, ou seja, o domnio que a vida exerce sobre ele. Cada cultura possui seus
prprios valores; as pessoas tm suas prprias ambies, seguem a seus prprios
impulsos, desejam diferentes formas de felicidade(...). Estudar as instituies,
costumes e cdigos, ou estudar o comportamento e mentalidade do homem, sem
atingir os desejos e sentimentos subjetivos pelos quais ele vive, e sem o intuito de
compreender o que , para ele, a essncia de sua felicidade, , em minha opinio,
perder a maior recompensa que se possa esperar do estudo do homem. (Malinowski,
1976, p. 34).
5. Referncias Bibliogrficas
ALMEIDA, Aliomar. Entrevistado pelo autor, 28 nov. 2002, sede do Il Aiy, Salvador.
A TARDE. Salvador, 03 maro 2003.
BECKER, Howard S. Mtodos de pesquisa em cincias sociais. Trad. Marco Estevo e
Renato Aguiar. So Paulo: HUCITEC, 1999.
CONCEIO, Jonatas (Coord.). Caderno de Educao do Il Aiy, vol.9 Salvador:
CEAO/UFBA. 2001.
GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro: Ed. LTC. 1989.
GUERREIRO, Goli. A trama dos tambores: a msica afro-pop de Salvador. So Paulo:
Ed. 34, 2000.
Il Aiy. Caderno de Educao do Il Aiy. vol.1. Salvador:CEAO/UFBA.1995.
8
Banda Aiy a banda oficial do bloco afro Il Aiy, conta com 80 percussionistas, muitos deles formados
na BandEr.
8
_______Caderno de Educao do Il Aiy. vol. 5. Salvador:CEAO/UFBA.1997.
LHNING, Angela. A msica no candobl Nag-Ketu: estudos sobre a msica afro-
brasileira em Salvador, Bahia. Trad. Raul Oliveira. Alemanha: Verlag der
Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, 1990.
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacfico Ocidental. So Paulo: Ed. Abril,
1976.
MERRIAM, Alan P. The Anthropology of Music. 7. ed. Evanston: Northwestern University
Press, 1978.
MYERS, Helen. Ethnomusicology: an introduction. London: The Macmillan Press, 1992.
REIS, Bira. Entrevistado pelo autor, 24 ag. 2002, residncia do entrevistado, Salvador.
SCHAUN, Angela. Prticas educomunicativas: grupos afro-descendentes. Rio de Janeiro:
Ed. Mauad, 2002.
TAVARES, Juraci. Entrevistado pelo autor, 21 set. 2002, residncia do entrevistado,
Salvador.
Repertrio orquestral brasileiro contemporneo:
um estudo sobre a viso do instrumentista dos naipes de cordas
Armando Chaves
Orquestra Sinfnica do Teatro Nacional Cludio Santoro-DF
achaves@apis.com.br
Sonia Ray
Universidade Federal de Gois (UFG)
soniaray@cultura.com.br
Resumo: O presente artigo busca diagnosticar as dificuldades de interao entre instrumentistas de
orquestras sinfnicas e o repertrio orquestral brasileiro, e detectar possveis afinidades e resistncias
por parte do instrumentista de orquestra com o referido repertrio. A metodologia adotada foi a
experimental, tendo grande parte da coleta de dados sendo feita em campo, atravs de aplicao de
questionrios em instrumentistas de orquestras sediadas nas Regies Centro-Oeste e Sudeste. O artigo
dividido em duas partes principais: a apresentao doEstudo, onde se apresenta a base terica e
elaborao e aplicao dos questionrios, bem como a delimitao da pesquisa; e a Discusso dos
Dados Compilados, que apresenta uma reflexo sobre as respostas dos questionrios. A pesquisa
concluiu que, se por um lado, existe resistncia do instrumentista de orquestra brasileiro em tocar o
repertrio orquestral nacional, por outro, este demonstra claramente a disposio em familiarizar-se
mais com a produo musical contempornea.
Palavras-chave: performance, repertrio orquestral, msica brasileira.
Abstract: This paper aims to map difficulties on such interaction, as well as detect possible affinities
and lack of affinities with the repertoire. The Methodology adopted used the experimental method and
the data was collected through questionnaires. The interviewed were orchestra musicians from
professional orchestras from Southeast and Central Regions of Brazil. The paper is divided into three
main parts: The Study, where theoretical basis and the process of the constructing and applying the
questionnaires and the scope of the research are defined; and the Discussion of the data collected. The
paper ends with the conclusion that, in one hand, there is a lack of affinity between the string player
and the Brazilian orchestral repertoire. However, performers show clearly their interest in make such
repertoire more familiar the their everyday activities.
Keywords : performance, orchestral repertoire, Brazilian Music.
1. INTRODUO
A natureza do trabalho dos instrumentistas de orquestra freqentemente os conduz a
uma atuao essencialmente prtica, talvez por isso sejam poucas as publicaes disponveis
no mercado que abordem as questes pertinentes s atividades cotidianas destes profissionais.
Entretanto, os instrumentistas esto sempre procura de informaes que enriqueam a
qualidade de seu trabalho, o que tem aumentado a demanda por pesquisas que apresentem
novas contribuies em bibliografias e recursos pedaggicos. So especialmente benvindas
2
pesquisas que apresentam caminhos para uma maior aproximao do msico brasileiro
com o repertrio brasileiro orquestral contemporneo.
A experincia como msicos de orquestra permitiu-nos a observar a resistncia no
rara entre colegas de profisso, com relao a preparao de obras do repertrio orquestral
brasileiro contemporneo. Com o passar do tempo, tal observao levou-nos a fazer um
autoquestionamento sobre as razes de tal resistncia. Chegamos concluso de que, para
ampliar meus horizontes, poderamos buscar as opinies de outros profissionais e ao mesmo
tempo aferir se elas tinham proximidade com nossa experincia profissional. Assim,
apresentamos um estudo que consiste em uma amostragem da viso do instrumentista de
cordas de orquestras brasileiras sobre o repertrio em questo e reflete sobre a interao
destes instrumentistas com o repertrio em questo.
2. O ESTUDO
O estudo foi desenvolvido a partir da hiptese de que os instrumentistas de orquestras
tm resistncia em executar o repertrio orquestral contemporneo brasileiro, seja por
desconhecimento ou por falta de familiaridade com esse repertrio. O apo de direcionar o
estudo para msicos executantes de instrumentos de cordas friccionadas violino, viola,
violoncelo e contrabaixo, prevaleceu pelo fato dos autores serem instrumentistas de cordas
(violoncelo e contrabaixo) e assim sentirem-se mais familiarizados com as caractersticas
principais do universo de ofcio dos profissionais em questo. As orquestras das Regies
Sudeste e Centro-Oeste foram escolhidas para a realizao do estudo pelo fato das mesmas
englobarem cidades onde o autor vem atuando profissionalmente e tambm por estarem
localizadas em distncias viveis para a realizao da pesquisa de campo.
Os conjuntos orquestrais visitados foram a Orquestra Sinfnica do Teatro Nacional
Cludio Santoro De Braslia OSTNC, Fundao Orquestra Sinfnica de Goinia FOSGO,
Orquestra Sinfnica de Minas Gerais OSMG, Orquestra Sinfnica do Estado de So Paulo
OSESP, Orquestra Jazz Sinfnica do Estado de So Paulo OJS Orquestra Sinfnica do
Teatro Municipal De So Paulo OSTMSP, Orquestra Sinfnica Municipal de Campinas
OSMC, Orquestra Experimental de Repertrio de So Paulo OERSP, Orquestra Sinfnica
Brasileira OSB. Durante as visitas foram entrevistados 107 instrumentistas de cordas, sendo
50 violinistas, 18 violistas, 28 violoncelistas e 11 contrabaixistas.
O questionrio foi o mecanismo escolhido para que fosse possvel fazer o mapeamento
das opinies de msicos dessas orquestras, com o objetivo de explorar a hiptese levantada.
3
Foi adotado o sistema Cafeteria (Mucchielli, 1979), cujo formato apresenta perguntas
abertas e fechadas combinadas em cada questo. Este formato evita extremos tais como
apenas perguntas fechadas ou somente abertas que, respectivamente, limitam ou abrem em
demasia as respostas, dificultando a avaliao do tema pesquisado.
Foi elaborado um pr-teste (anexo I) o qual, aps ser aplicado em catorze msicos,
demandou alguns ajustes, particularmente a supresso de partes que exigiam anlise de
trechos orquestrais, o que levou alguns msicos a hesitarem a respond-lo. Concluiu-se que
esses trechos orquestrais foravam um alargamento de tempo que tanto no se
compatibilizava com as disponibilidades de tempo dos entrevistados, como tambm no se
encaixava na exigidade de prazo para concluso do estudo. Assim, ainda que eles tivessem
alguma relao com problemas de arcadas e digitao no eixo de duas questes do pr-teste,
esses excertos puderam ser suprimidos, porque auxiliavam porm no representavam o foco
mais direto para a busca das respostas pretendidas sobre esses tpicos, e por tambm no
obstarem os interesses principais da pesquisa.
Assim, o questionrio foi re-elaborado, sendo dividido em duas partes (A e B)
abarcando um conjunto de treze questes, distribudas em oito para a Parte A, e cinco para a
Parte B (questes 9 a 13).
O trabalho de campo se deu com a aplicao do teste definitivo no ms de agosto do
ano de 2002, quando o questionrio foi entregue pessoalmente pelo autor a cada participante
aps solicitar-lhes permisso para tal durante os ensaios das orquestras, em viagens pelas
cidades de Goinia, Belo Horizonte e So Paulo. Para aqueles msicos cuja localidade foi
difcil acessar pessoalmente, foi utilizado, quando possvel, o correio eletrnico com o
questionrio enviado em WORD anexado a mensagem.
3. DISCUSSO SOBRE OS DADOS COMPILADOS
A compilao dos dados coletada atravs do questionrio foi quantificada em
porcentagens, apresentando o seguinte quadro de respostas:
4
QUESTIONRIO - PARTE A
A questo aberta pelo questionrio para resposta expontnea que chegou nesta questo
aos 31% dos entrevistados, estes em grande parte redundaram em responder o que seria
perguntado em questes seguintes. Entretanto, esse nmero muito expressivo se coteja algo
que o entrevistado respondeu em questes posteriores, como por exemplo, a respeito da
qualidade grfica do material orquestral, o que j tratado na questo de nmero 8. H casos
de reaes atravs de vrios tipos de frases que vo de empolgao, surpresa, satisfao,
curiosidade, resistncia por no gostar de tocar msica contempornea; atitude rastreadora de
verificar se a msica boa, at aceitao de novos desafios na busca de entender uma
nova linguagem musical.
1) Qual geralmente a sua principal reao como instrumentista ao
se deparar com a leitura primeira vista de um repertrio orquestral
comtemporneo brasileiro?
26%
21%
22%
31%
Ansiedade por no estar
familiarizado(a) com esse tipo de
repertrio
Preocupao com as demandas tcnicas
Dificuldade de assimilao de nova
linguagem musical
Outra
5
24% dos entrevistados que se manifestaram com outras preocupaes colocadas na
opo aberta a respostas individuais desta questo, tem dentre outros indicativos que o maior
empenho, para um nmero expressivo deles, est na razo direta da qualidade do material, da
compreenso do estilo, da grafia contempornea, e mesmo da atuao do regente. Aqui
tambm se faz referncias ocasionais a ensaios curtos e, quando no, poucos ensaios que
dificultam um melhor entrosamento com uma obra.
Verificou-se que pelas orquestras por onde a pesquisa se realizou relativamente
pequeno o nmero de instrumentistas que tm menos de dez anos em exerccio e/ou de
experincia. Isso chamou a ateno porque a longitude profissional foi considerada
importante, como embasamento para no deixar dvida quanto ao nvel das declaraes
pertinentes questo 3. O resultado, portanto, aponta que se um nmero prximo de 50%
(44%) dos entrevistados diz que tem pouca afinidade com o repertrio orquestral
contemporneo brasileiro, significa que para que isso estar ocorrendo existem premissas a
serem avaliadas para o equacionamento do problema. Vejamos, ento, as respostas:
2) Na execuo do repertrio orquestral contemporneo brasileiro o
que lhe tem exigido mais empenho para conseguir uma boa realizao
do mesmo?
27%
19%
10%
14%
24%
6%
Estruturas rtmicas
Problemas de digitao
Afinar os intervalos
Conseguir a expresso
satisfatria das dinmicas
Outro
No responderam
6
Como so latentes algumas reclamaes dos msicos em termos de suas dificuldades
em executar o repertrio em pauta, e se isso tem alguma relao com o perfil atual do ensino
musical, preferimos consult-los a respeito, e as respostas foram as seguintes:
3) Desde seu ingresso em orquestra at o presente momento, quanta
afinidade voc diria que tem com o repertrio orquestral
contemporneo brasileiro?
44%
34%
10%
4%
4% 4%
Pouca
Mdia
Alta
Nenhuma
Indiferente
No responderam
7
Em outra questo abordando o comportamento primordial dos instrumentistas quando
tm de preparar uma parte (Ex. Parte de trombone, parte de violino) do repertrio orquestral
contemporneo brasileiro, observa-se um costume bastante prejudicial ao rendimento tcnico
e interpretativo de uma grande porcentagem de msicos. Ela refere-se preparao, e no
leitura primeira vista de um repertrio, quando no valorizada suficientemente uma
mnima anlise prvia de algo a ser interpretado.
Este comportamento, que s vezes acontece pelo cansao ou pelo excesso de
compromissos profissionais, algo que alguns professores de msica consideram como o
efeito papagaio, ou seja, o processo pelo qual algum atinge a execuo de uma pea aps
exaustivas repeties que poderiam ser evitadas, onde em cada leitura que so detectados os
elementos de sua estrutura, envolvendo desde smbolos a problemas de escrita dentre outros,
que o instrumentista condicionando sua mente a cada passo at conseguir superar todos
problemas, concluindo a elaborao aps perder um tempo precioso. Estes so os dados da
pesquisa em torno deste tpico:
4) Na sua opinio a aprendizagem terica e auditiva tradicional
suficiente para a execuo desse repertrio?
16%
22%
20%
27%
10%
3%
2%
Sim
No
Deixa a desejar
Para a maioria das peas ela
suficiente
Apenas em algumas peas ela
suficiente
Outra opinio
No responderam
8
4% apenas declararam ter outros meios de elaborao tais como procurar o compositor
diretamente, ou ainda que o regente deve no processo de leitura ir explicitando a estrutura da
obra, porque, aferiu-se, a tentativa de entender o recado musical do compositor representa
uma grande preocupao para um bom nmero de instrumentistas.
Muitos problemas de digitao surgem quando os instrumentistas precisam realizar
uma leitura primeira vista em um ensaio de orquestra, e por causa disso, os primeiros
resultados sonoros so muito aqum daquilo que o compositor ou a prpria concepo
interpretativa do regente almeja.
Compositores como Cludio Santoro, em cujas sinfonias pode-se deparar com
superposio de tonalidades ou uma reproduo de seqncias que fogem seguidamente do
centro tonal, constituem desafios segurana de at muito experientes msicos. Isso,, por
exemplo, pode acontecer quando se aplicam digitaes que em alguns casos chegam a srios
contorcionismos na mo esquerda. Nestas condies o msico de orquestra passa por fases de
tensionamentos e perplexidades quando tem de juntar-se tentativa de unificar o seu naipe, o
que nada mais do que a limpeza de complexas linhas meldicas, de cujos intervalos muitos
deles se queixam.
5) O que voc faz primeiro quando tem de preparar uma pea do
repertrio orquestral comtemporneo brasileiro?
44%
21%
7%
10%
14%
4%
Leio com o instrumento
Estudo a partitura sem o istrumento
Ouo a obra
Troco idias com algum,
preferencialmente com quem j a tocou
Simplesmente repasso a parte at
conseguir toc-la
Outro critrio de preparao
9
Apenas 4% acham que existem outras sadas para os problemas de digitao para o
repertrio orquestral contemporneo brasileiro, e dentre essas consideraes dizem que isso
depende em parte das iniciativas dos compositores e regentes.
No tocante s arcadas tem-se algo parecido, mas que possivelmente gere maior
preocupao. Na maioria das vezes utilizam-se as arcadas mais corriqueiras do leque de
opes tradicionais, embora o msico precise estar atento uma vez que hoje alguns
compositores brasileiros como Jorge Antunes e de Keullreutter fazem uso de corolrios
prprios para a obteno das sonoridades em seus estilos, condio de individualismo muito
caracterstica daquilo que plasma as tendncias composicionais a partir do rompimento do
com o sistema tonal.
6) Como instrumentista voc considera necessria a utilizao de uma
digitao mais especfica na execuo do repertrio orquestral
comtemporneo brasileiro?
18%
37%
14%
26%
4%
1%
Sim
No
Sim, para a maioria dos casos
Apenas em eventuais trechos longos
com muitos acidentes ocorrentes
Outra alternativas
No responderam
10
Apenas 4% acham que algumas variveis do problema devem ser consideradas como
uma notificao mais precisa dos compositores de como certas passagens devem ser tocadas.
J a qualidade grfica e os mais diversos tipos de manuscritos que corporificam os
trabalhos composicionais da maioria dos autores brasileiros vm sendo objeto de severas
crticas dos msicos das orquestras sinfnicas do Pas, e como j se fez referncia aqui, em
mais de uma questo os msicos repetem suas preocupaes nesse sentido.
Pela reao deles aponta-se mais uma vez o descaso editorial em torno das obras de
inmeros compositores brasileiros, problema que sanado poderia melhorar a performance dos
msicos, e por conseguinte, o desempenho das orquestras em cujas temporadas so includas
peas do repertrio contemporneo dos nossos compositores.
Com as editoraes computadorizadas de hoje inadmissvel que obras de at mais de
meio sculo passado achem-se ainda no estado de precrios manuscritos. Vejamos, ento, o
perfil das respostas a respeito deste quesito:
7) De modo geral, com respeito s arcadas, voc detecta problemas a
serem tecnicamente mais aclarados na expresso musical desse
repertrio?
18%
28%
39%
7%
4%
4%
Sim
No
Apenas em determinados trechos do
repertrio
Na maioria do repertrio existem
dificuldades de execuo de arcadas
Outro(s) problema(s)
No responderam
11
7% respondendo a questo aberta sinalizam que a formao do msico profissional, de
algum modo, ainda est aqum das demandas de leitura e/ou elaborao do repertrio
orquestral contemporneo brasileiro e que este tipo de repertrio no , via de regra, muito
utilizado na aprendizagem musical, assim como os materiais fora o que foi descrito nas
alternativas desta questo. Nas respostas livres destes 7% apresentam reclamaes de (a) que
muitas partes de orquestra tm incorrees, mas que (b) preciso uma mudana de postura
dos instrumentistas no sentido de ele procurar se envolver mais seriamente na convivncia
com uma realidade da criao artstica musical que no tem retorno e, por isso mesmo, (c)
importante o investimento individual e coletivo para preservar o que a classe j conquistou.
No tocante qualidade grfica, pudemos levantar algumas partes do repertrio
orquestral contemporneo brasileiro nas quais, se no em toda a extenso, em trechos delas as
condies de visibilidade so muito precrias. Foram selecionadas para ilustrao do
problema, obras de alguns compositores nas quais, no momento de copi-las, tivemos o
cuidado de realizar isso mostrando o estado delas do modo mais fidedigno possvel. Este
material disponibilizado no Anexo V, para que possam ser visualizadas mais precisamente
suas precariedades.
A partir dos dados avaliados da primeira parte do questionrio, que envolvem as
questes de nmero 1 a 8, pode-se concluir que para a maioria dos entrevistados a baixa
qualidade grfica das partituras constitui um srio problema (31% + 21% + 24% das questes
8) Ao seu ver, dentre os fatores abaixo, qual mais concorre para
eventuais dificuldades de execuo do repertrio orquestral
contemporneo brasileiro?
57%
22%
14%
7%
Baixa qualidade grfica
Geralmente xerox precrio
manuscritos antigos
Outro problema
12
1 e 2, e 93% da questo 8); o recurso terico-auditivo tradicional at o momento
ensinado nas escolas de msica ainda serve a esse fim (questo 4 => 27% + 20% + 16%); o
primeiro contato com o repertrio tende a ser uma leitura com o instrumento (44% da questo
5); no se evidencia a necessidade de uma digitao mais especfica para o repertrio em
questo (questo 6 => 37% + 26%); e as arcadas no interferem na resistncia dos
instrumentistas em executar o repertrio. Assim, infere-se desses dados uma primeira
concluso parcial: a resistncia do instrumentista com relao ao repertrio orquestral
contemporneo brasileiro ocorre principalmente pela sua baixa qualidade grfica.
Deste ponto em diante solicitado mais uma vez o posicionamento dos instrumentistas
de cordas das orquestras, agora a respeito dos graus de dificuldade e de freqncia de
execuo do repertrio orquestral de 10 compositores brasileiros.
Na questo de nmero 9, solicitado aos entrevistados estabelecerem uma ordem
numrica decrescente, do primeiro compositor mais tocado ao dcimo menos tocado. Para
isso a questo formulada : Tomando como base os compositores brasileiros abaixo,
classifique por uma ordem numrica decrescente aqueles cujo repertrio orquestral voc mais
tocou (se for o caso, citar s os que tocou). Exemplo: 1 mais tocado, 2, 3, etc. E 10 para
aquele que voc menos tocou. Para ilustrar seus graus de respostas, neste caso, foi elaborada
a seguinte tabela:
Questionrio - Parte B Questo n 9
COMPOSITOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SANTORO 5,6 20,5 20,5 7,4 9, 5,6 1,8 3,7 2,8 0
C. GUARNIERI 3,7 25,2 9,3 17,7 4,6 2,8 3,7 5,6 0,9 0
H. VILLA-LOBOS 77,5 4,6 5,6 0 2,8 0 0 0 0 0
MARLOS NOBRE 0 1,8 1,8 1,8 0,9 8,41 7,4 0,9 10,2 11,2
EDINO KRIEGER 0 1,8 1,8 9,3 7,4 5,6 6,5 7,4 4,6 3,7
RAD.GNATTALI 1,8 7,4 7,4 5,6 7,4 7,4 8,4 10,2 4,6 1,8
GUERRA PEIXE 1,8 14 18,6 10,2 8,4 9,3 4,6 1,8 2,8 0
ERNST MAHLE 3,7 8,4 6,5 5,6 7,4 8,4 8,4 5,6 2,8 5,6
ERNANI AGUIAR 2,8 6,5 4,6 10,2 5,6 5,6 7,4 1,8 3,7 6,5
OSV.LACERDA 1,8 2,8 7,4 7,4 14 7,4 6,5 7,4 3,7 0,9
Explicando os dados desta tabela cujos nmeros representam porcentagens, vemos que para
77,5% dos entrevistados, na seqncia apontada em cor violeta, o repertrio orquestral de
13
Villa-Lobos foi o mais executado pela ampla maioria dos instrumentistas. O segundo
lugar fica com Camargo Guarnieri mais tocado por 25,2% dos msicos, e assim por diante.
importante destacar que os valores tendem a ir da maior porcentagem para a menor,
embora na distribuio para a direita da tabela, claro, isso no represente a melhor
classificao como compositor mais tocado. Marlos Nobre, como exemplo, no final da tabela
tem 10,2% dos msicos que o situam como nono compositor mais tocado por eles,
porcentagem essa que aumenta para 11,2% de msicos que o situam na dcima posio como
o compositor mais tocado por eles. Ou seja, se a porcentagem de um compositor vai
aumentando para o final da tabela (da classificao), significa que um nmero maior de
msicos diminui a classificao dele.
Entretanto, o levantamento aponta ainda que ele pode ter um menor nmero de
msicos que o classifiquem em nono ou dcimo mais tocado, o que quer dizer que, j estando
nessas classificaes, ele foi tocado por um nmero ainda menor de msicos. Visando
esclarecer mais essa tabela, foi elaborado o grfico abaixo, para ilustrar os dados mais
importantes em termos de compositores mais tocados e daqueles menos tocados.
Questo 9 grfico-resumo
1)VILLA-LOBOS 77,5%
2 ) GUARNIERI 25,2 %
3 ) SANTORO 20,5 %
4 ) GUARNIERI 17,7 %
5 ) O. LACERDA 14 %
10 ) M. NOBRE 11,2 %
Na questo de nmero 10 pedimos que os instrumentistas indicassem se no haviam
tocado algum compositor de uma relao de quinze nomes dispostos no questionrio, ou se
eventualmente haviam tocado todos. A organizao dos dados, por tabela, traz os seguintes
resultados:
Questionrio - Parte B Questo n 10
COMPOSITOR NO TOCADO AINDA POR ( % )
CLUDIO SANTORO 5,6
14
CAMARGO GUARNIERI 6,5
HEITOR VILLA-LOBOS Zero % (foi tocado por todos os entrevistados)
EDINO KRIEGER 20,5
MARLOS NOBRE 39,2
RADAMS GNATTALI 9,3
GUERRA PEIXE 4,6
MRIO TAVARES 70
ERNANI AGUIAR 19,6
JOS VIEIRA BRANDO 71,9
RICARDO TACUCHIAN 54,2
OSVALDO LACERDA 12,1
ERNST MAHLE 13
FRANCISCO MIGNONE 6,5
JOS SIQUEIRA 47,6
Tocaram repertrio de todos autores Apenas 5,6 % dos msicos
Fazendo novo grfico dos pontos mais significativos da tabela acima, vemos que Jos
Vieira Brando o compositor menos conhecido pelos instrumentistas, com a porcentagem de
71,9% dos entrevistados, e analisando mais adiante Guerra Peixe figura nesta questo como o
segundo mais conhecido. Villa-Lobos com 0%, primeiro novamente a se destacar, sendo
conhecido por todos os entrevistados. Para esta questo tambm foi confeccionado um grfico
mais resumido, que o seguinte:
Questo n 10 grfico-resumo
J.V.BRANDO 71,9 %
R. TACUCHIAN 54,2 %
JOS SIQUEIRA 47,6 %
MARLOS NOBRE 39,2 %
EDINO KRIEGER 20,5 %
-
-
GUERRA PEIXE 4,6 %
VILLA-LOBOS 0 %
Na questo de nmero 11 do questionrio foi solicitado aos msicos para declinarem,
apenas tomando como base suas impresses e experincias como instrumentistas de
15
orquestras, os graus de dificuldades que em linhas gerais entendem distinguir pelo
repertrio orquestral de dez compositores brasileiros j tocados por eles, ou que j os
conheam por estudos individuais.
Tivemos os seguintes resultados expressos na tabela abaixo, em porcentagens:
Questionrio Parte B - Questo n. 11
Autor Muito
difcil
Difcil Relativamente
fcil
Fcil No tocou o repertrio
Claudio Santoro 9,34 36,4 26,1 3,7 4,6
C. Guarnieri 8,4 29,9 28,9 2,8 5,6
H. Villa-Lobos 19,6 51,4 11,2 0,9 9,3
Marlos Nobre 2,8 13 21,4 5,6 16,8
Edino Krieger 3,7 14 29,9 7,47 15,8
Radams Gnattali 3,7 18,6 32,7 6,5 9,3
C. Guerra Peixe 4,6 28 29,9 9,34 2,8
Ernst Mahle 1,86 11,2 28,9 20,5 9,34
Ernani Aguiar 0,9 6,5 41,2 15,8 9,34
Osvaldo Lacerda 0,9 19,6 27,1 12,1 5,6
Os nmeros distribudos na tabela acima apontam os graus de dificuldades detectados
pelos instrumentistas, como tambm as propores em cada grau de dificuldade no sentido
vertical. Villa-Lobos, como exemplo, aqui tambm o primeiro compositor considerado
muito difcil de ser tocado no entendimento dos instrumentistas de cordas das regies
pesquisadas, enquanto Cludio Santoro o segundo classificado no mesmo grau de
dificuldade. Vemos ainda que Villa-Lobos e Santoro seguem na mesma ordem de
classificao agora no grau difcil, embora em propores diferentes. Visando dar outra
visualizao dos nmeros expressos acima, foi elaborado um segundo grfico, denominado
grfico-resumo, da questo de nmero 11.
Os dados estudados na questo 9, somados aos anteriormente avaliados, nos conduzem
a uma segunda concluso parcial: o fato do repertrio orquestral brasileiro apresentar
obras difceis, no razo para que ele no seja executado com maior freqncia e,
portanto, no justifica uma possvel resistncia por parte dos msicos a ele.
16
Questo n 11 grfico-resumo
19,6 %
MUITO DIFCIL 9,34 %
8,4 %
51,4%
36,4 %
DIFICIL
29,9 %
28 %
41,2 %
RELATIVAM.
FCIL 32,7 %
29,9 %
28,9%
Nas duas ltimas questes (as de nmeros 12 e 13) tambm constantes da PARTE B
do questionrio, o entrevistado podia responder a mais de uma alternativa em cada questo.
Essa opo fez com que muitas respostas tanto convergissem para a reivindicao de maior
divulgao do repertrio orquestral contemporneo brasileiro (primeira alternativa), como
tambm os mesmos autores pediam em outra mais insero desse repertrio nas temporadas
(segunda alternativa), o que dificultou coloc-las no mesmo tipo de grfico das questes 2 a 8,
VILLA-LOBOS
SANTORO
GUARNIERI
VILLA-LOBOS
SANTORO
GUARNIERI
GUERRA PEIXE
ERNANI AGUIAR
RADAMS GNATTALI
EDINO KRIEGER E GUERRA PEIXE
EMPATAM
GUARNIERI E ERNST MAHLE
17
porque os valores se superpem e a porcentagem teria que fechar em 100% no programa
computacional.
Estas questes buscam aferir, ento, o que fazer para que ocorra, (1) uma insero
realmente significativa do repertrio orquestral contemporneo brasileiro nas temporadas das
nossas orquestras e, de que maneira (2) o msico de orquestra pode mais satisfatoriamente
corresponder e aprofundar o seu envolvimento com um repertrio nativo ainda pouco
conhecido, e (3) em que sentido ainda a sua postura renovada pode contribuir para uma maior
aproximao do pblico para com esse repertrio. Adotamos o grfico abaixo:
Grfico da questo n 12
%
54,2%
47,6%
35,5%
31,7%
18,6%
13%
Respostas
13% na questo aberta consideram importante outros caminhos para aproximar mais
os msicos desse repertrio. Os msicos que se manifestaram nesta faixa de 13% insistem
que as composies (1) deveriam incorporar mais qualidade musical e criatividade e que (2)
deveriam ainda ser evitados muitos rudos e ao mesmo tempo imprimidas nelas
(composies) (3) recursos tcnicos mais prximos do modo de utilizao dos instrumentos
de orquestras; (4) atribuem tambm um papel muito relevante na gesto dos diretores
artsticos nos circuitos organizadores das temporadas, e por fim (5) sugerem mais acesso dos
msicos ao repertrio orquestral contemporneo brasileiro.
Maior
divulgao
Inserir
mais esse
repertrio
nas progra-
maes das
orquestras
brasileiras.
Ensejar o
contato dos
compositor
es com os
instrumen-
tistas.
Promover
concertos
educativos
sobre a
msica
contem-
pornea.
Realizar
constantes
atualizaes
do que se
cria e do que
se toca pelo
mundo.
Outra
idia
18
Finalmente, a questo 13 procurou averiguar o que o profissional de orquestra
poderia ou deveria fazer em primeira mo, para tocar de modo mais seguro o repertrio
orquestral contemporneo brasileiro . Os dados desta questo esto no grfico seguinte:
Grfico da questo n 13
%
51,4%
47,6%
33,6%
22,4%
6,5%
Respostas
6,5% apenas entendem haver outros requisitos como ensejar a familiarizao do
msicos atravs de maior insero de peas desse repertrio na programao dos concertos,
mas que o profissional de msica deve, antes de mais nada, encarar com muito
profissionalismo uma transio cujo processo demorado mas inevitvel, do mesmo modo
como procede na elaborao uma sinfonia de Beethoven ou outro compositor.
5. CONCLUSO
O entrosamento precrio entre instrumentistas e o repertrio orquestral brasileiro
contemporneo pode ser revertido, a aceitao da msica produzida na atualidade pode ser
impulsionada significativamente e as programaes artsticas podem ser ainda mais
qualificadas no Brasil.
Manter-se
atualizado
tecnica-
mente
Imbuir-se de
uma abertura
para o novo.
Refletir
sempre sobre
as razes do
passado, mas
criar elo com
a msica do
seu tempo.
Verificar
parmetros
analticos e
conceituais
aplicados
prtica.
Outros
requisitos
19
O presente estudo mostrou que, se por um lado, a amostragem aponta a
resistncia do instrumentista de orquestra brasileiro em tocar o repertrio orquestral nacional,
por outro, entretanto, demonstra claramente a disposio dele em familiarizar-se mais com a
produo musical contempornea. Para ocorrer essa mudana seria necessria uma mudana
de orientao no funcionamento das orquestras sinfnicas face ao repertrio orquestral
contemporneo brasileiro, o que requer novas edies, publicaes, incremento na divulgao
da produo, e tambm a disponibilizao de gravaes no mercado.
Na viso do profissional de orquestra brasileiro, o repertrio histrico e tradicional
parte fundamental da formao e atuao do msico, porm, no h razo para acomodao
sobre referenciais estticos do passado. Pelo contrrio, latente a necessidade do
instrumentista vivenciar a produo musical contempornea, j que a estrutura de ensino
tradicional no representa um atraso e no embarga tambm o avano da esttica musical
contempornea.
Em suma, a eliminao dos obstculos conceituais e operacionais, e a imperiosa
aproximao e o aprimoramento de mecanismos em termos de tcnica e nomenclatura,
mostraro claramente os referenciais do passado como substrato para os avanos atuais e
futuros, pois esse o refluxo que constantemente desafia a nossa inteligncia, que atravs da
msica enriquece o nosso sentido de vida.
BIBLIOGRAFIA
ALBET, Montserrat. A Msica Contempornea. Traduo de Lus Amaral e Irineu Garcia.
Rio de Janeiro: Salvat Editora, 1979.
BARBOSA, Valdinha & DEVOS, Anne Marie. Radams Gnattali: o eterno experimentador.
Rio de Janeiro: Funarte/INM, 1985.
BARRAUD, Henry. Para Compreender as Msicas de Hoje. Traduo de J.J. de Morais e
Maria Lcia Machado. So Paulo: Editora Perspectiva, 1968.
BOULEZ, Pierre. A Msica Hoje. Traduo de Reginaldo de Carvalho e Mary Amazonas
Leite de Barros. Coleo Debates, vol. 55. So Paulo: Editora Perspectiva, 1972.
COPLAND, Aaron. A Nova Msica. Traduo de Lvio Dantas Rio de Janeiro: Record
Editora, 1969.
KIEFER, Bruno. Histria da Msica Brasileira. 3 ed. Porto Alegre: Ed. Movimento, 1982.
KOELLREUTTER, H. J. Terminologia de uma Nova Esttica da Msica. So Paulo:
Movimento, 1990.
20
MARIZ, Vasco. Figuras da Msica Brasileira Contempornea. Braslia: Editora da
Universidade de Braslia, 1970.
MARTINS, G. de Andrade & LINTZ, Alexandre. Guia para Elaborao de Monografias e
Trabalhos de Concluso de Curso. So Paulo: Editora Atlas, 2000.
MUCCHIELLI, Roger. O Questionrio na Pesquisa Psicossocial. So Paulo: Editora
Martins Fontes, 1979.
REIS, Sandra Loureiro de Freitas. Educao Artstica - Introduo Histria da Arte. 2 ed.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1993.
SAMPAIO, Luiz Paulo. A Orquestra Sinfnica: sua histria e seus instrumentos. Rio de
Janeiro: GMT Editores, 2000.
STRAVINSKY, I. & CRAFT, R. Conversas com Igor Stravinsky. Traduo de Stella Rodrigo
Octvio Moutinho. Coleo Debates, vol. 176. So Paulo: Editora Perspectiva, 1984.
SWOBODA, Henry. O Mundo da Orquestra Sinfnica. Traduo de Carlos Krondver. Rio
de Janeiro: Frum Editora, 1968.
WEBSTER, Beveridge. O executante e a msica contempornea. In: THOMPSON, Helen
M., et al. Panorama da Msica. Traduo de Diva G. da Costa. So Paulo: Editora Fundo de
Cultura, 1963.
TREIN, Paul. A Linguagem Musical. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986.
WEBERN. Anton. O Caminho para a Msica Nova. Traduo de Carlos Kater. So Paulo:
Editora Novas Metas, 1984.
Ricercar a 6 de Johann Sebastian Bach e a sua orquestrao na Fuga
(Ricercata) a 6 voci por Anton Webern: a tcnica klangfarbenmelodie e a
serializao motvico-tmbrica
urea Helena de J esus Ambiel
Secretaria da Cultura de I ndaiatuba (SP)
Escola de Msica Nabor Pires Camargo
e-mail: astefan@terra.com.br / ambiel@iar.unicamp.br
Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo as obras: Ricercar a 6 (do Musikalisches Opfer)
de J. S. Bach e a orquestrao desta obra por Anton Webern que se intitula Fuga (Ricercata) a 6 voci. O
Musikalisches Opfer (Oferenda Musical) foi composto em 1747 e a orquestrao por Webern data de
1934 1935. Atravs de uma anlise comparada procura-se demonstrar quais so os procedimentos
utilizados pelo compositor ao explorar os recursos tcnicos do estilo contrapontstico e do orquestrador
atravs da tcnica langfarbenmelodie e da serializao motvico- tmbrica. Estabelece-se assim, uma
correlao de elementos do passado barroco e do presente weberniano assegurados pelo princpio de
repetio
1
que estabelece relaes coerentes entre os elementos da obra.
Palavras-chave: Ricercar a 6, orquestrao, anlise
Abstract: This work has as objective of study the Ricercar a 6 (from Musikalisches Opfer) by J. S. Bach
and its orchestration by Anton Webern entitled Fuga (Ricercata) a 6 voci. The Musikalisches Opfer
(Musical Offering) was composed in 1747 and Weberns orchestration in 1934 1935. Through a
comparison analysis one tries to demonstrate which procedures are used by the composer as he explores
resources of the contrapuntal technique and the ones utilized by the orchestrator through the technique of
Klangfarbenmelodie and the motivic-timbric serialization. A correlation of past baroque and present
webernian elements is thus established further substantiated by the principle of repletion
2
that establishes
coerent relations among the compositional elements of the work.
Keywords: six-part Ricercar, orchestration, analysis
Este artigo decorre de uma dissertao de mestrado cujo ttulo Ricercar a 6 de Johann
Sebastian Bach e a sua orquestrao na Fuga ( Ricercata ) a 6 voci por Anton Webern: a tcnica
Klangfarbenmelodie e a serializao motvico- tmbrica
3
.
A obra Musikalisches Opfer ( Oferenda Musical ) de J. S. Bach foi dedicada ao Rei Frederico II
( Prssia ) em julho de 1747. O tema dado pelo Rei para que Bach improvisasse uma fuga
recorre em toda a obra. Nela, o compositor explora as possibilidades tcnicas do estilo
contrapontstico.
1
WEBERN, Anton. O Caminho para a Msica Nova . So Paulo: Novas Metas, 1960. p. 55. Traduo: Carlos
Kater. Webern cita este princpio quando comenta a respeito do desenvolvimento histrico das idias e dos
princpios de apreensibilidade e coerncia ( p. 50 - 55 ).
2
WEBERN, Anton. O Caminho para a Msica Nova. So Paulo: Novas Metas, 1960. p. 55. Translation: Carlos
Kater.
3
AMBIEL, urea H. de J. Ricercar a 6 de Johann Sebastian Bach e a sua orquestrao na Fuga ( Ricercata ) a 6
voci por Anton Webern: a tcnica Klangfarbenmelodie e a serializao motvico - tmbrica. 2002. 445 f.
Dissertao ( Mestrado em Artes ), Faculdade de Msica do Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas.
A orquestrao do Ricercar a 6 de Bach realizada por A. Webern, data da primeira metade do
sculo XX ( 1934 -1935 ). A grande importncia da mesma est centrada principalmente no
tratamento tmbrico empregado e nos procedimentos utilizados. Webern emprega na Fuga
( Ricercata ) a 6 voci, a tcnica Klangfarbenmelodie
4
( melodia de timbres )
5
e uma
serializao
6
motvico - tmbrica. Tais procedimentos utilizados pelo orquestrador so
inesperados, pois ele no faz simplesmente uma orquestrao seguindo moldes barrocos, mas
sim, representa historicamente o seu tempo, atravs das tcnicas utilizadas.
Por intermdio de uma anlise comparada, procura-se identificar alguns dos principais
procedimentos composicionais empregados por Bach e por Webern.
Para uma melhor compreenso das obras em questo, no primeiro captulo, faz-se uma
investigao a respeito do Ricercar a 6 de Bach, analisando as possibilidades quanto
macroforma ( foram verificadas duas hipteses possveis; ver p. 18 28 da dissertao ) e a
microforma ( campo harmnico e anlise das principais linhas meldicas e das partes que
compem a macroforma; ver p. 29 81 da dissertao ). importante que se diga, que este
captulo est baseado na Analysis of Ricercar a 6
7
de H. T. David. Outra questo que deve ser
ressaltada que, alguns autores citam o Ricercar como sendo uma fuga, entre eles, Westrup e
Harrison
8
e o prprio Webern, que intitula a obra de Fuga ( Ricercata ) a 6 voci. Assim, este
trabalho baseia-se nesta proposio.
No segundo captulo faz-se uma anlise da orquestrao, mas investiga - se primeiramente os
procedimentos empregados por Webern. Como j foi mencionado, observa-se que ele emprega
na sua orquestrao a tcnica Klangfarbenmelodie e uma serializao motvico - tmbrica.
Verifica se tambm, que em determinados momentos ele utiliza o que foi chamado neste
estudo de instrumentos condutores.
As linhas meldicas que se utilizam dos instrumentos condutores diferenciam-se das que
empregam a tcnica Klangfarbenmelodie. Como j foi dito, uma traduo para esta tcnica
melodia de timbres, o que equivale dizer, que uma de suas aplicaes o tratamento de maneira
a distribuir a linha meldica entre vrios instrumentos. Segue um exemplo da aplicao
4
A Klangfarbenmelodie no criao de Webern. Segundo Augusto de Campos ( Msica de Inveno. So Paulo:
Perspectiva, 1998. p. 253 ), o termo foi citado por Arnold Schoenberg no seu livro Harmonielehre
( Tratado de Harmonia ) quando da sua publicao em 1911. Ver definio de Klangfarbenmelodie no glossrio da
dissertao: p. 394.
5
KOELLREUTTER, Hans J. Novo Glossrio: Terminologia de Uma Nova Esttica da Msica. p. 31 ( no
publicado ).
6
Ver por exemplo, o tratamento da serializao dado ao tema na orquestrao ( exemplos 5 - 11 ), onde Webern
serializa a linha meldica do mesmo atravs de relaes motvico- tmbricas. Ver tambm o verbete srie
( definio de Paul Griffiths no glossrio da dissertao: p. 395 ).
7
DAVID, Hans T.. J. S. Bachs Musical Offering: History, Interpretation, and Analysis . 1. ed. New York: Dover ,
1945. cap. 8, p. 134 152.
8
WESTRUP, J. A . ; HARRISON, F. L1. The New College Encyclopedia of Music. New York: W.W. Norton,
1959?. p. 445.
da mesma na primeira entrada temtica realizada por Webern.
Ex. 1: tema e a melodia de timbres
Trombone Trompa Trompete
Nota-se a presena de trs instrumentos compondo o tema; entretanto um quarto ( harpa ), tambm aparece como articulador tmbrico
9
. Ele
ocorre na segunda e terceira partes do tema ( ver ex. 9 ).
Com relao aos instrumentos condutores, a linha meldica transportada na sua totalidade por
um nico instrumento, ou seja, no ocorre uma diviso tmbrica em motivos.
Ex. 2: episdio I, 1 momento, quarta linha meldica
As vezes dois ou mais instrumentos podem tambm ser os condutores.
Ex. 3: episdio I, terceiro momento, sexta linha meldica
Quanto serializao, pode - se dizer que ela empregada por Webern em linhas meldicas
principais, como por exemplo: o tema e o primeiro contraponto
10
. Para exemplificar o seu
tratamento utiliza-se o tema. Antes porm de explic-lo, necessrio dizer que ele foi
dividido em trs partes:
9
Termo criado neste estudo para denominar na orquestrao, aquele ( s ) instrumento ( s ) que se une ( m ) a um
outro numa nota ou motivo para a obteno de um efeito tmbrico. Por exemplo: na 1 entrada temtica ( comp. 5 ) a
harpa se junta com a trompa para a obteno de um colorido tmbrico, o mesmo ocorre no compasso 8 com o
trompete ( ver exemplo 9 ).
10
Hans T. David em Analysis of Ricercar a 6 de Bach ( p. 138 ), denomina o contratema de primeiro contraponto.
Ex.: 4: tema: trs partes
Webern distribui ento esta linha meldica em trechos menores: clulas ou motivos e os serializa
timbristicamente
11
:
Ex. 5: tema
So quatro os instrumentos envolvidos na composio temtica. Cada instrumento apresenta
mais de um motivo ou clulas especficas de entrada, ou seja, possuem uma ordem previamente
estabelecida.
A serializao consiste no seguinte procedimento:
. o instrumento que entra em primeiro lugar ( 1 parte diatnica ) vai ser sempre responsvel por
dois trechos previamente fixados: a primeira parte inteira ( diatnica ) e o final da segunda parte
( cromtica ):
Ex.6: o tema e a serializao
. o instrumento que entra em segundo lugar vai ser responsvel por trs trechos: incio da
segunda parte ( cromtica ), aproximadamente a metade da segunda parte ( cromtica ) e o incio
11
Paul Griffiths no The New Grove Dictionary of Music and Musicians, cita que Webern emprega no Musikalisches
Opfer a tcnica de separao motvica ( Griffiths, 1980, vol. 20, p. 276 ).
da terceira parte ( diatnica ):
Ex. 7: o tema e a serializao
. o instrumento que entra em terceiro lugar responsvel por duas entradas: quase no incio da
segunda parte ( cromtica ) e no final da terceira parte ( diatnica ):
Ex.: 8: o tema e a serializao
. O articulador tmbrico aparece em dois momentos: aproximadamente na metade da seo
cromtica e ao final da terceira parte ( diatnica ):
Ex.: 9: o tema e a serializao
Comparar a seguir, a serializao nas duas primeiras entradas temticas. Nos exemplos abaixo,
as entradas do primeiro instrumento so simbolizadas pela cor azul, do segundo pela cor
vermelho e do terceiro pela cor vermelho escuro. O azul claro simboliza o articulador tmbrico.
Ex. 10: primeira entrada temtica
Ex. 11: segunda entrada temtica
Aps a anlise, pode ser averiguado que das doze entradas temticas, onze esto serializadas
observando este mesmo princpio. Webern reserva para a ltima um efeito surpresa.
Instrumentos condutores ( ao invs da serializao ) transportam o tema ( ver p. 329 - 330 e 353
da dissertao ).
Enquanto o orquestrador reserva a tcnica Klangfarbenmelodie e a serializao principalmente
para vozes de importncia, outras mais secundrias so tratadas por instrumentos condutores ou
ainda pela tcnica Klangfarbenmelodie.
Alm de linhas meldicas significativas, motivos importantes tambm podem aparecer
serializados. Verificam-se duas maneiras:
a) todas as entradas de um mesmo motivo so apresentadas por instrumentos pertencentes
mesma famlia; como exemplo, ver o motivo cromtico descendente
12
nas elaboraes
temticas III
13
que feito pelos metais:
Ex.: 12: elaboraes temticas III, motivo cromtico descendente, terceira voz
Ex. 13: elaboraes temticas III, motivo cromtico descendente, segunda voz
O motivo cromtico descendente apresenta quatro entradas e sempre feito por instrumentos pertencentes famlia
dos metais. As articulaes, a dinmica e o efeito ( com surdina ) tambm encontram-se serializados.
b) todas as entradas de um mesmo motivo so apresentadas por instrumentos pertencentes a
famlias diferentes. Entretanto, em cada entrada, o nmero de instrumentos envolvidos, as
articulaes e a dinmica permanecem iguais ou semelhantes, o que permite verificar a
aproximao entre os mesmos. Ver como exemplo, o motivo tridico ascendente:
12
uma definio de H. T. David e corresponde ao motivo que derivado da 2 parte ( cromtica ) do tema.
13
Termo empregado por H. T. David para designar uma espcie de exposio secundria, na qual, em geral,
fragmentos derivados do tema so tratados imitativamente, em entradas sucessivas ( nesta obra, normalmente em
intervalos de 4, 5 ou 8 justa ), maneira de uma exposio.
Ex. 14: recapitulao livre das Ex.15: recapitulao livre das
elaboraes temticas I, elaboraes temticas I,
motivo tridico asc., quarta voz motivo tridico asc., quinta voz
Conclui-se ento, que a serializao reservada s linhas meldicas relevantes, ou em alguns
casos a motivos importantes.
Assim, aps a explanao do que , e de como ocorre a tcnica Klangfarbenmelodie, a
serializao motvico-tmbrica e o instrumento condutor, todas as linhas meldicas das partes
que compem a macroforma so analisadas, observando tais procedimentos empregados por
Webern.
A partir destes dois captulos iniciais que se pode chegar sintese e concluso no terceiro. O
processo de trabalho constitui-se at agora, de procurar observar o tempo todo, quais so as
estratgias do compositor e do orquestrador e em todo o momento procura-se estabelecer
relaes entre os motivos, entre as linhas meldicas e entre as partes da macroforma para poder
verificar a coeso da obra. Observa - se assim, que estas relaes se estabelecem atravs da
repetio, que podem ser ora idnticas, ora semelhantes ou at mesmo desenvolvidas. Lendo o
livro O caminho para a msica nova que trata das conferncias de Webern, encontra-se o
conceito do princpio de repetio
14
e ali est o embasamento para a investigao que vinha-se
fazendo at ento. A partir deste princpio foi possvel chegar-se sintese e concluso,
comparando as estratgias utilizadas na composio de Bach e na orquestrao de Webern.
Averigua-se como o compositor e o como o orquestrador empregam tal princpio para manter a
unidade e a coerncia da obra.
Desta maneira na sntese faz-se:
A OBSERVAO DAS PRINCIPAIS REPETIES NA SINTAXE
15
DO RICERCAR A 6 DE J. S.
BACH.
Analisa-se aqui, como o princpio de repetio manifesta-se atravs:
- das linhas meldicas
- das relaes motvicas
- do encadeamento harmnico
- das relaes entre as partes constituintes da macroforma
A OBSERVAO DAS PRINCIPAIS REPETIES NA SINTAXE DA ORQUESTRAO DO
RICERCAR A 6 DE J. S. BACH POR ANTON WEBERN.
14
Nas palavras de Webern: A partir desse fenmeno simples, dessa idia de dizer algo duas vezes, depois o mais
frequentemente possvel, desenvolveram-se os trabalhos mais artsticos ( Webern, 1960, p. 55 ). O orquestrador
cita este princpio quando comenta a respeito do desenvolvimento histrico das idias e dos princpios de
apreensibilidade e coerncia ( Webern, 1960, p. 50 ).
O princpio de repetio ocorre principalmente pela utilizao da tcnica Klangfarbenmelodie e
por uma serializao motvico- tmbrica.
A serializao como elemento de repetio pode ser observada na ( s ):
- linhas meldicas principais ( tema e contratema )
- relaes motvicas ( motivos importantes encontram-se serializados )
- ocorrncia do articulador tmbrico
- relaes entre as partes constituintes da macroforma ( pode ser averiguado que, certos
trechos correlacionados da obra empregam procedimentos semelhantes. Como exemplo,
pode-se dizer que, o episdio II uma espcie de lembrana do primeiro episdio,
apresentando algumas estratgias semelhantes no tratamento de linhas meldicas e de
motivos ).
Dinmica e variaes de andamento como elementos de repetio. Verifica-se que em alguns
trechos da orquestrao, certas variaes de andamento aparecem para valorizar a entrada de
trechos importantes e certas repeties ( com relao s variantes de andamento e de dinmica )
podem relacionar entradas temticas ou partes que compem a macroforma . Como exemplo,
pode-se citar as entradas temticas que so realizadas ao seu incio principalmente em pianissimo
ou piano e com um tempo moderado ou tranquilo.
Assim, aps a sntese, chega-se concluso de como ocorre o princpio de repetio em Bach e
em Webern. O princpio de repetio e da coerncia j est assegurado no procedimento
utilizado por Bach explcito no acrstico ao incio da obra: Regis Iussu Cantio Et Reliqua
Canonica Arte Resoluta ( Tema dado pelo Rei e o restante desenvolvido maneira cannica )
16
.
Webern cita: as formas cannicas, contrapontsticas, o tratamento temtico podem estabelecer
muitas relaes entre as partes ( Webern, 1960, p. 108 ). Assim, a coerncia da obra est
garantida, pois a mesma resulta do estabelecimento de relaes, as mais estreitas possveis,
entre as partes componentes ( Webern, 1960, p. 106 ).
Entradas temticas, motivos derivados ou no do tema, cadncias semelhantes colocadas em
pontos importantes, modelos de encadeamento harmnico e correlao de partes que compem
a macroforma, so algumas das estratgias composicionais empregadas por Bach e revelam que,
atravs do princpio de repetio se assegura a coerncia e consequentemente a apreensibilidade
da obra.
A manifestao do princpio de repetio em Webern pode ser observada atravs do emprego da
tcnica Klangfarbenmelodie, da serializao motvico-tmbrica de linhas meldicas principais, da
15
KOELLREUTTER, Hans J. Novo Glossrio: Terminologia de Uma Nova Esttica Da Msica. p. 54 ( no
publicado ) - Sintaxe: conjunto das relaes estruturais que se estabelecem entre os signos musicais. Ex.: relaes
harmnicas, contrapontsticas, meldicas, rtmicas e outras.
16
KOELLREUTTER, Hans J. Oferenda Musical de J. S. Bach ( artigo no publicado ).
serializao de motivos significativos, dos procedimentos semelhantes empregados em certas
partes correlacionadas que compem a macroforma e de certas relaes entre dinmica e
andamento inseridas em entradas temticas ou partes da macroforma e que se apresentam
tambm correlacionadas.
Assim, todos estes elementos devem ser levados em considerao na anlise da orquestrao,
pois atravs deles possvel estabelecer relaes e consequentemente verificar a coerncia da
obra.
Webern trabalha com uma obra pertencente poca barroca, mas intervm na sua sintaxe por
intermdio do parmetro timbre e do emprego de tcnicas especficas de sua poca. Estabelece-
se assim, uma correlao de elementos do passado barroco e do presente weberniano. Nas
palavras de Goethe
17
:
No existe passado algum do qual se deva aspirar a uma volta. Existe apenas um eterno
novo, que se configura a partir de uma expanso dos elementos do passado
Carta a F. V. Mller, 4 de novembro de 1823
REFERNCIAS
AMBIEL, urea H. de J. Ricercar a 6 de Johann Sebastian Bach e a sua orquestrao na Fuga
( Ricercata ) a 6 voci por Anton Webern: a tcnica Klangfarbenmelodie e a serializao motvico
- tmbrica. 2002. 445 f. Dissertao ( Mestrado em Artes ), Faculdade de Msica do Instituto de
Artes, Universidade Estadual de Campinas.
CAMPOS, Augusto de. Melodia de timbres. In: Msica de Inveno. So Paulo: Perspectiva,
1998.
DAVID, Hans T. J. S. Bachs Musical Offering: History, Interpretation, and Analysis. 1. ed.
New York: Dover, 1945.
GRIFFITHS, Paul. Anton Webern. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
London: Macmillan, 1980, v. 20.
KOELLREUTTER, Hans J. A Oferenda Musical de Johann Sebastian Bach ( no publicado ? )
KOELLREUTTER, Hans J. Novo Glossrio: Terminologia De Uma Nova Esttica Da Msica
( no publicado ).
SCHUBACK, Mrcia S. C. A Doutrina Dos Sons De Goethe A Caminho Da Msica Nova De
Webern. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999.
WEBERN, Anton. O caminho para a msica nova. So Paulo: Novas Metas, 1960.
17
Schuback, Mrcia S. C. A Doutrina Dos Sons De Goethe A Caminho Da Msica Nova de Webern. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1999. p. 21.
WESTRUP, J. A .; HARRISON, F. L1. The New College Encyclopedia Of Music. New York:
W. W. Norton, 1959?
PARTITURAS
BACH, Johann S. Musikalisches Opfer. Leipzig: Brenreiter, 1974.
WEBERN, Anton. Fuga ( Ricercata ) n 2 Aus Dem Musikalischen Opfer von J. S. Bach.
Austria: Universal, 1963.
1
A face oculta da prtica da msica instrumental na cultura luso-
brasileira nos finais do sculo XVIII: subsdios para o estudo sobre a
disseminao do classicismo musical atravs do Ms. 4986 da Biblioteca
Nacional de Lisboa
Beatriz Magalhes-Castro
Universidade de Braslia (UnB)
beatriz@unb.br
Resumo: O presente estudo centra-se sobre questes referentes circulao, recepo, e reproduo
dos estilos do classicismo musical, entre Portugal e o Brasil, durante os finais do sculo XVIII e incio
do XIX. Neste contexto, surge a figura do Conde do Farrobo (1801-1869), o qual desenvolve e
patrocina intensa atividade musical desde o seu teatro privado no Palcio das Laranjeiras. Restam-nos
poucas referncias e testemunhos desta prtica, com exceo do MS. 4986, um catlogo manuscrito,
encontrado na Biblioteca Nacional de Lisboa, sob o ttulo: Catlogo das Peas existentes no Archivo
de Mzica pertinente a S. Excia. o Senhor Conde do Farrobo... A importncia deste catlogo reside
na possibilidade de reconstituir-se parte de um repertrio musical executado poca, no qual
encontra-se uma diversificada e substancial prtica da msica instrumental, questo esta raramente
tratada nos estudos realizados at ao presente. As diversas entradas foram reorganizadas na sua
numerao, e analisados os autores e gneros, com o objetivo de ampliar um panorama da prtica
musical e dos gostos da poca, e suas influncias no Brasil.
Palavras-chave: prtica da msica instrumental em Portugal; disseminao do classicismo; Conde do
Farrobo
Abstract: The present study focuses on some of the issues concerning the processes of circulation,
reception and reproduction of Classical musical styles between Portugal and its main colony, Brazil,
in late 18th and early 19th centuries. The Conde do Farrobo (1801-1869), developed and sponsored an
intense musical activity from his private theatre at the Palcio das Laranjeiras. Aside from
biographical entries, few documents remain noting his musical activities, with the exception of MS.
4986, a manuscript catalog, found at the National Library of Lisbon, under the title Catlogo das
Peas existentes no Archivo de Mzica pertinente a S. Excia. o Senhor Conde do Farrobo... Its
importance lies on the fact that it contains a consistent amount of entries regarding the instrumental
genre, allowing a reconstruction of a musical practice which until now has occupied a secondary plan
in present day studies. Through a reorganization of the sequential numbering of its several entries,
and a analysis of authors and genres, it was possible to construct of a broadened view of the
instrumental music practices and contemporary musical tastes, and its influence on colonial practices.
Keywords: instrumental music practice; Portugal; dissemination of Classical musical styles; Count of
Farrobo.
2
As questes relativas disseminao do estilo clssico na passagem do sculo XVIII ao XIX,
no contexto da prtica da msica instrumental, e seus reflexos no mbito da cultura luso-
brasileira, abrem espao para o estudo das suas formas de circulao, recepo, e
reproduo.
1
Para este fim, apresentarei uma amostragem de alguns dos dados pertinentes,
obtidos a partir de uma anlise do MS. 4986, referente ao catlogo manuscrito de obras
anteriormente existentes no acervo musical do Conde do Farrobo (1801-1869).
Inicialmente relevam-se dois importantes aspectos para o desenvolvimento desta temtica: a
escassez ou limitao das fontes primrias; e alguns pressupostos ainda arraigados na
musicologia em Portugal e no Brasil, concernentes funo, dinmica, e abrangncia da
prtica da msica instrumental nestes pases, preterindo e orientando a um plano secundrio
os estudos sobre esta questo. Todavia, para a alterao de tais pressupostos, constata-se a
necessidade de consolidao de um corpo de estudos crticos sobre a prtica da msica
instrumental, partindo-se de anlises que privilegiem, de forma articulada, os contextos, e os
processos internos e externos da construo dos produtos, ou objetos de pesquisa.
Como exemplo destes pressupostos, citamos a afirmao de Benevides (1883), sobre a
influncia do classicismo em Portugal:
No temos notcia de se haverem cantado no salo das oratrias as sublimes
composies sacras de Haendel e Haydn; a escola alem no figurava no
theatro de S. Carlos nem no palco nem no salo! Tal era a decadncia da arte
musical e do gosto do pblico de Lisboa, que se no executavam as
composies, ento recentes, de Mozart, Haendel, Haydn, etc.!! (Benevides,
1883, p.49).
Ou ainda, como no comentrio de Vieira sobre o programa de dois concertos
2
realizados no
Teatro das Laranjeiras de propriedade do Conde do Farrobo: De trinta e cinco nmeros,
s h a notar o quinteto de Beethoven; quase tudo o mais so arias de peras e fantasias sobre
as mesmas (Vieira, 1900, p. 405). O programa, todavia, inclui para alm do quinteto de
Beethoven, outras 11 peas instrumentais, dais quais seis sero fantasias sobre temas de
pera.
1
Nos moldes apontados por Lucas, 1996 (ver Bibliografia).
2
Refere-se aos concertos realizados a 4 e 11 de maro 1842. Como o autor no indica as referncias das fontes,
no foi possvel ainda localizar programas do teatro das Laranjeiras; apenas uma Licena para entrada na
Quinta da Laranjeiras s quintas-feiras, s.d.
3
Entretanto, a Allgemeine Musikalische Zeitung, em 12.01.1825, descreve uma realidade
bastante distinta a respeito do Teatro das Laranjeiras,
3
assim noticiada:
O teatro privado do Baro de Quintela, nas Laranjeiras (...) j est pronto.
Ir ser iluminado a gs.
4
(...) regressado de uma grande viagem, em que foi
acompanhado pelo conhecido clarinetista Canongia, recomearam em sua
casa os saraus musicais de domingo noite. (...) tocam-se normalmente
sinfonias, aberturas, e concertinos de Haydn, Krommer, Andr, C. M. v.
Weber (...), e tambm concertos de clarinete de Canongia e concertos de
violino de Giordani. (Allgemeine Musikalische Zeitung, 1825. in Brito &
Cranmer, 1990, p.62-63).
Atualmente, a musicologia em Portugal vem desenvolvendo trabalhos significativos sobre a
prtica da msica instrumental do sculo XVIII, especialmente com os estudos de Brito,
Cranmer, e Scherpereel,
5
entre outros.
Cranmer (1989), ao tratar a questo das primeiras execues de peras de Mozart em
Portugal, demonstra que este pas no seria um caso atpico no cenrio europeu. Segundo o
autor, Mozart foi pouco executado fora do mundo de lngua alem: na Itlia, somente Milo e
Npoles vero as primeiras representaes de peras de Mozart no incio do sculo XIX,
respectivamente em 1807 e 1809, e Londres como Lisboa, s vero La clemenza di Tito, no
ano de 1806. Tal fato ocorreria com a sua msica instrumental sinfnica e camerstica.
Quanto investigao em questo, foram consultados no Centro de Estudos Musicolgicos
da Biblioteca Nacional de Lisboa, alguns dos seus principais acervos,
6
e conjuntamente com
estes, foi apresentado um catlogo manuscrito de obras que aparentemente no teria grande
significado, visto no haver subsistido o acervo material ali descrito. Consultado o catlogo,
constatou-se a existncia de inmeras entradas de obras do gnero instrumental de
compositores de lngua alem, como Haydn, Mozart, e Beethoven, e vrios outros
3
Teatro privado de propriedade do Conde do Farrobo, localizado na Quinta das Laranjeiras, hoje Jardim
Zoolgico de Lisboa, foi construdo em 1820, e inaugurado em 1825 com a obra Il Castello delgi Spiriti ossia
Violenza e Constanza, de Saverio Mercadante.
4
Antes mesmo do que a prpria cidade de Lisboa, que s ver este tipo de iluminao a partir de 1850.
5
Vide especialmente os estudos de: Brito (1989), Concertos em Lisboa e no Porto nos finais do sculo XVIII;
Brito & Cranmer (1990), Crnicas; e, Scherpereel (1985) A orquestra e os instrumentistas da Real Cmara.
6
Como a coleo Fundo do Conde de Redondo e Fundo Ernesto Vieira.
4
assimilados ao classicismo em voga nos finais do sculo XVIII, revelando dados
contraditrios queles j citados de Benevides (1883), e Vieira (1900).
Apesar do acervo musical pertencente ao Conde do Farrobo haver desaparecido, procedemos
ao estabelecimento de uma metodologia que permitisse extrair dados e elaborar hipteses
sobre a prtica musical ali aludida, numa perspectiva, mutatis mutandis, de tornar o processo
de construo do objeto pr-definido (no caso, o catlogo), como o objeto de pesquisa,
parafraseando Bourdieu (1989). Este procedimento permitiu uma reconstruo virtual
deste catlogo, que incluiu as seguintes etapas:
a. anlise quantitativa e qualitativa das referncias ali contidas;
b. anlise estrutural principalmente designada pela numerao das obras;
c. anlise de cunho paleogrfico da escrita e caractersticas do documento;
d. anlise dos gneros instrumentais privilegiados e sua representatividade por autor.
O catlogo, no datado, medindo aprox. 24x30cm, encadernado em tecido, em estado de
conservao regular, sem indicaes gravadas na capa. A sua identificao encontra-se na
primeira pgina onde se l:
Catlogo das Peas de Msica existentes no Archivo de Mzica pertinente a
S. Ex
cia.
o Senhor Conde do Farrobo, cujas Peas se acho Numeradas, e
Classificadas nas differentes Estantes, como ao diante se v: Segue-se um
Index dos diversos Authores, que principia a F. 199, e bem assim o Index das
sobreditas Peas principiando a F. 287.
O catlogo organizado em trs partes, sendo as duas ltimas ndices catalogados por
Autor e por Peas sobre o contedo da primeira parte.
Na primeira parte, Index das peas de mzica, de maior intersse, esto classificadas, por
ordem alfabtica,
7
as peas por gnero. As informaes correspondentes a cada entrada, esto
subdivididas em cinco colunas, auto-explicativas, a saber: N.os, Ttulo das peas, Qualidade
de acompanhamento, Authores, Na estante n..
7
Em relao ao ordenamento adotado, se alfabtico no mbito geral, no respeitado internamente, ou seja,
Burleta antecede Cavatina, mas aparece no catlogo antes de Barcarola.
5
Esta ltima indica um sentido primrio de uma localizao espacial das obras, j implcita na
descrio do ttulo (nas diferentes Estantes), para a qual ter sido elaborada uma numerao
e uma classificao, demonstrando uma preocupao prtica, possivelmente para uso nas
inmeras atividades musicais desde festas, concertos privados, saraus, etc. comuns na
poca.
A numerao das peas tm incio a partir do n 1 ao n 947, e a estas devem ser agregadas
aprox. 168 obras no numeradas, elevando-se a contagem final a 1115 obras. Verificando-se
que esta numerao no estrita extrapolando os 64 gneros vocais e instrumentais
descritos no catlogo, foi feito um reordenamento sequencial da numerao, de forma a
recompor uma presumida ordem original.
Observou-se ento que esta numerao permaneceu aleatria entre os diversos gneros, mas
que os gneros instrumentais foram acrescidos em grandes blocos, ou em blocos nicos. Isto
ocorre quer seja no caso de um gnero pouco representativo, quer seja naqueles onde se
encontram um elevado nmero de obras de gneros instrumentais significativos.
8
Ento, quais teriam sido as razes que poderiam ter levado o responsvel pela elaborao do
catlogo a adotar aquela numerao, j que aparentemente no se apresenta uma justificativa
para a sua manuteno?
Podemos considerar que a numerao original e a classificao foram elaboradas por pessoas
distintas, em contextos diversos, e seguindo diferentes tipos de lgica. O ordenamento
adotado pelo responsvel do catlogo, seguiu uma classificao por gneros, agrupando as
obras sob cada um destes. J o responsvel pela numerao, seguiu uma classificao que,
pelo fato dos gneros instrumentais permanecerem agrupados em blocos, indicaria apenas
uma distino, a grosso modo, das obras puramente instrumentais daquelas da msica vocal
ou relacionada com a pera.
8
Por exemplo, os seguintes gneros ocupam em bloco esta sequncia numrica: Concertos nos.163 a 210, e
939; Sinfonias nos. 640 a 745, e 800; Sextetos nos. 628 a 636; Trios nos. 746 a 794, e 916 a 925; etc.
6
Acrescenta-se ainda que o responsvel pela numerao, poder t-la estabelecido a partir de
um conjunto prvio de obras, assim reunidas por motivos diversos: por pertencer a um
arquivo anterior, seja comprado a terceiros, seja de propriedade do 1 Baro de Quintela,
9
pai
do Conde do Farrobo. Infere-se portanto que os gneros instrumentais no foram objeto de
mltiplas aquisies como as demais obras.
A seguir, procedeu-se a uma contabilizao do nmero de obras por gnero, produzindo o
seguinte grfico (tabela 1), onde esto representados os 10 primeiros gneros:
TABELA n 1
Esta tabela revela a predominncia dos gneros instrumentais sobre os gneros vocais,
sobretudo daqueles mais representativos do classicismo, como a sinfonia, quarteto, dueto,
trio, concerto, e quinteto, preservando a ordem original encontrada no catlogo.
O catlogo apresenta ainda duas caligrafias distintas: uma primeira, precisa e equilibrada, e
uma segunda, posterior primeira, de muito menor qualidade. Para avaliar a
representatividade dos gneros das obras apontadas no catlogo, foi contabilizado o nmero
de obras por gnero,
10
e por caligrafia, como apresentado nas tabelas 2 e 3:
TABELA n 2
Na tabela 2, observa-se ainda a predominncia dos gneros instrumentais.
9
O 1 Baro de Quintela, pai do Conde de Farrobo (tambm 2 Baro de Quintela), foi um dos cinco
subscritores responsveis pelo financiamento da edificao do Teatro Sao Carlos de Lisboa, demonstrando
assim um estreito intersse e relacionamento com as artes desde a gerao anterior.
10
Foram analisados os 9 gneros mais representados com a 1 caligrafia, e os 14 gneros mais representados
com a 2 caligrafia. O critrio adotado foi limitado aqui apenas por questes de espao, as tabelas completas
tendo sido feitas ao longo do estudo.
7
TABELA n 3
Na tabela 3, a situao inverte-se, predominando os gneros opersticos ou relacionados com
a pera, e ainda, o decrscimo do nmero de sinfonias, que passa a ocupar o 11 lugar.
Conclui-se que houve dentro de um limite temporal ainda no determinado, uma mudana no
gsto musical, com um progressivo abandono das formas instrumentais em favor das obras
vocais, ou de gneros instrumentais relacionados pera.
Na ltima etapa do trabalho, apresenta-se uma amostragem sobre a representatividade de trs
gneros instrumentais predominantes quantitativamente: sinfonias, quartetos, e concertos, e
dos seus respectivos autores.
Numa comparao entre os autores das sinfonias (tabela 4), observamos que a presena de
obras de Haydn, representa mais do que o dobro dos outros compositores:
TABELA n 4
O mesmo sucede nos quartetos (tabela 5), embora em menor proporo:
TABELA n 5
Acrescenta-se ainda a presena no catlogo, de algumas obras importantes de Haydn, entre
as quais, a verso para quarteto de Die Sieben letzten Wrte..., originalmente escrita para a
semana santa da Catedral de Cdiz (1787).
11
Nos gneros de msica vocal, sob a designao
de Oratorias, encontramos Il Ritorno di Tobia (1775), Die Schpfung (1798), Die
Jahreszeiten (1801), e tambm o Cristo sul monte olivetti (1803), de Beethoven, e Mos in
Egitto (1817), de Rossini.
8
Em relao aos concertos (e a outros gneros camersticos), relevante a presena de
algumas obras de referncia, como (um) Concerto de Trompa de Mozart, o Concertino de C.
M. von Weber, mas sobretudo, de vrios compositores associados a estilos do classicismo
musical do sculo XVIII, como Pleyel, Romberg, Hoffmeister, Boccherini, Dussek,
Gyrowetz, Hummel, Moscheles, Stamitz, e Wranitzky.
12
Este aspecto penso apontar para um
campo de estudo especfico futuro sobre a disseminao do estilo concertante, bem assim
como a circulao da msica impressa na pennsula Ibrica, durante o periodo em questo.
Relaes da micro com a macro-estrutura: o catlogo em contexto
Apesar das suas limitaes caracterizada pela ausncia das fontes descritas, e do seu
propsito primrio de localizao espacial das obras o catlogo reflete, atravs de suas
caractersticas intrnsicas, muitos dos aspectos extrnsicos relacionados ao contexto histrico
no qual est inserido.
De uma parte, alguns aspectos da situao referida pelo contedo do catlogo, no atpica.
A partir da segunda dcada do sculo XIX, quando Rossini torna-se o centro das atenes em
toda a Europa, a Allgemeine Musikalische Zeitung, em artigo citado (12.01.1825), e a
propsito da retomada dos concertos da Sociedade Philharmonica de Bomtempo,
13
relata: S
os primeiros concertos que comearam com sinfonias de Haydn: na continuao, estas
foram substitudas por aberturas de Rossini e de outros compositores (Brito & Cranmer,
1990, p.62).
Alm disso, a msica instrumental em Portugal v-se temporalmente constrita entre as novas
estticas do incio do sculo XIX, e as dinmicas prprias de assimilao dos estilos
11
O que justifica em parte as suas relaes com a pennsula Ibrica, e a grande disseminao desta obra, a qual
consta nos diversos acervos consultados, e em diversas verses.
12
Aluno de Haydn, Paul Wranitzky (1756-1808) - diretor musical do Conde J. N. Esterhzy (1785), e
posteriomente diretor das orquestras dos teatros vienenses, foi preferido por ambos Haydn (Die Schpfung) e
Beethoven (1 Sinfonia, 1800) como regente, respectivamente, das duas primeiras rcitas destas obras.
13
Joo Domingos Bomtempo (1775 1842), pianista e compositor portugus, estabeleceu-se em Paris, e
realizou vrias viagens a Londres, antes de estabelecer-se em Portugal, onde fundou a Sociedade Philharmonica
9
desenvolvidos nos finais do sculo XVIII. A ascenso de D. Maria I ao poder (1777) remete
a msica para prticas ainda mais exiguas, quando por exemplo, volta a ser proibida a
participao das mulheres nos teatros (Martins, 1879). Com as incertezas no horizonte da
poltica externa e econmica, agravadas pela perda das riquezas advindas do Brasil (ouro e
algodo), fatores que se mantm por vrias dcadas, Portugal no dispe e no deseja investir
nas artes.
14
Esta situao continuada no reinado de D. Joo VI, e a sua atuao no Brasil no
campo das artes, desenvolve-se surpreendentemente com maior brilho do que em Portugal,
devendo ser a este contexto justaposto.
Quanto ao Brasil, relevando tambm dinmicas prprias ento colnia, no ser por mero
acaso que a primeira obra musicogrfica aqui publicada em 1820, seja a traduo para o
portugus da obra de Joaquim Lebreton, Notice historique sur la vie de Haydn,
15
publicada
em Paris em 1810. de notar que entre os seus 44 subscritores, se encontram dois ilustres
msicos brasileiros: a cantora Joaquina Lapinha, e o Pe. Jos Maurcio.
Se a nobreza em Portugal vivia momentos difceis, uma burguesia nacional, fortemente
envolvida com o iderio liberal, ascendia e prosperava. Considerado por Carvalho (1898,
p.96) como o Rotschild portugus, o Conde do Farrobo ergue (ca.1820) seu teatro
particular na Quinta das Laranjeiras, retratado pelo Visconde Benalcanfor (1874) nos
seguintes termos:
Do mesmo modo que em Trianon e nos jardins de Versalhes de Luz
XIV[...], assim nas Laranjeiras do Conde do Farrobo se reuniu durante vinte
anos tudo quanto havia de mais distinto em Lisboa, pela elegncia, pelo
talento, pela riqueza... Reis e Prncipes assistiram a mais que uma dessas
festas magnficas, que a opulncia e o bom gosto do Conde do Farrobo
tornaram afamadas entre as mais grandiosas da Europa. (Benalcanfor,1874,
in Carvalho, 1898, p.98-99).
(1822) e o Conservatrio de Lisboa (1833). Cabe ressaltar que Bomtempo um exemplo do que pode ser
considerado como reproduo, ou assimilao, do classicismo Vienense em Portugal.
14
Segundo Oliveira Martins (1879), D. Maria I lembrava a impiedade de dar 1200 ducados de ouro a Jomelli
como pagamento por uma cantata, e 25 contos a Conti e Cafarelli, por trs mses de teatro em Lisboa. Tanto
dinheiro poderia ser tido mas piedosa aplicao, e ter-se-iam evitado graves escandalos. In Martins, Oliveira,
op. cit. (2 ed. 1989), p. 157.
15
Primeiro livro de msica impresso no Brasil, trata-se da traduo de uma biografia de Joseph Haydn,
apresentada em sesso pblica a 06.10.1810, no Insituto de Frana, por Joaquim Lebreton, membro da misso
artstica francesa convocada por D. Joo VI ao Brasil, qual Sigismund Neukomm viria a integrar.
10
Neste espectro entre a rua e os palcios, desenvolve-se ento uma atividade artstica
promovida por uma classe tambm paralela rua e crte, prpria de uma burguesia nacional
ascendente e prdiga. O mecenato, antes exercido pela velha nobreza, cede lugar em
Portugal (ca.1820), ao mecenato burgus, de forte ndole mundana e secular.
Finalmente, constata-se a existncia de pelo menos uma nota quanto ao destino do catlogo,
encontrada em Vieira (1900, p.410), que afirmava o possuir, o que indica que este ter sido
provavelmente incorporado BNL quando da compra de parte do seu acervo, posterior a
1915. Alm disso, algumas das obras desaparecidas, podem corresponder s encontradas no
Fundo Ernesto Vieira da BNL, especialmente aquelas dedicadas ao Conde do Farrobo, de
autoria do compositor hispano-portugus Antonio Luiz Mir.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BENEVIDES, Francisco da Fonseca. O Real Theatro de S. Carlos de Lisboa: memrias 1883-1902.
Lisboa: Typ. e Lith. de Ricardo de Souza & Salles, 1902. Continuao de: O Real Theatro de S.
Carlos de Lisboa desde a sua fundao em 1793 at actualidade: estudo historico / por Francisco da
Fonseca Benevides. - [s.l. : s.n.], imp. 1883.
______ Conde do Farrobo. A Arte Musical, Lisboa, 1904. vol. 6, p. 9-10.
BERNARDINO, Teresa. Sociedade e atitudes mentais em Portugal (1777-1810). Lisboa: Imprensa
Nacional - Casa da Moeda, 1986. (Temas Portugueses).
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simblico. Lisboa: DIFEL, 1989.
BRITO, Manuel Carlos de. Concertos em Lisboa e no Porto nos finais do sculo XVIII. In: Estudos
de Histria da Msica em Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1989. p. 167-187.
BRITO, Manuel Carlos de; CRANMER, David. Crnicas da Vida Musical Portuguesa na primeira
metade do sculo XIX. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1990.
Carvalho (TINOP), Joo Pinto de. Lisboa d'outros tempos. Lisboa: Livraria de Antnio Maria
Pereira, 1898-99. 2 vls.
______Lisboa de Outrora. Publicao pstuma coord., rev. e anot. por Gustavo de Matos Sequeira e
Luiz de Macedo. Lisboa: Grupo Amigos de Lisboa, 1938.
CRANMER, David. As primeiras execues em Portugal de peras de Mozart. Boletim da
Associao Portuguesa de Educao Musical, Lisboa, vol. 62, p.25-27, jul./set.1989.
GINZBURG, Carlo. A Micro-histria e outros ensaios. Lisboa: DIFEL, 1989.
11
LEBRETON, Joaquim. Notcia Histrica da vida e das obras de Jos Haydn doutor em Msica,
membro associado do Instituto da Frana e de muitas academias. Lida na sesso pblica de 6 de
outubro de 1810 por... traduzida em Portuguez por hum amador e dedicada ao Senhor Neukomm. Rio
de Janeiro: Impresso Rgia, 1820.
LEMOS, Maximiliano. Farrobo, Conde de. In: Encyclopedia Portugueza Illustrada - Diccionario
universal. Porto: Lemos & C., Sucessor, 1900-1909. vol. 4, p. 665-666.
LICENA para entrada Quinta das Laranjeiras. [18--]. Convite.
LUCAS, Maria Elizabeth. Processos de trabalho na pesquisa musicolgica. In: ENCONTRO ANUAL
DA ASSOCIAO NACIONAL DE PESQUISA E PS-GRADUAO EM MSICA, 1996, Rio
de Janeiro. Anais Rio de Janeiro: ANPPOM, 1996, p. 87-92.
MOREAU, Mrio. Conde de Farrobo. In: Cantores de opera Portugueses Lisboa: Bertrand, 1981.
vol.1, p. 247-263.
MARTINS, Oliveira. Histria de Portugal. F. L. Castro (ed.). 2 ed. Lisboa: Mem Martins, 1989. 2
vols. (Livros de bolso Europa-Amrica).
NORONHA, Eduardo. Estroinas e Estroinices: runa e morte do Conde de Farrobo. Lisboa: Joo
Romano Torres, 1922.
______O Conde de Farrobo e a sua poca. Lisboa: Ed. Joo Romano Torres, [19--].
______ O Conde de Farrobo: memrias da sua vida e do seu tempo. Lisboa: Joo Romano Torres &
C, 1938.
PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, Guilherme. Dicionrio Histrico, Corogrfico. Biogrfico,
Bibliogrfico, Herldico, Numismtico e Artstico. Lisboa: Ed. Joo Romano Torres, 1911.
SCHERPEREEL, Joseph. A orquestra e os instrumentistas da Real Cmara de Lisboa de 1764 a
1834. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian - Servio de Msica, 1985.
SERRO, Joel. Dicionrio de Histria de Portugal. Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1968.
SADIE, Stanley (ed.). The New Groves Dictionary of Music and Musicians. New York & London:
1980.
VIEIRA, Ernesto. Diccionario Biographico de Msicos Portuguezes. Histria e Bibliographia da
Msica em Portugal. Lisboa: Lambertini, 1900.
12
TABELAS
Tabela n 1 - Obras por gnero
110
105
81
66
62
52
45
35
33
62
Sinfonias 110
Burletas 105
Quartetos instr. 81
Duetos instrumentais 66
Trios instrumentais 62
Operas Serias 62
Concertos 52
Quintetos instr. 45
Fantasias instr. 35
Arias e Arietas 33
Tabela n 2 - Caligrafia 1
59
49
44
107
95
79
62
44
29
Sinfonias 107
Burletas 95
Quartetos instr. 79
Duetos instrumentais 62
Trios instrumentais 59
Concertos 49
Operas Serias 44
Quintetos instr. 44
Arias e Arietas 29
Tabela n 3 - Caligrafia 2
18
14
10
9
8
7
4 4 4 4
3 3 3 3
Operas Serias 18
Fantasias instr. 14
Burletas 10
Vaudevilles 9
Mtodos 8
Duetos vocais 7
Duetos instrumentais 4
Arias e Arietas 4
Pot-pourris instr. 4
Polkas 4
Sinfonias 3
Trios instrumentais 3
Concertos 3
peras em quarteto instr. 3
13
Tabela n 4 - Sinfonias
40
15
8
7
6
1
Haydn
Pleyel
Wranitzky
Gyrowetz
Mozart
outros
Tabela n 5 - Quartetos
26
11
3 3
2 2
1
Haydn
Pleyel
Wranitzky
Mozart
Gyrowetz
Beethoven
outros
Human speech as a resource for music composition
Bruno Ruviaro
Dartmouth College, USA
brunoruviaro@gmx.net
Abstract: This research focuses on the sonic aspects of human speech as a source for
compositional procedures assisted by computers. The specific approach for the use of human
voice in electro-acoustic compositions may vary from microscopic sonic research into the very
essence of a single phoneme to theatrical experiments where semantics play a fundamental role.
We are particularly interested in verifying what kind of musical structures can emerge or be
derived from a sample of typical daily-life speech. This paper describes ongoing research into
speech analysis and re-synthesis methods designed for musical composition. A theoretical
introduction explains briefly the history of electro-acoustic music based on human voice, as
well as some basic linguistics concepts related to the nature of speech and language.
Conclusions demonstrate some practical results in which human speech functions as the basis of
short musical excerpts generated on computer. A secondary possible approach - where speech
data is used in instrumental composition - is also shown in the conclusions. This research is the
basis of the authors present compositional work.
Keywords: electro-acoustic, computer-aided composition, speech
1. Introduction
Some expressions have been created in order to categorize certain electro-acoustic compositions which
share any of the multiple uses of human voice as their main musical ideas: text -sound piece,
sprachkomposition, verbal composition, hrspiel, among others. The specific approach to the use
of human voice in such pieces may vary from a microscopic sonic research into the very essence of a
single phoneme to theatrical experiments where the meaning of a text plays a fundamental role.
A number of different uses of known languages and also language simulations can be found in
text -sound pieces in general, as well as a broad range of vocal expressions beyond the categories of
normal speech or singing. The world of loudspeakers has also contributed to the use of very intimate and
otherwise inaudible sounds that one can produce with the vocal apparatus. For example, the use of
recorded whispers, subtle moans, breathing (just to cite a few possibilities), detaches those sounds from
their private bodily spaces of existence since usually one can hear them only in very familiar situations
at close distances to another body. Such sounds can be put then in different spatial dimensions and
presented in the public space of a music concert.
This research focuses on the sound flow of human speech as a source for speculations on
musical structures. We are particularly interested in verifying what kind of musical organizations can
emerge, or be derived from, a given sample of a typical daily life conversation.
Looking back in the history of electro-acoustic music, the use of human voice has played an
important role in its evolution since the very beginning. The well known pieces Symphonie pour un
homme seul (1950) Pierre Schaeffer & Pierre Henry, Gesang der Jnglinge (1955-56) Karlheinz
Stockhausen, Thema (Ommagio a Joyce) (1958) and Visage (1961) Luciano Berio are good examples
of this. Epitaph fr Aikichi Kuboyama (1960-1962) by Herbert Eimert, although not so famous as the
others, is another especially interesting composition where a deep research on the borders of music and
language was undertaken.
From the last thirty years, we could cite the following examples in order to have a concise
overview of the kind of composition we relate with our study: Speech Songs (1973) Charles Dodge,
Requiem (1973) Michel Chion, Six Fantasies on a Poem by Thomas Campion (1979) Paul Lansky,
The Blind Man (1979) Barry Truax, Mortuos Plango, Vivos Voco (1980) Jonathan Harvey, PAN
Laceramento della parola (Ommagio a Trotskij) (1988) Flo Menezes and Tongues of Fire (1994)
Trevor Wishart.
Among all those examples we can find close correlations between human voice and electronic
sounds; strong links between music and modern poetry and literature; stress of the theatrical side of
human voice, either based on a real text or on language simulation; importance of a chosen text topic
(such as politically engaged themes or religious texts); pioneering speech synthesis research; and creation
of new sonic worlds through strict manipulation of voice sounds. These are just a few of the aspects that
allow us to see how diverse the approach of human voice can be.
Not in all cases, however, the sound of human voice was used as a source or model for musical
organization. The question is: has any aspect of the sound of human voice influenced or determined the
structure of the musical composition itself? This provides us with an analytical tool not a judgement
criterion to approach those compositions with which our research is particularly concerned.
In this paper we are going to describe one method of approaching the sound shape of human
speech as a main source for generation of musical ideas. At this initial stage of our research, the two main
outcomes of this method are computer-generated sounds made through additive synthesis and
instrumental compositions based on data extracted from speech.
2. Speech Analysis/Synthesis Paradigm
2.1 Useful Linguistics Concepts
Generally speaking, the linguistic analysis of speech phenomena has some similarities with our general
concept of musical analysis: the main concern is to divide the continuous sound-flow into a definite
number of successive units (Jakobson, 1956, p. 3) meaningful units, in a higher level, and their
minutest constituents, in a lower level. In linguistics, the smallest element endowed with meaning is
considered to be the morpheme. Its inner components, which make possible differentiating morphemes
from each other, are the phonemes and the distinctive features. Opposition and contrast form the so called
polarity principle, that is to say, the choice between two terms of an opposition that displays a specific
differential property, diverging from the properties of all other oppositions (Jakobson 1956, p. 4).
The knowledge of the basic categories of small units of spoken sounds is also of great value for
the composer interested in a deeper exploration of this field. These categories are Vowels, Diphthongs,
Semivowels, Nasals, Fricatives, Plosives, Affricates and the whis pered consonant H. One of the main
musically interesting oppositions here is between noise and pitched sound, which is basically the
difference between vowels and consonants
1
.
The so-called supra-segmental levels of linguistics analysis will be studied in detail during the
next steps of this research. By supra-segmental organization we understand the study of language
structures above the phonemic level, as for example the mora, the syllable and the foot structures. The
study of stress organization is especially relevant to a broader understanding of the prosodic level of
human speech. Stress is not directly related to one single physical parameter: changes in pitch and
duration have the most influencing elements on stress, while loudness has the least effect on stress
perception, despite its intuitive status as the most natural correlate of stress (Hayes, 1995, p. 6).
2.2 Speech Analysis Methods
According to Dodge (1985), two common methods of analysis gained importance since the origin of
computer-based analysis of speech: formant tracking and linear predictive coding (LPC).
A formant is a characteristic peak of amplitude in certain frequency regions of the spectrum. It is
mainly because of different formant configurations, resulting in different timbres, that we can distinguish
one vowel from each other. This is also true for the recognition of timbres in the instrumental domain. In
formant tracking, the analysis transforms the speech signal into a series of short -term spectral
descriptions, one for each segment. Each spectrum is then examined in sequence for its principal peaks,
or formants, creating a record of the formant frequencies and theirs levels versus time. (Dodge, 1985, p.
225). The other method, linear predictive coding, is a subtractive analysis/re-synthesis method which
analyzes [a sound] into a data-reduced form, and re-synthesizes an approximation of it. A prediction
algorithm tries to find samples at positions outside a region where one already has samples (Roads,
1996, p. 200).
The speech analysis currently undertaken for our research is based on a function called Partial
Tracking from the software Audiosculpt (IRCAM - Paris). After obtaining a sonogram of the sample
under study, the partial tracking function gives us a graphic representation of the partials by means of line
segments; these lines are as straight as the partials are steady. In the case of human speech, as we
discussed above, the prosodic level is often characterized by continuous changes in pitch within words,
thus resulting in curved lines for each partial (Figure 1, left).
We can export this data in text format for subsequent use in our resynthesis. However, the
amount of data that would be extracted from all these curved lines for each partial is large, necessitating a
correspondingly large computational time in the resynthesis. In order to avoid this problem, we can
1
This has been a continuous source of musical ideas for new music composers, not only in the electro-
acoustic domain, but also in the instrumental domain. Circles (1960), by Luciano Berio, is just one of
many famous examples.
average all partials so as a single straight line can represent each of them. Audiosculpt gives us this
possibility, and then we get the following result:
Figure 1. Two sonograms in Audiosculpt. The lines show a typical partial tracking for a
spoken sentence, with lots of small glissandi (on the left). In this example, the words
Check it out are spoken by a male voice. The same sonogram with averaged partials is
shown on the right. Part of the richness of the prosodic features is sacrified in benefit of
computational feasibility.
Once saved into a text file, we have a list of data with the following appearance:
( PARTIALS 124
( POINTS 2
0.122 925.909 -29.630
0.383 925.909 -29.630
)
( POINTS 2
0.128 2126.556 -33.339
0.232 2126.556 -33.339
)
The header indicates the total number of partials. Each sublist contains the starting and ending
points of a single straight line (partial), in seconds, and its average frequency (Herz) and amplitude (dB).
This list then will be subject to a simple sorting into sublists, one for each individual parameter of the
collection of partials: onset, duration, frequency and amplitude.
2.3 Speech Resynthesis
Perhaps the most interesting step from the musicians viewpoint is that one right before the use of all
those data in a resynthesis process. We put it between quotes because a realistic resynthesis of the
sampled voice often is not the goal of a composer. Rather, it is at this moment that one can make all sorts
of alterations and mutations on the available parameters to get results that range from the closest
recognizable speech shape to sound textures without apparent relationship with the initial voice. The
possibility of using this speech data to feed an instrumental composition project is also considered. Let us
now examine these two different approaches.
2.3.1 Csound
With help of other IRCAM software (Open Music), we are able to deal with the raw data in the text files
and sort it in a suitable manner to write a Csound score
2
. An enormous variety of complex sound textures
can be obtained, resembling the original voice in different levels. In general, as long as the onsets and
durations are kept approximately close to the original values, the resulting sound should resemble the
temporal contour of the analyzed voice. For example, if the frequencies are radically and irregularly
changed but the time values are as in the original, some listeners` may still be able to recognize the
speech-like rhythms. On the other hand, changing parameters in a combined manner beyond certain
limits, sound textures with no resemblance to the human voice can also be obtained. One example is
increasing the durations of each partial by 10 or 20 times the original, but keeping frequencies and onsets
as in the original. The result will be a kind of long, stretched cloud of sounds in continuous movement.
This is because, as one can imagine, each temporally enlarged partial ends up overlapping with all others
several seconds after its onset.
2.3.2 Chord-Seq Module
Instead of managing the speech analysis to write a CSound score, one can also make use of the raw data
to develop instrumental compositions. Another Open Music patch is used to convert speech data into a
piano score. A few operations must be done on the original list in order to get values in midicents,
milisseconds and velocity (amplitude). Open Music module Chord-Seq allows us to input these
parameters and save a MIDI file. This file can be used as source material for further developments of an
instrumental piece based on speech analysis. Some speech-like qualities produce a very special shaping of
musical ideas in the instrumental domain.
Figure 2. Example of instrumental writing (four-hands piano) derived directly from
extracted data from speech analysis. In this example, the rhythm was a little bit
simplified. Usual results yield several layers of superimposed complex rhythms.
3. Conclusions
2
The amplitude in dB from Audiosculpt had to be rescaled to match the CSound dB amplitude scale.
The main question to a composer using the processes described above is: where and how to transform the
raw data? Factors like intelligibility of words and of other intermediate degrees of speech features are to
be considered according to a given musical project. The use of the original sample in subtle mixings with
the resulting synthesis has proved to be an efficient way to increase inteligibility withouth loosing the
freshness of the new synthetic textures. So far we have used simple Csound orchestras files and sine
waves as the timbre source for resynthesis. Naturally, further developments and different results can be
obtained by designing more complex structures at those levels. At present, we are working on assembling
the results of those first experiments on a multi-channel electro-acoustic piece
3
.
The instrumental approach also showed promising results, although a higher level of composers
interference is needed when moving from a MIDI file to a more refined instrumental writing. Straight
adaptations of converted data are often impossible, and even undesirable.
Finally, another step to be taken is to explore the possibilities of generating musical forms based
on temporal and spectral manipulations of the prosodic structures obtained through linguistics analysis of
speech.
4. Acknowledgements
Special thanks to composer Ignacio de Campos, who first taught me the basis of all the sound processing
explained above, and to composers Larry Polansky and Eric Lyon for their comments and support while I
was writing this paper.
5. References
DODGE, Charles; JERSE, Thomas. Computer Music. New York: Schirmer, 1985.
HAYES, Bruce. Metrical Stress Theory. Chicago, University of Chicago Press, 1995.
JAKOBSON, Roman; HALLE, Morris. Fundamentals of Language. The Hague: Mouton & Co., 1956.
ROADS, Curtis; STRAWN, J. (organizers), Foundations of Computer Music. Cambridge: MIT Press,
1985.
ROADS, Curtis. The Computer Music Tutorial. Cambridge: MIT Press, 1996.
3
Most of the processes described here were also used in some of our recently composed pieces
Phonemic Studies (2003) and Japanese Dishes (2003).
Tomando decises editoriais em textos musicais
Carlos Alberto Figueiredo
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RI O)
cafig@visualnet.com.br
Resumo: O processo editorial demanda a tomada de uma srie de decises. Para embasar tais
decises, propomos, aqui, seis perguntas metodolgicas,discutindo as fontes a serem utilizadas, a
crticas dessas fontes, a inteno de escrita e sonora do compositor, a questo da transcrio e a
destinao da edio. Esta comunicao est inserida no contexto mais amplo de nossa pesquisa
em torno dos processos editoriais em msica, assunto desenvolvido mais extensamente em nossa
Tese de Doutorado, Editar Jos Maurcio Nunes Garcia.
Palavras-chave: edies de msica; Jos Maurcio Nunes Garcia; fontes
Abstract: The editorial process demands that a series of decisions are taken. To substantiate
such decisions, we propose, here, six methodological questions discussing the sources to be used,
source criticism, the writing and sound intentions of the composer, the question of transcription
and the purposes of the edition. This paper is within the context of our research about the edito-
rial processes in music, developed more extensively in our Doctoral Dissertation, Editing Jos
Maurcio Nunes Garcia.
Keywords: musical editions; Jos Maurcio Nunes Garcia; sources
Reconhecemos dois tipos de item que devem ou podem constar numa edio de uma
obra musical: um essencial e vrios acessrios. O essencial , naturalmente, o texto musical,
razo de ser de uma edio de uma obra musical, e os acessrios so aqueles que podem ser
apresentados como apndices e anexos, trazendo maior ou menor esclarecimento sobre o
prprio texto, das circunstncias em torno dele e da pesquisa para estabelec-lo. As caracte-
rsticas do texto final editado e a quantidade e os tipos de item acessrios dependero do tipo
de edio proposta, e dos meios disponveis para tal.
Trataremos nesta comunicao do item essencial, ou seja, o texto musical.
A pesquisa para o estabelecimento de um texto deve responder a uma srie de per-
guntas, todas, de certa maneira, interdependentes. As seis perguntas a serem colocadas, a
seguir, representam um desdobramento daquelas apresentadas por Badura-Skoda
(1995:186):
1
a
. pergunta: Quantas e que tipos de fonte devero ser utilizados para o estabeleci-
mento da edio?
Uma obra musical pode ser transmitida por uma ou mais fontes, manuscritas ou im-
pressas. Havendo uma nica fonte, seja de que tipo for, no pode haver dvidas quanto
quela que ser utilizada. Havendo, porm, mais de uma, dever o editor decidir quanto ao
nmero de fontes a serem consultadas para a realizao da edio, bem como a sua avalia-
o, ou seja, o seu nvel de importncia, principalmente no que diz respeito ao seu grau de
proximidade com o autor: autgrafas, autorizadas, cpias, edies da poca do compositor
ou de pocas posteriores.
2
a
. pergunta: O que est fixado na fonte?
A segunda pergunta leva crtica das fontes, ou seja, constatao dos fatos fsicos
que as envolvem: estado, tipo de notao que contm, nmero de flios ou fascculos e seu
lay-out, marcas dgua, em caso de manuscrito, atribuio de autoria, data da composio,
da cpia ou da edio, nmero da publicao e das placas, em caso de obra impressa. Tal
levantamento importante no s como estudo genrico das caractersticas materiais de fon-
tes que transmitem um determinado repertrio, mas tambm como ponto de partida para al-
guns dos problemas a serem discutidos pelas perguntas seguintes. O aspecto notacional ,
sem dvida alguma, um dos mais importantes, pelo aspecto da reproduo grfica ser a ativi-
dade essencial de uma edio.
A crtica das fontes deve levar tambm a consideraes sobre lacunas existentes nas
fontes, devidas a rasgos, deteriorao pelo tempo ou por insetos e at, eventualmente, sobre
falta de partes de um manuscrito que se apresenta em partes avulsas.
3
a
. pergunta: Deve-se investigar e registrar a inteno de escrita do compositor?
Esta pergunta nos coloca diante do problema de investigar ou no se aquilo que est
fixado na fonte corresponde quilo que o compositor teve realmente a inteno de escrever.
Toda fonte, autgrafa, autorizada ou de tradio, pode apresentar lies ou estruturas
dbias, incompletas, contraditrias ou erradas. As fontes transmitidas em partes avulsas po-
dem apresentar um problema especial de inteno de escrita do compositor, nos casos em
que uma das partes esteja perdida. A partir da constatao de tais problemas pode o editor
adotar duas atitudes: seguir apenas a sua intuio, introduzindo modificaes arbitrrias ou se
respaldar em metodologias que lhe permitam se aproximar de solues que reflitam aquilo que
o compositor quis efetivamente escrever. Essa pergunta pode ser subdividida em duas, de-
pendendo dos tipos de fonte disposio para a edio da obra:
a) havendo fontes autgrafas e autorizadas, pode o editor buscar ou no o estabele-
cimento do texto musical, segundo a inteno do compositor, principalmente nos pontos onde
este introduziu erros ou variantes. Uma correta avaliao nesse aspecto implica em nos situ-
armos na poca em que o texto foi composto, j que nem sempre a autoridade do autor
considerada soberana. No perodo barroco, por exemplo, era permitido, e at desejado pelo
compositor, que aquilo que ele escreveu fosse modificado (Herttrich, 1985:40).
b) havendo apenas fontes de tradio para o estabelecimento do texto, necessrio
tomar a deciso de se utilizar, ou no, metodologias para a possvel reconstituio do original
perdido. possvel, por outro lado, a deciso de se editar uma das fontes de tradio, por
critrios diversos, sem qualquer preocupao com a reconstituio do texto.
4
a
. pergunta: Deve-se investigar e registrar a inteno sonora do compositor subjacen-
te quilo que est fixado na fonte?
A quarta pergunta nos traz a reflexo, conforme expressa por Harran, de que uma
edio significativa [...] no aquela que reproduz as peculiaridades da sua notao, mas
aquela que reconstri a msica como parece ter sido concebida pelo compositor e veiculada
pelos intrpretes (1986:351).
O texto musical tem algumas peculiaridades, principalmente se o compararmos com
um texto literrio. Levando-se em considerao que um texto musical criado para ser neces-
sariamente executado, gerando um objeto sonoro, emergem, assim, as convenes de execu-
o que esto subjacentes ao texto fixado. Segundo Nattiez, a dificuldade que o uso de
uma notao no possvel seno no contexto de uma prtica adquirida, e, quando essas
prticas deixam de ser conhecidas, a notao se torna muda (1975:112).
Quanto mais avanamos no tempo, mais foram os compositores se preocupando em
notar as sutilezas de suas intenes, fazendo com que aquilo que estivesse fixado por escrito
cada vez mais correspondesse inteno sonora. Se tomarmos a msica do perodo barroco,
por exemplo, veremos que na maior parte das vezes a partitura no passa de um mero es-
quema, a ser preenchido pela grande quantidade de convenes de execuo da poca. Se o
editor de uma obra literria deve preocupar-se apenas com a idia grfica, deve o editor de
msica levar em conta tanto a idia grfica como a sonora (Drr, 1995:14).
A quarta pergunta leva o editor a decidir sobre a atitude a tomar diante de tais fatos
trazidos pelas convenes de execuo de poca, podendo vir a explicit-los ou no no seu
texto final editado. Uma outra possibilidade est em o editor desconsiderar as intenes sono-
ras do compositor e vir a introduzir as suas prprias, segundo as convenes vigentes em sua
prpria poca, ou mesmo levando em considerao apenas a sua viso interpretativa pessoal
da obra.
5
a
. pergunta: De que maneira poderiam ter escrito o compositor ou o copista seus tex-
tos, para serem entendidos universalmente nos dias de hoje?
A quinta pergunta nos coloca diante dos critrios editoriais que levam necessidade
ou possibilidade de modernizao, ou padronizao, segundo critrios atuais, do texto fixado
na fonte. Sabemos que, quanto mais recuamos no tempo, mais a notao musical se diferencia
da atual, levando necessidade de realizao de transcries.
A questo da transcrio, entendida como transposio de um tipo de notao para
outra, coloca algumas reflexes. Para Siegele, uma transcrio sempre inevitvel, mesmo
numa edio comprometida com a fidelidade s fontes, no sendo uma questo do fato, mas
do grau de transcrio (1995:342). Grier aponta dois estgios numa transcrio: a inscrio
dos smbolos e sua interpretao, reconhecendo, entretanto, que os limites entre dois estgios
so tnues (1996:58), o que leva Eva Badura-Skoda a afirmar que impossvel que uma
transcrio no apresente caractersticas interpretativas (1995:188). Caraci Vela associa a
transcrio com a traduo de uma lngua para outra e, segundo ela, uma operao de tra-
duo de uma notao para outra [...] no pode reduzir-se a equiparaes simples e prticas
de sinais, mas exige um processo de penetrao crtica e interpretativa (1995:48).
6
a
. pergunta: Qual a destinao da edio?
A ltima pergunta enfatiza as diferenas no estabelecimento do texto segundo sua des-
tinao: prtico ou musicolgico, ou seja, para ser executado ou para ser estudado.
Segundo Walther Drr, parece haver uma contradio insolvel entre uma edio
musicolgica e uma edio para a prtica musical (1991:522). Aquela estritamente musicol-
gica oferece um texto para ser estudado e analisado nos seus aspectos notacionais, formais e
estilsticos, enquanto que a prtica enfatiza o aspecto da execuo do mesmo: dinmica, or-
namentao, andamentos. Para o editor de uma edio musicolgica no interessa se ela
executvel por um msico de hoje (Idem). Martin Bente, fazendo-se porta-voz da Henle Ver-
lag, diz haver uma clara distino entre uma edio de Obras Completas (musicolgica) e uma
Urtext para a prtica. Embora baseada nos mesmos princpios, tm objetivos diferentes. A
primeira realizada dentro dos princpios da Crtica Textual, enquanto que a segunda seria
realizada tambm dentro dos princpios da Crtica Textual, mas sem detalhar o processo (a-
parato crtico sumrio), alm de introduzir indicaes para execuo (1991:528ff). Ainda para
esse autor, a Edio cientfica, ou musicolgica, deve servir de base para a Edio prtica
(530).
A nfase no aspecto musicolgico por excelncia de determinadas edies tem levado
a srios questionamentos. O problema, inicialmente, que se o nico acesso a uma determi-
nada obra s pode ser feito atravs de uma edio musicolgica torna-se restrito, inevitavel-
mente, o nmero de leitores possveis e, principalmente, o de executantes. Ulrich Siegele ao
discutir a edio do Denkmler der Musik in Baden-Wrttemberg, realizada dentro de cri-
trios estritamente musicolgicos, pergunta se s podem ter acesso a uma msica aqueles
que tm a capacidade de ler a notao original criticando, em seguida, que um tal tipo de
cincia distancia-se da responsabilidade de partilhar seus resultados (1995:342).
Falar sobre uma edio voltada exclusivamente para a prtica, por outro lado, leva
pergunta sobre que tipo de executante se pretende alcanar. possvel reconhecermos toda
uma gradao de tipos de executante, desde os mais sofisticados, at o mais simplrio, do
profissional ao amador, do pragmtico ao investigador. necessrio conceber edies dife-
rentes para cada um desses tipos de executante?
A separao entre a pesquisa e a prtica reflete, na verdade, uma situao tradicional
vigente at a dcada de 1950, quando, ento, uma nova orientao comea a se instalar no
campo editorial, ou seja, quando as edies passam a oferecer um texto cientfico associado
com aspectos da prtica musical, deixando a cincia e a prtica de representar territrios
incomensurveis (Berke, 1991:531). Uma das razes para essa mudana de orientao est
na nova necessidade dos msicos - principalmente ao lidar com a chamada Msica Antiga -
de terem acesso a textos filologicamente incontestveis (Idem). Para Caldwell,
h apenas dois requisitos fundamentais para uma edio de msica:
clareza e consistncia. Nesse aspecto, no existe diferena entre uma edio
musicolgica e uma prtica. O objetivo de ambas o mesmo: oferecer um texto
musical em que se possa confiar, e faz-lo de tal maneira que a msica possa
ser facilmente assimilada pelo olho (1985:1).
Acrescenta Dahlhaus que um maior rigor cientfico no implica num afastamento da
prtica (1995:67), sendo o comentrio sobre a prtica de execuo um dever filolgico e
um componente essencial da edio, e no um simples apndice (68). Enfatiza esse autor
ainda que
sinais introduzidos pelo editor, instrues para o uso prtico no so
contraditrios com as normas de uma edio histrico-crtica, desde que no
causem perturbao, ou seja, no se confundam com os sinais originais ou sejam
irreconciliveis com a prtica de execuo da poca em que surgiu a obra(69).
As perguntas colocadas acima servem no s para as decises de um editor no mo-
mento de estabelecimento de um texto, mas tambm como um guia seguro para uma anlise
de edies j realizadas.
Referncias Bibliograficas
BADURA-SKODA, Eva. Problemi testuali nei capolavori del XVIII e XIX secolo. In
CARACI VELA, Maria, org., La critica del testo musicale: Metodi e problemi della filologia
musicale. Lucca: Libreria Musicale Italiana, 1995. p. 181-198.
BENTE, Martin. Ermittlung und Vermittlung. sterreichsche Musikzeitschrift, v. 46, p. 528-
531, 1991.
BERKE, Dieter. Urtext zwischen Wissenschaftanspruch und Praxisnhe. sterreichsche
Musikzeitschrift, v. 46, 1991. p. 531-535.
CALDWELL, John. Editing Early Music. Oxford: Clarendon, 1995.
CARACI VELA, Maria. Le specificit dei testi musicali e la filologia: alcuni problemi di me-
todo. In Filologia Mediolatina, I, 1995. p.43-62.
DAHLHAUS, Carl. I principi delle edizioni musicali nel quadro della storia delle idee. In
CARACI VELA, Maria, org., La critica del testo musicale: Metodi e problemi della filologia
musicale. Lucca: Libreria Musicale Italiana, 1995. p. 63-73.
DRR, Walther. Sieben Thesen zu Edition von Musik und Musikalischer Praxis. ster-
reichsche Musikzeitschrift, v. 46, p. 522-524, 1991.
GRIER, James. The Critical editing of music. Cambridge: University Press, 1996.
HARRAN, Don. Word-Tone Relations in Musical Thought. In Musicological Studies and
Documents, 40. Neuhausen, Stuttgart: American Musicological Society, 1986.
HERTTRICH, Ernst. Urtext: Mglichkeiten und Probleme. Concerto, v. II, n. 6, p. 38-45,
1985.
NATTIEZ, Jean-Jacques. Fondements dune smiologie de la musique. Paris: Union gnrale
ddition, 1975.
SIEGELE, Ulrich. Ein Editionskonzept und seine Folgen. Archiv fr Musikwissenschaft, v.
LII, n. 4, p. 337-46, 1995.
1
A msica do Rio de Janeiro imperial
1
Carlos Eduardo de Azevedo e Souza
Universidade Candido Mendes
Conservatrio Brasileiro de Msica (CBM)
Escola de Msica Villa-Lobos (RJ )
Universidade Federal Fluminense (UFF)
ceduardo@rionet.com.br
Resumo: Trata-se de um trabalho com objetivo voltado para um desdobramento histrico concreto, que
remete s condies sociais em que foi produzida e exercida a msica no Rio de Janeiro do sculo XIX, em
uma perspectiva scio poltica cuja a condio de possibilidade para sua existncia foi o financiamento feito
pelas instituies imperiais. Verifica-se a progressiva organizao de uma vida musical na cidade, entre o
estabelecimento da Corte portuguesa, em 1808, e o fim do imprio em 1889, como um elemento para avaliar
a insero de uma sociedade urbana brasileira, que em pleno sculo XIX entra nos quadros do Antigo
Regime, no momento em que a obra de arte, ela prpria, est se convertendo em mercadoria.
Palavras-chave: msica, histria, pera, negcios, Rio de Janeiro, corte
Abstract: This work have an objective to a history developing, in a social conditions of productions of
brazilian music in 19
th
century, in the perspective social and politic where the possibility of existence was a
support of the Imperial State. A progressive organization of the musical life in the city of Rio de Janeiro,
between the establishment of the imperial court (1808), and the end of the imperial regime (1889), like a
element to evaluation of the insertion the one urban society, that in the 19
th
century still in the ancient regime,
in the moment that the art is converting in the marketing.
Keywords: music, history, opera, business, Rio de Janeiro, court
De acordo com o Projeto de Pesquisa original, a tese verifica a progressiva organizao de
uma vida musical do Rio de Janeiro, entre o estabelecimento da Corte portuguesa na cidade, em
1808, e o fim do imprio, como um elemento a mais para avaliar a insero de uma sociedade
urbana brasileira, sada dos quadros do Antigo Regime, no mundo contemporneo, em que a obra
de arte, ela prpria, converteu-se em mercadoria.
Sob esse ngulo, assume um lugar de relevo a anlise, com todos os seus problemas, das
instituies que formaram o quadro que possibilitou o surgimento e o desenvolvimento de uma
sociedade musical urbana, ligada, de incio, sobretudo vida cortes do Rio de Janeiro no sculo XIX,
pois concentrada na msica erudita produzida e financiada pelo Estado imperial, atravs da Capela
1
Comunicao de Pesquisa em Andamento.
2
Real/Imperial, a partir de 1808, e do Conservatrio Imperial de Msica, a partir de 1841. No entanto,
no se podem excluir algumas atividades empresariais ligadas produo de peras e realizao de
concertos, com a presena de concertistas estrangeiros, que podem ser verificadas em especial nas
publicaes peridicas. Por fim, desenvolve-se uma prosopografia dos msicos que atuaram na cidade
durante o perodo, a fim de assim caracterizar os estratos sociais envolvidos.
Correspondentemente ao programa em Histria encontrei autores como Edward H. Carr e
Pierre Bourdieu, para desenvolver algumas das ferramentas indispensveis para a pesquisa. Assim
como, de outros, que tm por finalidade aprofundar o conhecimento do perodo, tanto no mbito geral,
como no mbito especfico da msica.
E. H. Carr, em sua obra Que Histria?, aponta em vrias direes. Sobretudo, o que chama
ateno so as observaes sobre a relao entre o historiador e suas fontes, seus documentos,
ressaltando o cuidado necessrio para lidarmos com elas e os problemas envolvidos na construo do
passado a partir dos documentos. O que remete para a questo da objetividade em Histria. Afinal, o
passado nos chegou atravs da interpretao produzida por uma ou mais mentes humanas e, desse
modo, foi
processado por elas e portanto, no pode compor-se de tomos elementares e impessoais
que nada podem alterar... A pesquisa parece ser interminvel, e alguns eruditos
impacientes refugiam-se no ceticismo, ou pelo menos na doutrina segundo a qual, desde
que todos os julgamentos histricos envolvem pessoas e pontos de vista, um to bom
quanto o outro, e no h verdade histrica objetiva. Carr, 1996, p.44.
2
Em especial, as formulaes de Bourdieu so as que se revelaram mais ricas, em funo dos
conceitos de campo, utilizado para investigar um campo musical no Rio de Janeiro da poca, e o de
habitus, que permite considerar a herana portuguesa e o esforo para dela desvincular-se.
3
Alm
disso, o lugar central que o autor atribui problemtica do poder serve para pensar os usos sociais da
msica na capital do Imprio. Em outro texto, A Iluso biogrfica, Bourdieu trabalha com uma
noo, indispensvel para o trabalho, j que trabalho com biografias coletivas e fao uma anlise
prosopogrfica de msicos e compositores do perodo analisado.
4
No livro As Regras da arte, o autor
estabelece as bases para a constituio do que ele prprio chama de campo artstico, mostrando as
inter-relaes entre os artistas e as pessoas que fazem da arte uma mercadoria, como empresrios,
2
2 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996, p. 44.
3
BOURDIEU, Pierre. O poder simblico. Lisboa, Difel, 1989. e do mesmo autor A economia das Trocas simblicas. So Paulo,
Perspectiva, 1974.
3
produtores e editores. Fornece, assim, alguns dos pressupostos para entender-se um mundo criado
expressamente para acolher um personagem social sem precedentes, o artista, profissional em tempo
integral, dedicado de maneira total e exclusiva ao seu trabalho, at certo ponto indiferente s
exigncias da poltica e s injunes da moral, por que no reconhecendo nenhuma outra jurisdio
alm das normas especficas de sua arte.
5
Pelo lado da Histria Cultural, em suas diversas formas, cito E. P. Thompson que, preocupado
em salientar que as classes sociais constituem no s uma formao econmica, mas tambm uma
formao cultural e capaz de destacar que as classes populares, atravs de determinadas atitudes e
comportamentos, aparentemente irrelevantes, revelam formas de resistncia s diferentes formas de
dominao cultural.
6
Valorizou, assim, o estudo da cultura popular pelo historiador, a partir de uma
aproximao com a antropologia, que prestasse ateno aos valores e aos rituais, postura que
contribui, no meu caso, para aguar o olhar sobre as manifestaes culturais no Brasil do sculo XIX.
Da mesma forma, Carlo Ginzburg, no prefcio de sua obra, O Queijo e os Vermes, considera
que a preocupao da Histria das Mentalidades com a relao entre as classes foi o principal fator
que o levou a optar por trabalhar com a idia de cultura popular.
7
Inspirado em Bakhtin, Ginzburg,
assim como Peter Burke, destaca a oposio entre a cultura popular e a cultura erudita, prpria das
classes dominantes, distinguindo a questo do conflito de classes.
8
Por um outro lado, enfatiza a
concepo de circularidade cultural, propondo como recprocas as influncias entre a cultura dos
dominados e dos dominantes, movendo-se de baixo para cima, bem como de cima para baixo. E, nesse
movimento, ambas as culturas absorvem influncias, de acordo com seus prprios valores. E vale
ressaltar que, nessa ltima afirmativa, apresenta Carlo Ginzburg semelhanas com as posies de
Roger Chartier, quanto noo de apropriao, que enfatiza as prticas que se apropriam, de forma
diversa, das idias que circulam numa determinada sociedade, dando lugar aos usos diferenciados e
opostos das mesmas.
No entanto, se o conceito de circularidade cultural, adotado por Carlo Ginzburg, trabalha numa
perspectiva vertical, em termos de influncia recproca entre a cultura das classes subalternas e a da
cultura dominante, Chartier prope que, para trabalhar com culturas populares diversas, marcadas por
4
BOURDIEU, Pierre. A Iluso Biogrfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e Abusos da Histria Oral. Rio de Janeiro,
FGV, 1996.
5
BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte. So Paulo, Companhia das Letras, 1996.
6
THOMPSON, E. P. Costumes em Comum: Estudos Sobre a Cultura Popular Tradicional. So Paulo, Cia das Letras, 1998.
7
GINZBURG, C. O Queijo e os Vermes. So Paulo, Companhia da Letras 1987.
8
BURKE, Peter. A Cultura Popular na Idade Moderna. So Paulo, Companhia das Letras, 1989. BAKHTIN, Mikhail. A Cultura
Popular na Idade Mdia e no Renascimento. So Paulo, HUCITEC, 1993.
4
distines tnicas, h de se levar em conta uma interpenetrao cultural, o que leva a pensar numa
perspectiva tambm horizontal para a circularidade.
9
Neste ponto a verticalidade se mostra
problemtica, pois o autor s considera a perspectiva horizontal entre culturas populares, partindo do
principio que uma cultura popular no domina a outra, mas se pensarmos em termos de domnio
econmico, encontramos tal situao, em que uma cultura popular domina outra e a apresenta-se a
verticalidade. Curiosamente, E. H. Carr j manifestava preocupaes semelhantes, ao sugerir a
importncia tanto do enfoque horizontal dos estruturalistas, quanto do vertical, que atribui aos
historiadores.
10
Da mesma maneira, tem-se atualmente a preocupao acerca da relao micro/macro
histria, que constituem formas distintas de observao, no cabendo estabelecer-se entre elas uma
relao hierrquica.
Trabalhando em particular com os conceitos de Bourdieu, possvel analisar os
compositores/msicos Jos Maurcio Nunes Garcia, Francisco Manoel da Silva, Louis Moreau
Gottschalk e Carlos Gomes (entre outros), a fim de comear a situ-los no apenas em funo de suas
trajetrias biogrficas, como usual fazer-se, mas tambm relacionando-os ao campo que a cidade do
Rio de Janeiro foi desenvolvendo para a vida musical no sculo XIX. Desde as atividades
essencialmente religiosas ligadas Capela Real/Imperial at o surgimento de escolas, algumas
informais, como o caso das atividades pedaggicas particulares dos msicos profissionais e dos
pequenos cursos que atuavam junto s associaes musicais, at as escolas formais, como era o caso
do curso de msica de Jos Mauricio que, apesar de funcionar na residncia deste, recebia verba do
governo para o seu funcionamento, tornando-se assim uma escola publica; e o Conservatrio de
Msica, criado por Francisco Manuel da Silva, que foi a primeira instituio oficial de ensino musical.
Alm disso, alguns msicos tinham atividades tambm nas organizaes musicais, sociedades
que promoviam concertos pblicos (em alguns casos somente para os associados). importante
salientarmos que as iniciativas do governo em relao s atividades musicais estavam quase que
totalmente voltada para a pera. Desta forma, fez-se necessrio uma iniciativa particular para que os
concertos pudessem ser realizados. Encontramos Francisco Manuel da Silva como um dos principais
articuladores nesse sentido, cuja culminncia encontra-se nas visitas feitas por msicos/instrumentistas
conhecidos como virtuoses em seus instrumentos, como foi o caso de Thalberg e, numa outra
dimenso, do prprio Gottschalk. Tal fato incrementou bastante a atividade dos concertos despertando
interesse at por parte do imperador D. Pedro II.
9
Em conferncia na UERJ, em 02/98.
5
Por outro lado, a questo da pera se faz importante e deve ser tratada em separado, pois foi a
atividade musical (comercial) mais intensa e de maiores propores no Rio de Janeiro do sculo XIX.
Desde o perodo de D. Joo at o fim do imprio, a pera constituiu a principal forma de
entretenimento da alta sociedade carioca, recebendo assim ateno por parte do governo. Quanto s
iniciativas de cunho particular, principalmente na questo dos projetos e na organizao, temos a
participao de alguns indivduos de importncia, desde Manoel Luis Ferreira, que tratava de
organizar peras desde os fins do sculo XVIII, quando foi trazido para o Rio de Janeiro pelo marques
do Lavradio, e que trabalhou junto a D. Joo na elaborao das primeiras temporadas de pera, j com
subsdio do prncipe para tal atividade. Temos posteriormente o empresrio construtor do Real Teatro
So Joo Fernando Jos de Portugal e Castro, o Fernandinho que alm de conseguir o dinheiro
junto aos comerciantes do Largo do Rocio para construir o teatro, tinha os contatos necessrios para
contratar as companhias europias para vinham apresentar-se no Rio de Janeiro. Outros empresrios
no faltaram, sucedendo o Fernandinho aps o seu falecimento, como o caso de D. Jos Amat, de
origem espanhola, que tentou divulgar as zarzuelas entre ns e que participou da constituio da
primeira companhia de pera nacional.
Fontes
Conservada no Arquivo Nacional (Seo Histrica), encontra-se a documentao referente
Capela Real/Imperial uma das instituies musicais do Rio de Janeiro no sculo XIX e foco da
atividade musical durante a permanncia da Corte portuguesa no Brasil e o incio do Imprio. As
quatro caixas apresentam dados referentes s atividades midas da Capela, como nomeaes,
dispensas, recibos de pagamentos, roteiros, agenda e programas dos principais eventos musicais, que
permitem mapear a atividade musical ali desenvolvida no perodo de 1808 a 1876. Na caixa 12a, por
exemplo, foi encontrado o documento de nomeao dos msicos que iriam constituir a orquestra e o
coro da Capela Real e que indica que em sua maioria eram msicos brasileiros j em atividade na
cidade, embora tambm fossem nomeados outros, que vieram com a comitiva do prncipe D. Joo. Tal
documento trata dos vencimentos de todos esses msicos, bem como das atividades que esses iriam
exercer.
Em outras direes, foi realizado, igualmente, um levantamento da bibliografia e da
documentao existente na biblioteca e arquivo da Escola Nacional de Msica. Na Biblioteca,
10
CARR, E. Que Histria. So Paulo, Paz e Terra, 1996.
6
conservam-se diversas partituras originais do sculo XIX, em particular do padre Jos Maurcio Nunes
Garcia. No Arquivo Paralelo, da mesma instituio, encontrei inmeros documentos do Ministrio da
Justia e Negcios Interiores, do qual dependia, com informaes sobre os servios, instituies e
estabelecimentos subordinados ao Ministrio, os ofcios da criao da escola, bem como documentos
sobre as atividades tanto educacionais quanto artsticas da instituio, que podem ser confrontadas e
completadas por meio dos Relatrios do Ministrio, conservados no Arquivo Nacional. Na criao do
ento Conservatrio de Msica, por exemplo, o que chama mais ateno o vinculo (criado
posteriormente criao do Conservatrio) desta instituio com a Escola Imperial de Belas Artes e
seus principais compromissos uma com a outra, embora mais tarde fossem desvinculadas em 1881.
11
A Ordem Terceira do Carmo, tem sua documentao no Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro. Onde foram localizados os livros referentes ao Senado da Cmara, onde eram decididos os
assuntos referentes Ordem Terceira do Carmo. Como por exemplo a nomeao do msico mineiro
Lobo de Mesquita para o cargo de organista (a importncia deste msico em especial consiste no fato
de foi atravs dele que o Rio de Janeiro tomou contato com a tradio musical mineira do sculo
XVIII):
Aos 16 dias do ms de dezembro de 1801, no Consistrio da nossa Venervel Ordem 3.
de N. S. do Monte do Carmo, estando congregados [...] foi chamado a nossa presena
Jos Joaquim Emerico, professor de msica e organista, ao qual lhe foi perguntado se
queria tocar o rgo nas missas que se diziam na nossa Capela do nosso Pe. Me.
Comissrio, todos os sbados, domingos e dias santos, o que disse que sim, e logo se
tratou de quanto havia de vencer por ano, ficando logo justo pela quantia de quarenta mil
ris por ano fazendo se lhe pagamentos, com a condio de que no vindo alguma vez
tocar, devia outro em seu lugar para suprir suas faltas (...).
12
A atividade dos msicos nas bandas militares constitui uma outra atividade de investigao,
pois esse trabalho permitia uma outra fonte de renda, talvez mais estvel, pois conhecido que grande
parte dos msicos brasileiros, se no eram vinculados alguma ordem religiosa, possuam alguma
patente militar, logo faz-se necessrio uma investigao mais detalhada de tais instituies. No
Arquivo Histrico do Exrcito, localizei a obra de Mercedes Reis. A Msica Militar no Brasil no
11
O documento original encontra-se no Arquivo da Escola Nacional de Msica UFRJ. Ministrio da Justia e Negcios do
Interior, Publicao Oficial, RJ Imprensa Nacional, 1898.
12
Termo do ajuste que se fez com o Organista Jos Amrico Lobo de Mesquita para tocar o rgo na nossa Capela nas Missas dos
Sbados, Domingos e dias Santos. Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. Ordem do Carmo, AD 1214, Livro 2. de Termos e
Acordaes da Mesa (1779 1843), f.171.
7
Sculo XIX.
13
Trata-se de um glossrio dos hinos (cvicos, patriticos), marchas e dobrados, cantos
patriticos da Guerra do Paraguai, hinrios e toques, e hinos no identificados. Traz partituras com
cabealho (autor, instrumentao, datas, editora) e algumas fotocpias de partituras. Tal obra
acrescenta pouco, mas no deixa de apontar algumas pistas sobre como era feito o comrcio de
partituras no Rio de Janeiro do sculo XIX, bem como sob a iniciativa de quem tais msicas eram
compostas e com que finalidade. Nessa instituio tambm foi localizada uma obra de Raimundo Jos
da Cunha Mattos, intitulada Repertrio da Legislao em Vigor no Exrcito e na Armada.
14
Compreende as leis colocadas em vigor desde 1808, delas constando o decreto de 1804 pelo qual D.
Joo criava a primeira Banda Militar (oficial) no Brasil. Permite ainda verificar que em maro de 1810
ficou estipulado que a despesa com as bandas, cujo nmero de msicos no poderia ultrapassar 16,
devia limitar-se 36$000 ris por ms.
15
Os peridicos na Biblioteca Nacional, se tornaram indispensveis para acompanhar as
atividades musicais dos teatros, principalmente no Segundo Reinado, sobretudo no que diz respeito s
peras. Tais peridicos mostram uma espcie de agenda dos teatros e at mesmo das sociedades
musicais; por um outro lado, cronistas como Machado de Assis e Jos de Alencar nos do um
panorama geral das atividades musicais (principalmente das peras), dos problemas enfrentados pelas
respectivas companhias de pera e tambm das intrigas e problemas gerados pela relao entre os
artistas e empresrios do ramos. O j citado empresrio Jos Amat noticia ele prprio as suas
atividades nas pginas dos jornais, como nos mostra Ayres de Andrade.
16
Em particular, assinalamos
os seguintes peridicos: Dirio do Rio de Janeiro, Correio Mercantil, Jornal do Comrcio, lbum
Semanal, Gazeta do Rio de Janeiro, Dirio Fluminense, O Dirio Mercantil, Correio do Rio de
Janeiro, Dirio do Governo, O Sete de Abril, O Cronista, Correio das Modas, Gazeta Oficial do
Imprio do Brasil, a revista Guanabara, e A Lanterna Mgica, a qual, tendo circulado no Rio de
Janeiro entre 1844/45.
Bibliografia
ANDRADE, Ayres de. Francisco Manuel da Silva e seu Tempo. Rio de Janeiro, Coleo Sala Ceclia
Meireles, 1967. 2v.
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Mdia e no Renascimento. So Paulo, HUCITEC, 1993.
13
Rio de Janeiro, Imprensa Militar, 1952.
14
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1837.
15
Ibidem, p. 163.
16
ANDRADE, Ayres de. Francisco Manuel da Silva e seu Tempo. Rio de Janeiro, Coleo Sala Ceclia Meireles, 1967. 2v.
8
BOURDIEU, Pierre. O poder simblico. Lisboa, Difel, 1989. e do mesmo autor A economia das Trocas
simblicas. So Paulo, Perspectiva, 1974.
_____. A Iluso Biogrfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e Abusos da Histria Oral. Rio de
Janeiro, FGV, 1996.
_____. As Regras da Arte. So Paulo, Companhia das Letras, 1996.
BURKE, Peter. A Cultura Popular na Idade Moderna. So Paulo, Companhia das Letras, 1989.
CARR, E. Que Histria. So Paulo, Paz e Terra, 1996.
GINZBURG, C. O Queijo e os Vermes. So Paulo, Companhia da Letras 1987.
MARQUES, Maria Adelaide S. Msicos da Cmara no Reinado de D. Jos I, Separata de Do Tempo e da
Histria, I. Lisboa, 1965. e SCHERPEREEL, Joseph. A Orquestra e os Instrumentos da Real Cmara de
Lisboa de 1764 a 1834. Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1985.
REYNOR, Henry. Histria social da Msica. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986.
THOMPSON, E. P. Costumes em Comum: Estudos Sobre a Cultura Popular Tradicional. So Paulo,
Companhia das Letras, 1998.
Msica lsbica e guei, de Philip Brett e Elizabeth Wood: apontamentos
de traduo
Carlos Palombini
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
palombini@musica.ufmg.br
Resumo. Valendo-se de excertos de Lesbian and Gay Music, de Philip Brett e Elizabeth Wood,
publicado em verso censurada como Gay and Lesbian Music no novo New Grove (2001), bem
como de correspondncia trocada com os autores e com membros do Grupo de Estudos Gueis e
Lsbicos (GLSG) da Sociedade Musicolgica Americana (AMS) em funo duma traduo para o
portugus da verso original, o tradutor situa o artigo no contexto da nova musicologia. Lesbian
and Gay Music adere s normas do texto de referncia, mas no dispensa aluses a tticas do
movimento de liberao homossexual como o outing e o zap. Do ponto de vista duma musicologia
brasileira, Brett e Wood do dois passos importantes: um, largo, rumo incorporao do pensamento
ps-estrutural; outro, cauteloso, rumo transformao do texto cientfico em literatura. Uma
apropriao brasileira das musicologias lsbica, guei, bissexual, intersexual e transgnero implica a
recontextualizao do iderio da ao afirmativa e uma crtica do fabulrio antropofagista.
Palavras-chave: nova musicologia; musicologia queer; estudos de gnero.
Abstract. Resorting to excerpts from Lesbian and Gay Music by Philip Brett and Elizabeth Wood,
published in a heavily edited fashion as Gay and Lesbian Music in the new New Grove (2001), as
well as to correspondence exchanged with the authors and members of the Gay and Lesbian Study
Group (GLSG) of the American Musicological Society (AMS) with a view to a Portuguese translation
of the original version, the translator places the article in the context of the new musicology.
Lesbian and Gay Music adheres to the norms of the reference work, but does not shy allusion to
gay liberation tactics such as outing and zap. From the point of view of a Brazilian musicology, Brett
and Wood take two significant steps: a large one, towards the incorporation of post-structural thinking;
a cautious one, towards the metamorphosing of the scholarly text into literature. A Brazilian
appropriation of lesbian, gay, bisexual, intersexual, and transgender musicologies would demand the
recontextualization of the affirmative action ideology and a critique of the anthropophagite mystique.
Keywords: new musicology; queer musicology; gender studies.
A segunda edio do New Grove Dictionary of Music and Musicians (Londres: Macmillan)
foi lanada em janeiro de 2001 e, embora o tratamento dispensado msica e aos msicos
brasileiros tenha permanecido essencialmente inalterado em relao edio de 1980, o novo
New Grove procurou acompanhar o passo de mudanas ocorridas no cenrio musicolgico
internacional, e no mundo anglfono em particular. A incluso do verbete Gay and Lesbian
Music, de Philip Brett e Elizabeth Wood, representou mais uma etapa no processo de
institucionalizao duma rea de interesse oficialmente reconhecida pela Sociedade
Musicolgica Americana (AMS) em 1989, com a fundao do Grupo de Estudos Gueis e
Lsbicos (GLSG). Ela representou tambm um passo significativo rumo aceitao tcita de
mudanas na musicologia e na crtica ocasionadas pelo impacto tardio de modos de pensar
interdisciplinares ps-estruturais (Brett e Wood 2002). No que concerne ao Grove, este
2
impacto traduziu-se numa srie de artigos sobre atitudes e ideologias. Como reporta Michael
Church, a discusso da homossexualidade deu muitos problemas (Church 2000). Estes
problemas disseram respeito, primeiro, nomeao de msicos homossexuais, depois, ao
escopo do tratamento dispensado msica popular e msica de mulheres e, por fim, ao
desejo dos autores de relacionar o movimento ps-Stonewall de gueis e lsbicas e o
aparecimento de perspectivas/estudos lsbicos e gueis em msica nos anos noventa a
contextos e eventos polticos e intelectuais (Brett e Wood 2002).
1
O artigo um exemplo do que Brett, Wood e Thomas (orgs 1994) chamaram de a nova
musicologia guei e lsbica ou musicologia queer, setores especializados de reas
relativamente bem estabelecidas no universo acadmico norte-americano os estudos
lsbicos e gueis e a teoria queer
2
e provncias particularmente contestadas da nova
musicologia. Como observam Brett e Wood (2002), no incio dos anos noventa, um
fenmeno chamado nova musicologia deu incio a um processo de despojar a msica
absoluta da ideologia dos valores universais, da transcendncia e da autonomia. Os
referenciais tericos da nova musicologia vo da chamada Escola de Frankfurt a
Kristeva, Barthes, Cixous, Derrida, Deleuze, Clement, Irigaray, Lyotard, Foucault, Freud,
Lacan e outros.
Nos Estados Unidos, as reaes ao trabalho de Brett e Wood foram variadas: efusivo no
contexto de uma obra de referncia (Page 2001); a nica entrada que encontramos no New
Grove que tem aquilo que a cultura pop chama de atitude (Midgette e Sandow 2001). No
Reino Unido, elas foram preponderantemente hostis. A 30 de dezembro de 2000, poucos dias
1
Nas palavras dos autores, um movimento militante de lsbicas e gueis, fermentando em ambas as costas dos
Estados Unidos aps a Segunda Guerra Mundial, foi catalisado, em 1969, pelo motim de Stonewall, assim
chamado em aluso ao bar guei de Nova Iorque cujos clientes, em sua maioria operrios e transformistas (alguns
porto-riquenhos e negros), enfrentaram organizadamente a polcia, que realizava uma batida de rotina no
estabelecimento (Brett e Wood 2002).
2
Como explica Brett, em mensagem de 26 de junho de 2001 ao autor:
No mundo anglfono, queer era o termo prevalecente entre homossexuais para se
referirem a si prprios e entre seus detratores para se referirem queles desde cerca de
1910, at a ampla adoo de gay como um termo de afirmao nos anos setenta. No
final dos anos oitenta, queer foi ressuscitado (por exemplo, pelo grupo ativista norte-
americano Queer Nation) como uma forma de alardear a diferena, lutar contra a
discriminao da AIDS, romper a oposio heterossexual/homossexual e fornecer
uma designao abrangente para todas as pessoas identificadas com a no-
heterossexualidade. (Ele inclua mesmo hteros que estavam trabalhando em estudos
lsbicos e gueis.) Desnecessrio dizer, esta ltima encarnao no passou
incontestada e, de modo geral, parece hoje (2001) em declnio, da mesma forma que a
teoria queer.
3
antes do lanamento oficial do Grove, Sadie destacou Gay and Lesbian Music numa
entrevista a Church para o Independent: queriam listar compositores gueis e compositoras
lsbicas e eu disse no, voc no pode fazer isto sem permisso especfica se eles esto vivos,
e tambm no gostei que o fizessem no caso de estarem mortos (Church 2000).
A resposta preliminar de Brett viria, a 4 de janeiro de 2002, em mensagem lista de discusso
do GLSG. Por solicitao do BBC Music Magazine, em fevereiro de 2002 Brett publicava um
artigo ao qual havia denominado Doing It in Grove (transando na moita/no Grove), mas ao
qual a revista preferiu chamar A Matter of Pride: Can We Talk about Gay Music? Citando
o fato de que, dentre mais de seis mil colaboradores de noventa e oito pases, Stanley Sadie
escolheu referir-se a Wood e a ele como tendo-lhe causado muitos problemas (Brett 2002:
32), Brett comenta: educado na caridade, sustento, convicto, que seu objetivo fosse fazer
com que as pessoas lessem o artigo (Brett 2002: 32). E a Charles Rosen, a quem confere o
epteto de o famoso pianista-douto norte-americano (Brett 2002: 32), Brett acusa de tecer
uma crtica obliqua ao trabalho, o nico verbete dentre aqueles anunciados como novos na
publicidade do Grove estudadamente evitado por Rosen (Brett 2002: 32).
Msica lsbica e guei est dividido em onze sees. A primeira, introduo ao original
indito, relata as agruras do processo editorial; a segunda (homos)sexualidade e
musicalidade, trata da relao entre os dois termos, e de como ela foi eludida; a terceira, a
msica e o movimento de lsbicas e gueis, conta a histria do movimento de liberao
homossexual, explorando suas relaes com a pesquisa acadmica em msica, a pera, o bal,
a pantomima, a msica de mulheres e os coros; a quarta, o teatro musical, o jazz e a msica
popular, expe a situao da homossexualidade em trs enclaves distintos, com particular
referncia a um repertrio de canes populares; a quinta, a msica e a crise da AIDS e do
HIV, mostra o endurecimento poltico resultante da epidemia, bem como a onda de apoio de
artistas e da populao em geral; a sexta, acontecimentos nos anos noventa, relata como
esta onda coincidiu com uma mudana de atitude na musicologia, na crtica, e no
comportamento de msicos lsbicos e gueis; a stima, divas e discotecas, enxerga a
homossexualidade menos na msica do que no pblico que a consome; a oitava,
antropologia e histria, questiona a aplicao das categorias lsbico e guei fora dos
limites do sculo XX, da Europa, da Amrica do Norte e de seus postos avanados;
4
seguem-se os agradecimentos dos autores, uma discografia sucinta e uma extensa bibliografia
cronolgica.
Msica lsbica e guei tem como marcadores dois pontos crticos, o primeiro, na penltima
seo, divas e discotecas, o segundo, na ltima seo, antropologia e histria. Assim, ao
aproximar-se da concluso, os autores, primeiro, desviam o foco (do produtor para o
consumidor) e, a seguir, questionam a prpria aplicao indiscriminada, no espao e no
tempo, das categorias homo/htero. Em outros termos, ao mesmo tempo em que discorrem
sobre a homossexualidade na msica, Brett e Wood ilustram, didaticamente, procedimentos
caros nova musicologia, desconstruindo as prprias categorias s quais se votam. O senso
crtico, porm, est presente desde as primeiras linhas, onde o paradoxo fundamental dos
trabalhos crticos lsbicos e gueis desnudado.
No amplo painel bibliogrfico, nas slidas contextualizaes tericas e histricas e,
sobretudo, na sobriedade da prosa, ntida a preocupao de Brett e Wood com o formato do
texto de referncia. Msica lsbica e guei passa ao largo dum vasto manancial de fatos e
lendas para aproximar-se perigosamente do ideal arcaizante duma linguagem-espelho do
pensamento cientfico. Esta sobriedade, todavia, um artifcio: ela serve de pano de fundo a
afirmaes provocativas, como, a respeito de Dorothy/Billy Lee Tipton, suas improvisaes
impecveis, seu dom para a mmica, seus casamentos com o mesmo sexo e seus filhos
adotivos podem ter tido mais a ver com a busca do sucesso numa msica dominada por
homens e em seus espaos do que com a busca do orgasmo num smoking e pnis de
borracha; ou, a respeito do bal que Tchaikovsky e Saint-Sans danaram um para o outro
durante a visita do segundo a Moscou para um concerto em dezembro de 1875, um par de
bichas de meia-idade, uma em drag, arrasando no palco principal do Conservatrio de
Moscou? (a pergunta retrica com a qual os autores introduzem a concluso sucinta).
A polmica em torno de Gay and Lesbian Music se deve imputar menos a ousadia
estilstica do texto do que evocao de tticas peculiares ao movimento de liberao
homossexual: o outing
3
e o zap.
4
O longo pargrafo cinco da seo inicial,
3
Chama-se outing exposio pblica, por terceiros, da homossexualidade no assumida de figuras de destaque,
nas artes, na poltica etc.
5
(homos)sexualidade e musicalidade, apresenta um amplo rol de msicos ilustres que
tambm um catlogo de sinais tanto duma acomodao ao fato onipresente do enruste como
duma subverso do mesmo. Por outro lado, se a inteno dos autores no foi interromper a
publicao do Grove, causando constrangimento mximo aos editores, a insistncia na
mudana de ttulo demonstra uma disposio provocativa.
Ao tradutor coube a tarefa de transportar a bem documentada histria da homossexualidade
anglo-sax para os termos da histria incipiente da homossexualidade brasileira. Brett e Wood
vieram em seu auxlio e, com eles, Paulo Francisco Estrella Faria (Filosofia, UFRGS), Andr
Fischer (Festival Mix Brasil), Denilson Lopes (Jornalismo, UnB), Fred Everett Maus
(Msica, Universidade de Virginia), James McCalla (Msica, Bowdoin College), Paul
McIntyre (Msica, Universidade de Melbourne), Analice Palombini (Psicologia, UFRGS) e
Joo Silvrio Trevisan (escritor).
cedo para falar da repercusso de Msica lsbica e guei na comunidade musicolgica
brasileira. lcito, porm, aventurar palpites: o artigo ser inicialmente saudado com o
silncio e a rejeio, inerentes, o primeiro, ao que excessivamente novo e, a segunda, ao que
norte-americano. Tarefa imprescindvel a qualquer apropriao brasileira das musicologias
lsbica, guei, bissexual, intersexual e transgnero, feminista ou queer o
questionamento da pertinncia estratgica do iderio da ao afirmativa. Esta discusso
implica a crtica do fabulrio antropofagista, adumbrada por Helosa Buarque de Hollanda em
1998.
Um dia, uma gerao versada nos clssicos e imbuda do esprito da contracultura deslindar-
se- da mstica do fazer fazendo. Com um pouco de sorte, sua voz ser ouvida entre
rompantes modernistas datados, maledicncias diplomticas bocegnicas, etnomusiclogos
em pele de cordeiro, verborragias smicas, antologias eletropromocionais e latino-
americanismos de ocasio. Msica lsbica e guei pode ter algo a ver com isto.
4
Em mensagem eletrnica de 31 de julho de 2001 ao autor, Brett define o zap como uma tcnica de
demonstrao inventada na fase inicial do movimento guei militante (provavelmente em Nova Iorque). Um
grupo de manifestantes aparecia num encontro pblico ou outro evento que inclusse autoridades eleitas ou
nomeadas e o interrompia, causando o mximo constrangimento possvel aos dignitrios presentes. O exemplo
mais antigo do termo, no Supplement to the Oxford English Dictionary, data de 1972: apesar de seis zaps, o
prefeito Lindsay, de Nova Iorque, se tem invariavelmente recusado a encontrar-se com qualquer delegao
homossexual.
6
Referncias
BRETT, Philip. A Matter of Pride: Can we Talk about Gay Music? BBC Music Magazine.
London, v. 10, n. 6, pp 2830 e 32, fevereiro, 2002.
BRETT, Philip; WOOD, Elizabeth. Msica lsbica e guei. Revista eletrnica de musicologia,
Curitiba, v. 7, <http://www.humanas.ufpr.br/rem/REMv7/Brett_Wood/Brett_e_Wood.html>,
dezembro, 2002.
BRETT, Philip; WOOD, Elizabeth; THOMAS, Gary (orgs). Queering the Pitch: The New
Gay and Lesbian Musicology. New York: Routledge, 1994.
CHURCH, Michael. How Music Got Its Grove Back. Independent, London,
<http://enjoyment.independent.co.uk/music/interviews/story.jsp?story=48198>, 30 de
dezembro, 2000.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. The Law of the Cannibal: Or How to Deal with the Idea
of Difference in Brazil. Rio de Janeiro, <http://acd.ufrj.br/pacc/paper1.html> e
<http://acd.ufrj.br/pacc/literaria/paper1helo.html>, originalmente uma palestra proferida na
Universidade de Nova Iorque, maio, 1998.
MIDGETTE, Anne; SANDOW, Greg. Grove: Sees Trees, But Not Forest. Wall Street
Journal, <http://www.gregsandow.com/grove.htm>, 3 de julho, 2001.
PAGE, Tim. Wonder of the Musical World. Andante,
<http://www.andante.com/magazine/article.cfm?id=10627>, abril, 2001.
ROBERTSON, Carol. Whats in a Name. GLSG Newsletter v. 2, n. 1, p. 21, 1992.
ROSEN, Charles. The Musicological Marvel. New York Review of Books,
<http://www.nybooks.com/articles/article-preview?article_id=7001>, 21 de junho, 2001.
7
SADIE, Stanley (org.). New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: Macmillan,
2001, 20 vv.
Msica eletroacstica: permanncia das sensaes
Carole Gubernikoff
Universidade do Rio de J aneiro (UNI -RIO)
gubernik@novanet.com.br
Resumo: A msica eletroacstica apresenta um desafio para a anlise musical, que
tradicionalmente est ancorada na anlise de partituras. A pesquisa da msica de concerto, seja ela
de carter musicolgico ou terico, tem baseado suas premissas na existncia de documentos
escritos, as partituras, que garantiriam sua permanncia. A comunicao fundamenta a tese de que
haveria uma lgica prpria das sensaes, e que so as sensaes que permanecem, a partir da
leitura de textos de fundamentao filosfica, principalmente no conceito de permanncia das
sensaes de Gilles Deleuze e Felix Guattari. A musica eletroacstica e as msicas realizadas com
auxlio de computador, que recorrem a materiais armazenados sem o recurso da partitura, ganham
legitimidade filosfica e se apresentam em continuidade, e no em ruptura, com as prticas das
msicas de concerto, nas quais, uma das caractersticas a intensificao da escuta.
Palavras-chave: msica eletroacstica, anlise musical, permanncia das sensaes
Abstract: Electroacoustic music has traditionally presented itself as a challenge to musical analysis,
being that the analytical techniques are based mostly on scores. The various research areas on art
music, musicological or theoretical, have based their existence in written documents that
supposedly secure their permanence. The paper to be presented is part of a thesis that claims that
there is a logic inherent to sensations, that sensations are what last. These thesis are based on the
concept of permanence of sensations extracted from the French authors, Gilles Deleuze and Felix
Guattari. Electroacoustic music and compositions based on computational devices that are
performed without the support of scores acquire philosophical legitimacy and present themselves in
continuity, and not in rupture, with art music whose characteristics include the concert hall and
intensification of listening.
Keywords: electroacoustic music, musical analysis, permanence of sensations
S escrevemos na extremidade de nosso prprio
saber, nesta ponta extrema que separa nosso saber e nossa
ignorncia e que transforma um no outro.
1
O que nos faz dizer que uma obra de arte permanece? E a msica, que por definio uma forma de
expresso temporal e evanescente, pode permanecer ?
Para seguir a trilha lanada por esta pergunta e realizar a anlise de obras acusmticas, peas
eletroacsticas compostas sem o apoio de partituras e sem suporte intermdia, preciso importante partir de
um ponto de vista filosfico que fundamente a abordagem de obras que esto nos limites da sensibilidade
contempornea.
5
DELEUZE, G - 1988
2
A sociologia tem tentado explicar a permanncia de obras de arte por fatores de legitimao social
complexos, mas, na maioria dos casos, a permanncia no considerada como um valor ou relacionada a
valores, menos ainda a aspectos relacionados com a sensibilidade.
2
Gilles Deleuze, ao longo de sua trajetria intelectual, props uma discusso sobre o valor e a
permanncia de obras de arte ou literrias, baseados no apenas em documentos histricos ou nos processos
de legitimao social, mas nas sensaes. Suas obras filosficas se dividem em livros que explicam o
pensamento de alguns filsofos e livros em que o pensamento deles est ativo no interior de sua prpria
filosofia. No prefcio de seu livro Diferena e Repetio
3
diz que escrever um livro de filosofia no sculo
XX como reescrever a sua histria, uma vez que os conceitos criados por outros autores passam a se
constituir na filosofia. Ou seja, a filosofia a permanncia destes conceitos. A lista dos filsofos com quem
Deleuze trabalha se constitui numa linhagem dos quais ele se considera em continuidade: os Esticos,
Espinoza, Hume, Kant, Nietzsche, Bergson.
Mas no so apenas os conceitos filosficos que permanecem. Deleuze, algumas vezes em parceria
com o psicanalista Felix Guattari, se debruou tambm sobre outras permanncias: na literatura, nas imagens
com os dois livros sobre cinema, na msica, na pintura, na psicanlise e no inconsciente e nos signos. Na
verdade todos os livros e artigos que escreveu servem para afirmar a existncia e a permanncia do
pensamento.
Uma pergunta se coloca imediatamente: como escrever sobre tantos assuntos e de maneira to fecunda?
Uma possvel resposta pode ser encontrada no prefcio de Mil Plats, O Rizoma, espcie de apresentao
das linhas gerais de seus processos de pensamento no lineares
No h mais uma tripartio entre um campo de realidade, o mundo, um
campo de representao, o livro e um campo de subjetividade, o autor. O que h
no livro um agenciamento que pe em conexo algumas multiplicidades
capturadas em algumas destas ordens, mesmo que um livro no continue no livro
seguinte, nem seu objeto continue no mundo, nem seu assunto em um ou vrios
autores
4
.
Os agenciamentos so as relaes que se estabelecem atravs de captura de exterioridades que se
tornam um livro, uma obra de arte ou uma composio. O livro ou a obra musical permanecem, mesmo que o
assunto ou as aes e paixes que produziram esta ou aquela obra j no mais existam.
Na tese Escuta, Anlise e Empirismo
5
, foram abordadas obras musicais que esto diretas ou
indiretamente relacionadas com a composio eletroacstica, cuja questo central a escuta emprica, no
intermediada pela notao ou pela representao abstrata. Mais ainda, esta concentrao na escuta no
indiferente ao seu objeto, mas focaliza, principalmente, a noo de timbre.
2
GUBERNIKOFF, C. - 2000
3
DELEUZE, G - 1988
4
DELEUZE, G. & GUATTARI, F. 1980
5
GUBERNIKOFF, C. 2003
3
As questes que surgiram com sua criao no evoluram. Elas permanecem e se apresentam a ns,
mesmo hoje, imediatamente, em toda sua complexidade. Mesmo que no tenha havido uma fundao
propriamente dita, o incio de uma esttica composicional ligada tecnologia de reproduo em fita - os
gravadores, associados tecnologia de produo e reproduo de sons por meios eltricos e eletrnicos, sem a
intermediao de msicos intrpretes - se constituiu no incio de uma nova linhagem musical, sem
intermediao da escrita e de instrumentistas.
Para abordar este tipo de criao artstica, so necessrios instrumentos conceituais que levem em
considerao as sensaes e uma durao imediata. Para a anlise musical, a dificuldade encontra-se em
elaborar um pensamento terico sem o suporte da representao abstrata escrita.
Podemos considerar a fundao da msica eletroacstica como um acontecimento que aponta para seu
futuro e no para o passado e neste sentido que ela fundadora de uma linhagem. Vrios aspectos apontam
para uma ruptura com a msica convencional: utilizao de sons que ultrapassam o som instrumental;
realizao diretamente sobre suporte eletrnico, sem intermediao da escrita ou do instrumento; difuso
espacializada no apenas frontalmente
Entretanto, foi mantido um trao importante e significativo de continuidade: a intensificao da escuta
na sala de concerto. Os compositores de msica eletroacstica no optaram pela msica incidental, nem pela
msica ambiente, mas por formas de representao social em que tanto os compositores como os pblicos
esto ligados tradio da msica de concerto.
Este fato nos leva a perguntar: Por que a sala de concerto se h tantas outras formas de arte funcional:
instalao (como o caso de algumas das obras de Rodolfo Caesar), trilha sonora, meio ambiente e paisagens
sonoras (as Soundscapes de Murray Schaeffer), as artes cintico-sonoras e tantas outras que a imaginao
capaz de criar. E, no entanto, a opo foi pela sala de concerto.
Do ponto de vista da msica eletrnica alem, esta opo pareceria bvia, uma vez que foi formulada
para dar seqncia ao desenvolvimento do pensamento quantitativo, por parmetros, da msica serial. Mas,
para a msica concreta, que poderia ter se chamado de acusmtica, esta relao com a sala de concerto
poderia no ter sido to bvia.
Laura de Pietro, em sua dissertao de mestrado Msica Eletroacstica: Terminologias
6
, debate este
item mostrando que a deciso sobre o espao de msica de concerto no foi sem conseqncias.
Para Michel Chion, a imposio seja uma msica, foi freqentemente
mais um empecilho que um estmulo, impedindo a msica eletroacstica de tornar-
se uma arte autnoma dos sons, podendo englobar a msica tradicional como o
cinema integra o teatro, a pintura, etc...
[...] No se trata apenas do que se compreende como msica, mas de sua
incluso num sistema de regras prprias de circulao e financiamento e suas
instituies.
7
6
PIETRO, L. DI 2000.
7
PIETRO, L. Di - 2000
4
Mais de cinqenta anos aps a fundao da msica eletroacstica e num outro estgio de
desenvolvimento tecnolgico, em que praticamente todas as etapas da composio e da difuso sonora foram
digitalizadas e em que o auxlio do computador se tornou a base da composio e campo de desenvolvimento
de programas, a dificuldade de se trabalhar com uma base emprica, atravs de uma lgica das sensaes,
procurando encontrar campos genericamente consistentes para se formular uma teoria, continua. Uma
possibilidade para esta dificuldade, excluindo a hiptese de que seria uma arte para iniciados que dominam
um jargo limitado a um pequeno grupo de usurios, aceita-la como inerente ao pensamento. A lgica
cartesiana nos ensina, desde o sculo XVI, que toda a complexidade pode ser reduzida a elementos simples. O
trabalho com as sensaes nos coloca na durao imediata, no devir sonoro, sem possibilidades de suspender
o fluxo temporal para observar suas relaes abstratas.
Esta complexidade imediata no se d nem no campo terico, nem no campo da histria factual, nem
nos processos de legitimao social, mas no plano da sensibilidade e l que elas permanecem como questo.
Gilles Deleuze e Felix Guattari discutem este aspecto no livro O que a Filosofia quando distinguem
trs tipos de pensamento: o pensamento cientfico, que cria funes, que mede e distingue; o pensamento
filosfico, que cria conceitos e nomeia; e o pensamento artstico, que cria blocos de sensao, os afectos e os
perceptos. O pensamento artstico se distingue dos demais por pertencer ao campo do sensvel e isto faz com
que eles proponham uma filosofia que se debrua sobre a permanncia da sensao:
O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, um bloco de sensaes, quer
dizer um composto de perceptos e afectos.
Os perceptos no so mais percepes, so independentes do estado
daqueles que o gozam; os afectos no so sentimentos ou afeces, eles
ultrapassam a fora daqueles que passam por eles. As sensaes, perceptos e
afectos, so seres que valem por si prprios e excedem a todo o vivido. Eles o so
na ausncia do homem, na maneira como est preso na pedra, na tela, ao longo das
palavras, ele mesmo um composto de afectose perceptos. A obra de arte um ser de
sensaes e nada mais. Existe por si.
Os acordes so afectos. Consonncias ou dissonncias, os acordes de sons ou
de cores so os afetos da msica ou da pintura.
Rameau distinguia a identidade do acorde e do afeto.O artista cria os blocos
de afectos e perceptos, mas a nica lei da criao que o composto deve se bastar a
si mesmo. Que o artista o faa se manter de p sozinho o mais difcil [...]
Se mantiver em p por si prprio no ter um alto e um baixo, no ser reto
(...), apenas o ato pelo qual o composto de sensaes se conserva em si mesmo
[....]
Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos as sensaes. As sensaes
como perceptos no so percepes que remetem a um objeto (referncias). Se elas
se parecem com alguma coisa uma semelhana produzida por seus prprios
meios e o sorriso na tela feito de cores, de traos, de sombra e de luz
[...]
a matria que se torna expressiva.
8
8
DELEUZE, G. & GUATTARI, F. 1991
5
Nestes fragmentos de texto podemos acompanhar o esforo dos autores para dar legitimidade ao
pensamento artstico, no por meio da representao social ou psicolgica, mas se voltando para a matria e
para a expresso como elementos auto-suficientes, portadores de uma integridade individual e autnoma.
Neste sentido, defendem a idia que a arte um pensamento to legtimo, importante e completo quanto
qualquer outro
Pensar pensar por conceitos, por funes ou por sensaes e nenhum deles
superior a outro, ou mais plenamente, mais completamente, mais sinteticamente
pensado.
9
Esta teoria faz lembrar a metafsica aristotlica na qual o universo regido por uma finalidade e os
vrios movimentos so atualizaes de potncias de diferentes naturezas. As finalidades seriam regidas por
quatro causalidades: a causa material, a causa formal, a causa final e a causa eficiente
10
. Um famoso
exemplo de como estas causalidades operam dado pela relao entre o escultor e escultura: A causa
material, o mrmore, aguarda as causalidades formal e eficiente para atender sua finalidade de se tornar
escultura. A expresso estaria na prpria matria, cabendo ao escultor cavar a imagem que nela j est
contida.
De acordo com Deleuze/Guattari o objetivo da arte desumanizar (desantropomorfizar) as percepes
e as afeces. Neste sentido, o devir da obra de arte vai alm do vivido e do sentido.
O artista pode ter vivido ou sentido algo que era grande demais, at mesmo
intolervel e os combates da vida com o que a ameaa [...] faz explodir as
percepes vividas numa espcie de cubismo, de simultaneidade de luz crua ou de
crepsculo, de prpura ou de azul, que no tm outro tema ou assunto seno eles
mesmos.
11
Voltando msica eletroacstica, podemos dizer que a escuta e as composies eletroacsticas
ultrapassam em muito o vivido e o sentido no senso comum, pem em questo e problematizam a escuta
humana, apontando para uma ult rapassagem da escuta usual. No por acaso, os sons fontes da msica
eletroacstica, os objetos sonoros, podem ser extrados de sons cotidianos: portas que batem ou rangem,
pedras que rolam, trens, passos, como se fossem sonoplastias intensificadas e sem relao de causalidade.
Mas, da mesma maneira que na msica de concerto tradicional e da maneira descrita por Rameau, eles devem
se bastar a si mesmos, se manter em p.
Muitas vezes podemos reconhecer um determinado procedimento tecnolgico utilizado na composio,
ou classificar pelo ouvido as recorrncias estilsticas herdadas ou criadas, como em qualquer gnero artstico
.
Esta generalidade que pressupe a existncia de um estilo de poca e que permite um mnimo de teorizao
9
DELEUZE, G. GUATTARI, F. 1998
10
ARISTOTELES 1979
11
DELEUZE, G.& GUATARI, F. 1998
6
e socializao de conhecimentos. Uma obra de arte, entretanto, se caracteriza por este estado de se manter por
si s, de ser uma singularidade, um nico bloco de sensaes.
O que permanece na msica eletroacstica no a decifrao de sua forma, nem a descrio de seus
elementos constitutivos, nem mesmo as tcnicas empregadas com computadores e seus programas genricos.
A nica maneira que encontramos para expressar esta arte do sculo XX procurar seu anlogo em outras
formas do pensamento contemporneo, cumprindo o vaticnio de que a obra de arte deve corresponder s
necessidades tecnolgicas, tcnicas e estticas de seu tempo.
Trata-se de fazer do prprio movimento uma obra, sem interposio; de
substituir representaes mediadas por signos diretos; de inventar rotaes, giros,
gravitaes, danas ou saltos que atinjam diretamente o esprito.
12
.
.Se acompanhssemos a metodologia utilizada por Nietzche no livro O Nascimento da Tragdia, no
qual aps sua fundao a tragdia perde seu vigor e se transforma gradativamente em drama, poderamos
dizer que o mximo vigor da msica concreta se deu em sua fundao. No porque a qualidade das obras ou a
dimenso da proposta fosse qualitativamente ou quantitativamente mais avanada, mas por sua fora de
acontecimento.
Um acontecimento no necessariamente de intensidade mais forte, ou de dimenses maiores, nem se
inscreve no plano do espetacular. A fora do acontecimento medida pela sua capacidade de produzir o que
Deleuze chamou em Diferena e Repetio, de Sntese do Futuro. Eventos inaugurais, cujo aspecto
principal no a evoluo com o tempo, mas as repeties diferenciais de uma mesma fora que capaz de
produzir futuro ou de gerar sentido.
Assim, a questo da escuta e da eletroacstica, sua tenso com a escuta musical, regida por
sistemas de notas e por sons discretos no ser, num futuro prximo ou longnquo, superada. Se as obras
artsticas ou os sistemas expressivos fossem historicamente superados, perderiam seu vigor, uma vez que suas
condies de produo j foram ultrapassadas. O que fascina nas histrias das formas de expresso a sua
permanncia enquanto diferena.
No ser recontada aqui a histria da eletroacstica, pois nosso objetivo ver como estas foras esto
atuando nas obras e no os fatos pessoais ou tecnolgicos que levaram sua criao.
O historiador Fernand Braudel, quando foi confrontado com ramos das cincias sociais que lanaram
mo de metodologias estruturalistas de interpretao e insatisfeito com a histria factual, criou alguns
conceitos importantes. Em artigo escrito na dcada de 50, criticava a histria factual de maneira dura,
comparando os fatos da histria considerados importantes com a luz de pirilampos fosforescentes: suas
luzes plidas reluziam, se extinguiam, brilhavam de novo, sem romper a noite com verdadeiras claridades.
Para ele, a simples narrativa dos dados da histria eram clares sem claridade; fatos sem humanidade.
13
O fortalecimento das cincias sociais, que se deu com o surgimento das abordagens estruturalistas fez
com que fosse necessrio criar diferentes nveis e planos de durao histrico-temporais, pensar em diferentes
12
DELEUZE,G. 1988 [1968]
7
velocidades histricas, em ciclos de longussima durao, entre os quais as formas de expresso art stica
estariam includas. Desta maneira, o fato de na histria da msica europia, que se estende s Amricas a
partir do Sculo XVI, o sistema harmnico tonal ter sucedido ao sistema harmnico modal, no significa que
o sistema modal tenha sido superado ou tenha perdido seu vigor. Houve apenas um deslocamento sobre o
foco de viso da histria quando o acontecimento da harmonia tonal se apresentou como fora de produzir
futuro. O fato de a msica no incio do sculo XX ter assumido, em algumas correntes, o abandono das regras
estritas da harmonia tonal, no significa que esta acabou, uma vez que as obras vigorosas que se utilizaram
deste sistema, quando estavam em acordo com as necessidades de seu tempo, permanecem em seu vigor.
Entretanto, a msica tonal se encontra num estgio em que predomina o senso comum e no mais produtora
de futuro.
A msica eletroacstica explode em seu vigor na segunda metade do sculo XX, a partir da dcada de
cinqenta. O tipo de intensificao da escuta que ela promoveu e que se afirmou por meios analgicos at a
dcada de 70 no ser, provavelmente, superado. O espao da msica de concerto provavelmente no a
incorporar como um gnero a mais entre as suas criaes, exatamente porque ela se dissolveria no campo do
senso comum e perderia, nesta absoro, sua especificidade. Mas, apesar de no se confundir com a msica
tonal, serial ou de vanguarda, permanece no campo da intensificao da escuta, em continuidade com a
msica de concerto, com suas salas planejadas para a absoluta concentrao.
Assim, no examinaremos a histria das msicas eletroacsticas, mas as foras que envolvem a
produo de Rodolfo Caesar e de Tristan Murail no contexto deste ramo das formas de expresso musical.
Referncias Bibliogrficas
1. BRAUDEL, Fernand Escritos sobrea histria, So Paulo, Perspectiva, 1978
2. DELEUZE, G. & GUATTARI, F - Milles Plateaux, Paris, Minuit, 1980
3. --------------------------- Quest quela Philosophie, Paris, Minuit, 1998
4. DUFOURT, Hugues - Musique, pouvoir, criture, Paris, Christian Bourgois, 1991
5. _____________ O artifcio da escrita na msica ocidental, in: Debates 1, Cadernos doPrograma dePs-
GraduaoemMsica, Rio de Janeiro, CLA/ Unirio, 1997
6. GUBERNIKOFF, Carole - Mas istonomusica!, monografia de concluso da disciplina Comunicao
e Antropologia, ECO/ UFRJ, 1983
7. ________________ Msica e representao: a questo da anlise musical no final do sculo XX,
in: Cadernos de Anlise Musical, So Paulo, Atravz, 1990
8. _________________ Msica erepresentao: das duraes aos tempos, tese de doutorado, Rio de Janeiro,
Escola de Comunicao, UFRJ, 1993
9. ________________ - A pretexto de Claude Debussy, in: Cadernos deAnliseMusica 8/ 9, So Paulo,
Atravz, 1995
10. _______________ - Implicaes estticas da msica brasileira contempornea nos anos 70 e 80 in:
ANAIS doVIII EncontroNacional da ANPPOM, 1996
11. ________________ - L'Esprit des Dunes, de Tristan Murail in: Anais doXII EncontroNacional da
ANPPOM, Universidade Federal de Minas Gerais, v. 1, n. 1, 2001b.
13
BRAUDEL, F - 1978
1
Percepo e compreenso musicais:
implicaes para o vestibular de msica
Ceclia Cavalieri Frana
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
ceciliaf@musica.ufmg.br / elferraz@terra.com.br
Resumo: Esta pesquisa em andamento tem como problema a validade da fundamentao musical e
psicolgica das provas de percepo do Vestibular de Msica da UFMG. Nelas contempla-se,
notadamente nos ltimos trs anos, um conhecimento musical abrangente e funcional, o que
determinou mudanas quanto natureza das questes de mltipla escolha, implementao da
questo aberta de apreciao musical e ao estabelecimento de critrios qualitativos de avaliao do
ditado meldico. Em uma iniciativa pioneira, os resultados das provas estaro recebendo tratamento
estatstico, que inclui, entre outros, teste de correlao entre o desempenho individual dos candidatos
na questo aberta de apreciao e nas de mltipla escolha. A elaborao das provas envolveu uma
extensa e cuidadosa pesquisa de repertrio. Estudos na rea de percepo e processamento meldico
forneceram importantes referncias.
Palavras-chave: Vestibular de msica; percepo musical.
Abstract: The piece of research reported aims at evaluating the musical and psychological rationale
that underpinns the entrance exams for undergraduate music students at the Universidade Federal de
Minas Gerais. They test a comprehensive and functional musical knowledge that embraces more than
rhythmic and melodic building blocks and focuses on the resulting structural relations and expressive
character. Such vision generated some changes regarding the nature of the multiple-choice questions,
besides the introduction of an open question on audience-listening and of qualitative assessment
criteria for music dictation. The results of the tests will suffer, for the first time, statistical analysis,
including correlation between individual achievement in the multiple-choice questions and in the open
question. Conceiving the tests demanded extensive and careful choice of repertoire; research on
musical perception offered important clues.
Keywords: musical assessment; musical perception
Este estudo tem como objeto o concurso Vestibular, porta de entrada para os cursos de
Graduao em Msica. Constatamos, freqentemente, que o potencial musical dos candidatos
no se revela de forma clara neste momento pontual, comprometido, para muitos, pelo
estresse psicolgico. Por outro lado, observamos um importante desequilbrio entre seu
desempenho instrumental e sua formao musical global, muitas vezes deficitria. Algumas
mudanas vm sendo realizadas na estrutura e na concepo das provas visando aumentar sua
eficcia como instrumento de avaliao dos candidatos; indiretamente, tambm almejamos
provocar um redirecionamento na preparao dos mesmos. Este artigo relata a primeira etapa
do projeto, que culminou com a elaborao das provas do Vestibular 2003; a segunda etapa,
2
em andamento, consiste do levantamento da validade dessas mudanas, em busca de suporte
cientfico que as legitime e encoraje novos refinamentos.
A mudana mais relevante diz respeito concepo musical, filosfica e psicolgica
que permeia as provas tericas
1
, no que tange ao contedo o tipo de conhecimento
contemplado e forma de avali-lo. Preocupao anloga motivou Grossi (2001, p.51-2)
em sua pesquisa de doutorado: necessrio avanar no estudo sobre a natureza da
experincia musical a fim de determinar que aspectos da msica esto envolvidos nesse tipo
de experincia e, desta forma, o que poderia ser avaliado por meio da audio. Partimos de
uma fundamentao que contempla o dinmico processo da percepo e da experincia
musical (Holahan e Saunders, 1997; Grossi, 2001; Sloboda, 1985; Hargreaves, 1986;
Swanwick, 1994 e 1999; Zimmerman, 1971; Krumhansl e Castellano, 1983; Wishart, 1982;
Frana, 1998). Esta concepo privilegia a compreenso da msica como fenmeno e
discurso, como forma de conhecimento simblico que brota da experincia com as obras
musicais, da percepo de seus gestos, movimento, tempo e espao relativos, proporo e
forma.
Essa viso transparece - explcita ou implicitamente em trs mudanas
concretizadas at ento: a natureza das questes de mltipla escolha, a implementao da
questo aberta de apreciao musical e o estabelecimento de critrios qualitativos de
avaliao do ditado meldico. Acreditamos que esses trs pontos so interligados e guardam
uma coerncia interna, contribuindo para tornar a avaliao mais consistente e musical.
Paralelamente, trabalhamos na renovao do Edital do Vestibular, que norteia a preparao
dos candidatos e pode despertar, nos respectivos professores, a necessidade de uma
reciclagem conceitual e metodolgica a esse respeito. O texto do Edital 2002 referente
prova da primeira etapa dizia: Teste de percepo musical de mltipla escolha, que visa
avaliar a sensibilidade, compreenso e conhecimento de elementos musicais a partir da escuta
de trechos de obras de diversas culturas e tradies. O teste incluir notao musical
tradicional e notao grfica. (Vestibular UFMG 2002: manual do candidato, p.32).
Pretendemos estimular uma formao musical que vai alm da performtica e do treinamento
auditivo, expandindo os horizontes e a compreenso musical dos candidatos. No raro, estes
pouco conhecem alm do repertrio instrumental por eles executado e quase nada do
repertrio de outros instrumentos, de cmara ou orquestral. Estudos chamam a ateno para a
relevncia de o indivduo conhecer obras musicais variadas, o que permite formar um sistema
1
Aptido Especfica B (mltipla escolha, 1a. etapa) e Habilidade Especfica B (questes abertas, 2a. etapa).
3
de representao mental ricamente interconectado (Krumhansl e Castellano, 1983) que
funcionar como um filtro para experincias subsequentes (Holahan e Saunders, 1997, p.85-
101). Sabemos que esta compreenso sobre o funcionamento das idias musicais transferida
para outras modalidades do fazer musical (Frana, 2001), enriquecendo as habilidades
expressivas e interpretativas do indivduo e contribuindo, assim, para sua formao global.
As provas contemplam um saber musical abrangente e funcional que nasce e
fomentado a partir da experincia ativa com obras musicais. Nas questes de mltipla escolha
de apreciao musical, buscamos a interao entre anlise e sntese e o equilbrio entre
conhecimento terico e compreenso musical. Preferimos o termo apreciao ao j
desgastado percepo, muitas vezes tomado como sinnimo de treinamento e/ou
discriminao auditiva, de nfase tcnica ou terica. O primeiro mais abrangente e
ultrapassa o mbito dos fragmentos rtmicos e meldicos isolados para focalizar as relaes
estruturais e o efeito expressivo provocado por aqueles elementos. A capacidade de
identificar os materiais sonoros uma condio a priori; mas so o carter expressivo e as
relaes estruturais que elevam a msica ao nvel de discurso simblico (Swanwick, 1994,
p.39).
Nos ltimos anos, pequenos ditados compostos para as questes de carter mais
tcnico (reconhecimento de alturas, direcionalidade sonora, padres meldicos, intervalos,
acordes, funes harmnicas, timbres, texturas, padres rtmicos e mtrica) foram sendo
gradativamente substitudos por trechos de msicas. Tal mudana no repertrio vem sendo
observada h alguns anos e consolidou-se desde o Vestibular 2002, no qual este contedo
inteiramente focalizado dentro de obras musicais, onde tais elementos adquirem significado.
Ou seja: as obras foram utilizadas no como exemplos daqueles elementos, mas como
ocorrncias interessantes destes nas quais conferem expressividade ou realam a estrutura da
pea.
A seleo de motivos, frases e trechos musicais para as questes da prova observou
mecanismos psicolgicos de percepo, o que envolveu uma cuidadosa e extensa pesquisa de
repertrio. Estudos na rea nos forneceram importantes referncias; pesquisas sobre
representao cognitiva de altura utilizam desde sons isolados e padres meldicos at peas
completas como estmulos, revelando diferentes aspectos da representao mental. Holahan e
Saunders (1997) apontam que o contorno meldico talvez seja a caracterstica mais saliente
da percepo de altura. A questo abaixo explora esse ponto:
4
Voc ouvir a cano O Pulsar, de Caetano Veloso, composta a partir de um poema
de Augusto de Campos. Nessa cano, a voz explora os registros grave (G), mdio
(M) e agudo (A). O perfil de uma das frases ouvidas corresponde a este grfico:
A -
M - - - -
G - -
Assinale a alternativa cuja frase corresponde ao perfil apresentado:
A) Abra a janela e veja
B) Abrao de anos-luz
C) O pulsar quase mudo
D) Que nenhum sol aquece
(Questo 8, Vestibular UFMG 2001)
Nessa proposta, elaboramos vrias questes que exigiam do candidato uma ateno difusa e a
capacidade de perceber aspectos diferentes da obra em cada alternativa da questo.
Considerar simultaneamente mais de uma relao uma caracterstica inerente experincia
cotidiana da escuta musical, por natureza multifacetada e complexa. Este tipo de questo
pode ser um indicador da maturidade musical do indivduo: enquanto os menos experientes
tendem a focar na dimenso perceptiva de altura e outros elementos isolados, os mais
experientes podem direcionar sua ateno para a dimenso conceitual (contorno meldico,
senso tonal) e as relaes estruturais entre os componentes (Sergeant, D. e Roche, 1973, p.39-
48). Com base nas concluses de Saunders e Holahan (1993), preferimos tambm formular
questes que, na sua maioria, solicitavam ao candidato identificar a alternativa incorreta. Os
autores citados observaram que a identificao de pares de motivos meldicos diferentes
requer um funcionamento cognitivo mais complexo do que o necessrio para reconhecer
pares iguais. Esta constatao sugere ser mais fcil lidar com uma do que com trs
alternativas discrepantes em relao msica (no caso de se identificar a alternativa correta
entre trs incorretas). Estabelecemos um nmero de quatro repeties dos trechos musicais
das questes; a cada repetio, a ateno direcionada pelo texto das alternativas e, assim,
novas relaes e detalhes, bem como a estrutura geral, vo sendo mais claramente percebidos.
Vejamos um exemplo:
Voc ouvir um trecho do Quarteto de Cordas no. 5, de Villa Lobos, que apresenta
uma introduo seguida de duas sees.
Com relao ao trecho ouvido, INCORRETO afirmar que
5
A) a introduo estabelece o pulso com um padro rtmico em notas curtas.
B) a primeira e a segunda sees do trecho terminam, respectivamente, nas funes
de Dominante e de Tnica.
C) o primeiro motivo da melodia principal formado por graus conjuntos.
D) o violino que executa a voz mais aguda realiza uma linha meldica
progressivamente ascendente.
(Questo 13, Vestibular UFMG 2002)
Pela primeira vez, neste Vestibular 2003, os resultados da prova de mltipla escolha sero
submetidos a um tratamento estatstico para verificao da sua validade pedaggica.
Queremos observar a relao entre o resultado alcanado pelos candidatos e o tipo de
conhecimento musical e procedimento cognitivo contemplados. Em um segundo momento,
iremos procurar inferir sobre o mecanismo do erro a partir do levantamento das alternativas
assinaladas pelos candidatos e, com isso, aprimorar a formulao das questes.
A questo aberta de apreciao musical
Alm das tradicionais questes de solfejo meldico, leitura rtmica e ditado musical, a prova
da segunda etapa passou a incluir, desde o Vestibular 2002, uma questo aberta de
apreciao musical, cuja proposta seria descrever, de maneira geral, os elementos musicais,
o carter expressivo e as relaes estruturais de uma pea ou trecho ouvido. (Vestibular
UFMG 2002: manual do candidato, p.34). Nesta oportunidade, os candidatos poderiam se
expressar de forma livre, criativa e pessoal, oferecendo mais dados sobre sua experincia
musical e esttica. Estudos mostram que este tipo de questo demanda critrios especficos de
avaliao (Grossi, 2001; Hentschke, 1993; Frana, 1998). Valemo-nos, no entanto, da
experincia didtica e musical dos avaliadores, que observaram o conjunto das respostas de
cada candidato sobre os materiais sonoros, o carter, a estrutura e o estilo, aspectos ricamente
interconectados nas obras cuidadosamente escolhidas para a questo (Quinteto em F menor
de Brahms - trecho inicial - no Vestibular 2002; A Pergunta No Respondida, de Charles
Ives, em 2003).
Aps estabelecer categorias de anlise conforme os elementos musicais abordados
pelos alunos na questo aberta, iremos testar a correlao entre a pontuao dos candidatos
nesta e nas questes de mltipla escolha. Estas anlises podem nos revelar o grau de
dificuldade das questes e eventuais assimetrias de desempenho. A identificao de nfases e
lacunas nas respostas poder contribuir para refinarmos o texto do Edital dos prximos
concursos, visando uma melhor preparao dos candidatos.
6
Critrios de avaliao do ditado meldico
Outro objetivo deste estudo o estabelecimento de critrios qualitativos de avaliao do
ditado musical. At o Vestibular 2000, os critrios eram basicamente quantitativos, ou seja,
baseados na quantidade de notas acertadas pelo candidato. Em 2001 e 2002, utilizamos
diretrizes piloto para correo, avaliando no quantas notas o candidato erra ou acerta, mas
quais elementos ele acerta. Procuramos levar em considerao o grau de aproximao com a
verso original do ditado, valorizando direo, contorno meldico e intervalos corretos, perfil
meldico (por graus conjuntos ou disjuntos), proporo rtmica, anacruse, referncias
harmnicas (nota incorreta dentro da funo harmnica correta), relaes estruturais (notas de
referncia, repeties, modificaes e pedais), aspectos estes observados na elaborao do
ditado. Por fim e inevitavelmente - a avaliao qualitativa e relativa destes aspectos era
convertida em uma pontuao numrica.
Neste piloto, estas diretrizes se mostraram vlidas do ponto de vista psicolgico e
musical. O prximo passo ser testar sua confiabilidade e validade interna, para que
tenhamos um instrumento psicologicamente consistente e verstil para avaliarmos o ditado de
uma maneira musical ao mesmo tempo que mantendo um certo rigor cientfico. Para tanto,
iremos selecionar ditados realizados por oito candidatos conforme critrio de tipicidade
(Laville e Dionne, 1999, p.170); estes devero representar uma variedade de desempenho
desde o quase totalmente correto at o quase totalmente incorreto. Estes ditados sero
corrigidos por um painel independente de jurados (professores de percepo musical) que
devero explicitar seu o processo de avaliao baseando-se nas diretrizes gerais citadas
acima. Uma vez estabelecido consenso estatstico entre as notas por eles atribudas,
passaremos etapa de refinamento dos critrios a partir das suas explicaes. Todo o
processo ser ento refeito: os mesmos ditados sero avaliados por outro painel independente
de jurados que utilizaro os critrios de avaliao refinados. As notas dessa avaliao
tambm sero submetidas a testes estatsticos de correlao.
Empreendemos estas mudanas no Vestibular com o propsito de chamar a ateno para a
essncia da experincia musical, onde o conhecimento tcnico e terico deve ser entendido
como uma ferramenta do fazer musical - e no como seu substituto. Esperamos que essa
viso seja conservada entre os alunos que atravessam a Graduao em Msica e que este
estudo, uma vez concludo, venha a iluminar o debate acerca do fazer musical e das formas
de avali-lo.
7
Referncias bibliogrficas
FRANA, Ceclia C. Engajando-se na conversao: consideraes sobre a tcnica e a
compreenso musical. Revista da Abem, n.7, p. 35-40, 2001.
_________________. Composing, performing and audience-listening as symmetrical
indicators of musical understanding. Tese de Doutorado, PhD, University of London Institute
of Education, 1998.
GROSSI, Cristina S. Avaliao da percepo musical na perspectiva das dimenses da
experincia musical. Revista da Abem, n.7, p.49-58, 2001.
HARGREAVES, David. The Developmental Psychology of Music. Cambridge: Cambridge
University Press, 1986.
HENTSCHKE, Liane. Musical development: testing a model in the audience-listening
setting. Tese de Doutorado, PhD, University of London Institute of Education, 1993.
HOLAHAN, John e SAUNDERS, Clark. Childrens Discrimination of Tonal Patterns:
Pattern Contour, Response Time, and Item Difficulty Level. Bulletin of the Council of
Research in Music Education, n.132, p.85-101, 1997.
KRUMHANSL, C. e CASTELLANO, M. Dynamic processes in musical perception. Memory
and Cognition, v.11, p.325-34, 1983.
LAVILLE, C. e DIONNE, J. A construo do saber: manual de metodologia de pesquisa em
cincias humanas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
SERGEANT, D. e ROCHE, S. Perceptual shifts in the auditory information processing of
young children. Psychology of Music, v.1, n.2, p.39-48, 1973.
SLOBODA, John. The musical mind: the cognitive psychology of music. Oxford University
Press, 1985.
SWANWICK, Keith. Teaching music musically. London: Routledge, 1999.
_________________. Musical knowledge: intuition, analysis and music education. London
Routledge, 1994.
VESTIBULAR UFMG 2002: manual do candidato. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2001.
WISHART, Trevor. Beyond Notation. British Journal of Music Education, v.2, n.3, p.311-
326, 1982.
ZIMMERMAN, Marilyn. Musical Characteristics of Children. Reston: Menc, 1971.
1
Estudo longitudinal no Bacharelado em Piano da UFMG
Ceclia Cavalieri Frana
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
ceciliaf@musica.ufmg.br / elferraz@terra.com.br
Leonardo Bernardes Margutti Pinto
1
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
leomargutti@hotmail.com
Resumo: A presente pesquisa de natureza comparativa longitudinal no Bacharelado em Piano da UFMG
objetivou identificar eventuais padres de desenvolvimento da compreenso musical dos alunos a partir da
perspectiva terica do Modelo Espiral de Swanwick e Tillman (1986). Assumimos como hiptese que os
alunos apresentariam um desempenho musical progressivamente refinado atravs de observaes repetidas
durante dois anos. Os resultados do teste de anlise de varincia revelaram que os alunos no apresentaram
uma modificao de desempenho estatisticamente significante (p<1). A relao entre as notas oficiais e os
nveis do critrio Espiral atribudos aos alunos indicou que os dois sistemas de avaliao contemplam
aspectos diferentes do fazer musical. Os resultados sugerem que as progressivas demandas tcnicas do
repertrio podem comprometer o desenvolvimento da compreenso musical dos alunos. Reiteramos que a
explicitao dos valores subjacentes avaliao em msica pode conferir maior legitimidade ao processo
educacional.
Palavras-chave: desenvolvimento musical; avaliao em msica; Modelo Espiral.
Abstract: This longitudinal piece of research aims at examining the performance of undergraduate piano
students at the Universidade Federal de Minas Gerais. We looked for developmental patterns in their
musical understanding according to the Spiral Model of Musical Development (Swanwick and Tillman,
1986). Our working hypothesis said that students would present musical development throughout repeated
measures of their performance over two years. The analysis of variance showed that students revealed a
statistically symmetrical level of understanding through the period, implying that no development took
place. The distribuition of students official grades by their assigned Spiral levels suggests that both
assessment processes involve different aspects of music making. These findings point that heavy technical
demands of their repertoire may constrain the development of students musical understanding.
Keywords: musical development, musical assessment; Spiral Model.
Delineamento e objetivo
Esta pesquisa de natureza comparativa longitudinal e delineamento descritivo (sem a manipulao
de variveis) teve como objetivo observar o desempenho musical de alunos do Curso de
Bacharelado em Piano da Escola de Msica da UFMG visando identificar a) seu nvel de
compreenso musical e b) respectivos padres de desempenho e, eventualmente, de
desenvolvimento musical.
1
Bolsista PIBIC UFMG/ CNPq.
2
Referencial terico
O referencial adotado foi a Teoria Espiral de Desenvolvimento Musical (originalmente em
Swanwick and Tillman, 1986, e ampliado em Swanwick 1988 e 1994). Critrios de avaliao dela
derivados permitem avaliar a compreenso musical entre indivduos e diferentes obras. Eles
consistem de oito pargrafos que descrevem o desenrolar da compreenso musical atravs do
domnio cumulativo dos elementos do discurso musical - materiais sonoros (nveis Sensorial e
Manipulativo), carter expressivo (nveis Pessoal e Vernacular), forma (nveis Especulativo e
Idiomtico) e valor (nveis Simblico e Sistemtico). Para Swanwick e Frana (1999), a
compreenso musical uma dimenso conceitual ampla que permeia todo o fazer musical, sendo
manifestada atravs de suas vrias modalidades de comportamento. Os critrios constituem,
portanto, um instrumento que reflete a abrangncia da compreenso musical enquanto constructo,
pois derivam de uma anlise da natureza da experincia musical. A validade do Modelo Espiral e
dos critrios de avaliao foi determinada em estudos anteriores (Hentschke, 1993; Swanwick,
1994; Stavrides, 1995; Frana, 1998); nesta pesquisa replicamos o teste de validade da verso em
portugus dos critrios de avaliao da performance.
Hiptese
Partimos do pressuposto que, no decorrer de dois anos - metade da durao do curso de
Bacharelado - a performance dos alunos apresentaria uma qualidade musical progressivamente
refinada conforme trajeto previsto pelo Modelo Espiral. Trabalhamos com a seguinte hiptese:
Os alunos de piano apresentaro um desempenho musical progressivamente refinado segundo a
perspectiva do Modelo Espiral de Desenvolvimento Musical. Como hiptese nula, consideramos
que os alunos no apresentariam variao de desempenho significante, revelando um padro de
desempenho simtrico ou mesmo irregular.
Populao e amostragem
Utilizamos uma amostragem no-probabilstica determinada por tipicidade e convenincia
(Laville e Dionne, 1999, p.170). Dentro do universo dos alunos cursando entre o primeiro e quarto
perodos do curso de graduao, reunimos uma amostra de 15 voluntrios, dos quais apenas 10
permaneceram at a ltima rodada de gravaes. Embora a coleta de dados tenha ocorrido em
momentos pontuais, ela se estendeu por dois anos e meio em decorrncia da greve dos docentes
da Universidade, em 2001, e das dificuldades de agendamento com os alunos. Ocasionalmente,
3
alguns alunos no realizaram a prova semestral de instrumento por no se sentirem preparados.
Em se tratando de um estudo longitudinal, acreditamos que esses fatores foram, de certa forma,
positivos, pois aumentaram a possibilidade de observarmos padres de desenvolvimento musical.
Controle de variveis
A caracterstica comparativa do estudo estabeleceu-se atravs de observaes repetidas do
desempenho. No comparamos os alunos entre si, mas sim, seu desempenho individual em
momentos e circunstncias variados. Cada aluno ofereceu dados em quatro diferentes condies:
gravao da sua performance (trs sees); notas obtidas nos respectivos semestres e observao
do estudo conjugada com uma entrevista semi-estruturada, totalizando oito observaes de cada
sujeito. A tcnica de observaes repetidas constitui um importante elemento de controle,
conferindo validade interna ao estudo (Coolican, 1994, p.52).
Os dados
A principal fonte de dados foi a gravao da performance instrumental dos alunos em trs dos
quatro semestres letivos entre 2000 e 2001. Realizamos trs sees semestrais de gravao nas
quais gravamos duas peas de cada aluno. Tivemos um aluno que s registrou duas sees de
gravaes semestrais, mas em se tratando de um caso bastante interessante, optamos por mant-lo
no estudo. Os demais alunos que no completaram as trs gravaes foram desligados da
pesquisa.
Mtodo
Conjugamos as seguintes tcnicas em triangulaes superpostas:
1. Anlise de produto (avaliao das peformances):
- Verificao do nvel Espiral das performances de cada aluno nos trs semestres;
- Verificao da distribuio nvel Espiral x conceito formal obtidos;
2. Correlao (teste da hiptese):
- Nvel Espiral alcanado nos trs semestres, casos de simetria, assimetria e desenvolvimento;
3. Observao no-participante e entrevista:
- Estabelecimento de categorias de anlise;
- Categorizao entre fatores positivos e negativos;
- Relao entre estes fatores e o desempenho musical do aluno.
4
Resultados
1. Teste de validade do instrumento de avaliao
O primeiro passo foi replicar o teste de validade dos critrios de avaliao da performance
utilizando procedimento semelhante ao descrito por Swanwick (1994, p.108-9; 180-1). Quatorze
professores de msica que desconheciam a Teoria Espiral ordenaram cartes contendo o texto
referente a cada um dos nveis dos critrios conforme a qualidade musical expressa em cada um
deles. Os professores alcanaram um nvel de consenso considervel, com um resultado altamente
significante no nvel de p<0,00001 para o Coeficiente Kendall de Concordncia (W=0,954568).
Em seguida, submetemos uma amostra de 10 performances gravadas a um painel independente de
seis jurados que atriburam independentemente um nvel do critrio Espiral a cada uma delas. O
resultado do Coeficiente Kendal de Concordncia mostrou um valor W=0,58401, altamente
significante no nvel de p<0,0001.
2. Anlise de produto - avaliao das performances
Uma vez confirmada a validade dos critrios, realizamos independentemente a avaliao do
restante das gravaes das performances. Paralelamente, registramos as notas obtidas pelos alunos
em cada semestre; estas, que representam a avaliao formal pelo corpo docente, foram
convertidas em conceitos (A, de 90 a 100; B, de 80 a 89; etc.) para que se preservasse o
anonimato dos participantes. Os nveis do Modelo Espiral, que descrevem a qualidade musical da
performance, foram convertidos em algarismos em ordem crescente de refinamento, a saber:
Sensorial (1), Manipulativo (2), Pessoal (3), Vernacular (4), Especulativo (5), Idiomtico (6),
Simblico (7) e Sistemtico (8). Lembramos que os nveis do Modelo Espiral foram representados
por uma equivalncia numrica apenas para melhor visualizao dos dados; entretanto, os
critrios Espiral consistem de uma escala ordinal, demandando testes estatsticos no-
paramtricos. A Tabela 1, abaixo, apresenta o resultado de cada aluno nessas duas condies.
Tabela 1: Avaliao dos alunos conforme o critrio Espiral e conceito formal
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3
Espiral Espiral Espiral
Repertrio
Aluno
Pea
1
Pea
2
Con-
ceito Pea
1
Pea
2
Con-
ceito Pea
1
Pea
2
Con-
ceito
I 4 5 A 4 5 A -* -* A
5
II 6 5 A 5 4 B 5 4 A
III 4 4 B 4 5 A 5 4 B
IV 4 5 -** 3 4 B 3 5 B
V 7 7 A 7 7 A 7 6 A
VI 5 5 A 5 6 A 5 6 C
VII 5 6 A 5 6 A 4 6 A
VIII 6 4 A 5 6 A 6 6 A
IX 7 7 A 5 6 B 8 5 A
X 7 6 A 6 8 A 8 7 -**
*O aluno no realizou gravao das suas peas neste semestre.
** O aluno no realizou a prova semestral de piano neste semestre.
Destacamos dois aspectos relevantes desses dados. Primeiro, confirmando os resultados
encontrados por Frana (2001) sobre o nvel musical dos alunos aprovados no Vestibular, a
distribuio se concentra no estgio Espiral relativo Forma, nos nveis Especulativo e
Idiomtico
2
. Segundo, a tabela mostra que o conceito A foi atribudo para performances que
variaram desde os nvel Sistemtico at o Vernacular. A frequncia do conceito B bem menor,
com uma distribuio concentrada nos nveis Vernacular e Especulativo. Embora o conceito B
correlacione-se com nveis mais baixos do Espiral, a ampla distribuio do conceito A indica que
o critrio Espiral de avaliao e o critrio formal adotado contemplam aspectos diferentes do fazer
musical. Observamos que o sistema formal de avaliao considera como fator determinante o
nvel de dificuldade das peas executadas; assim, uma performance Vernacular de uma Fuga a 4
Vozes pode receber uma nota superior performance Idiomtica de uma Fuguetta. O Espiral, ao
contrrio, observa a qualidade musical revelada na performance independentemente do nvel de
dificuldade da pea; desta forma, pode-se considerar Vernacular tanto a performance de uma
fuguetta quanto a da fuga. Conforme observado por Frana (1998, 2000), ainda mais provvel
que um indivduo atinja um nvel musical elevado tocando uma pea mais simples, pois a
complexidade tcnica pode comprometer a manifestao da sua compreenso musical.
3. Teste da hiptese: padres de desempenho (simetria ou desenvolvimento)
2
No nvel Especulativo, a performance revela um domnio consistente dos materiais sonoros, fluncia, nuances
expressivas, de dinmica e aggica, valorizando-se pontos culminantes e a estrutura da obra; no Idiomtico, alm das
qualidades do nvel anterior, percebe-se ainda consistncia estilstica e coerncia estrutural.
6
O teste de varincia (Anova) dos nveis Espiral alcanado pelos alunos atravs dos trs semestres
apresentou, surpreendentemente, um resultado no significante, com uma probabilidade p<1
(p=0,817). Isto indica que os alunos manifestaram um nvel de compreenso musical simtrico
atravs das trs sees de gravao, donde podemos concluir que no foi observado
desenvolvimento musical no perodo de dois anos transcorridos entre a primeira e a ltima
rodadas de gravaes. Portanto, no foi possvel refutar a hiptese nula. Desta forma, um aluno
que ingressou no curso superior revelando uma qualidade musical condizente com o nvel
Idiomtico, dois anos mais tarde continua se expressando musicalmente no mesmo nvel, porm
tocando peas de maior dificuldade tcnica. importante separarmos conceitualmente o
desenvolvimento musical e o desenvolvimento tcnico; este, sim, provavelmente ocorreu devido
dificuldade progressiva das peas. Estes resultados sugerem que a priorizao do
desenvolvimento tcnico pode estar suplantando o cuidado com o desenvolvimento da
musicalidade dos alunos. Este cenrio preocupante, uma vez que para se consolidar uma
qualidade musical mais refinada preciso que esta seja exercitada em peas mais acessveis ao
indivduo. Esta a implicao mais contundente deste estudo, que confirma o quadro encontrado
por Frana (1998, 2000): imprescindvel que o repertrio do aluno inclua peas de um nvel
tcnico que ele domine; assim, ele poder tomar decises expressivas conscientes e consistentes e
alcanar nveis musicais mais refinados. S assim essa qualidade musical ser experimentada e
transferida para outras situaes.
4. Observao no-participante e entrevista
O objetivo desta etapa foi buscar relaes entre o mtodo de estudo dos alunos e seu desempenho
instrumental. Aps extensa anlise dos dados coletados, padres de anlise comearam a emergir,
possibilitando uma comparao entre estes dados e a avaliao das performances segundo o
Modelo Espiral. Os aspectos mais frequentes entre os alunos que atingiram nveis mais altos
foram: consistncia do andamento, preocupao com a clareza do toque, estudo concentrado e
organizado em trechos pequenos, detalhamento, abordagem sistemtica do erro (quando o aluno
se detm sobre o problema e tenta resolv-lo), uso do canto para compreenso do fraseado e
memorizao da pea. O uso de metrnomo e de variaes rtmicas mostrou-se positivo em
alguns casos. Os alunos que atingiram nveis mais baixos frequentemente passavam por cima do
erro e das partes nas quais estavam inseguros, tocavam trechos maiores ou movimentos inteiros,
demonstravam pouca concentrao e tinham falhas de memria no decorrer do estudo a ponto de
7
terem que se remeter partitura. Isto denota que a compreenso estrutural e formal da pea
favorece tanto a memorizao quanto a consistncia musical.
Implicaes
Este estudo sugere que o critrio de avaliao derivado do Modelo Espiral de Desenvolvimento
Musical de Swanwick e Tillman e o critrio tradicionalmente utilizado na Instituio em questo
valorizam aspectos diferentes do fazer musical dos alunos. Reiteramos que a explicitao dos
valores subjacentes avaliao em msica pode conferir maior legitimidade ao processo
educacional. Lembramos que o critrio Espiral de avaliao contempla a qualidade musical
revelada nas performances independentemente do nvel de complexidade tcnica das peas. As
pesadas demandas tcnicas do repertrio podem acarretar o comprometimento do
desenvolvimento da compreenso musical dos alunos, pois restam-lhes poucas oportunidades para
se expressarem confortavelmente dentro da sua condio tcnica. preciso que seu repertrio
inclua peas mais acessveis que podero ser realizadas com expressividade autntica e
consistncia estrutural e estilstica (Frana, 1998, 2000). Do contrrio, h o risco de os alunos se
graduarem sem que tenham experimentado um desenvolvimento musical e esttico verdadeiro,
mas to somente uma exaustiva corrida rumo ao aprimoramento tcnico.
Referncias bibliogrficas
COOLICAN, H. Research Methods and Statistics in Psychology. Londres: Hodder & Stoughton,
1994.
FRANA, Ceclia Cavalieri. A natureza da performance instrumental e sua avaliao no
Vestibular de Msica. Opus, v.7, Outubro de 2000, www.musica.ufmg.br/anppom.
_______________________ Performance instrumental e educao musical: a relao entre a
compreenso musical e a tcnica. Per Musi, v.1, p.52-62, 2000.
FRANA E SILVA, M.Ceclia. Composing, performing, and audience listening as symmetrical
indicators of musical understanding. Tese de Doutorado, University of London Institute of
Education, 1998.
HENTSCHKE, Liane. Musical development: testing a model in the audience-listening setting.
Tese de Doutorado, University of London Institute of Education, 1993.
LAVILLE, C. e DIONNE, J. A construo do saber: manual de metodologia de pesquisa em
cincias humanas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
STAVRIDES, Michael. The interaction of audience-listening and composing: a study in Cyprus
Schools. Tese de Doutorado, University of London Institute of Education, 1995.
SWANWICK, Keith. Music, Mind and Education, London: Routledge, 1988.
_________________ Musical Knowledge: intuition, analysis and music education. London:
Routledge, 1994.
SWANWICK, Keith e TILLMAN, June. The sequence of musical development: a study of
children's composition. British Journal of Music Education, n.3, v.3, p.305-339, 1986.
8
SWANWICK, Keith e FRANA, Ceclia Cavalieri. Composing, performing and audience-
listening as indicators of musical understanding. British Journal of Music Education, n.16, v.3,
p.5-19, 1999.
1
As Sries de Guerra-Peixe como manifestaes do seu
desenvolvimento criativo
Ceclia Nazar de Lima
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
cecilianl@musica.ufmg.br
Resumo: Csar Guerra-Peixe foi um artista verstil que deixou uma obra extensa e variada, em muitos
aspectos ainda obscura. Na composio musical, por exemplo, pouco se sabe sobre as peas
dodecafnicas. Esse desconhecimento pode ter origem nas declaraes do compositor em entrevistas
posteriores fase denominada por ele como fase dodecafnica. Entretanto, o que se observa mais
profundamente que ele deixou-a registrada em partituras e documentao esclarecedora, elaborada
na mesma poca das composies. A partir desses registros, podemos desenvolver um estudo analtico
abrangente e mais prximo das intenes do compositor, cujas concluses podem auxiliar na
compreenso de sua trajetria composicional. Ao analisarmos a utilizao das sries dodecafnicas,
suas estruturas internas e suas transposies, podemos concluir que o pensamento criativo de Guerra-
Peixe evolui em direo valorizao de motivos e ao afastamento das regras que orientam essa
tcnica de composio.
Palavras-chave: Guerra-Peixe, dodecafonismo, msica contempornea brasileira
Abstract: Csar Guerra-Peixe was a versatile artist whose extensive and varied work is still unknown
in many aspects. Considering his musical compositions, a little is known about the twelve-tone pieces.
The lack of knowledge about these pieces is due to his declarations in interviews realized after what he
called his twelve-tone period. However, an attentive look reveals that he wrote elucidative registers of
this period of his compositional life in scores and documents, contemporary to his twelve-tone pieces.
Based on these registers which provided a broad analytical perspective we developped an
analytical approach closer to the composers intentions. The conclusions will help understanding of his
compositional trajectory. The analysis of the the twelve-tone series used, their internal structures and
transpositions, revealed that the creative thought of Guerra-Peixe evolved towards the use of motives
as he moved away from the rules of twelve-tone procedures.
Keywords: Guerra-Peixe, twelve-tone composition, contemporary Brazilian music
INTRODUO
A lembrana de Csar Guerra-Peixe, artista brasileiro, nascido em Petrpolis, em
1914, cuja ausncia completar dez anos em novembro, se apresenta de vrias maneiras.
Maestro, professor, arranjador, intrprete, pesquisador das manifestaes artsticas do nosso
povo, compositor de trilhas para o cinema nacional e peas populares como marchas e choros,
professor de dana de salo foram algumas formas que ele utilizou para exprimir suas idias,
seu cunho pessoal, e deix-las presentes em nossa memria. Entretanto, uma das expresses
utilizadas pelo compositor Guerra-Peixe por muito tempo ficou esquecida e, para muitos,
ainda desconhecida.
2
Guerra-Peixe dividiu a sua produo musical em trs fases: inicial (at 1944),
dodecafnica (1944 a abril de 1949) e nacional (o restante de sua produo). A maioria das
composies que conhecemos e ouvimos hoje faz parte da fase nacional, ltima e
predominante em sua obra. As composies da fase inicial foram destrudas por ele, que
precaveu-se de incluir o nome das peas em seu catlogo de obras com a indicao de
execuo interdita.
Sobre a fase dodecafnica pouco se sabia, principalmente porque os registros de que
se tinha notcia eram posteriores a ela. O prprio compositor contribuiu para o julgamento
negativo que passou-se a atribuir a esta fase, pois em entrevistas deixava a impresso de um
momento pouco significativo em sua trajetria composicional. Alguns colegas acreditavam
que ele houvesse destrudo essa produo, assim como havia feito com a da fase inicial. No
entanto, ao contrrio do que se pensava, Guerra-Peixe deixou-a registrada em textos e
partituras, documentao fundamental para a elucidao dos procedimentos tcnicos e ideais
estticos envolvidos na concepo das peas daquele perodo.
SOBRE OS DOCUMENTOS
As informaes mais divulgadas sobre a criao dodecafnica de Guerra-Peixe podem
ser encontradas nos textos de entrevistas concedidas pelo compositor a importantes jornais de
So Paulo, Rio, Pernambuco, Braslia e Belo Horizonte e, sobretudo, no Curriculum Vitae
elaborado por ele
1
.
Entretanto, outros documentos se mostram mais reveladores e acrescentam
importantes dados sobre as peas.
Dos documentos produzidos durante a fase dodecafnica, pode-se destacar o "Oitenta
exemplos extrados das minhas obras, demonstrando a evoluo esttica - at abril de 1947"
2
.
Neste manuscrito de 26 de abril de 1947, o compositor extrai trechos de doze peas do
perodo mais produtivo na tcnica dos doze sons 1945 a 1947. O texto puramente musical,
sem incluso de qualquer comentrio, e os trechos selecionados so apresentados na ordem
1
Apesar de no haver indicao de data, na pgina inicial da cpia que consta do acervo da Escola de Msica da
UFMG, em Belo Horizonte, est expresso que este conjunto de notas abrange as atividades artsticas desde os
estudos iniciais at maro de 1971. Na pgina inicial da cpia cedida pelo compositor Nelson Salom, amigo e
ex-aluno de Guerra-Peixe, encontramos a assinatura do autor e indicao da data - maro de 1971.
2
Este documento est disponvel em arquivo MIDI, no site da Biblioteca Nacional
www.bn.br/extra/musica/acervo.htm. Tambm pode ser encontrado no acervo pessoal de Guerra-Peixe, no Rio
de Janeiro, sob a tutela de Jane Guerra-Peixe, sobrinha-neta do compositor.
3
cronolgica das composies apenas com indicao do nome da pea, andamento, formao e
data.
O documento "Comentrios sobre as aplicaes das sries" possivelmente tambm foi
elaborado na poca das composies dodecafnicas. Puramente literrio, sem incluso de
ilustraes musicais, o documento no possui data e incompleto. Nele, constam o conceito
das sries livre, simtrica, motivadora e harmonizadora e a aplicao de cada uma delas,
exceto a harmonizadora, em peas de sua autoria. Tem-se a impresso de ter sido elaborado
para algum curso, palestra ou conferncia em que o compositor ofereceria aos ouvintes uma
panormica de suas experincias com as sries dodecafnicas.
Outra fonte de registros dessa fase so as cartas que Guerra-Peixe enviou ao
musiclogo alemo, naturalizado uruguaio, Curt Lange (1903-1997)
3
. Elas fazem parte do
Acervo Curt Lange, na Biblioteca Central de Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo
Horizonte. Mais conhecido no Brasil por suas pesquisas sobre a msica colonial brasileira,
esse musiclogo criou em 1930 o movimento "Americanismo Musical" que tinha, entre
outras, a finalidade de divulgar a msica latino-americana. Algumas peas de Guerra-Peixe
foram editadas por iniciativa deste movimento. Durante longo perodo esses dois artistas
mantiveram contato atravs de cartas, e nas dcadas de 1940 e 1950 a comunicao entre eles
foi intensa e reveladora. Em 24/3/47 e 15/4/47, Guerra-Peixe envia a ele a interpretao
pessoal de sua evoluo esttica at aquela data, nos textos intitulados, respectivamente -
Uma parte de meus conceitos estticos em 24 de maro de 47 e Parte de meus conceitos
estticos at marco de 47. Nessas cartas, o compositor expe algumas sries e comenta sobre
suas questes musicais e intenes nacionalistas.
Tambm de inigualvel importncia, o documento "Relao cronolgica de
composies desde 1944"
4
, apresentada breves referncias textuais e musicais da produo
at 1993. O dado mais relevante com relao s peas dodecafnicas a indicao das sries
de praticamente todas as catalogadas no Curriculum Vitae, exceto a Inveno (1944), para
flauta e clarinete.
SOBRE AS SRI ES
3
A totalidade dessa correspondncia objeto do estudo de doutorado que est sendo desenvolvido pela
professora Ana Cludia de Assis, no departamento de Histria da Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas da
UFMG, em Belo Horizonte.
4
Na cpia em posse do compositor Nelson Salom, no h indicao de data, porm pode-se deduzir que o
documento foi sendo elaborado ao longo de anos, com constantes mudanas de caligrafia, e concludo em 1993,
pois a ltima pea registrada a Rapsdica, para piano, de 11 de agosto de 1993, composta por encomenda do
Departamento de Cultura do Estado de So Paulo.
4
Vrios aspectos poderiam ser destacados sobre a produo dodecafnica de Guerra-
Peixe, que totaliza 49 peas compostas em menos de cinco anos - 1944 a abril de 1947.
Poderamos salientar, por exemplo, a repercusso nacional e internacional de algumas peas
ou as influncias das manifestaes musicais brasileiras presente em vrias delas. Entretanto,
optou-se por comentar a utilizao dos quatro tipos de sries expostos no documento
"Comentrios sobre as aplicaes das sries", suas estruturas internas e suas transposies, e
associ-las evoluo do pensamento criativo e esttico do compositor.
Nas primeiras composies que datam de 1944 e incio de 1945, Guerra-Peixe evitava
a reproduo igual ou aproximada de um motivo, um acorde ou um ritmo, por julgar toda
repetio "mero primarismo. Ele prprio reconheceria mais tarde, que essa concepo radical
levava a dificuldades insuperveis, sobretudo no ritmo e unidade formal das peas. As sries
utilizadas nas composies dessa poca encaixam-se no conceito de srie livre, assim definida
por ele: "parece ser a mais problemtica, no que diz respeito organizao formal da obra a
ser composta. Entretanto, os Motivos podero ser trabalhados sem que deixem de ser
suficientemente reconhecveis."
5
As peas Noneto e Quarteto Misto, ambas de 1945, representam este pensamento e
utilizam sries livres com estruturas meldicas articuladas por meio de uma rtmica tambm
livre. De acordo com Guerra-Peixe, a complexidade rtmica do Quarteto Misto impossibilitou
o entrosamento dos msicos e foi o motivo do cancelamento de duas audies previstas para
essa pea.
FIGURA 1 - Sries original e invertida utilizadas no Noneto e Quarteto Misto, de 1945, extradas do
documento "Relao cronolgica de composies desde 1944".
5
Extrado do documento "Comentrios sobre as aplicaes das sries".
5
A Sinfonia no. 1, concluda em 1946, tambm utiliza a srie livre, na altura original e
transposta ao intervalo de 5
a
justa ascendente. Esse aspecto intervalar de transposies da
srie merece os subsequentes comentrios.
Guerra-Peixe escreve a Curt Lange, na correspondncia de 15/4/47, que "desde a
Msica no. 1 (30/5/1945) estava utilizando a srie original no transposta como uma espcie
de tonalidade e, de certa forma, conservando-a na linha principal ou no contraponto". Este
tratamento da srie no transposta, explorada tambm nas formas invertida e retrgrada, est
presente no Trio de Cordas e nas Quatro Peas Breves, compostas, respectivamente, em
junho e agosto de 1945. Entretanto, a partir da Sinfonia no. 1, primeira pea concluda em
1946, o compositor utiliza os intervalos justos, principalmente 5
as
justas, para as transposies
da srie. Nessa Sinfonia, a srie aparece transposta ao intervalo de 5
a
justa acima. Nas Dez
Bagatelas (28/4/46) e na Suite, para violo (6/5/46), a srie simtrica foi utilizada em duas
transposies que se relacionam pelo intervalo de 5
as
justas ascendentes: 5
a
justa acima (O
7) e 2
a
maior acima (O 2). Estas transposies reforam a relevncia dos intervalos justos na
concepo esttica de Guerra-Peixe.
FIGURA 2 - Srie simtrica original e suas transposies utilizadas nas Dez Bagatelas (28/4/46), para piano
Conforme consta no Curriculum Vitae, a partir do Trio de Cordas de 1945 o
compositor procura, facilitar a aceitao da msica, simplificando-a para o leigo em
dodecafonia (Guerra-Peixe, 1971, p.12). Com essa inteno, Guerra-Peixe busca uma
associao dos intervalos justos com outros recursos musicais, para proporcionar ao ouvinte
um forte eixo de referncia. Esses intervalos, j presentes nas sries de 1944, comeam a
representar preferncias do compositor a partir do Trio de Cordas (agosto de 1945) e passam
a ser explorados meldica e harmonicamente na maioria das peas seguintes, auxiliando o
direcionamento sonoro por meio de atraes que sugerem repouso.
6
FIGURA 3 - Semelhanas nas sries das peas compostas em fevereiro e maro de 1947 e fort e presena dos
intervalos de 5
as
e 4
as
justas na estrutura dessas sries.
A srie simtrica ser forte caracterstica das composies de 1946. A simetria vai
alm da macro estrutura das sries (6 sons) e se insere em estruturas menores, geralmente de
trs sons. Esta preocupao com pequenos agrupamentos meldicos j era esboada nas sries
das composies de 1944, porm a partir de 1945 que a simetria completa da srie
rigorosamente estabelecida e passa a ser predominante na obra dodecafnica de Guerra-Peixe.
Neste tipo de srie, fragmentos meldicos so previamente determinados em agrupamentos de
trs e seis sons. Por vezes, estes agrupamentos so to semelhantes que o prprio compositor
julga possvel considerar a srie constituda de apenas seis sons, como no Pequeno Duo, ou
ainda super concentrada como a srie da Suite, para violo.
(N.B Penso que esta srie se poder dizer que tem apenas SEIS sons - se
considerarmos a REPRODUO EXATA como uma espcie de TRANPORTE
FIXO.
FIGURA 4 - Srie simtrica utilizada no Pequeno Duo (5/10/46), para violino e celo, tal como comentada e
apresentada a Curt Lange, na carta de 15/4/47.
Em 1947, a srie, ainda com muita simetria porm no necessariamente com 12 sons,
comea a se caracterizar como motivadora, cuja caracterstica determinante pode ser resumida
nas seguintes palavras do compositor: os Motivos e alguns acordes surgem da Srie,
7
prestabelecidamente [sic].
6
Nas peas compostas nesse ano a srie raramente aparece
completa mas seus motivos so recorrentes, transpostos a vrias alturas e associados a
contornos rtmicos tambm recorrentes. No Divertimento n.1, para orquestra de cordas
(15/4/47), por exemplo, a mesma srie simtrica utilizada na Msica no. 1 (30/5/45) a srie
motivadora que gera os motivos de trs sons que sero explorados na pea. Em muitos
momentos, apenas um desses motivos, transposto a vrias alturas, gera frases e estabelece
sees.
Na PEA PRA DOIS MINUTOS, para piano, a srie...... de DEZ sons. Levo em
conta mais o elemento formal (com caractersticas nacionais) do que a tcnica
Schoenbergueana, propriamente:
FIGURA 5 - Srie motivadora utilizada na Peca pra dois minutos (2/3/47), tal como comentada e apresentada
Curt Lange, na carta de 15/4/47.
A partir do final de 1947, a produo de Guerra-Peixe diminui significativamente, mas
a srie harmonizadora, concebida principalmente em suas possibilidades harmnicas, passa a
ser o foco das experincias musicais. Em dezembro de 1947 ele conclui as Msicas no. 1 e 2,
para violino com este tipo de srie, que ser tambm utilizado em duas, das trs peas
compostas em 1948 Trio, para flauta, clarinete e fagote e Melopias no. 2, para flauta.
6
Extrado do documento "Comentrios sobre as aplicaes das sries".
8
FIGURA 6 - Sries harmonizadoras utilizadas nas peas Msica n. 1 e Msica n. 2, de 1947, para violino solo,
extradas do documento "Relao cronolgica de composies desde 1944".
Distanciando-se cada vez mais dos parmetros da composio dodecafnica, em abril
de 1949, ele encerra esta fase com a Suite, para flauta e clarineta, que utiliza uma srie
concebida harmonicamente e constituda de 18 notas.
FIGURA 7 - Srie harmonizadora, constituda de dezoito notas, utilizada na Suite, para flauta e clarineta,
extrada do documento "Relao cronolgica de composies desde 1944".
Pode-se concluir que as experincias de Guerra-Peixe com os quatro tipos de sries
seguem um caminho linear na seguinte ordem: livre, simtrica, motivadora e harmonizadora.
Entretanto, o que se esclarece com essa linearidade a busca de maior demarcao dos
motivos inicialmente rejeitados pelo compositor.
Vale acrescentar que, a partir da Sinfonia no. 1 (1946), o ritmo se destaca como forte
elemento de referncia para o ouvinte e como formador da unidade das peas. Em dezembro
de 1947, a preocupao com este parmetro musical se evidencia, a ponto do compositor,
neste momento, reformular ritmicamente algumas composies dos anos anteriores, entre elas
o Quarteto Misto, Quatro Peas Breves e Noneto.
Observa-se portanto, que a trajetria do tratamento serial coincide com o
desenvolvimento do tratamento rtmico das peas, e ambos caminham em direo maior
fixao de motivos. Os modelos, concebidos a partir da elaborao das sries como estruturas
meldicas e harmnicas, passam a se relacionar com os modelos rtmicos tambm mais curtos
9
e evidentes e a gerar motivos que mesmo quando variados so reconhecidos. Ainda podemos
deduzir, que esse procedimento se relaciona inteno de Guerra-Peixe de tornar sua msica
na tcnica dos doze sons mais prxima do pblico leigo e ao mesmo tempo constitui-se forte
elemento de afastamento dessa tcnica de composio.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
FARIA JR., Antnio Emanuel Guerreiro. Guerra-Peixe: sua evoluo estilstica luz das
teses andradeanas. Rio de Janeiro: UNI-RIO, 1997. Dissertao de Mestrado.
________________ Guerra-Peixe e as idias de Mrio de Andrade: uma revelao.
DEBATES, Cadernos do Programa de Ps-Graduao em Msica do Centro de Letras e
Artes da Uni-Rio, n. 2. Rio de Janeiro: CLA/Uni-Rio, 1998, p. 63-72.
GUERRA-PEIXE, Csar. Oitenta exemplos extrados das minhas obras demonstrando a
evoluo esttica at abril de 1947. Rio de Janeiro, 1947,[s.n.].
________________ Documentao que resume as atividades artsticas de Guerra-Peixe at
1971. Belo Horizonte: Escola de Msica da UFMG, 1971.[s.n.].
________________Comentrios sobre as aplicaes das sries. Manuscrito, [s.n.t].
________________Relao cronolgica de composies desde 1944. Manuscrito, [s.n.t].
KATER, Carlos. Msica Viva e H. J. Koellreutter, movimentos em direo modernidade.
So Paulo: Musa Editora, Atravez, 2001.
KRIEGER, Edino. Guerra-Peixe: razo e paixo na obra de um mestre da msica brasileira.
Piracema - Revista de arte e cultura, n.2, ano 2. Rio de Janeiro: Funarte, Ibac, Minc,1994;
76-83.
LIMA, Ceclia Nazar. A fase dodecafnica de Guerra-Peixe; luz das impresses do
compositor. Campinas: Biblioteca do Instituto de Artes da UNICAMP, 2002. Dissertao de
Mestrado
NEVES, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira. So Paulo: Ricordi Brasileira, 1981.
PAZ, Juan Carlos. Introduo Msica de Nosso Tempo. Traduo: Diva Ribeiro de Toledo
Piza. So Paulo: Duas Cidades, 1977.
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da Composio Musical Traduo Eduardo
Seincman. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo EDUSP, 1991
_____________________ Style and Idea. Traduo: Leo Black. Bekeley and Los Angeles:
University of California Press, 1984.
Outras fontes:
Correspondncias de Guerra-Peixe a Curt Lange. Belo Horizonte: Acervo Curt Lange
Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais.
1
Memria, citao e referncia: os fluxos do tempo no Estudo
Paulistano de Celso Loureiro Chaves
Celso Giannetti Loureiro Chaves
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
cglchave@portoweb.com.br
Resumo: No presente trabalho estabelece-se um paralelo entre as proposies de Alfred
Schutz a respeito da experincia musical e do elemento temporal em msica, formuladas nos
seus Fragmentos sobre a fenomenologia da msica, e o processo composicional empreendido
no Estudo Paulistano para piano (mo esquerda) de Celso Loureiro Chaves. Tomando-se esta
obra como objeto analtico e reconstituindo em retrocesso o seu processo composicional foi
possvel estabelecer linhas de continuidade entre o fluxo de tempo interior do compositor no
ato de tomada de decises composicionais e o fluxo temporal do objeto composicional
resultante. Foi possvel estabelecer, igualmente, o Estudo paulistano como meio de analogia
s proposies de Schutz, estendendo-as ao ato composicional.
Palavras-chave: composio musical, fenomenologia, anlise musical
Abstract: A parallel is established between the propositions of Alfred Schutz concerning
musical experience and its temporal element, as discussed in his Fragments on the
phenomenology of music, and the compositional processes of Estudo paulistano for piano left-
hand by Celso Loureiro Chaves. The Estudo paulistano is taken as an analytic object; its
compositional processes are recreated and a line continuity is proposed that links the stream
of inner time of the composer to the stream of time established by the piece itself. The
theoretical propositions of Schutz are extended thus to the act of music composition.
Keywords: music composition, phenomenology, music analysis
Em seus fragmentos sobre a fenomenologia da msica, Alfred Schutz prope
que a experincia musical est baseada na faculdade mental de recuperar o passado
atravs de retenes e reprodues e de pressupor o futuro atravs de protenes e
antecipaes (SCHUTZ, 1976, 46). Analisando em retrospecto o meu processo
composicional no Estudo paulistano para piano/mo esquerda (1998) e tomando-o
como objeto analtico, encontro nele fortes pontos de contato com as formulaes de
Schutz, especificamente naquilo que se refere experincia musical e ao elemento
temporal em msica.
Schutz prope que
toda experincia musical origina-se no fluxo de tempo interior, na stream of
consciousness. Ela no se refere necessariamente a objetos do mundo
exterior. No caso de a experincia musical referir-se a objetos do mundo
exterior, ela usa mecanismos especficos para coordenar os eventos que esto
dentro de uma dimenso espao-temporal com aqueles que esto dentro do
tempo interior. (id, 46)
Para Schutz, a experincia musical um fluxo contnuo [que] partilha do
fluxo da stream of consciousness na simultaneidade. (id, 46). E, ao deter-se no
elemento temporal em msica, Schutz define termos operacionais para processos
especficos: reteno, reproduo, proteno e antecipao. Particularmente
em relao aos processos de reteno e reproduo, que ele caracteriza como
dois tipos de rememoraes dentro daquilo que chamamos lembranas e que so
2
igualmente importantes para a constituio da experincia musical, Schutz afirma
que:
Primeiro, h atitudes reflectivas em relao a alguma experincia que foi
verdadeira num Agora recm passado. A lembrana, ento, cola-se
imediatamente e sem interrupo experincia presente. Embora mergulhe
no passado, a experincia verdadeira ainda retida e, assim, o termo reteno
tem sido usado para este tipo especial de lembrana. (...) O segundo tipo de
lembrana chamada reproduo no se cola imediatamente s
experincias presentes. Ela se refere a Passados mais remotos que so
reproduzidos nessas rememoraes de outras experincias que tenham
emergido entre o Agora passado, no qual o objeto rememorado de nosso
pensamento foi verdadeiramente experienciado, e o Agora presente, no qual
[o objeto] est sendo rememorado (id, 40-41).
O territrio da memria, tanto a memria retrospectiva e quanto a memria
prospectiva, marca as proposies de Schutz em relao ao objeto musical. O que nos
interessa aqui a memria retrospectiva, o territrio das rememoraes dentro da
lembrana. O que nos interessa tambm a questo do tempo como relacionada por
Schutz msica e experincia musical: a existncia especfica do objeto ideal, a
pea de msica, a sua extenso no tempo (id, 29). Schutz acrescenta que:
na medida em que uma pea de msica dure, e na medida em que estejamos
ouvindo, participamos no seu fluxo; ou, mais precisamente,: o fluxo da
msica e o fluxo da stream [de nossa] consciousness esto interrelacionados,
so simultneos; h uma unidade entre eles; nadamos, por assim dizer, nessa
torrente (id, 31).
Em trabalho anterior que tomava os apontamentos de Schutz como eixo
terico, cogitamos que se h um eixo de tempo interior que liga perpectualmente o
ouvinte ao produto musical, ento provvel que haja um eixo semelhante ligando o
compositor ao seu prprio produto musical (CHAVES, 2000, p.73). Naquela
investigao, formulamos uma questo que subjacente tambm ao presente trabalho,
ao pressupor que o fluxo temporal do objeto musical possa estar umbilicalmente
ligado, em sua gerao, ao fluxo temporal interno do compositor: no ter tambm o
compositor determinado a feitura do seu prprio objeto musical atravs de uma
stream of consciousness que inclua elementos do passado e elementos do futuro,
ambos adentrando um Agora pessoal e instransfervel? (id, 73). Afinal, como afirma
Piana,
toda experincia vivencial, antes de mais nada, um processo e, assim, as
relaes entre as vivncias so relaes entre processos. Mais propriamente,
as experincias vivenciais e as suas relaes devem ser consideradas como
momentos interiores de um processo unitrio que a prpria subjetividade.
No fundo deste problema, a natureza temporal da msica no aparece mais
como um limite, mas como uma caracterstica essencial que torna a msica,
eminentemente, uma arte da vida interior. (...) Por um lado h a
temporalidade do som e do outro a temporalidade da experincia vivencial,
de maneira que o tempo parece servir de termo intermedirio entre o som e a
experincia vivencial. (...) Na dinmica temporal dos sons pode, assim,
refletir-se a dinmica dos afetos e dos sentimentos (Piana, 2001, p.144-145).
3
Na composio do meu Estudo paulistano as relaes entre processos e o
processo unitrio a que se refere Piana estiveram em primeiro plano, da mesma
maneira em que a dinmica temporal do que ali est reflete uma dinmica afetiva.
Igualmente, aplicam-se obra os mecanismos especficos de coordenao que
Schutz menciona em relao quela circunstncia na qual a experincia musical (no
caso do presente trabalho, a composio de uma obra musical) refere-se a objetos do
mundo exterior. Da mesma forma, os tipos de lembrana propostos por Schutz,
especificamente aqueles que se relacionam ao passado, estiveram em ao no
momento de transformar em msica o impetus inicial (a escrita para piano/mo
esquerda) que deflagrou a composio do Estudo paulistano.
Em analogia proposio de Schutz, tornar uma composio prpria em tema
de anlise faz-la emergir do Agora passado, onde a composio foi
verdadeiramente experienciada, no Agora presente, onde o processo de tomada de
decises est sendo rememorado. O Estudo paulistano, ao ser transformado em objeto
analtico e ao ter reconstitudo em retrospecto o seu processo composicional,
possibilita exemplificar no processo de tomada de decises que levou
concretizao da pea os dois tipos de rememorao estabelecidos por Schutz, a
reteno e a reproduo.
Trs procedimentos estiveram em operao como determinantes do processo
composicional de tomada de decises no Estudo Paulistano: citao, referncia e
memria. Compreendemos esses trs procedimentos como pertencendo e
compartilhando o territrio da memria retrospectiva. Foi a memria que fez buscar a
citao e a referncia mas tambm a memria ela prpria, tanto quanto a citao e a
referncia, encontrou uma expresso sonora que lhe especfica no mbito da pea.
Esse ato de busca parece-nos to intuitivo quanto o ter permitido o mergulho na
atividade composicional.
Neste sentido, a citao particulariza-se, no contexto do Estudo paulistano,
como busca e apropriao de material prprio ou alheio no mbito da pea em
processo de composio; a referncia significa a busca ou a aceitao de eventos no
propriamente musicais ou nem prontamente musicveis como objetos passveis de
uma subsequente transformao em msica. Ambos, citao e referncia, so
expresses da reteno definida por Schutz, pois configuram atitudes reflectivas em
relao a alguma experincia que foi verdadeira num Agora recm passado. Mas
tambm a memria se transformou ela prpria em algo musicvel, ao dar expresso
sonora a eventos (musicais ou no) que pertencem, e que se deixaram buscar, num
Agora passado. Aqui esteve em operao a reproduo, como proposta por Schutz.
evidente que a apropriao em msica destes trs procedimentos de memria (citao,
referncia, memria) e desses dois tipos de rememoraes (reproduo e reteno) foi
determinada firmemente pela stream of consciousness do compositor. Nela, estes
procedimentos referiram-se tanto ao Agora recm passado quanto a um Agora que foi
vivido como tal no passado.
A questo do tempo relacionada msica e experincia musical manifesta-
se, ento, no Estudo paulistano atravs dos diferentes procedimentos de memria
retrospectiva que foram buscados para deflagrar e orientar o processo composicional
de tomada de decises e para ordenar o fluxo temporal do objeto composicional. Cada
procedimento de memria passou a determinar a ocorrncia de gestos musicais de
rememorao que ocupam diferentes posies no fluxo temporal da composio.
O fluxo temporal do Estudo paulistano est demarcado por trs grandes
sees: [A], [R] e [C]. Os procedimentos de memria operam em [A] e [R] e esto
4
ausentes da seo [C]. So os seguintes os gestos musicais de rememorao que
resultam dos procedimentos de memria:
citao frase que inicia a pea (semibreves com respectivas appogiaturas);
esse gesto configura citao por ser apropriao de material alheio, um fragmento
da pera Peter Grimes de Benjamin Britten;
citao acorde mi-f sustenido-si bemol) que aparece quatro vezes na
seo [R]; esse gesto configura citao por ser apropriao de material prprio, o
acorde assinatura que aparece em todas as minhas composies;
referncia figura poco rubato que aparece pela primeira vez na seo [A];
esse gesto configura referncia por ser a transposio para a msica de um evento
no propriamente musical, o ritmo do tiroteio em alguma favela carioca ouvido ao
fundo de uma matria jornalstica do Jornal Nacional;
referncia trs notas que precedem imediatamente a seo [R] e que geram
o primeiro gesto repetitivo dessa mesma seo; essas trs notas configuram
referncia por ser a transposio para msica, em forma de motivo acrstico, de
evento no propriamente musical;
memria figura em fusas e semi-colcheias que aparece aps Grotesco na
seo [A]; esse gesto configura memria por ser a expresso sonora de evento que
se deixou buscar num Agora passado, os assovios ouvidos no bairro judeu do Bom
Fim, em Porto Alegre, nos finais de tarde dos anos 1960.
Sendo o compositor o seu prprio analista, possvel caracterizar a dinmica
dos afetos e dos sentimentos (no dizer de Piana) nos trs procedimentos de memria
em operao no Estudo paulistano. A citao pode ser caracterizada como
memria buscada. Desde sempre a citao havia sido pensada como moldura do
Estudo paulistano, antes mesmo que este existisse, e como tal foi buscada; o mesmo
com a citao , buscada pela sua ocorrncia em todas as peas anteriores do
compositor, para que a tradio no se quebrasse. A referncia pode ser
caracterizada como memria acidental, j que tanto a referncia quanto a
referncia foram aceitas como eventos passveis de transformao em msica j
durante a etapa de pr-composio da pea; a referncia passou a funcionar ento
como o deflagrador de todo o fluxo temporal da pea, para alm da moldura musical
fornecida pela citao ; a referncia conduz o fluxo temporal da pea para a seo
[C], com um claro sentido apaziguador que conduz os procedimentos em direo a
eventos nos quais a rememorao no mais necessria. Amemria, finalmente,
pode ser caracterizada como memria verdadeira. Os assovios de fim-de-tarde
colocam verdadeiramente em ao o processo da reproduo definido por Schutz,
pois eles se referem a Passados mais remotos, deflagrando o jogo entre o Agora
passado e o Agora presente do compositor. Buscados na stream of consciousness do
compositor e transformados em gestos musicais de rememorao, as citaes, as
referncias e a memria articulam-se para ocupar o seu respectivo lugar no fluxo
temporal da composio, construindo a existncia especfica da pea de msica,
conforme Schutz, atravs de sua extenso no tempo.
No Estudo paulistano, os gestos musicais de rememorao prolongam-se
atravs de reiteraes. exceo da citao , que reiterada sem alteraes, os
demais gestos so reiterados com fragmentaes e/ou variaes, caracterizando o que
se poderia chamar, numa extenso da conceituao de Schutz, de reteno interna. Ou
seja: no fluxo temporal da pea os gestos musicais de rememorao aparecem
originalmente como alguma experincia que foi verdadeira num Agora recm
passado. Cada uma de suas reiteraes (imutadas, fragmentadas ou variadas) aparece
e assume a funo de uma lembrana [que se cola] imediatamente e sem interrupo
5
experincia presente. A partir da exposio primeira de cada um dos gestos
musicais de rememorao, atravs de suas reiteraes que o fluxo temporal da pea
veio-a-ser, pois cada nova reiterao leva a pea adiante no tempo. Aplica-se a elas,
ento, o que disse Schutz: embora mergulhe no passado [entendendo que cada
reiterao remete o gesto musical de rememorao original ao passado,
transformando-o em lembrana] a experincia verdadeira [o gesto musical de
rememorao em sua primeira apario e que ali pde ser identificado em toda sua
relevncia estrutural, j que se destacava do seu contexto circundante imediato] ainda
retida. Este o processo da reteno. Aqui, a reteno interna pois todo o
processo se desenrola no limite temporal da pea propriamente dita.
H pouco que no seja gesto de rememorao nas partews [A] e [R] do Estudo
paulistano. Por contra, na parte [C], que se segue a essas, cessam as rememoraes e
os mecanismos especficos de coordenao de eventos que esto dentro de uma
dimenso espao-temporal com aqueles que esto dentro do tempo interior deixam
de ser necessrios. Uma vez atingido o apaziguamento (como o chamamos h
pouco) trazido pelos citao e pela referncia , tudo o mais vida interior. O Estudo
paulistano restituido, para recordarmos Schutz, ao fluxo do tempo interior, []
stream of consciousness.
Como consequncia destes processos recm descritos, os objetos relembrados
por reteno e por reproduo, e apoiados na stream of consciousness do compositor,
deixam-na para integrar o fluxo temporal do objeto ideal, a pea de msica, o seu
Agora verdadeiramente Agora. Tal como em Schutz, os dois fluxos temporais o
fluxo temporal interno balizado pela stream of consciousness e o fluxo temporal
contnuo da composio como experincia musical coordenam-se e passam a
conviver na simultaneidade. Isto acentuado pela relao direta entre os processo em
operao no estabelecimento da utilizao de citao, referncia e memria, e os
processo atravs do quais a pea veio-a-ser no tempo. Resume-se e conclui-se da
seguinte maneira essa relao direta: (1) a reteno e a reproduo coordenaram os
procedimentos de memria retrospectiva para a construo do fluxo de tempo interior
da composio; (2) essa construo (a extenso da pea de msica no tempo) se d
tambm por procedimentos de memria retrospectiva, interrelacionando o fluxo da
msica e o fluxo da stream of consciousness do compositor; (3) esse procedimentos,
idnticos tanto no ato de busca quanto no processo de tomada de decises que vai
configurando o fluxo temporal da pea, confirma o que Schutz prope como os
mecanismos especficos para coordenar os eventos que esto dentro de uma
dimenso espao temporal com aqueles que esto dentro do tempo interior; (4) num
determinado momento da pea ([arte [C]), ela se transforma apenas em tempo interior
som e subjetivcidade tornam-se unitrios, confirmando o que, para Piana, a msica
como arte da vida interior.
O objeto composicional Estudo paulistano, presentificado como objeto
analtico, permite estabelecer analogias eficientes com as propostas de Schutz. Mas
ter sido ele composto fenomenologicamente? Isto no possvel afirmar mas o
certo que, de minhas composies, o Estudo paulistano aquela na qual a memria
foi o mais potente deflagrador do processo de tomada de decises, aquela na qual a
memria mais prontamente deixou-se transformar em objeto esttico, aquela na qual
percebo, retrospectivamente, a potente operao de mecanismos especficos para
coordenar os eventos e de tipos de rememorao dentro daquilo que chamamos
lembranas.
O presente trabalho prope, finalmente, que o prprio exerccio analtico,
tomando uma composio prpria como objeto, um exerccio de reproduo, no
6
sentido estrito que Schutz d ao termo. Ou seja: a reviso da composio que se
apresenta como um fluxo temporal especfico envolve a funo de memria. O
objeto que foi real no Agora passado (o Estudo paulistano como objeto
composicional) rememorado no Agora verdadeiro (o Estudo paulistano como objeto
analtico). O exerccio analtico, assim operando, talvez possa ser uma exemplificao
prtica das proposies de Schutz, buscando validar as suas formulaes tericas na
realidade da construo de um objeto sonoro no tempo. (02/06/2003)
Referncias bibliogrficas
Chaves, Celso Loureiro. Memrias do passado no presente: a fenomenologia de
Transa. Studies in Latin American Popular Culture, Arizona, v. 19, p. 73-82, 2000.
Piana, Giovanni. A filosofia da msica. Bauru: EDUSC, 2001.
Schutz, Alfred. Fragments on the phenomenology of music. In: SMITH, F.J. (Ed.), In
Search of Musical Method. London: Gordon & Breach, 1976. p. 5-71.
Pesquisa em performance musical: sua aplicao no estudo das Sonatinas
para Piano de Almeida Prado
Cntia Costa Macedo Albrecht
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
pianista@terra.com.br
Resumo: O objetivo principal desse trabalho de doutorado baseia-se na utilizao de metodologias e
tcnicas de anlise em performance para o estudo das Sonatinas para piano solo do compositor
Almeida Prado. A metodologia principal apresenta um processo de etapas de estudo que permite
comparaes entre os resultados obtidos antes e depois do contato com o compositor. A pesquisa
busca contribuir com mais informaes para a bibliografia de trabalhos sobre a performance de obras
de compositores brasileiros. Os resultados parciais j obtidos tm trazido informaes proveitosas
para o intrprete da msica de Almeida Prado.
Palavras-chave: performance, piano, Almeida Prado.
Abstract: This work has its concerns based upon the use of methodologies and analytical techniques
in performance to the study of the Sonatinas for piano by the composer Almeida Prado. The main
methodology presents stages of study which allow comparisons between the obtained results before
and after a contact with the composer. The research aims to acquire more information for the
bibliography of works about the performance of pieces by Brazilian composers. The obtained results
have already given useful information to the interpreter of Almeida Prados music.
Keywords : performance, piano, Almeida Prado.
Introduo
A pesquisa em performance musical ainda um campo polmico em pases estrangeiros e tem
tido ateno especial de professores no Brasil. Uma das principais questes levantadas discute
o valor da anlise terica para a performance. Joel Lester concorda com Wallace Berry que
mostra em seu livro Musical Structure and Performance como o conhecimento da estrutura
musical pode e deve edificar o performer (Lester, 1992, p. 76). O assunto gira em torno do
papel da intuio. Segundo Lester, a intuio existe tanto para os tericos na motivao do
processo de anlise, quanto para os performers ao interpretarem uma obra. Entretanto,
somente os tericos comunicam-na por processos conscientes (Lester, 1992, p. 76). Segundo
Wallace Berry, a intuio pura no suficiente para a compreenso do todo (Berry, 1989, p.
217-18).
Cristina Capparelli Gerling tem sido pesquisadora nessa rea e faz importante meno sobre o
assunto:
Ainda que em certos redutos de ignorncia possa predominar a idia de que a
interpretao depende apenas de uma intuio aguada mais pela experincia e pela
2
familiaridade mecnica e, possa aceitar o resultado obtido por repetidas tentativas de
erro e acerto como o nico caminho para se chegar a realizao artstica plena, um
significativo nmero de autores tais como Berry, Dunsby, Cone, Cook, Rosen, e
Schmalfeldt tem procurado demonstrar a crucial importncia do conhecimento da
estrutura, portanto da anlise, no processo interpretativo. (Gerling, 1995, p.2)
Jonathan Dunsby ressalta que, com a msica do sculo XX, fica ainda mais evidente a
necessidade do conhecimento para a performance, tendo que assimilar notaes, tcnicas e
tecnologias diferentes (Dunsby, 2000, p.19). Entretanto, depois de assistir s suas palestras no
ltimo International Orpheus Academy for Music Theory 2003 e ter uma conversa com
Dunsby sobre seu livro Performing Music: Shared Concerns
1
, notei que esse pesquisador d
importncia para outras maneiras de analisar em performance, sendo a perceptiva uma delas,
quando fala sobre O Som da Msica: Eu insisto que a msica faz-nos pensar em
performance ou como performers e certamente nada menos que o som que estimula nossa
meditao, nossa especulao, desejo de entender (Dunsby, 2000, p. 59).
Nesse trabalho de doutorado pretendo buscar a contribuio tanto da anlise terica quanto da
perceptiva
2
para a performance das trs Sonatinas para piano do compositor brasileiro Jos
Antonio de Almeida Prado. Minha inteno tambm a de aproveitar o que j tem sido
divulgado, principalmente por pesquisadores brasileiros, na rea da pesquisa em performance.
Junto ao meu orientador, Prof. Dr. Rafael dos Santos, formulei uma metodologia de pesquisa
baseada em um experimento feito por Cristina Capparelli Gerling, professora da UFRGS, que
apresentou os resultados de seu trabalho na Mesa Redonda de Prticas Interpretativas do
Encontro da ANPPOM em Joo Pessoa, Paraba (GERLING, 1995, p.1-8). Outro aspecto
desse trabalho baseia-se na importncia dada opinio do compositor sobre sua obra. Com
resultados de duas opinies diferentes sobre as mesmas peas, possvel obter cada vez mais
informaes para que as performances estejam em constante renovao. Edward Cone
comenta sobre a importncia de diferentes interpretaes:
Mesmo a performance que parece uma revelao pode se tornar montona atravs da
repetio. por isso que performances gravadas perdem inevitavelmente sua
excitao e, eventualmente, tornam-se insuportveis (CONE, 1968, p. 35).
1
Participao da doutoranda no International Orpheus Academy for Music Theory 2003 na cidade de Ghent, na
Blgica, em abril de 2003.
2
Chamo de anlise perceptiva, a que chega a concluses a partir do que pode ser percebido atravs do som;
como o que diz Jonathan Dunsby em seu livro Performing Music: Shared Concerns.
3
A seguir, descrevo suscintamente a metodologia baseada em Etapas de Estudo em pelo
menos um movimento de uma das Sonatinas:
Antes do contato com o compositor:
1) anlise terica;
2) estudo prtico;
3) anlise perceptiva;
4) gravao.
Com o compositor:
1) anlise feita pelo compositor;
2) aula ao piano com o compositor.
Aps contato com o compositor:
1) anlise comparativa entre os resultados obtidos;
2) estudo prtico;
3) gravao;
4) anlise comparativa entre as gravaes.
Resultados parciais obtidos
Em um artigo que escrevi para comunicar meu trabalho no II Seminrio Nacional de Pesquisa
em Peformance Musical, descrevo os resultados obtidos do emprego que fiz da metodologia
proposta para o estudo do 3o. movimento da Sonatina no.1
3
Dessa vez, colocarei resultados parciais dos trs primeiros itens antes do contato com o
compositor do 2o. movimento da Sonatina no. 1.
A primeira etapa, denominada anlise terica, pode ser abordada com o uso de uma tcnica de
anlise terica que destaque elementos a serem estudados, ou com a anlise primeira vista,
do que o compositor disponibiliza na partitura para a interpretao da obra. Para esse
movimento, optei pela segunda abordagem, principalmente depois de ler o ttulo entre
parnteses, Improvisaes com o subttulo, Recitativo. Ambos sugerem maior liberdade
de interpretao, entretanto, existem indicaes de carter e andamento em alguns lugares da
partitura. interessante observar que, o compositor divide o movimento em 4improvisaes.
Um tema apresentado ao incio com a indicao de andamento Calmo e o comentrio
Tema do Bumba meu boi.
4
Exemplo 1
Depois, na Improvisao III, no compasso 27, colocado o termo brillante. Na
Improvisao IV, no compasso 34, Recitativo e, ao final, no compasso 40, livremente.
Uma vez que o compositor faz comentrios na partitura, benfico em no deixar a obra sem
qualquer ponto de partida, porm desperta grande curiosidade sobre sua opinio nos trechos
no comentados. Outras indicaes como ligaduras de fraseado so tambm presentes.
Entretanto, nesse artigo falarei somente sobre andamentos, seu relacionamento com o tema
com algumas citaes da influncia da dinmica sugerida.
Para um melhor entendimento da obra, aps o estudo prtico da pea, a anlise perceptiva foi
de grande valor, principalmente para o reconhecimento do tema e como manipulado em
cada improvisao.
Na Improvisao I, o tema, antes sozinho na linha superior em piano, recebe um
acompanhamento em contraponto meldico e principalmente rtmico em pianssimo, de
certa maneira sendo variado atravs do seu deslocamento rtmico dentro da mtrica sugerida.
No compasso 8, visvel a sncopa que desloca a nota l antes no tempo forte, agora para o
fraco.
Exemplo 2
Melodicamente, no so apresentadas todas as notas do tema. Com esses aspectos musicais,
poderia essa improvisao ter o mesmo carter e andamento do incio do movimento?
Perceptivamente creio que sim. J na Improvisao II, o tema apresentado de maneira mais
espaada, com um acompanhamento de carter muito mais meldico, sendo possvel
reconhecer trs novas linhas meldicas.
Exemplo 3
Com o espaamento do tema, suas notas se tornam mais longas. Para que soem em
continuidade mais confortvel aumentar o andamento, alm de produzir os acentos
colocados pelo compositor. Um trecho procedente com dinmica mezzo forte (compassos
3
Artigo em publicao. Vide referncias bibliogrficas.
5
24-26), acentos e oitavas, justificam o anseio pela mudana de andamento. ainda mais certo
o direcionamento que essa interpretao cria ao chegar na Improvisao III, onde a dinmica
forte com a indicao brillante. A acentuao das notas do tema ainda mais necessria,
uma vez que uma segunda linha meldica apresenta-se no mesmo registro.
Exemplo 4
A Improvisao IV, tem o ttulo de Recitativo e inicia-se na dinmica pianssimo.
Exemplo 5
O tema ainda prolongado, entretanto, pausas nas linhas meldicas acompanhadoras
permitem que as notas longas sejam ouvidas com menos interferncia. Dessa maneira,
possvel concluir que o andamento pode voltar a ser mais lento, dentro do Calmo inicial.
O trecho final com indicao livremente volta idia inicial de uma s melodia com duas
linhas em unssono ao incio, facilitando a liberdade na interpretao. Em seguida, a dinmica
proposta delineia a concluso do movimento.
Depois de analisados e estudados todos os aspectos necessrios para uma interpretao
coerente com a partitura proposta e com o resultado sonoro produzido pelo estudo prtico,
uma gravao registrar os elementos encontrados e uma possvel interpretao do
movimento.
Concluso
A metodologia de pesquisa usada nesse trabalho tem possibilitado a obteno de informaes
proveitosas para a obra estudada, tanto com a contribuio da anlise feita por intrpretes,
quanto com as colocaes de Almeida Prado como compositor e pianista durante o estudo do
3o. movimento de sua Sonatina no.1. Com a audio das duas gravaes foi possvel notar
que as modificaes feitas depois do contato com o compositor soam sutis. Isso mostra que
vrios aspectos desejados por ele j tinham sido alcanados, porm sua contribuio foi muito
importante para o detalhamento da interpretao. J a anlise do 2o. movimento ser ainda
mais enriquecida com o esclarecimento do compositor sobre sua idia de interpretao dentro
da improvisao. Quanto maior o nmero de recursos tcnicos de anlise, maior a quantidade
6
de informaes que possibilitam que uma obra se perpetue atravs diferentes interpretaes e
opinies.
Referncias Bibliogrficas
BERRY, Wallace. Musical Structure and Performance. New Haven e London: Yale
University Press, 1989.
CONE, Edward T. Musical Form and Musical Performance. New York: W.W. Norton &
Company, 1968.
DUNSBY, Jonathan. Performing Music:Shared Concerns. New York: Oxford University
Press, 1995.
GERLING, Cristina Capparelli. Uniformidade e Diversidade em Execuo Musical. In:
ENCONTRO ANUAL DA ANPPOM, 8., 1995, Joo Pessoa. Anais [On line].
http://www.musica.ufmg/anppom Arquivo capturado em 19/06/2002.
LESTER, Joel. Wallace Berrys Musical Structure and Performance Reviewed by Joel Lester.
Music Theory Spectrum, v. 14, n. 1, p. 75-102, 1992.
MACEDO, Cntia Costa. Um estudo analtico visando a performance do 3o. movimento da
Sonatina no.1 para piano solo de Almeida Prado. In: SEMINRIO NACIONAL DE
PESQUISA EM PERFORMANCE MUSICAL, 2., 2002, Goinia. Anais do II Seminrio
Nacional de Pesquisa em Peformance Musical.
http://www.ac-digital.com/produc/almeidaprado/aprado_engl.htm Classical music:
independent production: Prof. Dr. Jos Antonio Rezende de Almeida Prado.
http://obelix.unicamp.br:8080/musica Centro de Documentao de Msica Contempornea
(CDMC) Brasil/UNICAMP.
EXEMPLOS
Exemplo 1 compassos. 1-5:
Exemplo 2 compassos 6-8:
7
Exemplo 3 compassos 18-20:
Exemplo 4 compassos 27-29:
Exemplo 5 compassos 34-35:
8
1
Uma pesquisa fenomenolgica sobre o coro teraputico
Cludia Regina de Oliveira Zanini
Universidade Federal de Gois (UFG)
zaniniw@cultura.com.br
Resumo: A presente pesquisa qualitativa, desenvolvida durante o Mestrado em Msica, envolve as reas de
Musicoterapia e Gerontologia. Introduz um novo conceito - Coro Teraputico - atividade teraputica a ser
desenvolvida por um musicoterapeuta. A coleta de dados teve como instrumentos: fichas musicoterpicas,
relatrios das sesses/aulas, gravaes em fita cassete, filmagens, entrevistas de dez participantes e
depoimentos finais. Outro elemento analisado foi um vdeo, contendo a filmagem da ltima sesso/aula,
apresentado a trs profissionais de diferentes reas, visando observao dos elementos do fenmeno. A
anlise dos dados baseou-se no paradigma fenomenolgico. Trs essncias revelaram-se, depreendidas do
fenmeno pesquisado: o cantar meio para auto-expresso e auto-realizao; as canes revelam a
subjetividade / existencialidade interna do ser; e, a auto-confiana do ser, participante do Coro
Teraputico, faz com que ele tenha expectativas para o futuro. As consideraes finais apontam que o
conceito de Coro Teraputico pode ampliar-se, sendo indicado para outras reas de atuao profissional do
musicoterapeuta.
Palavras-chave: musicoterapia, coro teraputico, fenomenologia
Abstract: This paper is the result of qualitative research involving Music Therapy and Gerontology during
the Masters Degree in Music. It introduces a new concept, hereafter referred to as Therapeutic Choir a
therapeutic activity to be undertaken by music therapists. Data collection was carried out through such
instruments as music therapeutic forms, session reports, audio recordings of sessions, footage, interviews of
ten participants and final statements. Another object of analysis consisted of a video of the last session/class
which was later shown to three professionals pertaining to different areas. Their task was to observe the
elements of the phenomenon. Data analysis was based on the phenomenological paradigm. Three essences
emerged from the studied element: singing is a means for both self-expression and self- fulfilment; songs
reveal the subjectivity / inner existentiality of the being; and finally, the beings self-confidence instils in
the participants of the Therapeutic Choir expectations towards the future. Final considerations indicate that
the concept of Therapeutic Choir may be enlarged and extended to other music therapeutics professional
areas.
Keywords: music therapy, therapeutic choir, phenomenology
Introduo
Esta pesquisa focaliza uma das possibilidades de atuao do musicoterapeuta, que passa
a direcionar seu olhar, sua escuta, para uma clientela especfica, fazendo com que um trabalho que
tinha inicialmente, h oito anos, um carter essencialmente scio-educativo, como a Oficina Coral
dentro da UNATI
1
, viesse a se tornar teraputico, gerando dados necessrios s observaes que
foram objeto deste estudo.
Observa-se uma crescente necessidade de ateno ao idoso. Assim, tm surgido aes
numa perspectiva de criar condies para o resgate da cidadania. A UNATI um programa que visa
privilegiar o idoso enquanto sujeito do processo ensino-aprendizagem, dando nfase a contedos
2
que priorizem seus interesses, motivaes, experincias acumuladas, histrias de vida e contexto
social. (LACERDA e SILVA, 1997, p. 12)
O tema foi proposto pensando-se na possibilidade de documentar a literatura
musicoterpica, atravs de reflexes acerca do potencial teraputico do coro, via estudo
interdisciplinar envolvendo musicoterapia, fenomenologia, gerontologia social, entre outras reas.
Metodologia
Esta pesquisa-ao existencial (BARBIER, 1997), com abordagem qualitativa, delineou
como objeto de estudo - a contribuio do musicoterapeuta na conduo da Oficina Coral para a
Terceira Idade, tornando-a uma atividade de alcance teraputico, definida a partir daqui, o Coro
Teraputico.
Delimitou-se um semestre como perodo para a pesquisa de campo. A coleta de dados
realizou-se a partir das sesses/aulas, desenvolvidas com um grupo.
A populao atendida foi formada por alunos com idade a partir de cinqenta anos. A
amostra foi composta por vinte e seis alunos da disciplina Oficina Coral, com freqncia mdia de
vinte participantes (idade mdia de sessenta e nove anos).
Aps entrevista inicial, todos os participantes manifestaram o desejo de participar da
pesquisa voluntariamente. Esta deciso foi documentada atravs de consentimento informado do
sujeito, conforme determina o Conselho Nacional de Sade (1996).
Realizaram-se doze sesses/aulas de uma hora e meia, sendo a musicoterapeuta/
condutora da Oficina a autora desta pesquisa.
A coleta de dados teve como instrumentos: fichas musicoterpicas, relatrios das
sesses, gravaes, filmagens, depoimentos finais da maioria dos participantes e entrevistas de dez
participantes. Outro elemento de anlise foi um vdeo, com filmagem da ltima sesso/aula,
apresentado a trs profissionais de diferentes reas, visando observao do fenmeno.
Como questes norteadoras do desenvolvimento da pesquisa foram consideradas: se a
participao nas atividades propostas pela Oficina Coral possibilita a preveno de problemas de
Sade Mental no idoso, que passaria a sentir mais motivao para se integrar a um grupo e,
conseqentemente, para melhorar a sua qualidade de vida em sociedade; e, se a Oficina Coral,
quando conduzida por um musicoterapeuta, teria alcance teraputico e levaria o participante auto-
expresso de seus sentimentos, atravs das msicas solicitadas pelo grupo; ao resgate de sua auto-
estima e, a promover maior aceitao das dificuldades advindas do processo natural de
envelhecimento.
1
UNATI - Universidade Aberta Terceira Idade - programa de extenso da UCG - Universidade Catlica de Gois.
3
A pesquisa baseou-se no paradigma fenomenolgico, partindo da premissa de que no
h possibilidade de se compreender o mundo sem compreender o que a existncia do homem e
entender o fenmeno no qual ele est inserido e do qual faz parte. Somente o perfil dos participantes
foi definido a partir da quantificao de informaes advindas do preenchimento das fichas
musicoterpicas
2
.
Para a anlise, todos os dados coletados foram considerados, objetivando a
transcendncia do fenmeno, para alcanar a subjetividade dos participantes/alunos. Concordou-se
com DELABARY (2001), quando afirma que este mtodo leva ao prprio movimento da vida,
transcendendo o fenmeno enquanto aparncia. [...] pode ir se modificando medida que o
fenmeno vai-se desvelando, e as essncias vo sendo percebidas atravs da intuio e da reflexo,
caminhando para a compreenso. (p. 34)
Anlise de Dados
Todos os passos seguidos na metodologia foram fundamentados no paradigma
fenomenolgico, visando a busca da compreenso da realidade vivenciada pelos participantes/
alunos. Descreveu-se o experimento, os participantes do mesmo. Analisou-se as sesses/aulas.
Apresentou-se as entrevistas e/ou depoimentos, os excertos e a anlise dos excertos. Exibiu-se um
vdeo a trs profissionais externos ao experimento e procedeu-se a anlise de suas observaes.
Finalmente, chegou-se sntese das unidades de significado. Nesta anlise do fenmeno existencial,
procurou-se apreender as essncias e as dimenses fenomenolgicas.
Para melhor compreender e entender as essncias depreendidas do fenmeno, far-se-
uso dos conceitos bsicos de anlise da nova Psicologia Social - atividade, conscincia e identidade
- caractersticas essenciais do homem em contnuo movimento.
Segundo BOCK, FURTADO e TEIXEIRA (1999), a Psicologia Social passa a estudar o
psiquismo humano, buscando compreender como se d a construo desse mundo interno a partir
das relaes sociais vividas pelo homem. (p.141) O mundo objetivo passa a ser visto como fator
constitutivo no desenvolvimento da subjetividade.
Este fator constitutivo est relacionado primeira essncia apreendida no fenmeno
pesquisado - O cantar como meio para auto-expresso e auto-realizao - que implica no
fazer, na realizao do homem. A atividade humana a base do conhecimento e do pensamento
do homem, que constri o seu mundo interno na medida em que atua e transforma o mundo externo.
Esta primeira essncia foi depreendida de dimenses fenomenolgicas que tm ntima
relao com o cantar: A importncia do fazer musical conjunto; A satisfao e prazer que
2
Etapa exclusiva da Musicoterapia, preenchida com dados da histria sonoro-musical do indivduo. (BARCELLOS,
1999).
4
envolvem o ato de cantar; O conhecimento da voz (aparelho fonador) como instrumento
musical; e, A abertura para uma nova forma de comunicao - o canto.
Fazer parte de um grupo onde h interao social tornou-se um elemento relevante. Para
BRUSCIA (2000), a interao contm a preocupao de se engajar no mundo externo, no sentido de
uma influncia mtua.
Quanto segunda essncia depreendida do fenmeno - As canes revelando a
subjetividade/existencialidade interna do ser - relaciona-se ao pensar humano. A conscincia,
como produto subjetivo, produz-se em um processo ativo que tem como base a atividade sobre o
mundo, a linguagem e as relaes sociais; como o homem se relaciona com o mundo objetivo,
como o compreende, transforma-o em idias e imagens e estabelece relaes entre essas
informaes.
Esta segunda essncia foi depreendida de dimenses fenomenolgicas que implicam o
pensar, que transpareceu nas canes e nos contedos destas, trazendo os sentimentos, a
subjetividade e o universo afetivo dos participantes. As dimenses foram: a escolha do repertrio
como resultado de uma construo conjunta; as canes transportando os sentimentos e as emoes;
o universo afetivo das canes abrindo e desinibindo as pessoas; e, os desejos e as memrias
expressas nas letras das canes.
Verificou-se que, no Coro Teraputico, atravs de canes trazidas pelos participantes,
as memrias foram valorizadas e o resgate da dignidade de toda e qualquer lembrana foi
objetivado.
Referindo-se terceira essncia depreendida - A auto-confiana do ser,
participante do Coro Teraputico, fazendo com que ele tenha expectativas para o futuro -
ressalta-se a identidade, que a sntese pessoal sobre si mesmo; um processo contnuo de
representaes de seu estar sendo.
As dimenses fenomenolgicas encontradas nas entrevistas e depoimentos, das quais
depreendeu-se a terceira essncia foram: a capacidade de cantar sendo inerente a todo ser, em
qualquer idade; a auto-valorizao advinda da escuta teraputica; o cantar possibilitando a auto-
confiana e o reconhecimento de outras pessoas; o encontro do grupo com um mesmo ideal - cantar,
encantar e se encontrar; a autonomia na deciso dos caminhos para a apresentao musical; a
vontade e esperana de seguir em frente, de continuar cantando; e, a melhoria da qualidade de vida
e sade mental como resultante do ato de cantar em grupo. Nestas dimenses esto implcitos
elementos que revelam a representao e o sentimento que o indivduo tem de si mesmo, a partir de
sua existencialidade, como auto-estima, auto-valorizao e auto-confiana. Em se tratando de um
grupo haver uma identidade grupal.
5
BRUSCIA (2000, p. 90) cita ALDRIDGE (1996), quando se refere uma viso da
sade na modernidade: Os indivduos esto acolhendo tornarem-se saudveis e, em alguns casos,
declaram-se adeptos da atividade de estar bem. Em vrias entrevistas e depoimentos percebeu-se
este olhar para a sade. V-se o ser que se auto-valoriza, que auto-confiante, que confia em seu
grupo, que olha para si com esperana de ser no futuro, pois tanto a identidade, como a
conscincia e a atividade esto sempre em movimento, num estar sendo, assim como a sade, que
existe ao longo de um continuum multidimensional.
Objetivou-se com o Coro Teraputico para a Terceira Idade proporcionar aos
participantes do grupo a auto-realizao, a motivao para o viver, a satisfao/prazer, a preveno
de problemas de Sade Mental; a melhoria da qualidade de vida; melhorar as relaes intra e inter-
pessoais e a interao social; estimular o resgate de memria e valorizar a dignidade de toda e
qualquer lembrana, a percepo do outro e do universo sonoro do outro; e, a compreenso da
subjetividade, da existencialidade interna de cada um.
Finalmente, cabe ressaltar o novo conceito advindo deste processo de pesquisa-ao
existencial ora concludo: Coro Teraputico consiste num grupo conduzido por um
musicoterapeuta, com objetivos teraputicos, em que a voz utilizada como recurso para a
comunicao, expresso, satisfao e interao social. Os participantes, atravs do cantar, veiculam
sua subjetividade, externando sua existencialidade interna.
Consideraes Finais
Todos os indivduos, possivelmente, tiveram, tm ou tero contato com idosos. Portanto,
h de se oportunizar conhecimento acerca desta etapa da vida, visando a preparao para um
convvio pleno e de qualidade com o universo desta faixa etria.
BINSWANGER, citado por AUGRAS (1994), mostra claramente que, na vivncia
individual, no existe a separao entre passado e presente. O futuro se entremeia com a vivncia do
presente e do passado. Nessa perspectiva, no o passado que determina o presente, nem este o
futuro; ao contrrio, o sentido da trajetria do ser que modifica a significao do passado e do
presente.
Acredita-se que possvel proporcionar ao idoso uma sensao diferente daquela em
que somente um sobrevivente, para ser tambm um agente capaz de inmeras aes/relaes
sociais e emocionais. No desenvolvimento desta pesquisa observou-se que esta construo do ser
um processo contnuo, que se d em todas as etapas da vida. Estar consciente deste processo pode
ser um grande diferencial para a qualidade de vida de todo indivduo.
O musicoterapeuta dever levar em considerao toda essa subjetividade ao determinar
seus objetivos teraputicos. No Coro Teraputico, estes aspectos so diretamente ligados para
6
oportunizar a comunicao, a expresso, a satisfao e a interao social de seus participantes,
tendo a voz como principal recurso.
Na fenomenologia, os tempos - passado, presente e futuro - so interligados. Quando se
tem a possibilidade de unir estes trs tempos alcana-se a integralizao do ser. Esta pode ser
proporcionada, propiciada e facilitada pela msica, levando a viso no s do ser que envelhece,
mas do ser que , da sua essncia. Quando as lembranas so trazidas para o presente, atravs de
canes, traz-se um reflexo do passado; quando o indivduo tem expectativas para o futuro, metas
como continuar cantando e crescendo, v-se proporcionado o pensamento de um futuro na
realizao do presente.
Com relao ao fenmeno pesquisado, o trabalho com a voz resulta de um conjunto de
fatores orgnico-funcionais e emocionais; pode-se, portanto, ao proporcionar uma melhor qualidade
de vida, trazer benefcios vocais e satisfao. MARTINEZ (2000, p. 202) refere-se a este ponto,
quando afirma: ...todo o corpo est envolvido na produo vocal e muito mais do que isso, toda a
vida envolvida tambm. [...] voz se altera de acordo com os estados emocionais.
O Coro Teraputico pode ser relacionado essncia primeira do coro, quando surgiu na
Antiga Grcia. Este tinha a funo de simbolizar e expressar o sentimento dionisaco do povo que
assistia a tragdia, sentindo o aflorar da subjetividade naquela expresso sonora. O Coro
Teraputico, similarmente, vem oportunizar a auto-expresso de seus participantes, que veiculam
sua subjetividade, externando sua existencialidade interna.
CHAGAS (2000), ao comentar as expectativas para o profissional do novo milnio,
afirma que ele estar engajado em situaes que envolvam a sade coletiva, a percepo da
expresso criadora, da expresso artstica [...] Pode contribuir para a anlise e a interveno eficazes
nas comunidades locais.
Acredita-se, aps esta pesquisa, que o Coro Teraputico proporciona o engajamento do
musicoterapeuta nos mbitos mencionados pela autora. Alm disso, prope-se que esta funo do
coro, este novo conceito, seja estendido a outras reas de atuao deste profissional, motivando
outros pensares a partir da praxis e gerando novas escutas e olhares para contribuir junto a
outros profissionais na busca de um objetivo maior que a melhoria da qualidade de vida para o
ser.
Considera-se que o tema estudado possa contribuir para outros estudos, principalmente
nas reas de Gerontologia Social e Musicoterapia. Ressalta-se que desde o primeiro semestre de
2002 a terminologia Coro Teraputico, substituiu Oficina Coral na grade curricular da UNATI.
Concorda-se com a afirmao de COSTA (1992) citado por RODRIGUES (1999, p.17):
...envolver-se com a terceira idade representa ou exige do terapeuta, pelo menos uma reavaliao
7
de todos os seus conceitos e preconceitos ligados ao envelhecimento e demais questes diretamente
relacionadas a ele e morte.
Portanto, ser necessrio, para lidar com todas as essncias aqui depreendidas do
fenmeno, que o musicoterapeuta reflita profundamente sobre temas relacionados vida, morte,
alm de repensar sua relao com as mltiplas dimenses do tempo.
Referncias Bibliogrficas
AUGRAS, Monique. O ser da compreenso - fenomenologia da situao de psicodiagnstico. 4.ed.
Rio de Janeiro: Petrpolis, 1994.
BARBIER, Ren. A Pesquisa-ao. Traduo por Lucie Didio. Braslia: UNIVIRCO -
UNIREDE/UNB - Coordenao do Curso de Especializao em Educao Continuada e a
Distncia. Dezembro, 1997.
BARCELLOS, Lia R. M. Cadernos de musicoterapia - 4. Rio de Janeiro: Enelivros, 1999.
BOCK, Ana M. B.; FURTADO, Odair & TEIXEIRA, M de L. T. Psicologias - uma introduo ao
estudo de psicologia. 13.ed. So Paulo: Saraiva, 1999.
BRUSCIA, Kenneth. Definindo Musicoterapia. Traduo por Mariza Velloso Fernandez Conde.
2.ed.Rio de Janeiro: Enelivros, 2000.
CHAGAS, Marly. Perspectivas da musicoterapia no prximo milnio. In: FRUM PARANAENSE
DE MUSICOTERAPIA, 2. Curitiba. Anais... Curitiba: Associao Paranaense de Musicoterapia,
2000.
DELABARY, Ana M L. Musicoterapia com gestantes: espao para a construo e ampliao do
ser. Porto Alegre. Dissertao (Mestrado em Educao) - Pontifica Universidade Catlica do Rio
Grande do Sul, 2001.
LACERDA, ngela M G de Matos & SILVA, Virgnia Costa. UNATI - Universidade Aberta 3
Idade - histria e memria 1992-1997. Goinia: Universidade Catlica de Gois, 1997.
MARTINEZ, Emanuel et al. Regncia coral - princpios bsicos. Curitiba: Dom Bosco, 2000.
REVISTA BRASILEIRA DE MUSICOTERAPIA, n. 2. Definio de musicoterapia. Rio de
Janeiro: UBAM, 1996.
RODRIGUES, Algaides de M. Construindo o envelhecimento. 2.ed. Pelotas: Educat, 1999.
A licenciatura em msica sob a tica dos licenciandos
Cristina Mie I to Cereser
Colgio de Aplicao Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
cereser@cpovo.net
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo investigar, sob a tica dos alunos de licenciatura em
msica, a adequao de sua formao em relao s demandas pedaggico-musicais. O referencial
terico do trabalho est fundamentado nas perspectivas de formao de professores segundo Prez
Gmez (2000a), a saber: perspectiva acadmica, perspectiva tcnica, perspectiva prtica e
perspectiva de reconstruo social. Foi realizado um survey de pequeno porte, envolvendo
licenciandos de trs universidades federais do Rio Grande do Sul. A tcnica de pesquisa utilizada foi a
da entrevista semi-estruturada. Os cursos de msica foram analisados conjuntamente, pois busquei
compreender a voz dos licenciandos como um todo. Ao buscar e trazer as vozes dos licenciandos de
forma sistematizada e emprica foi possvel desvelar alguns problemas que se perpetuam e obter novos
dados a respeito da viso dos licenciandos sobre o curso e sua profisso.
Palavras-chave: formao de professores, formao inicial de professores de msica, educao
musical.
Abstract: This research aimed at investigating the relationship between their education and the
requirements of their teaching practice from the music student teacher point of view. The theoretical
framework based on the perspectives of teacher education defined by Prez Gmez (2000a): academic
perspective, technical perspective, practical perspective and social reconstruction perspective. A small
survey with students from three federal universities from Rio Grande do Sul was carried out. Data
collected through semi-structure interview. The music courses were analyzed as a whole, since I tried
to understand the claims of the students as a group. Through listening to students voices in a
systematic and empirical way, it was possible to reveal some persistent problems and new data about
their concerns related to the course they are attending to and their future profession.
Key words: teachers education, music teachers initial education, musical education.
Introduo
De acordo com Estrela (2002), devido s transformaes sociais nesses ltimos tempos, ampliou-se o
papel do professor. A sua atuao no se restringe somente escola, mas se estende a toda a comunidade,
configurando um novo profissionalismo. O papel do professor e a sua profissionalizao, para atuar no mundo
contemporneo com uma nova configurao do contexto escolar, tm recebido ateno de estudiosos, tais como:
Gimeno Sacristn (2000), Marcelo Garca (1995, 1999), Nvoa (1995a, 1995b), Prez Gmez (1995, 2000a,
2000b) e Schn (1995, 2000).
Nvoa (1995b) ressalta a importncia da formao do professor, pois
No h ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovao pedaggica, sem
uma adequada formao de professores. Esta afirmao de uma banalidade a toda a
prova. E, no entanto, vale a pena record-la num momento em que o ensino e os
professores se encontram sob o fogo cruzado das mais diversas crticas e acusaes.
(Nvoa, 1995b, p. 11).
2
Na rea da Educao Musical, recentes debates e reflexes discutem tambm a formao inicial e
continuada de professores de msica (Arroyo, 2000; Hentschke, 1995, 2000, 2001; Souza, 1997, 2000), que
atuam ou iro atuar nos mltiplos espaos e com novas demandas profissionais. Para estar de acordo com o
documento que rege os cursos de formao de professores, reformulaes esto sendo realizadas e
implementadas: mas, o que pensam os licenciandos sobre sua formao pedaggico-musical? Em que espaos
pedaggico-musicais esto atuando? Sob a perspectiva dos licenciandos em msica, quais as suas opinies sobre
o curso?
O presente trabalho teve como objetivo geral:
Investigar, sob o ponto de vista dos licenciandos em msica, a adequao de sua formao em relao
s demandas pedaggico-musicais.
Teve como objetivos especficos:
Investigar as reas de atuao nos contextos pedaggico-musicais.
Identificar em que espaos de ensino os licenciandos esto atuando.
Analisar, sob o ponto de vista dos licenciandos, quais as necessidades para atuar nesses espaos.
A necessidade de dar voz ao licenciando, nesta pesquis a, parte da premissa de consider-lo como sujeito
que pensa e aprende, e no como mero consumidor e reprodutor de saberes. Alm disso, o licenciando, pelo fato
de estar submetido a dois mbitos, de um lado como aluno na universidade e, de outro, como professor, trar
dados de sua experincia nessas realidades. Esses dados me auxiliaram na identificao dos espaos em que atua,
quais os conhecimentos adquiridos na universidade que esto sendo aproveitados na prtica e quais so as
necessidades para que novos conhecimentos venham a ser utilizados nesses contextos de atuao.
Perspectivas de formao de professores, segundo Prez Gmez
A importncia de conhecer o que pensam os licenciandos sobre sua formao inicial e a realidade em
que atuam est na possibilidade de identificao de perspectivas, modelos ou orientaes de formao de
professores. Alm disso, ser possvel desvelar se estas orientaes recebidas esto de acordo com as
necessidades pedaggico-musicais dos contextos onde os licenciandos atuam ou iro atuar.
Encontrei, na classificao de perspectivas de formao de professores, segundo Prez Gmez (2000a),
pontos convergentes que possibilitaram fundamentar o meu achado. O autor identificou quatro perspectivas
bsicas de formao de professores, estabelecendo dentro delas enfoques e modelos que enriquecem ou
singularizam as posies da perspectiva bsica: perspectiva acadmica, perspectiva tcnica, perspectiva prtica
e perspectiva de reconstruo social.
3
Resumidamente:
Na perspectiva acadmica o ensino um processo de transmisso de conhecimento e de aquisio de
cultura. Apresenta o enfoque enciclopdico e o enfoque compreensivo.
Na perspectiva tcnica a qualidade do ensino est na qualidade dos produtos e eficcia e economia de
sua realizao. Apresenta o modelo de treinamento e o modelo de tomada de decises.
Na perspectiva prtica o professor um arteso, artista ou profissional clnico, que tem de
desenvolver sua sabedoria experiencial e sua criatividade para enfrentar as situaes em sala de aula. A
formao do professor est baseada na aprendizagem da prtica, para a prtica e a partir da prtica.
Possui duas correntes bem distintas: enfoque tradicional e enfoque reflexivo sobre a prtica.
Na perspectiva de reconstruo social o ensino compreendido como uma atividade crtica, uma
prtica social de opes de carter tico, e o professor um profissional autnomo que reflete
criticamente sobre a prtica cotidiana para compreender tanto as caractersticas dos processos de ensino-
aprendizagem quanto as do contexto em que o ensino ocorre. Nessa perspectiva, o autor, apresenta o
enfoque de crtica e reconstruo social e o enfoque de investigao-ao.
A identificao de perspectivas e enfoques na formao de professores se torna relevante, levando-se
em considerao que cada modelo de formao de professores que objetivar o perfil do professor que se quer
formar. Alm disso, essa identificao auxilia na reflexo sobre diferentes abordagens para a formao de
professores. Sob a tica dos licenciandos, busquei conhecer em que perspectiva de formao de professores eles
esto sendo formados e que perspectiva de formao de professores julgam necessria para atuar no mercado de
trabalho contemporneo.
Metodologia
De acordo com o objetivo pretendido no presente trabalho, realizei um survey de pequeno porte com
design interseccional. Atualmente a palavra survey empregada com mais freqncia para descrever um mtodo
de coleta de informao de uma amostra de indivduos. Essa amostra apenas uma frao da populao que est
sendo investigada.
Atravs desse mtodo de coleta de informao, a partir de uma amostra de licenciandos, busquei fazer
um mapeamento sobre a realidade que estes vivenciaram no seu curso de formao inicial e no espao em que
esto atuando, bem como suas opinies sobre o curso de licenciatura em msica.
Fizeram parte desta pesquisa quatorze licenciandos provenientes de trs instituies pblicas do Rio
Grande do Sul. Os dados foram coletados atravs de entrevistas semi-estruturadas. A partir dos dados coletados,
busquei agrup-los em categorias de codificao, de acordo com temas que emergiram das entrevistas. Com a
finalidade de comparar os resultados, buscar padres e determinar relaes entre as respostas dos licenciandos,
busquei realizar uma anlise das entrevistas, compreendendo-as como um todo. Foram realizadas uma anlise
qualitativa e reduo quantitativa dos dados.
Resultados e discusses
4
Apesar da literatura trazer discusso que a escolha dos indivduos pela licenciatura, na maioria das
vezes, ocorre por esta ser mais fcil para entrar, entre outros motivos, pude constatar que os licenciandos
optam pelo curso no somente por esse ou por um nico motivo. Na opo pela licenciatura em msica os
licenciandos levaram em considerao outros motivos e oportunidades que o curso oferece. Meus resultados
forneceram propores iguais (57,14%) entre aqueles que optaram pela licenciatura pela prova especfica ser
menos exigente e aqueles que optaram pelo curso por este prepar-los para serem professores de msica
1
.
Dos ingressos em licenciatura em msica, 50% dos entrevistados j atuavam como professores antes do
curso. Quanto s reas de atuao, 71,42% atuam como professores de instrumento, 50% como regentes e apenas
14,28% como professores de msica
2
. Ressalto que os licenciandos desta pesquisa atuam em mais de uma rea e
em mais de um espao. H uma diferena significativa entre a atuao como professores de instrumentos
(71,42%) e professores de msica (14,28%), que deve receber uma maior ateno. Segundo os licenciandos, essa
grande diferena ocorre devido maneira como so preparados nos cursos de licenciatura. Eles so preparados
para dar aula para quem gosta de msica, e no para aqueles que no gostam de msica.
Pude constatar tambm que 64,28% dos licenciandos exercem a funo de msico
3
. Isso vem a
confirmar com dados empricos a colocao de Souza (1997, p. 15), de que muitos licenciandos [] exercem
outras atividades tais como msico da noite, participao espordicas em gravaes e atuaes em bandas ou
conjuntos [].
Quanto aos espaos em que atuam: escolas especficas e conservatrios, seguidos, na mesma proporo
(42,85%), de aulas particulares em suas residncias e em casas de alunos, e 35, 71% dos licenciandos atuam em
escolas regulares. Nas igrejas esto atuando 35,71% dos licenciandos, 21,42% em projetos comunitrios, e 14,28%
em curso de extenso.
Os licenciandos vem sua rea e espao de atuao como muito abrangente, ampla, aberta, um
leque extenso; entretanto relatam que no receberam formao suficientemente fundamentada para ser um
instrumentista, um regente, um arranjador, um cantor, um msico popular, etc. Analisando os depoimentos dos
licenciandos, posso concluir que eles percebem a sua formao como ampla, podendo estar inseridos em
qualquer espao e atuando em qualquer rea musical. No entanto relatam que sua formao bastante falha e
fragmentada para abranger todos os espaos pedaggico-musicais.
Os relatos dos licenciandos sugerem que sua formao esteve dentro da perspectiva acadmica, mais no
enfoque enciclopdico do que no enfoque compreensivo; na perspectiva tcnica e na perspectiva prtica com
enfoque tradicional de formao de professores, segundo Prez Gmez (2000a). No curso, as disciplinas
musicais e as disciplinas pedaggicas estiverem bem delimitadas. Devido falta de unio entre os professores
no houve conex o entre as disciplinas. Essa falta de conexo decorrente da prpria perspectiva acadmica,
onde cada professor formador transmite a sua especialidade. Dessa forma, de um lado estavam as disciplinas
musicais dentro de uma formao tradicional (perspectiva acadmica, perspectiva tcnica, perspectiva prtica
com enfoque tradicional), e, de outro, as disciplinas pedaggicas que, dependendo da linha do professor, ora
1
Esses dados foram obtidos atravs de respostas mltiplas.
2
Refiro-me a professores de: musicalizao, iniciao musical, educao musical, sensibilizao musical, entre
outros termos.
5
se encontravam na perspectiva prtica com enfoque reflexivo sobre a prtica, ora na perspectiva de
reconstruo social nos seus respectivos enfoques.
Alguns licenciandos relatam que as disciplinas musicais no proporcionam um conhecimento da
realidade fora da universidade, como no depoimento a seguir:
Eu no sei se em funo que ela [disciplina comum ao bacharelado e licenciatura]
pega todos os alunos, mas eu acho que uma cadeira que ela acaba indo muito para
msica erudita, que acaba ficando afastada da nossa realidade []. Para quem
trabalha com msica erudita deve ser timo. Mas eu, por exemplo, uso muito pouco
daquilo. Porque como se fosse um outro mundo. Ento a maioria das cadeiras, eu
acho que no so da licenciatura, eu sinto isso, que no contribui muito quando a
gente vai trabalhar, quando sai do porto ali do hall [da universidade]. A gente no
usa, porque so coisas muito especficas, muito dentro daquele mundo erudito. E de
repente para aula o que a gente precisa? A gente precisa ter um domnio de
encadeamentos no teu instrumento, transpor para qualquer tom, porque o aluno no
vai estar vendo se tu qual o meio sonoro que tu ests, se polar, se apolar, se
no sei o qu [] tu tens que ter domnio de acompanhamento, tu tens que ter aquela
versatilidade. [] Porque a realidade outra.
Os licenciandos no se sentiram preparados para atuar em contextos educacionais diversificados e nem
com a realidade dos espaos que atuam. Mas reconhecem que a universidade no poderia prepar-los para esse
amplo leque de opes, tanto de reas como de espaos, no curto prazo de quatro anos. Quanto parte prtica
pedaggico-musical, os licenciandos so unnimes em afirmar que esta deve ocorrer desde o incio do curso, em
espaos escolares e no-escolares.
Os licenciandos valorizam o ato de ensinar. Para eles muito importante ter uma formao bem
fundamentada, tanto a teoria como a prtica, para no fazer nada de errado que prejudique as pessoas.
Analisando as vozes dos licenciandos sobre as necessidades que um professor de msica tem para atuar no
espao pedaggico-musical na sociedade atual, v-se que este deve ser formado dentro da perspectiva de
reconstruo social (Prez Gmez, 2000a).
De acordo com essa perspectiva, o professor deve ser um profissional autnomo, que reflete
criticamente sobre a prtica para compreender as caracter sticas dos processos de ensino-aprendizagem em
msica, levando em considerao o contexto, e deve saber dialogar com as vivncias musicais no-escolares dos
alunos. Deve tambm ser um intelectual transformador, com compromisso poltico de provocar a formao da
conscincia dos indivduos para uma educao musical que se d de maneira mais justa e para todos.
Referncias bibliogrficas
ARROYO, Margarete. Transitando entre o Formal e o Informal: um relato sobre a formao de educadores
musicais. In: SIMPSIO PARANAENSE DE EDUCAO MUSICAL, 7., 2000, Londrina. Anais Londrina:
Universidade Estadual de Londrina, 2000. p. 77-90.
ESTRELA, Maria Tereza; ESTEVES, Manuela; RODRIGUES, ngela. Sntese da investigao sobre formao
inicial de professores em Portugal (1990-2000). Lisboa: FPCE-UL/INAFOP/HE, 2002.
3
Classifico como msicos os cantores e instrumentistas que tocam em eventos, tanto populares como eruditos,
bem como compositores e arranjadores.
6
GIMENO SACRISTN, Jos; PREZ GMEZ, Angel I. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
HENTSCHKE, Liane. A teoria e a prtica sobre a interdependncia entre os discursos musical e sobre msica.
In: ENCONTRO ANUAL DA ANPPOM, 8., 1995, Joo Pessoa. Anais UFMG. Educao Musical. Mesa
Redonda. Disponvel em: <http://www.musica.ufmg.br/anppom>. Acesso em: 20 fev. 2003.
______. Papel da universidade na formao de professores: algumas reflexes para o prximo milnio. In:
ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 9., 2000, Belm. Anais Porto Alegre: ABEM, 2000. p. 79-90.
______. A formao profissional do educador musical: poucos espaos para mltiplas demandas. In:
ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 10., 2001, Uberlndia. Anais Porto Alegre: ABEM, 2001. p. 67-74.
MARCELO GARCA, Carlos. A formao de professores: novas perspectivas baseadas na investigao sobre o
pensamento do professor. In: NVOA, Antnio (Org.). Os professores e a sua formao. Lisboa: Publicaes
Dom Quixote, 1995. p. 5-76.
______. A formao de professores: para uma mudana educativa. Porto: Porto Editora, 1999.
NVOA, Antnio. Profisso professor. Porto: Porto Editora, 1995a.
______. Nota de apresentao. In: NVOA, Antnio (Org.). Os professores e a sua formao. Lisboa:
Publicaes Dom Quixote, 1995b. p. 9-14.
PREZ GMEZ, Angel I. O pensamento prtico do professor: a formao do professor como profissional
reflexivo. In: NVOA, Antnio. (Org.). Os professores e a sua formao. Lisboa: Publicaes Dom Quixote,
1995. p. 93-114.
______. A funo e formao do professor/a no ensino para a compreenso: diferentes perspectivas. In:
GIMENO SACRISTN, Jos; PREZ GMEZ, Angel I. (Org.). Compreender e transformar o ensino. Porto
Alegre: Artmed, 2000a.
______. La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Ediciones Morata, 2000b.
SCHN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NVOA, Antnio. (Org.). Os
professores e a sua formao. Lisboa: Publicaes Dom Quixote, 1995. p. 77-92.
______. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
SOUZA, Jusamara. Da formao do profissional em msica nos cursos de licenciatura. In: SEMINRIO
SOBRE O ENSINO SUPERIOR DE ARTES E DESIGN NO BRASIL, 1., 1997, Salvador, 1997. p.13-20.
______. Anlise de situaes didticas em msica: os relatos de casos como instrumento de formao e
interveno do docente. In: SIMPSIO PARANAENSE DE EDUCAO MUSICAL, 7., 2000, Londrina.
Anais Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2000. p. 137-146.
1
A imagem no aprendizado musical: da vdeo-aula ao DVD
Daniel Marcondes Gohn
Escola do Futuro da Universidade de So Paulo (USP)
daniel@futuro.usp.br
Resumo: Este trabalho faz parte de uma dissertao de mestrado intitulada Auto-aprendizagem
Musical: Alternativas Tecnolgicas, defendida na ECA/USP em 2002 e publicada em livro em
2003. Observando as inovaes nas formas de transmitir msica e informaes sobre msica,
consolidadas desde o incio do sculo XX, nesta pesquisa so assinaladas algumas das
possibilidades de aprendizado musical com o auxlio de diferentes formas de registro do som e da
imagem, meios de comunicao, sistemas de digitalizao sonora, computadores e redes eletrnicas
como a Internet. Aps um breve histrico sobre o desenvolvimento tecnolgico relacionado
msica, o foco do estudo centrado em dois pontos principais: o vdeo e o computador, em uma
tentativa de revelar quais podem ser suas contribuies. O recorte aqui estabelecido apresenta parte
do captulo sobre o vdeo, relatando o surgimento das primeiras vdeo-aulas e as recentes
experincias com o uso do formato DVD.
Palavras-chave: aprendizagem musical, vdeo-aulas, DVD
Abstract: This paper is part of a masters research entitled Music Self-learning: Technological
Alternatives, which was developed at the University of So Paulo in 2002 and published in book
form in 2003. Observing the innovations in the ways of transmitting music and information about
music, consolidated since the beginning of the twentieth century, this study points out some of the
possibilities for learning with the assistance of different ways of recording sound and image, the
communication media, the systems for digitalizing sound, computers and electronic networks like
the Internet. Following a brief account of the development of technologies related to music, the
studys focus was centered on two main approaches: video and the computer, in an attempt to reveal
what their contributions can be. The piece here presented brings part of the chapter about video,
discussing the production of the first instructional music videos and some recent experiments with
the DVD format.
Keywords: music learning, instructional video, DVD
Segundo Marshall McLuhan (1964), o surgimento da televiso marcou uma nova
era na histria mundial, criando uma aldeia global, em que a mdia o meio de
comunicao entre seus habitantes. Assim como todas as mdias, a televiso uma
extenso das capacidades do homem, mas com a capacidade de aglutinar propriedades
presentes nos outros meios de comunicao.
A maioria das tecnologias produz uma amplificao que muito explcita na
separao dos sentidos. O rdio uma extenso do auditivo, a fotografia de alta
definio do visual. Mas a TV , acima de tudo, uma extenso do sentido do tato,
que envolve influncias entre todos os sentidos (McLuhan, 1964: 290).
2
No decorrer dos anos 80 novas tecnologias transformaram o sistemas das mdias. O
surgimento do walkman permitiu que indivduos, principalmente os jovens, construssem
paredes sonoras contra o mundo exterior (Castells, 1996: 338); as rdios se especializaram
e a televiso a cabo multiplicou o nmero de canais disponveis, ampliando e diversificando
as opes de escolha nas programaes. Outra inovao que teria enorme impacto sobre o
universo da msica foi o videocassete.
Aparelhos de videocassete explodiram por todo o mundo e se tornaram em muitos
pases em desenvolvimento uma alternativa maante transmisso oficial da
televiso. Embora a multiplicidade de potenciais usos dos videocassetes no fossem
totalmente explorados, por causa da falta de habilidades tecnolgicas dos
consumidores, e por causa da rpida comercializao de seu uso pelas locadoras,
sua difuso proporcionou uma grande flexibilidade ao uso da mdia visual. Filmes
sobreviveram na forma de fitas de vdeo. Vdeos musicais, responsveis por 25%
do total da produo de vdeos, tornaram-se uma nova forma cultural que moldou
uma gerao inteira de jovens, e de fato mudou a indstria musical (Castells, 1996:
338).
Com a popularizao do videocassete, os meios de divulgao da msica foram
acrescidos por mais um canal de extrema importncia. Todas as expresses musicais
inseridas na televiso poderiam ser apreciadas de maneira assncrona, entregando ao
espectador o controle sobre quando e onde assistir a opo de sua preferncia. E no
somente este espectador poderia registrar programas gravados da televiso para serem
assistidos posteriormente, como produtos comerciais seriam direcionados pblicos
especficos, com um material de concertos, shows, videoclipes, entre outras produes
contendo msica. Tratava-se de uma nova formatao, mantendo as mesmas linguagens e
estilos que a televiso desenvolveu quando viu-se obrigada a adaptar o ritmo de suas
imagens msica que ela procurava retratar. Dessa maneira, o aprendiz musical ganhou um
controle maior sobre as informaes que recebia, no s atravs da via textual e sonora,
mas tambm com o acompanhamento da imagem. A sistematizao deste recurso para fins
pedaggicos, inicialmente apenas no formato magntico (VHS) e depois tambm no
sistema digital (DVD), resultou na vdeo-aula.
Podemos colocar como definio de vdeo-aula um material didtico, usualmente
produzido com fins comerciais, que dedica-se a instruir o espectador em algum campo
especfico. O ensino da msica pelo vdeo surge em um mundo de conforto tecnolgico,
3
onde as pessoas cada vez saem menos de casa e cada vez mais cumprem tarefas atravs de
botes de controle remoto. Em certo aspecto ela representa um enquadramento da msica
nesse ambiente de esforos mnimos, uma modelagem do processo de aprendizagem para o
futuro.
No caso da msica, suponho que a vdeo-aula chegou ao seu modelo atual com o
surgimento da empresa norte-americana DCI Music Video, em 1983. Como o slogan
adotado pela companhia afirma, eles definiram o padro. Sua proposta de comercializar
vdeos teve incio a partir de uma escola de msica chamada The Collective
1
, fundada na
cidade de Nova York, em 1977. Rob Wallis e Paul Siegel, antigos alunos, compraram a
escola em 1980, e apesar de no terem nenhum conhecimento anterior na rea de vdeo,
decidiram registrar algumas aulas especiais para serem disponibilizadas atravs de
encomendas postais. Desde o incio a motivao era documentar grandes msicos que
teriam um impacto duradouro na msica, provendo os msicos tanto iniciantes quanto
profissionais com inspirao e informao.
2
Localizando-se em um centro de concentrao de artistas e produtores musicais, a
DCI comeou a produzir vdeos com nomes importantes da cena nova-iorquina,
especialmente na rea do jazz. Os mais bem sucedidos comercialmente foram os de Steve
Gadd, baterista, lanado em 84; e Jaco Pastorious, contrabaixista, lanado em 85. O pianista
Chick Corea tambm teve destaque, juntamente com todos os integrantes de sua banda na
poca, a Elektric Band, que mais tarde produziriam cada um uma srie de vdeos relativa ao
seus respectivos instrumentos: John Patitucci, contrabaixo; Frank Gambale, guitarra; Dave
Weckl, bateria; e Eric Marienthal, saxofone. Nesta altura, a DCI tinha seus produtos
vendidos nas principais lojas de instrumentos musicais nos Estados Unidos, e em 1986 um
acordo foi firmado com a empresa Warner Bros., elevando a distribuio a um mbito
mundial.
Quatro anos depois a DCI iniciou uma srie de publicaes impressas, atravs da
criao de uma nova diviso da empresa chamada Manhattan Publications, em que alguns
livros continham material indito e outros representavam transcries de vdeos,
1
Originalmente a escola chamava-se Drummers Collective e era especializada apenas no ensino de percusso.
Quando outros departamentos foram criados o nome The Collective foi adotado, englobando tambm a Bass
Collective e o SOJ Jazz & Contemporary Music Center. Maiores detalhes sobre a The Collective no site
http://www.thecoll.com.
2
Entrevista com Rob Wallis e Paul Siegel concedida ao autor em 3/9/1998.
4
acompanhados de uma fita cassete depois substitudas por CDs com o material sonoro.
O primeiro livro, escrito por Frank Malabe, examinava detalhadamente os ritmos cubanos
em sua histria e aspectos tcnicos. O segundo foi preparado por Duduka da Fonseca,
msico brasileiro radicado nos Estados Unidos, e dava o mesmo tratamento aos ritmos
brasileiros. Durante os primeiros 10 anos de sua existncia, a DCI Music Video e a
Manhattan Publications construram um catlogo com mais de 200 ttulos de vdeo e 35
livros.
Os produtores Rob Wallis e Paul Siegel dizem sentir que havia uma espcie de
vcuo no mercado de livros didticos do final dos anos 80, pois ainda eram produzidos os
mesmos tipos de materiais que eram feitos nos anos 60 e 70, com as mesmas capas e
contedos. Segundo Wallis, a tecnologia evoluiu ns lembrvamos quando garotos
como era tocar junto com discos (para aprender com eles), e percebemos que os tempos
mudaram, era hora de melhorar os livros com produtos de alta qualidade. Assim como nos
vdeos, no havia nenhuma experincia prvia com a produo de livros, e o aprendizado
ocorreu ao longo do processo. Diz Walllis que a vantagem de no saber o que se devia
fazer que criamos um novo campo de livros, com um estilo prprio de informao, de
capas, de qualidade de papel.
Este estilo prprio, tanto nas produes grficas quanto nos vdeos, intensificou o
interesse da Warner Bros. na DCI, e em 1992 os direitos sobre a companhia e seu catlogo
foram adquiridos, sendo que Wallis e Siegel foram mantidos no comando das produes at
1998. Assim que o contrato com a Warner chegou ao seu trmino, a dupla fundou outra
empresa, a Hudson Music, dando continuidade aos trabalhos com este nome.
Atualmente a Hudson Music
3
comea a explorar mais profundamente as novas
tecnologias, realizando pesquisas com DVDs e a Internet. A tendncia que vdeo-aulas
antigas sejam relanadas em DVD, com recursos extras como atrativos cenas inditas,
entrevistas e atualizaes , e que no futuro as novas produes deixem definitivamente o
formato VHS para existir somente em DVD.
A escolha dos nomes que so destacados nas produes de vdeo-aulas seguem
anlises mercadolgicas, medindo a popularidade dos professores paralelamente sua
habilidade em transmitir contedos. Diz Siegel:
3
http://www.hudsonmusic.com.
5
No podemos nos dar ao luxo de gastar em vdeos com desconhecidos.(...) O que
coloca os msicos na categoria de serem emulados e respeitados por outros msicos
muitas vezes est baseado mais em exibicionismo e aspectos superficiais, do que
em aspectos fundamentais. um pouco frustrante.
A vdeo-aula, no obstante suas finalidades educativas, um produto comercial que
visa o lucro financeiro. Porm, as concesses comerciais no distorcem as finalidades
educativas da Hudson Music. Os produtores Wallis e Siegel ressaltam o fato de ambos
serem msicos como o principal fundamento da empresa, pois assegura que os vdeos
reflitam a postura e os interesses reais dos alunos e professores da rea.
A maior parte das vdeo-aulas tem como foco os aspectos prticos da educao
musical. O estudo tcnico dos instrumentos usualmente mantm a teoria musical em
discusses bsicas, suficientes para fazer compreender os pontos analisados. A teoria
avanada, contendo tratados harmnicos complexos, possivelmente no considerada um
tema de grande aceitao comercial e permanece restrita aos livros. Seu estudo certamente
exige uma maior profundidade e uma formao anterior adequada por parte do aluno.
Existem basicamente dois tipos de vdeo-aula: aquele em que o msico assume o
papel de professor e outro em que um entrevistador participa elaborando a anlise dos
temas estudados. Freqentemente indivduos que realizam performances de alta qualidade
no possuem a mesma habilidade para articular verbalmente explicaes e reflexes sobre
sua arte. Siegel exemplifica citando Carter Beauford, o msico destacado em uma vdeo-
aula de bateria, intitulada Under the Table and Drumming, que foi produzida em 1998:
Jamais vi ningum to confortvel tocando, ou to fluente tocando bateria em
minha vida como o Carter, mas ele no se sente nada confortvel na hora de falar.
Foi difcil... Tivemos que mudar nossa estratgia. Na sesso em que espervamos
que Carter estivesse confortvel falando para a cmera, tivemos que colocar um
amigo dele perto da bateria e aquilo se transformou em uma conversao, o que
ajudou bastante.
Em casos como este comum que o msico apresente performances, em peas solo
ou acompanhadas por outros msicos, que posteriormente so discutidas a partir de
questes colocadas por um entrevistador. Muitas vezes o msico requisitado, ento, a
6
repetir certos trechos, executando-os mais lentamente e explicando como a tcnica utilizada
foi desenvolvida.
As vdeo-aulas podem ser levadas para dentro da sala de aula, como foi observado
por Ferrs (1996), modificando o papel do professor:
O vdeo pode liberar o professor das tarefas menos nobres, permitindo-lhe ser,
antes de tudo, pedagogo e educador. As tarefas mais mecnicas, como difusor de
conhecimentos ou mero transmissor de informaes, foram confiadas s novas
tecnologias (sobretudo ao vdeo e ao computador), reservando-se ao professor
tarefas mais especificamente humanas: motivar condutas, orientar o trabalho dos
alunos, resolver suas dvidas, atend-las segundo o nvel individual de
aprendizagem. Nessas tarefas o professor insubstituvel. Nas demais, as mquinas
podem fazer muito melhor que ele (Ferrs, 1996: 34).
Ou seja, podemos relegar as mensagens mecnicas, quantitativas, geralmente
relacionadas aos movimentos necessrios para uma performance bem sucedida em
instrumentos musicais, ao vdeo, que possibilita uma srie de recursos para a manipulao
das imagens. possvel congelar um quadro, assistir em slow-motion, acelerar os
movimentos ou reverter a ordem dos acontecimentos. Podemos pular trechos que julgamos
desnecessrios e acrescentar ou eliminar partes.
O sistema do DVD, atravs da digitalizao das informaes, oferece uma
alternativa ainda mais elaborada do que o videocassete para as vdeo-aulas e permite
escolher sob qual ngulo uma cena ser assistida, qual lngua ser utilizada nas falas, qual
msico ser focalizado, entre outros recursos. possvel repetir cenas continuamente, com
a seleo de um ponto inicial e outro final uma operao que no poderia ser programada
em um videocassete comum e provavelmente iria causar desgastes no sistema mecnico
que voltasse a fita magntica muitas vezes. Em uma situao de controle total, possvel
determinar um nico foco de ateno durante todo um concerto, dentro de uma orquestra
com dezenas de integrantes. Na aula de um nico professor, pode-se observar
separadamente os detalhes de suas explicaes e performances, destacando um elemento de
cada vez. Nos apoderamos das imagens e as utilizamos da maneira que desejamos. Este
domnio sobre o espao e o tempo permite que se estabeleam novas formas de
visualizao das prticas musicais, quebrando em frames os movimentos de uma
performance ou repetindo infinitamente uma seqncia de curtssima durao.
7
Assim como existe o recurso do hipertexto, destacando certas palavras ou conceitos
e conduzindo a informaes mais detalhadas, a interatividade no vdeo eventualmente ir
proporcionar opes de aprofundamento em determinados assuntos. Ser possvel clicar
sobre as imagens de um vdeo musical e obter explicaes sobre as escolhas dos
instrumentistas ou comentrios relevantes relacionados quela msica. Em uma vdeo-aula,
o papel passivo do espectador ser substitudo por um comportamento mais investigativo,
pois com a citao de uma obra ou compositor, por exemplo, se ter acesso a mais dados a
partir daquele nome.
A vdeo-aula pode ser facilmente utilizada no estudo dos aspectos musicais tcnicos
porque trabalha com a possibilidade de visualizao do movimento fsico, que como
sabemos integra de forma intrnseca a atividade musical. O gesto intermedirio entre o
pensamento musical e seu produto (Zagonel, 1992: 43). O aspecto visual fundamental no
aprendizado, j que, segundo Stravinsky (1996), ouvir a msica no o bastante, pois ela
pode ser vista. Principalmente para os estudantes avanados, visualizar uma performance
pode florescer mais elementos do que receber apenas a informao sonora, pois um olho
experiente segue e julga, s vezes de maneira inconsciente, os menores gestos do msico
(Stravinsky, 1996: 116).
Se considerarmos que a qualidade ou a eloqncia de certos atributos do som como
a dinmica e o timbre so conseqncias diretas do modo como o intrprete ataca o
seu instrumento e invoca todo o seu corpo para produzi-los, no preciso muito
esforo para compreender que a imagem do gesto faz parte do discurso musical
tanto quanto qualquer elemento especificamente sonoro (Machado, 2000: 162).
Portanto, uma aprendizagem sem imagens incompleta, pois todo esse trabalho
gestual se perde no registro fonogrfico e no considerado na escrita formal da msica: a
notao (Machado, 2000: 161). A complementao imagtica sistematizada pela vdeo-
aula permite a investigao de assuntos que freqentemente eram relevados a um segundo
plano pela pesquisa musical:
Uma vez que os estudos de musicologia se baseiam quase sempre em partituras ou
em registros fonogrficos, eles normalmente se restringem apenas aos elementos
que podem ser anotados na pauta ou materializados na fita magntica de gravao
sonora (contorno meldico, padres rtmicos, nvel dinmico, movimento
harmnico, timbre, textura, etc.), deixando de lado todos aqueles aspectos do
8
discurso musical que ocorrem no plano visual (ou motovisual) (Machado, 2000:
161-2).
Entretanto, as tcnicas explicitadas nos gestos no so o nico ponto a ser analisado
pelo vdeo. Pode-se tambm trabalhar com o conhecimento como pensamento musical,
contribuindo para uma formao ampla do aprendiz. Alm de retratar gestos, o vdeo
transmite outras informaes musicais: idias, histrias, conceitos, opinies e comparaes.
Por isso, alm de ser utilizado para as tarefas mais mecnicas, pode ser utilizado para
desenvolver a apreciao e a capacidade de raciocnio, servindo no somente como
ilustrao dos movimentos necessrios para a performance musical instrumental, mas
tambm como um meio contextualizador, seja em aspectos histricos, estticos, ou outros.
Bibliografia
CASTELLS, Manuel. The Rise of Network Society. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
FERRS, Joan. Vdeo e Educao. Porto Alegre: Editora Artes Mdicas, 1996.
GOHN, Daniel M. Auto-aprendizagem Musical: Alternativas Tecnolgicas. So Paulo:
Editora Annablume, 2003.
MACHADO, Arlindo. A Televiso Levada a Srio. So Paulo: Editora Senac, 2000.
MCLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: Signet
Books, 1964.
STRAVINSKY, Igor. Potica Musical em 6 Lies. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1996.
ZAGONEL, Bernadete. O Que Gesto Musical. So Paulo: Editora Brasiliense, 1992.
1
SONATINA ESPAOLA DE JUAN JOS CASTRO: UMA ANLISE
INTERPRETATIVA
Daniela Tsi Gerber
Cristina Capparelli Gerling
INTRODUO
Recentemente, musiclogos tm discutido a permanncia e a absoro do passado,
sobretudo a influncia dos mestres consagrados nas obras de vrios compositores. A obra
de Chopin tem atrado a ateno de diversos analistas. Ernst Oster, em um estudo pioneiro,
e apoiando-se nas teorias de Schenker, demonstra como um exerccio de composio
calcado na Sonata op. 27 de Beethoven foi indevidamente publicado como Fantasia-
Improviso em D# menor (op. post.). Contrariando alguns dos mitos ingnuos, mas ainda
arraigados, sobre manifestaes de originalidade, inspirao, espontaneidade criativa e a
figura do gnio, Korsyn, apoiando-se nas teses de Bloom, demonstra a introjeo da msica
de Chopin em obras de Brahms. De outra forma, alguns compositores no hesitam em
reconhecer as influncias recebidas, presencia-se Chopin, em umas das mais belas pginas
do Carnaval op. 9 de R. Schumann ou ainda, a parceria de longos anos estabelecida entre
Schubert e Liszt. Neste trabalho aborda-se o primeiro movimento para uma anlise de
aspectos formais, piansticos e sobretudo para detectar ambientes timbrsticos que Castro
absorveu de seus contemporneos europeus.
Juan Jos Castro (1895-1968) compositor e maestro nascido na Argentina em uma
famlia de msicos de projeo internacional, iniciou seus estudos musicais em Buenos
Aires. A herana de Castro configura-se atravs dos ensinamentos de Gaito sobre os
elementos populares argentinos e a tendncia cerebral de composio, processo este
herdado de Fornarini. Durante a belle poque dos anos 20, Castro prosseguiu seus estudos
em Paris sob os auspcios do compositor Vicent dIndy e do pianista Edouard Risler.
Entre as fases da sua produo composicional, distingue-se uma fase inicial de
formao, uma de transio seguida por uma assinalada adoo dos preceitos neoclssicos.
No perodo que vai at 1953 identifica-se um grupo de composies com temas
2
nacionalistas e um outro de composio com temas mais abrangentes. A Sonatina Espaola
(1956), estruturada em trs movimentos Allegretto Comodo, Poco lento e Allegro, foi
composta em um perodo posterior e sintetiza vrias influncias absorvidas e vertentes
percorridas na obra de Castro .
Consideraes Analticas do Primeiro Movimento
O primeiro movimento da Sonatina Espaola com 166 compassos, estrutura-se
como um allegro de sonata no contraste entre grupos temticos distintos e no tratamento
cclico dos elementos motvicos. A exposio [c.1-52], ligada ao desenvolvimento por uma
codetta [c. 42-52] apresenta tanto os principais grupos temticos quanto motivos a serem
trabalhados no desenvolvimento. Este por sua vez, processa-se atravs de elaboraes [c.
53-114] que continuam na reexposio [c.115-166] e na coda [c.153-166].
Nos dois compassos iniciais (m.d.) observa-se o emprego de 12 sons, (vide ex. 1) ou
seja o esboo de um processo dodecafnico no estrito que define o tema principal deste
primeiro movimento, (vide ex. 1).
EX. 1: Emprego dos Doze Sons da Escala Cromtica [c. 1-3]
Seguindo os passos de Stravinsky, Castro opta por mudanas constantes das
frmulas de compasso e por deslocamentos da acentuao mtrica. Desta forma, um sentido
de preciso rtmica desempenha um papel preponderante na sua execuo. Pode-se se
afirmar que as mudanas de compasso so uma constante em contrapartida a manuteno
da colcheia como o valor bsico e fio condutor, (vide ex. 2).
3
EX. 2: Emprego de mltiplas frmulas de compasso [c.1-6]
No exemplo a seguir pode-se observar figuras ornamentais e figuras rtmicas
caractersticas da msica espanhola de Manuel de Falla e Isaac Albeniz, traos que, como o
ttulo j explicita, Castro apropriou-se de maneira proposital e deliberada, (vide ex. 3).
EX. 3 : Gestos caractersticos da Msica Espanhola [c. 4-5]
Como explicitado no exemplo acima [c. 4-5], o contorno meldico, a figurao
rtmica e a ambientao harmnica (acorde diminuto L-D-Mib e inflexo menor da
passagem de escalas) do segundo grupo temtico reflete ambiente sonoro caracterstico
daquele que so freqentemente evocado pelos predecessores espanhis.
O tetracorde descendente Sol#, Fa#, Mi#, R# ([c.10], vide ex. 4) nas suas
mltiplas ocorrncias aponta para o teor cclico da composio, a seguir [c.11-12] do
mesmo exemplo o tetracorde assume a direo ascendente.
4
c. 10
c. 11-12
EX. 4: Tetracordes Ascendentes e Descendentes
A figurao rtmica da passagem exemplificada a seguir seguinte (vide ex. 5, [c.16,
20]) faz uma aluso direta ao emprego de castanholas. Este segmento e suas variantes tem
presena marcante neste movimento.
c. 16
c. 20
EX. 5: Caracterizao do Rtmo de Castanholas
Outros compositores do sculo XX tambm so homenageados, a passagem a seguir
sugere uma evocao da escrita de Bla Bartk, (vide ex. 6).
5
c. 23-25
EX. 6: Passagem reminescente da escrita de Bla Bartk
Nos c. 28-52 a atmosfera denota gestos associados a Ravel que, por sua vez,
invocava as danas do sculo XVIII, (vide ex. 7).
c. 28-31
c. 32-34
c. 50-51
EX. 7: Padres de Danas do Sculo XVIII
As quartinas, ao desenharem contornos rtmicos graciosos e danantes [c.46- 48]
sugerem um carter nostlgico do tetracorde de tons inteiros (vide ex. 8) ao mesmo tempo
6
em que so uma manipulao por aumentao do padro da voz inferior ([c. 50-51], vide
ex. 7).
c.46-48
EX. 8: Emprego do Tetracorde na configurao de tons inteiros
Figuraes rtmicas tais como os padres de danas argentinas aliadas aos efeitos de
percusso na m.e. [c.53-62] concorrem para a caracterizao desta passagem.
O mesmo ambiente de dana mantido na finalizao da Exposio cujo timbre
denota familiaridade com a escrita de Debussy e Ravel, sendo uma escrita reminiscente da
msica francesa do incio do sculo XX, [c. 63-69].
A nfase no agrupamento [c. 70] e suas elaboraes reiteradas pelos efeitos de eco
com uso amplo do registro do teclado, percorrem trs regies indo dos compassos 71-72
justificam o ttulo escolhido para a composio.
A passagem em cantilena da voz superior [c. 87-107] oferece uma reminiscncia da
msica vocal espanhola em uma associao direta com o sentimento da dor- com dolore por
sobre padres rtmicos caractersticos de dana.
O carter desta passagem mantm-se com a alternncia entre grupos binrios e
ternrios e, invoca claramente o gestual da dana flamenca ([c.108-114], vide ex. 9).
EX. 9: Alternncia entre grupos binrios e ternrios, c. 108-114
7
No incio da Recapitulao [c. 115], os agrupamentos rtmico-meldicos aparecem
inicialmente na forma de acordes sucedidos pelo contorno associado ao primeiro grupo
temtico [c. 132-135]. A reapresentao do segundo grupo temtico [c.136-138] tambm
apresenta modificaes de registro e de grafia.
Como esperado na forma escolhida por Castro, trechos da Recapitulao [c.139-
145] mantm sua identidade com relao primeira apresentao [c. 13-20].
A influncia da msica francesa, em particular o ambiente sonoro evocado pelas
quintas abertas [c.146-152] mesclado utilizao de segmentos percussivos colore a
ltima parte do movimento ([c.153-163], vide ex. 10).
c. 153-159
EX. 10: Segmentos Percussivos na finalizao do movimento
Castro optou por manter-se em sintonia com a herana recebida das figuraes
meldicas e rtmicas de Falla e Albeniz, com a flutuao mtrica de Stravinsky, com os
timbres impressionistas e ps impressionistas, deixando-se influenciar tambm pelos
rigores formais do neoclacissismo.
O compositor combina e transforma vrias vertentes com o sentido de homenagear
os seus contemporneos e tambm para dialogar com seus pares. Os processos de
transformao so diversos, quanto mais se reconhece os traos e gestos evocados, mais se
aprecia o resultado na obra resultante. Ao utilizar agrupamentos rtmicos e suas
transformaes e ao encaix-los em uma mtrica flutuante, manteve a colcheia como figura
referencial e fio condutor.
Obra selecionada como pea de confronto em concurso internacional de piano a ser
realizado em futuro prximo em Buenos Aires, Argentina, a Sonatina Espaola pouco
conhecida e pouco tocada. Trata-se de uma pea de alto nvel de exigncia pianstica que,
apesar do seu ttulo despretencioso, requer um instrumentista dotado de refinada
8
competncia tcnica e estilstica. Em um prximo trabalho os dois ltimos movimentos,
tambm de feitura cclica, sero apresentados.
9
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARRENECHEA Lcia.; GERLING, Cristina Capparelli. Villa-Lobos e Chopin: o
dilogo musical das nacionalidades in Trs Estudos Analticos, PPGMUS, UFRGS,
2000.
BLOOM, Harold. A Map of Misreading., Oxford. 1975.
BERGER, K. The Form of Chopin Ballade, op.23 in: 19th Century Music, XX, n.1, 1996,
46-71.
COOPER, G.; MEYER, L.B. The Rhythmic Structure of Music. Chicago: The University
of Chicago Press, 1960.
CONE, E. Musical Form and Musical Performance. New York: Norton, 1968.
GERBER, D. T. A Paulistana n. 2 de Cludio Santoro: Uma Anlise Rtmica. PPGMUS,
UFRGS.2003.
GERLING, C. C. Performance Analysis for pianists: A Critical Discussion of Selected
Procedures. Boston University, Dissertao de Doutorado, 1985.
__________. Franz Schubert and Franz Liszt- A Posthumous Partnership in Analises of
19th C. Piano Music, Garland, 1997.
KORSYN, K. Towards a New Poetics of Musical Influence. Music Analysis, 10, n.1-2
(1991), 3-72.
NOGUEIRA, I. C. "A Esttica Intertextual na Msica Contempornea: Consideraes
Estilsticas" BRASILIANA, (2003), p. 2-12.
OSTER, E. The Fantasie-Impromptu: A Tribute to Beethoven in: Aspects of Schenkerian
Theory, David Beach, ed. New Haven: Yale, 1983.
PETTY , W. C. Chopin and the Ghost of Beethoven in: 19th Century Music, XXII, n.3,
1999, 281-299.
STRAUS, J. Remaking the Past, Musical Modernism and the Influence of the Tonal
Tradition. Cambridge, MA. Harvard University Press, 1990.
10
TARUSKIN, R. Back to Whom? Neoclassicism as ideology. 19th c. Music, vol. XVI, n.
3, 1993, 286-302.
WHITESELL, L. Men with a Past: Music and the Anxiety of Influence. In: 19th Century
Music, XVIII, n.2, 1994, 152-163.
De olho nos sentidos
Denise Andrade de Freitas Martins
Conservatrio Estadual de Msica Dr. J os Zccoli de Andrade
I tuiutaba - MG
denise@mgt.com.br
Resumo: O texto observa a relao homem-mundo, a partir de uma investigao na relao aluno-
piano-professor, numa viso fenomenolgica, com enfoque ao ensino de msica em Conservatrio
Pblico Mineiro. Aponta a necessidade de uma transformao de comportamento por parte dos
professores, alicerada numa viso de inexistncia da dicotomia mente-corpo. E conclui que ainda
hoje parece existir um desprezo percepo como aspecto primeiro da experincia e da
aprendizagem da msica.
Palavras-chave: educao musical, fenomenologia, percepo
Abstract: This article observes the man-world-relationship, with the starting point by a
investigation of student-piano-teacher relationship, though a phenomenological vision, with
direction the music teach in Public Conservatories of Music in Minas Gerais. It shows the necessity
of the teachers transform their comportments, and based in a vision that isnt a separation between
mind and body and the conclusion is that nowdays, there is a no important perception, being the
main aspect of experience and learning of music.
Keywords: music-education, phenomenology, perception
Homem e mundo esto encarnados originariamente e no h necessidade de definir o mundo,
pois ns, os homens, j o temos, ns o possumos assim como somos possudos por ele; que no
pode ser um aglomerado de significaes comuns, mas aquilo que percebido por ns, pelo nosso
ponto de vista. Esse o mundo sensvel, aquele pelo qual e no qual somos captados, ao contrrio
de tratarmos de capt-lo. (Merleau-Ponty, 1969).
Sendo homem e mundo o cerne de nossa discusso, no h como tratar nada, qualquer
assunto que seja, que os envolva e que deles dependa, de outra maneira que no seja na busca
2
do reencontro do contato espontneo do homem com o mundo, ou melhor, numa viso
fenomenolgica; o estudo das essncias e sua reposio na existncia.
Tratando-se do ensino de msica, em particular dos Conservatrios Pblicos Mineiros, muitas
consideraes devem ser feitas e, consideraes que reforam o nosso estar no mundo como um
prolongamento e no negao da natureza. Se nos apropriamos dos pensamentos, que falam e
pensam em ns, pelas nossas experincias, conhecimentos e valores, devemos repensar nossa
prtica como homens e, principalmente, neste caso, como professores do ensino formal de msica.
Por qu? Porque o fazer-musical precede o pensar-musical.
Mas o que a percepo? A percepo um dado a priori no contato do homem com o
mundo, contato este abrangente; presente no seu modo de ser, sentir e de se expressar. A percepo
deve, e necessita, ser vista como processo de codificao de materiais, como sentimento primeiro
do mundo e das coisas, como sustentao ao desenvolvimento da sensibilizao, como vinculao
vida, como eventos e objetos internos e externos ao indivduo, o ser indiviso, e, principalmente,
como elemento instigador de questionamentos, observaes e pesquisas.
Assim, no podemos tratar as situaes, enquanto fenmenos o que aparece ou o prprio
aparecimento do real , como uma reunio de impresses, nem distinguir sensao de percepo,
pois atravs da percepo que nos abrimos ao mundo, e as sensaes participam dessas
experincias literalmente em comunho. Sensao e percepo s podem existir se forem de algo
para algum. Veja-se em Merleau-Ponty:
No h meio-termo entre o em si e o para si, e j que meus sentidos, sendo vrios, no sou
eu mesmo, eles s podem ser objetos. Digo que meus olhos vem, que minha mo toca,
que meu p di, mas essas expresses ingnuas no traduzem minha experincia
verdadeira. Elas j me do dela uma interpretao que a afasta de seu sujeito original.
Porque sei que a luz atinge meus olhos, que os contatos se fazem pela pele, que meu
sapato fere meu p, disperso em meu corpo as percepes que pertencem minha alma,
coloco a percepo no percebido (Merleau-Ponty, 1994: 287).
De acordo com este autor, a experincia do ser-homem o seu solo de ancoragem,
relacionamo-o com o mundo atravs e nas relaes do em-si, ns para ns mesmos; do para-si, o
mundo para ns; e do para-outrem, ns para os outros. Desse modo, reproduzir, como
professores de msica, uma prtica aprendida, nada mais que atestar o como e o quanto
estamos encarnados no mundo em que vivemos. Assim sendo, mudanas transformadoras de tais
prticas no acontecem simplesmente, mas, dependem de processos de reflexo, questionamento,
3
busca, curiosidade, esforo e, tudo isso, calcado no pensamento do rompimento da ciso entre
interior e exterior, desde que s existe algo se houver relao entre o sujeito e a situao; e s
existe conscincia se existir algo de que se ter conscincia.
Lyotard (1967) observa que a relao sujeito-situao no une dois plos isolveis, mas s
se define e definvel por ela, como relao intencional. E, a palavra inteno, aqui implicada,
no usada no sentido de ter a inteno de, mas de estar direcionado a, na compreenso da
inexistncia da dicotomia mente-corpo, ao contrrio, uma unio dialtica e indecomponvel.
A cultura no a negao da natureza, mas o seu prolongamento. Ns nos apropriamos dos
pensamentos pelos nossos conhecimentos, experincias e valores, chegando a pens-los em
idias e ainda concretiz-los.
Para o autor:
Toda ao e todo conhecimento [...] que no tenham tomado corpo em nossa histria
individual ou coletiva, ou ento, o que vem a dar no mesmo, escolham os meios por um
clculo e por um procedimento inteiramente tcnico, redundam num resultado aqum dos
problemas que queriam resolver (Merleau-Ponty, 1991: 88).
O mundo aquilo que percebemos, que vivemos, o qual no possumos por ser inesgotvel,
mas que existe para ns na realidade, sendo ento uma facticidade que se torna certo em nossa
existncia.
Nosso modo de estar nesse mundo se manifesta por intenes e no ao acaso, tomamos
posies em situaes dadas e nos reencontramos sob vrios aspectos, que so mais que
aglomerados. Pensamos a partir daquilo que somos como percebemos e tudo o que possamos
fazer ou falar registra-se em ns e no mundo, ou melhor, adquire um nome na histria.
Portanto, faz-se urgente a necessidade, por parte dos professores de msica dos
Conservatrios Pblicos Mineiros, de transformao; transformao essa que prime pela
sensibilizao atravs da percepo, que faa a considerao de que tudo que sabemos, mesmo
cientificamente, sabemos a partir de nossa viso e de nossa experincia com o mundo; que nosso
pensamento advm em proporo s nossas experincias e que a certeza da idia no fundamenta
a da percepo, mas repousa nela, enquanto a experincia da percepo que nos ensina a
passagem de um momento a outro e busca a unidade do tempo. Portanto, toda conscincia
conscincia perceptiva, mesmo a conscincia de ns mesmos.
4
O discurso proposto nos conduz seguinte interrogao: Por qu, ainda hoje, os olhos
aos sentidos, percepo, esto quase fechados, ou , por qu parece existir, na prtica educativa
dos professores de msica dos Conservatrios Pblicos Mineiros, a idia de soberania da mente
em relao ao corpo?
Varela observa:
Negar a verdade de nossa experincia no estudo cientfico de ns mesmos no somente
insatisfatrio seno que priva o devido estudo de sua temtica. Apenas supor que a
cincia no pode contribuir compreenso da experincia pode eqivaler ao abandono,
dentro do contexto moderno, da tarefa da autocompreenso. A experincia e a
compreenso cientfica so como duas pernas sem as quais no podemos caminhar
(Varela, 1992: 38).
Conforme dados coletados e analisados em pesquisa realizada sobre a relao aluno-piano-
professor em Conservatrio Pblico Mineiro, a partir de uma abordagem fenomenolgica em
sete amostras de alunos, criteriosamente selecionados conforme a forma de ingresso em escolas
desse perfil, no uso de observao no-participativa e aplicao de entrevistas, e com o
pressuposto bsico de que os programas de piano fossem os responsveis pelos conflitos
existentes entre os diferentes objetivos de alunos e professores, concluiu-se que os programas de
piano eram hipotticos complicadores, desde que muitas outras problemticas emergiram.
Com base nessa investigao realizada em nossa prtica educativa no ensino da msica,
registremse, aqui, situaes a serem vistas com olhos mais perceptivos: o momento mais
adequado introduo da leitura grfico-musical; o uso do corpo diante de um outro e
desconhecido corpo, ou seja, a situao aluno-instrumento; a preponderncia do uso da viso
dentre os rgos dos sentidos e, concomitantemente, o desprezo audio; a ausncia de sentido
pleno dos significados da linguagem verbal suas lacunas, encontros e desencontros , situao
problematizadora que se intensifica com o uso de palavras tcnico-musicais usadas como
possveis razes para os erros e acertos musicais dos alunos, no perdendo de vista a linguagem
gestual usada pelos mesmos, como modo inerente de manifestao e expresso; a verificao do
elemento mais concreto e real da linguagem musical para os alunos; as diversas metodologias
utilizadas pelos professores em relao aos elementos rtmico-meldico e, finalmente, o uso da
percepo, como sendo o fundo pressuposto de toda racionalidade, por parte dos professores.
De modo a encerrar, cabe dizer que buscamos a razo de erros e acertos, no que se refere
prtica educativo-musical, na racionalidade, na maior parte das vezes. A busca desses encontros
e desencontros parece estar vedada, ou mesmo, quase que cega, para o reencontro original do
5
homem com o mundo, homem esse cujo corpo seu campo primordial, possibilidade de ser e
existir.
Assim, as coisas parecem residir muito mais numa condio de eu penso do que eu
posso. E, o pesar, perceber que ainda possuimos a crena, enquanto educadores musicais, por
vezes to explcita, visvel mesmo, no comportamento dos professores de msica, de que a
educao musical est presa, amarrada, condio de supremacia da mente em relao
subordinao do corpo, a dicotomia mente-corpo, a inobservncia na relao homem-mundo, o
desprezo percepo contato primeiro do homem com o mundo e as coisas.
Faz-se necessrio e emergencial que fiquemos todos de olho nos sentidos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
LYOTARD, Jean-Franois. A fenomenologia. Trad. Mary Amazonas Leite de Barros. So Paulo:
Difuso Europia do Livro, 1967. (Coleo Saber Atual).
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepo. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de
Moura. So Paulo: Martins Fontes, 1994. (Coleo Tpicos).
________. Filosofia y lenguaje. Trad. Hugo Acevedo. Buenos Aires: Editorial PROTEO S.C.A.,
1969. (Coleo Estudios y Ensayos Fundamentales).
________. O primado da percepo e suas conseqncias filosficas. Trad. Constana
Marcondes Cesar. Campinas: Papirus, 1990.
________. Signos. Trad. Maria Ermantina G.G. Pereira. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
VARELA, Francisco J.; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor. De cuerpo presente - las
ciencias congnitivas y la experiencia humana. Trad. Carlos Gardini. Barcelona: Editorial Gedisa
S.A., 1992.
O im-som, o di-som e o me-som, ou as inspiraes da semitica
peirceana na obra de Franois Bayle
Denise Garcia
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
d_garcia@iar.unicamp.br
Resumo: Este artigo trata da diviso tridica do conceito de imagem-de-som de Franois
Bayle. Citando algumas das principais fontes do autor sobre ela e comparando-a com alguns
aspectos da semitica peirceana.- a teoria que inspirou o autor a desenvolv-la - nossos
objetivos so o de esclarecer as ambiguidades de sua formulao e o de definir dedutivamente
a razo principal do desenvolvimento terico do autor nesse sentido. Em seguida aludimos
questo da possibilidade da utilizao dessa classificao para a anlise de sua obra
eletroacstica e sua extenso para alm da obra desse compositor.
Palavras chaves: msica eletroacstica, teoria composicional, semitica aplicada msica.
Abstract: This paper discourses on the triadic division of the sound image concept by
Franois Bayle. Reporting some of the main sources in the author's work and comparing them
with some aspects of the peircean semiotics - the theory that inspired the author - our main
objectives are to explain the ambiguity of their formulation in Bayle and to define the real
reason for the composer to develop this theoretical principle. Then we discuss the validity of
an application of this classification in the musical analysis and the importance of it as a
theoretical concept in general in the electroacoustic music.
Keywords : electroacoustic music, compositional theory, musical semiotics.
Em uma longa entrevista concedida a Michel Chion e Anette Vande Gorne,
Franois Bayle afirma que foi no perodo de composio de Camera Oscura (1976)
que comeou a ser concebida a noo de imagem-de-som: "h nela efetivamente i-
sons de diferentes formas. Encontra-se a o que eu descrevi melhor em perodos mais
recentes e algo do que em me conscientizei pela diviso em trs estados do i-som: os
sons icnicos, diagramticos e metafricos." (Chion, 1994. P. 87)
Mais adiante na mesma entrevista, Bayle descreve o seguinte sobre sua obra
Thatre d'ombres (1988):
O que me interessa encontrar no plano musical e no domnio instrumental,
as ferramentas de desenho, em vista de uma msica "figural", ferramentas
que me permitiriam viajar entre meus trs conceitos de imagem sonora:
cone-diagrama-metfora, essas trs etapas do reconhecimento de uma forma
(1- que provm de um fenmeno e se identifica a ele , o reflete de maneira
clara; 2- que distinguem simplesmente alguns traos, portanto funciona por
extrao de traos desse fenmeno, mas o simboliza e representa da mesma
forma; enfim que toma completamente licena, liquida esse fenmeno inicial
e constri um trao de unio com outros fenmenos mais longnquos."
(Chion, 1994, p. 117).
Em cada um desses trechos, embora ligados pela mesma temtica. Bayle se
refere a dois estados de coisas diferentes: no primeiro, ele fala de uma classificao
em trs graus do signo sonoro (que ele chama de imagem-de-som
1
), um conceito
especfico do signo sonoro no contexto da msica acusmtica
2
; no segundo, ele
descreve uma tcnica composicional de tratamento escalonado do signal sonoro
gravado que resulta nos trs graus da classificao do i-som.
J partilhamos em outro artigo (Garcia, 1997, p.273-277) nossa convico de
que o conceito de imagem-de-som, de uma certa forma, um aperfeioamento do
conceito de objeto sonoro de Pierre Schaeffer: sua principal qualidade estaria no fato
de tornar explcito que a msica eletroacstica, trabalhando inicialmente com registro
sobre suporte, lida com representao sonora, portanto o conceito de signo est
implcito nela (da mesma maneira que est em qualquer outra msica, alis, apenas
essa questo no muito considerada pela musicologia tradicional).
Em seus escritos tericos Bayle trata tambm desta questo. Em seu texto "A
msica acusmtica ou arte dos sons projetados" ele coloca que uma primeira
aproximao percepo acusmtica pode se inspirar nas categorias peirceanas dos
signos: o cone, o ndice e o smbolo. Segundo suas palavras, no cone "o objeto
denotado pelo conjunto de seus caracteres; no ndice, um trao caracterstico [do
signo] suficiente para remeter ao objeto; o smbolo, no sentido de figura
convencional representa o objeto." (Bayle, 1993, p.55)
Tratando, neste texto como fica claro, da percepo sonora, ele descreve o seu
processo relacionando com as trs categorias acima:
No primeiro nvel da centrao da escuta se despreendem as sequncias com
referentes identificveis, sejam realistas (voz, ambiente, paisagem sonora,
etc.) ou abstratas (morfologias de batimentos, de oscilaes, etc.). No
segundo nvel de centrao viro os acontecimentos (singulares) ou
transformaes em agentes reconhecveis: filtragem, sntese de um timbre,
transposio, etc. tanto quanto os marcadores, aos quais a "escritura" recorre
intencionalmente: signos de ruptura, mudana aparente de planos, de
personagem, motivo, etc. No terceiro nvel (o do sentido) sobressairo as
formas de processos e de evoluo obedecendo as leis internas, as tramas,
texturas, organizaes formais, desenvolvimentos orientados dos momentos
do discurso musical."(Bayle, 1993, p.55)
1
Para um primeiro contato com o conceito de imagem-de-som de Franois Bayle em portugus, ver
GARCIA, 1997
2
Sobre msica acusmtica em portugus, ver GARCIA, 1997 e Site do LAMUT
www.acd.ufrj.br/lamut
No texto "l'image-de-son ou i -son: mtaphore/mtaforme" (Bayle, 1993, p.93-
99), Bayle retoma a diviso da escuta de Schaeffer reduzindo-a ao formato tripartido
(chamada por ele de tripartio do audvel) e a relaciona com suas trs espcies de
imagem-de-som inspiradas em Peirce, demonstrada no seguinte quadro:
Tripartio do audvel Trs espcies de imagem-de-som
O ouvir e a presentificao (acionando a
audio)
A imagem isomrfica (icnica,
referencial, ou im-som)
O escutar e a identificao (acionando a
cognio)
O diagrama, seleo de contorno
simplificado (indicial, ou di-som)
O entender e a interpretao (acionando a
musicalizao)
A metfora/metaforma, religada a uma
generalidade (do signo) ou me-som
No texto "mi-lieux" (Bayle, 1993, pp.129-139), que trata do espao, Bayle
define que os conjuntos de i-sons podem ser vistos como "pequenas cosmofonias
originais, espaos onde reinam localmente as leis de um aqui/agora tipicamente
identificvel (caso dos im-sons referenciais), ou reconhecveis em um tal trao (caso
dos di-sons indiciais) ou ainda evocadora de fontes imaginrias (caso dos me-sons
figurativos). Ainda neste texto ele resume as trs espcies da seguinte forma: som
captado (im-som), som traado (di-som) ou som transfigurado (me-som).
Nessas poucas citaes pode-se facilmente ficar confuso com a aparente no
distino entre o conceito de imagem-de-som (conceito de signo), a sua fatura
(poiese) e sua percepo (estese). A ligao das duas ltimas se d na prpria
condio da msica acusmtica, pois nela o compositor constri a sua msica a partir
da escuta. Porm a identificao de trs espcies de i-som no corresponderiam aos
estgios do processos perceptivo por ele descrito, como veremos a seguir.
No por acaso que Bayle reduz as quatro escutas de Schaeffer para trs: ele
o faz para que o quadro assim redesenhado se encaixe nas divises tridicas da
Semitica peirceana. E de fato h uma correlao entre o ouvir, escutar e entender
explicitados acima com a descrio que Lcia Santaella faz do ato perceptivo
sugundo Peirce: "1) a conscincia de uma qualidade imediata, 2) a compulso que nos
faz atentar para algo que se fora sobre ns e 3) o fator de juzo, julgamento de
percepo no qual todos os elementos se juntam." (Santaella, 1993, pp.93/94). Mas a
tripartio da escuta no corresponde diviso do i -som (em verdade a diviso do
signo icnico como veremos adiante), ela se relaciona antes com as trs categorias
universais da Semitica, a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. E como essas
categorias esto presentes na classificao dos signos, qualquer ambiguidade pode
acarretar em uma confuso. A tripartio da escuta se refere a um processo evolutivo
de como se d a percepo. A tripartio do i-som se refere a uma classificao de
signos em relao ao seu objeto.
Bayle, mesmo referindo-se sua diviso tridica do i-som como uma
inspirao da semitica de Peirce, no explica de onde tira exatamente essa
classificao. Na verdade, 'imagem, diagrama e metfora' uma classificao
secundria do signo icnico, ou hipo-cone na Semitica de Peirce. Trata-se de signos
que operam por critrio de similaridade:
"Imagens so imediatamente icnicas, representando simples qualidades,
como uma foto colorida. Diagramas so cones de relaes e ento dependem
em ndices e convenes ( 4.418). Metforas so metasignos cuja
iconicidade baseada na similaridade entre objetos de dois signos
simblicos, o tenor e o veculo da metfora."(Nth, 1995, p.123).
Bayle parte da relao icnica entre o registro de um som e o prprio som
como uma imagem (o paralelismo com a foto ou pintura figurativa como exemplos de
imagem em Peirce aqui evidente), pois a gravao de um som o representa por
similaridade de qualidades. Da para as outras duas espcies, o di-som e o me-som,
h apenas uma relao metafrica com o diagrama e a metfora da classificao de
Peirce. Pois um diagrama de um determinado som pode ser a sua representao
grfica em uma partitura, no necessariamente a reduo desse som a alguns traos
caractersticos audveis; e a metfora no implica em uma transformao de um signo
sonoro, apenas na representao simblica por similaridade de um som ou de um
signo por um outro.
Para Bayle importa antes uma classificao escalonada das operaes de
transformao do som e sua escuta, isto , a definio de uma tcnica de composio,
assim como de um "solfejo" do i-som: o im-som, ou o som captado ou sintetizado
original; o di-som, ou a reduo de um primeiro som a alguns de seus traos,
mantendo a relao de similaridade; o me-som, ou a transformao em maior escala
de um primeiro som, sem que este tenha que manter uma identidade com o primeiro,
mas possa, por suas qualidades resultantes criar referncias com outras imagens
sonoras.
Voltando s obras musicais citadas acima, sobre as quais Bayle faz referncia
das suas espcies de i-som, possivel ou til tentar uma anlise classificatria desses
signos nessas obras? Ou seja, tem a classificao do i-som, uma importncia
analtica? Em uma primeira apreciao seria uma tarefa ingrata e de grande
complexidade tentar fazer uma anlise musical dessas e outras obras de Bayle,
discriminando um a um todos os sons de seus trechos como im-sons, di-sons ou me-
sons. Especialmente porque apenas os compositores treinados em determinadas
ferramentas de composio eletroacstica podem distinguir uma ou outra determinada
operao transformadora sobre um som. No entanto, conhecer essa e as outras
proposies tericas deste compositor algo extremamente elucidativo no
direcionamento de uma escuta de sua msica.. Naturalmente, a graduao de signos
sonoros separados no resolve a questo da construo do discurso musical em Bayle,
inclusive porque o compositor se inspira para a composio de suas obras
indistintamente nas leituras das mais diversas teorias em diversos campos (como
Ren Thom, Paul Klee, Paul Virilio, Jolle Proust etc.). Se, como afirmamos acima, a
inteno antes era a de definio de uma tcnica composicional em relao aos sons e
suas operaes de transformaes, essa classificao serviu tanto de balisa, de fio
condutor para o compositor parametrisar o ato composicional, quanto serve a ns seus
ouvintes e estudiosos como direcionamento de escuta e interpretao de sua obra.
Uma segunda e ltima pergunta que nos fazemos a este ponto, nos leva
concluso deste artigo: pode essa proposio potica de Bayle para a sua obra tornar-
se uma conduta terica analtica aplicvel a outras obras do repertrio eletroacstico?
Ou seja, os conceitos de im-som, di-som e me-som tm algum valor terico para uma
musicologia da msica eletroacstica? Uma tentativa de reflexo sobre essa questo
sem dvida alguma muito pertinente pois, embora a descrio dos i-sons seja
detalhada nos escritos de Bayle, uma aplicao sua por parte de outros autores no se
frutifica, seja sobre a obra do prprio Bayle, seja sobre outras msicas eletroacsticas.
Mas possvel circunscrever o universo sonoro repertoriado em determinados
gneros de msica eletroacstica dentro do conceito de imagem-de-som, assim como
o dentro do conceito de objeto sonoro. O que importa no conceito de imagem-de
som, de diferente e de similar ao conceito de objeto sonoro? De similar, a valorizao
da morfologia sonora e de uma msica feita com essa gramtica morfolgica. Pois
no exatamente a questo da referencialidade do signo que importa a Bayle, mas a
similaridade e dissimilaridade morfolgica entre os sons, gerados uns dos outros ou
no. De diferente, a graduao dos signos para um interpretante. Enquanto a tipo-
morfologia do objeto sonoro tenta classificar cada elemento constitutivo de um som
(alis de uma forma pouco cientfica, com adjetivos que no delimitam suas
graduaes e limites), as classes do i-som se reportam a uma classificao do
processo de produo e recepo dos signos sonoros (uma escuta que viaja por
camadas ou graus diferenciados entre o que ele chama de real e abstrato). Para a
potica de Bayle, o ato de escuta deve criar um dilogo inquietante entre os sons que
vm de fora (da msica) e o repertrio imagtico sonoro de seu ouvinte. A
descontruo de uma escuta habitual uma afirmao explcita em muitas de suas
obras.
Em outros compositores, dentro de correntes simpatizantes s msicas
eletroacsticas francesas e inglesas abundam tambm as operaes imagticas,
diagramticas e metafricas, as redues, os paralelismos. Para citar um de nossos
compositores brasileiros, um exemplo seria a obra Circulos Ceifados de Rodolfo
Caesar (o mais bayleano dos compositores brasileiros de m.e.na nossa opinio), na
qual a composio/oposio/passagem de dois universos sonoros de origens distintas
(os hiper-grilos de uma noite e um tutti orquestral) geram uma grande metfora de
belo efeito potico.
Esta aluso positiva em relao ao valor dos i-sons apenas uma primeira
tentativa de aproximao do tema. Coloc-las em pauta pode ser de grande ajuda
para uma reflexo terica da msica eletroacstica no nosso meio.
Referncias bibliogrficas
Livros e artigos
BAYLE, Franois. Musique acousmatique: propositionspositions.Paris:
INA/Buchet/Chastel, 1993.
CHION, Michel; VANDE GORNE, Annette. Le caprice et la coherence: entretien
avec Franois Bayle. Lien, revue d'esthtique musicale, Ohain, nmero especial:
Franois Bayle, parcours d'un compositeur, p.36-126, 1994.
GARCIA, Denise. O conceito de imagem-de-som de Franois Bayle. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ANPPOM, 11, 1997, Campinas. Anais do XI
Encontro Nacional da ANPPOM, Campinas: UNICAMP, 1998.
NTH, Winfried. Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press,
1995.
SANTAELLA, Lcia. A Teoria geral dos signos: semiose e autogerao. So Paulo:
Editora tica, 1995.
SANTAELLA, Lcia. A percepo: uma teoria semitica. So Paulo: Experimento,
1993.
Discos
BAYLE, Franois. Camera Oscura. Cycle Bayle vol.14, Paris: Magison. M10 e
INA/GRM 275112 M750, 2000. 1 CD.
BAYLE, Franois. Thatre d'ombres. Cycle Bayle vol 12, Paris: Magison. M10 e
INA/GRM 248022 MU750, 1998, 1 CD.
CAESAR, Rodolfo. Circulos Ceifados. Obra indita, acervo pessoal do compositor.
Estruturas sintagmticas nos Momentos de Almeida Prado
Didier Guigue
Universidade Federal da Paraba (UFPB)
dguigue@cchla.ufpb.br
Resumo: Por constituirem uma longa srie composta durante considervel parte de sua trajetria artstica
(1963-1985, os 55 Momentos de Almeida Prado se tornam a priori um testemunho privilegiado da sua esttica
e tcnica composicional, inclusive, possivelmente, da sua evoluo no tempo. Investigamos este corpus com o
intuito de identificar denominadores estilsticos ou tcnicos. Uma articulao de tipo sintagmtico uma das
formas mais recorrentes de estrutura que temos encontrado neste ciclo. Descrevemos e ilustramos nesta
comunicao esta tcnica composicional e os conceitos tericos implicados.
Palavras-chave: anlise, teoria da composio do sculo XX, sintagma
Abstract: The 55 Momentos for piano cover a very large span (1963-1985) of Almeida Prados artistic
trajectory, in such a way they can be considered a good sample of his sthetics and composing technique, and,
possibly, their evolution. The analysis of the formal elements of this corpus led us to identify a very small
number of common structural principles, one of them based upon the concept of syntagma. In this paper we
describe and ilustrate this technique and the theoretical concepts beside it.
Keywords: analysis, theory of 20
th
century composition, syntagma
Introduo
Esta comunicao divulga parte dos resultados do projeto de pesquisa Validao e aplicao de uma
metodologia de anlise musical baseada no conceito de objeto financiado pelo CNPQ (523580/96-7),
realizado pelo autor com a colaborao de Fabiola Pinheiro, bolsista PIBIC. Um relato mais extenso
desta pesquisa foi previamente publicado (Guigue & Pinheiro, 2002).
Por constituirem uma longa srie composta durante considervel parte de sua trajetria artstica (55
peas escritas entre 1965 e1983), os Momentos de Almeida Prado se tornam a priori um testemunho
privilegiado da sua esttica e tcnica composicional. Investigamos este corpus com o intuito de
identificar denominadores estilsticos ou tcnicos, sendo nosso objetivo subseqente encontrar
elementos que possam fundamentar a insero do compositor como uma figura atualmente
predominante no grande eixo esttico que comea com Debussy e passa por Villa-Lobos, Messiaen, e,
ainda que tangencialmente, por Boulez, Stockhausen e Murail.
O fato de Almeida Prado ter apontado para a relativa informalidade dos Momentos que seriam
gestos espontneos sem pesquisa, segundo sua prpria expresso (in Costa, 1998) no significa
que no se justifica buscar as modalidades de articulao empregadas nos mesmos, pois onde h gesto,
h movimento, e por conseqncia tempo articulado.
O estudo exaustivo das modalidades de articulao dos Momentos revelou que apenas dois princpios
bsicos so responsveis pela articulao de 37 peas. Chamamos estes princpios de sonoridade
generativa e de estruturas sintagmticas, respectivamente. Trataremos somente nesta comunicao
desta segunda categoria.
Estruturas sintagmticas
Esta tcnica de articulao formal corresponde apresentao de uma dupla de objetos sonoros que se
relacionam de uma forma muita anloga ao sintagma no domnio da lingistica.
O objeto sonoro neste contexto uma entidade autnoma, com caractersticas sonoras prprias, e
normalmente isolvel para fins de manipulao composicional e/ou de reduo analtica. Objetos
sonoros articulados no tempo geram forma. O objeto sonoro o produto da interao e combinao de
componentes de nvel primrio (i.e. uma coleo de cromas, ou classes de alturas) com componentes
de nvel secundrio. Por componentes de nvel secundrio, entendemos, em primeiro lugar, os dois
parmetros complementares e indissociveis sem os quais o croma abstrato no se torna som a
saber, o registro (que transforma o croma em altura absoluta e irredutvel oitava) e a intensidade. Em
segundo lugar, as dimenses essencialmente estatsticas que configuram as modalidades de
distribuio acrnica e diacrnica dos sons. Finalmente, entram na configurao de um objeto sonoro
todos os artefatos fsicos visando a transformao global do som, sendo o mais comum entre eles, no
piano, a pedalizao (Guigue, 1995 & 1997).
Uma composio por objeto sonoro se caracteriza portanto por gerar a sua kynesis a partir desses
objetos, que embora complexos e multidimensionais, tornam-se simbolicamente atmicos, fonmicos,
sintaxe bsica da estrutura.
Quanto ao sintagma, segundo Saussure (1916), ele um conjugado binrio em que um elemento
determinante cria um elo de subordinao com um outro elemento, que determinado. Recuperamos
desta definio a idia de uma estrutura musical baseada num conjugado seqencial de dois elementos,
sendo que um deles determinado pelo outro, que determinante. Eventualmente (mas no
sistematicamente), uma relao subjacente pode transparecer em termos de elementos principal (o
determinante) e secundrio (o determinado). Por elemento, entendemos no caso uma classe de objetos
sonoros, considerada, no corpus em estudo, a entidade sinttica mnimal.
So reunidos dentro de uma s classe, objetos sonoros que se apresentam como declinaes da mesma
matriz. O termo declinao usado aqui no sentido de uma variao onde alguns componentes do
modelo so transformados enquanto que outros so conservados na sua forma original, sendo que,
salvo excees, os componentes conservados so aqueles que mais nitidamente identificam o objeto.
Em Almeida Prado, os componentes, em geral, so referentes s caractersticas timbrsticas dos
objetos, tal como intensidade, registro, textura, etc.
por reao ao objeto determinante que o objeto determinado se configura. Esta reao se d
usualmente por complementarizao ou oposio.
A elaborao de sintagmas de sonoridades constitui de fato o sistema composicional favorito de
Almeida Prado nos Momentos, j que encontramos 24 peas organizados segundo este. Se destaca
nessa tcnica a modalidade onde a configurao sonora dos dois objetos do conjunto se coloca em
oposio diametral, o segundo objeto reagindo ao primeiro invertendo todas as suas caractersticas
paramtricas
1
. O paradigma desta construo se encontra no Momento n. 1 do volume editado pela
Ricordi, de 1969.
De fato, o compositor mesmo explica, em comentrio no final da partitura, que este Momento
baseado em dois tipos de movimentos (o que equivale a duas classes de objetos sonoros, na nossa
terminologia): {A}, um movimento rpido, fluido, que na partitura identificado como lquido,
irreal, e {B}, um movimento lento, denso, qualificado tambm de ptreo na partitura [fig. 1]. A
pea se constri com a reapresentao sucessiva desse sintagma, num total de 4 vezes.
[fig. 1]
1
Outra relao observada com freqncia, que no ser comentada aqui, a de complementarizao,
quando o objeto secundrio do sintagma funciona como ressonncia da sonoridade principal.
{B} determinado por {A} por dois fatores. Em primeiro lugar, o seu design encontra seu germe no
3 compasso de {A} (notas Mi-R-L acentuadas e fff) [v. fig. 1]. Em segundo lugar, seus
componentes so configurados de modo a realizar uma oposio sonora diametral a {A}, a qual
ilustrada no quadro 1. Os cromas em si no constituem fator determinante na estrutura, j que, segundo
informa o autor, tanto {A} como {B} so elaborados a partir de uma mesma srie de 9 cromas (Mi-
R-L-D-Mi-Sol-R-D#-R#) [v. fig. 1]. Esta reao por oposio diametral das sonoridades do
segundo termo do sintagma ao primeiro, tambm vai se tornar paradigma da articulao de muitos dos
Momentos.
[quadro 1]
A cada repetio do sintagma, {A} e {B} sofrem declinaes que tm como finalidade principal a sua
extenso temporal. Esta extenso provocada pela repetio de micro-clulas, fragmentos da srie
geradora (Mi-R-L, D#-R#), e sobretudo de uma nica nota, o R, que se torna, por fora desta
saturao, nota-som polarizadora da obra. Podemos conferir a primeira ocorrncia desta saturao na
fig. 1, ltimo compasso, que mostra o incio da primeira declinao de {A}.
No decorrer das quatro apresentaes do sintagma observamos a interpolao de certas qualidades de
{A} em {B}, e reciprocamente. o caso das intensidades, que evoluem de tal modo que {A} contem
cada vez mais eventos de forte volume, enquanto {B} termina pp. Notas Mi repetidas em semi-
colcheias destacadas e acentuadas, importadas de {B} [v. fig. 1] so presentes na ltima ocorrncia de
{A} [fig. 2], enquanto no ltimo {B}, aparece o R reiterado no agudo, que constitui um trao
caracterstico de {A} [fig. 3]. Salientamos ainda que na ltima vez, {B} omitido, o que confirme e
acentua seu carter secundrio.
[fig. 2]
[fig. 3]
O Momento 22 outro exemplo particularmente interessante de estrutura sintagmtica, porque a
oposio diametral se realiza principalmente na dimenso harmnico-espectral, j que {A} desenvolve
ressonncias inferiores no campo da trade de D maior, enquanto {B} aciona ressonncias superiores
baseadas na fundamental Sol. Esta situao instaura portanto uma bipolarizao de tipo
tnica/dominante no sintagma, fato aparentemente nico nesta categoria de obras [fig. 4].
[fig. 4]
Estamos diante de uma estrutura onde as dimenses espectrais e tonais so coordenadas e integradas
para gerar uma dinmica formal ao mesmo tempo nova, porm ancorada na histria e nas referncias
perceptivas do ouvinte. Observemos outros detalhes da relao de oposio [acompanhar na fig. 4]:
{A} sai do agudo, descendendo para o grave, mantendo no entanto um mbito globalmente
constante; ao contrrio, {B} comea no grave e vai se expandindo para o agudo, sem no entanto
desistir do registro grave, acabando por ocupar a quase totalidade da tessitura pianstica;
a trade de D arpejada lentamente, enquanto da trade Sol s ouvimos claramente a
fundamental, ainda que perturbada por rudos (os F e F# simultneos); no entanto, os
harmnicos 3 e 5 (que configuram a trade perfeita) acabam soando por simpatia, no meio das
demais ressonncias, pois a nota Sol espalhada em vrios registros de forma que a sua sonoridade
e espectro acabam predominando
2
;
a densidade de {A} baixa e a sua textura, oca no h mais que 2 sons simultneos, situados a
grande distncia intervalar um do outro. Em compensao {B} muito denso e cheio at 9 sons
simultneos, contendo intervalos pequenos (at de 2 menor);
finalmente, em termos de intensidade, {A} permanece forte enquanto {B} comea pp e vai
crescendo at fff.
A pea constituda de quatro repeties do sintagma, sendo que a ltima adota a forma atpica
{A}+{A}. Significa dizer que o termo {B} substitudo por mais uma declinao de {A}.
As declinaes de {A} vo no sentido da complexificao da ressonncia inferior, tornando a
sonoridade cada vez mais inarmnica. Em compensao, as pequenas modificaes da estrutura
interna dos acordes que formam {B} durante as suas duas declinaes no chegam a alterar
profundamente a sua sonoridade global, permanecendo inclusive a cada vez o crescendo, e o processo
de ampliao espacial. A diferena principal, que j frisamos, diz respeito ao ltimo acorde que
abandona a afirmao da trade de D para permanecer no contexto de Sol.
Concluso
2
Esta afirmao fundamentada numa anlise espectral (Guigue & Pinheiro, 2002, p. 86).
Embora de forma muito succinta, esperamos ter evidenciado nesta comunicao como estes
Momentos, apesar de criados, segundo o seu autor, sob a gide da espontaneidade, so estruturados
segundo um nmero muito restrito de princpios estruturais que ao mesmo tempo inserem Almeida
Prado dentro de uma certa esttica que tem a sua fonte em Debussy e Messiaen e o individualizam de
forma inteiramente original.
Referncias bibliogrficas
COSTA, Rgis Gomide. Os Momentos de Almeida Prado: Laboratrio de Experimentos
Composicionais. Dissertao de mestrado. Porto Alegre: UFRSG, 1998.
GUIGUE, Didier. Para uma anlise orientada a objetos. Cadernos de Estudo/Anlise Musical, S.
Paulo, n 8/9, 1995.
GUIGUE, Didier. Une Etude "pour les Sonorits Opposes" - Pour une analyse oriente objets de
l'oeuvre pour piano de Debussy et de la musique du XX sicle. Villeneuve d'Asq: Presses
Universitaires du Septentrion, 1997.
GUIGUE, Didier, & PINHEIRO, Fabiola de O. Fernandes. Estratgias de articulao formal nos
Momentos de Almeida Prado. Debates, Rio de Janeiro, n. 6, 61-88, 2002.
SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de Linguistique gnrale. Paris: Payot, 1916.
FIGURAS E QUADROS
Fig. 1: Sintagma {A}+{B} do Momento Ricordi n. 1. No ltimo compasso da figura aparece o incio
da segunda apresentao do sintagma, com a primeira declinao de {A}, saturando a nota-som R.
{A} {B}
Lquido, irreal petreo, denso
Agudo grave
Legato marcato staccato
Semisemifusas semicolchias
Globalmente pianssimo fortssimo
envelope de amp. acidentada quase plana
direcionalidade repetidamente descendente plana
Quadro 1: oposies diametrais entre os termos do sintagma.
Fig. 2: ltima apresentao de {A}, onde se verifica a intruso de elementos prprios de {B} nos dois
primeiros compassos (comparar com a fig. 1, sistema inferior). Notar a presena da nota-som
polarizadora R.
Fig. 3: ltima apresentao de {B}, onde se verifica a intruso de elementos prprios de {A} na mo
direita, em particular a repetio rpida do R agudo, caracterstica das declinaes 1 e 2 de {A}
(como se v fig. 1, ltimo compasso).
Fig. 4: O sintagma do Momento 22.
Organistas, compositores, construtores - a atividade
organstica no Brasil colonial
Dorota Kerr
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
dkerr@uol.com.br
Resumo: Estudo da transferncia e implantao de um modelo de atividade organstica, como parte
da organizao administrativa portuguesa a partir da criao do primeiro cargo, em 1559, na S da
Bahia at o fim do perodo colonial. um relato histrico. Objetiva estudar as caractersticas da
atividade organstica quanto ao a) estabelecimento da profisso, condies sociais do organista,
estipndios e relaes de servio com a Igreja, determinantes da execuo e composio musical; b)
desenvolvimento da atividade de construo de rgos, dentro do sistema de monoplio econmico.
A fundamentao terica vem dos conceitos e metodologia da histria social, principalmente a
partir dos trabalhos de Fernand Braudel, Albert Soboul e, mais recentemente, de linhas da
historiografia inglesa representada por Peter Burke e Eric Hobsbawm Concluses apenas parciais,
visto a extenso da pesquisa.
Palvras-chave: rgo no Brasil, organistas no Brasil, atividade musical perodo colonial
Abstract: I study of the transfer and implantation of a model of the organ activity, as part of the
Portuguese administrative organization starting from the creation of the first position, in 1559, in
the Cathedral of Bahia to the end of the colonial period. It is a historical report. Lens to study the
characteristics of the organist activity as for the a) establishment of the profession, the organist's
social conditions, stipends and service relationships with the Church, decisive for the execution and
musical composition; b) development of the activity of organ building, inside of the system of
economical monopoly. The theoretical foundation comes from the concepts and methodology of the
social history, according to Fernand Braudel's works, Albert Soboul and, more recently, of lines of
the English historiography acted by Peter Burke and Eric Hobsbawm No closing stages due to the
extension of the research.
Keywords: organ in Brazil, organists in Brazil, musical activity colonial times
Esta pesquisa aborda a atividade organstica no Brasil, em trs subreas: organistas
(atividade musical), compositores (a produo musical) e construtores (construo,
instalao e restaurao de rgos), sistematizando as reflexes feitas em meus trabalhos
Possveis causas do declnio do rgo no Brasil (dissertao de mestrado, UFRJ, 1985);
Henrique Oswald and Brazilian Organ Music. (dissertao de doutorado, Indiana
University, 1989); Catlogo de rgos da cidade de So Paulo, (Annablume, FAPESP,
2001); Catlogo crtico e comentado de obras para rgo solo de compositores
brasileiros, em andamento.
2
Justifica-se este estudo porque a atividade organstica tem sido ignorada na corrente
principal da historiografia da msica brasileira, que privilegia o compositor e composio
musical, centrando-se no encadear de biografias daqueles fazem a histria. O organista
tem ficado relegado quela massa annima da atividade musical, cujo trabalho muitas vezes
nem merece espao no registro histrico, porque o exerccio dessa atividade praticamente
no exige treinamento musical formal. Justifico tambm porque a atividade organstica
encontra-se em crise, ou mesmo desaparecimento. Nesse sentido, a pesquisa e o registro de
sua histria fazem-se necessrios antes que o tempo apague-a de nossas memrias.
O objetivo desta pesquisa recuperar, por meio da construo de uma narrativa
histrica, a atividade dos organistas no Brasil, a partir do sculo XVI e analisar esta
atividade como parte da histria do Brasil, no seu processo scio-econmico e cultural. A
primeira parte deste estudo trata da atividade no Brasil colonial e tem como ponto de
partida o incio da colonizao portuguesa no sculo XVI. Esta comunicao apresenta
algumas reflexes sobre o transplante da organizao administrativa portuguesa, sua
ligao com as atividades musicais da Igreja Catlica e implantao no Brasil nos primeiros
anos da colonizao.
Baseia-se nos conceitos e metodologias da histria social (histria nova)
desenvolvidos na Frana, a partir de 1929, por Marc Bloc e Lucien Febvre; em conceitos de
Braudel; nas modificaes que essa linha terica sofreu a partir de 1950 com Labrousse e
Soboul e nas contribuies da historiografia anglo-saxnica a partir da dcada de 60, com
sua nfase na histria social do trabalho (Hobsbawm, Burke, Thompson).
A extenso temporal da pesquisa justifica-se por basear-se nos trs tempos Braudel
(1958) - o tempo curto ou breve, o tempo mdio e o tempo da longa durao e por cobrir
a dinmica dos fatos sociais, do ponto de vista da poltica e administrao, das estruturas
sociais e da persistncia de traos culturais e ideolgicos. As trs referncias de medida
cobrem, na curta durao, a descrio dos homens, dos acontecimentos individuais e sua
interpretao no plano das ligaes sociais; no plano do tempo mdio, a histria das
conjunturas econmicas, sociais e polticas, e no plano da longa durao, as persistncias
culturais e sociais na histria da msica no Brasil. O trabalho dividir-se- em: narrativas
histricas e interpretativas das condies histrico-sociais e econmicas, que elucidaro a
3
trajetria desta atividade e comporo o grande painel proposto, e catlogo dos organistas
desde o sculo XVI.
A metodologia bsica a descrio e a explicao, procurando desvendar as
relaes sociais necessrias (Soboul, 1967, p. 28). No tempo da curta durao, utilizarei
mtodos da micro-histria (Ginzbgurg, 1998), cujo objeto o homem, o organista, o
acontecimento, e, num segundo momento, a descrio das ligaes, das reaes entre os
homens e os grupo: reao do individuo s presses do meio social, reao do meio ao ato
individual.(Soboul, 1967, p. 28). nessa dimenso social que o acontecimento e o
indivduo alcanam pleno significado histrico.
Este estudo envolver a contagem dos membros da profisso, hierarquizao e
reagrupamento dentro das diversas categorias sociais segundo o critrio da apropriao ou
da privao dos meios de produo e discusso sobre a dinmica social. O contar envolve o
descrever e tratamento quantitativo adequado aos dados; o ponto de vista qualitativo vem
por meio de anlise do fato qualificado e apreciado, buscando precisar os mecanismos das
relaes sociais e das relaes profissionais (Lefbvre, 1957, p. 99). Da a necessidade de
recorrer a conceitos enfatizados pela histria social, como o de estrutura social que se
entende como o conjunto orgnico de relaes e de coerncias, simultaneamente
econmicas, sociais e psicolgicas "que o tempo mal enfraquece e transmite muito
lentamente (Braudel, 1958, p. 725), levando ao estudo no s esttico dessas estruturas,
mas, e principalmente, de sua dinmica. Para discutir as categorias sociais, farei uso de
alguns critrios de classificao propostos por Lefbvre, critrios que se baseiam na
importncia concedida propriedade dos meios de produo e posio em relao
produo. (1957, p. 104) e que podem ser considerados vlidos tambm para esclarecer a
histria social anterior sociedade capitalista industrial. Outro conceito bsico o das
relaes sociais de produo, isto , a exposio do modo de propriedade e das relaes
entre classes sociais, conceito que se refere ao elemento mais permanente da atividade
humana: o trabalho e a produo. (Soboul, 1967, p. 38).
O estudo das estruturas sociais pode ser enriquecido com o exame de casos
particulares de alguns organistas, tornando-os representativos do grupo profissional por
meio de exame metdico de documentos ainda pouco explorados (Ginzburg, 1998, p. 27).
Estudos monogrficos sero realizados sobre alguns organistas que podem se constituir em
4
casos tpicos e adquirir valor geral de representao. A histria social , sem dvida, em
primeiro lugar, a dos grupos, mas os indivduos no podem reduzir-se a sinais annimos:
enquanto tipos representativos pertencem- lhe. Assim, o qualitativo e o quantitativo unem-se
numa aliana em que a preciso numrica acompanha a anlise descritiva, para restituir no
um homem abstrato, mas o homem simplesmente, o homem invisvel. (Soboul, 1967, p.
39). Embora ciente das modificaes e ramificaes diversas da Histria Nova, voltei- me,
no momento, para o estudo dos conceitos bsicos para recuperar alguns procedimentos
metodolgicos iniciais que podem ser teis a esta pesquisa. Da mesma forma o estudo
sobre o Brasil colonial ainda se centralizam nas grandes obras de explicao total, como
Buarque de Holanda, Faoro, Caio Prado.
Dois pontos marcam o inicio da atividade organstica no Brasil: a presena de um
organista, o franciscano Francisco Maffeo, entre os oito franciscanos, presididos por Frei
Henrique de Coimbra na esquadra de Pedro lvares Cabral, e a criao em 1559 do posto
de organista na S da Bahia, em atendimento solicitao do Bispo Dom Pero Fernandes
Sardinha, de 12 de julho de 1552 que dizia: No se esquea Vossa Alteza de mandar c
uns rgos porque este gentio amigo de novidades, muito mais se h de mover por ver dar
um relgio e tanger rgos, que por pregaes e admoestaes. (Diniz, 1971, p.11) O
posto foi criado e o ordenado estabelecido em doze mil ris em cada ano a custa de Minha
Fazenda enquanto se no acabar de fazer a dita S, porque tanto que for acabada haver o
dito ordenado de quarenta mil ris, e o dito Tangedor servir o dito Cargo conforme o
Regimento, que lhe dar o Bispo das Partes do Brasil e o Cabido da cita S.(Documentos,
1937, p. 27-28).
Os dois fatos mostram como o sistema religioso portugus acoplava-se ao poltico e
administrativo portugus. Portanto, preciso reportar histria portuguesa e forma de
colonizao implantada, assentada em uma determinada concepo de Estado. Em
Portugal, o rei era senhor de tudo, de pessoas e de bens. Seu poder baseava-se na fora
militar e na tradio visigtica. Assentava-se, economicamente, nos ingressos advindos da
propriedade fundiria, do comrcio, principalmente martimo desde os meados do sculo
XIII, e dos impostos sobre comrcio, guerra, justia civil e servio religioso. (Faoro, 2000,
p. 13). base econmica alia-se a administrao, que visava preservao da estrutura,
atenta a qualquer sinal de desagregao desta.
5
preciso tambm entender a forma econmica o capitalismo comercial e como
Portugal o desenvolveu de forma a abandonar sua vocao agrria. Seu sistema comercial
ampliou-se para o Mediterrneo e para o Oriente, desde o sculo XIV, cujo desenrolar
levou chegada ao Brasil. Do ponto de vista social, alm da nobreza e do clero, a sociedade
portuguesa, nessa passagem para uma economia comercial, passou a contar com uma
camada mdia, no ligada ao trabalho da terra, financiadora das novas atividades mercantis.
O rei, entretanto, estava acima de tudo, tendo o Estado como sua prpria empresa
particular. A Coroa, s ela e mais ningum, dirige a empresa que seu monoplio
inalienvel. As terras descobertas, como se fossem conquistadas, pertenciam, de direito e de
fato, monarquia. Senhora das terras e dos homens, -o, tambm das rotas e do trfico. Do
exclusivo domnio sobre as descobertas e conquistas decorre, naturalmente, o monoplio do
comrcio, que leva ao capitalismo monrquico, sistema experimental de explorao
econmica ultramarina.(Dias, 1963, p.359-360).
A relao entre Igreja e Estado portugus era marcada pela submisso do clero aos
poderes reais, com a poltica de conquista de sditos (lavradores, artesos, mercadores)
para o lado da Coroa, por meio do estmulo organizao municipal, aos conselhos e pela
atribuio jurisdicional, que se evidencia desde o sculo XIII. No plano ideolgico, passa-
se a distinguir entre o direito romano e o direito cannico. Assim, o clero, que tinha usado
do direito romano para justificar legalmente seus privilgios como parte de sua misso, v a
Coroa apropriar-se de suas mesmas justificaes. A ruptura dos dois direitos faz distinguir
o dominare, reservado nobreza territorial, e o regnare, exclusivo do prncipe, embrio da
futura doutrina da soberania, cujo proprietrio ser o rei. Refinado o pensamento, o
conceito de propriedade do reino se elevar para reconhecer ao soberano a qualidade de
defensor, administrador e acrescentador, teoria que assenta sobre o domnio eminente e no
real. (Faoro, 2000, p. 16). Submetido ao poder do Rei, o clero acompanha-o em seus
empreendimentos, buscando justificativas religiosas e filosficas para as posies
assumidas, com resultados prticos para a atividade organstica.
Assim, a figura de um organista na expedio de Cabral no deve ser vista apenas
como um fato curioso, mas como um sinal da relao estreita entre Igreja e Coroa,
parceiros nessa empreitada. A primeira fornecia o suporte religioso e ideolgico necessrio
para manuteno da forma de organizao e administrao da empresa comercial. A criao
6
do cargo de organista na S da Bahia reflete a concretizao da relao da base
administrativa e econmica com o aparato e organizao religiosa. Como tudo o mais, o
cargo de organista era tambm uma prerrogativa da Coroa, com pagamento dela advindo,
por meio da Fazenda Real, e atividades e obrigaes determinadas principalmente pelo Rei.
A organizao da S da Bahia aconteceu a partir da mudana no sistema
administrativo da colnia, que passou da experincia parcialmente fracassada das
donatarias para o sistema centralizado de um governo geral (1549). Esta mudana no foi
apenas administrativa. Revelava maior nfase na procura de mais lucros comerciais e na
garantia de manuteno do poder real sobre a empresa. A ocupao da terra passou tambm
por uma mudana. Exigindo fixao no litoral, para facilitar os contatos e o controle de
Portugal, a Coroa impedia, assim, qualquer incurso para o interior da terra. No formato de
ocupao imposto, a centralizao era o meio adequado, j cristalizado tradicionalmente,
para o domnio do novo mundo. (Faoro, 2000, p. 164).
Esta rpida exposio mostra, em linhas gerais, o modo de implantao
administrativo e econmico portugus, mas para entendimento da atividade do organista
temos tambm que reportar organizao musical religiosa em Portugal e tentar
estabelecer, num segundo momento, as relaes entre as formas de atividades.
A primeira questo diz respeito formao dos msicos da capela de cantores que
passou a se dar com a criao das schola cantorum em cada catedral, segundo modelo que
se julgava advir da tradio do Conclio de Laodicia (sculo IV) e do Papa S. Gregrio
Magno. Em Portugal, o modelo foi implantado aps a reconquista crist (sculos XI-XII)
e, a partir do sculo XIII, as catedrais de Braga, Porto, Coimbra, Viseu, Lisboa e vora
comearam a ser construdas, material e administrativamente subordinadas Coroa
portuguesa. Nessas catedrais surgiram os primeiros centros de formao litrgico- musical
em Portugal. Existiam tambm as escolas capitulares, organizadas segundo o modelo dos
mosteiros de Cluny, Frana. A nfase era dada aprendizagem da teoria musical, da
educao da voz, da memorizao das melodias e o conhecimento das cerimnias segundo
o directorio litrgico.(Valena, 1990, p. 30). Recrutavam-se crianas para essa formao; a
partir da adolescncia, os que desejassem podiam seguir os estudos e ingressar na carreira
eclesistica como capeles cantores e chegar a Cantor, ou Praeceptor, o mais alto grau na
hierarquia musical. Esse ttulo exigia do seu detentor a incumbncia de ensinar os demais e
7
de escolher o repertrio musical. Assim como a carreira era regulamentada e organizada, as
atividades dos membros da capela tambm o eram. A presena diria de cantores e
organista era quase sempre obrigatria, principalmente nas Ss e mosteiros, para as missas
capitulares, ou conventuais, para os Ofcios das Horas diurnas e noturnas, controlada por
um apontador, com punies para os faltosos, entre outras normas de comportamento e
atuao musical.
O recrutamento de meninos ocorria, principalmente, entre as camadas mais baixas
da sociedade, e a possibilidade de seguirem uma carreira eclesistica na msica trazia
muitos benefcios econmicos, alm do suporte moral e da posio cultural que lhes era
atribuda como membros de uma capela. Segundo Valena, tudo isso arrastou o organista
para um elevado estatuto social. (1990, p. 33). No se sabe precisamente quando o
organista foi inserido na schola cantorum e no servio litrgico. Em Portugal, documentos
indicam que a S de Braga parece ter sido a primeira a contar com um organista na capela
dos cantores a partir de 1326, prtica que foi se incorporando s demais Ss. Se de incio os
rgos eram usados para manter a afinao dos cantores e melhorar a entonao, pouco a
pouco, por volta do sculo XIV, pode-se dizer que esta atividade comeou a se tornar uma
arte independente.
Assim era a organizao musical da Igreja em Portugal quando da descoberta do
Brasil. Os responsveis pelas viagens ultramarinas podiam levar, em suas armadas, uma
capela de cantores e organista, como fez D. Fernando na expedio militar ao norte da
frica em 1437, quando levou o tangedor de rgos Joo lvares. Portanto, junto com os
franciscanos da esquadra de Cabral tambm cabia a presena de um organista. Sobre o
rgo, pode-se supor tratar-se de um instrumento portativo, pequeno, usado na Europa para
acompanhar nas procisses, levado preso junto ao corpo do organista que tocava o teclado
com uma das mos enquanto com a outra acionava o fole.
O primeiro organista no Brasil foi Padre Pedro de Fonseca, portugus. Foi ele que
assumiu o posto criado na S da Bahia e comeou a tanger os rgos da dita S no dia de
Natal de 1559. Recibos de pagamento, encontrados pelo pesquisador Padre Jaime Diniz,
mostram que at agosto de 1561 esteve no cargo; deixou-o para ser proco da parquia da
Freguesia de Vila Velha, no qual permaneceu at 1565. Sabe-se, at agora, o nome de seu
sucessor, padre Francisco da Luz. O estudo das figuras particulares para estabelecimento de
8
origem e status social, relaes com a Igreja ainda est no incio. Mas guisa de
concluses parciais pode-se dizer que organistas brasileiros de origem s a partir do sculo
XVII. H notcias sobre organistas nascidos na Bahia a partir da primeira metade do sculo
XVII, como Marcos do Desterro, de pais nobres, monge msico e organista no Mosteiro
Beneditino do Rio de Janeiro. Sendo um cargo ligado administrao portuguesa, boa parte
era ocupada por portugueses. Sendo eclesistico, contava com aqueles que a prpria Igreja
formava e que buscavam uma carreira religiosa. No raro um organista ou mestre-de-capela
podia se tornar proco e, at mesmo, superior de uma ordem. A possibilidade de entrada de
msicos no ligados carreira eclesistica parece ter sido um processo que se desenvolveu
lentamente a partir da segunda metade do sculo XVII.
Na segunda metade do sculo XVII h documentos sobre organistas da Santa Casa
de Misericrdia da Bahia, dos Mosteiros beneditinos da Bahia e do Rio de Janeiro, das
Catedrais da Bahia, de Olinda. Nicolau Miranda comeou como organista da Santa Casa de
Misericrdia da Bahia em 1684 e, entre muitas idas e vindas, ficou no cargo por 61 anos.
Ao final, ao invs de salrio, recebia apenas esmola. Seu estudo ser elucidativo para se
compreender no seu destino pessoal, mas sim profisso dentro do contexto das estruturas
sociais da poca e as relaes de poder estabelecidas.
Referncias Bibliogrficas
BRAUDEL, Fernand. Histoire et sciences sociales: la longue dure. Annales, Economies,
Societs, Civilisations. Paris, vol.4, p. 01-66, 1958.
DIAS, Manuel Nunes. O capitalismo monrquico portugus.Coimbra: Viso, 1964.
DINIZ, Pe. Jaime. Velhos organistas do passado (1559-1745). Universitas, no. 10, p. 5-42,
1971.
DOCUMENTOS histricos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1937.
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
LEFEBVRE, Georges. Un colloque pour letude des structures sociales. Annales
historiques de la Rvolution franaise. Paris, julho-setembro, p. 10-48, 1968.
SOBOUL, Albert. Descrio e medida em histria social. Colquios da Escola Normal
Superior de Saint Cloude. Paris, vol. 5, p. 4-38, 1967.
VALENA, Manuel. A arte organstica em Portugal (c. 1326-1750). Braga: Editora
Movimento, 1990.
Anlise das propores de uma palheta de fagote na performance de
trechos musicais do repertrio orquestral
Ebnezer Nogueira
Universidade de Braslia (UnB)
ebby@unb.br
Resumo: Este trabalho tem como objetivo relacionar as propores de uma palheta para fagote e
seu desempenho no repertrio orquestral para fagote. Estas propores foram pesquisadas durante
um perodo de dois anos onde foram analisadas palhetas de fagotistas profissionais e a literatura
orquestral. O resultado da pesquisa foi encontrar uma relao entre as propores de uma palheta
com seu desempenho na literatura orquestral e que fagotistas moldam suas palhetas par atingir a
eficincia performtica neste repertrio.
Palavras chave: fagote, palhetas, propores
H mais de cinco sculos o homem tem usado palhetas duplas para a produo de
som em instrumentos musicais. Estas palhetas tm evoludo para o que conhecemos hoje
como palhetas duplas para obo, Obo dmore, corne ingls, hekelphone, fagote, fagote
barroco e contrafagote. Estas palhetas so confeccionadas de modo artesanal e no
obedecem regras especficas quanto a tamanho e propores.
A palheta tem a mesma funo de uma corda num violino ou violoncelo, o seja
vibrar para a obteno do som. S com a vibrao de uma palheta que podemos ouvir o
som produzido pelo fagote. Enquanto dispomos de quatro cordas no violino com diferentes
dimenses e espessura para tocar nos registros, grave, mdia e agudos dispomos apenas de
uma palheta para fazer o mesmo. A palheta pode ser feita para tocar em determinado
registro favorecendo assim uma tessitura a ser executada, porem mesmo com os mais novos
avanos na construo de instrumentos e tudeis podemos notar que a palheta responsvel
pela resposta em todos os registros do fagote e que o mesma oferece limitaes quanto a
execuo em todos os registros do fagote. Dessa forma podemos dizer que uma palheta
oferece um comprometimento entre os registros, pis quando confeccionado uma palheta
para o registro mdio os outros so menos favorecidos em detrimento deste e assim por
diante.
De maneira geral podemos dizer que uma palheta larga responde melhor no registro
grave enquanto uma palheta mdia responde melhor no registro mdio e uma palheta
pequena no agudo. Estes tamanhos so referentes s propores usadas para a confeco
de palhetas como na fig.2. O ideal seria que um fagotista pudesse,ao curso de uma obra,
trocar de palheta para cada registro assim como fazem os instrumentistas de corda o que
impraticvel durante a performance musical. Um msico no dispe de tempo para a troca
de palhetas durante a performance.
Podemos notar que no fagote as diferenas entre propores de palhetas tm uma
relao direta com a parte que o fagotista desempenha na orquestra. Um segundo fagotista
faz uso de uma palheta que oferea propores compatveis com o trabalho a ser
desempenhado, ou seja, a performance no registro grave e mdio do fagote. Os fagotistas
que desempenham o papel de segundo fagotista na orquestra tocam grande parte de seu
repertorio nos registros grave e mdio do fagote. Um primeiro fagotista modela sua palheta
com as possibilidades da performance no registro mdio e agudo, pois o repertorio esta
escrito nesta tessitura.
A literatura musical fagotistca requer que o fagotista tenha agilidade e maestria em
todos os registros do fagote. A maneira que os compositores optam pelo fagote diferente,
por exemplo, da maneira utilizada pelos compositores quando compe para trompas. No
caso das trompas temos especialistas para o registro grave e registro agudo. Quando
necessrio os compositores optam por utilizarem a segunda trompa ou quarta em solos
graves e primeira e terceira trompras em solos agudos. Mas no caso dos fagotes e madeiras
isto no ocorre, solicitado ao fagotista (tanto primeiro como segundo) o domnio de todos
os registros do instrumento.
Fig.1 Tchaikovsky Sinfonia N.6 Pattica
Como podemos observar este solo de primeiro fagote (Fig.1) que inicia a sexta
sinfonia de Tchaikovsky escrito no registro grave com crescendos e diminuindos e Sf
este exige um controle da palheta neste registro. A palheta deve obedecer a propores que
possibilitem a execuo deste trecho. Para este fim podemos observar uma palheta de
fagote com as seguintes partes(fig. 2):
Fig.2 (Grfico da palheta de fagote)
A espao entre o primeiro arame de amarrao e o segundo arame. B largura da
ponta da Palheta. C Espao entre o primeiro arame de amarrao e a ponta da palheta.
D o tamanho total da palheta. E a largura do tubo para a afixao da palheta no tudel.
F a largura da garganta da palheta. preciso que a cana para confeco da palheta se
mantenha constante, ou seja, sem alterao para todas as propores propostas.
No solo da fig. 1 se faz necessrio um maior domnio do registro grave que ser
obtido com melhores resultados se F for maior ou igual a 0,8mm, D igual 6cm, B
igual 1,5 cm, E igual 0,8mm, A igual 0,5mm e C igual 2,8cm. Uma palheta
onde F menor que 0,8mm podemos observar um estrangulamento e resistncia na
execuo deste trecho musical.
Fig.3 Abertura em D G.S. Bach
Os trechos no registro mdio do fagote podem ser executados com as mesmas
propores do trecho anterior ,mas com F igual 7,5mm e B igual 1,2 cm. Quanto
maior F menor ser a agilidade para staccato na regio mdia do fagote. Estas
propores parecem ocorrer com grande freqncia quando analisamos as dimenses das
palhetas de fagotistas profissionais por se tratar de uma regio onde est localizada a maior
parte dos solos para fagote.
Fig.4 Sagrao da Primavera, I. Stravinsky
Nesta obra de Stravisky (fig.4 ) podemos observar o uso do fagote no registro
agudo. Este registro pode ser um pesadelo, pois o fagote quando tocado com palhetas onde
F maior que 0,7mm tende a oferecer ao fagotista grande dificuldades para a execuo
desta obra. Um dos problemas encontrados que na mesma abertura Stravinsky usa o
fagote no registro agudo e mais tarde no registro grave dificultando a execuo. As
propores de uma palheta para este caso seriam de F igual 0,7mm e B igual 1,2cm
mantendo-se todas as outra propores. Quando as devidas propores no so atendidas o
fagotistas obrigado a laar mo de tudeis especficos para a execuo no registro guo do
fagote, estes tudeis por oferecerem uma certa agilidade no registro agudo tem uma
qualidade de som discutvel.
Varias so as obras escritas para o fagotista moderno no sculo XX, algumas
oferecem obstculos ainda maiores para a produo de som no registro agudo como o
caso de Wozzeck de A.Berg.
Fig.5 Wozzeck, A.Berg
Nesta obra as propores da palheta so exageradas quanto ao tamanho. Neste
casso a necessidade de se tocar um f5 faz com que F seja igual ou menor que 0,6mm,
D igual 5,5cm , B igual 1cm e C igual 2cm. Esta palheta um acaso parte,
pois sua funo apenas de tocar no registro agudssimo do fagote sendo desfavorvel
performance nos outros registros.
Os exemplos musicais aqui apresentados (fig. 1 fig.3, fig.4 e fig.5) representam os
registros do fagote na literatura orquestral. Todos exemplos fazem parte dos trechos
orquestrais avaliados no concurso para o cargo de fagotista na Orquestra sinfnica de
Chicago e que fazem parte dos concursos de orquestras sinfnicas.
Nas propores usadas para a confeco de palhetas podemos notar que ela obedece
as necessidades de cada fagotista para tocar determinado trecho orquestral. As propores
de uma palheta podem identificar as necessidades de um fagotista quanto ao repertrio por
ele executado. A palheta se torna fator determinante na produo individual de som para
cada fagotista, o que pode ser observado em orquestras do mundo todo. Estudos mais
aprofundados se fazem necessrios para determinar outros fatores que influem na
confeco e produo de som no fagote como, variaes outras em proporo e material
empregado.
Bibliografia
Baines, A. Woodwind instruments and their history. New York: Dover, 1991.
Beebe, Jon P. Music for Unaccompanied Solo Bassoon. Jefferson, NC: McFarland &
Company, 1990.
Bulling, Burchard. Fagott Bibliographie. Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag,
Heinrichshofen Bucher, 1989.
Clark, David Lindsey. Appraisals of Original Wind Music: A Survey and Guide. Westport:
Greenwood, 1999.
Fletcher, Kristine Klopfenstein. The Paris Conservatoire and the Concert Solos for
Bassoon. Bloomington University Press: Indiana University Press, 1988.
Horne, Aaron. Woodwind Music of Black Composers. Westport: Greenwood, 1990.
Jansen, Will. The bassoon: its history, construction, makers, players and music. Buren:
Frits Knuf, 1978.
Koenigsbeck, Bodo. Bassoon Bibliography. Monteux, Francce. Musica Rara, 1994.
Lehman, Paul R. The harmonic structure of the tone of the
bassoon. Seattle, Wash., Berdon, 1965.
Sadie, Stanley ed. New Grove Dictionary of Musical Instruments. New York: Grove's
Dictionaries of Music, 1984.
Sallagar, Walter Hermann and Michael Nagy ed. Fagott forever: eine Festgabe fur Karl
Ohlberger zum achtzigsten Geburtstag.Wilhering: Hilaria, 1992.
Wilkins, Wayne. The Index of Bassoon Music Including the Index of Baroque Trio
Sonatas. Magnolia, AR: The Music Register, 1976.
Flauta doce: um estmulo na iniciao musical
Edna Vieira
Escola de Arte Veiga Valle (Goinia-GO)
eacvieira@bol.com.br
Edivnia Medeiros de Lima Borges
Escola de Arte Veiga Valle (Goinia-GO)
edivaniamedeiros@ibest.com.br
Eliane Leo
Universidade Federal de Gois (UFG)
elianewi2001@yahoo.com
Resumo: Este estudo tem como objetivo, verificar a flauta doce como estmulo na iniciao musical.
Baseou-se na hiptese de que atividades musicais envolvendo a flauta doce promovem a aprendizagem
da leitura e escrita musical. Comparou-se oito grupos, quatro experimentais e quatro controles, com
idade mdia de nove anos, matriculados na iniciao musical, em duas escolas de msica, uma
municipal, outra estadual, da cidade de Goinia-GO. Os experimentais, alm do contedo regular do
curso de msica, tiveram aulas de flauta doce com as atividades de leitura e escrita. Os controles s
tiveram aulas de msica. Foi observado o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, evidenciados como
aspectos essenciais no desenvolvimento da leitura e escrita musical. A aprendizagem musical
tambm foi estudada. Os controles no demonstraram o mesmo desempenho dos grupos experimentais
nestes dois aspectos. Os controles no tiveram desempenho satisfatrio na apresentao final, na
leitura e na escrita musical.
Palavras Chaves: flauta doce e alfabetizao; ensino de msica; pesquisa em msica
Abstract: This study aims to study the flute as a stimulus in musical initiation. It is based on the thesis
that music activities foster the learning of reading and of music writing involving the flute. Eight
groups were compared, four experimental and four control, with the average age of nine years,
enrolled in the musical initiation, in two music schools - one in a municipal and the other in a state
school, in the city of Goinia-GO. The experimentals, besides the content of the regular music course,
had classes on the flute alongside with reading and writing activities. The control groups only had
music classes. The cognitive development of the subjects was observed, highlighted as essential
aspects in the development of music reading and writing. The musical learning was also observed. The
control groups did not show satisfactory performance in the final presentation in the reading or in the
musical writing.
Keywords: flute and literacy; music teaching; music research
INTRODUO
Trabalhos que sugerem atividades de alfabetizao musical (leitura/escrita), tm sido
apresentados por educadores musicais. FONSECA e SANTIAGO (1993), MARZULLO
(2001), ROCHA (1986), KREADER (1997) escreveram sobre atividades para serem
vivenciados na musicalizao. A influncia da flauta doce, como estmulo no
desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem, tem sido discutida e vivenciada em outros
pases. No Brasil, ainda existe literatura em nmero limitado e espera-se contribuir com o
resultado desta investigao com novas propostas para a soluo do maior problema da
atualidade: o baixo rendimento na classe de musicalizao. H evidncias de que o trabalho
de musicalizao, feito em grupo, traz melhores resultados na aprendizagem, nas relaes
interpessoais e na satisfao com a performance (CRUVINEL, 2003). A necessidade de
atividades musicais envolvendo a flauta doce e o conhecimento de sua metodologia, faz com
que o professor de iniciao musical, interessado nesta metodologia, se sinta na obrigao de
poder aplicar mtodos que preconizem e possam garantir aos sujeitos um bom contato inicial
com os conceitos e efeitos musicais. Ensinar msica pressupe promover, no s as atividades
musicais mas, sobretudo, as atitudes criadoras do sujeito. A iniciao musical, incentivando o
sujeito a participar do ritmo, do movimento, dos sons meldicos e da improvisao, leva-o a
perceber os efeitos da msica, gostar do que est fazendo e caminhar gradativamente na
criao da mesma, usando os seus elementos. Este estudo buscou investigar a flauta doce
como estmulo na aprendizagem da leitura e escrita musicais, numa proposta didtico
pedaggica, atravs de uma seqncia de atividades sistematizadas, para obteno de dados
que mostrassem que a aprendizagem e o gosto musical se desenvolvem pela experimentao.
As aulas foram baseadas em KODLY (1988), FIGUEIREDO (1992), e outros, que
evidenciam que as atividades pedaggicas se baseiam na vivncia e experimentao dos
elementos musicais. O sujeito, construindo o processo de leitura e escrita musical do que l,
aprende msica com mais facilidade. Os resultados do presente estudo culminaram em
apresentaes de flauta doce dos grupos experimentais e tambm com a orquestra jovem e
orquestra filarmnica. Algumas destas apresentaes foram em teatros e para governantes.
METODOLOGIA:
O presente estudo, foi realizado no perodo de maro a dezembro de 2002, para comparar oito
grupos, quatro de controle e quatro experimentais (desenho idntico), totalizando 15 sujeitos
em cada grupo, totalizando 120 sujeitos. A idade mdia de nove (09) anos, matriculados na
musicalizao de duas escolas de msica, uma da rede municipal e outra da rede estadual da
cidade de Goinia-GO. Os grupos de estudo foram distribudos em quatro para cada escola.
Dois experimentais e dois de controle. Os sujeitos dos grupos foram submetidos a um teste de
aptido musical rtmico e meldico elaborado pelas professoras pesquisadoras juntamente
com uma banca examinadora para o ingresso dos sujeitos na escola de msica. As aulas de
musicalizao foram baseadas nos preceitos de Kodly, Z. (1982), com durao de 45
minutos, duas vezes por semana, e filmadas com o objetivo de no se perder nenhum dado da
pesquiza-ao (BARBIER, R. 1996). As atividades musicais dos grupos experimentais (1, 2, 3
e 4), foram ministradas pelas pesquisadoras, seguindo uma seqncia de atividades musicais
sistematizadas para este estudo, para serem usadas no processo, passo a passo, de acordo com
o desenvolvimento e interesse dos sujeitos. O texto bsico para as sesses/aulas foi
Musicalizao (no prelo), de Vieira e Borges. Os dados analisados para as avaliaes
resultantes dos trabalhos das sesses foram os resultados de aprendizagem bimestral
(leitura/escrita musicais e flauta doce), os pr e ps- testes e recitais. As anlises foram
conduzidas observando os fenmenos e elementos das sesses e as reflexes dos resultados
das avaliaes da aprendizagem. A cada nova introduo de contedo e atividades de leitura e
escrita musicais, trabalhou-se: vivncia rtmica, percepo e execuo de intervalos atravs
da voz e da flauta doce, solfejo e reproduo escrita de sons e frases meldicas. A princpio,
trabalhou-se graus conjuntos e melodias no tom de D maior, conduzindo gradativamente,
aprendizagem de outras tonalidades. Na medida que os sujeitos foram desenvolvendo na
aquisio de leitura, escrita, solfejo, leitura mtrica, leitura rtmica e produo auditiva de
intervalos e frases meldicas, introduziu-se msicas de cantigas de roda e msicas folclricas
como estimulo para o aprendizado da flauta doce. Observou-se durante o presente estudo, ao
longo de todas essas atividades, que a capacidade musical pode ser uma habilidade a ser
desenvolvida. O trabalho para as apresentaes pblicas teve uma participao mais ativa
tanto das pesquisadoras quanto dos sujeitos para se alcanar um resultado positivo. Foi
intensificado, aps um semestre, as atividades extra classe para ensaios das msicas do
instrumento flauta doce. Ritmos sincopados foram vivenciados auditivamente e trabalhados
nas msicas obedecendo o ensino de uma tcnica de aprendizagem e leitura do instrumento.
Os sujeitos no tiveram aulas individuais de flauta doce, pois objetivou-se o aprendizado em
conjunto. Os grupos controles no tiveram a influncia da flauta doce, seguindo o processo de
alfabetizao normal de ensino da escola. Os grupos controle tiveram poucos resultados
positivos na leitura e escrita musicais.
RESULTADOS
Os grupos controles, apresentaram um rendimento baixo na leitura, no solfejo, na afinao e
dificuldade rtmica se comparados com os grupos experimentais. Apesar de alguns sujeitos
dos grupos de controle terem sido aprovados, apresentam hoje, numa classe de linguagem
musical I (classificao quanto ao grau de aprendizagem da escola), um quadro em que as
professoras atuais de linguagem musical ainda tm que trabalhar muito a parte de percepo
rtmica e auditiva para que possam superar suas dificuldades. J o grupo experimental est
desenvolvendo um trabalho de flauta doce e percusso, tocando com alunos de instrumentos
de timbres diferenciados, tambm em um novo trabalho sistematizado de musicalizao. Os
sujeitos dos grupos experimentais, j manifestam o interesse em estudar um instrumento que
no seja a flauta doce, mas convictos, que este instrumento os estimulou, proporcionando o
prazer de tocar em conjunto. Observou-se neste estudo, que os grupos controles, a falta do
estudo da flauta doce, contribuiu para que os sujeitos no conseguissem expandir seus
conhecimentos sobre os estilos musicais, e se desenvolveram pouco musicalmente. O produto
final da atividade de aprendizagem dos grupos experimentais, culminou com uma
performance de flauta doce, em que os sujeitos tiveram vrias participaes em apresentaes
com a orquestra jovem e Orquestra Filarmnica Veiga Valle da escola estadual de msica.
Essas apresentaes foram para pais, governantes e pessoas importantes do estado de Gois e
Distrito Federal. Os sujeitos do grupo controle, por no terem tido a influncia da flauta doce
no participaram da performance com a orquestra filarmnica da escola. Nos testes (prova
terica, solfejo, leitura rtmica e ditado meldico), realizados durante o ano letivo, o grupo
controle no manteve o mesmo desempenho que o grupo experimental. Nos grupos
experimentais, como conseqncia deste estmulo, os sujeitos tiveram um crescimento quanto
improvisao espontnea, improvisao ldica conduzida, para criar um meio ambiente
que proporcionasse aos sujeitos meios de se expressarem, serem criativos, de viverem e
fazerem msica nas suas mais simples formas e manifestaes. O aprender a ouvir o som de
um instrumento e depois toc-lo fez com que os sujeitos expostos ao ambiente criativo
musical se interessassem pela msica em conjunto.
CONCLUSO
Observou-se atravs dos elementos determinantes do resultado do processo de alfabetizao
musical (leitura/escrita), evidenciados pelos vdeos que, nos grupos experimentais, o
desenvolvimento gradativo das atividades, proporcionaram maior desempenho na flauta doce,
nas atividades de percepo auditiva, percepo rtmica e meldica, produo criativa
musical, apreciao de msicas de vrios estilos como msica clssica, e o cultivo da
sensibilidade musical, imaginao e expresso. O gosto pela msica e o prazer em tocar em
conjunto com outros alunos e at professores das escolas, fez com que aumentassem o
interesse em fazer msica. Considera-se que a experimentao promoveu resultados positivos
dos quais no s desenvolveu uma habilidade em um instrumento como tambm musicalizou
os sujeitos de forma ldica, criativa atendendo s necessidades dos sujeitos ampliando a sua
cultura, enriquecendo a formao da sensibilidade musical, contribuindo na formao e
desenvolvimento da personalidade dos sujeitos. Questiona-se, entretanto a brevidade do
tempo utilizado na exposio dos sujeitos atividades que envolvem os ensaios. Sugere-se
uma continuidade deste estudo utilizando uma amostragem maior.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CHOKSY, Lois. The Kodly Method: Comprehensive Music Education from Infant to Adult.
2. ed. New Jersey: Paramount Comunications Company, 1988.
CRUVINEL, Flvia maria. Os efeitos do ensino coletivo na iniciao instrumental de cordas:
a educao musical como meio de transformao social. Goinia: Dissertao de Mestrado,
Escola de Msica e Artes Cnicas, UFG, p. 217, 2003.
FIGUEIREDO, Eliane Leo. Metodologia da Atividade Criadora em Msica: Revista Goiana
de Arte, v. 12/13, n.1 Jan./Dez, p. 32-46, 1991/1992.
FONSECA, Maria Betnia Parizzi; SANTIAGO, Patrcia Furst. Piano Brincando:
atividades de apoio ao professor. Belo Horizonte: Segrac, 1993.
KREADER, Barbara; KERN, Fred; KEVEREN, Phillip; REJINO, Mona; HARRINGTON,
Karen. Piano Theory workbook, book 1. Bluemond: Hal Leonard, 1997.
LANDIS, Beth; CARDER, Polly. The ecletic curriculum in American music education of
Dalcroze, Kodly and Orff. Virginia: Music Educators national Conference, 1972.
MARZULLO,Eliane. Musicalizao: 3 e 4 sries do ensino fundamental. Petrpolis: Vozes,
2001.
ROCHA, Carmen Maria Mettig. Caderno de exerccios para classes de iniciao musical.
Braslia: Musimed, 1986.
VIEIRA, Edna Aparecida Costa; BORGES, Edivnia Medeiros de Lima. Musicalizao (no
prelo), 2001.
O sentimento da brincadeira: novas modalidades de conhecimento da
msica folclrica
Elizabeth Travassos
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RIO)
etravas@alternex.com.br
Resumo: Nesta comunicao, comento a ampliao da curiosidade pelas dimenses tradicionais e
locais da cultura popular, nas ltimas dcadas do sculo XX. Refiro-me, especificamente, aos
grupos musicais-teatrais integrados por estudantes e artistas jovens que recriam, nas capitais,
espetculos da tradio popular. Meu objetivo contribuir para a compreenso dessa modalidade de
conhecimento do folclore que alia o estudo bibliogrfico s viagens, s oficinas e performance
dos repertrios musicais e coreogrficos. Msica e dana folclricas, mais do que temas de estudo
antropolgico ou etnomusicolgico, so um campo de experincias estticas: um saber sobre o
povo que redunda em um saber fazer como o povo. Essa abordagem do folclore afasta-se do
paradigma artstico modernista e apresenta pontos de contato com as propostas das chamadas
etnografias ps-modernas.
Palavras-chave: folclore, etnomusicologia, esttica, etnografia
Abstract: In this paper I deal with the growing curiosity for the local and traditional dimensions of
the Brazilian popular culture. More specifically, I refer to the musical-dramatic groups founded by
students and young artists. They recreate, in the main Brazilian cities, the traditional festivals that
usually take place in the rural areas and small cities. My purpose is trying to understand their
approach to the folklore an approach that allies bibliographical exploration, field trips, workshops
and the performance of musical and coreographical repertoires. Folk music and dance, more than
anthropological and ethnomusicological objects of study, become a field of aesthetic experiences.
This recreation of the folklore is different from the old modernist expectations of transforming folk
music in art music. I also point out some similarities with the so-called post-modern ethnographies.
Keywords: folklore, ethnomusicology, aesthetics, ethnography
O crescimento do interesse pelas dimenses tradicionais e locais da cultura popular,
nos ltimos 15 anos, contrasta com o lugar acanhado do Folclore (enquanto campo de
conhecimento) nos meios acadmicos. Grupos de estudantes e artistas jovens dinamizam o
circuito cultural alternativo das capitais do pas com bois que morrem e renascem,
maracatus movidos por moas tocando as alfaias, pastorinhas de longas saias coloridas.
Uma integrante de um desses grupos explicava-me que para conhecer a cultura popular
preciso apreender o sentimento da brincadeira. Tenho me dedicado a compreender esse
tipo de envolvimento com o folclore, que me parece bastante diverso daquele que animou o
modernismo nos anos 1920 e a virada nacionalista da cano popular, nos anos 1960.
Desenvolvo nesta comunicao a idia de que os grupos citadinos que recriam os
espetculos folclricos praticam uma modalidade de conhecimento orientada pela
imediatez da participao numa experincia esttica, e no pelo ideal cientfico de produo
de um discurso exterior ao objeto. Isso no significa que o estudo e a pesquisa no faam
parte das atividades rotineiras dos grupos. Ao contrrio: eles garantem o conhecimento de
primeira mo e a qualidade da informao.
Nesse sentido, as viagens de pesquisa que propiciam contatos diretos com os
mestres da cultura popular so muito valorizadas pelos entusiastas do folclore. O
deslocamento geogrfico-cultural e a interao face a face com os herdeiros das tradies
figuram como estratgias bsicas de abordagem da cultura popular, mas no tm como
objetivo a produo de trabalhos cientficos. O conhecimento de primeira mo pr-
requisito para a criao de espetculos que combinam dana, msica e dramatizao.
Um exemplo que atesta a relevncia da pesquisa e da viagem na elaborao artstica
dado pelo CD Turista aprendiz, do grupo musical paulistano A Barca, que interpreta
cantigas da tradio oral (muitas delas recolhidas por Mrio de Andrade e pela Misso de
Pesquisas Folclricas, de 1938). Os integrantes do grupo so apresentados como msicos
e pesquisadores. O livreto que acompanha o CD traz verbetes sobre os gneros musicais
interpretados, uma lista de fontes bibliogrficas e o relato da viagem de pesquisa musical
do prprio grupo. O texto escrito serve-se de recursos retricos constitutivos daquilo que o
historiador James Clifford chamou autoridade etnogrfica experiencial.
1
Veja-se o
seguinte trecho, no qual tocar com os msicos do interior do Par desponta como parte
importante da viagem:
A Barca conheceu e tocou com alguns grupos de carimb do Par, como os Brasas
Vivas, de Terra Alta, Novo Zimba e Canarinho, de Maracan [...] Com o grupo de
carimb de Santarm Novo, os Quentes da Madrugada, aprendemos as toadas Terra
do caranguejo, de Tic, e Aru, aru... (trecho de Apontamentos de viagem, do
CD Turista aprendiz. So Paulo: CPC-UMES, 2000).
Para resumir utilizando as subdivises caractersticas de nossa rea acadmica, eu
diria que o folclore no apenas um tema de pesquisa etnomusicolgica, mas sobretudo um
ramo das prticas de performance. Esta observao faz recordar a ciso entre modo
musical e modo verbal de discurso enfatizada por Charles Seeger como o cerne
problemtico da prpria musicologia. Os musiclogos acadmicos esto fadados a servir-se
de um modo de discurso qualitativamente diverso do discurso musical, resistente s
tradues literrias ou visuais.
2
Nos anos 1960, o etnomusiclogo Mantle Hood
vislumbrou na bi-musicalidade anloga ao bi-lingismo um mtodo para lidar de
maneira sistemtica com a irremedivel ciso entre fazer msica e falar sobre msica (v.
Hood 1971). Desde ento, tornou-se parte do saber corrente da disciplina a convico de
que no h substituto, na pesquisa de campo etnomusicolgica, para a intimidade que
nasce das experincias musicais compartilhadas. Aprender a cantar, danar e tocar no
campo um mtodo bom e muito divertido (Myers, 1992, p. 31).
3
Os benefcios do mtodo no esto em causa neste momento em que quero to
somente lembrar que, no mbito acadmico da etnomusicologia, cogita-se seriamente da
prtica de performance como mtodo de conhecimento de msicas estrangeiras ao
pesquisador. Entretanto, mesmo tendo aprendido o suficiente para cantar, danar e tocar ao
lado de seus intelocutores nativos, o etnomusiclogo no pode furtar-se ao salto para o
modo verbal de discurso: o bom pesquisador de campo diz a mesma Helen Myers
alcana o equilbrio entre participao e observao, visando sempre pesquisa cientfica,
sistemtica e emptica da arte da msica (Myers, 1992, p. 31).
4
Tocar e cantar so parte do
caminho na direo do conhecimento cientfico da arte da msica.
O enunciado do objetivo ltimo do trabalho etnomusicolgico pode no ter a mesma
clareza axiomtica para quem no est comprometido com os modelos institucionais de
pesquisa. o caso dos entusiastas do folclore, cujo objetivo maior a performance dos
repertrios tradicionais. Alm disso, a prtica que valorizam no se esgota numa recriao
habilidosa de gestos e cantigas. preciso captar o esprito da festa popular (por idealizada
que seja) recriando o ambiente de brincadeira que mobiliza vrios talentos expressivos de
cada indivduo e que preza, antes mesmo da excelncia tcnica e da beleza, a capacidade de
participar.
A observao dos espetculos alguns bastante informais e CDs produzidos pelos
entusiastas do folclore, nos ltimos anos, obriga a constatar que perdeu prestgio a
1
A autoridade experiencial, segundo James Clifford (1998), constitui-se por meio de uma escrita que enfatiza
o fato de o pesquisador ter estado l, observando e participando.
2
Uma boa discusso do problema da dupla traduo etnomusicolgica est no livro de Rafael Jos de
Menezes Bastos, recentemente reeditado (Bastos, 1999).
3
There is no substit ute in ethnomusicological fieldwork for intimacy born of shared musical experiences.
Learning to sing, dance, play in the field is good fun and good method (Myers, 1992, p. 31).
4
The successful fieldworker achieves a balance between participation and observation, aiming always for
scientific, systematic and sympathetic investigation of the art of music (Myers, 1992, p. 31).
preocupao modernista de elevar a msica popular tradicional, transfigur-la por meio
da tcnica, fazendo ento msica artstica. Em lugar disso, prefere-se abaixar a
performance, contamin-la pela espontaneidade e informalidade que supostamente
regem as festas populares. No por acaso, so os folguedos ou danas dramticas os objetos
do desejo: bois, maracatus, folias-de-reis, pastoris. Neles, dana-se e canta-se
simultaneamente, encarnam-se personagens, tocam-se instrumentos, louvam-se os santos e
atualizam-se mitos. Aprender textos e tcnicas no basta, preciso imergir na totalidade de
sons, imagens e gestos.
Algo da chamada etnografia ps-moderna, que nunca foi assumida seriamente por
antroplogos, parece ter encontrado seus realizadores. Se a traduo antropolgica no
meramente encontrar frases equivalentes, em abstrato, mas aprender a viver outra forma de
vida e falar outro tipo de linguagem (Asad, 1986, p. 149)
5,,
ento os empreendimentos de
que falo so um contraponto consciente ou no prtica do estudioso que produz textos
escritos. O antroplogo Talal Asad, apesar de reconhecer que o texto acadmico ainda o
modo de representao etnogrfica por excelncia, imagina:
Com efeito, poder-se-ia argumentar que a melhor maneira de traduzir uma
forma de vida estrangeira, uma outra cultura, no sempre por meio do
discurso representacional da etnografia; em certas condies, uma
performance dramtica, a execuo de uma dana ou de uma pea musical
podem ser melhores. Essas seriam todas produes do original e no meras
interpretaes: instncias transformadas do original, no representaes
textuais do original, dotadas de autoridade (Asad, 1986, p. 159).
6
Na medida em que pretende ser uma representao de outras culturas (e de outras msicas)
por um etngrafo (ou etnomusiclogo) que extrai sua autoridade do mtodo cientfico e, por
conseguinte, da prpria distncia que o separa dos nativos, a escrita etnogrfica tornou-se
problemtica. Para os defensores de outros modelos de etnografia, poesia e performances
5
...the anthropologists translation is not merely a matter of matching sentences in the abstract, but of
learning to live another form of life and to speak another kind of language (Asad, 1986, p. 149, nfase no
original).
6
Indeed, it could be argued that translating an alien form of life, another culture, is not always done best
through the representational discourse of ethnography, that under certain conditions a dramatic performance,
the execution of a dance, or the playing of a piece of music might be more apt. These would all be
productions of the original and not mere interpretations: transformed instances of the original, not
authoritative textual representations of it (Asad, 1986, p. 159-60).
podem ser adotadas, j que a prosa no estilo acadmico convencional carece das qualidades
desejadas de evocao.
7
Como um imaginrio etnomusiclogo ps-moderno, o recriador citadino do folclore
estaria livre dos dilemas morais e cientficos do estudioso acadmico, a quem conferida a
prerrogativa de falar sobre a msica dos nativos (o que freqentemente implica em
represent-la graficamente, com os meios mais ou menos precrios de que dispe). Talvez
o destino dessas idias seja frutificar fora do permetro acadmico e em reas especialmente
sensveis aos modos no-verbais de expresso.
Referncias bibliogrficas
ASAD, Talal. The concept of cultural translation of British Social Anthropology. In:
CLIFFORD, James e MARCUS, George (Ed.). Writing cultures. The poetics and politics of
ethnography. Berkeley: University of California Press, 1986, p. 142-64.
BASTOS, Rafael Jos de Menezes. A musicolgica Kamayur. Para uma antropologia da
comunicao no Alto Xingu. Florianpolis: Editora da UFSC, 1999.
CLIFFORD, James. Sobre a autoridade etnogrfica. In: A experincia etnogrfica:
antropologia e literatura no sculo XX. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998 (org. Jos Reginaldo
Gonalves), p. 17-62.
HOOD, Mantle. The ethnomusicologist. New York, 1971.
MYERS, Helen. Theory and method: fieldwork. In: MYERS, H. (Ed.). Ethnomusicology.
An introduction. New York: W. W. Norton & Co., 1992, p . 21-49.
Travassos, Elizabeth. Msica folclrica e movimentos culturais, Debates, 6, Rio de Janeiro,
2002, p .89-113.
TYLER, Stephen. Post-modern ethnography. In: GELDER, K. and THORNTON, S. (Ed.).
The subcultures reader. London: Routledge, 1997, p . 254-60.
7
V. a defesa de Stephen Tyler da capacidade de evocao: Since evocation is nonrepresentational, it is not to
be understood as a sign function, for it is not a symbol of, nor does it symbolize what it evokes... It is not a
presence that calls into being something that was absent; it is a coming to be of what was neither there present
nor absent, for we are not to understand evocation as linking two differences in time and place, as something
that evokes and something else evoked (Tyler, 1997, p. 256).
MEPSOM: uma proposta para ensino de programao para msicos
Eloi Fernando Fritsch
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Rosa Maria Viccari
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Antnio Carlos Borges Cunha
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
musica.eletronica@ufrgs.br
www.musicaeletronica.ufrgs.br
Resumo: O MEPSOM - Mtodo de Ensino de Programao Snica para Msicos - consiste em um
sistema de computao que disponibiliza um conjunto de atividades para programao de software
musical composto de exemplos e exerccios. O mtodo foi idealizado para ser uma ferramenta de
auxlio ao professor em cursos de Computao Musical, disponibilizando recursos didticos para o
ensino de programao nas reas de composio e educao musical. O MEPSOM foi
implementado sob a forma de programas de computador e utilizado em cursos de Computao
Musical na UFRGS.
Palavras-chave: computao musical, informtica na educao, ensino de programao snica.
Abstract: The current arcticle presents MEPSOM (Method for Sonic Programming Teaching
aimed at Musicians). MEPSOM consists of a computing system that puts available a set of activities
for musical software programming composed of examples and exercises. The method was idealized
as a tool to aid teachers in Computer Music courses, by supplying didactic resources for
programming teaching in areas such as music education and composition. MEPSOM was carried
out through the implementation of computer programs. It was applied in Computer Music courses at
UFRGS (Federal University of Rio Grande do Sul).
Keywords: computer music, computer and education, sonic programming teaching
1. Introduo
Composies de msica eletroacstica freqentemente so criadas atravs de
recursos provindos da informtica. Certos compositores limitam-se a utilizar apenas os
programas j existentes para seqenciamento e notao musical. Outros desenvolvem seus
prprios programas para obter resultados estticos de acordo com suas necessidades. A
flexibilidade na utilizao do computador na msica obtida atravs da programao.
Para auxiliar o msico a aprender programao de computadores com o objetivo de
desenvolver software musical, foi criado o MEPSOM Mtodo de Ensino de Programao
de Computadores para Msicos. A palavra Mtodo definida como sendo o caminho
para chegar a um fim (Ferreira, 1986). Logo, para este trabalho, o termo mtodo de
ensino corresponde ao caminho que o aluno tem que seguir para aprender determinado
contedo. O termo Programao Snica de Computadores significa a criao de software
para controle, organizao e gerao de sons atravs de processamento por computador.
Portanto, o Mtodo de Ensino de Programao de Computadores para Msicos o
caminho que o msico deve seguir para aprender a criao de software para controle,
organizao e gerao de sons atravs do computador. O MEPSOM formado por um
conjunto de programas organizados em nveis que constituem uma fonte de exemplos e
exerccios para utilizao em Laboratrios de Computao Musical. Os programas foram
desenvolvidos atravs do paradigma de Projeto Centrado no Msico. Os programas que
fazem parte do MEPSOM foram desenvolvidos para serem utilizados por professores de
Computao Musical e estudantes atravs do uso de instrumentos MIDI ligados ao
computador (Fritsch, 2002).
2. Trabalhos relacionados
Na literatura estrangeira encontramos sugestes para a organizao de cursos na
rea de msica e tecnologia. Deal (1997) prope um modelo de disciplina sobre msica e
tecnologia para cursos de graduao em msica, a partir dos requerimentos do NASM
(National Association of Schools of Music). Essa associao coloca a tecnologia como uma
das seis principais competncias dos estudantes de msica: tecnologia: por meio de estudo
e experincia em laboratrio, os estudantes devem ser familiarizados com as capacidades
da tecnologia em relao composio, execuo, anlise, ensino e pesquisa.
Linguagens de Programao como C e Pascal requerem tempo para serem
compreendidas. Em geral, o tempo de que o msico dispe para estudar uma linguagem de
programao insuficiente, o que pode lev-lo a desistir dessa tarefa.
O MEPSOM foi idealizado tendo como referncia obras que objetivam o ensino de
programao de computadores para msicos e concebido para que o msico aprenda a
programar utilizando um planejamento de recursos adequados e uma orientao tcnica
apropriada. Algumas dessas obras so Winsor (1989), Winkler (1998), Miranda (1998),
Miranda (2001), Dodge (1997), Messiack (1998) e Roads (1996).
Os tutoriais dos manuais das linguagens de programao consistem em outra fonte
de referncia para este trabalho, principalmente na fase de implementao. Foram
utilizados tutoriais de linguagens visuais
1
para aplicaes musicais como os de Zicarelli
(1988), Dobrian (1998), Redmon (1988) e Goodman (1990).
O diferencial do MEPSOM em relao a estas obras est no conjunto de requisitos
que oferece ao msico aprendiz de programao, o qual seja: programao visual,
abrangncia tanto da tecnologia de programao de comunicao entre instrumentos
eletrnicos quanto a programao de audiodigital, exemplos de exerccios baseados na
elaborao de programas para instruo musical, projeto centrado no msico e nfase na
abordagem do ensino da computao musical.
Algumas das principais caractersticas do MEPSOM para o ensino de programao
snica so: programao e prtica para iniciantes em computao musical, programao
visual - amigvel - interativa, ensino de programao baseado em exemplos, exerccios de
programao, programao da interface sonora. Em Fritsch (2002) so apresentados os
detalhes sobre as caractersticas do MEPSOM.
3. Contribuies do MEPSOM na rea da msica
As contribuies esto compreendidas nas reas da msica eletroacstica,
composio e educao musical e so:
a um mtodo de ensino indito de programao para a rea de msica
eletroacstica, utilizando recursos computacionais modernos para facilitar o processo de
aprendizagem dos msicos no estudo de programao de aplicaes musicais;
1
Linguagens Visuais possibilitam a programao de computadores atravs da combinao de elementos
grficos que constituiro o programa.
a desmistificao do uso de programao de computadores como recurso para
criao de material musical para composio;
a apresentao de algoritmos para composio auxiliada por computador de uma
forma visual com nfase nos resultados sonoros;
facilitao do processo de ensino de programao de aplicaes na rea da
educao musical, e ainda como recurso para motivar educadores e compositores a
utilizarem o computador na educao musical;
4. O Processo de Aprendizado de Programao Snica de
Computadores atravs de Exemplos
Programar a arte de ensinar procedimentos ao computador. O processo de
desenvolvimento de um mtodo para ensinar msicos a programar atravs de uma interface
visual e sonora est relacionado com os princpios do aprendizado humano e o aprendizado
de mquina. O MEPSOM baseia-se no ensino atravs de exemplos, utilizando-os como
forma de explicar idias ao estudante. Segundo Cypher (1993), em alguns casos, a
necessidade de exemplos um paradoxo, pois, de um ponto de vista lgico, os exemplos
no adicionam nenhuma nova informao explicao original. Se as regras so precisas e
esto completas, a sua simples apresentao pelo professor e a memorizao pelo estudante
no deveria ser o suficiente? A resposta no, pois os professores s vezes no tm certeza
absoluta de que esto apresentando regras totalmente completas e corretas, e os estudantes,
por sua vez, no tm a certeza se esto aprendendo os princpios corretos. O uso de
exemplos portanto, recomendado na situao de aprendizagem. O MEPSOM apresenta
um ambiente que estimula o ensino de programao de computadores atravs de exemplos.
5. A Organizao do Mtodo
O MEPSOM baseado em dois critrios: o tcnico, constitudo pela computao
musical, tecnologia musical e informtica; e o musical, constitudo pelas reas de
composio e educao musical. O MEPSOM est organizado em mdulos, de acordo com
os critrios adotados para a diviso das reas de conhecimento. Um mdulo um conjunto
de contedos de uma rea do conhecimento utilizada no MEPSOM. A Figura 1 representa
a organizao geral do MEPSOM e suas divises modulares.
M E P S O M
Introduo
Tecnologia
Aplicada Msica
Introduo
Computao e
Msica
Mdulo de Ensino
de Programao
para comunicao
entre instrumentos
musicais e
computadores
Programao com
Audiodigital
Aplicaes na rea de
Educao Musical
MAplicaes na rea de
Composio Musical
Elementos
Bsicos da
Programao
de
Computadores
Formas de estruturar o
pensamento e prtica de
operao de
computadores
Nvel do
Conhecimento
Bsico
Programao
Preparatria
NProgramao
Aplicada
Figura 1 A organizao bsica do MEPSOM
Atravs dessa organizao, o MEPSOM oferece a possibilidade da incluso de outras reas
da msica no Nvel de Programao Aplicada. Os mdulos apresentados na Figura 1 foram
implementados na linguagens MaxMsp
2
e HyperCard/HyperMIDI
3
.
O conhecimento bsico musical pressupe que o estudante tenha formao acadmica ou equivalente. Para
utilizar o MEPSOM aconselhvel que o aluno possua conhecimentos sobre composio, teoria e percepo,
orquestrao, harmonia e prtica de instrumento. O Nvel do Conhecimento Bsico apresenta o contedo
tcnico elementar que o aluno de msica deve adquirir para estudar programao de computadores. O Nvel
da Programao Preparatria tem a funo de apresentar o conhecimento tcnico necessrio
para a construo de um processo de aprendizagem em que o msico desenvolver sua
capacidade de programao. O Nvel de Programao Aplicada a Msica consiste em
exercitar, consolidar e aperfeioar todo o conhecimento provindo dos mdulos de
Conhecimento Bsico e de Programao Preparatria atravs de sua aplicao em reas da
msica como Composio Musical e Educao Musical. O Mdulo de Programao para
Composio Musical, por exemplo, foi desenvolvido considerando que o aluno j domine
tcnicas de organizao e gerao de materiais musicais. A adoo de mtodos
matemticos para a composio utilizando tcnicas estocsticas
4
e fractais
5
costuma ser
empregada em programao de computadores para a gerao de material musical. Portanto,
quanto mais aprofundado o conhecimento em tcnicas de composio, maior sero suas
possibilidades de desenvolvimento de algoritmos. Um exemplo de ensino de programao
para composio apresentado na figura 2.
Figura 2 Exemplo de Implementao do algoritmo random walk planar
8. Concluses e Trabalhos Futuros
Neste artigo apresentamos uma proposta de ensino de programao para msicos.
De acordo com a sua proposta inicial processos complexos de gerao musical por
computador no foram empregados, por criarem situaes de difcil soluo computacional
para o msico. Fazem parte dessa categoria de algoritmos complexos: fractais, redes
neurais artificiais, autmatos celulares e gramticas
6
. Se por um lado a ausncia desses
procedimentos resulta numa limitao do MEPSOM, por outro lado ela torna o mtodo
acessvel, claro e realizvel por alunos de msica sem formao na rea tcnica de
informtica. Outro fator limitante da pesquisa est no fato de que a grande maioria dos
algoritmos presentes no mtodo so destinados gerao automtica e interativa de
material musical para a composio. O mtodo no aborda solues para a construo da
forma musical atravs do auxlio do computador. Esse problema poderia ser resolvido em
trabalhos futuros em que novos algoritmos, visando construo de formas musicais,
possibilitassem a organizao do material musical produzido.
O MEPSOM no visa a substituir as funes do professor de computao musical,
ao contrrio, tem a finalidade de auxili-lo em aulas prticas com turmas numerosas,
servindo como recurso didtico.
Por fim, o MEPSOM ir contribuir para o desenvolvimento das atividades criativas
e construtivas dos msicos, possibilitando que aprendam, atravs de exemplos, o contedo
que antes era de difcil acesso e repleto de barreiras tcnicas.
Referncias
CONGER, Jim. C Programming for MIDI. M & T Books, California, 1988.
CYPHER, Allen. Watch What I Do: Programming by Demonstration. London:
Cambridge, Massachusetts, 1993.
DEAL, John J.; TAYLOR, Jack. Technology Standards for College Music Degrees.
In: Music Educators Journal. MENC: July 1997. p.17-23.
DOBRIAN, Christopher. MSP - The Documentation. Cycling 74, San Fancisco,
CA, 1998.
DODGE, Charles; JERSE, Thomas A. Computer music: synthesis, composition,
and performance. Schirmer Book, New York, NY, USA, 1997.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Dicionrio da Lngua
Portuguesa. Ed. Nova Fronteira, 1986.
FLORES, Luciano Vargas. Msica e Internet: Uma Reviso Bibliogrfica
Visando Aplicao em Educao Musical via Web. Trabalho Individual I (n. 924).
Orientadora: Rosa M. Vicari. Porto Alegre: Programa de Ps-Graduao em Computao /
UFRGS, 2000b.
FRITSCH, E. F.; VICARI, R; CUNHA, A.C. MEPSOM Mtodo de Ensino de
Programao Snica para Msicos. (Tese de Doutorado). Porto Alegre: CPGCC da
UFRGS, 2002.
GOODMAN, Danny. The Complete HyperCard 2.0 Handbook. New York,
Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1990.
MESSIACK, Paul. Maximun MIDI: music applications in C ++. Manning Pub,
1998.
MIRANDA, Eduardo Reck. Computer Sound Synthesis for the Electronic
Musician. Focal Press, Oxford, 1998.
MIRANDA, Eduardo Reck. Composing Music with Computers. Focal Press,
Oxford, 2001.
REDMON, Nigel. HyperMIDI 1.1. Torrance, CA: EarLevel Engineering, 1988
ROADS, Curtis. The Computer Music Tutorial. MIT, 1996.
WINKLER, Todd. Composing Interactive Music Techniques and Ideas Using
MAX, MIT, 1998.
WINSOR, Phil. Automated Music Composition, USA, 1989.
YAVELOW, C.; Music & Sound Biblle, San Mateo, California: IDG Books
WordWide, Inc, 1992.
ZICARELLI, David; PUCKETTE, Miller. MAX Development Package. France:
IRCAM, 1988.
Agradecimentos: Laboratrio de Computao e Msica do Instituto de Informtica, Centro de Msica
Eletrnica do Instituto de Artes da UFRGS, Tales de Lima, Jos Poyastro, Rafael Vanoni, Evandro Manara
Milletto, Luciano Vargas Flores, Susana Krger, Eduardo Reck Miranda, CNPq, MEC, FAPERGS, Pr-
Reitoria de Pesquisa da UFRGS.
Contato: Prof. Dr. Eloi Fernando Fritsch
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE ARTES DEPARTAMENTO DE MSICA
CME-UFRGS - CENTRO DE MSICA ELETRNICA
Endereo: Senhor dos Passos, 248 - Porto Alegre RS
As preferncias musicais dos bebs entre zero e 15 meses
Esther Beyer
1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
ebeyer@sogipa.esp.br
Resumo: As relaes musicais me-beb, as quais tm sido estudadas a partir de coletas no
Projeto de extenso Msica para bebs, vm mostrar que o contato da me com seu beb,
dentro de uma atividade musical, tem sido importante para o desenvolvimento tanto da linguagem
verbal quanto do sentido musical, dentre outros aspectos. Diante disso, uma questo importante
desta pesquisa a preferncia por parte dos bebs (indicada pela me) a certos tipos de msicas.
Para isso foram analisadas algumas das msicas propostas pelas mes como sendo de
preferncias de seus bebs (msicas estas as quais so tocadas em aula). As msicas so
analisadas de acordo com os seguintes critrios: tonalidade apresentada, mbito, compasso, motivo
rtmico preponderante, mtrica do texto, intervalos mais comuns e repeties. As anlises feitas
indicam uma forte inclinao por parte dos bebs por msicas com padres mais facilmente
identificveis, provavelmente mais prximos de uma entonao falada. Constata-se, ento, que
toda esta gama de fatores contribui para uma maior compreenso da msica pelo beb, da sua
maior interao com estas msicas que se apresentam marcadas, repetitivas e com padres
meldicos mais facilmente reconhecveis.
Palavras-chave: educao musical infantil, msica para bebs, preferncias musicais
Abstract: The musical relationship between mother&baby, which have been studied with data
from the extension Project Music for babies, show that the mother's contact with its baby,
inside of a musical activity, has been important for the development so much of the verbal
language as of the musical sense, between other aspects. So an important subject of this research
is the preference of the babies (indicated by the mother) to certain types of music. For that some
of the music suggested by the mothers were analyzed as being of its babies' preferences. The
music were analyzed in according to the following criteria: tonality, meloic extension, metrics,
preponderant rhythmic patern, metric of the text, more common intervals and repetitions. The
analyses indicate a strong inclination on the part of the babies for music with more easily
identifiable patterns, probably closer of a spoken intonation. It is verified, then, that this whole
range of factors contributes to a larger understanding of the music for the baby, reason for its
larger interaction with these music because they come marked, repetitive and with more easily
recognizable melodic patterns.
Keywords: Early Childhood Music Education Music for Babies Music Preferences
1
Agradeo aluna Daniela Jacoby Stolte Sehn, bolsista de Iniciao Cientfica participante em meu projeto
de pesquisa As relaes musicais me-beb: um estudo intercultural durante o ano de 2002, por ter
coletado e analisado parcialmente os dados constantes neste artigo.
Nas ltimas dcadas tem se aprofundado o interesse pelos estudos sobre as capacidades
do beb, que foram possibilitados pelas tcnicas atuais de estudo do mesmo, uma vez que a
criana pequena no permite o emprego dos mtodos tradicionalmente aplicados com crianas
maiores (entrevistas, jogos dialogados, etc). Desta forma, tem se conhecido muito mais do
complexo universo do beb em seus primeiros meses de vida (Klaus, & Klaus,1986),
derrubando alguns conceitos antigos sobre o conhecimento do beb.
Pensava-se a dcadas atrs que o beb nasceria praticamente cego e surdo, e que seus
rgos dos sentidos somente estariam iniciando suas funes a partir de alguns dias de vida.
Por isto, para que o beb no acabasse tendo danos permanentes em sua viso e audio,
aconselhava-se que o mesmo deveria ser colocado em uma pea com pouca luz, devendo-se
falar baixinho ou permanecer em silncio com ele. O beb seria, portanto, uma substncia
amorfa, uma tbula rasa, um ser completamente vulnervel e frgil.
Klaus & Klaus (1986), atravs de muitas horas de observao, filmagem e fotos de
bebs em seus primeiros minutos e dias de vida, conseguiu demonstrar resultados que
contradizem estas idias mais antigas. Com sofisticados equipamentos, demonstrou por estudos
seus e de outros pesquisadores, que o beb j em seus primeiros momentos de vida, apresenta
claras preferncias visuais - por formas redondas ao invs de angulosas-, preferncias olfativas
- conseguindo inclusive diferenciar o leite materno de sua me de leite materno de outra me -,
tem tambm preferncias sonoro-musicais - prefere msica de Mozart do que msica rock,
entre outros.
Vrias pesquisas confirmaram, portanto, que o beb j est em interao com seu meio
externo, desde suas vivncias uterinas, permitindo-lhe trazer consigo uma bagagem significativa
de conhecimentos quando ele nasce (Tomatis, 1990). No que se refere ao universo musical que
envolve o beb desde sua concepo, vemos uma trama bastante rica de sons, incluindo a voz
da me, do pais e familiares, sonoridades tpicas de cada lngua, sons domsticos, de animais,
do mundo circundante (carros, avies, sinos, ambulncias....), sendo estes filtrados conforme a
possibilidade auditiva do beb no tero materno (Delige & Sloboda, 1996).
Aps o nascimento, todo beb costuma produzir sons realizando trocas com as pessoas
que o cercam. Estas trocas sonoras obviamente no se do da mesma forma que o adulto as
faz (Ferguson & Yeni-Komshian, 1980). Quanto linguagem verbal, o adulto j formou certos
conceitos, relacionados em tramas de significado, e conhece tambm que palavras ter de
selecionar para comunicar este ou aquele significado, conhece tambm as regras da gramtica
para que estas palavras sejam colocadas na ordem, flexo e contexto corretos.
O beb no realiza trocas sonoras com seu meio da mesma forma. Ele est formando seu
conhecimento do mundo de forma sensorial e motora, de modo que este conhecimento
posteriormente possa vir a formar esquemas mais abstratos e posteriormente conceitos formais.
Tambm as palavras que so pronunciadas pelos adultos no lhe so conhecidas como
representantes de significados especficos. Interessa-lhe, antes, a forma como estas palavras
so pronunciadas, quanto a sua sonoridade. O mesmo ocorre quanto s as regras da gramtica,
que comeam a ser ouvidas na prtica, embora ainda no haja conscincia das mesmas.
Quanto ao universo sonoro-musical, h tambm complexos sonoros, estruturas frasais,
caractersticas timbrsticas, composicionais e texturais a serem conhecidas, inicialmente de
modo sensorial e motor. Contudo, importante frisar que a diferenciao entre sons do mundo
verbal e sons do mundo musical muito mais pertinente lgica do adulto do que da criana,
esta separao didtica existe principalmente para fins de estudo. No haveria inicialmente uma
diferenciao intencional no beb entre os sons que produz para "falar" e os que produz para
"cantar" (Beyer, 1994).
Neste ensaio dirio do beb na produo de sons, este no apenas comunica suas
necessidades ou desconfortos, mas tambm dispende vrios momentos ao longo do dia no
produzir sons, balbucios, gorjeios, gorgolejos, gritinhos, etc, que em um primeiro momento no
teriam um endereamento direto ao cuidador no sentido verbal de "estou com fome", "troca
minha fralda", "quero dormir" ou "quero colinho", mas um simples conhecer e explorar de sons
e sonoridades possveis de serem feitas com a boca. Esta explorao se aproxima bastante de
um fazer musical emergente.
O Projeto de Extenso "Msica para Bebs" (Departamento de Msica/UFGRS),
existente desde o incio de 1999, sob nossa coordenao, visa oferecer uma srie de
oportunidades para que o beb experimente e interaja com sons e objetos diversos juntamente
com sua me ou acompanhante, levando a um amplo desenvolvimento musical e geral na
criana, alm de oportunizar o fortalecimento do vnculo do beb com seu cuidador. Atravs
deste Projeto de Extenso, que vimos desenvolvendo ao longo de oito semestres (1999 a
2002/2) com aproximadamente 250 crianas, percebemos que h diferenas bastante grandes
nas aprendizagens entre crianas de uma mesma faixa etria, embora o programa tenha sido
trabalhado da mesma forma com todas elas (Beyer, 2000).
Algumas crianas comeam a balbuciar mais intensamente durante nossas aulas, outras
esboam maior atividade motora de seus membros inferiores e superiores, outras ainda
intensificam sua relao com os instrumentos musicais atravs de tentativas exploratrias ou
sistemticas com os instrumentos musicais que manuseiam. Tambm se observa, dentre as
vocalizaes dos bebs, que h escolhas diferenciadas entre eles. Alguns exploram mais a
dimenso gutural, outros mais as diferentes possibilidades de gritos, etc. Nesta variedade de
aprendizagens dos bebs, questionamos o que estaria levando os mesmos a terem respostas
to diferentes ao trabalho realizado no Projeto.
Vrios estudos j foram realizados sobre as primeiras vocalizaes do beb,
principalmente sob a perspectiva dos linguistas (Jakobson, 1969; Ferguson & Slobin, 1973;
Ferguson &Yeni-Komshian, 1980). H decadas atrs se pensava o fazer vocal do beb- as
primeiras tentativas de laleios e gorgolejos - como seguindo uma seqncia fixa de sons a
serem explorados, a nvel universal, com qualquer beb. Pensa-se hoje que a explorao
sonora do beb contempla todos os parmetros sonoros, mas que a mesma vai variar conforme
o contexto sonoro-musical que o beb est inserido. Com certeza o beb j est em constante
interao com o mundo sonoro que o circunda, mesmo antes de seu nascimento. Isto indica
para padres diferenciados tanto de percepo quanto de realizao de padres sonoros
rtmicos e meldicos. Alguns padres sero mais facilmente identificados pelo beb como
sendo pertencentes ao contexto onde este se insere, como por exemplo de modo bastante
genrico o sistema tonal ocidental. Esta seria, ento, a bagagem sonora que o beb j traz
consigo ao nascer e vai desenvolv-lo mais intensamente aps seu nascimento.
Tais observaes nos levam a focar nossa ateno para a relao deste beb com seu
universo sonoro circundante. Este universo composto por diferentes facetas e as trocas
sonoras entre estas: as vocalizaes da me ou acompanhante, as msicas que o beb costuma
ouvir serem cantadas ou tocadas para ele, os sons que o beb produz na presena de sua me,
os sons dos outros bebs sua volta.
Dentre as diferentes possibilidades de interao, concentramo-nos neste relato na
questo das preferncias musicais dos bebs, obtido atravs de entrevistas realizadas com as
mes das crianas que participavam do Projeto de Extenso Msica para Bebs. Dentre
vrias perguntas realizadas constava esta sobre a qual nos concentramos neste trabalho: Qual a
msica preferida por seu beb durante as atividades do projeto? A partir da coleta dos dados,
realizamos um levantamento sobre todas as msicas mencionadas, buscando definir quais foram
as msicas mais freqentemente mencionadas nas entrevistas. Estas melodias ento foram
transcritas em partitura e analisadas quanto a alguns critrios previamente estabelecidos. Dentre
vrias msicas mencionadas, as mais freqentemente apontadas como preferidas de seus bebs
temos:
Cano da chegada (composio nossa),
Porto Alegre demais (Jos Fogaa),
Msica do trem (domnio pblico),
Sopa (Sandra Peres).
Estas quatro msicas foram analisadas segundo os seguintes critrios:
Tonalidade
Extenso meldica (da nota mais aguda mais grave)
Compasso
Padres rtmicos
Padres meldicos
Intervalos
Analisando os resultados desta coleta, no que se refere ao primeiro critrio - a tonalidade
-percebeu-se uma preferncia por msicas em tonalidades maiores. Os motivos desta escolha
podem ser discutidos, uma vez que certos pais consideram apenas msicas em tonalidade
maior apropriadas para audio de seus bebs.
Quanto extenso meldica, o mbito das melodias apontadas pequeno, e em geral
no ultrapassa uma oitava. Se analisarmos ainda de forma mais seletiva, observando apenas os
trechos mais vocalizados pelos bebs, o mbito torna-se ainda menor. O mbito da primeira
cano de uma 5 justa, mas o mais repetido de uma 3 menor, o da segunda, de 6 Maior
na parte mais repetida, o da terceira, de 3 Maior, o da quarta, de 4 justa. Fica bastante fcil
ao beb realizar tentativas de cantar estas canes dentro deste mbito.
Quanto ao compasso, temos duas canes em compasso binrio e duas em compasso
quaternrio simples. Ao estendermos esta anlise para as outras canes mencionadas pelos
pais como preferncia de seus bebs, na sua maioria as msicas permaneceram binrias ou
quaternrias.
Quanto aos padres rtmicos utilizados nas canes selecionadas, percebe-se que em
geral estes so bem marcados e repetitivos. Os padres repetem-se em geral ao longo de toda
a msica diversas vezes: nas canes mais longas, repetindo a cada novo verso o mesmo
padro rtmico e nas canes mais curtas, repetindo sempre toda cano novamente.
Quanto aos padres meldicos constantes na canes preferidas temos tambm a
repetio constante de padres, privilegiando a trade perfeita e o grande nmero de repeties
da mesma nota alm de graus conjuntos. interessante notar que a construo meldica tem
mais variantes do que a rtmica: h pequenas modificaes nos finais de um verso, que porm
no alteram o contorno meldico geral, tornando possvel a assimilao de uma variao a sua
apresentao original.
Quanto aos intervalos constantes nas melodias, os graus conjuntos predominam. Na 1
cano, o maior intervalo no ultrapassa uma 3 menor, na 2 fica estritamente em segundas
graus conjuntos), a 3 msica intercala graus conjuntos e intervalos de 3 na trade perfeita
maior, e a 4 msica apresenta grande repetio das mesmas notas, alm de realizar alguns
saltos de 3 e 5. Neste ltimo caso, porm, o contorno seqencial da melodia foi mantido ao
longo de toda ela, fato que permite a identificao de um padro idntico ou pelo menos
semelhante.
Concluindo, pode-se constatar que as msicas em estudo tm em comum um fator
primordial, que a fcil possibilidade de interao com elas: so padres simples de nosso
contexto cultural que despertam sua preferncia de audio e interao. As msicas acima
analisadas demonstram que a criana procura por aquilo que est dentro das possibilidades dos
esquemas que ela j possui. As repeties, a pouca presena de grandes saltos, os padres
repetitivos, a extenso reduzida, provam que h uma melhor qualidade de interao com o que
se pode reconhecer, demonstrando os estreitos laos com o mundo em que est inserida.
interessante notar ainda que ao abrir espao para que os pais coloquem as msicas de
livre escolha, que poderiam ser tambm cantadas em casa, sem interferncia nossa, muitos
mencionam justamente as msicas cantadas em aula. Outros, junto do material da aula,
apontam as preferncias de casa. Porque eles colocam as msicas da aula como preferidas?
Com certeza no o ser por falta de opes, nem tampouco porque no cantem em casa para
seus bebs. Provavelmente a vivncia prazerosa com seu beb em aula com aquela msica faz
que ambos me e beb se apeguem a estas msicas.
Alm disso, pode-se constatar que estas msicas, alm de terem caractersticas musicais
de fcil acessibilidade, aproximam-se muito de um padro entonativo da fala, so quase como
um canto falado ou uma fala cantada, um murmrio musical. O padro falado j conhecido para
pais que no requer necessariamente conhecimentos musicais propicia uma abertura destes
para estas melodias, que levam ento ao acesso mais rpido do beb para as msicas
indicadas.
BIBLIOGRAFIA
BEYER, Esther. Musikalische und sprachliche Entwicklung in der frhen Kindheit. Hamburg:
Krmer Verlag, 1994.
____. A construo do conhecimento no Projeto Msica para Bebs. In: SEMINRIO DE
PESQUISA EM EDUCAO REGIO SUL, 3., 2000, Porto Alegre. Anais do III
Seminrio de Pesquisa em Educao - Regio Sul. Porto Alegre: UFRGS/PPGEDU, 2000.
(verso em CD ROM s/ paginao).
____. Interagindo com a msica desde o bero: um estudo sobre o desenvolvimento musical
em bebs de 0 a 24 meses. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPOM, 13., 2001, Belo
Horizonte. Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM. Belo Horizonte:
ANPPOM/UFMG, 2001. P.617-20.
DELIGE, I. & SLOBODA, J. Musical beginnings, origins and development of musical
competence. New York: Oxford University Press, 1996.
FERGUSON, C.A. & YENI-KOMSHIAN, G.H.: An introduction to speech production in the
child, In: YENI-KOMSHIAN, G.H.; KAVANAGH, J.F. & FERGUSON, C.F. (org.): Child
Phonology, Vol. 1: Production. New York: Academic Press, 1980.
FERGUSON, C.A. & SLOBIN, D.I. (org.). Studies of child language development. New
York: Holt, Rinehart and Winston, 1973.
JAKOBSON, R. Kindersprache, aphasie und allgemeine Lautgesetze. Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag, 1969/1944.
KLAUS & KLAUS. O surpreendente recm-nascido. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1989.
TOMATIS, A. Der Klang des Lebens; vorgeburtliche Kommunikation - die Anfnge der
seelischen Entwicklung. Hamburg: Rowohlt Verlag.
1
Sobre msica acusmtica
Ftima Carneiro dos Santos
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
fsantos@uel.br / fsantos@sercomtel.com.br
Resumo: O estudo aqui apresentado de carter introdutrio e tem por objetivo buscar uma
familiarizao com aspectos da msica de Franois Bayle, por ele denominada de msica acusmtica.
Neste trabalho nos deteremos em colocar em evidncia alguns aspectos dessa msica, tendo como
referncia a idia de escuta acusmtica como conduta composicional, geradora de uma msica
acusmtica que, por sua vez, coloca em jogo conceitos como imagem-de-som e imagem sonora
espacial. Alm de proporcionar subsdios para uma melhor compreenso da escuta no contexto da
msica eletroacstica, este estudo possibilita traarmos algumas aproximaes entre aspectos da
msica acusmtica e o objeto de estudo de nossa pesquisa, a escuta e criao de paisagens sonoras
urbanas, em desenvolvimento junto ao Programa de Ps Graduao em Msica da Unicamp, na linha
de processos de criao.
Palavras-chave: msica acusmtica, escuta acusmtica, Franois Bayle.
Abstract: This introductory study aims the familiarization with aspects from Franoise Bayle music,
named by him as acusmatic music. In this work I am highlighting some elements of this music, by the
idea of acusmatic listening as a compositional behaviour, generator of an acusmatic music which
states for concepts such as i-sound and spacial sound image. Besides supplying for a better
comprehension of the listening in the context of the eletroacustic music, this study allows the framing
of some parallels between features from the acusmatic music and the subject matter of my research,
the listening and the creation of urban soundscapes, in development of the Music Post Graduation
Program from the State University of Campinas, under the area of process of creation.
Keywords: acusmatic music, acusmatic listening, Franoise Bayle.
A idia de escuta em Bayle est intimamente ligada a sua idia de msica. Ou seja, a
partir da idia de escuta acusmtica (lembrando que a palavra akousma vem do grego e quer
dizer percepo auditiva), Bayle funda aquilo que , para ele, um gnero da msica
eletroacstica: a msica acusmtica.
Alguns autores levantam dvidas sobre a necessidade da utilizao de termos como
msica acusmtica, ou msica concreta, ou computer music, por acreditarem que o que
est em jogo nestas msicas uma forma de sensibilidade que envolve todas essas
modalidades. A opo, por parte de alguns, pelo termo msica eletroacstica se d devido
ao fato deste ser, ainda, o mais adequado para denominar tal (ou tais) gnero(s) musical(is),
justamente por fazer juz a uma sensibilidade mais abrangente
1
.
1
Neste momento estamos trazendo a tona o pensamento do compositor Rodolfo Caesar que trabalha
com a hiptese de que o problema destas propostas - msica acusmtica, computer music, msica concreta -
est no fato de que nenhuma delas consegue responder inteiramente pela descrio do que, no seu entender,
2
Contudo, mesmo no fazendo juz a uma sensibilidade mais abrangente uma coisa
todas fazem: juz a uma situao de escuta que se d como inusitada, tanto para o compositor
como para o ouvinte. E, diante disso, como a escuta tem sido o foco central de nossa pesquisa
interessa-nos, neste momento, compreender o que Franois Bayle quer dizer com o termo
msica acusmtica e as implicaes que sua msica tem para a escuta... (ou seriam as
implicaes que a escuta tem em sua msica?!)
.
Na concepo de Franois Bayle, msica acusmtica uma msica produzida
totalmente dentro do estdio, para ser posteriormente projetada em uma sala, como se fosse
um filme: arte dos sons projetados (Bayle), podendo ser comparada a um cinema para
orelhas (Dhomont,1988, p.17). Uma msica feita na e pela escuta, ou, como observou Di
Pietro, uma msica proposta escuta, sem nenhum apelo visual, e que tem como uma de
suas caractersticas a conduta acusmtica (Di Pietro, 2000, p. 25).
Ao retomar o termo acusmtica, nos anos 70, para denominar um caso particular da
msica eletroacstica, Bayle no o faz, como ele mesmo diz, no sentido de render
homenagens a Schaeffer, mas sim devido ao valor de uso do termo que se impe num
momento em que a evoluo da tcnica musical reduz a eletroacstica ao aspecto
instrumental, e oculta o aspecto acusmtico (Bayle, 1993, p. 53).
Contudo, antes de apresentarmos uma idia mais clara do que seria a msica
acusmtica, necessrio tecer algumas consideraes sobre o termo acusmtico e de que
modo Pierre Schaeffer fez uso dessa idia.
A origem do termo acusmtico pr-socrtica e foi utilizado pela escola Pitagrica,
no sculo VI a.C., como uma estratgia de carter inicitico. Ou seja, Pitgoras, ao ensinar
seus discpulos, o fazia escondido atrs de uma cortina, com o objetivo de no permitir que
a escuta fosse distrada pela viso. Este termo foi revisitado por Pierre Schaeffer, nos anos 50,
e utilizado para denominar uma situao de escuta, na qual um som ouvido e entendido
sem que se veja a fonte que o produziu.
Diante de uma nova realidade musical, apresentada sob a forma da msica concreta,
Schaeffer, preocupado tanto com o fato de nossos ouvidos no estarem acostumados a tal
apenas uma sensibilidade, um modo prprio de realizar uma experincia musical. Por isso a opo pelo termo
msica eletroacstica: por fazer justia a uma sensibilidade mais abrangente (Caesar, 1994).
3
msica, quanto com a construo de uma nova linguagem musical inteligvel, prope o
exerccio de uma escuta livre de quaisquer significaes externas associadas ao som. Dessa
forma, seus estudos sobre os mecanismos da escuta fundamentam uma escuta do objeto
sonoro, atravs da idia de uma escuta reduzida: uma escuta que se atm ao objeto
sonoro, desreferencializado e descontextualizado; uma escuta do som em si mesmo.
Contudo, vrias crticas s idias de Schaeffer vieram a tona
2
, e, neste contexto,
apresentaremos aquela que, no nosso ponto de vista, est diretamente relacionada idia de
msica acusmtica de Franois Bayle. Refere-se natureza do objeto sonoro e foi
apresentada por Michel Chion. Conforme Di Pietro, Chion alega ter faltado a Schaeffer uma
perspectiva dinmica da msica e uma sensibilidade vida prpria dos sons. De uma
certa forma, o que parece que Chion est dizendo, ainda segundo Di Pietro, que os sons
podem ser, alm de manipulados, escutados como fenmenos energticos e em movimento, e
no como objetos alinhados e empilhados nas prateleiras do tempo. Ou seja, sem deixar de
reconhecer o importante papel da escuta reduzida como fundadora da noo de objeto
sonoro, trata-se de desconfiar da noo de objeto sonoro quando tomada como algo que a
escuta capta num coup doreille enquanto, na verdade, o som flui, se manifesta na durao,
um processo vivo, uma energia em ao (Di Pietro, 2000, p. 52).
Diante disso, Chion diz que: era preciso, ento, recolocar em movimento o objeto
sonoro, que Schaeffer havia imobilizado (Chion, 1975, p. 67). E a msica de Bayle, a
partir da noo de imagem, opera justamente no sentido de conquistar o movimento do som,
como veremos em seguida.
.
A idia de que o objeto sonoro, surgido do trabalho de gravao em sulco fechado,
tornou-se algo esttico, no tendo sido nem explorado em todas as suas potencialidades, nem
colocado num contexto operacional, no apenas de Michel Chion, mas tambm est presente
em Franois Bayle. O que Bayle faz (e que o diferencia de Schaeffer) ir em busca de
configuraes mais complexas e dinmicas e a partir da noo de imagem que ele busca
conquistar o movimento do som: na noo de imagem, mesmo que o som ainda esteja fixado
2
Vale lembrar que o prprio Schaeffer no rechaou totalmente as crticas endereadas a sua escuta reduzida.
Dentre outras coisas, ele tinha cincia do quanto a inteno de escuta pode viajar de um sistema a outro, e que a
percepo dirigida apenas ao sistema da escuta reduzida se faz com dificuldade (Schaeffer, 1966, p. 349).
4
em suporte, ele conquista o movimento, com a prtica de construes de sequncias sonoras
(Garcia, 1998, p. 73).
Segundo Bayle, desde que foi possvel, tecnicamente, realizar a representao de um
corpo, ou mesmo de um pensamento, a impresso da forma, esta reproduo artificial,
definida como imagem. Ela reflete uma conduta perceptiva, pois orienta a ateno. E isso faz
com ela se torne um modelo, um objeto manipulvel e malevel, que permite ser
experimentada () em toda subjetividade, perversidade, criatividade (Bayle,1993, pp. 84-
85).
A partir desta idia de imagem, Bayle, por analogia, nos diz: tornados imagens, os
sons continuam a soar, claro, mas abstrados de suas contingncias, flutuantes, eles
constituem, ento, signos puros de ligao, evocadores de lugares, de regies do audvel.
(idem, p.85) A imagem, agora imagem-de-som, propicia o encadeamento de formas no
decorrer do tempo; ocupam o espao, ligando lugares e regies do audvel: le lien des lieux.
Sob essa perspectiva, fica claro que, ao falar em imagem-de-som ou i-som, Bayle est
se referindo a uma espcie de representao sonora: um intermedirio entre som original
(objeto) e imagem mental. Conforme Garcia, a imagem de som pode ser simplesmente
definida como uma representao fixada em suporte (Garcia, 1998, p. 46). E, se o olhar
define imagens baseado em sinais que os objetos deixam sobre um meio sensitivo, os i -sons,
conforme Bayle, so definidos pela audio de modo semelhante, em uma aparncia
isomrfica da fonte sonora (que transmitida do mesmo modo atravs do ar para o sistema
auditivo). Mas, como as imagens, os i-sons so diferenciados da fonte sonora por uma dupla
disjuno: a primeira, fsica, vindo de uma substituio do espao causal (fonte original) pelo
suporte, e a segunda, psicolgica, vindo do deslocamento entre o som e seu provocador,
promovendo uma conscincia de um simulacro, uma interpretao, um signo (Bayle, 1989,
p.170). O modelo de imagem que advm dessa concepo se apresenta, mais reduzido que o
prprio objeto sonoro de Schaeffer e essas imagens, como bem observa Garcia, tornam-se
signos puros, flutuantes, que tm, segundo Bayle, como nica coerncia suas prprias
morfologias e criam atravs delas sua prpria retrica e potica (Garcia, 1998, p. 46). Para
ilustrar essa situao, Bayle diz:
Desde meus primeiros trabalhos nos anos 60 () at os recente afrescos (),
passando por (), meu propsito foi sempre o mesmo: escrever somente imagens-de-
som. Mostrar como a escuta pura, em situaco acusmtica (palavra que nos vem de
Pitgoras) essa imagens-de-som borboleteiam por todos os lugares no espao
audvel, projetam sobre o ouvinte seus turbilhes coloridos. Fora de campo est um
mundo que se demonstra. O velho mundo, mas com relaes novas. Isto agora
evidente. (Bayle, notas de programa, 1986, apud Garcia, 1988, p. 82).
5
Neste momento algo se apresenta Observando com mais cuidado, percebe-se que a
citao acima tem uma grande importncia para a compreenso da msica de Bayle, pois,
alm de destacar a relevncia das imagens de som, aponta para uma outra questo
fundamental msica acusmtica: o espao.
.
Ao falar do espao, uma das coisas que Bayle diz que o espao encobre e a escuta
deseja ver..., dando a entender que a escuta observa o que est escondido (Bayle, 1988, p.
23). Percebendo o espao como uma espcie de proteo do som, Bayle, preocupado com o
exerccio de uma escuta sem ver, buscou, desde o incio, entender os movimentos do
espao, conhecer as caractersticas de seu dinamismo, de seu jeito de ser: uma imagem-
movimento. Com isso foi percebendo a ocupao de um espao invisvel, feito por sons, os
mais variados: espiralados, vibrantes, autnticos movimentos de vida. Isso fez com que
buscasse, desde seus primeiros estudos, uma potica cinemtica do espao de sons projetados,
fundada sobre a noo central de imagem, operando, em seguida, uma transformao das
imagens acusmticas, entendida como pedaos de espao. Dessa forma, faz ressaltar as
qualidades plsticas de entidades sonoras projetadas (i-sons) e o espao, considerado como
paisagem morfogentica, percebido em termos de contornos e densidades, impactos e
volumes, movimentos e velocidades (idem, p. 23).
Conforme Bayle, fazer o som emergir de um espao profundo ou fazer sons voarem
entre alto-falantes, em diferentes razes e velocidades fizeram-no perceber que essas novas
possibilidades de espacializao sonora dadas pela nova tecnologia de alto-falantes, traziam
uma grande abertura para nossa percepo esttica (De Santos, 1997, p. 14). Interessado em
explorar o espao entre alto-falantes para assim criar sons emergindo com movimento
irregular de locais ambguos, passa a usar o alto-falante no como instrumento mas como
projetor, no difundindo apenas sons, mas projetando imagens-de-som, imagens de espao
sonoro. Dessa forma, consegue criar um espao cada vez mais prximo daquele do cinema ou
mesmo do teatro, onde espectador e espetculo so colocados face a face, atravs de um
aparato tecnolgico - o acousmomiun. Um instrumento que, segundo Vande Gorne, coloca
em cena o audvel, representando e reconfigurando o estado e o espao das coisas... como
uma cena, um quase-mundo: um instrumento de encenao (Vande Gorne, 1988, p. 45).
.
6
Para poder definir, com um pouco mais de preciso, a funo espacial no contexto da
msica acusmtica necessrio, como diz o prprio Bayle, penetrar na experincia da escuta
e atravessar vrios nveis
3
, tanto os nveis de espao que se estabelecem, quanto os planos de
conscincia que encontram-se a eles relacionados. Contudo, neste momento, no
aprofundaremos esta questo e, diante da necessidade de uma concluso, arriscaremos uma
pequena aproximao entre o nosso objeto de estudo (a escuta e criao de paisagens sonoras
urbanas) e a idia de uma escuta sem ver, como conduta composicional. Essa aproximao
pretende ser um caminho que favorea o encontro entre o ouvinte e uma msica que realiza
uma viagem nos avatares do espao, tal qual proposta por Bayle.
Conforme Bayle, ao nos aproximarmos da natureza especfica dos seres
acusmticos, notaremos que estes apenas devem sua consistncia na percepo e sua
coerncia conjuno, interseco de diferentes espaos aos quais pertencem e fazem
referncia. Esta transversalidade de imagens e de i-sons produzem, segundo o compositor,
um mundo inverso, um espao de utopias, o que nos permite entender o espao como um
mundo intermedirio, constitudo de formas descontnuas e bifurcadas, sugerindo um
mundo feito de iluses , como um conto de fadas. E isso faz com que cada obra de msica
acusmtica realize o sonho, a iluso, o devaneio, ou antes, o filme de uma viagem nos
avatares dos espaos (Bayle, 1988, p. 25).
Contudo no podemos nos esquecer que falar em msica acusmtica falar,
necessariamente, na idia de uma situao acusmtica de escuta. Conforme Bayle, numa
situao onde se escuta sem ver, experimenta-se um mundo sonoro, inicialmente como um
alerta (Bayle, 1993, p. 49-50). Mas da, do rudo (do banal) que se extrai a forma (o
raro); dele que se extrai a msica que se inventa contra ele, mesmo que apoiando-se sobre
ele e, por isso importante aprender a escut-lo para podermos ento extrair dele formas e
novos valores (idem, p. 168).
Se, para o compositor, a escuta acusmtica torna-se uma prtica no apenas instintiva,
mas necessria (uma conduta composicional), para o ouvinte ela tambm pode ser uma forma
prazerosa de escuta, podendo-se transformar igualmente numa conduta composicional.
Diante disso, acreditamos que uma transformao da escuta pode muito bem comear frente
aos sons ambientais: os sons das ruas. A rua, ao mesmo tempo em que se presta a uma escuta
que descodifica signos (indiciais), pode tambm ser um campo de possibilidades sonoras
3
Para uma melhor compreenso dos nveis de espao e planos de conscincia (relao espao/escuta), ver,
respectivamente, Bayle, 1993, p. 184; Bayle, 1988, p. 24.
7
prestes a oferecer uma viagem nos avatares (ou nas metamorfoses) dos espaos. Deixar-se
levar por esses sons no quer dizer que o ouvinte esteja se esquecendo da realidade sonora
da rua, mas est simplesmente fazendo a escuta passar para um outro plano: um plano de
composio.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
BAYLE, Franois. Lodyssee de lespace. LIEN - revue desthetique musicale, OHAIM: ditions
Musiques et Recherches, nmero especial (Lespace du son), p. 23-27, 1988.
____. Image-of-sound, or i-sound: metaphor/metaform. Contemporary Music Review, v. 4, p. 165-170,
1989.
____. Musique acousmatique: propositions... ...position. Paris: INA-GRM/Buchet-Chastel, 1993.
CAESAR, Rodolfo. Msica eletroacstica. Apostila do LAMUT, 1994. (Texto retirado do site do
LAMUT - Escola de Msica da URFJ em 1999).
____. The composition of eletroacoustic music. Tese de doutorado. Norwich: University of East
Anglia, 1992.
CHION, Michel. Un langage pour decrire les sons. Programme-Bulletin, GRM, n. 16, p. 39-73, 1975.
DESANTOS, Sandra. Acousmatic morphology: an interview with Franois Bayle. Computer music
journal, v. 21, n. 3, p. 11-19, 1997.
DI PIETRO, Laura. Msica eletroacstica: terminologias. Dissertao de mestrado. Rio de Janeiro:
UNIRIO, 2000.
DHOMONT, Francis. La projetion acousmatique. LIEN - revue desthetique musicale, OHAIM:
ditions Musiques et Recherches, nmero especial (Lespace du son), p. 16-18, 1988.
GARCIA, Denise. Modelos perceptivos na msica eletroacstica. Tese de doutorado. So Paulo:
PUC, 1998.
SANTOS, Ftima C. Por uma escuta nmade: a msica dos sons da rua. So Paulo: EDUC/FAPESP,
2002.
SCHAEFFER, Pierre. Trait des objets musicaux. Paris: ditions du Seuil, 1966.
SMALLEY, Dennis. tablissement de cadres relationnels pour lanalyse de la musique
postschaeffrienne. In: Our, entendre, couter, comprendre aprs Schaeffer. Paris: INA-
Buchet/Chastel, 1999. p. 177-213.
VANDE GORNE, Annette. Les deus cotes du miroir: la mariee est-elle trop belle?. In: LIEN - revue
desthetique musicale, OHAIM: ditions Musiques et Recherches, nmero especial (Lespace du son),
p. 43-47, 1988.
Tcnicas e estilos "erudito-populares" em trs obras para contrabaixo
Fausto Borm
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
fborem@ufmg.br
Rafael dos Santos
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
rdsantos@lexxa.com.br
Resumo: Este estudo busca uma integrao entre prticas de performance do contrabaixo e do piano na msica
erudita e na Msica Popular Brasileira (MPB), especialmente como alternativa para a dicotomia arco-erudito
versus pizzicato-popular. Foram utilizados procedimentos metodolgicos de natureza exploratria, analtica e
descritiva, compreendendo tcnicas tradicionais e recentes em trs obras selecionadas de estilos contrastantes
(choro, bossa-nova e blues).
Palavras-chave: msica brasileira, msica popular, contrabaixo, instrumentos de arco, pizzicato
Abstract: This study aims at integrating classical and the so called MPB (Msica Popular Brasileira) popular
performance practices on the double bass, especially to provide a departure from the dicothomy arco-classical
versus pizzicato-popular. The method involved exploratory, analytical and descriptive procedures encompassing
traditional and newly developed double bass techniques in three Brazilian selected works of contrasting styles
(choro, bossa-nova and blues).
Keywords: Brazilian music, popular music, double bass, bowed instruments, pizzicato
INTRODUO:
O presente estudo busca integrar as prticas popular e erudita e apresenta resultados parciais de uma
pesquisa exploratria sobre a aplicao de tcnicas e estilos de performance da MPB no contrabaixo
acstico. A verificao da eficincia de prticas de performance especficas e das linguagens
idiomticas efetivas pretendidas se deu na preparao e apresentao de um repertrio selecionado
(composies originais ou transcries) onde esse instrumento foi inserido em quatro formaes
instrumentais distintas: (1) duo de contrabaixos, (2) duo de contrabaixo e guitarra semi-acstica, (3)
duo de contrabaixo e piano e (4) quarteto de jazz com dois contrabaixos acsticos (um em arco e o
outro em pizzicato), piano e bateria. A documentao das prticas de performance "erudito-populares"
da presente pesquisa foi realizada com a gravao de trs CDs em recitais e concertos em eventos de
escopo nacional ou internacional, os quais incluram a 2001 International Society of Bassists
Convention (Indianapolis, EUA), o IV Ipatinga Live Jazz (Ipatinga, 2001), o VI Encontro Internacional
de Contrabaixistas (Pirenpolis, 2002), o 24 Festival Internacional de Msica de Braslia (2002) e o
II Seminrio Nacional de Pesquisa em Performance Musical (Goinia, 2002).
A interao entre os estilos erudito e popular, traduzido nos desafios dos processos de composio ou
transcrio, permitem a explorao e desenvolvimento de novas tcnicas instrumentais e ampliao das
prticas de performance, tcnicas e prticas de interesse dos compositores e instrumentistas e que
levaro algum tempo para serem divulgadas, assimiladas e disponibilizadas nos tratados de composio
e mtodos de contrabaixo. No caso da msica popular, destacam-se alguns aspectos idiomticos da
prticas de performance como (1) o conceito de suingado (swing eights) e liso (straight eights) do
jazz, aplicado s msicas cubana e brasileira; (2) uma realizao mais relaxada dos padres rtmicos
em relao ao pulso; (3) acentuaes que enfatizam a sncopa, especialmente em linhas meldicas.
A leitura de partituras de obras representativas, a escuta de interpretaes historicamente importantes
em cada estilo (veja discografia ao final do artigo) e o estudo de padres rtmicos da percusso na MPB
(SALAZAR, 1991) foram os primeiros passos tomados antes da seleo das prticas de performance
especficas. Numa fase posterior, por meio de experimentao no contrabaixo, buscou-se a adaptao
e/ou emulao de idiomas caractersticos da voz, de instrumentos harmnicos (violo e harpa) e
meldicos (flauta, saxofone, guitarra) e de percusso (cuca, tamborim, surdo e berimbau)
1
no
contrabaixo, com recursos tradicionais ou expandidos (TURETZKY, 1989; ROBERT, 1994). No caso
do piano, buscou-se primeiramente preencher, dentro da linguagem de improvisao, as funes da
seo rtmica, de duas maneiras: (1) a linha de baixo com a mo esquerda e acordes com mo direita,
quando o contrabaixo faz os solos; (2) acordes com a mo esquerda, incluindo voicings (ou acordes de
apoio)
2
e a linha meldica com a mo direita, quando o contrabaixo rezaliza a linha de baixo.
Tais funes foram realizadas de acordo com o estilo musical. No caso do choro, a linha de baixo foi
bastante meldica, simulando aquela de um violo de sete cordas, atravs do encadeamento de acordes
invertidos. No caso da bossa-nova, a linha de baixo simulou, como acontece o contrabaixo nessa
funo, o surdo da bateria, com um leve acento no segundo tempo; no caso do blues, utilizou-se o
tradicional baixo caminhante do jazz (walking bass) com articulaes em cada tempo.
Alm disso, foram feitas adaptaes de acordo com os diferentes papis que o contrabaixo assumiu;
assim, quando este utilizou o padro de acompanhamento de violo ou guitarra de bossa-nova em
Wave, o improviso do piano limitou-se a uma linha meldica com a mo direita, num registro mais
agudo que no se chocava com o registro mdio-grave do contrabaixo, enquanto, com a mo esquerda,
1
A emulaao do surdo , tamborim e berimbau no contrabaixo ocorreu nas transcries de Manh de Carnaval (Luiz Bonf),
Pedacinhos do Cu (Valdir Azevedo) e Berimbau (Baen Powell), no tratadas nesse artigo.
2
Deacordo com MEHEGAN (1965), voicings em jazz (conhecidos no Brasil tambm como acordes de apoio) so
estruturas incompletas que se tornam acordes com o acrscimo da fundamental no baixo.
eram feitas intervenes curtas utilizando-se voicings na regio central ou duas notas simultneas
geralmente intervalos de quinta justa, na regio grave.
Tambm procurou-se reagir improvisatoriamente aos estmulos sugeridos pelas linhas meldicas e
ritmos realizados pelo contrabaixo, mesmo sabendo-se que foram previamente escritos, resultando em
performances dialgicas e diferentes em cada apresentao.
PRTICAS DE PERFORMANCE EM LAMENTOS:
O conceito schenkeriano de melodia composta (compound melody ou, para outros autores, melodia
polifnica - polyphonic melody), em que . . . a prpria melodia composta de componentes distintos
da conduo de vozes. . .
3
(FORTE, 1982, p.67), sugere duas vozes independentes no mesmo
instrumento. Na introduo do arranjo de Lamentos (1928) de Pixinguinha (1897-1973), esse conceito
foi aplicado ao contrabaixo sozinho, sem acompanhamento. Para enfatizar a idia de pergunta e
resposta da tradicional introduo, foram justapostos timbres, articulaes e registros bastante
contrastantes, como mostra o Ex.1. As perguntas so realizadas no extremo agudo do instrumento, em
harmnicos naturais com arco legato. As respostas ocorrem no registro mdio-grave, em pizzicato,
com slide
4
em algumas notas e textura com bicordes. Importante na realizao dessa prtica so as
respiraes do fraseado de maneria a permitir um timing preciso, confortvel e musical para as trocas
entre arco e pizzicato. A tcnica de capo-tasto na regio anterior primeira oitava (onde mais
comum) permitiu, no c.10, uma pequena variao na harmonia (a quinta aumentada de Sol: R# ao
invs de R natural).
3
. . .the melody itself is composed of distinct components of the voice leading. . .
4
Slide, do ingls escorregar, um efeito semelhante ao portamento, porm mais exagerado e com mais energia no
movimento.
Ex.1. Introduo de Lamentos de Pixinguinha no contrabaixo sem acompanhamento: perguntas e
respostas com contraste de timbre, articulao, registro e textura.
A questes psicoacsticas de (1) percepo de consonncias como tal (e no como dissonncias), (2)
superposio de registros e (3) cruzamento de vozes na regio grave demanda muito cuidado durante o
processo composicional ou improvisao, especialmente na msica tonal. Esse aspecto torna-se ainda
mais problemtico no caso do duo de contrabaixos devido pequena definio sonora nas baixas
freqncias, gerada pela grande caixa de ressonncia e pequena percussividade no ataque do envelope
acstico tpico de sua onda sonora. Assim, uma soluo para um dos chorus de Lamentos em que a
improvisao em pizzicato na regio grave foi a utilizao das freqncias agudas do corpo do
contrabaixo, utilizado como instrumento de percusso. Assim, com as duas mos livres, os dedos
indicadores do contrabaixista acompanhador simulam a baqueta do tamborim, tocando um groove
5
tpico do samba: o indicador esquerdo na faixa esquerda do contrabaixo, prximo ao brao do
instrumento e o indicador direito no tampo, prximo borda da faixa direita.
A opo por apenas um chorus de improvisao para limitar a durao da obra motivou a re-exposio
do tema de maneira variada, tanto melodica e ritmicamente, quanto nas articulaes. Pode-se observar
a, entre outros aspectos: cromatismos de passagem, nfase em sncopas caracteristicamente brasileiras,
seja com notas repetidas, seja na progresso ascendente seguida de uma rpida volate descendente, cujo
aumento da atividade rtmica faz aluso a um lick tpico de improvisao, antecipaes tpicas do canto
popular, constraste entre anacruses em stacatto e tempo forte legato com marcato e slides expressivos.
Com relao ao ltimo aspecto acima, a prtica mostra que esses slides so mais eficientes e soam
menos romantizados (e mais de acordo com o estilo gil do chro) se realizados prximos aos finais da
durao da notas.
PRTICAS DE PERFORMANCE EM WAVE:
Na transcrio de Wave (1960) de Tom Jobim (1927-1994) para o contrabaixo, foi levada em
considerao a instrumentao de cmara intimista caracterstica desse estilo (nascido em apartamentos
de Copacabana), ou seja, a voz e o violo. A introduo, realizada pelo contrabaixo, contem aluses
aos dois (Ex.2). O pizzicato na regio mdio-aguda utiliza a batida bossa-nova do violo dentro dos
dois acordes iniciais da cano (D7M e Bb
o
). A tcnica de mo direita utilizada a deriva diretamente
do violo: o polegar toca o bordo do baixo e os demais dedos, em movimento contrrio, fazem soar os
acordes (Ex.2a). Por sua vez, o riff
6
em arco, livremente baseado em uma gravao antolgica dessa
cano, com a cantora Elis Regina e o gaitista Toots Thielemans no disco Aquarela do Brasil (1969),
simula a voz na regio super-aguda da corda Sol do contrabaixo, misturando harmnicos naturais,
notas presas e o efeito de portamento vocal (Ex.2b). Destacam-se, tambm nesse arranjo, grooves de
dois outros instrumentos que desenvolveram padres rtmicos distintos na msica brasileira: o prprio
contrabaixo acstico (Ex.2c) e a cuca (Ex.2d).
5
Padres de acompanhamento repetitivos com nfase no ritmo.
6
Riff um ostinato meldico curto, geralmente de dois a quatro compassos, servindo de acompahamento ou de pontuao
de solos, realizado por instrumentos individulamente ou por naipes do grupo ou pelo grupo todo, em unssono ou em
texturas homofnicas.
Ex.2 Emulao de idiomas instrumentais tpicos da MPB no contrabaixo acstico em Wave de Tom
Jobim: violo (A), voz (B), contrabaixo (C) e cuca (D).
A adaptao da tcnica de acompanhamento do violo para o contrabaixo mostrou-se to eficiente ao
combinar as regies grave (bordes) e mdia (acordes), que foi possvel sua incluso como
acompanhemento em toda a seqncia harmnica da Seo A de Wave. No caso de servir como base
para improvisao pelo piano, esse acompanhamento mostrou-se mais claro se tocado junto com uma
textura menos densa do solista, resultando numa abordagem improvisatria meldica (mo direita) e
sem blocos de acordes (sem a mo esquerda).
No solo do contrabaixo com arco na Seo A de Wave, transcrito abaixo (Ex.3), foram utilizadas
diversas referncias a idiomas caractersticos da linguagem improvisatria: aluses a materiais
temticos e introduo, apojatura, arpejo, volate, portamento, bending,
7
drop,
8
slide, cordas duplas,
etc.
7
Bending, do ingls torcer ou dobrar, o efeito de distoro de uma nota em que sua frequncia ligeiramente
aumentada. No caso dos instrumentos de cordas (sendo mais caracterstico na guitarra), ocorre por meio de um esticamento
da corda no sentido transversal da mesma.
Ex.3 Prticas de performance erudito-populares em transcrio do solo de contrabaixo com arco na
Seo A de Wave
PRTICAS DE PERFORMANCE EM DAWN BLUES:
Dawn Blues (2002), de Fausto Borm, emprega uma nova tcnica de performance do contrabaixo
acstico que permite a conduo de duas vozes simultneas com grande contraste de timbre e registro:
uma em arco nos harmnicos naturais e outra, em pizzicato nas cordas soltas. Na introduo de Dawn
Blues, essa tcnica foi ampliada com a incluso de bendings (caractersticos do estilo blues), textura a
trs vozes, e, no apenas do registro super-agudo, mas tambm dos registros agudo, mdio e grave no
arco (Ex.4).
8
Drop, do ingls queda, uma sequncia de notas rpidas descendentes, nem sempre bem explicitadas (por exemplo, no
estilo das ghost notes; veja definio mais frente) geralmente utilizando cruzamento de cordas e/ou cordas soltas para se
chegar a uma nota mais grave, mais longa e acentuada.
Ex.4 Ampliao da tcnica de arco-pizzicato simultneo na introduo de Dawn Blues (2002) de
Fausto Borm: incluso de bending e utilizao dos diferentes registros do contrabaixo.
Ainda em Dawn Blues, nos chorus de improvisao do contrabaixo com arco, foram experimentados
outros recursos expressivos caractersticos do estilo: blue notes (tera, quinta e stima abaixadas), ghost
notes
9
, bending, drop, portamentos e ponticello
10
para emular o timbre da guitarra eltrica com
distoro.
CONSIDERAES FINAIS:
A natureza exploratria desse estudo permitiu que os resultados decorressem naturalmente da prtica,
em um processo contnuo de transformaes consolidadas em situaes de ambiente controlado
(ensaios) e no controlado (concertos). Esses resultados incluem a adaptao, para o contrabaixo com
arco e em pizzicato, de idiomas da msica popular, a combinao de tcnicas eruditas e populares e o
desenvolvimento de novas tcnicas de performance baseadas em outros instrumentos. No caso do
piano, tais procedimentos estimularam a busca de novas alternativas de utilizao de registro e textura
para a performance, incluindo a a improvisao. Tambm recorreu-se emulao da funo e prticas
de performance de outros instrumentos.
9
Ghost note (tambm conhecida por dead note) uma nota cuja freqncia no definida, sendo mais importante o seu
componente rtmico.
10
Ponticello, nos instrumentos de cordas friccionadas, o efeito de timbre realizado com a aproximao do cavalete pelo
arco, resultando no enfraquecimento da freqncia fundamental e nfase das freqncias mais agudas da srie harmnica.
Em ltima anlise, os processos de transcrio e improvisao viabilizaram a ampliao de recursos
instrumentais conhecidos e a explorao novos recursos, ao mesmo tempo em que permitiu uma
aproximao entre as msicas erudita e popular.
BIBLIOGRAFIA:
BORM, Fausto. Dawn Blues, para voz, contrabaixo e piano. Belo Horizonte: Ed. Autor, 2002.
FORTE, Allen e GILBERT, Steven E. Introduction to schenkerian analysis. New York: W. W.
Norton, 1982.
JOBIM, Tom. Wave. Songbook Bossa Nova. Ed. Almir Chediak.v.3. Rio e Janeiro: Lumiar, (?), p.138-
139.
MEHEGAN, John. Contemporary Piano Styles, Jazz Improvisation IV. New York: Watson-Guptill
Publications,
1965.
PIXINGUINHA e MORAES, Vincius de. Lamentos. Rev. Antnio Carlos Carrasqueira. Cifra
Edmilson Capelupi. Rio de Janeiro: Irmos Vitale, 1953.
ROBERT, Jean-Pierre. Les modes de jouer la contrebasse. Pref. Pierre-Henry Joubert. Paris: Musica
Guild, 1994.
SALAZAR, Marcelo. Batucadas de samba: como tocar samba. Introd. Srgio Cabral. Ed. Almir
Chediak. Rio de Janeiro: Lumiar,1991.
TURETZKY, Bertram. The contemporary contrabass. 2ed. rev. Berkeley: University of California,
1989.
O papel das buscas sensoriais exteroceptiva (audio, viso e tato) e
interoceptiva (cinestesia) no controle da afinao no-temperada do
contrabaixo acstico: observaes iniciais
Fausto Borm
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
fborem@ ufmg.br
Maurlio Nunes Vieira
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Guilherme Menezes Lage
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Resumo: Estudo experimental sobre o papel das informaes sensoriais exteroceptiva (audio,
viso e tato) e interoceptiva (cinestesia) no controle da afinao no-temperada do contrabaixo
acstico. Eventualmente, busca a integrao dessas quatro percepes sensoriais em um sistema
sensrio-motor para facilitar o desenvolvimento de uma afinao mais precisa e a otimizao de sua
aprendizagem nos instrumentos de cordas orquestrais e no contrabaixo eltrico fretless. Prope o
conceito de busca ttil e uma adaptao do conceito de busca visual rea de msica.
Palavras-chave: afinao no-temperada, busca sensorial, contrabaixo acstico
Abstract: Experimental study on the role of exteroceptive (aural, visual and tactile) and
interoceptive (proprioceptive) sensorial information to control the double basss non-tempered
intonation. It eventually aims at the integration of these four sensorial perpceptions into a sensory-
motor intonation system allowing a faster and more effective development of intonation skills in
orchestral strings and the fretless electric bass. It also proposes the concept of tactile retrieval and
the adaptation of the visual retrieval concept to the music area.
Keywords : non-tempered intonation, sensorial retrieval, double bass
E a afinao torna-se uma grande ansiedade. . . onde as demandas sobre o
instrumentista parecem estar alm de sua capacidade . . . HAVAS (1995, p.41)
INTRODUO
As habilidades de um determinado domnio geralmente atingem o estgio avanado com a
consolidao da prtica deliberada aps um perodo em torno de 15 anos (LAGE,
BORM, BENDA e MORAES, 2002, p.18-19). Entre as habilidades envolvidas na
Performance Musical, o controle da afinao
1
em instrumentos de cordas no-temperados
1
O termo afinao em portugus, no meio musical, tem dois significados principais: (1) a regulagem prvia
das freqncias de um instrumento (por exemplo, das cordas de um piano ou violino) antes de sua
performance, equivalendo ao termo tuning, em ingls e (2) a localizao, pelo instrumentista, das freqncas
(ou seja, sem trastes ao longo do espelho), como as cordas orquestrais (violino, viola e
violoncelo e contrabaixo acstico) e o contrabaixo eltrico fretless, uma das mais difceis
de serem desenvolvidas (COLLET, 2002, p.1-2). Trata-se de um problema universal
(APPLEBAUM, 1973, p.15) que permanece insolvel por toda a vida ou pode tornar-se
determinante no abandono do instrumento, reforando assim o esteretipo do musicista de
cordas desafinado.
A ausncia dos trastes em instrumentos de corda no-temperados traz dois problemas
bsicos: (1) uma alta demanda de preciso de movimentos e (2) uma baixa reteno do
controle da afinao quando o instrumentista mantm-se afastado do instrumento ou de
uma obra musical. No contrabaixo, como observou SANKEY (1978, p.77), um dos maiores
pedagogos do instrumento no sculo XX, . . . as dimenses grandes e canhestras do
contrabaixo o tornam um instrumento de difcil afinao e fluncia em relao aos outros
instrumentos solistas.
Estudos em Comportamento Motor mostram que a viso predomina em nossos sistemas
senso-perceptivos (MAGILL, 2000). Mas, tradicionalmente, o ensino dos instrumentos de
cordas no-temperadas lana mo de outros dois recursos perceptivos no controle da
afinao: (1) a cinestesia (ou propriocepo) que, a partir de estmulos internos
(interocepo), determina a preciso dos movimentos grossos e finos que antecedem as
notas do texto musical e (2) a audio que, a partir e estmulos sonoros externos
(exterocepo), de natureza confirmatria. Esses dois recursos interdependentes so
fontes de feedback para a correo ou ajuste da afinao. Embora muitos instrumentistas
recorram a referncias visuais (como a periodicidade das oitavas nos instrumentos de
teclado) e tteis (como a localizao das chaves em instrumentos de sopro), essas prticas
no tm sido devidamente estudadas (e aplicadas) no controle da afinao no-temperada
ou na utilizao de referncias visuais e/ou tteis na afinao dos instrumentos de cordas
orquestrais. GREEN (1980, p.178) menciona a utilizao de quatro pontos de referncia
do texto musical durante a performance (por exemplo, em um concerto) , equivalendo ao termo intonation,
em ingls.
fsicos no contrabaixo, mas o faz de uma maneira no sistemtica, citando-os apenas como
macetes didticos para memorizar os movimentos cinestesicamente.
A vertente interdisciplinar do Projeto Prolas e Pepinos do Contrabaixo (CNPq,
FAPEMIG, Fundo FUNDEP/UFMG) que integra as reas de Performance Musical, Fsica
Acstica e Comportamento Motor, tem como objetivo geral o estudo de aspectos musicais,
acsticos e motores e suas inter-relaes. O presente estudo visa a integraao da audio, da
viso, do tato e da cinestesia em um sistema sensrio-motor que beneficie educadores
musicais e perfrmeres no desenvolvimento de uma afinao mais precisa e na otimizao
da sua aprendizagem. Especificamente, prope (1) adaptar o conceito de busca visual, isto
, a orientao da ateno visual por pontos visveis no espelho do contrabaixo, (2) propor
o conceito de busca ttil e (3) verificar seus papis, ao lado da busca auditiva, no controle
da afinao no-temperada do contrabaixo acstico.
MTODO
Cinco instrumentistas com nvel de expertise contrastantes receberam individualmente
instruo e demonstrao dos conceitos de busca visual e busca ttil. Pequenas marcas para
busca visual foram pintadas com tinta branca no espelho do instrumento nos pontos
equivalentes s notas R
2
, Sol
2
e R
3
na corda Sol, doravente referenciados como pontos de
busca visual (Bv I I , Bv I I I e Bv IV). Para a busca ttil, foram utilizados os toques do dedo
indicador na pestana, do polegar no salto do brao, e do punho na lateral superior esquerda
do tampo (pontos de busca ttil Bt I , Bt I I e Bt I I I ).
A cada sujeito foi apresentada a seqncia meldica atonal e espacializada de 16 notas
musicais (notas-alvo 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13 e 15, notas de referncia 1, 4, 8, 14 e 16 e notas de
passagem 6, 11 e 12), cujos paralelos na literatura do contrabaixo so considerados de
difcil afinao (Fig.1).
Fig.1 - Seqncia meldica atonal e espacializada de 16 notas com 8 notas-alvo (2, 3, 5, 7, 9, 10, 13 e 15),
pontos de busca ttil (Bt), e pontos busca visual (Bv) no contrabaixo acstico.
Aps um contato apenas visual e breve (cerca de 2 minutos sem prtica no instrumento),
com a seqncia meldica, os sujeitos foram regidos na performance da seqncia, em
andamento lento e com cesuras entre as notas, em onze tentativas (T
0
a T
10
) com diferentes
graus de restries sensoriais. Os instrumentistas foram orientados a no utilizar ajustes
com os dedos da mo esquerda ou com vibrato
2
. As tentativas T
0
-T
5
foram realizadas em
um contrabaixo 4/4 (comprimento de corda = 106 cm) e as tentativas T
6
-T
10
em um
contrabaixo piccolo (comprimento de corda = 86,5 cm). A percepo cinestsica no foi
restringida em nenhuma tentativa. Ao mesmo tempo, foram impostas as seguintes restries
sensoriais exteroceptivas:
T
0
: Busca Livre, sem fornecimento de nehuma instruo ou demonstrao, sem imposio
de quaisquer restries s suas percepes sensoriais.
T
1
e T
10
: Busca com Restrio Exteroceptiva (sem busca auditiva, ttil ou visual).
T
2
e T
9
: Busca Auditiva (sem busca visual ou ttil).
T
3
e T
8
: Busca Ttil (sem busca auditiva ou visual).
T
4
e T
7
: Busca Visual (sem busca auditiva ou ttil).
T
5
e
T
6
: Busca Integrada (com busca auditivo-ttil-visual).
2
Cf. BUSWELL IV (1979, p.8) sobre vibrato enquanto artifcio para corrigir a afinao.
O bloqueio das percepes exteroceptivas (audio, viso e tato) impostos aos sujeitos
foram realizados com a utilizao de um fone de ouvido com mascaramento por meio de
rudo rosa (pink noise), uma viseira (cujo campo de viso exclua o espelho do contrabaixo)
e a colocao de pequenas almofadas nos trs pontos de busca ttil (Bt I, Bt II e Bt III). O
rudo foi gerado pelo software Cool Edit (www.syntrillium.com) e apresentado via fone de
ouvido, sendo o nvel aumentado lentamente at o sujeito indicar que o som do contrabaixo
com arco estava mascarado.
O Ponto I (pestana do contrabaixo) foi utilizado apenas para busca ttil (Bt I ), porque se
localiza atrs do campo de viso central (2 a 5) do contrabaixista. A utilizao da viso
nesse caso, exigiria um movimento lateral do pescoo que comprometeria o processamento
de informaes essenciais na performance, como a observao da partitura e do maestro. O
Ponto IV (uma oitava + uma quinta acima da corda solta Sol) foi utilizado apenas para
busca visual (Bv IV) por no oferecer referncia ttil claramente identificvel.
As onze tentativas de cada um dos cinco sujeitos foram captadas por um captador Fishman
BP-100, amplificadas em uma mesa Stanner de 4 canais e digitalizadas a 22.050 amostras
por segundo (preservando freqncias at 11.025 Hz), e 16 bits por amostra. Estas
gravaes sero analisadas para a medio das freqncias das notas executadas e
comparadas com as freqncias das notas-alvo.
No ponto em que se encontra o estudo, possvel apresentar observaes qualitativas
relacionando a varivel dependente (afinao no-temperada) com algumas variveis
independentes, como discutido a seguir.
OBSERVAES PRELIMINARES
Pode-se avaliar a afinao no-temperada no contrabaixo acstico em funo de quatro
variveis independentes: nvel de aprendizagem (iniciante, intermedirio, avanado,
avanado no-contrabaixista ou autodidata), tipos de busca sensorial (busca auditiva,
busca visual, busca ttil, busca integrada, busca com restrio exteroceptiva ou busca
livre), registros do contrabaixo (grave, mdio ou agudo) e tamanho de contrabaixo (4/4 ou
piccolo).
Os espectrogramas
3
das Fig.2 e Fig.3 mostram as tentativas T
5
e T
10
de um sujeito de nvel
intermedirio, permitindo algumas observaes iniciais. Nessas figuras, o eixo horizontal
representa o tempo e o eixo vertical as freqncias. Cada coluna corresponde a uma das
dezesseis notas e as linhas horizontais sua respectiva srie harmnica. Quanto mais
prximas as linhas horizontais (harmnicos) entre si, mais grave a nota ser. Alguns
problemas de regularidade na performance de cada nota podem ser vistos na evoluo dos
harmnicos:
1. Presso inicial de ataque excessiva para vencer a inrcia da corda, como pode ser
visto mais claramente no incio das notas 1, 6, 7, 8 e 13 da Fig.2 ou das notas 7, 10 e
15 da Fig.3, notadamente nos harmnicos superiores;
2. Ataque com presso inicial insuficiente, sem destacar a fundamental, como na nota
1 da Fig.2;
3. Esmagamento da corda devido maior abduo do ombro e pronao do
antebrao, como no meio da nota 9 da Fig.2 e da nota 2 da Fig.3, que sofrem uma
queda temporria na freqncia;
4. Aumento sbito de presso na corda, na retirada do arco, aumentando a freqncia
de forma semelhante arcada pichettato volante (DOURADO, p.82), como notas 2,
3 e 13 da Fig.2;
5. Superposio de freqncias entre notas vizinhas devido vibrao de corda solta,
como a nota 8 que interfere nas notas 9 e 10 da Fig.2;
6. Ataque defeituoso, onde a componente fundamental s aparece ou reforada no
final, como na nota 6 da Fig.3;
7. Gerao de sub-harmnicos pela raspada vertical do arco na corda, como na nota
3 da Fig.2 ou nota 13 da Fig.3;
8. Rudo (sem arco) decorrente do escorregamento de um dedo ao longo da corda sem
pression-la sobre o espelho, como os borres descendente entre as notas 9 e 10 da
Fig.3.
3
Especificaes para gerao de imagem dos espectrogramas no Cool Edit: Hammig, 4.906 Band, 100%
width, 80 db, espectro de 0 a 2700 Hz.
Fig. 2 T
5
Busca Integrada (busca auditivo-ttil-visual e cinestsica) de notas-alvo (2, 3, 5, 7, 9, 10, 13 e 15)
em sujeito de nvel intermedirio em contrabaixo 4/4. O eixo horizontal representa o tempo (segundos), o
Fig. 3 T
10
Busca com Restrio Exteroceptiva (sem busca auditiva, ttil ou visual) de de notas-alvo (2, 3, 5,
7, 9, 10, 13 e 15) em sujeito de nvel intermedirio em contrabaixo piccolo. O eixo horizontal representa o
tempo (segundos), o vertical a freqncia (hertz) e o tom de cinza a intensidade.
Nas duas figuras destaca-se a maior dificuldade do sujeito manter a afinao das notas
situadas no registro agudo do contrabaixo (notas 5, 6 e 13). Isto parece estar associado
abordagem conservadora no ensino do instrumento em que as habilidades motoras so
desenvolvidas preferencialmente nos registros mdio e grave, com menor nfase no
registro agudo. Mesmo sendo instrumentos de dimenses diferentes, notou-se tambm
um bom controle motor via cinestesia no registro grave. Isto ocorreu na transio das
notas 6 (agudo) para 7 (grave) e 14 (agudo) para 15 (grave), nos dois instrumentos e
com diferentes graus de restrio.
As notas 8 e 13 revelaram-se as de maior dificuldade de performance na seqncia,
independente das tentativas, o que pode ser explicado pelo fato de se localizarem no
registro agudo. Das duas, a nota 13 foi a de maior dificuldade de afinao por no ser
antecedida por uma nota de referncia.
A confrontao entre as tentativas T
5
(Fig.2) e T
10
(Fig.3) indica uma clara diminuio
no controle da afinao no-temperada. A retirada, em T
10
, da busca visual na
performance das notas 5 e 13 levou s maiores deterioraes, corroborando os achados
na rea de Controle Motor, que apontam a viso como a principal fonte de percepo.
Por outro lado, em T
10
, no houve muita deteriorao das notas 7 e 15 apesar da
restrio da busca ttil, possivelmente porque a cinestesia estaria suprindo esta perda.
TRABALHOS SUBSEQENTES
Esto sendo iniciadas as medies das freqncias de todas as notas em todas as
tentativas. As medidas sero confrontadas com as freqncias das notas-alvo. Isto
possibilitar uma anlise quantitativa da afinao em funo das quatro variveis
independentes, podendo revelar, de uma maneira mais objetiva, o papel de cada
modalidade de percepo exteroceptiva e interoceptiva. Espera-se que esse estudo gere
uma proposta pedaggica que possa beneficiar o ensino no apenas do contrabaixo
acstico, mas tambm das outras cordas orquestrais e do contrabaixo eltrico fretless.
BIBLIOGRAFIA:
APPLEBAUM, Samuel. The way they play. Ed. Samuel Applebaum e Sada Applebaum.
Introd. Alan Grey Branigan. v.2. Neptune City, NJ: Paganiniana, 1973.
BUSWELL IV, James. The many faces of musical talent. In: Concepts in string playing.
Ed. Murray Grodner. Bloomington: Indiana University Press, 979 p.8
COLLET, Glsse. Afinao em instrumentos de cordas: violino e viola. Salvador:
Universidade Federal da Bahia, 2002 (Tese de Doutorado em Msica).
DOURADO, Henrique Autran. O arco dos instrumentos de cordas. So Paulo: Edicom,
1998.
GREEN, Barry. The way they play. Ed. Samuel Applebaum e Henry Roth. v.7. Neptune
City, NJ: Paganiniana, 1980.
HAVAS, Kato. Stage fright: its causes and cures with special reference to violin playing.
10ed. London: Bosworth, 1995.
LAGE, G. M.; BORM, F.; BENDA, R. N.; MORAES, L. C.. Aprendizagem motora na
performance musical:reflexes sobre conceitos e aplicabilidade. Per Musi.v.5-6, 2002,
p.18-19.
MAGILL R. A. Aprendizagem motora: conceitos e aplicaes. 5.ed. So Paulo: Edgard
Blucher, 2000.
SANKEY, Stuart. The way they play. Ed. Samuel Applebaum e Henry Roth. v.6. Neptune
City, NJ: Paganiniana, 1978.
1
Sonata op. 8 para Violoncelo solo de Zoltn Kodly (primeiro movimento):
aspectos analticos e suas implicaes interpretativas
Felipe Avellar de Aquino
Universidade Federal da Paraba (UFPB)
felipecello@hotmail.com
Resumo: Este trabalho procura analisar a forma e estrutura organizacional do primeiro movimento da
Sonata para violoncelo solo, Op. 8, de Zoltn Kodly. Por este prisma so examinadas as inflexes
modais, o uso da escala pentatnica como elemento estrutural, alm de determinados aspectos do
folclore Hngaro que influenciaram a linguagem musical do compositor. Ademais, pretende-se
demonstrar como o autor faz uso de elementos folclricos dentro da estrutura da forma sonata e como
este manipula as expectativas do ouvinte. Assim, so aplicados alguns aspectos da Teoria das
Emoes (Theory of Emotions), da maneira definida por Leonard Meyer, tempo forte estrutural
(structural downbeat) e acento estrutural, de acordo com Epstein, alm do conceito de moldura
definido por E. T. Cone. Do ponto de vista de performance, discute-se o uso de rubato e flexibilidade
rtmica, gerados pelo carter improvisatrio da obra que, por sua vez, provm do uso de elementos
hngaros.
Palavras-chave: Kodly, sonata, violoncelo
Abstract: This paper intends to analyze the structure and form of the first movement of Kodlys solo
cello sonata, Op. 8, examining the modal inflections, the use of pentatonic scales as structural element,
and other aspects of the Hungarian folk music that influenced Kodlys musical language. Through
this analysis the author investigates how the composer employs the sonata form in a work rooted on
folk material and how he deals with the listeners expectations. Hence, some aspects of Meyers
theory of emotions, the concept of structural downbeat and structural accent, according to Epstein,
besides the concept of frame, as elaborated by Cone are applied to this piece. As far as interpretation is
concerned, the author discusses the use of rubato and rhythmic flexibility derived from the
improvisatory character of the piece, which comes from the Hungarian elements, stressing their
performance implications.
Keywords: Kodly, sonata, Cello
I. Introduo
Em 1915 o mundo vivenciava um perodo de grandes turbulncias devido ao estouro
da Primeira Guerra Mundial no ano anterior. A Hungria, terra natal de Zoltn Kodly, foi um
dos principais focos do conflito, uma vez que a guerra comeou como um evento isolado
envolvendo o imprio Austro-Hngaro e a Srvia. Tudo comeou com o assassinato do
herdeiro do trono Austro-Hngaro, Arquiduque Francisco Ferdinando, e se transformou em
uma guerra global envolvendo cerca de trinta e duas naes. Desta forma, o conflito foi
2
nitidamente marcado pelo senso de nacionalismo exacerbado que havia tomado conta da
Europa ainda no sculo XIX.
Foi neste ambiente que Kodly comps uma de suas obras mais significativas: a
Sonata para Violoncelo Solo, Op. 8. fato notrio que, durante o perodo de guerra, Kodly
no apenas deu continuidade s suas atividades de ensino na Academia de Msica, como
tambm prosseguiu suas expedies de coleta. Ao mesmo tempo, ele intensificou seus
trabalhos de estudo e classificao do folclore musical da Hungria (Esze, 1962, p. 21). Desta
forma, a Sonata Op. 8 est permeada de elementos que demonstram a preocupao do
compositor com a msica dos camponeses de seu pas.
Esta obra , certamente, a contribuio mais importante para o repertrio do violoncelo
solo desde as seis Sutes de J.S. Bach, escritas por volta de 1720. Na Sonata Op.8, Kodly, ao
contrrio do que aconteceu com outros que escreveram obras do mesmo gnero, expressa
idias completamente novas sem, no entanto, ser influenciado pela obra de Bach.
1
Podemos ir
ainda mais adiante e classific-la como uma das obras mais importantes do repertrio
violoncelstico. uma composio de grandes propores, com durao aproximada de trinta
minutos, onde a tcnica do violoncelo explorada nos seus limites, sem, no entanto, se
transformar em mera exibio de virtuosismo.
Dividida em trs movimentos (Allegro maestoso ma appassionato, Adagio con
grandespressione e Allegro molto vivace), a pea requer afinao anormal do instrumento, em
scordatura, revivendo uma prtica instrumental dos sculos XVI e XVII. Neste caso as cordas
graves so afinadas meio tom abaixo, Si e F# respectivamente, o que altera as caractersticas
sonoras do violoncelo, resultando em um timbre extremamente sombrio. Para facilitar a
leitura, a scordatura indicada no incio da Sonata, ao invs de estar escrita na partitura
(exemplo 1).
Exemplo 1:
a) Scordatura
3
b) Como est escrito:
Como soa:
c) Como est escrito
Como soa:
1
Alguns estudiosos consideram as trs Suites para violoncelo solo de Max Reger mera imitao da obra de Bach
(coincidentemente, a Sute N 1,Op. 131c foi tambm escrita em 1915). Da mesma forma, a Suite para
4
Esta afinao incomum faz com que as cordas do violoncelo formem um acorde de Si
menor com stima (Si - F# - R - L), o que est diretamente relacionado ao centro tonal da
obra (Si menor). Alm disso, Kodly expande a extenso do violoncelo para cerca de cinco
oitavas, o que muito pouco explorado dentro da literatura violoncelstica.
II. Aspectos Analticos
Esta obra caracteriza-se pela coexistncia de diferentes escalas empregadas no decorrer
do movimento. Alm da escala diatnica, Kodly emprega a chamada escala cigana (d r
mib - f# - sol lb si d) - que contm dois intervalos de segunda aumentada - alm de
vrias escalas modais como Aelio, Frgio e Lcrio. Esta constante alternncia de modos e
escalas, ou seja, de colees de notas (pitch collections), uma das razes da completa
ausncia de armadura.
Outro elemento caracterstico da obra o deslocamento rtmico, atravs do qual o
posicionamento do tempo forte dentro do compasso cria a sensao de constante alternncia
de sua frmula. Assim, embora escrito em 3/4, o incio do movimento, at o compasso 31,
marcado pela ambigidade mtrica causada pelo posicionamento dos tempos fortes em cada
compasso, que no chega a estabelecer um padro recorrente. Esta ambigidade causada
pela presena de acordes de quatro vozes que funcionam, efetivamente, como o primeiro
tempo destes supostos compassos. Alm disso, Kodly refora, propositadamente, esta
caracterstica com a colocao de acentos e sinais de sforzati em posies distintas dentro de
cada compasso. Por conseguinte, o deslocamento mtrico acaba criando um senso de tempo
forte em diferentes partes do compasso, como no segundo ou terceiro tempo. De fato, estes
acordes funcionam como acentos estruturais, como discutido por Epstein. Assim, estes no
apenas implicam em cruzamento da mtrica (Ingl.: cross-meter), como tambm nos leva a
ouvi-los como o tempo forte do compasso (Epstein,1995, pp. 23-26). O incio do movimento
violoncelo solo de Paul Tortelier demonstra ter sido bastante influenciada pelo compositor alemo.
5
soa, por exemplo, como compasso 4/4 seguido por 3/4, 2/4, 4/4 e assim por diante, nos quais
as colcheias acentuadas funcionam como anacruses destes compassos implcitos. Mesmo
quando alcanamos um compasso 3/4 estvel, ou seja, cujo primeiro tempo seja realmente o
tempo forte do compasso, no constitudo uma seqncia padro na qual a mtrica possa ser
estabelecida. Este caso encaixa-se perfeitamente nas teorias de Meyer, na qual a
excepcionalidade chega a ser to proeminente que vem a tornar-se o normativo (Meyer, 1956,
p. 66). Conseqentemente, a ambigidade mtrica um dos elementos responsveis pelo forte
carter improvisatrio imbudo na obra.
II.1 - Exposio
O movimento inicia com a apresentao de dois acordes de Si menor, que so
repetidos enfaticamente no decorrer de todo o primeiro grupo temtico. Alm disso, o
primeiro tema inteiramente construdo sobre o modo Aelio em Si. Do compasso 1-14 as
frases aparecem continuamente sobrepostas, sem uma clara definio de perodos. Esta
caracterstica evidente at a cadncia em F# (V/Si) no primeiro tempo do compasso 14. Em
compensao, F# intensamente enfatizado atravs de uma sucesso de cadncias, por sete
compassos, at a transio que comea no segundo tempo do compasso 20. Curiosamente,
esta transio baseada no modo Frgio em F# e, do compasso 25-31, na escala cigana, o que
inicialmente sugere que o segundo grupo temtico seria apresentado em F# (V/Si).
2
No
entanto, contrariando as expectativas, esta transio surpreendentemente conduz uma forte
cadncia em Si, no compasso 31, e ao incio do segundo grupo temtico, centralizado em Sol
menor (compasso 32).
Desde o incio pode-se claramente destacar alguns motivos, com suas respectivas
variantes, que formam as clulas meldicas bsicas que estruturam o movimento. Assim, o
motivo A, que aparece no tempo forte do compasso 4 (exemplo 2), baseado no intervalo de
segunda maior descendente seguido por uma quarta justa, cuja estrutura rtmica formada por
2
De acordo com o Harvard Concise Dictionary of Music, a escala Cigana (Gypsy scale) contm duas segundas
aumentadas,estruturada da seguinte forma: D R Mib F# - Sol Lb Si D.
6
duas semicolcheias seguidas por uma colcheia pontuada. Os intervalos deste motivo formam
o conjunto de notas (027), que um subconjunto da escala pentatnica (02479).
Exemplo 2: motivo A
No segundo compasso apresentada uma variante deste mesmo motivo em
aumentao rtmica, baseada no conjunto de notas (025), que tambm um subconjunto da
escala pentatnica. Portanto, como mostrado no exemplo 3, denominamos motivo A.
Exemplo 3: motivo A
O prximo motivo importante, denominado motivo B (024), aparece no terceiro
compasso e baseado em segundas maiores (exemplo 4).
Exemplo 4: motivo B
7
Kodly acumula, intencionalmente, muita tenso em toda a seo inicial, evitando uma
cadncia conclusiva em Si, que s vem a acontecer no primeiro tempo do compasso 31, antes
da apresentao do segundo tema. Segundo Meyer, em sua teoria das emoes, quanto maior
a tenso ou suspense criados, maior o relaxamento emocional quando de sua resoluo
(Meyer, 1956, p. 28). Conseqentemente, Kodly capaz de criar um poderoso ponto de
repouso no compasso 31. Uma vez que este o nico momento no qual encontramos a
combinao de um ponto de chegada relevante de carter conclusivo e em tempo forte com
o centro tonal da pea, podemos denominar este evento como o tempo forte estrutural do
movimento (structural downbeat).
3
Isto nos faz visualizar tudo o que o precede como um
grande gesto anacrstico.
Outro aspecto interessante desta seo inicial diz respeito transio, que teoricamente
deveria mover de Si para a rea tonal do segundo grupo temtico, que comea em Sol menor.
Podemos, desta forma, mais uma vez mencionar Meyer, mais precisamente em sua definio
da Teoria das Emoes na qual emoo ou reao so criadas quando uma tendncia a uma
resposta evitada ou inibida (Meyer, 1956, p. 14). Portanto, posicionando o tempo forte
estrutural em Si, precedendo imediatamente a apresentao do segundo tema, o compositor
procura manipular as expectativas do ouvinte, inibindo o que seria uma tendncia.
O segundo grupo temtico inicia em Sol menor (tema IIa compassos 32-43; tema IIb
compassos 43-70) e possui carter srio e triste. Alm disso, este metricamente mais lento,
em contraste com o primeiro grupo. Este tema possui, na verdade, o mesmo carter de uma
cano de lamento hngaro, que contm figuras lentas e estilo parlando.
4
De acordo com
Kodly, o lamento um puro recitativo, incluindo repeties irregulares de frases meldicas,
sem ritmo, exceto o ritmo verbal, e sem definio clara de barras de compasso (Kodly,
3
O conceito de Tempo Forte Estrutural (Structural Dwnbeat) foi formulado, inicialmente por E.T. Cone (Cone,
1968, pp.23-25) e aprofundado por D. Epstein (Epstein, 1995, pp. 38-40).
4
O segundo movimento desta Sonata, Adagio com grandespressione, da mesma forma, explora extensivamente
o carter da cano de lamento.
8
1971, p. 87). Alm disso, os vagarosos lamentos so geralmente ricos em ornamentaes,
como demonstrado no exemplo abaixo (exemplo 5).
Exemplo 5: arqutipo de lamento hngaro coletado por Kodly.
5
No caso do segundo grupo temtico, os ornamentos dos compassos 35 e 37 tm ainda
um outro papel importante, uma vez que se transformam nos arpejos dos compassos 40 e 41.
Estes tambm formam a segunda voz que adicionada ao compasso 44, aps a cadncia em
Sib (tema IIb). O padro rtmico do motivo apresentado por esta voz adicional consiste em
um movimento sincopado (motivo C) comumente encontrado na msica folclrica hngara.
Esta figurao rtmica pode ser observada no seguinte exemplo, coletado por Kodly, do
folclore hngaro (Exemplo 6.a):
Exemplo 6: Figurao rtmica sincopada, caracterstica do folclore hngaro.
a)
5
Zoltn Kodly, Pentatonicism in Hungarian Folk Music. Jornal of the Society for Ethnomusicology 14 (May
1970): 229.
9
b) Motivo C empregado na Sonata:
O motivo C repetido insistentemente durante todo o tema IIb, como tambm na
codetta. Desta forma, este vem a ser o material mais importante da segunda parte da
exposio. importante notar, entre os compassos 50-53, uma pequena insero da escala
pentatnica que, neste caso, consiste das notas Mib-Solb-Lb-Sib-Rb (02479).
A exposio conclui com uma codetta, compassos 70-79, construda sobre um longo
pedal de Mib. Esta est baseada no principal motivo do segundo grupo temtico, o que vai
levar seo de desenvolvimento. Desta forma, o desenvolvimento inicia com o material
extrado do primeiro tema, emergindo do pedal de Mib, que vem a ser o centro do modo
Aelio, empregado no incio do desenvolvimento.
II.2 - Desenvolvimento
10
O desenvolvimento inicia no compasso 80, quase como uma transposio literal dos
compassos iniciais para o modo Aelio em Eb (compassos 80-86). A seguir, no compasso
100, da mesma forma que no incio da seo, o primeiro material temtico apresentado em
forma quase que literal por cerca de seis compassos. No entanto, este aparece no modo Lcrio
em Sol#.
A retransio (c. 135-145), centrada em F#, possui carter de cadenza, baseada no
material do compasso 12.
II.3 - Recapitulao
Nesta seo, o primeiro tema apresentado de uma forma condensada, reduzido a
apenas cinco compassos. Esta reapresentao est centrada em D#, ao contrrio da esperada
regio de Si, e est inteiramente construda sobre acordes maiores paralelos. O primeiro tema
conclui com uma cadncia em R#, que o centro gravitacional do segundo tema da
recapitulao. Desta forma, embora os dois temas tenham centros gravitacionais distintos, a
transio entre os temas simplesmente omitida.
Comparando com a exposio, os compassos 160-161 diferem claramente de sua
apresentao equivalente. Neste ponto, o compositor insere uma seqncia de seis trtonos,
primeiro em tercinas e depois em semicolcheias, cujo ltimo trtono, Si-Mi#, tem sua
resoluo retardada do compasso 162 at a cadncia no segundo tempo do compasso 163. Isto
, na verdade, outro artifcio empregado a fim de se criar mais tenso. Ademais, de acordo
com a teoria de Meyer, a demora em resolver o trtono capaz de criar um relaxamento
emocional ainda maior no momento de sua resoluo, que a verdadeira inteno do
compositor (Meyer, 1956, p.28).
Na recapitulao, o segundo grupo temtico aparece transposto uma quinta aumentada
acima em relao sua apresentao inicial na exposio (R#). Isto prossegue at
alcanarmos a longa seo construda sobre um pedal, que aparece originalmente no compasso
70 da exposio, e que agora forma a codetta sobre o pedal de Si (compasso 190). Apenas na
11
codetta temos um retorno ao principal centro gravitacional da obra, concluindo o movimento
com os mesmos dois acordes de Si menor apresentados no incio da obra. Desta forma, estes
acordes circundam o movimento e funcionam, como define Cone, como a moldura do
movimento (Cone, 1968, p.22).
Ao invs de atuar como a seo na qual os conflitos entre foras opostas so
resolvidos, na recapitulao so geradas ainda mais expectativas. Kodly apresenta outros
centros gravitacionais, alm de Si, e adiciona mais tenso em passagem na qual a resoluo do
trtono postergada. Desta forma, ao trmino do movimento, aonde finalmente alcanamos a
regio de Si, na codetta e nos dois acordes finais de Si menor, encontramos o ponto de total
relaxamento e resoluo do movimento. A estrutura do movimento pode ser esquematizada
conforme a tabela 1.
Tabela 1: Diagrama do primeiro movimento.
Exposio Desenvolvimento Recapitulao
Tema I Tema II Codetta Tema I Tema II Codetta
Si (Sol menor) Mib Mib Sol# F# D# R# Si
(Mib = R#)
Relao de Simetria Relao de Simetria
(Tera maior) (Tera maior)
O quadro acima demonstra a curiosa relao entre os centros gravitacionais de cada
seo do movimento, uma vez que todas as notas, exceto a regio de Sol menor, so parte da
escala pentatnica (anhemitnica, ou seja, sem semitons) de Si (02479).
6
De acordo com
6
Mib e R# so tratados enarmonicamente para formar a escala pentatnica Si-D#-R#-F#-Sol#.
12
Kodly, a presena de pentatonicismo , juntamente com o aspecto rtmico, a principal
caracterstica da msica folclrica da Hungria (Kodly, 1970, p. 228). Alm do mais, como
mencionado previamente, alguns dos motivos do primeiro tema so formados por
subconjuntos da escala pentatnica. No podemos ignorar tambm a relao de simetria
intervalar (tera maior) entre os centros Si Sol e R# Si, que abrem e fecham o movimento.
Portanto, estes elementos so a forma na qual o compositor alcana balano e proporo
dentro do movimento.
III. Implicaes Interpretativas
A anlise apresentada acima nos indica alguns aspectos que podem ser incorporados
interpretao desta sonata. A primeira concluso diz respeito ao conceito de tempo forte
estrutural, que nos leva a executar a seo inicial, at o compasso 31, como um grande gesto
que culmina no primeiro tempo do referido compasso. Esta seo deve ser executada de
maneira contnua, ou seja, o menos seccionada possvel. Alm disso, o deslocamento rtmico
no necessita ser enfatizado, uma vez que as cordas duplas, por si s, criaro a acentuao
responsvel pela ambigidade mtrica.
Com relao interpretao do segundo tema, importante salientar que este deve ter
o carter de uma cano de lamento hngaro, sem muito senso de pulso, realando o carter de
improvisao. Acima de tudo, o intrprete deve procurar resgatar os estilo parlando no
transcorrer de cada frase.
Como o prprio Kodly comenta a respeito da interpretao da msica folclrica
hngara, as notas e grupos ornamentais, mesmo que uma nica nota se sobreponha, so
sempre executadas com um discreto glissando ou portamento. Isto se aplica mesmo quando
algumas notas se destacarem claramente do grupo (Kodly, 1970, pp. 229-230). Isto
acontece, por exemplo, no compasso 170, na recapitulao, aonde o compositor adiciona um
smbolo de glissando a fim de enfatizar a nota mais aguda. Por conseguinte, devemos estender
este conceito a outros pontos do segundo grupo temtico, como nos compassos 42-43,158-
159,162-163, aonde o compositor no incluiu nenhuma indicao.
13
Analisando a Sonata como um todo, devemos levar em considerao o conceito de
moldura, discutido por Cone (Cone, 1968, pp. 11-31), que d senso de unidade e coeso ao
movimento. importante notar que os outros dois movimentos esto praticamente
interligados, uma vez que o segundo movimento conclui de forma suspensiva em F# (V/Si),
no qual Si se constitui no centro tonal e primeiro acorde do movimento conclusivo.
Como opinio pessoal, devemos considerar a gravao do violoncelista Janos Starker
como uma referncia histrica dessa obra, no apenas por sua herana hngara, mas,
sobretudo, por sua associao com o compositor, que transmitiu detalhadas instrues a
respeito da interpretao dessa sonata. Alm disso, temos que levar em considerao que a
msica folclrica extremamente influenciada pelas inflexes do vernculo qual est
associada. Desta forma, tanto os ritmos empregados quanto a fraseologia esto diretamente
ligados as inflexes do idioma hngaro. Conseqentemente, Starker tem a exata noo de
contorno fraseolgico, como tambm do emprego dos elementos de aggica e rubato,
notadamente nas sees aonde o carter de lamento est presente. No entanto, no devemos
simplesmente tentar imitar as gravaes realizadas por Starker, mas t-las como referncia
interpretativa, sobretudo, no que se refere s inflexes da linguagem hngara.
Bibliografia
BREUER, Jnos. A Guide to Kodly. Budapest: Corvina Books, 1990.
CONE, Edward T. Musical Form and Musical Performance. New York and London: W.W.
Norton and Company, 1968.
ESZE, Lszl. Zoltn Kodly: His Life and Work. London: Collet's, 1962.
EPSTEIN, David. Shaping Time: Music, the Brain, and Performance. New York: Schirmer
Books, 1995.
KECSKEMTI, Istvn. Kodly, The Composer: Brief Studies on the First Half of Kodlys
Oeuvre. Kecskemt: Zoltn Kodly Pedagogical Institute of Music, 1986.
KODLY, Zoltn. Folk Music of Hungary. New York and Washington: Praeger Publishers,
1971.
14
____________. Pentatonicism in Hungarian Folk Music. Jornal of the Society for
Ethnomusicology 14 (May 1970): 228-242.
____________. The Selected Writings of Zoltn Kodly. London, Paris, Bonn, Johannesburg,
Sydney, Toronto, New York: Boosey & Hawkes Music Publishers Limited, 1974.
LENDVAI, Ern. The Workshop, of Bartk and Kodly. Budapest: Editio Musica Budapest,
1983.
RNKI, Gyrgy, ed. Indiana University Studies on Hungary. Vol. 2, Bartk and Kodly
Revisited. Budapeste: Akadmiai Kiad,1987.
SADIE, Stanley, ed. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. vol. 7, London:
Macmillan Press Limited, 1980. s.v. "Kodly, Zoltn" by Lszl Esze.
O acorde-tempestade
Consideraes sobre a utilizao do IV7 no repertrio do samba
Felipe Trotta
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
felipe.trotta@terra.com.br
Resumo: A presente comunicao tem como objetivo um estudo da ocorrncia do acorde de IV7 no
repertrio do samba. Partindo da noo de que a msica uma forma de vivncia coletiva e um
modo de pensamento sobre a vida e sobre a sociedade, irei identificar como esta pequena estrutura
musical um acorde pode ser interpretada e entendida por aqueles que compartilham os valores e
vises de mundo desta prtica cultural. Comparando os usos deste acorde em algumas canes do
repertrio e suas letras, possvel observar de que maneira certas emoes so transmitidas e
determinados valores so elaborados nos eventos musicais do samba, formando um corpo simblico
com o qual as pessoas se identificam, a partir do qual elas interagem, sobre o qual certas aes e
pensamentos sociais so construdos.
Palavras-chave: samba, msica popular, anlise musical.
Abstract: The aim of this paper is to study how the IV7 chord is used in the samba repertory.
Starting with the notion that music is a way of colective living and a mode of thought about life and
society, I will identify in what way this small musical structure a chord is interpreted and
understood by those who share the values and world views of this cultural practice. Comparing the
uses of this chord in some songs of the repertory and its lyrics, it is possible to find out the way
through which certains emotions and values are ellaborated in the samba musical events, forming a
symbolic corpus with which people can identify themselves, through which they interact and on
which certain actions and social thoughts are built.
Keywords : popular music, samba, musical analysis
Introduo
A msica uma forma de vivncia social. Mais do que uma simples
forma de comunicao, ela pode ser entendida como um modo de
pensamento e de ao (Blacking, 1995, p.236) atravs dos quais as pessoas
elaboram os acontecimentos do cotidiano, seus sentimentos, seus valores,
vises de mundo e sua prpria identidade social. Seja l quem voc for hoje
em dia, voc pode cantar uma cano a respeito, j dizia Anthony Seeger
(1992, p.1).
Um repertrio musical um conjunto de msicas que narram esse
modo de pensamento, estabelecendo uma afinidade entre os indivduos que
compartilham esses valores, sentimentos e vises de mundo. Neste trabalho
irei discutir algumas peculiaridades desta narrativa, com nfase nas
interpretaes das simbologias de um determinado elemento musical
recorrente no repertrio do samba.
Desta maneira, irei comparar o uso de um certo acorde em algumas
canes deste repertrio com o contedo semntico de suas letras. A partir
dessas comparaes, fazendo coro com vrios estudos da semiologia musical,
podemos identificar de que maneira os elementos musicais de uma
determinada prtica social podem se relacionar com certas sensaes como
distrbio, de alegria, de tenso, de mansido ou tristeza.
Experincias Musicais e Identidades Sociais
Se tomarmos qualquer experincia musical como um fenmeno cultural
capaz de transmitir identidades afetivas, atitudes e padres de
comportamento de grupos socialmente definidos (Tagg, 1982, p. 3), as
canes pertencentes a um determinado repertrio produzem sensaes de
afinidade, familiaridade e pertencimento para aquelas pessoas envolvidas
neste universo. Desta forma, a msica colabora decisivamente na construo
de identidades sociais.
A msica popular um tipo particular de artefato cultural que fornece s pessoas
diferentes elementos que sero por elas utilizados na construo de suas
identidades sociais. Desta maneira, os sons, as letras e as interpretaes, por um
lado oferecem maneiras de ser e de comportar-se, e por outro oferecem modelos de
satisfao psquica e emocional (Vila, 1996).
Assim, alguns elementos constitutivos das identidades sociais podem
ser encontrados nas msicas. A satisfao psquica e emocional s ocorre
quando h um reconhecimento das simbologias representadas nas canes e
depende de haver uma afinidade do ouvinte com esses significados. Neste
caso, o reconhecimento torna-se prazeroso e o ouvinte passa a se identificar
com este repertrio, construindo uma identidade. evidente que essas
afinidades sero complementadas com outros elementos no-musicais tambm
presentes na experincia musical, que por sua vez tambm representam
sentimentos e valores com os quais os indivduos se identificaro. A eficcia
de todo esse processo est relacionada com a capacidade das canes de um
determinado repertrio de narrar esses sentimentos e valores de uma maneira
particular, que ir cativar e produzir identificaes nos ouvintes. Caso
contrrio, a experincia levar negao dessas representaes, causando um
sentimento de no-pertencimento, normalmente desconfortvel. Mas que
elementos so esses? Como esse processo funciona?
Em primeiro lugar, devemos ter em mente que o compartilhamento
completo de cdigos s possvel entre indivduos pertencentes a um mesmo
ambiente cultural. Sendo assim, a interpretao eficaz de elementos das
canes necessita de uma espcie de imerso prvia naquele repertrio e nos
valores estticos, morais, ideolgicos, comportamentais, e rituais daquela
experincia musical. Por outro lado, indivduos que no possuem essa
vivncia anterior podem (e provavelmente iro) ter suas interpretaes desses
cdigos simblicos, s que, evidentemente, certas especificidades, sutilezas e
nuances dessas simbologias no sero percebidas, ou sero confundidas.
Devemos observar tambm que o ambiente social da experincia
musical composto de vrios fatores, e que a identificao de alguns
indivduos com este ambiente pode se dar prioritariamente a partir de outros
elementos no-musicais como a sociabilidade, a dana, a bebida, a comida e
as paqueras. Ainda assim, os significantes musicais estaro presentes como
elementos constitutivos deste ambiente e, portanto, suas simbologias so
importantes para a experincia scio-musical.
Feitas essas duas ressalvas, podemos afirmar que as seqncias
meldicas, encadeamentos harmnicos, instrumentao, arranjo, dinmicas,
recursos de vocalizao e textura so elementos dotados de sentido. So,
acima de tudo, materiais simblicos interpretados coletivamente no momento
da experincia musical.
Um acorde de distrbio
A experincia musical do samba vivenciada principalmente em
eventos sociais conhecidos como rodas de samba. Nessas rodas, as pessoas
interagem entre si de diversas maneiras, sempre em funo da msica, de sua
atmosfera, sua importncia, seus smbolos e apelos coletivos. Desta maneira,
o repertrio que conduz uma parte importante das dinmicas de interao
social e das formas de insero e identificao dos indivduos nas rodas e
espaos de samba. Alguns elementos musicais recorrentes neste repertrio
so, portanto, significativos para o estabelecimento dessas relaes sociais.
Nas prximas pginas, irei discutir um pequeno exemplo bastante instigante
deste repertrio, que a utilizao do acorde de IV7, desenvolvendo algumas
possveis interpretaes quanto ao seu significado na comunicao das
canes.
Na cano Corao Leviano, um dos maiores sucessos de Paulinho da
Viola, o acorde de IV7 aparece pela primeira vez no incio da segunda parte,
logo aps o refro que diz: Ah, corao leviano, no sabe o que fez do meu.
Em seguida, o autor passa a descrever o seu prprio corao, caracterizado
como amante, navegante em um mar de paixo e loucuras em busca da
felicidade. O acorde tocado em sob uma melodia diatnica num momento
em que a letra narra uma das aventuras do corao: o momento em que ele
enfrentou a tempestade. A instabilidade harmnica do acorde anloga
incerteza da tempestade narrada na letra, e do movimento meldico de ida e
vinda, colaborando para o estabelecimento de uma atmosfera de incerteza.
O acorde de IV7 (no caso, o A7) funciona como dominante substituto
secundrio (SubV7) do III grau
1
. Segundo Chediak, na resoluo natural do
SubV7 secundrio, espera-se um acorde diatnico (Chediak, 1986:114).
Entretanto, o acorde que se segue no o IIIm diatnico, mas um V7/VIm, ou
seja: a prpria stima da dominante do relativo (G#7). Todo o trecho ocorre
sem uma resoluo harmnica definitiva, uma vez que o A7 atua como SubV7
do G#7, que dominante do VIm. A seqncia refora a noo de que o
pobre navegante enfrenta uma tempestade, um distrbio.
importante destacar que essa cano bastante conhecida de parcela
significativa dos freqentadores de vrias rodas, o que nos faz acreditar que os
elementos nela presentes so efetivamente reconhecidos como importantes no
universo semntico do samba. Para confirmar a hiptese de que este acorde
atua no repertrio do samba como narrativa da idia de distrbio necessrio
encontrar outras ocorrncias do SubV7/III
2
em outras canes do mesmo
universo, relacionando-o aos sentimentos e estados psquicos narrados nestas
canes.
Em Chico Brito, de Wilson Batista, o acorde aparece no incio da
segunda parte, depois de o ouvinte estar ciente que o personagem principal
um malandro fora da lei, que fez do baralho seu melhor esporte foi preso e
enfrentar mais um processo por ter cometido mais uma faanha. Na
segunda parte, a letra descreve a infncia de boa ndole deste personagem
teve na escola, era aplicado tinha religio acompanhada por uma
1 Segundo Chediak, o SubV7 encontrado sobre o II grau abaixado, isto , um semitom acima do
acorde de resoluo (Chediak, 1986:98). Ele deriva de uma alterao na quinta justa do acorde de dominante,
o V7(b5), que, invertido, se transforma no bII7(b5). Esse acorde de II grau abaixado muitas vezes aparece no
uso corrente com a quinta justa. Em ambos os casos (com quinta justa e diminuta), ele pode ser cifrado e
entendido como um acorde de dominante, cuja resoluo ser o prprio acorde de tnica (o I). Trata-se,
portanto, de um acorde que substitui o acorde de V7, conhecido nas prticas populares como sub-cinco.
2
Em seu livro Harmonia e Improvisao, Almir Chediak recomenda a cifra IV7 para a utilizao
desse acorde como subdominante blues. Seguindo o raciocnio deste autor, a cifra mais indicada para o acorde
no contexto empregado neste trabalho SubV7/III. (Chediak, 1986:114)
inclinao no resolvida para o VIm e outra mais longa para o IIm. O
SubV7/III (G7) aparece quando o autor menciona que quando Chico jogava
bola, era escolhido para capito, posio normalmente ocupada pela pessoa
mais equilibrada e de maior liderana no grupo.
Neste caso, o acorde introduz uma tenso que est ligada a uma
discrepncia entre o passado e o presente do personagem. Algo aconteceu
entre esta poca e os dias de hoje para que o menino to bom e equilibrado
fizesse do baralho seu melhor esporte e virasse um valente do morro. O fato
de o menino Chico ser escolhido para capito um smbolo dessa fase e
exatamente neste momento da letra que o acorde aparece.
No samba De boteco em boteco, de Nelson Sargento, podemos
identificar uma sensao semelhante no momento da utilizao deste acorde.
No incio da letra o autor afirma que vai de boteco em boteco bebendo para
esconder as dores do corao. Na segunda parte, ele confessa que bebe
demais, briga e sempre apanha. Mais adiante, com o auxlio do SubV7/III
(G7), ele acrescenta: isso me faz infeliz!
O efeito desagregador do SubV7/III pode ser notado tambm, de forma
mais clara ainda no samba Corao em desalinho, de Mauro Diniz e Ratinho
3
.
Neste samba, os autores descrevem uma relao amorosa fracassada desde seu
incio (Numa estrada dessa vida, eu te conheci, oh! flor). Tambm na
segunda parte, o personagem narra porque seu corao ficou em desalinho.
Neste caso o deslocamento provocado pelo acorde (A7) atinge uma
gravidade ainda maior pois est submerso numa sensao de desiluso e de
engano. O autor se enganou redondamente, foi iludido por esta flor, o que
est representado de maneira indubitvel pela presena do SubV7/III, que
desalinhou o corao do cancionista. Ampliando a sensao de
instabilidade, os autores no resolvem o SubV7/III no V7/VIm, como nos
casos anteriores, mas no prprio SubV7/VIm (D7), esticando a resoluo do
trecho por mais 4 compassos, quando o C#7 (V7/IIm) resolve no F#m (IIm).
Em todos os casos, o acorde de SubV7/III aparece sublinhando uma
sensao de distrbio, um elemento sonoro desestruturante da ordem
estabelecida. Em Corao leviano, ele representa a tempestade, enfrentada
pelo autor. Em Chico Brito, o SubV7/III simboliza algo que deu errado,
desviando o menino Chico do bom caminho para ele agora viver s voltas com
faanhas, processos, baralho, valentia. Nelson Sargento descreve sua
infelicidade atravs do mesmo acorde, que serve tambm para ambientar o
sentimento de desengano e desiluso de em Corao em desalinho.
3
Este samba bastante conhecido no repertrio, tendo sido muito divulgado nas rodas pelo
compositor Monarco, da Velha Guarda da Portela e, mais recentemente, gravado por um dos sambistas de
maior projeo na mdia, Zeca Pagodinho.
Vale destacar tambm que a melodia de trs dos exemplos construda
a partir de um arpejo do acorde de SubV7/III, com exceo apenas de Chico
Brito, onde ocorre uma nota repetida.
Concluso
Como afirma Maria Laura V. C. Cavalcanti, a cultura no formada de
comportamentos concretos, mas sim significados permanentemente
atribudos pelos homens s coisas... Um objeto... sempre um veculo de
expresso de relaes humanas, de valores e vises de mundo [grifo meu]
(Cavalcanti, 1998). Como veculo de expresso, os elementos do repertrio de
uma determinada prtica cultural so dotados de saberes e interpretaes
compartilhados pelos indivduos que fazem uso dessa prtica. O samba, assim,
pode ser entendido como um universo de simbologias sobre as quais as
relaes sociais so construdas, instituindo formas de comportamento e de
pensamento compartilhadas no momento da experincia musical.
Vale destacar, no entanto, que o samba uma msica urbana,
contempornea, praticada por pessoas que esto o tempo todo em contato com
outras formas de expresso, outros valores, outras msicas. Por isso, os
significados so permanentemente atribudos e esto sempre em movimento,
sendo constantemente cruzados com outros aspectos da vida social dos
indivduos. Por outro lado, h elementos musicais que, a partir de sua
recorrncia, podem ser interpretados de forma parecida por todos os
participantes. O compartilhamento desses significados, em ltima instncia,
dar uma certa coeso ao grupo, ainda que esta seja visvel apenas durante os
eventos musicais.
Ao participar de uma roda de samba, interagimos com certos
sentimentos, valores, vises de mundo, modos de pensamento e formas de
sociabilidade que permeiam todos os elementos desta prtica: canto, dana,
bebida, conversas, paqueras, certas sonoridades, ritmos, melodias e harmonias.
Alguns desses significados, como vimos, podem estar presentes num
determinado uso de um nico acorde.
Bibliografia
BLACKING, John. Music, Culture and Experience In: Music, Culture
and Experience Chicago: Chicago University Press, 1995.
CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Superprodues
populares In: Um olhar sobre a cultura brasileira, Francisco Weffort, Mrcio
Souza organizadores. Rio de Janeiro: Associao de Amigos da FUNARTE,
verso virtual disponvel em http://www.minc.gov.br/textos/olhar/index.htm
(retirada dia 20/08/2002), 1998.
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisao vol. I. Rio de Janeiro:
Lumiar Editora, 1986.
SEEGER, Anthony. Whoever we are today, we can sing you a song
about it In: Music and black ethnicity: the Caribbean and South America.
Gerard Bhague, editor. EUA: University of Miami, 1994.
TAGG, Philip. Analysing Popular Music: theory, method and practice
In: Popular Music, 2, Cambridge University Press, 1982.
VILA, Pablo. Identidades narrativas y musica. Publicao virtual
Revista Trans n 2, http://www2.uji.es/trans/trasn2/Vila.html - (retirado no dia
14/5/2001), 1996.
Conectando linguagens: a performance interativa em Pele
Fernando I azzetta
Universidade de So Paulo (USP)
iazzetta@usp.br
Resumo. Este artigo descreve os processos empregados na elaborao de espetculos
multimdia envolvendo dana, msica e vdeo. feita uma reflexo a respeito das possibilidades
oferecidas por diversas tecnologias digitais para a integrao de informao sonora, gestual e
imagtica num mesmo ambiente computacional. Em seguida so descritos os processos de
composio da trilha sonora para um desses espetculos, intitulado Pele
Palavras-chave: msica e tecnologia; performance interativa; multimdia
Abstract. This paper describes the processes used in the creation of a series of multimedia
performances involving dance, music and video. We illustrate some possibilities allowed by
recent digital technology in terms of integration of sound, gesture and image in the digital
environment. Then we describe some creative procedures used to compose and perform the
music in one of these performances, entitled "Pele".
Key words: music and technology; interactive performance; multimedia.
1. Introduo
Durante a dcada de 1980, a idia de interao musical ganha corpo medida em que
sistemas capazes de controlar e gerar informao musical em tempo real vo se
tornando mais acessveis (em termos de custo e flexibilidade de uso). Dois eventos
foram decisivos nesse processo: o estabelecimento do protocolo MIDI e a difuso dos
computadores pessoais. Durante a dcada de 1990, o rpido crescimento na capacidade
de processamento de mquinas digitais tornou possvel no apenas o processamento de
smbolos musicais (notas, acordes, esquemas rtmicos), mas tambm a gerao, controle
e processamento de sinais de udio em tempo real. Quer dizer, alm das abstraes
previstas pelo protocolo MIDI, tornou-se possvel trabalhar sons de maneira concreta
durante a performance. Alm disso, MIDI e outros protocolos de transmisso de dados
permitiram a integrao e controle de diversos tipos de equipamento (consoles de luz,
projetores de vdeo, etc) a partir de um mesmo ambiente computacional (Rowe 2001).
Isso alimentou a possibilidade de desenvolvimento de um grande nmero de
projetos de performance multimdia em que elementos como msica, luz e imagem
ocorrem de modo integrado por meio da correlao da informao de mdias variadas.
Assim, tornou-se possvel utilizar informao sonora para controlar a projeo de
sequncias pr-gravadas de imagens, bem como a utilizao de sinais captados por
sensores diversos pde ser usada para o controle de dispositivos de produo sonora
(mdulos sintetizadores, samplers, etc) ou de iluminao cenotcnica.
O ferramental eletroacstico deixou de ser quase que exclusivamente voltado
para a produo e composio dentro do estdio e conquistou um espao bastante
razovel no ambiente da performance. Diversos programas foram desenvolvidos nessa
fase visando especificamente a atuao do msico em tempo real, entre eles M, Max,
PD, Interactor e SuperCollider. Se na dcada de 1980 a maioria dos programas voltados
para performance operava basicamente com informao MIDI, em meados da dcada de
1990 o poder de processamento de computadores pessoais passou a permitir o
processamento direto de udio em tempo real.
Nos ltimos 3 ou 4 anos, avanos na rea de computao grfica aliados
chegada ao mercado de computadores pessoais com velocidade de processamento de
algumas centenas de megahertz e com capacidade de armazenamento de grande
quantidade de informao digital, fizeram com que certos tipos de processo em tempo
real que apenas recentemente tinham se tornado possveis na rea de udio, passassem a
ser aplicados tambm a vdeo digital. Isso representou um salto em relao integrao
entre som e imagem em espetculos de diversas naturezas, a um custo relativamente
baixo e com a utilizao de programas que oferecem interfaces amigveis ao usurio e
que, embora muitas vezes possam exibir uma certa complexidade de uso, no exigem
conhecimentos avanados de programao.
Essa integrao deu-se em dois sentidos. Por um lado, permitiu que se
desenvolvessem projetos na rea de captura de movimentos a partir de sistemas
relativamente simples, geralmente baseados em uma cmera de vdeo conectada ao
computador (BigEye, EyesWeb). Esses sistemas permitem extrair informao dos
movimentos de um performer (um msico, um bailarino, ou do prprio pblico) e
utilizar essa informao para controle e gerao de sons. Por outro lado, ampliou a
possibilidade de realizao de sistemas em que som e imagem interagem em tempo real
por meio de processamentos diversos, em que o vdeo pode ser utilizado para modificar
ou criar uma informao sonora e vice-versa (Imagine, Isadora, PixelToy, BigEye,
ArKaos).
2. Trabalhos em performance
Desde 1996 foi iniciado na Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP) um
trabalho de experimentao em performances envolvendo msica, imagem e dana com
diversos artistas colaboradores. As apresentaes comearam de modo informal visando
a participao em eventos artsticos e acadmicos. Durante esse perodo estabeleceu-se
um processo de colaborao entre a bailarina e coregrafa Ivani Santana e o compositor
Fernando Iazzetta, com a participao frequente de outros artistas e colaboradores, entre
eles o compositor Silvio Ferraz e a iluminadora Simone Donatelli. Durante esse perodo
foram criados diversos trabalhos em que a tecnologia atuou como objeto de explorao
de processos interativos e de conexo entre linguagens. Aos poucos estabeleceu-se um
ambiente de performance baseado na utilizao de alguns programas de produo e
tratamento de imagem e som em tempo real.
Nesses trabalhos o processo de criao colaborativo e a tecnologia funciona
como agente de conexo entre sons, imagens e movimento. Processos de improvisao
e acaso dividem espao com processos determinsticos, a partir dos quais os espetculos
so criados. A coreografia e concepo geral (a cargo da coregrafa Ivani Santana)
servem de ponto de partida para a construo da msica e das imagens. Diversas
estratgias tm sido utilizadas para a integrar temporal e espacialmente os elementos de
criao.
O uso de microcmeras presas ao figurino dos bailarinos ou instaladas em
pontos estratgicos do palco oferecem um ponto de vista dinmico da performance. As
imagens captadas so projetadas em telas dispostas no palco permitindo que o pblico
tenha a viso de detalhes inacessveis a partir de sua posio na plateia. Eventualmente,
essas imagens podem ser enviadas a um computador e processadas antes de serem
projetadas nas telas, gerando um contraponto entre o evento real que ocorre no palco e
sua imagem modificada pelas tecnologias. Muitas vezes os processamentos da imagem
so controlados por parmetros da prpria msica que est sendo gerada em tempo real.
Assim configura-se uma rede de inter-relao em que o movimento dos performers
fornecem a matria-prima para a gerao das imagens e para o desenvolvimento da
msica, enquanto que as informaes sonora e imagtica podem ser cruzadas nos
computadores influenciado no resultado produzido em termos de msica e vdeo.
No espetculo Gedanken (2000) (Santana, 2002), a prpria coreografia parte de
um ambiente computacional, tendo sido criada no programa Life Forms (desenvolvido
por Thomas Calvert na Simon Fraser University, Canand). Em sua transposio para o
palco, imagens de microcmeras eram enviadas para um computador executando o
programa Image/ine (desenvolvido por Tom Demeyer na Fundao Steim), antes de
serem projetadas em uma tela. Image/ine permite que a imagem capturada por uma
cmera sofra diversos processamentos cujos parmetros podem ser alterados em tempo
real, inclusive via informao sonora ou MIDI proveniente da msica que est sendo
executada.
J no espetculo Corpo Aberto (2001) (Santana, 2002), entre os procedimentos
utilizados para a integrao entre coreografia, imagem e msica, estava a gerao de
imagens abstratas fazendo uso do programa PixelToy (desenvolvido por Leon McNeill).
Este programa funciona como um sintetizador de imagens que so configuradas por
meio de um 'script'. Diversos processamentos podem ter seus parmetros modificados
em tempo real de acordo com a amplitude do sinal sonoro enviado para o computador,
ou por dispositivos como mouse e joystick que permitem o controle de diversos aspectos
da imagem, inclusive seu deslocamento na tela. Embora a interface do programa seja
bastante simples e o mesmo permita apenas uma interveno limitada do usurio, o uso
criativo de seus scripts mostrou-se bastante eficaz na produo de imagens e de
interao entre os elementos da cena.
Em Op_Era (2001), concebido por Daniela Kutschat e Rejane Cantoni, foram
introduzidas algumas ferramentas computacionais novas na produo de processos
interativos. O palco foi circundado por trs telas de projeo -- uma no fundo, uma na
lateral direita e uma tela frontal transparente -- onde eram projetadas imagens de trs
projetores independentes numa espcie de espao virtual, criando a impresso de que os
limites do palco eram dados por imagens e no por superfcies concretas como cortinas
ou paredes. As projees eram geradas por um programa desenvolvido pelo Laboratrio
de Sistemas Integrados (LSI) da USP, especificamente para o projeto a partir de um
computador com trs sadas independentes de vdeo, uma para cada projetor. No cho
do palco, circundados pelas telas de projeo, foi instalada uma matriz de 16 (8x8)
sensores de luz infravermelha. Esses sensores permitiam acompanhar o movimento da
bailarina no palco cada vez que interceptava os feixes de luz infravermelha com o
corpo. Digitalizada, essa informao posicional era usada para controlar a gerao e
posicionamento das imagens nas trs telas criando uma sincronia entre movimentos
corporais e movimentos imagticos. Alm disso, a informao dos sensores era
codificada em informao MIDI e enviada a um segundo computador, sendo
decodificada por um programa criado no ambiente MAX/MSP. Esses dados convertidos
em informao MIDI eram ento utilizados para disparar sons pr-gravados na memria
do computador ou para controlar parmetros de sntese sonora.
3. A experincia em Pele
Pele (2002) um espetculo concebido por Ivani Santana e apresentado no Teatro
castro Alves, em Salvador - Bahia, durante o Ateli de Coregrafos Brasileiros em
setembro de 2002. No espetculo um grande aparato tecnolgico faz contraponto com o
movimento de 5 bailarinos. Foram utilizadas vrias cmeras de vdeo cuja imagem
gerada durante o espetculo era distribuda por 4 projetores e vrios monitores de TV.
Imagens em slides, iluminao e cenografia completavam o ambiente cnico do
espetculo que aborda as fronteiras entre a dana e a tecnologia, jogando com as noes
de presente/ausnte, real/virtual.
Nosso trabalho consistiu na elaborao da trilha sonora do espetculo e em sua
execuo durante a performance. Toda a msica foi produzida no ambiente MAX/MSP.
Para a apresentao foi realizado um programa que controlava a gerao sonora em
tempo real. Basicamente o programa foi constitudo de dois mdulos. O primeiro,
chamado "tocador", permitia que fossem executados at oito arquivos de udio pr-
gravados e armazenados na memria do computador. Esse mdulo oferecia recursos
para sincronizao de arquivos, looping, fadein/out e volume. O segundo mdulo
continha diversos sub-mdulos (patches na linguagem usada no ambiente MAX)
interativos que podiam ser controlados em tempo real.
Trs tipos diferentes de material foram utilizados para compor a trilha sonora de
quase uma hora de durao e executada em tempo real: sons sintetizados no ambiente
MAX/MSP; sons retirados de gravaes diversas de msica brasileira; e sons produzidos
durante o prprio espetculo por instrumentos de percusso (acsticos e eletrnicos), e
vozes dos bailarinos e do prprio msico. Uma vez que todas essas fontes eram
manipuladas num mesmo programa, era possvel fazer com que as mesmas fossem
controladas de modo interativo durante a performance.
Na cena que abre o espetculo uma sequncia de acordes tocados com timbres
sintetizados serviam de base para o desenvolvimento da trilha sonora. Sobre esses
acordes diversas trilhas de udio eram mixadas em tempo real no mdulo tocador. O
material bsico dessas trilhas foi extrado de uma gravao de cantoria nordestina cuja
temtica um ciclo sobre o Padre Ccero. Foi utilizada uma faixa em que uma criana
entoa uma espcie de louvao Padre Ccero, com um forte sotaque nordestino. O
udio foi fragmentado em pequenas sesses de durao em torno de 1 segundo em
programa realizado no ambiente MAX. Os fragmentos receberam envoltrias dinmicas
variadas e foram remontados em um novo arquivo cujo resultado foi uma rica e densa
polifonia de sons vocais. Embora nesse processo de fragmentao tenha se perdido o
sentido das palavras, permaneceram as caractersticas fonticas (sotaque, entonao)
presentes no registro original. A trilha de udio resultante serviu como fio condutor de
toda a primeira cena. Dela foram extrados tambm outros arquivos de udio que
passaram por processamentos no ambiente MAX (granulao e time stretch)
completando o material usado nessa primeira parte.
A segunda cena apresenta dois focos nas laterais do palco. Num deles, um dos
bailarinos costura a prpria mo enquanto produz sons vocais, de respirao e pequenos
rudos que so captados por um microfone, processados e amplificados. No outro foco,
as mos do msico executam pequenos gestos sobre uma membrana plstica esticada
que funciona como um tambor. Os sons de baixa intensidade resultantes so captados
por um microfone de contato e processados no ambiente MAX antes de serem
amplificados. Foram utilizados uma srie de filtros de ressonncia em paralelo cujas
frequncias de sintonia encontram-se em relao harmnica. Os sons captados da
membrana serviam de impulso para alimentar esses filtros gerando sonoridades
irregulares, mas que conservavam sempre alguma relao harmnica. As frequncias de
sintonia dos filtros sofrem pequenas alteraes de acordo com a intensidade do sinal
sonoro gerado pela membrana conferindo um comportamento dinmico aos sons
produzidos. As mos, tanto do bailarino, como do msico, eram filmadas e projetadas
em uma tela e em monitores de TV. O que se cria um conflito entre dimenses: por
um lado, as mos que produzem gestos pequenos em relao ao tamanho do palco e
sonoridades com pouca energia; por outro, esses gestos e sonoridades so amplificados
pelas projees nas telas e monitores de TV, e pelos processamentos realizados no
computador e reproduzidos pelos alto-falantes.
Em seguida utilizado novamente um arquivo de udio pr-gravado. Dessa vez
o material sonoro foram dois discos de embolada nordestina. Os procedimentos foram
muito semelhantes aos utilizados por DJs na criao de msicas baseadas na montagem
de pequenos loopings de material retirado de outras gravaes. O ritmo do pandeiro e as
vozes dos emboladores foram, mais uma vez, processados e trabalhados em diversos
programas, entre eles o MAX/MSP. Segue-se, ao final deste trecho, um solo do msico
de aproximadamente 3 minutos. Um instrumento com 6 pads para percusso funciona
como interface de sensores para a improvisao do msico. Dois tipos de informao
so geradas simultaneamente: sons de carter percussivo e informao MIDI referente
ao disparo de cada um dos pads. Dois pedais geram informao adicional, permitindo
que sejam feitas mudanas rpidas nos parmetros de processamento dessa informao
no ambiente MAX.
Aps uma cena em que basicamente os bailarinos intercalam movimentos e falas
que se referem aos prprios movimentos, inicia-se a ltima cena. Alm de resgatar
sonoridades das cenas anteriores, apresenta uma base rtmica que passa a dominar at
o fim do espetculo. Essa base montada em MAX numa estrutura complexa que acaba
gerando um ritmo estvel, mas que jamais se repete exatamente. Trs elementos sonoros
foram utilizados. O primeiro um clic que, processado por diversos filtros e efeitos,
adquire uma sonoridade aguda e brilhante e usado de modo semelhante a um prato de
contra-tempo de bateria. A conduo rtmica baseia-se numa estrutura ternria regida
por regras probabilsticas. Essas regras gerenciam a ocorrncia dos sons no tempo, sua
acentuao, e pequenos desvios de afinao. Desse modo, embora possa-se "sentir" uma
pulsao ternria, como num compasso 6/8, a execuo dessa base nunca se repete de
modo idntico, como se estivesse sendo tocada por um msico que improvisa sobre uma
frmula rtmica dada. Um atraso (delay) sincronizado com o andamento e de disparo
intermitente (tambm controlado de modo probabilstico) adiciona outro fator de
variao a esse pulso. O mesmo ocorre com o segundo elemento sonoro composto por
dois sons graves separados por um intervalo de tera menor. Sua ocorrncia tambm
vinculada a processos probabilsticos e est atada s transformaes do pulso ternrio.
Mais uma vez, so formadas frases que so percebidas como sendo referentes a um
compasso ternrio, mas que so deslocadas durante todo tempo criando uma
instabilidade rtmica. O terceiro elemento so sons percussivos que dialogam com os
dois elementos anteriores. Alterando os parmetros de probabilidade que regem a
produo dessa base rtmica o resultado pode ser modificado pelo msico em tempo real
tornando-a mais densa ou mais instvel, por exemplo. Sobre essa base realizado um
improviso com elementos percussivos processados por filtros e com o disparo de
mdulos de sntese.
Durante essa cena, trs imagens so projetadas simultaneamente em telas no
fundo do palco. Uma delas pr-gravada; as outras so geradas por dois cinegrafistas
situados nas coxias esquerda e direita do palco e que fornecem pontos de vista da
coreografia diferentes daqueles vistos diretamente pela plateia. Uma dessas imagens,
antes de ser projetada enviada a um computador controlado pelo msico em que
executado o programa Isadora (desenvolvido por Mark Coniglio). Este programa
oferece objetos grficos que desempenham funes de processamento digital de
imagem. Esse processamento pode ser controlado em tempo real, inclusive via MIDI ou
pela informao sonora gerada pelo msico. Assim, o processamento das imagens pode
ser controlado pelo mesmo ambiente criado em MAX para gerar a msica. A conexo
entre o computador em que se processa a msica e o computador em que se processa o
vdeo feita por uma interface MIDI e pelas entradas e sadas de udio. Desse modo,
informaes gerados para o processamento de imagem podem ser utilizadas para
controlar eventos musicais (sincronizando o disparo de um arquivo sonoro com a
mudana do tipo de processamento aplicado ao vdeo, por exemplo) ou vice-versa.
4. Concluses
A realizao de espetculos interativos em colaborao com a bailarina e coregrafa
Ivani Santana tem se configurado com uma importante experincia na utilizao de
sistemas computacionais para a integrao de diversas mdias num mesmo ambiente.
Nossa proposta tem se dirigido explorao da presena fsica, corporal dos intrpretes
em interao com ferramentas tecnolgicas. Ao mesmo tempo que as tecnologias
digitais introduzem elementos artificiais nas performances, elas podem tambm
amplificar as relaes entre os diversos participantes (bailarinos, msicos, tcnicos e
mesmo o pblico). Embora a articulao entre dana e tecnologia venha se
desenvolvendo desde as pioneiras experincias de Merce Cunningham nos anos 70
(Wechsler 1997, Santana 2002), no Brasil essa tem sido uma das nicas realizaes que
tem se desenvolvido de modo regular nessa rea.
Futuros trabalhos devero explorar de modo mais intenso as tecnologias de
captura de movimento (por meio de sensores e cmeras de vdeo) de modo a permitir
uma simbiose mais efetiva entre os gestos dos performers e os resultados produzidos
por esses gestos. O ambiente de programao MAX tem se mostrado como ferramenta
ideal para esse tipo de aplicao em funo de estabilidade de funcionamento e
flexibilidade de uso. Neste momento esto sendo avaliadas possibilidades introduzidas
nesse ambiente para a manipulao de imagens em tempo real (Jitter, Cyclops, Eyes), o
que possibilitar a integrao de informao MIDI, udio e vdeo digital num mesmo
ambiente e de modo transparente.
5. Referncias
Rowe, Robert (2001). Machine Musicianship. Cambridge, Massachusetts: The MIT
Press.
Santana, Ivani (2002). Corpo Aberto: Cunningham, dana e novas tecnologias. So
Paulo: Educ/Fapesp.
Wechsler, Robert (1997). "O Body Swayed to Music (and Vice Versa): roles for the
computer in dance". In Leonardo, n 5, pp. 385-389.
Tecnologia, escuta e conflito de gneros
Fernando I azzetta
Universidade de So Paulo (USP)
iazzetta@usp.br
Resumo: Durante o sculo XX as tecnologias de reproduo sonora modificaram radicalmente os hbitos de
escuta. Retirados da situao tradicional da sala de concerto, os ouvintes desenvolveram novas estratgias de
relacionamento com o repertrio musical. Neste artigo so analisadas as semelhanas entre os processos de
aceitao de trs tecnologias de udio -- fongrafo/gramofone; rdio; aparelhos H-Fi -- dentro do ambiente
domstico. dada nfase no fato de que esses processos, alm de moldarem novos hbitos de escuta
musical, esto relacionados a um conflito social entre o domnio feminino do espao domstico e o controle
masculino das tecnologias musicais.
Palavras-chave: msica e tecnologia; escuta musical, gnero
Abstract: During the twentieth century the listening habits were, in a great extent, influenced by the
technologies of sound reproduction. The listening experience shifted from the traditional concert hall to the
domestic space of living rooms. In this paper we pay attention to the similarities among the processes of
dissemination of three different technologies -- phonograph/gramophone; radio; Hi-Fi systems -- through the
domestic space. Also we analyze the importance of these technologies in the constitution of listening habits
and the gender conflict around the use of them in the domestic ambient.
Key-words: music and technology; music listening; gender
importante analisar o processo de aceitao das tecnologias de reproduo musical pelos
consumidores durante o sculo XX, uma vez que esse processo est diretamente ligado ao
estabelecimento dos modos de escuta que se tornaram correntes durante aquele perodo.
Curiosamente, trs marcos dos avanos tecnolgicos na rea musical, o fongrafo/gramofone nas
dcadas de 1910 e 20, o rdio nas dcadas de 1920 e 30 e os sistemas Hi-Fi nas dcadas de 1950 e
60, passaram por processos semelhantes na conquista de mercado e utilizaram-se de discursos
similares visando sua aceitao dentro do ambiente domstico.
Quando surgiram, essas tecnologias foram vistas como smbolos do progresso de uma era e
cultuadas como emblemas de modernidade. Nessa etapa inicial, cada uma a seu tempo, atraram a
ateno de um pblico mais ou menos reduzido de pessoas, as quais muitas vezes estiveram mais
interessadas em explorar a curiosidade em relao aos novos meios do que em tirar proveito de
suas qualidades. Esses aparelho serviam para exaltar o mito de uma sociedade cuja medida de
avano era dada pelo progresso do conhecimento tcnico-cientfico. Quanto mais complexas essas
tecnologias, mais encantadoras e quanto mais desafiadores fossem seus modos de funcionamento,
maior o seu poder de seduo. Assim, os primeiros fongrafos no incio do sculo XX permitiam
que o usurio no apenas reproduzisse gravaes, mas tambm realizasse os seus prprios registros
em cilindros de gravao "virgens". A estrutura de seu maquinrio era aparente, permitindo que seu
funcionamento fosse observado, facilitando a execuo de pequenos reparos ou adaptaes pelo
prprio usurio. Os rdios na dcada de 1920 eram frequentemente vendidos em kits que
demandavam algum conhecimento em eletrnica e habilidade manual para sua montagem. Seus
consumidores eram geralmente hobbistas que se ocupavam com o rdio nas horas de lazer nas
garagens ou pores de suas casas. J os aparelhos Hi-Fi, exigiam de seus usurios um
conhecimento acima do ordinrio de termos tcnicos, especialmente os ligados eletrnica.
Inicialmente, a idia de Hi-Fi disseminada por revistas de eletrnica amadora que ofereciam
projetos de circuitos de amplificadores, filtros e caixas-acsticas. Com a progressiva sofisticao
dos sistemas de reproduo, os aparelhos ainda faziam apelos no menos contundentes a um
conhecimento tecnolgico. Grficos, medidas e especificaes tcnicas e testes comparativos de
carter laboratorial eram publicados em revistas ou impressos nas embalagens dos produtos. Ainda
que nem sempre rigorosos e raramente compreendidos pelos usurios leigos, esses dados revestidos
de cientificidade serviam para dar credibilidade aos produtos e para alimentar o fetiche pelo
refinamento tecnolgico.
Os estudos voltados para a anlise da influncia da tecnologia nos hbitos sociais durante o
sculo XX apontam geralmente para a existncia de um consumidor tpico, envolvido em
acompanhar os avanos tecnolgicos de cada poca e disposto a decifrar seu modo de
funcionamento. Geralmente trata-se de um indivduo de classe mdia, branco e do sexo masculino
(Biocca 1990: 4; Thberge 1997: 133). Embora boa parte dessas pesquisas refira-se
primordialmente a um pblico norte-americano, no parece exagerado supor que um quadro
semelhante poderia ser verificado em outros centros desenvolvidos e grandes cidades no ocidente.
Alm de exercitarem seus conhecimento e ocuparem seus momentos de lazer, os
aficcionados por essas tecnologias formavam uma espcie de comunidade fechada, cujos membros
detinham um conhecimento especial e restrito. Passado um primeiro estgio que coincide com a
etapa de aprimoramento dessas tecnologias e formao de um mercado consumidor, h uma etapa
de conquista do mercado domstico. Isso particularmente importante j que por meio dessas
tecnologias que os consumidores vo ter acesso msica e, portanto, essas tecnologias no
oferecem apenas novos aparelhos de reproduo musical, mas ajudam a configurar os modos de
escuta musical de cada poca.
Especialmente nas ltimas duas dcadas, vrios pesquisadores tm se dedicado a investigar
o caminho entre a inveno ou descoberta tecnolgica e sua disseminao por um grande pblico
em relao s tecnologias de udio, como o fongrafo, o rdio, os aparelhos Hi-Fi. Frequentemente
nessas pesquisas h uma questo comum que sobressai, independentemente da tecnologia ou da
poca em que cada uma dessas tecnologias foi produzida: para conquistar o ambiente domstico
todas elas passam por um embate entre os gneros masculino e feminino, numa espcie de luta pelo
domnio do espao domstico. Embora no Brasil as questes de gnero no tenham merecido a
mesma ateno que se observa em outros pases, especialmente nos EUA, nos parece que nesse
caso, esse tpico esclarecedor na investigao da formao de hbitos de escuta mediada pela
tecnologia.
No h estranhamento algum no fato de que nossa sociedade foi constituda de modo que a
mulher tradicionalmente se ocupasse de questes domsticas, enquanto o homem era destinado ao
trabalho fora de casa. Seja qual for o grau de flexibilidade com que esse quadro se mostra na
sociedade atual, nos parece razovel apontar para o domnio tipicamente feminino do ambiente
domstico, especialmente no ambiente familiar de classe mdia. O que vrios autores vo
argumentar que o homem vai utilizar-se das tecnologias de udio para demarcar, dentro de um
ambiente domstico, uma espcie de espao de resistncia. Numa atitude que se aproxima do
comportamento mais primitivo de outros animais que espalham seu cheiro para demarcar sua
autoridade em um determinado territrio, o homem da classe mdia do sculo XX vai usa usar os
aparelhos de reproduo musical (o fongrafo, o rdio, o Hi-Fi) com a mesma finalidade. Seu
poder no estabelecido por uma relao de fora fsica, mas concentra-se na sua capacidade de
conhecimento de uma tecnologia, cujo funcionalmente geralmente ignorado ou simplesmente
desinteressante para o mundo feminino. E a demarcao do territrio deixa de ser feita pelo cheiro
para dar-se por meio da potncia sonora: quanto mais volume tiver o som, maior a probabilidade de
que os outros habitantes da residncia (especialmente os do sexo feminino) mantenham-se
afastados.
Para conquistar o ambiente domstico as tecnologias de udio tiveram que eliminar a guerra
de gneros e o primeiro passo foi sempre o mesmo: ganhar a confiana de quem gerencia a
residncia; no caso tpico, a esposa. Para tirar os aparelhos de udio da garagem ou do quarto
improvisado e traze-los para o ambiente familiar, foram necessrias duas medidas: em primeiro
lugar, modificar a aparncia dos aparelhos, escondendo seus mecanismos para que eles pudessem
ser integrados sala de estar, como o era o piano no sculo XIX. Em segundo lugar, para usar uma
expresso que ficou caracterstica na indstria informtica, foi preciso tornar a tecnologia
transparente, quer dizer, torn-la uma caixa-preta cujo funcionamento seria invisvel ao usurio,
deixando expostos apenas um nmero mnimo de controles necessrios para a sua operao.
O fongrafo, para tomar o lugar do piano na sala de visitas das famlias no incio do sculo
XX teve que ter seu mecanismo escondido por caixas de madeira trabalhadas em tonalidades e
modelos diferentes para que pudessem compor o ambiente com a moblia e se encaixassem nas
restries oramentrias de cada famlia. Tambm o cone que servia para a amplificao do som
nos primeiros fongrafos e gramofones -- parte qualquer interpretao do sentido flico que se
poderia aventar -- teve que ser escondido, dentro de um gabinete. Os preos dos aparelhos
variavam no apenas em relao qualidade da reproduo sonora, mas principalmente em funo
da qualidade do mvel que os envolvia (Thompson 1995; Keightley 1996).
Processo semelhante ocorre com o rdio quando a indstria percebe seu potencial como
bem de consumo e modifica suas estratgias para conquistar um espao maior dentro das
residncias. Embora j chamasse a ateno de um nmero crescente de consumidores norte-
americanos desde o incio do sculo XX, s na dcada de 1920 que o rdio comea a perder sua
reputao de objeto tecnolgico, mais destinado a hobbistas e curiosos do que a um pblico mais
genrico de consumidores. A partir de 1922 parece haver um grande salto na aceitao do rdio
pelo pblico norte-americano, o que alavancou uma verdadeira corrida s lojas que vendiam os
aparelhos receptores e uma exploso da indstria radiofnica. Alguns levantamentos da poca
apontam para um crescimento de 660% no nmero de aparelhos existentes apenas no ano de 1923,
crescimento que foi acompanhado por um salto de 1850% no nmero de estaes transmissoras no
mesmo ano (Biocca 1988: 65-6). Willian Boddy (Boddy 1994), em sua anlise sobre a formao
dos espectadores de diversas mdias durante o sculo XX, aponta que, j em 1923, a RCA, ento
controladora das maiores patentes nos EUA na rea de receptores de rdio, comea a redefinir seus
alvos de mercado, transferindo a ateno do pblico quase exclusivamente masculino de hobbistas,
para um pblico menos especfico (que incluiria as donas-de-casa). Para isso, foi preciso deixar de
vender partes separadas do aparelho para serem montadas e passar a oferecer rdios em mveis
fechados. Alm disso, os fones-de-ouvido usados pelos hobbistas amadores e que possibilitaram
apenas uma escuta individual foram substitudos por alto-falantes, mais discretos e que permitiam
que vrias pessoas ouvissem a programao no mesmo ambiente (Boddy 1994: 112-3). Para indicar
o quanto a indstria tinha conscincia da necessidade de conquistar o pblico feminino, Boddy cita
um executivo da RCA que assume que "para vender para as residncias, era preciso vender para as
mulheres e justifica a mudana no design dos aparelhos afirmando que 'as mulheres no iriam
tolerar fones-de-ouvido estragando seus penteados'" (Boddy 1994: 113).
Durante as dcadas de 1950 e 60 a vez dos toca-discos encontrarem seu espao dentro do
ambiente domsticos e modificarem os hbitos de escuta musical. H uma conexo direta entre a
popularidade dos equipamentos de Hi-Fi e o crescimento da indstria fonogrfica aps a Segunda
Guerra. Mais uma vez, esse tipo de tecnologia esteve diretamente associada a um pblico
essencialmente masculino de hobbistas at o incio dos anos 60 e se constitua num ponto de
refgio que o homem podia dominar e controlar dentro da residncia (Keightley 1996). Analisando
revistas voltadas para um pblico de aficcionados pelas tecnologias de udio no perodo de 1948 a
1958, Keir Keightley (1996) aponta como o pblico masculino utilizou-se dessas tecnologias para
confrontar o domnio feminino dentro do ambiente familiar, apoiando-se na obscuridade que velava
o funcionamento daqueles aparelhos e no volume sonoro que podiam produzir, desse modo
afrontando a ordem e tranquilidade imposta pela dona-de-casa:
"A identificao da alta fidelidade com o volume excessivo central para a questo de gnero do Hi-Fi. O
volume era visto como uma fonte de conflito matrimonial porque isso (figurativamente) 'repelia' a esposa para
fora do espao domstico; ao mesmo tempo, o equipamento capaz de produzir aqueles nveis de volume eram
frequentemente vistos como perturbadores da esttica do interior da residncia, por ocuparem uma quantidade
excessiva de espao fsico e por sua aparncia abertamente tecnolgica" (Keightley 1996: 165).
Os artigos publicados no perodo coberto pelo texto de Keightley demonstram claramente o
a existncia desse conflito familiar ao direcionarem seus textos abertamente a um pblico
masculino e por retratarem as mulheres como inimigas dessa tecnologia, geralmente usando de
argumentos irnicos ou depreciativos capacidade do pblico feminino de apreciar as qualidades
sonoras dos aparelhos e sua pouco tolerncia em relao aos volumes mais altos. Embora
Keightley tenha se concentrado basicamente nos anos de 1950 e 60, ainda em 1975 podia-se ver na
revista Hi-Fi um ilustrao para uma de suas matrias em que, supostamente num ambiente
domstico, o marido de expresso radiante analisa complicados planos para ocupar uma das salas
da casa com enormes caixas-acsticas, enquanto observado pelo olhar nitidamente desaprovador
da esposa (Figura 1).
Figura 1: A ilustrao retirada de uma matria da Revista Hi-Fi (Lanier 1975) aponta para o conflito domstico em
torno dos aparelhos de som.
A miniaturizao dos aparelhos de som nas dcadas de 1970 e 1980 certamente serviu para
diminuir a resistncia em relao sua presena no ambiente domstico. Alm disso a indstria
passou a produzir aparelhos destinados especificamente a um pblico feminino, com "a tecnologia
familiar de botes que as mulheres estavam acostumadas a encontrar em suas cozinhas" (Taylor
2001: 80). Entretanto, a discusso em torno do aparelho de som no mbito domstico parece
perdurar at hoje, com a diferena de que os toca-discos e amplificadores vlvula foram
substitudos pelos modernos sistemas de Home Theater, operados por controle-remoto repletos de
funes que a maioria dos usurios incapaz de descobrir a finalidade. Se por um lado esses
aparelhos podem integrar-se melhor moblia moderna que passou a exibir outros tantos aparelhos
eletrnicos, os Home Theaters so, por princpio, projetados para ocupar um espao fsico
relativamente amplo e obrigatoriamente configurado de acordo com princpios acsticos e no
estticos, o que novamente pode ser motivo de discrdia no grupo familiar.
Essa anlise poderia ser estendida a outro importante componente tecnolgico que se
integra ao ambiente musical domstico, especialmente a partir dos anos de 1990: o computador
pessoal. Porm o computador aciona um novo nvel de interferncia na prtica musical que o
distingue de tecnologias anteriores destinadas reproduo musical, como o fongrafo, o rdio, o
aparelho de som Hi-Fi e o Home Theater. O computador alia possibilidade de reproduo j
presente nessas tecnologias uma srie de ferramentas que vo estimular a produo musical no
ambiente domstico. De fato, o computador pessoal uma das tecnologias centrais para aquilo que
alguns autores consideram como sendo uma eliminao da barreira entre produo e consumo, e,
mais especificamente no caso da msica, entre criao (composio/performance) e reproduo
(Taylor 2001). Diversos fatores concorrem para que isso ocorra. Talvez o mais importante resida
justamente no carter genrico do computador, cuja tecnologia, embora sujeita a limites e
idiossincrasias como outra qualquer, no foi definida para uma finalidade especfica, mas para ser
programada para executar diferentes tarefas, constituindo-se numa espcie de ferramenta para criar
outras ferramentas, estas sim, de carter mais especfico. A generalidade do computador
certamente um fator decisivo em sua aceitao no ambiente domstico, uma vez que o amplo leque
de possibilidades que oferece o torna atrativo para indivduos com diferentes interesses e
habilidades.
Mesmo que a situao relativa diferena de gneros se encontre hoje num contexto
bastante diferente do que se podia observar em dcadas anteriores, ainda se pode notar um domnio
explicito de um pblico masculino nos crculos ligados mais diretamente ao uso e desenvolvimento
de tecnologias musicais. Embora parea no haver dados recentes neste sentido, um levantamento
informal nos centros de pesquisa e universidades de diversas partes do mundo facilmente
demonstra o domnio masculino entre os msicos e pesquisadores cujo trabalho envolve
diretamente o uso de tecnologias musicais (sobre o conflito de gneros em relao ao uso do
computador ver, por exemplo, (Cassidy 2001)).
Durante o sculo XX, as diversas tecnologias de produo e reproduo musical criaram
novos ambientes de escuta e situaes de consumo. Se por um lado o desenvolvimento dessas
tecnologias encontra-se estritamente ligado a aspectos socio-econmicos, suas consequncias para
construo do contexto musical e da percepo desse contexto funcionam diretamente como
agentes constituintes da linguagem musical contempornea. Como aponta Hans-Joachin Braun, "as
tecnologias de gravao tm [] criado novas expectativas estticas que por seu turno tm gerado
novas convenes artsticas" (Braun 2000: 22). Cada vez mais a compreenso da produo musical
contempornea passa pela compreenso dos meios que possibilitam essa produo. No se trata de
adotar uma postura voltada para um determinismo tecnolgico, mas de reconhecer a ntida conexo
entre o contexto tecnolgico que sustenta a produo e recepo musical nos dias de hoje e a
influncia desse contexto na configurao da linguagem da msica.
Referncias Bibliogrficas
Biocca, F. (1988). "The pursuit of sound: radio, perception and utopian in the early twentieth
century." Media, Culture and Society 10(1): 61-79.
Biocca, F. (1990). "Media and perceptual shifts: early radio and the clash of musical cultures."
Journal of Popular Culture 24(2): 1-15.
Boddy, W. (1994). "Archeologies of electronic vision and the gendered spectator." Screen 35(2):
105-122.
Braun, H.-J., Ed. (2000). Music and Tecnology in the Twentieth Century. Bantimore and London,
The Johns Hopkins University Press.
Cassidy, M. F. (2001). "Cyberspace meets domestic space: personal computers, women's work, and
the gendered territories of family home." Critical Sudies in Media Communication 18(1):
44-65.
Keightley, K. (1996). "'Turn it down!' she shrieked: gender, domestic space, and high fidelity,
1948-1959." Popular Music 15(2): 149-177.
Lanier, R. (1975). "How to match your speakers to your listening room, or vice-versa." Hifi 25(6):
58-65.
Taylor, T. D. (2001). Strange Sounds: music, technology & culture. New York, Routledge.
Thberge, P. (1997). Any sound you can imagine: making music/consuming technology. Hanover
London, Weslayan University Press.
Thompson, E. (1995). "Machines, Music, and the Quest for Fidelity: Marketing the Edison
Phonograph in America, 1877-1925." The Musical Quarterly 79(1): 131-171.
Lupicnio Rodrigues:
dimenses dos sentidos trgico e romntico
Gaspar Leal Paz
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
gasparpaz@ig.com.br
Resumo: No presente trabalho, nossa inteno vislumbrar no compositor Lupicnio Rodrigues,
caractersticas que se atrelam forma de sua linguagem potica, a qual se estabeleceu como crtica
social mediante um processo de inteirao cultural. Por essa razo, optamos por uma interpretao
histrico-cultural com vis transdisciplinar, que propicie uma leitura etnomusicolgica da tradio
musical presente nos atores que compem a cena lupiciniana. Destacamos aqui duas dimenses
inerentes ao seu fazer musical: o romantismo e o sentido do trgico, que numa valorosa teia
artstica, tecem o imaginrio formal e conceitual dos ouvintes. Esses dois aspectos em oposio,
despertam para uma nova interpretao do drama burgus moderno em sua ironia tragicmica.
Palavras-chave: romantismo, trgico, etnomusicologia.
Abstract: In the present work, we intend to look for some features linked to the poetic language of
the composer Lupicnio Rodrigues, his speech having been established as a social criticism through
a process of cultural interaction. For this reason, we have opted for a transdisciplinar historical-
cultural interpretation that may enable an ethnomusicological reading of the musical tradition from
the social actors that take part in the lupicinian scene. Herein we highlight two inherent dimensions
in his music-making: the romanticism and the sense of tragic spinning together the formal and the
conceptual imaginary from the audience in to a powerful artistic web. These two opposite aspects
asp for a new interpretation of the modern bourgeois drama in its tragicomic irony.
Keywords: romanticism, tragic, ethnomusicolgy.
O movimento de perspectivas romnticas foi uma das grandes influncias do
compositor Lupicnio Rodrigues. necessrio entender este procedimento para melhor
abordarmos sua obra musical. Antes de entrarmos nas consideraes que emanam da obra,
faremos algumas consideraes concisas sobre o tema.
Um dos maiores problemas para falarmos do romantismo sua caracterizao.
Normalmente, quando falamos nos ideais romnticos as palavras de ordem so:
subjetivismo, inconsciente, natureza, o eu, o gnio artstico irrompendo sua forma sobre a
realidade que o cerca. Este modo de interpretar o romantismo correto; no entanto, muitas
intrpretes ignoram esses aspectos e voltam-se apenas para a cronologia do movimento, ou
para uma anlise puramente literria do tema.
Muitas so as vertentes de abordagem do romantismo, mas os crticos esto de
acordo com suas heranas do primeiro romantismo o alemo, com suas evidencias do pr-
romantismo Sturm und Drang. Este romantismo que pode ser considerado como a
gnese das concepes romnticas ulteriores, parte do inconformismo que pululava em
artistas e filsofos do sculo XIX. Eles denunciavam um grande mal-estar na cultura,
tomado pelos ideais do racionalismo e das idias que promoviam o sculo das luzes e o seu
esclarecimento. Desde a promoo destas idias, muitas interpretaes tendem a ver
romantismos em todas as manifestaes da cultura. Isso pode ser uma perigosa falcia. E
por qu? Porque a relao de inconformidade, ou de oposio ao clssico, cabe muito bem
a uma generalizao. Da resultaria uma deficincia que pode ocorrer em todo esquema
histrico impossibilidade de reduzir os fatos a uma dialtica de pontos fixos de
referncias, por mais dinmicas que se mostrem as consideraes culturais
(BORNHEIM,1985). Somente tendo conscincia desses aspectos que podemos estruturar
os temas mais intrnsecos nas questes do movimento.
interessante que notemos que as idias de subjetividade e liberdade esto
presentes no cerne da questo romntica. O indivduo valorizado numa esttica que
reconhece toda a sua sensibilidade, valorizando uma pulsao mais inconsciente e
irracional; o gnio artstico representando o seu alto grau de visibilidade.
Dentro dessas caractersticas podemos vislumbrar em Lupicnio, certas influncias
romnticas. Pensamos, entretanto, que ele no deve ser enquadrado meramente ao esquema
do romantismo, como muitas vezes ocorre com artistas populares que tm sua musicalidade
apresentada em sambas-canes e boleros. Talvez valesse a inteno de encontr-lo na
perspectiva de um ps-romantismo, que no deixa de acenar para uma sada possvel.
Como o prprio modernismo brasileiro, que segundo Kiefer uma espcie de romantismo,
mas tematizado diferentemente (KIEFER, 1971). Basta passarmos a uma anlise atenciosa
para percebermos esse grau de intencionalidade em obras de nosso compositor.
O perodo profcuo de Lupicnio - nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em
1914 e falecido na mesma cidade em 1974 -, passa por uma longa escala de
desenvolvimento da histria. Ele nasce em meio Primeira Guerra Mundial; convive com o
legado do positivismo ativo no sul do Brasil e principalmente no Rio de Janeiro com as
contradies do tenentismo. Passa pelas influncias que brotam da primeira Repblica at
algumas mudanas socioeconmicas, os movimentos sociais, a Revoluo de Trinta, alm
da formao do Estado Getulista. Um perodo de grandes movimentaes e transies,
como a redefinio do estado do nacionalismo ao processo de modernizao do governo
JK. Neste perodo Lupicnio foi crtico em relao ao papel do artista brasileiro e com o
descaso da poltica com a cultura, deixando artistas talentosos na obscuridade. Tudo pela
inflvel explorao de capital, ocultada num processo de dominao ideolgica. Por isso
em reas perifricas do capitalismo como lembra Arajo: nascem boleros, sambas-
canes, jazz, bossa-nova... (ARAJO,1999).
Mesmo com todas as dificuldades, nesse panorama poltico e cultural, o gnero
samba-cano foi valorizado, precipuamente por mostrar as mazelas que resultavam dessas
relaes social exclusivistas, e com ele os ideais romnticos iriam alcanar outras
caractersticas, fundamentalmente, pela sofisticao da bossa-nova, como se quisesse impor
uma aliana entre o atraso e a modernidade. Esses pontos so antecipados por elementos da
potica lupiciniana, como por exemplo, a economia musical, que aparece com um
romantismo no mais exposto ao niilismo negativista, mas numa tentativa intensa de
super-lo. Da o porqu da arte representar sadas para as desiluses amorosas. Muitas
canes de Lupicnio refletem essa temtica, por exemplo: Volta, Nunca, Dois
Tristonhos. Nesta ltima podemos flagrar mais minuciosamente essa evoluo dos
processos sociais. Se em muitas canes lupicinianas as frustraes almejam um
reconhecimento imediato, em Dois tristonhos ela exige um caminho justo para a
existncia, mas neste sentido, tanto musicalmente como no transcorrer da letra a pea
alcana novos rumos. Eles passam pelo vis da industrializao e pelo processo de
modernizao, mas sempre com sua economia inconformada.
Dois tristonhos
! O que fazes a nesta tristeza?
Choras, talvez
algum que no te quis
Apaga este sonho
Abandona esta incerteza
ou sers toda a vida infeliz.
Olha! Eu tambm fui desprezada
O meu bem tem outra amada
Me deixou na solido...
V! Somos dois apaixonados
Dois cigarros apagados
Dizimados da iluso.
E por que, por um capricho
ns vamos viver sozinhos
Se ambos precisamos de carinhos?
Por favor, escuta!
J que somos dois tristonhos
Vamos juntar nossos sonhos
Talvez nasa um novo amor
Dois Tristonhos foi gravada por Tom Jobim este um ponto flagrante das
antecipaes de Lupicnio e Mrio Reis esttica da bossa-nova. O arranjo jobiniano j
alcana o seu diferencial na melodia tnue de Lupicnio. A resoluo amorosa vai buscar
um desenlace catrtico no momento chave da interpretao. E curioso notar que este
samba-cano vai vociferar nas entranhas jobinianas e de Newton Mendona, quando
compem Caminhos Cruzados. A temtica a mesma, com uma harmonia diferenciada.
Dentro desses enfoques Lupicnio vai imprimindo sua musicalidade na busca de
elos mais inconsciente com realidade.
Com os novos rumos que tomam as identidades sociais, atravs das mudanas
formais da linguagem, parece que podemos com uma grande eficcia relacionar identidades
e discursos. Autores como Foucault (FOUCAULT, 1995) e Paul Ricoeur (RICOEUR,
1955), entre outros, vislumbram as suas perspectivas sobre as narrativas. Questes estas
que so de imensa importncia para a pesquisa etnomusicolgica. dentro desse enfoque
que vislumbramos um desembocar de Lupicnio Rodrigues nas dimenses da tragdia.
Sobre a inteno de carter trgico
O tema da tragdia objeto de anlise de muitos estudiosos e constata-se uma
constante mudana de foco nas suas interpretaes. O fato que a importncia deste
assunto na histria do pensamento no uma novidade. Ele remonta aos gregos antigos, at
sua mudana de sentido na contemporaneidade com os mais variados autores.
O trgico e o romntico em Lupicnio aparecem de forma curiosa. Segundo nossa
interpretao ele movimenta o contraste dos dois referenciais, que no aparece como uma
dialtica negativa e sim como algo que em certo momento at mesmo est consonante em
seus ideais. E isso indica que as duas correntes influenciam Lupicnio, mas no podemos
dizer isso quantitativamente. O romantismo insuflou muitas de suas caractersticas na
potica lupiciniana, mas no colocou nosso compositor como um propagandista do
movimento e sim como uma espcie de ps-romntico com ideais semelhantes, mas de
certa forma superando uma esttica romntica por natureza. Neste sentido o romantismo
no interpretado como uma viso pessimista, mas modificadora, pois contm tambm o
trgico e este trgico valoriza o aspecto da mudana, do sentido da vida e da modernidade,
como se voltasse a encontrar um sentido para a existncia; a catarse em vista, a arte
recuperando todos os fracassos do mundo contemporneo e jogando ao mesmo tempo com
seu carter ldico e sentimental. Aqui podemos destacar a contribuio de Nietzsche sobre
a musicalidade do trgico. Nietzsche valoriza a msica como sendo a essncia do trgico
em O Nascimento da Tragdia no Esprito da Msica (NIETZSCHE, 1999a). Na Gaia
Cincia (NIETZSCHE, 1999b) em um de seus fragmentos, Nietzsche escreve sobre O
que o Romantismo? e defende a tese de que em oposio ao trgico o romantismo
pessimista, enquanto o sentido da Tragdia alegre e positivo, atravs da sua musicalidade
dionisaca. O Romantismo para ele cai de joelhos perante a racionalidade moderna, num
niilismo sem precedentes. A valorizao da Tragdia, para Nietzsche, o nico sentido
para a educao da humanidade.
Nos reflexos contemporneos, como a potica lupiciniana, o trgico entra como a
esttica da cornitude, dor amorosa, morte de amor. Mas o interessante que ele brota da
prpria musicalidade e a transforma. Nesse sentido o trgico supera a dialtica no sentido
nietzschiano e trs novas possibilidades inclusive do ldico. Por isso a interpretao do
tragicmico. O sentido da educao que nos revela a tragdia foge banalizao do trgico,
ao seu esvaziamento de sentido, fruto da barbrie moderna.
As palavras trgico e tragdia em seu sentido original tm sofrido uma banalizao
progressiva. Ignora-se o sentido original com um esvaziamento profundo, que no deixa de
ser como bem revela Nietzsche (NIETZSCHE, 1999a) o mal-estar produzido pela
modernidade esse niilismo inquietante. E a intensidade negativa ou a catstrofe passam a
ser sinnimos de tragdia. No apenas a obra que d a tragicidade e talvez isso seja o fato
da confuso, no podemos falar apenas do esttico, pois a tragdia depende da vida e do
mundo e seu sentido de educao e mudana. Ela s possvel na obra de arte por sua
inerncia a realidade humana.
Um outro ponto importante a questo da ao herica da tragdia. dipo,
Agamenom, Antgone. Esses personagens destacam o horizonte da existncia humana em
diversos prismas. Por exemplo: a terra, a justia, a educao, o amor, a realidade. Mas isso
no basta. Para Aristteles a tragdia no a imitao dos homens, mas de uma ao e de
uma vida..., pois os homens so tais e quais segundo seu carter, mas so felizes ou
infelizes segundo suas aes e suas experincias (ARISTTELES, 1996). A morte pode
dar um impacto maior, mas o final feliz no incompatvel com o trgico. E a morte no
insubstituvel. O importante a superao do conflito. A suspenso dos plos atritantes. A
catarse.
Uma importante referencia Vingana um sucesso de Lupicnio de 1951, gravado
na voz de Linda Batista em samba-cano delirante, que segundo a lenda da poca chegou a
induzir suicdios.
Vingana
Eu gostei tanto
tanto quando me contaram
que te encontraram chorando e bebendo
na mesa de um bar
E que quando os amigos do peito
por mim perguntaram
um soluo cortou sua voz
No lhe deixou falar!
Ai, mas eu gostei tanto
tanto quando me contaram
que tive mesmo que fazer esforo pra ningum notar.
O remorso talvez seja a causa do seu desespero
Voc deve estar bem consciente do que praticou
Me fazer passar essa vergonha com um companheiro
E a vergonha a herana maior que o meu pai me deixou.
Mas enquanto houver fora em meu peito
eu no quero mais nada
S vingana, vingana, vingana aos santos clamar
Voc h de rolar como as pedras que rolam na estrada
Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar.
Essa quer ser a questo da tragicidade por excelncia. A questo do pessimismo e
dele o enlace com o trgico. Para Augusto de Campos isso remonta a equao que
Drummond formula em Perguntas, numa linha sucinta: amar depois de perder.
(CAMPOS, 1968.)
O sentido da justia se impe como um axioma existencial. Poderamos dizer que a
linguagem potica aqui iria mais longe ainda, numa lrica que faz nascer rosas no asfalto.
Em vingana a fenomenologia da cornitude, termo cunhado por Augusto de Campos
(CAMPOS, 1968) tem todo um desenvolvimento elaborado. Na primeira parte o tom de
conversa, quase monlogo interior. Na segunda quase podemos vislumbrar o dilogo de
Antgone e Creonte. A acusao quer exorcizar o sofrimento e a dor, tirando de seus
ombros doridos a culpa pela desiluso. Muitos ainda so os pontos que evoluem nesta
problemtica. Queremos apenas ressaltar que Lupicnio Rodrigues no o trgico e o
romntico por excelncia, mas essas caractersticas emanam de sua obra e, por conseguinte
exigem novas interpretaes.
BI BLI OGRAFI A
ARAJO, Samuel. Descolonizao e discurso: notas sobre o tempo, o poder e a noo de
msica. Revista Brasileira de Msica 20: 25-31, Rio de Janeiro: UFRJ, 1992.
ARAJO, Samuel. The politics of passion: The impact of bolero on Brazilian musical
expressions. Yearbook for Traditional Music 31:42-56. 1999.
ARISTTELES. Arte Potica. So Paulo: Nova Cultural, 1996.
BASTOS, Rafael Menezes. A origem do samba como inveno do Brasil: Feitio de
Orao de Vadico e Noel Rosa (Por que as canes tm letra?).
Florianpolis:UFSC/PPGAS. (Antropologia em primeira mo n1), 1995.
BENJAMIN, Walter. Ensaios sobre o trgico. Traduo Kathrin Rosenfield. Cadernos de
mestrado/ literatura. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1994.
BERGSON, Henri. O Riso. Ensaio sobre a significao da comicidade. Traduo Ivone
Castilho Bebedetti. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
BORNHEIM, Gerd. Breves observaes sobre o sentido e a evoluo do trgico, In.: O
Sentido e a Mscara. So Paulo: Perspectiva, 1992.
BORNHEIM, Gerd. A Filosofia do Romantismo. So Paulo: Perspectiva, 1985.
CLIFFORD, James. A experincia etnogrfica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998.
DIAS, Rosa Maria. Nietzsche e a msica. Rio de Janeiro: Imago, 1994.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. So Paulo: Martim Fontes, 1995.
HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos: o breve sculo XX. Traduo Marcos Santarrita.
So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
JAEGER, Werner Wilhelm. Paidia a formao do homem grego. Trad. Arthur M.
Parreira, adaptao para a edio brasileira Mnica Stahel, reviso do texto grego Gilson
Csar Cardoso de Souza 3ed. So Paulo: Martin Fontes, 1994.
KIEFER, Bruno. Mrio de Andrade e o Modernismo na Msica Brasileira. Revista
Brasileira de Cultura, n. 7, 1971.
MIDDLETON, Richard. Stuying popular music. Philadelphia: Open University Press,
1990.
NATTIEZ, Jean-Jacques. Petite histoire critique de lethnomusicologie. Musique en jeu
n 28, setembro, Paris,1977.
NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragdia no esprito da msica, Os Pensadores,
Nova Cultural, 1999a.
NIETZSCHE, Friedrich. A gaia cincia, Os Pensadores, Nova Cultural, 1999b.
RICOUER, Paul. Histoire et vrit. Paris: Ed. Du Seuil, 1955.
VILA, Pablo. Identidades narratives y musica. Una primera propuesta teorica para
entender sus relaciones. II Encuentro del Grupo Iberoamericano de etnomusicologia,
Barcelona, 1995.
BI BLI OGRAFI A SOBRE LUPI C NI O RODRI GUES
BORGES, Beatriz. Samba cano. Rio de Janeiro: Codecri Ltda, 1982.
CAMPOS, Augusto. Balano da bossa e outras bossas. So Paulo: Perspectiva, 1968.
CHAVES, Hamilton. Srie de reportagens enfocando a biografia de Lupicnio Rodrigues,
In: Revista do Globo, Porto Alegre, n. 564, 12/07/1952, pp. 29-33 e p. 73-4;
n.565;26/07/1952, pp. 52-55; n.566, 09/08/1952, pp. 59-63 e 79.
DIAS, Rosa Maria. As paixes tristes: Lupicnio e a dor-de-cotovelo. Rio de Janeiro:
Leviat, 1994.
FARIA, Fernando A e MATOS, Maria Izilda S. Melodia e sintonia em Lupicnio
Rodrigues: o feminino, o masculino e suas relaes. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
FONSECA, Juarez. O bomio definitivo. In: Foi Assim: o Cronista Lupicnio conta as
histrias de suas msicas. Porto Alegre: L&PM, 1995.
GONZALEZ, Demosthenes. Roteiro de um bomio: vida e obra de Lupicnio Rodrigues -
crnicas. Porto Alegre: Sulina, 1986.
GOULART, Mrio. Lupicnio Rodrigues: o poeta da dor-de-cotovelo, seus amores, o
bomio e sua obra genial. Porto Alegre: Tch comunicaes Ltda, 1984.
LACOMBE, Fabio Penna. Quando a arte recupera a frustrao amorosa. So Paulo: Abril
Cultural, 1982.
OLIVEIRA, Mrcia Ramos de. Lupicnio Rodrigues: a cidade, a msica, os amigos.
Dissertao de Mestrado apresentada ao PPG em Histria/UFRGS, em Agosto de 1995.
RODRIGUES, Lupicnio. Foi assim: o cronista Lupicnio conta as histrias de suas
msicas. Porto Alegre, L&PM, 1995.
RODRIGUES, Lupicnio. Entrevista para o Pasquim, Edio 225 23, Rio de Janeiro,
29.10.1973.
PAZ, Gaspar Leal. A esttica da linguagem na obra de Lupicnio Rodrigues, In: III
colquio de pesquisa da Ps-graduao. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002.
SOUZA, Trik de. Os vos distantes do filho do bedel de escola, So Paulo: Abril
cultural, 1982.
SOUZA, Trik de. Lupicnio Rodrigues, o passionrio genial. In: O Som nosso de cada
dia. Porto Alegre: L&PM, 1983.
TATIT, Luiz. Torre de babel. In: Anlise semitica atravs das letras. So Paulo: Ateli
Editorial, 2001.
Msica independente e alternativa:
formulao de uma matriz de correlaes entre variveis culturais e
mercadolgicas
Gil Nuno Vaz Pereira da Silva
Pontifcia Universidade Catlica do Paran (PUC-PR)
protonauta@terra.com.br
Resumo: Msica Independente a expresso mais usada para denominar a produo e difuso
musical por estruturas econmicas e mercadolgicas no dominantes. A expresso Msica
Alternativa, tambm usual, implica mais os aspectos artsticos, novos padres estticos e maior
diversidade cultural. A distino est na raiz de uma questo sobre a realidade qual essas
expresses fazem referncia: a msica independente tem gerado uma msica alternativa? Para
investig-la, este estudo procura construir uma matriz que, correlacionando algumas variveis
culturais e mercadolgicas, permita estabelecer comparaes das propostas alternativas dos msicos
independentes com as propostas alternativas dos que usam as estruturas convencionais do mercado
cultural. Retomando trabalho do pesquisador relativo aos anos 70 e 80, o estudo busca ainda
oferecer uma base de anlise para avaliar mudanas, na msica independente brasileira, provocadas
pela passagem da mdia analgica (disco de vinil) para a mdia digital (CD).
Palavras-chave: msica independente; msica alternativa; msica brasileira.
Abstract: As a starting point, a conceptual difference is set between Independent Music and
Alternative Music. The former implies market and economic environments, and the latter refers
mainly to artistic scenarios, including new aesthetic proposals and cultural diversity, which raises
the following question: what alternative music has outcome from independent music? In order to
answer that, this study designs a correlation matrix based on cultural and market factors, which
allow us to compare alternative proposals by independent music and alternative proposals by non
independent music. Such a matrix shall be the ground for a research that continues a previous work
by the author on brazilian independent music, and it will also help evaluate correlations along the
process of technical evolution from analogical to digital media.
Keywords : independent music; alternative music; Brazilian music.
1. Introduo: Independente e/ou Alternativa?
Este artigo resume os fundamentos de projeto de pesquisa sobre a contribuio da msica
independente na constituio de uma msica alternativa no Brasil, envolvendo o
estabelecimento de conceitos bsicos e critrios de valor, e a construo de uma matriz de
correlaes que permita vincular os fatores pesquisados aos critrios fixados.
As expresses Msica Independente e Msica Alternativa so empregadas para
caracterizar a criao no produzida pelas grandes gravadoras (majors) e, embora, sejam
tomadas como sinnimas ou complementarmente (SHUKER 1999: 51-52), a primeira (uso
mais comum) aplica-se principalmente ao contexto econmico e mercadolgico que
condiciona o ambiente cultural, enquanto a segunda diz respeito mais a questes artsticas e
estticas. A oportunidade de definir os cruzamentos possveis entre ambas pode ser
constatada at em fontes no acadmicas
1
.
A pesquisa reconhece e opera com o imenso emaranhado de relaes que se
interpenetram no campo que denominamos msica, e envolvem contextos sociais,
econmicos e polticos, articulaes com diversas linguagens, como poesia, dana, cinema,
arquitetura. Tal procedimento metodolgico, evitando privilegiar recortes tendenciosos,
considera a esfera musical como um todo, sem as velhas dicotomias erudito versus
popular (NAPOLITANO 2002: 12), considerando todos os nveis de complexidade, que
compreendem a pluralidade resultante de situaes histricas e geogrficas, bem como a
configurao sgnica, tendo em vista a dimenso evolutiva da linguagem musical.
No entanto, incontestvel que, no obstante nossa conscincia dessa realidade
perceptiva, a Msica permanece denominador comum (afinal, falamos de msica
independente), merecendo ocupar o ncleo referencial primrio de observao, sem negar
importncia aos demais componentes. Embora rastreando composies, autores, intrpretes
e demais agentes, a investigao concentrar-se-, assim, em modelos musicais, padres
compartilhados por um conjunto de obras que usam o mesmo tipo de materiais sonoros,
tcnicas e concepes formais, podendo ser um movimento, gnero, forma, ritmo, estilo
composicional ou outro.
Para dar conta dessa complexidade centrada na msica, esta ser abordada como um
sistema de organizao e relacionamento de sons formado por um conjunto de subsistemas,
que so os modelos musicais referidos. Isso constitui a aplicao realidade musical dos
conceitos sistmicos encontrados em BUNGE (1979) e VIEIRA (1994), em que o corpo
1
Para Wilson Souto Jr., o Gordo (Lira Paulistana), os independentes podiam ser classificados em quatro
tipos: pessoas que, de maneira pretensiosa, tentam lanar um trabalho no amadurecido; pessoas que, pelas
caractersticas do trabalho, poderiam perfeitamente estar inseridas num contexto de gravadora; pessoas que
tentam inovar e que, por causa disso, no tm acesso s gravadoras; e os filhos da recesso os caras que, por
motivos outros, no conseguiram novos contratos em gravadoras, in Evoluo Independente, reportagem
publicada na Revista Matraca. So Paulo: Lngua de Trapo (Ano I, n. 3), dez/81. Ps. 10-11.
principal da msica, a realidade sonoro-sgnica, articula-se com um ambiente cultural
formado por outras linguagens artsticas, agentes e instituies, atravs de uma malha de
relaes variadas, entre estruturas de linguagem, produo, divulgao e distribuio.
A seguir, prope-se uma matriz de correlaes, na qual a posio de um modelo
estar relacionada ao momento e ao local da sua emergncia histrica, pressuposto
essencial para a caracterizao da importncia da produo independente.
2. Independente de qu?
A independncia musical define-se pela relao de foras entre artista e detentores
dos meios de produo (instalaes e equipamentos materiais) e divulgao (canais de
comunicao, como emissoras de rdio e televiso, e canais de distribuio, como sistemas
de comercializao e pontos de venda), no processo de fabricao e circulao das obras
musicais sob o formato de produto cultural (disco, fita, partitura, espetculo, etc), cabendo a
primazia ao formato predominante numa determinada poca.
O grau de independncia depende da complexidade dos recursos exigidos pela
composio, que caracterizam dificuldades para concretizar o produto, e deste para atingir o
pblico. Enfim, das condies de autonomia produtiva e acesso indstria cultural, o que
pode ser colocado em termos de Mediao Econmico-mercadolgica, que podemos
dividir em trs estgios:
Dependente decises econmicas e mercadolgicas (McCARTHY, apud
KOTLER 2002: 37-38) so tomadas inteiramente pelos produtores e difusores, em carter
praticamente impositivo.
Interdependente decises negociadas/acordadas entre artista e produtor/difusor.
Os produtores/difusores so empresas de pequeno/mdio porte, formadas por artistas
(Egberto Gismonti e Ivan Lins, respectivamente com as produtoras Carmo e Velas), outros
profissionais do setor (Lira Paulistana), solues cooperativas, como a Coomusa (VAZ
1988: 7-16), espaos e veculos de comunicao restritos, como locais de entretenimento e
rdios comunitrias; e empresas que desenvolvem polticas de patrocnio cultural
(MACHADO 2002: 119-142).
Independente decises tomadas por artistas com selo e editora prpria, que atuam
com razovel autonomia, cujo exemplo emblemtico (ponto de inflexo da msica
independente brasileira) o Selo Artesanal, de Antonio Adolfo.
O grau de Mediao mercadolgica decorre da relao de foras (poder de
barganha) entre produtores e fornecedores, e entre produtores e clientes/consumidores
(HOOLEY et al, 2001: 60-61), podendo ser dividido nas trs posies bsicas da Figura 01.
Figura 01
Mediao Econmico-mercadolgica: eixo para posicionamento de modelos musicais.
3. Alternativa a qu?
O conceito de Msica Alternativa traz implcita a considerao do uso da
autenticidade como critrio bsico de avaliao nas discusses sobre os mritos
(SHUKER 1999: 28-29; 172), o que acarreta uma pergunta crucial: a criao independente
tem apresentado propostas que constituem alternativas artsticas significativas para o
cenrio musical? Para respond-la, devemos aceitar, primeiramente, que as obras
disponibilizadas pela engrenagem econmico-mercadolgica constituem amplo repertrio
sortido de realizaes musicais, uma palheta (estoque/mostrurio) de produtos que reflete a
Opcionalidade Artstico-cultural da sociedade, e que pode ser avaliada sob dois eixos de
alternatividade (espectral e diferencial), que correspondem, em linhas gerais, aos dois tipos
com que Thornton, citado por Shuker (1999: 28), divide a autenticidade: um relacionado
originalidade e aura; o outro, natural comunidade e integrado subcultura. Ou: inovao
e diversidade.
3.1. Alternativa Espectral
Diz respeito extenso do universo musical, envolvendo todas as suas possveis
formas. Tendo por base os conceitos de tamanho sistmico (BUNGE 1979: 35-38), e a
concepo sinequista (PEIRCE CP 6.202) aplicada natureza sistmica (VIEIRA 1994:
11), os modelos musicais podem ser enquadrados em trs camadas (VAZ 2001: 219):
Acesso caractersticas predominantes de linguagem tpica das obras inaugurais do
campo sistmico da Msica: modelos de maior simplicidade formal, normalmente
associando msica com poesia, dana e teatro, com intensa participao da contextualidade
social e poltica. o territrio dominado pela Cano, na acepo mais genrica do termo.
Estabilidade a linguagem musical despreende-se de outras linguagens,
afirmando-se como discurso prprio atravs de modelos que se impem como padres
clssicos de excelncia. o territrio dominado pelas grandes formas, que exigem melhor
percepo e memorizao de estruturas abstratas.
Escape a linguagem musical extrapola os procedimentos referenciais, desviando-
se para uma rea de fuga do campo sistmico da Msica, atravs de modelos normalmente
referidos como propostas radicais, experimentaes e vanguardismos.
3.2. Alternativa Diferencial
Diz respeito ao grau de mudana que um modelo introduz, historicamente, no
repertrio, e pode comportar trs possibilidades:
Expanso rtulos que constituem ampliao de modelo preexistente, sem
mudana sensvel (chorinho para o choro, samba de breque para o samba), ou
desmembramento de modelo mais amplo (estilos musicais e coreogrficos semelhantes, a
partir de um mesmo ritmo bsico);
Combinao fuso de modelos preexistentes (rock-catira, mangue-beat, fusion,
breganejo) ou adequao de modelo de outra camada, atravs de downsizing (mais
complexo para mais simples, como o rock sinfnico) ou upsizing musical (mais simples
para o mais complexo, como orquestraes de obras populares), e procedimentos afins
(relocalizaes, recontextualizaes);
Criao modelos que introduzem mudanas de maior radicalidade, de modo que
no se torna plausvel associ-los a algo preexistente (o tratamento eletrnico de materiais
acsticos, gerando a msica concreta; a gerao no acstica de sons, na msica eletrnica).
Para representar a Opcionalidade Artstico-cultural, usamos um mapa
bidimensional cartesiano, conforme Figura 02.
Figura 02
Opcionalidade Artstico-cultural: mapa bidimensional para o posicionamento de modelos musicais.
A importncia das variveis
2
avaliada sob dois aspectos. Primeiro, a relevncia,
que reflete o grau de comprometimento da presena ou ausncia da varivel na funo e
eficcia do modelo. As variveis podem apresentar relevncia formal, matricial ou reticular,
respectivamente em suas relaes sistmicas com o corpo principal da msica (formal),
com o ambiente gerador do som, representado pelo corpo e pelos instrumentos (matricial) e
com o restante do ambiente (reticular).
Segundo, a intensidade (alta, mdia ou baixa) com que a varivel se manifesta, seu
desempenho especfico no modelo musical. A gradao decorre, no caso da alternativa
espectral, do nvel de simplicidade/complexidade da varivel, do que resulta a classificao
2
Para o enquadramento espectral e diferencial, os modelos so analisados com base em dez classes de
variveis: 1) Forma Musical; 2) Forma(s) Paralela(s), relativa(s) a outras modalidades que
dialogam/interagem com a msica; 3) Interao Formal, dizendo respeito sinergia que ocorre entre a msica
e modalidades paralelas; 4) Vocabilidade, nvel de adequao da msica ao canto; 5) Discernibilidade, nvel
de compreensibilidade da textura sonora/musical e na interao com outras modalidades; 6) Animogenia,
nvel de interao motivo e emotivo do estmulo artstico; 7) Durao, extenso cronolgica (objetiva e
subjetiva) do evento musical; 8) Contextualizao, circunstncias espacio-temporais condicionadoras; 9)
Radicialidade, aproximao/afastamento dos nveis mais universais de significao/codificao; e 10)
Exposio, interaes sociais e circulao do modelo musical. (VAZ 2001: 217)
em faixas/reas espectrais de acesso, estabilidade e escape sistmico. Na alternativa
diferencial, decorre do nvel de variao e mudana do modelo em relao a modelos
preexistentes, do que resulta a classificao em faixas/reas de expanso, combinao e
criao.
4. Independente e Alternativa. E da? Consideraes finais.
Do cruzamento das Figuras 01 e 02, com a primeira assumindo um eixo de
profundidade em relao ao plano da segunda, resulta a matriz de correlao entre variveis
culturais e mercadolgicas (Figura 03), em formato de cubo composto por 27 blocos (reas
Primrias de Classificao), que so interaes de mediao e opcionalidade em nveis
diversos de intensidade. Esse blocos podem ser interpretados a partir da Mediao
Mercadolgica (alas 3, 2 e 1) ou a partir da Opcionalidade Cultural, seja esta pelo ngulo da
Alternativa Espectral (camadas A, B e C) ou da Alternativa Diferencial (fileiras X, Y e Z)
Esse procedimento tcnico permite identificar, inicialmente, a posio de modelos
musicais na matriz, servindo assim a um propsito primrio de enquadramento e,
conseqentemente, visualizao da distribuio quantitativa dos modelos musicais,
quanto ao ndice de concentrao que apresentam nas reas de classificao. A ttulo de
ilustrao, vale comentar o rtulo Msica Eletrnica, conforme indicaes na Figura 03.
A introduo da Msica Eletrnica no Brasil atribuda a Jorge Antunes, ao compor
Valsa Sideral (1962) com instrumentos de fabricao prpria (PINTO 2002: 81), que fez
parte do primeiro disco brasileiro de msica eletroacstica (outro modelo musical)
produzido em 1975 pela Mangione (MENEZES 2002: 96-98). Considerando que a editora
no se enquadrava no perfil das majors, temos a criao/produo independente e
divulgao/distribuio interdependente. A Msica Eletrnica ocuparia, portanto, o espao
conceitual representado pelas duas reas de classificao assinaladas ao alto da matriz,
respectivamente CZ3 e CZ2. A Mediao Mercadolgica corresponde situao mista de
independncia/interdependncia. A Opcionalidade Cultural posiciona-se no cruzamento de
C e Z, pois, quanto alternativa espectral, a varivel Forma Musical da composio de
Antunes indica caractersticas de Escape, e quanto alternativa diferencial, as
caractersticas de Criao esto presentes nas inovaes de linguagem que representaram
no cenrio musical brasileiro (MENEZES 2002: 96).
3
Figura 03
Matriz de correlaes entre variveis culturais e mercadolgicas da Msica Independente e Alternativa.
3
evidente que, na aplicao da matriz, alguns cuidados especiais devem ser tomados, para evitar confuso
por superposies e inadequao de denominaes. A expresso Msica Eletrnica, aps a dcada de 90,
passou a caracterizar, para um vasto pblico, uma produo musical em que as variveis musicais apresentam
um perfil de intensidade bem diferente do seu modelo inaugural. Embora no exista uma referncia
incontroversa sobre o incio dessa nova tendncia, at por conta da caracterizao do modelo, um dos
momentos apontados como marco pioneiro foi a gravao do disco Prisma (Pointer, 1985) por Nelson Ayres e
Cesar Camargo Mariano. Perguntado a respeito, Ayres remete o pioneirismo a um disco de 1972, que gravou
com o grupo Mandala (EVANGELISTA). Pela referncia citada, esse modelo (que vem sendo designado
como Msica Eletrnica de Pista, enquanto a outra corrente seria Msica Eletrnica de Pesquisa) estaria
posicionado na matriz ocupando as reas AX2 e AX1, tambm por conta de certa ambigidade entre
dependncia (disco de 85) e interdependncia (disco de 72). A anlise poderia se dar, ainda, no aspecto
tcnico, como, por exemplo, a utilizao do disco vinil como fonte sonora para a elaborao da msica
eletrnica. Nesse sentido, a rea CZ2 seria ocupada pela preocupao pioneira de Antunes, com sua obra Auto
Retrato sobre Paysaje Porteo, feita no Instituto Torcuato di Tella (Buenos Aires, 1970) e constante do
referido disco de 1975, que posteriormente seria includa no primeiro miniCD (independente) da msica
eletrnica brasileira (Sistrum 1994), enquanto a manipulao direta do disco de vinil, feita pelo DJ, como
processo de gerao de sonoridades, estar posicionada na rea AZ3.
A matriz possibilitar avaliar a alternatividade que a independncia representa em
relao aos lanamentos da grande indstria, comparando a quantidade de modelos
musicais enquadrados na ala 3 com os da ala 1, e fazendo o mesmo com as alas 2 e 1, no
total ou por camadas (espectral) e fileiras (diferencial). Mapeando os perodos da mdia
analgica e da digital, a matriz torna possvel ainda avaliar a mudana experimentada pela
msica independente e alternativa, na passagem da predominncia de uma mdia para outra,
apurando-se a mobilidade dos modelos entre camadas, fileiras e alas, e as alteraes nas
propores entre independente/dependente e interdependente/ dependente, prestando-se
investigao de hipteses/afirmativas do tipo as indies tm servido como espaos de
pesquisa musical e sondagem de gosto e novas tendncias de mercado, abrindo espao para
a produo em massa das majors (NAPOLITANO 2002: 38).
O propsito mais amplo da pesquisa contribuir para a avaliao do papel que a
produo independente representa na gerao de uma proposta alternativa favorecedora da
ampliao de padres estticos e de pluralidade cultural, da expanso da escuta e da
linguagem musicais.
Bibliografia
BUNGE, Mario. Treatise on Basic Philosophy - Vol. 4: A World of Systems . Dordrecht: D. Riedel
Publishing Company, 1979.
EVANGELISTA, Ronaldo. s/d. Jazz brasileiro sem preconceitos. Disponvel em
http://www.saraiva.com.br, acesso em 27/05/2003.
HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratgia de Marketing e
Posicionamento Competitivo. 2. ed. So Paulo: Prentice Hall, 2001.
KOTLER, Philip. Administrao de Marketing. 10. ed. So Paulo: Prentice Hall, 2000.
MACHADO Neto, Manoel Marcondes. Marketing Cultural: das prticas teoria. Rio de Janeiro: Cincia
Moderna, 2002.
MENEZES, Fl. Depoimento sobre o pioneirismo eletroacstico de Jorge Antunes no Brasil dos anos
sesssenta, in ANTUNES, Jorge (org.) Uma Potica Musical brasileira e revolucionria. Braslia: Sistrum,
2002, ps. 93-100.
NAPOLITANO, Marcos. Histria & Msica: Histria Cultural da Msica Popular. Belo Horizonte;
Autntica, 2002.
PEIRCE, Charles Sanders. Collected Papers. C. Hartshorne e P. Weiss eds. (v. 1-6) e A. W. Birks ed. (v. 7-
8). Cambrindeg, MA: Harvard University Press, 1931-1958.
PINTO, Theophilo Augusto. Jorge Antunes: o precursor e construtor de instrumentos eletrnicos no
Brasil, in ANTUNES, Jorge (org.) Uma Potica Musical brasileira e revolucionria. Braslia: Sistrum, 2002,
ps. 77-92.
SHUKER, Roy. Vocabulrio de Msica Pop. So Paulo: Hedra, 1999.
VAZ, Gil Nuno. Histria da Msica Independente. So Paulo: Brasiliense, 1988.
____________. Cmara da Cano: escanses semiticas de um campo sistmico. Tese de doutorado. So
Paulo: PUC, 2001.
VIEIRA, Jorge de Albuquerque. Semitica, Sistemas e Sinais. Tese de Doutorado. So Paulo: PUC, 1994.
Natal dos Anjos o musical escolar CDG
Da composio da cano produo do espetculo
Helena de Souza Nunes
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
helena@acdg.org.br
Resumo: Considerando a musicalizao um recurso para o desenvolvimento integral da criana, este estudo trata
da composio infantil na forma de Musical Escolar. Contradizendo a tradio de que estruturas musicais simples
seriam mais fceis, este estudo conduz concluso de que justamente a complexidade e a sofisticao, ao
oferecerem mais possibilidades de acerto do que estruturas rudimentares e vazias, constituem obras mais
apropriadas criana.
Abstract: Considering Musical Education a resource for childrens general development, this paper is about
composing for them as Scholar Musicals. Contradicting the idea that simple musical structures would be easier, this
work leads to the conclusion that actually complexity and sofistication, once they offer more fitting possibilities
than empty and rudimentar stuctures, are more apropriated for the children.
Objetivos do trabalho
O objetivo do projeto de pesquisa que estuda e desenvolve o modelo CDG Cante e Dance com a
Gente para composio de canes infantis, em cujo mbito insere-se o estudo de Musicais Escolares
CDG e, por conseguinte, este estudo, contribuir para a educao integral da criana atravs da Msica.
Busca-se estabelecer princpios, que orientem a criao e a produo de repertrio escolar para a criana
brasileira, e que estabeleam procedimentos de ensino e possibilidades do aproveitamento deste repertrio
como recurso de musicalizao.
Fontes
O acervo de canes do Projeto CDG Cante e Dance com a Gente, mantido pela ACDG
Associao Cante e Dance com a Gente, desde 1996
1
, rene mais de 500 composies infantis originais,
99 das quais j publicadas sob a forma de espetculos, cancioneiros e/ou gravaes, mas a maioria ainda
inditas. Esta produo, originada espontaneamente de uma prtica pedaggica desenvolvida em escolas
do Vale do Sinos/RS
2
, na dcada de 1980, e publicada, pela primeira vez, em 1991, gerou um modelo de
composio, o qual, desde 1999 vem sendo testado e sistematizado no escopo de um projeto de pesquisa
coordenado por uma de suas autoras e tambm professora da UFRGS. Este estudo, intitulado Proposta
Musicopedaggica CDG, est registrado no Diretrio de Grupos de Pesquisa do CNPq com certificao
pela UFRGS e tem reconhecimento internacional
3
.
1
Vide http//www.acdg.org.br
2
Escola Maternal Pingo de Gente, Novo Hamburgo, e Instituto Superior de Msica, So Leopoldo.
3
Encaminhamento do projeto registrado WFW Weltforum Wald, selecionado para a programao oficial da EXPO2000 de
Hanover, categoria projetos estrangeiros com destaque em propostas educacionais e artsticas para preservao do meio
ambiente. projeto de pesquisa reconhecido pelo ISMPS, Kln (www.ismps.de e www.ceeb.acdg.org.br), SW
kumenisches Studienwerk, de Bochum, Institut fr Musik und ihre Didaktik, da Dortmund Universitt e Arbeitstelle
Recentemente, em janeiro de 2003, foi finalizado e encaminhado publicao, o primeiro
cancioneiro contendo exclusivamente composies de ex-alunos e alunos do Curso de Licenciatura em
Msica da UFRGS, seguindo os passos do Roteiro de Composio CDG, base terica desta pesquisa.
Apresenta-se, assim, alguns dos resultados parciais deste trabalho; mas muito ainda h para ser feito, no
sentido de aperfeioamento do prprio modelo e de explicitao de seus passos metodolgicos, tanto em
seus aspectos musicais quanto pedaggicos, objeto de estudo da pesquisa aqui apresentada.
Os primeiros estudos realizados pela autora tratando do assunto aqui abordado, qual seja,
procedimentos de realizao de Musicais Escolares desde sua concepo at sua apresentao final sob a
forma de um espetculo escolar, foram feitos entre 1994 e 1999, na Alemanha, durante seu Doutorado
junto Dortmund Universitt. Como resultado deste trabalho, apresentou, a convite do governo alemo,
o Musical Escolar Curupira histrias, mitos e lendas das florestas brasileiras, na EXPO2000-Hanover.
Natal dos Anjos sua segunda obra significativa do gnero, tambm composta em parceria com Laura
Schmidt Silva e produzida em parceria com Rodrigo Schramm, entre 1999 e 2002. Desde sua primeira
verso, apresentada, anualmente, na cidade de Dois Irmos, durante os festejos natalinos da Serra
Gacha. Os principais autores que do sustentao terica ao tema desta pesquisa so alemes,
destacando-se Gnther Reiss, Mechthild Schoenebeck, Dietrich Helms e Wolfgang Knig. Atualmente, o
centro mais relevante para estudos de temas pertinentes aos Musicais Escolares, na Europa, o
Arbeitstelle Theaterpdagogik Forschungsbereich Theater und Musik, da Westf. Wilhelms-Universitt
Mnster, centro de estudos junto ao qual os dois trabalhos aqui citados esto registrados.
Pressupostos tericos
O repertrio cantado pelas crianas nas escolas brasileiras rene canes folclricas, hinos ptrios,
cantos alusivos a datas comemorativas do ano letivo e, sobretudo, o que est sendo veiculado pela mdia
do momento. Habitualmente, a adequao do texto lguma eventual festividade escolar critrio
predominante na escolha deste repertrio; no entanto, outros fatores tambm deveriam merecer
considerao, tais como a qualidade musical, a contextualizao cultural ampla e as possibilidades vocais
e expressivas dos pequenos cantores. De uma forma geral, diante de uma busca mais exigente, o professor
depara-se com carncia de recursos adequados.
Para que esta lacuna seja preenchida, necessrio que msicos e educadores musicais componham
canes infantis escolares. Mas o processo de criao passa pelo rompimento com a mentalidade de
talento restrito a poucos, com uma auto-crtica exigente e com a predominante impiedade alheia. Compor
expor-se, e isso exige maturidade e preparo. A capacidade de fazer Msica e criar canes no ,
simplesmente, um dom especial destinado a poucos; mas tambm, e antes de tudo, um contedo possvel
de ser ensinado e aprendido, desde que existam um programa sistematizado e uma metodologia adequada.
Theaterpdagogik Forschungsbereich Theater und Musik, da Westf. Wilhelms -Universitt Mnster.
A metodologia CDG para a composio infantil defende a idia de que este processo de criao deve
contar com a participao da criana.
A realizao pessoal atravs da Msica um direito de toda a criana em idade escolar, sendo
inadmissvel a excluso por testes de afinao ou similares. A criatividade infantil deve ser estimulada,
orientada e suportada por procedimentos de ensino favorveis a seu desenvolvimento equilibrado. A
cano infantil escolar deve ser uma obra aberta, possibilitando a participao ativa da criana no
processo de criao, simultaneamente ao de interpretao, sem que a proposta original da obra se
descaracterize. Ao professor, cabe desenvolver a sensibilidade para perceber o que a criana j expressa
e/ou poder expressar de si mesma, e a tcnica para transformar isso em cano.
Procedimentos metodolgicos
Ensinar implica contedos e mtodos, depende um jeito de dizer alguma coisa e de um jeito de
escut-la, ensinar implica compromisso com o aprender. Compor tambm implica contedos e mtodos,
um jeito de perceber e de comunicar alguma coisa, implica compromisso com disponibilizar uma idia
sob uma forma expressiva. sobre isso que se estuda e se reflete no mbito desta pesquisa, centrando
especial ateno sobre o foco das composies escolares infantis, sob a forma de Musical Escolar. Este
trabalho, em seu conjunto, tem envolvido especialistas de vrias reas do conhecimento (msicos,
musicopedagogos, psiclogos, filsofos, artistas plsticos, diretores de teatro, atores, bailarinos, pediatras,
telogos e profissionais de informtica), em vrios setores da sociedade, h mais de uma dcada. A
contribuio maior da UFRGS tem sido a crtica dos fundamentos, a anlise da realidade e a
sistematizao dos procedimentos encontrados importantes funes da Pesquisa. Mas tambm no
Ensino pois o Proposta Musicopedaggica CDG contedo de disciplinas de cursos de Msica
4
,
inclusive tema de Trabalhos de Graduao
5
, e na Extenso
6
, a participao da UFRGS tem sido
decisiva para o desenvolvimento deste trabalho to importante e necessrio, e que evidencia o esprito da
atual poltica educacional para o pas, como a indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extenso, no
Ensino Superior, e uma educao de melhor qualidade para todos, nos Ensinos Infantil, Fundamental e
Mdio.
A experincia aqui registrada props, testou e descobriu algumas idias inovadoras para o trabalho
musical na escola. A partir da escolha do tema (histria do Natal sob uma presumvel tica dos anjos do
prespio), as canes foram sendo compostas para e com as crianas envolvidas. O grupo, varivel entre
25 e 103 integrantes com um mnimo senso de responsabilidade para a assiduidade, era formado por
crianas entre seis e quinze anos. Dos participantes originais, em 1999, 24 permaneceram at 2002,
4
Repertrio para Escola e Canto na Educao Musical, do Curso de Licenciatura em Msica da UFRGS.
5
Edson Ponik (2001), Renata Renata (2000), Ftima Weber Rosas (2000), Daniele Bazzan Lacerda (2000), Jean Carlos Presser
dos Santos (prev. 2003), Karlo Kaufmann Kulpa (2003), Dbora Acauan Dreyer (prev. 2003).
6
6
Canes para Sala de Aula Repertrio CDG e Oficinas de Teoria e Percepo Musical (Bolsistas de extenso: Cssio
Caponi, Suelena Borges, Carolina Wiethlter, Mrcio Buzatto, Rafael Kochhan, Rodrigo Schramm e Caroline Abreu).
quando o projeto encerrou-se com 64, incluindo 8 crianas com necessidades especiais. Os recursos
empregados foram as possibilidades da voz, os movimentos do corpo e um teclado. O levantamento dos
dados e a anlise dos resultados tiveram carter histrico-hermenutico.
As principais dificuldades foram provocadas pela escassez de recursos financeiros, posto que as
partituras e a produo devem ser elaboradas com softwares registrados (editorao, sequencializao,
gravao, masterizao, ps-produo, etc), em equipamentos especficos (computadores, mesa de som,
microfones, gravadores, etc) e espaos adequados (estdios, auditrios com tratamento acstico e de
iluminao, etc), todos sofisticados e bastante caros. Ao longo dos anos, a continuidade de tais esforos
tm sido garantidos pela pesquisadora, contando com o apoio eventual em maior ou menor intensidade de
colaboradores, e com o concesso, por rgos de incentivo, de bolsas de iniciao cientfica e de
extenso. Mais raramente, tambm por recursos das Leis de Incentivo Cultura, que tendem a interpretar
as iniciativas como puramente educacionais, excludas, portanto de sua esfera de responsabilidade. Assim
sendo, mesmo na Pesquisa que pode-se esperar mais, pois trata-se da criao, fundamentao e
desenvolvimento de produtos e processos novos, voltados a identificar, equacionar e propor solues para
problemas detectados tambm atravs de procedimentos caractersticos da Pesquisa e da responsabilidade
acadmica.
Resultados
O projeto teve a durao de quatro anos (1999-2002). No estgio atual, a obra est concluda, com
base em quatro temporadas experimentais. Trata-se do roteiro de um espetculo escolar com
aproximadamente 35 minutos de durao, incluindo 17 canes com as respectivas coreografias para solo
e/ou grupos diversos, podendo admitir um nmero varivel de intrpretes e msicos. A estrutura da obra
suporta e prope improvisao e novos desdobramentos, possibilitando adaptaes da verso original
realidade do grupo que a ensaiar. Durante o processo de pesquisa, a cada nova temporada e a cada nova
formao do grupo, revisava-se e adaptava-se as canes. Ao longo do tempo, estabeleceram-se certos
referenciais, que permaneciam fixos, a despeito das adaptaes. Ao cabo de quatro anos, emergiram desta
realidade princpios composicionais de momento estudados em novo projeto de pesquisa.
O objeto de estudo desta nova pesquisa, decorrente do projeto Natal dos Anjos, ser tanto o
estabelecimento definitivo de um Roteiro de Composio (incluindo o detalhamento de cada um de seus
passos, seja no que se refere aos contedos, seja no que se refere a sua metodologia), quanto a
sistematizao de procedimentos e materiais que ofeream suporte ao processo de ensino-aprendizagem,
o qual conduzir criao de canes atravs do Roteiro estabelecido. Entende-se que esta iniciativa e
esforos contnuos configuram um patrimnio valioso e raro na Musicopedagogia Brasileira, e que seus
resultados at agora podem assegurar a consistncia, a seriedade e a continuidade do trabalho.
Concluses
Na criao do Musical Escolar Natal dos Anjos, verificou-se que estruturas rtmico-meldicas e
harmnicas complexas foram facilmente captadas e realizadas pelas crianas, dentro de determinados
procedimentos metodolgicos caractersticos da Proposta CDG, quais sejam: esforo de incluso, sem
distino, de todas as crianas interessadas em participar do ensaio e da apresentao, no momento e do
jeito que aparecem; configurao da cano sob forma e caractersticas adaptadas a seu intrprete;
associao permanente com coreografias individuais e/ou coletivas; aproveitamento de recursos visuais,
como figurinos e cenrios, bem como sons ambientais; potencializao da expresso espontnea da
criana; e, acima de tudo, descoberta constante de solues criativas e flexveis, que desviem a ateno
daquilo que, eventualmente ou por tradio rigorosa ou preconceituosa, poderia ser apontado como erro
ou desafinao. Canta quem quer, e no quem, a critrios duvidosos, dizem poder.
O compromisso maior sempre com a valorizao de um possvel acerto, mesmo que seja mnimo
e ainda parea distante. A represso daquilo que no confere com um suposto padro de perfeio
desgastante para o professor e doloroso para a criana. Sob um novo olhar, todas as capacidades de ambos
podem voltar-se exclusivamente para a descoberta do referido potencial de acerto, tornando o ensinar e o
aprender Msica uma tarefa prazerosa e possvel a todos. Vrias das canes da obra descrita, assim
como de sua antecessora Curupira, tm extenso aproximada a duas oitavas, emprego de recursos
vocais e corporais variados, harmonizao sofisticada, estruturas rtmicas ricas e pouco repetitivas,
gneros e estilos diversos. E pode-se dizer que suas interpretaes finais alcanaram alguns momentos de
verdadeira expresso de Arte.
Conclui-se, ento, que o fcil para a criana, no , necessariamente, o simples; muito antes, pelo
contrrio. Estruturas sofisticadas tm mais possibilidade de conterem acertos, do que estruturas mais
rudimentares e vazias, onde a chance de acertar a nica possibilidade reduzida. A concluso mais
importante a que este estudo conduziu que, ao contrrio do que a tradio determinou, precisamente
na complexidade e sofisticao da obra que reside sua acessibilidade criana.
Bibliografia
WHL COELHO, Helena; SILVA, Laura Schmidt: Cante e Dance com a Gente. (Arranjos gravados em disco vinil e
cancioneiro). Porto Alegre: ISAEC, 1991.
... : Curupira histrias, mitos e lendas das florestas brasileiras. Porto Alegre: Metrpole, 2000.
... : Histrias. (composies infantis e arranjos gravados em CD). Porto Alegre: FOCUS/GENS, 1999.
WHL COELHO, Helena : ... : Musicalizao de Adultos atravs da Voz. So Leopoldo: Sinodal, 1991.
... : Cante e Dance com a Gente ein Projekt fr die Musikerziehung in Brasilien. Frankfurt: Peter Lang, 1999.
... : Tcnica Vocal para Coros. (6 ed.) So Leopoldo: Sinodal, 2002.
... : Projeto CDG e Instituto de Msica da EST. In: CONGRESSO ANUAL DO I.S.M.P.S. INSTITUT FR STUDIEN
DER MUSIKKULTUR DES PORTUGIESISCHEN RAUM / KLN, INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
MUSICOLGICOS / SO PAULO E CENTRO DE ESTUDOS GIL EANES / PORTUGAL. Em 30 de setembro de 1998,
So Paulo.
... : O Projeto CDG e as vises musicopedaggicas do Novo Mundo. CONGRESSO ANUAL DO I.S.M.P.S. INSTITUT
FR STUDIEN DER MUSIKKULTUR DES PORTUGIESISCHES RAUM / KLN, INSTITUTO BRASILEIRO DE
ESTUDOS MUSICOLGICOS / SO PAULO E CENTRO DE ESTUDOS GIL EANES / PORTUGAL. Em 06 de agosto de
1999, Kln.
... : Modelo Musicopedaggico CDG. Rio de Janeiro: Documento registrado na Biblioteca Nacional, resultado do projeto de
pesquisa Estudo de Viabilidade do Modelo de Implantao da Proposta CDG, 2001.
NUNES, Helena de Souza; SILVA, Laura Schmidt: Um Doce de Cano. So Leopoldo: R. Schramm, 2001.
Videok, karaok, sei-l-o-qu: dos prazeres narcsicos ante a mquina
de fazer msica
Helosa de Arajo Duarte Valente
Universidade Catlica de Santos (UniSantos)
whvalent@atribuna.com.br
Resumo: O texto a seguir inscreve-se no campo da semitica da msica, mais especificamente, no
corpo da msica das mdias. D seqncia a uma srie de estudos que procuram estudar as
diferentes mdias e sua relao com a msica, considerada como linguagem, no contexto de uma
paisagem sonora que, por sua vez, histrica, capaz de interferir no cerne dos processos culturais.
Por conseguinte, considera-se que os diversos produtos resultantes das diferentes linguagens
mediticas sejam capazes de interferir na sensibilidade esttica, o que acarreta, conseqentemente,
numa alterao no processo cognitivo. Dentro dessa perspectiva, proponho uma anlise sobre o
universo do videok, levando em conta seu possvel potencial didtico-pedaggico. Algumas
fontes: Paul Zumthor, Murray Schafer, Franois Delalande, Vicente Romano.
Palavras-chave: mdia, performance, escuta.
Abstract: This text may be embeded in the field of musical semiotics studies; more particularly, in
the field of media music. It is the continuation of a sequence of a research in which several media
related to music are studied, as a specific language, in the context of a soundscape that is historical,
able to interfere in the core of cultural processes. As a result, it could be considered that different
products originated by different media languages might interfere in aesthetic sensitivity, which
means, consequently, an alteration in the cognitive process. In this perspective, I propose an
analysis about the videoke universe; taking into account is potential pedagogical approach.
Theoretical sources: Paul Zumthor, Murray Schafer, Franois Delalande, Vicente Romano.
Keywords: media, performance, listening
Solte suas garras, entre nessa festa...
Outro dia, comemorando o aniversrio de uma colega, participei, com um grupo de
convivas, de uma sesso de videok. Nada relevante, no fosse minha experincia anterior
na prtica de msica ao vivo e, sobretudo, atravs de partituras; nada espantoso, no fosse
minha habitual repulsa pelo maquinismo rtmico que esse tipo de msica degradada
segundo os crticos mais mordazes - geralmente oferece. Contudo, como estudiosa das
relaes entre msica e mdia e, sobretudo, da voz cantada, no podia me furtar a essa
experincia estranha (deliciosa, para muitos)... Ser o karaok e seu sucessor atual, o
videok, um meio de acesso educao musical? Tinha, sem esperar, encontrado o tema
para minha comunicao neste Congresso!
Espelho performtico
Um dos aspectos mais interessantes em se estudar a relao entre msica e mdia ,
justamente, a performance. Ao utilizar este termo, no estou me referindo ao sentido
popularizado, mas ao conceito cunhado por Paul Zumthor. Performance , para ele, uma
ao complexa comunicativa que envolve no apenas o ato de emisso da mensagem (no
caso da cano, a interpretao), mas tambm o momento da recepo, as condies em
que a mensagem transmitida. Acrescente-se que a performance pode oscilar entre a
oralidade pura e a mediatizao tcnica quase que absoluta. Isto quer dizer que a
performance desdobra-se em camadas: num recital, por exemplo, existe uma comunicao
mais direta entre artista e platia que, numa transmisso radiofnica ou numa gravao
(disco, vdeo, DVD etc.). Neste caso, o papel do engenheiro de som fundamental.
A performance mediatizada tecnicamente, como as prprias palavras sugerem,
necessita de aparatos tcnicos para a emisso da mensagem ou ainda, para a emisso e
recepo, simultaneamente. o caso do microfone de amplificao, da transmisso
radiofnica e todas as mdias sonoras. Embora as caractersticas gerais da performance ao
vivo sejam preservadas, perde-se a tatilidade, o peso, o volume, elementos que compem a
atmosfera da mdia primria, como denomina o estudioso em semitica da cultura Vicente
Romano (1983, 1984).
No caso da performance do videok, justapem-se duas modalidades de base: como
referncia primeira, h um ready made pr-existente (a gravao do acompanhamento); na
segunda camada, aparece a voz do executante, ao vivo e com microfone de amplificao.
A performance do videok d-se necessariamente desse modo; caso contrrio, receberia
outra denominao. Se as casas que oferecem videok variam em grau de grandiloqncia
no seu arsenal tecnolgico, ou em criatividade por parte dos animadores, pelo menos um
ponto permanece comum: uma trilha eletroacstica padronizada (os cartuchos so
praticamente os mesmos em toda parte) e um corpo-voz que se pe a cantar.
O tempo-espao do videok
O videok desponta como o substitutivo dos grupos musicais de bairro, numa poca
em que o msico amador figura em extino na paisagem sonora. O grupo de choro,
seresta, rock e outros tantos sendo cada vez mais raros, fazendo-se necessrio criar seus
substitutos, pois a necessidade da msica como atividade social permanece. S que, na
sociedade globalizada do terceiro milnio, calcada num individualismo solitrio, a roda de
msicos que tocam junto vai sendo substituda pela mquina eletroacstica que, a menos
que calada por apages, mantm-se tagarela enquanto as leis de tolerncia acstica do
municpio permitirem. O grupo acompanha o cantor de videok, como cmplice, como
observador, mas no como msico.
De todo modo, o ambiente de uma casa de videok , normalmente, de festa:
bebidas alcolicas, alguns petiscos, muita falao. O videok, pode-se afirmar, uma
inveno de sucesso. Se foi concebido pelos japoneses como mais um atrativo estranho
num mundo cada vez mais estranho, em que os elos sociais se dissipam, haveria de obter
sucesso em outras paragens. Conseguiu popularizar-se e, mais ainda, criar seus hbitos
prprios. Uma casa que oferece videok tem, normalmente, seu mestre de cerimnias, que
recebe os participantes, distribui o cardpio musical
1
organiza a distribuio de fichas de
inscrio por mesas; essa pessoa geralmente insere seus nmeros preferidos, a fim de
agitar os nimos, propiciando o clima de programa de auditrio. Em alguns casos, h
iluminao especial, com lmpadas estroboscpicas e coloridas, palco, maior quantidade
de microfones, a fim de criar um clima de casa noturna ou at competio de calouros.
Loucos pelo microfone
Contraditoriamente, o ambiente do videok pode ser, a um s tempo, espao de
brincadeira e seriedade. Se a prtica do videok representa, antes de tudo, diverses nas
horas de folga da sociedade urbanizada, existem aqueles que procuram as salas de vdeok
nos horrios mortos da semana para poder exercitar. De fato, existem pessoas que desejam
ingressar na carreira artstica e, no tendo outros meios para sua aprendizagem, recorrem
ao videok para treinamento e formao de repertrio.
Entretanto, o videok no fornece seno o acompanhamento; o cantor sem
formao tcnica, nem alfabetizado musicalmente, recorre aos seus modelos. quando seu
corpo-voz tenta reproduzir o corpo-voz do seu dolo, aquele que seleciona como seu
modelo. A aprendizagem do canto se d pela imitao: da gestualidade, da mmica vocal
2
,
do comportamento e expresso verbal em cena. Ora, dessa forma, no h cantores neutros
1
Note-se que nessas listas a relao das obras tem como referncia o nome do intrprete de referncia, o
ttulo e, s vezes, a primeira frase da letra. As peas so relacionadas por um nmero.
2
a gesticulao facial executada, a fim de se pronunciar os fonemas, capaz de ser percebida auditivamente.
A denominao foi instituda pelo foniatra van Fongy na dcada de 1970, ao realizar experimentos com o
objetivo de responder s seguintes questes como esta: A mmica e os gestos podem ser reconstitudos pelo
ouvinte, que no percebe seno sinais sonoros? Os resultados provaram que sim. Conclui o autor:
Durante a aquisio da fala, a criana deve adivinhar as posies dos rgos fonadores to somente pela
escuta dos sons produzidos, a fim de produzir, de sua parte, sonoridades adequadas. Parece que os adultos
no so menos capazes disso (Fongy, 1983pp.51-55)
ou impessoais, como ocorre com o canto lrico
3
. Ao observar as performances de videok,
estamos, na verdade, presenciando reprodues de Rita Lee, Belo, Olvia Newton-John,
Maria Bethnia, Marina, Netinho, Luiz Miguel; ou, mais raramente, Joo Bosco, Nelson
Gonalves, Paul Anka. Os modelos so geralmente personagens em trnsito nas mdias
hodiernas, mantendo-se vivas memorialmente no grupo. O praticante de videok procura
reproduzir o seu modelo em todas as instncias possveis: gestos (meneios com a cabea,
revirada de olhos, passos coreogrficos etc.), modo de emisso vocal (pronncia, suspiros,
golpes de glote, gemidos etc.). Transpe sua pessoa a persona, numa situao de
travestimento, da personalidade (timidez, extroverso, alegria) daquele que imita; por
tabela, transpem-se os gneros musicais de forma estereotipada (baladas romnticas,
agito danante, ginga etc.). O cantor de videok geralmente cr estar vivendo aquele que
imita; pensa que canta como o seu modelo;pensa que agrada como o seu dolo; enfim,
acredita-se o talento em cena... (Ainda que uma grande parte dessas pessoas esteja
cantando qualquer coisa que nem alturas fixas consegue emitir!)
Entretanto, dentre os vrios comentrios que se possa fazer acerca do videok, um
tem destaque especial: a maneira de tomar o microfone, de aproxim-lo da boca, de afast-
lo. Essa verdadeira arma performtica que Sinatra soube usar com maestria e preciso tem
papel essencial nas performances de videok. Normalmente, os microfones de videok so
de sensibilidade acstica lastimvel, no permitindo ao usurio nenhuma outra forma de
empunh-lo seno grudado nos lbios e na vertical. O cantor amador que, normalmente
dirige seus olhos parte baixa da tela do monitor de vdeo (para acompanhar a letra) torna-
se uma criatura vesga tentando enxergar atravs do microfone. O tom caricato
inevitvel... Somente quando o executante trata a mdia como um karaok isto , sem
imagem- a perfomance pode se tornar menos contida.
Quando a qualidade do microfone permite captao dos sinais acsticos a distncia
maior, ou lateralmente, o msico amador pode, ento, expressar-se gestualmente de forma
mais livre. Alguns loucos pelo microfone acabam fazendo todo tipo de estripulias,
acrobacias. H os que pensam ser o Michael Jackson dos ureos tempos. O clima de festa
ganha fora, ouvem-se gritos, apupos, assobios, provocaes, palavras de ordem. Eclode a
oralidade. E pedem-se mais cervejas.
Antes isso que nada?
3
Note-se que, no caso do cantor lrico, as referncias centrais so a tcnica e o estilo. No caso da msica
popular, a grande parte das vezes, a referncia o intrprete>
Certamente, o videok est longe de constituir o melhor exemplo de aprendizagem
musical e, mais especificamente, do canto. Sobretudo, por no exercitar no executante, a
conscincia corporal (postura, emisso vocal, etc.). O praticante de videok ,
normalmente, um freqentador de bares e restaurantes que dispem de um mesmo
repertrio, com os mesmos arranjos prontos. Assim como a mquina d a verso pronta do
acompanhamento, ele prprio se habitua a entrar e sair nos mesmos instantes, na mesma
intensidade, na mesma tonalidade (que nem sempre a melhor para a sua voz) com os
mesmos cacoetes no raro textos aprendidos erroneamente (como a moa que
orgulhosamente pronunciava my society ao invs de high society). O vcio incorporado,
dificilmente o praticante de videok se lembrar que existem outras maneiras de cantar,
alm daquela que ele aprendeu! Para ele, a referncia interpretativa de Tiro ao lvaro ser
Elis Regina, e no Adoniram Barbosa; a de El dia que me quieras, Luiz Miguel, e no
Gardel.
Contudo, o videok ainda interessante meio de aprendizagem musical: tem-se de
prestar ateno na entrada, na tonalidade, no tempo (sempre justo). Num pas to distante
dos bens artsticos dos quais se incluem os equipamentos e entidades artsticos (quantas
universidades tm um piano? Um coro? Uma orquestra?), o videok acaba se convertendo
em apoio didtico interessante. E, se o compararmos com os disquinhos na vitrola porttil
das aulas de artes da escola, cujo repertrio geralmente restringe-se ao das mentoras loiras
da televiso, a situao um pouco mais otimista: a voz solista est a ser preenchida
(talvez seja essa a maior crueldade do Videok e sistemas de play back).
De outra parte, sabemos j, cantar em videok , antes de tudo, expor-se. Por isso
mesmo, atividade que se desenrola, a maioria das vezes, em pequenos grupos de amigos.
Aqueles que servem de amparo e escudo, mesmo quando em situaes de chacota
extremada. (Curiosamente, as outras mesas vo, aos poucos, se transformando em rivais,
num processo de antipatia recproca motivada, justamente, pelo direito de posse do
microfone e do repertrio!)
Nesse ponto, os mais tmidos tero maior dificuldade em enfrentar o microfone.
Talvez a resida o maior diferencial do karaok em relao ao videok: enquanto no
primeiro o aventureiro-cantor tem de empunhar o microfone, mirar seu pblico, sabendo
de cor o texto da cano, no videok uma tela mostra quando pronunciar cada slaba da
frase
4
- muleta bastante interessante para lembrar a letra e para no ter de olhar para
ningum, alm daquela imagem congelada de uma paisagem tropical ou rtica.
Eu vou, por que no?
Pensei em tudo isso nas duas vezes em que participei da comemorao do
aniversrio da minha colega. Confesso: cheguei mesmo a brincar de Nelson Gonalves,
cantando o Carinhoso (a referncia era o cantor e no Pixinguinha!). Ousei romper com o
sistema, no olhando para aquela tela imbecilizante. Fui repreendida: estava cantando fora
do ritmo! A minha colega de microfone, clone de um mix de cantoras pop-MPB no sabia
qual era a minha. Quando uma colega idosa, simplesmente comentou: ela mais
romntica... Decifrado! A velha senhora conheceu os seresteiros e a Velha Guarda! Ao
concluir a minha ria di bravura, outra colega de mesa me pergunta: Gostou do seu
momento de glria? Experincia sintomaticamente curiosa. Mas foi preciso vencer uma
srie de barreiras intelectuais e mesmo temperamentais minhas. Que fazer? Para se estudar
a msica das mdias necessrio colocar a mo na massa, tal qual fazem arquelogos ao se
enlamearem para fazerem suas descobertas...
Dito isto, algo no pode ser negado: Querendo ou no, o videok exerce funo
didtica. E a que reside a curiosidade. A despeito de todas essas ressalvas, cantar em
videok altamente ldico, se desse jogo estranho e divertido soubermos tirar proveito.
Talvez seja essa uma das razes para ter se consolidado como um divertido brinquedo para
marmanjos de vrias classes sociais e latitudes.
Referncias bibliogrficas:
DELALANDE, Franois: Le son des musiques entre technologie et esthtique. Paris:
Buchet/ Chastel, 2001..
FNAGY, Ivan : La vive voix: essais de psycho-phontique. Paris: Payot, 1983.
ROMANO, Vicente: Introducccin al periodismo. Barcelona: Editorial Teide, 1984.
------------------ Desarrollo y progreso por una ecologa de la communicacin.
Barcelona: Editorial Teide, 1993.
------------------ : El tiempo y el espacio en la comunicacin la razn pervertida.
Hondarrabia (Espanha): Argitalexte, 1998.
4
Na dcada de 1960 os desenhos animados americanos costumavam apresentar nmeros musicais, onde um
coro misto cantava canes cuja letra aparecia na tela; cada slaba pronunciada era mostrada pela bolinha
danante
SCHAFER, R. Murray: A afinao do mundo.So Paulo: Edunesp, 2001.
ZUMTHOR, Paul : Introduo poesia oral. So Paulo: Hucitec; Educ, 1997.
1
Desafios tcnicos para a voz na msica vocal do
Grupo Msica Nova de So Paulo
Heloiza de Castello Branco
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
hdecb@hotmail.com
Resumo: Msica vocal do Grupo Msica Nova de So Paulo: estudo das dificuldades
tcnicas do ponto de vista do intrprete cantor. Anlise dos problemas tcnicos vocais que
possam desafiar a execuo do intrprete, incluindo-se a decodificao da partitura. Sugestes
de estratgias tcnicas para superar as dificuldades diagnosticadas nas propostas musicais dos
compositores. Estudo terico prtico. Espera-se facilitar a escolha, preparo e execuo de
msica vocal de carter experimental entre cantores brasileiros.
Palavras-chave: msica vocal experimental; tcnicas vocais alternativas; Grupo Msica
Nova
Abstract: Vocal Music from Grupo Msica Nova of So Paulo: the singers vocal technique
challenges. Vocal techniques problems to perform these music will be analysed. Sugestion of
rehearsal techniques and vocal exercises that will help singers to prepare the repertorie.
Theoretical study. The hoped result will be to facilite the choice, prepare and execution of
experimental vocal music among Brazilian singers.
Os compositores de msica vocal do sculo XX foram expostos a numerosas
influncias, fato que se percebe claramente atravs da enumerao das principais
correntes estticas musicais do perodo: ps romantismo, neoclassicismo, atonalismo,
dodecafonismo, msica aleatria, msica eletrnica, minimalismo, influncias
histricas, influncias folclricas, influncias de msicas exticas e da msica popular,
entre outras.
Sujeitos um grande leque de possibilidades estticas, os compositores podem ser
agrupados em trs grandes grupos, que apresentam grande flexibilidade: os
compositores conservadores, inspirados pelos modelos histricos; os progressivos, que
mostram uma preocupao com o novo, integrando novos instrumentos de composio,
mas sem realmente fazer grandes quebras com a tradio de composio estabelecida; e
os radicais, que adotam novas solues sonoras com conforto.
A cadeia de compositores radicais do sculo XX tem em Schoenberg um dos seus
fundadores, a partir da instituio do dodecafonismo no incio do sculo. A partir da
base de Schoenberg outros compositores como Milton Babbitt, Pierre Boulez, Olivier
2
Messiaen desenvolveram tcnicas de composio evolutivas, como o serialismo
integral. John Cage na dcada de 1950 foi responsvel pela aceitao em larga escala de
elementos de indeterminao na msica. Seu Credo de 1937 apontava que msica
uma organizao do som, e definia som da maneira mais ampla possvel, abraando
todos os tipos de rudos tanto quanto eventos musicais tradicionais. Cage tambm
advertia que a notao musical convencional era inadequada para integrar todo o leque
de sons disponveis ao compositor em suas obras. John Cage fez seguidores nos
Estados Unidos (Earle Brown, Morton Feldman, entre outros) e atingiu a produo de
compositores europeus fiis do serialismo integral, como Pierre Boulez e Karlheinz
Stockhausen. A tendncia a pensar a msica atravs dos seus atributos sonoros totais
msica textural - ao invs de uma acumulao de detalhes individuais nasce no final da
dcada de 1950 nas mentes de Krzysztof Penderecki e Gyrgy Ligeti. J Iannis Xenakis
tentou uma sntese das tendncias de serialismo e indeterminncia no que chamou de
msica estoctica msica indeterminada em seus detalhes mas tendendo a um objetivo
bem definido.
Em terras brasileiras, a oxigenao do pensamento musical em meados do sculo
XX teve em Hans Joaquim Koellreutter um laborioso colaborador. Flautista e regente
alemo, Koellreutter instalou-se como professor no Brasil, e com seus alunos criou o
Grupo Msica Viva que seguia de perto o movimento musical contemporneo.
Koellreutter pregava a libertao da msica de amarras externas e baseava a lgica do
idioma musical da sua prpria substncia musical. A tcnica dodecafnica foi
introduzida no estudo dos alunos, muito mais como exerccio para uma melhor
organizao mental do que um sinal de escolha esttica. Da necessidade de conciliar a
comunicao com o pblico brasileiro e a aplicao da tcnica dodecafnica surge uma
busca de um novo equilbrio por parte dos compositores orientados por Koelrreutter.
Alm da presena do Grupo Msica Viva no cenrio brasileiro, alguns compositores
viajaram Europa nas dcadas de 50 e 60 para participar de Festivais de Msica. O
famoso Festival de Darmstadt na Alemanha, centro da msica nova universal da poca,
foi freqentado por jovens compositores brasileiros que tinham l contato direto com os
compositores mais inovadores da poca. Em 1959 Damiano Cozzella esteve l,
trazendo algumas partituras que foram depois estudadas por outros compositores
3
brasileiros. De 1962 a 1968 Gilberto Mendes freqentou como bolsista cursos de frias
em Darmstadt, estudando composio com Henri Pousseur, Pierre Boulez e Karlheinz
Stockhausen.
Unidos em torno da convico em novos preceitos de composio musical, quatro
compositores paulistas formaram o Grupo Msica Nova. Com base em So Paulo,
este grupo despontou a partir de 1961 como o representante maior na cultura brasileira
da esttica neodadasta e da experimentao aleatria no campo musical. Os quatro
compositores participantes do grupo Damiano Cozzella (1929 - ), Willy Correa de
Oliveira (1938- ), Gilberto Mendes (1922- ) e Rogrio Duprat (1932- )- fizeram uma
opo esttica pela independncia da criao musical e pela abertura a todas as
possibilidades do mundo sonoro. Sons inslitos so usados em suas obras, causando
surpresa e impacto. Segundo Neves
1
, na produo musical dos compositores do
Msica Nova, os aspectos aleatrio so ou a base nica para a formao de variantes
permutveis, ou se encaixam em peas de estrutura mais tradicional.
O manifesto Por uma nova msica brasileira, publicado pelo Grupo Msica Nova
em 1963 na revista Inveno explica a orientao daqueles compositores: busca de
compromisso total com o mundo contemporneo; opo pelo concretismo; reviso do
passado musical, aproveitando aquilo que possa ser usado para dar soluo aos
problemas atuais, viso da msica como uma arte coletiva por excelncia, definio de
msica nova como uma linguagem direta usando os variados aspectos da realidade,
aceitao dos elementos indeterminados; o acaso controlado da construo do objetivo;
recolocao do problema da construo e da estruturao como processo dinmico, no
como reflexo de posicionamento lgico-didtico; desejo de libertar a cultura brasileira
das travas intra-estruturais e das super estruturas ideolgicos culturais.
O Grupo Msica Nova atuou de forma intensa no cenrio brasileiro durante as
dcadas de 60 e 70, atento `as suas prprias premissas de renovao musical, at o
momento em que se desestruturou e cada membro do grupo seguiu um caminho prprio
e individual. O estudo das peas vocais do grupo parece apropriado para um estudo de
como os compositores brasileiros que de alguma forma se encaixam no rtulo de
1
NEVES, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira.So Paulo: Ricordi Brasileira, 1981.
4
radicais lidaram com o texto em portugus em obras que de alguma forma mereceriam
o rtulo de experimental.
Na anlise das obras vocais do Grupo Msica Nova a contribuio da poesia
concreta de autores como Haroldo e Augusto de Campos, alm de Dcio Pignatari e
outros significativa. A propagao desta poesia de vanguarda desenvolveu-se em
torno da revista-livro Noigandres de 1952 a 1962, e depois atravs da publicao da
revista Inveno. Tamanha a sintonia entre aqueles poetas e os compositores do grupo
musical que, conforme j dito antes, o manifesto em favor da msica nova foi publicado
justamente na revista Inveno, subsidiada pelos poetas. A poesia concreta se
caracterizou no primeiro momento pela distribuio fragmentria do poema na pgina,
formando uma imagem indissocivel do prprio contedo da mesma. Em resposta
essas poesias onde o prprio contedo semntico muitas vezes reconstrudo, os
compositores procuraram tambm a resignificao do gesto sonoro habitual, dando
origem a procedimentos vocais muitas vezes extremamente individuais.
A produo vocal do grupo em sua maioria no publicada, permanecendo em
grande parte ignorada aps a estria que marca seu surgimento (quando teve realmente
a sorte de uma primeira performance). Sobre esse aspecto, Neves comenta: Como a
fora de impacto do inslito se dilui facilmente, grande parte da produo desta corrente
musical no suporta um segundo contato. Pouco acessvel aos cantores, estas
composies tambm sofrem rejeio por muitas vezes usarem notao e linguagem
musical no tradicional, ou por pedirem aos cantores aes vocais no previstas nos
estudos de canto usuais.
O presente estudo tem por objetivo, a partir de uma base conceitual, analisar parte
da obra vocal solo dos compositores do grupo Msica Nova do ponto de vista do cantor
intrprete. As dificuldades tcnicas encontradas sero o ponto de partida para o
desenvolvimento de estratgias de aprendizagem que facilitem a performance do
repertrio em estudo.
A produo vocal do Grupo Msica Nova tem tido o mesmo destino de centenas
de outras canes brasileiras do ltimo sculo: permanecem ignoradas at mesmo dos
profissionais a que so destinados: os cantores. As peas estruturadas a partir de
5
idiomas contemporneos parecem ser excludas do repertrio, pelo simples fato de que
sua decodificao e estudo permanecem como atividades misteriosas aos cantores.
Diante da distncia que se observa entre a atividade composicional do criador
erudito de hoje e os ouvintes, parece oportuno propiciar situaes de reflexo sobre essa
realidade. No que toca msica vocal, analisar as dificuldades tcnicas e propor
estratgias de ao perante os problemas parece ser a melhor maneira de integrar esse
repertrio prtica didtica e de performance.
A histria recente mostra que alguns cantores e mesmo algumas associaes de
canto sugeriram que a produo de sons vocais no tradicionais poderia perturbar a
sade vocal e fsica do cantor. Passado algumas dcadas de convivncia com os mais
diferentes sons produzidos pelo aparelho vocal humano, tal posio no mais se
sustenta. Higginbotham
2
depois de ter entrevistado vrios cantores experientes em
repertrio contemporneo aponta que estes cantores afirmaram que longe de prejudicar
a voz, os desafios vocais, intelectuais e a imaginao necessria para a performance da
msica moderna facilitou sobremaneira a performance do repertrio tradicional.
desejvel que os cantores passem a cantar no s a msica popular contempornea, mas
tambm a msica erudita experimental.
1. OBJETIVO GERAL:
Analisar a produo vocal do Grupo Msica Nova com o objetivo de verificar
problemas de performance apresentados aos cantores e os procedimentos de tcnica
vocal e outras estratgias de aprendizagem necessrios para sua execuo.
OBJETIVO ESPECFICO:
1. Pesquisar o pensamento dos compositores do Grupo Msica Nova no que diz
respeito escrita vocal, e as semelhanas e diferenas entre os quatro compositores.
2. Estudar a relao texto-msica na obra vocal dos compositores do Msica Nova.
3. Anlise da estrutura musical e da linguagem usada para criar as peas vocais.
4. Analisar as dificuldades tcnicas na execuo da obra vocal de Gilberto Mendes,
Willy Correa de Oliveira, Damiano Cozzella e Rogrio Duprat. Sero analisadas as
2
HIGGINBOTAHM, Diane. Performance Problems In Contemporary Vocal Music and Some Suggested
Solutions. New York: Columbia University, 1994.
6
dificuldades meldicas, rtmicas, harmnicas, articulatrias, timbrsticas, entre
outras.
5. Estudar estratgias tcnicas para superar as dificuldades diagnosticadas nas
propostas musicais dos compositores.
2. PROCEDIMENTOS METODOLGICOS/ MTODOS E TCNICAS
A pesquisa constituir de uma srie consecutiva de aes. A primeira fase implica um
estudo histrico e contextual a respeito da atuao do Grupo Msica Nova e de seus
conceitos em relao a produo de msica vocal. A segunda fase implica na coleta das
partituras e gravaes disponveis das composies em instituies que apresentem
essas obras em seu acervo, como o Ncleo de Msica Contempornea da UEL,
Biblioteca da ECA na USP, CDMC em Campinas, Bibliotecas particulares, Centro
Vergueiro em So Paulo, Biblioteca Nacional e outros. Os prprios compositores
podero ser contatados com vistas a obteno do material necessrio a esta pesquisa.
A prxima fase um trabalho de anlise de como a voz explorada em cada pea
individualmente.
A fase seguinte prev a criao de estratgias tcnicas para que o cantor possa
vencer os obstculos observados atravs da anlise. Colocados lado a lado a dificuldade
vocal e a receita para super-la, o trabalho cumpre sua finalidade ltima de facilitar a
incorporao daquele repertrio vocal na msica de concerto vigente.
3. CONTRIBUIES ESPERADAS
1- Promover uma reflexo sobre a msica vocal contempornea, visando proporcionar
um enriquecimento no desempenho musical e intelectual dos cantores que tiverem
acesso pesquisa.
2- Abrir novas perspectivas de integrao da msica vocal contempornea como um
todo no repertrio vocal dos cantores, atravs do levantamento de dados sobre a
dificuldade tcnica da produo vocal dos compositores integrantes do Grupo
Msica Nova.
7
3- Propor solues para os problemas vocais encontrados para a execuo da msica
vocal dos compositores integrantes do Grupo Msica Nova, de maneira a facilitar
o acesso e a deciso dos cantores a execut-las.
4- Produo de artigos e comunicaes a serem submetidos em congressos e
publicaes especializadas na rea de msica e na sub-rea de voz.
4. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
-NEVES, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira. 1. Ed. So Paulo: Ricordi
Brasileira, 1981.
-HIGGINBOTHAM, Diane. Performance Problems in Contemporary Vocal Music
and Some Suggested Solutions. New York, 1994. Dissertao (Doutorado em
Educao) Columbia University.
-MARIZ, Vasco. A Cano Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira,
1985.
-MENDES, Gilberto. Msica Moderna Brasileira e suas implicaes de esquerda.
Revista Msica, So Paulo: ECA-USP, vol. 2, n. 1, p. 37-42, maio 1991.
-______________. Uma odissia musical dos mares do sul elegncia pop/art
dco. So Paulo: Edusp, 1994.
-SQUEFF, nio. Giz negro e gouache: Egon Schiele. Revista Msica, So Paulo:
ECA-USP, vol. 4, n. 2, p. 219-234, nov. 1993.
-TARCHA, Carlos. A viso caleidoscpica de O pente de Istambul, de Gilberto
Mendes. Revista Msica, So Paulo: ECA-USP, vol. 3, n. 1, p. 82-101, maio
1992.
8
-MARIZ, Vasco. Figuras da Msica Brasileira Contempornea. Braslia:
Universidade de Braslia, 1970.
-ABDO, Sandra Neves. Msica Contempornea e Educao Musical: contradies e
dificuldades de uma situao paradoxal. Msica Revista de Pesquisa Musical, Belo
Horizonte: UFMG, n. 2, 1994.
-SALGADO, Antonio Gabriel Castro Correia. Contributo para a Formao do Cantor
Profissional. Fundamentos da Educao Musical, Salvador: ABEM, srie 4, p.
151-155, Out. 1998.
-FREIRE, Vanda Lima Bellard. A Histria da Msica em Questo - uma Reflexo
Metodolgica. Fundamentos da Educao Musical Salvador: ABEM, srie 2,
jun. 1994.
-CAMPOS, Haroldo. Ruptura dos Gneros na Literatura Latino-Americana. So
Paulo: Perspectiva, 1977.
- FRIEDMANN, Michael. Ear Training for Twentieth-Century Music. Chelsea,
- Michigan: Yale University Press, 1990.
-
- GRIFFITHS, Paul. A Msica Moderna. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1993.
-
- ________________. Aleatory. The New Grove Dictionary of Music &
Musicians. Stanley Sadie, ed.. VI edition, vol. 1, pag. 237-242, 1980.
-________________. John Cage Study of Composer. New York: Oxford, 1981.
-
- GASPAR, Marina Monarcha. As exigncias tcnicas de Msica Contempornea
- para o intrprete cantor. Dissertao de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ,
- 1993.
9
-
- MORGAN, Robert P. Twentieth-Century Music. New York: Norton, 1991.
-
- LEBRECHT, Norman. The Companion to 20
th
Century Music. New York: Da
- Capo Press, 1996.
-
- MOVIMENTO Msica Nova. Caderno de Msica, So Paulo: Federao
- Paulista de Conjuntos Corais, n. 8, p. 4-9, dez. 1981.
-
- OLIVEIRA, Jocy de. Msica Experimental ainda existe? Brasiliana, Rio de
- Janeiro, p. 18-23, maio 1999.
-
- BAGGECH, Melody. I Cant Learn That!: Dispelling the Myths of
- Contemporary Music. Journal of Singing, vol. 56, n. 3, p. 13-22, jan/fev 2000.
-
- HIRST, Linda e David Wright. Alternative voices: contemporary vocal techniques.
- In: POTTER, John. The Cambridge Company to Singing. 1. Ed. New York:
- Cambridge, 2000. P. 192-202.
DELONE, Richard et al. Aspects of 2Oth. Century Music. New York: Prentice-Hall,
1975.
Sintonizando Custdio Mesquita
Hermilson Garcia do Nascimento
Universidade Federal de Uberlndia (UFU)
budi@demac.ufu.br
Resumo: A msica brasileira popular forma um campo complexo e atraente a um crescente nmero
de pesquisadores. A importncia da cano como fenmeno polidimensional aponta vrias questes
para investigao, particularmente o seu processo de transformaes estilsticas. Custdio Mesquita
foi um compositor fortemente inserido nesse processo, produzindo importantes antecedentes
musicais da Bossa Nova, que tida como marco divisor entre tradio e modernidade na cano
popular do Brasil. Atravs de um minucioso exame de cento e dez canes do compositor lanadas
entre 1932 e 1949, com nfase na substncia musical e em especial no texto meldico/harmnico
pudemos encontrar significativos exemplos de uma criao expansiva, com sofisticadas escolhas
configurando um comportamento, frente a modelos de uma prtica musical um tanto fechada a
experimentaes, que vem qualificar Custdio como um dos modernizadores da msica popular
radiofonizada. Trata-se de uma postura que, para ser melhor evidenciada, demanda uma mais clara
delimitao do campo de expresses aceitas no universo da cano.
Palavras-chave: Mesquita, Custdio; msica popular Brasil; msica: anlise e apreciao.
Abstract: Popular Brazilian music has become a complex and attractive area for an increasing
number of researchers. The importance of song as a polidimensional phenomena brings out various
questions for investigation, particularly in the process of stylistic transformations. Custdio
Mesquita was a very important composer representative of this process, producing many important
musical antecedents in the Bossa Nova, wich was marked as a divider between tradicional and
modern Brasilian popular songs. Trough a closer look at one hundred and ten composer's songs that
came out between 1932 and 1949, with and enphasis on musical substance - and special attention on
the text, melody and harmony - one will find significant examples of an expansive creation, in front
of musical practice models wich are closed to experimentations. This is the reason Custdio became
known as a 'modernizer' of Brazilian popular music made known on the radio. That kind of
behavior indicates a critical posture, that in order to be shown better, demands a clearer delineation
in the area of musical expressions accepted in the song universe.
Keywords: Mesquita, Custdio; Brazilian popular music; music: analysis and appreciation.
O presente texto traz um breve relato de pesquisa, realizada entre 1999 e 2001 e
culminando com a dissertao intitulada Custdio Mesquita: O que o Seu Piano Revelou,
na qual nos dedicamos a aprofundar certas questes sobre a msica popular feita no Brasil
em meados do sculo passado. A msica popular configura um complexo e vasto campo de
investigao cada vez mais atraente e capaz de reunir pesquisadores de diferentes reas,
voltados a propsitos os mais variados, em torno de seus ricos temas e problemas. A
produo brasileira est entre as mais importantes manifestaes dessa riqueza sendo, a
nosso ver, muitssimo variada e ainda pouqussimo explorada. Muito ainda deve-se,
tambm, caminhar no sentido de incentivar uma produtiva integrao dos muitos interesses
de pesquisa acima aludidos, dentre os quais podemos destacar o esttico, o social, o
histrico, o comunicacional e obviamente o potico. A especificamente se insere o
presente trabalho, por advir da observao do msico, sem contudo evitar o trnsito entre os
demais focos, entendendo que so complementares entre si.
O processo de transformaes estilsticas da cano popular brasileira, entre tantos,
nos parece ser um tema recorrente, bem como um dos mais complexos e atraentes.
Algumas idias acerca desse processo parecem convergir para um ponto. Freqentemente
confirmada a noo de que a Bossa Nova representa um marco divisor entre a tradio e a
modernidade de nossa msica popular, particularmente a cano. Como figuras centrais
desse momento musical vemos reiterados os nomes de Joo Gilberto e Antnio Carlos
Jobim. Buscando um maior aprofundamento no estudo de Jobim e sua obra, fomos por ele
apresentados a Custdio Mesquita, por meio do editor de suas canes e temas
instrumentais em formato songbook. Em entrevista concedida a Almir Chediak, Jobim
revelou suas preferncias, no incio da carreira, por compositores populares do Brasil, se
dizendo "[...] apaixonado por Custdio Mesquita, um sujeito muito adiantado para a poca
dele [...]" (Chediak, 1990, p. 10 vol. 2). Em busca dos antecedentes musicais de Jobim e
diante de um comentrio dessa espcie sobre 'esse tal de Mesquita', pusemo-nos a digerir
cuidadosamente sua obra completa
1
, da qual noticivamos apenas a existncia de Saia do
Caminho (Custdio Mesquita/Evaldo Ruy), Mulher (Custdio Mesquita/Sadi Cabral) e
Nada Alm (Custdio Mesquita/Mrio Lago), esta ltima consistindo em uma das mais bem
sucedidas pginas escritas pelo compositor. Havia ainda uma pista: Noturno em tempo de
samba (Custdio Mesquita/Evaldo Ruy), destacada por Srgio Cabral por ser uma msica
com a harmonia to sofisticada "como poucas vezes, em qualquer tempo" (Cabral, 1997, p.
132) se fizera.
Quando do minucioso exame das cento e dez msica encontradas notamos um dado
curioso. Diferentemente de Jobim ou Johnny Alf, tambm apontado com precursor da
1
Ao final da referida dissertao h uma discografia em anexo, em forma de tabela, com informao de ttulo,
autor(es), gnero, intrprete, nmero do disco e data, transcrita de um impresso que acompanha os seis
volumes em cassete da Collectors Custdio Mesquita obra completa, em gravaes originais (primeiro
lanamento da msica) utilizadas para a pesquisa.
Bossa Nova, no encontramos nenhuma gravao de pea instrumental, nem mesmo a
informao de que Custdio tivesse composto alguma. O artista, que "[...] se fazia
conhecido como compositor, ator de teatro e cinema, diretor artstico da RCA", se firmou
plenamente como msico popular, era um timo pianista, mas se dedicou com
exclusividade ao feitio de canes, umas mais outras menos radiofonizveis. Possivelmente
o ento crescente interesse por discos cantados a partir do sistema eltrico de gravao,
aliado ao fato de serem principalmente o Teatro de Revista e o Cinema importantes
veculos de divulgao das canes da poca alm, obviamente, do rdio, tenha motivado
essa preferncia de Custdio. De qualquer maneira, esse fato nos exigiu uma especial
ateno para com esse fenmeno polidimensional, que vai muito alm do binmio
msica/letra, chamando ateno para a ineficcia de sua compreenso como binmio
melodia/letra, at porque "...a prpria msica algo de sincrtico dentro da cano" (Morin,
1973, p. 145). Todavia a complexidade do tema cano nos incita uma abordagem futura,
num trabalho parte, e nos desobrigamos de avanar, no momento, para alm dessa
simples constatao.
Outro aspecto muitssimo interessante que emergiu da apreciao da obra musical
de Mesquita foi o fato de ela se concentrar em quatro frentes distintas, que talvez reflitam
os mais difundidos gneros rtmicos da indstria fonogrfica brasileira, poca ainda
pouco segmentada: marchinhas, sambas, valsas e foxes. A primeira criao de Custdio e
Evaldo Ruy, seu assduo parceiro da fase final, foi lanada pelo cantor Carlos Roberto em
abril de 1943 Pra que Viver? sendo o nico bolero de autoria de Mesquita. Nas
referncias encontradas quanto aos gneros das msicas, constam sete que so apresentadas
genericamente como cano. Casa de Sopapo, de Mesquita e Luiz Peixoto (em verdade um
samba) apresentada como embolada e ainda h dois choros, Quem ? com Joracy
Camargo e Mentirosa com Mrio Lago. Apenas dez das cento e dez msicas pesquisadas
so portanto, digamos excepcionais, pois as demais cem msicas esto concentradas em
quatro grandes vertentes: a) as marchinhas, com vinte e seis registros; b) os sambas,
incluindo o Casa de Sopapo, so a maioria trinta e nove composies, entre as quais h
registros de cinco sambas-cano e um samba-choro; c) tambm numerosas, figuram as
valsas ao todo dezessete; d) dezoito so os foxes, apresentados ora simplesmente como
fox (6), ora como fox-cano (10), ou ainda fox-trot (1) e fox-blue (1). Para uma melhor
visualizao:
Tabela1: produo de Custdio Mesquita em gneros musicais
marchinhas sambas valsas foxes
26 39 17 18
Diante dessas quatro estaes radiofnicas pudemos alcanar uma escuta
panormica da obra de Custdio Mesquita, nos distintos momentos criativos de sua
carreira. Seu primeiro encontro com o sucesso se deu com a marcha Se a Lua Contasse,
seguido por uma produo voltada principalmente para o repertrio de meio de ano. Desta
maneira nos lanamos na apreciao de sua obra com a implcita tarefa de encontrar o
particular acento desse compositor romntico e sentimental (Barros, 1995, p. 119).
Uma extensa produo de marchas principalmente voltadas para o carnaval, de sambas de
meio de ano, de valsas (tambm aquelas sete canes referidas h pouco) e foxes, aponta
para uma difcil possibilidade. Investirmos na tentativa de conceituar o campo de
expresses aceitas em cada um desses gneros, seus procedimentos caractersticos,
comparando diferentes autores e pocas, colhendo elementos nos mais variados parmetros
- ritmo, harmonia/melodia, timbre, inflexes - no intuito de poder melhor avaliar a
contribuio de cantores, compositores, arranjadores e instrumentistas no j referido
processo de transformaes dessas prticas musicais. Assim, obtendo tambm os contra-
exemplos da excepcionalidade, poderamos melhor compreender como a postura de
Custdio, frente aos modelos operacionais disponveis a cada gnero, vem qualifica-lo
como um dos 'modernizadores' de nossa msica popular.
Ao introduzir as consideraes que entendemos serem pertinentes tendo como ponto
de escuta a noo de expanso do campo potico, torna-se necessrio discerni-la.
Entendemos tal expanso, ou 'modernizao', como o ato de caminhar nos limites de um
paradigma, "equilibrando-se no fio da navalha, correndo riscos", utilizando procedimentos
que produzem tenses no vocabulrio da cano, impulsionando sua incorporao e assim,
ampliando-o. Tais opes musicais so detectadas por saltarem ao ouvido, ganhando uma
relevncia que s pode ser evidenciada diante da comparao com a prtica regular, a qual
reflete uma espcie de nvel mdio da concepo musical vigente em um meio criativo. O
termo expanso pode traduzir o efeito de crescimento - "ampliao e/ou mutao dos
modelos de um campo de realizaes que a cano forma e possibilita, em seu contexto"
(Nascimento, 2001, p. 24). Como caminho de apreciao, portanto, tentamos proceder o
que seria uma fenomenologia comunicacional, para a qual o ponto de partida seria o fato
sonoro, inteiro, polidimensional e necessariamente mondico, apreendido como um campo
no qual so impressas tenses ou conformaes no discurso, atravs do qual compositor (e,
claro, cantor, instrumentista, arranjador...) e pblico dialogam. Procuramos manter o foco
na recepo desses fenmenos sonoros, no s pelo rdio-ouvinte mas sobretudo o msico
ouvinte. Afinal, o que faz uma msica difcil de cantar? Dificilmente a letra. A resposta
parece estar justamente nesse alto relevo que a camada musical da cano eventualmente
configura, na salincia de seu curso.
Por tudo o acima exposto cabe dizer que as anlises includas no trabalho seguem
efetivamente a propsitos pontuais, urgncias oriundas da escuta, evitando outrossim a
sobreposio do instrumento de anlise ao objeto musical vivo. Portanto, por vezes so
apontados elementos de forma, outras de sintaxe tonal, ou do composto letra-msica e
mesmo as escolhas de arranjo/orquestrao, intervenes instrumentais/vocais enfim, todos
os elementos de enunciao da cano, de acordo com as qualidades de sua apresentao.
Essa, via de regra, foi a metodologia adotada para o reconhecimento da obra de Mesquita
como um todo, apoiada no posicionamento particular do autor frente a cada um dos gneros
musicais adotados. A necessidade de conservar a integridade fsica de pelo menos uma ou
melhor, duas canes do compositor, nos motivou a proceder uma anlise formal digamos
mais completa de Mulher e Noturno, a primeira pelo equilbrio e unidade como cano e a
segunda pela exuberncia do plano harmnico/meldico. O detalhamento dessas anlises
formais no nos inibiu de promover uma leitura relativizada dos elementos musicais, rumo
ao encontro da integrao msica-letra, to desejada e indispensvel compreenso do
fenmeno cano como algo amplo e, antes de tudo, capaz de representar e comunicar.
que na cano, a despeito do contedo semntico da letra, se verifica "[...] uma ntida
preponderncia da informao esttica; a informao semntica constitui [...] apenas uma
espcie de suporte material em que se apoia a inteligncia" (Moles, 1978, p. 200). Era
justamente essa noo musical de inteligncia que tnhamos em mente, quando nos
propusemos a identifica-la nas criaes de Custdio Mesquita.
J que os limites deste artigo no nos permitem servir il primo piato, vamos ento
direto a Noturno em tempo de samba (Custdio Mesquita/Evaldo Ruy). Vrias
composies analisadas ao longo do trabalho nos do amostras da sofisticao do "jogo
harmnico" (Severiano e Mello, 1997, p. 188) do compositor, mas nenhuma to
contundente quanto nos d o Noturno, composto ainda em 1937 ao piano da SBAT. Mrio
Lago, em depoimento a Orlando de Barros, disse que presenciou a criao da msica,
achou-a estranha e, convidado por Custdio a por letra nela, foi franco e disse "que se
tratava de material para uma sute erudita". J o maestro Guerra Peixe afirmou ao mesmo
pesquisador que "Considerava Noturno a mais moderna cano popular que ouvira em toda
a vida" (Barros, 1995, p. 126). Mesmo havendo a algum exagero, esse samba emblemtico
merece meno e, neste caso, o melhor mtodo sua apresentao por meio de uma
partitura mista de songbook e de mapa da anlise harmnico-meldica, um recurso
econmico usado a fim de evitar um prolongado mergulho tcnico. As notas meldicas (ou
auxiliares) esto implcitas, foram indicadas apenas as notas 'reais', assim como na
harmonia s os graus aparecem, incluindo o tipo s quando este implicar em alguma
alterao do campo harmnico primrio. Nas modulaes os novos tons so indicados por
cifras enclausuradas. Entre os compassos 35 e 38 nota-se uma passagem sem anlise sobre
a qual, no corpo da dissertao, h uma digresso. um bom exemplo, tanto da ousadia
musical de Custdio, quanto da impertinncia de uma anlise meramente harmnica num
contexto interpretativo mais amplo, do que a cano no parece prescindir. Da o fato de
no incluirmos aqui um simples esboo do que foi abordado no corpo da dissertao, sem
uma devida contextualizao. A figura 1 , portanto, mais uma 'sntese' da anlise do que
esta propriamente. Mesmo assim, bom apetite!
Figura 1: anlise harmnica e meldica de Noturno
BIBLIOGRAFIA
Livros:
BARBOSA, Valdinha; DEVOS, Anne Marie. Radams Gnattali; o eterno experimentador. Rio de Janeiro:
FUNARTE, 1984.
BARROS, Orlando de. Custdio Mesquita, um compositor romntico o entretenimento, a cano
sentimental e a poltica no tempo de Vargas (1930-1945), Tese de Doutorado. So Paulo: FFLCH/USP, 1995.
BAS, Julio. Tratado de la Forma Musical, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1947.
BENNET, Roy. Forma e Estrutura na Msica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986
BERENDT, Joachim E. O Jazz do Rag ao Rock trad. Julio Medaglia. So Paulo: Perspectiva, 1987.
BERKLEE Correspondence Course - Arranging.
BERRY, Wallace. Structural Functions in Music. Mineola: Dover, 1987.
CABRAL, Srgio. Antnio Carlos Jobim - uma biografia. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997.
CARRASCO, Claudiney. Sigkronos: A Formao da Potica musical do Cinema, Tese de Doutorado. So
Paulo: ECA/USP, 1998.
CASELLA, Alfredo. La Tecnica de la Orquesta Contemporanea. Milano: Ricordi, 1950.
CASTRO, Ruy. Chega de Saudade. So Paulo, Companhia das Letras: 1990.
CAZES, Henrique. Choro: Do Quintal ao Municipal. So Paulo: 34, 1998.
COKER, Jerry. Improvising Jazz. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964.
COOK, Nicholas. A guide to musical analysis. New York: Norton & Company, 1992.
DAVIS, Flora. A Comunicao No Verbal trad. Antonio Dimas. So Paulo: Summus, 1979.
DAVIS, Miles; TROUPE, Quincy. Miles Davis: A Autobiografia trad. Marcos Santarrita, Rio de Janeiro:
Campus, 1991.
DELAMONT Gordon. Modern arranging technique. New York: Kendor Music, 1965.
DORT, Bernard. O Teatro e Sua Realidade trad. Fernando Peixoto. So Paulo: Perspectiva, 1977.
ECO, Umberto. Apocalpticos e Integrados trad. Prola de Carvalho. So Paulo: Perspectiva, 1987.
FREITAS, Srgio P. Ribeiro de. Teoria da Harmonia da Msica Popular: uma definio das relaes de
combinao entre os acordes na harmonia tonal. Dissertao de Mestrado. So Paulo: IA/UNESP, 1995.
GOMES, Bruno. Custdio Mesquita; prazer em conhec-lo. Rio de Janeiro: FUNARTE (Col. MPB) 1986.
_______. Wilson Batista e sua poca. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1985.
GRIDLEY, Mark. Jazz Styles: History and Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1988.
GUEST, Ian. Arranjo, mtodo prtico, volumes 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
HALEY, Michael C. The Semeiosis of Poetic Metaphor. Texas: Indiana University Press, 1988. [As Semioses
da Metfora Potica] Resenha de Nadja de Moura Carvalho.
HINDEMITH, Paul. Harmonia tradicional. 1 e 2 volumes. So Paulo: Vitale, 1949.
JAKOBSON, Roman. Lingstica e Comunicao trad. Izidoro Blikstein e Jos Paulo Paes. So Paulo:
Cultirx, s/ data.
KATZ, Chaim; DORIA Francisco; LIMA, Luiz. Dicionrio Bsico de Comunicao. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1975.
KIEFER, Bruno. A modinha e o lundu, duas razes da msica popular brasileira. Porto Alegre: Movimento,
1977.
LAGO, Mrio. Na rolana do tempo. Rio de Janeiro: Ed. Civilizao Brasileira, 1976.
LENHARO, Alcir. Cantores do rdio A trajetria de Nora Ney e Jorge Goulart e o meio artstico de seu
tempo. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1995.
MARCONDES, Marcos Antnio (org.). Enciclopdia da msica brasileira: erudita, folclrica e popular 2.
ed., rev. ampl. So Paulo: Art Editora, 1998.
MARCUSE, Herbert. Eros e Civilizao. Rio de Janeiro: Zahar, 1968.
MXIMO, Joo; DIDIER, Carlos. Noel Rosa: Uma Biografia, Braslia: Editora da UnB, 1990.
McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicao como extenses do homem. Trad. Dcio Pignatari. So
Paulo: Cultrix, 1979, p. 309-318.
MELLO, Jos Eduardo Homem de. Msica Popular Brasileira. So Paulo: Melhoramentos, 1976.
MOLES, Abraham A. A criao cientfica. So Paulo: EdUSP, 1971.
_______. Teoria da informao e percepo esttica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
NASCIMENTO, Hermilson G. do. Custdio Mesquita: o Que o Seu Piano Revelou. Dissertao de Mestrado.
Campinas: IA/UNICAMP, 2001.
NATTIEZ, Jean-Jacques; ECO Umberto; RUWET, Nicolas; MOLINO, Jean. Semiologia da Msica. Lisboa:
Vega, s/ data.
NTH, Winfried. Panorama da semitica: de Plato a Peirce. So Paulo: Annablume, 1995.
________. A semitica no sculo XX. So Paulo: Annablume, 1995.
OLIVER, Paul; HARRISON, Max; BOLCOM, William. Gospel, Blues e Jazz. Porto Alegre: L&PM, 1989.
PEASE, Ted. Workbook for chord scale voicings for arranging. Boston: Berklee.
PEIRCE, Charles. Semitica trad. Jos Teixeira Coelho Neto. So Paulo: Perspectiva, 1999.
PETERFALVI, Jean-Michel. Introduo Psicolingstica trad. Rodolfo Ilari, So Paulo: Cultrix, 1973
PIRES, Filipe. Elementos Tericos de Contraponto e Cnon, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1981.
PLAZA, Julio. Traduo Intersemitica. So Paulo: Perspectiva, 1987.
_______. Mtodos de Criao Apostila de Classe. Campinas: UNICAMP, s/ data.
ROSENFELD, Anatol. O Teatro pico. So Paulo: So Paulo Editora Col. Buriti, 1965.
ROSETTI, A. Introduo Fontica trad. Maria Leonor Carvalho Buesco. Edio portuguesa, Publicaes
Europa-Amrica, 1974.
RUIZ, Roberto. O Teatro de Revista no Brasil: das origens I guerra mundial. Rio de Janeiro: INACEN,
1988.
RUSSEL, George. The Lydian Chromatic Concept. Cambridge: Concept, 1959.
SABLOSKY, Irving. A Msica Norte-Americana trad. Clvis Marques. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
SADIE, Stanley; LATHAM, Alison. Dicionrio Grove de Msica edio concisa, trad. de Eduardo
Francisco Alves Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
SANTAELLA, Lcia. O que Semitica. So Paulo: Brasiliense, 1999.
SAROLDI, Luiz Carlos; MOREIRA, Snia Virgnia. Rdio Nacional; o Brasil em sintonia. Rio de Janeiro:
FUNARTE, 1984.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingstica Geral trad. Antnio Chelini, Jos Paulo Paes e Izidoro
Blikstein. So Paulo: Cultirx, 1971.
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da Composio Musical, So Paulo, EdUSP, 1983.
_______. Tratado de Armona. Madrid: Real Musical, 1979.
SCHULLER, Gunther. Il Jazz Classico. Milano: Arnoldo Mondadori, 1979.
SEBESKY, Don. The contemporary arranging. Sherman Oaks: Alfred Publishing, 1979.
SEVERIANO, Jairo; MELLO, Jos Eduardo Homem de. A cano no tempo: 85 anos de msicas brasileiras
(vol. 1: 1901-1957). So Paulo: 34, 1997.
SODR, Muniz. Samba, o dono do corpo. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.
SOUZA, Trik de; ANDREATO, Elifas. Rostos e Gostos da Msica Popular Brasileira. Porto Alegre:
L&PM, 1979.
STEFANI, Gino. Para Entender a Msica trad. Maria Bethnia Amoroso. Rio de Janeiro: Globo, 1989.
TATIT, Luiz. O cancionista: Composio de canes no Brasil. So Paulo: Edusp, 1996.
TINHORO, Jos Ramos. Pequena histria da msica popular: da modinha cano de protesto.
Petrpolis: Vozes, 1974.
_______. Do Gramofone ao Rdio e TV. So Paulo: tica, 1981.
ULHA, Martha. Philip Tagg interviewed by Martha Ulha, april 1998 (home page de Philip Tagg).
VELLOSO, Mnica. Mrio Lago: boemia e poltica. Rio de Janeiro: Ed. Fundao Getlio Vargas, 1997.
ZAN, Jos Roberto. Do Fundo de Quintal Vanguarda: Contribuio para uma Histria Social da Msica
Popular Brasileira, Tese de Doutorado. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1997.
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: A Literatura medieval. Trad. Amlio Pinheiro e Jerusa Pires Ferreira.
So Paulo: Companhia das Letras, 1993.
Partes de livros (captulos, artigos em coletnea):
DRESSLER, Wolfgang. Interactions Between Iconicity and Other Semiotic Parameters in Language in
Iconicity in Language ed. Raffaele Simone. Amsterdan: John Benjamins Publishing, 1995.
GREIMAS, Algirdas. Os Atuantes, os Atores e as Figuras trad. Jesus Antnio Durigan, in Semitica
Narrativa e Textual. So Paulo: Cultrix, 1977.
LIDOV, David. Music. In Encyclopedic Dictionary of Semiotics, T. Sebeok (ed.), Amsterdam, Berlin, New
York: Mouton de Gruyter, 1986, p. 577-587.
MORIN, Edgar. No se conhece a cano em Linguagem da cultura de massas: Televiso e Cano. Trad.
Sebastio Velasco e Cruz e Hilda Fagundes. Petrpolis: Vozes, 1973.
NATTIEZ, Jean-Jacques. A theory of semiology in Music and Discourse: Towards a Semiology of Music,
trad. de C. Abbate. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Artigos em peridicos:
CONTIER, Arnaldo. Edu Lobo e Carlos Lyra: O nacional e o popular na cano de Protesto (os anos 60).
Revista Brasileira de Histria. So Paulo: v. 18 n 35, 1998.
_______. Modernismos e Brasilidade Msica, utopia e tradio, in NOVAES, A. (org.) Tempo e Histria,
So Paulo: Cia. das Letras, 1992.
GRABCZ, Mrta. La Sonate en si mineur de Listz: une stratgie narrative complexe. Analyse musicale 3
trimestre de 1987, p. 64-70.
KARBUSICKY, Wladimir. The Index Sign in Music. Semiotica 66(1/3), 1987, p. 23-35.
MAMMI, Lorenzo. Joo Gilberto e o projeto utpico da Bossa Nova, em Novos Estudos. So Paulo:
CEBRAP, nov. 1992.
PERRONE, Maria da Conceio. Metodologia da Pesquisa: Anlise Semitica in ART 021 Revista da
Escola de Msica da Universidade Federal da Bahia, dez. 1992.
STEFANI, Gino. A Theory of Musical Competence. Semiotica 66(1/3), 1987, p.7-22.
TAGG, Philip. Musicology and the Semiotics of Popular Music. Semiotica 66(1/3), 1987, p.279-278.
TARASTI, Eero. Some Peircean and Greimasian Concepts as Applied to Music. In The Semiotic Web 1986,
Thomas A. Sebeok and Jean Umiker-Sebeok (eds.), 1987, Amsterdam: Berlin, New York, Mouton de
Gruyter, 1986, p. 445-459.
Trabalhos em anais de eventos cientficos:
MARTINEZ, Jos Luiz. Icons in Music: a Peircean Rationale. Semiotica 110(1/2), 1996, p. 57-86.
_______. A semiotic theory of music: according to a peircean rationale, apresentado em The Sixth
International Conference on Music Signification, Universit de Provence, dezembro 1-5, 1998.
SANTOS, Rafael dos. Anlise e consideraes sobre a execuo dos Choros para Piano Solo Canhoto e
Manhosamente de Radams Gnattali, apresentado no I Seminrio Nacional de Pesquisa em Performance
Musical, Belo Horizonte, 2000.
Por uma anlise (etno)musical: a transcrio
1
Hugo Leonardo Ribeiro
2
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
hugolribeiro@yahoo.com.br
Resumo: Entendendo o uso da transcrio como auxlio compreenso do objeto sonoro, e a
anlise musical como um meio de se chegar a esse objetivo, o presente trabalho teoriza sobre um
dos possveis caminhos para um dos grandes problemas da etnomusicologia. Enfocando a diviso
temporal, em especial o que entendemos por mtrica, e utilizando conceitos propostos por Lerdahl
& Jackendoff no livro A Generative Theory of Tonal Music, procura-se esboar uma anlise para a
transcrio de duas msicas do repertrio do grupo de Taieiras da cidade de Laranjeiras em Sergipe.
Palavras-chave: etnomusicologia, anlise musical, mtrica e ritmo
Abstract: Understanding transcription as a support to comprehend the sonorous object, and musical
analysis as a way to reach this goal, this paper theorizes about a possible solution to one of the
major issues of ethnomusicology. Focusing upon time division, specially what we usually call
meter, and using concepts proposed by Lerdahl & Jackendoff in A Generative Theory of Tonal
Music, this text analyzes the transcription of two songs from the repertoire of the Taieiras from the
city of Laranjeiras in the state of Sergipe, Brazil.
Keywords: ethnomusicology, musical analysis, meter and rhythm.
Introduo
Este artigo aborda problemas tericos que ocupam o pesquisador no delicado
momento da transcrio musical. Ser necessria? O que transcrever? Como transcrever?
Esses questionamentos esto entre os diversos que surgem e que contribuem para uma
diversidade de abordagens que cada vez mais isola os pesquisadores no seio da comunidade
cientfica que constituem.
Sem me aprofundar sobre questes filosficas da transcrio musical e sua
funo na etnomusicologia, pretendo demonstrar como uma abordagem atravs da teoria
cognitiva exposta por Fred Lerdahl e Ray Jackendoff, em seu livro A Generative Theory of
Tonal Music, foi reinterpretada para servir de fundamentao terica transcrio de
1
Este estudo o primeiro de uma srie de artigos que iro abordar a anlise musical na etnomusicologia,
como resultado parcial das pesquisas realizadas durante meu doutoramento em etnomusicologia na UFBA.
Nesta comunicao pretendo apresentar uma parte da minha dissertao de mestrado em etnomusicologia
intitulada Taieiras, mais especificamente o Captulo IV que trata das relaes musicais existentes nos grupos
de Taieiras estudados no Estado de Sergipe.
2
msicas de grupos de Taieiras do Estado de Sergipe, especialmente no que tange noo de
mtrica.
Esses grupos so formados principalmente por mulheres que cantam e danam
em homenagem a So Benedito e Nossa Senhora do Rosrio, quer em datas religiosas, quer
em festas cvicas. O grupo que neste texto responsvel pelos exemplos musicais est
localizado na cidade de Laranjeiras. constitudo praticamente por crianas e adolescentes,
e canta as msicas sem acompanhamento harmnico ou meldico, mas to somente por um
tambor e querequexs tocados pelas integrantes.
Se num dado momento histrico havia a necessidade de se fornecerem
informaes slidas e analisveis para a consolidao da etnomusicologia como
disciplina cientfica (Cf. Ellingson, 1992), as diversas correntes analticas da atualidade
possibilitam liberdade de manejar as informaes de acordo com a finalidade do estudo
desejado. Ao invs de fornecer frmulas prontas, frmas analticas s quais o objeto de
estudo tem de se moldar a fim de se obter resultados racionais, a particularidade de cada
caso que vai guiar a escolha de um mtodo analtico especfico.
Ao mesmo tempo em que se reconhece um conceito amplo e elstico do fazer
musical, no se pode negar a existncia de um modelo de execuo, na qual determinada
msica est baseada. O que vai variar o quanto uma execuo especfica vai se distanciar
desse modelo, e se essa distncia sempre recorrente acaba assimilada, transformando o
modelo original.
Talvez os critrios verbais mais bvios sejam aqueles que so aplicados no
julgamento da execuo musical: existem padres de excelncia em execuo. Tais
padres de excelncia devem estar presentes pois, sem eles (...) nada maneira de
um estilo musical poderia existir.
3
(Merriam, 1964, p. 114)
o estudo do indivduo que ir possibilitar o entendimento desse critrio. No
caso em apreo, so os organizadores dos grupos de Taieiras que iro fornecer as
informaes micas. Estas sero tambm confrontadas com relatos de participantes e
espectadores. Como bem lembra Blacking (1995, p. 160) as mudanas, por exemplo, no
2
Bolsista CNPq.
3
Perhaps the most obvious verbal criteria are those which are applied to judgments of the performance of
music: these are the standards of excellence in performance. Such standards of excellence must be present, for
without them () no such thing as a music style could exist.
3
so causadas por trocas culturais, nem so foras annimas que surgem da sociedade; so
decises de indivduos sobre o fazer musical, com base em suas experincias e atitudes em
relao msica em diferentes contextos sociais.
Isso deve se revelar nas transcries. Apesar de cada apresentao, em termos
fenomenolgicos, ser diferente uma da outra, e a prpria execuo da voz principal
diferenciar-se em certos trechos da resposta do coro, existe um ideal musical que deve estar
representado na transcrio. E aqui possivelmente surgir um primeiro questionamento ao
se constatar o uso de um sistema de notao altamente contextualizada, com nfase em
determinados elementos, em detrimento de outros.
A escolha desse sistema est intimamente relacionada com o pblico alvo da
pesquisa: msicos e musiclogos. A partir dos conceitos elaborados por Seeger (1977, p.
168-81), escolheu-se uma notao prescritiva, que no dever ser, entretanto, entendida
sem seu referente sonoro (disponibilizado em anexo, sempre que possvel), servindo como
auxlio visual ao original sonoro. Dessa forma, para haver uma troca de informaes o mais
transparente possvel, quanto melhor conhecermos os sistemas simblicos utilizados na
comunicao, menor ser o erro de interpretao. No caso, apesar de ser evitada a
organizao da informao musical em compassos, a transcrio sugere, em seu lugar,
divises da estrutura temporal em forma de barra tracejada, a partir de acentos mtricos.
Mas se falar em mtrica geralmente algo raro em textos etnomusicolgicos,
por incitar uma viso etnocntrica do pesquisador por fora da msica de concerto de
tradio europia e detodas suas posteriores ramificaes. Pode-se entend-la e utiliz-la
com desenvoltura, mesmo que o msico pesquisado nunca tenha ouvido falar nesse termo.
Outros conceitos tais como o de time-line, muito utilizado em anlises rtmicas
de msicas africanas e afro-derivadas, ofereceram alternativas velha noo de mtrica
mas, fugir do problema no resolve a questo. Mais frutfero tentar rever como o conceito
de mtrica tem sido explorado por novos tericos, principalmente os que seguem a corrente
cognitiva, e reavaliar seu uso na anlise etnomusicolgica.
Vrios autores tm discutido o assunto, e entre os mais citados podemos
destacar Cooper & Meyer (1960), Kramer (1988), Hasty (1997) e Lerdahl & Jackendoff
(1983). Este ltimo livro ser o ponto de partida, juntamente com o artigo de David
Temperley (2000) para chegar a uma definio e a um uso satisfatrio desse termo.
4
Temperley, baseado em Lerdahl & Jackendoff, faz uma abordagem do universo
rtmico africano de forma generalizada. O mais importante nesse estudo est no fato de
utilizar, em msicas de tradio oral, um mtodo analtico baseado na recepo auditiva do
evento sonoro. Todos os textos anteriores que trataram da mtrica e do ritmo, basearam-se
na literatura musical clssica de tradio europia, tomando como principal objeto de
estudo as respectivas partituras. Lerdahl & Jackendoff respondem por uma inovao ao
desviarem o foco de estudo da notao musical prescritiva para a forma como ouvimos e
percebemos as estruturas mtricas na msica. Como os prprios autores explicam,
Ns assumimos que o objetivo de uma teoria musical seja uma descrio formal
das intuies de um ouvinte que tem vivncia num certo idioma musical (...) a
questo central da teoria musical deveria ser o de explicar essa organizao
produzida na mente. Vista dessa forma, a teoria da msica se acomoda entre as
reas tradicionais da psicologia cognitiva, tais como as teorias da viso e da
linguagem.
4
(Lerdahl, 1983, pp. 1-2)
Seguindo este pensamento, Temperley (2000, pp. 66-7; grifo nosso) procura por
uma nova viso da estrutura mtrica:
Alguns dos principais desenvolvimentos na recente teoria musical tm sido na rea
do ritmo. Entre esses desenvolvimentos tem surgido um novo conceito de mtrica.
De acordo com essa viso, uma estrutura mtrica consiste num sistema de
pulsos ordenados, onde os pulsos so pontos no tempo, no necessariame nte
eventos. A mtrica de uma pea deve ser deduzida dos eventos da pea... mas, uma
vez que a mtrica estabelecida, os eventos da pea no precisam constantemente
refor-la, e podem at mesmo entrar em conflito de certa forma. Neste sentido
uma estrutura mtrica melhor vista como algo na mente do ouvinte, mais do
que estando presente na msica de uma forma direta.
5
4
We take the goal of a theory of music to be a formal description of the musical intuitions of a listener who is
experienced in a musical idiom () the central task of music theory should be to explicate this mentally
produced organization. Seen in this way, music theory takes a place among traditional areas of cognitive
psychology such as theories of vision and language.
5
Some of the major developments in recent music theory have been in the area of rhythm. Among these
developments has been the emergence of a new conception of meter. According to this view, a metrical
structure consists of a framework of rows of beats, where beats are points in time, not necessarily
events. The meter of a piece must be inferred from the events of the piece, but once the meter is
established, the events of the piece need not constantly reinforce it, and may even conflict with it to some
extent. In this sense a metrical structure is best regarded as something in the mind of the listener, rather
than being present in the music in any direct way.
5
Na diferenciao entre mtrica e agrupamentos, Lerdahl (1983, p. 12) define o
primeiro como a forma instintiva que o ouvinte impe, padres de pulsos fortes e fracos
musica, e os ltimos como a organizao natural dos sinais sonoros (motivos, temas, frases
entre outros). Se a estrutura mtrica est presente na mente do ouvinte, portanto, ela est
intimamente relacionada com a decodificao da informao recebida. Esse processo de
interpretao simblica vai depender diretamente da experincia musical do ouvinte, do seu
domnio de certa gramtica musical, e como o receptor vai gerar os signos musicais
mentais. No caso especfico da transcrio musical, some-se ainda o rduo processo de
decodificao desses signos mentais em smbolos visuais.
Ao ouvir o objeto sonoro, a tendncia impor uma mtrica inconsciente, seja
pelo agrupamento de frases meldicas, repeties rtmicas, ou pontos de acento gerados
pelos mais diversos conjuntos de informaes. Lerdahl diferencia trs tipos de acentos:
fenomenal (qualquer evento na superfcie musical que enfatize certo momento musical),
estrutural (pontos harmnicos/meldicos de gravidade numa frase ou seo) e mtrico
(qualquer pulso forte dentro de seu contexto mtrico).
Como observou Temperley (2000, p. 68), um tipo importante de acento
fenomenal est relacionado ao texto, uma vez que na msica vocal h uma forte tendncia
em atrelar slabas tnicas a pulsos fortes, ou seja, prosdia. O incio, ou final de frases
rtmicas/meldicas funcionam como pontos de acento estruturais. Ser a relao entre os
acentos fenomnicos, estruturais e informaes verbais ou visuais obtidas na pesquisa de
campo que definiro o acento mtrico. Como esses acentos sero a base das transcries
feitas, precisam ser bem entendidos.
Observe-se o exemplo a seguir, tirado da msica Em Porto Chegamos. O
primeiro elemento a ser analisado o textual. As duas primeiras frases, so as seguintes:
Em Porto chegamos, em Porto chegamos.
Com passo largo para marchar.
Figura 01
6
A primeira anlise da prosdia sugere acentos fenomnicos nas slabas tnicas.
Em Por-to che-ga-mos, em Por-to che-ga-mos. Com pas-so lar-go pa-ra mar-char.
+ + - - + - + + - - + - + + - + - + - - +
(-) = sem acento
(+) = com acento
Figura 02
Interpretando estes acentos como tendentes a obedecerem a acentos verbais, ou
seja, cada acento verbal corresponder a um pulso forte da estrutura temporal, chegar-se-
aos acentos fenomnicos.
O prximo elemento, aqui representado pela figurao rtmica executada
simultaneamente pelo tambor e pelos querequexs, definir o acento estrutural. A
transcrio reproduz fielmente a execuo, tomando-se como pulso caracterstico as notas
de durao longa, e sua subdiviso ternria.
Figura 03
No preciso muito para perceber uma regularidade rtmica a cada quatro
pulsos (semnima pontuada).
Figura 04
7
Aqui vale uma pequena explanao sobre essa diviso. Neste momento foi
muito importante a interao com os participantes do grupo, pois, ao serem indagados
como era executada essa msica, todos os iniciavam com dois pulsos, seguindo-se sua
diviso ternria, e ao final outro pulso antes de repetir todo o time-line. Dessa forma
qualquer outra forma de diviso estaria errada de um ponto de vista mico.
Seguindo, se forem aferidos acentos estruturais (aqui simbolizados atravs de
pontos acima e abaixo de um eixo virtual os nveis estruturais percebidos) de acordo com o
incio de cada frase rtmica, de forma a escolher um padro estvel em que cada nvel da
estrutura
6
relacione-se com o prximo, ser obtido o seguinte resultado.
Figura 05
No prximo passo deve-se sincronizar a execuo instrumental e vocal de forma
a se relacionar a anlise dos acentos fenomnicos com os acentos estruturais, na msica
executada. A saber:
Figura 06
6
Conferir as Metrical Wel- Formedness Rules (MWFR) definidas por Lerdahl e Jackendoff (Captulo 4) para
um melhor entendimento dos nveis mtricos e suas correlaes.
8
Enfim, na apresentao final da transcrio, lanamos mo de linhas tracejadas
como forma de demarcar possveis acentos mtricos sugeridos pela anlise realizada.
Figura 07 Trecho da transcrio de Em Porto Chegamos
Nesse prximo exemplo, retirado da msica Guia com guia do mesmo grupo,
a polifonia que ocorre entre a voz principal, a resposta do coro infantil, a percusso (tambor
e querequexs) e o toque das espadas nos leva a uma interpretao mtrica diferente.
Novamente tomemos os acentos do texto como ponto de partida:
guia com guia sai um desafio (2x),
Para se encontrar as duas contraguias.
Tai, aju, aju, Jesus, tan, tan, tan, tai.
Figura 08
gui-a com gui-a sai um de-sa-fi-o (2x),
+ + - + + - + + - - + -
Pa-ra se en-con-trar as du-as con-tra-gui-as.
+ - - - - + - + - - - + -
Ta-i, a-ju-, a-ju-, Je-sus, tan, tan, tan, tai-.
- + - - + - - + - + + + + + - +
Figura 09
9
Em seguida h a diviso rtmica executada pelos tambores e querequexs.
Basicamente so dois ostinatos rtmicos:
querequxs querequxs
tambor tambor
Figura 10 Ostinato A Figura 11 Ostinato B
Se dividirmos a msica em duas sees, estrofe e refro, encontraremos o
ostinato A sendo executado como acompanhamento, transformando-se no ostinato B
durante o refro. Alm desses eventos sonoros ainda h o toque das espadas que s
executado durante as estrofes. Como o mesmo executado pelas mesmas integrantes que
tocam o querequex, percebe-se que ele surge no exato momento de maior intervalo entre
um toque do querequex e simultneo ao tambor e o seguinte toque simultneo. Isso ocorre
pois, estando enfileiradas, necessitam de um certo espao de tempo para girar o corpo, bater
a espada contra a espada da outra participante, e retornar sua posio original.
espadas
querequexs
tambor
Figura 12
10
Unindo-se a letra, melodia e ritmo teremos o seguinte exemplo:
Figura 13
No refro, a transcrio no demonstra problemas:
Figura 14
Percebe-se que aqui o ostinato B somente interrompido pelo retorno ao
ostinato A (dois ltimos compassos, circulados). Mas no retorno parte estrfica,
intercalada com a resposta do coro que a relao entre os elementos sonoros se torna mais
efetiva.
11
Figura 15
Mais uma vez retorna-se questo central, que a clareza da comunicao. Ao
utilizar um sistema de notao de pentagramas, com uma interpretao rtmica mensurada,
estamos lanando mo de uma ferramenta notacional amplamente difundida e
compartilhada pela grande maioria dos que pretendem um estudo etnomusicolgico. Todo
sistema notacional, alm de ter falhas preconceituoso. Cabe ao pesquisador, como ao
leitor, saber contornar as limitaes ou quem sabe, repensar todo um passado de
preconceitos relacionados a certas expresses e revigor-las, dando novos significados e
finalmente reincorporando-as ao vocabulrio usual.
Referncias Bibliogrficas
BLACKING, John. Music Culture and Experience: selected papers of John Blacking.
BYRON, Reginald (Ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
COOPER, Grosvenor; MEYER, Leonard B. The Rhythmic Structure of Music. Chicago:
ELLINGSON, Ter. Transcription. In: MEYERS, Helen (Ed.). Ethnomusicology: an
introduction. New York: W. W. Norton, 1992, p. 110-52.
HASTY, Christopher F. Meter as Rhythm. New York, Oxford: Oxford University
Press,1997.
KRAMER, Jonathan D. The Time of Music. N. York: Schirmer Books, 1988.
LERDAHL, Fred; JACKENDOFF, Ray. A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge,
Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1983.
12
MERRIAM, Alan P. The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University
Press, 1964.
TEMPERLEY, David. Meter and Grouping in African Music: a view from music theory.
Ethnomusicology, v. 44, n. 1, 2000, p. 65-96.
University of Chicago Press, 1960.
Mahler, a viso de um maestro ou O sentido no revelado da interpretao
I saac Felix Chueke
The I nternational Chamber Orchestra New York
Chueke Produes
Universit Paris I V-Sorbonne
ichuekemaestro@aol.com
Resumo: Que interpretao pode dar o msico de hoje da obra mahleriana j que ambigidade parece ser
a palavra de ordem, indissocivel da personalidade do compositor, reivindicado tanto pelos progressistas
como pelos conservadores ? Observando a vida e a obra, realando sua criatividade e originalidade,
refletindo sobre os aspectos da escuta e da interpretao sob o ponto de vista do intrprete, se concentrar
a pesquisa fazendo o objeto desta comunicao. Uma viso global fundada sobre as partituras musicais
estudadas ser a metodologia adotada, os trabalhos de fundo terico, biogrfico, acrescentados aos trechos
de obras, artigos, entrevistas sobre a arte da interpretao (performance practice) acompanhando nossas
observaes pessoais. A experincia prtica demonstra que certos elementos da partitura no podem ser
interpretados muito literalmente e esto sujeitos variveis como a habilidade tcnica do intrprete, o
acrscimo em concerto de foras tais o pessoal, o emocional e o intelectual e, sempre neste contexto, o
papel desempenhado pela interao entre os trs elementos humanos : o compositor, o intrprete, o
pblico.
Palavras-chave: escuta, interpretao, Mahler
Abstract: Which interpretation can the contemporary musician give of the mahlerian compositions since
ambiguity seems to be a regular feature of the personality of a composer claimed by progressists and
conservatives alike? Observing the life and the work, stressing his creative power and originality,
reflecting on the aspects of listening and interpretation from the performers perspective, this will be the
focus of the present communication. A global view relying on the study of musical excerpts will be the
adopted methodology, adding the theoric and biographic literature, articles, interviews about the art of
interpretation (performance practice) that will accompany our personal observations. The practical
experience demonstrates that certain elements of the score can not be interpreted too literally, under the
influence of variable elements such as the technical ability of the performer, the presence in concert of
forces such as the personal, emotional and the intellectual and, always in this context, the role played by
the interaction among the three human elements: the composer, the performer, the audience.
Keywords: listening, interpretation, Mahler
Ao iniciar de um novo sculo, a msica de Mahler continua a beneficiar de uma
popularidade a toda prova, despertando a ateno e admirao tanto do pblico quanto de
numerosos criadores contemporneos. Que interpretao pode o msico de hoje dar da obra
mahleriana j que ambigidade parece ser a palavra de ordem, indissocivel da personalidade do
compositor? Alis, no ele reinvindicado pelos progressistas como pelos conservadores?
principalmente sob uma viso interpretativa que se concentrar a pesquisa fazendo o objeto da
presente comunicao passando por reflexes quanto a escuta e funo do intrprete alm da
observao de um pequeno exemplo musical. O sentido no revelado da interpretao. Nosso
encontro com a partitura constantemente acompanhado de mistrios a serem desvendados, era
Mahler quem afirmava em msica, o melhor no reside nas notas (Walter, 1979, p.115). Parte
de um projeto amplo atualmente em curso junto a Sorbonne e a MediathPque Mahler em Paris,
uma viso global fundada sobre diversos textos musicais estudados, trabalhos de fundo terico,
biogrfico, artigos relacionados a arte da interpretao servem de base Bs nossas observaes
pessoais.
O intrprete sendo de alguma forma seu prprio musiclogo, responsvel pelas escolhas
que expressaro seu prprio gosto musical e sua inteligncia da obra, o sucesso de uma
apresentao certamente medido segundo o grau pelo qual suas convices so comunicadas ao
pblico, convico esta que combinando anlise e intuio, refletir sua compreenso das
intenes do compositor. Como msico prtico, estar mais do que consciente dos elementos da
partitura que no podem ser interpretados muito literalmente, sem mencionarmos as variveis da
prestao ao vivo tais as condies acsticas das salas de concerto e, muito importante, a
interao entre o intrprete e seu pblico. Se numerosas so as dificuldades enunciadas pelos
psiclogos tentando desvendar o que aconteceria no momento da escuta de uma composio
musical, torna-se sempre importante ressaltar as duas formas de escuta, vitais aos intrprete, a
interior e a exterior. Retomando portanto o caminho de nosso encontro com o fenmeno musical,
sabemos de antemo que este no deixar nunca de nos surpreender. A msica, no ela um
resultado incerto ? (Hennion, 2002, p. 95).
Sujeito/Objeto?
De fato, a questo se apresenta. Em casa, liberados das distraes de uma escuta coletiva,
esta especificao dos papis, o sujeito de um lado, o objeto de outro, perde qualquer razo de
ser. Uma diviso, no implica ela de antemo uma limitao tornando mais difcil a escuta?
No desejamos justamente desta situao tradicional, bastante tensa, nos forando na condio
de sujeito a tomar a dianteira, ser constantemente ativos, empreendedores, analisando,
formulando, chegando ao ponto de determinar antecipadamente o que a prxima passagem
musical deveria anunciar. A msica, o pretenso objeto, seria ento de uma natureza passiva,
subjugada, submissa. Que v iluso quando quase do contrrio que se trata! Trataremos isto
sim de encontrar a verdadeira simbiose, aquela que confundiria sujeito e objeto at que se
tornassem uma nica entidade, mas como em todo relacionamento que se pretenda pelo menos
amigvel, sem esquecermos de sermos igualmente acolhedores, flexveis, receptivos ao dilogo,
a msica certamente merecedora de nossa mais alta considerao.
Escutar. Um dever?
A msica preparando-se a iniciar seu discurso, a que pensamos? Antes mesmo que uma
s nota ressoe dentro de ns, relaxemos. No sucumbindo ao funcionamento de nosso arsenal de
fundamentos tericos, quase que de maneira involuntria colocado em estado de alerta. Por acaso
existiria um modo correto de escuta? Uma profuso sonora no sendo sinnimo de msica todos
o sabemos muito bem, ao surgimento do fenmeno musical, no deveramos apressar-nos em
dar-lhe um sentido. Tanto quanto possvel guardaremos em ns o sensorial. Que impresses
deliciosas nos propiciam estas primeiras notas! Se combinarmos a imediatez do ato perceptivo
(Viret, 2001, p. 283) com a relatividade da escuta, at mesmo aqueles momentos que soam
estranhos para no dizer feios podero numa etapa posterior converter-se de nosso inteiro
agrado. Afinal, como destaca-se a individualidade, pela diferena.
O sentido no revelado da interpretao
Chegamos interpretao. Como definir o indefinvel? Existiria uma interpretao ideal?
Num programa transmitido recentemente em France Musiques, cinco produtores teciam seus
comentrios a partir da escuta de uma pea conhecida do repertrio, interpretada por diferentes
orquestras. Tentando objetivar suas preferncias, como no observar a manifestao de gostos
pessoais? A evidncia que tratamos sempre no somente de uma interpretao mas de
interpretaes possveis de uma obra. Por outro lado, a interpretao, no corre ela hoje o risco
de uma modelizao? A propsito, como cresce a interpretao em ns? Quando tornamo-nos
intrpretes? Muitas perguntas, a ltima com uma possvel resposta, a instalao de uma
assimilao inconsciente (Dunsby, 1995, p.10-11) resultado das diversas interpretaes de um
mesmo texto musical. Mas aqui interessa-nos tambm a postura do intrprete face sua arte.
Entre os que recusam-se a conceber o ato da recriao como sendo diferente do ato da
composio, um Glenn Gould, um Leonard Bernstein. Na direo oposta, Charles Rosen,
afirmando que o intrprete seria intelectualmente pouco respeitvel caso fizesse uso da obra
como um veculo para a expresso de sua personalidade. A fluidez e a barreira facilmente
transponvel entre os papis da composio e da interpretao sendo uma caracterstica marcante
do intrprete pr-moderno, muitos autores escrevendo sobre o tema procuram no entanto reduzir
a contribuio do intrprete a um mero preenchimento daqueles fatores indeterminados da
partitura, as nuances e detalhes de difcil especificao grfica para o compositor. Observamos
que isto equivale a querer retirar do intrprete, e de modo importante, suas responsabilidades, em
ltima anlise praticamente eliminando seu papel. As milhares de horas dedicadas ao trabalho de
seu instrumento seriam ento totalmente destitudas de reflexo, o trabalho puramente mecnico?
Como intrpretes acreditamos no direito de apropriao de uma obra. claro, munidos de
bom senso e tambm coragem, para responder aos crticos que gostariam de qualificar a atitude
de usurpadora. Fato que mesmo no caso das interpretaes tentando seguir fielmente as
indicaes do compositor, observa-se uma multiplicidade de resultados, no necessariamente
autnticos. Bastante interessante para ns perceber que o termo cration (criao em francs),
v-se aplicado toda estria nos campos ligados B performance, isto a msica, a dana, o
teatro. Detalhe importante, o substantivo crateur (criador) vem creditado ao intrprete. Como
um reforo, se segundo Nattiez os processos de esthesia e poVtica (respectivamente tratando da
recepo e da criao) no seguem caminhos interligados, deixo-vos deduzir a importncia da
funo do intrprete, muito longe de representar uma simples intermediao. Gould falando da
necessidade do artista impor seus valores, o intrprete criando sua prpria obra baseada numa
partitura existente, quanto B idia de uma no-repetio da interpretao musical Pierre Boulez
admite uma amnsia, com o intuito de uma redescoberta.
Se aceitamos a teoria de que os nicos elementos definveis de uma obra seriam suas
alturas e ritmos, a materializao do sonoro se constituiria num fenmeno parte, funo de uma
interpretao especfica. Esta viso fazendo uma verdadeira distino entre a identidade da obra
e seu carter esttico, a notao pode ser imutvel mas o carter esttico no o . Adorno afirma
justamente que a partitura musical no jamais idntica obra a representao objetiva da
msica, aquela adequada essncia do objeto (Bazzana, 1997, p. 66). As indicaes de
interpretao excludas do quadro, uma ligao imediata se estabelece com as idias de
Stravinsky. Por outro lado ao rejeitarmos a premissa de que um intrprete tenha a obrigao de
fidelidade total B partitura, trata-se de facto de uma insubordinao colocando em causa valores
dominantes de uma prtica da msica ocidental tal qual a conhecemos h duzentos anos. O que
fazer ento? Como intrprete de Mahler o problema maior consiste em perceber os traos de uma
originalidade no necessariamente saltando aos olhos. Uma escuta atenta ser dada aos seus
timbres orquestrais to particulares por exemplo. Quanto interpretao, nunca um compositor
tendo fornecido tantas indicaes ao regente, importante respeit-las e ao mesmo tempo filtr-
las, principalmente tratando-se de um autor que partindo de um material tradicional sai em busca
de algo diferente em termos de expresso. Tarefa nada fcil se considerarmos que a linguagem
tonal encontrava-se no seu limite mximo de explorao. Ainda assim ele inova e veremos como
no nosso pequeno extrato de Wo die schnen Trompeten Blasen, uma das canes do Des
Knaben Wunderhorn.
O dever chama um soldado aos campos de batalha, l onde soam as trombetas. Ele
deixar seu amor para trs...Num formato to abreviado quanto o lied, uma introduo orquestral
de vinte compassos precede a entrada da voz. Mahler ao preterir a tnica em favor da dominante
cria imediatamente o fator de instabilidade que ir percorrer toda a pea. A famlia das madeiras
est incompleta, o fagote no constando da instrumentao. Surpresa, a no utilizao de
trompetes (sugeridos pelo ttulo, sua primeira apario se dar no compasso 17 somente) mas de
quatro trompas. Quais as intenes no reveladas para todas estas decises? Adiantamos nossas
respostas: junto instabilidade harmnica, a busca de uma sonoridade contraditria, acre-doce
por assim dizer, permitindo o irnico mas no o cmico, tampouco a solidez redonda fornecida
por um instrumento como o fagote. De muito bom efeito as trompas com surdinas para um som
distncia, certamente mais suaves e envolventes se comparadas aos trompetes. Pois no a elas
que Mahler entrega o ritmo, descartando totalmente a percusso, no entanto to presente nas
outras canes a carter militar da compilao? Com suas semnimas duplamente pontuadas e
fusas, o gesto diz muito, refletindo um momento romntico marcado simultaneamente de grande
melancolia e alta ansiedade. O instrumento tradicionalmente revestido de grande simbolismo na
literatura sinfnica alem v-se desta forma outorgado um novo papel pelo compositor.
Poderamos falar destes primeiros compassos como que representando a continuao de uma
estria, estando agora no incio do segundo ato, aquele que propiciar o encontro furtivo dos
amantes. Espectadores privilegiados que somos, no somente ouvimos mas tambm
visualizamos a cena. Instrumentalmente nos lembra, de forma miniaturizada claro, um daqueles
movimentos lentos de suas sinfonias to ligados organicamente obra porm sem deixarem de
possuir a autonomia de uma escuta em separado (o Adagietto da 5a. Sinfonia um tpico
exemplo).
Mahler, nas suas atividades como regente, diretor de pera, compositor, olhava para o
futuro. Tradio para ele nada mais era do que uma forma velada de comodismo. Como
intrprete, tinha uma grande vantagem, a de poder abraar os mais variados estilos musicais,
recriando-os em seguida como se tivessem sado de sua pluma. Quando regia sua felicidade era
a de realizar a fuso de dois espritos (Walter, 1979, p. 115). Concluiremos dizendo que serve-
nos de inspirao tanto para o exame minucioso de sua obra quanto para o trabalho geral de
intrprete. A base da interpretao um equilbrio sempre desejvel entre as diferentes vistes, a
emocional e a intelectual, renovao parece ser a palavra ausente pelo menos se considerarmos
os cnones estabelecidos. Mero engano. Sempre necessria, o intrprete verdadeiramente criador
naturalmente tendendo a mudar sua interpretao para evitar os perigos de uma execuo
rotineira, dever armar-se das possibilidades de interveno neste domnio, certo de que o aporte
de novas possibilidades inevitavelmente provocar uma nova viso, revitalizadora, da prpria
obra.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, Theodor W. Mahler, une physionomie musicale. Paris: Les Editions de Minuit, 1976.
BADFORD, Philip. Mahlers Symphonies and Songs. Seattle: University of Washington Press,
1971.
BAMBERGER, Jeanne. Coming to Hear in a New Way. In: AIELLO, Rita & SLOBODA, John
Musical Perceptions. New York : Oxford University Press, 1994, p. 131-151.
BAZZANA, Kevin. Glenn Gould : the performer in the work : a study in performance practice.
New York: Oxford University Press, 1977.
BIGET - MAINFROY, Michelle. Esquisse, esquive, estompe; De Debussy au dernier Mahler.
Cahiers du CIREM, septembre 1997.
BLACKING, John. How Musical is Man? Seattle: Washington University Press, 1973.
BLAUKOPF, Kurt. Gustav Mahler. Paris: ditions Robert Laffont, 1979.
DUNSBY, Jonathan. Performing Music: Shared Concerns. New York: Oxford University Press,
1985.
FUCHS, Peter Paul. Interrelations Between Musicology and Musical Performance. Current
Musicology, New York,14, p. 104 -110, 1972.
HANSLICK, Edouard. Du beau dans la musique. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1986.
HENNION, Antoine. Lcoute B la question. Revue de Musicologie, Paris, v. 88, n. 1, p. 95-149,
2002.
LANDAU, Siegfried. Do the Findings of Musicology Help the Performer?Current Musicology,
New York, 14, p. 124-127, 1972.
LESTER, Joel. Performance and Analysis: Interaction and Interpretation. In: RINK, John (Ed.).
The Practice of Performance: Studies in Music Interpretation. Cambridge: CUP, 1995,
p. 197-216.
MATHEOPOULOS, Helena. Maestro: Encounters with Conductors of Today. New York:
Harper&Row, 1982.
MATTER, Jean. Connaissance de Mahler. Lausanne: Editions lAge dHomme, 1974.
MEYER, Leonard B. On Rehearing Music. Journal of the American Musicological Society,
Philadelphia, vol. 14, no. 2, p. 264-265, 1961.
RABIN, Michael. A Performers Perspective.Current Musicology 14, p. 155-158, 1972.
SOVE, Bernard. Laltration musicale. Paris: ditions du Seuil, 2002.
SLOBODA, John.The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music. New York: Oxford
University Press, 1985.
SZENDY, Peter. coute.Une histoire de nos oreilles. Paris: Les Editions de Minuit, 2001.
VIGNAL, Marc. Mahler. Paris: ditions du Seuil, 1966.
VIRET, Jacques. Entre Sujet et Objet: Lhermneutique musicale comme mthodologie de
lcoute. Approche hermneutique de la musique. Strasbourg: Presses de lUniversit,
p. 283-296, 2001.
WALTER, Bruno. Gustav Mahler.Paris: Librairie Gnrale Franaise, 1979.
O pianismo na cidade de Pelotas (RS, Brasil) de 1918 a 1968
I sabel Porto Nogueira
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
isadabel@terra.com.br
Resumo: O presente trabalho procura realizar um diagnstico histrico-analtico sobre a escola pianstica
desenvolvida no Conservatrio de Msica da cidade de Pelotas, desde sua fundao em 1918, at 1968,
quando se torna unidade agregada da recm criada Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Atravs de um
estudo sobre os alunos da escola, uma anlise detalhada do repertrio executado em concertos pblicos e sua
repercusso na sociedade da poca; buscaremos construir nossas concluses sobre o papel esttico e social do
piano no Conservatrio de Msica da cidade de Pelotas.
Palavras-chave: musicologia, msica e sociedade, repertrio musical para piano.
Abstract: The present study is a historical-analytic examination of the pianistic school which developed at
the Music Conservatory of the city of Pelotas, southern Brazil, from its foundation in 1918 to its
incorporation to the then recently founded Federal University of Pelotas (UFPel), in 1968. Through an
investigation of the schools students, and an analysis of the repertoire performed, and of its repercussion on
contemporary society, we will attempt to draw conclusions concerning the aesthetic and social role played by
the piano within the Conservatory of music, as well as in the city of Pelotas.
Keywords : musicology, music and society, piano music.
O presente trabalho teve a inteno de realizar um diagnstico histrico-analtico sobre a
trajetria da escola pianstica desenvolvida no Conservatorio de Msica de Pelotas e sua insero
nesta comunidade, desde sua fundao, em 1918, at 1968; quando se torna instituio agregada da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Esta pesquisa foi parte da Tese de Doutorado em
Musicologia apresentada em maro de 2001 na Universidade Autnoma de Madri (Espanha),
obtendo qualificao Sobresaliente cum laude por unanimidad e indicao para publicao.
Contou com a orientao da Profa. Dra. Rose Marie Reis Garcia (UFRGS/ Brasil) e do Dr. Ubaldo
Martinez Veiga (UAM/ Espanha).
Fundada no ano de 1812, Pelotas j desenvolve intensa atividade econmica com a
indstria das charqueadas, enquanto o Rio Grande do Sul est ainda em processo de povoamento e
colonizao. Desde o sculo XIX, a cidade manteve acentuado interesse por todos os tipos de
atividades artsticas, manifestado atravs da construo de teatros e do financiamento de
espetculos, bem como da importao de professores europeus de msica.
2
este propcio entorno cultural que possibilita e atrai a ateno de ilustres cidados
pelotenses da poca para a criao de um Conservatrio de Msica, que viria a ser a primeira
instituio oficial fundada especialmente para o ensino da msica na cidade; a segunda entidade no
gnero a ser fundada no Rio Grande do Sul, e a quinta no Brasil.
O Conservatrio de Msica de Pelotas fundado ento a 18 de setembro de 1918, posto
que a tradio cultural e musical da cidade entra em consonncia com o projeto de interiorizao da
cultura artstica, idealizado pelo professor Guilherme Fontainha, ento diretor do Conservatrio de
Msica de Porto Alegre (fundado em 22/04/1908), que objetivava o estabelecimento de uma rede
de centros culturais para a circulao permanente de artistas nacionais e internacionais, alm de
tambm promover a educao musical da juventude (Caldas, 1992:17).
Dentro das prticas musicais anteriores fundao do Conservatrio de Msica, os
saraus, reunies familiares peridicas, estavam entre as mais importantes; e nestas o piano ocupava
um papel de destaque, tanto como instrumento solo como acompanhando o canto e a poesia. Nos
saraus, ouvia-se principalmente pera italiana, polcas, tangos, mazurkas e schottisches.
Os saraus eram o ambiente ideal para que as moas pudessem luzir os seus dotes, posto
que o piano era considerado elemento essencial da boa educao feminina; smbolo de refinamento
e garantia de qualidade da formao pessoal da mulher, responsvel pela educao bsica familiar.
Neste trabalho, buscaremos identificar as contribuies trazidas pela escola de msica,
que pretende a sistematizao do ensino e da prtica musical. Para tanto, partimos das informaes
contidas nos arquivos de documentos da escola; complementadas por entrevistas com ex-alunos,
profesores e ex-professores do Conservatrio.
Analisando a relao dos alunos matriculados no Conservatrio de Msica no perodo
1918-1968, observamos que a grande maioria buscava o piano como instrumento para a
aprendizagem musical, e, ainda, que a quase totalidade destes estudantes de piano eram mulheres.
Por outra parte, analisando a atividade dos alunos egressos da escola at 1968,
encontramos que a maior parte deles mantiveram atividades profissionais na rea da msica, seja
como pianistas, professores particulares, acompanhadores ou como professores de canto orfenico
nas escolas municipais e estaduais.
3
Desta forma, podemos observar que a atividade do Conservatrio de Msica contribuiu
de forma sistemtica para mudanas significativas com respeito considerao social das atividades
musicais profissionais na cidade de Pelotas, principalmente como alternativa profissional feminina,
uma vez que a maior parte do pblico que buscava o Conservatrio eram mulheres. Observamos
tambm a presena predominante da mulher no espao da instituio pblica oficial do ensino de
msica, posto que dentre os vinte professores de piano em atuao na escola no perodo em estudo,
onze eram mulheres.
A opo pelo piano como elemento de anlise para este estudo deu-se em virtude do
grande nmero de alunos do instrumento no Conservatrio de Msica, e valorizao deste no
prprio estatuto de fundao da escola, onde consta a determinao de que o diretor da escola dever
ser um pianista titulado em instituio de renome internacional.
Decidiu-se utilizar o repertrio musical executado em concertos pblicos de alunos
como base dos estudos, procedendo ento digitalizao na ntegra das obras piansticas executadas
pelos alunos da escola em recitais pblicos no perodo 1918-1968, e posterior confeco de grficos
demonstrativos evidenciando perodos de cinco anos.
Considerando que existia uma viso da msica j instituda e anterior ao Conservatrio
de Msica, importante destacar a ao daqueles que identificamos como intermedirios culturais
que atuaram na escola e, acreditamos, foram responsveis pela instituio de uma nova viso, tanto
da atuao profissional do msico como do repertrio cultivado.
Segundo Vovelle (1991), intermedirio cultural um personagem dinmico, que transita
entre dois mundos, que tem uma posio excepcional e privilegiada mas ambgua tambm, na
medida que pode ser visto tanto como guardio das ideologias dominantes, como porta-voz das
revoltas populares.
Identificamos como intermedirios culturais os professores e pianistas Guilherme
Fontainha (1887-1970); Antnio Leal de S Pereira (1888-1966) e Mlton Figueira de Lemos (1898-
1975) pela importncia das suas atividades, principalmente no sentido da diversificao do
repertrio musical adotado na cidade, da criao de uma perspectiva profissionalizante para aquelas
pessoas que escolhiam se dedicar msica, da introduo dos estudos tericos relacionados
tcnica e interpretao piansticas e da intensificao da vida artstica na cidade. Fontainha foi o
idealizador do Conservatrio de Msica de Pelotas, S Pereira, seu primeiro diretor artstico, e
4
Mlton de Lemos o diretor que durante maior espao de tempo exerceu esta funo, totalizando 30
anos.
Nestes primeiros anos de atuao do Conservatrio de Msica, podemos j observar
significativas mudanas no que diz respeito ao repertrio executado pelos alunos da escola em
concertos pblicos.
No primeiro perodo analisado (1918-1922), temos Claude Debussy (1862-1918) como o
compositor mais executado, seguido por S Pereira e Heitor Villa-Lobos, ento jovem e
desconhecido compositor, cuja carreira tomaria impulso definitivo depois da sua participao na
Semana de Arte Moderna de 1922. A presena destes compositores evidencia um repertrio
extremamente contemporneo para a poca, ao lado de uma significativa valorizao da msica
brasileira.
Sobre a importncia deste trabalho de modernizao do repertrio musical, destacamos o
comentrio do crtico Waldemar Coufal (Sol), no jornal O Libertador de 20/12/1926, sobre o recital
de piano de Rossini Freitas:
Quando, h anos, o professor S Pereira fez, pela primeira vez, executar no nosso
Conservatrio, msicas de Debussy, o auditrio as ouviu com estranheza ou indiferena.
Pois bem, hoje, Rossini Freitas prendeu a ateno da nossa melhor assistncia em Reflets
dans leau, despertando os mais entusisticos aplausos. Por aqui se v o papel
importante que desempenham os conservatrios na cultura musical. (Coufal Apud
Rocha, 1979:110-111)
Entendemos ento que os concertos promovidos pelo Conservatrio so importantes
para a formao do pblico, e que o repertrio ali executado se torna um elemento disseminador de
critrios estticos para alm da sala de concertos da escola.
Ao mesmo tempo, promover concertos pblicos de alunos possibilita que estes tenham
uma experincia profissional, prtica esta que torna-se bastante valorizada, ao contrrio da
supremacia do amadorismo anteriormente vigente.
Sobre a execuo de compositores brasileiros em concertos de alunos, identificamos trs
perodos onde sua presena foi mais intensa: 1918-1922 ; 1943-1947 e 1963-1968; que, do ponto de
vista da histria, se relacionam ao modernismo de Mrio de Andrade, ao perodo de atuao de
Villa-Lobos no governo de Getlio Vargas e ao perodo da ditadura militar no Brasil,
respectivamente.
5
Alm da anlise do repertrio, observamos tambm a preocupao de S Pereira com a
formao e qualificao do pblico, identificvel atravs da presena nos programas de concerto de
informaes como datas de nascimento e morte dos compositores executados, bem como sua
nacionalidade e escola esttica qual estavam vinculados.
Outros fatores que vem contribuir com a tese da preocupao do Conservatrio de
Msica de Pelotas com a formao esttica do pblico so: a intensa presena de notcias sobre a
escola nos jornais locais, as crticas musicais publicadas em peridicos, e, mais tarde, as
transmisses radiofnicas ao vivo da msica erudita. Data de 08/12/1928 a primeira transmisso
radiofnica brasileira ao vivo de um concerto, pela PRC3/Rdio Pelotense, no Conservatrio de
Msica de Pelotas. O ineditismo da experincia da transmisso de concertos ao vivo contribui para o
incremento dos mecanismos de penetrao social da msica cultivada no mbito do Conservatrio.
Uma vez que, desde a sua fundao, o Conservatrio de Msica tornou-se responsvel
pela quase totalidade dos concertos de msica erudita realizados na cidade de Pelotas, cumpre
observar a importncia de duas entidades dedicadas esta atividade: o Centro de Cultura Artstica
(1921-1922) e a Sociedade de Cultura Artstica (1940-1974). Estas duas entidades possibilitaram a
vinda cidade de artistas consagrados internacionalmente, tais como Cludio Arrau, Andrs
Segvia, Arthur Rubinstein, Ignaz Friedman, Alexandre Brailowsky, Magda Tagliaferro, Guiomar
Novaes, Francisco Mignone, entre outros.
Observamos tambm que o repertrio cultivado condizente com uma determinada
forma de considerao profissional do msico, e encontramos diferenas significativas nesta relao
nas prticas musicais anteriores ao Conservatrio de Msica e naquelas posteriores sua fundao,
identificados respectivamente nos grficos a seguir.
repertrio de salo
atividade
amadorstica
prticas domstico-
familiares
6
Consideramos ainda que o repertrio pode tambm conter os elementos simblicos das
relaes de alteridade, verificados atravs da renovao do repertrio e da considerao profissional
do msico.
Nesta relao, dois aspectos podem ser principalmente observados: a escolha de Claude
Debussy como compositor contemporneo executado pelos alunos no perodo 1918-1922, onde, em
contraposio linguagem inovadora que utiliza, est sua nacionalidade francesa, cultura-smbolo
do bom gosto segundo a sociedade pelotense da poca. Sobre a profissionalizao do msico,
recordamos que coexistem dois sentimentos antagnicos: o desejo manifesto pela sociedade de
possuir uma escola de msica, e o desagrado pela entrada de msicos profissionais no convvio da
sociedade, por medo talvez de subverso da ordem estabelecida. Como intermedirios entre as
prticas dos saraus do sculo XIX e as novas perspectivas profissionais, o professor estrangeiro
reflete em sua prpria pessoa o processo de aceitao: no tendo sido bem aceito em um primeiro
momento, logo conquistando a sociedade por suas capacidades de professor e pianista, e por fim
chegando a ser considerado como personalidade admirvel. Observe-se o exemplo de Mlton de
Lemos, cuja chegada cidade de Pelotas foi motivo de protesto por alguns segmentos da sociedade,
considerando-o jovem demais para o cargo de diretor e desprovido de capacidade para o magistrio.
Pouco a pouco a viso desta sociedade frente prtica musical profissional se converte
em aceitao e tambm desejo, tal como demonstra a crtica de Waldemar Coufal de 10/12/1928, no
jornal O Libertador:
repertrio de
concerto
atuao
profissional
espao pblico de
teatros e salas de
concerto
7
Precioso material de voz, o da mezzo-soprano senhorita Maria Cassal Barbosa que,
assim que o tenha melhor torneado, mais elegante, haver de ser algum, neste passo que
j lhe permite uma to aceitvel execuo de Scarlatti e Monteverdi. (O Libertador,
10/12/1928)
O itlico utilizado pelo crtico na expreso haver de ser algum deixa transparecer
uma mudana de atitude em relao ao profissionalismo musical, apontando para a possibilidade de
que uma carreira de palco seria bastante desejvel para a senhorita em questo.
Conclumos ento que o Conservatrio de Msica da cidade de Pelotas, atravs de suas
atividades de ensino e promoo de concertos, contribuiu para uma melhor considerao da msica
como atividade profissional, em especial para as mulheres, que passam a ocupar os espaos pblicos
do ensino particular e oficial. Contribuiu tambm com a divulgao de um repertrio extremamente
contemporneo para a poca, em especial no perodo 1918-1922, e logo primou pela valorizao das
obras da msica erudita brasileira.
Por fim, acreditamos que o Conservatrio de Msica de Pelotas teve e tem grande
importncia na difuso de novos valores estticos para a msica de concerto, assim como para a
formao e valorizao dos msicos e para a qualificao do pblico apreciador.
Esperamos que este trabalho possa contribuir para a compreenso da escola de msica
em suas relaes de significado com a sociedade, e que possa servir como uma ferramenta de estudo
que promova o dilogo entre reas de conhecimento afins.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARRUDA, Angela (org.). Representando a alteridade. Petrpolis (Rio de Janeiro): Vozes, 1998.
CALDAS, Pedro Henrique. Histria do Conservatrio de Msica de Pelotas. Pelotas: Semeador,
1992.
CONSERVATRIO DE MSICA DA CIDADE DE PELOTAS. Livros de Programas de Audies
de Alunos e Livros de Matrcula 1918-1968.
CORTE REAL, Antnio. Subsdios para a Histria da Msica no Rio Grande do Sul. 2ed.rev. Porto
Alegre: Movimento, 1984.
KIEFER, Bruno. Histria da msica brasileira: dos primrdios ao incio do sculo XX. Porto
Alegre: Movimento, 1982.
LABAJO VALDS, Joaquina. El controvertido significado de la educacin musical femenina. In.
LOESSER, Arthur. Men, women, and pianos: a social history. New York: Dover, 1990 (First
edition: 1954).
8
MANCHADO Torres, Marisa (Org.). Msica y mujeres: gnero y poder. Madrid: horas y HORAS
la editorial, 1995. P. 85-101.
MAGALHES, Mrio Osrio. Opulncia e Cultura na Provncia de So Pedro do Rio Grande do
Sul: um estudo sobre a histria de Pelotas (1860-1890). Pelotas: Ed. UFPEL/ Liv. Mundial, 1993.
NASCIMENTO, Helosa Assumpo. Nossa cidade era assim. Pelotas: Liv. Mundial. Vol.1: 1989;
Vol.2: 1994 ; Vol.3: 1999.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Histria do Rio Grande do Sul. Srie Reviso, 1. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1980.
REVISTA ILUSTRAO PELOTENSE. Pelotas, 1919-1923. (Diretor: Bruno de Mendona Lima).
REZENDE, Carlos Penteado. Notas para uma historia do piano no Brasil. In: Revista Brasileira de
Cultura, n.6: 1970. P. 09-38.
ROCHA, Cndida Isabel Madruga da. Um sculo de msica erudita em Pelotas- alguns aspectos
(1827-1927). Dissertao de mestrado. Porto Alegre: PUCRS, 1979.
VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. So Paulo: Brasiliense, 1991.
WISNIK, Jos Miguel. O coro dos contrrios: a msica em torno da Semana de 22. So Paulo: Duas
Cidades, 1983.
________ ,SQUEFF, nio. Msica: O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira. So Paulo:
Brasiliense, 1983.
Transcrio musical : um enfoque nos estudos etnomusicolgicos do
Congado em Minas Gerais
J ean J oubert Freitas Mendes
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
jeanbass@bol.com.br
Resumo: Este trabalho apresenta reflexes sobre a prtica da transcrio musical nos estudos
etnomusicolgicos, enfatizando abordagens dessa temtica dentro da literatura que tm se
dedicado ao estudo da msica no Congado. A partir de uma pesquisa terica sobre o tema que
abarcou tanto uma bibliografia geral sobre o assunto, quanto trabalhos especficos sobre o
Congado, foi possvel concluir que no existe um consenso na literatura sobre as formas de se
fazer transcries e que no possvel traar universais que determinem qual a melhor maneira
de se fazer uma transcrio musical.
Palavras-chave: etnomusicologia, transcrio musical, Congado
Abstract: This paper presents some reflections about the transcribing practice in
ethnomusicological studies, enfatizing descriptions and analises in the ethnomuiscological
literature dedicated to the study of music in the Congado. Beginning with some more
theoretical research, including a general bibliography about the subject and especific studies
about the Congado, it was possible to conclude that there isnt any consense in the especific
literature about how to realize transcriptions and on the other hand it isnt possible to define
universals which may determine the best way to realize a musical transcription.
Keywords: ethnomusicology, musical transcription, Congado
A transcrio musical tem se apresentado como um dos maiores desafios para o
trabalho etnomusicolgico. A busca de possibilidades mais acuradas para transcries
que permitam maior sintonia entre o fenmeno musical e o registro visual tem sido foco
de inmeras discusses na rea de etnomusicologia. Este trabalho, realizado a partir de
uma reviso bibliogrfica em transcrio musical na etnomusicologia, e mais
especificamente no Congado de Minas Gerais, busca refletir sobre as principais
problemticas que tm permeado as discusses acerca da transcrio musical
enfatizando, de forma mais especfica, quelas presentes nos estudos dos grupos de
Congado. Para discutir o assunto, sistematizamos a apresentao do trabalho em duas
partes: na primeira tratamos da transcrio musical em geral, como abordada nos
estudos etnomusicolgicos, e na segunda focamos a discusso especificamente na
transcrio musical no Congado, tomando como base a literatura que tem se dedicado
estudar essa manifestao.
1
Msica e transcrio
Os meios de registro grfico do som tm provocado acirradas discusses entre
estudiosos de msica. Interessados na preservao
1
ou anlise do som, pesquisadores
desenvolveram, e vm desenvolvendo, inmeros estudos com o intuito de transformar o
produto sonoro em algo visual. Sendo que essa transformao deveria comportar o
mximo de caractersticas possveis do som escutado. Pesquisadores como, Alexander
J. Ellis (1814 90), Carl Stumpf (1848 1936) e Eric M. Von Hornbostel (1877
1935), divulgaram o termo transcrio musical no decorrer do sculo XX. Analisando
diversos trabalhos por vrias partes do mundo, esses estudiosos apontaram grandes
dificuldades que tm gerado inmeras reflexes a respeito do tema transcrio. Em se
tratando especificamente da transcrio etnomusicolgica, a msica escrita a partir de
uma performance gravada e/ou ao vivo, buscando assim, transferir o som para uma
forma escrita atravs de meios manuais, mecnicos ou eletrnicos
2
. (Ellingsom, 2001).
A transcrio, ou documentao do som como era designada por Charles
Seeger (1963), requer um conhecimento profundo dos elementos observados, incluindo
a toda a complexidade da cultura em torno do objeto musical.
Ao analisar determinadas problemticas relacionadas transcrio musical, Nettl
(1964) aponta para duas questes que necessitam ser discutidas. A primeira questiona se
podemos analisar e descrever o que escutamos e, a segunda, se ns podemos, da mesma
maneira, colocar isto no papel e descrever o que vimos. O autor, afirma que a reduo
da msica para uma notao visual imperfeita. Pois, o ouvido humano no capaz de
perceber todo o contedo acstico. Essa incapacidade para uma absoro completa dos
elementos sonoros um dos maiores pontos de questionamento no processo da
transcrio. Durante o Simposium on Transcription and Analysis de 1963
3
, Robert
Garfias (G), Mieczyslaw Kolinski (K), George List (L) e Willard Rhodes (R) foram
convidados para a dura tarefa de transcrever um som Hukwe. As diferenas
apresentadas nas transcries evidenciaram as dificuldades presentes nesse processo:
A mais bvia diferena entre as quatro transcries foi o uso de uma linha
grfica para a voz por (G). Para o acompanhamento Garfias apresentou somente
1
A partir da utilizao do fongrafo, aparelho desenvolvido por Thomas Edison que consistia na
gravao do som em um cilindro de cera, surgiu uma outra necessidade, a de preservar esse som
transformando-o em um registro durvel, uma vez que a cera do cilindro se desgastava com facilidade
ocasionando a perda do material gravado.
2
As tradues de citaes em outras lnguas so de responsabilidade do autor.
3
O simpsio aconteceu dia 02 de Novembro de 1963 no Eighth Annual Meeting of the Society for
Ethnomusicology at Wesleyan University.
2
a fundamental, List somente overtones, e (R) e (K) apresentaram ambos.
Diferenas em pontos de vista analticos so sempre mais interessantes do que
as diferenas no formato da transcrio. Garfias adotou uma abordagem cultural
especfica, enquanto George List e Mieczislaw Kolinski ambos se basearam nas
teorias acusticamente universalistas. Willard Rhodes, o mais cauteloso
caracterizou sua transcrio como ampla.
4
(Ellingson,1992, p.136, traduo
nossa)
Pudemos notar uma instabilidade no resultado das transcries do simpsio, isso
porque [...] o transcriber
5
humano no pode reproduzir todo o fenmeno acstico de
uma expresso musical, ele deve reproduzir o que essencial, e decidir isso a mais
agonizante parte da transcrio
6
(Nettl 1964 p.102, traduo nossa). Entendemos,
ento, que o etnomusiclogo ao transcrever faz um recorte do fenmeno musical
observado.
Entendemos que a transcrio musical precisa considerar, tambm, outros
fatores que rodeiam o produto sonoro, fato evidenciado nas pesquisas
etnomusiclogicas durante o sculo XX. Com o desenvolvimento do sculo XX, outras
metodologias, tais como a investigao dos fatores, social, econmico e simblico em
um sistema musical, ganharam procedncia. (Ellingsom, 2001). Fato que nos faz
Compreender que outros fatores, alm do som propriamente dito, precisam ser
considerados pela transcrio musical etnomusicolgica. Dessa forma, podemos afirmar
que uma transcrio s ser completa se puder registrar o fenmeno musical com todas
as caractersticas do original, permitindo um remontagem idntica desse fenmeno, que
possa trazer com preciso toda a complexidade da cultura envolvida na criao e
execuo desse som.
Conscientes da impossibilidade de uma transcrio que consiga retratar um
fenmeno musical de forma completa, acreditamos que o pesquisador precisa
estabelecer um recorte, onde a transcrio musical possa ser aplicada como um esboo
do que seria o ideal do fenmeno sonoro. Sobre esse recorte estabelecido pela
transcrio, Nettl (1983) alerta para a tendncia do etnomusiclogo em inserir seus
prprios termos e valores podendo distorcer, em muito, o resultado do trabalho. Todo o
caminho desde a gravao, a absoro auditiva e a transformao em material visual,
condicionado s interpretaes do pesquisador.
4
Original Ingls.
5
Utilizamos aqui o termo em Ingls por no encontrarmos um equivalente em portugus.
6
Original Ingls.
3
Uma das principais ferramentas do etnomusiclogo a percepo. Uma
percepo aguada propicia, consequentemente, um recorte mais acurado. O
pesquisador em etnomusicologia precisa lidar todo o tempo com a escolha, a seleo,
que determina a posio de um microfone captando a ou b num instrumento ou o que
deve ser gravado em meio complexidade sonora.
A partir das escolhas e selees o etnomusiclogo particulariza e personaliza o
seu trabalho. A habilidade na transcrio e a capacidade de criar simbologias
compatveis com sua necessidade de representao, tambm, algo imprescindvel para
o etnomusiclogo. Hellen Mayers, afirma que a habilidade na transcrio musical j foi
um dos requisitos para a medio da competncia dos etnomusiclogos. Mas quem
poder julgar um material transcrito por outra pessoa? Parece ser difcil emitir valor
sobre algo que tem como base a prpria subjetividade da observao e da percepo.
Assunto que abordaremos a seguir num estudo sobre o Congado, onde so analisados
trabalhos que utilizaram a transcrio musical. Objetivamos assim demonstrar, atravs
de uma pesquisa na literatura da rea, abordagens referentes transcrio.
O Congado e o transcrito
Vrios trabalhos vm sendo desenvolvidos sobre o Congado no Brasil. Essa
manifestao afro-brasileira, envolve elementos da cultura negra entrelaados com a
cultura branca festejando santos catlicos africanamente (Martins, 1997). Oliveira e
Gomes citados por Lucas (2002), afirmam que o Congado tem origem luso-afro-
brasileira, uma vez que o [...] catolicismo de Portugal forneceu os elementos europeus
da devoo Senhora do Rosrio, a Igreja do Brasil reforou essa crena, enquanto os
negros, de posse desses ingredientes, deram forma ao culto e festa (Lucas, 2002, p.
44).
Essa miscigenao de foras gerou um item terceiro de teor bem complexo.
Traos musicais fundidos, elementos sociolgicos se reconfigurando, essa
construo/reconstruo de identidades formou a face musical da cultura congadeira. A
msica no elemento separado do contexto, ela a mistura do som com toda a
essncia da cultura. Por isso, a msica do Congado processa-se coletivamente
(Lucas, 2002, p. 96). Esse universo musical se apresenta, dinmico, com graus
diferenciados de flexibilidade, se redefinindo a cada performance. Nele, o contexto
ritual tem fora estimuladora influenciando o integrante do grupo a graus diferenciados
4
de variao e improvisao no desenvolvimento musical. Sua msica traz, sobretudo na
percusso, um jogo de timbres e acentos, seus aspectos meldicos e harmnicos
denunciam um destemperamento que no confere com as indicaes do pentagrama.
Assim, o Congado constitudo por um conjunto complexo de elementos que deveria
ser transcrito.
Ainda segundo Lucas (2002), na literatura do Congado:
As transcries musicais, quando presentes, privilegiam as melodias, no s por
transportarem os versos, mas tambm por representarem o parmetro musical
que mais ocupou o primeiro plano perceptivo da msica ocidental, cujas
concepes estticas e tericas nortearam o desenvolvimento do sistema de
notao usado. (Lucas, 2002, p. 41).
No livro Negras Raizes Mineiras: Os Arturos, de Nbia Pereira de Magalhes
Gomes e Edmilsom de Almeida Pereira - importante referncia da literatura do
Congado mineiro -, as transcries feitas com o sistema de notao ocidental trazem
apenas melodia e letra, omitindo qualquer informao referente ao ritmo dos
instrumentos. No texto que introduz as transcries, ressaltado a preciso que a escrita
ocidental oferece como ponto de excelncia nessa notao, mostrando uma viso
deturpada das possibilidades desse sistema em representar a msica do Congado.
Assim, afirmado:
Depois de vrias mudanas, ao longo do tempo, ela [a notao] chegou a um
nvel de preciso que permite a reproduo praticamente perfeita de uma
melodia por qualquer pessoa que conhea o cdigo, tirando claro, algumas
nuanes de interpretao que tambm se ligam a natureza de cada um. (Soares,
2000, p. 590)
Glaura Lucas (2002) em Os sons do rosrio: o Congado Mineiro dos Arturos
e Jatob, buscou uma forma de detalhar suas transcries. Criou smbolos que foram
acoplados ao sistema de notao ocidental proporcionando uma escrita mais adequada a
autenticidade do som estudado. Ela utilizou programas de computador espectogramas
- num estudo das duraes das microestruturas rtmicas, assim detalhou seu estudo
mostrando graficamente as diferenas rtmicas, lamentando a impossibilidade de
converta-las em um sistema de notao completamente confivel. Leda Martins (1997)
em Afrografias da memria e Margarete Arroyo (1999) em sua tese de doutorado,
Representaes Sociais Sobre Prticas de Ensino e Aprendizagem Musical: Um Estudo
Etnogrfico Entre Congadeiros, Professores e Estudantes de Msica, tambm
5
acrescentaram transcries em seus trabalhos, ambas baseadas na legenda criada por
Glaura Lucas.
Esses estudos que trazem diferentes abordagens sobre o Congado, procuraram
transformar em material visual os elementos colhidos no campo. Os trabalhos,
demonstram que a transcrio dessa cultura requer um sistema de notao que possa
tornar visvel o invisvel e audvel o inaudvel. Tarefa esta que exige e requer uma
percepo que possa colher e registrar os elementos que constituem a essncia da
manifestao musical congadeira.
Concluso
Buscando refletir sobre as principais problemticas que tm permeado as
discusses acerca da transcrio musical, e de forma mais especfica quelas presentes
nos estudos dos grupos de Congado de Minas Gerais, pudemos chegar as seguintes
concluses: o processo da transcrio dever ser realizado com cautela e reflexo. Pois,
a literatura existente nos mostra as dificuldades para tal tarefa, sendo complexo
inclusive o fato de atribuir valores e discutir a competncia dos mtodos existentes.
Porm, a partir desse estudo, parece evidente que devemos buscar estratgias e
ferramentas para que a rea de etnomusicologia possa caminhar em busca de maior
definio sobre aspectos relacionados transcrio musical.
Percebemos que no h consenso no que diz respeito transcrio musical
etnomusicolgica, sendo o assunto abordado de deferentes formas na literatura da rea,
o que nos aponta para o fato de que o pesquisador ter que se empenhar na escolha da
opo mais adequada s particularidades do seu trabalho. Escolha essa, que j implica
em um processo de anlise, pois o recorte, do que e como transcrever, j fruto do olhar
singular de cada pesquisador.
Da mesma forma, foi possvel concluir que, no que se refere aos estudos
etnomusicolgicos relacionados aos grupos de Congado de Minas Gerais, existe uma
busca de melhores possibilidades para a transcrio musical, porm, como em todo o
campo etnomusicolgico, no se conseguiu ainda chegar a um padro que possa ser
considerado como o mais adequado para transcrever as msicas do Congado, temos sim,
um campo aberto de possibilidade e opes, que devem ser testadas e adequadas s
perspectivas de cada estudo.
6
Referncias Bibliogrficas
ARROYO, Margarete. Representaes sociais sobre prticas de ensino e aprendizagem
msical: um estudo etnogrfico entre congadeiros, professores e estudantes de msica.
1999. 360 f. Tese (Doutorado em Msica) - Programa de Ps-Graduao em Msica,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
ELLINGSOM, Ter. Transcription. In: MYERS, Helen (Edit). Ethnomusicology:
historical e regional studies. London: The Macmillan Press, 1992. p.110-152.
______. Transcription. In: New Groves Online. Ed. Stanley Sadie, et al. 2001 .
Disponvel em: <http://www.grovemusic.com/shared /views/ article.html>. Acesso em:
29 de jun. 2002.
LUCAS, Glaura. Os sons do Rosrio: o Congado Mineiro dos Arturos e Jatob. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2002.
MYERS, Helen. Fieldwork. In: MYERS, Helen (Edit). Ethnomusicology: historical e
regional studies. London: The Macmillan Press, 1992. p. 21-50
MARTINS, Leda Maria. Afrografias da memria: o Reinado do Rosrio no Jatob.
Belo Horizonte: Mazza, 1997.
NETTL, Bruno. Theory and method in ethnomusicology. New York: The Free Press,
1964. 306p.
______. The study of ethnomusicology: twenty-nine issues and concepts. Urbana,
Illinois: University of Illinois Press, 1983. 410p.
SOARES, Luis Felipe. Joo do mato. In: GOMES, Nbia Pereira de Magalhes;
PEREIRA, Edimilson de Almeida. Negras razes mineiras: os Arturos. 2.ed. Belo
Horizonte: Mazza edies, 2000. p. 590-624.
A Sonata para piano de Guarnieri: monotematicismo e o processo de
variao contnua
J oana Cunha de Holanda
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
joanaholanda@hotmail.com
Cristina Capparelli Gerling
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
cgerling@vortex.ufrgs.br
Resumo: O presente artigo discorre sobre processos composicionais no primeiro movimento da
Sonata (1972) para piano de Camargo Guarnieri (1907-1993). Ao contrrio de suas sonatinas para
piano, a Sonata de Guarnieri monotemtica e a conciso de elementos caracteriza a obra. O
presente estudo discute brevemente outros trabalhos dedicados a esta sonata e prope uma
alternativa analtica abrangente para o movimento. Entre os elementos discutidos esto: sua relao
intervalar,o cromatismo, uso de estruturas polifnicas e seu carter percussivo. Os parmetros do
ritmo e da textura so ressaltados em sua importncia na articulao de sesses. A partir da anlise
desses elementos, alguns aspectos estilsticos de Guarnieri refletidos na obra so apontados, como a
sua preocupao com a forma, o desenvolvimento temtico, a assimetria na construo de melodias
e a intrincada textura polifnica. O princpio de desenvolvimento temtico contnuo que caracteriza
esta obra remete ao conceito de variao contnua cunhado por Schoenberg e desenvolvido por
Frisch.
Palavras-chave: Guarnieri, sonata, anlise
Abstract: This article contains a discussion on some elements of the theme of the first movement of
Guarnieris Sonata para piano (1972). Unlike his sonatinas, the Sonata presents only one theme
and the cohesion of the thematic elements characterizes the piece. The present study will discuss
previous works on this subject and offer an analysis of the elements of the theme that are reworked
throughout the first movement. The elements discussed are: melodic construction, use of
cromaticism, polyphonic structures, and percussive character among others. The structural role of
rhythm and texture is also signed in this analysis. Several compositional features of Guarnieris
works are discussed such as: the importance of form, the assimetrical melodies, rich polyphonic
texture, and so on. The principle of developing variation used by Schoenberg in some of his analysis
could well be applied to Guarnieris Sonata.
Keywords: Guarnieri, sonata, analysis.
Introduo
A obra para piano de M. Camargo Guarnieri (1907-1993) extensa. Esta produo
compreende peas avulsas como a Dana Brasileira (1928), a Dana Selvagem (1931), a
Dana Negra (1946), o Lundu e Tocata (1935) e colees como a de Ponteios (1931-59), a
de Estudos (1949-70), e Cinco Peas Infantis (1935), entre outras. No conjunto desta obra
figuram 8 sonatinas e somente uma Sonata para piano. Esta ltima foi composta durante o ano
de 1972 e foi dedicada a Las de Souza Brasil, pianista brasileira e dedicada intrprete da msica
de Guarnieri.
Sete das sonatinas do compositor foram escritas entre 1928 e 1971, antecedendo
portanto a composio da Sonata. Em entrevista no ano de 1977, o compositor afirma que a
sonata representa o ponto culminante da minha obra para piano na forma clssica. Levei 44 anos
para conceber a sonata. Eu no tentei antes porque no havia sido capaz de criar temas que
fossem satisfatrios para uma sonata.(Freire, 1984, p.110)
A partir desta declarao de Guarnieri, infere-se a importncia da estrutura do tema na elaborao
desta obra. O primeiro movimento da Sonata monotemtico e a conciso de elementos pode ser observada no
decorrer de todo o movimento. Considerando-se a anlise das caractersticas intrnsecas ao tema, o presente
artigo discute alguns aspectos do primeiro movimento apresentados em estudos de outras autoras e em
seguida apresenta uma anlise do tema e de procedimentos composicionais da obra.
Dois estudos-forma
A sonata de Guarnieri foi focalizada em duas dissertaes: Camargo Guarnieri, a study of a
Brazilian composer and an analysis of his sonata para piano, de Elizabeth Carramaschi, e The
piano sonatinas and sonata of Camargo Guarnieri de Helena Freire.
Na anlise da sonata de Guarnieri, Carramaschi aponta elementos nacionalistas e
idiomticos do compositor na anlise de parmetros como o ritmo (p.62) e a melodia (p. 76).
Quanto forma do primeiro movimento, esta autora aponta similaridades com a forma [allegro
de] sonata na sua estrutura tripartite de exposio, desenvolvimento e recapitulao, mas sugere
que o movimento pode tambm ser interpretado como um ternrio incipiente (rounded binary) em
funo do seu tema nico.
As duas autoras divergem quanto extenso da seo de exposio. Para Carramaschi a
estrutura formal do primeiro movimento da Sonata descrita no quadro abaixo (veja Tabela 1):
EXPOSIO c.1-10
DESENVOLVIMENTO c.11-74
REEXPOSIO c.75-81
CODA c.100-110
Tabela 1: Diviso Estrutural do Primeiro Movimento da Sonata de Camargo Guarnieri.
J Freire considera que a seo de exposio da sonata encerra-se no compasso 20. A
divergncia justifica-se pois esta uma obra monotemtica e extremamente coesa. Motivos do
tema so reconhecidos em todo o movimento e por isso a delimitao das sees da forma
menos evidente.
A obra inicia-se com a apresentao do tema (c.1-4), que em seguida reapresentado
um semitom acima (c.4-7). Uma ponte de quatro compassos conduz ao incio do
desenvolvimento (c.11), onde ocorre a apresentao do tema j fragmentado e modificado
ritmicamente. Neste ponto (c.11), o incio do processo de variao temtica marca o incio de
uma nova seo. O presente estudo compartilha da leitura formal da obra feita por Carramaschi.
A anlise de Helena Freire
Freire opta pelo mtodo analtico da teoria de conjuntos (Pitch Class Set Theory). Como
Guarnieri utiliza um idioma impregnado de cromatismo, a autora considera que este mtodo
analtico o mais adequado e estabelece 4 grupos ou conjuntos de notas (sets) como a seguir:
(M7) (a stima maior inicial) = motivo a
(0,2,7) = motivo b
(0,1,3,6) = motivo c
(0,1,2) = motivo d
A autora observa como o intervalo de stima que inicia o tema pode ser interpretado
como a base para os outros motivos c e b. Este mtodo possibilita o estabelecimento de relaes
entre vrios motivos da sonata. Freire, por outro lado, no chega a fazer o mapeamento dos
motivos a,b,c e d em todo o movimento, detendo-se no levantamento estatstico da utilizao
destes motivos. Segundo a autora, o motivo b utilizado 151 vezes, somados os grupos verticais
e horizontais, o motivo c 36 vezes e o motivo d 26 vezes.
A utilizao do mtodo analtico da teoria de conjuntos evidenciou a coeso motvica da
obra. No entanto, elementos tais como textura, dinmica, ritmo e tcnicas composicionais sero
abordados a seguir a fim de investigar os contrastes de carter nas diversas subsees deste
primeiro movimento.
O Tema
Os principais elementos constituintes do tema a serem discutidos sero: relao intervalar,
direcionamento da linha meldica, harmonizao quartal, utilizao da escala cromtica, uso de
estruturas polifnicas e carter percussivo.
O tema principia em anacruse sendo que o intervalo de stima descendente realizado em
dinmica forte e por uma nica voz apresenta ao ouvinte um gesto forte e decidido. Observa-se
que este intervalo amplo imprime a caracterstica mais marcante do gesto inicial, sendo portanto
reconhecido em momentos de significado estrutural tais como o incio de sees. Os acordes
quartais evidenciam o intervalo de stima no plano vertical (c.2 e 4).
No tocante direo da linha meldica, observa-se que ao movimento ascendente da
melodia do soprano (c.2) opem-se intervenes em movimento descendente do baixo (c.1, 2 e
3). Este um dos elementos que contribuem para o carter tenso do tema: a coexistncia
destes elementos opostos. A este respeito, o crtico Caldeira Filho escreve: ...De outro ponto de
vista, o das direes lineares, o movimento mostra-se tambm fundamental na esttica da Sonata.
O impulso ascendente do tema inicial dado com a oposio simultnea do desenho descendente
da mo esquerda, oposio que engendra de imediato o estado de esprito que d ttulo ao
trecho.
Observa-se o extenso uso de harmonias quartais, que se estende tambm ao plano
horizontal no ltimo compasso do tema (c.4). Aqui observa-se a evocao do violo na escrita
pianstica de Camargo Guarnieri. A linha meldica formada por quartas sucessivas remete ao
arpejar do violo com as cordas soltas. O acorde subdividido em baixo e grupo de duas notas
tambm denota influencia da prtica de execuo violonstica na escrita pianstica de Guarnieri.
Por outro lado sugere-se que esta escrita denota a incorporao de elementos populares urbanos
tais como a baixaria.
i
O cromatismo reiterado j prenunciado no tema pelo intervalo de stima maior, que a
inverso da 2m, reforado por outros motivos cromticos, um nos c. 3 e 4 e outro contornado
de semitons (4 e 5 tempos c.1).
Um outro ponto a ser levantado na caracterizao deste tema o tratamento polifnico
de alguns motivos. No c.1, a partir da nota f (m.d., c.1-2) iniciam-se duas vozes, uma repetindo
esta nota e a outra em movimento cromtico descendente, e uma terceira voz acrescida ao
acorde ao final do c.2 (Ex.1). A repetio de notas, assim como de acordes sob o acento >
emprestam um carter percussivo ao tema.
Ex.1
Textura
A textura utilizada por Guarnieri essencialmente contrapontstica com o uso de imitao,
cnones em diminuio, aumentao e strettos. No entanto, o compositor opta por uma textura
homofnica para a coda do 1 movimento (c.100-110). A passagem, em oitavas, contrasta com
a textura contrapontstica do restante do movimento e marca o seu final. A ltima apresentao
de fragmentos do tema, na coda, feita portanto de forma clara e inequvoca.
O contraste de registro, textura e dinmica uma constante na delimitao de subsees
no desenvolvimento. textura cordal em dinmica fortssimo que assinala o clmax de diversas
sees sucedem-se apresentaes de fragmentos do tema em uma nica voz, que do incio a
novos segmentos caracterizados pela textura contrapontstica em dinmica piano (c.57, 63-aqui
no ocorre contraste de dinmica, 65, 67,e 74). importante tambm ressaltar a importncia
estrutural que as pausas representam para o contraste entre as sees.
Ex2, c.65:
i
As passagens modulatrias executadas nos tons mais graves do violo na prtica de choro.
J apontada por Carramaschi (p.?), Guarnieri utiliza a tcnica de colagem em seu
desenvolvimento temtico. A exposio do material temtico interrompida pela colagem de
outro material em meio apresentao do tema. J no incio do desenvolvimento o compositor
utiliza-se desta tcnica para quebrar a expectativa de exposio do tema pela terceira vez em uma
altura diferente. No compasso 12, ocorre uma colagem de elementos rtmicos percussivos que
fragmentam a exposio do tema.
O uso meldico do cromatismo e a utilizao de stimas, segundas e nonas para compor
acordes contribuem para o carter tenso do primeiro movimento. O uso percussivo destes
acordes, por vezes em ostinato, tambm afirma o carter designado. Na anlise da sonatina n7,
Helena Freire afirma: esta sonatina mostra uma nova concepo de sonoridade-uma expanso
da textura devido ao carter percussivo do primeiro movimento nas sees B e C e no ltimo
movimento.(Freire, 1984, p.108) Observa-se que o compositor j estava experimentando
recursos que utilizaria posteriormente na Sonata.
Ritmo
O carter tenso do primeiro movimento tambm pode ser observado no tratamento
dado ao parmetro ritmo. Na exposio cada compasso apresenta um nmero distinto de tempos
e esta irregularidade mtrica observada tambm na elaborao motvica. Em seqncia no
desenvolvimento (c.32 e 33), elementos so extrados e adicionados modificando a clula
seqenciada.Ex.3:
O uso de ostinatos rtmicos freqente no desenvolvimento e, em alguns casos, a
figurao meldica do ostinato gera uma acentuao natural em funo das diferentes alturas
(c.44 e 45). O contraponto entre o ostinato no soprano com acentuao sincopada e o baixo de
melodia estruturada na mtrica 2/4, gera uma rica multiplicidade rtmica.
O uso de sncopes bastante freqente no primeiro movimento. O ritmo sincopado est
presente na msica popular brasileira e o seu uso pelo compositor um das reflexo de sua
inclinao pelos pressupostos nacionalistas. Figuraes rtmicas bem delineadas cumprem um
papel importante tambm na delimitao de sees. A diminuio rtmica, por exemplo, um dos
recursos utilizados para construir um clmax (c.61,e 65). J na coda, observa-se uma
desacelerao rtmica marcando o final da obra.
Concluses
A sonata para piano de Guarnieri uma obra singular. Segundo o prprio compositor,
representa o ponto culminante de sua produo para piano na forma clssica. As investigaes
analticas realizadas neste trabalho confirmam esta afirmao. Verificou-se a riqueza expressiva
do tema e a maestria com que o compositor manipula o material temtico no primeiro movimento
desta obra. Alm disto, esta sonata revela alguns aspectos estilsticos de Guarnieri. Observa-se a
preocupao com a forma, a assimetria na construo das melodias, a rica textura polifnica e
seu papel na articulao da forma, o contraponto rtmico, uso de ostinatos com implicaes
rtmicas e a liberdade mtrica. No que se refere harmonizao, o uso de acordes compostos de
quartas e quintas e o cromatismo so cuidadosamente articulados. O uso extensivo das
dissonncias caracteriza o primeiro movimento e mais um elemento que contribui para o seu
carter tenso.
Com esta obra, observa-se que Guarnieri compreende a sonata como um princpio de
desenvolvimento temtico contnuo. Isto aproxima o compositor da tradio germnica de
Haydn, Brahms e Schoenberg, compositores que ele admirava e estudava. Em seu livro
Brahms and the Principle of Developing Variation, Walter Frish discute o processo de
variao contnua na obra de Brahms. A observao de Frish que se segue bem poderia refletir
procedimentos composicionais de Guarnieri na Sonata: a forma torna-se uma expresso
luminosa dos procedimentos flexveis e poderosos da variao contnua.(Frisch, 1984, p.34)
O monotematicismo da Sonata contraposto s distines de carter nas subsees. Se
por um lado observa-se a economia de material temtico e grande coeso, por outro lado
diversos climas emocionais so gerados pela rica elaborao temtica a partir do mesmo
material. Essa polaridade entre unicidade do material temtico e pluralidade de carter tambm
contribui para o carter tenso da obra. O 1 movimento desta obra exibe um discurso pautado
por exacerbada expressividade. Em uma entrevista de 1997, o compositor afirma: Eu no
posso escrever nada que no seja uma mensagem de emoo.(Freire, 1984, p.28). O
compositor Aaron Copland tambm faz uma observao a este respeito em entrevista sobre
Guarnieri: O compositor tem tudo o que necessrio- personalidade prpria, tcnica apurada, e
imaginao fecunda... O que eu mais gosto em sua msica a saudvel expresso
emocional.(Freire, 1984,29). Se por um lado observa-se a economia quanto ao nmero de
temas nesta sonata, a elaborao dos materiais temticos reveste-se de variadas emoes e
carter diferenciados ao longo dos seus 110 compassos. Nas palavras do prprio compositor:
Sua forma composicional monotemtica. No desenvolvimento aparecem alguns elementos j
expostos, somente com roupagem e impulsos emotivos diferentes.
Referncias Bibliogrficas
CARRAMASCHI, Elizabeth. Camargo Guarnieri, a Study of a Brazilian Composer and na
Analysis of his Sonata para Piano. Iowa University, 1987. Dissertao de doutorado.
FREIRE, Helena. The piano sonatinas and sonata of Camargo Guarnieri. Indiana University,
1984. Dissertao de doutorado.
FRISCH, Walter. Brahms and the Principle of Developing Variation. Los Angeles, California:
University of California Press,1984.
SILVA, Flvio. Camargo Guarnieri, o Tempo e a Msica. Rio de Janeiro: Funarte, 2001.
TINHORO, Jos Ramos. Pequena Histria da Msica Popular, So Paulo: Licena editorial
do Ciclo do Livro por cortesia da Editora Vozes Ltda.
VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri, Expresses de uma Vida. So Paulo: Edusp,
2001.
Acervo Joo Mohana: uma contribuio histrico-documental pesquisa
musical
J oo Berchmans de Carvalho Sobrinho
Universidade Federal do Piau (UFPI )
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
jbeckman@terra.com.br
Resumo: Nesta comunicao pretende-se apresentar uma descrio do Acervo Joo Mohana, um
importante arquivo histrico-documental que reflete uma amostra significativa da produo musical
maranhense do sculo XVIII e primeira metade do sculo XIX. O objetivo divulgar, no meio
acadmico, este patrimnio musicolgico, comentando alguns aspectos relativos sua constituio
e sua poltica de consulta, bem como, apresentar elementos que possam despertar atividades de
pesquisa nos diversos campos de interesse da rea musical.
Palavras-chave: pesquisa em msica, acervos histricos e musicolgicos, Acervo Joo Mohana.
Abstract: In this presentation he intends to present a description of the Acervo Joo Mohana, an
important historical-documental archieve that reflects a significant sample of the production
musical from Maranho of the century XVIII and first half of the century XIX. The goal is to
divulge in the academic ambit this musicological patrimony, commenting some relative aspects to
its constitution and its politics consultation, as well as, to present elements that can wake up
research activities in the several fields of interest of the musical area.
Keywords: musical research, historical and musicological archieves, Acervo Joo Mohana.
Introduo
Os documentos musicais do Brasil esto, em sua maioria, cercados de problemticas
que refletem aspectos de catalogao, polticas de consulta e divulgao, alm da
caracterstica fragmentria do repertrio resguardado que, em algumas circunstncias, torna
o processo de pesquisa um verdadeiro martrio para o pesquisador.
No final da dcada de 80, do sculo passado, mais um acervo musicolgico se
tornou alvo de sistematizao arquivstica. Trata-se do Acervo Joo Mohana, uma coleo
de obras musicais recolhidas pelo padre e mdico maranhense, Joo Mohana, e que
representa uma amostra da produo musical do Maranho do sculo XIX e primeira
metade do sculo XX. Este conjunto de peas musicais, que totaliza 2.125 obras, foi
adquirido e organizado pelo Arquivo Pblico do Estado do Maranho, em 1987, estando
hoje sob sua guarda na rua de Nazar, N
o
218, no centro histrico de So Lus, em um setor
especfico relacionado produo musical maranhense.
2
Na tentativa de sistematizao da consulta foi publicado um catlogo bibliogrfico,
contendo uma descrio sucinta das obras e de sua orquestrao e do respectivo cdigo de
catalogao (Arquivo Pblico do Maranho, 1997). Como fazia parte de um esplio
particular at ento desconhecido dos pesquisadores, hoje possvel dimensionar a sua
importncia para a musical brasileira. Caracterizando-se pela multiplicidade de formas
sinfonias, missas, aberturas sinfnicas, peas para solista e de cmara de gneros
religioso, popular, operstico, camerstico e de funes concertos comemorativos,
festividades religiosas, temporadas lricas e de concertos, cerimnias de carter militar, e
divertimentos e saraus -, pode-se ter uma idia do perfil musical da sociedade maranhense
de ento.
Esta comunicao, portanto, tem o objetivo de empreender uma descrio do
conjunto documental do Acervo Joo Mohana, na tentativa de despertar o interesse dos
pesquisadores das diversas reas de produo cientfica sobre a msica brasileira.
Histrico do Acervo
Em seu livro A Grande Msica do Maranho, o Padre Joo Mohana faz um relato
de sua aventura musical, que comeou por volta de 1950, onde recolheu diversos
manuscritos musicais, cuja principal preocupao era a de constituir uma coleo de obras
no intuito de preservao da produo musical do Maranho. Como ele prprio afirmou,
esse se tornou o meu hobby o meu muito srio hobby (1995, p.09), que foi despertado
por ocasio da representao de um Pastoril na cidade de Viana, e do contato com velhos
portadores de uma parte da memria musical maranhense.
Para este grande humanista maranhense, o Maranho teve ento um perodo de
apogeu musical caracterizado por diversas frentes de produo, desde as pequenas retretas
domingueiras, os concertos do Teatro So Luiz, as Missas e Novenas grande instrumental,
at os saraus privados nos casares da alta sociedade.
Provavelmente isso foi fruto do ambiente oitocentista maranhense, que se
caracterizou por um intenso comrcio e produo de riquezas, sendo essas relaes
realizadas diretamente com a Corte de Lisboa. Esses fatores econmicos e sociais
3
favoreceram a um importante desenvolvimento cultural, particularmente na capital
porturia de So Lus, que, mais tarde, seria imortalizada na faustosa arquitetura dos
sobrados e palacetes, nos ornamentos e arabescos dos azulejos portugueses, que ajudaram a
compor a singela beleza do espao urbano que circunda a Praia Grande, num estilo
urbanstico prprio e diferenciado. o desencadeamento de uma prosperidade econmica
cujo apogeu ser atingido em meados do sculo XIX (Silva Filho,1998, p.19).
Perodo, tambm, em que se desenvolveu uma produo musical significativa de
obras e compositores, com a presena de orquestras, conjuntos de cmara, bandas, corais e
escolas de msica, domiciliares e pblicas. O musiclogo Alberto Dantas refere-se
representao, na metade do sculo XIX, de quarenta rcitas de trs peras estrangeiras
num espao de dois meses, apesar de no se perceber um desenvolvimento profissional e
artstico da msica maranhense (Dantas Filho, 1998, p.131).
Portanto, este arquivo reflete a produo musical em um recorte temporal e
geogrfico, e teve como preocupao primordial o salvamento do que restou dessa
produo. Essa iniciativa se caracteriza como
[...] uma reunio intencional, factcia, de documentos de origens diversas, com o fim
explcito de reuni-los [e] que no tm relao direta entre si , do ponto de vista da origem,
isto , dos organismos que a geraram e acumularam (Cotta, 2001, p.83-4).
A esse respeito, um aspecto pode ser observado: o da supresso de documentos
histricos de seu contexto original que pode ocasionar a perda de uma srie de relaes e
significados em relao aquele contexto (Cotta, 2001, p.84). Entretanto, entendo que esta
dificuldade possa ocorrer quando se trata de uma perspectiva analtica em uma escala mais
reduzida, como a dos recortes histrico-regionais. Por outro lado, esta iniciativa favorece
quando o alvo da pesquisa a abordagem em uma escala mais abrangente, como as
questes de gnero musical e de compositor.
O Acervo Joo Mohana, portanto, constitudo de obras de diversos gneros
musicais que representam uma parte da produo musical do sculo XIX e primeira metade
do XX, sendo que sua constituio foi oriunda de diversos esplios pessoais e de
corporaes musicais que pertenceram a um espectro geogrfico bem amplo. O Quadro
abaixo apresenta a relao de alguns municpios citados por Joo Mohana (1995), em sua
tarefa de recolhimento documental:
4
Quadro 1. Lista de Cidades
N
os
. Cidades
1 Alcntara
2 Arari
3 Cajari
4 Caxias
5 Cod
6 Colinas
7 Itapecuru-Mirim
8 Penalva
9 Rosrio
10 So Lus
11 So Vicente Ferrer
12 Viana
Acredito ser mais importante, neste momento, destacar o valor histrico desta
documentao, cabendo aos estudos que se seguiro no campo da pesquisa musical, a
produo de uma literatura crtica sobre ela, desvelando obras e revelando autores
importantes para histria musical brasileira.
Comentrios sobre algumas obras e compositores
O Acervo Joo Mohana possui algumas obras que merecem uma iniciativa de
estudos mais detalhados. Dentre estas, pode-se destacar as obras de Vicente Frrer de Lyra
e Antnio Luis Mir, ambos compositores portugueses que atuaram no Maranho na
primeira metade do sculo XIX, e pelo lado maranhense, composies dos irmos Antnio
e Leocdio Rayol, de Francisco Libnio Colas, Igncio Cunha, Elpdio Pereira, Catulo da
Paixo Cearense, dentre outras (Arquivo Pblico do Estado do Maranho, 1997).
5
Deste conjunto, destaco algumas obras de carter religioso que traduzem um bom
desenvolvimento musical, tanto no tratamento da orquestrao, como na freqente
utilizao coral e solista, com passagens virtuossticas, em que demonstra a existncia de
conjuntos mais ou menos estveis e de executantes habilitados.
Uma outra espcie que se destaca so as peas para instrumento solista e canto
acompanhado, que constituem uma imensa amostra de produo de msica de cmara e de
danas pblicas e de sales, relativas primeira metade do sculo XX. um rico manancial
de valsas, modinhas, choros, canes, frevos, cocos, sambas, lundus, batuques, que
representam exemplos criativos de formas musicais urbanizadas, documentos de feio rara
para os estudos musicolgicos e etnomusicolgicos.
No Quadro 2, apresento a descrio de algumas obras do Catlogo.
Quadro 2. Inventrio do Acervo Joo Mohana
Compositores Obras Orquestrao No. de Catlogo
Missa Rquiem S, T, B, 2 coros e rgo, fl, cl I
e II, tp, trb, vl I e II, vla, vc,
cb.
0307/95
Ancora Io Non Vi
Posso Amar?
MS ou Bar, fl, vl, vla, vc, cb,
harp, pn.
0286/95
Preguiera de Tosti S ou T, fl, ob, fag, cor, cl trb,
tp, timp, vl, vla, vc, cb.
0291/95
Antnio Rayol
Serenata Brasileira Voz, fl, cl, cor ing, vl, vla, vc,
pn.
0285/95
Antnio Luis Mir Novena de N. S. dos
Remdios
S, A, T, B coro, fl, cl, fag,cor,
tp, oph, timp, vl I, II, III, IV,
vla, vc, cb.
0220/95
Igncio Cunha Milagres de S. Jos de
Ribamar
Piano, coro, solistas em 3 atos
e 4 quadros.
0847/95
Dous Psalmos (Dixit
Dominus, Magnificat)
S, A, T, B, coro, fl, cl I e II,
fag, cor, tp, trb, vl I e II, vla,
vc, cb, timp.
1071/95 Leocdio Rayol
Missa do Grande Credo S, M,T, Bar, B, coro, fl, ob, clI
e clII, fag corI e II, tp, trb I e
II, vl I e II, vla, vc, cb, timp.
1073/95
Vicente Frrer de Lyra Motetos I a VII C, T, B, harmon, fl, cl, vl I e
II, vc.
1685/95
Francisco Libnio Colas Moteto a trs vozes Ms, T, B, harmon, vl I e II, cb. 0511/95
6
Com relao a alguns autores, Antnio Luis Mir foi um importante compositor
portugus de origem espanhola, tendo ocupado o cargo de maestro do Teatro So Carlos de
Lisboa e de diretor de ensaios do Teatro das Laranjeiras do Conde de Farrobo, locais em
que dirigiu vrias peras at mudar-se para o Brasil. Ernesto Vieira faz um resumo da
passagem atribulada de Mir pelo Brasil.
Em dezembro do referido anno (1849), depois de ter dado um espetaculo em seu beneficio,
partiu para o Brasil [...]. Em 1850 estava estabelecido no Maranho como professor de
piano e director de uma companhia lyrica italiana. Algum tempo depois accometteu-o uma
terrivel molestia, e resolvendo regressar Europa para vr se obtinha melhoras, sahiu do
Maranho para Pernambuco, falleccendo, segundo consta, nesta cidade em maio de 1853.
(1900, v.2, p.94).
Vicente Ferre de Lyra foi o primeiro mestre de capela do sculo XIX da S de So
Lus, tendo nascido em Portugal, por volta de 1796, em local ainda ignorado, atuando como
cantor na S de Lisboa. Ernesto Vieira afirma desconhecer as particularidades biogrficas
do Lyra, mas informa a sua entrada para a Irmandade de Santa Ceclia em 22 de dezembro
de 1814, sendo durante esse tempo cantor da S, com voz de tenor e de sua sada de
Lisboa a partir de 1826 (1900, p.37). Vicente Frrer de Lyra faleceu em So Lus do
Maranho, em 1857, sendo sepultado na S, cuja lpide se encontra na sala capitular.
Francisco Libnio Cols, violinista exmio e regente de orchestra dos theatros do
Norte do paiz (Amaral, 1992, p.259), era oriundo de uma famlia de msicos maranhenses.
Atuou como compositor, instrumentista e regente desde a Bahia at o Par, pelo menos
(Diniz, 1979, p.01). O musiclogo Pe. Jaime Diniz transcreveu a sua Marcha Fnebre N
o
. 1
em Edies do Coro Guararapes (Recife, 1979). Em Lisboa, localizei a obra Cames.
Marcha triumphal a grande orchestra em solemnisao ao tricentenario de Luiz de
Cames, principe dos poetas portuguezes 1880, Pernambuco. Dedicado a D. Lus I.
Manuscrito autgrafo (Flores de Msica da Biblioteca da Ajuda, Lisboa, 1973).
Leocdio Rayol (1849-1909) foi compositor, instrumentista e regente na capital
maranhense at mudar-se, em 1883, para o Rio de Janeiro onde participou como violinista
do Club Beethoven. Comps msica religiosa e para o teatro, onde desenvolveu com o
dramaturgo Arthur Azevedo, algumas comdias musicais. Parte de sua obra musical
religiosa est sendo fruto de minha tese de doutoramento, na Universidade Federal do rio
Grande do Sul.
7
Antnio Rayol (1855-1905), irmo de Leocdio e descendente de uma famlia de
msicos maranhenses, foi compositor e cantor com especializao em Milo. Exerceu
diversas funes artsticas na capital maranhense, particularmente, a idealizao da Escola
de Msica do Maranho.
Algumas Consideraes sobre o Acervo
Com relao s condies de acesso para a consulta, o Acervo encontra-se aberto
aos pesquisadores interessados em seu horrio de funcionamento, das 13 s 18 horas, numa
sala pertencente ao Arquivo Pblico do Maranho. As obras podem ser solicitadas no
momento da pesquisa, no havendo restries consulta do material de interesse. Como
no possui fotocopiadora, o Arquivo permite a cpia externa com acompanhamento de um
funcionrio. Como alternativa mais prtica, sugiro a cpia digital atravs de fotografia, pois
alm de proteger a documentao, torna o trabalho gil e produtivo.
Portanto, este acervo constitui um patrimnio cultural adquirido e gerenciado pelo
Estado do Maranho, e tem como objetivo gerenciar em um local adequado o suporte
histrico e documental pesquisa fontes histricas maranhenses. Desenvolve hoje,
tambm, diversas outras atividades ligadas aos estudos cientficos, estando disponvel para
a consulta os seus diversos setores que compem a memria dessa regio.
Bibliografia
AMARAL, Jos Ribeiro do. Estado do Maranho: Histria Artstica. In:
Diccionario Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil. Comemorativo
do Primeiro Centenrio da Independencia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1922, 2
o
v.
COTTA, Andr Guerra. Os Descobrimentos do Brasil: dos Arquivos Musicais a
outras Histrias da Msica. Anais do 4
o
. Encontro de Musicologia Histrica.
Juiz de Fora: 2001, p.72-95.
DANTAS FILHO, Alberto P. A Msica Oitocentista na Ilha de So Lus:
descontinuidades de um romantismo perifrico. Anais do III Encontro de
Musicologia Histrica. Juiz de Fora: 1998, p.129-138.
8
DINIZ, Pe. Jaime C. Francisco Libnio Cols. Marcha Fnebre No. 1. Traos Bio-
bibliogrficos, Restaurao e Reviso. Recife, Edies do Coro Guararapes do
Recife, 1979.
FLORES DE MSICA DA BIBLIOTECA DA AJUDA. Exposies de Raridades
Musicais Manuscritas e Impressas dos Sculos XI a XX. Ministrio da
Educao Nacional. Secretaria de Estado da Instruo e da Cultura. Biblioteca
da Ajuda. Lisboa: 1973.
INVENTRIO DO ACERVO JOO MOHANA. Arquivo Pblico do Estado do
Maranho. So Lus: Edies Secretaria do Estado e Cultura do Maranho,
1997.
MOHANA, Joo. A Grande Msica do Maranho. So Lus: Edies SECMA,
1995, 2 ed.
SILVA FILHO, Olavo Pereira da. Arquitetura Luso-Brasileira no Maranho. Belo
Horizonte: Formato, 1998.
VIEIRA, Ernesto. Dicionario Biographico de Musicos Portuguezes. Historia e
Bibliografia da Musica em Portugal. Lisboa: Lambertini, 1900.
Pianistas e Cludio Santoro: um estudo etnomusicolgico
J oo Miguel Bellard Freire
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
jmbfreire@yahoo.com
Resumo: Este trabalho pretende realizar uma anlise sobre a interpretao pianstica de obras de
Cludio Santoro (1919-1989) sob um enfoque etnomusicolgico. Trataremos os pianistas como um
grupo sonoro (sound group) (Blacking,1995) e nos deteremos nas consideraes destes sobre o
campo artstico (Bourdieu, 1996) no qual se inserem. Para isso, utilizaremos o conceito de habitus
(Bourdieu, 1972, In: Turino, 1999) evidenciando aquilo que suas vises sobre interpretao trazem
de senso comum, as contradies e similitudes entre os diversos discursos e posicionamentos dos
intrpretes, bem como sua repercusso no resultado musical.
Palavras-chave: pianistas, etnomusicologia, Santoro
Abstract: This paper analizes the point of view of Brazilian pianists about Western concert music
and their interpretations of Cludio Santoros piano works in an ethnomusicology perspective. The
pianists will be considered as a sound group (BLACKING, 1995) and we will focus on their
comments about the artistic field (BOURDIEU, 1996) they are in. In order to perceive
contradictions, similarities and common sense statements, we will employ Bourdieus concept of
habitus ( BOURDIEU, 1972, in: TURINO, 1999).
Keywords: pianists, ethnomusicology, Santoro
Esta comunicao apresenta resultados parciais de uma pesquisa com pianistas sobre a interpretao
de obras de Cludio Santoro (1919-1989) e de suas vises sobre a msica de concerto, procurando
caracteriz-los como um grupo sonoro (BLACKING, 1995).
1
A interpretao um conceito fundamental na msica de concerto ocidental. Sua relevncia se deve
ao fato de que as obras desse repertrio so quase sempre escritas, muitas so de perodos histriocos
anteriores ao atual, e, mesmo as obras contemporneas, no so em sua maioria executadas por seus
compositores.
A figura do intrprete surgiu de uma diviso de trabalho musical (TRAVASSOS, 1997) provocada
pela crescente dificuldade de execuo das obras compostas especialmente a partir do sculo XIX. Antes, os
compositores executavam suas obras e tocavam mais de um instrumento. A partir de ento, os intrpretes (que
se dedicam a um nico instrumento) ficariam quase ou exclusivamente voltados para a execuo de obras,
deixando de compor. Aparece o virtuose
2
, msico de capacidades instrumentais altssimas, aclamado pelo
pblico e muitas vezes condenado pelos compositores ou pela crtica, acusado de preocupaes meramente
acrobticas, muitas vezes deturpando as obras.
Passado o Romantismo, poca de ouro dos virtuoses, vemos no sculo XX e no XXI, a continuao
das discusses sobre interpretao e sobre o papel do intrprete. Quase sempre nos estudos sobre a msica de
1
Este trabalho baseia-se parcialmente na comunicao Um estudo etnomusicolgico da interpretao
pianstica das obras de Cludio Santoro, apresentada no 1 Encontro Nacional da Associao Brasileira de
Etnomusicologia (ABET) em 2002.
2
Para uma discusso mais aprofundada sobre o virutose, ver TRAVASSOS, 1997.
concerto, no contemplada a vis o dos intrpretes sobre as obras. Os musiclogos so os encarregados de
construir um saber sobre a msica.
Acreditamos que os intrpretes podem contribuir para o estudo das obras- primeiro pelas
interpretaes musicais e, depois, por seu discurso sobre a msica. Vinay (1995) afirma que a viso da obra
musical como objeto sonoro constantemente renovado pela interpretao uma faceta da pesquisa musical
pouco explorada. Para o autor, a interpretao poderia revelar aspectos da estrutura da obra. Em nossa
pesquisa, entrevistamos pianistas brasileiros que j gravaram obras de Santoro sobre questes relativas
interpretao, tempo e forma na msica e aspectos ideolgicos relacionados escolha de repertrio, entre
outros temas.
3
Em outra etapa, analisaremos as gravaes feitas pelos mesmos das obras de Santoro selecionadas.
Desse modo, conjugaremos os dois tipos de discurso sobre a msica apontados por Blacking, (1995): um
verbal, ao falar sobre a msica com os intrpretes, e um no-verbal, representado pelas interpretaes
musicais propriamente ditas.
Trataremos os pianistas como grupo sonoro(sound group), termo proposto por Blacking (1995).
Um grupo sonoro um grupo de pessoas que partilham uma linguagem musical, alm de idias em comum
sobre a msica. (BLACKING, 1995,p.232) Um grupo sonoro no precisa partilhar a mesma lngua verbal ou
classe econmica, podendo transcender nacionalidades. No caso da msica de concerto, os pianistas partilham
um mesmo repertrio e certos conhecimentos e pensamentos sobre a msica.
Os pianistas entrevistados no se opuseram a participar da pesquisa, embora algumas perguntas
tenham sido consideradas mais dif ceis ou pouco apropriadas. Um dos entrevistados disse: Ns no somos
musiclogos, no estamos interessados em dar nomes s coisas; estamos interessados, sim, em faz-las. A
definio est no fazer, e no no explicar em palavras. Como nosso interesse no est no som puro, e sim,
em caracterizar aspectos de um grupo sonoro ( Blacking, 1995), achamos relevante contrapor os dois tipos de
discurso sobre a msica (idem).
4
Os pianistas possuem grandes conhecimentos sobre o repertrio, tratados de estilo, etc e apresentam
vises crticas com relao a aspectos da performance. No entanto, ao serem submetidos s entrevistas
deixam transparecer uma viso de Histria da Msica positivista e idealista, repetindo posies nem sempre
to corretas, mais prximas ao senso comum.
Para tratarmos disso, utilizaremos o conceito de habitus de Pierre Bourdieu. Este seria um princpio
mediador entre a prtica individual e o que ele chama de estruturas objetivas. (TURINO,1999, p.15) O
habitus tem uma relao dialtica com as condies externas- as prticas individuais por ele geradas so
exteriorizadas em formas que viram modelos formadores de disposies internalizadas.
3
Consideramos oportuno nesses trabalho no colocar o nome dos entrevistados.
4
Acreditamos ser melhor caracterizar os pianistas como grupo sonoro do que como uma comunidade, visto
que estes esto dispersos pelo mundo, trabalham de forma mais individual, sendo o que os caracteriza como
comunidade a msica que tocam.
Aquilo que est inserido no habitus, normalmente no verbalizado. Nas entrevistas com os
pianistas, ao perguntarmos sobre conceitos tomados como bvios (o que ritmo, tempo, interpretao, etc.),
estamos procurando evidenciar elementos da cultura desse grupo sonoro que caem no terreno do habitus.
Os pianistas concordaram que no h interpretaes definitivas de obras e que podem haver
diferentes leituras das mesmas. Todos acreditam em uma fidelidade partitura, embora haja discordncia
sobre a necessidade de se conhecer as intenes do compositor.
Para a entrevistada A, Interpretar vivenciar a obra. Para o B, A interpretao a leitura
inteligente e informada de uma obra e a comunicao dessa leitura. Para ele, a verdadeira interpretao
pressupe comunicao.
A questo da comunicao apontada por este pianista como primordial no seu trabalho como
intrprete, especialmente ao se apresentar para o pblico. Para a outra pianista citada, a comunicao uma
inteno, mas no uma preocupao no momento da performance. Para a pianista C, ao tocar em pblico, sua
imerso na obra to intensa ao ponto de esquecer do pblico enquanto toca uma obra. Ela afirmou que
gostaria que as pessoas entendessem o que ela toca, mas que sua concentrao dirigida para a obra.
Os pianistas tiveram posies diferentes quanto a utilizar recursos analticos para tocar uma obra. O
pianista B afirmou que faz uso de todos os recursos analticos disponveis e que possa inventar. A pianista A
disse que no gosta de racionalizar seu trabalho musical. Ela disse que a experincia sonora dita a
interpretao. Essa ausncia de anlise , na verdade, algo impossvel, pois mesmo que isso no seja
premeditado, seu conhecimento da linguagem musical faz com ela possa entender estruturas, harmonias, etc.
5
A pianista C disse que no analisa as obras embora j o tenha feito em sua poca de estudante. Ela disse que
j faz uma leitura ordenada (devido sua experincia com anlise), buscando as estruturas da obra, sem,
contudo, fazer uma anlise completa no papel.
Perguntados sobre o que acreditavam ser possvel comunicar atravs da msica, a pianista A
respondeu arte, enquanto o B disse aquilo que possvel comunicar atravs da msica (...), estruturas,
relaes (...). Este pianista falou da importncia da riqueza interna do intrprete nessa comunicao. A
pianista C falou que pode passar todo tipo de sentimento. Para ela, ao sair de um concerto (...) a pessoa
[pblico] deve ir para casa cheia de idias e sentimentos. Embora essa pianista tenha dito que durante sua
performance ela no se preocupa com o pblico, ela demonstra que para ela o objetivo final da performance
fazer com que o pblico se emocione.
Todos os entrevistados afirmaram que o ritmo um fator essencial para a interpretao. Para a
pianista A, ritmo o pulsar do corpo. Para o pianista B o ritmo vida da msica e um dos responsveis
principais pela comunicao com o pblico. A pianista C afirmou: ritmo a parte mais viva da msica.
Sobre a forma, essa mesma pianista disse: A forma um ser (...), um organismo completo. O
pianista B disse que o que conta sobre a forma a sua comunicao, que pressupe uma viso internalizada
5
Camos aqui em uma dicotomia (falsa) apontada por Bourdieu: entre inteligvel e sensvel. Es se tipo de
comentrio da pianista no permite uma apreenso cientfica, e seria uma forma de manter a arte como um
campo de exceo.
da msica. A pianista A define forma de uma maneira convergente: Forma a obra realizada. Fica
implcito nessa definio o papel do intrprete, que envolve a comunicao.
interessante notar que ao tratar do ritmo e da forma os pianistas fazem uso de analogias com
organismos ou vida. Monson (1996) ao estudar a interao entre msicos de jazz, percebeu que estes
comentavam as questes musicais das performances em grupo como se falassem de relaes pessoais, sem
mencionar aspectos tcnicos, mas falando em companherismo, por exemplo. Percebemos que os msicos
encaram sua msica e o que ela envolve no somente em termos musicais, mas como relaes sistmicas ou
como um convvio entre pessoas, enfatizando os comportamentos dos indivduos.
Sobre a influncia dos professores desses pianistas no que diz respeito realizao da forma por
estes, a maioria disse que houve pouco ou nenhum trabalho, nem discusso sobre esse tpico. A pianista A
disse que acha que sua capacidade de tocar a forma (entendida como um todo coeso) de uma obra era uma
caracterstica pessoal. O pianista B disse que o que contribuiu para seu entendimento formal foi o seu contato
com regentes e compositores. Somente a pianista C disse que seus professores trabalharam esse conceito com
ela. Curiosamente, essa pianista e o entrevistado B tiveram um professor de piano em comum e deram
respostas opostas.
interessante notar que os professores de piano muitas vezes se detm em parmetros sonoros
(beleza do som, dinmica, timbre) e em questes sobre a emoo relativa obra ou passagem, mas no
discutem tanto a estruturao da obra (o pianista disse que seus professores s corrigiam erros eventuais de
estrutura), tarefa deixada para professores de anlise, ou de outras cadeiras de msica. De certo modo, essa
seleo mostra uma separao entre interpretao e os conhecimentos da composio (ou teoria e prtica).
Perguntados sobre a organizao de seus concertos, os pianistas falaram que a seleo de repertrio
muitas vezes est atrelada ao patrocnio ou ao evento de que participam. Todos tocam msica brasileira em
suas apresentaes, sem que isso seja considerado por eles uma questo de afirmao de nacionalidade.
Somente a pianista C falou que ao tocar msica brasileira sentia uma grande responsabilidade. Ela afirmou
que queria mostrar aos seus colegas europeus que o repertrio brasileiro merecia um estudo to srio quanto
s obras de Beethoven, por exemplo. Essa pianista residiu na Europa por muitos anos e estreou muitas obras
de Santoro. Para ela, era motivo de orgulho.
Eles reconhecem que a msica brasileira serviu como porta de entrada em suas carreiras
internacionais, mas no se prendem a um tipo de repertrio somente. Todos acham que os estrangeiros
(principalmente europeus) pensam que pianistas brasileiros (que no so herdeiros diretos da tradio musical
europia) tm menos capacidade do que os europeus de tocar msica europia. A pianista A falou de uma
viso colonialista que ainda existe em relao aos pianistas brasileiros e a msica brasileira, que vista como
produto extico.
Sobre Santoro, todos os pianistas disseram apreciar suas obras para piano. Para a pianista C, que
viveu na Europa, ele o maior compositor brasileiro do sculo XX, depois de Villa-Lobos. Ela tocou muitas
obras do compositor, incluindo um concerto de piano e orquestra. J os outros, tocaram poucas obras, mas
todos tocam os Preldios do 1 Caderno, compostos no final dos anos 50, com harmonias e melodias que
lembram a bossa-nova. Os pianistas falam da grande qualidade das composies e disseram adot-las com
freqncia com seus alunos. O pianista B ressaltou como interessante as mudanas de estilo do compositor,
ao longo de sua vida.
Os entrevistados se acham capazes de ter interpretaes de qualidade em qualquer repertrio, sendo
que a capacidade de interpretar melhor determinados repertrios no depende de nacionalidade, e, sim, de
afinidade de temperamento com as obras. Vemos uma questo de gosto e de personalidade que influenciam o
tipo de msica a ser tocada.
Retomando a questo do virtuose apontada no incio, achamos interessante citar o pianista B. Em sua
entrevista, ele falou de distores na interpretao realizadas por intrpretes atuais. E foi mais adiante:
(...) o intrprete tem vrias possibilidades, ele tem a possibilidade de ele procurar,
digamos assim, entender e compreender a obra e as intenes do compositor e fazer
isso atravs da comunicao desa obra ou ele utilizar a obra como elemento de
show, de demonstrao de suas capacidades. (...) a obra tocada no para
comunicar o que ela tem a dizer, mas para poder fazer com que esse intrprete se
destaque dos outros e leve a um prmio ou a uma vitria.
Curiosamente, esse tipo de declarao se aproxima das de Mrio de Andrade ao criticar o virtuose
pelos exageros e deformaes da msica, alm do elemento de exibio e malabarismos (TRAVASSOS,
1997)
Pudemos constatar que os pianistas realmente podem ser considerados como um grupo sonoro, j
que partilham repertrio e uma ideologia sobre sua prtica musical. Constatamos que a ideologia no muito
clara no posicionamento dos entrevistados, mas que algumas vezes recai em uma viso idealizada de msica,
herdada do Romantismo. Embora no tenham falado de dom, a colocao da pianista que afirmou ter tudo
que precisa saber atravs do som, como se a obra ditasse sua interpretao, nos leva a um terreno subjetivo,
que consistiria, de acordo com Bourdieu (1996), na reao que o campo artstico teria com relao s
tentativas de objetivao antropolgica sobre o mesmo.
6
Esse tipo de discurso, que repete estruturas que so internalizadas, pode ser percebido na esfera do
habitus e se encontra misturado com formulaes musicolgicas e aspectos pessoais. O campo musical
envolvido com a performance ainda no se beneficiou de uma viso mais real sobre suas prticas, ainda
caindo em lugares comuns. Acreditamos que a contribuio de um estudo etnomusicolgico sobre a
interpretao no mbito da msica de concerto possa contribuir para uma reflexo mais aprofundada sobre
aspectos que, por no serem discutidos, acabam sendo um espao em que concepes falsas e pouco
elaboradas so passadas aos estudantes, vigorando mesmo entre os profissionais da rea.
O estudo da interpretao das obras de Cludio Santoro ser detalhado com a etapa de gravao e
audio das obras. Achamos que haver um terreno bastante frtil nessa parte da pesquisa, pois estaremos
lidando com a especialidade desses msicos: tocar. A interao do discurso verbal sobre a msica e do no-
6
Com relao a correntes literrias que afirmam que tudo que preciso saber para compreender uma obra
est contido na prpria, o autor fala que essa seria a instncia mxima de absolutizao do texto. O mesmo
pode ser dito da viso da pianista sobre a obra musical.
verbal (a performance) oferece uma possibilidade de compreenso mais aprofundada sobre a msica, sem que
isso seja uma forma de reducionismo ou da depreciao do valor da msica.
A renncia ao angelismo do interesse puro pela forma pura o preo que
preciso pagar para compreender a lgica desses universos sociais que, atravs
da alquimia social de suas leis histricas de funcionamento, chegam a extrair da
defrontao muitas vezes implacveis das paixes e dos interesses particulares,
a essncia sublimada do universal; e oferecer uma viso mais verdadeira e, em
definitivo, mais tranqilizadora, porque menos sobre-humana, das conquistas
mais altas da ao humana. (BOURDIEU, 1996,p.16)
BIBLIOGRAFIA
BLACKING, John. Music, culture and experience. Chicago: The University of Chicago Press, 1995
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. So Paulo: Companhia das Letras, 1996
SADIE, Stanley (org.).The new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan, 1976
MONSON, Ingrid. Saying something: jazz improvisation and interaction. Chicago: The University of
Chicago Press, 1996
NETTL, Bruno. In the course of performance- studies in the world of musical improvisation. Chicago:
The University of Chicago Press, 1998
TRAVASSOS, Elizabeth.Redesenhando as fronteiras do gosto. In: Horizontes Antropolgicos- Msica
e Sociedade,n 11, Porto Alegre: PPGAS, 1999, p.119-144
____________________. Os mandarins milagrosos- arte e etnografia em Mrio de Andrade eBla
Brtok. Rio de Janeiro: Funarte; Jorge Zahar Editor, 1997
TURINO, Thomas. Estrutura, contexto e estratgia na etnografia musical. In: Horizontes
Antropolgicos- Msica e Sociedade,n 11, Porto Alegre: PPGAS, 1999, p.13-28
VINAY, Gianfranco. LInterpretation comme analyse: les Variations Goldberg. In: Revue de
Musicologie, 81/1. Paris: s.e., 1995, p.65-86
ZILBERMAN, Regina. Esttica da Recepo e Histria da Literatura. So Paulo: Editora tica, 1989
Produo cientfica em ensino coletivo de instrumentos de banda e o
terceiro setor: avaliao e perspectivas
J oel Luis Barbosa
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
jlsbarbosa@hotmail.com
Resumo: Esta comunicao avalia trs pesquisas interligadas, seguindo a temtica do congresso.
Ela relata seus procedimentos, resultados e impacto na rea, e analisa seu processo financeiro de
viabilizao. Elas visavam verificar, na prtica, a eficincia de um mtodo banda, experimentar um
modelo pedaggico de aplicao do mesmo e testar um formato de curso para capacitar msicos a
trabalharem com ele. Em todas elas foi utilizado o mtodo observacional para coleta de dados. Seus
resultados trouxeram contribuies imprescindveis adaptao desta pedagogia de ensino coletivo
educao musical no Brasil, garantindo a qualidade de produo de materiais didticos e de
modelos de cursos a ela relacionados. Hoje este mtodo viabiliza, financeiramente, o aprendizado
de muitos estudantes no pas. A produo de conhecimento, neste caso, ultrapassou os limites
financeiros de auxlio pesquisa por ser inserida no terceiro setor. Este procedimento ainda pode
trazer muitas perspectivas para o aprimoramento desta pedagogia, considerando o crescimento deste
setor no Brasil.
Palavras-chave: ensino coletivo, banda, msica instrumental
Abstract: This paper evaluates three connected research projects, following the congress theme. It
describes their procedures, results and impact to the area, and analyses its financial support. The
research projects aim to verify the efficiency of a band method book, to test a pedagogical model
for its application and to experiment a course pedagogic format to train musicians to work with it.
They followed an observational research method to gather data. Their results brought essential
contributions to the adaptation of the collective instruction pedagogy to the Brazilian music
education, ensuring the quality of the didactic material produced and courses formats elaborated.
This method book makes possible today, financially speaking, for many students to learn
instruments. The knowledge production, in this case, surpassed the limits of the financial support
for research by being inserted in the third sector. This procedu re may still bring perspectives to the
improvement of this pedagogy, considering the growing of this sector in Brazil.
Keywords: collective instruction, instrumental music, band
Introduo
Em um pas de dimenses continentais, com uma vasta diversidade cultural e com tanta disparidade
financeira, como o Brasil, a necessidade de um rico conjunto de metodologias para o ensino/aprendizado da
msica imprescindvel. Porm, uma grande dificuldade para criar essas metodologias o financiamento. A
situao se agrava ainda mais ao se tratar da educao musical atravs da msica instrumental, pois os valores
de instrumentos encarecem um projeto de pesquisa. No nordeste brasileiro, essas dificuldades so profundas
devido insuficiente quantidade de recursos destinada ao ensino e pesquisa na rea. Este relato descreve
experincias de produo de conhecimento para o ensino de instrumentos de banda (sopro e percusso) que
superaram as dificuldades econmicas na Bahia por se vincularem ao terceiro setor.
Estas experincias partiram de um projeto de pesquisa para o qual no se conseguia financiamento para
compra de instrumentos musicais, apenas bolsa para o pesquisador atravs das agncias de fomentos do pas.
Inicialmente ele seria conduzido na Escola de Msica da UFBA (EMUS), porm como a escola no possua
os instrumentos, procurou-se alguma entidade que os tivesse e os disponibilizasse para a ao. Todavia tal
entidade no foi encontrada. Por ltimo, o interesse de duas ONGs em inserir educao musical em suas
atividades, viabilizaram caminhos para se criar dois projetos com caractersticas que permitissem a conduo
da pesquisa: o Projeto UFBER e a Oficina para Filarmnica do Programa Maxitel-ArtEducAo.
Projeto UFBER
O Projeto UFBER se desenvolve na Sociedade 1
o
de Maio, localizada em Novos Alagados, um bairro muito
pobre de Salvador. Esta uma sociedade de moradores de bairro que se constitui, entre outras, de trs escolas
populares, uma creche e um centro com cursos pr-profissionalizantes. O Projeto nasceu da parceria entre a
Sociedade 1
o
de Maio e a EMUS, a ltima fornecendo professores e a primeira a infra-estrutura fsica e
instrumentos musicais.
As pesquisas conduzidas neste Projeto visavam testar um mtodo de banda para iniciantes, intitulado Da
Capo: Mtodo Elementar para o Ensino Coletivo e/ou Individual de Instrumentos de Banda, elaborado como
parte de minha de minha tese.
1
(BARBOSA, 1994) Test-lo era necessrio por se tratar de um material
elaborado a partir de um estudo terico, carecendo, assim, de ser experimentado na prtica antes de concluir
sua verso final. Alm disso, essa necessidade se devia ao fato dele ser inovador, envolvendo a adaptao de
uma pedagogia de ensino estadunidense para a educao musical brasileira. Os objetivos da pesquisa
visavam verificar: 1) se as atividades de ensino/aprendizado propostas no mtodo promoviam o crescimento
tcnico/musical esperado, 2) se havia clareza nas explicaes tericas e explanaes das suas atividades, 3) se
seu repertrio trazia satisfao musical aos iniciantes e 4) se o modelo pedaggico escolhido para aplicao
do mtodo permitia atingir os resultados desejados.
O modelo pedaggico escolhido constitua-se de uma aula semanal de 90 minutos no perodo de um ano
letivo. Os alunos tinham acesso aos instrumentos apenas por uma hora em cada dia til da semana. O corpo
docente era constitudo de um professor e um monitor e os sujeitos eram adolescentes. Ela tinha trs fases. Na
primeira, os instrumentos eram apresentados aos alunos para, aps experiment-los brevemente, definirem
qual aprenderiam. Na segunda fase, as aulas eram em grupos formados a partir de instrumentos de mesma
natureza. Nesta se aprendia respirao, postura, embocadura e se produzia os primeiros sons no instrumento.
A terceira fase se constitua de aulas coletivas utilizando-se o mtodo e repertrio, trabalhando leitura
musical, tcnica instrumental, percepo, conhecimento musical e criatividade. O mtodo funciona da
seguinte maneira: um elemento terico explicado e, em seguida, aprendido na prtica (cantando-o e
tocando-o coletivamente, em grupo e/ou individual mente). O aprendizado se d atravs de canes de
tradio oral cantadas no Brasil.
A metodologia empregada se constituiu de um estudo observacional onde se coletou dados atravs da
observao do andamento cotidiano das aulas, do rendimento geral dos alunos e do interesse e participao
dos mesmos. Constatou-se que os objetivos pedaggicos foram alcanados e que haviam interesse e satisfao
musical dos alunos durante o processo. O resultado do estudo confirmou a construo terica do mtodo e
forneceu indicaes para mudanas na verso final. Quanto ao modelo pedaggico, em repeties da
experimentao, onde se utilizou mais aulas semanais, se notou que eram necessrias trs aulas semanais de
uma hora para se trabalhar o mtodo em um ano letivo. Isso sem o aluno ter acesso ao instrumento fora da
aula.
Nos anos seguintes, alunos da EMUS foram capacitados a trabalhar com essa pedagogia de ensino coletivo no
Projeto. Esta uma capacitao rara em currculos brasileiros e que no tinha como ocorrer na EMUS por
falta de instrumentos. Essa capacitao foi para alguns desses alunos o projeto final do curso de licenciatura e
outros receberam crditos nesta atravs dos programas de extenso UFBA em Campo e ACC (Atividade
Curricular em Comunidade).
Esse formato para capacitao de msicos trabalharem com o mtodo fez parte de uma outra pesquisa. Seu
objetivo foi verificar a eficincia do prprio formato. Ele era dividido em quatro partes. Na primeira, aprendia
instrumentos que no conhecia nas aulas coletivas, com os iniciantes. Na segunda, como monitor, regia
msicas do mtodo para adquirir habilidades em regncia. Na terceira, trabalhava como professor, orientado
pelo professor da disciplina. Na ltima, fazia trabalhos escritos que requeriam conhecimentos histricos e
conceituais da pedagogia empregada no mtodo. A metodologia da pesquisa tambm seguiu o formato
observacional. Observou-se o rendimento dos sujeitos em cada fase e o resultado final dos alunos preparados
por eles. Os sujeitos eram alunos da EMUS, dos cursos de licenciatura e regncia que tinham uma atividade
semanal de 90 minutos no projeto, durante um ano letivo. Os dados demonstraram que esse formato de
capacitao eficiente para preparar profi ssionais para trabalharem com o mtodo.
O Projeto permite ainda pesquisar outros tpicos, tais como os relacionados aos seguintes resultados j
obtidos: 1) alunos iniciados e preparados no Projeto se tornaram multiplicadores da ao; 2) as perspectivas
sociais, educacionais e profissionais desses adolescentes se ampliaram, como demonstradas por alguns que
desejam prestar o vestibular da EMUS; 3) familiares, professores e agentes comunitrios comentam da
mudana positiva de comportamento desses jovens; e 4) o grupo instrumental desenvolveu bem, passando a
atuar fora da sua comunidade e mesmo em outras cidades, sendo convidado a gravar uma faixa de CD e
tornando-se objeto de reportagens de jornais televisivos regionais e nacionais.
O Projeto transformou-se num laboratrio de produo de conhecimento e de formao em educao musical,
provendo diretrizes para elaborao de material didtico e para formatos de cursos de capacitao. Alm
disso, nele se confirmou que o ensino coletivo de instrumentos de banda eficaz, tornando-o, por ser mais
barato que o individual, financeiramente mais acessvel a maioria da populao.
Oficina para Filarmnica do Programa Maxitel-ArtEducAo
A concepo geral do Programa Maxitel-ArtEducAo foi elaborada por Maria Eugnia Milet do CRIA
(Centro de Referncia Integral do Adolescente). Ele ocorreu em sete cidades e estavam envolvidas quatro
ONGs. A ao consistia de cada ONG passar um dia com alunos da rede pblica, realizando oficinas. Neste
1
O termo ensino coletivo utilizado neste trabalho para o ensino que envolve a banda completa e ensino
Programa foi possvel experimentar um modelo de apresentao de instrumentos musicais em uma das
oficinas da Casa das Filarmnicas, ONG voltada s bandas da Bahia. A oficina era ministrada por um
professor e um monitor, nos turnos matutino e vespertino, para 30 adolescentes da rede pblica que no
tinham tido contato algum com instrumentos de banda at aquela ocasio.
O modelo de apresentao de instrumentos consistia de cinco fases consecutivas. Na primeira fase ocorria
uma atividade de dinmica de grupo. Na segunda, o professor tocava um instrumento e convidava voluntrios
que quisessem aprend-lo. Ento se explicava a eles como produzir som no instrumento, em frente aos demais
colegas. Assim que eles conseguissem produzir duas notas, voltavam para suas cadeiras com os instrumentos
e acompanhavam o mesmo processo que iria ser conduzido com os demais alunos em outros instrumentos.
Quando todos j estavam com seus respectivos instrumentos, passava-se para a terceira fase. Nesta, tocava-se
notas articuladas e longas, buscando obter algum domnio da emisso de ar e de embocadura, e aprendia-se a
primeira melodia. Esta melodia era o refro da msica Berimbau de Baden Powel que utiliza apenas duas
notas separadas por um tom, exatamente as notas ensinadas na segunda fase. O aprendizado do refro era
feito por imitao, o professor cantava e tocava e, em seguida, os alunos repetiam, primeiro com a letra,
depois com os nomes das notas e logo aps tocando em seus instrumentos, coletivamente, em grupo e
individualmente, quando necessrio. A execuo era homofnica, indo do acorde de mi bemol maior para o
de f maior, com acompanhamento de percusso. Nesta fase eles tambm aprendiam a primeira parte da
msica Samba de Uma Nota S de Tom Jobim, sendo que a segunda parte era executada pelo professor,
enquanto o grupo o acompanhava com as mesmas notas da primeira parte. Esta segunda melodia era
aprendida da mesma maneira que a primeira e com um tratamento de alturas semelhante, homofnico, porm
no em unssono. Depois de aprendidas, elaborava-se um arranjo para cada uma delas. No caso de Berimbau,
o arranjo inclua sees de pequenas variaes sobre a melodia, tambm aprendidas por imitao. A quarta
fase consistia em apresentar o resultado publicamente, para os participantes das outras oficinas e es
pectadores da cidade que eram convidados pela mdia. Por ltimo, na quinta fase se fazia uma avaliao
escrita e verbal, em grupo.
A metodologia da pesquisa se constituiu da observao dos trabalhos realizados, da reao dos alunos e da
anlise da avaliao efetuada. Seus depoimentos demonstravam que gostaram muito de ter tido esta
experincia com o instrumento, que no imaginavam que tocar um instrumento poderia ser to prazeroso, que
quebraram o preconceito que tocar um instrumento muito difcil, e que desejavam continuar o aprendizado.
O interesse deles era notado tambm no comportamento e no fato de permanecerem na oficina o dia todo,
embora sendo livres para desistirem a qualquer momento. Ele era ainda mais evidente ao fim do dia, quando
vrios expressavam que era muito difcil devolverem o instrumento. Tambm os organizadores, produtores,
professores e espectadores expressavam o quo surpresos estavam de terem vistos estes adolescentes pela
manh sem saberem produzir som algum no instrumento e agora, no fim da tarde, executando essas melodias.
O trabalho trazia satisfao musical, como obser vado pelos alunos e platia. A pesquisa indicou que o
em grupo para as combinaes instrumentais diversas oriundas deste conjunto musical.
modelo aplicado era apropriado para se apresentar os instrumentos iniciantes, pois despertava o interesse
deles em aprend-los.
Esse modelo pedaggico de apresentao de instrumentos aprimorou a maneira pedaggica de utilizar o
mtodo, j testada no Projeto UFBER, pois sua primeira fase o processo de escolha do instrumento pelo
aluno. Este modelo foi testado em sete diferentes amostragens da populao. Seu custo foi muito alto, pois
inclua o financiamento da equipe, espao fsico, estadias, 30 instrumentos e viagens para sete cidades. Sua
viabilizao s foi possvel por meio do vnculo com o terceiro setor.
Discusso
Os resultados obtidos nas pesquisas realizadas nos Projeto UFBER e Programa Maxitel-ArtEducAo foram
imprecindveis para a aplicao do ensino coletivo de instrumentos de banda no Brasil. Foram estas pesquisas
que garantiram a qualidade de produo de materiais didticos, de modelos pedaggicos de aplicao do
mtodo e de formatos de cursos para capacitao na pedagogia. Hoje, a utilizao do mtodo e cursos sobre
ele ocorrem em diversos locais do pas, entre eles: Par, So Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Rondnia e
em encontros da Associao Brasileira de Educao Musical. Considerando o potencial arte-educativo do
ensino coletivo de instrumentos musicais, com suas possveis contribuies para a identidade cultural e
prtica da cidadania, cremos que a produo de conhecimento nesta pedagogia pode crescer muito ainda a
partir do vnculo com o terceiro setor, pois este vem crescendo muito no pas e canalizando grande
quantidades de recursos. (KLEBER, 2003)
Concluso
Encerrando, a produo de conhecimento, neste caso, foi possibilitada pela insero do projeto de pesquisa no
terceiro setor, ultrapassando os limites financeiros de auxlio pesquisa do pas, e este procedimento ainda
pode trazer perspectivas para o crescimento da rea.
Bibliografia
BARBOSA, Joel Luis. An adaptation of American band instruction method to Brazilian music education,
using Brazilian melodies. Seattle: University of Washington, Tese de doutorado no publicada, 1994.
KLEBER, Magali Oliveira. Projetos Sociais e a Prtica da Educao Musical. Boletim Informativo da ABEM,
Porto Alegre, 17, 2, 2003.
Medida de Similaridade de Estruturas Musicais no Espao de Fase
J natas Manzolli
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
jonatas@nics.unicamp.br
Adolfo Maia J r.
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
adolfo@nics.unicamp.br
Raul do Valle
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
raul@nics.unicamp.br
Danilo Machado
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
danilo@nics.unicamp.br
Resumo: Apresentamos um novo mtodo de anlise entre estruturas musicais aplicando-se medidas
sobre conjuntos de pontos denominados de Espao de Fase. Este mtodo, largamente utilizado para
descrever o comportamento temporal de Sistemas Dinmicos, pode tambm servir para medida
similaridade musical. Este artigo define as mtricas matemticas utilizadas na pesquisa, descreve a
metodologia de aquisio de dados utilizando arquivos MIDI e planilhas computacionais e
apresenta um exemplo aplicado a obra de Bach.
Palavras-chave: Similaridades Musicais, Espao de Fase, Mtricas Morfolgicas.
Abstract: We present a new methodology to music analysis between music structures using plots
named as Phase Space. This method, largely used to describe the time behaviour of Dynamic
Systems, could be also applied to measure music similarities. This article defines mathematical
metrics to measure music similarities, describes the data processing using MIDI files and computer
data sheets, and presents an example of the method applied to Bachs work.
Keywords: musical similarities, phase space, morphological metrics
1. Introduo
A utilizao de mtodos de anlise musical com auxlio do computador tem sido
largamente explorada desde as ltimas dcadas do sculo passado. Trabalhos pioneiros com
os de Bent & Morehen (1979; 1978) foram ponto de partida para muitas outras abordagens.
No caso particular de Bent houve um grande esforo em analisar estruturas musicais
consagradas como apresentado em (Bent, 1994).
Por outro lado, certos mecanismos matemticos podem elucidar aspectos relevantes
da msica. Polansky (1996) apresenta uma srie de mtodos para medir similaridade
morfolgica em msica utilizando mtricas matemticas. Seu foco foi o estudo de distncia
entre estruturas musicais sob certos parmetros de anlise, definies de mtricas
morfolgicas e multi-mtricas.
A contribuio deste artigo , a partir da noo de sistemas dinmicos (processos
que evoluem no tempo), derivar uma abordagem de representao e medida de estruturas
musicais no Espao de Fase utilizando mtodos estatsticos. Nas prximas sees
apresentamos os conceitos relacionados ao nosso mtodo, a formalizao da modelagem
matemtica, a metodologia de pesquisa e os resultados associados a um exemplo de anlise
do Preldio e Fuga XXII em Si bemol menor, Vol. II do Cravo Bem Temperado, de J.S.
Bach 1685-1750.
2. Mtodo do Espao de Fase
2.1 Espao de Fase das Alturas e rbitas
Seja U um conjunto de objetos ao qual denominamos de conjunto Universo. Suponhamos,
que ao longo do tempo t faamos escolhas destes objetos. Isto , dada uma seqncia de N
instantes de tempo
N N
t t t t < < <
1 2 1
.... , associamos a ela um subconjunto finito de N
objetos U t O O t O O t O O t O O O
N N N N
= = = = =
)} ( ), ( ),..., ( ), ( {
1 1 2 2 1 1
. O conjunto O
denominado de rbita em U . Vamos aqui, para efeito de aplicaes, tomar a varivel
tempo como sendo discreta.
No caso em estudo tomamos como conjunto Universo o Espao de Fase A, o qual
constitudo de pares ordenados ) , ( y x onde x uma altura dada e y o intervalo (medido
em semitons) para a prxima altura. Utilizando-se o protocolo MIDI podemos descrever
este conjunto da seguinte forma: se
1
x e x
2
so os valores da tabela MIDI de duas notas
contguas de uma pea em estudo,
1 2
x x y = o intervalo meldico entre elas medido em
semitons. A varivel y mede ento a variao intervalar da melodia ao logo do tempo.
Denominamos o conjunto A simplesmente de Espao de Fase das Alturas (EFA).
Podemos ento criar rbitas do tipo } , , 2 , 1 ), , ( { N i y x O O
i i i
K = = = no Espao de Fase A.
Da, uma pea polifnica seria representada por um conjunto de vrias rbitas,
digamos, M rbitas, {
) ( ) 2 ( ) 1 (
, ,
M
O O O L }. Nesta notao, o i-simo ponto da k-sima rbita
que ser denotado por
) ( k
i
O .
Podemos construir tambm, outro Espao de Fase, denotado por B relacionado a A
(EFA) definido como o conjunto dos pares ordenados N i y x
i i
... 1 ), , ( = onde, agora,
i
x
altura e
i
y a classe de altura de
i
x no sentido de Pitch Class como definido por Forte
(1973). Dentro desta representao, natural que se possa considerar rbitas em
B associadas a melodias codificadas no protocolo MIDI, estudar tambm suas estruturas e
subestruturas morfolgicas e como estas relacionam-se com a obra em anlise.
2.2 Mtricas no Espao de Fase
Nesta seco apresentamos a formulao estatstico-matemtica necessria para uma
anlise estatstica de estruturas no Espao de Fase (EFA) como definido acima.
Def. 1: Dados um Espao de Fase A e um conjunto de pontos {
i
x , com
N i ,... 2 , 1 = }, relacionados com intervalos musicais derivados de uma seqncia
dada de alturas (varivel y definida acima), definimos a Mdia Intervalar como:
N
y
y
N
i
i
=
=
1
Eq. (1)
Def. 2: A Disperso Intervalar como:
N
y y
N
i
i
=
=
1
Eq. (2)
Podemos tambm realizar medidas quantitativas entre duas estruturas musicais
como apresentado nos resultados da seo 3.2.3. Assim, precisamos definir uma medida de
distncia (mtrica) no espao de fase (bidimensional) A. Na verdade, h uma infinidade de
mtricas em A e apresentamos aqui a chamada Mtrica Euclidiana, a qual vamos denotar
por d e definida a seguir.
Def. 3: Dados dois pontos quaisquer em A, ) , (
1 1 1
y x O = e ) , (
2 2 2
y x O = ,
definimos a Distncia (Mtrica) Euclidiana entre eles como:
2
1 2
2
1 2 2 2 2 1 2 1
) ( ) ( )) , ( ), , (( } , ( y y x x y x y x d O O d = = Eq. (3)
Da, podemos descrever uma rbita (trajetria de alturas)
1
O e
2
O como
)} , ( ) ( {
1 1 1
i i i i
y x t O O O = = = , onde ) (
i i
t x x = e ) (
i i
t y y = , com N i L , 2 , 1 = . SE temos
ento duas rbitas ) , (
1
i i i
y x O = e ) , (
2
i i i
y x O = definimos a funo distncia entre os
objetos no tempo t
i
do espao de fase como:
) , ( ) (
2 1
i i i i i
O O d t d d = = com N i , , 2 , 1 L = Eq. (4)
Dentro desta abordagem estatstica so imediatas as prximas definies.
Def 4: Definimos a Distncia Mdia como:
N
d
d
N
i
i
=
=
1
Eq. (5)
Def 5: Definimos Desvio Mdio como: =
N
d d
N
i
i
=
1
Eq. (6)
3. Metodologia de Pesquisa e Resultados
Para se concretizar a anlise, a partir das mtricas apresentadas acima, foi necessrio
desenvolver um mtodo de obteno de dados, processamento e comparao dos mesmos.
No caso especfico deste trabalho, estaremos realizando uma anlise voltada utilizao de
conceitos matemticos e aplicao de processos informatizados. O sistema de anlise foi
alimentado com dados descritos atravs do protocolo MIDI. Utilizando-se deste recurso, a
anlise quantitativa dos resultados foi uma extenso natural do mtodo.
3.1 Obteno dos arquivos MIDI e grficos associados
Para obteno dos arquivos no formato MIDI foi necessria a digitao das obras usando o
programa Finale. Depois esses arquivos foram convertidos em arquivos texto alfa-
numricos, os quais foram as bases para a produo dos grficos e das tabelas apresentadas
a seguir. Com esses dados em mos, usamos o Microsoft Excel para realizar os clculos
necessrios descritos pelas mtricas apresentadas anteriormente, obter os grficos dos
Espaos de Fase e analisar os resultados.
3.2 Espaos de Fase Obtidos
Para exemplificar o mtodo do espao de fase, foram escolhidos o Preldio e a Fuga XXII.
Todavia, o mtodo tem generalidade para ser aplicado em obras com caractersticas
musicais diferentes. Neste exemplo, avaliamos como o compositor dispersa o material de
alturas no registro do instrumento e qual a similaridade entre as vozes internas frente
textura da obra.
Portanto, a relao entre intervalos e pitch class descreve a extenso utilizada para
uma escala fixa. Devemos ressaltar que, tratando-se de uma obra tonal o uso de pitch class
no necessrio para anlise, pois neste caso os graus so definidos e fixos. Todavia, como
estaremos, no futuro, analisando outras obras sob a mesma tima, acreditamos que pitch
class um parmetro mais abrangente e ser utilizado no desenvolvimento da pesquisa.
3.2.1 Espaos de Fase Mo Direita e Esquerda do Preldio
Para mostrar os diferentes nveis de anlise no espao de fase, primeiramente apresentamos
os grficos relativos ao material tocado pela mo esquerda e mo direita do Preldio. Neste
caso fica claro que a mo esquerda mais esparsa e a mo direita mais compacta (vide
figuras 1 e 2). A extenso intervalar utilizada na mo esquerda (me.) varia entre os valores
[-19, 12] e entre [-18, 19] para mo direita (md.). A mo esquerda tem uma maior variao
de semitons (VSme), valor obtido calculando-se a diferena absoluta entre os mesmos
valores acima:
2
31
2
1
19 12 = + = VSme
2
37
2
1
18 19 = + = VSmd
Todavia, a md. mais densa em relao disperso intervalar, cujo valor 3,014
(vide na Tabela 1.0) que a me. cujo valor 1,745. Pode-se verificar no grfico que h uma
um grande acmulo de notas entre na faixa [-7,8] na mo direita enquanto que na mo
esquerda a faixa mais estreita [-5,5]. Todos estes parmetros podem ser avaliados na
Tabela 1.0.
3.2.2 Espaos de Fase das Vozes da Fuga
Podemos olhar tambm para os espaos de fase das vozes internas da Fuga, o que dar uma
descrio da correlao entre os elementos constitutivos da polifonia (vide figuras 3 a 6).
Neste caso, verificamos que a variao em semitons entre o Soprano VSS = 29, o Baixo
VSB = 24, o contralto VSC = 24 e Tenor VST = 33. Tendo em vista, que a Fuga uma obra
que utiliza repetio de padres e reiterao de estruturas, verificamos que as mdias e
disperses intervalares de cada voz so muito prximas (vide Tabela 1.0). Pode-se verificar
que a disperso entre as vozes varia em torno de 1%.
Tabela 1- Resultados da Anlise dos parmetros de mdia e disperso intervalar para
o Preldio e Fuga so mostrados abaixo
Mdia intervalar Disperso Intervalar
Preludio (MD) 4,530 3,014
Preludio (ME) 2,903 1,745
Fuga Soprano 2,434 1,416
Fuga Alto 2,304 1,327
Fuga Tenor 2,672 1,705
Fuga Baixo 2,639 1,635
Espao de fase intervalo X pitch class
PRELDIO BACH (me)
-2
0
2
4
6
8
10
12
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Intervalos me
p
i
t
c
h
c
l
a
s
s
m
e
0
Figura 1 - Espao de fase mo esquerda
Espao de fase intervalo X pitch class
PRELDIO BACH (md)
-2
0
2
4
6
8
10
12
-22 -17 -12 -7 -2 3 8 13 18
intervalos md
p
i
c
h
c
l
a
s
s
m
d
Figura 2 - Espao de fase mo direita
Espao de Fase Intervalo X Pitch class
Bach Fuga 22 (Soprano)
- 2
0
2
4
6
8
10
12
-20 -15 -10 - 5 0 5 10 15
I nt er val os
Figura 3 - Espao de fase Soprano
Espao de fase Intervalo X Pitch class
Bach Fuga 22 (Alto)
- 2
0
2
4
6
8
10
12
-15 -10 - 5 0 5 10 15
I nt er val os
Figura 4 - Espao de fase Contralto
Espao de fase Intervalo X Pitch Class
Bach fuga 22 (Tenor)
- 2
0
2
4
6
8
10
12
-20 -15 -10 - 5 0 5 10 15 20
I nt er val os
Figura 5 - Espao de fase Tenor
Espao de fase Intervalo X Pitch Class
Bach fuga 22 (Baixo)
- 2
0
2
4
6
8
10
12
-15 -10 - 5 0 5 10 15
I nt er val os
Figura 6 - Espao de fase Baixo
3.2.3 Similaridades entre os Espaos de Fase
Como apresentado na seo 2.3 estamos interessados tambm em avaliar as similaridades
entre dois espaos de fase utilizando medidas como Distncia Mdia e Desvio Mdio. Na
Tabela 2.0 apresentamos o resultado das comparaes entre Mo Esquerda e Direita do
Preldio e das Vozes da Fuga. V-se claramente que a distncia mdia entre a me. e md. do
Preldio maior que as distncias mdias da Fuga. Olhando especificamente para a Fuga,
as distncias mdias entre Baixo e Soprano, e entre Tenor e Contralto so muito prximas.
Por outro lado, o desvio mdio entre o Contralto e Tenor 45% maior que entre Baixo e
Soprano.
Tabela 2- Resultados das medidas de similaridades entre a mo esquerda e direita do
Preldio e as vozes da Fuga
Distncia Mdia Desvio Mdio
Bach prel. MD X Bach prel. ME 7,56820479 0,081166529
Bach fuga BAIXO X Bach fuga
SOPRANO 6,038987621 0,076340328
Bach fuga ALTO X Bach fuga TENOR 6,009049627 0,170260677
2 Discusso e Concluso
Vimos que mtodos estatsticos, quando aplicados a conjuntos de estruturas musicais
adequados e passveis de se introduzir o conceito de distncia entre seus objetos so
bastante efetivos na sua caracterizao. Para ilustrar nosso mtodo analisamos as obras de
Bach citadas acima, as quais mostraram uma estrutura fortemente simtrica. Estes
resultados so coerentes com uma anlise convencional e o nosso projeto agora aplicar o
mtodo em contextos musicais diferentes.
As prximas etapas da pesquisa estaro vinculadas aos seguintes pontos:
Anlise de obras que utilizem outros mecanismos de disperso de intervalar e
texturas.
Expandir as mtricas para outras medidas de complexidade de conjuntos como
mtricas de Hausdorff para anlise da dimenso fractal do espao de fase.
Utilizar os espaos de fase em processos de composio musical.
3 Referncias
Bent, Ian. Music Analysis in the Nineteenth Century, 2 vols. Cambridge: Cambridge
University Press, vol.1 Fugue, Form and Style, vol.2 Hermeneutic Approaches,
(1994).
Bent, Ian, with John Morehen. Computer Applications in Musicology. Musical Times, pg
563566, (1979).
Bent, Ian, & John Morehen: Computers in the Analysis of Music. Proceedings of the
Royal Musical Association, civ (197778), pg 3046 (1978).
Diamond, P. & Kloeden. P. Metric Spaces of Fuzzy Sets.World Scientific Pub. Co. (1994)
Forte, Alan. The Estructure of Atonal Music.Yale University, London, ISBN: 0-300-01610-
7, (1973).
Manzolli, J. & Maia Jr., A. Composio Algortmica Atravs de Functores. Anais do XI
Encontro Nacional da ANPPOM (Associao Nacional de Pesquisa e Ps-Graduao
em Msica), p 169-173, Campinas, 24-28 Agosto (1998).
Polansky, L. Morphological Metrics. Journal of New Music Research, Vol. 25:4, pg: 56-
62, (1996).
Reflexes sobre Olhos dgua
J natas Manzolli
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
jonatas@nics.unicamp.br
Raul do Valle
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
raul@nics.unicamp.br
J oana Lopes
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
joana@nics.unicamp.br
Fernando Hashimoto
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Resumo: Descrevemos uma obra multimdia para poema, narrador, vdeo, trilha eletroacstica,
cinco percussionistas e bailarinos. Trata-se de uma criao interdisciplinar que utiliza recursos
tecnolgicos diversos como edio no-linear de vdeo e udio, composio com suporte digital,
espacializao e difuso snica e visual. Apresentamos estratgias de desenvolvimento musical e
cnico aplicados na estruturao da obra frente diversidade de meios e s linguagens
envolvidas.
Palavras-chave: composio, integrao multimdia, percusso.
Abstract: We describe a multimedia work for poem, speaker, video, electroacoustic tape, five
percussionists and dancers. This is an interdisciplinary artwork using several technologies such as
non-liner video and audio editing, composition for digital media, spacialisation and diffusion of
sound and images. We present strategies apply to the development of music and scenes and how
they are related to the diversity of medias and involved languages.
Keywords: composition, multimedia integration, percussion.
1. Introduo
A composio eletroacstica mista tem passado por transformaes que incorporaram
no somente elementos dinmicos como espacializao sonora, processamento em tempo
real e instrumentos ao vivo como tambm outras linguagens. Um desses processos a
insero de estruturas multmidia em obras musicais que datam s ltimas dcadas do
sculo XX.
Neste artigo discutimos a criao de uma obra multimdia para a celebrao do
centenrio da cidade de Olmpia, SP. Esta obra est em linha com a pesquisa recente que
realizamos no NICS no sentido de integrar estruturas sonoras em instalaes como em
(Eng et all, 2002) e (Wasserman, 2000), performances multimdia como (Manzolli et all,
1998) e (Manzolli, 1999) e espetculos de dana como em (Valle et all, 1999).
As sesses que se seguem, esto vinculadas ao olhar de cada um dos artistas
envolvidos na da criao e performance de "Olhos dgua". Discutimos o trabalho
atravs de depoimentos que descrevem a interao de cada um com o processo criativo.
Acreditamos que, num trabalho interdisciplinar, necessrio que a reflexo se faa,
tambm, a partir de vises mltiplas.
Figura 1.0 Seqncia de movimentos da coreografia de Olhos dgua.
2. Elementos da Obra
A obra engloba os seguintes elementos constitutivos: poema, narrao, vdeo, trilha
eletroacstica, parte instrumental ao vivo e coreografia. Olhos dgua enseja uma
interao de meios e a fuso entre os mesmos, no sentido de dar unidade ao espetculo.
Os eventos encadeadas durante o espetculo esto relacionadas com interaes da trilha
eletroacstica com os instrumentos de percusso ao vivo; a espacializao sonora, a
projeo de vdeo e a captura de imagens ao vivo dos percussionistas e bailarinos; a
coreografia e a iluminao. Nas fotos apresentadas nas Figuras 1.0 a 3.0, apresentamos
alguns destes elementos.
Figura 1.0 Interao dos percussionistas durante a performance da obra.
Figura 2.0 Outros momentos da atuao dos instrumentos de percusso em
Olhos dgua.
2.1 Poema Sonoro
O poema original escrito por Jnatas Manzolli foi o engendrado do processo
criativo. Assim, a estrutura da palavra - um texto potico - foi o elemento
catalisador da composio. Trata-se de um poema escrito em blocos de significado
livre. um texto descritivo onde a narrao vinculada s sonoridades e
similaridades fonticas entre palavras. Como num quebra-cabea, o significado
resultante do encaixe sonoro entre as palavras como no trecho abaixo:
... Lama transfigurada em pau-a-pique,
Margens transfiguradas em caminhos,
guas transportadas como seiva e mel...
Cada bloco, autnomo, guarda uma relao intrnseca com fatos histricos.
H referncias a momentos especficos na vida e na relao entre o Ribeiro Olhos
dgua e a cidade de Olmpia:
...Clareiras cortadas, trilhas marcadas,
... Repartidos braos abertos,
Sofridos coraes em alerta,
entrelaam-se homens construtores ....
2.2 InterAes Vocais
Nas palavras da atriz Joana Lopes, o texto apresentado em diversas vozes e
leituras dramticas, caracterizou-se pela criao de um Ator-voz:
O conceito de se utilizar a Voz como Ator independente da atuao pessoal
em cena foi para mim, ao narrar o poema Olhos dgua, uma voz no vazio
de um territrio chamado palavra que juntaria ou no raciocnios lgicos
para uma compreenso linear. Deparei-me com um texto desconectado, de
palavras relacionadas por blocos, mas como um telegrama econmico sem
conjunes e artigos, sugerindo sujeitos volteis de mil faces. Na verdade
um espelho dgua que, ao receber o impacto do arremesso, faz uma
ressonncia de ondas que se perdem. Lembrei-me de um poema modernista
de Sergio Milliet que me dizia na memria ... lenntoo sonnolenntoo
perrnnilooongo... e, assim, veio-me um momento que se desdobrou e
conduziu o espectador ao ouvir suavemente: ...quieto corre o
Ribeiro, esperana azul ensolarada ...
Para onde? De quem? A resposta adiada porque o novo verso faz nascer
um outro ator. Desta vez ele, o ator-voz, forte, quebrou galhos, arrasta
troncos, enfrenta a chuva: ... a chuva vem forte da colina, o
cristal se partiu?
Mas estas variaes de voz, no so apenas entonaes e inflexes diversas
num contexto de interpretao dramtica, a interferncia dos meios
externos, manipulaes no estdio, as transformaram em nova expresso. O
diretor/compositor, aquela figura que interferiria diretamente no meu modo
de agir, no momento da execuo, se cala. E, atravs da tecnologia ele
reaparecer com sua fora potica, colando, conectando, dialogando,
aumentando e diminuindo no sentido da origem ou do incio do processo,
pois ele tambm o autor do poema.
Nasce uma outra voz e mais do que ela, a voz atriz que no mais (e ) a
minha, me desafia a reinterpret-la. Ento? Por que no tentar outra vez
descobrindo novos jogos de sons? Aproximo-me cada vez mais do som e da
integridade da palavra. Recomeamos, infinitamente e podemos produzir
tudo aquilo que a infinidade do espao-tempo permitir.
2.3 A voz do Ribeiro
O Ribeiro Olhos dgua a memria viva que permanece e o compositor/poeta
quis resgatar, para a prpria populao, a relao perene entre o rio e a trajetria de
vida de cada um. O Ribeiro foi o protagonista da narrativa potica. Por extenso,
a trilha eletroacstica foi a voz dos riachos, regatos, corredeiras,
fios dgua tornando-se mar. Desta forma, o trabalho no estdio foi
voltado a criao das diferentes personalidade-sonoridades do rio. A partir da
manipulao de amostras sonoras concretas, o compositor criou nuances de tons
para diferentes momentos do poema. Nas palavras de Jnatas Manzolli,
compositor da trilha eletroacstica:
O som da gua traz consigo uma plasticidade nica. material infinito. No h
limites para se moldar texturas, construir densidades volteis, introduzir
momentos de quase silncio absoluto. A gua tem uma fora evocativa que
poucos sons tem. referncia para nascimento, purificao, transformao,
construo, destruio e tempestades. Em Olhos dgua, a gua- transformada
transfigura-se em voz de Ribeiro. Fala coloquialmente descrevendo carros-de-
boi gemendo na estrada, dialoga com Canto Gregoriano, enfurece-se com a fora
da chuva, canta com a face de Maria refletida e lambendo o cho.
Cada um destes elementos foi construdo como um novelo que se desdobra e o
resultado foi uma complexa textura sonora. E neste momento, o Ribeiro estava
pronto para contracenar com a Voz-ator e os instrumentos de percusso.
2.4 Instrumentos Comentaristas
Nas palavras do compositor, Raul do Valle, a composio instrumental utilizou
uma srie de estratgias para conciliar os elementos sonoros desta obra multimdia:
Enquanto o suporte eletroacstico criou a ambincia sonora coerente com as
evocaes poticas do texto, a parte instrumental comentou o engendramento das
respectivas estruturas. Neste caso particular de um espetculo multimdia, no se
tratou de reconciliar os elementos constitutivos da obra, fazendo-os funcionar em
paralelo, interconectados e se influenciando reciprocamente, pois queramos que
o material eletroacstico no fosse uma simples extenso do material
instrumental. No seria adio, mas sim uma fuso dos dois gneros. A opo foi
criar um dilogo entre ambos com seus recursos prprios na busca de uma
unidade orgnica que correspondesse fielmente ao imaginrio evocado pelo
poema.
No que concerne a instrumentao da obra optou-se por um efetivo de 05
percussionistas para atuarem ao vivo. Os instrumentos selecionados foram: 05
tmpanos, 01 vibrafone, 01 xilofone, campanas tubulares, claves, placas de zinco
lato, pios e raganelas. Somente aps a escuta e a memorizao de todo o
percurso sonoro do suporte eletroacstico, foi pensada a participao da
percusso ao vivo. O estabelecimento de um dilogo coerente e singular s foi
possvel na medida em que se encontrou um modo de criar elementos
contrastantes ou aparentados com as sonoridades j gravadas. A partitura-guia
foi exaustivamente ensaiada com os msicos em sintonia/sincronia com o texto,
som e imagem registrados em vdeo.
Considerando que o poema foi o principal responsvel pela unidade da obra, as
intervenes musicais, no que concerne performance dos instrumentistas,
tiveram carter de gestualizao sonora, em paralelo com o momento cnico
envolvendo os atores/bailarinos, vdeo, luz, etc. Na performance, os msicos
tornaram-se, tambm, atores.
2.5 Percussionistas: Atores, Comentaristas e Solista
A percusso ao vivo foi executada pelo Grupo de Percusso da Unicamp (GRUPU)
formado por Csar Adriano Traldi, Cleber da Silveira Campos, Dantas Neves Rampin e
Fernanda Vanessa Vieira. O diretor musical do GRUPU e solista da obra foi o Prof.
Fernando Hashimoto do DM/IA, Unicamp.
O objetivo da interao dos quatro percussionistas do GRUPU com a obra foi no
sentido de apresent-los como comentaristas sonoros da narrao potica e da trilha
eletroacstica. Ao solista coube a funo de ampliar o campo trimbrstico utilizado,
principalmente em passagens virtuosstica, onde as sonoridades do Vibrafone e do
Xilfone criaram um amalgama com o espectro sonoro da gua. Para integrar estes dois
aspectos, foi adotada a estratgia de escrita de dois tipos de partitura: a) partitura-guia
indicativa dos comentrios sonoros (figura 4.0) e b) partitura do solista (figura 5.0). Na
primeira, os eventos musicais foram agrupados por cenas e descritos por idias ou
sugesto de gestos sonoros trabalhados em atelier e ensaidos pelo GRUPU. Na segunda,
um conjunto de trechos musicais onde o solista atuou individualmente, foi descrito e
vinculado aos comentrios sonoros atravs de indicaes como Vibra Solo 1, Vibra
desenho livre na regio aguda, Xilo Respostas, imita sinos Vibra (figura 4.0).
Figura 4.0 - Trecho dos primeiros 12:13 minutos da partitura-guia adotada na obra.
3. Discusso
Sabemos que a integrao de novos elementos linguagem musical tem trazido
uma srie de discusses sobre os rumos da composio associada a tais estruturas.
Por outro lado, no foi no sculo XX que se iniciou a interao da msica com
outras formas de expresso. Desde o nascimento dos melodramas litrgicos como
as Paixes e os Mistrios que floresceram at o sculo XV, passando por Oratrios
at a pera e o Bal moderno, h um fio condutor de conexes entre a linguagem
musical e outros elementos como texto, drama, voz, cena, gesto e coreografia. O
que h de novo ento?
Sob ponto de vista do artigo aqui apresentado, os ltimos avanos da
tecnologia digital disponibilizam um conjunto de ferramentas que podem ser
utilizadas para segmentar, de-construir, construir, colar e editar informao sonora
e visual digitalizada. Apesar de serem elementos procedentes de diferentes meios
como vdeo, udio e texto, podem, de certa forma, estar integrados na
representao digital. Portanto, possvel estabelecer processos de gerao, edio
e criao que tenham similaridades entre si e sejam aplicados a cada um dos
elementos constitutivos da obra.
Estas tcnicas de construo e montagem poderiam ser chamadas de
Tcnicas de Composio No-Linear. Estes mecanismos de edio so similares s
transformaes em estdio da composio eletroacstica que datam meados do
sculo passado e se desenvolveram grandemente com o uso de processos
informatizados. Em Olhos dgua, estas estratgias de construo
direta/indiretamente foram aplicadas nos diferentes elementos da obra: na
manipulao e na construo das interaes entre texto e voz, na criao de
diferentes coloraes timbrsticas para o som da gua, na concepo da escrita para
percusso, nos elementos sonoros advindos da improvisao musical dos
percussionistas e na interao cnica entre os msicos e os bailarinos. Por outro
lado, o texto original criou um elemento de unidade para obra e desta forma a
disperso que os difentes meios poderiam ocasionar, foi conciliada pela coerncia
estrutural da montagem implcita no poema.
4. Concluso
Dada a complexidade da realizao de Olhos dgua, h vrios outros elementos
do processo de composio e performance que no comentamos neste artigo. Ao
todo, o espetculo envolveu cinco percussionistas, oitenta bailarinos, sistemas de
iluminao e sonorizao, dois teles, dois palcos simultneos e teve a durao de
35 minutos.
A estria no dia 22 de abril de 2003 na abertura do 6
o
. FIFOL em Olmpia,
foi realizada para um pblico de cerca de 4.000 pessoas. A coreografia foi montada
pelo grupo GODAP de Olmpia dirigido pelo coregrafo Thiago Louzada.
Este artigo pode ser comparado a uma mesa redonda onde, atravs de
depoimentos, trouxe uma sntese das idias e dos processos criativos empregados.
Mostrou como os elementos constitutivos da obra foram integrados e como a sua
construo engendrou uma interao interdisciplinar muito rica.
5. Referncias
Eng, K., Baebler, A., Bernadet, U., Blanchard, M., Briska, A., Costa, M., Delbruck, T.,
Douglas, R., Hepp, K., Klein, D and Manzolli, J., Mintz, M., Netter, T., Roth, F.,
Wassermann, K., Whatley, A., Wittmann, A. and Verschure, P. (2002) (In Press)
Ada: Constructing a Synthetic Organism. Proceedings of IEEE/RSJ International
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
Manzolli, J., A Moroni & C. Matallo. (1998) AtoContAto: new media performance for
video and interactive tap shoes music". Anais de Artes do 6
Th
ACM International
Multimedia Conference, Bristol, Inglaterra, pg 31.
Manzolli, J. (1999) ETNIAS: Multimedia Performance Involving Music, Dance and
Images. Proceedings of the EuroGraphics Workshop EG Multimedia '99 in
Milan, Itlia, pg 219-222.
Valle, Raul do; Manzolli, Jnatas; Maia Jnior, Adolfo; Lopes, Joana. (1999).
"Elementaridades". Anais do Congresso Internacional sobre a arte do movimento,
Espaos da Dana: R, Vol. S/N, Bolonha, Itlia.
Wasserman, K.C., Blanchard, Bernardet, U., J.M. Manzolli, J., & Verschure, P.F.M.J.
(2000) "Roboser: An Autonomous Interactive Composition System". In: I. Zannos
(Ed.), Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC), pp.
531-534. San Francisco Ca.: The International Computer Music Association.
Anfora, Epstrofe e Poliptton:
identificao de figuras de linguagem na msica eletroacstica,
no mbito da retrica e da eloqncia, com base
em significaes do tipo "persuaso"
J orge Antunes
Universidade de Braslia (UnB)
antunes@unb.br
Resumo: Este trabalho d seguimento s pesquisas do autor no domnio da linguagem da msica
eletroacstica. A base do trabalho est na constatao prvia de que "o ato de ouvir msica est
sempre acompanhado de grafismos inconscientes que a mente e o intelecto praticam em espaos
imaginrios". Em uma primeira etapa da pesquisa foram estabelecidas as bases sonolgicas de
semantemas do tipo emoo forte e de novas unidades semnticas de conotao grfico-espacial-
temporal baseadas em recursos de linguagem voltados comunicao. Aqui o objetivo voltou-se
busca do fenmeno da persuaso do discurso, ou seja, ao estudo da eloqncia na msica
eletroacstica. Concluiu-se da pertinncia do estudo, atravs da identificao, no contexto musical
eletroacstico, de figuras de linguagem prprias da Retrica.
Palavras-chave: retrica e persuaso; semntica musical; msica eletroacstica.
Abstract: This paper presents the continuation of the researches of the author in the field of
electroacoustic music language. The basis of the work is a previous confirmation: "the act of hearing
music is always accompanied by unconsciousness graphical sketches that mind and intellect exercise
on imaginary spaces". In a first part of the research were established sonological basis of semantemes
of strong emotion type, and of new semantic unities with graphic-space-time relationships, based on
language and related to communication. Here the goal is the search of persuasion phenomenon at
discourse, i.e. the study of eloquence in electroacoustic music. Then the paper ends concluding
comments on the pertinence of the study, with the identification of rhetoric figures of speech in the
electroacoustic musical context.
Keywords : Rhetoric and persuasion; musical semantic; electroacoustic music.
Eloqncia
A msica eletroacstica tem avanado em novas trilhas, que aparentemente encurtam o caminho da
identificao com o pblico. Tudo indica que a expresso musical ganha facilidades envolvendo a nsia de
comunicao. Os objetos musicais e suas sintaxes vm sendo construdos com qualidades de persuaso. O
compositor de msica eletroacstica quer "convencer" e "comover", e no mais apenas praticar o puro deleite
sonoro. A presente etapa de minha pesquisa volta-se busca e identificao de elementos de linguagem que
denotam evidncias de uma "eloqncia eletroacstica".
Diania e lxis
Aristteles chegou a situar o pensamento (diania) na Retrica, dando prioridade ao estudo da
elocuo (lxis). Esta ltima trata dos "modos de expresso falada, incluindo matrias tais como a diferena
2
entre uma ordem e um pedido, uma simples afirmao e uma ameaa, uma pergunta e uma resposta, e assim por
diante" (Cooper, 1967, p.63). A elocuo, portanto, segundo Aristteles, diz respeito mais ao ator que ao
poeta. Em outras palavras, o tom com que se diz uma sentena, suas inflexes que podem dar-lhe diferentes
caracteres (ordem, splica ou exortao), fenmeno que, em msica, pertence prtica da performance. Ao
poeta de Aristteles, que na rea musical corresponderia ao compositor, caberia o domnio da Retrica.
Enfim, Aristteles remete o leitor aos tratados de Retrica, na medida em que esta cincia passa a ser
definida como a faculdade de descobrir todos os meios possveis de persuaso em qualquer assunto.
Retrica
Ao pretender buscar fenmenos de retrica na msica eletroacstica, optei em estudar o mais profundo
terico da literatura romana que, alm de orador, advogado e professor, foi autor da primeira tentativa de se
escrever a histria da literatura em lngua latina, exercendo at nossos dias grande influncia sobre a pedagogia.
Refiro-me a Marcus Fabius Quintilianus, que viveu no sculo I e que deixou-nos a magistral De institutione
oratoria.
Nesta primeira etapa da pesquisa fixei-me na busca de construes eletroacsticas com sintaxes que se
identificam com as figuras de linguagem a que Quintiliano chama de Retricas. "O segundo gnero de Figuras,
chamadas Retricas, excede muito em fora ao antecedente (Gramaticais). Pois no consistem no Gramatical da
lngua, mas comunicam aos mesmos pensamentos novas graas, e novas foras" (Quintiliano, L. IX, C. III, III)
No captulo III do Livro IX, Quintiliano continua o estudo da "Elocuo Figurada", detendo-se nas
"Figuras das Palavras". no Artigo I deste captulo que encontramos as principais figuras, "que se fazem por
acrescentamento": anfora, epstrofe, poliptton, reduplicao, dicope, simploce, epanalepse, epnodo,
anadiplose, sinonmia, exergsia, polissndeto e gradao.
Na primeira fase desta etapa da pesquisa me concentrei nas figuras que, com maior freqncia,
encontramos no repertrio da msica eletroacstica e que so as trs primeiras da lista de Quintiliano: anfora,
epstrofe e poliptton.
Anfora
A Anfora acontece quando a mesma palavra ou expresso repetida no incio de duas ou mais frases,
para enfatizar ou intensificar o pensamento.
O exemplo dado por Quintiliano paradigmal:
3
Nada te moveu a guarnio noturna do monte Palatino,
nada as sentinelas da Cidade,
nada o temor do Povo,
nada os sentimentos unnimes de todos os homens bons,
nada as guardas dobradas deste lugar onde se congrega o Senado,
nada, enfim, a presena, e os semblantes severos destes Senadores?
(Quintiliano, L. IX, C. III, A. I, II)
Tal como no exemplo de Quintiliano, encontramos a anfora com repetio de uma nica e mesma
palavra tambm nas literaturas romntica e moderna.
Depois o areal extenso,
Depois o oceano de p,
Depois no horizonte imenso,
Desertos, desertos s.
(Castro Alves, p. 282)
Quase tu mataste,
Quase te mataste,
Quase te mataram!
(Manuel Bandeira, p. 244)
Na msica eletroacstica, em que a eloqncia na transmisso de uma idia musical pudesse se
manifestar, a construo deveria se dividir em diferentes frases, cada uma se iniciando com um mesmo objeto
sonoro, o mesmo semantema (Antunes, 2001), ou o mesmo conjunto de objetos.
Na literatura encontramos tambm exemplos em que a anfora realizada, no com a repetio de uma
nica palavra, mas com a repetio de um conjunto de palavras. O exemplo a seguir tem autoria problemtica,
sendo atribudo por alguns a Cames e por outros a Baltazar Estao:
Com o tempo o prado verde reverdece,
Com o tempo cai a folha ao bosque umbroso,
Com o tempo pra o rio caudaloso,
Com o tempo o campo pobre se enriquece.
(Cames, p. 450)
A seguir relaciono alguns exemplos de anfora que encontrei no repertrio internacional da msica
eletroacstica:
Mechanical motions (1960), de Dick Raaijmakers.
4
Localizao: Segmento entre os momentos 4' 05" e 4' 34". Durao: 29 seg.
Comentrio: O compositor constri um perodo de nove frases que se sucedem, todas se iniciando com
o mesmo objeto sonoro, cada uma com um complemento em forma de acumulao de micromontagem. O
objeto que se repete no incio de cada frase, com um vibrato em timbre, iterativo, tem durao aproximada de
2 segundos e continuamente variado em forma de clula de trs alturas na regio grave na seqncia f-sol-f-
si bemol, algumas vezes com discreta permutao. A nona e ltima frase mais longa, com inflexes mais ricas e
diversas, dando carter conclusivo ao perodo.
Fabula I (1992), de Franois Bayle.
Localizao: Segmento entre os momentos 1' 16" e 1' 38". Durao: 22 seg.
Comentrio: O compositor constri 7 frases consecutivas, cada frase se iniciando com um mesmo
objeto sonoro, na regio aguda, que tem aproximadamente 3 segundos de durao. Esse objeto que se repete
no incio de cada frase tem timbre lancinante rico em harmnicos agudos, lembrando o canto de um pssaro
com perfil de alturas que percorre a seqncia f-sol-f-sol-f-mi-f-sol. Os complementos de cada frase so
breves, com o uso de objetos curtos, alguns graves e outros com ngremes glissandos ascendentes. O objeto
que se repete no incio de cada frase sofre, algumas vezes, transformao discreta de forma sincopada. Os
objetos repetitivos que caracterizam a anfora so mais longos que seus respectivos complementos. A ltima
frase variada e mais livre, ganhando evidente carter conclusivo.
If (1992), de Monique Jean.
Localizao: Segmento entre os momentos 0' 06" e 0' 30". Durao: 24 seg.
Comentrio: A compositora constri um perodo com 5 frases, cada uma se iniciando com o mesmo
objeto sonoro: a palavra "if", falada por voz feminina, provavelmente da prpria autora. A eloqncia do
perodo verificada com a mistura da linguagem falada e da linguagem musical, sendo vocal apenas o objeto
repetido. O complemento de cada uma das 5 frases eletrnico, alternando ou mixando um som eletrnico
agudo iterativo e longnquo a outro de grande presena, agressivo, do tipo vaga ou turbilho de uma tempestade
ou onda do mar. palavra "if" do incio da quarta e da quinta frase, a compositora acrescenta "we remember",
com inflexo descendente, fazendo com que a anfora contenha significaes de memria na concluso do
perodo, que finaliza com brados ininteligveis de voz masculina reverberada.
Portraits, tmoins, fureur (2000), de Mario Mary.
Localizao: Segmento entre os momentos 3' 54" e 4' 05". Durao: 11 seg.
Comentrio: O compositor constri perodo de 3 frases que se iniciam com um mesmo objeto sonoro
duplo de timbre granulado fricativo, com perfil de clamor com duas alturas em intervalo ascendente. O
5
complemento de cada frase, que sucede o objeto que se repete, longnquo, com a mesma matria sonora do
objeto inicial. A terceira frase, variada e diferenciada, encerra evidente carter conclusivo.
Marcq 2000 (1980), de Fernand Vandenbogaerde.
Localizao: Segmento entre os momentos 0' 25" e 0' 39". Durao: 14 seg.
Comentrio: O compositor utiliza um som quase senoidal, para construir breves frases cada uma se
resumindo em um objeto compsito, variado em forma de glissando descendente que passa a um glissando
ascendente, com durao de aproximadamente 2 segundos, seguido de silncio de 1 segundo. Cada frase-
objeto pode ser dividida em dois objetos; o primeiro sempre igual, com incio tnico em torno do d5. O
glissando descendente seguido do complemento ascendente, em anttese, forma, em cada frase, um poo
intervalar em torno de uma oitava. Os complementos de cada frase so diferentes apenas no que se refere
altura alcanada pelo glissando ascendente.
Epstrofe
A epstrofe tem construo semelhante da anfora, tambm com a repetio de uma palavra, mas
sempre no final das frases que se sucedem. Quintiliano exemplifica com trecho de seu discurso contra pio, o
gramtico e erudito grego de Alexandria. "Quem requereu estas testemunhas? pio. Quem as produziu? pio."
(Quintiliano, L. IX, C. III, A. I, II).
A seguir relaciono alguns exemplos de epstrofe que encontrei no repertrio internacional da msica
eletroacstica:
Objets exposs, de l'tude aux objets (1959, reviso 1971), de Pierre Schaeffer.
Localizao: Segmento entre os momentos 0' 25" e 0' 36". Durao: 9 seg.
Comentrio: O compositor constri um perodo com 4 frases breves, cada frase terminando com um
mesmo objeto sonoro do tipo impulso percussiva, na altura do r3. A primeira frase, com cerca de 4 segundos,
se inicia com objeto duplo composto de impulso aguda seguida de ataque-ressonncia. A segunda frase, com
cerca de 2 segundos, se inicia com ataque-ressonncia mais grave que o impulso final que caracteriza a
epstrofe. A terceira frase, com aproximadamente 2 segundos, comea com som tnico sustentado mais agudo
que o impulso final. A quarta frase, com cerca de 3 segundos, se inicia com som grave do tipo impulso
sustentada e iterativa. Esta nova e ltima tipologia d carter conclusivo ao perodo de quatro breves frases, de
eloqncia com figura de epstrofe.
6
Lignage/Liaison (2001), de Erik Mikael Karlsson.
Localizao: Segmento entre os momentos 6' 20" e 6' 44". Durao: 22 seg.
Comentrio: Tal como no exemplo anterior de Schaeffer, Karlsson constri perodo de 3 frases
igualmente terminadas com um mesmo objeto sonoro do tipo impulso percussiva, de timbre "madeira". As
partes iniciais de cada frase se compem de objetos lancinantes evolutivos e variados, que lembram a
causalidade de tecidos rasgados violentamente. Concluda a terceira frase, o compositor acrescenta uma codeta
usando duas vezes, transposto ao grave, o impulso final repetitivo que caracteriza a epstrofe.
Involution (2001), de Jacky Merit.
Localizao: Segmento entre os momentos 8' 50" e 9' 03". Durao: 13 seg.
Comentrio: O objeto sonoro que o compositor usa na terminao das frases do perodo em epstrofe
um baque (Antunes, 1999) agressivo e reverberado. So trs frases. A primeira e a segunda tm, em comum,
um pedal em forma de arabesco tnico com filtragem oscilante. Os objetos iniciais de cada uma dessas frases,
que se superpem ao arabesco permanente, so iterativos lembrando a causalidade de arrastos violentos. A
terceira frase rarefeita, com intervenes repetidas e espordicas do baque final que caracteriza as
terminaes da epstrofe. A repetio intermitente do baque, que aqui se faz anacrstico, dramatiza de modo
concludente o perodo.
Grain de sable (2001), de Elzbieta Sikora.
Localizao: Segmento entre os momentos 10' 01" e 10' 25". Durao: 24 seg.
Comentrio: A compositora utiliza a figura da epstrofe para concluir a obra. O recurso d carter
dramtico ao final da composio, com o uso de um perodo de 6 frases. O objeto final de cada frase, sempre o
mesmo, tem a sonoridade tmbrica de um trmulo de violino com clula de trs notas, as duas ltimas com um
intervalo ascendente de 7 menor. As partes iniciais de cada frase utilizam objetos sonoros construdos com
trechos sinfnicos. So 6 frases, todas terminadas com o objeto de tipo "trmulo de violino", cada uma com
corpo inicial de diferente aspecto: sonoridade orquestral, silncio intrigante e pontilhismo eletrnico e agudo em
micromontagem.
Poliptton
Outra figura de linguagem, a que Quintiliano chama poliptton, tem construo bem apropriada e
caracterstica na msica eletroacstica.
Algumas vezes esta repetio das palavras se faz, variando-as pelos gneros, e casos, v.g. "magnus labor
dicendi, magna res est;" e em Rutlio em um perodo mais longo, cujos membros principiam deste modo:
7
"Pater hic tuus?... Patrem hunc appellas?... Patris tu hujus filius es?..." Esta repetio, que se faz por casos,
chama-se Poliptton.
(Quintiliano, L. IX, C. III, A. I, V)
O poliptton se caracteriza pela utilizao repetida de palavras diferentes com o mesmo lexema, ou
mesmo radical, sendo que a cada repetio se verifica uma diferente forma gramatical. No verbete
correspondente do Novo Aurlio encontramos o seguinte exemplo: "Trabalhar, trabalhei, porm antes no
houvesse trabalhado" (Holanda Ferreira, p. 1598).
Na msica eletroacstica encontramos discursos eloqentes com esta figura quando o compositor, aps
construir um objeto sonoro complexo e compsito, desenvolve frases com sintaxe em que aparecem
intervenes espordicas do mesmo objeto transformado, transposto, reduzido ou com haplologias.
A seguir relaciono alguns exemplos de poliptton que encontrei no repertrio internacional da msica
eletroacstica:
Kringloop I (1994), de Jan Boerman.
Localizao: Segmento entre os momentos 9' 15" e 9' 27". Durao: 12 seg.
Comentrio: O compositor utiliza 5 variantes de um mesmo objeto sonoro para construir uma sintaxe
com a eloqncia prpria de um poliptton. O objeto original uma clula meldica eletrnica iterativa, com
apenas duas alturas em semitom descendente: a primeira com breve anacruse, a segunda sustentada, longa, com
decrescendo gradual. A frase se forma com a sucesso das 5 transposies da clula, separadas por breves
silncios. O modus faciendi lembra o phonogne de Schaeffer. A manuteno do lexema (massa espectral) nas
cinco variaes garante as diferentes formas gramaticais do objeto, numa frase de eloqncia evidente.
Divertissement (2001), de Patrick Ascione.
Localizao: Segmento entre os momentos 2' 36" e 2' 40". Durao: 4 seg.
Comentrio: Apenas duas frases do lugar a uma construo em poliptton. Um objeto sonoro
repetitivo, de som eletrnico nasalado, com a iterao aproximada das 4 semicolcheias de uma semnima igual a
92, desce em altura com um breve portamento. A frase se repete, com o mesmo lexema, com o portamento
levando a uma altura mais baixa que a primeira vez.
Phonurgie (1998), de Francis Dhomont.
Localizao: Segmento entre os momentos 2' 42" e 2' 52". Durao: 10 seg.
Comentrio: A breve frase de grande expressividade tem 5 membros de frase, com repeties variadas
de um objeto sonoro grave com perfil de ataque sforzatto-friccionado seguido de sustentao. Os membros de
8
frase, feitos com o mesmo objeto variado, apresentam aparies diferentes do lexema que ocorrem em cenrio
variado: sons lancinantes dramticos e som iterativo longnquo, na regio mdia, em pedal.
Cinta cita (1969), de Jorge Antunes.
Localizao: Segmento entre os momentos 3' 07" e 3' 31". Durao: 24 seg.
Comentrio: Neste trecho 15 diferentes formas de uma mesma clula so expostas, de modo
espordico e aperidico, sobre um pedal de um rudo branco com filtro de tera simultneo a uma altura tnica
fixa na regio mdio-grave. A clula original uma micromontagem de sons eletrnicos sintticos. As 15 novas
formas gramaticais so pequenos trechos aleatrios e esparsos da micromontagem, feitos por aberturas rpidas
de potencimetro. A persuaso da linguagem se processa atravs de um poliptton em que os sons que rodeiam
os objetos derivados so sempre os mesmos, formando um pedal que funciona como pano de fundo.
Vocalis (1989), de Fernand Vandenbogaerde.
Localizao: Segmento entre os momentos 0' 19" e 0' 31". Durao: 12 seg.
Comentrio: O perodo construdo com 5 elementos fraseolgicos. Cada elemento, de mesmo lexema
eletrnico, se constitui de um ataque brando, tnico e grave, na altura de um sol1, seguido de altura breve
repetida, em clulas rtmicas caractersticas. A insistncia inicial de cada frase, feita com o mesmo objeto sonoro
grave de altura fixa, reala a eloqncia das segundas partes das 5 frases, cada uma delas com uma altura
diferente, dando lugar a um discurso de retrica com perseverana persuasiva.
Concluses
A identificao destas trs figuras de linguagem, anfora, epstrofe e poliptton, em obras
eletroacsticas de diversos momentos da segunda metade do sculo XX, no incio do sculo XXI e em
diferentes compositores de diferentes geraes, nos desvenda um campo de pesquisa que pode enriquecer o
conhecimento do fenmeno da comunicao esttica, na medida em que se evidenciam elementos de uma arte
da retrica musical. Os indcios de uma possvel "eloqncia" na msica eletroacstica acendem luzes que
podem iluminar as estruturas da nova msica como algo mais do que uma simples meta-linguagem.
Referncias bibliogrficas
ANTUNES, Jorge. Volatas e Cascatas: primeiras identificaes de semantemas musicais na msica
eletroacstica, com base em significaes do tipo "emoo forte". In: Anais do XI Encontro Nacional da
Anppom, Campinas: 1998. p. 156-161.
9
ANTUNES, Jorge: Baques e Quicadas: novas identificaes de semantemas musicais na msica
eletroacstica, com base em significaes do tipo "emoo forte". In: Anais do XII Encontro Nacional da
Anppom. Salvador, 1999.
ANTUNES, Jorge. O Semantema. In Opus n 7 - Revista eletrnica da Anppom, 2001.
http://www.musica.ufmg.br/anppom/opus/opus7/antmain.htm
ANTUNES, Jorge. Clamores e Argumentos: identificao de semantemas musicais na msica
eletroacstica, com base em significaes do tipo "persuaso". In: Anais do XI Encontro Nacional da
Anppom. Belo Horizonte: 2001. p. 253-260.
ARISTTELES. Potica. Traduo direta do grego e do latim de Jaime Bruna: A Potica Clssica. So
Paulo: Editora Cultrix, 1997.
BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira. Rio de Janeiro: Livraria Jos Olmpio Editora, 1966.
BILAC, Olavo. Poesias. 6 edio. Rio de Janeiro: Francisco Alves & Cia, 1916.
CAMES, Lus de. Lrica Completa II. Prefcio e notas de Maria de Lurdes Saraiva. Biblioteca de Autores
Portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1980.
CASTRO ALVES, Antnio de. Obra Completa. Organizao, fixao do texto, cronologia, notas e estudo
crtico por Eugnio Gomes. Rio de Janeiro: Editora Jos Aguilar Ltda, 1960.
COOPER, Lane. Aristotle on the Art of Poetry, an amplified version with supplementary illustrations, Ithaca:
Cornell University Press, 1967.
HOLANDA FERREIRA, Aurlio Buarque de. Novo Aurlio Sculo XXI: o dicionrio da lngua
portuguesa. 3 edio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
QUINTILIANO, M. Fbio. Instituies Oratrias. Traduo de Jernimo Soares Barbosa. 2 Tomos. So
Paulo: Edies Cultura, 1944.
VIEIRA, Padre Antnio. Serto Brabo. So Paulo: Grfica Editora Brasileira Ltda., 1968.
Adequao de estrutura de Thesaurus para representar formao instrumental/vocal
em mtodo de catalogao de documentao musical
em formato MARC
J os A. Mannis
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
jamannis@uol.com.br
http://www.unicamp.br/cdmc/
Resumo: Em 2001 o CDMC-Brasil/Unicamp apresentou no Encontro Anual da IAMIC realizado na Noruega, um
balano de suas pesquisas de desenvolvimento de um mtodo de catalogao de documentao musical em formato
MARC adequado s necessidades dos msicos, pesquisadores e demais profissionais ligados direta ou indiretamente
msica. Entre 2002 e 2003 nosso acervo de documentao ser includo no Sistema de Bibliotecas da Unicamp, com
acesso online (VIRTUA) e uma das atividades principais que ocorrero para isso ser a concluso do formato e da
sintaxe de representao da formao instrumental/vocal de documentos musicais, impressos (partitura) ou registros
sonoros (gravaes), de modo que msicas possam ser recuperadas atravs de um grau varivel de preciso desse
parmetro, controlado pelo usurio. Pode-se, por exemplo, procurar uma obra para flauta e piano de forma precisa e
especfica em msica de cmara; ou ento, variando a preciso dentro do repertrio de cmara, para flauta e teclados
(o que inclui piano, cravo, etc.); para instrumento de sopro e piano (incluindo piano e um instrumento das famlias das
madeiras, dos metais e outros sopros - como saxofone etc.) ou simplesmente de modo amplo para flauta e msica de
cmara. A apresentao tem por objetivo expor a sintaxe desenvolvida para esse fim, como se chegou ao formato
adotado, utilizando para isso uma estrutura de thesaurus, e a apresentao de exemplos de catalogao e recuperao
de documentos. Em complemento, ser exposta a norma que o CDMC/Unicamp estar adotando para abreviaturas,
tanto dos instrumentos e vozes como do efetivo completo (instrumental/vocal/multimeios) de cada obra
(partitura/registro sonoro).
Palavras-chave: catalogao, documentao musical, recuperao de informao musical
Abstract: In 2001 CDMC-Brazil/UNICAMP presented at the annual meeting of IAMIC held in Norway, a balance of
its research of development of a cataloging method of musical documentation in MARC format adequate to musicians
necessity, researchers, and other professionals directly or indirectly linked to music. Between 2002 and 2003 our
documentation resources will be included to the Library System of UNICAMP, with online access (VIRTUA) and one
of the main activities that will occur for this will be the conclusion of the format and syntax of representation of
vocal/instrumental formation of a musical document, printed or sound recordings, in a way that music can be retrieved
throughout a variable grade of precision of this parameter, controlled by the user. For example, it can search an work
for flute and piano in a precise and specific form in chamber music; or then, varying the precision inside the repertoire
of chamber music, for flute and keyboards (which includes piano, harpsichord, etc.) for wind instrument and piano
(including piano and an instrument of woodwind, brass, or other wind family like saxophone, etc.) or simply in a
broad way for flute and chamber music. The presentation aim at displaying the syntax developed for this goal, how it
was reached such format, utilizing for this a structure of thesaurus, and the presentation of examples of catalogs and
retrieving of documents. As complement it will be exposed the rules that CDMC/UNICAMP will be adopting for
abbreviations, as for the instruments and voices with a complete effective (multimedia/instrumental/vocal) for each
work (sheet music/sound recordings).
Keywords: cataloguing, music documentation, music information retrieval
1 INTRODUO
Este trabalho, desenvolvido no CDMC-Brasil/Unicamp graas a um auxlio recebido da VITAE Apoio
Cultura, Educao e Promoo Social - apresenta uma sintaxe atravs da qual uma estrutura de thesaurus
pode ser adequada para representar a formao instrumental/vocal de um documento musical em uma
expresso nica, ou seja, uma seqncia linear de termos e sinais auxiliares, destinada a um campo de banco
de dados cujo contedo seja recupervel.
A aplicao pode ocorrer tanto num programa como VTLS, Virtua (campo 697
1
de catalogao em formato
MARC), em padro Z39.50, como num banco de dados qualquer (p.ex. Access).
Um thesaurus compreende diversos nveis e pode ser representada por um diagrama em arborescncia.
Figura 1 - Diagrama representando estrutura semelhante a um thesaurus
Figura 2 -Exemplo simplificado da estrutura parcial de um thesaurus de formao instrumental/vocal.
A cada nvel a informao torna-se mais detalhada, at chegar ao grau de preciso desejado ou aquele que o
documento permita identificar.
Figura 3 - Diferentes nveis numa estrutura de thesaurus
O caminho pela estrutura representado pelos termos envolvidos e com o auxilio de chaves, abrindo-se
ou fechando-se um par a cada vez que se muda de nvel.
Dessa forma a informao pode ser recuperada com o grau de preciso que o usurio necessita. O controle
do mbito da busca fundamental, pois em funo do resultado obtido o usurio poder ampliar ou reduzir
sua abrangncia.
A pesquisa desenvolvida para gerar este produto foi totalmente original, no havendo nenhum artigo ou
publicao recorrente, pois se trata da criao de um modelo de representao de informao, totalmente
imaginado, verificado e testado. Assim, as referncias bibliogrficas servem para orientar os leitores para o
estudo dos assuntos relacionados a este trabalho.
Observao: Este texto foi extremamente reduzido a partir de sua forma original. Inmeros exemplos,
explicaes e justificativas foram cortados para poder obedecer aos critrios da apresentao dos trabalhos
neste evento. Assim, espera-se que durante a exposio ser possvel abordar todas as questes envolvidas.
2 SINTAXE GERAL
A representao do contedo referente formao instrumental/vocal compreende trs estgios:
1. quantidade de intrpretes;
2. formao e complemento da formao;
3. detalhamento da formao.
Neste item 3 sero vistos os estgios 1 (quantidade de intrpretes) e 3 (detalhamento da formao).
1
690-699 Local Subject Access Fields
2.1 Quantidade de intrpretes (nmero total de msicos)
a primeira indicao, especificando o nmero total de intrpretes.
2.2 Parnteses _ _ ( )
Neste mtodo de catalogao, so marcadores delimitando o inicio e o fim de um termo ou grupo de termos.
2.3 Nmero aps o parntese de fechamento
Indica a quantidade de intrpretes executando o referido instrumento.
2.4 Chaves _ _ { }
Compreendem o detalhamento do ltimo termo, esquerda do colchete inicial e ao mesmo tempo permitem
representar e separar os diferentes nveis do thesaurus.
Figura 4 -Uso de chaves em expresses e estrutura equivalente em diagrama.
2.4.1 Representao em diversos nveis
Para representar os diversos nveis de um thesaurus, sero utilizados vrios nveis de chaves, uns no interior
dos outros. A cada vez que h mudana de nvel abre-se (ou fecha-se) um par de chaves.
nvel 1 { nvel 2a { nvel 3a { nvel 4a { ... }}}, nvel 2b { nvel 3b { nvel 4b { ... }}}}
Figura 5 -Expresso representando diversos nveis e estrutura equivalente em diagrama.
Os chaves so dispensveis quando se tratar de representao vocal, sendo utilizados somente para o
detalhamento final, da mesma forma que as cordas.
2.4.2 Notao de alturas musicais com letras do alfabeto:
- A...G
- la...sol
- b = bemol
- # = sustenido
2.5 Sinais auxiliares
So sinais cuja funo principal facilitar a leitura da representao instrumental, proporcionando uma
clareza maior. Em princpio esses sinais no foram previstos para atuarem na recuperao da informao,
mas nada impede que sejam utilizados dessa forma. Os sinais auxiliares so:
Barra /
Chaves { }
Vrgula ,
Sinal de igualdade =
e podem ser combinados de diversas formas.
2.6 Barra _ _ /
Indica alternncia entre instrumentos.
2.7 Barra entre chaves _ _ { / }
Indicam alternncia entre instrumentos detalhados.
2.8 Vrgula entre chaves _ _ { , }
Indicam detalhamento de instrumentos para mais de um intrprete
2.9 Barra e vrgula entre chaves { / , }
Indicam detalhamento de instrumentos para mais de um intrprete e ao mesmo tempo as alternncias de
instrumentos, quando for o caso, para cada intrprete.
2.10 Sinal de igualdade _ _ =
Empregado para indicar denominaes equivalentes de um mesmo instrumento.
2.11 Detalhamentos
Os detalhamentos de instrumentos aplicam-se sempre que necessrio como no caso das flautas, obos,
clarinetes (com exceo do cor de basset), saxofones, trompetes, trombones e tubas, rgos, violes,
alades, pianos, etc.
2.12 Nmero de instrumentos/mdulos compondo um nico instrumento
indicado entre { } com a referncia n = nmero de partes/elementos
2.13 Nmero de partes
Dado um nmero de intrpretes de um mesmo grupo, o nmero de partes p _ {pnn} indica divisi, ou seja,
o grupo vai se dividir para executar nn partes.
2.13.1 Detalhamento das partes
Aps a indicao do nmero de partes, possvel detalhar novamente entre { } cada uma das partes.
2.13.2 Vozes - Abreviaturas :
- S = Soprano
- Mz = Mezzo-soprano
- A = Contralto
- T = Tenor
- Bar = Bartono
- B = Baixo
- V = Voz indefinida
- SS = duas partes de Soprano
- SSSS = 4 partes de Soprano
3 REPRESENTAO GERAL
Lembremo-nos que a representao segue a ordem:
1. quantidade de intrpretes (nmero de msicos)(v. item 2.1);
2. formao e complemento da formao;
3. detalhamento da formao.
Neste item 4 ser visto o segundo (formao e complemento da formao) estgio.
3.1 Formao
Divide-se basicamente em dois grandes grupos:
pequena e mdia formao
grande formao
especificando se o documento compreende solistas, grupos (e quais tipos de grupos), bem como partes
instrumentais e vocais.
Optou-se pela diviso em funo do nmero de integrantes dos grupos, por ter sido verificado que essa a
maneira mais clara e consistente de classificao compreendendo todas as formaes instrumentais e vocais.
Classificaes como por exemplo solo, cmara, orquestra, vocal, meios eletrnicos, multimeios acabam no
sendo muito eficientes. Se somente entre duas categorias j pode haver ambigidade, entre cinco categorias
o nmero de casos confusos se multiplicaria.
3.1.1 Pequena e mdia formao
o caso de formaes compreendendo at aproximadamente 20 elementos.
3.1.2 Grande formao
Formaes compreendendo acima de 20 elementos.
Aplica-se nesses casos a expresso:
gde-form...
3.1.2.1 Complemento da formao
Aps indicar o porte da formao, vem, entre parnteses, uma descrio um pouco mais detalhada da
formao, conforme os quadros abaixo.
Tabela 1 - Complemento de grandes formaes.
Tabela 2 -Complemento de pequenas e mdias formaes.
3.1.3 Solo e solista
Primeiramente necessrio explicitar a diferena entre os termos (solo) e (solista).
(solo) aplica-se formao instrumental/vocal quando o instrumento/voz executado absolutamente
s, ou seja, o nmero total de msicos 1 n.mus.001 .
(solista) quando o instrumento/voz tiver essa atribuio, destacando-se dos demais
instrumentos/vozes na sua formao. P.ex.: piano e orquestra; Soprano e quarteto de cordas. Assim,
tanto no contexto de piano solo quanto no contexto de um concerto para piano e orquestra, o piano
permanece sempre solista, apesar de ser solo somente no primeiro caso.
Todos os instrumentos/vozes (solo) so (solista) , mas nem todos (solista) so (solo).
Figura 6 - Os instrumentos solo so um caso particular dos instrumentos solista.
3.1.3.1 Indicao da formao vocal/instrumental para solo e solistas
O ltimo termo do complemento de formao para solistas indica a natureza do acompanhamento. Em
seguida a formao que executa o acompanhamento especificada.
3.2 Detalhamento da formao.
Segue a ordem da orquestra:
V. solistas, Nar., Co., Instr. solistas; fl.ob.cl.fg / cor.tpt.tbn.tba / sax / timp.perc.vib.mar.glock /
pf.cemb.hpa.gt.mand / cds(1vln,2vln,vla,vlc,cb); (meios eletrnicos); Coro(vozes como instr.)
3.2.1 Instrumentos e vozes solistas
Para no interferir na localizao de um instrumento, seja ele solista ou no, o termo (solista) aparece
sempre esquerda.
3.2.2 Coro
Deve ser indicado se as vozes so cantadas (canto) ou narradas (narrao) e por quem so executadas:
feminina (fem), masculina (masc), mista (fem,masc) ou infantil. Segue-se o nmero total de cantores(as);
em quantas partes
2
se divide o grupo; as abreviaturas das vozes {S Mez A T Bar B}
3.2.3 Sopros
3.2.3.1 Indicao geral
O nmero de intrpretes executando instrumentos de sopro aparece direita do termo (sopros).
(sopros)nn => nn = nmero de intrpretes executando instrumentos de sopros
O nmero de intrpretes em um nvel a somatria dos intrpretes no nvel imediatamente inferior. Assim,
o nmero de intrpretes executando instrumentos dos sopros igual somatria dos nmeros de intrpretes
executando instrumentos de cada uma das famlias que compe os sopros.
(sopros)nn{(madeiras)xx, (saxofone)yy, (metais)zz, (outros)ww}
nn = xx + yy + ww + zz
Da mesma forma, pode-se acumular o nmero de intrpretes atravs de vrios nveis.
(sopros)nn{(madeiras)xx{(flauta)xx
fl
, (obo)xx
ob
, (clarinete)xx
cl
, (fagote)xx
fg
},
(saxofone)yy{(saxofone-soprano)yy
sax-s
, (saxofone-contralto)yy
sax-a
, (saxofone-tenor)yy
sax-t
,
(saxofone-bartono)yy
sax-bar
, (saxofone-baixo)yy
sax-b
}, (metais)zz{(trompa)zz
cor
, (trompete)zz
tpt
,
(trombone)zz
tbn,
(tuba)zz
tba
}}
nn = xx + yy + zz = (xx
fl
+
xx
ob
+
xx
cl
+
xx
fg
) +( yy
sax-s
+ yy
sax-a
+ yy
sax-t
+ yy
sax-bar
+ yy
sax-b
) + (
zz
cor
+
zz
tpt
+
zz
tbn
+
zz
tba
)
3.2.3.2 Detalhamentos
Os detalhamentos de instrumentos de sopros aplicam-se a todas as flautas, obo (obo, obo-damore ,
corne ingls ou obo da caccia), clarinetes (Eb, Bb, A e baixo) (com exceo do cor de basset), saxofones,
trompetes (piccolo, C , Bb, baixo, etc.), trombones (tenor, tenor-baixo, baixo, contrabaixo, etc.) e tubas
(tenor, baixo, contrabaixo, etc.).
3.2.4 Percusso
A percusso possui alguns grupos de instrumentos com denominao idntica a outras famlias de
instrumentos, razo pela qual leva o prefixo p- de percusso, para a devida diferenciao:
(p-madeiras)
(p-metais)
(p-teclados-baquetas)
2
partes = vozes no no sentido dos cantores mas no da escrita da partitura; Coral a 4 vozes = 4 partes
(p-teclados)
(p-peles)
(p-outros)
(percusso)nn{(p-madeiras)dd, (p-metais)mm, (p-teclados-baquetas)bb, (p-peles)pp, (p-outros)tt}
nn dd + mm + bb + bb + pp + tt
nn no necessariamente igual dd + mm + bb + bb + pp + tt, pois a parte musical de um mesmo
percussionista pode compreender instrumentos de vrios grupos diferentes, p.ex.: tom-toms, pratos, wood
block, tringulo.
3.2.5 Teclados
Os teclados
3
, so classificados em diversas famlias:
cordas percutidas/pinadas
fluxo de ar
eletro/eletrnicos
outros
3.2.6 Cordas
So classificadas em diversas famlias:
arco (arco)
cordas pinadas (pinc)
cordas percutidas/pinadas (perc/pinc)
cordas percutidas com baquetas (perc-baquetas)
cordas outros
4
(outros)
3.2.7 Meios eletrnicos
Divide-se em dois grandes grupo:
(gravao em mdia eletrnica)
(dispositivo de processamento em tempo real)
3.2.8 Gravao em mdia eletrnica
Indica registro sonoro a ser reproduzido em performance com ou sem a atuao de um ou mais intrpretes:
(tape)
(CD)
(outros)
3
No compreendem os teclados da percusso.
4
Para uniformizao na busca o termo outros sempre aparece no masculino.
3.2.9 Dispositivo de processamento em tempo real
Indica que um dispositivo gerando (sintetizando) e/ou transformando sons est operando durante a
performance.
(analgico) : dispositivo com meios analgicos;
(digital) : dispositivo com meios digitais;
(analgico)(digital) : dispositivo possuindo meios analgicos e digitais.
4 EXEMPLOS DE EXPRESSES COMPLETAS
Soprano, rgo, campanas, coro misto, 3 trompetes, 2 trompas e 2 trombones
S. Co.SATB; 2cor.3tpt.2trb/camp/org
n.mus.042, gde-form(grupo)(vocal)(coro)(acomp)(instrumental)01,
(vozes)(canto)(fem,masc)032{p04}{SATB}, gde-form(solista)(vocal)(acomp)(instrumental)01, gde-
form(solista)(vocal)(acomp)-vocal)01, (solista)(vozes)(canto)(fem)01{(solista)(soprano)01}, gde-
form(grupo)(instrumental)cmara)01, (sopros)07{(metais)07{(trompa)02, (trompete)03,
(trombone)02}}, (percusso)01{(p-metais)(campanas)01}, (teclados)(fluxo de ar)01{(rgo)01}
piano a 4 mos ou 2 pianos
pf-4ms[=2pf]
n.mus.002, peq/med-form(grupo)(instrumental)(cmara)01, (teclados)01{(teclados)(perc/pinc)01{
(piano)01{(piano-4mos)01}}}, (teclados)02{(teclados)(perc/pinc)02{(piano)02}}
5 CONCLUSO
As expresses geradas com a sintaxe aqui proposta aumentam consideravelmente os recursos de
recuperao de informao e permitem ao usurio controlar a abrangncia da busca efetuada. Os testes
realizados at o presente atestam trata-se de uma poderosa ferramenta de catalogao. Durante a exposio,
uma demonstrao ser efetuada comprovando a grande gama possibilidades de acesso bem como a
versatilidade da ferramenta.
6 REFERNCIAS
BI BLI OGRAFI A ______________________________________________________
FERREIRA, Margarida M. (comp.) MARC 21: formato condensado para dados bibliogrficos. 2.ed.
Marlia: Unesp Marlia, 2002. v.1 (Publicaes Tcnicas; n.2)
FERREIRA, Margarida M. (comp.) MARC 21: listas de cdigos MARC pases, reas geogrficas e
idiomas. Marlia: Unesp Marlia, 2002. v.2 (Publicaes Tcnicas; n.3)
MANNIS, Jos A., CASTRO, Maria L. N. D. Proposta de catalogao de documentao musical em
sistemas MARC para estabelecimento de um padro nacional compatvel com fontes do exterior. In:
ENCONTRO ANUAL DA ANPPOM, 11.,1998, Campinas, SP, BRASIL. Anais... p. 73-94.
MANNIS, Jos A., MAMMI, Lorenzo. Catalogao e documentao musical em formato MARC. In:
ENCONTRO ANUAL DA ANPPOM, 11.,1998, Campinas, SP, BRASIL. Anais... p. 71-72. (Rapport
du Groupe de Travail sur Format MARC)
MARCONDES, Mrcia R. S. Formato MARC: Abordando a documentao musical. In: ENCONTRO
ANUAL DA ANPPOM, 11.,1998, Campinas, SP, BRASIL. Anais... p. 95-98.
MANUEL UNIMARC: format bibliographique; trad. Marc Chauveinc Mnchen. 2e ed. New
Providence, London, Paris: KG Saur, 1996. 396p. (UBCIM Publications / Programme CBU-MI)
FONTES I NTERNET ___________________________________________________
CHIRAKOS, Anthony F. (org.) Bibliographic formats and standarts. Ohio: OCLC Online Computer
Library Center, Inc., [s.d.] http://www.oclc.org/oclc/bib/about.htm
(Concise input formats, third edition http://www.oclc.org/oclc/man/7366cis/toc.htm)
MARC FIELD GUIDES. Design and HTML Markup for MARC Format Documentation by Jim
Weinheimer, Princeton: Princeton University Librarys Cataloging Documentation, [s.d.]
http://infoshare1.princeton.edu/katmandu/marc/guidtoc.html
CATALOGOS ONLI NE _________________________________________________
BIBLIOTECA NACIONAL. Catlogos online. http://www.bn.br/bibvirtual/catalogos/catalogos.html
BIBLIOTECA UNIVERSITRIA DA UFMG Universidade Federal de Minas Gerais. Catlogo online.
http://www.bu.ufmg.br/vtls/english/ http://www.bu.ufmg.br/vtls/portuguese/
RISM Online http://rism.harvard.edu/
Library of Congress http://lcweb2.loc.gov/
7 FIGURAS E TABELAS
7.1 Figuras
r um diagrama em arborescncia.
Figura 1 - Diagrama representando estrutura semelhante a um thesaurus
A1
B1
A1.1
A1.2
B1.1
B1.2
A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
B1.1.1
B1.1.2
B1.2.1
A1.2.1.1
A1.2.1.2
A1.2.1.3
A1.1.1.1
A1.1.1.2
B1.1.2.1
B1.1.2.2
B1.1.2.3
B1.1.2.4
Figura 2 -Exemplo simplificado da estrutura parcial de um thesaurus de formao instrumental/vocal.
performers
instrumentos
sopros
madeiras
flauta
piccolo
piccolo-Db
flautim
flautim-Db
flauta-soprano
flauta-G
flauta-baixo
flauta-contrabaixo
flauta-octobaixo
obo
obo
obo damore
corne ingls
clarinete
requinta
clarinete-Eb
clarinete-piccolo
clarinete-Bb
clarinete-A
clarinete-baixo
clarone
clarinete-contrabaixo
cor de basset
fagote
fagote
contra-fagote
saxofones...
metais
trompa
trompete...
trombone...
tuba ...
outros...
outros...
percusso...
cordas...
vozes
femininas...
masculinas...
infantis... etc.
documento permita identificar.
Figura 3 - Diferentes nveis numa estrutura de thesaurus
Nvel 1 Nvel 2 Nvel 3 Nvel 4 Nvel 5
Figura 4 -Uso de chaves em expresses e estrutura equivalente em diagrama.
(sopros)03{(madeiras)02,(metais)01}= 3 instrumentos dos sopros, dos quais 2 das madeiras e 1 dos
metais.
(madeiras)02{(flauta)01, (clarinete)01}= 2 instrumentos das madeiras, dos quais 1 flauta e 1
clarinete
(flauta)01{(flauta-G)01} = 1 flauta em sol
instrumentos
sopros
madeiras
flauta
flauta-baixo
1 flauta
1 flauta-G
2 madeiras
1 flauta
1 clarinete
3 sopros
2 madeiras
1 metais
(flauta)02{(flauta-soprano)01,(flauta-G)01} = 1 flauta (= flauta-soprano) e 1 flauta em sol
Figura 5 -Expresso representando diversos nveis e estrutura equivalente em diagrama.
(sopros)03{(madeiras)02{(flauta)01{(flauta-G)01}, (clarinete)01{(clarinete-Bb)01}},
(metais)01{(trompete)01 {(trompete-C)01}}}
| | |
nvel 1 nvel 2 nvel 3 nvel 4
2 flautas
1 flauta-G
1 flauta-soprano
3 sopros
2 madeiras
1 flauta
1 clarinete
1 flauta-G
1 clarinete-Bb
1 metais
1 trompete
1 trompete-C
.
Figura 6 - Os instrumentos solo so um caso particular dos instrumentos solista.
7.2 Tabelas
Tabela 1 - Complemento de grandes formaes.
instrumental
vocal
instrumental acomp
meios eletrnicos
instrumental
vocal
solista
vocal acomp
meios eletrnicos
outros
cmara
tradicional
sinfnica
banda
jazz
jazz
instr. <definir>
cmara
cordas
sinfnica
instrumental
orquestra
sinfnica-grande
a cappella
instrumental coro
acomp
meios eletrnicos
a cappella
instrumental
gde-form
grupo
vocal
outros
acomp
meios eletrnicos
SOLO
SOLISTA
Tabela 2 -Complemento de pequenas e mdias formaes.
instrumental
vocal
instrumental acomp
meios eletrnicos
instrumental
vocal
solista
vocal acomp
meios eletrnicos
meios eletrnicos
instrumental
solo
vocal
meios eletrnicos
outros
cmara
tradicional
banda
jazz
jazz
instr. <definir>
cmara
instrumental
orquestra
cordas
a cappella
instrumental
coro
acomp
meios eletrnicos
a cappella
instrumental
peq/med-form
grupo
vocal
outros
acomp
meios eletrnicos
1
RAIZES HISTRICAS DA MSICA BRASILEIRA
a Matriz Indgena e a sua apropriao.
J os D Assuno Barros
RESUMO
Esta comunicao inserida dentro do mbito de estudos da Histria da Msica e da
Musicologia remete a uma abordagem dos aspectos fundamentais da msica indgena
brasileira, inclusive a sua dimenso social e a histria de sua restrio pela cultura ocidental.
Busca-se, sobretudo, refletir sobre a inadequao de estudos que tm examinado a prtica
musical indgena a partir de critrios de escuta e de anotao exclusivamente calcados nos
parmetros ocidentais. O texto refere-se a um dos itens investigados durante a pesquisa Razes
Histricas da Msica Brasileira, que buscou examinar as matrizes indgena, afro-brasileira e
euro-brasileira do universo musical brasileiro.
Palavras-chave: Aculturao; msica indgena; interao cultural
ABSTRACT
This article uniting historiographical and musical perspectives intends to examine
fundamental aspects of Brazilian indigenous music, including the social dimension and the history
of assimilation and restrictions imposed by the Western culture. It is intended, above all, to
reflect on the inadequacy of studies which have examined the indigenous practical music based
on criteria of listening and annotations exclusively cemented on Western parameters. This text is
an attempt to reflect the distortions that can arise from a dislocation of a cultural production
outside of its context, and concerns to the research The Historical Roots of the Brazilian
Musician, which has studied the indian, afro and european roots of music in Brazil.
Key Words : Acculturation; brazilian indigenous music, cultural interaction.
2
RAIZES HISTRICAS DA MSICA BRASILEIRA - a Matriz Indgena e a sua
apropriao.
Jos D Assuno Barros
O texto que aqui se apresenta integra-se a uma pesquisa concluda em dezembro de 2002, e
que por sua vez parte de um Projeto de longa durao que atualmente desenvolvemos no
Conservatrio Brasileiro de Msica (Rio de Janeiro). O Projeto Histria da Msica Brasileira, j
implantado h trs anos e sem trmino previsto, apresenta-se como uma cadeia de projetos
especficos que buscam desenvolver pesquisa e reflexo sobre a Histria da Msica Brasileira. Nestes
primeiros trs anos foi desenvolvido um projeto mais especfico sobre as Razes Histricas da Msica
Brasileira, que teve parte de suas concluses registradas no livro Razes do Brasil Musical, publicado
em 2002 com o apoio do Conservatrio Brasileiro de Msica.
O objetivo desta investigao inicial foi traar um panorama crtico e reflexivo sobre as Razes
Histricas da Msica Brasileira, buscando-se investigar sucessivamente a matrizes indgena, afro-
brasileira e euro-brasileira (neste ltimo caso concentrando-se nos perodos histricos iniciais de
formao da msica erudita brasileira, o Brasil colonial e oitocentista). A continuidade do Projeto de
longa durao se dar atravs de uma nova pesquisa com durao de trs anos relacionada msica
erudita brasileira nas seis primeiras dcadas do sculo XX, com o ttulo de Nacionalismo e
Modernismo a Msica Brasileira no sculo XX.
O texto que aqui apresentamos expressa uma parte importante da pesquisa sobre as Razes
Histricas da Msica Brasileira, mais particularmente os esforos de investigao e reflexo que se
direcionaram para a pesquisa sobre a Matriz Indgena. Para empreender esta investigao especfica,
foram tomadas como fontes registros diversos sobre a msica indgena brasileira desde as gravaes
at os registros em partituras o que inclui tambm os registros elaborados pelos viajantes europeus
no sculo XIX e os registros em partitura e fonogramas desenvolvidos pela chamada Misso Rondon
no incio do sculo XX. Tambm foi empreendida uma leitura crtica das diversas obras de
compositores eruditos brasileiros que, sob a gide do Nacionalismo Musical, produziram composies
musicais fundadas criativamente no folclore indgena.
A reflexo que desenvolveremos a seguir, e que apresentamos para discusso neste Congresso,
refere-se mais especificamente aos mecanismos de transferncia cultural, transfigurao e
deformao que usualmente surgem quando uma cultura musical procura desenvolver uma leitura de
3
materiais oriundos de uma outra cultura musical. Uma reflexo mais completa sobre esta problemtica
poder ser lida no primeiro captulo do j mencionado livro Razes do Brasil Musical, produzido a
partir dos resultados da pesquisa.
*
A sujeio de uma sociedade por outra sempre envolve problemas complexos no mbito da
interao cultural. Numa das posies extremas, existem os casos em que a sociedade conquistadora
ou invasora, sendo sincera admiradora da sociedade vencida, assimila avidamente traos culturais
daqueles que foram submetidos belicamente. notrio o caso dos antigos romanos, que ao
submeterem a civilizao grega e encontrarem um universo cultural que podiam ou queriam admirar,
de certa forma o deglutiram antropofagicamente para utilizar uma metfora de Oswald de
Andrade. Mas existem tambm os casos em que, considerando a si mesma como plenamente
superior s populaes conquistadas, a sociedade invasora incorpora consciente ou
inconscientemente um projeto de aniquilar a cultura dos dominados, ou de dilu-la na sua prpria
cultura, ou ainda um projeto de deixar que esta cultura sobreviva mas apenas dentro de determinados
limites extremamente restringidos e sob um determinado controle. Estes enfrentamentos culturais
podem se dar sob o signo da hostilidade assumida ou do paternalismo, conforme o caso.
Consideraremos antes de mais nada os obstculos relacionados aos padres de escuta. Os
hesitantes tateamentos dos musiclogos e compositores no af de registrar e analisar a prtica musical
indgena so ndices de uma questo bastante complexa que envolve a apreenso de quaisquer
objetos (e sujeitos) sonoros, quanto mais de objetos sonoros em situao de estranhamento cultural.
Para alm da escrita gesto de transferir de forma simplificada para os smbolos visuais a
complexidade de um fenmeno essencialmente sonoro a escuta, j se sabe, inevitavelmente
um ato recriador. Charles Rosen tece alguns comentrios bastante relevantes a respeito:
Sempre que ouvimos uma msica, colocamos nossa imaginao acstica para
trabalhar. Ns a purificamos, dela subtraindo aquilo que irrelevante com relao
massa indigesta de sons que atingem nossos ouvidos as cadeiras que rangem nas
salas de concertos, as tosses ocasionais, o barulho do trnsito l fora; instintivamente
corrigimos a afinao, substitumos as notas erradas pelas corretas, e apagamos da
nossa percepo musical o som arranhado do arco do violino; em poucos minutos
conseguimos filtrar a ressonncia excessiva da catedral que interfere na clareza da
conduo de vozes. Ouvir msica, assim como, entender a linguagem, no constitui
um ato passivo, mas um ato cotidiano, to comum, da imaginao criadora, que seu
4
mecanismo aceito sem reservas. Separamos a msica do som (Charles Rosen,
2000, p.25)
Ora. Quando nos empenhamos em escutar uma msica pertencente a uma tradio cultural
com a qual no estamos acostumados, a interferncia do imaginrio sonoro pode se tornar, ao invs
de corretora e complementadora, literalmente deformadora. Esta ou aquela sonoridade que um
certo padro cultural de escuta julga no fazer parte do som musical puro, mas sim do mbito dos
rudos a serem relegados ao esquecimento auditivo, pode ser extremamente importante em um outro
padro cultural de escuta. O que o homem branco ocidental chama de rudo, o indgena pode sentir
como som; o portamento em quarto-de-tom que o europeu descarta como erro de afinao, o
nativo brasileiro pode considerar como parte integrante e fundamental do seu som musical; os rudos
da floresta que parecem ao europeu intrometerem-se indevidamente no espetculo sonoro, podem
ser para o ndio os principais convidados. Como separar a msica do som na passagem de uma
cultura musical a outra, se cada cultura redefine por sua conta o que o rudo, e o que o som?
Este o problema central a ser enfrentado na captao da msica indgena. Rigorosamente, os
materiais nativos recolhidos pelos pesquisadores estrangeiros e brasileiros que hoje so fontes
para o trabalho dos mais dedicados musiclogos precisariam ser submetidos a uma anlise crtica,
sob o risco de que se tome por msica indgena a leitura que o olhar e os ouvidos ocidentais
produziram sobre esta msica. Mas com estes materiais que contamos, e preciso trabalhar sobre
eles.
A partir de casos diversos, preciso notar que existiu na histria da musicologia brasileira uma
dificuldade de alguns estudiosos da msica em enxergar certos padres daquilo que chamam de
msica primitiva no como uma incapacidade, mas como uma riqueza. Assim, as hesitaes
sonoras em torno de um ponto de afinao so freqentemente percebidas pelo estudioso ocidental
como incapacidades de atingir o som afinado (o seu som afinado!), ao invs de serem percebidas
como um halo de riquezas timbrsticas que a voz tece em torno de um foco sonoro.
Para os ouvidos ocidentais incapazes de se abrirem a um outro padro de escuta, o que
escapa ao seu paradigma de preciso sonora deficincia na emisso do som, invaso de rudo
afetando a pureza meldica, primitivismo musical. Joseph Yasser j observava que os
primitivos no so capazes de produzir uma altura definida de som sem recurso ao portamento
incerto de um som indefinido a outro (Yasser, 1938, p.98). Custar-lhe-ia admitir que as
5
aproximaes ou rodeios imprecisos em torno de uma nota so mais da ordem do efeito que do
defeito.
Uma introduo escuta da msica indgena deve principiar por um desmontar de
preconceitos auditivos, de modelos monolticos de percepo do som, de concepes estticas
congeladas e consideradas como nicas, de iluses de evolucionismo cultural. No tarefa fcil, mas
deve ser tentado.
Vejamos em seguida algumas caractersticas da msica indgena mais referentes sua
constituio intervalar e s alturas meldicas utilizadas. Geralmente podem ser encontrados os sons
tendentes fixao em uma determinada cultura musical atravs de um exame do seu instrumental. Os
grupos indgenas denominados parecis, por exemplo, possuem trs tipos bsicos de lautas, que
abarcam no seu conjunto os seguintes sons:
Esta abrangncia no significa, por outro lado, que os indgenas parecis utilizem
necessariamente uma escala heptatnica, embora esta possibilidade esteja contida no seu aparato
instrumental. Na verdade, no conjunto de fonogramas produzidos pela Misso Rondon, e tambm
nas melodias recolhidas por Spix e Martius, transparecem muito mais habitualmente modelos
tetracrdicos recortados deste universo maior de possibilidades. por exemplo bastante comum a
elaborao de melodias, entre os parecis, a partir da seguinte seqncia de notas:
Tetracrdio recorrente na msica pareci.
neste tetracrdio que se baseia a melodia Teir, que alis se celebrizou por Villa-Lobos
ter nela baseado o primeiro dos seus Trs Poemas Indgenas, para canto e orquestra:
6
O tetracrdio que d origem melodia acima reproduzida (si-re-mi-f#) poderia ser
examinado como uma escala pentatnica defectiva (re-mi-f#-la-si, na qual est ausente o l). De
qualquer maneira, ainda isto seria tentar adaptar o sistema indgena a outro mais conhecido (o
pentatnico oriental) ao invs de considerar o tetracrdio pareci como um material escalar autnomo.
Melhor, talvez, mesmo considerar que a meldica pareci contenta-se em criar seqncias musicais
sobre quatro notas apenas, formando uma escala tetratnica muito particular.
A aventura meldica vivenciada pela msica ocidental que a partir das extenses mais
restritas dos primeiros cantos gregorianos foi enfrentando, no seu desenvolvimento histrico, o
desafio de estender cada vez mais o seu mbito para oitavas mais agudas e mais graves
desprezada pela meldica indgena. No nem mesmo seguro considerar que, para algumas
tradies indgenas, tenha algum sentido a idia de que um som possa ou deva se repetir mais acima
para reiniciar uma escala. Desta forma, a questo da oitava (termo imprprio em um sistema que
no heptatnico) sequer estaria colocada para os ndios. A meldica indgena contenta-se na
verdade em extrair a sua riqueza musical de umas poucas notas. possvel mesmo encontrar
seqncias meldicas com duas nicas notas, como neste Grito Ritual dos ndios parecis, tambm
recolhido pela Misso Rondon (Roquete Pinto, p.328):
Para restituir o universo sonoro dos indgenas sua riqueza primordial, seria o caso, por
exemplo, de recuperar a prtica de cantos multiplicados, atravs dos quais os ndios costumam
elaborar uma espcie de simultaneidade polifnica (mas de um outro tipo de polifonia) com
sucessivas defasagens de um mesmo trecho meldico. A experincia pode ser feita pedindo-se que
quaisquer das melodias que registramos at aqui sejam entoadas por diferentes cantores ou grupos de
cantores, mas com defasagens mnimas. O resultado sonoro uma complexa teia de vozes no
coincidentes que entoam, apesar disto, o mesmo motivo. O sucessivo e o simultneo travam aqui um
dilogo no conhecido na prtica da msica ocidental-europia, e vem da a dificuldade de esta
msica ser assimilada pelo ouvido formado no padro ocidental de escuta.
Por outro lado, deve-se notar que a modalidade do canto ancorado no efeito das vozes
multiplicadas no decorrncia de uma incapacidade de cantar rigorosamente em fase, j que o
7
canto em unssono tambm tem plena manifestao entre os indgenas. Ferno Cardim, autor do
primeiro tratado sobre a terra e as gentes do Brasil, j reconhecia que os ndios tm tal compasso
e ordem, que s vezes cem homens bailando e cantando em carreira, enfiados uns atrs dos outros,
acabam todos juntamente com uma pancada, como se estivessem todos em um lugar (Cardim,
1980, p.93). Cantar em unssono ou multiplicar as vozes portanto uma questo de opo, uma
alternativa que tem tudo a ver com o tipo de uso social que se pretende emprestar msica.
Para finalizar e resumir a questo mais ampla da assimilao da msica indgena, a partir destes
e de outros exemplos, poderamos reforar mais uma vez este registro de que os tateamentos
aculturantes do homem ocidental que enfrenta um estranhamento em relao cultura indgena so
via de regra interferidos por uma postura difcil de superar. Da mesma forma que este homem
ocidental tende a interpretar os textos e gestos indgenas a partir das suas tbuas de leitura, tende a
captar as novas realidades sonoras com que se defronta a partir de suas prprias tbuas de escuta.
Desta forma, avalia as demais civilizaes musicais a partir da sua prpria histria particular. As
escalas utilizadas por outros povos so confrontadas com a sua aventura histrica das amplitudes
meldicas e harmnicas (modulaes, mbito escalar abrangendo diversas oitavas, e assim por
diante). Os ritmos irregulares e no medidos so desconstrudos na sua essncia por uma leitura
calcada na aventura do ritmo mensurado, esta que foi acionada a partir do momento em que o
msico ocidental abandonou o ritmo lingstico no-medido dos primitivos cantos gregorianos e
trovadorescos em benefcio da msica mensurada, da pulsao rtmica regular, das barras de
compasso instituidoras de uma mtrica recorrente a partir do perodo renascentista. As riquezas
vocais timbrsticas e as micro-oscilaes so depreciadas em nome da nota precisa, afinada, limpa
de rudos e de oscilaes. A sociabilidade da msica esquecida em nome de uma msica
individualista que separa produtor e consumidor, que institui a sala de concerto como lugar isolante
para uma msica que aparta de si o rudo e a prpria vida exterior. Eis aqui, em termos muito
sintticos, a tbua de escuta do Ocidente.
Destacamos, portanto, a necessidade de que o exame da msica dos ndios brasileiros leve
sempre em considerao, tanto quanto possvel, os prprios parmetros das sociedades nativas
examinadas, conforme alguns aspectos essenciais: os usos sociais da msica e da dana, a ausncia de
um desejo de explorar extensas amplitudes meldicas, a interao entre a msica e as sonoridades da
natureza, a prtica musical indgena como um processo aberto onde a msica recriada no prprio
instante de sua execuo, a inexistncia de uma separao entre o produtor de msica e o espectador
8
ou ouvinte. Restituir msica indgena estes parmetros originais contribuir para a sua compreenso
efetiva. E, consequentemente, para a sua preservao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS (Fontes e Bibliografia citada)
CARDIM, Ferno. Tratados da Terra e Gente do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
ROQUETE PINTO, E.. Rondnia So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1935.
ROSEN, Charles. A Gerao Romntica. So Paulo: EDUSP, 2000.
SPIX J. B. von e VON MARTIUS, C. F. P.. Brasilianische Volkslieder und Indianische Melodien.
Musikbeilage zu Reise in Brasilien. Munich: s.ed, 1932.
YASSER, Joseph. La tonalit volutive. La Revue Musicale, Paris, n81, p.98-107, Fev. 1938.
1
Observaes anliticas sobre Amazonas de Villa-Lobos, em dilogo com
Vila-Lobos versus Vila-Lobos de Mrio de Andrade
J os Henrique Padovani
josepadovani@yahoo.com.br
Resumo: Em dilogo com a anlise realizada por Mrio de Andrade na sexta parte de Vila-Lobos
versus Vila-Lobos, publicado em Msica, doce Msica, e levantando questes sobre a origem de
Amazonas a partir de Myremis, so ressaltados os recursos composicionais utilizados por Villa-
Lobos em Amazonas. Para tanto feita uma anlise genrica da pea. Ao fim, questiona-se o
esforo de Mrio de Andrade em rechaar a inteno descritiva do poema-sinfnico e admir-lo
pela construo puramente musical, embora sua anlise permeie-se de descritivismos anlogos
aos do compositor.
Palavras-chave: anlise musical, Mrio de Andrade, Heitor Villa-Lobos.
Abstract: In dialogue with the Mrio de Andrades analysis in the sixty part of his Vila-Lobos
versus Vila-Lobos, published in Msica, doce Msica, and thinking about the origin of the piece
Amazonas from Myremis, are emphasized the compositional resources used by Villa-Lobos in
Amazonas. For this, it is made a general analysis of the piece. At the end, it is questioned the
Andrades effort in refuse the descriptive intentions of the tone-poem and admire only the purely
musical construction, although his analysis uses of descriptivisms like those of the composer.
Keywords: musical analysis, Mrio de Andrade, Heitor Villa-Lobos.
A origem da pea
A origem do bal / poema sinfnico Amazonas incerta. Seu primeiro nome teria sido
Myremis, ou Mirmis, composto em 1916 e estreado em 15 de agosto de 1918, no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro. A pea no est disponvel no Museu Villa-Lobos e as nicas
informaes que se tem a seu respeito so: a instrumentao
1
, a durao mdia, estria e o
ter sido ela a base do que se tornaria posteriormente Amazonas (MUSEU VILLA LOBOS,
1959, 52). Myremis, que seria baseada em um argumento ambientado na Grcia antiga,
teria durao aproximada de 18 minutos, cerca de 5 minutos a mais que a mdia de durao
de Amazonas.
Segundo os registros, Amazonas teria surgido em 1917, a partir da reviso de Myremis.
Si no me engano sse poema que era sobre um texto de inspirao grega, ou
pelo menos mediterranea, j foi executado aqui. Mas estava entre as obras
1
Como veremos, instrumentao essa diferente daquela de Amazonas: piccolo, 2 flautas, 2 obos, 2 cornos
ingleses, clarineta, clarone, 2 fagotes, contrafagote, 4 cornos, 4 trompetes, trombone, tmpanos, pratos,
bumbo, matraca, tambor, pandeiro, viola damore, ctara darco, celesta, harpa e cordas.
2
medocres do compositor. A remodelao, a inspirao num texto de localizao
amerndia deu vida nova a le [poema sinfnico]. (ANDRADE, 1963, 154-155).
A remodelao apontada por Mrio de Andrade partiu, portanto, do prprio argumento
potico, o que, segundo ele, teria ocasionado mudanas substanciais na temtica da pea.
Convm ressaltar que Mrio de Andrade no diz nada que soe especfico, ou mostre um
conhecimento ntimo de Myremis. A ele, como a todos os outros autores que fazem
referncia a Myremis, a pea parece existir apenas como um fato narrado, como se a
sombra de uma escultura se tornasse mais real que seu corpo. A nica informao que
contraria a inexistncia de Myremis a que diz respeito sua estria.
Amazonas estreou no dia 30 de maio de 1929, na Salle Gaveau, em Paris, ao lado de
Amriques de Varse, contando com 120 executantes. Em 24 de setembro de 1930, foi
executada pela primeira vez no Brasil pela Socidedade Sinfnica de So Paulo. No dia
seguinte, Mrio de Andrade publicava o 6
o
de sete textos publicados como Vila-Lobos
versus Vila-Lobos, todos fazendo referncia temporada que Villa-Lobos organizou,
naquele ano, em So Paulo. Este texto especfico (ANDRADE, 1963, 153-161) recebe o
ttulo Amazonas e apresenta uma anlise emocionada da pea.
Citado de forma livre ou demasiadamente genrica por autores como Eero Tarasti
(TARASTI, 1995, 360), Gerard Bhague (BHAGUE, 1994, 55) e Mrio de Andrade
(ANDRADE, 1963, 153-161), o argumento de amazonas normalmente no transcrito de
modo objetivo. Assim, o encontrei completo:
Uma ndia virgem e moa, consagrada pelos deuses das florestas encantadas,
costumava saudar a aurora banhando-se nas guas do Amazonas, o rio dos
Marajs, o qual as vezes inda mostrava os efeitos de sua clera contra as filhas
da Atlntida, mas que, em homenagem beleza delas, de vez em quando
tambm acalmava as ondas da sua torrente eterna.
A moa selvagem diverte-se alegremente, ora invocando o sol com gestos
rictuaes, ora contorcendo o corpo divino em gestos graciosos para que o seu
corpo possa inteiramente ser contemplado pela luz do astro-rei ou se refletir na
ondulante superfcie do rio. E quanto mais ella v a sua sombra desenhar na tela
ondulante e fria, os traos da sua belleza, tal como ningum ainda idealizra,
mais ella se orgulha de si mesma, numa sensualidade brutal. Enquanto a virgem
scisma assim, o deus dos ventos tropicaes a perfuma com seu sopro acarinhante
e amoroso. Mas a moa desprezando essas imploraes de amor, dana, dana,
entregando-se loucamente aos seu prazeres como criana ingnua. Ento,
indignado de tanto desprezo e ciumento, o deus dos ventos leva o perfume casto
da filha dos Marajs at as regies profanas dos monstros.
Um destes sente a moa, e na anxiedade de possui-la, tudo destruindo ao
passar, avana e sem ser percebido, aproxima-se da ndia. Impulsionado pelas
3
foras ou instinctos que a natureza depositou nos seres vivos, elle vae realizar o
capricho incontrastavel do iman invisivel.
A pequena distncia da virgem, o monstro para de caminhar e principia
rastejando. J perto, elle contempla a moa extasiado e a deseja. Sempre sem ser
percebido por ella, o monstro procura esconder-se, porm a sua imagem
reflectida pela luz do Sol sobre a mancha cinzenta da sombra da ndia.
E ento que vendo a propria imagem transformada, cheia de horror e sem
destino, a virgem consagrada, seguida pelo monstro, se precipita no abysmo do
seu proprio desejo. (Trecho extrado da 3 pgina de manuscrito da verso para
piano de Amazonas presente no Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro.
2
).
Segundo os autores que tratam da origem do argumento, como j foi dito, ele teria
origem em um texto de inspirao grega. Contudo, pelo que se pode constatar, no h na
cosmologia helnica, nenhum deus dos ventos que tenha sofrido de paixes desiludidas. De
qualquer forma, em Villa-Lobos: sua obra (2
a
edio), a autoria deste argumento atribuda
ao pai do compositor, Ral Villa-Lobos, e encontra-se a informao de ser esse texto
inspirado em uma lenda de ndios habitantes da regio da ilha do Maraj.
J em outro texto encontrado no mesmo livro tambm citado por Gerard Bhague, em
uma livre traduo para o ingls (BHAGUE, 1994, 54-55), e de autoria desconhecida ,
encontramos mais matria-prima para polmicas:
Quase todo o material meldico dessa obra foi baseado em temas indgenas
do Amazonas recolhidos pelo autor.
O ambiente harmnico, rtmico [sic] e a atmosfera criada pelos timbres
obedecem a um princpio de forma original de instrumentao, calcada nos
efeitos e sugestes que Villa-Lobos sentiu quando viajou, largo tempo, pelo vale
do Amazonas.
As florestas, os rios, as cascatas, os pssaros, os peixes e bichos ferozes, os
silvcolas, o caboclos [sic], e as lendas marajoaras, tudo influi psicologicamente
na confeco dessa obra.
Seus principais motivos meldicos so os que representam o tema da
invocao, da surpresa, da miragem, do rastejar e galope dos monstros lendrios
do rio Amazonas, da seduo, da volpia, da sensualidade da ndia sacerdotisa,
do canto herico dos guerreiros indgenas e do precipcio. (MUSEU VILLA-
LOBOS, 1972, 186-187)
Se a inspirao de Amazonas mais banhada pela mitologia mediterrnea ou pela
amaznica, parece-me uma questo sem resoluo. Cabe-nos, contudo, ressaltar as
incongruncias de textos como esses.
2
O texto est reproduzido tambm na 2
a
edio de Villa Lobos: sua obra. (ver bibliografia)
4
Para Eero Tarasti
3
, Villa-Lobos se basearia, para o tema inicial que veremos a seguir, em
uma melodia intitulada Canide Ioune, encontrada no livro LHistorie dun voyage faite au
Brsil, de Jean de Lry de 1557, o qual conhecido por conter os primeiros registros
etnomusicogrficos em terras brasileiras. A melodia, de fato, era de conhecimento de Villa-
Lobos, pois foi usada para a pea Canide-Ioune-Sabath dos Trs Poemas Indgenas, de
1926 (Figura 1).
Figura 1
Contudo, melodicamente, o tema no se assemelha de maneira to notvel melodia
transcrita por Lry, como Eero Tarasti quer nos fazer crer. Um motivo que basicamente se
estrutura em uma 2 maior muito pouco para deduzirmos uma citao.
Lisa Peppercorn diz, no diretamente em relao Amazonas, mas contra a idia de
Villa-Lobos ser conhecedor dos povos amaznicos, como proclamava-se na Europa:
A verdade, contudo, que Villa-Lobos no penetrou jamais, em toda a sua
vida, nas florestas virgens daquelas regies, no entrou jamais em contato direto
com ndios e tribos de nenhum gnero, no lhes transcreveu jamais as melodias
ou ritmos e, certamente, no realizou jamais registros fonogrficos nem recolheu
material folclrico; e, nem mesmo escreveu ou publicou jamais algo sobre
folclore
4
. (PEPPERCORN, 1992, 47)
A pea
A instrumentao de Amazonas apresenta peculiaridades. Composta para madeiras,
metais, tmpanos, percusso, celesta, duas harpas, piano e cordas, alm de instrumentos
menos usuais como o sarrusofone, a ctara de arco (que pode ser substituda pelo
violinofone
5
) e a viola damor, a pea depende muito da colorao instrumental. Isso
3
TARASTI, Eero. Heitor Villa-Lobos: The Life and Works, 1887-1959. Jefferson: McFarland & Co, 1995.
p.226-227 e 360.
4
La verit per che Villa-Lobos non penetr mai, in tutta la vita, nelle foreste vergini di quelle regioni, non
entr mai in contatto diretto com indiani e trib di nessun genere, non ne annot mai melodie o ritmi, e certo
non fece mais registrazioni fonografiche n raccolse materiale folkloristico; e neppure scrisse n pubblic mai
nulla sul folklore.
5 Espcie de violino sem caixa harmnica (caixa de ressonncia), com uma campnula acoplada ao
instrumento. Tem sido substitudo pelo Strohlviol ou por um violino com surdina amplificado. (MUSEU
VILLA-LOBOS, 1989, p. 33). Gerard Bhague atribui a autoria de tal instrumento a Heitor Villa-Lobos
(BEHGUE, 1995, p. 51), fato do qual no encontrei indcios. O violinofone tambm usado pelo
compositor no poema-sinfnico Uirapuru, de 1917.
5
explica porque a verso para piano soa menos rica em comparao verso orquestral.
Uma experincia interessante escutar Amazonas seguida de Amriques de Varse, tal
como na estria de ambas, e reparar que a pea de Villa-Lobos no deixa a desejar no que
diz respeito liberdade e importncia do timbre na sua linguagem.
Na partitura, Villa-Lobos escreve ttulos que, mesmo no coincidindo sistematicamente
com a estrutura do texto, estruturam-se a partir dele. Abaixo, os transcrevo associando-os
ao nmero dos compassos (ditions Max Eschig):
a) Contemplao do amazonas, [3];
b) Cimes do deus dos ventos, [8];
c) O espelho da joven ndia, [18];
d) Trahio do deus dos ventos, [27];
e) A prce da joven ndia, [50];
f) Dansa ao encantamento das florestas, [68];
g) Dansa sensual da joven ndia, [109];
h) Regio dos monstros, [119];
i) A marcha dos monstros, [151];
j) A alegria da ndia, [216];
k) Um monstro se destaca, [281];
l) A ncia do monstro, [286];
m) O espelho enganador, [288];
n) A descoberta, [290];
o) A lucta do prazer [300];
p) O abysmo [320];
q) O precipcio [332].
Levando em conta a estruturao motvica, a pea pode ser subdividida em 4 partes. A
primeira, que se inicia com o motivo em 2
a
maior (figura 2), vai de Contemplao do
Amazonas at Trahio do deus dos ventos. A segunda, de A prce da joven ndia at
Dansa ao encantamento das florestas. A terceira, de A dansa sensual da joven ndia at
Um monstro se destaca. A ltima parte vai de A ncia do monstro at O precipcio.
6
Figura 2: Motivo a.
O motivo inicial desenvolvido e apresentado como tema pelo obo (ver figura 3). O
tema, que repetido sempre com alteraes em sua finalizao, passa s flautas e
desenvolvido por vrios naipes.
Figura 3: tema principal.
Motivos ritmados pontuam e articulam a pea, seja em quilteras ou sncopes,
normalmente com dinmica forte. Outro motivo de importncia so ondulaes em
escalas ou arpejos, que Mrio de Andrade associa a idia da tela ondulante e fria do rio,
descrita no argumento (ANDRADE, 1963, 156).
A segunda parte inicia-se com o acrscimo de um novo motivo (figura 4) em
contracanto ao tema inicial. As ondulaes vo passando em arpejo pelos timbres da
orquestra e so mantidas por parte do naipe das cordas que tocam entre o cavalete e o
estandarte.
Figura 4: motivo b.
7
Esse motivo tocado com mais realce em Dansa ao encantamento das florestas por
parte das cordas e se dilui junto com a ondulao, realizada pelo segundo grupo de cordas
(incluindo o violinofone e a viola damor).
A terceira parte inicia-se com o motivo c (ver Figura 5), que apresentado lento e
torna-se mais eufrico nas recapitulaes. Ento, os trs motivos so recapitulados, em
ordem. Mrio de Andrade enaltece a transformao do motivo inicial em tema principal e
depois em melodia estrfica, alegando que essa arquitetura em muito supera qualquer
inteno descritiva (ANDRADE, 1963, 157-158).
Ao fim da recapitulao do motivo c, pelas cordas em Um monstro se destaca, a
pea ganha tenso e inicia-se a ltima parte, baseada no motivo inicial.
Figura 5: motivo c.
Quanto a essa ltima parte, qual Mrio de Andrade se refere como originria das
cavernas da orquestra (ANDRADE, 1963, 158), interessante reparar na importncia da
orquestrao e da utilizao dos timbres. Na verdade, toda a pea muito ousada nesse
sentido, e a finalizao em O precipcio, onde toda orquestra colore em timbres e alturas
uma queda do agudo ao grave, apenas uma mostra bvia da ilustrao musical, utilizada
em toda pea.
Apesar de Mrio de Andrade proclamar que, apesar das ms intenes descritivas
de Amazonas, a msica vence (ANDRADE, 1963, 160), no se pode ignorar que, para
uma anlise coerente com o intuito ilustrativo da obra, apesar de grandiloqncia,
sentimentalismo e sujeio da msica a intenes descritivas serem as principais crticas
endereadas pelos modernistas ao romantismo (TRAVASSOS, 2000, 19), era com esses
recursos que Villa-Lobos construa sua msica naquela poca. Ironicamente, com esses
mesmos recursos que, com ouvidos astutos, Mrio de Andrade analisa a pea.
BIBLIOGRAFIA:
8
ANDRADE, Mrio de. Msica, doce Msica. So Paulo: Livraria Martins Editora, 1963.
BEHGUE, Gerard. Heitor Villa-Lobos: The Search for Brazils Musical Soul. Austin:
Institute of Latin American Studies e University of Texas Press, 1994.
COELHO NETTO. Villa-Lobos. In: Presena de Villa-Lobos. v. II. Rio de Janeiro: Museu
Villa-Lobos, 1966. p. 49-53
KIEFER, Bruno. Villa-Lobos e modernismo na msica brasileira. Porto Alegre: Editora
Movimento, 1986.
MUSEU VILLA-LOBOS. Villa-Lobos: sua obra. 2
a
edio. Rio de Janeiro: Museu Villa-
Lobos, 1972.
MUSEU VILLA-LOBOS. Villa-Lobos: sua obra. 3
a
edio. Rio de Janeiro: Museu Villa-
Lobos, 1989.
PEPPERCORN, Lisa. Some Aspects of Villa-Lobos Principles of Composition. In Villa-
Lobos: Collected Studies by Lisa M. Peppercorn. Brookfield, VT: Ashgate, 1992. p. 14-21.
__________________. Villa-Lobos: Father and Son. In: Villa-Lobos: Collected Studies by
Lisa M. Peppercorn. Brookfield, VT: Ashgate, 1992. p. 28-33.
__________________. Le influenze del folklore brasiliano nella musica di Villa-Lobos. In:
Villa-Lobos: Collected Studies by Lisa M. Peppercorn. Brookfield, VT: Ashgate, 1992. p.
46-52.
__________________. Foreign Influences in Villa-Loboss Music. In: Villa-Lobos:
Collected Studies by Lisa M. Peppercorn. Brookfield, VT: Ashgate, 1992. p. 53-68.
__________________. Heitor Villa-Lobos: il burlone. In: Villa-Lobos: Collected Studies
by Lisa M. Peppercorn. Brookfield, VT: Ashgate, 1992. p. 106-122.
TARASTI, Eero. 1995. Heitor Villa-Lobos: The Life and Works, 1887-1959. Jefferson,
NC: McFarland.
TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e Msica brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2000.
WISNIK, Jos Miguel. O coro dos contrrios: Msica em torno da semana de 22. 2
a
edio. So Paulo: Livraria Duas Cidades, 1983.
A Sagrao da Primavera: 90 anos,
A intersemiose entre msica, dana e visualidade
J os Luiz Martinez
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP)
rudrasena@uol.com.br / martinez@pucsp.br
http://www.pucsp.br/pos/cos/rism
Resumo: Essa comunicao visa discutir questes de significado na Sagrao da Primavera,
aqui considerada em seus aspectos musicais, coreogrficos e cenogrficos. importante tanto a
compreenso do contexto em que Stravinsky, Nijinsky e Roerich conceberam essa obra como as
qualidades e estruturas da obra em si. Essa anlise insere-se no estgio atual de minha pesquisa
sobre a intersemiose da msica com as artes. A abordagem adotada a semitica da msica em
bases peirceanas, que aqui se alia ao conceito de sinergia para a compreenso da
multimidialidade. As hipteses e anlises apresentadas levam concluso de que a Sagrao
constitui ela mesma na realizao metafrica de um ritual em msica e dana.
Palavras-chave: Stravinsky, Nijinsky, semitica
Abstract: In this paper, questions of signification of the Rite of Spring are studied in its
musical, choreographic and visual features. It is important to understand both the context in
which Stravinsky, Nijinsky and Roerich have conceived this work as well as the qualities and
structure of the work itself. This analysis belongs to the current stage of my research on the
intersemiosis of music with the performing arts. The approach adopted is the theory of musical
semiotics (based in Peirce), which is associated here to the concept of synergy in order to
understand multimediality. The presented hypothesis and analysis indicate that The Rite is in
itself the metaphoric actualization of a ritual in music and dance.
Keywords: Stravinsky, Nijinsky, semiotics
Em 29 de maio de 1913, 90 anos atrs, estreiou no Thtre des Champs-Elyses a Sagrao da Primavera,
uma obra onde trs grandes criadores Stravinsky, Nijinsky e Roerich materializaram um mundo de
significaes. Le Sacre, o resultado dessa combinao multimdia de msica, coreografia, cenrio e
figurino, representa um mundo de interrelaes de significados, uma espcie de unwelt (vide Nth 1990:
158), onde a possvel etnologia de um ritual pr-cristo de adorao terra e de sacrifcio em favor de
Jarilo, o deus da primavera, se mescla com o projeto artstico de recriar no uma encenao desse ritual,
mas ritualizar, no que seria o espao do ballet, um espetculo de um carter nunca antes visto ou ouvido.
Muitas anlises tm sido propostas, sobretudo para a partitura da Sagrao; estudos sobre o primitivismo,
da relao entre arte e cincia em torno de 1900, e sobretudo a respeito do grande tumulto com o qual o
pblico parisiense recebeu a obra. No entanto, o que me preocupa aqui a compreenso da rede de
significados que constitui a Sagrao, significados que no podem ser encontrados apenas na partitura, pois
trata-se de intersemiose entre msica/dana/imagem, significados que no esto desvinculados de um
universo de cultura e arte, situado na Russia do incio do sculo XX e na concepo de uma Russia
primitiva. H tambm a trajetria semitica que a Sagrao estabeleceu, especialmente enquanto marco da
msica contempornea. Mais recentemente, com a reconstruo da coreografia de Nijinsky e o cenrio de
A Sagrao da Primavera: intersemiose 2
Roerich (por Millicent Hodson [1996] e Kenneth Archer) e as remontagens da obra original, sua forma
completa novamente se impe diante dos espectadores. Para mim, antes da viso analtica, a Sagrao se
apresenta como uma estupenda obra cujas qualidades, formas e idias se fixaram em minha mente de forma
indelvel quando assisti a sua remontagem na pera de Helsinki, em 1995. A Sagrao magnfica pela
maneira como seus trs criadores foram capazes de gerar, num universo de linguagem controlada como
uma orquestra e um corpo de baile, um espelho que remete o espectador para suas memrias primevas de
relao ritual com a natureza.
Antes de avanar na anlise de alguns trechos da Sagrao, gostaria de refletir sobre os aspectos gerais de
seu significado. E para falar da significao musical farei uso da teoria semitica da msica que tenho
desenvolvido em bases peirceanas (vide Martinez 2001). Na sua forma mais completa, temos uma obra
composta por trs sistemas de signos: a msica, a coreografia e seu aspecto visual. Numa performance,
todas esses trs sistemas interagem formando um signo complexo que se apresenta para os espectadores.
Essas trs linguagens no se traduzem internamente de modo tautolgico. A dana no dobra a msica, o
cenrio e figurinos propem signos prprios. O conceito mais prximo para entendermos essa trade o de
contraponto. Pode-se afirmar que em muitas partes da obra, h um contraponto entre dana e msica.
Danarinos ou grupos de danarinos se movimentam em formas plsticas que, apesar de sincronizadas com
as estruturas musicais, no as reproduzem. Justamente essa independncia de vozes que resulta numa forma
complexa de signo, cujo objeto e possvel interpretante um composto multimiditico resultante dos
aspectos musicais, coreogrficos e visuais operando cooperativamente, ou melhor, sinergeticamente.
A sinergia semitica que proponho como modelo para a intersemiose no deve ser aqui tomada de forma
metafrica. Sinergia um conceito criado pelo arquiteto, matemtico e filsofo Buckminster Fuller (1975),
segundo o qual o comportamento global de um sistema pode ser de uma ordem tal que no pode ser
previsto pela soma individual das possibilidades isoladas de cada componente desse sistema. Ou seja, um
sistema sinergtico apresenta uma resultante muito maior que a soma individual de suas partes. A sinergia
semitica essencialmente cooperativa. No caso da Sagrao, os interpretantes imediatos, dinmicos e
finais no se conformam simplesmente soma do conjunto de signos musicais, coreogrficos e imagticos,
mas constituem um todo de uma magnitude muito maior. E, de acordo com as leis da sinergia, quanto mais
cooperao mais eficiente o sistema. Um sistema sinergtico um sistema econmico com uma resultante
extraordinria para a ordem de potencialidade de seus componentes em isolamento. Assim me parece a
Sagrao, na sua totalidade.
Examinarei ento alguns desses componentes sgnicos. Os mentores do projeto da Sagrao, Igor
Stravinsky e o arquelogo, etnlogo e pintor Nikolai Roerich, conceberam uma obra em torno de diversos
ritos eslavos pr-cristos relacionados com o festival de invocao da primavera, com as festas de
casamento e com o sacrifcio para Jarilo, o deus da primavera e da fertilidade. No incio do sculo XX,
contrariamentre ao nacionalismo que havia apelado para um uso direto do folclore, Roerich pretendia um
A Sagrao da Primavera: intersemiose 3
retorno ao universo eslavo primitivo. Por meio de novas cincias como a arqueologia e a etnologia, se
poderia efetuar um salto na modernidade, recusando o romantismo pela recriao de um passado remoto.
Mas esse projeto no poderia ser executado pela simples representao desse passado, tal como na tradio
dos ballets romnticos. O projeto de Stravinsky era mais prximo da concepo de Diaghilev de um
Mundo das Artes, mir iskusstva (vide Taruskin 1982: 72), uma obra concebida como uma realidade
artificial criada a partir da imaginao do artista. Assim, a Sagrao no foi pensada como uma mmese de
um ritual eslavo, mas a realizao de um ritual em msica e dana. Isto , a Sagrao, antes de representar
a imagem de um ritual ela mesma a estrutura de um ritual (vide Bransdsletter 1998, Zenck 1998).
Alguns anos depois da estria, Stravinsky passou a afirmar que o nico tema folclrico que empregou foi a
melodia da Litunia tocada pelo fagote no inco da obra (vide Hill 2000: 35). Estudos recentes, no entanto,
provam que diversos temas folclricos foram empregados por Stravisnky, mas em geral bastante
modificados, de forma que no se pode localizar citaes ou orquestraes diretas (vide Taruskin 1980).
Em parte, o compositor tinha razo, pois seus procedimentos foram sobretudos metalingsticos. Ele
transformou os cantos rituais eslavos ao ponto de se tornarem metafras dentro de numa nova linguagem,
ou melhor, referncias alegricas, de acordo com a minha classificao desses procedimentos (vide
Martinez 1996, 2001: 129-135). Do mesmo modo, Nijinsky no empregou danas folclricas, nem a
linguagem e o repertrio de signos do ballet. Ele criou novos movimentos, novas disposies corporais para
o desafio que a partitura propunha. Os grupos de danarinos, coreografados como blocos que se
contrapem orquestrao de Stravinsky, ora se fecham em crculos concntricos, ou em formas
geomtricas que no se rendem a disposio clssica do ballet de se voltar para o pblico. A coreografia de
Nijinsky volta-se sobre si mesma, as danas circulares no apenas remetem para um ritual, elas constituem
um ritual em sua estrutura, e portanto seu modo de significar o de um signo diagramtico. Esse
diagrama coreogrfico, enquanto estrutura, dialoga com um outro diagrama que a composio musical.
Em 1911, Diaghilev e Nijinsky visitaram o instituto de Emile Jacques-Dalcroze para conhecer o novo
mtodo que associava msica e movimentos corporais de modo verdadeiramente estrutural. Nijinsky ento
tomou como assistente Marie Ramberg, que havia sido treinada em eurritmia. O coregrafo teria assim
decupado as estruturas rtmicas da Sagrao com um mtodo preciso que possibilitou sua imediata
traduo em termos de movimento corporal. Essa abordagem visivel no apenas nas formas da
coreografia, mas tambm no uso do bater rtmico de ps dos danarinos e palmas que foram integrados
semitica e plasticamente na obra. Esses recursos j eram suficientemente afastados da linguagem do ballet,
no entanto, Nijinsky foi muito alm. Quebrando os eixos simtricos do corpo, usando os ps en-dedans
(voltados para dentro), mostrando o esforo fsico em vez de ocult-lo e adotando posies corporais no
convencionais, Nijisnky revolucionou a dana, e foi acusado de cometer um crime contra a graciosidade
(vide Hodson 1996: x-xi).
A Sagrao da Primavera: intersemiose 4
Para que se possa aqui ao menos ilustrar algumas das estruturas musicais e movimentos compostos por
Stravisnky e Nijinsky, farei uma breve anlise da primeira e da ltima partes da Sagrao. Ambas
apresentam signos alegricos de rituais pr-cristos eslavos como objeto da representao, alm disso, suas
formas e estruturas, os signos em si mesmos, revelam novas gramticas rtmicas e harmnicas, novas
qualidades de movimento, que asseguram o modernismo e a linguagem inovadora da obra, uma liguagem
metafrica e metalingstica.
Polirritmia em Ladoration de la terre
Aps a introduo, a dana inicia com um grupo de jovens com chapeus e peles (Lmina 1). Na sua
partitura de trabalho, Stravinsky anota no primeiro compasso depois de [13] saltitando. De p, formando
um semi-crculo, o grupo pula em meia-ponta, em sincronia com as colcheias, sem sair do lugar,
acentuando a primeira colcheia de cada compasso 2/4 com um pulo um pouco mais alto. Os acentos da
partitura so realizados com movimentos dos braos e da cabea, cada danarino seguindo uma seqncia
prpria, a partir de um repertrio de trs gestos para cada acento (vide Hodson 1996: 2). O resultado uma
polifonia de movimentos, com os ps marcando as colcheias.
Lmina 1 Anci e cinco jovens
Nota-se, logo ao incio da coreografia, como Nijinsky concebeu estruturas que, estando ao mesmo tempo
em sincronia com a partitura, apresentam caractersticas rtmicas independentes. Os primeiros oito
compassos dessa seco, de acordo com a anlise de Boulez (1995: 90-91), esto organizados em clulas de
dois em dois compassos. Nos dois primeiros compassos h uma preparao, constituda de 8 colcheias sem
acentos. Segue-se a clula A, com dois acentos nas partes fracas dos tempos do primeiro compasso e
nenhum acento no compasso seguinte. A clula B contm um acento na parte fraca do primeiro tempo de
seu primeiro compasso e um acento no primeiro tempo de seu segundo compasso. A seguir, a clula B
apresenta um acento no primeiro tempo e um acento na parte fraca do primeiro tempo de seu segundo
compasso, e pode ser considerada como o retrgrado da clula B.
A dana, no entanto, no segue essa disposio. Os acentos esto organizados em sries de trs
movimentos, contrapondo-se msica e constituindo uma outra organizao rtmica sobreposta, e .
Como cada danarino possui sua prpria seqncia, uma polifonia coreogrfica se apresenta visualmente,
A Sagrao da Primavera: intersemiose 5
em sincronia com as clulas executadas por blocos de acordes nas cordas e seus acentos marcados por
acordes nas trompas (Exemplo 1).
Forma e movimento ritual na Danse sacrale
Para a ltima cena, Stravinsky comps um rond. A forma garante a unidade apesar dos motivos
complexos e mtricas irregulares. A anlise detalhada de Boulez (1995: 119-129) revela dois refres, duas
coplas e uma coda sobre o refro. Os refres so monorrtmicos, constitudos por trs motivos com
duraes variveis em semicolcheias, resultando numa mtrica extremamente quebrada. De acordo com
Zenck, precisamente essa rtmica que estabelece um tempo sagrado, um tempo suspenso pela
irregularidade e oposto ao tempo profano cronolgico (1998: 69). Assim, as estruturas mtricas compostas
por Stravinsky para o final de sua obra podem ser pensadas como um signo diagramtico desse tempo
ritual, que remete ao passado, onde faz sentido que uma jovem seja oferecida a Jarilo, o deus da primavera.
A coreografia consiste num solo da escolhida, que dana at a morte. Esta foi a primeira coreografia que
Nijinsky fez para a Sagrao e, de acordo com Hodson, aqui ele estabeleceu os princpios estilsticos de
toda a obra (Hodson, 1996: 167). A coreografia segue a forma musical, contrapondo movimentos cujas
qualidades remetem ao sacrifcio. Para os dois refres, a danarina desenvolve uma srie incessante de
saltos, sincronizados com os acordes do motivo A e suas variaes (Lmina 2), enquanto que a seqncia
de semilcolcheias que caracteriza o motivo B danada com uma inclinao do corpo para a esquerda,
iconicamente descendo com as notas (Lmina 3).
Lminas 2 e 3 Salto e inclinao da escolhida
A primeira copla, em [149], introduz a dana dos velhos e ancestrais em torno da escolhida, os passos
correspondendo aos acordes nas cordas, enquanto que a figura cromtica nos trombones e trompetes
danada pela escolhida, como se ela tentasse uma fuga do crculo em que est confinada desde grande parte
do segundo ato (Lmina 4).
A Sagrao da Primavera: intersemiose 6
Lmina 4 Velhos e ancestrais danando a primeira copla
Em [154], a escolhida marca junto com as cordas rulos, batendo com as mos sobre as coxas e os ps no
cho. Enquanto que em [160] ela realiza gestos alternados, com os braos abertos como se estivesse
batendo asas, junto com o tutti da orquestra (Lmina 5). Trata-se de uma referncia tradio eslava de
pedir para que os pssaros tragam a primavera. Em [167], com o segundo refro (que identico ao
primeiro, exceto por ter sido transposto por Stravinsky meio tom abaixo), a escolhida praticamente repete
os saltos e inclinaes do incio da Danse sacrale, mas apresentando alguma variao nos braos.
Lmina 5 Batendo as asas
Em [174] se inicia a segunda copla. Aqui Nijinsky comps quedas e giros que ampliam a dana exaustiva.
Na coda, com a retomada dos motivos iniciais e igualmente dos passos da escolhida, os saltos se tornam
cada vez mais frenticos, at que no acorde do segundo compasso de [201], a escolhida cai no cho
(Lmina 6), e no ltimo acorde da partitura, ela elevada pelos ancestrais (Lmina 7), glorificando o
sacrifcio.
Lminas 6 e 7 Consumao do sacrifcio
A crtica publicada na epoca da estria da Sagrao da Primavera revela um conflito de opinies.
Enquanto que alguns questionaram a possibilidade de algum danar at a morte, Nijinski teria sido
acusado de no demonstrar nenhuma compaixo pela escolhida. A sinergia dessa obra de fato constituiu
uma linguagem que rompeu com tudo o que a Europa havia produzido antes em msica e dana. Seu
A Sagrao da Primavera: intersemiose 7
significado, no entanto, to simples como Stravinsky manifestou no dia da estria na revista Montjoie!:
Na Sagrao da Primavera eu quis expressar o sublime despertar da natureza renovando a si mesma (in
Hill 2000: 93). O sacrifcio humano no mais do que uma metfora para a crena eslava de que a vida e a
morte so necessrias para que a natureza prossiga. A Sagrao da Primavera revelando os elos da cultura
com a natureza.
Nota: Este artigo foi escrito como parte das atividades da Rede Interdisciplinar de Semitica da Msica
(<http://www.pucsp.br/pos/cos/rism>), projeto de pesquisa dirigido por Jos Luiz Martinez e vinculado ao
Programa de Ps-Graduao em Comunicao e Semitica da PUC-SP, com o apoio da Fundao de
Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo, instituies s quais o autor gostaria de fazer pblico seus
agradecimentos.
Referncias:
Boulez, Pierre (1995). Apontamentos de Aprendiz. Paule Thvenin (ed.), trad. de Stella Moutinho et alli.
So Paulo: Perspectiva.
Bransdsletter, Gabriele (1998), Ritual as Scene and Discourse: Art and Science Around 1900 as
Exemplified by Le Sacre du printemps. The World of Music 40(1), 37-59.
Fuller, R. Buckmister (1975). Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking. London: MacMillan.
Hill, Peter (2000). Stravinsky: The Rite of Spring. Cambridge: Cambridge U.P.
Hodson, Millicent (1996). Nijinsky's Crime Against Grace: Reconstruction Score of the Original
Choreography for Le Sacre Du Printemps (= Dance & Music Series, n. 8). New York:
Pendragon.
Martinez, Jos Luiz (1996). Icons in Music: a Peircean Rationale. Semiotica 110(1/2), 57-86.
(2001). Semiosis in Hindustani Music, 2 edio revisada. Delhi: Motilal Banarsidass.
Nth, Winfried (1990). Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana U.P.
Stravinsky, Igor (1989). The Rite of Spring in Full Score. New York: Dover.
Taruskin, Richard (1980). Russian folk melodies in The Rite of Spring. Journal of the American
Musicological Society, 23, 501-43.
(1982). From Firebird to The Rite: Folk Elements in Stravinskys Scores. Ballet Review 10(2), 72-87.
Zenck, Martin (1998). Ritual or Imaginary Ethnography in Stravinskys Le Sacre du Printemps? The
World of Music 40(1), 61-78.
Vdeografia:
Stravinsky, Igor; Nijinsky, Vaslav; Roerich, Nicholas (1989). Le Sacre du Printemps with Joffrey Ballet ,
direo de Robert Joffrey; Orquestra Nacional de Praga, regente Allan Lewis; reconstruo de
Millicent Hodson e Kenneth Archer. Produo de Judy Kinberg e Thomas Grimm. New York e
Copenhague: WNET e Danmarks Radio. [6o minutos, VHS]
1
O planejamento composicional parametrizado aplicado s alturas na
composio das I nvarincias para piano solo
J os Orlando Alves
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
jorlandoalves@ig.com.br / j013854@dac.unicamp.br
Resumo: O objetivo deste trabalho exemplificar musicalmente um processo de planejamento
composicional a partir da utilizao de recursos matemticos e da combinao de conjuntos de
classes de alturas, suas transposies, inverses e respectivas duraes parametrizadas.
Inicialmente abordamos o conceito de planejamento a partir do referencial terico (Morris,
1987) e apresentamos resultados recentes da pesquisa em andamento no Doutorado em
Processos Criativos (UNICAMP), baseado no projeto O Espao e o Planejamento
Composicional: uma abordagem conceitual e prtica. Atravs de um enfoque estrutural,
exemplificamos na composio de uma das trinta e trs Invarincias para piano solo, de minha
autoria, o planejamento parametrizado aplicado organizao das alturas. Esta pesquisa tem
demonstrado que o planejamento possibilita alcanar um pleno domnio da objetividade
abstrata, possibilitando a subjetividade do compositor atuar na ordenao e escolha das
estruturas musicais parametrizadas.
Palavras-chave: composio, planejamento, teoria dos conjuntos.
Abstract: The purpose of this work is to musically illustrate a process of composition planning
based on the use of mathematical resources and the combination of pitch-class sets, their
transpositions, inversions and respective parametric durations. At first, I approached the concept
of planning as from a theoretical reference (Morris, 1987) and presented recent results of
research being developed, at the Doctors Degree Program on Creative Processes (University of
Campinas UNICAMP), based on the project Space and Composition Planning: a conceptual
and practical approach. By using a structural focus, I illustrated, in the composition of one out
of thirty-three Invariances I myself worked on for a piano solo, the parametric planning applied
to the organization of pitches. Such research evidenced that planning enables the achievement of
full mastery of abstract objectivity, making it possible for the composers subjectivity to act in
the organization and choice of parametric musical structures.
Keywords: composition, planning, Sets-Theory.
Introduo
O conjunto das trinta e trs pequenas peas para piano solo, denominadas de
Invarincias, foram compostas a partir de um planejamento composicional prvio que
utilizou recursos matemticos para manipular conjuntos de classes de alturas
parametrizados. Todo o processo de planejamento est descrito em detalhes na
monografia intitulada O Planejamento Composicional Parametrizado Aplicado s
Alturas apresentada por mim, em dezembro de 2002, no Instituto de Artes da
UNICAMP. Esta monografia apresenta os resultados obtidos na segunda etapa da
pesquisa prevista no projeto O Espao e o Planejamento Composicional: uma
2
abordagem conceitual e prtica (Alves, 2001), apresentado Ps-Graduao do
Instituto de Artes da UNICAMP como requisito ao ingresso no Doutorado em
Processos Criativos.
O presente artigo busca descrever resumidamente a proposta do planejamento
desenvolvida na referida monografia, ilustrando a sua aplicao na composio de uma
das trinta e trs Invarincias (a de no. 3). O objetivo deste planejamento relacionar e
reunir, atravs da utilizao de recursos matemticos (no caso, a multiplicao
matricial), uma grande variedade de combinaes de parmetros, aplicados s alturas,
para gerar estruturas musicais.
Por planejamento composicional subentende-se toda e qualquer organizao do
material sonoro, anterior ao incio da composio propriamente dita, que contribui para
uma realizao plena dos anseios do compositor. Para introduzir o conceito de
planejamento na composio musical, tomamos como referencial terico os conceitos
de espao (compositional space) e planejamento composicional (compositional design),
abordados por Morris (1987).
Adotamos tambm como referencial terico, para um efetivo controle da
organizao das alturas, a Teoria dos Conjuntos aplicada Msica. Esta teoria surgiu na
dcada de 60 a partir de elaboraes e conceitos definidos por Babbitt (1961) e
sistematizados por Forte (1973). Foi amplamente utilizada, como um recurso analtico,
por diversos autores como Cook (1987), Morris (1987), Straus (1990), Lester (1989),
Oliveira (1998), dentre outros. Vrios termos abordados no presente trabalho, como por
exemplo, conjuntos e subconjuntos de classes de alturas, suas classificaes e
transposies e inverses, se referem aos axiomas que formam a base da referida teoria.
Em virtude da limitao em funo de sua extenso, neste trabalho ser invivel
apresentar as definies dos termos associados Teoria dos Conjuntos. No entanto, nos
autores indicados acima, os referidos termos so conceituados de forma bastante
didtica.
Inicialmente sero descritos os principais parmetros adotados na organizao
das alturas. Em seguida, sero apresentados os resultados obtidos com a aplicao dos
recursos matemticos na elaborao do Universo de Possibilidades
1
. Por fim,
1
Por Universo de Possibilidades subtende-se um conjunto que rene todas as combinaes possveis das
caractersticas musicias priorizadas pelo compositor no planejamento e parametrizadas em unidades
discretas passveis de uma modelagem matemtica.
3
apresentaremos a aplicao do planejamento na composio de uma das trinta e trs
Invarincias.
1. O Planejamento Composicional Parametrizado
Um parmetro uma varivel ou constante qual, numa relao determinada ou
numa questo especfica, se atribui um papel particular e distinto do das outras variveis
ou constantes. Segundo o verbete do Grove (2001, vol. 19, p. 68):
Um termo associado, no contexto musical, ao serialismo, que se refere
aspectos como: altura ou classes de alturas, ritmo, sonoridade e timbre, dentre
outros. No serialismo sua utilizao se origina quando um compositor serializa
os diferentes aspectos de uma composio musical. Muitos termos matemticos
podem ter equivalncias com a terminologia musical (...). Na matemtica de
funes um parmetro geralmente uma varivel para a qual podem ser
associados diferentes valores.
Segundo Miranda (2001, p.13), a utilizao do pensamento paramtrico remonta
pocas medievais "(...) onde ritmos e seqncias de notas eram criados separadamente e
ento combinados num estgio posterior." Miranda refere-se ao mtodo de composio
de Cantus Firmus utilizado por Guido D'Arezzo que "(...) consistia em construir uma
tabela de correspondncias entre as vogais de um texto e as notas de um modo
gregoriano" (Manzolli, 1995). J no Renascimento, Roads (1985, p.823) refere-se a
4
outros processos formais de composio que utilizam a abordagem paramtrica, como a
Seo urea e a isoritmia utilizada em motetos de Dufay e de Machaut. Dentre outros
mtodos composicionais que partiam de uma abordagem paramtrica, podemos citar os
Jogos de Dados de Mozart (Loy, 1989) e, mais recentemente, o processo descrito por
Xenakis (1971).
O Planejamento Composicional em questo apresenta as seguintes etapas:
1) Parametrizao de conjuntos de classes de alturas e duraes;
2) Utilizao de recursos matemticos (matrizes) para combinar e produzir novas
estruturas parametrizadas;
3) Definio das Diretrizes do Planejamento;
4) Ordenao e/ou escolha dos componentes estruturais da composio.
Aps a parametrizao dos conjuntos de classes de alturas e das duraes e aps
a utilizao das matrizes, sero produzidas as Equaes Construtivas que podem ser
definidas como:
As Equaes Construtivas so o resultado da multiplicao matricial, onde a
combinao das estruturas parametrizadas so apresentadas atravs da
simbologia dos sinais matemticos de soma e multiplicao. (Alves, 2002, p.11)
Estas equaes, que compem o Universo de Possibilidades, sero escolhidas e
ordenadas a partir das Diretrizes do Planejamento. Desta forma, as Diretrizes so
decises ou pressupostos que direcionam o planejamento e conduzem o processo de
seleo e/ou ordenao das unidades parametrizadas reunidas no Universo de
Possibilidades.
1.1 A Parametrizao das alturas
A parametrizao das alturas parte da escolha de um conjunto principal de
alturas e seus respectivos subconjuntos. Desta forma, o conjunto escolhido como
principal o 5-2
2
. A partir deste conjunto, extramos todos os subconjuntos possveis
2
5-2 - conjunto de classes de alturas classificado segundo a notao de Forte (1973, apndice1).
5
de 4 e 3 sons. No presente planejamento sero utilizados os subconjuntos relacionados
na tabela 1.3.
Sero utilizados tambm na parametrizao os conceitos de transposio e
inverso de conjuntos de classes de alturas. O exemplo 1.1 demonstra todas as
transposies (Tn) e inverses (TnI) do conjunto 3-2 que subconjunto do 5-2.
Exemplo 1.1
Numa matriz A, os elementos a
ij
, onde
i = linha e j = coluna, determinam a
transposio ou a inverso de um determinado conjunto. Desta forma, aps a aplicao
de operadores matemticos, foram alcanadas as relaes apresentadas na tabela 1.2.
Tabela 1.2
Elementos matriciais Transposio ou inverso
a
11
T
1
a
12
T
2
a
13
T
3
a
21
T
2
I
a
22
T
4
a
23
T
6
a
31
T
3
I
a
32
T
6
I
a
33
T
9
Numa matriz B, os elementos b
ij
, determinam qual conjunto de classes de alturas
poder ser utilizado na composio. A tabela 1.3 apresenta as equivalncias alcanadas:
6
Tabela 1.3
Elementos matriciais Conjuntos de classes de alturas
b
11
3-1
b
12
3-2
b
13
3-3
b
14
3-4
b
21
4-1
b
22
5-2
1.2 A parametrizao das duraes
No planejamento parametrizado, proposto aqui, as duraes esto relacionadas
ao total de unidades de tempo em que as transposies e inverses de um conjunto de
classes de alturas podem ser realizadas musicalmente. No entanto, existem outros
exemplos de parametrizao de duraes possveis: o total de compassos e o total de
minutos e segundos envolvidos na realizao musical. A tabela 1.4 relaciona os
elementos c
ij
, referentes matriz C, com as respectivas duraes.
Tabela 1.4
Elementos matriciais Duraes
(no. de unidades de tempo)
c
11
1
c
12
e c
21
2
c
31
3
c
22
e c
41
4
c
51
5
c
32
6
c
42
8
c
52
10
2 As Equaes Construtivas
Uma vez que as etapas da multiplicao matricial no sero descritas neste
trabalho em virtude da sua limitao em extenso, optamos pela demonstrao e
explicao de apenas uma das suas equaes (E
1
) resultantes.
7
E
1
= a
11
b
11
c
11
+ a
12
b
21
c
11
+ a
11
b
12
c
21
+ a
12
b
22
c
21
+ a
13
b
32
c
21
+ a
11
b
13
c
31
+ a
11
b
14
c
41
.
Para uma melhor compreenso das estruturas musicais envolvidas no processo, a
tabela 2.1 demonstra as equivalncias entre os trs primeiros membros da equao E
1
com os parmetros adotados anteriormente.
Tabela 2.1
Equao Membro Estruturas Musicais
a
11
b
11
c
11
A transposio T
1
do conjunto 3-1 na durao de uma unidade
de tempo.
a
12
b
21
c
11
A transposio T
2
do conjunto 3-2 na durao de uma unidade
de tempo.
E1
a
11
b
12
c
21
A transposio T
1
do conjunto 3-2 na durao de duas unidades
de tempo.
3 A Diretriz do Planejamento
Aps a definio do Universo de Possibilidades atravs da especificao das
Equaes Construtivas, as Diretrizes do Planejamento surgem da necessidade de
organizar este universo, possibilitando ao compositor planejar como ser a distribuio
dos conjuntos, suas transposies/inverses e as respectivas duraes.
Principalmente atravs do conceito de invarincia (elementos que permanecem
inalterados aps a aplicao de uma transformao ao conjunto que os contm) foi
possvel determinar as diretrizes que nortearam o planejamento composicional das
pequenas peas para piano que receberam como ttulo o prprio princpio organizador
que as originou. Assim, Invarincias tornou-se o ttulo de uma srie de pequenas peas
para piano solo, de minha autoria, composta a partir do mesmo Universo de
Possibilidades, com o intuito de justamente exemplificar a realizao musical deste
planejamento.
O objetivo da Diretriz na pea escolhida (Invarincias no. 3), foi utilizar o
nmero de notas em comum variando entre 1 e 2. Ou seja, iniciando com a invarincia
de uma nota em comum, na parte intermediria passando a duas e finalizando
novamente com uma. Na seleo dos membros das Equaes Construtivas buscou-se
tambm uma diminuio gradativa das duraes partindo de quatro unidades de tempo
at uma nica, retomando em seguida o crescimento at trs unidades. Foram utilizados
8
somente os conjuntos de 3 classes de alturas. Podemos verificar os membros
selecionados na tabela 3.1:
Invarincia Membro Invarincia No. de Classes de alturas Duraes
a
21
b
14
c
41
3 4
a
31
b
14
c
41
3 4
a
21
b
13
c
31
3 3
a
31
b
13
c
31
3 3
a
11
b
13
c
31
3 3
a
21
b
12
c
21
3 2
a
11
b
11
c
12
3 2
a
21
b
11
c
12
3 2
a
12
b
21
c
11
3 1
a
31
b
11
c
11
3 1
a
21
b
11
c
11
3 1
a
11
b
12
c
21
3 2
a
12
b
21
c
11
3 1
a
11
b
12
c
21
3 2
a
11
b
13
c
31
3 3
2 nota
1 nota
2 notas
2 notas
2 notas
1 nota
1 nota
a
31
b
13
c
31
1 nota
1 nota
2 notas
2 notas
2 notas
1 nota
1 nota
1 nota
3 3
O exemplo 3.2 apresenta na grafia musical a seqncia dos membros
selecionados, assinalando as classes de alturas em comum.
Exemplo 3.2
9
O exemplo abaixo apresenta os cinco compassos iniciais da pea
assinalando as notas em comum que so prolongadas na mudana do operador
transposio/inverso ou do conjunto.
Exemplo 3.2
Concluso
Em uma breve recapitulao do processo de planejamento apresentado neste
trabalho, procuramos inicialmente introduzir o prprio conceito de Planejamento
Composicional. Em seguida, apresentamos as definies de Universo de Possibilidades,
Diretrizes do Planejamento e Equaes Construtivas, conceitos sempre empregados no
referido planejamento. Apresentamos trs tabelas (1.2, 1.3 e 2.1) que trazem as
equivalncias entre os elementos matriciais e as transposies/inverses e duraes dos
conjuntos de classes de alturas. Demonstramos um dos seis resultados obtidos atravs
da aplicao dos recursos matemticos na exemplificao da Equao Construtiva E1.
Finalmente aplicamos as Diretrizes do Planejamento, filtrando este Universo atravs da
escolha e ordenao dos membros das Equaes para a realizao musical. Esta
realizao se deu atravs da composio das Invarincias para piano solo,
exemplificando musicalmente todo o processo descrito. No entanto, verificamos que a
10
multiplicao matricial, apesar de relacionar os tens parametrizados, no fornece todas
as combinaes possveis. Desta forma, passaremos a desenvolver um programa
computacional que fornecer todas as combinaes, possibilitando inclusive a filtragem
automtica a partir da formulao das Diretrizes pelo compositor.
Atravs desta abordagem do planejamento composicional, procuramos fornecer
ao compositor uma perspectiva macro-estrutural das possibilidades de combinao das
prprias estruturas musicais. Esta abordagem, baseada em recursos matemticos,
fornece uma tal diversidade de combinaes que vai alm da capacidade intuitiva do
compositor de vislumbrar os recursos de suas escolhas musicais. Alm de contribuir
para a preveno daqueles impertinentes brancos ou falta de inspirao que sempre
prejudicam o processo composicional. Assim, a conscincia atravs do planejamento
dos recursos musicais, de suas combinaes e da sua escolha e ordenao, seguindo a
prpria tica do compositor, instiga a sua capacidade criativa, dando incio a
composio musical. Desta forma, procuramos colocar o raciocnio lgico a servio da
criatividade.
Referncias Bibliogrficas:
ALVES, Jos O.
- Aspectos da Aplicao da Teoria dos Conjuntos na Composio Musical.
Dissertao de Mestrado. UFRJ, 2000.
- O Espao e o Planejamento Composicional: uma abordagem conceitual e prtica.
Projeto de Pesquisa Doutorado, UNICAMP, 2001.
- O Planejamento Composicional Aplicado s Alturas. Monografia, UNICAMP,
2002.
BABBITT, Milton. Set Structure as a Compositional Determinant. Journal of Music
Theory, New York, vol. 5, n.2, p. 72-94, 1961.
COOK, Nicholas. A Guide to Musical Analysis. New York: W.W. Norton & Company,
1987.
FORTE, Allen. The Structure of Atonal Music. New Haven: Yale University Press,
1973.
LESTER, Joel. Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York:
W.W. Norton Company, 1989.
LOY, Gareth. Composing with Computers A Survey of Some Compositional
Formalisms and Music Programming Languages. In: Current Directions in Computer
Music Reserch. Massachusetts: MIT Press, 1989, p. 291 a 396.
MAIA Jr., A., R. do VALLE & J. MANZOLLI. A Computer Environment to
Polymodal Music. Pgina da WEB: www.nics.unicamp.br/publicaes, 1995.
MIRANDA, Eduardo R. Composing Music with Computers. Oxford: Focal Press, 2001.
MORRIS, Robert D.
- Composition with pitch-classes: a theory of compositional design. New Haven: Yale
11
University Press, 1987.
- Equivalence and Similarity in Pitch and Their Interaction with Pc Set Theory.
Journal of Music Theory, New York, vol. 39, n.2, p. 207-43, 1995a.
- Compositional Spaces and Other Territories. Perspectives of New Music, New
York, vol.33, n. 1, p. 328-58, 1995b.
OLIVEIRA, Joo Pedro Paiva de. Teoria Analtica da Msica do Sculo XX. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 1998.
RAHN, John. Basic Atonal Theory. New York: Longman Inc., 1980.
ROADS, Curts. Grammars as Representations for music: Foudations of Computer
Music. Cambridge: MTT Press, 1985.
STRAUS, Joseph N. Introduction to Post-Tonal Theory. New Jersey: Prentice Hall,
1990.
XENAKIS, I. Formalized Music. Bloomington: Indiana University Press, 1971.
1
Aspectos do planejamento composicional relacionado textura
na pea Disposies Texturais no. 3
J os Orlando Alves
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
jorlandoalves@ig.com.br / j013854@dac.unicamp.br
Resumo: A partir de trs dimenses texturais parametrizadas, adotando como referencial
terico a abordagem analtica apresentada por Berry (1987), o objetivo deste trabalho
exemplificar a realizao musical de um planejamento textural na composio da terceira de
uma coletnea de cinco peas para piano solo intituladas Disposies Texturais, de minha
autoria. O planejamento textural o resultado da primeira etapa da pesquisa prevista no projeto
O Espao e o Planejamento Composicional: uma abordagem conceitual e prtica apresentado
por mim Ps-Graduao do Instituto de Artes da UNICAMP, como requisito ao ingresso no
Doutorado em Processos Criativos. Aps a parametrizao de trs dimenses texturais em
matrizes e da realizao da multiplicao matricial, alcanamos uma grande grande diversidade
de combinaes destas dimenses. Desta forma, conclumos que as combinaes das dimenses
texturais permite ao compositor visualizar uma srie de implicaes e possibilidades que, talvez
com a simples intuio ou inspirao, seria impossvel perceber.
Palavras-chave: composio, planejamento, textura.
Abstract: On the basis of three parametric textural dimensions, using as theoretical reference
the analytical approach introduced by Berry (1987), the purpose of this work is to illustrate the
musical accomplishment of textural planning in the composition of the third out of a collection
of five pieces I myself composed for a piano solo entitled Textural Dispositions. Such textural
planning is the result of the first research stage contemplated in the project Space and
Composition Planning: a conceptual and practical approach which I presented at the Graduate
School of the Institute of the Arts of the University of Campinas (UNICAMP), as a prerequisite
towards admission to the Doctors Degree Program on Creative Processes. Following the
parametric expression of three textural dimensions in matrixes and the accomplishment of
matrix multiplication, I achieved a wide variety of combinations from such dimensions.
Therefore, I have concluded that the combinations of textural dimensions allows the composer
to visualize a series of implications and possibilities which would perhaps be impossible to
perceive through simple intuition or inspiration.
Keywords: composition, planning, texture.
A composio das cinco peas para piano solo intituladas Disposies Texturais,
de minha autoria, exemplifica a realizao musical de um planejamento composicional
relacionado algumas caractersticas texturais. Este planejamento est descrito no
artigo Introduo ao Planejamento Matricial Aplicado Textura, escrito em parceria
com o prof. Jnatas Manzolli e apresentado para publicao nos Cadernos da Ps-
Graduao do Instituto de Artes da UNICAMP.
2
O referencial terico adotado na elaborao deste planejamento foi a abordagem
analtica formulada por Wallece Berry (1987) para descrio de texturas. Segundo este
autor (1987, p.184):
Textura em msica consiste nos seus componentes sonoros; sendo condicionada
em parte pelo nmero destes componentes sonoros, em simultaneidade ou
concorrentes, sendo suas qualidades determinadas pelas interaes, inter-
relaes, projees relativas e substncias das linhas que compem os fatores
sonoros.
Selecionamos trs conceitos bsicos para a estruturao do referido
planejamento, dentre as vrias definies e ferramentas analticas propostas por Berry
em seu livro, so eles: a densidade-nmero, a densidade-compresso e a relao de
independncia e interdependncia das vozes. Berry agrupa estes conceitos segundo os
aspectos quantitativos, ou seja, o nmero de vozes ou partes e as respectivas projees
destes componentes sonoros, e os aspectos qualitativos, ou seja, as interaes e
interrelaes destes componentes. Podemos sintetizar estes conceitos e suas definies
na Tabela 1:
Tabela 1
Aspectos Quantitativos Aspectos Qualitativos
a) Densidade-nmero
1
= nmero de vozes
ou partes em simultaneidade em um
determinado trecho.
b) Densidade-compresso = nmero de
vozes e o espao vertical que elas
ocupam no somatrio de semitons
existentes entre as extremidades.
Independncia e Interdependncia
representao numrica que indica o grau de
independncia e interdependncia entre as
partes.
No presente trabalho no sero abordadas maiores implicaes analticas e
demonstraes destes conceitos uma vez que, alm do livro do prprio autor, existem
outros trabalhos que desenvolvem tais conceitos como, por exemplo, a dissertao de
mestrado intitulada Aura: uma anlise textural defendida por Alexandre Schubert
(1999).
1
Para efeito deste planejamento, foi adotada uma relao de densidade-nmero constante de trs vozes do
incio ao fim das cinco peas para piano. Ou seja, as trs vozes soam constantemente, podendo sofrer
interrupes momentneas por pequenas pausas.
3
Dentre os trs conceitos apresentados anteriormente, que so a base para o
planejamento composicional, a relao de independncia e interdependncia a que
demanda maiores consideraes. Segundo Schubert (1999, p. 10):
Esta relao representada por nmeros dispostos verticalmente, com uma
barra separando-os. Ao nmero 1 atribudo o grau de independncia, o nmero
2 relacionado com duas partes ou vozes em relao de interdependncia e
assim por diante.
A prpria relao de independncia e interdependncia escolhida para a
elaborao do planejamento, exemplifica este conceito, obedecendo a um critrio de
estrutura composicional de igualar a conduo de vozes no incio e no fim do trecho
musical e atribuindo parte intermediria uma maior independncia entre as vozes.
Desta forma, a referida relao expressa por:
3 2 1 1 3
1 1 2
1
4
Aps a definio da relao de independncia e interdependncia e de padres
arbitrrios para a densidade-compresso, chegamos a seguinte questo: como combinar
estes itens e ainda associ-los a um critrio de durao temporal ? A resposta encontrada
foi a utilizao de um planejamento matricial
2
que pressupe a parametrizao destas
trs dimenses texturais (a relao de independncia e interdependncia, os padres de
densidade-compresso e as duraes) com o objetivo de alcanar um grande nmero de
possibilidades de combinao destes itens, permitindo ao compositor traar todo o
planejamento textural de sua obra, escolhendo e ordenando estas combinaes. Desta
forma, associamos a uma matriz K, com dimenso 3 x 5 (3 linhas por 5 colunas), a
relao de independncia e interdependncia apresentada anteriormente:
K
3x5
= k
11
k
12
k
13
k
14
k
15
3 2 1 1 3
0 k
22
k
23
k
24
0 1 1 2
0 0 k
33
0 0 1
Associamos a uma matriz X, com dimenso 5 x 1, os 5 padres de densidade-
compresso escolhidos arbitrariamente, onde o parmetro x assume valores nos
intervalos descritos abaixo, em termos do somatrio de semitons entre as partes
extremas:
2
A utilizao de matrizes na anlise de composies dodecafnicas o objeto de estudo por diversos
autores como Forte (1973), Strauss (1990), Morris (1987) e Oliveira (1998), dentre outros, que
relacionam as matrizes s classes de alturas e suas ordenaes. A multiplicao matricial foi abordada por
Manzolli & Maia (1998 a), no sentido da permutao e do encadeamento de clulas sonoras, e por Rahn
(1980) na transposio de um conjunto de classes de alturas atravs do ciclo de quintas. Segundo Boltrini
(1986, p.1), chamamos de matrizes uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Desta
forma, a utilizao de matrizes, alm de apresentar uma indicao precisa (atravs da relao linha x
coluna) da posio de seus elementos, possibilita uma srie de operaes, como por exemplo a
multiplicao, cujo resultado possibilita relacionar os itens (nmeros ou letras) representados
matricialmente.
5
1 x
11
4;
5 x
21
9;
10 x
31
15;
16 x
41
19;
20 x
51
24.
X
5x1
=
x
11
x
21
x
31
x
41
x
51
Por fim, associamos a uma matriz Y, com dimenso 1 x 3, os seguintes padres
de durao, onde o y assume o valor da durao, em termos do nmero de compassos,
de um determinada disposio textural
3
:
3
O concito de disposio textural se refere juno das 3 dimenses texturais (a relao de
independncia e interdependncia, os padres de densidade-compresso e as duraes) descritas no incio
do planejamento.
1 comp. y
11
2 omp;
3 comp. y
21
4 omp.;
5 comp. y
31
6 omp.
Y
1x3
= y
11
y
21
y
31
As etapas da multiplicao matricial no sero descritas neste trabalho em
virtude da sua limitao em extenso. Optamos pela demonstrao e explicao dos
resultados da referida multiplicao. Desta forma, alcanamos como resultados as
matrizes T
1
, T
2
, e T
3
, conforme descrito abaixo:
T
1
= k
11
x
11
y
11
+ k
12
x
21
y
11
+ k
13
x
31
y
11
+ k
14
x
41
y
11
+ k
15
x
51
y
11
k
11
x
11
y
12
+ k
12
x
21
y
21
+ k
13
x
31
y
21
+ k
14
x
41
y
21
+ k
15
x
51
y
21
k
11
x
11
y
31
+ k
12
x
21
y
31
+ k
13
x
31
y
31
+ k
14
x
41
y
31
+ k
15
x
51
y
31
T
2
= k
22
x
21
y
11
+ k
23
x
31
y
11
+ k
24
x
41
y
11
k
22
x
21
y
21
+ k
23
x
31
y
21
+ k
24
x
41
y
21
k
22
x
21
y
31
+ k
23
x
31
y
31
+ k
24
x
41
y
31
6
T
3
= k
33
x
31
y
11
k
33
x
31
y
21
k
33
x
31
y
31
Podemos constatar que a matriz resultado T
1
, com dimenso 3x5 composta por
15 disposies texturais, a matriz T
2
, com dimenso 3x3, por 9 e a matriz T
3
, com
dimenso 1x3, por 3. A disposio textural k
11
x
11
y
11
, primeira linha e primeira coluna de
T
1
, pode ser descrita como uma interdependncia das 3 vozes (k
11
) em uma densidade-
compresso que pode variar de 1 a 4 semitons (x
11
), com durao correspondendo a 1 ou
2 compassos (y
11
). Desta forma, cada disposio textural pode ser decodificada seguindo
a parametrizao anteriormente apresentada. O sinal de adio presente nas matrizes T
1
e T
2
pode ser interpretado como um encadeamento temporal de disposies texturais.
Por exemplo, uma composio poderia apresentar inicialmente no primeiro compasso a
disposio k
11
x
11
y
11
, seguida de k
12
x
21
y
11
e no compasso seguinte k
31
x
31
y
11
, etc...
Com relao aplicao do planejamento, podemos subdividir a pea
Disposies Texturais no. 3 em duas partes
4
, nas quais foram utilizadas as seqncias de
disposies texturais especificadas na Tabela 2.
Tabela 2
Parte 1 (comp. 1 a 8) Parte 2 (comp. 9 a 13)
k
11
x
11
y
11
+ k
12
x
21
y
11
+ k
13
x
31
y
11
+ k
14
x
41
y
11
+ k
15
x
51
y
11
(resultado T
1
da multiplicao matricial -
primeira linha)
k
22
x
21
y
11
+ k
23
x
31
y
11
+ k
24
x
41
y
11
+ k
15
x
51
y
11
(resultado T
1
- primeira linha,
finalizando com o ltimo membro
da parte 1)
O exemplo 1 apresenta os 5 compassos iniciais da pea, onde se observa a
crescente independncia das partes. Partindo da total interdependncia (k
11
) nos
compassos 1 e 2, passando pela independncia de uma parte em relao
interdependncia das outras duas (k
12
) nos compassos 3 e 4, alcanamos a total
independncia (k
13
) nos compassos 5 e 6.
4
Optamos pela nomeclatura partes ao invs de sees para evitar quaisquer referncias ao aspecto
morfolgico ou motvico que no est sendo considerado no presente trabalho.
7
Exemplo 1
O exemplo 2 complementa o primeiro, evidenciando agora o retrgrado da
relao de independncia e interdepedncia: total independncia (k
13
) no comp. 6,
independncia de uma parte em relao interdependncia das outras duas (k
14
) no
comp. 7 e total interdependncia (k
15
) no comp. 8.
8
Exemplo 2
Observa-se tambm que o comportamento da varivel x (que representa a
densidade-compresso) crescente durante toda a pea, acompanhando a prpria
seqncia de disposies texturais escolhidas no planejamento. Assim, a varivel x,
que inicia a pea em x
11
, termina a primeira parte em x
51
, passando por todos os nveis.
Na parte 2, a varivel inicia em x
21
(comp. 9) e termina em x
51
(comp. 13).
A varivel y (que representa as duraes) constante durante toda a pea,
variando de 1 a 2 compassos, conforme previsto no planejamento.
O exemplo 3 apresenta os dois ltimos compassos da pea, onde observa-se o
acrscimo de k
15
x
51
y
11
, que a ltima disposio textural da parte 1. Esse acrscimo
justificado pela necessidade de uma finalizao clara, que alcanada atravs da
analogia com o ltimo compasso da parte 1.
9
Exemplo 3
Podemos concluir que, aps alcanar um nmero razovel de combinaes dos
itens parametrizados, o compositor poder desenvolver todo um processo de seleo e
ordenao das disposies texturais que lhe possibilitar uma viso ampla e detalhada
do comportamento das vozes ou partes envolvidas na composio, alm do espaamento
entre estas vozes e, por fim, a durao, em termos do nmero de compassos, destas
referidas disposies. As Disposies Texturais no. 1 ilustram este procedimento,
demonstrando toda a versatilidade deste processo e principalmente propiciando um
aspecto unificador obra.
10
Referncia Bibliogrficas:
ALVES, Jos O. O Espao e o Planejamento Composicional: uma abordagem
conceitual e prtica. Projeto de Pesquisa Doutorado, UNICAMP, 2001.
BERRY, Wallace. Structural Functions in Music. 2. Ed. New York: Dover
Publications, 1987.
BOLTRINI, Jos. lgebra Linear. So Paulo: Editora Harbra, 1986.
FORTE, Allen. The Structure of Atonal Music. New Haven: Yale University Press,
1973.
HALL, Anne. Texture in the Violin Concerts of Stravinsky, Berg, Schoenberg and
Bartk. Ann Arbor: University/microfilms, 1971.
MANZOLLI, Jnatas; MAIA Adolfo. Estruturas Matemticas como Ferramenta
Algortmica para Composio. In: IX Encontro Nacional da ANPPOM, 1998a. Anais do
IX Encontro Nacional da ANPPOM. Campinas: 1998. p. 174-178.
MORRIS, Robert D. Composition with pitch-classes: a theory of compositional design.
New Haven: Yale University Press, 1987.
OLIVEIRA, Joo Pedro Paiva de. Teoria Analtica da Msica do Sculo XX. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 1998.
RAHN, John. Basic Atonal Theory. New York: Longman Inc., 1980.
SCHUBERT, Alexandre. Aura: Uma Anlise Textural. Dissertao de Mestrado.
UFRJ, 1999.
An die ferne Geliebte Op. 98 de L. V. Beethoven: a relao texto-msica e o
acompanhamento pianstico
Karina da Silva Santana Praxedes
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
karina@musica.ufrn.br / karinapraxedes@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho est inserido na linha de pesquisa em prticas interpretativas piano e tem
como objetivo verificar a relao texto-msica no acompanhamento pianstico do ciclo de canes An
die ferne Geliebte de Ludwig van Beethoven (1816). Alm de uma minuciosa contextualizao
histrica da obra - desenvolvimento do lied, os lieder de Beethoven, o poeta Alois Isidor Jeitelles, o
piano da poca bem como relacionadas as diferenas nas edies da obra utilizadas, analisamos o
ciclo com base no estudo de vrios elementos musicais texto potico, nmero dos compassos,
extenso vocal, tonalidade, forma, andamento, estrutura fraseolgica, harmonia, ritmo, dinmica,
timbre, textura. Alm de possibilitar uma definio clara das relaes entre texto e msica, o estudo
evidenciou a importncia expressiva do piano nesse ciclo de canes, viabilizando, ainda, a discusso
de aspectos interpretativos do mesmo andamento, articulao e sonoridade, ornamentao, dinmica,
pedal e recursos para o cantor.
Palavras-chave: piano, acompanhamento, lied.
Absreact: This work belongs to the performance area and intends to verify the relation between text
and music in the piano accompaniment of the Beethovens song cycle An die ferne Geliebte (1816).
Given a historical context the development of the Lied, Beethovens lieder, the poet Alois Jeitelles,
the specifications of the piano of the Classic Period, as well as related the differences in some editions
of this piece, an analysis of the song cycle was made by means of the study of some musical elements,
such as: poetic text, number of measures, vocal range, tonality, form, tempo, phrasal structure,
harmony, rhythm, dynamics, timbre, texture. Beyond making possible a clear definition of the
relations between text and music, this study showed the expressive importance of the piano in this
piece, allowing some considerations of its interpretative aspects tempo, articulation and sound
quality, ornamentation, dynamics, pedaling and resources for the singer.
Keywoeds : piano, accompaniment, lied.
INTRODUO
O trabalho que ora apresentamos um resumo de nossa dissertao de Mestrado em
Artes Msica (UNICAMP, 2002) e partiu do nosso interesse com relao aos procedimentos
composicionais utilizados por Ludwig van Beethoven para descrio do texto potico de
Alois Jeitelles no ciclo de canes An die ferne Geliebte. A obra, composta em 1816, inclui-se
no terceiro perodo composicional de Beethoven e apresenta especial nfase no
acompanhamento pianstico.
1. ASPECTOS GERAIS
2
No que concerne parte histrica da pesquisa, verificamos que Beethoven, mesmo
diante de srios problemas pessoais os quais ocasionaram seu silncio composicional foi
capaz de produzir uma obra vocal de tamanha qualidade e que serviu de grande estmulo aos
compositores de lieder que se seguiram. Solomon afirma que o ciclo pode ter sido escrito
como oferenda de amor para a amada imortal (Solomon, 1987, p. 395). Ressaltamos a
importncia de Beethoven no desenvolvimento do Lied, quando utilizou alguns mtodos
inovadores, tais como: o termo ciclo de canes compositores anteriores fizeram grupos
de canes; a caracterizao do estilo beethoveniano, por meio das variaes no
acompanhamento pianstico; os interldios do piano entre as canes, impossibilitando a
execuo separada das mesmas; e a retomada do tema inicial no final da ltima cano, esta
ltima contribuindo para estabelecer a forma cclica, to difundida no sculo XIX.
Outro aspecto discutido foi o que diz respeito s conseqncias de se interpretar a
msica de Beethoven em pianos modernos, nos quais constatamos sensveis diferenas na
fabricao, mecanismo e sonoridade. Beethoven possuiu cerca de catorze pianos, os quais
apresentavam algumas diferenas, a saber: menor extenso, os martelos eram cobertos por
couro (e no por feltro), diferentes controles de pedais e o encordoamento podia ser duplo,
triplo e, at, qudruplo, ocasionando mudana timbrstica. Provavelmente, o piano utilizado
por Beethoven para a composio da obra foi um piano da marca Streicher.
2. O CICLO
Quanto aos aspectos relacionados obra, relatamos um pouco da personalidade do
poeta e sua proximidade a Beethoven. Aps ser constatada uma relao estreita entre as
canes do ciclo, afirmamos que ele foi composto de forma simtrica e arquitetnica. Para
uma melhor assimilao desta premissa, observe-se a tabela 1 no anexo.
Atravs dos quatro primeiros aspectos tonalidade, nmero de estrofes, rtmica da
poesia e nmero de linhas por estrofe, verificamos uma simetria, em que as canes
relacionam-se como espelho
Outro ponto interessante a marcante relao de quarto grau que Beethoven imps em
boa parte do ciclo. Primeiramente, ele estabelece esta relao entre as tonalidades das
canes: Mi bemol e L bemol (1 e 3), Sol e D (2 e 5). Em seguida, na segunda cano, cuja
tonalidade Sol Maior, Beethoven utiliza a tonalidade da subdominante D Maior para
firmar a segunda estrofe. Na quinta cano, novamente Beethoven faz uso da modulao,
passando de D Maior a F Maior, com uma rpida interveno em l menor. Na sexta
3
cano, Beethoven inicia todas as estrofes da primeira parte com o acorde de L bemol Maior,
isto , subdominante de Mi bemol. Conclumos, assim, que Beethoven, ao usufruir a relao
de quarto grau no ciclo, ostenta o carter dolente e saudosista da poesia, alm de romper com
o padro I V (tnica-dominante) corrente poca, antecipando desde j elementos presentes
no Perodo Romntico.
3. ANLISE INDIVIDUAL DAS CANES RELAO TEXTO-MSICA
Mediante o estudo de alguns elementos musicais da obra, analisamos formalmente
cada uma das canes, resultado que serviu de base para evidenciar a estreita relao existente
entre texto e msica.
Aps verificar o significado do texto, observar as mudanas de andamento, subdividir
as frases, verificar a harmonia, conferir as mudanas de ritmo, dinmica, timbre e textura,
podemos afirmar que existe, sim, pictorismo ou word-painting no ciclo de canes de
Beethoven. Notamos que h uma preocupao do compositor em pintar o texto atravs da
escrita pianstica, por intermdio da riqueza da textura, da mudana de figurao rtmica, dos
procedimentos modulatrios, do andamento, da dinmica ou da articulao.
Na cano 1, por exemplo, Beethoven utilizou o recurso de variao rtmica em cada
estrofe para aludir ao significado do texto. Quando fala em separao, utiliza um ritmo
entrecortado por pausas; quando menciona ardor e excitao, h o emprego de acordes
arpejados em semicolcheia. Na quinta estrofe, o amor supera a distncia que o separa da
amada. Na msica, vemos a dinmica em forte e a alterao do andamento.
Na cano 2, na segunda estrofe, o texto remonta a um vale tranqilo, onde no h dor.
A linha vocal realiza, ento, um pedal na fundamental da dominante, deixando a melodia na
parte de piano. Na terceira estrofe, o poeta fala na ansiedade que se contrape calma
anterior. Nesse momento, utiliza a dinmica em forte e h alterao no andamento.
A terceira cano revela a exacerbao emocional do poeta. Podemos observar um
exagero de sentimentos, de splica, de desespero e de dor. O poeta no faz idia de onde
esteja a sua amada, chegando a ponto de pedir ajuda a alguns elementos da natureza. Na
msica, vemos uma complexidade de informaes no que se refere ao texto, harmonia, ao
ritmo e ao timbre. Vale destacar o carter truncado do timbre, representado pelo ritmo de
colcheia e pausa de colcheia, quebrando as palavras silabicamente e que alude s lgrimas
sem conta. Ainda, na terceira estrofe, notria a quebra brusca do padro rtmico, agora
formado por semnima no primeiro tempo e pausas de semnima no restante do compasso,
4
aludindo idia de parar presente no texto. A partir deste ponto, a tonalidade passa para l
bemol menor, aludindo dor do poeta em estar longe da amada.
A quarta cano est caracterizada pela leveza. Na msica, vemos um pedal de
dominante que no se resolve at metade da estrofe, o gorjeio dos pssaros aludidos nos
mordentes da parte de piano, a textura puramente acordal na linha inferior do piano, mas que
se torna menos densa com a presena de pausas intercalando esses acordes. Vemos, ainda, o
ritmo de tercinas em oitavas arpejadas que representam a idia circular do vento. Por outro
lado, quando o texto menciona riacho, h uma melodia em grau conjunto descendente,
aludindo ao possvel caminho percorrido pelo riacho.
A quinta cano apresenta o contraste entre a felicidade dos animais e a tristeza do
poeta. Na msica, observamos mudanas na textura, andamento, ritmo (quebra do ritmo
harmnico) quando o texto retrata a infelicidade. A textura passa de homofnica acordal
unssono, ocorrem ritardandos, o andamento adagio, a tonalidade passa para d menor.
Na sexta cano, o amante diz que as canes devem ser cantadas no mais por ele,
mas pela amada. A forma no mais estrfica e, sim, ABAC Coda, em que C o retorno ao
tema inicial do ciclo. Vemos o grande contraste entre a segunda e quarta estrofes. Na segunda,
predomina a idia de introspeco, de natureza dolente, o texto fala de fim. Na msica, h
um carter descendente da melodia, diminuendo, ritardando e um trecho homofnico que
alude idia de continuidade. Na quarta estrofe, o poeta resolve superar a distncia que o
separa da amada, h um carter de redeno ao amor. Na msica, Beethoven se supera ao
empregar o material musical da segunda parte da cano. Inicialmente, utiliza a mesma escrita
pianstica da quarta estrofe da primeira cano, a qual traz oitavas arpejadas em colcheia na
linha inferior do piano e acordes sincopados em semicolcheia intercalados com pausas de
semicolcheia, resultando em um ritmo sincopado. Na coda, h vrias repeties do trecho
cromtico, aludindo excitao e, at mesmo, loucura do amante. No trecho final, a parte de
piano realiza uma seqncia ascendente de acordes oitavados em fortssimo, cuja extenso
atinge o ponto mximo, representado pelo l bemol 5.
Estes e outros aspectos da relao texto-msica em algumas canes podem ser mais
bem visualizados na tabela 2.
4. ASPECTOS INTERPRETATIVOS
5
Aps a verificao da relao texto-msica, tecemos consideraes sobre alguns
aspectos interpretativos, como diapaso e tonalidade, andamento, ornamentao, articulao,
dinmica e pedal.
Mediante as vrias alteraes no padro de afinao desde o Classicismo, verificamos
que as questes do diapaso e tonalidade no comprometem a execuo dos lieder em geral,
visto que a tonalidade das canes pode ser adequada extenso vocal do cantor, sendo,
portanto, permitido o recurso de transposio da tonalidade.
Com respeito ao andamento, Beethoven no deixou marcaes metronmicas
explcitas para esta obra. Entretanto, conhecido que ele apreciou a inveno do metrnomo
por Mazael em 1813, chegando a publicar um documento com as indicaes metronmicas de
algumas obras suas que j haviam sido publicadas. Dessa forma, as indicaes de andamento
feitas por ns basearam-se mormente no entendimento do texto potico, bem como as
indicaes de andamento e carter contidas em cada pea.
conhecido que existem muitas divergncias no que concerne ornamentao da
msica de Beethoven. Para esta obra, o ponto mais preocupante na cano 5, quanto nota
que inicia o trinado da introduo. Optamos por realizar o trinado iniciando com a nota
principal da harmonia, levando em considerao as recomendaes do Ausfhrliche
theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel (1828), de Hummel.
No tocante articulao, h algumas diferenas nas diferentes edies pesquisadas.
Decidimos basear o trabalho na edio Urtext da editora G. Henle Verlag (Neuen Beethoven-
Gesamtausgabe), por ser uma nova edio crtica (1990) sob os cuidados do Beethoven-
Archiv de Bonn. Aps apreciao das diferenas entre as demais edies e a edio da Henle
Verlag, afirmamos que estas diferenas em pouco comprometem o resultado sonoro que se
deseja alcanar. Para a realizao das articulaes marcadas na partitura, recomendamos que
o pianista faa alternncia de peso e leveza do brao, alm do toque em legato.
A escrita pianstica apresenta alguns trechos, nos quais utilizada a tcnica para cravo,
em que se devia ligar as notas com os dedos. Em virtude da pouca capacidade de reverberao
e rica qualidade timbrstica dos pianos da poca, h muitos trechos onde a marcao de
pedal engloba trs, quatro e, at, cinco compassos. Nos pianos modernos, alguns ajustes
fazem-se necessrios quanto ao uso de pedal e diferenciao da dinmica. Czerny (1791-
1857), afirma que Beethoven usava muito mais pedal em sua execuo do que estava
indicado em suas partituras (Newman, 1988, p. 78). Aconselhamos que sejam respeitadas as
caractersticas do piano moderno, por exemplo, no seguindo risca as marcaes de pedal,
6
deixando prevalecer apenas aquelas que fazem jus ao significado do texto, quando menciona,
por exemplo, neblina e ventos.
Estas e outras sugestes de interpretao em algumas canes podem ser mais bem
visualizadas na tabela 3.
CONCLUSO
H, ainda, muitas diretrizes que no foram abordadas no corpo deste trabalho. Entre
elas, a discusso de mrito das diferenas entre as edies do An die ferne Geliebte; o
estreitamento do material temtico de todas as canes. Este assunto foi brilhantemente
tratado no artigo Separated Lovers and Separate Motives: The Musical Message of An die
ferne Geliebte, de Christopher Reynolds e publicado no Beethoven Newsletter Volume 3,
Nmero 3, de 1998. Ainda, no sugerimos recursos tcnicos para o cantor, uma vez que nossa
rea de atuao o piano. Estes e outros assuntos referentes ao An die ferne Geliebte so
aventados a futuras pesquisas.
A no utilizao das sugestes interpretativas apresentadas neste trabalho uma
possibilidade. Todavia, uma das grandes preocupaes que devem ter os pianistas ao
acompanharem um lied ou um liederkreis concentra-se na importncia do significado do texto
potico, na certeza de que o acompanhamento pianstico representa a idia contida no texto. A
responsabilidade do pianista no An die ferne Geliebte ainda maior quando se verifica que a
representao pianstica do texto no est explcita, ao contrrio, encontra-se nas mincias,
exigindo, assim, um estudo pormenorizado da obra.
ANEXO
TABELAS
Tabela 1 Procedimentos simtricos
1 2 3 4 5 6
Tonalidade Mi b M Sol M L b M L b M D M Mi b M
Nmero de
estrofes
4 (+1) 3 5 3 3 4
Rtmica potica trocaico anapesto trocaico trocaico anapesto trocaico
Nmero de
linhas por
estrofe
4 6 4 4 6 4
8
Tabela 2 Relao texto-msica
Texto Tonal. Ritmo Harm. Dinam. Andam. Timbre
1
1 Distncia neblina, lembranas.
2 Separao, sofrimento.
3 Ardor, suspiros e excitao.
4 Incerteza, desconsolo.
5 Superao, alegria, fora.
1 - e
2 entrecortado por pausas.
3 com arpejos em
4 - homofnico c/ .
5 - c/ arpejos em
1 p
2 p
3 p
4 p
5 - f
1-4 - Bastante
Lento
5 - Allegro
con brio
5 Mais
enftico.
2
1 Montanhas azuis: sonho,
impossibilidade.
2 Vale tranqilo: vento calmo na rocha
com uma flor e onde no h dor.
3 Floresta meditativa:
ansiedade, dor profunda.
2) Mudana
de tonalidade
Melodia
esttica.
3 Quebra brusca: sncope. 1 e 2) Pouco
elaborada.
3) acorde dim.
e bordadura c/
a 9
a
.
1,2 p
3 - f
1,2 - s/ alterao.
3 Assai allegro
3
Palavra-chave = lgrimas
1 Riacho pequeno e estreito,
saudai-a mil vezes (exagero).
2 Pelos vales tranqilos a
meditar, pedido, splica, calma.
3 parar, arbustos plidos e nus,
dor.
4 Ventos, suspiros, ltimos raios de sol.
5 Riacho, ondas, splica, lgrimas.
EXACERBAO EMOCIONAL
1 L
2 L
3,4,5 l
(dor)
1 Ostinato semitom.
2 Voz em ;
Ritmo pontuado no piano e
retorno ao ritmo truncado
(calma aparente).
3 c/ e pausas.
4 - alternadas.
Alterao (suspiro)
5 tercinas
Complexa Acento >
Marcaes
nas linha
vocal e do
piano.
3,4,5 rit. Nos
ltimos versos.
Truncado e
soluado (-
pausas de ).
Obs.: As cores utilizadas na coluna de texto tm relao direta com os procedimentos musicais empregados.
Tabela 3 Aspectos interpretativos
Andamento Articul.Sonorid. Ornamentao Dinmica Pedal
9
1
Bastante lento e
c/ expresso:
= 60
Allegro: = 126
Contraste entre
as estrofes 1-4 e
a 5
Legato e cantabile. Dedos em
contato
c/ a tecla. Mos pousando sobre
as teclas (1 a 4). Mais bravura
(5).
Peso leveza do brao.
Dolce.
ltimos acordes em non-legato.
Realizar apojatura
nos interldios
com o valor de
retirada do tempo
anterior.
1-4= Sustentar o p
5 - f
Seufzerverwehen
p
No misturar a
harmonia.
Envolta em neblina
=> discreta mistura dos
sons.
Legato
Cesura antes dos 2
compassos que
antecedem a 2
a
cano
=> harmonia transitria.
6
= 66
Mudanas de
andamento.
= 50
= 52 (Allegro)
Fraseado legato e cantabile
(melodia). Evitar sonoridade
pesada no trecho homofnico. No
Allegro, carter mais brilhante.
Contrastar legato e staccato.
Grupeto antes da
2
a
p
Trecho homofnico em ff. Bravura.
Evitar mistura excessiva
dos sons. Secionar as
marcaes longas.
Obs.: Os pontos mais importantes trazem grifo vermelho.
Os trechos com grifo azul tm relao entre si.
BIBLIOGRAFIA
ADLER, Kurt. The art of accompanying and coaching. New York, Da Capo Paperback, 1976.
ANDRADE, Maria M. de. Como preparar trabalhos para cursos de ps-graduao. 3. ed.
So Paulo, Atlas, 1999.
BANOWETZ, Joseph. El pedal pianstico. Tcnicas y uso. Madrid, Pirmide, 1999.
BEETHOVEN, Ludwig van. An die ferne Geliebte: ein Liederkreis. M. Friedlnders
Nachwort zur Ausgabe des Liederkreises in der Insel-Bcherei n. 371. Leipzig, 1924.
BENJAMIM, Cleide Dorta. A arte de acompanhar: histria e esttica. Recife, Speed Graf,
1997.
BENNETT, Roy. Instrumentos de teclado. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1989.
BRODY, E. e FOWKES, Robert A. The German lied and its poetry. New York, New York
University Press, 1971.
CAND, Roland de. A msica: linguagem, estrutura, instrumentos. Lisboa, Edies 70, 1989.
COOPER, Barry (org.). Beethoven um compndio. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1996.
FERREIRA, Aurlio B. de Holanda. Novo Aurlio sculo XXI: o dicionrio da lngua
portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 3. ed. rev. amp. 1999.
FIORE, Carlo. Preparare e scrivere la tesi in musica. Milano, Sansoni, 2000.
FORBES, Elliot. Thayers life of Beethoven. (Revised and edited by E. F.) New Jersey,
Princeton University Press, 1973.
GIACHIN, Giulia. I lieder di Beethoven. Torino, Ed. dellOrso, 1996.
HALL, James Husst. The art song. Norman, University of Oklahoma Press, 1999.
HAMEL, Fred. HRLIMANN, Martin. Enciclopdia de la musica. 3. ed. Mxico, Cumbre,
1955.
KAMIEN, Roger. Music an appreciation. New York, McGraw Hill, 1980.
KERMAN, Joseph. An die ferne Geliebte. Beethoven Studies. Ed. por A. Tyson, London,
Oxford University Press, pp. 123-157, 1973.
KIMBALL, Carol. Song a guide to style & literature. Seatle, Pst. Inc., 1996.
LA MOTTE, Diether de. Harmonia. Barcelona, Labor, 1989.
LANDON, H. C. Robbins (org.). Mozart: um compndio guia completo da msica e da vida
de Wolfgang Amadeus Mozart. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1996.
LEHMANN, Lotte. More than singing the interpretation of songs. New York, Dover, 1985.
MACHLIS, Joseph. The enjoyment of music: an introduction to perceptive listening. 8. ed.
New York, Norton, 1990.
MASSIN, Jean y Brigitte. Ludwig van Beethoven. Madrid, Turner, 1987.
MED, Buhomil. Teoria da msica. 4. ed. rev. e ampl. Braslia, Musimed, 1996.
MEISTER, Barbara. An introduction to the art song. New York, Taplinger, 1980.
MILLER, P. L. The ring of words: an anthology of song texts. New York, Norton, 1973.
NEWMAN, William S. Beethoven on Beethoven. Playing his piano music his way. New
York, Norton, 1988.
ORREY, Leslie, ABRAHAM, Gerald, FAVRE, Georges et al. La musica vocale nellet di
Beethoven. Milano, Feltrinelli, 1991.
REYNOLDS, Christopher. Separated lovers and separate motives: the musical message of An
die ferne Geliebte. The Beethoven Newsletter. Vol. 3, N. 3, pp. 49-55, Winter 1988.
ROSEN, Charles. A gerao romntica. Cambridge, Ed. USP, 2000.
____. The classical style Haydn, Mozart, Beethoven. ed. ampl. New York, Norton, 1998.
SADIE, Stanley (org.). Dicionrio Grove de msica. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1994.
____. The new Grove dictionary of music and musicians. 2.
ed. London, Macmillan, 2001. 29
v.
SALOMON, Dlcio Vieira. Como fazer uma monografia. 9. ed. So Paulo, Martins Fontes,
2000.
SOLOMON, Maynard. Beethoven vida e obra. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1987.
____. Some romantic images in Beethoven. Haydn, Mozart & Beethoven Studies in the
Music of the Classical Period. (ed. by A. Tyson). New York, Oxford University Press,
pp. 253-282, 1998.
SOPEA, Federico. Msica e literatura. So Paulo, Nerman, 1989.
STEIN, Deborah J., SPILLMAN, R. Poetry into song: performance and analysis of lieder.
New York, Oxford University Press, 1996.
STEVENS, Denis. A history of song. New York, Norton, 1960.
MUSICOGRAFIA
BEETHOVEN, Ludwig van. Smtliche Werke. v. 12, Band II: An die ferne Geliebte in Lieder
und Gesnge mit Klavier. Ed. por Helga Lhning. Mnchen, G. Henle Verlag, 1990.
____. An die ferne Geliebte in Beethoven Smtliche Lieder (rev. von Alfred Drffel). Leipzig,
C. F. Peters, [19--?].
____. An die ferne Geliebte in Beethovens Werke. Srie 23. n. 10. GA: n. 224. Leipzig,
Breikopf & Hartel (impresso), 1851.
DISCOGRAFIA
FISCHER-DIESKAU, Dietrich. Beethoven und andere vokalwerke. Deutch Gramophone.
GEDDA, Nicolai. Les introuvables de Nicolai Gedda. Swedish Radio Studios, Stockholm,
1969; Remasterizao: 1995 by Emi Records Ltd.
HOLZMAIR, Wolfgang. An die ferne Geliebte. Beethoven, Haydn, Mozart. Decca, 2000.
WUNDERLICH, Fritz. Beethoven, Haydn, Strauss. Wien, Phillips, 1963.
Notas e observaes sobre o processo de restaurao da pera Joanna de
Flandres realizado na Unicamp
Lenita Waldige Mendes Nogueira
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
lew@unicamp.br
Resumo: Apresentamos aqui o resultado do projeto Restaurao da pera Joanna de Flandres de Carlos
Gomes realizado no Departamento de Msica da UNICAMP e financiado pela Fundao de Amparo
Pesquisa do Estado de So Paulo, FAPESP, entre os anos de 2001 e 2002. A restaurao foi realizada a
partir dos manuscritos originais do compositor que se encontram no Rio de Janeiro e resultou em uma
partitura para solistas, coro e orquestra, dividida em cinco volumes, bem como a sua reduo para canto e
piano. Nesse artigo destacamos alguns aspectos da evoluo tcnica de Carlos Gomes, bem como algumas
inovaes que introduziu ao compor essa obra, importante elo de ligao entre a primeira pera do
compositor, A Noite do Castelo, e seu maior sucesso, Il Guarany.
Palavras-chave: Carlos Gomes, Joanna de Flandres, pera brasileira.
Abstract: We present here the result of the project Restoration of the opera Joanna of Flandres of Carlos
Gomes accomplished at the Department of Music of the State University of Campinas, UNICAMP, and
financed by the Foundation of Support to the Research of the State of So Paulo, FAPESP, between the
years of 2001 and 2002. This research started from the composer's original manuscripts that are in Rio de
Janeiro and resulted in a score for soloists, choir and orchestra, divided in five volumes, as well as the
reduction for voice and piano. In that article we emphasize some aspects of Carlos Gomes' technical
evolution, as well as some innovations that he introduced when composing that work, which is an
important connection link between the composer's first opera, The Night of the Castle and the subsequent
success Il Guarany
Keywords: Carlos Gomes, Joanna de Flandres, Brazilian opera.
Foi concludo em dezembro de 2002 o projeto Restaurao da pera Joanna de Flandres
de Carlos Gomes, coordenado por ns e realizado no Departamento de Msica da UNICAMP
com recursos oriundos da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP). A
partir dos manuscritos originais do compositor, que esto no Rio de Janeiro, com cpias em
microfilme cedidas pelo musiclogo Marcus Ges, os dados foram digitalizados atravs do
software Finale. Aps exaustivas revises, foi concluda a partitura para solistas, coro e
orquestra, em cinco volumes, bem como sua reduo para canto e piano. Todo o trabalho foi
editorado, de forma que ficasse pronto para publicao e execuo.
Joanna de Flandres foi a segunda pera de Carlos Gomes e estreou no Rio de Janeiro em
1863. Ignorada por cento e quarenta anos, imediatamente anterior a Il Guarany e passagem
importante na produo operstica do compositor, que em 1861 j havia levado cena A Noite do
Castelo, a qual, apesar de trechos bastante inspirados, apresenta orquestrao tmida e trabalho
vocal sem brilho. Embora isso possa ser creditado imaturidade do compositor, devemos levar
em considerao que tanto o enredo como o libreto eram medocres, o que certamente dificultou
a criao musical.
As duas peras tm libreto em portugus, criadas que foram dentro do iderio da pera
Nacional, que pregava o desenvolvimento de uma pera brasileira. Joanna de Flandres ou A
volta do cruzado o nome do libreto de Salvador de Mendona publicado no mesmo ano da
estria da pera
1
e, mesmo integrado aos padres do romantismo, discreto, evitando excessos
to comuns mesmo na pera do perodo.
Joanna, uma protagonista perversa e ardilosa, obrigou Gomes a elaborar mais a sua
escrita, apurando sua tcnica de composio, tanto orquestral como vocal. Entretanto, esse
avano no deve ser creditado apenas ao seu talento inato, mas conseqncia tambm do
intenso trabalho que vinha realizando desde 1860 como regente da Companhia da pera
Nacional, que inclua o estudo de partituras diversas, as quais deveria ensaiar e reger, e a
realizao de redues para piano, arranjos, adaptaes e partes cavadas. Essa prtica foi um
grande aprendizado e ao escrever Joanna de Flandres j conhecia bem orquestrao e tcnicas de
escrita vocal.
Joanna de Flandres foi escrita para piccolo, duas flautas, dois obos, dois clarinetes, dois
fagotes, quatro trompas, dois trompetes, trs trombones, oficleide, tmpanos, bumbo, tringulo,
harpa, primeiros e segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. As trompas aparecem
em diversas tonalidades, j que eram utilizadas as naturais, s quais eram acoplados tubos que
aumentavam ou diminuam a sua extenso, conforme a tonalidade desejada. O oficleide,
instrumento de metal hoje em desuso, bastante encontrado em partituras do sculo XIX,
executando partes mais graves. Seu substituto natural na orquestra a tuba, mas como esta teria
uma sonoridade mais branda, alguns pesquisadores indicam a utilizao do bombardino.
Como solistas so dois sopranos (Joanna e sua irm Margarida), dois tenores (Raul de
Maulon, amante e cmplice de Joanna, e Burg, personagem secundria), um bartono (Huberto
de Courtray, lder dos flamengos conjurados) e um baixo (Balduno, pai de Joanna e Margarida).
So utilizados dois coros, um masculino (flamengos) e outro misto (franceses, damas e
cavalheiros da corte). As claves originais no manuscrito so D na 1
a
linha para vozes femininas
e D na 4
a
para tenores, ambas transpostas para sol; as partes de bartono e baixo esto em F.
1
Existe um original desse documento no Museu Carlos Gomes em Campinas, SP.
O manuscrito tem 1054 pginas e cerca de 70.000 compassos o que nos leva a imaginar
quanto tempo no teria sido necessrio para sua realizao (e no entraram nesse cmputo as
partes cavadas). Atualmente computadores e programas de msica agilizam nosso trabalho e
podemos reproduzir a msica vontade, mas na poca de Gomes, para a escrita manual ainda
eram utilizadas penas, cuja tinta no durava mais que alguns segundos, obrigando a sucessivos e
repetitivos movimentos para recarregar a pena. Alm dos sinais musicais, ainda era preciso riscar
barras de compassos e por vezes at mesmo as pautas.
Para ganhar tempo compositores e copistas criavam atalhos e abreviaturas, e estes existem
fartamente na Joanna. Decorridos cento e quarenta anos da estria (alm de dois ou trs anos de
composio), tais sinais no deixam claras intenes do compositor. Muitos trechos, por serem
repeties, foram deixados em branco, mas existem sutis diferenas, o que obriga a idas e vindas
na partitura e em tais situaes o erro passa ao lado. Sabe-se que o libretista atrasou e
provavelmente para ganhar tempo, Gomes deixou de anotar diversas indicaes, talvez
consideradas bvias ou subentendidas. Sabendo que qualquer problema poderia ser resolvido
durante os ensaios, deixou lacunas no manuscrito, o que exigiu dos restauradores decises de
cunho pessoal, que, entretanto, no foram apoiadas apenas na nossa intuio, mas no
conhecimento da obra e do estilo do compositor.
O manuscrito tem diversos trechos rasurados e/ou riscados, indicando correes,
acrscimos de articulaes e dinmica, alm de cortes de trechos inteiros. Aparecem em preto,
vermelho e azul e existem anotaes com o mesmo tipo de tinta do manuscrito, mas no seria
seguro afirmar que so do prprio compositor. Jornais da poca comentam que Gomes
desentendeu-se com o maestro Nicolau Priol, que teria efetuado cortes na partitura sem sua
autorizao, o que nos leva a imaginar que parte dessas anotaes talvez no seja do compositor e
sim do maestro. Priol acabou abandonando a pera e a regncia coube a Carlos Bosoni, que teria
trabalhado com o mesmo manuscrito rasurado pelo regente anterior.
A pera tem em quatro atos, mas o primeiro mais longo e compreende quase metade da
composio. As cenas foram numeradas pelo compositor, mas o manuscrito que consultamos
comea pelo nmero 2, Preldio. A ausncia do nmero 1 deixa dvida sobre uma abertura
que no estaria anexada ao manuscrito ou a inteno do compositor de escrev-la futuramente.
Nesse ltimo caso, a probabilidade de que exista tal abertura menor, j que, logo aps a estria
da Joanna, Gomes recebeu uma bolsa do Conservatrio de Msica do Rio de Janeiro,
embarcando em seguida para a Itlia, onde se deparou com novos horizontes.
Apesar de estar ligada a um movimento que visava a criao de uma pera genuinamente
nacional, Joanna de Flandres trata de temas da Europa medieval e das cruzadas, na mesma linha
de A noite do Castelo. A ao ocorre em Lilla na regio de Flandres em 1225, focalizando a
revolta dos flamengos contra Joanna, que no uma criao literria, ela existiu de fato e reinou
por algum tempo naquela regio, hoje integrada Blgica
2
.
O enredo gira em torno da volta do conde Balduno, que havia desaparecido nas cruzadas,
e das artimanhas de sua ambiciosa filha Joanna para manter-se no poder, apoiada por Raul de
Maulon, um trovador que havia tomado por amante e cmplice. A pera inicia-se com a
conjurao dos revoltosos fiis a Balduno, que liderados por Huberto de Courtray, juram lutar
pela sua ptria:
Na seqncia a cena muda-se para os sales do palcio e Joanna, avisada de que tramam
contra ela, canta a ria mais conhecida da pera Foram-me os anos da infncia.
2
A regio de Flandres fica no norte da Blgica e teve um grande poderio econmico na Idade Mdia, quando
agregava ao seu territrio partes que hoje pertencem Frana e Holanda.
Na seqncia, em um trecho de grande virtuosidade, exalta a vingana: s tu me elevas
de infernal prazer!... Sou tua, s minha!, onde o compositor no economizou ornamentos, saltos,
vocalizes, notas extremas e ritmos agitados para que a solista pudesse expressar sua ira.
Na cena seguinte, Joanna est a ss com Raul e muda de atitude, tornando-se cinicamente
delicada. Aqui possvel notar como o compositor j manejava bem a orquestra ao fazer a
passagem de uma cena grandiosa de vingana para um dueto de amor. Antes da cena romntica
h um certo mal-estar entre casal que troca acusaes veladas. O dueto bastante longo e sua
anlise demonstra que Gomes vinha desenvolvendo um estilo prprio:
Aps essa cena romntica, resolvem casar-se oficialmente, o que d ensejo a um segundo
dueto, to longo quanto o primeiro, porm mais brilhante. No decorrer dessa cena, a mais longa
de toda a pera, existe indicaes de cortes no manuscrito, talvez o motivo do desagrado do
compositor com o maestro.
O casamento uma tpica cena de corte, com brindes e vivas, mas apesar do jbilo, h
uma certa desconfiana no ar, j que foi tudo definido s pressas. A festa interrompida pela
chegada de Balduno, que pergunta a Joanna se ela no o reconhecia. Ela no s nega, como o
acusa de impostor, sob o olhar estupefato de sua irm, Margarida. Aqui so utilizados dois coros,
um masculino (flamengos) e um misto (os nobres franceses), num interessante contraponto de
idias e expresses: os flamengos cantam sua revolta, e os franceses, sua surpresa. O mesmo se
d com solistas: Balduno expressa seu sofrimento com a longa ausncia e a rejeio da filha,
Huberto, sua revolta e Margarida, compaixo pelo pai. J Raul instiga Joanna a calar-se e essa
fica num misto de dio e remorso. No final h o consenso de que a melhor soluo levar o caso
ao rei da Frana.
A partir desse momento h um crescimento de Margarida, que introduz o tema que vai
concluir o primeiro ato, desenvolvido em seguida por solistas e coros. Este trecho tambm
bastante longo, resultando, como dissemos anteriormente, em uma pera irregular, pois aqui
estamos concluindo apenas o primeiro ato e j estamos praticamente na metade da obra.
No segundo ato Raul, cheio de remorsos, canta uma ria-modinha bastante conhecida e j
editada anteriormente em verso para canto e piano:
Burg, o fiel de Joanna, informa que a tropa o aguarda e Raul enfurecido ordena que saia e
canta uma cavatina onde afirma seu amor por Joanna, mas conclui dizendo que, caso ela no oua
a voz da razo e aceite seu pai como conde de Flandres, tanto amor h de em dio se tornar.
O trecho seguinte um solo de flauta de grande virtuosidade dedicado ao famoso flautista
belga radicado no Rio de Janeiro, Mathieu-Andr Reichert (1830-1880), introduzindo Margarida
numa cena entre runas. Ao lado de uma fonte relembra sua infncia at que chegam Huberto e os
revoltosos, que a sadam: sois de Flandres, a boa estrela, nosso arcanjo protetor. Surpresos,
ouvem uma marcha triunfal que anuncia a vitria de Joanna junto ao rei de Frana. Balduino
conduzido ao crcere.
Ali se inicia o terceiro ato, com um dueto entre Balduno e Margarida; Joanna entra e
tenta convencer o pai a assinar um documento no qual, em troca de sua liberdade, afirmaria que
conde de Flandres estava morto. Sua recusa d origem a um interessante terceto, onde
encontramos outra vez uma escrita musical que confronta estados de esprito:
Balduno e Margarida declaram mtuo amor e Joanna destila todo seu dio em outro
trecho de grande virtuosidade. O ato termina quando ela abandona intempestivamente o crcere,
no sem antes hesitar num passageiro ataque de remorsos, que em nada afeta seu desejo pelo
poder.
O quarto ato acontece no palcio e Raul canta variaes sobre a sua ria do segundo ato.
Joanna, ao fundo, revela que sente desprezo pela fraqueza de Raul e ao se encontrarem cantam
um dueto no qual ele revela pesadelos que vinha tendo e que envolviam a morte de Balduno e a
ira popular:
Joanna repete o mesmo tema com acento irnico, dizendo que no teve sonhos, mas v
com jbilo a mesma coisa que Raul, a cabea do pai rolando no patbulo. Em um trecho de
bravura Raul faz pesadas acusaes: mpia filha, criminosa, teu intento hei de mudar, ao que
Joanna responde Tu perjuro, me traste, mas no podes me abrandar.
Joanna entrega a Burg um punhal ordenando a execuo de Raul e surge Margarida
implorando pela vida do pai: Oh, pelos cus, perdoa quem te deu a vida!, mas a condessa no
se importa com o destino do pai, que sofra seu destino, sua sorte. Ouve-se o som de uma banda,
indicando que Balduno est livre e vem retomar o seu lugar. As duas irms cantam um duo de
grande exigncia vocal, no qual Joanna continua jurando vingana, mas j temerosa, e Margarida
exulta com a libertao do pai.
Na cena final da pera, Raul retorna portando o punhal que arrancara das mos de Burg e
aps breves palavras apunhala Joanna, alheio aos seus pedidos de clemncia e aos apelos
desesperados de Margarida. Balduno entra a tempo de escutar a ltima ria da filha moribunda,
na qual ela pede perdo a ele e a seu povo:
ordenada a priso de Raul, que se adianta e crava em si o punhal, dizendo Eu cumprir
vou o meu cruel destino!. Tudo isso numa cena rpida, no h muita explorao da morte e a
pera termina com rpido tutti: Oh, dia fatal!.
Nessa sucinta apresentao encontramos elementos pouco caractersticos do perodo,
como a herona sem carter, m e dissimulada, prenunciando as futuras malvadas de Gomes
como Fosca (1873) e Maria Tudor (1879). Lembramos que o papel da mulher pura e sofredora,
padro da pera romntica, coube Margarida, que passa grande parte de seu tempo implorando
a ajuda divina.
Raul na verdade um anti-heri, distante dos briosos tenores romnticos. De carter
duvidoso, ao apresentar-se na corte como trovador cai nas graas da condessa, que, entretanto,
vai us-lo como instrumento para chegar a seu intento. Ele submete-se a ela, apia seus crimes na
esperana tornar-se rico e poderoso em Flandres. Mas tomado pelo remorso e tenta convenc-la
a recuar, mas ao fracassar pratica um inslito gesto operstico ao assassinar deliberadamente a
amada (que por sua vez tambm tentou mat-lo).
Deixo aqui meus agradecimentos FAPESP, que financiou integralmente essa pesquisa,
ao Departamento de Msica da UNICAMP e toda equipe que trabalhou conosco, em especial
Germano Lobato da Fonseca, Paulo Augusto Soares e lvaro Peterlevitz, este responsvel pelos
trechos reduzidos apresentados aqui.
A contextualizao da msica como arte e como terapia
Leomara Craveiro de S
Universidade Federal de Gois (UFG)
leomara@usa.net
Marlia Laboissire
Universidade Federal de Gois (UFG)
mlaboissiere@hotmail.com
Resumo: Transpondo o conceito tradicional de arte do sentimento, a Msica apresentada como
uma potncia latente que, ao interagir com o indivduo, num fruir esttico, opera o movimento
incorpreo homem/msica que lida com sensao, cria um universo singular onde o homem se
presentifica e expressa seu mundo social, sensvel e cultural. Este trabalho originou-se da pesquisa
A Contextualizao da Msica como Arte e como Terapia, desenvolvida na Universidade Federal
de Gois. A msica manifesta-se e concebida de diferentes maneiras, dependendo do setting em
questo artstico, educacional, teraputico , dos objetivos que se busca alcanar, considerando-se,
principalmente, a existncia de uma clientela diversificada, o que gera, tambm, processos
significativos com escutas diversificadas. Numa tentativa de delimitar territrios, este estudo
objetivou uma maior compreenso da msica enquanto manifestao artstica, que envolve
obra/intrprete/ouvinte, e da Msica como elemento teraputico, tal qual concebida na Musicoterapia
Palavras-chave: msica, arte, musicoterapia.
Abstract: Transposing the traditional concept of arte do sentimento, Music is presented here as a
latent power that when interacts with the individual operates an incorporeal movement between man
and music that deals with sensation and creates a unique universe where man presents himself an
express its social, sensible and cultural world. This work is originated from the research called The
Context of Music as Art and as Therapy, developed in the Federal University of Gois. The Music
manifests itself and is conceived in different ways depending on the setting - artistic, educational,
therapeutically -, the objectives and, above all, the existence of a different clientele which also
provides a significant processes with diverse listening. In an attempt to delimit territories, this study
aimed a lager understanding of music as artistic manifestation, that involves music/interpreter/listener
and of music as therapeutical element, such as conceived in the Music Therapy.
Keywords: music, art, music therapy.
Msica como Arte
O relacional homem/arte, considerando o indivduo como um ser sensvel e
scio/cultural, marcado e deixando marcas no seu mundo vivencial, um dos pontos que tem
sido motivo de reflexes, discusses e estudos na produo artstica, possibilitando assim
novos conceitos sobre a Msica e sua significao.
nesta perspectiva que seu sentido e caminho processual, rompendo com o
tradicional conceito de Msica como a arte do sentimento e das emoes, encontra
fundamentaes na semitica e na filosofia comportando suas diversidades dentro das
particularidades.
Nietzsche (apud Arrojo, 1993, p. 19) dizia que o homem no um descobridor de
verdades originais ou externas ao seu desejo, mas um criador de significados que se
plasmam atravs das convenes que nos organizam em comunidades. O indivduo e a obra
musical, o inseparvel do evento sonoro, um universo singular construdo pela prpria arte e
pelo homem, decorrente de um fluxo temporal de movimentos ludicamente organizados
numa interao constitutiva, onde a Msica ento a procura de uma fronteira
constantemente deslocada, como dizia Luciano Berio (apud Dalmonte, 1981, p.8).
assim que, como acontecimento, detendo-nos na escuta no relacional
obra/ouvinte (subentendendo-se a existncia do performer) vamos ver a Msica: um
processo interpretativo especfico, onde a massa sonora flutuante, como expresso sgnica,
explicita enunciando um sentido, que nele est oculto ou latente, ao interagir com o ouvinte,
numa atualizao processual. Ainda que e estabelea uma escuta sensvel ou intelectual, esta
incorporao sempre processar um mundo particular com diferentes intensidades e sentido
para cada um de ns. A despeito da percepo do estilo igualar a percepo da forma que a
acompanha, como diz Herenzweig (1977) o pensamento recorta de maneira individual essas
influncias e traa seu prprio caminho, expressando uma captao particular, onde os
universais se mesclam singularidade que se impe.
Emergem, ento, a compreenso de sua prtica como um fazer ativo que, como
toda e qualquer produo, realizao e expresso humana, envolve uma questo semitica
cincia que tem por princpio o estudo do sentido e dos processos de significao ,
lembrando que nesta atuao significativa, a Msica constituda de som e silncio, forma e
estrutura, gestos e movimentos, dentro de um contexto de multisensorialidade, sustentado de
um lado pela forma e estrutura e, de outro, pela fora de sua materialidade, caracterizando-se
como uma potncia de devir latente, acolhendo o intrprete e seu mundo de valores. Neste
sentido, esto sendo entrelaados elementos da sensibilidade e da razo, tomando-se por
razo seus elementos formais, sua escrita e identificao sonora e, como sensibilidade, sua
forma de apresentar e se manifestar ao nosso entendimento sensvel. Um processo
deflagrado por uma cadeia seqencial de relaes, cuja construo de sentido alimentada
por incorporaes e/ou transformaes, na qual o texto musical no visto como linear,
unidimensional, mas um ncleo de saber codificado, espao aberto a diferentes significaes,
sobre o qual o intrprete/ouvinte constri sentidos.
No se separando processo do produto e partindo do pressuposto de que a Msica
existe no aqui/agora vivificado a cada instante pela relao obra/intrprete/ouvinte, seja
qual for a situao interpretativa, ela jamais ser possuidora de valores, de significados
absolutos e definidos a priori, mas sim, vista como um universo aberto, particular e no
repetvel, a ser constitudo na sua temporalidade pelo homem e pela arte que a define.
Nesta lgica, trabalha-se com a potencialidade, com o que h de possvel na sua
natureza. E essa potencialidade, que faz com que nesta relao obra/ interprete, num
processo transformacional um seja captado pelo outro, operando ento o incorpreo
homem/msica, dando-lhe vida, corpo, um estado de ser, que lido como sensao e induzido
pela sensibilidade se torna um vivenciar nico de algum sentimento. Neste momento, h um
compartilhamento entre matria e homem onde o sujeito percorre os meandros desse som,
como parte dele, numa leitura interior, se encontram, se fundem, se constituem e se revelam
como ser de sensao. quando a Msica, caracterizada pela imprevisibilidade, instabilidade
e mutabilidade, diferentemente de qualquer outra arte, se apresenta como combinaes
sonoras e lida com figuras estticas portadoras de potencialidade, num processo dinmico se
lana ao mundo perceptivo, apoderando-se de seu espao. Um acontecimento, no qual no
mais existe nem sujeito nem obra, mas um tornar-se homem/musica como um nico
inseparvel, no encontro de seu sentido. No se separa voc da Msica. Voc se incorpora
na Msica e ela em voc, validando o dizer de Deleuze: A arte um bloco de sensaes
presentes e do ao acontecimento o composto que a celebra (1992, p.218).
Entende-se assim que Msica um material sonoro complexo e carregado de
tornar apreciveis e perceptveis foras de uma outra a natureza (...) que no so sonoras por
elas mesmo (...) O som um meio de capturar outra coisa. A Msica no tem mais por
unidade o som (Deleuze,1978, p.2). Um unir indivduo, mundo e arte.
Caracteriza-se, ento, a Msica como, ... a arte do tempo, idia sonora, onde o
sujeito se mostra, se presentifica expressando o seu mundo social, sensvel e cultural
(Laboissire, 2002, p.127).
Vale dizer que esta definio de msica encontra guarida tanto no contexto da
Arte quanto no da Musicoterapia, uma vez que Msica e terapia formam bloco, no sendo
uma ferramenta para a outra.
Msica em Musicoterapia
clara a existncia de uma zona de vizinhana, de indiscernibilidade, no
somente entre a Musicoterapia e a Msica (enquanto Arte), mas tambm entre diversas outras
reas. Por encontrar-se em uma rea limtrofe de conhecimentos, a Musicoterapia apresenta
fortes caractersticas relacionais com a Filosofia, com a Cincia e com a Arte. Entretanto, a
vizinhana mais prxima faz-se com a Msica, existindo uma tnue linha divisria entre
esses dois territrios. Isto geralmente encontra explicaes no fato de que, em ambas as
reas, articulam-se um mesmo regime de signos, ou seja, os signos musicais e,
principalmente, por ser a Musicoterapia uma prtica teraputica que se d a partir da e
com a msica.
De um modo geral, a Musicoterapia concebida como uma aplicao teraputica
de msica, porm, na Musicoterapia, msica e terapia formam bloco, no sendo uma
ferramenta para a outra. A teoria da Musicoterapia no a da Msica, seu modo de ouvir
no o da Msica, sua razo e finalidade no so as mesmas da Msica. Msica e
Musicoterapia so dois domnios diferentes que se cruzam, se interconectam. Por apresentar-
se carregada de seus prprios atributos, a Msica interfere em nosso setting e acaba por
sofrer, tambm, interferncias desse setting. a, exatamente, onde se formam novos
blocos...
Na Musicoterapia, ocorre uma produo que transcende os signos musicais,
incorporando vrios outros signos no-musicais, num claro hibridismo. Encontram-se em
jogo outros agenciamentos que vo alm do domnio da Msica, incorporando outros regimes
de signos, cuja produo no mais sonoro-musical, mas visual, ttil, gestual, imagtica, pr-
vocal, pr-verbal e verbal. Isto no significa que tais regimes no existam na msica, porm,
l, na Musicoterapia, eles se apresentam como foras distintas. E, por pertencerem a
domnios diferentes, Msica e Musicoterapia desencadeiam escutas tambm diferentes.
Entretanto, um ponto comum: a escuta musical no pode ser concebida como um territrio
delimitado a priori, uma vez que este territrio se define no prprio ato da escuta
(Ferraz,1998 p.34) e, em se tratando de um espao teraputico, de uma escuta
musicoterpica, esta se diferencia ainda mais, uma vez que acrescida de outros tantos
elementos.
Para Moura Costa (1999), o setting musicoterpico, um espao de escuta
especfico, que no se dirige apenas idia de msica (ou mesmo no se restringe escuta
musical), mas sim, um espao de escuta compartilhado em que aparecem vrios nveis de
escuta e de atribuio de sentido ao acontecer musical. Considera-se, ali, no somente a
produo do paciente (o produto final), como, tambm, sua maneira de produo e os
efeitos desta produo sobre o(s) paciente(s), ou mesmo sobre o musicoterapeuta.
Em Musicoterapia, a msica tanto pode se apresentar como algo estruturado,
finalizado produto musical , quanto como algo em processo, em movimento, simples
exploraes: som, ritmo, msica e silncio enquanto formas espao-temporais.
A Msica, neste contexto, encontra-se num territrio aberto e flexvel, num
espao entre a significao e o sentido, um espao que muito favorece a formao de
blocos, um espao de vibraes e ressonncias, um espao gerador de devires. Isto, devido,
principalmente, a suas caractersticas de flexibilidade, de instabilidade e falibilidade nem
sempre significando ou comunicando algo; podendo (ou no) agregar sentidos; despertando
(ou no) emoes, sentimentos, idias, etc. Aqui, a escuta musicoterpica se compe no
alicerce do pensamento e na habilidade de movimentar-se por espaos audveis e inaudveis
(Coelho, 2001, p. 20).
Ao se formar o bloco msica-terapia, os limites do campo da linguagem so
transpostos, adentrando-se em outro campo visivelmente mais aberto e com caractersticas
bem peculiares. No mais ter acesso ao psiquismo do indivduo somente via linguagem
verbal, mas sim, atravs da Msica, em que o sentido nos leva superfcie, a um terreno
movedio, sem fronteiras.
Certamente, um dos fatores que muito favorece e d fora msica como terapia
exatamente este: por no pertencer ao campo linear das significaes, tal qual a linguagem
verbal, ela aponta para o no-verbalizvel, para outras foras foras transversais que,
muitas vezes, podem romper ou atravessar certas redes defensivas que a conscincia e a
linguagem cristalizada opem sua ao e toca em pontos de ligao efetivos do mental e do
corporal, do intelectual e do afetivo. (Wisnik, 1989, p. 25).
A Msica, ento, coloca em jogo multiplicidades; preenche vazios, provoca
transbordamentos, levando formao de novos blocos; msica geradora e restauradora do
desejo.
Msica...foras sonoras que nos conduzem formao de imagens, visualizao
de cores, cenas, formas, texturas, etc. Msica que narra, que descreve, que disserta. Msica
que nos faz percorrer o tempo numa velocidade inconcebvel... msica que nos conduz a um
estado de pura virtualidade... que nos transporta a outros lugares, a outros tempos... Msica
que nos conduz a outros estados de humor e de conscincia... Msica que, muitas vezes,
organiza e, outras tantas, desorganiza... Msica que, em alguns momentos, nos equilibra e,
em outros, nos causa reao totalmente contrria... msica-corporalidade; msica-tempo...
msica-multiplicidades.
No geral, em se tratando de um setting musicoterpico, essas foras so
atravessadas por outras foras, muitas vezes intensificando-as, rompendo-as, neutralizando-
as, recuperando-as, formando com elas novos blocos de foras, os quais impulsionam o
processo musicoteraputico. Isto ocorre devido, principalmente, s prprias caractersticas do
setting teraputico hbrido e rizomtico e, tambm, por se apresentar como um espao
relacional dinmico, um espao contemporizador, de aceitao, segurana e cooperao.
Pode-se pensar Musicoterapia como uma mquina fundamentalmente
energtica que pe em evidncia a potncia clnica da msica. Uma mquina de produes,
...destinada a vibrar e a fazer vibrar aqueles que dela se aproximam e a engaj-los em um
movimento produtivo... (Baremblitt, 1998, p.14).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARROJO, Rosemary. Construo, Deconstruo e Psicanlise. So Paulo: Biblioteca Pierre
Menard, Imago, 1993.
BERIO, Luciano. Entrevista sobre a msica. Realizada por Rossana Dalmonte. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1981.
BAREMBLITT, Gregorio. Introduo Esquizoanlise. Belo Horizonte: Biblioteca do
Instituto Flix Guattari, 1998.
COELHO, Lilian E. Marcas de Escutas no Ambiente Acadmico. In: Anais do II Frum
Paulista de Musicoterapia, p.19-27, So Paulo, 2001.
DELEUZE, Gilles. Confrence sur le temps musical. (Imagem) Paris: IRCAM, 1978.
_______________ Lgica do Sentido. 4
edio, So Paulo: Editora Perspectiva,1998.
DELEUZE, Gilles. & GUATTARI, Felix. O que filosofia? Trad. Bento Prado Jr. e Alberto
Muos, So Paulo, Editora 34, 2 Edio, 1997.
EHREZWIEG, Anton. A ordem oculta da Arte. rio de Janeiro: Jorge Zahar,1977.
FERRAZ, Slvio. Msica e Repetio: a diferena na composio contempornea. So
Paulo: EDUC,1998.
LABOISSIERE, Marilia. Interpretao musical: sob o olhar da intersemiose, a dimenso
recriadora da comunicao potica. Tese de Doutorado em Comunicao e Semitica.
PUC-Sp, 2002.
MACHADO, Roberto. Deleuze e a filosofia. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
MOURA COSTA, Clarice. A Escuta Musicoterpica. In: Anais do I Frum Paulista de
Musicoterapia, p.37-41, So Paulo, 1999.
WISNIK, Jos Miguel. O Som e o Sentido. So Paulo: Companhia das Letras,1989.
O modelo tripartido de Molino e a musicoterapia
Lia Rejane Mendes Barcellos
Conservatrio Brasileiro de Msica (CBM)
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
liarejane@imagelink.com.br
Resumo: Este trabalho o resultado de uma pesquisa realizada no Mestrado de Musicologia do
Conservatrio Brasileiro de Msica do Rio de Janeiro. Esta teve por objetivo estudar A Importncia
da Anlise do Tecido Musical para a Musicoterapia (1999) e se utilizou do Modelo Tripartido de
Molino para dar conta da anlise musical a realizada. A partir deste estudo que priorizou a escuta
musical chegou-se concluso que este modelo constitui-se de extrema importncia para a anlise
musical tanto dos processos de escuta [stsis] quanto dos processos de produo [pois], estes
ltimos se constituindo de maior importncia por serem os mais utilizados na musicoterapia
brasileira. A referida pesquisa veio ratificar a necessidade de que o musicoterapeuta tenha uma
formao que se preocupe com a importncia da anlise musical e que tenha por objetivo
desenvolver as habilidades musicais daquele que pretende utilizar a msica com uma funo
teraputica.
Palavras-chave: musicologia, musicoterapia, anlise musical.
Abstract: This article is the result of a research done in the Masters at the Conservatrio Brasileiro
de Msica in Rio de Janeiro, which aim was to study The Importance of the Musical Analysis for
Music Therapy(1999). In this research the Molino Model was used to the musical analysis done.
From this study where the listening was the primary aim was possible to conclude that the
Molino Model is extremely important for musical analysis so in the listening processes [stesis] as
the production ones [poesis], the last being the most used in Brazilian Music Therapy. This
research ratifies the importance of the musical analysis in the Music Therapy Programs so that the
music therapist can better use music as a therapeutic function.
Keywords: musicology, music therapy, musical analysis.
Este trabalho o resultado de uma pesquisa realizada no mestrado de Musicologia
do Conservatrio Brasileiro de Msica. Nesta pesquisa se pretendeu estudar a
importncia da anlise musical para a musicoterapia.
Para introduzir o tema prope-se uma imagem feita anteriormente, que pretende
visualizar a musicoterapia como um rio cujas guas podem correr tanto pelo leito da
msica quanto pelo da terapia.
No entanto, sabe-se que esta afirmao no inteiramente verdadeira pois as
guas que correm pelo leito da terapia tm muito maior volume do que as que correm
pelo leito da msica.
Hesser, num texto no divulgado mas que utilizado com seus alunos de
musicoterapia na Universidade de N. York, apresenta campos da msica que podem
2
contribuir para uma melhor compreenso do paciente e para um maior desenvolvimento
da rea. Dentre estes a autora inclui: a psicologia da msica; a etnomusicologia; a
esttica; a acstica da msica [e aqui poder-se-ia dizer a psicoacstica]; a histria da
msica e a sociologia da msica. E deveria ser includa, enfaticamente, a musicologia
que, sem dvida alguma, tem uma grande contribuio a dar para a musicoterapia,
desde que os musicoterapeutas tenham um olhar que priorize a msica como elemento
teraputico. E, cabe destacar, dentro da musicologia, a anlise musical como a grande
contribuio para a musicoterapia.
Segundo Gaston, no livro que ainda hoje se constitui como referncia na rea,
apesar de ter sido a primeira publicao que nos chegou, a musicoterapia, tanto quanto
outras terapias reconhecidas, passou por trs perodos ou etapas, nestes ltimos 25
anos. (1968, p. 23).
Na primeira etapa, dava-se maior importncia ao efeito que a msica exercia sobre
as pessoas, deixando-se de lado a figura do terapeuta ou a relao teraputica; na
segunda, prestou-se menos ateno msica e aos efeitos que esta poderia causar no
paciente e se passou a cuidar mais da relao teraputica. E, na terceira, chegou-se a
uma posio intermediria onde tanto a msica quanto a relao so igualmente
importantes.
Assim tem-se hoje a prtica da musicoterapia de forma muito diversificada e
marcada, sobretudo no Brasil, pelo fazer musical do paciente e do terapeuta, ou seja,
pela chamada musicoterapia inter-ativa. (Barcellos, 1984).
Ora, se concordamos com a relevante afirmao de Smeijsters que considera
como hiptese fundamental da musicoterapia que tocar, cantar e ouvir msica ressoa
[ou poder-se-ia dizer: traduz] o interior da pessoa que toca, canta ou ouve e que o
musicoterapeuta deve ir ao encontro do paciente na msica [e eu acrescentaria ao
encontro de seu mundo interno atravs da msica], imperioso seria tentar ter uma
compreenso da msica atravs da qual o paciente se expressa ou, ainda, ter uma
compreenso da msica que seria mais adequada para este ou aquele paciente, quando
apresentada pelo terapeuta.
3
Mas, que caminhos deveramos seguir para dar msica o papel ou a funo que
ela realmente tem em musicoterapia sem evidentemente deixar de lado os aspectos da
relao teraputica?
Na verdade, a pergunta que neste contexto mais nos interessa : como podemos
ter uma maior compreenso da msica que o paciente cria ou recria? Ou, como
podemos atravs da msica ter uma compreenso melhor do paciente? E esta pergunta
nos levaria a uma outra: como podemos melhor nos preparar para fazer a leitura
musicoterpica? (Barcellos, 1994). Qual o estudo de msica que poderia ajudar nesse
sentido? Que rea da msica nos daria essa possibilidade?
A partir de pesquisa realizada anteriormente, poder-se-ia afirmar que a maior
contribuio viria da musicologia ou, mais especificamente, da anlise musical. Mas,
que tipo de anlise musical?
Pretende-se aqui tentar levantar possibilidades que venham a facilitar ou ajudar o
musicoterapeuta nessa necessidade de compreenso do paciente.
Mas, deve-se ressaltar novamente que, num contexto teraputico, a msica tanto
pode ser feita pelo paciente quanto pode ser trazida pelo musicoterapeuta. Assim, um
nico tipo de anlise musical no daria conta dessas duas formas de emprego. Ainda
seria necessrio se pensar que uma leitura musicoterpica no corresponde exatamente
anlise musical. Defino leitura musicoterpica como sendo: a anlise musical que
feita articulando os aspectos musicais produzidos pelo paciente sua histria de vida,
sua histria clnica e/ou, ainda, ao seu momento. O objetivo desta que se tenha a
compreenso do paciente atravs do musical que ele expressa e como ele expressa.
(Barcellos, 1994).
Vianna e Stefan, comentando esta definio afirmam que destaca-se a que na
dimenso clnica, esta compreenso diz respeito no s aos aspectos que se manifestam
atravs dos elementos sonoros e/ou musicais expressos pelo sujeito, mas esta leitura j
inclui, a priori, uma concepo sobre o humano. (Vianna e Stefan, 1998). Esta
definio foi posteriormente ampliada a todos os aspectos do setting musicoterpico, ou
seja: como o paciente se movimenta dentro do setting, que sons produz, que instrumento
toca, a forma de tocar, e os aspectos musicais propriamente ditos: intensidade, ritmo,
melodia, e harmonia, e a interao musical com o musicoterapeuta, a aceitao da
4
msica feita por este, a letra, enfim, todos os aspectos que fazem parte desta rede que
constitui o espao musicoterpico.
Para dar conta da anlise das questes da estrutura musical e enfatizando-se a
importncia de que estas sejam levadas em conta em musicoterapia, poder-se-ia trazer o
Modelo Tripartido ou Semitico de Molino que entende a msica como um fato
cultural com todas as suas complexidades e complicaes (apud Gubernikoff, 1995, p.
82). Este modelo parte do pressuposto que
... necessrio reconhecer que um objeto musical, como todo objeto
simblico, tem uma dimenso tripla da existncia: ele existe como resultado
de uma estratgia de produo, como objeto presente no mundo,
independente de suas origens e funes e existe, enfim, como fonte de uma
estratgia de recepo desde que os pblicos mais diversos escutam a mesma
msica.
Esse modelo prope a tripartio da anlise musical em trs nveis relativamente
autnomos
POTICO NEUTRO STSICO
que se apiam respectivamente: no produto de uma atividade criadora especfica ou nas
estratgias de produo (nvel potico), na obra sem tomar parte na pertinncia dos
outros dois nveis (nvel neutro), e na escuta ou nas estratgias de recepo (nvel
stsico).
A pesquisa referida anteriormente apontou este modelo como sendo um dos mais
adequados para apreender-se o sentido ou os contedos da produo musical do
paciente, assim como para dar conta das msicas que poderiam ser utilizadas, pois leva
em considerao tanto os processos de produo como os de recepo e a relao entre
estes.
Mas, para que se possa melhor utiliz-lo necessrio que se conhea a articulao
que pode ser feita entre os nveis.
Admitindo-se que os mesmos so relativamente autnomos possvel utilizar-se
o modelo para classificar as diferentes famlias de anlise musical correntemente
utilizadas segundo seis casos de figura (Nattiez, 1990, p. 55):
Imanente N
Holista P N
5
Potique indutiva P N
Potique externa P N
stsica indutiva N
stsica externa N
interessante fazer-se uma articulao destas com a musicoterapia para que se
entenda e utilize melhor na prtica clnica a que for considerada mais adequada(s).
importante esclarecer-se que a seta se refere metodologia da anlise e no ao
processo de criao.
1 A imanente que se concentra no nvel neutro
N
pretende analisar a obra musical sem levar em considerao os processos de
produo ou recepo. Trata-se, a meu juzo, da nica que no se configura como
pertinente para ser utilizada em musicoterapia pois a leitura musicoterpica dever
incluir aquele que produz ou que recebe a msica o paciente.
2 A holista
P N E
que considera que as configuraes imanentes obra correspondem aos
processos potiques e stsicos (ibid, 56).
3 A potique indutiva
P N
que trata de induzir da observao da pea o processo composicional que lhe deu
nascimento. Para adequar-se este tipo de anlise musicoterapia deve-se ir alm de
entender o processo composicional e considerar os possveis sentidos ou contedos
por este veiculados.
6
Em musicoterapia este tipo de metodologia se adequaria para dar conta das
improvisaes ou composies dos pacientes.
4 A potique externa
P N
que parte dos esboos feitos pelo compositor para chegar obra.
Em musicoterapia pode-se apontar o importante trabalho de Gudrun Aldridge
(1999) que analisa as improvisaes de um paciente durante 16 sesses improvisaes
consideradas como um esboo para chegar melodia final por identificar-se a
fragmentos rtmicos e meldicos encontrados na denominada Melodia de Despedida,
improvisada na ltima sesso (sesso 16).
Com este estudo Aldridge pde entender no s o processo de
produo/composio da melodia final mas, principalmente, o processo de evoluo
do paciente e a forma como ele foi lidando com suas dificuldades principais.
5 A stsica indutiva
N
que procura predizer como a obra percebida na base da observao apenas das
estruturas musicais (Nattiez, 1990, p. 57).
Parece pertinente levantar-se aqui algumas questes. Sabe-se que a generalizao
com relao ao que uma pessoa pode sentir ao escutar uma determinada pea de msica
um caminho que deve ser trilhado com muito cuidado. No entanto, sabe-se tambm
que a conexo entre o som musical e seu significado usualmente definida pela
cultura. (Bonny, 1978, p. 17).
Assim, seria possvel uma relativa generalizao no que diz respeito aos
pacientes, observando, por exemplo, as diferenas de patologias que at poderiam
interferir nessa resposta. Esta uma discusso extremamente importante mas ser
deixada para um outro momento.
Para esta relativa generalizao seria necessrio
7
- que a pea a ser escutada pelo paciente tenha sido anteriormente analisada pelo
musicoterapeuta para conhecer a sua estrutura musical e,
- que o musicoterapeuta conhea bem o paciente a quem a pea est sendo
apresentada, isto , saber a sua histria de vida, sonora e clnica e o momento
deste no momento da escuta.
6 Por fim, a stsica externa
N
que parte dos processos de recepo para buscar a pertinncia desta na obra musical.
Esta foi a forma de anlise musical utilizada na pesquisa que deu origem dissertao
de mestrado desta autora. (Barcellos, 1999).
Ter conhecimento destas formas de anlise significa dar aos musicoterapeutas
instrumentos possveis de compreenso do paciente atravs daquilo que ele produz
musicalmente, ou, ainda, lev-lo a determinados estados, trazendo-lhe msica para
mobilizar sentimentos ou emoes, desde que se considere esta conduta como sendo
importante/adequada naquele momento.
Assim, para o tipo de musicoterapia que mais se pratica no Brasil, que a
musicoterapia inter-ativa, ter-se-ia como mais adequada, uma anlise que partisse da
msica ou da improvisao, para articular essa produo histria de vida ou clnica e,
ainda, ao momento do paciente.
Mas uma outra questo a ser discutida a da recriao de uma cano j existente
por um paciente. Em geral os musicoterapeutas se atm anlise da letra e desprezam
quase completamente os aspectos musicais. H que se refletir sobre qual o papel da
msica e sua influncia na escolha da cano.
Dentre as formas de anlise aqui apresentadas qual destas seria pertinente para dar
conta da re-criao musical, tcnica to utilizada em musicoterapia?
8
Cabe aqui iluminar uma discusso realizada em aula e o pensamento de um aluno
de graduao em musicoterapia, sobre o assunto.
Cuissi
1
pensa a questo em termos de produo primria e secundria, isto , a
produo primria se referiria aos processos de criao poesis e a secundria a uma
produo no original do paciente, ou seja, ele estaria criando novamente aquilo j
anteriormente composto ou re-poesis, se assim possvel denominar-se. O importante
que atravs desta re-criao o paciente pode expressar-se, seja de forma consciente ou
inconsciente.
Evidentemente estamos nos referindo re-criao musical em musicoterapia e no
pensamos que este pensamento seja estendido performance em msica. De qualquer
modo, trata-se de uma questo a ser melhor entendida e explicada.
Mas, alm da musicologia tambm a psicologia da msica pode trazer grande
contribuio musicoterapia. Esta contribuio se d, principalmente, para uma
compreenso do desenvolvimento musical da criana e dos processos de produo e
escuta, e as habilidades a estes necessrias.
Tendo este parmetro de normalidade poder-se- entender os processos de no
desenvolvimento ou at de regresso, atravs do musical. Kenneth Bruscia estuda os
desenvolvimento musical da criana e faz uma interessante e importante articulao
entre este, os distrbios e as patologias deste decorrentes e as aes musicoterpicas
pertinentes.
Ainda deve-se ressaltar que as formas de anlise que esto sendo criadas para dar
conta dos processos de recepo da msica em mtodos especficos de musicoterapia,
como o caso do Mtodo Bonny de Imagens Guiadas e Msica, poderiam trazer uma
contribuio anlise musical musicologia. No entanto, estas objetivam analisar a
audio e no a produo do paciente que o tipo de musicoterapia que mais se
pratica no Brasil. Por isto, no sero consideradas neste trabalho.
Ainda muito seria possvel dizer-se da contribuio da msica para a
musicoterapia. Mas, o aspecto principal seria reforar a necessidade de formao
1
ngelo Cuissi, aluno do Curso de Graduao em Musicoterapia do Conservatrio Brasileiro de Msica.
RJ. 2003.
9
musical e o desenvolvimento da musicalidade daquele que pretende trabalhar com a
msica como especificidade de sua rea.
Referncias Bibliogrficas
ALDRIDGE, Gudrun. The Development of Melody: Four Hands, Two Minds, One
Music. In: Info CD Rom II. Concebido e editado por David Aldridge. University Witten
Herdecke, 1999.
BONNY, Helen. The Role of Taped Music Programs in the Guided Imagery and Music
Process: Theory and Product. GIM Monograph #2. Maryland. ICM Books. 1978.
BARCELLOS, L. R. M. A Importncia da Anlise do Tecido Musical para a
Musicoterapia. Rio de Janeiro: Dissertao de Mestrado em Musicologia. Conservatrio
Brasileiro de Msica. 1999.
_______ Cadernos de Musicoterapia N 1. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
_______ Qu est-ce que la Musique en Musicothrapie. Revue edite para
LAssociation Franaise de Musicothrapie Vol.4 N 4. Paris: 1984.
_______ Cadernos de Musicoterapia N 3. Rio de Janeiro, Enelivros, 1994.
GUBERNIKOFF, C. A Pretexto de Claude Debussy. In: Cadernos de Estudo. Anlise
Musical. N 8/9. So Paulo: Atravez. 1995.
NATTIEZ, Jean Jacques. ECO, Umberto. RUWET, Nicolas. MOLINO, Jean.
Semiologia da Msica. Lisboa: Vega Universidade. S/d.
NATTIEZ, Jean-Jacques. Semiologia Musical e Pedagogia da Anlise. In: Revista da
Associao Nacional de Pesquisa em Msica ANPPOM. Ano II.N 2. 1990.
SMEIJSTERS. H. Developing Concepts for a General Theory of Music Therapy
Music as Representation, Replica, Semi-Representation, Symbol, Metaphor, Semi-
Symbol, Iso-Morph, and Analogy. In: Info CD Rom II. Ed. Aldridge, David. Herdecke:
University Witten Herdecke, 1999.
THAYER y GASTON, E. (Ed.) Tratado de Musicoterapia. Buenos Aires: Paids. 1968.
VIANNA, Martha Negreiros de Sampaio e STEFAN, Denise Rocha. Clnica em
Musicoterapia. Trabalho apresentado no IX Simpsio Brasileiro de Musicoterapia. Rio
de Janeiro. 1997.
Msica e identidade indgena na Festa de Santo Alberto: So Gabriel da
Cachoeira, AM
Liliam Cristina da Silva Barros
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
liliam_barros@yahoo.com.br
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar o carter identitrio da msica no contexto das
festas de santo que ocorrem no bairro da Praia em So Gabriel da Cachoeira. Para tanto, foi possvel
realizar um levantamento dos repertrios das festas e compreend-los segundo as categorias nativas
tendo como espinha dorsal analtica a lngua, que aparece estabelecendo fronteiras entre os sistemas
musicais representados nos repertrios e explicitando a proeminncia da identidade tnica Bar em
meio ao enclave tnico do bairro. Palavras-chave: msica, identidade indgena, etnicidade.
Abstract: This paper aims demonstrate the character of identity of the music in the context of the
Festas de Santo which occurs in This paper aims demonstrate the character of identity of the
music in the context of the Festas de Santo which occurs in Bairro da Praia (Beach Zone) in
So Gabriel da Cachoeira. In order to take this approach, it was made an survey of the repertories of
the ritual and understand them based in native categories. The langue was take as pivot of the study,
establishing frontiers behind the musical systems represented in the music and expliciting the ethnic
identity of the Bar in the ethnic context of the zone.
Palavras-chave: music, ethnicity, identity.
Introduo
No mbito dos estudos sobre msica indgena na Amaznia tm-se destacado as
culturas isoladas ou em contato apenas peridico com a sociedade nacional em
contraposio aos trabalhos feitos sobre as comunidades indgenas da regio Nordeste, por
sua vez destacando os aspectos em que a msica constitui mecanismo de fortalecimento
e/ou manuteno da identidade indgena. O vale do Rio Negro, situado na regio noroeste
da Amaznia, possibilita a interao de ambos os pontos de vistas acima apresentados em
relao msica indgena tratada.
Desde a viagem de Pedro Teixeira (1639) do Peru, descendo o rio Solimes at sua
foz, at Belm do Par, o Rio Negro despertou curiosidade e cobia pelas muitas povoaes
indgenas que se sucediam ao longo de suas corredeiras rio acima at a cabeceira na
Colmbia, onde se chama Guaina. Do contato destas populaes com as diversas frentes
colonizadoras, ao longo dos sculos XVI at os dias atuais, surgiram novas culturas em
grupos com diferentes fases de contato com a sociedade nacional. Neste contexto, a cidade
de So Gabriel da Cachoeira sempre despontou como rea de capital importncia
geopoltica por estar localizada em regio fronteiria com a Venezuela e Colmbia, tendo
servido no passado como forte militar, reduto missionrio, entreposto comercial e, a partir
da metade do sculo XX, principal ponto estratgico de vigilncia das fronteiras
amaznicas.
No invlucro do processo de ocupao e colonizao desta parte da Amaznia, a
rea etnogrfica do Rio Negro sempre se caracterizou como uma regio em que conviviam
sociedades indgenas de diferentes etnias, ligadas por uma rede de relacionamentos
culturais que permeia todos os campos de comunicao, envolvendo os aspectos
cosmolgicos, cosmognicos e todo o corpo mitolgico e ritual. Tais caractersticas
persistem nos dias atuais e constituem valores culturais de extrema importncia, cujos ecos
se fazem ouvir nos intertextos que florescem a partir das novas prticas incorporadas,
especialmente em reas urbanas em que o contato entre a populao indgena e os agentes
externos se d de maneira mais intensa, como So Gabriel da Cachoeira.
Em meio a este contexto urbano, um emaranhado tnico se faz presente na faixa
populacional indgena que compe o total de habitantes da cidade, em que arvora
mecanismos de manuteno e/ou fortalecimento de identidade tnica, aqui compreendida
em funo da alteridade e complementaridade do ser diante do outro. No bairro em que foi
realizada a pesquisa, o bairro da Praia, o extrato populacional indgena constitudo
principalmente pelas etnias Tukano, Dessana, Wanana, Warekena, Tikuna, Bar, Carapan
e outros, sendo o objetivo deste trabalho compreender os relacionamentos destas
identidades num ambiente urbano, de forte tendncia globalizadora, e seus desdobramentos
sobre os repertrios das festas de santo. Para tanto, foi considerado como de vital
importncia o relacionamento entre trs aspectos que do o suporte pesquisa: msica,
lngua e etnia. A partir desta trindade foi possvel traar parmetros analticos que
comportassem as articulaes scio-culturais e seus reflexos sobre as estruturas internas
dos repertrios de santo. Assim, a categoria lngua demonstra os dois lados da moeda: os
relacionamentos identitrios no lcus scio-cultural alm de delimitar as fronteiras entre os
sistemas musicais representados pelas msicas em latim, portugus e nheengat nos
repertrios de santo. O estabelecimento destes parmetros analticos se deu aps uma
compreenso da dinmica das identidades tnicas presentes no bairro da Praia,
vislumbradas aps trs etapas de trabalho de campo entre os anos de 2001 e 2002. A
primeira etapa esteve circunscrita ao contexto da cidade de Manaus, objetivando o contato
com as organizaes indgenas sediadas nesta cidade bem como a documentao
bibliogrficas e de fontes primrias nas instituies desta cidade. As etapas subseqentes
ocorreram na cidade de So Gabriel da Cachoeira e tiveram como objetivo, alm do
registro e documentao dos repertrios, a participao nos eventos das festas e vida da
comunidade.
Festa de Santo Alberto: repertrios e simbologias.
As festas de santo da cidade de So Gabriel da Cachoeira revelam apenas uma das
diversas faces que se desdobram ao longo do Rio Negro e de seus tributrios e afluentes,
percorrendo o caminho das antigas misses. Tendo sido implantadas por moradores do
bairro da Praia na dcada de 70, as festas de santo vm sendo incorporadas ao imaginrio
religioso local, acompanhadas das transformaes urbanas e poltico-econmicas da cidade.
O perodo de realizao das festas est vinculado ao calendrio litrgico cristo,
coincidindo com as datas festivas dos santos catlicos, e com uma durao de trs a quatro
dias numa zona urbana como a cidade de So Gabriel da Cachoeira, chegando a quinze dias
em povoados mais afastados. Durante os quatro dias de festa, momentos de reza e
momentos ldicos so alternados, tendo como eixo definidor as horas litrgicas de seis da
manh, meio dia, dezoito horas e meia-noite. Nestas horas beija-se as fitas do santo
homenageado sendo os momentos de roda de danas, bebidas e comidas revezados nos
intervalos.
Na cidade de So Gabriel da Cachoeira, as festas de santo acontecem em duas
zonas: o bairro da Praia, mais antigo e tradicional, e o bairro Dabaru, mais recente e
distante do centro da cidade. Esta pesquisa est circunscrita s festas realizadas no bairro da
Praia, onde vivem cerca de setecentas pessoas, h cerca de trinta ou mais anos. Desta
populao, a gerao mais antiga fala o nheengat, portugus e lngua natal pertencente a
cada etnia, sendo que os que moraram ou so oriundos da Colmbia falam o espanhol. A
gerao mais jovem fala apenas o portugus ou, como segunda lngua, o nheengat. A
lngua geral, ou nheengat, lngua de tronco tupi introduzida pelos missionrios na
Amaznia, identificada como a lngua Bar pelos indivduos desta etnia que desde o
incio do processo colonizador esteve envolvida de maneira mais intensa nas frentes de
expanso por ter seu territrio localizado na regio do baixo Rio Negro. No contexto do
bairro da Praia, a lngua funciona como sinal diacrtico de identidade, principal instrumento
de manuteno tnica, cujos reflexos so percebidos em todas as dimenses da cultura
tendo sido, por isso, tomada como principal elemento analtico nesta pesquisa.
O repertrio das festas de santo est dividido em trs categorias que definem, por si
mesmas, os eixos rituais estruturais do evento: reza, caminho de santo e correr. O
repertrio de rezas conhecimento especfico do rezador, quase sempre o prprio
tamborineiro. Ele, o rezador, possui o conhecimento no s da estrutura musical como do
corpo filosfico que envolve o repertrio, exercendo liderana religiosa sobre a
comunidade. As rezas acontecem dentro do clube Santo Antnio, grande salo construdo
pelos prprios moradores do bairro para a realizao das festas. Plenas de simbolismo e
respeito, como feitura ou pagamentos de promessas, as rezas acontecem todos os dias das
festas s vinte horas.
As rezas constituem um conjunto de dez msicas cantadas em estrutura coro-solista,
que corresponde categoria nativa rezador-jaculatrias, e que possui uma unidade
consolidada por diversos aspectos: estrutura rezador-jaculatria; a prosdia como referncia
mtrica (em maior ou menor nvel de subordinao); repertrio em latim e portugus; o
conjunto das partes unido pelo significado da reza; relaes de modo e tonais. Dos trs
repertrios, este o nico em que a comunidade tem participao nos cantos, ainda que
limitada s respostas ao solista.
O repertrio de caminho de santo est vinculado ao itinerrio realizado pelo santo
no espao urbano e no ritual de licena em presena do santo. Este itinerrio tem carter
permanente porque vinculado estrutura cronolgica da festa e reservado s funes dos
componentes das festas, renovadas todos os anos. As msicas expressam estes momentos e
objetivos a que se destinam exatamente atravs do texto.
O momento do caminho de santo tem sua unidade e identidade consolidada pela
prpria natureza do evento - a procisso. O espao geogrfico e a estrutura ritual do
repertrio garante caractersticas particulares a ele, aliados a outros aspectos como o texto
dirigido ao dono da casa a ser visitada, o instrumental composto pelo tamborino e pela
flauta mimb; estrutura solista cantada pelo rezador; referncia mtrica prosdica com
maior ou menor ndice de subordinao; msicas cantadas em portugus ou nheengat,
relaes tonais ou em Bar (categoria nativa relativa lngua indgena).
Em funo das caractersticas peculiares, o repertrio de caminho de santo
proporciona nveis sonoros diferenciados e que coadunam com significados tambm
distintos. Desta maneira, a estrutura solista que confere ao rezador -tamborineiro prioridade
na execuo das msicas, exclui os demais participantes da experincia sonora, ainda que
se tenha conhecimento que msicas esto sendo cantadas em honra ao santo. Ao longe,
porm, se ouve as batidas firmes do tamborino, anunciando a passagem do santo, irradiando
sua presena ao longo do espao fsico audvel do bairro.
O momento do Correr ou roda de bebidas constitui um dos rituais fixos que se
estabelecem na ordem cronolgica das festas de santo, pode ser compreendido como um ato
de troca ritualizada e possui algo da partilha que permeia todo o acontecimento das festas
de santo. Este um dos momentos em que fica patente a representatividade do ritual do
dabokuri dentro da estrutura e significado das festas de santo, podendo ser feito um
paralelo entre ambos os acontecimentos a partir dos seguintes referenciais: ingesto de
bebidas, danas/coreografia, repertrios. O ritual do dabokuri extensivo a todo o vale do
Rio Negro, adquirindo coloraes especficas a depender do contexto em que se apresenta,
se urbano ou rural. Consiste num sistema de troca ritualizado, em que ocorre a permuta de
bens cuja confeco exclusiva a cada etnia, justificando a realizao do ritual. O dabokuri
uma das matrizes que identificam o vale do Rio Negro como rea etnogrfica pois
funciona como canal de comunicao entre as diversas etnias que residem ao longo do rio.
No bairro da Praia, este ritual pode ser realizado de forma a explicitar ou ratificar a
pertena indgena em situaes que o exijam, tal como a chegada de um visitante, ou, de
maneira menos consciente, servindo como fundamento scio-cultural regulador de prticas
novas, como nas festas de santo.
O repertrio de correr possui algumas caractersticas que o justificam enquanto
repertrio e lhe conferem unidade e identidade: o fato de ser cantado integralmente em
nheengat, com danas e coreografias mimticas que revelam o texto sobre animais e sendo
as msicas organizadas segundo uma clula motvica identificada como Bar e em
referncia mtrica prosdica.
A percepo da identidade indgena manifesta no repertrio de santo das festas do
bairro da Praia requer um conhecimento dos enclaves tnicos que compem o cenrio do
bairro, onde ndios de origens distintas, de etnias tambm distintas em contato com as
frentes ideolgicas ocidentais, esto articulados segundo uma lgica prpria de
relacionamentos intertnicos, cujos tentculos perpassam os diversos repertrios que fazem
parte do conhecimento musical dos moradores.
Msica e Identidade Indgena na Festa de Santo Alberto
O bairro da Praia oferece um mosaico tnico que permite estabelecer um quadro
analtico sinalizador dos enclaves tnicos que perpassam todas as dimenses scio-
culturais. Para esta percepo, o trabalho de Santos (1983) foi fundamental ao definir como
categorias distintas as diversas etnias, o caboclo/Maku, da regio e de fora na cidade de
So Gabriel da Cachoeira na dcada de oitenta. A noo de frico intertnica de Oliveira
(1976) permite vislumbrar a dinmica das orientaes simblicas que permeiam as prticas
dos habitantes do bairro, pondo em contraste e conflito os conceitos de modernidade e
primitivismo, segundo a concepo mica equivalente cultura ocidental e a tradicional
indgena. Tais categorias so pertinentes ao contexto do bairro da Praia e tm seus
desdobramentos sobre os repertrios das festas de santo.
Para uma compreenso da identidade indgena manifesta nestes repertrios
necessrio sublinhar alguns aspectos estruturais analticos: ao considerar-se as festas de
santo como uma manifestao calcada em duas matrizes culturais - a litrgica catlica e o
ritual do dabokuri - eixos identitrios emergem enquanto agentes aglutinadores de
referenciais simblicos de identidade tnica, sendo possvel categoriz-los como o ritual do
dabokuri e a lngua.
Sob o modelo litrgico catlico, o ritual do dabokuri emerge enquanto orientao
simblica, em que prticas e significados das festas de santo encontram paralelos nos rituais
de bebida, danas com coreografia e oferta/troca ritualizada. A lngua, principal
mecanismos de identificao tnica, estabelece fronteiras scio-culturais no lcus urbano
tanto quanto na estrutura interna das festas de santo e de seus repertrios. Verifica-se que,
tendo a lngua como categoria analtica eixo, torna-se possvel vislumbrar as fronteiras
entre os sistemas musicais representados pelas msicas dos trs repertrios bem como sua
significncia tnica, dada a equivalncia da lngua Bar com o Nheengat.
A categoria lngua fornece subsdios para perceber o feixe de luz que se estende a
partir do prisma identidade tnica no bairro da Praia, evidenciando o contraste entre os
conceitos cunhados por Oliveira (1976) de ndio genrico e identidade constrastiva. Tal
contraste se d na medida em que os repertrios permitem, atravs da lngua, identificar a
noo generalizante das festas de santo enquanto categoria que engloba todas as etnias
transfigurando-as em coisa de ndio ou coisa de caboclo, anulando a diversidade tnica,
em contraposio proeminncia da etnia Bar que, atravs da equivalncia das lnguas
Bar e nheengat, fortalecem e mantm o sinal de alteridade.
As categorias nativas, porm, deixam bem claro duas colunas estruturais: de um
lado, o cultural, referente s prticas tradicionais indgenas em que esto inclusos o ritual
do dabokuri, as lnguas indgenas e os repertrios tradicionais e, do outro lado, o de fora,
em que as festas de santo esto inseridas, juntamente com as rezas e as lnguas portugus e
latim. Uma outra categoria nativa, porm, engloba ambas as colunas num termo
generalizante: da regio, em que pese a temporalidade e espacialidade do evento festa de
santo, presente em todo o vale do Rio Negro e realizado por grande parte da populao
indgena.
O bairro da Praia oferece um leque de prticas musicais que no esto circunscritas
s festas de santo e, sim, emergem atravs destas na medida em que possuem como
fundamento o ritual do Dabokuri, fonte de onde jorra os repertrios ditos tradicionais. O
conhecimento musical destes diversos repertrios se estratifica segundo as faixas etrias e
dimenso cultural a que esto vinculadas, tal como acontece com as msicas especficas de
benzimento, por exemplo. Conclui-se, ento, que as festas de santo funcionam como um
portal que transporta a um valor cultural bastante pronunciado - o Dabokuri.
As festas de santo que ocorrem no bairro da Praia, constituem exemplo de re-
leituras e revalidaes de prticas inovadoras em que o substrato cultural indgena se
manifesta de forma significativa, explicitando a identidade indgena em vrias faces. Tais
festas, possivelmente implementadas por missionrios jesutas desde o processo
colonizador do sculo XVI, constituam um modelo litrgico que deveria ser interiorizado
em cada comunidade visitada pelos missionrios, ainda que propcio a aberturas e frestas
que escapassem vigilncia dos padres, nem sempre presentes no cotidiano das mesmas.
Considerando o lapso histrico, verifica-se que, sob tais modelos litrgicos, emergia os
valores culturais maiores a partir dos quais as festas de santo passariam a adquirir
coloraes e caractersticas prprias, constituindo um fato novo incorporado s prticas
tradicionais.
Referncias Bibliogrficas.
SANTOS, Antonio Maria de Souza. Etnia e urbanizao no Alto Rio Negro: So Gabriel
da Cachoeira: AM. Diss. de mestrado. Porto Alegre: UFRGS. 1983.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, Etnia e Estrutura Social. So Paulo: Livraria
Pioneira. 1976.
Memrias de um rio irlands: explorando tcnicas composicionais
Lourdes J osli da Rocha Saraiva
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
musas@zaz.com.br
Resumo: Memrias de um rio irlands (1999), composio para flauta solo, de Lourdes Saraiva,
utiliza um princpio tcnico de entrelaamento de alturas e duraes baseado em caractersticas da
arte celtica. A matria prima utilizada na construo meldica e rtmica extrada de fragmentos de
melodias folclricas irlandesas. A pea resulta em uma multiplicidade de ambientes sonoros e gestos
expressivos (envolvendo tcnicas expandidas da flauta), com a inteno de situar o imaginrio do
ouvinte aos sons da natureza que envolvem a paisagem de um rio, como florestas, canto de pssaros,
vento etc. Do processo composicional envolvido nesta pea, conclui-se que: elementos musicais e
no musicais podem ser pontos de partida para a composio de uma pea; o material de alturas e
duraes, partindo de uma matriz serial, pode ser utilizado de forma no ortodoxa, sendo uma
alternativa para a definio do idioma musical de uma pea ou do compositor.
Palavras-chave: composio musical, tcnica composicional, flauta transversa.
Abstract: In her Memrias de um rio Irlands(1999), a work for solo flute,
composer Lourdes Saraiva makes use of the technical principle of
interlacement of pitch and length, from pre-established serial matrixes,
based on elements of Celtic Art. The building material used in both melody
and rhythm is extracted from fragments of Irish folk melodies. This piece
represents a multiplicity of sounding environments and expressive gestures
(involving expanded techniques for the flute) in order to place the
listener's imaginary in the sounds of Nature implied by the view of a river,
such as forests, bird songs, wind, etc. From the composition process
involved in this piece, one can make this conclusion: both musical and
non-musical elements can be a starting point for the composition of a piece;
the material of pitch and length from a serial matrix can be used in a
non-orthodox way, being an alternative for the definition of the musical
language of a piece or even the composer's.
Keywords : Musical composition; compositional techniques; flute.
Memrias de um rio irlands constitui-se em um nico movimento para flauta solo.
Foi composta entre agosto e setembro de 1999 durante o Curso de Mestrado em
Composio, na UFRGS, sob orientao de Antnio Borges Cunha.. A motivao
composicional originou-se em uma viagem Irlanda realizada pela compositora em 1995.
Dessa experincia, a imagem de um rio, a arte celtica e a msica folclrica irlandesa foram
os elementos que instigaram a elaborao da sonoridade e do princpio tcnico - em virtude
de possurem em comum a idia de fluidez. A imagem de um rio, a que o titulo se refere,
serviu de metfora expresso musical. A fluidez de suas guas com diferentes velocidades
em seu percurso e seus sons decorrentes resultando em guas calmas e guas agitadas
sugeriram a alternncia de andamentos entre as sees, a instabilidade no ritmo interno de
cada seo e a projeo variada do registro. Na esfera da arte celtica, a caracterstica dos
desenhos abstratos em espirais entrelaados e dos padres em ziguezague encontrados nas
pedras dos santurios pagos do perodo Neoltico ou das iluminuras irlandesas (figuras 11a
e 11b) serviu de estmulo para a formulao de uma tcnica de entrelaamento do material
de alturas e de duraes oriundos de fragmentos de melodias folclricas irlandesas.
Figura 11a: Pedra decorada na entrada do santurio pago em New Grange -
Irlanda, 3000 a.C. Foto da autora deste trabalho.
Figura 11b: pgina do Evangelho de Lindisfarne, final do sculo VII - iluminura
irlandesa (ARNOLD, 1997, p. 28).
Da msica folclrica irlandesa foram selecionados quatro fragmentos meldicos
para flauta, transcritos do CD Mary Bergin - feadga stin 2. Desses fragmentos, dois
apresentam andamento lento, e dois, andamento rpido (figura 12).
Figura 12: Fragmentos transcritos de melodias folclricas irlandesas.
O processo composicional de Memrias de um rio irlands ocorreu em trs etapas: a
primeira consistiu na concepo da sonoridade; a segunda, na elaborao do ''material
bruto'' de alturas e de ritmo atravs de tcnica especfica; a terceira compreendeu a
definio da forma.
Concepo da sonoridade
A sonoridade de Memrias de um rio irlands foi concebida focalizando as
seguintes caractersticas: comportamento rtmico instvel; iseno de definio mtrica;
alternncia de andamentos; incluso de tcnicas expandidas; gestos oscilantes em trmulos,
frulatos e trinados; multiplicidade de articulaes; uso variado de ornamentao; e gestos
impulsivos.
Organizao formal
A pea est organizada em 5 sees, conforme a figura 13. O principal elemento que
delineia a forma de Memrias de um rio irlands a relao andamento-proporo das
sees. No decorrer da pea as sees em Moderato tendem a diminuir o nmero de
unidades de tempos (seo 1=82, seo 3= 59, seo 5= 39), enquanto as sees em Vivo
aumentam (seo 2=27, seo 4=41). As sees em Moderato caracterizam-se pela
ampliao relativa do registro e o uso de tcnicas expandidas, como chave percutida e
microtons. Nas sees em Vivo as tcnicas expandidas esto ausentes. Apesar da
alternncia de andamentos entre as sees, a idia da fluidez temporal est sempre presente.
As zonas de transio entre as sees apresentam modificaes de andamento em
acellerando ou rallentando como uma ligao espontnea ao andamento apresentado na
seguinte seo, em Vivo ou Moderato. Por exemplo, o acelerando no final da Seo 1 em
Moderato prepara o andamento Vivo da Seo 2 (exemplo 9).
Seo 1 Seo 2 Seo 3 Seo 4 Seo 5
Andamento
Moderato
Vivo
Moderato
Vivo
Moderato
Unidades de
tempos
1-82 83-109 110-168 169-209 210-250
N. de unidades de
tempos
82
27
59
41
39
Registro
Agudo
Grave
Agudo
Mdio
Agudo
Grave
Agudo
Mdio
Agudo
Grave
Tcnicas
expandidas
Microtons
(7 vezes) e
Chave
percutida
1 Microtom
na ltima
nota
Chave
percutida e
microtons
(3 vezes)
Ausente
Chave
percutida e
microtons
(7 vezes)
Figura 13: Memrias de um rio irlands: Organizao formal.
Ex. 9: Memrias de um rio irlands: zona de transio em acellerando. (sees: 1 - Moderato 2 - Vivo:
U.T: 73-91).
Tcnicas composicionais
A tcnica utilizada em Memrias de um rio irlands est direcionada
extrapolao do material das alturas e do ritmo, oriundos de fragmentos de quatro melodias
folclricas irlandesas mostradas na figura 12. Partindo desses fragmentos, foi realizado um
processo seletivo de alturas e respectivas duraes com o objetivo de formar quatro grupos
que serviram de material bsico para a tcnica proposta. Dos fragmentos A, B e C foram
selecionadas as quatro primeiras alturas e as respectivas duraes - excluindo as repeties.
Do fragmento D extraram-se a 1, 2, 5 e 3 altura e duraes correspondentes por
apresentarem melhor configurao meldica (figura 14).
Figura 14: grupos bsicos de alturas e duraes.
A extrapolao dos materiais de alturas e de ritmo a partir dos grupos bsicos 'a', 'b',
'c' e 'd' realizada em etapas separadas, com o objetivo de gerar maiores possibilidades de
combinao no processo final de juno das alturas com o ritmo. Em ambos os materiais
utilizado o mesmo princpio tcnico denominado de entrelaamento. Esse princpio consiste
em unir pares de grupos, alternando os elementos de um com os elementos de outro,
conforme explicao a seguir.
Elaborao do material de alturas
O material de alturas utiliza os grupos bsicos 'a', 'b', 'c' e 'd' e suas respectivas
inverses (figura 15), como ponto de partida para gerar sries de 8 e, posteriormente, 16
sons. Na primeira etapa, esse processo consiste em combinar todos os grupos em pares,
intercalando as alturas de um grupo com as alturas de outro, em uma espcie de
entrelaamento das duas linhas meldicas, gerando 4 conjuntos de 12 sries com 8 alturas,
totalizando 48 sries (figura 16).
Figura 15: grupos bsicos de alturas e respectivas inverses.
Figura 16: sries de 8 sons.
A segunda etapa consiste em gerar sries de 16 sons a partir da combinao de
pares de sries de 8 alturas, em seus respectivos conjuntos. A combinao dos pares segue
o direcionamento em forma espiral, em cada conjunto (figura 17). Essas combinaes
geram 4 conjuntos de 6 sries de 16 notas, totalizando 24 sries (figura 18).
Figura 17 : combinaes em forma espiral.
Fig. 18: 24 sries de 16 alturas.
A extrapolao do material bsico de alturas em sries de 8 e 16 notas resultou em
desenhos meldicos com intervalos variados, ocorrncias cromticas e notas recorrentes.
Elaborao do material rtmico
Assim como no material de alturas, a tcnica de entrelaamento tambm
empregada para a organizao e extrapolao do ritmo. O entrelaamento das duraes, a
partir dos grupos bsicos de 4 elementos, gerou sries de 8 e 16 elementos. A mesma
seqncia combinatria de pares de grupos ou sries tambm utilizada no ritmo. Porm,
se nos grupos de alturas empregou-se a tcnica de inverso, no ritmo utilizou-se a
retrogradao (figura 19a, 19b, 19c).
Figura 19a: grupos bsicos de duraes e respectivas retrogradaes.
Figura 19b: Sries de 8 duraes organizadas em unidades de tempo em semnimas.
Figura 19c: sries de 16 duraes.
O processo de entrelaamento de duraes envolveu, numa etapa posterior, a
incluso de pausas. Esta realiza-se somente nas sries com 16 elementos e sob duas formas:
a primeira, de forma no sistemtica; e a segunda, de forma sistemtica, em que os grupos
bsicos de quatro elementos so convertidos em pausas e intercalados s sries de duraes.
A partir da totalidade do material de alturas e ritmos, foram selecionadas e
combinadas sries para cada seo, utilizadas de maneira flexvel. As sees 1, 3 e 5, em
Moderato, apresentam combinao de sries de alturas com grupos rtmicos que incluem
pausas (exemplo 10). Ao contrrio, as sees 2 e 4, em Vivo, utilizam grupos rtmicos sem
pausas para enfatizar o carter agitado (exemplo 11).
Ex. 10: Memrias de um rio irlands: seo 1 - Moderato (unidades de tempo:1-32).
Ex. 11: Memrias de um rio irlands: seo 2 - Vivo (unidades de tempo: 83-109).
O processo de composio de cada seo envolveu a incluso de gestos novos
diferenciados do material de alturas e ritmos combinados, com o objetivo de caracterizar as
sees gerando variedade e interesse. Esses gestos compem-se de: gestos em grupos de
semicolcheias, constitudos por percusso na chave (exemplo 12a); gestos impulsivos,
definidos por um movimento em acellerando (exemplo 12b); e gestos oscilantes, definidos
pela alternncia de elementos, como arpejos ascendentes e descendentes, trinados e
trmulos (exemplo 12c).
Ex. 12a: Memrias de um rio irlands: seo 1 - Moderato (U.T : 1 a 10):
semicolcheias com percusso na chave (x) .
Ex. 12b: Memrias de um rio irlands: seo 3 - Moderato (U.T : 157 a 168):gesto
impulsivo (x).
Ex. 12c: Memrias de um rio irlands: seo 4 - Vivo (U.T : 169-180): gestos
oscilantes em arpejos(x), trinados (y) e trmulos (z).
Foram empregadas tambm citaes dos fragmentos das melodias folclricas como
uma forma de condensar por um instante a origem de todo o material extrapolado. No
entanto, as citaes no so literais, havendo modificaes no ritmo e/ou no direcionamento
meldico. As citaes ocorrem nas sees 2, 3, 4 e 5, definindo o andamento (exemplos
13a, 13b, 13c, 13d). Assim, as melodias rpidas correspondem s sees rpidas; e as
lentas, s sees lentas. Na seo 1 no h citaes.
Ex. 13a: Memrias de um rio irlands: seo 2 - Vivo: citao: Gus Jordan's (x).
Ex. 13b: Memrias de um rio irlands: seo 3 - Moderato: citao: Seolfaimid
Araon na Ganna Romhainn (x).
Ex. 13c: Memrias de um rio irlands: seo 4 - Vivo: citao: The Blackhaired
Lass.
Ex.13d: Memrias de um rio irlands: seo 5 - Moderato: citao: Bright Vision (x).
Do processo composicional envolvido nesta pea, conclui-se que: elementos
musicais e no musicais podem ser pontos de partida para a composio de uma
pea; o material de alturas e duraes, partindo de uma matriz serial, pode ser
utilizado de forma no ortodoxa, sendo uma alternativa para a definio do idioma
musical de uma pea ou do compositor.
REFERNCIAS BIBLIOGRAFICAS
ARNOLD, Bruce. Irish art : a concise history. Singapore : THAMES AND
HUDSON, 1997.
DALLIN, Leon. Techniques of twentieth-century composition : a guide
to the materials of modern music. Iowa : WM.C. Brown Company
Publishers, 1976.
DICK, Robert. The other flute : a performece manual of contemporary
techiques. 2. ed. New York : MMB Music, 1989.
DOCZI, Gyrgy. O poder dos limites. So Paulo : Mercuryo, [s.d.].
FRANOIS, Jean-Charles. Organization of scattered timbral qualities : a
look at Edgard Varses ionization. Perspectives of New Music. San
Diego,v. 29, n. 1, p. 06-79. WINTER 1991.
O Teatro So Joo desta Cidade da Bahia: 1806-1821, a criao e o
estabelecimento estgio atual da pesquisa
Lucas Robatto
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
lrobatto@ufba.br
Resumo: O profissionalismo artstico de carter profano nas ltimas dcadas do Brasil
colonial um tpico atualmente pouco estudado pela musicologia. A pesquisa em andamento
sobre a documentao recentemente encontrada, relativa aos primrdios do Teatro So Joo
da Cidade da Bahia (1806-1821), tem possibilitado o delineamento de diversos aspectos da
vida cultural de ento. Esta pesquisa est presentemente encerrando a sua primeira fase com a
concluso do levantamento e classificao da documentao, e da transcrio daqueles
referentes criao deste teatro e s atividade artsticas e tcnicas envolvidas nas
apresentaes pblicas. J podendo lanar um olhar detalhado sobre o funcionamento e papel
sociocultural de um teatro neste perodo, esta pesquisa tem revelado vrios personagens
envolvidos nesta empresa (artistas, tcnicos, mantenedores e freqentadores). Alm da
ampliao do escopo das atividades da musicologia no Brasil, esta pesquisa pretende criar
subsdios para interaes mais slidas da musicologia com outras reas de conhecimento, tais
como histria, sociologia, teatro, dana, arquitetura, etc.
Palavras-chave: musicologia histrica, Teatro So Joo da Cidade da Bahia, histria
sociocultural
Abstract: The secular artistic professionalism during the last decades of colonial Brazil is a
musicology's less studied field. The ongoing research recently located documents on the
creation of the So Joo Theater in Bahia (1806-1821), and made possible the outlining of
several aspects of the cultural life then. This research project is currently closing its first stage
by finishing the survey and classification of all documents found, as well the transcriptions of
those related to both the theater's creation and the artistic and technical activities involved in
performances. It is already possible to draw a detailed picture of this theater's functioning and
sociocultural role during that period, and several persons involved in this enterprise could be
identified (artists, technicians, trustees and audience). The current research aims to not only
widen the focus of the musicology in Brazil, but also to create conditions for more concrete
interactions between musicology and other areas of knowledge, such as history, sociology,
drama, dance, architecture, etc.
Keywords: historical musicology, Teatro So Joo da Cidade da Bahia, sociocultural history
Introduo
O Teatro So Joo desta Cidade da Bahia (como conhecido na poca de sua
criao) foi o palco principal da representao dos valores culturais, estticos e
polticos da elite baiana, e tambm foi testemunha das mudanas que ocorreram nesta
sociedade, em um perodo decisivo para a consolidao do Brasil enquanto nao
independente, at mesmo em termos culturais.
Criado em 1806, inaugurado em 1812 e destrudo por um incndio em 1923,
este teatro foi tambm um ponto de encontro da sociedade desta cidade, na sua
totalidade. A elite de negociantes e altos funcionrios como freqentadores e
mantenedores; camadas intermedirias de profissionais liberais e baixo funcionalismo
tanto como artistas ou tcnicos envolvidos na produo artstica, quanto competindo
pelo prestgio social conferido aos freqentadores; e aos escravos, que circulavam
entre os camarotes durante as apresentaes, ou esperavam seus senhores do lado de
fora, fazendo desta espera uma festa.
A documentao de que esta pesquisa primordialmente se ocupa foi
recentemente localizada no Arquivo Pblico do Estado da Bahia,
1
e nos permite
lanar um olhar detalhado sobre um tpico atualmente pouco estudado pela
musicologia: o profissionalismo artstico de carter profano nas ltimas dcadas do
Brasil colonial, e suas implicaes socioculturais.
O Projeto de Pesquisa
O presente projeto tem por objetivos especficos:
1) Levantamento dos profissionais atuantes no Teatro So Joo no perodo enfocado
- artistas (atores, msicos, danarinos, cengrafos, etc.), tcnicos cenogrficos
(contra-regras, ponto, alfaiates, etc.) e administradores.
2) Levantamento das atividades do Teatro So Joo no perodo enfocado - o
repertrio executado ou disponvel a poca, a freqncia dos espetculos e os
custos e receitas destas atividades.
3) Levantamento de informaes sobre a criao e construo do Teatro So Joo -
seus fundadores, investidores e a descrio do sistema de loterias que possibilitou
a captao de recursos para o teatro em momentos cruciais.
4) Levantamento do freqentadores Teatro So Joo no perodo enfocado.
5) Levantamento de informaes arquitetnicas do prdio.
Este projeto pauta-se basicamente no levantamento e anlise de fontes
documentais e bibliogrficas, sendo as informaes obtidas avaliadas critica e
historiograficamente. A pesquisa foi dividida em trs linhas gerais de ao distintas
que, no entanto, devido ao seu carter auto-complementar, tem ocorrido
paralelamente, apesar da nfase inicial ter sido conferida ao tpico 1) abaixo. So as
trs linhas gerais de ao:
1
Seo colonial, maos 617 a 624.
1) Levantamento, classificao arquival e avaliao dos documentos relativos ao
Teatro So Joo existentes no Arquivo Pblico do Estado da Bahia.
2) Levantamento, classificao arquival e avaliao dos documentos relativos ao
Teatro So Joo existentes em outros arquivos que ainda venham a ser
considerados como relevantes ao decorrer da pesquisa.
3) Levantamento e avaliao de publicaes que tratem do Teatro So Joo.
Esta ltima linha de ao dividida da seguinte forma:
a) Levantamento e avaliao da literatura contempornea ao perodo
enfocado (1806-1821) jornais, relatos, etc. que tenham por objeto o
teatro So Joo.
b) Levantamento de bibliografia posterior que tenha por objeto o teatro So
Joo no perodo enfocado.
c) Levantamento de informaes biogrficas referentes aos personagens desta
pesquisa, isto , profissionais atuantes, idealizadores, mantenedores e
freqentadores do Teatro So Joo no perodo enfocado
d) Levantamento de informaes referente ao carter das manifestaes
artsticas ocorridas, assim como das implicaes do teatro, enquanto
instituio e edifcio, no perodo enfocado
e) Levantamento de repertrio artstico (tentativa de identificao e resgate
do repertrio teatral, musical e coreogrfico executado no Teatro So Joo
durante o perodo enfocado).
Os produtos esperados destas pesquisas so a disponibilizao dos
documentos inditos localizados - em transcries, a relao da bibliografia pertinente
levantada, e a publicao de anlises crticas das informaes levantadas.
O Estado Atual da Pesquisa
Presentemente a pesquisa est sendo executada por uma equipe de duas
pessoas (pesquisador e bolsista) e conta com o apoio do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciao Cientfica - Pibic/CNPQ - UFBa, alm de contar com o auxlio
voluntrio de alguns colegas e alunos.
Recentemente foi concludo o levantamento e a catalogao da documentao
encontrada no Arquivo Pblico do Estado da Bahia, para tanto tendo sido
desenvolvido um sistema de catalogao que contemplasse a grande variedade de
diferentes tipos de documentos ali constantes. Paralelamente vem sido construdo um
banco de dados integrado, que possibilite o cruzamento de informaes entre os
diferentes documentos e tipos de documentos. Atualmente esta documentao se
encontra sob anlise crtica, e j foi possvel a confeco de algumas tabelas
sintetizando informaes diversas, tais como a lista das apresentaes pblicas da
primeira temporada (1812-1813),
2
e a lista parcial dos artistas e tcnicos envolvidos
nesta mesma temporada.
3
O levantamento de dados bibliogrficos foi iniciado, j tendo sido recolhida e
parcialmente analisada a literatura posterior especfica sobre o Teatro So Joo,
bibliografia esta exgua.
4
A literatura contempornea sobre o Teatro So Joo se
encontra na fase de localizao, j estando em adiantado estado de levantamento,
sendo alguns poucos exemplos j analisados. As buscas pelo repertrio artstico j
levantado tm se mostrado bastante incipientes, devido s extremas dificuldade de
acesso e pesquisa a este tipo de material.
Alguns Resultados J Alcanados
A exigidade de espao aqui somente nos permite a divulgao de alguns dos
muitas resultados e concluses j alcanados ao decorrer desta pesquisa. O critrio
principal para a incluso destes no presente trabalho o ineditismo dos tpicos.
Aspectos Socioculturais da Criao do Teatro
A criao do Teatro So Joo na Cidade da Bahia em 1806, pelo Conde da
Ponte, Governador da Bahia, e a sua inaugurao em 1812 promovida pelo sucessor
deste, o Conde dos Arcos, apontam para a existncia de uma poltica cultural por
parte do governo local, poltica esta moldada em modelos iluministas e voltada
exclusivamente para atender a elite poltico-social. A criao deste teatro aponta
tambm para o carter cnico que o modelo de representao simblica do poder
assumiu no imprio ultramarino portugus, especialmente no perodo do
estabelecimento da corte nas Amricas. Este modo de representao do poder
5
freqentemente ocorria nos palcos de teatros. de se admirar, no entanto, que j em
2
C.f. tabela 1 em anexo.
3
C.f. tabela 2 em anexo.
4
Os nicos trabalhos substanciais a tratarem especificamente deste tpico so Boccanera, 1915 e 1924;
Ruy, 1959 e 1967; Querino, 1909 e Neves 2000.
1806 quando no se cogitava no deslocamento da corte portuguesa para o Novo
Mundo que os governantes da Bahia se preocupassem com a criao de um vistoso
teatro.
A criao do Teatro So Joo segue o modelo adotado em Lisboa em 1771
pelo Marqus de Pombal para o subsdio dos teatros pblicos, que resultou na
construo do Teatro So Carlos de Lisboa. Entre os diversos paralelos
encontrados em ambas as justificativas para a existncia do teatros em Lisboa e na
Bahia, destaca-se o modelo de teatro pblico enquanto um instrumento
civilizador, que age "insensivelmente.
6
" Enquanto que em Lisboa o carter
ostentatrio de uma tal empresa igualmente realado,
7
na Bahia as
consideraes morais so mais fortes do que as polticas.
8
Na Bahia, o teatro serviria como escola de convivncia social. Contudo deve-se
ressaltar que esta convivncia ocorria "no centro dos mais indivduos da sociedade",
ou seja, a camada superior desta sociedade altamente estratificada e hierarquizada.
Uma outra observao importante que ambas as iniciativas, a de Lisboa e a da Bahia,
j contemplavam e demandavam, de maneira implcita (em Lisboa) ou explcita (na
Bahia), a presena do censor.
Outro aspecto em comum entre estes empreendimentos culturais da metrpole
e da colonia o carter das relaes entre a iniciativa governamental e o capital
privado. Tanto em Lisboa quanto na Bahia, o governo (l o Marqus de Pombal, e aqui
o Conde da Ponte - ambos nobres) permitiam e incentivavam a iniciativa privada a
5
Modelo que vem sendo delineado em trabalhos historiogrficos recentes, a exemplo de Malerba,
2000.
6
interessante notar aqui que esta noo de educao no-percebida-como-tal, provida pela arte,
parece ser uma constante desta poca: em 1817, um redator germnico annimo recomendava a msica
de Haydn para os brasileiros, pela capacidade desta de "atuar de modo benfico e imperceptvel" na
formao musical das pessoas. Allgemeine Musicalische Zeitung XIX, (1817), p. 351.
7
"O grande esplendor e utilidade, que resulta a todas as naes do estabelecimento dos teatros
pblicos, por serem estes, quando bem regulados, escola, onde os povos aprendem as mximas ss da
politica, da moral, do amor da ptria, do valor, do zelo, da fidelidade, com que devem servir os seus
soberanos: civilizando-se e desterrando insensivelmente alguns restos de barbrie, que neles deixaro
os sculos infelizes da ignorncia." (Citado em Benevides, 1883, pp. 12-13).
8
"Reconhecendo ser o espetculo teatral o entretenimento geralmente adotado pelas Naes
Civilizadas para distrair, e entreter a mocidade de uma populosa cidade naquelas horas, em que o cio
parece convid-la a precipitar-se em vcios perniciosos, alem do beneficio incalculvel de habitu-la a
viver no centro dos mais indivduos da sociedade, hbito, que insensvel e espontaneamente contrado
se torna um freio quase invencvel a conter o homem mais relaxado, inspirando-lhe o amor a estimao
de seus iguais, e o brioso receio de ser por eles desprezado, utilidades inseparveis deste espetculo
ainda quando pela sua m direo, e tolerada relapso no produzisse a correo dos prprios defeitos
pela sensvel, e tocante maneira, com que devem aparecer repreendidos, e castigados, nem se
conseguisse aperfeioar a linguagem pela inabilidade, a condescendncia de um revisor na aprovao e
realizar a empresa teatral. O governo organizava, dava o seu aval, fiscalizava e
facilitava o funcionamento de tais empresas. "Homens de negcio" (e no nobres,
note-se bem), por sua vez, criariam uma sociedade de cotas (ou aes), muito
semelhante s sociedades annimas atuais (ou seja, sociedades que aferem parcelas da
propriedade e do lucro.
O governo tambm nomeava e controlava as atividades da administrao do
teatro. J na criao do Teatro So Joo foram nomeados dois negociantes de grande
prestgio social,
9
juntamente com um artista (como diretor do teatro).
10
A crise que
logo ocorreu entre eles sintomtica das diferentes concepes de trabalho entre um
cantor italiano, oriundo da pequena burguesia europia, e dos negociantes baianos, que
assimilaram atitudes nobilirquicas. Este diretor, em posse dos primeiros capitais
disponveis para a construo do teatro, toma duas atitudes que o colocam em atrito
com os outros administradores:
1) Entende que tais recursos seriam o seu salrio.
2) Prope a construo de casas de aluguel no terreno do teatro, fornecendo
assim uma fonte adicional de rendas para a empresa.
A reao dos outros administradores no foi a que se esperaria de "homens
de negcio": eles entenderam que os cargos desta empresa teatral - incluindo os
seus prprios - seriam cargos de prestgio, e no remunerados, sendo que as
eventuais vantagens advindas deste projeto seriam semelhantes s dos outros
acionistas. Estes negociantes tambm entenderam que no seria oportuno fazer
nenhuma outra obra alm do teatro em si, por mais lucros que estas outras obras
pudessem acrescentar ao empreendimento.
Aps uma espcie de inqurito, onde "pessoas de confiana" do
governador foram consultadas (outros negociantes, diga-se de passagem), o
governador d razo total aos negociantes, destituindo o diretor e proibindo
qualquer outra obra alm do prdio do teatro.
Este conflito demonstra uma diferena de concepes sobre a natureza da
empresa teatral. Um artista profissional a encara como o que hoje entenderamos
como um "empreendimento" visando o lucro da empresa e o pessoal. J os outros
reprovao das peas, que lhe forem a censurar." Portaria de 21 de agosto de 1806, assinada pelo
Conde da Ponte, Governador Geral da Bahia (APE-Ba, seo colonial, mao 624)
9
Como administrador, Manoel Jos Machado, e como tesoureiro Manoel Jos de Mello, ambos ricos
comerciantes de escravos.
administradores renunciam ao lucro e aos ganhos pecunirios pessoais; seus
ganhos so de prestgio e poder frente ao governador. Esta ltima atitude era a
postura caracterstica esperada da nobreza numa sociedade de corte, mas no de
negociantes burgueses. Este conflito de concepes pode ser acompanhado por
toda a histria do Teatro So Joo, e refletido nas diversas mudanas de atitude
da sociedade frente ao teatro.
Dias de Apresentao
Dentre os diversos documentos localizados no Arquivo Pblico do Estado
encontra-se o um livro das receitas e despesas do Teatro So Joo, que contem
informaes bastante detalhadas sobre o perodo compreendido entre a sua
inaugurao, em 13 de maio de 1812, e o incio de maro de 1813.
11
Aqui
encontro-se registros de renda e freqncia discriminada para cada dia de
apresentao.
12
Consultando as anotaes referentes s despesas, foram localizadas
informaes que pudessem fornecer subsdio para a identificao do repertrio
executado.
13
O cruzamento destas informaes documentais entre si e com fontes
bibliogrficas, possibilitou a elaborao de uma tabela com informaes relativas
s apresentaes realizadas durante o perodo em questo.
14
Sobre esta tabela, podem deduzir-se algumas informaes interessantes
sobre o funcionamento do Teatro So Joo: o perodo contnuo de apresentaes
registrado nesta documentao (13 de maio de 1812 a 3 de maro de 1813)
corresponde exatamente a temporada tradicional de um teatro europeu da poca,
iniciando-se logo aps a quaresma, e encerrando-se no carnaval. Sobre este
temporada, podemos constatar que das 73 apresentaes ocorridas em um perodo
de 44 semanas, a grande maioria das apresentaes ocorreu em domingos (37
domingos), e nenhum outro dia da semana repetido com tanta freqncia, o que
faz supor que os domingos eram os dias oficiais de apresentao. Os outros dias
com apresentaes podem ser divididos em alguns padres identificados:
10
O primeiro diretor nomeado do Teatro So Joo foi Pompilio Maria Panizza, um cantor italiano que
atuou em Lisboa entre 1801 e 1804 (Benevides, 1883, p. 84.
11
Seo colonial, mao 622.
12
Preos unitrios e valor total vendido para as seguintes categorias: bilhetes de assinatura, platia
geral, varandas camarotes, frisas e torrinhas
13
Geralmente registros de gastos com artistas e material cnico
14
C.f. tabela 1 em anexo.
1) Datas natalcias de dignitrios: aniversrios do Prncipe Regente, Rainha Me,
Prncipe do Beira e Governador da Capitania.
2) Benefcios, que geralmente ocorriam nos dias de quarta ou quinta feira. Uma
exceo foi o benefcio casa, realizado num domingo.
3) Dias de importncia religiosa: certos dias de devoo tradicionalmente festiva,
como So Joo ou Pentecostes, assim como o carnaval.
tambm curioso notar que as melhores bilheterias ocorriam em dias de
importncia simblica e poltica para a comunidade freqentadora (aniversrios
de dignitrios), e nos benefcios. O espao do teatro era um dos mais importantes
espaos para a representao do poder, uma representao as vezes bastante
literal, como o costume de se celebrar quadros de dignitrios, as vezes em cena
aberta. Entre os gastos registrados encontramos no dia 10 de dezembro de 1812,
uma semana antes do aniversrio de D. Maria I, gastos com a "Cambrainha para o
retrato da nossa Rainha."
Referncias Bibliogrficas
BENEVIDES, Francisco da Fonseca. O Real Theatro de S. Carlos de Lisboa desde a
sua fundao em 1793 at actualidade: estudo historico. Lisboa: Typ. C.
Irmo, 1883.
BOCCANERA JUNIOR, Slio. O theatro na Bahia: livro do centenrio (1812-1912).
Bahia: Officina do "Diario da Bahia", 1915.
________. O theatro na Bahia: da clonia repblica (1800-1923). Bahia: Imprensa
Official do Estado, 1924.
MALERBA, Jurandir. A corte no exlio: civilizao e poder no Brasil s vsperas da
independncia (1808 a 1821). So Paulo: Companhia das Letras, 2000.
NEVES, Maria Helena Franca. De la traviata ao maxixe: variaes estticas da
prtica do teatro So Joo. Salvador: SCT/FUNCEB/EGBA, 2000
QUERINO, Manuel Raymundo. Os Teatros na Bahia. Revista do Instituto Geogrfico
e Histrico da Bahia. Salvador, vol. 16, n. 35, 1909.
RUY, Affonso. Historia do teatro na Bahia: sculos XVI-XX. Salvador:
Universidade da Bahia, 1959.
________. O teatro na Bahia. In: Histria das artes na cidade do Salvador. Salvador:
Prefeitura Municipal do Salvador, 1967, p. 109-171.
ANEXOS
TABELA 1
APRESENTAES NO TEATRO SO JOO DESTA CIDADE
DA BAHIA
TEMPORADA 1812-1813
Siglas:
O = Orquestra
D = Dana
S = Soldados
M = Musica do Regimento
SG = segunda feira
T = tera feira
QA = quarta feira
QI = quinta feira
SE = sexta feira
SA = sbado
D = domingo
Dia O D S M Border Repertrio Obs.
13.05 T * 314$960 A Escosseza / Hymno Inaugurao / Aniversrio de D. Joo VI
17.05 D * 230$096 [Pentecostes]
24.05 D * 306$480 [Domingo da Trindade]
31.05 D * 187$120
14.06 D * 196$480
21.06 D * 327$840
24.06 QA * 207$520 Onomstico de D. Joo VI
28.06 D * 252$000
05.07 D * 91$760
12.07 D * 206$960
19.07 D * 46$240
23.07
[?!]
QI * [No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
25.07 SA ? 234$720
26.07 D * 137$520
02.08 D * 114$960
05.08 QA * 392$800 Beneficio de Maria da Conceio
09.08 D * 143$760
15.08 SA * 77$760 [Ascenso da Virgem]
16.08 D * 71$920
23.08 D * 222$400
24.08 SG * 83$120 [So Bartolomeu]
26.08
[?!]
QA * [No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
30.08
[?!]
D * [No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
02.09 QA * 389$520 Beneficio de Silva Reys
06.09 D * 137$200
08.09 T * 43$040 [Natividade da Virgem]
13.09
[?!]
D ? [No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
19.09 SA ? 135$920 [No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
20.09 D * 110$166
21.09 SG * 91$280 [So Mateus]
27.09 D * 81$760
04.10 D * 76$640
07.10 QA * 32$880
12.10 SG * 357$120 -Palafox
-Hino de Bomtempo
Aniversrio de D. Pedro
14.10 QA * 331$360
18.10 D * 46$960
19.10 SG * 288$240 [So Pedro de Alcntara]
22.10 QI * 308$560 Palafox
25.10 D * 158$080
26.10 SG * 21$360
01.11 D * 96$640
04.11 QA * 64$960
08.11 D * * * 239$360
15.11 D * 288$320
22.11 D * 278$640 [Santa Ceclia]
25.11 QA * 227$040 Beneficio de Antonio da Silva
29.11 D * * 263$120
30.11 SG * * 87$360 [Santo Andr]
06.12 D * 90$080
08.12 T * * 136$160 Bela Assassina [Imaculada Concepo]
13.12 D * * 254$080 Palafox
14.12
[?!]
SG * * ? [No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
17.12 QI 367$760 Aniversrio de D. Maria I
20.12 D * * 137$600
21.12 SG * * 105$520 Palafox [So Tom]
22.12
[?!]
T * * ? [No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
27.12 D * * * 110$400
31.12 QI * * * 87$520
06.01 QA 111$600 [Epifania]
10.01 D 64$160
14.01 QI * 73$120 ["viola no entremez"]
22.01 SE 232$800
31.01 D * * * 382$080 Beneficio da casa
02.02 T * * 100$080 [Purificao da Virgem]
04.02 QI ? Beneficio de Joo Olivete
[No tem no registro de entradas porm citado no
registro de saidas do mao 622]
07.02 D 61$280
14.02 D 74$320
17.02 QA * 111$680
21.02 D * 68$720
24.02 QA 83$040
28.02 D 23$600 [carnaval]
01.03 SG 36$960 [carnaval]
02.03 T 26$080 [carnaval]
73 apresentaes
TABELA 2
ARTISTAS E CENOTCNICOS ATUANTES NO TEATRO SO
JOO DESTA CIDADE DA BAHIA
TEMPORADA 1812-1813 (Lista Parcial)
Fontes Complementares:
ANDRADE, Ayres de. Francisco Manuel da Silva e seu tempo. Rio de Janeiro:
Edies Tempo Brasileiro, 1967.
BENEVIDES, Francisco da Fonseca. O Real Theatro de S. Carlos de Lisboa desde a
sua fundao em 1793 at actualidade: estudo historico. Lisboa: Typ. C.
Irmo, 1883.
BOCCANERA JUNIOR, Slio. O theatro na Bahia: livro do centenrio (1812-1912).
Bahia: Officina do "Diario da Bahia", 1915.
SUCENA, Eduardo. A dana teatral no Brasil. Rio de Janeiro: Fundacen/Minc, 1988.
NOME CARGO OBS.
Alberto Ventura Diaz Cmico
Anastacio Xavier Msico "Noites da orquestra em 1813"
Anna Roza Follia Cmica Hespanhola, chegou na Bahia em 11.10.12 [segundo o jornal
d'Ouro, n. 82/13.10.12]
Antonio da Silva Cmico
Antonio da Silva Reys Cmico (Graciozo)
Antonio Joaquim de Moraes Mestre da Msica
Antonio Joze de Souza Miranda Cmico
Antonio Marciano Comparse e Agente
Antonio Paulo da Silva Msico "Noites da orquestra em 1813"
Antonio Simoenz Cmico
Beatriz Severiana Diaz Cmica
Candido Francisco de Oliveira Copista (msico?) Noites da orquestra em 1812-1814 e cpias de
Candido Maximianno Msico "Orchestra" 1812, 1813
Cosme Damio Fidi Diretor do Teatro
Diogo Jos de Souza Msico "Noites da orquestra em 1813-1812"
Domingos Antonio Zuani Vendeiro?
Domingos Christa dOuro Costureiro? "por ordem de Isabel Ma. por hum vestido q se lhe deo"
Domingos J
e
. Miz Pena Porteiro "por 8 noites q servio de Porteiro em Dezbr
Domingos Jos Soares Porteiro
Domingos Luis ? "por conta do Ordenado"
Faustino Jos de Barros Msico "Noites da orquestra em 1812-1813"
Feliciano Euzebio de Lira [de
Leira] [de Lima]
Cmico
Felix Follia Cmico
[j falecido em 23.11.1814]
Fernando Joze da Silva Cmico
Francisca Anna Carnevali Danarina ("1a
Bailarina seria")
1812
Rio de Janeiro em 17.12.[Sucena, 34]
1813
Bahia - ordenado anual
Francisco de Souza Gouvea Msico - "Noites da orquestra em 1812-1813"
[S. Amaro 1761-1837 (s/instrumento), Boccanera, 1915, p.160]
Francisco Fernandes Msico "orchestra no anno de 1813"
Francisco Jos Fres Msico "orchestra no anno de 1813"
Francisco Marques Mestre [?] "por mandr
as
. que comprou "[?]
Francisco Vieira Msico "orchestra no anno de 1813"
Francisco Xavier Dias de
Figueredo
Vendedor de bilhetes
Francisco Xavier Victorio de
Menezes
?
Geovane Oliveto [cantor?] 1812
14.06 "Idem ao Italiano Oliveto 68 8$000"
15.06 "Idem a Geovane Oliveto p conta de seu ordenado 85 32$000"
29.06 "Idem ao Italiano Olivete p conta do seu ordenado 125
40$000"
1813
18.02 Benefcio em seu favor, realizado em 04.02
Ignacio Francisco Borgez Cmico ("1
o
galan")
Isabel Maria ?
Joo Baptista de Arajo Braga ?
Joo da Graa 1
o
Cmico (Diretor da
Companhia)
Joo da Matta Claveto Porteiro
Joo de Siqueira Msico/Afinador "afinador de Piano Joo de Siqueira para cordas e penas por
Joo Evangelista Msico "Noites da orquestra em 1813"
Joo Jos Cardozo ?
Joo Pereira Msico "Noites da orquestra em 1813"
Joaquim Braz Danarino "por entrar na dana "
Joaquim Caetano da Rocha
Moitinho
Mestre Alfaiate
Joaquim Esteves de Ferro Msico orchestra nos annos de 1812, e 1813
Joaquim Jos de Moraes Msico "Noites da orquestra em 1813-1814"
Joaquim Joz de Souza Ribeiro Ponto
Joaquim Ramos de Proena Cmico
Jos Cypriano Msico "Orchestra" [s/data]
Jos de Almeida [?] ?
Jos Ferreira Msico/Afinador Noites da orquestra em 1812-1813 e 4 afinaes
Jos Joaquim de Souza Negro Msico Orchestra - 1813
Jos Pereira Rebouas Msico "Noites da orquestra em 1813"
[Maragogipe 1789-1843 - Violino, Boccanera, 1915, p.160]
Joz Coelho ? "pela representao de 21 do [?]"
Joze Joaquim de Andrade Fiel
Joze Joaquim, Sargento Maquinista? "pela folha do Maquinismo do Benet
o
. da M
agosto, q ainda no tinha lansado"
Manoel de Souza Coutinho Mestre Pintor
Manoel dos Passos de S
t a
Rita Cmico, cantor e
danarino
Manoel Franco da Silva Comparse, e agente
Manuel Barrozo Msico "Orchestra" - 1813
Manuel do Carmo Msico "Orchestra" - 1813
Maria da Conceio Cmica ("1
a
dama")
Maria Eliza [de Oli
va
] ?
Maria Joaquina (filha de Luiza
Francisca)
Danarina "por hua noite das danas q se lhe deve"[pago a Luiza em 03.01.13]
"por conta das noites q se deve a sua f
a
. M
[07.01.13]
Miguel Vacani Cantor 1807-1810
Lisboa (So Carlos) [Benevides, 96, 101-
1812
25.06 "Idem a Miguel Vacani 115 50$000"
1814
Rio de Janeiro [Ayres de Andrade - vol. I, 113, 117, 118, 119]
Paulo Jorge da Fonseca ? "por conta do Ordenado"
Pedro Luiz Rosa Iluminador Recibo de 1815
Romo [?] da Costa Msico Noites da orquestra em 1813-1814
Roza Fiarini ? 1812
14.06 [seria a Fiarini?] "Idem a Italiana p.
a
recibo 69 20$000"
15.06 "Idem a Roza Fiarini p. conta do seu ordenado 84[?] 32$000"
Rosa Fiorini canta no S. Carlos de Lisboa em 1804 [Benevides, 84]
Roza Margarida Candida Cmica
Roza Vincentini Danarina [tambm mencionada como "Vicentinha" e "Italiana"]
Sergio [?] Msico "p
a
. pagar ao Muzico Sergio q foi desped
o
A formao profissional do msico no mbito das escolas de msica
alternativas
Luciana Requio
lucianarequiao@inpauta.com.br
Resumo: Esta comunicao apresenta, em linhas gerais, questes debatidas na dissertao de
mestrado Saberes e competncias no mbito das escolas de msica alternativas: a atividade docente
do msico-professor na formao profissional do msico, onde procuro compreender os saberes e
competncias desenvolvidos na atividade docente do msico-professor, no mbito das escolas de
msica alternativas, considerando a formao profissional do msico. Atravs das perspectivas da
escola de msica alternativa, do estudante de msica, do msico-professor, e da anlise de publicaes
com fins de ensino musical escritas pelo msico-professor, identificamos que os saberes
desenvolvidos por este profissional em sua atividade docente vm atender a uma demanda por
profissionalizao prioritariamente no mbito da msica popular. Relacionados ao mundo do trabalho,
esses saberes so frutos da experincia do msico-professor em sua atividade artstico-musical,
caracterizando-se por uma particularidade quanto ao como se ensina, o que se ensina e quem ensina.
Palavras-chave: formao profissional, msico-professor, escolas de msica alternativas
Abstract: This work presents some questions from my thesis that aims the understanding of the
knowledge and abilities developed in the teaching activity of the musician-professor, in the scope of
the alternative music schools, considering the professional background of the musician. Through the
perspectives of the alternative music schools, of the music student, of the musician-professor, and
the analysis of some publications dedicated to musical education written by the musician-professor,
we identify that the knowledge developed by this professional in his teaching activity come to take
care of a demand for professionalization mainly in the scope of popular music. Related to the world of
the work, this knowledge is a result of the musician-professors experience in his artistic-musical
activity, being distinguished by the way of teaching, what it is taught and who teaches it.
Keywords: professional background, musician-professor, alternative music schools
Este artigo apresenta, em linhas gerais, questes debatidas na dissertao de mestrado
Saberes e competncias no mbito das escolas de msica alternativas: a atividade docente do
msico-professor na formao profissional do msico
1
, onde procurei analisar a atividade
docente do msico-professor, e os saberes e as competncias buscados por estudantes de
msica no mbito das escolas de msica alternativas
2
. A dissertao parte de um marco
situacional onde a atividade docente percebida como intrnseca atividade profissional do
msico. Este marco nos levou a procurar compreender de que forma se d esta atividade
1
A pesquisa, concluda em 2002, foi desenvolvida na UNI-RIO com orientao da Prof Dr Regina Mrcia
Simo Santos e com apoio da CAPES.
2
Por escolas de msica alternativas entendemos escolas cujos professores no precisam ser concursados, pois
sua competncia docente legitimada por sua atuao como msicos. As escolas de msica alternativas no tm
que atender a regimentos externos e instrumentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educao
Nacional (LDB) e os documentos dela decorrentes, e no so controladas por nenhuma agncia estatal ou
religiosa.
2
atravs de um estudo de caso realizado em uma escola de msica alternativa: a Rio Msica.
Entrevistamos a totalidade dos professores desta escola, o que nos permitiu caracterizar o
profissional que denominamos como msico-professor.
O msico-professor foi caracterizado como aquele que teve uma formao profissional
voltada para o desenvolvimento de atividades artsticas na rea da msica, e que coloca a
atividade docente em segundo plano no escopo de suas atividades profissionais, apesar desta
ser, freqentemente, a atividade mais constante e com uma remunerao mais regular em seu
cotidiano profissional. Sua atuao como docente se d prioritariamente no mbito de escolas
de msica que so freqentemente denominadas como alternativas ou livres, e em aulas
particulares, onde desenvolve um trabalho, em especial, atravs da msica popular brasileira.
O msico-professor vem atendendo a uma demanda por saberes profissionais, que reconhece
sua competncia docente atravs de seu desempenho artstico. Como fruto desta atividade, o
msico-professor vem publicando livros com fins de ensino musical onde a msica popular
brasileira tem papel de destaque. So livros que procuram sistematizar conhecimentos
especficos de algum gnero musical brasileiro ou promover o ensino de algum instrumento
musical atravs de um repertrio brasileiro.
Entendendo que as escolas de msica alternativas, atravs da atividade docente do
msico-professor, so uma instncia de formao profissional, neste trabalho procuramos
compreender quais os saberes e as competncias que norteiam esta atividade; quais os fatores
que levam estudantes a procurar por uma formao profissional em escolas de msica
alternativas, uma vez que existem outras instncias de formao profissional como as
Instituies de Ensino Superior (IES); e quais so as competncias que legitimam a atividade
docente do msico-professor. Realizamos este trabalho atravs de um estudo que se valeu de
trs perspectivas a da escola de msica alternativa, a do estudante de msica e a do msico-
professor e da anlise de publicaes com fins de ensino musical escritas pelo msico-
professor, selecionadas atravs do catlogo das editoras Lumiar (Rio de Janeiro) e Irmos
Vitale (So Paulo), e editadas entre 1984 e 1999. Esta anlise foi realizada sob a tica dos
contedos (sua seleo, organizao e abrangncia), entendido neste trabalho como um
sinnimo de saberes, a partir da proposta apresentada por Coll, Pozo, Sarabia e Valls (2000)
onde se incluem contedos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.
A perspectiva das escolas de msica alternativas foi percebida atravs da anlise do
enunciado de propagandas publicadas em trs revistas especializadas de circulao nacional: a
Revista Guitar Player (Trama Editorial Ltda, So Paulo), a Revista Backstage (H. Sheldon
3
Servios de Marketing Ltda, Rio de Janeiro), e a Revista udio, Msica & Tecnologia
(Editora Msica & Tecnologia Ltda, Rio de Janeiro), em edies publicadas entre os anos de
1997 e 2001. A perspectiva do estudante de msica foi percebida atravs de um debate,
promovido na escola Rio Msica, entre estudantes de msica que tm em comum a busca pela
profissionalizao na rea da msica ou que j exercem esta atividade profissionalmente,
tendo como mediadora esta pesquisadora. E a perspectiva do msico-professor foi percebida
atravs de entrevistas com um informante qualificado: o msico-professor Adriano Giffoni,
que tambm um dos autores de uma das publicaes analisadas por esta pesquisa.
Para a realizao deste trabalho fomos amparados por Sguirssadi (1997), Meghnagi
(2000), Manfredi (2000), Ramos (2001), Tardif (2000), Schn (2000), Demo (1993 e 1995) e
Perrenoud (2000), autores que fazem referncias a uma atual maneira de se pensar a formao
profissional, especificando o conceito de competncia profissional, ensino prtico-reflexivo,
competncia produtiva, percurso de formao individualizado, entre outros.
Considerando os depoimentos de msicos-professores, estudantes de msica, e os
demais dados coletados, percebemos trs pontos fundamentais norteadores da atividade
docente do msico-professor no mbito das escolas de msica alternativas: o que se ensina,
quem ensina e como se ensina.
Os saberes desenvolvidos pelo msico-professor em sua atividade docente no mbito
das escolas de msica alternativas vm atender a uma demanda por saberes profissionais. So
saberes relacionados ao mundo do trabalho, fruto da experincia do msico-professor em sua
atividade artstico-musical. Sua noo de competncia est ligada noo de versatilidade.
Saberes procedimentais e atitudinais so valorizados em sua atividade docente, sendo
esses saberes referncia para os estudantes ao buscarem por um percurso de formao
profissional. Um dos estudantes entrevistados relatou: ele [o msico-professor com quem
estuda] tem uma experincia de j ter tocado que eu quero vivenciar. Essa experincia
prtica do msico-professor foi identificada como uma competncia produtiva comprovada,
que vem legitimar sua atividade docente, e o que regula a busca dos estudantes em seu
percurso de formao.
atravs da competncia produtiva comprovada de msicos-professores em sua
atividade artstico-musical, que as propagandas de escolas de msica alternativas defendem a
qualidade de seus cursos, assim como este o meio pelo qual os msicos-professores se
identificam em suas publicaes para o ensino musical.
4
Segundo o ponto de vista do msico-professor, o que legitima sua atuao docente
justamente o conjunto de saberes por ele representados e legitimados atravs de sua atuao
artstico-musical. Em seu discurso, traz uma noo de didtica ligada capacidade de
organizao e, segundo ele, esta capacidade de organizao o que o torna um professor
competente, que procura encurtar um pouco o caminho das pessoas que esto entrando no
meio profissional. Contraditoriamente, distingue o educador musical (que seria o professor
que atua em escolas regulares) do professor de msica (que o seu caso), reconhecendo que
no primeiro a capacidade didtica que assegura a qualidade de seu desempenho docente,
enquanto que, no segundo, a experincia prtica artstico-musical.
Identificamos a metfora e a modelagem, tal qual nos colocam Davidson e Scripp
(1992), como ferramentas que orientam a atividade docente do msico-professor, o que veio
corroborar com o conceito de design proposto por Schn (2000). O autor utiliza este termo
como uma forma de se realizar determinada prtica, e que os estudantes devem aprender
atravs do fazer, e no contato com o fazer de seus instrutores (ou professores).
Encontramos em Schn tambm a idia de um ensino prtico-reflexivo, onde os
estudantes desenvolvem a capacidade de reflexo-em-ao. O autor considera a existncia de
zonas indeterminadas da prtica, onde profissionais se deparam em seu cotidiano com
situaes no previstas, e onde esta capacidade de refletir em ao se torna indispensvel.
Esse mesmo aspecto vimos apontado por Demo (1995), quando faz a distino entre o fazer e
o saber fazer. No segundo caso, torna-se necessria a capacidade de compreenso, que vem a
ser a capacidade que Schn (2000) denomina por reflexo-na-ao.
Na anlise das publicaes, percebemos que contedos procedimentais, ou seja, o
saber-fazer, so priorizados. Porm, os autores se preocupam em fornecer ao estudante
contedos factuais, que freqentemente aparecem nas primeiras partes das publicaes onde
elementos da teoria e harmonia musical so expostos. Em muitos casos observamos uma
carncia de contedos conceituais, o que dificulta a compreenso desta parte terica sem o
auxlio de um outro suporte (outro livro, um professor, um exemplo musical, etc.). As
publicaes priorizam um saber referido como "prtico" e com "aplicabilidade imediata",
onde se trabalha, por exemplo, tcnica junto com determinada levada ou com uma
fraseologia caracterstica de algum gnero musical, promovendo o tocar junto atravs de
recursos como CDs ou fitas K7. Saberes atitudinais assumem grande importncia dentro da
proposta e dos objetivos dessas publicaes, pelos processos de influncia que os msicos tm
em relao a seus discpulos, onde o grande atrativo oferecer ao aluno um modelo de
5
competncia, competncia produtiva que comprovada pela atuao artstica do msico-
professor, sempre evidenciadas em algum texto introdutrio presente nas publicaes.
As escolas de msica alternativas, atravs da atividade docente do msico-professor,
foram apontadas como uma instncia de formao profissional que vem suprir uma lacuna
deixada pelas IES, conforme os depoimentos apresentados por esta pesquisa cruzados com as
pesquisas de Ferreira (2000) e Kleber (2000). Entendemos que essa lacuna se refere no
articulao dos saberes contemplados no currculo de seus cursos com o mundo do trabalho,
conforme tambm indicou Tardif e Schn, O que no quer dizer que as escolas de msica
alternativas dem conta disso. A insatisfao constatada reside, principalmente, no fato dos
saberes presentes nos currculos das IES estarem desarticulados com o cotidiano profissional
do msico, incluindo a a seleo do repertrio que, segundo os autores mencionados,
atualmente privilegia a msica erudita.
Encontramos em Perrenoud, suporte para os indcios apontados por Travassos (1999),
Sekeff (1997) e no depoimento de Vitor Neto, presidente do Sindicato dos Msicos
Profissionais do Rio de Janeiro, quando indicam a variedade de perfis profissionais
encontrados na rea musical, e a necessidade de versatilidade exigida ao profissional pelo
mundo do trabalho. O autor defende a possibilidade das escolas formadoras propiciarem aos
estudantes percursos individualizados de formao. Conforme apontamos no decorrer do
trabalho, apesar desta ainda no ser uma realidade nos cursos superiores em msica, algumas
propostas j surgiram no sentido de propiciar aos estudantes uma maior autonomia na
construo de seu perfil profissional atravs de um percurso de formao individualizado.
A demanda atendida pelo msico-professor, no mbito das escolas de msica
alternativas, consta de estudantes diletantes, que no almejam a profissionalizao na rea
musical, e de estudantes que almejam a profissionalizao ou que j exercem a atividade
musical profissionalmente. Os estudantes que buscam pelos saberes articulados pelas escolas
de msica alternativas em seu percurso de formao profissional, entendem que nesta
instncia iro encontrar um ensino objetivo, direcionado s suas necessidades imediatas. O
ensino oferecido pelas IES foi apontado como complementar, uma vez que no garante um
saber-fazer relacionado ao seu cotidiano profissional ou ao perfil profissional almejado.
Podemos observar que entre esses dois mbitos de formao profissional (as IES e as escolas
de msica alternativas) alguns pontos convergem e outros divergem. As IES tambm possuem
em seus quadros professores com competncia produtiva comprovada, e contemplam em
seus currculos contedos procedimentais, conforme comentado no decorrer do trabalho.
6
Porm, entre outros aspectos divergentes, destacamos que as escolas de msica alternativas
definem abertamente o repertrio, a linguagem musical com que trabalham, inclusive se
utilizam disso em sua propaganda, ao contrrio das IES que no assumem de forma explcita
estar calcado seu ensino em um repertrio determinado, no caso a nfase sobre o clssico-
romntico.
Partindo do que foi apresentado, entendemos que latente a necessidade de uma
melhor compreenso sobre a questo da formao profissional do msico. Se o que se quer a
formao de um profissional autnomo, capaz de transitar nos diversos contextos e situaes
inerentes sua profisso, deve-se pensar numa formao que leve em conta a diversidade de
contextos de atuao, e de habilidades e competncias necessrias ao profissional. Assim,
torna-se fundamental conhecer o cotidiano profissional do msico em diversos ambientes de
trabalho, conhecer como se deu sua capacitao para atuar naquele contexto, reconhecendo as
habilidades e as competncias necessrias a esta atuao. Conhecendo o mundo do trabalho
do msico, poderemos ter condies de debater sobre a realidade de sua vida profissional e do
papel das Instituies de Ensino Superior em sua formao, ou seja, precisamos conhecer os
reais processos de trabalho musical para podermos superar as exigncias e as demandas do
mundo do trabalho. Desta forma, entendemos ser necessrio um estudo que aponte para novos
perfis profissionais demandados pelo mundo do trabalho, com o intuito de fornecer subsdios
para uma reformulao dos currculos propostos pelas IES.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
COLL, Csar et alli. Os contedos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos,
procedimentos e atitudes. Porto Alegre: Artes Mdicas, 2000.
DAVIDSON, Lyle & SCRIPP, Larry. Surveying the Coordinates of Cognitive Skills in
Music. In: COLWELL, Richard (Ed.) Handbook of Research on Music Teaching and
Learning. New York: Schimer Books, 1992, p.392-413.
DEMO, Pedro. Desafios modernos da educao. 10. ed. Petrpolis, RJ: Vozes, 1993.
__________. ABC: iniciao competncia reconstrutiva do professor bsico. So Paulo:
Papirus, 1995.
FERREIRA, Virgnia Helena Bernardes. A msica nas escolas de msica: a linguagem
musical sob a tica da percepo. Dissertao de mestrado, UFMG, 2000.
KLEBER, Magali Oliveira. Como os currculos de msica vm a cultura brasileira. III
Encontro Regional Centro-Oeste da ABEM, UnB. Comunicao no publicada. Ano 2000.
7
MANFREDI, Slvia Maria. Trabalho, qualificao e competncia profissional: das
dimenses conceituais e polticas [on line]. Scientific Electronic Library Online [consulta: 20
de julho de 2000]<www.scielo.br>
MEGHNAGI, Saul. A competncia profissional como tema de pesquisa [on line]. Scientific
Electronic Library Online [consulta: 20 de julho de 2000]<www.scielo.br>
PERRENOUD, Philippe. Pedagogia diferenciada: das intenes ao. Porto alegre: Artes
Mdicas Sul, 2000.
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competncias: autonomia ou adaptao? So
Paulo: Cortez, 2001.
SCHN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Mdicas Sul, 2000.
SEKEFF, Maria de Lourdes. A msica na universidade brasileira do final de milnio. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ANPPOM, 10, 1997, Gois. Anais do X Encontro Nacional
da ANPPOM. Gois: ANPPOM, 1997. pp.198-202.
SGUISSARDI, Valdemar. Avaliao universitria em questo: reformas do estado e da
educao superior. So Paulo: Autores Associados, 1997.
TARDIF, Maurice. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitrios. In:
Revista Brasileira de Educao n13, 2000, p.5-24.
TRAVASSOS, Elizabeth. Vocaes musicais e trajetrias sociais de estudantes de msica: o
caso do Instituto Villa-Lobos da UNIRIO. In: Cadernos do III Colquio de Ps-Graduao
da UNIRIO. IVL/UNIRIO, 1999.
Memorial de composio: as determinantes tcnicas e estticas de um
processo composicional
Luciana de Souza Zanatta
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
lucianozanatta@uol.com.br
Resumo: O objetivo deste trabalho investigar o processo composicional, a partir do pensamento
do compositor. A investigao do processo composicional acontece em dois momentos. O primeiro
momento a realizao documentada de um trabalho composicional, onde o pensamento do
compositor fica registrado nas partituras, esboos e anotaes que so feitas. O segundo momento
a realizao de reflexes crticas a respeito dos conceitos tcnicos e estticos que so extrados do
trabalho composicional. As reflexes so feitas inicialmente considerando cada pea isoladamente e
posteriormente considerando o conjunto de peas como um todo, estabelecendo ligaes entre as
composies. Em ambos os momentos busca-se evidenciar o fluxo de idias do compositor no
momento da criao, bem como seu modo de organizar estas idias e produzir msica.
Palavras-chave: composio, msica de cmara, msica popular
Abstract:The main purpose of this work is the investigation of compositional processes as
indicative of the composers musical reasoning. This investigation occurs at two simultaneous
levels the documentation of the musical reasoning as registered through diaries, drafts, and scores,
and the evaluation of the compositional processes through their technical and esthetic
considerations. Both levels were applied firstly to each piece as a separate entity and, secondly, they
were amplified to the whole compositional body. In so doing, the flux of musical ideas at the very
moment of their inception is evinced, as were the composers handling of musical ideas and their
transformation into complete pieces of music.
Keywords: composition, chamber music, popular music
O trabalho composicional/investigativo aqui apresentado desenvolveu-se em duas
etapas subseqentes. A primeira etapa consistiu em um trabalho de composio. A segunda
etapa foi uma reflexo sobre as composies, realizada sobre dois aspectos: elementos
composicionais e determinantes estticas. Foram compostas dez peas: A paineira, as
viagens intergalticas e a dissoluo moral do ocidente Parte 2, para piano solo;
Piano 7, para piano solo; pea para flauta, para flauta solo; pea para rgo, para
rgo solo; Desenhos Invisveis, para quarteto de cordas e clarinete; Pea 2, para
clarinete, flauta, sax alto, sax tenor, sax bartono, dois trompetes, trombone, piano, sitar,
tabla, guitarra, baixo eltrico e bateria; La Peperula, para flauta, clarinete, sax alto, sax
tenor, sax bartono, dois trompetes, trombone, piano, guitarra, baixo eltrico e bateria;
Sopro 544, para voz, sax tenor, sax bartono, trompete, trombone, violoncelo, guitarra,
baixo eltrico e bateria; Pbxabtt, para voz, sax tenor, sax bartono, trompete, trombone,
violoncelo, piano, guitarra, baixo eltrico e bateria e 3&4, para sax tenor, sax bartono,
trompete, trombone, piano, guitarra, baixo eltrico e bateria.
O processo composicional realizado teve como definio a priori a diviso em dois
grupos de peas, ligados a duas prticas musicais distintas.
O primeiro grupo formado por peas de cmara, dentro das convenes da msica
de concerto. So peas para poucos instrumentos, com durao acima de cinco minutos,
com mais de um movimento, sem utilizao de amplificao eltrica para os instrumentos e
com escrita mais detalhada em termos de dinmica, articulao e timbre. Estas convenes
no delimitam definitivamente o termo msica de cmara, mas, nos termos em que
defino os grupos de peas que constituem este trabalho, tais convenes caracterizam o
grupo que chamo de cmara. Como exemplo deste grupo temos a composio A
paineira, as viagens intergalticas e a dissoluo moral do ocidente Parte 2.
A pea est dividida em quatro movimentos, apresentando como caracterstica
unificadora a utilizao da organizao dos planos de tempo como elemento expressivo
principal. A idia de movimento no-progressivo comum a todos os quatro movimentos,
significando esta expresso a ausncia de desenvolvimento motvico-temtico.
No primeiro movimento, prlogo, o movimento no-progressivo se d pelo
estabelecimento de momentos estticos, onde padres rtmico-meldicos curtos so
repetidos sem variao, com a inteno de diluir o interesse pontual dos padres nas
repeties. A expressividade do prlogo est no contraste que se estabelece entre as trs
sees. As mudanas bruscas de ambiente sonoro que acontecem formam o movimento
no-progressivo, uma vez que no h encadeamentos, preparaes ou transies, e que no
pode ser estabelecida nenhuma relao de causalidade entre as sees.
O segundo movimento, Parte 2/1 apresenta, em relao ao prlogo, solues
diferentes para a formao do movimento no-progressivo. Os materiais so reconfigurados
constantemente, para gerar uma idia de movimento que interrompido por reiteraes.
Assim, os pontos onde as barras de repetio foram colocadas na partitura foram escolhidos
para que expectativas de continuidade fossem frustradas. Houve, ainda, a inteno de que
as repeties no fossem perceptveis como tal.
O terceiro movimento, Parte 2/2 tem retoma os momentos estticos, enquanto o
quarto e ltimo movimento, Parte 2/3, se inicia no corte seco do terceiro movimento com
um silncio longo, em torno de 30 segundos. O silncio, e a imobilidade total por ele
determinada, quebrado por duas notas tocadas simultaneamente nos registros extremos do
piano com dinmica ppp. Segue-se um novo silncio, menor que o anterior, e ento o gesto
derradeiro da pea: um contraponto enrgico, dinmica f, que pontua o final.
O segundo grupo formado por peas escritas dentro das convenes de msica
popular. So peas com durao de at cinco minutos, em um movimento, com
amplificao e instrumentos eltricos, de notao mais esquemtica e baseada em padres
rtmicos e meldicos repetitivos em geral apresentados por baixo e bateria. Cabem aqui as
mesmas ressalvas feitas em relao msica de cmara, pois se estas convenes no
englobam toda a msica que possa ser chamada de popular, e deixando de lado no mbito
deste texto qualquer discusso a respeito do conceito de popular, so essas as
caractersticas que definem o segundo grupo de peas que integram o trabalho. A formao
bsica da banda utilizada compreende guitarra, baixo, bateria, teclado e sopros (trompete,
trombone, sax tenor e sax bartono), com a utilizao ocasional de outro trompete, sax alto,
flauta, clarinete, violoncelo, voz, sitar e tabla. A pea que dada como exemplo deste
grupo Pea 2, que utiliza, alm da banda bsica, o naipe de sopros completo, sitar e
tabla.
O processo composicional de Pea 2 iniciou com a definio de uma idia: buscar
a unio em uma mesma pea de elementos aparentemente antagnicos, o dodecafonismo e
msica indiana hindustani, onde o ritmo seria derivado de talas (padres rtmicos da
msica hindustani) e as alturas determinadas por uma srie dodecafnica. No havia a
inteno de seguir modelos pr-determinados ligados aos contextos originais dos materiais
utilizados.
A srie foi construda exclusivamente de trtonos e segundas, com o objetivo de
gerar as estruturas meldicas e harmnicas que no tendessem ao modalismo caracterstico
da msica hindustani. A tala jhaptaal foi escolhida por ser um padro rtmico no
quaternrio. Aps estarem definidos estes dois materiais, um terceiro material foi
acrescentado: uma escala derivada em parte de uma escala octatnica e em parte de uma
escala hindustani. O modelo de escala octatnica utilizado o do padro semitom/tom. A
escala hindustani utilizada como referncia chama-se bhairav e equivalente ao modo
frgio. A escala final preserva caractersticas dos dois modelos, com o primeiro tetracorde
sendo igual ao primeiro da escala octatnica e o segundo tetracorde sendo igual ao segundo
da escala bhairav. (exemplo1).
Ex. 1-a: srie dodecafnica de Pea 2
Ex.1-b: tala jhaptaal, primeira forma.
Ex.1-c: jhaptaal, segunda forma.
Ex.1-d: escalas de Pea 2
A deciso de utilizar uma escala decorrncia direta da utilizao de um sitar na
instrumentao. Neste instrumento difcil tecnicamente tocar passagens com muitos saltos
e, alm disso, suas ressonncias caractersticas fazem com que haja uma polarizao,
mesmo que involuntria, em virtude do som dos bordes, afinados como quintas justas em
trs oitavas diferentes. As caractersticas do sitar ou tornariam invivel sua utilizao no
contexto serial da pea, em virtude dos intervalos meldicos da srie construda, ou
exigiriam uma constante ginstica composicional para manter a coerncia serial que
terminaria por deixar sem sentido a utilizao de uma srie. A deciso de utilizar o sitar,
portanto, trazia embutida em si a deciso de utilizar um modelo escalar. Foi, logo, uma
deciso originada na instrumentao com desdobramentos importantes na escolha de
materiais para a pea.
Definidos os materiais, passou-se etapa composicional propriamente dita. O
primeiro passo foi esboar uma estrutura geral da pea. Esta estrutura tinha uma introduo,
o corpo da pea, com desenvolvimento dos materiais definidos inicialmente, e uma coda.
O corpo da pea apresentava na primeira verso uma configurao muito
semelhante que seria a verso final. O trabalho transcorrido entre estas duas verses foi
um trabalho de burilamento, onde cada trecho foi sendo observado e reescrito em busca dos
melhores resultados. Este trabalho tornou o corpo da pea rico em detalhes e auto-
suficiente, permitindo que uma ltima deciso composicional fosse tomada. As duas sees
que emolduravam o corpo da pea, introduo e coda, foram descartadas e o que era
inicialmente a parte central de Pea 2 se tornou a pea inteira.
O resultado do processo composicional de Pea 2 foi bastante diferente da
concepo prevista originalmente. Isto, porm, no significa que tenha havido perda do
controle do processo. Um processo composicional atinge seus melhores resultados quando
a msica resultante apresenta-se coerentemente estruturada e aprofundada nas suas
solues. Para alcanar estes objetivos a constante reviso tanto das solues tcnicas e
estticas quanto das prprias idias iniciais ferramenta fundamental. Assim como
verdade que nem toda idia gera uma pea, tambm verdade que nem toda idia sobrevive
pea que gera e ao deparar-se com a necessidade de escolher entre a idia e a pea parece
ao autor deste trabalho que deve o compositor ficar com esta e renegar aquela.
No que se refere s reflexes sobre o processo composicional, foi feita a opo por
um trabalho extremamente pessoal, onde o objetivo era revelar a inteno do compositor. O
que se buscou foi registrar o pensamento no momento da composio, fornecendo subsdios
para futuras abordagens analticas e/ou interpretativas. Como as composies no foram
feitas a partir de nenhum conceito ou hiptese terica, a reflexo no utiliza diretamente
nenhuma ferramenta terico-analtica.
Por considerar que os elementos musicais dos dois grupos de peas compostas so,
em ltima anlise, os mesmos, concluiu-se pela viabilidade de expressar um pensamento
composicional nico em ambos os casos. O processo composicional comprovou esta
hiptese, pois as peas que integram o portflio dialogam entre si com ressonncias
tcnico-estticas, independentemente do grupo ao qual pertencem.
Foram identificados cinco itens presentes nas peas e, a partir da sua interao,
pode-se constatar o pensamento composicional que permeia este trabalho em todas as suas
facetas. Os cinco itens so:
I) Composio como um processo: a) de tomada de decises; b) de combinao de
idias. Este conceito est ligado concluso de que, ao se buscar compreender a essncia
de um processo composicional, o modo como o pensamento foi organizado, os propsitos
definidos e as reflexes realizadas durante o processo so mais importantes do que as
descries materiais. Assim, o que de mais relevante e pessoal um compositor pode revelar
de seus processos o modo como ele percebe o seu trabalho, e, no, o seu artesanato
composicional.
II) Funo renovadora da composio: expandir os limites tcnicos e estticos e
redefinir-se constantemente. Esta afirmao surge como a resposta pergunta Por que
compor?, que foi um dos pontos sobre os quais a reflexo foi direcionada. A resposta pode
estar no plano pessoal ou, numa perspectiva mais abrangente, na insero do trabalho em
um repertrio contextualizado por critrios geogrficos e/ou histricos. A partir das
consideraes feitas a resposta encontrada foi: compor porque preciso ampliar limites,
tanto tcnicos quanto estticos.
III) A composio como uma busca do pessoal, mais do que do novo. Num
momento histrico em que as possibilidades de comunicao e as pesquisas musicolgicas
tornam disponveis msicas de diversos contextos geogrficos e/ou histricos, torna-se
difcil conceituar o que novo em funo da multiplicidade de contextos aos quais se pode
ter acesso. Uma vez que o compositor pode ter acesso facilmente aos mais diferentes
contextos e saber da existncia de outros por ele desconhecidos, buscar o novo pareceu
tornar-se irrelevante. A busca por um processo, e por resultados composicionais, que sejam
pessoais e no repetio ou catalogao de prticas que o compositor conhece, passa a ser
um objetivo mais importante.
IV) Estratgia composicional: gerenciamento de tempo e gerenciamento de
materiais e, principalmente, gerenciamento do processo definio de objetivos e
identificao e soluo de problemas composicionais. Foram compostas dez obras, num
conjunto onde intencionalmente foi buscada variedade de caractersticas. A identificao de
traos comuns aos processos composicionais de todas as peas poderia revelar a ligao
existente entre estes processos e um pensamento composicional nico.
V) A influncia da performance ao vivo e do registro gravado, como complemento,
no processo composicional. H, necessariamente, intermediao entre a concepo original
da pea, idealizada pelo compositor, e o resultado musical final, percebido pelo ouvinte.
Grosso modo, as etapas intermedirias que podem ocorrer so a performance e o registro.
A deciso de incorporar a intermediao como complemento do processo
composicional exige que duas posturas sejam adotadas. A primeira considerar a pea
como concluda apenas quando est sendo ouvida, no havendo uma verso final de uma
pea, mas, sim, mltiplas possibilidades. A segunda postura considerar cada performance
ou cada registro de uma pea como um evento nico, sujeito a alteraes em relao
concepo original, mas, ao mesmo tempo, sujeito a reconfiguraes expressivas que
podem agregar significados musicais no previstos inicialmente, enriquecendo a pea.
As consideraes aqui apresentadas representam a reflexo feita a partir de um
processo composicional geral composto por dez processos composicionais especficos que
se inter-relacionaram, onde os conceitos tcnicos e estticos consolidados em uma pea
eram utilizados e/ou transcendidos em outra, constituindo um trabalho unitrio. Esta
reflexo parece, enfim, representar de modo adequado o pensamento composicional do
autor deste trabalho no perodo em que foi realizado.
Referncias Bibliogrficas
EPSTEIN, David. Shaping Time: music, the brain and performance. New York:
Schirmer Books, 1995. 598p.
MEYER, Leonard B. Emotion and Meaning in Music. Chicago and London: The
University of Chicago Press, 1956. 307p.
_________________. The Rhythmic Structure of Music. Chicago and London: The
University of Chicago Press, 1960. 212p.
_________________. Explaining Music essays and explorations. Chicago and London:
The University of Chicago Press, 1973. 284p.
_________________. Music The Arts and Ideas patterns and predictions in twentieth-
century culture. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. 342p.
SCHUTZ, Alfred. Fragments on the phenomenology of music. in: KERSTEN,
F. (Ed.) In search of Musical Method (F, J. Smith, editor). Londres: Gordon and
Breach. 1976. 5-71.
De volta aos Choros: uma abordagem semitica do Villa-Lobos dos anos vinte
Luiz Fernando Nascimento de Lima
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ ) Bolsista Recm-Doutor CNPq
z12332@ananet.com.br
Resumo: O presente trabalho aborda a obra de Heitor Villa-Lobos dos anos vinte sob uma perspectiva
semitica. Prope-se uma anlise adequada caracterstica transicional deste corpus e, para tanto,
apresentam-se os conceitos de tpicos, gestos musicais, competncia e atorialidade. Como exemplificao,
analisa-se uma seo dos Choros n. 7.
Palavras-chave: Villa-Lobos, semitica, choros
Abstract: This paper takes as its main topic the work of Heitor Villa-Lobos of the 1920s. It advances
concepts grounded on Musical Semiotics such as topics, gestures, competence and actorialization. As an
example, it analyses a section of Choros n. 7.
Keywords : Villa-Lobos, semiotics, choros
Intil querer me classificar: eu simplesmente escapulo no deixando, gnero no me pega mais.
(...) Sei que meu som deve ser o de uma pessoa primitiva que se entrega toda ao mundo, primitiva
como os deuses que s admitem vastamente o bem e o mal e no querem conhecer o bem enovelado
como em cabelos no mal, mal que o bom.
1
Introduo
O grupo de obras produzidas por Villa-Lobos em torno dos anos vinte corresponde chamada
terceira fase de sua obra, e tem como caracterstica mais evidente a ligao com movimentos de
vanguarda (ou a expresso de elementos estticos de vanguarda). No h razo para contradizer
essa viso geral, mas preciso tambm compatibiliz-la com outra caracterizao, que ressalta a
presena de elementos tipicamente brasileiros neste grupo de obras. Da tentativa de
compatibilizao surge a idia de que o chamado modernismo nacionalista, influente corrente
esttica a vigorar sob a inspirao e direo de Mrio de Andrade, aparece ou como pano de fundo
para a criao villalobiana do perodo dos anos vinte, ou como meta brilhantemente antecipada
naquelas peas. A caracterizao de modernismo nacionalista para o conjunto de obras desse
perodo evidencia determinados elementos, especialmente os tipicamente brasileiros, de um lado,
e os tipicamente vanguardistas, de outro, mas passa por cima de outros elementos, talvez mais
idiossincrticos desse corpus.
Neste trabalho, esboo uma anlise para caracterizao destes outros elementos, utilizando
principalmente teorias da semitica da msica como fundamento. Sem procurar apresentar
resultados exaustivos por enquanto, quero mostrar que vrios tipos formais desempenham papis
2
significativos na constituio lgica do estilo Villa-Lobos anos vinte (que inclui, dentre as obras
mais importantes: o ciclo Prole do Beb n. 2, o Trio para obo, clarineta e fagote, o Quarteto para
vozes femininas, flauta, saxofone, harpa e celesta, a Sute para canto e violino, o ciclo dos Choros, o
Noneto, o ciclo das Cirandinhas, o ciclo das Serestas, o ciclo das Cirandas, o Rudepoema, o
Quarteto para sopros, a Introduo aos Choros, o Quinteto em forma de Choros, os Choros Bis e o
Momoprecoce). Os tipos formais deste estilo tm perfil muito diversificado, o que dificulta snteses
descritivas. Incluem micro-elementos como seqncias intervalares e efeitos tmbricos especficos,
macro-elementos como a estrutura formal total das peas, elementos processuais ligados
composio e mesmo uma concepo geral do estilo do perodo
2
. Sugiro ver esse conjunto de
obras sob duas perspectivas contrrias e complementares isto , no contraditrias. De um lado,
essas obras expressam a transitoriedade de um perodo que recusa cnones estticos anteriores,
mas que ainda no elaborou seus prprios cnones. Nesse sentido, no h exatamente, um estilo; h,
por assim dizer, uma constelao de idias musicais procura de um ordenamento esttico que lhes
sirva de moldura para a interpretao delas
3
. Do outro lado, a intuio que supe o estilo Villa-
Lobos anos vinte pode ser justificada por relaes estruturais que garantam alguma forma de
coerncia quela constelao, embora essa coerncia no possa ser do mesmo tipo dos estilos
anterior e posterior. Cumpre, portanto, abordar o grupo de obras dos anos vinte como tendo uma
face comum, mas que se caracteriza pela ambigidade das relaes, pela heterogeneidade dos
elementos, e pela singularidade dos significados
4
. Com esse enfoque, aprende-se, no s sobre este
corpus, mas sobre o estilo que se abandona e recusa a, e sobre o estilo que se vislumbra e, de certa
forma, almeja. Olhando para o interstcio a crise do sistema musical / simblico traz-se luz a
verdadeira face dos estilos efetivamente legitimados, e que vo guiar a maioria dos
posicionamentos
5
.
Elementos de semitica: tpicos, competncia, movimentos gestuais e atorialidade
O corpus de obras dos anos vinte inclui uma srie bastante variada de obras, muitas em ciclos, mas
com a caracterstica de se evitar formas tradicionais como sinfonias, quartetos, concertos, poemas
sinfnicos e peras. H uma grande permanncia do carter rapsdico, nas peas mais longas, e do
carter de intermezzo, nas mais breves. Por esse motivo, ou por um bias especfico, comum
verificar caracterizaes que realcem os elementos nacionalistas em muitas dessas obras. Um
exemplo tpico a referncia aos instrumentos exticos acrescentados orquestra, como o
caracax que abre os Choros n. 8.
Como essa leitura se articula, e por que ela talvez no seja a mais pertinente?
Ao individualizar um elemento nacionalista, o comentarista ou intrprete (isto , o que faz
uma interpretao, apenas ouvindo ou ouvindo e tocando), associa um signo musical formal com
3
um tpico de significao neste caso, um significado de brasilidade ou nacionalismo. Os
tpicos musicais so associaes de significao estabilizadas e legitimadas em cnones estticos,
que agem como se fossem mitos ou verdades entronizadas na conscincia coletiva de um grupo
6
.
Importa repetir que os tpicos dependem de uma legitimao por instncias ou grupos com poder de
conferir valor positivo aos signos e s associaes propostas
7
. Tpicos so mais do que colees de
formas musicais cristalizadas, porque impem uma associao estvel.
Entretanto, quando que esses tpicos foram efetivamente aceitos, isto , incorporados ao
saber enciclopdico musical? E por quem e para quem? Os tpicos, como os mitos, traduzem uma
idia de universalidade, mas tm existncia condicionada historicamente e circunscrita a um grupo
determinvel. Virada uma pgina da histria, ou passando a outro grupo, temos outro universal
(proposto). Acontece, com relao ao tpico brasilidade, que ele no tinha a mesma conformao
nos anos vinte que ele viria a ter a partir dos anos trinta, por uma srie de fatores estticos, polticos,
sociais e tcnicos que conformaram um momento de definio do Brasil, a ponto de se afirmar
uma certa unidade e homogeneidade, questionvel por vrios aspectos, mas muito influente e de
vrios efeitos tambm na msica. Enfim, prefiro tomar o ano de 1928 e a publicao do Ensaio
sobre a msica brasileira, de Mrio de Andrade (1972 [1928]), como data/evento-piv que
inaugura o novo perodo. Veja-se, ento, como o problema toma uma forma clara: usa-se um tpico
que somente adquiriu sua conformao mais terminada depois de 1928 para caracterizar um
conjunto de obras cujo limite de insero justamente esse ponto.
Uma leitura pertinente, entre n possveis contidas na estrutura das obras deve
reconhecer
8
a competncia de um ouvinte ideal, isto , um ouvinte capaz de identificar a lgica e a
significao do estilo Villa anos vinte, a partir de dentro do sistema (posio emic). O ouvinte
ideal uma elaborao metodolgica que visa a substituir a nfase no contexto interno das obras
(estrutural) ou externo, que depende de levantamentos sempre incompletos. Por outro lado, traduz
uma posio dedutiva que tem como principal vantagem o acesso explcito intuio do analista, o
que amplia a abrangncia dos insights e das generalizaes. O ouvinte ideal substitui tambm a
autoridade quase desptica atribuda ao compositor e aos crticos ou estudiosos, e por outro lado, a
percepo das platias. Essa substituio possvel porque o ouvinte ideal se coloca a uma vez e
de cada vez em todos os papis, dado que ele dispe das competncias estruturais que lhe
permitem tanto compor quanto tocar (mentalmente) e analisar e pragmticas que lhe permitem
usar a msica de forma sempre adequada ao contexto. Ao mesmo tempo, o ouvinte ideal reconhece
tambm tudo o que estranho ao estilo, isto , que no tem significado ou cujo nico significado
vlido o de pertencer a outro estilo, e todas as situaes que no so adequadas ao estilo
9
.
Isto dito, fica mais fcil imaginar que a competncia relacionada ao Villa anos vinte depende
menos de tpicos relacionados brasilidade, embora esses possam fazer parte dela. Ao invs de se
4
desenvolver sobre tpicos estveis, o estilo em tela se baseia em outro tipo de processo semitico,
a saber, em movimentos gestuais e na disputa pela atorialidade e em atores musicais
ambivalentes.
De acordo com Hatten, gesto um movimento que interpretvel ou marcado como
significativo, e caracterizado por continuidades de forma e fora (Hatten 2003, 83). Os
movimentos gestuais musicais podem ser estritamente formais, mas aqui mais importante
observar os gestos que tendem a funes motco-temticas, isto , que retm alguns elementos que
lideram o discurso musical em uma forma de narrativa. Muitos deles se aproximam de
caracterizaes genricas do nacionalismo, como tipicamente a melodia Nozani-n do Choros
n. 3
10
, com seu contorno modal. Outros movimentos gestuais se aproximam de caracterizaes
genricas da vanguarda franco-europia, como tipicamente os glissandos dos Choros n. 8.
Entretanto, o que persiste ao longo do corpus a competio pela primazia motivo-temtica, como
se cada elemento novo procurasse assumir o papel de um ator no discurso musical. Essa
atorializao, no estilo Villa anos vinte, tem a forma de uma tragdia (grega) ou de um baile de
carnaval, ou ainda, de contos populares, no que difere de um sentido teleolgico unvoco, tpico de
formas estveis e de vises organicistas do processo musical. Talvez a caracterizao dos elementos
gestuais musicais como atores desempenhando um papel caiba melhor em uma outra verso: ao
invs de cham-los atores, cham-los-ei mscaras, ou personae, termo que se aproxima da idia,
em portugus, de que, como vozes, como pessoas (mais do que simples indivduos), os elementos
musicais querem comunicar. Porm, eles so ouvidos sempre (e essencialmente) por cada um dos
outros elementos (outras personae) de maneira diferente, como na tragdia. Nesse estilo,
justamente no h um cnone nico que nos diga como ouvir cada elemento e relao; eles so
sempre ambivalentes, so tema e so passagem, so modernos e arcaicos, so harmonia e cluster,
melodia, motivo e ritmo, sempre escapam determinao. Essa a chave do carnaval, da tragdia e
do perodo de transio: impe mais de uma leitura, e tem mais do que uma s entrada ou sada.
Exemplo: Choros n. 7
Nos Choros n. 7
11
h uma seo em que se pode observar as caractersticas ambivalentes apontadas
acima. Destaco aqui o trecho a partir do compasso 10 (n. de ensaio 1), at o compasso 102 (at o
final do n. de ensaio 7). Nesta seo, um tema se esboa, no ratifica sua funo / papel (como
tema), mas permanece em traos diversos nas intervenes seguintes.
Os Choros n. 7 iniciam por uma introduo (comp. 19), de que no vou tratar aqui. Na
seqncia, o movimento animado (mm. = 100) apresenta um tema com um perfil bem caracterstico
(fagote comp. 1112 e 1315) [Ex. 1], sobre um pedal de f menor (violoncelo e violino) com
sexta maior e tera maior acrescentadas nos contratempos rtmicos (obo e saxofone). Essa estrutura
5
est conforme a descrio dos procedimentos de estabilizao intra-secional dos Choros n. 6, feita
por Seixas (2001). Isto , um centro tonal firmemente estabelecido atravs de um pedal, ao qual
so acrescentados outros sons que no se opem fixao tonal, mas lhe do uma cor ou face tpica.
A melodia que surge nos Choros n. 7 tem caractersticas diatnicas que a aproximam de outras,
analisadas por Seixas e identificadas nos Choros n. 6, mas tem tambm algumas caractersticas
prprias: mbito restrito a uma quinta diminuta, e relao frgia com o centro f. Em contrapartida
s relaes meldico-harmnicas, destaca-se nesta melodia a variao rtmica, a qual aliada s
articulaes e acentos que impem timbres precisos do ao conjunto uma proeminncia e um
destaque como movimento temtico. Este tema tem uma resoluo descendente, em movimentos
rpidos e de valores progressivamente menores (semicolcheias e quilteras quntuplas de
semicolcheias), resoluo evitada porque leva ao incio do comp. 13, acfalo, sendo que a cadncia
se d atravs da stima (mi bemol), com acento. Apesar da face tpica, este tema acaba por iludir
uma afirmao de qualquer natureza.
Exemplo 1.
A partir dos compassos 1617, tem incio um trecho que se apresenta como transio, o que
teria seu lugar em vista do tema anterior. O pedal substitudo por um ostinato que tem relaes
de quartas como fundamento harmnico (obo, sax e violoncelo pizz.), e um deslocamento do
baixo para o contratempo. Em oposio ao trecho anterior, no h, aqui, um centro tonal fixado
de forma categrica. Em 1922, o fagote ratifica o perfil de transio atravs de uma seqncia
cromtica ascendente, que continua no sax (23) e obo (24), e que guarda elementos de ostinatos
(referindo-se ao tipo geral ostinato, constante anteriormente e que segue sendo estruturador durante
toda a obra).
No comp. 25 (n. de ensaio 2), a clarineta aparece em solo, em um trecho de carter ambguo:
trata-se de uma nova verso da seqncia cromtica de transio anterior, mas a que se d um
destaque temtico, pela forma de interveno [Ex. 2]. O compasso 27 traz um novo ostinato, apenas
caracterizado interrompido por uma fermata. um ostinato que traduz a idia de acompanhamento,
e que se desenvolve sobre o solo pseudotema da clarineta. Baseado em intervalos que no
caracterizam nenhuma tonalidade claramente (misoll com bordaduras acentuadas), trata-se de
um acompanhamento tambm temtico, com um motivo rtmico marcado que sintetiza os
ostinatos anteriores, e cujas apogiaturas aludem, por outro lado, s escapadas por teras do tema
1, acima (fagote, comp. 11: mi bemol apogiatura f e r apogiatura mi bemol). O carter
temtico do acompanhamento / ostinato a partir do compasso 27 tambm se manifesta ao
compar-lo com outros trechos adiante, especialmente ao solo rtmico-meldico da clarineta a partir
do comp. 151 [Ex. 3].
6
Exemplo 2.
Exemplo 3.
No n. 3 da partitura (compasso 34) aparece a contrapartida do solo de clarineta anterior, na
forma de um novo gesto temtico no violoncelo [Ex. 4]. A transio cromtica est, portanto,
terminada, a expectativa gerada pela interveno da clarineta e pela fermata anteriores est
resolvida em um movimento diatnico ascendente por teras, de perfil marcado (e recorrente em
Villa-Lobos) sobre o acompanhamento / ostinato referido acima. J no terceiro compasso deste
tema, ele pra no intervalo solmi (contida tambm no acompanhamento violino), sobre
quilteras de valores cada vez mais estendidos.
Exemplo 4.
No compasso 39 (antecipado em 38), o obo apresenta uma nova verso do tema do
violoncelo, substituindo o arpejo ascendente por uma grande bordadura, tambm com um perfil
marcado (tanto mais que o acompanhamento se interrompe com a entrada do obo) [Ex. 5].
Exemplo 5.
Em 40, o acompanhamento toma um formato mais denso, com fagote, saxofone e clarineta e
violino (mais pedal do violoncelo, o qual incorpora um pizzicato em 47) sobre sol# com notas
acrescentas (intervalos diminutos). Essa conformao segue at 56, com variaes nos pontos de
acentuao. O solo de obo tambm pra em um movimento de teras logo em 41, mas dessa vez a
reiterao deste movimento colabora para sua feio temtica. As teras rf (41) so deslocadas
para misol (4446), e retornam para rf na seqncia, formando o que seria uma frase em arco
at 49 (frase em que Villa-Lobos usa dois intervalos meldicos cadenciais recorrentes no estilo em
tela: a tera menor descendente [43 e 49] e a segunda menor descendente [46]). A seqncia,
entretanto, desvirtua o fechamento da frase temtica, ao retomar o intervalo misol. Neste ponto,
o complexo textural incorpora tambm o solo do obo, pela recorrncia, no-funcionalidade e
ausncia de desenvolvimento. De novo, a permanncia textural de um grande ostinato a incluir
tambm o solo de obo atenuada pelo novo gesto em semicolcheias, f (52), que imprime nova
tenso ao trecho esttico, e que a sntese nova face do intervalo rf, sugerindo ao mesmo
tempo uma nova transio (pela retomada do movimento de 1924). O carter de transio comea
a prevalecer a partir de 56, at 63.
Em 64 (n. de ensaio 5), um grande ostinato reaparece com carter de tema rtmico / textural
que inclui os sete instrumentos, e no qual o movimento do obo, agora passado clarineta,
incorporado (e diludo). At 75 este movimento continua, e a partir de 76 toma um formato menos
denso. O ostinato vai, ento, perder gradativamente em dinamismo, at, em 92, transformar-se em
7
um pedal (flauta, clarineta, saxofone e fagote, mais violino, sobre um agregado espaado de
stimas, nonas e dcimas maiores e menores). Sobre este pedal continua sempre o ostinato sobre
teras, em semicolcheias, que passara ao violino em 79 e voltara ao obo em 92.
Em 77, o fagote apresenta um novo tema diatnico, que surge aps uma grande
extenso desenvolvida sobre ostinatos, e sem temas plenamente destacveis. Entretanto, este
tema do fagote tambm uma variao sobre o movimento de semicolcheias dos ostinatos
anteriores. Em 80 (n. de ensaio 6), o obo responde, na forma de conseqente, o que refora o
carter temtico da interveno do fagote [Ex. 6]. De 8388, a repetio ligeiramente variada do
perodo antecedente / fagote conseqente / obo ratifica a idia temtica. Em 8991 o fagote
inicia a mesma seqncia, porm oitava abaixo e com ampliao rtmica que diminui o carter do
tema. A expectativa de novo conseqente no confirmada, ou somente de maneira oblqua,
porque em 92 (antecipado em 91) o obo retoma o ostinato em semicolcheias, enquanto o fagote
desloca o centro tonal para si bemol, iniciando o pedal referido acima. A codeta da seo (92102)
apresenta uma nova forma textural, sobre um pedal no estvel harmonicamente, com o
dinamismo traduzido pelo ostinato em semicolcheias, e com um gesto cromtico (com glissandos)
no violino e flauta. O carter ambguo codetarepouso / transio cromtica / tema textural no
confirmado nem refutado, sendo interrompido por uma fermata em 103, qual se segue a prxima
seo (esta continua utilizando variaes sobre os elementos anteriores).
Exemplo 6.
Concluso
Alguns dos elementos mais importantes da linguagem villalobiana dos anos vinte, para serem
interpretados adequadamente, devem reter sua ambigidade intrnseca. Expus o conceito de gesto
temtico para explicar um grupo de elementos musicais com caractersticas constantes nesse estilo.
Os elementos gestuais so um carter mais do que tm um carter , que se desenvolve em vrias
formas, nenhuma conclusiva. A metfora que melhor se aproxima da realidade musical aqui no a
da narratividade linear, em que um personagem, digamos, a Cinderela suja e pobre, esconde uma
princesa, que o que ela essencialmente, e que deve aparecer aps um percurso acidentado
12
.
Melhor comparao com dramas multidimensionais, como o carnaval e mitos pr-modernos
13
.
A cada mscara instaura um mundo com seu prprio nvel de realidade, sem verdades a afirmar,
fundados no riso e na lgrima que no so argumentos passveis de refutao. Isto , os temas
villalobianos querem ser temas, mas no deixam de ser fragmentos, interpolaes, cadncias, no se
submetem com facilidade.
8
Para finalizar de maneira um pouco bvia, mas pertinente, diria que a fora dos gestos
temticos semelhante dos clowns que passeiam pela literatura de Mrio de Andrade dos anos
vinte, a qual conjuga o modernismo iconoclasta com uma urbanidade que tpica tambm de Villa-
Lobos. O mundo do carnaval no dialtico: musical. Cada clown, ou melhor, cada clvis ou
bate-bola, cada som pode, como ator em cena, dizer / cantar: Eu sou trezentos, sou trezentos-e-
cincoenta
14
, como j fizera aquele musiclogo rfico, apesar de sua frieza de paulista
15
. Um
simples tema quer ser muitos temas (e no-temas) ao mesmo tempo, e ao querer, j os ,
incluindo seu contrrio em si mesmo, e se completando.
9
Notas
1
Parfrase a partir de Clarice Lispector (1976 [1973], 1213). Apenas substitu olhar (no
original) por som (em itlico).
2
Propor uma concepo como essa significa procurar responder questo posta por Tarasti, e ainda
sem uma resposta conclusiva: Os Choros so uma nova forma de composio? (Tarasti 1995).
Essa questo se debrua sobre a afirmao, em tom didtico, que aparece na edio do Choros n.
3, e que explica o que so os Choros. A recolocao da questo corresponde a desconfiar do
contudo daquela afirmao (alis, sempre convm, por mtodo, desconfiar do bvio); nesse caso,
desconfia-se da unidade / coerncia do conjunto do ciclo dos Choros (cf. Nbrega 1974, p. 910).
3
Sobre a teoria de molduras interpretativas, originada na Anlise do Discurso, aplicada msica,
ver Feld (1994); Lima (2003).
4
Nesse sentido, cf. Mammi (1987).
5
A preferncia foulcauldiana de se focalizar os pontos de crise dos sistemas, os marginais, os
excludos e os sem voz, como proposta epistemolgica, tem tido importante influncia em
diversos campos das humanidades recentemente, inclusive nos estudos musicais. Entretanto, tal
influncia ainda relativamente tmida na musicologia brasileira, especialmente quando a
abordagem quer privilegiar a anlise do texto musical.
6
Sobre tpicos musicais, cf. Ratner (1999 [1985]); Hatten (1994).
7
Aqui j fica patente uma diferenciao fundamental entre um campo simblico e um outro campo
social, paralelo ou independente, cujas relaes com o primeiro no sero abordadas neste
trabalho, mas se presume que possam ser tanto diretas quanto indiretas. Adaptando idias de
Althusser (1979 [1965], esp. p. 142150) sobre o produto terico, eu diria que a interpretao da
msica como produto depende do tipo de trabalho feito sobre outros produtos simblicos (p. ex.,
discursos acadmicos e crticos) exteriores. Cf. Bourdieu (1979) para um estudo clssico sobre o
esforo pela legitimao de produtos culturais (inclusive a msica: p. ex. 8287; passim). Cf.
Arajo (1992) para uma aplicao de teorias marxistas / ps-estruturalistas abordando a msica
como trabalho.
8
Reconhecer uma atitude narcsica que revela o quanto nos projetamos nos discursos
simblicos tambm musicais que interpretamos e produzimos. Para sermos fiis a Villa-Lobos
(no o indivduo emprico!), para no analisarmos a ns mesmos, na forma de nosso bias e nossos
cnones prprios, temos que esquecer nossa prpria brasileirice, a prpria influncia villalobiana
que veio pelo aprendizado musical. Em outro trabalho, desenvolverei a vertente narcsica-
psicanaltica das posies colocadas aqui.
9
Sobre a concepco dedutiva de competncia musical, cf. Stefani (1982; 1987); Lima (2001). Sobre
a concepo semitica de leitor ideal, cf. Eco (1979).
10
10
Melodia tomada de uma coleo publicada por Roquete Pinto, atribuda aos ndios Pareci, e que
voltou a ser utilizada por Villa-Lobos em outras obras (por exemplo, nos Choros n. 7 e na
Introduo aos Choros). Lembro que o carter indigenista e a utilizao de elementos musicais
emprestados a tradies indgenas foi criticado por Mrio de Andrade a partir do Ensaio, no qual
qualquer aura de exotismo era repudiada (cf. Andrade 1972 [1928]).
11
Referncias edio Max Eschig 8342.
12
Cf. a descrio do mtodo proppiano, feita por Tarasti (1994, 36), assim como sua descrio do
percurso gerativo greimasiano (op. cit. 4754).
13
Cf. Tarasti (1979) para anlises semiticas de ao menos duas adaptaes de mitos pr-
modernos em contextos histricos e musicais prximos a Villa-Lobos: a sinfonia Kullervo, de
Sibelius (baseada em lendas picas da Carlia, reunidas no sculo XIX), e a pera dipus Rex, de
Stravinsky (baseada na tragdia grega de Sfocles).
14
Andrade (1993 [1930]).
15
Andrade (1993 [1923]).
Referncias bibliogrficas
ALTHUSSER, Louis. Sobre a dialtica materialista (Da desigualdade das origens). In: A Favor de
Marx. Traduo de Dirceu Lindoso. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 140193. Traduzido de:
Sur la dialectique matrialiste. In: Pour Marx. Paris: Maspero, 1965.
ANDRADE, Mrio de. Carnaval carioca. In: Poesias Completas. Org. por Dila Zanotto Manfio.
Belo Horizonte / Rio de Janeiro: Vila Rica, 1993. p. 165. Publicado originalmente em Cl
do Jaboti. So Paulo: Autor, 1927.
_____. Ensaio sobre a msica brasileira. So Paulo: Martins, 1972 [1928].
_____. Eu sou trezentos. In: Poesias Completas. Org. por Dila Zanotto Manfio. Belo Horizonte /
Rio de Janeiro: Vila Rica, 1993. p. 211. Publicado originalmente em Remate de Males. So
Paulo: Autor, 1930.
ARAJO, Samuel. Acoustic Labour in the Timing of Everyday Life: A Critical Contribution to the
History of Samba in Rio de Janeiro. Musicology PhD thesis: University of Illinois at
Urbana-Champaign, 1992.
BOURDIEU, Pierre. La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979.
ECO, Umberto. Lector in fabula: la cooperazione interpretativa nei testi narrativi. Milano:
Bonpiani, 1979.
11
FELD, Steven. Communication, Music, and Speech about Music. In: KEIL, Charles; FELD, Steven.
Music Grooves: Essays and Dialogues. Chicago / London: University of Chicago, 1994. p.
7795.
HATTEN, Robert S. Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation and Interpretation.
Bloomington: Indiana University, 1994.
_____. Thematic Gestures, Topics, and Tropes: Grounding Espresive Interpretation in Schubert. In:
TARASTI, Eero (org.). Musical Semiotics Revisited. Imatra: International Semiotics
Institute, 2003.
LIMA, Luiz Fernando Nascimento de. Live samba: Analysis and interpretation of Brazilian
pagode. Imatra: International Semiotics Institute, 2001.
_____. Msica e Fala: O Discurso Verbal em um Espetculo de Samba. Latin American Music
Review. v. 24, n. 1, 2003.
LISPECTOR, Clarice. gua Viva. So Paulo: Crculo do Livro, 1976 [1973].
MAMMI, Lorenzo. Uma gramtica do caos. Novos Estudos (CEBRAP). n. 19, p. 103112, 1987.
NBREGA, Adhemar. Os Choros de Villa-Lobos. Rio de Janeiro: Pr-Memria / Museu Villa-
Lobos, 1974.
RATNER, Leonard G. Classic Music: Expression, Form and Style. New York: Wadsworth, 1999
[1985].
SEIXAS, Guilherme Bernstein. Elementos texturais e linguagem harmnica no Choros N
o
6 de
Villa-Lobos. In: Anais do 2
o
Colquio de Pesquisa. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. p. 3037.
STEFANI, Gino. La competenza musicale. Bologna: CLUEB, 1982.
_____. A theory of musical competence. Semiotica. v. 66, n. 1/3, p. 722, 1987.
TARASTI, Eero. Heitor Villa-Lobos: The Life and Works, 18871959. Jefferson: McFarland, 1995.
_____. Myth and Music: A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth in Music, Especially that of
Wagner, Sibelius and Stravinsky. The Hague: Mouton, 1979.
_____. A Theory of Musical Semiotics. Bloomington: Indiana University, 1994.
Partitura
VILLA-LOBOS, Heitor. Choros (N
o
7) Settimino. Partitura de bolso 8342. Paris: Max Eschig, s/d
[1924].
12
Exemplo 1:
Exemplo 2:
Exemplo 3:
Exemplo 4:
Exemplo 5:
13
Exemplo 6:
Volume e timbre no violo: uma abordagem experimental
Luiz Alberto Bavaresco de Naveda
Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)
Centro de Formao Artstica da Fundao Clvis Salgado (CEFAR)
naveda@naveda.cjb.net
www.naveda.cjb.net
Resumo: Os problemas com o volume sonoro no violo clssico tem sido uma constante
nos diversos contextos de atuao dos violonistas e construtores. Objetivo: neste estudo, alguns dos
recursos timbrsticos mais utilizados da tcnica violonstica foram analisados e avaliados na sua
capacidade de otimizar o volume. Metodologia: atravs de testes psicoacsticos e anlises de
componentes espectrais foi observada a influncia dos principais fatores do timbre dos recursos
violonsticos na percepo do volume. Concluso: os resultados demonstram uma dependncia do
volume percebido da combinao entre decaimento e transientes do incio do ataque. O volume
percebido dos tipos de recursos violonsticos normalmente utilizados para o incremento do volume
como o apoiado, parece no depender significativamente do atributo timbre.
Palavras chave: timbre, volume, violo.
Abstract: The problem of the loudness in the classical guitar has been a constant in all spheres of
guitarists and luthiers. Objective: in this work, some of the most used timbristic recourses in guitar
technique were valued in its capability to increase loudness. Methodology: the influence of the main
factors in the guitars timbre and loudness perception was observed through psychoacoustic tests
and analysis of spectral components. Conclusion: the results show a loudness dependency to decay
and transients at the beginning of the attack. The loudness of the guitars recourses often used to
increase the loudness such as apoiado attack, seems not to depend significantly of the timbre
attribute.
Keywords : timbre, loudness, guitar.
As caractersticas do volume do violo e de seus antepassados tm sido uma temtica
recorrente de discusses e uma fonte de desenvolvimentos, polmicas e transformaes na
tcnica e estrutura deste instrumento. Mesmo sendo um dos instrumentos mais populares do
mundo, o violo parece carecer de afirmaes como instrumento capaz de lidar com as
exigncias da tradio musical erudita e as exigncias acsticas de grandes platias e
formaes. Com a aplicao da energia eltrica na amplificao as demandas por potncia
acstica foram em parte resolvidas, entretanto, exigncias e tradies estticas da msica
erudita ocidental e o que chamamos de sonoridade do violo erudito impem limites que
selecionam e rejeitam varias transformaes acsticas
1
. Assim que o violo passa a ser
1
E no sem propsito, protegem uma tradio de clareza, sonoridade, musicalidade e preciso.
sistematicamente amplificado, o som amplificado rompe com uma tradio calcada em um
dos parmetros mais complexos e esteticamente selecionados na msica: o timbre.
Mesmo considerando as atuais possibilidades tecnolgicas de incremento da capacidade
sonora do violo, os violonistas, em sua maioria, utilizam um leque de elementos tcnicos e
musicais no trabalho com a capacidade sonora disponvel em seus instrumentos e com os
contextos acsticos da performance. Estes elementos permitem realizar diferenciaes de
intensidade (e.g. pianssimo, fortssimo) to distintas quanto qualquer outro instrumento, ou
conjunto de instrumentos, mas com nveis de intensidade e potncia bem inferiores. As
diferenas de intensidade esto sempre acompanhadas de transformaes mais ou menos
contundentes no timbre e estas so relacionados pela literatura violonstica com a
capacidade de otimizar o volume do instrumento ou aumentar a sensao de volume
percebido. Na figura 1.1 observamos o que ocorre, por exemplo, com a gama do espectro
de um crescendo no violo: medida que a intensidade aumenta (eixo vertical), surgem
componentes espectrais transitrios, principalmente em alta freqncia, que podem ser
relacionados com rudos, pois normalmente no possuem relao com os harmnicos da
fundamental.
FIGURA 1: Espectrograma de um crescendo realizado pelo violo. Observamos que o aumento da amplitude
(eixo vertical) durante o tempo acompanhado de um alargamento lateral do contedo de
parciais envolvidas na gama de freqncias audveis.
A capacidade de variao prtica de volume no violo pelos recursos tcnicos bem
descrita na literatura, e apresenta o ataque Apoiado e a regio de ataque Sul-Ponticello
como os recursos mais eficientes na aquisio de volume (SOR, 1980; TAYLOR, 1990;
PAVLIDOU, 1997; PUJOL, 1969; GLISE, 1997). Vrios estudos relacionados com a
percepo do volume reafirmam este fato no qual a presena de parciais inarmnicas e
parciais em alta freqncia, que caracterizam estes dois recursos, fazem com que estes
timbres sejam percebidos com mais intensidade pelo ouvido humano (FLETCHER &
MUNSON, 1933; ROEDERER, 1998; ROSSING, 1990). Entretanto, o peso especfico dos
diferentes timbres e caractersticas espectrais do som do violo na percepo do volume
no foi devidamente discutido, e ser abordado como problema central deste trabalho
experimental. Os estudos aqui apresentados foram realizados durante curso de Mestrado
em performance musical da Escola de Msica da UFMG sob orientao do Prof. Dr.
Maurcio Loureiro, e foram registrados na ntegra em NAVEDA (2002).
Metodologia
A idia central deste modelo experimental foi apresentar pares de cruzamentos entre
amostras de timbres diferentes com a mesma fundamental, para que sujeitos humanos
avaliassem as tendncias hipotticas de algum timbre utilizado ser considerado mais forte
que os outros. A base de amostras dos experimentos utilizou amostras de notas isoladas no
violo, tocadas com o mximo de intensidade possvel (sem no entanto provocar o
estouro ou batimento das cordas com os trastes). Cada nota foi gravada com 6 variaes
de ataques diferentes, obtidos com o cruzamento de dois tipos de ataque - Apoiado e
Tirando com trs posies de ataque - Sul-Ponticello, Normal (ordinrio) e Sul-Tasto
resultando em 6 combinaes distintas, listadas na tabela 1, com a nomenclatura utilizada
para cada combinao. Foram utilizadas 12 notas espalhadas pela extenso do violo at a
12 cada, totalizando 72 amostras.
TABELA 1: Variaes de ataques originados do cruzamento dos tipos e regies de ataques.
Como o volume de cada nota gravada apresentava grandes variaes de nveis de
intensidade
2
, o que interferiria diretamente em qualquer comparao de volume entre as
notas, foram desenvolvidos vrios processos de equalizao do volume para cada grupo de
notas de mesma altura. A natureza transiente e abrupta de caractersticas do som do violo
como decaimento
3
, timbre e amplitude, principalmente nos primeiros 100 milissegundos do
ataque (HADJA et al, 1997; FIRTH, 1982; TAYLOR, 1990) foi um complicador que
forou o processamento dos sons para a equalizao de cada grupo de amostras testadas
segundo um padro timo de equalizao. Este processo, detalhado em NAVEDA (2002),
transformou digitalmente as amostras para que a energia mdia (RMS) fosse igualada
4
em
2
Decorrentes das no linearidades da resposta do instrumento e da impossibilidade de controle exato do
volume por instrumentistas (GREY, 1975)
3
Decrscimo da amplitude quando no h mais fora vibrante.
4
Mesmo nvel de energia RMS no perodo indicado.
todas as amostras at um perodo de tempo definido e calibrado experimentalmente para
cada nota (entre 80 e 100 milissegundos).
Aps a equalizao cada grupo de 6 amostras de cada nota foi preparada para a
apresentao aleatria e avaliao subjetiva pelos sujeitos. O processo de apresentao,
coleta e disposio dos resultados dos sujeitos em tabelas foi auxiliado
computacionalmente atravs do software MEDS (KENDALL, 2001). Em cada avaliao
eram apresentadas um par de amostras aleatrias, seguidas da apresentao automtica de
uma rgua de avaliao (figura 1), com o cursor posicionado tambm aleatoriamente. Os
sujeitos eram orientados movimentar o cursor da rgua respondendo se a segunda amostra
apresentada no par era mais forte (extrema direita), mais fraca (extrema esquerda) ou
com o volume igual (centro) primeira. O resultado gerou resultados em uma escala em
cinco posies registradas por nmeros inteiros de -2 a 2 (mais fraco= -2, igual= 0 e mais
forte= 2), no visveis ao sujeito, em um total de 36 cruzamentos de cada nota. Um volume
confortvel para a audio das amostras foi regulado na fase de treinamento e a durao do
teste completo foi de aproximadamente 40 minutos, considerando 10 minutos de
treinamento anterior. Seis sujeitos foram submetidos ao teste realizado com fones-de-
ouvido nos estdios da Escola de Msica da UFMG, seguindo a orientao de LEVITIN
(1999) para experimentos psicoacsticos.
FIGURA 2: Rgua de resposta utilizada nos testes com o software MEDS.
Os resultados dos testes de volume percebido foram comparados com anlises de tempos de
decaimento, contorno da envoltria, anlises espectrais e descries da forma de onda no
domnio do tempo que foram realizados nas amostras normalizadas. Estas anlises
proporcionaram uma srie de caracterizaes, generalizaes e diferenciaes das 6
variaes de ataques utilizados nos experimentos.
FIGURA 3: Quadro demonstrativo das anlises realizadas no experimento e dados complementares. A mdia
RMS 1 indica a mdia de energia RMS antes da normalizao, a mdia RMS 2 indica a mdia
de energia RMS aps a normalizao, T.D. indica o tempo de decaimento em milissegundos
Resultados
Para os resultados obtidos no teste de volume percebido foi aplicado o teste-t de hipteses
(p=0,05) e realizadas uma srie de pontuaes e mdias das mdias estatisticamente
significativas para cada ataque em todas as notas. Todos os resumos de dados
estatisticamente vlidos apontaram para uma descrio exemplificada no grfico 1 de
mdias das mdias significativas, que indicam as tendncias de um ataque ser percebido
como mais forte que outros, em todos os testes.
FIGURA 4: Grfico de mdias das mdias significativas obtidas no teste de hipteses. (Ver legenda na Tabela
1).
Os resultados obtidos indicam uma forte tendncia do timbre B Tirando Sul-Ponticello
seguido pelo timbre A tirando normal, serem percebidos com maior volume aps a
equalizao. O ataque B pode ser caracterizado como possuidor de uma poro de
transientes rica e um tempo de decaimento mdio, se comparado a outros ataques. O ataque
A mantm um tempo de decaimento maior e uma presena de transientes mediana. Se
observarmos o comportamento de outros tipos de ataques, podemos supor que a melhor
combinao dos dois elementos decaimento longo e presena de transientes - tende a
provocar as avaliaes de maior volume.
Tendncias isoladas verificadas nos resultados indicam que o decaimento (parmetro
freqentemente relacionado com o termo sustain) tende a ser mais relevante dentro da
combinao relativamente equilibrada de presena de transientes e tempo de decaimento. O
decaimento um parmetro de difcil controle pelo violonista, mesmo porque se
desenvolve aps da interao dedo-corda. Notas tocadas nos bordes, ataques mais
diagonais e o vibrato so alguns recursos normalmente relacionados com o aumento dos
tempos de decaimento. J a presena de transientes, que pode ser relacionada com a
quantidade de rudo e sons com freqncias mais altas no incio do ataque, um pouco
mais controlvel, entretanto subordinado proposta de som ideal de cada violonista, e
no totalmente aplicvel a qualquer proposta musical.
Concluses
As caractersticas que fazem o ataque Apoiado o tipo de ataque mais sonoro dentro da
prtica violonstica parecem no depender significativamente do atributo do timbre uma
vez que, estando as amostras deste ataque equalizadas, obtiveram avaliaes bem abaixo
que as do ataque Tirando. Caractersticas que privilegiaram o ataque Tirando aps a
normalizao parecem estar relacionadas com o maior tempo de decaimento.
A posio de ataque Sul-Ponticello tambm citada como um recurso de aumento de volume
(relacionado com seu timbre mais cheio), teve sua importncia na avaliao de volume
condicionada presena de decaimentos relativamente longos, enquanto ataques como
Apoiado Sul-ponticello obtiveram avaliaes mnimas Este fato nos leva a cogitar que so
na verdade as caractersticas da corda nesta posio (maior possibilidade de deslocamento
da corda sem trastejamentos (TAYLOR, 1990)) que permitem um ataque mais potente pelo
dedo. Mesmo que as caractersticas desta posio de ataque provoquem um aumento
psicoacstico na sensao de volume em virtude do espectro mais distribudo pelas
freqncias audveis, este fator aparenta no ser mais relevante que a magnitude do
deslocamento da corda, ou seja, a energia dispensada pelo instrumentista. Portanto, dentro
dos limites deste modelo experimental, pode-se concluir que a simples correlao entre
aquisio de volume e timbre nos ataques Sul-Ponticello e Apoiado errnea, apresentando
outros fatores de complexidade.
Tais observaes parecem se alinhar na contramo das transformaes no timbre que as
atuais tendncias de construo do violo propem: aumentar a potncia sonora diminuindo
o tempo de decaimento ou a sustentao da nota e modificando o timbre (RICHARDSON,
1994). RICHARDSOM ainda nos adverte sobre este modo de transformao do timbre do
violo:
A maioria dos ltimos desenvolvimentos que ocorreram no violo vieram como
resultado de melhorias nos materiais das cordas ou demandas musicais dos
instrumentistas e compositores. A mudana no deve ser induzida por tecnologia
ou economia. Uma das grandes dificuldades a ser encarada definir quais
mudanas seriam desejveis. No h, nem nunca vai haver, qualquer coisa como o
somideal do violo. (Traduo livre do autor) RICHARDSOM (1994, p. 9-10).
Historicamente, muitas das mais contundentes transformaes do violo (se no a sua
prpria tradio musical) foram antes resultados de situaes notadamente econmicas,
sociais e materiais (como as grandes platias, a portabilidade, o custo, a utilizao do nylon
e a amplificao) que necessidades estritamente musicais. Antes que as transformaes
tcnicas ou materiais ditem novamente as mudanas timbrsticas, quais necessidades
musicais precisaro ser atendidas pelo violo, e quais transformaes estticas sero aceitas
neste timbre e mesmo na estrutura do violo?
Considerando o timbre como um atributo multidimensional (dependente de fatores como
durao, freqncia, volume e espectro) qualquer mudana em qualquer atributo do som do
violo uma transformao timbrstica. Mudar a realidade do violo, dos problemas de
volume ou do timbre inevitavelmente mudar o som do violo. Sob este aspecto, podemos
nos perguntar at que ponto os aparentes problemas de volume deste instrumento (ou
mesmo questes problemticas como a extenso e variabilidade timbrstica) so parte
intrnseca da prpria identidade timbrstica deste instrumento, se as necessidades das
prticas musicais atuais no exigiriam outro instrumento completamente novo, um novo
repertrio e prtica violonstica; talvez uma reflexo sobre quais estilos, heranas ou
transformaes timbrsticas caracterizaro este idia sonora que chamamos violo.
Referncias
FIRTH, Ian. Guitars: Steady state and transient response. Journal of guitar acoustics.
Michigan, n 6, p. 42-49, setembro de 1982.
FLETCHER, H.; MUNSON, W. A. Loudness, Definition, Measurement and Calculation.
Journal Acoustical Society of America. N 6, 1933.
GLISE, Anthony. Classical guitar pedagogy. St Joseph: Mel Bay, 1997.
GREY, J. M. An exploration of musical timbre. Dissertao de Doutorado no publicada.
Stanford: Stanford Univerity, 1975.
HADJA, J.; KENDALL, R.; CARTERETTE, E.; HARSHBERGER, M. Methodological
issues in timbre research. In: DELIEGE, Irne; SLOBODA, John A. Perception and
Cognition of Music . Hove: Psychology Press, 1997. p. 253-305
KENDALL, R.A. MEDS: Music experiment development system. 2001a (Software no
publicado) Disponvel na Internet:
http://www.ethnomusic.ucla.edu/systematic/Faculty/Kendall/meds.htm.
LEVITIN, Daniel J. Experimental design in psychoacoustic research In: COOK, Perry.
Music, Cognition and Computerized Sound: an introduction to Psychoacoustics.
Cambridge: M.I.T. Press, 1999. p. 299-328
NAVEDA, Luiz A. B. O volume e o timbre do violo: uma abordagem acstica e
psicoacstica. (dissertao de mestrado no publicada). Belo Horizonte: UFMG, 2002.
PAVLIDOU, Maria. A physical model of the string-finger interaction on the classical
guitar. (Tese de Doutorado em Fsica). College of Cardiff, University of Walles, 1997. 208
p.
PUJOL, Emilio. El dilema del sonido en la guitarra. Buenos Aires: Ricordi Americana,
1969.
RICHARDSON, Bernard E . The acoustical development of the guitar. Journal of the
Catgut Acoustical Society. Vol. 2, n 5 (series III), 1994.
ROEDERER, Juan G. Introduo fsica e psicofsica da msica. So Paulo: Edusp, 1998.
ROSSING, Thomas D. The science of sound. 2 Ed. New York: Addison-Wesley, 1990.
SOR, Ferdinand. Method for the Spanish Guitar. New York: Da Capo, 1980.
TAYLOR, John. Tone Production on the Classical Guitar. London: Musical New Services,
1990.
FIGURAS
FIGURA 1: Espectrograma de um crescendo realizado pelo violo. Observamos que o aumento da amplitude
(eixo vertical) durante o tempo acompanhado de um alargamento lateral do contedo de
parciais envolvidas na gama de freqncias audveis.
FIGURA 2: Rgua de resposta utilizada nos testes com o software MEDS.
Tempo
A
m
p
l
i
t
u
d
e
(
A
r
b
.
)
F
r
e
q
.
(
L
i
n
e
a
r
2
0
-
2
0
0
0
0
H
z
)
M
d
i
a
R
M
S
(
A
r
b
.
)
A
m
p
l
i
t
u
d
e
/
T
e
m
p
o
1s
E
s
p
e
c
t
r
o
g
r
a
m
a
1s
E
n
v
o
l
t
r
i
a
R
M
S
1s
Mdia RMS 1 Mdia RMS 2 T.D.(ms)
-32,34 -23,57 20,20
FIGURA 3: Quadro demonstrativo das anlises realizadas no experimento e dados complementares. A mdia
RMS 1 indica a mdia de energia RMS antes da normalizao, a mdia RMS 2 indica a mdia
de energia RMS aps a normalizao, T.D. indica o tempo de decaimento em milissegundos
FIGURA 4: Grfico de mdias das mdias significativas obtidas no teste de hipteses. (Ver legenda na Tabela
1).
Rtulos de classificao
A Tirando Normal
B Tirando Sul-Ponticello
C Tirando Sul-Tasto
D Apoiado Normal
E Apoiado Sul-Ponticello
F Apoiado Sul-Tasto
TABELA 1: Variaes de ataques originados do cruzamento dos tipos e regies de ataques.
A busca da significao musical:
um breve roteiro dos vrios enfoques
Luiz Paulo de Oliveira Sampaio
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RI O)
lsampaio@microlink.com.br
Resumo: O presente trabalho se insere na linha de pesquisa em linguagem e estruturao musical e
tem por objetivo apresentar um roteiro bsico para a abordagem do problema da significao
musical desde o final do barroco at a segunda metade do sculo XX. A metodologia utilizada foi a
de comparar e classificar os diferentes enfoques de acordo com algumas das grandes linhas do
pensamento terico e filosfico desenvolvidas desde o sculo XVIII. Ao final, o texto mostra a
diversidade de conceitos e interpretaes ligadas questo do significado da msica na cultura
ocidental e conclui que, em muitos de seus aspectos, ainda uma questo em aberto aguardando
novas proposies.
Palavras-chave: semiologia, hermenutica, musicologia
Abstract: This text, pertaining to the domain of musical language and the structural organization of
music, aims at presenting a basic outline to the approach of the problem of musical signification
since the end of the baroque period to the second half of the Twentieth Century. By comparing and
classifying some of the different accounts of this problem and their relation to certain main lines of
philosophical and theoretical thought developed since the Eighteenth Century, the text shows the
diversity of concepts and interpretations linked to the question of the significance of music in the
western culture and reaches the conclusion that its solution is still an open question awaiting new
propositions.
Keywords: semiology, hermeneutics, musicology
Jean Molino considera a msica como um fato social total, no sentido em
que este definido por Marcel Mauss, para quem o fato social total aquele que,pe em
movimento, em certos casos, a totalidade da sociedade e de suas instituies (....) jurdicas,
econmicas, religiosas e at mesmo estticas, morfolgicas etc... (Mauss, 1975, p. 38).
Certamente deve ter sido em funo dessa complexa interao da msica com um
amplo leque de instituies sociais e culturais, que a sua natureza, sua estrutura e sua
significao vm sendo estudadas e debatidas com tanto empenho e tanta polmica ao
longo da histria da civilizao.
O discurso musical sempre foi um objeto de grande relevncia para a maioria dos
principais filsofos do Ocidente. Mas foi, sobretudo a partir do sculo XVII, com a
crescente evoluo e complexidade da msica instrumental, que as questes relativas ao
significado, estrutura e expressividade da linguagem musical passaram a ser estudadas
mais intensamente. Assim sendo, este breve e esquemtico esboo histrico da interao
2
da teoria musical em geral e, particularmente, da anlise musical com a semiologia
ficar restrito ao perodo que vai do final do barroco musical at o sculo XX.
No decorrer dos sculos XVII e XVIII, a teoria e a prtica musical se
desenvolveram tomando por base trs grandes sistemas de codificao simblica: a
sistematizao e consolidao do sistema tonal, a teoria dos afetos e a transposio e
adaptao de figuras da retrica clssica ao discurso musical. Esta codificao da msica
instrumental e vocal, visando a exprimir as paixes ou afetos, bem como o
desenvolvimento de uma sintaxe harmnica fundada nos modos maior e menor, alm da
estreita relao entre o discurso falado e o discurso musical, forneceram, durante quase 200
anos, os principais temas das discusses filosficas sobre a linguagem musical, sua
significao e sua possvel relao com a linguagem propriamente dita.
Na segunda metade do sculo XVIII, o pensamento racionalista comea a ser
substitudo por um novo paradigma, baseado numa viso histrico-cultural do
desenvolvimento humano. Se at ento a questo da expressividade e da significao da
linguagem musical se resumira adaptao de regras do discurso falado para a construo
de sistemas simblicos, com a conseqente subordinao da msica s regras da palavra,
agora, com o novo enfoque, as atenes concentram-se principalmente nos problemas de
organizao formal e expressividade da msica instrumental. As proposies de Rousseau e
Diderot sobre a natureza da linguagem musical j buscavam separ-la da semntica ao
mesmo tempo em que reconheciam o seu carter artificial no sentido de ser ela uma
construo simblica, fabricada pela cultura humana.
O mesmo movimento ocorreu paralelamente na Alemanha, onde, alm de Johann
Gotfried Herder (1744-1803), surgiu toda uma nova gerao de poetas, literatos, filsofos,
compositores e tericos musicais que buscavam o sentido especfico da msica,
particularmente o da msica instrumental, e sua relao, agora em p de igualdade, com a
poesia, o teatro e a pera. O classicismo vienense, e sobretudo a obra de Beethoven,
representam o momento histrico em que a teoria musical inicia a passagem de um enfoque
predominantemente poitico (ligado criao), para um enfoque essencialmente estsico
(relativo percepo), o momento em que surge a anlise musical como hoje a
conhecemos. Como esclarece Ian Bent: A anlise firmou-se como uma disciplina
3
autnoma somente em fins do sculo XIX; (entretanto) sua emergncia como abordagem e
mtodo remonta dcada de 1750 (Bent, 1987, p. 6)
Um texto notvel do incio do sculo XIX , sem dvida, a monumental anlise
crtica da quinta sinfonia de Beethoven escrita por E.T.A. Hoffmann em 1810. Como
observa Ian Bent (Bent, 1996. p.119), esta anlise adota procedimentos e mtodos similares
queles empregados por Friedrich Schleiermacher na introduo de sua clebre traduo
dos dilogos de Plato. Aquele telogo e filsofo exerceu grande influncia sobre o
pensamento alemo do incio do sculo XIX ao propor um domnio de hermenutica geral
que, segundo Bent, reuniu em uma s disciplina os trs tipos de hermenutica existentes no
sculo XVIII: a hermenutica bblica, a hermenutica da literatura clssica e a
hermenutica jurdica.
Surge, ento, nitidamente, a importncia dada pelo Romantismo interpretao, isto
, ao plano estsico, seja do texto literrio, seja da obra musical, o que explica, em parte, a
estreita inter-relao entre literatura e msica que se observa no perodo inicial do
romantismo. Inter-relao esta que, entre outras coisas, levou ao extraordinrio
desenvolvimento do Lied e, posteriormente, ao surgimento da msica de programa.
Porm, foi com Adolf Bernhard Marx que a anlise musical adquiriu o status de
uma disciplina sistematizada e abrangente. Para este autor, a forma musical, ao contrrio de
uma mera conveno, como queriam os autores do incio do sculo XIX, era um princpio
em constante evoluo, princpio este que teria que ser estudado a partir de arqutipos
fundamentais, a fim de que se pudesse compreender as infinitas variaes geradas a partir
daqueles arqutipos.
Como explica Bent (Bent,1987, p. 28), no tratado de Marx, Die Lehre von der
musikalischen Komposition (1837-47), este terico props uma base epistemolgica da
forma, tratando-a como uma exteriorizao de contedo da obra musical, cujos princpios
de organizao, profundamente enraizados na sua estrutura, poderiam ser revelados pela
anlise por corresponderem a padres fundamentais da organizao mental do ser humano,.
Um marco importante na discusso sobre o significado da msica foi apublicao,
em 1854, de um pequeno livro do crtico e musiclogo Eduard Hanslick, com o ttulo Von
Musikalisch Shnen:Ein Beitrag zur Revision der ethetik der Tonkunst (Do belo musical:
uma contribuio para a reviso da esttica musical). Para este autor ( Hanslick 1989,
4
p.62), O contedo da msica so formas sonoras em movimento, e a diferena essencial
entre a linguagem e a msica consiste em que, na linguagem, o som apenas um signo
para o objetivo de exprimir qualquer coisa ... ao passo que, na msica, o som tem uma
importncia em si, ou seja, o objetivo em si mesmo (Haanslick,1989,p. 86-7). Portanto,
Hanslick nega qualquer contedo semntico e qualquer remisso extrnseca ao discurso
musical, assumindo sua total independncia pelo menos enquanto msica instrumental
em relao linguagem.
Alguns autores, como Jean-Jacques Nattiez, vem em Hanslick um precursor de um
enfoque que prioriza o carter formal do discurso musical: as formas sonoras em
movimento. Enfoque este que originou uma corrente formalista, na qual se incluem
compositores to significativos quanto Stravinsky, Webern e Boulez.
O perodo entre o ltimo quartel do sculo XIX e o incio do XX foi aquele em que
se firmou a Musikwissenschaft (Cincia da msica), a moderna musicologia em suas
bases cientficas.
Segundo Bent, a primeira utilizao musicolgica completa de procedimentos
cientficos foi realizada por Arnold Schering , em 1912, com seu estudo do madrigal
italiano do sculo XIV, quando introduziu a tcnica que denominou Dekolorieren
(Desornamentar), que consistia em retirar os grupos de notas ornamentais (como
mordentes, trilos, melismas etc...) das linhas meldicas, para tornar aparente a progresso
meldica (1987:38). Este tipo de procedimento foi precursor dos sistemas analticos
desenvolvidos por Heinrich Schenker, Rudolph Rti e Leonard Meyer, entre outros.
Outro importante procedimento analtico da poca foi o mtodo de anlise da
estrutura frasal, desenvolvido por Hugo Riemann na ltima dcada do sculo XIX, em que
a construo musical vista como uma fora vital (Lebenskraft), uma funo do fluxo de
energia rtmica de unidades bsicas, que seriam os motivos. digna de nota a abordagem
semiolgica na anlise riemaniana, que considera a obra musical como um fluxo contnuo,
ou seja, como um processo dinmico, em lugar de examin-la apenas em termos de uma
estrutura fixa.
Uma outra vertente analtica importante, que passou por forte evoluo no final do
sculo XIX, foi a da musicologia histrica, cuja figura mais notvel na poca foi Guido
Adler. Adotando uma abordagem que levava em conta o organicismo da histria musical,
5
publicou vrios livros, entre os quais destacam-se Der Stil in der Musik (O estilo na
msica) e Methode der Musikgeschichte (Mtodos da histria da msica), sendo o
pioneiro da anlise estilstica comparada, com uma metodologia que implica em
procedimentos de gramtica gerativa. Um dos primeiros e mais bem sucedidos exemplos de
anlise estilstica, empregando a sistemtica esboada por Adler, foi a tese de doutorado de
Knud Jeppesen, publicada em 1923, na Dinamarca e, posteriormente, em ingls (1927),
com o ttulo The Style of Palestrina and the Dissonance (O estilo de Palestrina e a
dissonncia).
Uma linha analtica de profundas conseqncias surgiu com Heinrich Schenker,
cujo legado mais importante foi o mtodo analtico que desenvolveu para estudar, ao longo
de trinta anos, a estrutura e os processos de criao de obras primas da msica tonal
europia. Schenker considerado por muitos autores como o mais influente terico
analtico da msica tonal no sculo XX. Esta influncia tem sido particularmente
expressiva nos Estados Unidos, onde tericos como Walter Berry e Allan Forte buscam
aplicar determinados conceitos do modelo proposto por Schenker no somente progresso
tonal, como tambm s estruturas rtmicas e mtricas. Por outro lado, o mtodo
shenkeriano, por considerar que a estrutura fundamental de uma obra tonal gerada por um
processo de elaborao linear de um determinado material, um dos tipos do que hoje se
denomina uma anlise prolongacional, pois Shenker considerava que o fulcro de sua
teoria era essa projeo da trade atravs da dimenso temporal da obra. Como observa
Nattiez, na teoria schenkeriana a anlise da estrutura imanente to relevante para o nvel
poitico quanto para o estsico, pois, a partir dos esboos de Beethoven, visa a estabelecer
analiticamente como as obras devem ser percebidas e interpretadas (Nattiez,1990, p.142).
A sistemtica desenvolvida por Jeppensen, que tambm envolve um aspecto
prolongacional, recebeu grande impulso a partir da dcada de 1970, com o rpido
desenvolvimento do computador e a grande disseminao dos trabalhos de lingstica por
Noam Chomsky, proponente da gramtica gerativa, na qual postula que os princpios
formais da linguagem humana so universais. A partir de suas proposies, vrios tericos
e musicistas colocaram em evidncia a questo da possvel existncia de uma estrutura
profunda da msica que poderia ter elementos de carter universal, compartilhados por
todas as culturas humanas.
6
Surgiram, ento, diversas teorias propondo normas para gramticas musicais,
muitas delas inspiradas tambm no modelo schenkeriano. Uma das mais significativas foi
A Generative Theory of Tonal Music (Uma teoria gerativa da msica tonal), obra
publicada em 1983, de autoria de Fred Lehrdahl e Ray Jackendoff.
Dentre os diversos sistemas de sintaxe gramatical que vm sendo desenvolvidos
desde ento, destaca-se o trabalho que Mario Baroni e Carlo Jacoponi desenvolvem, na
Universidade de Bolonha, sobre as regras gerativas das melodias nos corais de Bach e,mais
recentemente (1999), com a colaborao de Rossana Dalmonte, elaborando uma gramtica
gerativa do estilo das arie da camera de Giovanni Legrenzi, compositor do barroco
italiano.
Um tipo completamente diferente de anlise prolongacional foi proposto na dcada
de 1950 por Leonard Meyer, que em seu primeiro livro, Emotion and Meaning in Music
(1956), prope uma teoria da percepo musical baseada em leis da psicologia Gestalt,
sobretudo no que se refere ao axioma da Prgnanz: a lei, segundo a qual, a organizao
psicolgica ser sempre to boa quanto o permitam as condies prevalecentes (Meyer,
1961, p. 86). A partir desse enfoque gestltico, Meyer desenvolve o seu pensamento
analtico de acordo com trs princpios que, segundo ele, determinam os padres
perceptivos da mente humana:
1) A lei da boa continuao
2) O princpio da completeza e da concluso (...)
3) O princpio do enfraquecimento da forma (da configurao).
A teoria da informao ocupou uma posio privilegiada no decorrer da dcada de
1960, e em parte da dcada de 1970, tanto no que se refere anlise quanto composio
musical. Especial importncia foi atribuda teoria dos conjuntos, que permitiu equacionar
certos problemas analticos, tanto estruturais quanto prolongacionais, inerentes msica
atonal e serial. Este foi um perodo em que a criao musical de compositores como, por
exemplo, Milton Babbitt, Luciano Berio, Bruno Maderna, Pierre Schaeffer, Iannis Xemakis
e, principalmente, Pierre Boulez, fundamentou-se e, at certo ponto, foi justificada por
processos analticos e composicionais derivados da teoria da informao, da teoria dos
jogos, da teoria dos conjuntos e da estocstica. Este movimento foi acompanhado por
tericos como Allan Forte, David Lewin e George Perle que empregaram princpios
7
derivados das mesmas teorias, aliados a tcnicas de computao, para descrever e explicar
estruturas e significados da linguagem musical contempornea.
Foi um etnomusiclogo de renome, Bruno Netl, quem primeiro teve a idia de
utilizar na musicologia mtodos desenvolvidos pela lingstica. A partir de ento, as duas
disciplinas vm encontrando inmeros pontos de contato, sobretudo no que se refere ao
estudo dos processos e da estrutura do discurso, tanto o verbal quanto o musical.
A partir da dcada de 1970, destacam-se trs linhas importantes de enfoque
semiolgico da musica: a primeira, de natureza antropolgica e cultural, representada pela
Teoria da competncia musical, de Gino Stefani ; a segunda, baseada no trplice conceito
peirceano do signo, com nfase na cadeia infinita de interpretantes, o Mtodo de Anlise
semiolgica tripartite de Jean Molino e Jean-Jacques Nattiez e a terceira, a semitica
musical de Eero Tarsati, apoiada em Peirce e e na gramtica narrativa de Greimas.
Aqui se encerra esse breve roteiro da busca pela compreenso da natureza e
significao da linguagem musical, um objeto de estudo que, h sculos, vem seduzindo os
tericos e musicistas sem que se tenha ainda chegado a uma concluso definitiva.
Referncias Bibliogrficas
Barthes, R., - The responsibility of Forms, Berkeley, University of California
Press, 1991.
Bent, I., - Analysis (The New Grove Handbooks in Music), Nova York, W.W,
Norton, 1987.
______ , - Plato-Beethoven: a hermeneutics for nineteenth-century music? in
Music Theory in the Age of Romanticism, Cambridge, Cambridge
University Press, 1996.
Cook, N., - A Guide to Musical Analysis, Londres, J.M.Dent & Sons, 1987.
Dahlhaus, C., - Die Idee der absoluten Musik, Kassel, Brenreiter, 1987.
__________ , - Nineteenth-Century Music, Berkeley, University of California Press,
1989.
__________ , - Foundations of Music History, Cambridge, Cambridge University
8
Press, 1997.
Ferrara, L., - Philosophy and the Analysis of Music, USA, Excelsior Music
Publishing Co, 1991.
Hanslick, E., - Do belo musical: Uma contribuio para a reviso da esttica musical
Campinas, Editora da UNICAMP, 1989.
Meyer, L. B., - Emotion and Meaning in Music, Chicago, The University of
Chicago Press, 1961.
_________ , - Music, the Arts, and Ideas, Chicago, The University of
Chicago Press, 1994.
Monelle, R., - Linguistics and Semiotics in Music, Chur, Suia, Harwood
Academic Publishers, 1992.
Molino, J., - Fait musical et smiologie de la musique in Musique en jeu, n.17
1975, pp 37-62.
Nattiez, J.-J. - Music and Discourse, Princeton, N.J, Princeton University Press, 1990.
_________, - Le combat de Chronos et Orphe, Paris, Christian Bourgois, 1993.
Sampaio, L.P., - Do modal ao serial: quatro sculos de transformaes na linguagem
musical do Ocidente, Rio de Janeiro, dissertao de mestrado
apresentada ao Centro de Cincias Humanas da UNIRIO, 1994.
_________ , - Smbolo da razo ou smbolo da paixo? (Uma discusso a propsito
da msica no Sculo das Luzes. Debates - Cadernos de Ps Graduao
em Msica, UNI-RIO, Rio de Janeiro, v. 2, pp. 7-29, 1998.
Stefani, G., - A Theory of Music Competence in Semiotica 66, 1/3, 1987, pp 7-22.
Subotnik, R.R., - The Cultural Message of Musical Semiology: Some thoughts on
Music, Language and Criticism since the Enlightenment in Critical
Inquiry, vol.4/4, 1978, pp.741-768.
9
Tarasti, E., - Smiotique musicale, Limoges, PULIM, 1996.
Msica e religio nos grupos de Congado
Luis Ricardo Silva Queiroz
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
luisrq@bol.com.br
Resumo: Este trabalho objetiva discutir a relao da msica com o carter religioso do festejo
Congadeiro. A partir de um estudo bibliogrfico em religio, religiosidade e festas do Congado, foi
realizada uma anlise de dados empricos coletados na cidade de Montes Claros, buscando elaborar e
delimitar conceitos que possibilitem maior clareza no entendimento da funo musical nos grupos de
Congado. Com base nessa reflexo, foi possvel apontar aspectos particulares da relao entre o fazer
musical e a religiosidade presentes no contexto congadeiro, demonstrando que, mesmo tendo uma
funo essencialmente religiosa dentro desses grupos, a msica se mostra presente de diversas formas
na vida dos integrantes do Congado, transcendendo o sentido sagrado do festejo e se tornando parte do
mundo profano.
Palavras-Chave: Congado, msica, religio
Abstract: The aim of this work is to discuss the relationship between music and the religious feature
of Congados celebration. Data collected was performed in Montes Claros city, in the State of Minas
Gerais, from a bibliographical research on religion, religiosity and Congados parties, in order to
organize and delimitate concepts for a better understanding about music function in Congados
groups. Based on this reflection, it was possible to point out particular features of the relation
between performing musical and the religiosity present in Congadeiros context, showing that, even
with its essential religious role into these groups, the music shows to be present, in any way, among
congados members life, transcending the celebration sacred mean and becoming a part of the profane
world.
Key Words: Congado, music, religion
O Congado uma das mais fortes e importantes manifestaes da cultura afro-
brasileira em Minas Gerais, mescla tradies africanas com elementos de bailados e
representaes populares luso-espanholas e indgenas. Essa manifestao caracterizada, na
sua performance, por danas dramticas ou folguedos acompanhados de expresses musicais,
ricas em variaes sonoras, ritmos e melodias, que apresentam particularidades de acordo
com o grupo e a regio.
Nesse estudo, buscamos compreender a relao entre msica e religio no contexto
congadeiro de Montes Claros - MG, tomando como base uma pesquisa bibliogrfica em
religio e dados empricos coletados nessa cidade. Assim, apresentamos definies de
conceitos relacionados religio, contextualizado-os com dados especficos do Terno de
Catops de Nossa Senhora do Rosrio do Mestre Joo Farias.
Para Durkheim (1996), a religio, que compe um todo, no pode ser definida seno
em relao s partes que a formam. Assim, o autor a considera como um sistema composto de
mitos, dogmas, ritos e crenas, dentre outros. Essas subdivises que, segundo o autor, podem
1
ser chamadas de fenmenos religiosos, em alguns casos no dizem respeito a nenhuma
religio especfica, mas configuram a religiosidade de um determinado grupo.
Definimos, ento, religio como ... um sistema solidrio de crenas e de prticas
relativas a coisas sagradas [...] crenas e prticas que renem numa mesma comunidade
moral, chamada igreja e/ou templos, todos aqueles que a elas adorem. (Durkheim, 1996, p.
32). Da mesma forma, a religiosidade tambm composta de crenas e prticas, de
fenmenos religiosos referentes ao mundo sagrado. Porm, no se constitui de caractersticas
particulares de uma determinada religio, ou seja, no segue as doutrinas de uma religio
especfica. Assim, o homem pode ter religiosidade sem necessariamente fazer parte de uma
religio especfica.
Durkheim classifica os fenmenos religiosos em duas categorias fundamentais: as
crenas e os ritos. A crena religiosa, segundo Laburthe-Toira e Warnier (1997), implica,
antes de tudo, o fato de postular a existncia de um mundo invisvel, em p de igualdade com
o visvel, embora diferente, pelo simples fato de sua no evidncia. Dessa forma, a crena so
estados de opinio, adotados com f e convico.
Durkheim afirma que os ritos somente podem ser definidos e distinguidos das outras
prticas humanas pela natureza especial do seu objeto. Assim, necessrio caracterizar o
objeto do rito para que seja possvel caracterizar ele prprio. Como na crena que a natureza
do rito se exprime, somente possvel defini-lo aps se ter definido a crena que o norteia.
Dessa forma, para entender a relao da msica com um ritual, como o do Congado,
necessrio que compreendamos as crenas que constituem essa manifestao e, somente a
partir da, buscarmos um entendimento maior dos aspectos religiosos e musicais que compe
esse ritual.
Para os congadeiros, a festividade do ritual a forma prtica de manifestar a sua f e
a sua devoo ao Divino Esprito Santo, So Benedito e Nossa Senhora do Rosrio. Dessa
forma, eles crem nesses santos e em Deus como verdadeiros condutores de suas vidas,
capazes de ajudar nas decises, nas aes e em todas as outras atividades da vida cotidiana
que est, de certa forma, submissa ao mundo sagrado. a partir dessas crenas que o ritual
toma sua forma, passando a ter um sentido real. Em depoimentos dos congadeiros possvel
perceber como a crena religiosa est presente na prtica do rito: Tudo depende da f da
pessoa, tm muitos que num agenta, porque ns desfila muito tempo, mais eu tenho que
guentar, e na hora que t na frente do terno eu arrumo fora, a divuo e a f que da fora.
2
(Mestre Joo Farias
1
). Uma afirmao com esse mesmo sentido feita por outro integrante do
terno de Catop de Nossa Senhora do Rosrio, comandado pelo mestre Joo Farias,
reafirmando a religiosidade presente na manifestao do Congado:
At os outros Catop fal assim comigo onti, pra mim ensinar com que eu
pulo pra eles v. Eu num ensino no, cs pula o que o cs sabe, eu pulo o que
eu sei. Isso depende da f da pessoa, se h f e fora de vontade. Se ele
cumea a pular e se esmurecer ele para, num guenta. (Juvenal
2
)
O Congado uma manifestao afro-brasileira que segue as doutrinas da religio
catlica. Suas crenas se igualam s dessa religio, no sentido que adora e cultua santos
catlicos. Porm, no ritual se percebe o sincretismo com o afro-brasileiro, pois traz em sua
estrutura caractersticas de celebraes e cultos africanos. Desse modo, o ritual congadeiro se
difere de outras formas tradicionais de culto da religio catlica.
A complexidade em torno do conceito de ritual notria na literatura antropolgica.
No entanto, para nossas reflexes acerca da religiosidade nas festas do Congado, definiremos
ritual como um conjunto de procedimentos e aes compostos por atos e smbolos que
comemoram e celebram as divindades mitos. Atravs das suas crenas o homem tem seu
contato com o mundo sagrado, invisvel, que reconstitudo no mundo visvel pelo ritual. O
prprio sistema de relaes entre o homem e a esfera do sagrado seria, ento, expresso nos
mitos e vividos pelos ritos. (Laburthe-Toira; Warnier, 1997, p. 206). O rito no Congado tem
a funo remeter os participantes do ritual para alm do contexto fsico, colocando-os em
contato com o mundo sagrado das divindades. Os ritos so momentos especiais de
convivncia social. (DaMatta, 1997, p. 76).
A partir de um entendimento do conceito de ritual, delimitado para nossas reflexes
nessa abordagem, que poderia ser aplicado ao festejo congadeiro, surge o problema
fundamental desse estudo: entender o papel ou os papis da msica dentro desse ritual
religioso. Nessa perspectiva, nos parece claro, o fato de que a msica tem um significado
extra mundano, que a desloca de um elemento trivial do mundo social, transformando-a em
um smbolo que, no contexto do Congado, permite engendrar um momento especial e
1
Joo Farias mestre do terno de Catop de Nossa Senhora do Rosrio de Montes Claros MG. Nasceu em
1943, integrante do Catop desde os 8 anos e tem 32 anos de Mestre. Os dados apresentados nesse trabalho
foram coletados em entrevistas realizadas durante as festas de Agosto na cidade de Montes Claros, entre os dias
15/08/2002 e o dia 18/08/2002.
2
Integrante do Terno do mestre Joo Farias - Juvenal nasceu em 1957 e integra o Congado desde os 8 anos de
idade.
3
extraordinrio, o contato com o mundo sagrado, com os santos que do sentido e significado
ao ritual: So Benedito, Divino Espirito Santo e Nossa Senhora do Rosrio.
Assim, a msica do Congado no pode ser entendida se, separada do seu carter
religioso, for analisada somente do ponto de vista esttico, desvinculada dos demais valores
simblicas que, nesse contexto, lhes so atribudos.
Os Congadeiros, em Montes Claros, no se referem msica como uma prtica que
possa ser isolada da religio. Para eles, a msica, assim como qualquer outro elemento do
ritual, no tem somente uma conotao artstica. Esses devotos se referem aos fatores que
exteriormente so denominados artsticos, como componentes do que eles chamam de
brincadeira, que o prprio ritual. Para os congadeiros do terno do mestre Joo Farias, no
se faz msica, mas se brinca com ela, demonstrando a devoo aos santos e religio.
Dessa forma, todas as atividades artsticas do Congado, inclusive a msica, so
classificadas como um meio de contato com o sagrado, onde reside as suas crenas religiosas,
crenas que, de uma maneira geral, supem uma classificao das coisas reais ou ideais,
designadas geralmente pelos termos profano e sagrado (Durkheim, 1996). Com base nas
questes apresentadas anteriormente, acreditamos ser fundamental refletir sobre como os
congadeiros lidam com a distino, entre sagrado e profano, e de que forma eles convivem
com esses dois mundos.
O sagrado e o profano no ritual
O sagrado s pode ser definido se considerarmos inicialmente o que se entende por
profano. Muitas vezes se define este ltimo como o no religioso, mas em concordncia
com Serra (1999), o profano s tem sentido numa perspectiva religiosa, onde se ope a noo
de sagrado. a religio que divide o mundo nesses dois extremos. Ento, ...a primeira
definio que se pode dar ao sagrado que ele se ope ao profano. (Eliade, 1992, p. 17).
O profano, assim, diz respeito ao mundo fsico, cotidiano, natural, sem ligao
com o divino, alheio aos significados sobrenaturais, restrito aos valores do mundo visvel. Por
outro lado, o sagrado se manifesta como uma realidade distinta das realidades naturais.
Para um entendimento dessa dualidade, entre o sagrado e o profano no Congado,
definiremos sagrado segundo Eliade (1999), que o descreve como a manifestao de algo de
ordem diferente de uma realidade que no pertence ao nosso mundo em objetos que so
partes integrantes do cotidiano natural, profano. Portanto, o sagrado no est associado a um
objeto ou matria fsica em si mesmo, mas no significado sobrenatural que lhe atribudo
pela manifestao do divino, que no caso do Congado proporcionaria o contato entre o cu e a
4
terra, entre o homem e as divindades entre os congadeiros e So Benedito, Divino Esprito
Santo e Nossa Senhora do Rosrio.
Partindo dessa definio podemos afirmar que o ato de fazer msica, ou seja, tocar e
cantar no Congado, no sagrado em si mesmo, mas a f e o significado desse ato que o
torna distinto dos demais que compem o mundo profano e que, portanto, o tornam sagrado.
Podemos perceber tal fato na seguinte afirmao: Ento, a influncia de brincar, n, dentro
dos Catops, a pessoa adquire, com a f no santo. Primeiramente, pedir a Deus pr iluminar
ele ser um Catop, de f. Catop tem que ser de f! Sem f, num nada! (Juvenal).
No Congado, a msica o ponto de interseo do ritual, pois ela conduz os festejos
que, em sua totalidade, so compostos de outros elementos, instrumentos sagrados do rito.
Msica, instrumentos musicais, dana, roupas estilizadas, fitas coloridas e capacetes
enfeitados, compem os objetos e atos sagrados do Congado. Cada signo, com o seu
significado, constitui e simboliza a complexidade do ritual, complexidade esta que no pode
ser percebida pela simples observao externa, que tende a qualificar os instrumentos
musicais, e todos os demais signos do rito, como simples objetos do mundo profano, enquanto
para o contexto congadeiro eles so partes que constituem o todo, o mundo sagrado.
h! c pode presta ateno, essa cruz, todo capacete tem isso, f mesmo, vou
explicar que eu chego arrupiar: se a pessoa brincar com f, ele recebe todas as
graa, Deus que d orientao. Pro c dirigir um tero, c tem que
primeiramente pedir a Deus [...] tem que explicar a palavra de Deus.
(Juvenal).
Para o homem religioso [...] a durao temporal profana pode ser parada
periodicamente pela insero por meio dos ritos, de um tempo sagrado, no histrico (no
sentido de que no pertence a um tempo histrico). (Eliade, 1992, p. 66). Essa afirmao nos
remete a um comentrio do mestre Joo Farias que diz que l dentro do Catop, na hora de
comandar o grupo, ele se transforma e assume a direo para poder realizar o ritual dos santos
de quem devoto. Joo Farias afirma: depois da festa eu esqueo tudo de ruim que
acontece. Para o mestre, a vida fora do festejo bem diferente. L no grupo ele passa raiva
por que o responsvel direto pela devoo aos santos e por isso ele tem que arrumar foras
e batalhar para o ritual se consolidar da melhor forma. O homem religioso se quer diferente
do que se encontra ao nvel natural, esforando-se por fazer-se segundo a imagem ideal que
lhe foi revelada pelos mitos. (Eliade, 1999, p. 153).
Deste modo, percebemos que a vida cotidiana nesses dias parada para dar lugar ao
sagrado, a uma realidade bem diferente daquela de trabalhador comum no dia-a-dia.
5
justamente a reintegrao desse tempo original e o sagrado que diferenciam o comportamento
humano durante a festa daquele de antes ou depois (Eliade, 1999, p. 76).
Quando perguntado sobre como escolhido um mestre, Joo Farias afirma: quem
manda a prpria divuo. Ele comenta que s quem tem f e devoto verdadeiro tem
foras para se tornar um mestre. Muitos no conseguem desfilar todos os dias, pois ficam
cansados com a maratona do cortejo. Mestre Joo aponta esse como um dos problemas para o
grupo: a raiva que eu passo porque [os catops] num vai tudo no dia. Ento, ele busca
amenizar, contando com um grupo que mantenha a base para o festejo: o que eu batalho
para os que sabe ir no dia: um caxero, um tocador de chama.
Esse tempo das festas do Congado em Montes Claros, que comea no dia 1 de maio
com os ensaios, culmina na festa em agosto e vai at dia 7 de setembro, um perodo de
dedicao e devoo, onde a vida cotidiana tempo original- dos congadeiros
transformada por uma dedicao ao tempo sagrado do festejo, tempo este que o tempo da
origem, o instante prodigioso em que uma realidade foi criada, em que ela se manifestou (...)
o homem esfora-se- por voltar a unir-se periodicamente a esse tempo original.
Essa festa tem um significado particular para os integrantes dos grupos de Congado,
que vivem nesse perodo uma transformao do seu valor pessoal frente sociedade. Sua
comemorao - brincadeira - traz o seu ritual de forma reatualizada para a apreciao e
interao com os demais grupos sociais. ... a festa no a comemorao de um
acontecimento mtico (e portanto religioso) do passado, mas sim sua reatualizao e,
conseqentemente, sua reafirmao no presente. (Eliade, 1992, p. 73).
Concluso
A msica nos grupos de Congado tem fundamentalmente uma funo religiosa. Ela
o principal veculo de ligao entre o homem e o divino. As prticas musicais, que so parte
intrnseca do ritual, assumem caractersticas sagradas no mundo invisvel, no podendo ser
percebidas e analisadas de forma desvinculada dos significados que lhes so atribudos dentro
do contexto congadeiro. Entre o sagrado e o profano, as festas do Divino Esprito Santo, So
Benedito e Nossa Senhora do Rosrio representam para os integrantes do Congado a
revalidao do tempo sagrado, que durante os festejos transformam homens simples em
mestres e devotos responsveis pela celebrao do ritual que festeja e manifesta a f dos
homens em Deus e nos santos catlicos.
6
Referncias Bibliogrficas
DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heris: para uma sociologia do dilema
brasileiro. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
DURKHEIM, mile. As formas elementares da vida religiosa. Traduo de Paulo Neves.
So Paulo: Martins Fontes, 2000. Original francs.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essncia das religies. Traduo de Rogrio
Fernandes. So Paulo: Martins Fontes, 1992. Original francs.
LABURTHE-TOIRA, Philippe; WARNIER, Jean-Pierre. Etnologia Antropologia. 2.ed.
Traduo de Anna Hartmen Cavalcanti. Petrpolis: Vozes, 1997. Original francs.
SERRA, Ordep. Rumores de festa: o sagrado e o profano na Bahia. Salvador: EDUFBA,
1999.
WEBER, Max. A tica protestante e o esprito do capitalismo. Traduo Pietro Nassetti. So
Paulo: Martin Claret, 2002. Original Alemo.
1
Educao musical e etnomusicologia: uma reflexo sobre as
contribuies do estudo etnomusicolgico para a rea de educao
musical
Luis Ricardo Silva Queiroz
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
luisrq@bol.com.br
Resumo: Esse trabalho apresenta reflexes sobre relaes entre as reas de educao musical e
etnomusicologia. Com base em uma pesquisa bibliogrfica que aborda os campos de Educao,
msica e cultura, esse artigo objetiva compreender como os estudos etnomusicolgicos podem
contribuir para a rea de educao musical. A partir das nossas anlises, foi possvel concluir
que mesmo apresentando idiossincrasias em suas abordagens, as reas de educao musical e
etnomusicologia se relacionam e, de certa forma, se completam em muitos aspectos.
Palavras-chave: educao, msica, etnomusicologia
Abstract: this article presents a reflection on the relations between the areas of musical
education and ethnomusicology. The aim of this paper that was based on a bibliographic
research approaching the field of Education, music and culture, is to understand how to
ethnomusicologic studies can contribute to the field of musical education. Based on these
analysis it was possible the conclusion that even with the idiosyncrasies showed on their
approach, the fields of musical education and ethnomusicology have its relationship and in any
way they complement themselves in some features.
Keywords: education, music, ethnomusicology
A educao musical tem se mostrado, no decorrer de sua histria, suscetvel a
fuso e a interao com diversas reas do conhecimento humano, como a psicologia, a
sociologia, a histria e vrias outras. Dentro do universo especfico da msica,
acreditamos que a educao musical se integra a todas as demais reas que compe este
universo, dentre elas a etnomusicologia, se enriquecendo e se beneficiando de seus
estudos e de suas abordagens metodolgicas.
Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir reflexes no que se refere
proximidade entre esses dois campos de estudo da musica educao musical e
etnomusicologia - percebendo diferenas e similaridades de atuao entre o educador
musical e o etnomusiclogo. Realizado a partir de uma pesquisa bibliogrfica, este
artigo se caracteriza como uma discusso inicial desta temtica, uma pequena etapa de
um estudo que requer uma abordagem mais ampla e que, portanto, no tem a pretenso
de apresentar resultados definitivos.
As discusses acerca da educao musical tm concentrado parte dos seus
estudos atuais sobre questes que se mostram, numa proporo crescente, desafiadoras
para o processo de ensino aprendizagem da msica dentro das instituies. O
reconhecimento de demandas antes ignoradas mas que j existiam e de espaos que
2
tinham pouca visibilidade para educadores musicais geram algumas interrogaes.
(Travassos, 2001 p. 76). Temticas como novas demandas e mltiplos espaos,
ensino formal e informal, prticas de ensino aprendizagem em contextos distintos e
vrias outras relacionadas diretamente com aspectos culturais, mostram que a educao
musical vem sendo considerada como uma ao - prtica/terica - que transcende os
limites institucionais. Em concordncia com Arroyo (2000), acreditamos que os estudos
que relacionam msica e cultura (como a etnomusicologia) apontam que os espaos
escolares formais - de educao musical, so apenas mais um dos inmeros contextos
presentes no cotidiano das sociedades, urbanas ou no, onde experincias de ensino
aprendizagem da msica acontecem. Deste modo, no podemos acreditar que os
processos de ensino e aprendizagem musical ocorrem exclusivamente nas escolas de
msica, eles acontecem em todo contexto cultural (Arroyo, 1999).
A abertura para temticas que reconhecem a existncia de uma variedade de
culturas musicais, sobretudo as populares, nos faz perceber que o educador musical est
diante de questes complexas que necessitam ser discutidas e compreendidas, o que
somente possvel atravs do dilogo com outros campos do conhecimento, mais
especificamente os que tratam diretamente da msica.
Com efeito, medida em que essas discusses tm proporcionado uma
abrangncia maior para a rea de educao musical, tm, por conseqncia, gerado
reflexes sobre algumas deficincias relacionadas pluralidade musical da cultura
brasileira - que ainda permeiam o processo de ensino aprendizagem em instituies
formais do ensino da musica.
Segundo Travassos (2001), foroso admitir que grande parte do idioma
musical contemporneo praticado na nossa sociedade ainda permanece ausente do
currculo e, consequentemente, das expectativas dos alunos. Assim, determinadas
demandas so atendidas pelas instituies, enquanto outras continuam sendo
endereadas para espaos distintos, institucionais ou no institucionalizados.
Acreditamos que a educao poderia e deveria ser o principal e mais
importante caminho para estimular a conscincia cultural do indivduo, comeando pelo
reconhecimento e a apreciao da cultura local, pois reconhecer sua prpria cultura
conhecer a si prprio . Contudo, a educao formal no Terceiro Mundo ocidental foi
completamente dominada pelos cdigos culturais europeus e, mais recentemente, pelo
cdigo cultural norte-americano. (Barbosa, 1998, p. 13). Essa dominao tende a
3
favorecer uma prtica educacional unilateral, que privilegia um sistema cultural em
detrimento de outro.
Educao e cultura: a funo da escola e suas interaes com a cultura popular
Geertz (1989) concebe cultura a partir de um conceito essencialmente
semitico, acreditando que o homem um animal amarrado a uma teia de
significados que ele mesmo teceu a cultura significados esses constitudos a partir
das interaes sociais (Geertz, 1989, p. 15). Podemos entender cultura como as escolhas
feitas pelos humanos, ao lidarem com a natureza, com o seu meio social e consigo
mesmo.
Pensando cultura a partir dessa ptica, entendemos que a escola no pode
perder de vista que ela parte da cultura - pois constituda a partir de interaes
sociais - e como parte, tem que exercer sua funo particular, mas sem se desvincular do
todo, pois sem se integrar ao todo no faz sentido a sua funo de parte.
Assim, pensar em uma integrao das instituies de ensino - oficiais - com
aspectos da cultura em geral, no significa, no nosso entendimento, transpor as funes
da escola para o desenvolvimento exclusivo da cultura popular, pois esta existe
independente da ao escolar, que tem a funo de desenvolver o outro lado da cultura,
o qual poderia ser chamada de cultura letrada.
... de nada adiantaria democratizar a escola, isto , expand-la de modo a torn-
la acessvel a toda populao se, ao mesmo tempo, isso fosse feito esvaziando-
se a escola de seu contedo especfico, isto , a cultura letrada, o saber
sistematizado. [...] para ter acesso ao saber espontneo, cultura popular, o
povo no precisa da escola. Esta importante na medida em que lhe permite o
domnio do saber elaborado (Saviani, 2000, p. 36).
Porm, para que a escola exera de fato a sua funo especfica, de desenvolver
o conhecimento sistematizado, ela necessita buscar uma interao e um dilogo
constante com outras formas de conhecimento, pois, somente assim, a sua funo ser
validada de maneira significativa para os atores envolvidos no processo. Dessa forma,
tomamos como eixo epistemolgico o fato de que a educao tem importncia
fundamental para a valorizao e estudo dos valores etnoculturais de cada contexto.
4
Ginzburg
1
, citado por Dauster (1996), acredita em uma circularidade de
apropriaes, emprstimos, significaes e recontextualizaes entre cultura erudita e
popular, formando, assim, relaes entre diferentes universos sociais. Em concordncia
com Saviane (1980) e Demo (2000), acreditamos que deve haver uma veiculao
balanceada entre pedagogia metodologia de ensino e sociedade, sem que se
configure uma autonomia total da pedagogia em relao aos fenmenos sociais.
Segundo Gomes (1996), ainda existe muita resistncia, no campo da educao
em geral, quanto incluso de temticas, como cultura, raa/etnia e relaes de gnero
nas abordagens educacionais. Ainda h dificuldade para compreender que, a partir
dessas temticas, podemos eleger novas categorias de anlises para estudarmos os
processos de ensino no Brasil, considerando a importncia da dimenso cultural na vida
dos diferentes sujeitos presentes dentro das instituies de ensino.
Ensino e aprendizagem da msica: relaes entre o formal e o informal
Na busca de uma viso da rea de educao musical, baseada nas questes
apresentadas anteriormente, importante entender como o ensino da msica tem lidado
com formas distintas de aprendizagem e como isso tm influenciado as prticas
pedaggicas dentro das instituies.
Para um entendimento dos diferentes processos de ensino aprendizagem da
msica, buscamos conceituar trs tipos de prticas educativas com base nas definies
de Libneo (1999) sobre a educao formal, no-formal e informal. A educao formal
pode ser entendida como aquela realizada dentro de instituies, escolares ou no, que
tm a inteno centrada na formao educacional sistematizada, organizada e
estruturada dentro de determinados padres. A educao no-formal tambm possui
estruturao e sistematizao em sua prtica, mas realizada fora das instituies de
ensino. A prtica educacional informal aquele que no est ligada especificamente a
uma instituio, portanto gera conhecimentos e prticas mas no possui
intencionalidade e organizao sistemtica.
Os processos informais de ensino tm se estabelecido como complementares
para processos formais de educao musical. Fato que vem se fortalecendo,
principalmente pela procura e inquietao dos atuais professores e pesquisadores da
1
GINZBURG, C. O queijo e os vermes o cotidiano e as idias de um moleiro perseguido pela
inquisio. So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
5
rea, na busca de diferentes estratgias metodolgicas que possibilitem uma
abrangncia contextual mais acurada. (Queiroz, 2000).
Parece evidente a necessidade do jeito brasileiro de musicalizar, onde se busque
uma atitude de transitar entre formal e informal [...] porque o formal refora a
anlise, o planejamento. O informal refora o fazer, a espontaneidade, a
expresso (Oliveira, 2000, p. 28).
Para a referida autora, a depender das situaes, das intenes e do nvel de
conscincia dos atores envolvidos no processo educacional, devem ser criadas ou
organizadas estruturas para os processos de ensino aprendizagem, que sejam adequadas
ao contexto.
Com efeito, a educao musical passa por um processo de transio pois, a
partir de relaes como o ensino formal e informal, cultura, educao e etnia, a rea
busca ampliar e desenvolver estruturas e processos pedaggicos mais condizentes com a
realidade brasileira, consolidando assim uma identidade metodolgica e cultural
(Ibidem).
Etnomusicologia: uma perspectiva para a educao musical
O termo etnomusicologia foi atribudo por Jaap Kunst a partir de 1950
2
.
Segundo Lhning (1991), a busca de um conceito nico para o que seja etnomusicologia
uma tarefa difcil devido s diversas definies que variam de acordo com a poca e a
vertente. No entanto, para efeito de anlise nesse trabalho, conceituaremos
etnomusicologia segundo Meriam (1964), que a definiu inicialmente como a rea que
estuda a msica na cultura, ampliando posteriormente o conceito para o estudo da
msica como cultura. Myers (1993) apresenta como caracterstica da etnomusicologia
a busca de discusses conceituais como: a origem da msica, mudana musical,
composio e improvisao, msica como smbolo, universais em msica, a funo da
msica na sociedade, comparao de sistemas musicais e as bases biolgicas da msica
e dana.
Uma das discusses em etnomusicologia que vai diretamente ao encontro de
algumas problemticas atuais da educao musical, diz respeito aos estudos dos
processos de ensino aprendizagem da msica em diferentes culturas. Para estudiosos
2
O termo etnomusicologia foi atribudo por Jaap Kunst, quando usado no subttulo do seu livro
Musicologica: a Study of the Nature of Ethno-musicology, its Problems, Methods, and Representative
Personalities (Amsterdam, 1950). Edies subsequentes foram intituladas Ethnomusicology, primeiro
com, e mais tarde sem, o hifm. (SADIE, 1980)
6
como Meriam (1964) e Nettl (1983), os processos de ensino e aprendizagem da msica
acontecem de formas variadas de acordo com o contexto em que se inserem. ...cada
cultura modela o processo de aprendizagem conforme os seus prprios ideais e
valores.
3
(Meriam, 1964, p. 145).
Assim, ensinar e aprender msica compreende uma dimenso maior do que a
abordagem escolar formal - considerada apenas uma das diversas formas de ensino
aprendizagem musical. A partir desse fato, o que se percebe uma convergncia e um
certo compartilhamento de proposies metodolgicas e principalmente de temas, como
j colocado nesse trabalho. Assim, o educador musical se v diante de problemticas
comuns para o etnomusiclogo.
A perspectiva educacional percebida a partir de um olhar antropolgico e, no
que diz respeito msica, etnomusicolgico, passa a se importar com os significados
locais, buscando entender como cada agrupamento humano atribui sentido s suas
prticas culturais, dentre as quais a msica, para a partir da poder lidar com a
diversidade e a pluralidade cultural na sala de aula.
A partir dessa tica de educao musical, h, consequentemente, uma expanso
de trabalhos que visam perceber diferentes processos de ensino aprendizagem da
msica, o que, naturalmente, promove determinadas formas de proximidade entre
educao musical e etnomusicologia.
H diversas possibilidades para a educao musical no que se refere
aplicao e descoberta de aspectos relacionados cultura popular. Segundo Lhning
(1999), o caminho para a conquista de novos benefcios e novas descobertas para a
educao musical no exclui procedimentos metodolgicos mais prximos da
etnomusicologia/antropologia. Para que isso possa acontecer indispensvel que haja
uma maior aproximao entre as reas de educao musical e etnomusicologia.
(Lhning, 1999, p. 59).
Concluso
A partir dessas reflexes podemos concluir que propostas atuais de educao
musical nos mostram que a relao entre msica, homem e cultura parte intrnseca
3
...each culture shapes the learning process to accord with its own ideals and values.
7
para a consolidao de qualquer processo de ensino aprendizagem. O ato de ensinar e
aprender msica apontado, na literatura da etnomusicologia, como um fator
caracterstico e comum em toda sociedade.
Tomando como base a idia de educao musical como todo e qualquer
processo pelo qual o homem aprende e ensina msica, e entendendo a etnomusicologia
como o estudo da relao entre o homem e a msica na, e como, cultura - incluindo a
os processos de transmisso e aprendizagem - no acreditamos ser possvel considerar
essas duas reas de estudo da msica como totalmente distintas. Percebemos sim,
idiossincrasias nos campos de estudo da educao musical e da etnomusicologia. No
entanto, acreditamos que de maneira geral, estas reas se relacionam e, de certa forma,
se completam.
Referncias Bibliogrficas
ARROYO, Margarete. Representaes sociais sobre prticas de ensino e aprendizagem
msical: um estudo etnogrfico entre congadeiros, professores e estudantes de msica.
1999. 360 f. Tese (Doutorado em Msica) - Programa de Ps-Graduao em Msica,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
ARROYO, Margarete. Um olhar antropolgico sobre prticas de ensino e aprendizagem
msical. Revista da ABEM, Porto Alegre, n. 5, p. 13-20, 2000.
BARBOSA, Ana Mae. Tpicos utpicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.
DAUSTER, Tnia. Construindo pontes a prtica etnogrfica e o campo da educao.
In: DAYRELL, Juarez (Org.). Mltiplos olhares sobre educao e cultura. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1996. p. 6-72.
DEMO, Pedro. Conhecer & aprender: sabedoria dos limites e desafios. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
GOMES, Nilma Lino. Escola e diversidade tnico-cultural: um dilogo possvel. In:
DAYRELL, Juarez (Org.). Mltiplos olhares sobre educao e cultura. Belo Horizonte:
Ed. UFMG, 1996. p. 85 -91.
GEERTZ, Clifford. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan,
1989. Original ingls.
LIBNEO, Jos Carlos. Pedagogia e pedagogos, para qu? So Paulo: Cortez, 1999.
LHNING, Angela Elizabeth. Mtodos de trabalho na etnomusicologia reflexes em
voltas de experincias pessoais. Revista de Cincias Sociais, Fortaleza, v. 22, n.1/2, p.
105-125, 1991.
8
______. A educao musical e a msica da cultura popular. ICTUS - Peridico do
programa de Ps-Graduao em msica da UFBA, Salvador, n. 01, p. 53-61, 1999.
MYERS, Helen. Ethnomusicology: historical e regional studies. New York/London:
W.W. Norton, 1993.
MERRIAM, Alan P. The anthropology of music. Evanston: Northwester University
Press, 1964.
NETTL, Bruno The study of ethnomusicology: twenty-nine issues and concepts. Urbana,
Illinois: University of Illinois Press, 1983.
OLIVEIRA A. Educao musical em transio: Jeito brasileiro de musicalizar. In:
SIMPSIO PARANAENSE DE EDUCAO MUSICAL, 7., 2000, Londrina. Anais
SPEM. Londrina: ABEM, 2000. p. 15-32.
QUEIROZ, Luis Ricardo S. O ensino do violo clssico sob uma perspectiva da
educao musical contempornea. 2000. 90 f. Dissertao (Mestrado em Msica - rea
de concentrao Educao Musical) Conservatrio Brasileiro de Msica, Rio de
Janeiro.
SADIE, Stanley. The new grove dictionary of music and musicians. Washington:
Macmillon Dublisheus Limited, 1980.
SAVIANI, Dermeval. A educao musical no contexto da relao entre currculo e
sociedade. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE
EDUCAO MUSICAL, 9., 2000, Belm. Anais da ABEM. Belm: ABEM, 2000. p.
33-41.
______. Educao: do senso comum conscincia filosfica. So Paulo: Cortez, 1980.
TRAVASSOS, Elizabeth. Etnomusicologia, educao musical e o desafio do
relativismo esttico. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE
EDUCAO MUSICAL, 10., 2001, Uberlndia. Anais da ABEM. Uberlndia: ABEM,
2001. p. 75-84.
1
As abordagens metodolgicas quantitativa e qualitativa no estudo
etnomusicolgico
Luis Ricardo Silva Queiroz
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
luisrq@bol.com.br
Resumo: Este trabalho discute possibilidades de aplicaes das abordagens metodolgicas
quantitativa e qualitativa na pesquisa etnomusicolgica. Tomando como base um estudo
bibliogrfico em metodologia da pesquisa cientfica e, especificamente, em pesquisa
etnomusicolgica, buscamos refletir sobre as diferenas, similaridades, complementaridade e
unidade das pesquisas quantitativa e qualitativa, direcionando-as para o estudo cientfico em
etnomusicologia. A partir de nossas reflexes, foi possvel concluir que as abordagens
metodolgicas quantitativa e qualitativa devem se completar em um processo sistematizado e
unificado de investigao, constituindo-se numa metodologia de pesquisa capaz de lidar com a
complexidade do campo etnomusicolgico, atuando nele de forma contextualizada com a
singularidade do universo de pesquisa e adequada aos princpios e anseios do campo cientfico
em geral.
Palavras-chave: metodologia de pesquisa, etnomusicologia, quantidade e qualidade
Abstract: This work discusses possibilities of application of quantitative and qualitative
methodologic aproaches on the ethnomusicology research. Based on a bibliographic study in
the methodology of scientific research and in particular ethnomusicologic this paper has been
carried out through the reflection about the differences, similarities, complementarity and
unity of qualitative and quantitative research, driving them to the scientific study about
ethnomusicology. From these reflections on, it was possible the conclusion that qualitative and
quantitative methodologic approaches must complete themselves in a sistematizated and
unified investigation process with the creation of a research methodology able to deal with the
complexity of the ethnomusicologic field, and to work with it on a contextualized way with
the singularity of this research universe and adapted to the principles and claims of general
scientific field.
Key words: research methodology, ethnomusicology, quantitative and qualitative
2
A etnomusicologia tem demonstrado, no decorrer de sua consolidao como campo
de produo cientfica, a complexidade dos problemas metodolgicos com os quais o
pesquisador de sua rea necessita lidar. Nesse sentido, a opo e definio de uma
metodologia de pesquisa que possibilite a investigao sistemtica, coerente e comprometida
com a realidade musical estudada, um dos primeiros problemas que se colocam face a face
com o etnomusiclogo.
Num mbito geral, possvel perceber diferentes problemticas que giram em torno
da pesquisa etnomusicolgica, como demonstrado por Nettl (1983), em sua obra The Study of
Ethnomusicology: twenty-nine issues and concepts, e por outros estudiosos da rea. No
entanto, delimitaremos especificamente como foco de estudo nesse artigo, discusses e
problemas que permeiam as abordagens metodolgicas, quantitativa e qualitativa, objetivando
refletir sobre suas aplicaes no estudo etnomusicolgico.
Os debates sobre a distino, similaridades e complementaridade das abordagens
metodolgicas quantitativa e qualitativa, no so recentes na literatura cientfica. No entanto,
as diferentes vises que esto na base desses dois paradigmas, fazem com que as discusses
sobre tais aspectos permaneam atuais no campo cientfico. Assim, acreditamos que nos
atermos sobre esse assunto pode trazer uma singela, mas significativa, contribuio para o
campo da pesquisa musical, e mais especificamente a pesquisa etnomusicolgica.
O trabalho de pesquisa em etnomusicologia exige, do pesquisador, habilidades
distintas, que devem se integrar na consolidao de um estudo cientfico nessa rea. Por um
lado, o etnomusiclogo, ao se engajar na pesquisa de campo em uma dada realidade musical,
necessita lidar com o trabalho etnolgico, para que possa entender valores e significados que
so atribudos, pelo homem, msica, dentro do contexto social/cultural especfico daquela
realidade.
1
Nesse momento, o pesquisador tem contato direto com o campo pesquisado e se
coloca frente a frente com a vida e as aes de outros seres humanos, para, a partir da,
interpretar e entender suas atitudes e, consequentemente, suas idiossincrasias musicais. No
1
Mantle Hood, em sua obra The ethnomusicologist, faz uma importante discusso sobre a necessidade do estudo
da msica dentro do seu contexto particular. O autor afirma que um estudo significativo de msica, dana, ou
teatro no pode ser isolado de seu contexto scio-cultural e da escala de valores nele includa. ...significant study
of music or dance or theater cannot be isolated from its socio-cultural context and scale of values it implies.
(Hood, 1971, p.10).
3
trabalho de campo ns descobrimos o lado humano da etnomusicologia.
2
(Myers, 1992, p. 21,
traduo nossa).
Para Netll (1964), o trabalho de campo em etnomusicologia envolve o
estabelecimento de relaes pessoais entre o investigador e as pessoas de quem a msica ele
deseja gravar e de quem o pensamento sobre msica ele deseja descobrir, e tais relaes no
podem ser desenvolvidas com base na reunio de instrues escritas - ...talvez pelo fato de
que o trabalho de campo etnomusicolgico, alm de ser um tipo de atividade cientfica,
tambm uma arte.
3
(Nettl, 1964, p. 64, traduo nossa).
Tomando como referncia o pensamento de Demo (2001) sobre o analista qualitativo,
estamos convictos de que o pesquisador, numa busca qualitativa em etnomusicologia, deve
observar tudo o que ou no falado, tocado ou cantado: os gestos, o balanar da cabea, a
expresso corporal e facial dos informantes, o vaivm das mos e etc. Acreditamos que tudo
que ocorre no campo durante uma pesquisa, pode estar imbudo de sentido e expressar, em um
determinado momento, mais do que a fala e do que a prpria performance musical, pois o ser
humano repleto de sutilezas em sua comunicao verbal e/ou musical e, por isso, no
pode ser reduzido a objeto. Com base nessas discusses fica clara a necessidade da abordagem
qualitativa na pesquisa etnomusicolgica.
Todavia, por outro lado, ao realizar o trabalho etnogrfico, o pesquisador em
etnomusicologia se confronta com outros fatores - que associados interpretao podem
fortalecer o processo de investigao - como a necessidade de quantificao mtrica e
mensurao da msica, tanto na transcrio musical como tambm na elaborao de grficos,
planilhas e demais recursos quantitativos que permitam o entendimento mais claro de questes
relacionadas s estruturas musicais e socioculturais investigadas. Tomando uso das reflexes
de Lvi-Strauss (1996), relacionadas antropologia, consideramos que o etnomusiclogo,
como o antroplogo, v-se diante de categorias de problemas que no pertencem propriamente
etnologia. Com efeito, h a necessita de buscar fontes de informaes em outras cincias,
possivelmente acreditando - outra vez parafraseando Lvi-Strauss - que elas possam fornecer
modelos de mtodos e de solues.
Entre os aspectos quantitativos presentes no trabalho etnomusicolgico, podemos
destacar a transcrio musical, que tem sido ao longo do tempo considerada universalmente
2
In fieldwork we unveil the human face of ethnomusicology.
4
aplicvel e universalmente indispensvel para a metodologia etnomusicolgica (Ellingsom,
1992). Segundo Ellingsom, esse mtodo apresenta objetivamente dados quantificveis e
analisveis que fornecem uma slida base para validao da etnomusicologia como disciplina
cientfica. Pensando especificamente nesse caso o da transcrio musical - podemos aplicar
categorias estruturais, consagradas no meio musical acadmico, onde atravs da mtrica
rtmica e dos intervalos meldicos estabelecidos pela notao ocidental, possvel quantificar
elementos da msica, de acordo com a nossa inteno de registro, anlise e comunicao.
Nesse sentido, os instrumentos de medio devem ser exatos seguindo modelos como o da
fsica e da matemtica - mesmo que a escolha do que medir j seja um recorte estabelecido
pela inteno e interpretao qualitativas do pesquisador. Temos a convico de que os
eventos musicais acontecem livremente no tempo e, consequentemente, no seguem a lgica
determinada pela nossa mtrica musical ocidental. No entanto, ns colocamos essa mtrica -
quantitativa - sobre tais eventos, com o objetivo de entend-los e sobretudo traduzi-los para a
nossa linguagem. Buscamos, ento, atravs da exatido quantitativa, que permite a
caracterizao de particularidades do fenmeno musical, proporcionar uma compreenso
maior de idiossincrasias da msica que, associadas ao contexto cultural, possibilitem uma
reflexo sistemtica e mais real da prtica musical em uma determinada cultura.
A questo da quantificao se mostra presente ainda em outras categorias do trabalho
etnomusicolgico, como no uso de estatstica
4
para a representao e comunicao de dados
coletados no campo
5
. Segundo Mitchell (1987), o grande impulso para o uso da quantificao
em antropologia, foi dado por Malinowski, que defendia a aplicao de mtodos quantitativos
como parte do processo que chamou de documentao concreta pormenorizada. Segundo
esse ponto de vista, que precisa ser considerado pelo etnomusiclogo, o pesquisador deveria
medir, pesar e contar tudo aquilo que seja possvel de quantificao. Mitchell ainda afirma
que desde antes da segunda guerra mundial, j se aceitava a necessidade de apresentar, sempre
3
...perhaps because ethnomusicological field work, in addition to begin a scientific type of activity, is also an art.
4
Segundo Snedecor e Cochran (1967), a estatstica lida com tcnicas para coletar, analisar e esboar concluses
de dados. Assim, auxilia trabalhos em qualquer rea do conhecimento que utiliza pesquisa quantitativa. Tais
pesquisas so amplamente preocupadas em reunir e sumariar observaes ou medidas feitas por experimentos
planejados, questionrios, gravaes de amostra de casos particulares ou por busca de trabalhos publicados sobre
alguns problemas.
5
A obra de Levin (1987), Estatstica aplicada a cincias humanas traz uma importante contribuio para o
uso de tcnicas de estticas no trabalho do pesquisador em geral, e mais especificamente, para os das reas de
cincias humanas.
5
que possvel, informaes quantitativas. No entanto, o autor deixa claro que a quantificao
deve auxiliar o trabalho de campo e no se constituir como maior objetivo deste:
...no se pode reduzir o trabalho de campo e as tcnicas de anlise a meras
manipulaes matemticas. Ao mesmo tempo, tanto o conhecimento mais extenso
fornecidos pelos mtodos quantitativos quanto as correlaes estabelecidas entre os
fenmenos as quais podem ser extradas atravs do raciocnio estatstico devem
constituir a base fundamental a partir da qual o antroplogo comea a formular suas
generalizaes sobre o comportamento social do povo que estuda. Os mtodos
quantitativos so, essencialmente, instrumentos auxiliares para a descrio. Ajudam a
focalizar com maior detalhe as regularidades que se apresentam nos dados coletados
pelo pesquisador. As mdias, taxas e porcentagens so formas de resumir as
caractersticas e as relaes que se encontram nos dados. (Mitchell, 1987, p. 81-82).
Mitchell, completa suas consideraes afirmando que as medidas estatsticas
ultrapassam os dados meramente quantitativos, pois possibilitam a utilizao de artifcios que
esclaream a relao entre os diversos fatos sociais coletados pelo observador.
Segundo Nettl o campo de estudo da etnomusicologia pode ser entendido como ...o
estudo comparativo das msicas do mundo e o estudo da msica como um aspecto da
cultura.
6
(Nettl, 1997, p. 11, traduo nossa). De acordo com autor, estudiosos da rea tm
definido a etnomusicologia como o estudo antropolgico da msica. Para Myers (1992), a
extenso da pesquisa etnomusicolgica to ampla e variada como a msica do mundo em si
mesma. Percebemos, com base nessas definies, que estudo etnomusicolgico traz em sua
abordagem uma complexidade intrnseca, pois se propem a compreender a relao do homem
com a msica, em diferentes nveis.
Em se tratando da investigao cientfica, esse campo do conhecimento, como todos
os demais que almejam estudar e compreender o homem e suas relaes como o contexto
sociocultural, precisa lidar com todas as estratgias possveis, afim de possibilitar que o
pesquisador no forje um esquema compartilhado de estudo. Nesse sentido, concordamos com
Langness (1987), quando afirma que para entender verdadeiramente nossa espcie, num
esquema global de coisas, incluindo a a msica e todos os demais aspectos culturais,
precisamos superar nossa tendncia para fragmentar e compartimentalizar. Assim, temos que
atacar nossos problemas usando qualquer teoria, conceitos e mtodos que sejam necessrios
6
...the study of the musics of the word and the study as an aspect of culture
6
para a concretizao de um estudo cientfico, sistemtico e comprometido com a veracidade
dos fatos investigados.
Para muitos de ns, a realidade concreta de uma certa rea se reduz a um conjunto de
dados materiais ou de fatos cuja existncia ou no, de nosso ponto de vista, importa
constatar. Para mim, a realidade concreta algo mais que fatos ou dados tomados mais
ou menos em si mesmos. Ela todos esses fatos e todos esses dados e mais a
percepo que deles esteja tendo a populao neles envolvida. Assim, a realidade
concreta se d a mim na relao dialtica entre objetividade e subjetividade. (Freire,
1999, p. 35).
Compartilhando dessa idia, vemos que nas definies metodolgicas, para uma
pesquisa em etnomusicologia, no podemos acreditar em uma dicotomia incompatvel entre
mtodos quantitativos e qualitativos, pois como j discutido acima, o etnomusiclogo precisa
lidar com a interpretao e compreenso particularizada de um fenmeno musical, tomando
com critrio fundamental os seus aspectos qualitativos, sem pode abrir mo da sistematizao,
objetividade e clareza que a quantificao de determinadas informaes sobre esse fenmeno,
incluindo a os aspectos quantitativos do registro musical, podem trazer para a pesquisa
etnomusicolgica.
Concluso
Direcionando nossas atenes para as discusses e os problemas que permeiam as
abordagens metodolgicas quantitativa e qualitativa, tendo como objetivo central refletir sobre
suas aplicaes na pesquisa etnomusicolgica, esse estudo apresentou consideraes sobre os
pensamentos que aliceram os debates atuais em torno dessas duas perspectivas da pesquisa
cientfica.
A origem etimolgica de qualidade privilegia a idia de essncia (Demo, 2001),
enfatizando no fenmeno, o que lhe seria mais peculiar e, portanto, definidor. Essa viso traz
em si a idia de que uma abordagem qualitativa representaria a parte central, de um fenmeno,
na qual se poderia resumir o todo. Tal idia no coloca margem a noo de quantidade, pois
a dimenso extensa dos fenmenos no algo secundrio, mas simultaneamente constitutivo.
Reconhecendo e delimitando o foco especfico de cada abordagem, mesmo que traar
os limites de cada uma delas seja algo extremamente problemtico, podemos concluir que elas
apresentam formas distintas no tratamento da coleta e anlise de dados cientficos, mas, que na
7
consolidao total da pesquisa cientfica, se completam e proporcionam uma forma mais
abrangente de conceber o trabalho. Sendo assim, capaz de abarcar a complexidade dos estudos
cientfico, seja em cincias humanas, e at mesmo nas cincias naturais.
Assim, conclumos que, no que se refere aos estudos etnomusicolgicos, as
abordagens de pesquisa quantitativa e qualitativa devem compor, juntas, o universo
metodolgico da investigao. Pois, essas duas formas de conduzir o estudo cientfico, so
acima de tudo, complementares, e somente a partir da articulao entre elas o etnomusiclogo
poder realizar e apresentar um trabalho contextualizado com a realidade singular do seu
universo de pesquisa e adequado aos princpios e anseios da cincia em geral.
Referncias Bibliogrficas
DEMO, Pedro. Pesquisa e informao qualitativa. Campinas: Papirus, 2001. 135 p.
ELLINGSOM, Ter. Transcription. In: MYERS, Helen (Edit). Ethnomusicology: historical e
regional studies. London: The Macmillan Press, 1992. p. 110-152.
FREIRE, Paulo. Criando mtodos de pesquisa alternativa: aprendendo a faz-la melhor atravs
da ao. Traduo de Wilma Aparecida Silva e Patrcia Sarti. In: BRANDO, Carlos
Rodrigues (Org.). Pesquisa participante. So Paulo: Brasiliense, 1999. p. 34-41.
HOOD, Mantle. The ethnomusicologist. Nova York: Mc Graw-Hill, 1971.
LANGNESS, Lewis. L. The study of culture. 2. ed. Novato, Califrnia: Chandler & Sharp
Publishers, 1987.
LEVIN, Jack. Estatstica aplicada a cincias humanas. Traduo de Srgio Francisco Costa.
2. ed. So Paulo: Harbra, 1987. 392 p. Original ingls.
LEVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Traduo de Chaim Samuel Katz e
Egnardo Pires. 5. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. 456 p. Original ingls.
MYERS, Helen. Fieldwork. In: MYERS, Helen (Edit). Ethnomusicology: historical e regional
studies. London: The Macmillan Press, 1992. p. 21-50
MITCHELL, J. Clyde. A questo da quantificao na antropologia social. In: FELDMAM-
BIANCO, Bela (Org.). Antropologia das sociedades contemporneas. So Paulo: Global,
1987. p. 77-126.
NETTL, Bruno. Theory and method in ethnomusicology. New York: The Free Press, 1964.
306 p.
8
______. The study of ethnomusicology: twenty-nine issues and concepts. Urbana, Illinois:
University of Illinois Press, 1983. 410 p.
NETTL, Bruno et al. Excursion in world music. 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1997. 338 p.
SNEDECOR, George W.; COCHRAN, Willian G. Statistical Methods. 7. ed. Iowa: The Iowa
State University Press, 1967.
Inventrio preliminar para um dicionrio de msicos e expresses
musicais na Bahia
Manuel Veiga
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
mviega@ufba.br
Sonia Chada
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
sonchada@ufba.br
Resumo: O projeto Impresso Musical na Bahia [IMB] revelou a precariedade dos instrumentos de
informao biobibliogrfica musical disponveis sobre a Bahia. O atual tem como objetivos: 1)
Suprir informao biobibliogrfica para os estudos musicais baianos. 2) Integrar a produo
impressa (400) com a manuscrita dos compositores (160) j levantados. 3) Extrapolar dos limites do
IMB, recuando tanto quanto possvel e avanando at o presente. 4) Como subprojeto fundamental,
informar sobre a vida musical na Bahia, suas instituies e suas mltiplas manifestaes
etnomusicolgicas. A variedade de situaes impede que se aplique uma metodologia nica,
oriunda da musicologia histrica ou da etnomusicologia. No se pode montar um dicionrio base
de pesquisa de fontes primrias, mas j contamos com trabalhos numerosos na rea da
Etnomusicologia e da Educao Musical, entre outras, na Bahia. Embora a inteno seja a de um
dicionrio baiano abrangente, as dificuldades previstas exigem um inventrio preliminar e nem
sempre restrito ao Estado. O Ncleo de Estudos Musicais da Bahia [NEMUS] funcionar nos
aspectos diretos da pesquisa e como um articulador de informaes e contribuies de especialistas,
maneira de um centro de documentaes. O projeto concebido em termos de uma base de dados,
e ter formato eletrnico para divulgao on-line e em CD-ROM, qui em papel.
Palavras-chave: msica na Bahia, biobibliografia, lexicografia musical
Abstract: Research project Music Printing in Bahia [MPB] has revealed how precarious the
available biobibliographic musical information about Bahia is. Our present project aims at: 1) to
provide biobibliographic information for musical studies about Bahia; 2) To integrate the already
enlisted printed scores (400) of (160) composers with their manuscript production; 3) to extrapolate
the time limits of MPB as far back as possible and forward into the present; 4) as an important
subproject, to inform about musical life in Bahia, its institutions and its multiple ethnomusicological
manifestations. The variety of the situations will demand methodological approaches both from
historical musicology and ethnomusicology. It is unrealistic to expect the development of a
dictionary on the single basis of primary-source research. An increasing number of monographs,
dissertations and theses in the areas of ethnomusicology and music education in Bahia, among other
areas, are already available or under way. Even though the intention is to provide a comprehensive
dictionary of musical Bahia, the difficulties of the task demand a preliminary inventory that must
not be restricted to the limits of the State. The Nucleus of Musical Studies of Bahia [NEMUS] will
proceed both at the direct aspects of research and at the articulation of information and
contributions provided by specialists. As such, NEMUS will work as a documentation center. The
project is being conceived in terms of a data basis, and will have an electronic format for access on-
line and by CD-ROM. A printed version will be pending on the results.
Keywords: music in Bahia, biobibliography, musical lexicography
2
Introduo
O Ncleo de Estudos Musicais da Bahia (NEMUS) est disponibilizando pela
Internet os resultados do projeto Impresso Musical na Bahia [IMB] que resgatou mais de
400 partituras de 160 compositores, 68 poetas (msica vocal), reunindo 54 gneros
musicais, tudo produto de acima de 73 ncleos constitudos de variantes das razes sociais
de impressores e editores atuantes na Bahia, inclusive de peridicos de msica (10), no
perodo de c. 1850 a 1932. A data superior foi fixada em funo dos setenta anos
necessrios para que as partituras possam ser consideradas de domnio pblico, uma vez
que a produo e publicao de msica continuam at hoje.
H, entretanto mistrios na antiga sede do governo geral e do primeiro bispado, da
antiga provncia, hoje centro de destacada produo musical. Um deles o hiato de mais de
50 anos sem impressos musicais que conheamos, a contar do estabelecimento pioneiro de
Manuel Antonio da Silva Serva, a tipografia particular mais antiga do Brasil (1811) que, se
no publicou msica, j em 1813 produzia, em fascculos, a 3 ed. do Vol. 1 da Viola de
Lereno, de Domingos Caldas Barbosa, todo ele textos de cantigas para serem cantadas.
Essa atividade de impresso de msica na Bahia, segundo o que se pde levantar, se
tardia em seu incio, tampouco foi uniforme. Gradativamente cedeu lugar ao parque
industrial paulista, j pelos fins do sculo passado, tal como ocorreu com o prprio Rio de
Janeiro, os baianos passando a editar msica que chegaria a ser impressa at na Europa.
Tomado como indicador do grau de cobertura alcanado, o ndice de duplicaes
de apenas de 12,3%. Mesmo diante de esforos continuados para ampli-lo, o ndice reflete
a disperso do acervo e a perda irremedivel de parte da memria musical baiana. A tarefa,
evidentemente, embora formalmente concluda, no se encerra aqui, mesmo com a busca
que se fez em bibliotecas, arquivos, colees de particulares, museus, na Bahia, Rio e So
Paulo. Tratamos com nmeros, portanto, que ainda sofrero alteraes.
A situao precria de muitos desses impressos, uns poucos at mesmo incompletos,
agrava o padro da digitalizao realizada, em muitos casos. Somam-se a isso questes de
datao que ainda nos afligem.
Problema
3
Os instrumentos de informao biobibliogrfica sobre msica e msicos na Bahia
so insuficientes tanto pelas omisses, quanto pelas incluses at mesmo de compositores e
obras que nunca existiram. A identificao dos compositores, ora levantados, aquinhoados
em verbetes disponveis em duas das principais fontes, se limita a apenas 31 nomes, da
ordem de 20,3 %, portanto.
Uma obra de referncia de inegvel utilidade, como a Enciclopdia de Msica
Brasileira [EMB], de abrangncia nacional e j em sua 2 ed. (1998), tem de alimentar-se
de contribuies locais e regionais, uma vez que no se cogita de reduzir o Brasil musical
s dimenses que uma concentrao de recursos no eixo Rio So Paulo acarreta. Uma
comparao, entretanto, entre a lista de msicos em Artistas Baianos, de Manuel Querino
(edio de 1909, posteriormente melhorada e revista em 1911), em termos de incluso na
EMB, revela que de 60 nomes originalmente citados se fez um expurgo de 30 ou 31 (um
deles duplicado: Jos de Sousa Arago e Cazuzinha, seu suposto e inexistente filho, os
dois verbetes somando cinco ou seis linhas cada, para um dos mais prolficos compositores
baianos).
O confronto dos mencionados 160 compositores (do IMB) com as duas fontes
supracitadas revela que, em funo do tempo e de critrios seletivos, seis so tratados
exclusivamente por Querino, treze apenas pela EMB, doze por ambos perfazendo o total
dos 31 disponveis j mencionados. Em suma: alm das partituras coletadas e dos dados
que delas derivam, nada ou pouco sabemos sobre 129 dos compositores envolvidos, isto ,
79,7 %. Alguns deles so mencionados em histrias da msica, particularmente, a
provinciana e por isto mesmo providencial Histria da Msica no Brasil, edio princeps
de 1908, de Guilherme Teodoro Pereira de Melo (1887- 1932).
Objetivos
Nosso objetivo geral :
Suprir informao biobibliogrfica necessria aos estudos musicais baianos.
A nfase, por sua vez, nos impressos, com as implicaes econmicas de uma
clientela, necessita ser complementada pela incluso dos manuscritos, estes representando
4
um acervo com mais nfase nos aspectos musicais e estticos do que no consumo imediato.
Da, um outro objetivo, este especfico:
Integrar a produo impressa com a manuscrita dos compositores levantados no
projeto IMB, ou outros que no lograram a impresso, e assim corrigir a distoro
trazida pelo enfoque apenas nos impressos.
necessrio tambm:
Extrapolar dos limites de tempo impostos no IMB, recuando at onde for possvel e
trazendo a informao biobibliogrfica ao presente.
Ainda como objetivo, de fato um subprojeto, tal sua importncia:
Incorporar informao sobre a vida musical na Bahia, as instituies que a apiam e
articulam, bem como sobre as principais manifestaes da etnomusicologia baiana.
Metodologia
O inventrio que, por prudncia, aqui se prope preliminar, apenas, deve conduzir a
um projeto de dicionrio abrangente, embora limitado Bahia, no molde dos objetivos
descritos. Com a variedade de situaes com que nos depararemos, no se pode cogitar de
uma metodologia nica, oriunda quer da musicologia histrica, quer da etnomusicologia.
Teremos, de imediato, de implementar as pesquisas na Junta Comercial de Salvador, em
busca de registros das firmas impressoras e editoras dos ncleos mencionados acima e com
isto elaborarmos uma cronologia. O fato de termos as partituras nossa disposio, ainda
que digitalizadas, j nos propicia uma substancial quantidade de informaes, embora
raramente as datas. Por ora, temos enfrentado os problemas de datao sobretudo pelas
dedicatrias a pessoas importantes, presidentes e vice-presidentes de provncia de mandato
geralmente fugaz, nobres cujos ttulos so datveis atravs dos arquivos nobilirquicos,
bem como aluses a eventos, at mesmo ilustraes e ttulos que reflitam inovaes que
capturaram a ateno dos contemporneos, ou ainda as etimologias disponveis, embora
lexicgrafos sejam geralmente conservadores para a introduo de termos em dicionrios.
Por exemplo, O velocpede, Polka de Salo, Para Piano Forte, Op. 25, composta por
Joaquim Ferreira (Bahia [Salvador]: Lith. de M. J. dAraujo, s.d.) tem como ilustrao de
5
capa, de Odilon, o que hoje chamaramos de uma bicicleta antiquada (duas, no trs rodas
como os triciclos deveriam ter, de tamanhos distintos, pedais no eixo da roda dianteira, aros
aparentemente sem pneus). Graas famlia, no caso uma neta, obtivemos o nome
completo e datas do av, Joaquim Ferreira da Silva Jr. (9/8/1840 - 24/12/1924), nosso
compositor. O verbete Bicicleta, da Nova Enciclopdia Ilustrada Folha (1996: I, 114-
115), nos traz semelhante ilustrao, ora como Velocpede de Michaux, com a legenda
Bicicleta antiga (c. 1863). A inveno dos irmos Pierre e Ernest Michaux, amplamente
imitada, aperfeioada, tornou-se passatempo de ricos. provvel que a polca de Joaquim
Ferreira seja um eco da chegada da bicicleta Bahia, o que teremos de verificar ainda por
outros meios, mas j temos uma data inferior, de 1863, para comeo. Menos sucesso
tivemos com O Sacca-rolhas, Op. 37, do mesmo compositor, composta para um grupo
carnavalesco do mesmo nome, embora contssemos com o Houaiss, e este com a 6 ed. do
Morais, para uma forma histrica, de 1858. Para A bisnaga, Grande Galop Burlesco, Op.
58, do italiano Francesco Santini, radicado em Salvador (Bahia [Salvador]: Lith. de M. J.
dAraujo, s.d.), o Houaiss tambm nos ajuda com a data de 1899 para um regionalismo,
comum a Portugal e o Brasil, designando o tubo delgado com que se lanava gua-de-
cheiro sobre os folies, nas festas de carnaval, um significado hoje quase obsoleto, embora
ainda lembrado pelos mais velhos. A anlise dos papis (marcas de gua) tem sido at aqui
impraticvel. Estamos, portanto, diante de verdadeiros quebra-cabeas em que teremos de
combinar diferentes peas para com elas formarmos um todo. A soluo, entretanto, nos
parece possvel.
Uma sistemtica busca dos jornais baianos dever ser produtiva. Embora as
colees sejam desfalcadas e incompletas, temos os acervos do Instituto Geogrfico e
Histrico da Bahia e da Biblioteca Pblica do Estado. As colees da Biblioteca Nacional,
no Rio de Janeiro, quando accessveis, podem tambm contribuir muito. O livro de Ktia
Maria de Carvalho Silva, por exemplo, O Dirio da Bahia e o sculo XIX (Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro; Braslia: Instituto Nacional do Livro, 1979) nos traz um Quadro I (p.
16), Coleo do Dirio da Bahia Localizao, pelo qual se pode ter uma idia da
cobertura, de 1856 a 1899. Acrescenta o Arquivo do Estado da Bahia como uma das
localizaes, alm das j mencionadas. oportuno lembrar os dados levantados por Joo N.
Torres e Alfredo de Carvalho para os Anais da Imprensa da Bahia: 1 Centenrio, 1811 a
6
1911 ([Salvador]: Typ. Bahiana de Cincinato Melchiades, 1911), em que Salvador
comparece com 1147 jornais, seguida de Cachoeira com 107, Santo Amaro com 64, Feira
de Santana com 54, Maragogipe com 42, Valena com 35, Nazar com 31, Amargosa com
29, Alagoinhas com 28, seguindo-se em ordem decrescente as demais localidades, em
nmero de 45 ao todo. Dificilmente esses 1760 jornais nos esperam, mas alguns exemplares
de um ou de outro talvez possam ainda ser localizados. Seus nmeros tambm nos
fornecem um critrio preliminar para a seleo das cidades, embora o decurso do tempo
possa ter alterado sua relativa importncia.
Nos casos de descendentes vivos que cuidaram da memria do parente msico, a
busca se facilita. J vimos o caso de Joaquim Ferreira. Infelizmente, nem sempre esses
descendentes localizveis guardam qualquer lembrana do parente, embora sempre se
interessem pelas notcias que possamos lhes passar. Henrique Albertazzi, por exemplo,
um destes casos. Sero, entretanto, nossa maior esperana, quando for o caso.
Para os centros do interior do Estado, pretendemos uma abordagem preliminar por
via do envio de formulrios a prefeituras, centros culturais, pessoas entendidas, bandas
filarmnicas, para em seguida tentarmos um contato pessoal nos locais. entretanto
ilusrio pensar que se possa montar um dicionrio base de pesquisa de fontes primrias,
de arquivo, exclusivamente. Por via das pesquisas que vm resultando em dissertaes e
teses, j podemos contar com estudos srios e numerosos na rea da Etnomusicologia e
Educao Musical, entre outras, subprojeto a cargo da Dra. Sonia Maria Chada Garcia. O
NEMUS funcionar tanto nos aspectos diretos da pesquisa, quanto como um articulador de
informaes e contribuies de especialistas, maneira de um centro de documentaes.
Para isso, o projeto de dicionrio j est sendo concebido em termos de uma base de dados,
e ter formato eletrnico para divulgao on-line, em CD-ROM, e em papel se o projeto
crescer como esperamos.
Cogitamos do envio de um dos membros da equipe para um estgio fora. Lisboa,
com o grande projeto de dicionrio a cargo de Salwa El Shawan Castelo Branco, do
Departamento de Cincias Musicais da Universidade Nova de Lisboa, seria indicado. No
obstante, pretendemos nos valer de oportunidades para treinamento junto prpria equipe
que gere o banco de dados da Biblioteca Central da UFBA. Assessoria especializada na
7
rea da lexicografia ser procurada e bem-vinda, assim como qualquer outra que possa
contribuir para um projeto multidisciplinar como o que se prope.
Vertente etnomusicolgica
Ainda h diversas manifestaes musicais da etnomusicologia baiana que no
receberam tratamento adequado nos dicionrios e enciclopdias existentes. Compreendendo
que as manifestaes musicais de tradio oral possuem uma dinmica complexa, o seu
registro em estudos de carter etnomusicolgico se faz urgente e importante visto, entre
outros fatores, as suas rpidas mutaes no espao e no tempo da cultura baiana. A
abordagem destas manifestaes musicais implica, em linhas gerais, tambm no
reconhecimento de suas indissociveis formas de objetivao scio-culturais. Isto deve
incluir o registro dos instrumentos musicais utilizados e dos gneros musicais existentes,
comumente negligenciados. Os fazeres musicais so portadores de uma terminologia
prpria (mica), maneiras peculiares de expresso verbal sobre os mesmos que articulam os
prprios sujeitos que os realizam. O registro destas expresses verbais usadas pelos
msicos e demais agentes sociais que perfazem os contextos destas manifestaes sobre sua
prpria msica outro objetivo deste trabalho que busca, neste mbito, captar e registrar
aspectos do saber musical contido nas manifestaes musicais de tradio oral.
Pesquisas anteriores permitem constatar que o candombl, na Bahia, uma das
expresses mais estudadas, funciona como um foco cultural, ultrapassando os limites
geogrficos das casas religiosas e influenciando diretamente outras manifestaes da
tradio oral, por exemplo, a Capoeira e os Caboclinhos de Itaparica, assim como a vida
cotidiana das pessoas. Essa presena ultrapassa os limites das classes sociais que tm uma
ligao direta com o candombl e faz-se presente de vrias formas na vida da cidade, tais
como nas festas religiosas que ocorrem anualmente em Salvador entre as quais a Lavagem
do Bonfim e a Festa de Iemanj. No caso particular da msica visvel a influncia dos
toques e cantigas do Candombl em outras manifestaes tanto nas de tradio oral quanto
na msica popular urbana. Est no repertrio musical dos vrios grupos de afoxs e blocos
carnavalescos existentes na cidade, nos Sambas de Caboclo cantados em festas de largo, em
sambas de roda, assim como em outras manifestaes culturais, independente de serem
8
rituais ou no, como em cantos de trabalho (a puxada de rede do litoral norte de Salvador,
por exemplo).
A bibliografia anexa inclui um primeiro levantamento de possveis fontes para as
vertentes histrica, sistemtica e etnomusicolgica propostas.
BIBLIOGRAFIA
ACCIOLI, Incio. Memrias Histricas e Polticas da Provncia da Bahia. Anotada por
Braz do Amaral. Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1919. 6 v.
ALMANACH PARA A CIDADE DA BAHIA, ANNO 1812. Nota Introdutria de Renato
Berbert de Castro. Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1973. (Edio fac-
similar da publicao de 1811 da Typ. de Manoel Antonio da Silva Serva).
ALMANAK 1856. Salvador: [s.n., 1855]. (Coleo de obras raras da Biblioteca Pblica
Estadual).
ALMANAK ADMINISTRATIVO, COMMERCIAL E INDUSTRIAL DA PROVNCIA
DA BAHIA PARA O ANNO DE 1873, QINQUAGESIMO SEGUNDO DA
INDEPENDENCIA E DO IMPRIO. Compilado por Altino Rodrigues Pimenta.
Anno I. Bahia: Typographia de Oliveira Mendes, 1872.
ALMANAK ADMINISTRATIVO, INDICATIVO, NOTICIOSO, COMMERCIAL E
LITTERARIO DO ESTADO DA BAHIA PARA 1899. Organizado por Alexandre
Borges dos Reis. Salvador: [s.n., 1898]. (Coleo de obras raras da Biblioteca
Pblica Estadual).
ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL EINDUSTRIAL DA BAHIA PARA O
ANNO DE 1855. Organizado por Camillo de Lellis Masson. Primeiro Anno. Bahia
[Salvador]: Typ. de Camillo de Lellis Masson, 1854.
ALMANAK DA BAHIA 1855. Salvador: [s.n., 1854]. (Coleo de obras raras da
Biblioteca Pblica Estadual).
ALMANAK DA PROVNCIA DA BAHIA. Organizado por Antnio Freire. Salvador:
[s.n.], 1881. (Coleo de obras raras da Biblioteca Pblica Estadual).
9
ALMANAK DA PROVNCIA DA BAHIA PARA O ANNO DE 1873. Salvador: [s.n.],
1872. (Coleo de obras raras da Biblioteca Pblica Estadual).
ALMANAK DO DIRIO DE NOTCIAS PARA 1884. Salvador: [s.n., 1883]. (Coleo de
obras raras da Biblioteca Pblica Estadual).
ALMANAQUE CIVIL, POLTICO E COMERCIAL DA CIDADE DA BAHIA PARA O
ANNO DE 1845. Salvador: Fundao Cultural do Estado da Bahia/Diretoria de
Bibliotecas Pblicas, 1998. (Edio fac-similar da publicao de M. A. da Silva
Serva, 1844).
ALMEIDA, Renato. Compndio de histria da musica brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro:
Briguiet, 1958.
______. Histria da msica brasileira. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1926.
LVARES, Tolentino (Ed.). Seres Bahianos: Colleco de Recitativos, Modinhas e
Canes. 1. ed. Salvador: Livraria Econmica, 1882. (Impresso na Litho-
typographia Miranda).
ALVES, Marieta. Alguns vultos e fatos ligados histria da bicentenria Igreja de N.
Senhora da Conceio da Praia. In: O bi-centenrio de um monumento baiano.
Salvador: Editora Beneditina, 1971. v. 2, p. 345-74. (Coleo Conceio da Praia).
______. A msica e sua popularidade no passado. A Tarde, Salvador, 29 jun. 1959.
______. Dicionrio de artistas e artfices na Bahia. Salvador: Universidade Federal da
Bahia, 1976.
______. Folhas mortas que ressuscitam. Salvador: [composto e impresso pela ABC Grfica
Offset], 1975.
______. Histria da Venervel Ordem 3
a
. da Penitncia do Serfico Padre So Francisco
da Congregao da Bahia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1948.
______. Igreja de Nossa Senhora da Sade e Glria. Salvador: [s.n.], 1961.
______. Igreja do Pilar. Salvador: Prefeitura Municipal, 1951.
10
______. Msica de barbeiros. Revista Brasileira de Folclore, Rio de Janeiro, v. 7, n. 17, p.
5-14, jan./abr., 1967.
______. rgo, organeiros e organistas na Bahia. A Tarde, Salvador, 21 ago. 1961.
AZEVEDO, Luis Heitor Correia de. Bibliografia musical brasileira (1820-
1950). Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1952
______. Msica e msicos do Brasil: histria crtica e comentrios. Rio de Janeiro: Casa
do Estudante do Brasil, 1950.
AZEVEDO, Slvia Maria. De Revista Popular a Jornal das Famlias: A Imprensa Carioca
do Sculo XIX a Servio dos Interesses das Famlias Brasileiras. ABRALIC, Belo
Horizonte, p. 25-35, 1991.
BAHIA. Guia Cultural da Bahia: Baixo Mdio So Francisco. Salvador: Secretaria da
Cultura e Turismo/Coordenao de Cultura, 1997. v. 1. (1
o
. Mapeamento Cultural
da Bahia).
______. Guia Cultural da Bahia: Extremo Sul. Salvador: Secretaria da Cultura e
Turismo/Coordenao de Cultura, 1997. v. 3. (1
o
. Mapeamento Cultural da Bahia).
______. Guia Cultural da Bahia: Litoral Sul. Salvador: Secretaria da Cultura e
Turismo/Coordenao de Cultura, 1999. v. 7. (1
o
. Mapeamento Cultural da Bahia).
______. Guia Cultural da Bahia: Nordeste. Salvador: Secretaria da Cultura e
Turismo/Coordenao de Cultura, 1997. v. 4. (1
o
. Mapeamento Cultural da Bahia).
______. Guia Cultural da Bahia: Recncavo. Salvador: Secretaria da Cultura e
Turismo/Coordenao de Cultura, 1997. v. 2. (1
o
. Mapeamento Cultural da Bahia).
______. Guia Cultural da Bahia: Regio Metropolitana de Salvador. Salvador: Secretaria
da Cultura e Turismo/Coordenao de Cultura, 1998. v. 6. (1
o
. Mapeamento
Cultural da Bahia).
______. Guia Cultural da Bahia: Salvador. Salvador: Secretaria da Cultura e
Turismo/Coordenao de Cultura, 1998. v. 5. 3 Tomos. (1
o
. Mapeamento Cultural
da Bahia).
11
BARBOSA, Manoel de Aquino. A imprensa catlica na Bahia. In: Anais do Primeiro
Congresso de Histria da Bahia. Salvador: Instituto Geogrfico e Histrico da
Bahia, 1951. v. 5, p. 147-57.
BHAGUE, Gerard. Music in Latin America: An Introduction. Englewood Cliffs: Prentice-
Hall, 1979.
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. O belo sexo: Imprensa e identidade feminina no Rio
de Janeiro em fins do Sculo XIX e incio do XX. So Paulo: Vrtice/Fundao
Carlos Chagas, 1989.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliogrfico brazileiro. Rio
de Janeiro: Typographia Nacional, 1883.
BOAVENTURA, Edivaldo Machado. Papis e personalidades de baianos. Salvador:
Tempo Brasileiro, 1985.
BOCCANERA JNIOR, Silio. Autores e Actores Dramticos Bahianos, em especial:
Biographias. Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1923.
______. Bahia cvica e religiosa: subsdios para a histria. Bahia: A nova Graphica, 1926.
______. Bahia histrica: reminiscncias do passado, registro do presente. Salvador:
Bahiana, 1921.
______.O teatro brasileiro: letras e artes na Bahia. Bahia: Imprensa Econmica, 1906.
______. O theatro na Bahia (1812-1912). Bahia: Imprensa Official, 1915.
BORDINI, Ricardo Mazzini. Do que pudera lembrar-se o barqueiro cujo barco era a lua.
1994. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal
da Bahia, Salvador.
BORGES, Adlvia Oliveira. O fazer musical em uma casa de culto nag: o il ax opo
afonj. 1996. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade
Federal da Bahia, Salvador.
12
BORGES, Ruy Brasileiro. A Sentinela em Pedra Furada. 1997. Dissertao (Mestrado em
Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
BRASIL, Hebe Machado. A msica em 50 anos. Salvador: Beneditina, 1965.
______. A Msica na Cidade do Salvador, 1549-1900. Salvador: Prefeitura Municipal,
1969.
______. Fres, um notvel msico baiano. Salvador: Empresa Grfica da Bahia, 1976.
BUITONI, Dulclia Helena Schroeder. A Imagem da Mulher na Imprensa Feminina
Brasileira: Possvel Sair do Padro? Revista da Biblioteca Mrio de Andrade, So
Paulo, n. 53, p. 135-44, 1995.
CAJAZEIRA, Regina Clia Souza. Tradio e Modernidade: O Perfil das Bandas de
Pfanos da Cidade de Marechal Deodoro. 1998. Dissertao (Mestrado em Msica)
Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
CALMON, Pedro. Histria da Bahia: resumo didctico. 2. ed. So Paulo: Melhoramentos,
[19 ].
______. Histria da Literatura Bahiana. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1949.
______. ______. 2. ed. So Paulo: J. Olympio, 1949.
______. ______. Salvador: Prefeitura Municipal, 1949.
CANDUSSO, Flvia. O sistema de Ensino Aprendizagem da Banda Lactomia: Um
estudo de caso. 2002. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica,
Universidade Federal da Bahia, Salvador.
CARVALHO, Alfredo de. A Imprensa Baiana de 1811 a 1899. Revista Trimensal do
Instituto Geogrfico e Histrico da Bahia, Salvador, n. 21, p. 397-407, 1899.
______. O Primeiro Jornal Bahiano. Revista do Instituto Geogrfico e Histrico da Bahia,
Salvador, n. 34, p. 73-8, 1907.
13
CARVALHO, Prola de. Peridicos na Biblioteca do Instituto Geogrfico e Histrico
Brasileiro. Revista do Instituto Geogrfico e Histrico Brasileiro, Rio de Janeiro, n.
263, p. 247-79, abr./jun., 1964.
CASTRO, ngelo Tavares. Castro Alves em Sete Cantigas de Liberdade e Paixo. 1998.
Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da
Bahia, Salvador.
CASTRO, Renato Berbert de. A primeira Imprensa da Bahia e suas publicaes: A
Tipografia de Manuel Antnio da Silva Serva, 1811-1819. Salvador: Secretaria de
Educao e Cultura, 1969.
______. A Tipografia Imperial e Nacional da Bahia: Cachoeira, 1823 e Salvador, 1831.
Prefcio de Pedro Calmon. So Paulo: tica, 1984.
______. Catlogo da exposio de trabalhos da Tipografia de Manuel Antnio da Silva
Serva. Salvador: Secretaria de Educao e Cultura/Conselho Estadual de Cultura,
[1969].
______. Os doze primeiros almanaques baianos. In: Almanaque Civil, Poltico e Comercial
da Cidade da Bahia pata o Ano 1845. Salvador: Fundao Cultural do Estado da
Bahia/Diretoria de Bibliotecas Pblicas, 1998. p. xvii-xxii. (Edio fac-similar.
CERNICCHIARO, Vincenzo. Storia della musica nel Brasile: dai tempi coloniali sino ai
nostrigiorni (1549-1925). Milano: Fratelli Riccioni, 1926.
CHASE, Gilbert. Americans Music: from the Pilgrims to the Present. New York: McGraw-
Hill, 1955.
CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA. Secretaria de Educao e Cultura da Bahia.
Almanach para a Cidade da Bahia, anno 1812. Salvador: Empresa Grfica da
Bahia, 1973. (Edio fac-similar).
COOVER, James. Music Lexicography: Including a Study of Lacunae in Music
Lexicography and a Bibliography of Music Dictionaries. 3. ed., rev. e ampl.
Carlisle, Pa.: Carlisle Books, 1971.
CUNHA, Olvia Maria Gomes da. Impresses da Festa: Blocos Afros sob o Olhar da
Imprensa Baiana. Estudos Afro-Asiticos, Salvador, v. 16, n. 1, p. 171-87, 1988.
14
DANTAS, Frederico Meireles. Santo Reis de Bumba. 1994. Dissertao (Mestrado em
Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
DIAS, Maria Tereza Groetelaars Alves. Estudo bibliogrfico de um acervo particular de
msica de salo para piano editada no Brasil no incio do Sc. XX. Salvador, 1993.
No publicado. (Apresentado no II Simpsio Brasileiro de Msica).
DINIZ, Jaime C. Mestres de Capela da Misericrdia da Bahia: 1647-1810. Salvador:
Universidade Federal da Bahia, 1993.
______. Msicos pernambucanos do passado. Recife: Universidade Federal de
Pernambuco, 1971. 3 v.
______. Organistas da Bahia 1750-1850. Rio de Janeiro: Edies Tempo Brasileiro, 1986.
______. Velhos organistas da Bahia, 1559-1745. Universitas, n. 10, p. 5-42, set.-dez., 1971.
DRING, Katharina. O Samba de Roda do Sembagota: Tradio e Contemporaneidade.
2002. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal
da Bahia, Salvador.
DUCKLES, Vincent et al. Musicology. In: SADIE, Stanley (Ed.). New Grove Dictionary of
Music and Musicians. Londres: Macmillan, 1980. v. 12, p. 836-63.
DUCKLES, Vincent. Music Lexicography. College Music Symposium, v. 11, p. 115-22,
1971..
FREYRE, Gilberto. Bahia e baianos. Textos reunidos por Edson Nery da Fonseca.
Salvador: Fundao das Artes/EGBA, 1990.
FUNDAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA. Diretoria de Bibliotecas Pblicas.
Almanaque civil poltico e comercial da Cidade da Bahia para o ano de 1845.
Salvador: A Fundao, 1988. (Edio fac-similar).
GARCIA, Sonia Maria Chada. A msica dos caboclos: O Il Ax Dele Omi. 1996.
Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da
Bahia, Salvador.
15
______. Um Repertrio Musical dos Caboclos no Seio do Culto aos Orixs, em Salvador
da Bahia. 2001. Tese (Doutorado em Msica) Escola de Msica, Universidade
Federal da Bahia, Salvador.
GOMES, Wellington. Correlaes entre Estratgias de Orquestrao e Processos
Composicionais em Obras do Grupo de Compositores da Bahia (1966-1973). 2001.
Tese (Doutorado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia,
Salvador.
GUIMARES, Argeu. Diccionario bio-bibliographico brasileiro de diplomacia, poltica
externa e direito internacional. Rio de Janeiro: A. Guimares, 1938.
HOUAISS, Antnio et al (Eds.). Diccionario Houaiss da lngua portugusa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2001.
HOBSBAWM, Eric. Introduo: A Inveno das Tradies. In: HOBSBAWM, Eric;
RANGER, Terence (Org.). A Inveno das Tradies. Traduo de Celina Cardim
Cavalcante. 2. ed. So Paulo: Paz e Terra, 1997. p. 9-23. (Coleo Pensamento
Crtico, 55).
IPANEMA, Marcello e Cybelle de. A tipografia na Bahia: documentos sobre suas origens.
Rio de Janeiro: Instituto de Comunicao Ipanema, 1977.
JATOB, Pedro Irineu. Grandes compositores da Ordem Beneditina. Dirio de Notcia,
Salvador, 8 jul. 1947.
LEAL, Herundino da Costa. Histria de Santo Amaro. Salvador: Imprensa Oficial da
Bahia, 1964.
______. Vida e passado de Santo Amaro. [Salvador]: Imprensa Oficial da Bahia, 1950.
LIMA, Antnio Fernando Burgos. Parthenon para orquestra. 1996. Dissertao (Mestrado
em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
MAGALHES, Luiz Csar Marques. A msica do povo calado: um estudo do Tor Kiriri.
1994. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal
da Bahia, Salvador.
MARCONDES, Marcos Antnio (Ed.). Enciclopdia da Msica Brasileira: Erudita,
Folclrica, Popular. So Paulo: Art Editora, 1977. 2 v.
16
______. ______. 2. ed. rev. e at. So Paulo: Art Editora/Publifolha, 1998.
MARIZ, Luiz Gonzaga. O incidente dos perdes ou o martyrio do Arcebispo da Bahia.
Salvador: Typ. S. Francisco, 1936.
MARIZ, Vasco. A cano brasileira: popular e erudita. Prefcio de Guilherme Figueiredo.
5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
______. Dicionrio biogrfico musical: Compositores, intrpretes e musiclogos. 3. ed.,
rev. e ampl. Belo Horizonte: Vila Rica, 1991.
______. Histria da Msica no Brasil. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1994.
MARQUES, Nonato. Santo Antonio das Queimadas. Salvador: Comercial Grfica Reunida,
1984.
MATTOSO, Ktia M. de Queirs. Bahia, sculo XIX: uma provncia no imprio. Traduo
de Yedda de Macedo Soares. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.
______. Famlia e sociedade na Bahia do sculo XIX. Traduo de James Amado. So
Paulo: Corrupio, 1988.
MELLO, Guilherme Teodoro Pereira de. A msica no Brasil desde os tempos coloniais at
o primeiro decnio da Repblica. 2. ed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1947.
(Edio Princeps na Tipografia do So Joaquim, 1908).
MELLO, Joo Omar. Variaes Motvicas como princpio formativo: uma abordagem
fraseolgica sobre a obra Dana de Ferro, para violo, flauta e pequena
orquestra, do compositor Elomar Ferreira Mello. 2002. Dissertao (Mestrado em
Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
MILTON, Aristides Augusto. Ephemerides cachoeiranas. Salvador: Universidade Federal
da Bahia, 1979.
NASCIMENTO, Anna Amlia Vieira. O Convento do Desterro da Bahia. Salvador: Ed. da
autora, 1973.
17
NETTL, Bruno. The Study of ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts. Urbana,
Ill.: University of Illinois, 1983.
NOVA ENCICLOPDIA ILUSTRADA FOLHA. So Paulo: Folha da Manh, 1996. 2 v.
(Encarte das edies de domingo da Folha de So Paulo de maro a dezembro).
ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita: A tecnologizao da palavra. Traduo de Enid
Abreu Dobrnszky. So Paulo: Papirus, 1998.
PARENTE, Paulo Emilio B. Mdulo Experimental de Ensino de Choro: Um Estudo
Descritivo. 2002. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica,
Universidade Federal da Bahia, Salvador.
PEDREIRA, Esther. Folclore Musicado da Bahia. Introduo de Manuel Veiga. Salvador:
Fundao Cultural do Estado da Bahia, 1978. (Coleo Antnio Vianna, 1).
PEQUENO, Mercedes Reis. Brazilian Music Publishers. Inter-American Music Review, v.
9, n. 2, p. 91-104, spring/summer, 1988.
______. Impresso musical no Brasil. In: MARCONDES, Marcos Antnio (Ed.).
Enciclopdia da Msica Brasileira: Erudita, Folclrica, Popular. So Paulo: Art
Editora, 1977. v. 2, p. 352-63. 2 v.
______. ______. In: MARCONDES, Marcos Antnio (Ed.). Enciclopdia da Msica
Brasileira: Erudita, Folclrica, Popular. 2. ed. rev. e at. So Paulo: Art
Editora/Publifolha, 1998. p. 370-9.
PERRONE, Maria da Conceio Costa. Os caboclos de Itaparica: histria, msica, e
simbolismo. 1996. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica,
Universidade Federal da Bahia, Salvador.
PINHO, Wanderley. Cotegipe e seu tempo: Primeira Phase, 1815-1867. So Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1937. (Coleo Brasiliana, 85).
______. Sales e damas do Segundo Reinado. 4. ed. rev. ampl. So Paulo: Martins, 1970.
QUEIRZ, Jos lvaro Lemos de. Preges: Os sons dos mercadores. 2001. Dissertao
(Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia,
Salvador.
18
QUERINO, Manuel. A Bahia de Outrora. Prefcio de Frederico Edelweiss. Salvador:
Progresso, 1955.
______. Artistas Baianos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1909. (Indicaes
Biogrficas).
______. ______. 2. ed. rev. aum. Bahia [Salvador]: [s. n.], 1911. (Indicaes Biogrficas).
RIOS, Marialva Oliveira. Educao Musical e Msica de Cultura Popular: Processos de
Ensino. 1997. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade
Federal da Bahia, Salvador.
ROBATTO, Pedro. Duos para Flauta e Clarineta: Dualismo II de Fernando Cerqueira e
Ibeji de Paulo Costa Lima. 1997. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de
Msica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
SADIE, Stanley (Ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London:
Macmillan, 1980. 20 v.
SALLES, David (Org.). Primeiras Manifestaes da Fico na Bahia. Salvador:
Universidade Federal da Bahia, 1973. (Estudos Baianos, 7).
SALLES, Teodoro Ribeiro. Clulas Verticais: estudo analtico-interpretativo.1999.
Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da
Bahia, Salvador.
SALLES, Vicente. Msica e Msicos do Par. Belm: Conselho Estadual de Cultura, 1970.
(Coleo Cultura Paraense. Srie Theodoro Braga.)
SANTANA, Amandina Anglica Ribeiro de; SANTOS, Milta de Azevedo. Talentos
Musicais da Bahia: dos inditos aos inesquecveis. Salvador: GBK, 1998.
SANTOS, Eurdes de Sousa. O cancioneiro de Canudos. 1996. Dissertao (Mestrado em
Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
______. Sincronizando Mundos Plurais: Um Estudo do Canto Participativo na Romaria de
Canudos. 2001. Tese (Doutorado em Msica) Escola de Msica, Universidade
Federal da Bahia, Salvador.
19
SANTOS, Maria Luza de Queiroz Amncio. Origem e Evoluo da Msica em Portugal e
sua Influncia no Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1942. (Comisso
Brasileira dos Centenrios de Portugal).
SILVA, Alberto. A Cidade do Salvador: aspectos seculares. Salvador: Livraria Progresso
Editora, 1957.
SILVA, Ktia Maria de Carvalho. O Dirio da Bahia e o Sculo XIX. Nota introdutria de
Fernando Sales. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Braslia: Instituto Nacional do
Livro, 1979.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Primeira Gazeta da Bahia: Idade dOuro do Brasil. So
Paulo: Cultrix; [Braslia]: Instituto Nacional do Livro, 1978.
______. Cultura no Brasil Colnia. Petrpolis: Vozes, 1981. (Histria Brasileira 6).
SILVA, Maria Conceio Barbosa da Costa e. O Montepio dos Artistas: Elo dos
trabalhadores em Salvador. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da
Bahia/Fundao Cultural/EGBA, 1998.
SOUZA, Antnio Loureiro de. Apontamentos para a Histria da Imprensa na Bahia.
Universitas, Salvador, v. 12, n. 13,p. 161-74, mai./dez., 1972.
______. Baianos Ilustres, 1567-1925. 3. ed. rev. So Paulo: IBRASA; Braslia: Instituto
nacional do Livro, 1979.
______. Contribuio histria da Imprensa na Bahia. Jornal da Bahia, Salvador, 1970.
Tablide. (I Encontro Nacional de Escolas de Comunicao).
SOUZA, Ricardo Pamflio de. A Msica na Capoeira: Um estudo de caso. 1998.
Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de Msica, Universidade Federal da
Bahia, Salvador.
TAVARES, Lus Henrique Dias. Histria da Bahia. 10. ed., rev. e amp. Salvador:
EDUFBA, 2001.
TEIXEIRA, Cid. Bahia em tempo de provncia. Salvador: Fundao Cultural
do Estado da Bahia, 1986.
20
TORRES, Carlos. Vultos, fatos e coisas da Bahia. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia,
1950.
TORRES, Joo N.; CARVALHO, Alfredo de. Anais da Imprensa da Bahia: 1 Centenrio,
1811 a 1911. [Salvador]: Typ. Bahiana de Cincinnato Melchiades, 1911.
ULLOA, Mrio. Recursos Tcnicos, Sonoridades e Grafias do Violo para Compositores
No Violonistas. 2001. Tese (Doutorado em Msica) Escola de Msica,
Universidade Federal da Bahia, Salvador.
VALADARES, Jos. Bab da Bahia: Guia Turstico. Salvador: Livraria Turista Editora,
1951.
VASCONCELOS, Ary. Panorama da msica popular brasileira. So Paulo: Martins,
1964.
VEIGA, Cludio. O poeta Pethion de Villar: uma figura romanesca. Rio de Janeiro:
Record, 2001.
VEIGA, Manuel. Achegas para um sarau de modinhas brasileiras. Revista de Cultura da
Bahia, Salvador, v. 17, p. 77-122, 1998.
______. Impresso Musical na Bahia: um ensaio introdutrio. Salvador, 2000. No
publicado. (Apresentado como relatrio do projeto ao CNPQ).
______. Toward a Brazilian Ethnomusicology: Amerindian Phases. 1981. Dissertao
(Doctor of Philosophy in Music) - Universidade da Califrnia, Los Angeles.
(Disponvel atravs de UMI - University Microfilms International, Order No.
8122872. Sumrio no Dissertation Abstracts International, v. 42, n. 7).
VEIGA, M.; ALMEIDA, L. A. S.; GARCIA, S. M. C.; GAZINEO, L. M.; RIBEIRO, H.
L.; GARCIA, R. Banco de Dados da Modinha Brasileira e Impresso Musical na
Bahia. Salvador: Ncleo de Estudos Musicais da Bahia (NEMUS), 2002. Acesso
atravs do endereo http://www.nemus.ufba.br
VERGER, Pierre. Notcias da Bahia, 1850. Salvador: Corrupio/Fundao Cultural do
Estado da Bahia, 1981.
VIEIRA, Ernesto. Diccionario Biographico de Msicos Portuguezes: Histria e
Bibliographia da Msica em Portugal. Lisboa: Typografia Mattos Moreira &
Pinheiro, 1900.
21
VILHENA, Luis dos Santos. A Bahia no sculo XVIII. Notas e comentrios de Braz do
Amaral. Apresentao de Edison Carneiro. Salvador: Itapu, 1969. 3 v.
WILDBERGER, Arnold. Os Presidentes da Provncia da Bahia: Efetivos e Interinos,
1824-1889. Salvador: Tipografia Beneditina, 1949.
As estruturas verticais na improvisao de Bill Evans
Marcelo Gimenes
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
marcelo@nics.unicamp.br
http://www.nics.unicamp.br/~marcelo/
Resumo: Apresentamos os resultados gerais obtidos em nossa pesquisa de Mestrado em que
foram analisados aspectos estilsticos do jazz atravs da identificao de estruturas verticais
encontradas na obra de Bill Evans. Utilizamos a organizao vertical das notas executadas por
Evans durante a improvisao como fator de caracterizao do seu estilo pianstico. Escolhidas
seis transcries de gravaes de Evans, extramos as informaes de note number de arqui-
vos MIDI previamente preparados. Atravs de metodologia apropriada, inventariamos, categori-
zamos e classificamos todas as diversas estruturas verticais. Os resultados foram posteriormente
confrontados com as anlises tradicionais encontradas em outras pesquisas.
Palavras-chave: estilo musical, jazz, anlise
Abstract. We present the general results obtained in our Master's degree research in
which jazz stylistic aspects were analysed through the identification of vertical structures
found in Bill Evans's work. We use the vertical organisation of pitches played by Evans
during improvisation as a factor of characterisation of his piano style. From six transcrip-
tions of Evans recordings, we selected note number information of MIDI files previously
prepared. Through appropriate methodology, we inventoried, categorised and classified all
the several vertical structures. The results were later confronted with traditional analyses
found in works carried out by other researchers.
Key-words: musical style, jazz, analysis
1. Consideraes Iniciais
O uso de recursos computacionais na pesquisa da Cognio Musical tem se tornado cada vez
mais indispensvel. Eles provem meios para anlises consistentes que tm um alto grau de
preciso e nas quais possvel usar amostras variadas e representativas. Assim como a utili-
zao de modelos computacionais inseridos em outras reas do conhecimento humano, a
pesquisa em Cognio Musical tem avanado a passos largos nos ltimos anos, especialmente
em domnios como a sntese computacional do estilo musical, classificao e reconhecimento
automticos do estilo musical e anlise estatstica de padres musicais.
Podemos mencionar, entre outros, as importantes concluses a que chegam pesquisa-
dores como Assayag (2001), Busse (1997), Cambouropoulos (1999), Conklin (2002), Ga-
nascia (1996), Honing (1993) e Lartillot (2000) acerca de temas como a modelagem do estilo
musical e a recuperao de informao em grandes bases de dados musicais.
Somos entusiastas do estudo da improvisao, seja ela no jazz ou em qualquer outro
gnero musical, porque entendemos que nela o msico revela, ao mesmo tempo, a sua
originalidade criativa e a capacidade de organizao dos mais variados recursos musicais.
Evidentemente, na improvisao o msico acaba por fazer uso de determinadas solues, os
conhecidos padres (patterns) de organizao meldica, harmnica e rtmica que vem a
ser, afinal, solues imediatas que ele utiliza na construo da sua performance.
Assim, podemos vislumbrar o momento da performance como uma cadeia de criao
e de formao de padres musicais, estruturas, contornos e frmulas que revelam, em ltima
instncia, o modus pensandi ou a esttica do msico. Afinal, a msica estruturada na
mesma medida em que tocada.
2. A pesquisa
Em nossa pesquisa de Mestrado que desenvolvemos no Departamento de Msica do Instituto
de Artes, com o apoio do Ncleo Interdisciplinar de Comunicao Sonora (Nics), ambos
pertencentes Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, procuramos utilizar a organi-
zao vertical das notas executadas por Evans durante a improvisao como fator de caracte-
rizao do seu estilo pianstico. Chamamos de estruturas verticais (EVs) quaisquer organi-
zaes de notas considerado o plano espacial e desconsiderando o plano temporal.
Grosso modo, a msica pode ser compreendida como uma organizao de recursos
musicais distribudos nos planos espacial e temporal. Quando pensamos em organizao es-
pacial focalizamos o som independentemente de sua sucesso no tempo. Em outras palavras,
desconsideramos a indexao temporal dos eventos sonoros para nos concentrar nos eventos
em si mesmos.
Como veremos abaixo, estudamos principalmente as relaes intervalares existentes
em cada estrutura vertical. primoroso se investigar, entre outras questes, como as estrutu-
ras verticais so distribudas no espao, considerados os limites fsicos do instrumento. De
que maneira, por exemplo, o msico opta por determinadas regies do piano em detrimento
de outras. Dada uma mesma organizao intervalar o resultado timbrstico ser diferente se
tocada em diferentes regies do piano.
3. A literatura
A importncia relativa das estruturas verticais em Evans evidenciada por diversos pesquisa-
dores. Encontramos em Gridley (1998), Widenhofer (1988), Berardinelli (1992) e Reilly
(1992) estudos especficos sobre a obra de Evans.
Afirmam estes estudiosos e os msicos em geral que a principal caracterstica da har-
monia em Evans est no uso de voicing variados, complexos e originais, demonstrando gran-
de imaginao e versatilidade. O termo voicing, muito utilizado no jazz, designa, em sentido
genrico, qualquer alinhamento vertical de notas. Em sentido mais estrito, no Brasil, conven-
cionou-se traduzi-lo como "harmonia de apoio"
Os aspectos mais importantes da harmonia estavam na variedade de voicings
complexos e altamente originais. ... Seus voicings de trs e quatro notas
eram dignos de nota e se tornaram parte integrante do vocabulrio jazzstico. ...
Alm de usar um novo estilo de voicings na mo esquerda, ele tambm alterou
seus voicings da mo direita tornando-os mais cheios, freqentemente dobrando
as notas da melodia em oitavas enquanto que anteriormente havia pouca, se
qualquer, duplicao de notas." [Berardinelli, 1992]
Evidentemente, o conceito de voicing est intimamente ligado ao de estrutura verti-
cal e esses termos so, muitas vezes, usados como sinnimos. Dizemos que todo e qualquer
voicing uma estrutura vertical. Talvez o inverso no seja verdadeiro, na medida em que
poderamos conceber estruturas verticais que seriam desprovidas de sentido musical ou est-
tico, dentro de um contexto harmnico previamente definido, o que acreditamos que ocorre
com as voicings. Mehegan (1965), por exemplo, sistematizou o uso freqente de determina-
dos voicings usados no jazz moderno, que ento acontecia nos anos 60.
O prprio Evans, que sempre se mostrou muito bem articulado ao discorrer sobre
seus conceitos e idias musicais afirmou que:
"Ao formular meu estilo fui muito analtico. Para cada nota que eu toco tenho
um princpio muito preciso e uma razo terica ... tenho sido muito consciente
em separar tudo de maneira a compreender o mais completamente que posso"
[Berardinelli, 1992]
4. A metodologia
Como vimos acima, de um lado, um dos momentos da "inteligncia musical" encontra-se na
execuo. De outro, contudo, a anlise musical tem que passar obrigatoriamente por algum
sistema de representao para que se possa fazer uso da capacidade de processamento dos
computadores. A complexidade da informao levou ao desenvolvimento de mecanismos
mais apropriados para sua recuperao e, por extenso, criaram-se algoritmos e outras tantas
tcnicas para recuperao da informao musical. Nessas buscas procuram-se encontrar se-
qncias de acordes, estruturas rtmicas, etc., em grandes bancos de dados de maneira auto-
mtica.
De fato, dentre os diversos sistemas de representao musical, ainda que falho em
questes como o timbre e articulaes particulares de cada instrumento, o protocolo MIDI
possui qualidades intrnsecas apropriadas no que diz respeito indexao do tempo dos
eventos musicais aproximando-se muito, neste aspecto especfico, da organizao temporal
do momento da criao. A despeito das crticas comumente a ele atribudas, reiteramos que o
protocolo MIDI apropriado para o registro de certos aspectos musicais, que levam ao deta-
lhamento da abordagem cognitiva, possibilitando uma analise mais completa.
A maneira que visualizamos de chegarmos mais prximos do momento da criao
musical de Evans foi utilizarmos transcries de suas gravaes. Conhecamos a existncia de
timas transcries disponveis e decidimos escolher dentre estas, estabelecidos alguns par-
metros de seleo, como a importncia relativa dos temas, a diversidade e a representativida-
de de gneros, andamentos, formao instrumental, etc. Escolhemos as seguintes gravaes:
Autumn Leaves (18/12/59) lbum Portrait in Jazz (Riverside)
Peri's Scope (28/12/59) lbum Portrait in Jazz (Riverside)
Waltz For Debby (25/06/61) lbum Waltz for Debby (Riverside)
Here's That Rainy Day (30/09/68) lbum Alone (Verve)
You Must Believe In Spring (23/08/77) lbum You must believe in Spring
(Warner Bros)
Up With The Lark (06/06/80) lbum Turn Out The Stars The Final
Village Vanguard Recordings (Warner Bros)
Os passos seguintes foram:
(i) criao dos arquivos MIDI, com a ajuda de um software de edio musical;
(ii) converso dos arquivos MIDI em arquivos texto com o uso do software
Mf2txt, separando-se em canais diferentes a clave de sol da clave de f;
(iii) organizao dos dados de note number em planilhas eletrnicas;
(iv) montagem das estruturas verticais com a ajuda de um aplicativo desenvolvido
no Nics, que transps para a mesma linha de uma tabela as ocorrncias de
note number pertencentes a um mesmo momento; e
(v) organizao e inventrio das estruturas verticais, contagem das mais freqen-
tes, etc.
As informaes de nota extradas da forma acima descrita possibilitam a anlise de
diversas estruturas musicais, das mais simples (notas, intervalos) s mais complexas (estruturas
verticais intervalares - EVIs). Avaliados os dados, podemos encontrar informaes precisas
quanto a textura, densidade e qualidade timbrstica das estruturas, por exemplo.
Em nossa pesquisa, apesar de apresentarmos dados genricos sobre outras estrutu-
ras, detivemo-nos mais atentamente nas estruturas verticais intervalares que, como vimos aci-
ma, constituem uma das caractersticas inovadoras de Evans.
As estruturas verticais intervalares foram organizadas inicialmente em trs grupos:
mo direita, mo esquerda e mos juntas. Um segundo nvel de organizao, a que chamamos
de gnero, definimos como sendo o nmero de notas de cada estrutura. Finalmente, identifi-
camos para cada grupo e gnero, as estruturas (espcies) e sua freqncia.
5. Os resultados
Elaboramos a partir dos dados colhidos diversas relaes com o cruzamento de informaes
entre estruturas musicais diferentes. A ttulo de exemplo, citamos apenas algumas delas.
De maneira global nas seis transcries, o nmero mximo de gneros de EVIs de
mo direita, esquerda e mos juntas 5, 4 e 9, respectivamente. O resumo das mdias das
EVIs por gnero encontra-se no grfico abaixo:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1n 2n 3n 4n 5n 6n 7n 8n 9n
md
me
mj
Figura 1. Grfico da mdia das EVIs por gnero
V-se que, de fato, excetuando-se as EVs de 1 nota, que so as mais freqentes em
quaisquer dos grupos, as EVIs mais freqentes so as de gnero de duas, trs e quatro notas.
Tambm a ttulo de exemplo, mostramos abaixo algumas espcies de EVIs de mo
esquerda mais freqentemente usadas por Evans.. Os nmeros acima das notas indica o per-
centual da estrutura, dentro do mesmo gnero.
Figura 2. EVIs de duas notas de mo esquerda mais freqentes
Figura 3. EVIs de trs notas de mo esquerda mais freqentes
6. Concluso
Iniciamos nossa pesquisa com a indagao sobre a possibilidade de encontrarmos, de fato, na
obra pianstica de Bill Evans uma coerncia no uso de determinadas estruturas verticais men-
cionadas no trabalho de Berardinelli e de outros pianistas e educadores de jazz, que de fato
pudessem estabelecer caractersticas especficas e particulares do seu estilo musical.
Conforme vimos anteriormente, este fato pde ser comprovado atravs da freqncia
elevada de algumas espcies de estruturas verticais de duas, trs e quatro notas, como as que
mostramos acima.
Pudemos tambm constatar, atravs da referida metodologia, que possvel, com o
uso de recursos computacionais bsicos, a extrao de inmeras informaes relativas ao
estilo musical, fato que ficou especialmente evidenciado na sistematizao e organizao das
estruturas verticais. Acreditamos que os resultados apresentados provem meios para anlises
consistentes que tm um alto grau de preciso.
Entendemos que diversas possibilidades de investigaes so abertas a partir deste
trabalho, como por exemplo, a de se demonstrar paralelos entre as nossas descobertas e ca-
ractersticas semelhantes na improvisao de outros pianistas de jazz.
7. Bibliografia
ASSAYAG, Grard, BEJERANO Gill, DUBNOV, Shlomo, LARTILLOT, Olivier. Auto-
matic modeling of musical style. Proc. ICMC 2001, La Habana, Cuba.
BERARDINELLI, Paula. Bill Evans: His contributions as a jazz pianist and an analysis of his
musical style. New York: New York University, 1992. Tese de Doutorado.
BUSSE, Walter Gerard. Toward Objective Measurement And Evaluation Of Jazz Perform-
ance Via MIDI-Based Groove Quantize Templates. Coral Gables, Florida: Universidade de
Miami, 1997. Tese de Doutorado.
CAMBOUROPOULOS, Emilios, CRAWFORD, Tim ILIOPOULOS, Costas S. Pattern
Processing in Melodic Sequences: Challenges, Caveats & Prospects. In Proceedings from the
AISB'99 Symposium on Musical Creativity, 1999.
CONKLIN, Darrel. Representation and Discovery of Vertical Patterns in Music. In: Music
and Artificial Intelligence, Eds. ANAGNOSTOPOULOU, C., FERRAND, M., SMAILL, A.
Berlin: Spring Verlag, ISBN 3-540-44145-X, pp. 32-42, 2002.
FORTE, Allen. The Structure of Atonal Music. London, Yale University Press, 1977.
GANASCIA, Jean-Gabriel, ROLLAND, Pierre-Yves. Automated Identification of Prominent
Motives in Jazz Solo Corpuses. In Proceedings of the 4th International Conference on Music
Perception and Cognition (ICMPC'96), Montreal, August 1996.
GRIDLEY, Mark C. Jazz Styles: History and Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,
1988.
HONING, Henkjan. "Issues in the representation of time and structure in music," Contempo-
rary Music Review 9, pp. 221-239, 1993.
LARTILLOT, Olivier. Modlisation du style musical par apprentissage statistique: une
application de la thorie de linformation la musique. Universit Pierre et Marie CURIE -
Paris VI: Paris, 2000. Dissertao de DEA.
MEHEGAN, John. Contemporary Piano Styles, Jazz Improvisation IV. New York: Watson-
Guptill Publications, 1965.
PETTINGER, Peter. Bill Evans: How My Heart Sings. New Haven: Yale University Press,
1998.
REILLY, Jack. The Harmony of Bill Evans. New York: Unichrom Ltd., 1992.
WIDENHOFER, Stephen Barth. Bill Evans: An analytical study of his improvisational style
through selected transcriptions. Greeley, Colorado: University of Northern Colorado, 1988.
Dissertao (Doctor of Arts).
Imagens e auto-imagem na cano de Lupicnio Rodrigues
Mrcia Ramos de Oliveira
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
marciaramos@cpovo.net
Resumo: O trabalho versa sobre as diversas formas de representao acerca da cano, junto a
atuao do compositor popular Lupicnio Rodrigues. Valendo-se de suas composies, evidencia
atravs de algumas caractersticas musicais e poticas uma pequena amostra acerca das muitas
imagens que decorrem a partir de sua produo e recepo. O desenvolvimento desta via de
abordagem identifica a cano feita por este compositor como uma forma de produo musical
passvel de vir a ser redimensionada enquanto documento histrico, ao considerar no apenas o
estilo de sua criao, mas estabelecendo outros tantos vnculos que tambm justifiquem a
permanncia, divulgao e legitimao das msicas que fez. Neste sentido, amplia-se o interesse
sobre sua performance e dico, extrapolando-se o contedo do material pesquisado para alm da
reproduo musical das canes. A referncia a sua atuao profissional, assim como de sua
conduta pessoal, veio a ser bastante citada em reportagens de jornais e revistas, que revelavam para
alm do texto, outras formas de representao, especialmente visuais, atravs de fotografias de
Lupicnio Rodrigues, alm de outras imagens associadas a sua figura. Entre o material publicado na
grande imprensa, importante ressaltar as crnicas escritas pelo compositor, ao longo do ano de
1963, que revelaram aspectos autobiogrficos importantes, alm daqueles presentes nos demais
textos e canes. Finalizando, na amostragem deste material, torna-se necessrio tambm fazer
referncia as muitas ilustraes que acompanharam a trajetria de Lupicnio Rodrigues, entre
gravuras e charges nas matrias jornalsticas, alm de capas de discos e livros acerca de sua
produo musical. O contraste evidenciado pelas diferentes formas de representao associadas a
imagem do compositor Lupicnio Rodrigues, nas dimenses musicais, literrias e visuais, possibilita
demonstrar as diversas leituras possveis de serem feitas acerca da temtica histrico-musical,
indicando que no se restringem apenas a produo e recepo das canes.
Palavras-chave: cano, representao, imagem
Abstract: The work turns about the varoius forms of representation, concerning the song plus the
performance of the popular composer Lupicnio Rodrigues. Using his compositions, it evidences
throughout some musical and poetical characteristics a small sample concerning the many images
that elapse from its production and reception. The development of this approach identifies the song
made for this composer as a form of musical production that come to be re-dimensioned as a
historical document, when considering not only the style of his creation, but also establishing others
bonds which justify the permanence, spreading and legitimation of musics he made too. In this
direction, it extends the interest on his performance and expression, surpassing itself the content of
the material searched for beyond the musical reproduction of the songs. The reference to his
professional performance, as well as of his personal behavior, came to be sufficiently cited in news
articles of periodicals and magazines, that reveal for beyond the text, other forms of representation,
especially visual, through photographs of Lupicnio Rodrigues, beyond other images associates his
figure. Between the published material in the well known press, is important to stand out the
chronicles written by the composer, throughout the year of 1963, that shows autobiographic aspects,
beyond those present in texts and songs. Finally, in the sampling of this material, it is necessary to
make reference to the many illustrations that had followed the trajectory of Lupicnio Rodrigues,
among engravings and charges in the journalistic substances, further than cover of records and
books concerning his musical production. The contrast evidenced for different forms of
representation associates the image of the composer Lupicnio Rodrigues, in the musical
dimensions, literary and visual, become possible to demonstrate the diverse probable readings to be
done concerning the historical-musical thematic, indicating that the production and reception of the
songs are not restricted only by the songs.
Key words: songs, representation, image
Este texto representa uma pequena parte do Projeto de Pesquisa que resultou na
Tese de Doutoramento em Histria, atravs da UFRGS, intitulada Uma leitura histrica
da produo musical do compositor Lupicnio Rodrigues. A abordagem que aqui
apresento pretende ser uma amostragem acerca das diferentes formas de representao
associadas a msica e a figura do compositor Lupicnio Rodrigues.
Um grande nmero de referncias existentes sobre sua biografia, associadas ao seu
fazer musical, puderam ser facilmente percebidas ao longo da documentao consultada no
decorrer da pesquisa. Muitos so os textos dito biogrficos sobre Lupicnio Rodrigues,
publicados especialmente em jornais e revistas de grande circulao, junto aos encartes e
coletneas musicais da MPB, os quais apesar do grande volume em que se apresentam,
acabam por repetir as mesmas informaes sobre o compositor. Tais relatos correspondem
na grande maioria das vezes a um pequeno resumo da vida de Lupicnio Rodrigues,
sinteticamente apresentado nas linhas que seguem.
O compositor, nascido na Ilhota (atual bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre/RS),
no ms de Setembro de 1914, surgiu em meio a mais uma das freqentes inundaes do
local. Filho de um funcionrio pblico e de uma lavaderia (Seu Francisco e Dona Abigail
Rodrigues), cresceu junto das peladas de futebol (onde j existia a destacada Liga dos
Canela Preta, da qual seu pai era um dos fundadores), que misturavam-se, enquanto forma
de lazer daquela comunidade, ao premiado carnaval de bairro, onde ele viria a se destacar
fazendo msica ainda criana. Compondo e cantando em meio aos adultos, Lupicnio teria
seu talento precocemente reconhecido, justificando-se assim as sucessivas premiaes que
receberia junto as comemoraes oficiais no carnaval do municpio. Sua entrada nas rdios
locais estaria relacionada justamente aos sucessos carnavalescos de sua autoria. A partir
desse fato, os textos passam, ento, a mencionar o reconhecimento nacional do compositor,
quando teve suas msicas gravadas por grandes intrpretes da Msica Popular, figurando
nas principais emissoras de rdio, especialmente do eixo Rio de Janeiro So Paulo, ao
longo das dcadas de 30, 40 e 50. Ao sucesso sobrepe-se o esquecimento, nestes relatos,
quando ressurgiria ao ser gravado por novos grandes talentos da MPB, especialmente na
voz de Caetano Veloso e da cano Felicidade. Aps o seu inesperado renascimento,
bastante difundida a tambm precocemente declarada morte do compositor, aos 60 anos
incompletos, em Agosto de 1974.
Ao reduzido nmero de informaes que foi possvel obter de sua biografia,
somaram-se uma grande variedade de estrias associadas a ele, parte de um imaginrio
comum aos que o conheceram e tambm vivenciaram a Porto Alegre em que transitou. So
causos, ou pequenas lendas, associadas ao seu modo de vida, sua maneira de ser,
indicativos da personalidade do compositor, incluindo acenos, gestos e palavras, tpicos a
seu jeito de expressar-se.
Inmeras so as referncias sobre ele, comentrios que os annimos moradores da
cidade evocam aqui e ali, demonstrando o quanto a mesma comunidade encontra-se ainda
impregnada de Lupi. Os amigos prximos tambm contribuem para expandir o corolrio de
historietas, fornecendo mais e mais subsdios para constituir-se assim o personagem
Lupicnio, o mito criado acerca do compositor. O prprio Lupicnio Rodrigues tambm
responsvel pela variada gama de interpretaes que se tem sobre ele, ao tambm revelar-se
como um grande contador de histrias e estrias, atravs do depoimento que deu ao Museu
da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro em 1968, ou nas crnicas que redigiu para o Jornal
ltima Hora, em Porto Alegre, na coluna permanente, aos sbados, ao longo do ano de
1963. Em cada uma destas crnicas, ocupava-se de assuntos variados, tendo como tema
aparente explicar o surgimento de uma de suas canes, que acompanhavam, em letra, o
escrito no jornal.
1
Os depoimentos colhidos ao longo da pesquisa corroboram uma srie destes feitos
, fantasiando ainda mais a histria do compositor.
2
Uma das primeiras tentativas biogrficas
sobre ele, o livro Roteiro de um bomio, escrito pelo amigo Demsthenes Gonzalez,
1
RODRIGUES, Lupicnio. Foi assim: O cronista Lupicnio conta as histrias de suas msicas. Porto Alegre,
Edit. L&PM, 1995.
2
A pesquisa que realizei contou com o depoimento das seguintes pessoas : Adelaide Dias e seu esposo
Euclides Guedes Jr., Alberto Andr, Ari Rego, Beto Rodrigues, Danilo Ucha, Darcy Alves, Demsthenes
Gonzalez, Enio Rockenbach, Guilherme Braga, Hardy Vedana, Jaime Lubianca, Johnson, Jorge Machado,
Lourdes Rodrigues, Massaretti, Naura Elisa, Paulo Sarmento, Pery Souza, Plauto Cruz, Roberto Campos,
Rubens Santos e, Zil Machado.
constitui-se tambm numa reunio de crnicas, que instigam ainda mais a imaginao sobre
os fatos narrados.
3
Contrariando o que se possa imaginar, os textos acadmicos sobre o compositor e
sua obra tambm deixam-se envolver quanto as diferentes representaes que da emergem.
E mais, valem-se das mesmas como via de anlise e interpretao. O que dito na msica,
pelo compositor, associado aos textos publicados na grande imprensa, torna-se alvo de
interesse e de estudo, estabelecendo-se assim mais uma face na identidade de Lupicnio
Rodrigues.
4
Identidade da personagem e imaginrio social acumulam-se, entrecruzam-se, a
despeito da possibilidade de ali poder encontrar-se maiores vestgios acerca do sujeito
histrico. Muitas perguntas permanecem quanto a existncia pouco revelada do compositor,
inclusive quanto a compreender melhor como chegou ao reconhecimento do pblico, em
esfera nacional, na expresso de seu trabalho.
5
Justapondo-se as informaes que cercam as biografias do compositor,
acrescentam-se suas falas atravs das canes que fez. Ao compor fazendo uso quase
sempre da primeira pessoa, ao expressar sua voz, facilmente estabeleceu-se o vnculo entre
o que dizia em msica e os acontecimentos de sua vida pessoal. Embora este aspecto possa
ser questionado, inclusive por pessoas prximas a ele, muitas vezes o prprio Lupicnio
Rodrigues reforou a crena na veracidade do que seu personagem afirmava nas
msicas, que passavam a ser ouvidas e relacionadas a sua biografia.
Este aspecto particularmente interessante, no que se refere a performance de Lupi
pois, diferentemente de outros tantos compositores, sua atuao foi afirmada tanto pelas
3
GONZALEZ, Demsthenes. Roteiro de um bomio: vida e obra de Lupicnio Rodrigues crnicas. Porto
Alegre, Edit. Sulina, 1986.
4
Sobre tal nfase aqui apresentada, gostaria de ressalvar que no trata-se de uma crtica aos mesmos, no
sentido de indisponibilizarem novos dados sobre a biografia de Lupicnio Rodrigues. Apenas advirto, neste
caso, para a dificuldade em obter-se novas referncias alm das j existentes. Neste caso, tambm me incluo
quanto a detalhar aspectos de sua vida as descries que faz em msica. Apenas a ttulo de exemplo cito tais
obras:
DIAS, Rosa Maria. As paixes tristes: Lupicnio e a dor-de-cotovelo Rio de Janeiro, Edit. Leviat, 1994.
MATOS, Maria Izilda S. de , e FARIA, Fernando A . Melodia e Sintonia em Lupicnio Rodrigues: o
feminino, o masculino e suas relaes, Rio de Janeiro, Edit. Bertrand Brasil, 1996.
OLIVEIRA, Mrcia Ramos de. Lupicnio Rodrigues: a cidade, a msica, os amigos Dissertao de Mestrado
apresentada ao PPG em Histria/UFRGS, defendida em Agosto de 1995.
5
Este um dos aspectos que tentei abordar em minha Tese, especialmente quanto a investigar como
Lupicnio Rodrigues teria conseguido atravessar as fronteiras ou limites do Estado de onde veio ao Eixo
Rio-So Paulo, ao levar suas canes a outros mercados alm daqueles relacionadosa sua origem. Procurei
detectar em sua atuao o que teria possibilitado que isso ocorresse, tentando outras vias de explicao alm
msicas que fez, como por aquelas em que atuou como cantor, intrprete. Apesar de no se
declarar um grande cantor, gravou vrios lbuns, a partir de suas prprias composies,
destacando-se especialmente aqueles do incio da dcada de 50, quando seu trabalho atingiu
maior repercusso. O fato de ser ao mesmo tempo criador e intrprete de suas canes teve
como desdobramento a reafirmao do mito, do personagem que criara de si prprio.
6
O personagem Lupicnio Rodrigues estruturou-se, tomou corpo, a partir do que
suas msicas falavam, pelo que ele prprio dizia de si mesmo em msica, depoimento e
texto -, pelo que foi dito e repetido sobre ele nos diversos depoimentos de amigos e
conhecidos -, pelo que foi escrito e repetido sobre ele ao longo dos diversos textos
publicados, entre jornalsticos, informativos e acadmicos -.
De acordo com a imagem que paulatinamente formava-se sobre o compositor,
especialmente pelos atributos da fala oral, textual ou musical, novas associaes
estabeleciam-se a partir das representaes visuais. Acompanhando os textos que versavam
sobre sua histria, compondo encartes que integravam Lps sobre sua obra, ilustrando a capa
de Lps ou Cds que incluam seu repertrio, junto ao material humorstico que satirizava
suas msicas e conduta, surgiriam incontveis imagens, entre fotografias, desenhos,
charges, entre outros.
Lupicnio Rodrigues atravs das representaes visuais apresentava-se nos diversos
desdobramentos que a personagem criada permitiria. Apesar dos antagonismos que
implicam to contraditrias formas de visualizao da mesma personalidade ele
apresentado como o jovem e o velho Lupi, o bomio e o pai de famlia, o compositor
popular alundindo a esfera platina, entre outros. Ora surge como o sambista, retratato a
rigor em camisa listrada e portando a caixinha de fsforo, ora quase tangueiro ao
apresentar-se em um sisudo sobretudo, acompanhado de chapu e cachecol. Sua figura
mistura-se a presena de crianas e netos, assim como reaparece associado a mulheres da
noite, garrafas de bebida, homens embriagados. O que tantas e diferentes ilustraes
revelam, encontram-se apoiadas pela ambigidade que caracterizou seus ditos em msica.
da folclrica verso, por ele tambm propagada, de que os marinheiros teriam levado suas msicas de
porto em porto at o centro do pas.
6
Diversos so os trabalhos que fazem referncia a atuao dos intrpretes como segundos criadores das
canes. A medida em que ao apresent-las, reinterpretam-nas, diferenciando-as do produto original,
distinguindo-as em sua especificidade, ao relacion-las as suas prprias qualidades e caractersticas, enquanto
cantores e cantoras, apropriando-se das mesmas, ao tornarem-se co-autores atravs de sua execuo.
As aparentes oposies que percebemos nas imagens, encontram-se justificadas nos
antagonismos que as msicas revelam. Atravs delas, Lupi ama e odeia, gacho e
brasileiro, jovem e velho, pai e amante. A est Lupicnio Rodrigues, entre o sujeito
histrico e o mito, afirmando-se, como sua identidade, a contradio.
7
Finalizando este pequeno texto, pretendo assim contribuir, ao afirmar a necessidade
de contrapor-se diferentes tipos de documentao ao realizar trabalhos vinculados
memria, trajetria e biografia de compositores, especialmente nascidos no decorrer do
sculo XX.
O extenso corpo documental que este sculo produziu atravs de imagens visuais,
sonoras e literrias no pode ser obscurecido pelas prticas da pesquisa, a medida em que
representa para o historiador voltado ao estudo da msica popular um amplo campo de
investigao e de construo de perspectivas metodolgicas. Torna-se imprescindvel
ressaltar a necessria aproximao e o estabelecimento de relaes entre as formas e
imagens relacionadas, enquanto via de compreenso de um contexto no qual as mesmas no
surgiram seccionadas, muito pelo contrrio. Percebe-se por sua justaposio, enquanto
proposta metodolgica, a evidncia de inmeras leituras e possibilidades de interpretao,
especialmente no que se refere aos historiadores de ofcio identificados teoricamente com a
Histria Cultural.
Bibliografia
DIAS, Rosa Maria. As paixes tristes: Lupicnio e a dor-de-cotovelo. Rio de Janeiro,
Edit.Leviat, 1994.
GONZALEZ, Demsthenes. Roteiro de um bomio:vida e obra de Lupicnio Rodrigues
crnicas. Porto Alegre, Edit. Sulina, 1986.
MATOS, Maria Izilda S. de. ; e, FARIA, Fernando. Melodia e Sintonia em Lupicnio
Rodrigues: o feminino, o masculino e suas relaes. Rio de Janeiro, Edit.
Bertrand Brasil, 1996.
OLIVEIRA, Mrcia Ramos de . Lupicnio Rodrigues: a cidade, a msica, os amigos.
7
No foi possvel no momento da confeco deste texto incluir as imagens a que me refiro, o que pretendo
demonstrar por ocasio da apresentao do mesmo, associado a seqncia de msicas em que as mesmas
relacionam-se.
Dissertao de Mestrado/PPG em Histria/UFRGS, 1995.
_______ . Uma leitura histrica da produo musical de Lupicnio Rodrigues. Tese de
Doutorado/PPG em Histria/UFRGS, 2002.
RODRIGUES, Lupicnio. Foi assim: O cronista Lupicnio conta as histrias de suas
msicas. Porto Alegre, Edit. L&PM, 1995.
Ensino de msica via Internet - a implantao de um prottipo
Marcos Andr Aristides
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RI O)
maaristides@uol.com.br
Rosana Lanzelotte
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RI O)
rosana@unirio.br
Resumo: O presente trabalho descreve uma experincia de ensino de msica via Internet. A sua
principal motivao consiste no interesse crescente na educao a distncia atravs da Internet.
Partindo do scio-construtivismo e do modelo C(L)A(S)P proposto por Swanwick, foi realizado
um prottipo em uma plataforma destinada implantao de contedos para o ensino via Internet.
A metodologia escolhida analisada do ponto de vista de suas vantagens e limitaes e passos na
direo de futuras pesquisas so apontados. Uma das principais contribuies deste trabalho
consiste em propor ambientes de ensino de msica via Internet como uma alternativa a aplicativos
de ensino de msica.
Palavras-chave: msica e educao, ensino a distncia, ensino via Internet
Abstract: This paper discusses the possibilities of music education in the context of distance
learning through Internet. A constructivist practice of music education is adopted as a basis for the
learning environment. The proposal of Keith Swanwick for a model of music education, the
C(L)A(S)P model, was chosen as the theoretical foundation. Based on the concepts and on the
grounding of the C(L)A(S)P model, we designed a musical learning environment MUSIKEIA -
that has been prototyped on a platform designed for web learning.
Keywords : music and education, distance learning, web learning
1. Introduo.
O notvel desenvolvimento da Internet tem ampliado o alcance do ensino a
distncia em diversas reas. Na rea de msica e educao, faz-se ento necessrio
investigar as possibilidades de ensino a distncia utilizando esta nova forma de
comunicao.
Com esse objetivo foi desenvolvido a pesquisa aqui descrita
1
, cuja principal
motivao a de contribuir para a discusso das possibilidades de implantao do ensino
semi-presencial de msica. No mbito do presente trabalho o ensino de msica foi
1
ARISTIDES, Marcos. Musikeia : uma plataforma construtivista para o ensino de msica via Internet.
Dissertao (mestrado), UNIRIO - Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.
circunscrito aos aspectos de apreciao musical. Entretanto, as experincias e concluses
so em parte extensveis a outros aspectos do ensino de msica.
As principais contribuies da pesquisa desenvolvida foram as seguintes:
Investigao das possibilidades de ensino de msica via Internet;
Construo de conhecimentos para elaborar projetos de ensino de msica via
Internet;
Discutiu-se a utilizao dos meios disponibilizados pela Internet enquanto
ferramentas que viabilizem o ensino de msica;
Apresentao de uma proposta de ambiente para o ensino semi-presencial de msica
via Internet.
A reflexo sobre a maneira de conceber e de conduzir aulas de msica a distncia,
apontaram a necessidade de um projeto pedaggico-musical. Para tanto o referencial
terico utilizado foi o modelo C(L)A(S)P de Keith Swanwick
2
.
Para validar as propostas foi desenvolvido um prottipo no ambiente Weblearning
3
,
desenvolvido na PUC-Rio, que um ambiente para ensino via Internet que possibilita o
armazenamento e utilizao de contedos didticos.
A seguir, na seo 2 so descritos, de forma resumida, os fundamentos do ensino-
aprendizado de msica adotados para conduzir a pesquisa aqui enfocada e o modelo
C(L)A(S)P que forneceu as bases para a o planejamento do prottipo. A seo 3 aborda o
ensino a distancia via Internet com uma breve exposio de suas caractersticas. Em
seguida verifica-se surgimento dos ambientes de ensino via Internet e faz-se uma breve
descrio do Weblearning, ambiente utilizado para a implantao do prottipo. A seo 4
descreve o prottipo MUSIKEIA. Aps a apresentao do contedo implementado e a
insero do material didtico no ambiente, ser demonstrada a compatibilidade do modelo
C(L)A(S)P com o ambiente de ensino Weblearning. A seo 5 apresenta as concluses da
pesquisa aqui enfocada assim como aponta direes para futuras pesquisas.
2
SWANWICK, Keith. A Basis for Music Education. London: NFER Publisching Company, 1979.
3
LEITE, Angela. Weblearning, um ambiente para autoria de aplicaes de apoio ao aprendizado na Web.
Dissertao de mestrado, Puc-Rio, dpto. de informtica. Rio de Janeiro, 2001.
2. Atividades de ensino-aprendizado de msica.
2.1 A construo de conhecimentos e o ensino de msica.
No trabalho aqui descrito foi adotado o scio-construtivismo como o paradigma que
fornece as bases educacionais para o ensino de msica. A questo essencial, tomada como
ponto de partida para a concepo do ambiente, a seguinte: quais so as condies
necessrias para que ocorra a reconstruo de saberes musicais? Por saber musical entenda-
se o saber ouvir msica, saber criar msica, saber executar msica e saber sobre msica.
No que se refere s aulas de msica estes saberes so trabalhados atravs da escuta,
da criao musical e de exerccios de execuo.
2.2 O modelo C(L)ASP.
Para orientar o planejamento de atividades de msica e educao foi escolhido o
modelo C(L)A(S)P
4
:
Creation (criao ou composio): formular uma idia musical; construir um
objeto musical;
Literature (Literatura): literatura musical e literatura a respeito de msica
Audition (apreciao
5
): escuta consciente enquanto ouvinte (embora no
necessariamente como pblico)
6
.
Skill (Tcnica - aquisio de): perceptiva (auditiva), instrumental e notacional;
Performance (Execuo): comunicar a msica como uma presena.
Estas so, segundo Swanwick
7
, as reas que devem orientar o planejamento
curricular, sendo que Creation, Audition e Performance so consideradas como essenciais
por estarem diretamente relacionadas ao fazer musical; enquanto Literature e Skill so
consideradas como reas de apoio ao aprendizado de msica. Ainda de acordo com
Swanwick deve-se planejar a aula de msica levando em conta esta hierarquia entre reas
essenciais e reas de apoio, passando-se tanto quanto possvel por todas as reas.
4
SWANWICK, 1979. Op. cit. p. 41.
5
Optou-se por traduzir audition por apreciao, para evitar que seja confundida com a tcnica auditiva, uma
das habilidades da categoria Skill (Tcnica).
6
SWANWICK, 1979. Op. cit. p 45 .
7
idem p. 41.
O modelo foi adotado por definir parmetros bsicos para a msica e educao e ao
mesmo tempo por contemplar as bases educacionais do scio-construtivismo. Tambm
contribuiu para tal escolha o fato de haver afinidade entre a abordagem de Swanwick para o
ensino da msica, com destaque para o funcionamento do modelo, e os recursos oferecidos
pela Internet.
3. A educao a distncia via Internet.
3.1 A terceira gerao de ensino a distancia: o ensino via I nternet.
A Internet proporcionou o surgimento da terceira gerao dos meios de ensino a
distncia
8
. Entre as caractersticas deste meio de comunicao, as mais importantes do
ponto de vista do ensino a distncia so as seguintes:
A possibilidade de intercmbio de documentos em forma de som texto e imagem
em tempo prximo do tempo real;
A interao entre os participantes em tempo real ou no em tempo real;
Pode-se ter acesso ao material de aprendizagem assim como o contedo das aulas a
qualquer momento;
Pode-se ter acesso a outras fontes de pesquisa a partir do prprio ambiente de aula.
Observa-se ento, que a fronteira entre o ensino presencial (aulas tradicionais em
sala) e o ensino no presencial (ensino a distancia) ficou mais tnue, o que permitiu o
surgimento de cursos semi-presenciais
9
.
3.2 Os ambientes de aprendizagem - O WebLearning.
O desenvolvimento do ensino a distncia via Internet fez surgir os assim chamados
ambientes de aprendizagem, ou seja, as atividades de ensino-aprendizado so todas
reunidas em um mesmo ambiente Internet, que funciona como uma estao de trabalho
onde o estudante dispe do material didtico, de exerccios e de outras aplicaes que
possam auxilia-lo na construo de seus conhecimentos.
10
8
O ensino por correspondncia caracteriza a primeira gerao e o ensino atravs dos meios de comunicao
de massa caracteriza a segunda gerao. FUSULIER, B. & LANNOY, P. Les Techniques de la distance
Paris/Montral: Ed. lHarmattan, 1999, p 185-186.
9
Ensino baseado na combinao de encontros presenciais com atividades a distncia.
10
JERMANN, P & MENDELSOHN, Patrick. La recherche en Suisse dans le domaine des nouvelles
technologies de linformation appliques a la formation Ed: Centre Suisse de Coordination pour la recherche
em ducation (CSRE). Berne et Aarau, 1997 24 27.
A pesquisa aqui enfocada realizou um exemplo de implantao de contedos para o
ensino de msica utilizando o ambiente Weblearning, desenvolvido no Departamento de
Informtica da PUC-RIO, voltado para o apoio aprendizagem via Internet. Essa escolha
deveu-se ao fato de que o Weblearning se mostrou suficientemente aberto para receber e
veicular informao em formato de texto, de imagem e sonoras (inclusive peas musicais)
e, tambm, por permitir passar de um contedo a qualquer outro, de maneira direta e no
seqencial.
O Weblearning um ambiente hipermdia
11
que admite 5 (cinco) categorias, 4
(quatro) delas referentes a contedo: conceitos, comentrios, exemplos, exerccios. A
quinta categoria, chamada roteiro, utilizada quando o professor considera indispensvel
para a compreenso, que os contedos sejam visitados em uma determinada ordem.
Uma grande vantagem na utilizao do Weblearning consiste na flexibilidade com
que se navega pelo material didtico, o que possibilita um ensino centrado em
competncias
12
, alm do tradicional ensino centrado em atividades.
4. Musikeia: um ambiente para ensino de msica via Internet.
Para exemplificar uma possibilidade utilizao de ambiente de aprendizagem para o
ensino de msica via Internet foi proposto o MUSIKEIA. Trata-se de um prottipo que
disponibiliza na Internet contedos de apreciao de msica.
4.1. Contedo selecionado.
O contedo escolhido para a implantao do prottipo foi A intensidade do som da
voz, extrado do livro O uso da voz
13
, que vem a ser o primeiro de uma srie de livros que
compem o projeto Msica na Escola. O pblico alvo deste mdulo consiste em
professores alfabetizadores, e o objetivo consiste em desenvolver a escuta das diferentes
gradaes de intensidade que um som de voz pode apresentar.
11
Mesmo princpio do hipertexto aplicado diferentes mdias, ou seja, chama-se Hipermdia quando se tem a
possibilidade de passar de uma a outra informao mesmo que elas apresentem formatos diferentes: som,
texto e imagem.
12
QUINZII, Yvonne. Le rfrentiel de comptences. In: Colloque de Lyon , 1 et 2 octobre, 1999. Lyon.
Actes du Colloque de Lyon: Centre de Formation de musiciens intervenant lcole. Universit Lumire
Lyon 2. Paris : LHarmatan, 2000. p.124-129.
13
CONSERVATRIO BRASILEIRO DE MSICA & PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
Projeto Msica na Escola: O uso da Voz. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educao/Conservatrio
Brasileiro de Msica. 2000.
A passagem dos contedos apresentados originalmente no livro para o ambiente
Weblearning obedeceu a um processo de trs fases:
1. Produzir uma verso com aplicativos de informtica do material escrito e sonoro
do captulo A intensidade do som da voz;
2. Classificar o contedo dentro de uma das categorias do modelo C(L)A(S)P;
3. Categorizar cada contedo como exerccio, exemplo, conceito ou comentrio em
vista da sua insero no ambiente Weblearning.
4.2. Um exemplo de exerccio
Dentro do contedo escolhido para ilustrar o prottipo, imaginou-se um exerccio
com o objetivo de desenvolver a capacidade de percepo dos alunos, bem como exercitar a
sua capacidade de criao, duas etapas previstas no mbito do modelo C(L)A(S)P.
A figura 1 mostra uma tela no ambiente MUSIKEIA referente ao exerccio, que
consiste em combinar diversos trechos de sons de vozes gravados. Na parte de baixo da
tela, o aluno dispe de vrios cones, cada um correspondendo a um trecho de voz gravado
previamente. Ao clicar em um dos cones, o aluno pode ouvir o som correspondente.
Depois, pode arrastar cones at uma das linhas mostradas na tela. A cada linha
corresponde um nvel de intensidade do som. Portanto, o mesmo cone posicionado na linha
mais baixa da tela produzir um som de menor intensidade. O aluno pode combinar os
cones de acordo com sua vontade e testar o resultado final. Se assim o desejar, pode
recombinar os cones, produzindo uma nova composio.
Ao final do exerccio, espera-se que o aluno tenha captado a noo de intensidade e
de como interfere no processo composicional.
Pode-se passar deste para
outros exerccios.
(rea A do modelo).
Pode-se passar deste
exerccio para outro tipo
de atividade.
FIGURA 1
Figura 1: Exerccio: Selecione fragmentos de som de voz e coloque-os no espao.
Oua o resultado. Se no gostar, experimente outra combinao. Se gostar, anote a
combinao e guarde-a para compor a sua pea.
4.3. As reas do modelo do modelo C(L)ASP acomodadas nas categorias do
Weblearning.
O MUSIKEIA foi realizado com base no modelo C(L)A(S)P e nas indicaes de
Swanwick para o seu funcionamento e portanto deve dispor de meios para o trabalho de
criao (C), apreciao (A), execuo (P), tcnica [(S)] e literatura [(L)], assim como
possibilitar a passagem de uma rea a outra do modelo. Tais necessidades geraram 2 (duas)
premissas principais para a concepo do ambiente:
1. Um ambiente de ensino-aprendizado de msica deve oferecer recursos para a
manipulao de sons; a escuta de arquivos sonoros e musicais e o trabalho com texto:
escrita e leitura.
2. Deve-se poder alternar entre os contedos propostos.
14
As duas premissas podem ser atendidas pelo Weblearning, na medida em que:
1) O Weblearning admite contedos sonoros, de imagens e de texto, assim como
a manipulao dos mesmos (primeira premissa).
2) O acesso aos contedos no necessariamente seqencial, isto , atravs dos
elos de navegao, pode-se alternar entre os contedos e, desta forma, passar
de uma atividade a outra do modelo C(L)A(S)P. (segunda premissa).
As reas do modelo C(L)A(S)P no guardam uma relao direta com as categorias
do Weblearning, porm perfeitamente possvel fazer com que cada atividade seja
classificada pelo modelo e em seguida inserida em uma categoria do ambiente.
5. Concluso.
Este artigo enfocou a pesquisa realizada no que se refere implantao do prottipo
de ambiente Internet para o ensino-aprendizagem de msica. Neste sentido ficou constatada
a importncia da colaborao entre as reas envolvidas. O trabalho que descrevemos
envolveu msica e educao, ensino a distncia e informtica. Mesmo tendo sido a msica
e educao que prevaleceu para a concepo do ambiente, a fase de implantao se
caracterizou por uma estreita colaborao entre as trs reas.
14
SWANWICK, 1979. op. cit. p. 46.
O exemplo mais claro desta colaborao foi a realizao de um exerccio baseado
numa das propostas contidas no livro O uso da Voz. Atravs de uma linguagem de
programao especfica
15
que permite a manipulao de imagens e de som foi possvel
propor um exerccio no qual o estudante tem a possibilidade de criar uma pea musical a
partir de blocos sonoros
16
extrados do CD de exemplos que acompanha o livro.
A fase de transformao do material do livro em arquivos digitais indicou que
todos os aplicativos utilizados podem ser considerados educacionais na medida em que
estiveram inseridos na realizao de ambientes de ensino. Esta verificao representa uma
importante contribuio da presente pesquisa, na medida em que supera a fase de estudos
em educao que investigam de maneira isolada os aplicativos para determinar se os
mesmo so ou no educacionais.
Acredita-se que o desenvolvimento da pesquisa em msica e educao no campo do
ensino via Internet ser tanto mais proveitoso quanto maior for a colaborao entre as reas
envolvidas. Neste sentido ser atravs de pesquisas e projetos de ensino-aprendizado de
msica via Internet que ser superada a atual carncia de conteudistas
17
e projetistas
18
de
ambientes Internet para ensino de msica.
Alm da questo, aqui abordada, referente ao contedo, um outro aspecto que
dever ser estudado a dinmica de trabalho a ser adotada para uma plataforma deste tipo.
A proposta de uma plataforma scio-construtivista trs no seu bojo a questo das interaes
humanas intermediadas pelas formas de comunicaes ali disponveis. Entre os
experimentos que nos parecem oportunos, do ponto de vista pedaggico, destacam-se
aqueles que visam investigar e definir o papel do professor, a constituio dos grupos
quanto ao nmero de participantes e quanto aos nveis de conhecimentos e habilidades
musicais dos alunos, ou seja, at que ponto seria possvel trabalhar com pessoas de nveis
diferentes. Todas estas questes tm sido abordadas e esto sendo sistematizadas em muitos
campos do conhecimento pela rea conhecida como aprendizagem colaborativa (ou
15
Linguagem FLASH destinada animao de imagens com presena de som.
16
Os blocos foram criados com a utilizao de um programa de edio de sons e, em seguida, passados para o
formato MP3.
17
Profissionais de ensino encarregados de definir os contedos que sero trabalhados no ambiente Internet.
18
Profissionais de ensino encarregados da forma com que estes contedos sero apresentados no ambiente e
disponibilizados para o aluno (tambm conhecidos como desenhistas instrucionais, aluso clara expresso
inglesa instructional designers).
cooperativa)
19
. Apontamos, ento, como um essencial desdobramento futuro desta pesquisa
a realizao de experincias no mbito da aprendizagem colaborativa no ensino de msica
via Internet.
19
Os dois conceitos so freqentemente utilizados como sendo equivalentes.
O material sonoro e sua projeo no tempo
Marcos Mesquita
Universidade de Karlsruhe
marcosmesquita@yahoo.com.br
Resumo: A presente pesquisa est inserida nos campos da anlise e esttica da msica ps decada
de 1970, tendo por objetivo discutir as questes da classificao dos eventos sonoros e das estratgias
de projeo destes eventos no tempo. Tal discusso vai ser baseada especialmente em conceitos
expressos por compositores do perodo especificado acima. Como concluso, a pesquisa vai
estabelecer critrios analticos dentro do mbito proposto que contribuam para a maior compreenso
da msica nova.
Palavras-chave: anlise, som, tempo.
Abstract: This research is inserted in the fields of analysis and aesthetics of the music after the
1970s, having as aim to discuss the questions of sound events classification and of strategies to project
these events in time. Such discussion will be based especially on concepts expressed by composers of
the above specified period. As conclusion the research will establish analytical standards within the
proposed range wich contribute to a larger understanding of new music.
Keywords: analysis, sound, time.
1.
Estabelecendo relaes entre sons e silncios no decorrer do tempo, a msica geralmente
concebida como uma espcie de metfora da vivncia humana do fluir do tempo em diversos nveis
perceptivos: da objetividade da observao dos ciclos da natureza, do corpo, da sociedade e da
histria subjetividade da sensao psicolgica de durao.
O sistema de percepo temporal humano, arduamente construdo no decorrer de vrios sculos,
se confrontou desde o incio do sculo XX com novas teorias filosficas e fsicas, bem como com
manifestaes artsticas que, cada uma a seu modo, buscavam explicaes e vivncias inditas
relacionadas ao fenmeno do tempo.
A msica, como manifestao artstica eminentemente temporal est relacionada a esta construo
perceptivo-conceitual. Suas fronteiras vm sendo ampliadas, de maneira muitas vezes dramtica e
revolucionria.
Na virada para o sculo XX e incio deste, ocorre uma expanso musical em duas vertentes:
1) Na diversificao do material sonoro desde os novos timbres e a nova harmonia (incluindo o
reaproveitamento dos antigos modos) de Claude Debussy at a incorporao do rudo pregada
pelos futuristas italianos e praticada de maneira mais consistente pelo no-futurista Edgard Varse;
2) Na expanso das tcnicas de articulao temporal do material sonoro.
A partir de constataes feitas em pesquisa de mestrado, foram deduzidos os quatro
procedimentos especificados a seguir que servem como ponto de partida para a tese de
2
doutorado. Mesmo tcnicas milenares como justaposio e sobreposio se adaptam, a partir do
sculo XX, a outras necessidades expressivas e estruturais. Os compositores associam, tambm,
dois ou mais procedimentos simultaneamente, criando verdadeiras polifonias de articulaes
temporais diferenciadas.
2. Contnuo
O material sonoro se desdobra no tempo, geralmente com poucas ou gradativas transformaes
h, aqui, um grande sentido de unidade baseado na manuteno de caractersticas especficas
(sejam rtmicas, intervalares, tmbricas etc.). Desde Debussy, a msica e a esttica de culturas no-
europias vinha seduzindo alguns compositores ocidentais com suas concepes de tempo
alternativas ao tempo linear e teleolgico ocidental.
A maior parte das tradies musicais no-europias explora diversos tipos de contnuo, muitas
vezes intuindo e colocando em prtica conceitos de beleza e equilbrio antagnicos ou
complementares aos ocidentais. Em muitos casos, as funes rituais e festivas falam mais alto que a
esttica, tal como concebida no ocidente, o que veio a fascinar muitos compositores eruditos.
Some-se a isto a frustrao e at mesmo a indiferena, especialmente nos Estados Unidos da
Amrica, em relao ao serialismo e hiper-fragmentao da msica da vanguarda europia da
dcada de 50, e veremos que o campo j estava semeado para o surgimento de vrias tendncias
musicais que explorassem diversos tipos de contnuo e redundncia, como o minimalismo norte-
americano, por exemplo.
Podem ser lembrados aqui os contnuos harmnicos de Luciano Berio, como em Coro (1976) e
na segunda seo da Sinfonia (1968). Referindo-se especificamente ao nvel harmnico de Coro,
o comentrio do prprio Berio bem pode ser estendido a vrias outras obras suas: "Uma
paisagem, uma base sonora que gera eventos sempre diferentes (canes, heterofonias, polifonias
etc.), figuras musicais que se inscrevem como grafites sobre a parede harmnica da cidade" (Berio,
1989, 4).
Estes contnuos harmnicos inserem-se em esferas ambguas de movimento/estabilidade e de fluxo
sonoro/suspenso da noo de tempo:
No aspecto vertical resultam a soma, a subtrao ou uma estabilidade da quantidade
de freqncias (alturas) e suas duplicaes. Os perodos de tempo, delas
dependentes, estabelecem o movimento por um lado e, por outro, confundem a
3
durao, ou seja, do ponto de vista da percepo, ocorre uma saturao que se
caracteriza pela impossibilidade de avaliar psicologicamente a durao (Dressen,
1982, 219).
Uma outra referncia obrigatria a msica de Gyrgy Ligeti. Em Lontano (1967), por exemplo,
todo o aparato orquestral est empenhado no desdobramento gradativo da esfera harmnica.
Ouve-se
uma gradual metamorfose de constelaes intervalares, ou seja: determinados
complexos harmnicos como que crescem por cima de outros, no decorrer de um
complexo harmnico surge vagamente a prxima constelao harmnica, que
gradualmente se impe e turva a anterior, at que desta s restem vestgios, e que o
novo complexo se desdobre totalmente (Ligeti, 1984, 8).
Neste tipo de contnuo, portanto, a pea ou um movimento inteiro se caracteriza por um fluxo
constante, sem sees precisamente articuladas. Sendo assim, uma anlise cuidadosa dever
assinalar sempre as tcnicas de imbricao ou de encadeamento dos campos sonoros sucessivos.
3. Justaposio
Agora liberada das preocupaes discursivas tonais, ela se presta a permutaes motvicas, ou a
dilogos entre grupos sonoros contrastantes, tanto no aspecto micro, como macrotemporal.
Os procedimentos de justaposio e contnuo, associados a uma radical dilatao da durao,
assinalam as ltimas criaes do compositor norte-americano Morton Feldman, falecido em 1987.
Desde o final da dcada de 70, suas composies se expandiram em durao a tal ponto que o
seu Quarteto de Cordas n 2 (1983) chega a durar cinco horas e meia. A dimenso destas peas,
em particular, fra freqentemente causa de controvrsias em torno de sua obra, como pode ser
constatado nas opinies antagnicas que se seguem. Luciano Berio dizia:
Tenho a impresso que atrs da insensatez musical nada desesperada de um Morton
Feldman (...) subsiste ainda o medo de dar um passo para fora da neovanguarda e de
pr o p distraidamente nas regies que nos antigos mapas traziam a escrita 'hic sunt
leones', onde se abre a msica com seus vulces, seus mares e suas colinas. Enfim,
ele tem medo de ser devorado (Berio, 1981, 62).
O compositor alemo Walter Zimmermann, por seu turno, assim se expressou quando da morte de
Feldman:
Ele formulou, da maneira mais conseqente, aquilo que toda outra msica, que era
4
caracterstica no ps-guerra da Alemanha, ignorou. Basicamente, o conceito de
sujeito foi reformulado por ele: o exaurir-se expressivo. Isto significa tambm que,
submisso, domnio e manipulao dos sons, ele ops a permisso de dar ao som a
respirao e a durao que este necessita, o que, afinal, ameaa o ritual de escuta
que aniquila a prpria escuta (Zimmermann, 1987, 10).
Polmicas parte, as ltimas obras de Feldman estabelecem uma interessante relao da memria
com o tempo musical. A justaposio ininterrupta de diversos modelos rtmico-meldicos, que no
exclui recorrncias, cria, em muitos momentos, simulaes de dej entendu, em analogia ao dej
vu. Durante horas, a audio confrontada com jogos de novidade/recorrncia, criando aquilo
que Feldman chamou de "rond de tudo" em que "tudo reutilizado. Tudo sempre retorna, apenas
um pouco modulado" (Feldman, 1987, 8).
4. Sobreposio
Com a expanso da tonalidade e a posterior emancipao da dissonncia na msica atonal,
eventos sonoros mais diversificados podem ocorrer simultaneamente. Aqui exigida do
compositor uma grande sensibilidade para o contraponto entendido no s como simultaneidade
de linhas meldicas, mas tambm de faixas sonoras mais ou menos complexas.
Homogeneidade de timbre, de perfil rtmico e de registro podem garantir a identificao das faixas
sonoras. Em casos extremos, a sobreposio cria um painel catico, de onde a percepo do
ouvinte acaba por selecionar eventos que venham a se destacar por alguma razo objetiva uma
intensidade mais alta ou um timbre sobressalente, por exemplo , ou por alguma razo subjetiva
uma preferncia sonora especfica do ouvinte.
Os planos sonoros de Ligeti podem se sobrepor em determinados instantes estratos sonoros
cujo decorrer no sincrnico:
Desta estratificao mltipla assincrnica, resultam continuidade e defasagem como
categorias formais. A forma s pode ser descrita como polirrtmica, como
entrelaamento de dimenses e variveis, cada uma demonstrando seu prprio
tempo: tempo da troca de registro, de timbre, de contornos intervalares etc. (Sabbe,
1987, 28)
A simultaneidade de estratos sonoros diferenciados, como vista aqui, faz desaparecer as
articulaes formais precisas, pois cada estrato manifesta um determinado comportamento e
extenso no decorrer do tempo.
5
5. Pontilhismo
Segundo o crtico Ulrich Dibelius, o termo msica pontilhista foi cunhado em 1951 pelo
compositor alemo Herbert Eimert, referindo-o primeiramente ao estudo rtmico para piano Mode
de valeurs et d'intensits (1949) de Olivier Messiaen (Dibelius, 1984, 94).
Esta pea e a redescoberta da obra de Anton Webern aps a 2 Guerra Mundial impulsionaram
vrios compositores europeus busca de uma msica pura, emancipada da expresso tradicional.
O recurso foi a instituio do som isolado o ponto como nico material possvel para
estabelecer relaes estruturais inditas, vlidas por si s e no passveis de associaes
extramusicais descritivas ou evocativas isto em termos ideais, pois o ouvinte quase sempre cria
suas prprias analogias som/significado, mesmo que o compositor no as tenha deliberadamente
pretendido.
O som isolado se presta a um maior controle sobre a estruturao musical: o compositor poderia
serializar no s o parmetro altura, o que j ocorria no dodecafonismo, mas tambm instituir uma
serializao em outros parmetros durao, intensidade e registro, por exemplo.
No inverno europeu de 1950/51, o compositor belga Karel Goeyvaerts escreveu a Sonata para
dois pianos, cuja segunda parte foi estreada pelo prprio compositor e por Karlheinz Stockhausen
no curso de vero de Darmstadt na classe de Theodor Wiesengrund-Adorno em 1951. Nesta
partitura, j podemos perceber o que ser mais caracterstico em vrias obras seriais posteriores,
inclusive do prprio Stockhausen, que manteve uma intensa correspondncia com o compositor
belga nesta poca. A ausncia de um desenvolvimento tal como concebido at ento , que
conduzisse o ouvinte atravs dos recursos estruturais de um cdigo musical previamente
conhecido, e a dificuldade auditiva de se estabelecer relaes causais entre eventos sonoros
aparentemente desconexos impem uma nova vivncia do tempo musical.
A contnua e uniforme transformao dos eventos sonoros subseqentes (...)
consumada sempre em todos os parmetros abrangidos pela ordenao evita
qualquer articulao que resultaria de graus de transformao diferenveis atravs
da percepo. A contnua descontinuidade dos elementos isolados garante a
continuidade indivisvel do todo (Sabbe, 1981, 17).
Do ouvinte, submetido audio de uma sucesso de eventos sonoros no-direcionados, exigida
uma percepo de agoras que buscam confin-lo a uma espcie de presente perptuo a
6
memria do que j ocorreu e a expectativa quanto ao que vai ocorrer no so mais as vigas
mestras da percepo musical. O ouvinte deveria, idealmente bom que se enfatize, concentrar-se
em uma espcie de presentificao permanente que valorizaria o som em si, no mais semantizado
por cdigos musicais previamente estabelecidos e socialmente aceitos.
Estes rigorismo e reducionismo, entretanto, logo foram substitudos pelo que Stockhausen
denominou Gruppenkomposition (composio com grupos), entendendo-se grupo como uma
configurao de pontos sonoros reunidos por caractersticas especficas: densidade,
direcionamento, dinmica, articulao, registro, valores rtmicos e timbre, por exemplo. Kontra-
Punkte (1953) uma pea de Stockhausen que se situa exatamente neste momento de transio
do ponto para o grupo.
interessante traar um paralelo entre o pontilhismo europeu e a opo feita por John Cage em
compor msica com auxlio de operaes do acaso. O compositor norte-americano chegou a
resultados semelhantes aos de Goeyvaerts na mesma poca, inclusive antecipando a prtica da
composio com grupos de Stockhausen e a sonoridade de obras posteriores de Boulez
especialmente Structures II para dois pianos.
Entre 1946 e 1947, Cage freqentou, na Universidade de Colmbia, os cursos de filosofia indiana
com Gita Sarabhai e de zen-budismo com Daisetz Teitaro Suzuki. A questo da percepo, por
outro lado, desempenha um papel central na criao e fruio da msica, o que levou Cage a
declarar que "a obrigao a moral, se quiser de todas as artes hoje intensificar, alterar a
capacidade perceptiva e, assim, a conscincia. Capacidade perceptiva e conscincia de que? Do
mundo material real. Das coisas que vemos e ouvimos, que gostamos e tocamos" (Kostelanetz,
1973, 43). Fiel a tal princpio, ele ainda diria em 1992 que "onde quer que a gente esteja, h
sempre algo interessante para se ver ou se ouvir, desde que voc esteja aberto, disposto a usar os
seus sentidos" (Lopes, 1992, 10).
Embora o acaso no fosse exatamente uma novidade em msica Carl Philipp Emanuel Bach,
Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart jogavam dados no sculo XVIII para descobrir
melodias , Cage passa a ordenar a maior parte dos eventos sonoros da obra atravs de
operaes do acaso para que, deste modo, fosse possvel
fazer uma composio musical cuja continuidade livre do gosto e da memria
(psicologia) individual, e tambm da literatura e 'tradies' da arte. Os sons
ingressam no espao-tempo centrados neles mesmos, desimpedidos de servirem a
qualquer abstrao, seus 360 graus de circunferncia livres para um jogo infinito de
7
interpenetrao (Cage, 1961, 59).
6.
As contribuies dos compositores de vanguarda da primeira metade do sculo XX tiveram
conseqncias profundas aps a 2 Guerra Mundial quando novas geraes de compositores
europeus empreenderam uma reavaliao das vrias correntes musicais reprimidas at ento pelas
polticas culturais dos governos fascista e nazista.
Tcnicas mais aprimoradas de gravao, emisses radiofnicas dedicadas msica nova, bem
como cursos e festivais internacionais, tudo contribuiu para uma maior divulgao da at ento
quase desconhecida msica do sculo XX.
Partindo-se dos quatro procedimentos expostos acima, pode ser constatada a sua importncia
fundamental na criao musical. Alm disto, com a grande expanso da paleta sonora nas ltimas
dcadas do sculo XX, os antigos rudo e som musical se fundem em uma mesma realidade
fsico-acstica com profundas conseqncias estticas e cognitivas.
Bibliografia
BERIO, Luciano. Entrevista sobre a msica contempornea, realizada por Rossana Dalmonte, Rio
de Janeiro, 1981.
BERIO, Luciano. Texto de apresentao de Coro, in: Coro, Orquestra Sinfnica e Coro da Rdio
de Colnia, regente Luciano Berio, Brasil, Deutsche Grammophon, CD 423902-2, 1989.
CAGE, John. Silence, Cambridge/Londres, The MIT Press, 1961.
DIBELIUS, Ulrich. Moderne Musik I - 1945-1965, 2 ed., Munique/Zurique, Piper, 1984.
DRESSEN, Norbert. Sprache und Musik bei Luciano Berio, Regensburg, Gustav Bosse Verlag,
1982.
FELDMAN, Morton. Everything is recycled. MusikTexte, Colnia, n. 22, 1987.
KOSTELANETZ, Richard. Entrevista a John Cage, Barcelona, Editorial Anagrama, 1973.
LIGETI, Gyrgy. Texto de apresentao de Lontano, in: Gyrgy Ligeti, caixa com cinco LPs,
Alemanha, Wergo, 60095, 1984.
LOPES, Rodrigo Garcia. O Silncio de John Cage. Folha de S. Paulo, Mais!, So Paulo, 16 de
agosto de 1992.
SABBE, Hermann. Die Einheit der Stockhausenzeit... Musik-Konzepte, Munique, n. 19 1981.
SABBE, Hermann. Gyrgy Ligeti Studien zur kompositorischen Phnomenologie. Musik-
Konzepte, Munique, n. 53, 1987.
ZIMMERMANN, Walter. Gegengift-Gegenkraft-Gegenkopf. MusikTexte, Colnia, n. 22, 1987.
O fonograma como fonte para a pesquisa histrica sobre
msica popular problemas e perspectivas
Marcos Napolitano
Universidade Federal do Paran (UFPR)
napoli@cosmosnet.com.br
Resumo: Os estudos de msica popular urbana e comercial freqentemente colocam um desafio de
ordem metodolgica singular ao pesquisador. Este desafio consiste em articular o conhecimento
acumulado pela musicologia e pelos estudos centrados na anlise da notao e da performance
musicais tradicionais com a anlise do fonograma. Entendemos o fonograma em dois nveis: o
resultado de um processo tcnico de registro sonoro e o suporte comunicacional e comercial para a
realizao da msica popular na sociedade. Nesta interveno, pretendemos discutir os problemas
metodolgicos e as possibilidades de pesquisa em torno do fonograma, a partir da experincia de
pesquisa dentro do campo da histria sociocultural da msica popular.
Palavras-chave: msica popular: histria, fonograma, performance musical
Abstract: The popular music studies put a particular challenge to the researcher. In this field the
perspective of traditional musicology (i.e., the partiture/music score and live performance analysis)
must be articulate to the phonographic analysis. To understand the phonogram, as part of musical
experience, I propose two basic definitions: the technical / industrial results of the musical sound
registration and the communication / commercial support to the social circulation of the music. In
this paper, I would like to discuss the methodological problems and propose new perspectives in the
phonogram analysis, viewed as a historical source.
Keywords: popular music: history, phonogram, performance
No campo musical como um todo, incluindo a a chamada "msica erudita" e na
msica popular em particular, a performance um elemento fundamental para que a obra
exista objetivamente. A msica, enquanto escritura, notao de partitura, encerra uma
prescrio, rgida no caso das peas eruditas, para orientar a performance. Mas a
experincia musical, no sentido forte do termo, s ocorre quando a msica interpretada.
Para a evoluo da linguagem da msica erudita a padronizao da notao musical e a
organizao das regras de composio foram fundamentais na constituio de novas formas
e experincia musicais, consagrando a importncia da partitura como veculo de divulgao
das obras musicais. Mesmo assim, a obra musical apresentada na forma de uma partitura,
ainda assim no tem autonomia, apesar de traduzir a sofisticada racionalizao da
linguagem musical (WEBER, 1995).
No caso da msica popular o registro fonogrfico se coloca como o eixo central da
experincia musical, principalmente porque a liberdade do performer (cantor, arranjador
ou instrumentista) em relao notao bsica da partitura muito grande. claro que esta
liberdade tende a diminuir quanto mais formao o compositor tiver. Um compositor como
Tom Jobim, por exemplo, com ampla formao de teoria musical tende a elaborar uma
partitura bastante completa e sofisticada, informando detalhadamente os intrpretes de suas
msicas. Mesmo nestes casos, para entendermos a complexidade de uma cano
importante o cotejamento entre o suporte escrito original (partitura, cifras) e o suporte
fonogrfico. Aquilo que ouvimos no fonograma o produto de uma srie de agentes, que
tm importncia e funo diferenciada, mas que em linhas gerais expressam o carter
coletivo dos resultados musicais que se ouve num fonograma ou se v num palco. Na
msica erudita h uma hierarquia clara entre compositor-maestro-instrumentistas, com os
dois ltimos agentes do processo tendo a responsabilidade de serem fiis obra prescrita
pelo compositor. Na msica popular, nem sempre o cantor ou o instrumentista, apesar de
ganharem mais destaque junto ao pblico, so os principais responsveis pelo resultado da
performance geral da cano. Esta perda de autonomia criativa no momento da
performance ocorre sobretudo nos gneros e canes de maior apelo popular, direcionadas
para o sucesso fcil, nas quais as frmulas de estdio e os efeitos musicais pr-testados em
outras canes, tende a se impor sobre qualquer criatividade ou inovao dos cantores,
compositores ou msicos em si. Neste caso, h a performance embutida dos produtores
musicais, engenheiros de som e, em muitos casos, at dos diretores comerciais das
gravadoras. No que estes elementos no atuem tambm nas gravaes das msicas de
compositores respeitados e valorizados pela crtica mais exigente, mas o seu peso tende a
ser menor.
A estrutura e a performance "realizam" socialmente a cano, mas no devem ser
reduzidas uma outra. Nem a estrutura deve ser superdimensionada, nem a performance
vista como reino da absoluta liberdade de (re)criao. Seria mais produtivo, sobretudo para
a anlise da cano como documento histrico, trabalhar com o "entre-lugar" das duas
instncias. Esse "entre-lugar" a prpria cano, enquanto obra e produto cultural concreto.
Como j dissemos o prprio conceito de estrutura, na msica, deve ser visto com
cuidado. Por outro lado, tambm o conceito de performance deve ser bem situado. Num
conceito restrito, performance tomada como o ato de interpretar, atravs do aparato vocal
ou instrumental, uma pea musical, numa execuo de palco/show. Mas, preferimos
trabalhar com uma definio mais ampla. Como escreveu David Treece:
"a cano popular claramente, muito mais do que um texto ou uma mensagem ideolgica
(...)ela tambm performance de sons organizados, incluindo a a linguagem vocalizada. O
poder significante e comunicativo desses sons s percebido como um processo social
medida em que o ato performtico capaz de articular e engajar uma comunidade de
msicos e ouvintes numa forma de comunicao social" (TREECE, 2000, p.128).
Portanto, a performance ou ato performtico, configura um processo social (e
histrico) que fundamental para a realizao da obra musical, seja uma sinfonia erudita ou
uma cano popular. No segundo caso, a performance tem um campo de liberdade e criao
ainda maior em relao s prescries do compositor ou gravao original, geralmente
tida como paradigmtica no caso das canes de sucesso. Por sua vez, a anlise do papel da
performance em msica popular inseparvel do circuito social no qual a experincia
musical ganha sentido e do veculo comunicativo no qual a msica est formatada,
constituindo um verdadeiro conjunto de "ritos performticos" (FRITH, 1998).
Para aquele que se prope a estudar a histria da msica, preciso levar em conta
no apenas a performance registrada no fonograma, mas tambm a mdia especfica pela
qual a cano veiculada. No basta dizer que uma msica significa isto ou aquilo, em
termos abstratos e generalizantes. preciso identificar a gravao relativa poca que
pretendemos analisar (uma cano pode ter vrias verses, historicamente datadas),
localizar o veculo que tornou a cano famosa, mapear os diversos espaos sociais e
culturais pelos quais a msica se realizou, em termos sociolgicos e histricos.
Os pesquisadores mais meticulosos procuram localizar o fonograma especfico,
produzido dentro do contexto a ser estudado para, a partir da, propor uma anlise das
articulaes entre os sentidos histrico, esttico e ideolgico de uma cano. Uma mesma
cano pode ter vrios suportes, implicando em problemticas estticas, comunicacionais e
sociolgicas diversos (video, cinema, letra impressa, rdio, fonograma). Assim como uma
mesma cano pode passar por vrios espaos sociais, implicando em experincias e
apropriaes culturais diversas (um show ao vivo, o ambiente domstico, a roda de violo,
um salo de danas, um festival de TV).
Outro problema que nem todos os veculos tcnicos ou espaos scio-culturais
tm o mesmo peso, para todas as pocas e para todas as sociedades. Cabe ao historiador
esquadrinhar, na medida do possvel, as formas de objetivao tcnica/comunicacional e
experincia social da msica que o seu tema especfico exigem. Caso contrrio, vamos ficar
presos anlise do fonograma e das estratgias da indstria fonogrfica,
superdimensionando alguns veculos e espaos e desconsiderando outros que, muitas vezes,
foram fundamentais para a construo de um determinado sentido para certas canes.
Tomemos o exemplo do tom pico que a memria social costuma lembrar dos
festivais da cano dos anos 60. Essa memria inseparvel do sentido das imagens
televisivas destes eventos, que imortalizou uma determinada relao de artistas e platia
que foram socializados pela TV. Esta relao, ora de comunho (o aplauso emocionado),
ora de conflito (a "vaia") parte constituinte do sentido adquirido pelas "canes de
festival" (A Banda, Disparada, Beto Bom de Bola, Ponteio, Alegria Alegria, Domingo no
Parque, entre outras) e da forma pela qual elas se tornaram parte do imaginrio de uma
poca. Neste caso, temos diversos elementos que tomaram parte na construo do sentido
social, ideolgico e histrico das canes: a performance cnico-musical do cantor (o
gestual, a expresso do rosto, as inflexes de voz), a performance interpretativa dos
msicos (os arranjos, os vocais de apoio, os timbres principais, a distribuio no palco), o
meio tcnico de divulgao (no caso, a TV) e um tipo especfico de audincia (a platia dos
festivais, com todas as suas caractersticas sociolgicas e sua insero histrica especfica).
Estes elementos citados, que no so propriamente estruturais ou inerentes cano, mas
histrico-conjunturais, imprimiram um determinado sentido para as canes, quase um
filtro pelo qual elas se tornaram um "monumento" histrico dos anos 60 (NAPOLITANO,
2001).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
FRITH, Simon. Performing rites. Evaluating popular music. New York / Oxford: Oxford
University Press, 1998
NAPOLITANO, Marcos. Seguindo a cano: engajamento poltico e indstria cultural na
MPB (1959/1969). So Paulo: Ed. Anna Blume, 2001
TREECE, David. A flor e o canho: a bossa nova e a msica de protesto no Brasil
(1958/1968). Histria, Questes e Debates, Assoc. Paranaense de Histria (APAH) /
Programa de Ps-Graduao em Histria/ UFPR, Curitiba, 17/32, jan/jun 2000, 121-
168
WEBER, Max. Fundamentos racionais e sociolgicos da Msica. So Paulo: EDUSP, 1995
A memria que forma musicalmente
Marcos Vincio Cunha Nogueira
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
mvinicio@centroin.com.br
Resumo: Apresento aqui uma questo instrumental da pesquisa que desenvolvo a respeito do papel
da escuta no processo comunicativo em msica. A escuta introduz no espao e no tempo pontos
referenciais funcionalmente relevantes e continuamente reconfigurados, introduzindo assim uma
atividade mnemnica especfica. A presena do objeto musical apenas aciona e condiciona, mas no
determina o ato da escuta, o processo cognitivo acerca do qual devemos levar em conta a estrutura e
a funcionalidade da memria. Um modelo corrente de memria proposto pela psicologia cognitiva
consiste de trs processos: a memria sensorial, a memria de curto-prazo e a memria de longo-
prazo, que sero aqui relacionados, respectivamente, com o nvel de constituio do evento sonoro,
o nvel rtmico-meldico e o nvel formal. Entendo que tal discusso contribui para o estudo do
processo composicional como exerccio da imaginao que forma coerentemente, atravs do con-
trole de quantidades memorizadas.
Palavras-chave: composio musical, memria, psicologia cognitiva.
Abstract: I present here a instrumental subject from research I develop concerning the role of the
hearing in the communicative process in music. The hearing introduces into the space and in time
referential points functionally important and continually reconfigured introducing thus a specific
mnemonics activity. The presence of musical object just activates and conditions, but it doesn't de-
termine the act of the hearing, the cognitive process about which we must take into consideration
the structure and the functionality of memory. A current memory model by cognitive psychology
consists of three processes: sensory memory, short-term memory and long-term memory, that will
be here related with the constitution of sonorous event level, the rhythmic-melodic level, and the
formal level, respectively. I understand that this discussion contributes towards the study of com-
posicional process taken like a imagination exercise that form coherently through the memorized
quantities control.
Keywords: musical composition, memory, cognitive psychology.
Henri Bergson compartilha da idia de que a noo de tempo no se d fora da consci-
ncia, e, se o tempo um dado imediato da conscincia, sua objetividade de ordem subje-
tiva: uma durao interior. Assim, a memria sustm o tempo, -lhe essencial. E no parece
mais possvel pensar em texto e sujeito como nveis separados do fato musical. A relao
dialgica do compositor com o texto que ele cria faz viverem obra (idia) e texto (objeto),
assim como a relao dialgica experimentada pelo intrprete (executante ou ouvinte) do
texto suporta a existncia de fruio (prazer) e obra (idia). O tempo no , portanto, dado a
priori: realiza-se na interao didica entre conscincia e objeto.
Na experincia da msica a expectativa de que algo novo, distinto, portanto, do que es-
t soando, ocorrer uma projeo da expectativa do futuro a partir de ocorrncias presen-
tes. Mas quando a redundncia domina o presente nos fora a perceb-lo mais como vivn-
cia do passado. No momento em que o grau de expectativa do futuro como diferena dimi-
nui, o tempo parece perder consistncia, como se no "passasse". Donde enquanto a intera-
o didica entre obra e receptor regida pela expectativa, h tempo e impresso de passa-
gem de tempo. O instante crtico e, muitas vezes, relativamente distinguvel situado na eli-
so do esvair da impresso de tempo e o limiar da pura redundncia, da repetio apenas
como refluxo do passado, um ponto articulatrio essencial para compositores e intrpretes
(executantes e ouvintes): o instante fundamental que concentra a prpria essncia tempo-
ral e artstica musical.
A escuta introduz no espao e no tempo pontos referenciais funcionalmente relevantes
e continuamente reconfigurados, introduzindo assim uma atividade mnemnica especfica.
De fato, se desejamos entender que a composio musical s se atualiza com a escuta, de-
vemos, contudo, observar que tal atualizao no se verifica apenas pela relao dialgica
entre objeto musical e ouvinte. Cada nova atualizao igualmente conseqente das condi-
es e possibilidades da audio humana, das circunstncias acsticas do espao fsico em
que se d o encontro, dos saberes do sujeito-receptor acerca dos sujeitos que esto atrs
do texto objeto apreciado ou acerca da composio (histrico, sistema composicional), dos
condicionamentos emocionais e sentimentais desse receptor, etc. A presena do objeto ape-
nas aciona e condiciona, mas no determina o ato da escuta, o processo cognitivo. Enfim,
estamos falando da msica que tem por fim um processo de comunicao e, para isso, seu
esquema formal deve levar em conta a estrutura e a funcionalidade da memria.
Na atual perspectiva terica da psicologia cognitiva, a memria um atributo dos neu-
rnios capaz de alterar o poder da atividade conectiva que estes mantm entre si, aumen-
tando o nmero de conexes e desdobrando-as no tempo. Isso porque nessas conexes o-
correm mudanas qumicas que provm uma sobrevida atividade em si. Assim sendo, diz-
se que a memria pode ser entendida como uma caracterstica virtual de toda clula nervo-
sa. Parece claro que msica um fazer humano existente num contexto cultural e ampla-
mente determinado por ele. Contudo, parece tambm no haver mais dvidas de que o sis-
tema nervoso humano est sujeito a princpios cognitivos universais alguns dos quais pode-
rosamente influentes sobre nossos processos cognitivos, sobre as possibilidades, por exem-
plo, para uma estrutura musical. Entendo, como Bregman (1990:402-3), que haja efeitos
perceptivos um processamento de informao num nvel mais puramente perceptivo e de
reao aos estmulos externos, um esquema inato que usualmente no envolve ainda mem-
ria que, embora no completamente i ndependentes de influncias cognitivas (como a cul-
tura), sejam necessrios percepo de eventos estranhos, de padres ainda no categoriza-
dos
1
.
Um modelo corrente da psicologia cognitiva para a memria, reafirmado recentemente
por Harold Pashler (1998:320-2), consiste de trs processos: a memria sensorial (imitati-
va, repetidora), um processamento primrio; a memria de curto-prazo; e a memria de
longo-prazo. Trazendo para esta discusso estritamente a questo da memria auditiva mu-
sical, cada um desses trs processos funciona em diferentes escalas de tempo que Bob
Snyder (2000:3) relacionou com diferentes nveis de experincia musical, ou seja, cada
escala de tempo relacionada a um nvel temporal da organizao musical: o nvel de fuso
de evento, o nvel rtmico e meldico e o nvel formal, respectivamente. Cumpre advertir,
no entanto, que as escalas de tempo (em que se processa a memria) e os nveis de tempo
(em que se d a organizao musical) so correlacionados apenas para efeito de simplifica-
o da apresentao, uma vez que os trs processos acima citados no funcionam, de fato,
independentes um do outro.
Na memria sensorial o ouvido interno converte os objetos sonoros que lhe chegam
em cadeias de impulsos nervosos que representam as propriedades das vibraes acsticas
tais como freqncia (que vai ser sentida como a altura dos sons) e amplitude (que vai ser
sentida como a intensidade dos sons). Essa informao sonora persiste como uma memria
sensorial (ecica) de notvel capacidade, mas que desaparece a menos que seja prolon-
gada por outro processo , normalmente, em menos de um segundo: como um eco. As sim-
ples sensaes originadas nesse processamento inicial no seriam ainda categorizadas, per-
sistiriam apenas como dados sensoriais brutos e contnuos. Segundo a teoria corrente, gru-
pos especiais de neurnios extraem desse continuum de dados da memria sensorial diver-
1
Aqui, o termo categoria ser empregado como na psicologia cognitiva, ou seja, como coleo de representa-
es perceptivas ou conceitos que parecem de alguma forma relacionados. Portanto, podem ser perceptivas ou
sas propriedades que sero atadas em conjuntos, constituindo eventos auditivos simples e
coerentes possuidores de diferentes caractersticas simultneas (Bregman, 1990:213-6).
somente a partir desse ponto em que a informao deixa de ser contnua (embora possa
haver ainda resduos de informao contnua) e a quantidade de dados drasticamente re-
duzida que os eventos so codificados ou mesmo categorizados.
Vibraes sonoras com repeties ocorrentes em intervalos de 50 ms (apresentando,
portanto, vinte eventos por segundo freqncia de 20 Hz) ou menos so passveis de fu-
so para compor alturas: constituem o nvel de fuso de evento da experincia musical,
de Snyder. Mudanas de altura ou de intensidade sonora so detectadas nesse processo pri-
mrio da informao acstica. Depois que o processo de extrao dos caracteres resulta em
eventos reconhecveis (na memria sensorial) estes so organizados em grupos segundo
princpios de similaridade e proximidade. Ou seja, se j no foram fundidos devido a algum
tipo de correspondncia ou estreitamento temporal, sero ento agrupados em unidades um
pouco mais complexas. E essa a ao mais crtica da audio humana: receber uma varia-
o de presso do ar, contnua e simples, e formar representaes de todos os recursos so-
noros a presentes. O processo de agrupar revela uma tendncia natural do sistema nervoso
humano de segmentar a informao acstica em unidades cujos componentes parecem for-
mar um todo.
Em razo de ser o som inerentemente temporal, os limites dos eventos auditivos so
definidos ento por diversos graus de mudana. Snyder observa que os efeitos de agrupao
na memria sensorial (nvel mais puramente perceptivo), que nos possibilita construir os
eventos auditivos primrios, parecem ser notavelmente consistentes e compartilhados entre
os indivduos. Isso sugere que no so apenas aprendidos, habituados, no dependem intei-
ramente de uma experincia prvia. Uma mudana na altura de um som um evento que
ser percebido, inelutavelmente, por todos os ouvintes: agrupamentos formam sensaes
em unidades que podem ser armazenadas e depois relembradas. Propriedades ou aspectos
de sons, simultneos ou quase, podem assim ser agrupados ou fundidos em eventos
2
, e e-
conceituais. Entende-se que algumas categorias perceptivas so inatas, enquanto outras perceptivas e a maior
parte das categorias conceituais so aprendidas.
2
Aqui evento a percepo de que algo ocorreu, causado por alguma mudana no meio. Eventos sonoros so
as unidades perceptivas da msica com as quais todos os seus elementos formais so constitudos.
ventos, por sua vez, podem ser agrupados ao longo do tempo em seqncias de eventos
(2000:32).
Tais agrupamentos seqenciais tm lugar dentro dos limites da memria de curto-
prazo, mas a formao de limites ocorre desde o estgio da memria sensorial, antes, por-
tanto, da informao persistir como memria de curto-prazo. Os eventos que se apresentam
separados por mais de 63 ms (dezesseis eventos por segundo), por isso individualmente
discriminveis mas ainda no to separados para exceder o tempo limite da memria de
curto-prazo (em torno de 3-5 segundos por evento) , constituem o que Snyder denominou
o nvel meldico e rtmico da experincia musical. Assim, esse nvel agrupa no presente
os eventos que se encontram separados nessa escala de tempo.
O modo como estruturamos grande parte dos processos de comunicao conseqn-
cia das limitaes da memria de curto-prazo, nfima se comparada memria de longo-
prazo, tanto em relao a seu limite de tempo quanto em relao ao que parece ser a sua
capacidade de informao. Em virtude de ter um tempo limite, a memria de curto-prazo
tambm limita seu contedo em cinco a nove diferentes elementos
3
(em mdia sete) se-
qenciados (2000:36). Dessa forma, no difcil atentar para as conseqncias disso nos
processos de comunicao. Por exemplo, esse limite mdio de tempo a mdia de durao
da maior partes das frases verbais ou dos incisos meldicos.
Devido limitada capacidade da memria de curto-prazo, nossos atos de comunicao
no so perfeitamente contnuos, mas executados em pulsos de energia modulada cujo
comprimento e contedo de informao no excedem essa capacidade. isso que Wallace
Chafe (1994) observa em sua pesquisa sobre a experincia consciente do discurso no ato da
fala e da escrita: a limitao da memria de curto-prazo provoca a modulao do pensa-
mento e da comunicao. A lingstica, recentemente, tem aproximado a experincia do
discurso verbal da experincia musical, afirmando que a unidade primria da linguagem
falada no a frase ou a orao, e sim a unidade de entonao uma espcie de contorno
meldico vocal que com suas cesuras especficas segmenta o discurso o que tira da estru-
tura gramatical o estatuto de suporte da linguagem verbal, atribuindo-o a algo que se equi-
vale s cadncias rtmico-meldicas.
As clulas (incisos) meldicas, devidamente delimitadas por cesuras (todo tipo de e-
lemento de separao, de diviso) no podem exceder o tempo limite da memria de curto-
prazo sem perder seu carter unificado, e se tornar indisponvel, como um todo coerente,
conscincia. Entretanto, se podemos perceber o contorno de uma clula meldica, devemos,
de alguma forma, ser aptos a acessar, individualmente, todas as notas nela compreendidas.
Esses elementos retidos pela memria esto todos ainda ativados e disponveis: esto pre-
sentes.
Agrupamentos mais extensos, que ultrapassam os limites da memria de curto-prazo,
constituiriam ento o nvel formal da experincia musical. As unidades constitudas nesse
nvel formal podem consistir de estruturas frsicas mais extensas at sees inteiras de uma
pea musical, e o carter e a distribuio dessas unidades formais que definiro a forma
da obra como um todo. A forma, em msica, pode ser conhecida, portanto, em qualquer
agrupamento com durao superior a 3-5 segundos (em mdia), tempo limite da memria
de curto-prazo. Na base de seu conceito estaria a impossibilidade de ser percebida imedia-
tamente por no se encontrar encerrada num presente consciente; requer sempre a mediao
de eventos simples, agrupamentos e figuraes frsicas, para ento se constituir de repre-
sentaes na memria de longo-prazo. E somente a confrontao de diferentes materiais no
nvel formal da experincia musical, sobretudo auxiliada por certo grau de repetio (re-
dundncia) atravs da memria de longo-prazo, que conduz ao reconhecimento da forma
musical. Assim, ao ouvirmos uma pea musical inteira somos aptos a compreender as rela-
es entre suas diferentes partes fazendo com que os eventos retornem conscincia da
memria de longo-prazo que inconsciente. Nossas memrias de longo-prazo precisam
ser inconscientes: se estivessem todas em nossa conscincia, no haveria lugar para o pre-
sente (Snyder, 2000:69).
O nvel formal e sua articulao so associados, portanto, com a estrutura e os limites
da memria de longo-prazo, uma vez que essas novas unidades existem numa escala de
tempo ampla demais para que tudo fosse compreendido no presente. Se a memria de cur-
to-prazo estabelece a continuidade e a descontinuidade de um instante com o passado ime-
diato, a memria de longo-prazo provm o contexto no qual vai-se construir, propriamente,
3
O termo aqui empregado para se referir a diferentes tipos de eventos em uma seqncia; e um elemento
pode ser repetido na seqncia sem sobrecarregar a memria, significativamente.
o sentido do discurso musical. Isso se d quando o ouvinte relaciona cada momento tanto
com a experincia progressiva do todo da obra, que a cada instante se reconfigura, quanto
com as suas experincias prvias. Os agrupamentos de eventos no nvel formal descrevem
os lugares em um texto musical. E o ouvinte descreve, mais freqentemente, esse nvel
da experincia musical com o emprego de metforas de movimento num espao fsico.
A atividade cognitiva envolve percepo, memria, associao de informaes, mas a
racionalidade implica, sobretudo, a habilidade para representar mentalmente situaes au-
sentes e hipotticas, para projetar nosso pensamento numa cadeia especulativa que ultrapas-
sa o presente imediato, produzindo o provvel e o improvvel, criando mundos possveis e
impossveis. Estamos falando de imaginao. As metforas musicais so uma verdadeira
descrio de fatos no-materiais que no so sequer fatos sonoros , e no podem ser
simplesmente eliminadas da descrio da msica, uma vez que definem o objeto intencio-
nal da experincia musical.
Podemos pensar em metforas como correlaes entre duas estruturas mnsicas, entre
duas categorias. Quando dizemos, por exemplo, que uma melodia uma linha (horizon-
tal) ou que suas notas componentes so mais altas ou mais baixas (um esquema de verti-
calidade), projetamos o esquema imagtico da linha horizontal ou vertical no conceito
abstrato de melodia. H similaridades entre linhas e melodias, mas nem todas as caracters-
ticas conceituais de uma podem ser projetadas na outra. Portanto, a categorizao que fa-
zemos do constructo intencional a que chamamos msica de natureza metafrica. Quando
falamos de um espao (fenomnico) em que posicionamos os sons e no qual reconhece-
mos movimento (onde nada, de fato, se move), o fazemos por transferncia metafrica
mais conceitual do que lingstica, propriamente.
Sem metforas no h, pois, descrio de experincia musical. Abandonando a experi-
ncia do espao musical, eliminaramos a idia de orientao em msica, notas deixariam
de se mover em direo a outras, nenhum salto meldico seria maior que outros, nem mes-
mo haveria saltos. A experincia da msica no envolveria nem melodia nem movimentos
texturais. Portanto, sendo a descrio da msica to dependente do uso de metforas, de-
vemos concluir que a msica est alm do mundo estritamente material dos sons. Isso a-
ponta para a esfera especificamente intencional e no para o domnio material. As qualida-
des musicais so percebidas somente por seres racionais, a partir do exerccio da imagina-
o que forma atravs do controle das quantidades presentes na memria: o ato da compo-
sio.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BERSON, Henri. Matria e memria. So Paulo: Martins Fontes, 1990.
BREGMAN, Albert S. Auditory scene analysis: the perceptual organization of sound.
Cambridge, MA: MIT Press, 1990.
CHAFE, Wallace. Discourse, consciousness and time: the flow of conscious experience in
speaking and writing. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
COOK, Nicholas. Music, imagination, and culture. Oxford: Claredon Press, 1992.
PASHLER, Harold E. The psychology of attention. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
SLOBODA, John A. The musical mind: the cognitive psychology of music. New York:
Oxford University Press, 1985.
SNYDER, Bob. Music and memory: an introduction. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
ZBIKOWSKI, Lawrence M. Metaphor and music theory: reflections from cognitive sci-
ence. The Online Journal of the Society for Music Theory, vol.4, n 1, 1998.
1
Vande Mataram:
uma anlise semitica da cano de
Rabindranath Tagore e Bankim Chandra Chatterji
Marcus Straubel Wolff
1
Pontifcia Universidade Catlica (PUC/SP)
mswolff@openlink.com.br / m_swolff@hotmail.com
Resumo: O presente estudo da cano Vande Mataram, composta pelo msico e poeta indiano
Rabindranath Tagore (1861-1941), analisa a relao entre os signos verbal e musical, utilizando,
para isso, as ferramentas da teoria geral dos signos de Charles Peirce
2
e da semitica musical (tais
como foram desenvolvidas por W. Dougherty, W. Hatten, Jos Luiz Martinez e outros
semioticistas). Desse modo, procura-se tambm demonstrar como uma obra musical se insere num
contexto histrico preciso, no caso, o da luta pela emancipao poltica da ndia, sendo ao mesmo
tempo gerada e geradora do processo histrico. Pode-se, assim, entender como a obra resulta do
processo histrico, e ao mesmo tempo gera uma nova rede de significados capazes de transformar
esse processo.
Abstract: This study of the song Vande Mataram, composed by the Indian poet and composer
Rabindranath Tagore (1861-1941), focuses the relation between verbal and musical signs, using
the tools given by the general theory of signs formulated by Charles Peirce and music semiotics
(as it has been developed by W. Dougherty, W. Hatten, Jos Luiz Martinez and other semioticists).
Therefore, one search to demonstrate how a musical work is related to a precise historical context,
in this case, that context of the Indian struggle for her political independence. Besides, one can
understand how an art work can be at the same time generated by the historic process and can
create, by another side, another net of cultural meanings capable of transforming that process.
Os Signos Verbais: Ananda Math e Vande Mataram
O escritor indiano Bankimchandra Chaterjee (1838- 94), inseriu um poema em sncrito e
bengali no seu romance Ananda Math, (O Monastrio da Bem-Aventurana), que foi
publicado em 1882. Inicialmente, gostaria de demonstrar como esse poema, intitulado
Vande Mataram, musicado depois por R. Tagore, foi inserido no romance nacionalista
Ananda Math, considerado uma parbola de patriotismo nos dias turbulentos do
1
Licenciado em Histria pela PUC/RJ e bacharel em Msica pela Universidade do Rio de Janeiro (UNI-
RIO); Mestre em Histria Social da Cultura pela PUC/RJ e doutorando em Comunicao e Semitica na
PUC/SP, onde desenvolve sua pesquisa sobre o nacionalismo no pensamento musical de Tagore e Mrio de
Andrade. Contato: mswolff@openlink.com.br ou m_swolff@hotmail.com
2
Charles S. Peirce (1839-1914), cientista e pensador norte-americano, que fundou a moderna teoria geral
dos signos, que inclui o estudo da semitica geral e da aplicada a partir da classificao dos signos. Seus
seguidores aplicaram sua t eoria em diversos reas da comunicao, inclusive na msica.
2
movimento de oposio partilha de Bengala, tendo-se tornado um hino do movimento
nacionalista indiano conhecido como Swadeshi.
Diversos escritores inclusive Rabindranath Tagore, que em 1905 escreveu vrias
canes nacionalistas e liderou passeatas em Calcut, e Bankim Chandra - plantaram a
semente para que o solo de Bengala se tornasse propcio ao movimento nacionalista.
Enquanto R. Tagore pertencia a uma rica famlia de proprietrios, Bankim Chandra, vivia
uma situao delicada que requeria cautela: como funcionrio pblico gozava de uma
certa liberdade intelectual que tinha, todavia, seus limites. Assim, tinha que contornar a
censura e no podia se expor demasiadamente. Era preciso encontrar uma sada que
funcionasse como um escudo de proteo censura do governo. A soluo encontrada foi
inserir essa cano num romance histrico cuja ao se passava na Bengala do sc.
XVIII, quando ocorrera uma rebelio contra o domnio mughal decadente. Segundo R. K.
Murthi e G. Sharma, a chamada rebelio Sannyasi, dirigiu-se contra o governo opressor
dos prncipes muulmanos Mir Kasim, Mir Jafar e Sahh Alam. Os sannyasis hindus
aconselharam os camponeses famintos a lutarem contra a injustia social.
Desse modo, a revolta dos Sannyasis, forneceu a Bankim Chandra o disfarce ideal que
necessitava, posto que permitia a seus leitores uma analogia com a situao presente, ao
mesmo tempo que servia como cobertura pelo fato da ao transcorrer no passado.
Misturando fico com realidade, Bankim criou Vande Mataram, um poema escrito em
snscrito, com algumas palavras em bengali, que foi inserido no romance O Monastrio
da Bem-Aventurana. Nele constri personagens dispostos a sacrificarem suas vidas
(Bhavananda e Mahendra) e a renunciarem ao mundo para libertar seu pas do jugo dos
governantes mughals. Esses personagens, jovens monges (sannyasis) dispostos a pegar em
armas para defender os oprimidos pelos governantes, desprezam a vida e so devotados
deusa Me, smbolo da terra, da nao. A cano Vande Mataram, foi incorporada ao
romance sendo cantada num momento de reconciliao entre os monges e de unio contra
o opressor. A ndia personificada, vista como uma entidade e associada deusas hindus.
Isto nos remete a um mito arcaico presente em diversas sociedades agrrias: o mito da
deusa-Me. A referncia s deusas hindus torna-se, contudo, ainda mais explcita nas
3
estrofes no musicadas por Tagore em que aparecem seus nomes: Kamala, Bani e
Bidadaini.
No momento em que era preciso lutar contra os opressores, Bankim Chandra buscou no
passado mtico milenar da ndia a fora capaz de mover seus leitores, de faze-los
ultrapassar o medo da morte estabelecendo uma rede de significados que entrelaa a
nao, a ndia , a Terra-Me, que tambm a Senhora do Lugar, como observou Eliade.
Nela se reconhece a marca da maternidade, o poder regenerador inesgotvel da criao.
Assim, o escritor parece ter uma finalidade clara: evocar nos seus leitores a crena nesse
poder oculto, mtico - que a religiosidade hindu preservou atravs dos sculos - para
vencer o governo imperialista britnico.
preciso lembrar que no contexto da partilha de Bengala era preciso estimular uma
reao mais direta ao imperialismo britnico. Foi assim que Vande Mataram se tornou o
grito de guerra do movimento Swadeshi.
Aplicando a teoria dos signos de Charles Peirce anlise desse signo, podemos afirmar
que esse poema, como signo verbal, pode gerar interpretantes emocionais, j que
despertou sentimentos devocionais e patriticos em seus ouvintes/ leitores. Isso pode ser
comprovado pelo seguinte fato relatado por Dutta e Robinson em sua biografia de Tagore:
em 1909, numa fase mais violenta da luta emancipatria, um terrorista chamado Ullaskar
Dutta foi julgado e condenado a morte pelo governo; e no banco dos rus cantava a
melodia de Tagore. O terrorista buscando alvio nessa cano nos mostra o quanto o
processo de gerao de interpretantes emocionais se propagou nesse contexto histrico.
Para a semitica peirceana, um interpretante emocional pode originar tambm
interpretantes energticos que, neste caso, surgem do esforo do leitor em perceber que a
Terra-Me, est sendo ameaada e necessita da ajuda de seus filhos. A contribuio de
Bankim Chandra, todavia, no teria tocado tantos coraes se no tivesse sido associada
composio musical de R. Tagore, signo musical ao qual se ligou definitivamente o signo
potico.
O Signo Musical e sua relao com o texto potico
4
Seguindo o caminho aberto por William P. Dougherty, gostaria de considerar a cano
como um signo interdisciplinar, j que resulta do relacionamento de dois signos o potico
e o musical que tem interpretantes e objetos prprios.
preciso dizer que ao lidar com canes e com o modo como a msica representa um
texto potico, entramos no campo da referncia musical. Segundo Jos Luiz Martinez, esse
campo abrange o campo da semiose musical intrnseca, onde se trata da significao
interna e da materialidade musical. No poderia haver referncia musical, isto , a
capacidade da msica de representar objetos se no existissem as qualidades musicais ou
qualisignos.
No caso de Vande Mataram sabemos que o compositor do signo musical utilizou uma
tala de 8 tempos, ainda que em certas ocasies tenha cantado a cano sem mtrica, como
se ela fosse um alap (preldio) de um dhrupad
2
, tal como se pode ouvir no registro da All
India Radio
3
. J a estrutura meldica utilizada, est baseada no raga Desh, que em bengali
significa terra, pas. Trata-se de um raga com razes na tradio folclrica, j que
melodias muito semelhantes s dele so encontradas ainda hoje na msica folclrica
indiana.
Podemos descrever o raga Desh como um legisigno
4
que possui as seguintes
caractersticas: sete notas naturais ( shuddha) e uma nota alterada ( o 7 grau, komal ni) que
s deve aparecer no movimento descendente; o 3 e o 6 graus da escala (ga e dha)
ausentes no movimento ascendente mas presentes na descida; o 2 (re) e o 5 graus (pa) so
notas importantes ( vadi e samvadi) e o 7grau (shuddha ni) a nota de repouso. H ainda a
frase caracterstica ( pakad.): R ,M P, N D P, P D P M, G R G S que deve ser realizada
2
O dhrupad consiste num gnero vocal cuja criao geralmente atribuda a Raja Mansing de Gwalior
(1486 1526). Tagore aprendeu este gnero com os vrios mestres de msica de sua manso, Jorasanko,
tendo utilizado inmeras vezes a estrutura formal dessa tradio musical, especialmente nas obras de sua
juventude.
3
R. Tagore. Facets of a Genius. Calcutta, Visva-Bharati/ All India Radio, 1999.
4
Segundo J. L. Martinez um raga ao mesmo tempo um legisigno, sua rplica ou sinsigno e seus
qualisignos. Seu carter abstrato enquanto tipo no tem materialidade, mas um signo no poderia existir se
no se materializasse de algum modo (J. L. Martinez 1997: 96). Assim, a materialidade do raga ser um
qualisigno e sua individualidade resulta da ao de sinsignos, que so rplicas dos nveis regulativos mais
altos e mais abstratos em que o raga um legisigno.
5
com um glissando entre o ga e o re. Segundo Bhatkhande
5
, esse raga segue o seguinte
padro meldico:
Sendo geralmente executada em gneros semi-clssicos, foi tambm utilizada no rabindra-
songit (o estilo criado por R. Tagore). Observando a melodia de Vande Mataram, vemos
que ele tambm utilizou uma escala que possui 7 notas no alteradas e o 7 grau alterado
(komal ni). Na maioria das vezes komal ni aparece num movimento descendente, tal como
se espera no raga Desh. Alm disso, o 2 e o 5 graus so notas importantes ( vadi e
samvadi) e assim muitas frases terminam nesses graus da escala , inclusive a primeira e a
ltima frases da cano. Outro trao de Desh que encontramos na cano de Tagore o
glissando entre o 3 e o 2 graus( ga \ re), que sempre coincide com a palavra mataram.
A frase caracterstica R M G \ R, com o glissando entre o 3 e o 2 graus aparece apenas
uma vez, com pequenas variaes, no comp. 18 ( R G M G gR ). H tambm uma
imprevista utilizao do 7 grau alterado (ni komal) como ponto cadencial nos compassos
23 e 25 sobre a palavra suhasinim (= sorridente) quando o esperado seria um repouso
sobre o 7 grau no alterado (shuddha ni). Mas sabemos que Tagore criou um estilo em
que as regras prescritas pela tradio nem sempre so obedecidas e que seu objetivo maior
era expressar o sentido do texto potico, quebrando regras, se necessrio.
Entramos, dessa forma no campo da referncia musical, em que alm do objeto imediato,
que a prpria msica, temos um objeto verbal, no acstico e ainda outros objetos
dinmicos extra-musicais associados ao raga utilizado pelo compositor ( no caso, a terra, o
pas). interessante notar que Tagore utiliza, um raga associado terra para expressar a
5
O musiclogo B. Bhatkhande, sistematizou, no final do sc. XIX, os ragas e suas escalas de origem. Utilizo
aqui sua famosa obra Hindusthani Sangeet Paddhati, na verso em bengali. Vol. X )
Material Sonoro: S R G M P D N N
Ordem ascendente: S R M P N S
Ordem descendente: S N D P, M G, R G S
6
essncia do texto potico; fazendo isso, ele segue a antiga teoria esttica indiana do raga-
rasa
6
, que confere o sentido de sacrifcio ao raga Desh.
Gostaria de precisar que o campo da referncia musical, tal como definido por Jos Luiz
Martinez, investiga questes tais como como um signo musical se refere a um objeto, as
possveis relaes entre um objeto dinmico e o objeto imediato representado pelo signo,
os possveis objetos dinmicos representados pela msica e seus modos de ser (J. L.
Martinez 1997: 82). No caso de um raga, h tambm um outro objeto representado que
est conectado teoria do rasa
7
. No caso do raga Desh ,o rasa representado o auto-
sacrifcio, um objeto dinmico extra-musical, compatvel com a idia contida no signo
potico.
Ao tratar de um signo composto como a cano, o signo musical representa no apenas
um objeto imediato (acstico) o que est inserido no campo da semiose musical
intrnseca mas tambm representa um objeto no acstico que pode ser a imagem ou
idia potica representada , por sua vez, pelo signo verbal. Vemos aqui que existe um
paralelismo entre os objetos representados pelos signos musical e potico.
Todavia, como salientou Dougherty, a relao entre os dois signos assimtrica, na
medida em que o compositor interpreta o signo potico e pode manipul-lo em sua leitura
de acordo com suas finalidades. Assim, o compositor tem a possibilidade de forjar uma
certa leitura do poema atravs da explorao da zona de tenso entre a msica e o texto e
pela manipulao dessa relao assimtrica ou mesmo pela supresso de uma parte do
poema, como Tagore fez. No caso, ele no queria ferir as suscetibilidades da comunidade
muulmana e por isso retirou as estrofes cujo contedo lhe parecia mais hindu, Todavia,
para alguns ouvintes da poca, ela no podia ser compreendida separada de seu nvel
indicial - o nvel no qual no pode ser abstrada de seu contexto histrico. Isso explica os
motivos pelos quais no pode ser aceita como o hino nacional da ndia em 1947, a despeito
6
De acordo com a tabela de J. L. Martinez dos grandes ragas e sua significao, baseada na obra de O
Thakur intitulada Sangitanjali e tambm em outros autores. (Ver em Martinez 1997: 313- 314)
7
Rasa significa literalmente sabor, mas tambm era a essncia de uma representao teatral, o produto
dessa arte , ou ainda uma qualidade de sentimento que tornava possvel a integrao de poesia, dana,
msica e representao teatral no teatro snscrito dos sculos IV e V d. C.
7
das ponderaes de R. Tagore. Como Dougherty observou, os diferentes nveis de
interpretao no esto sob o controle do compositor e tambm no so autnomos; esto
sempre relacionados ao processo cultural.
Quanto aos interpretantes musical e potico pode-se dizer que no foram apenas
justapostos, mas transmutados, na medida que pelo processo audvel o interpretante
musical transforma o interpretante potico para criar uma interpretao no nvel expressivo
mais elevado do signo composto. Esses dois nveis no so autnomos, mas subordinados
a um terceiro que aquele onde a cano ela mesma pode ser comparada e medida ao
lado de outras canes e, em ltima instncia, de outros processos culturais envolvendo a
produo e a transmisso de significado (Dougherty 1995: 9). Enfocando-se esse terceiro
nvel pode-se apreender um aspecto indicial da cano: est conectada diretamente ao seu
contexto histrico e cultural. No se trata de uma associao por semelhana ou por
operaes intelectuais, mas de uma relao de contigidade, j que a obra de arte em
parte, a despeito da subjetividade do seu criador, um retrato de seu tempo. A anlise
semitica dessa cano, um signo capaz de gerar interpretantes emocionais e lgicos,
permite que se compreenda de que modo Vande Mataram se liga ao contexto da luta pela
emancipao poltica da ndia, ao movimento nacionalista em Bengala, ao mesmo tempo
gerando e sendo gerada por essa ampla rede de significados culturais que penetra o
universo dos signos musicais e se estende alm dele.
BIBLIOGRAFIA:
BHATKHANDE, B. N. Hindusthani Sangeet- Paddhati. Calcutta, Dipayon, 1990. 12 vols.
CAPWELL, Charles. Representing Hindu Music to the Colonial and Native Elite of Calcutta. IN:
BOR, Joep & MINER, A (org.). Hindustani Music: the modern period. Rotterdam, Rotterdam
Conservatory of Music (?), s.d. 1 30 p. Texto ainda no publicado.
COOK, Nicholas. Analysing Musical Multimedia. Oxford, Oxford University Press, 1998.
DOUGHERTHY, W. P. The Play of Interpretants: A Peircean Approach to Beethovens Lieder.
IN: HALEY,M. (ed.) The Peirce Seminar Papers: na annual of semiotic analysis, Oxford, Berb,
1993. 67-95 p.
8
__________________ The Quest for interpretants: toward a Peircean paradigm for musical
semiotics. Semiotica 99 (1/2), 163-184.
___________________ Musical semeiotic: a Peircean perspective. IN: Contemporary Music
Review 16, 1997. 29- 39p.
ELIADE, M. Tratado de Histria das Religies. So Paulo, Martins Fontes, 1998.
GUHA-THAKURTA, M. The Bengali Drama: its origin and Development. London, Kegan Paul,
Trench, Trubner & CO., 1930.
HATTEN, R. A Peircean Perspective on the Growth of Markedness and Musical Meaning.
Bloomington, Indiana University Press, 1994 (?)
INDIA. Our National Songs. Delhi, Ministry of Information and Broadcasting Publication
Division, 1988. (4 ed.)
KUMAR, Prasanta. Rabijiboni (A Vida de Rabi). Calcutta, Ananda Publishers Ltd., 1993. (2 ed.)
LUNIYA, B. N. Evolution of Indian Culture. Agra, Lakshmi Narain Agarwal, 1989.
MARTINEZ, J. L. Semiosis in Hindustani Music. Imatra, International Semiotics, 1997.
_____________ Uma Teoria Semitica da Msica, baseada na Teoria Geral do Signo de C.
Peirce IN: MACHADO, F. (org). Anais da 2 Jornada do Centro de Estudos Peirceanos. So
Paulo, PUC/SP, 1999.
MUKHOPADHYAY, Dilip Kumar. Rag-Sangit Charcha. Calcutta, Firma K. L. M. 1976.
9
NETTO, J. Teixeira Coelho. Semitica, Informao e Comunicao. So Paulo, Perspetiva, 1999.
NOTH, Winfried. Panorama da Semitica: de Plato a Peirce. So Paulo, Annablume, 195.
PANIKKAR, K. M. A Dominao Ocidental na sia. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.
PEIRCE, C. S. Semitica. So Paulo, Perspectiva, 2000.
RADICE, W. Introduction. IN: TAGORE, R. Selected Stories. London, Peguin Books, 1991. 1-
28p.
TURINO, Thomas. Signos da Imaginao, Identidade e Experincia: uma teoria semitica
peirceana para a msica. Urbana-Champaign, University of Illinois, 1988.
Arte-educao e educao musical nas polticas educacionais da
Secretaria Municipal de Educao de Uberlndia entre 1970-2002:
relatrio parcial
Margarete Arroyo
Universidade Federal de Uberlndia (UFU)
margaret@ufu.br
Aline da Silva Alves
1
Universidade Federal de Uberlndia (UFU)
alinne_alves@bol.com.br
Resumo: O interesse em estudar as polticas educacionais da Secretaria Municipal de Educao
(SME) de Uberlndia relacionadas ao ensino de artes e de msica originou-se em investigao
anterior, quando com freqncia nos deparamos com menes feitas pelos profissionais de
educao sobre as aes e posicionamentos da SME com relao presena da msica na escola. A
meta desta comunicao apresentar os resultados parciais da pesquisa Arte-educao e Educao
musical nas polticas educacionais da Secretaria Municipal de Educao de Uberlndia entre
1970-2002, cujos objetivos so: mapear e analisar a Arte-educao e a Educao musical no mbito
das polticas educacionais da SME de Uberlndia no perodo indicado e desvelar as representaes
de arte, de msica e de prticas escolares de ensino e aprendizagem das linguagens artsticas
presentes nessas polticas. O procedimento metodolgico est baseado na pesquisa documental e
na anlise de contedo (Bardin, 1988). O referencial terico est fundamentado nos estudos ps-
estruturalistas que abordam os textos como discursos criadores de sentido (Foucault, 1987,1996;
Dosse, 1994) e nos estudos crticos relativos formao de polticas educacionais (Morrow e
Torres, 1995). Os dados coletados entre agosto e dezembro de 2002 so descritos e uma pr-anlise
dos mesmos apresentada.
Palavras-chave: educao musical, polticas educacionais, Uberlndia
Abstract: The interest to study the educational policies of Secretaria Municipal de Educao
(SME) of Uberlndia connected with teaching of art and music arose in a previous research. In that
investigation we met references gave by educational professionals about the action and thought of
SME related with art and music in the local public schools. The aim of this paper is to present the
partial report of the research Art Education and Music Education in the educational policies of SME
of Uberlndia between 1970 and 2002. The objectives of this research are: to map and analyse the
art education and music education within the range of educational policies of SME of Uberlndia
between 1970 and 2002, and uncover the art, music and the teaching and learning school practices
of the artistic languages representations present in those policies. The methodological procedure is
based on the documentation research and content analysis (Bardin, 1988). The theoretical
background is compounded by the poststruturalist studies (Foucault, 1987, 1996; Dosse, 1994)
and the critical studies related to the educational police (Morrow e Torres, 1995). The data collected
between August and December, 2002, are described and a pre-analysis of them is presented.
Keywords: music education, educational policies, Uberlndia
INTRODUO
1
Bolsista PIBIC UFU/CNPq.
2
A despeito do tratamento de marginalidade dado s artes no conjunto das reas de
conhecimento no mbito escolar e acadmico, elas desempenham papis fundamentais nas
diversas sociedades e culturas. Esta importncia se desvela quando observamos, ouvimos e
interagimos com grupos sociais e indivduos, e a msica, como nosso foco principal de
ateno, desvela-se como meio de sociabilidade, de conhecimento, de expresso e de
constituio de identidades.
Em pesquisas anteriores por ns empreendidas sobre o ensino e aprendizagem de
msica em Uberlndia, MG, ao focalizarmos tanto contextos no escolares quanto
escolares (Arroyo, 1999; 2000; Arroyo; Penna; Machado, 2001), pudemos registrar a
presena significativa de prticas musicais na cidade e com isto, tambm, registrarmos a
relevncia das mesmas nas dinmicas sociais locais cotidianas e institucionais.
Especificamente na pesquisa cujo objeto de estudo teve como foco a presena da
msica em uma escola municipal (Arroyo, 2000; MACHADO, 2000; PENNA, 2000)
2
,
parte dos dados coletado nos indicaram a necessidade de avanarmos na compreenso deste
cenrio. Assim,, propusemos em agosto de 2002 uma investigao cujo foco de estudo a
documentao relativa ao ensino de artes e de msica
3
circunscrito s polticas educacionais
da SME de Uberlndia, no perodo compreendido entre 1970 e 2002 (Arroyo, 2002; Alves,
2002).
Apesar de nosso interesse maior estar na educao musical, consideramos tambm o
ensino da arte de modo geral, pelo fato de que, no perodo histrico selecionado, a presena
dessas reas de conhecimento nas escolas acontece oficialmente na disciplina "educao
artstica", de carter polivalente, onde vrias linguagens artsticas deveriam ser trabalhadas
por um nico professor.
A seleo do perodo de 1970 a 2002 deve-se abarcarmos dois momentos
importantes do ensino de artes nas escolas: a criao da disciplina "educao artstica" em
1971 (LDB - 5692/71) e a obrigatoriedade do ensino de artes, agora no mais polivalente,
em 1996, com a promulgao da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educao (Lei -
9394/96).
2
Esta pesquisa contou com colaborao valiosa de duas bolsistas de Iniciao Cientfica (PIBIC-UFU/CNPq):
Mirian Carmen Machado (2000/2001) e Juliana Pereira Penna (2000).
3
Compreendemos que o ensino de arte inclui o ensino de msica. Entretanto, referimo -nos a um e outro no
mbito dessa pesquisa em face da prtica ainda corrente da educao artstica no seu carter polivalente ou da
compreenso bastante comum de que ensino de arte significa ensino de Artes Plsticas.
3
Este projeto vem dar continuidade ao mapeamento do ensino e aprendizagem de
msica no mbito das escolas pblicas municipais de Uberlndia, iniciado em 2000, com a
investigao "Msica nas escolas pblicas de Uberlndia", quando o campo de pesquisa foi
a educao infantil e o primeiro ciclo (1. e 2. srie) do ensino fundamental de uma escola
da rede municipal de ensino de Uberlndia (Arroyo, 2000; Penna, 2000; Machado, 2000).
Como a citada investigao caracterizou-se por uma microanlise das representaes
sociais que professores, alunos e direo mantinham sobre msica, sobre a presena da
msica na escola e sobre seu ensino e aprendizagem, o presente estudo caracteriza-se por
uma abordagem macro, focalizando as polticas municipais de educao concernentes arte
educao como um todo, e educao musical, de modo mais pontual.
A relevncia desta proposta evidencia-se, por um lado, na possibilidade de
levantarmos documentos sobre a trajetria da Arte Educao e Educao Musical na
cidade e na organizao desse material em um banco de dados para disponibiz-lo
pesquisa futura. Por outro lado, destaca-se pela contribuio a um entendimento maior da
situao das artes nas escolas e, principalmente, pelo fornecimento de subsdios para
respondermos no apenas s exigncias legais relativas ao ensino de Arte (LDB, 1996),
foco ainda de expressivo desentendimento, mas, sobretudo, expressiva demanda da
comunidade escolar pelas atividades artsticas e musicais, conforme observado nas
pesquisas j citadas (Arroyo, 1999, 2000).
OBJETIVOS
Gerais:
Mapear a Arte-educao e, em especial, a Educao musical, no mbito das
polticas educacionais da SME de Uberlndia entre os anos 1970 e 2002;
Analisar as polticas educacionais elaboradas para estas reas do conhecimento
no mbito da SME de Uberlndia entre os anos 1970 e 2002;
desvelar as representaes de arte, em especial da msica e de prticas
escolares do ensino e aprendizagem das linguagens artsticas presentes nas
polticas educacionais da SME no mesmo perodo.
Especficos:
4
levantar documentos produzidos pelos governos municipais de 1970 a 2002
(projetos, programas, folhetos, etc)
levantar nas escolas municipais documentos que registram aes relativas
quelas polticas (projetos, fotos, filmes, relatrios, etc)
levantar materiais nos jornais da cidade e em outros meios de informao e
comunicao (emissoras de tv locais, etc) relativos temtica em foco;
levantar pesquisas j realizadas sobre o ensino de arte e msica na cidade;
Organizar um banco de dados sobre a trajetria do ensino de Artes e de msica,
para disponibiliz-lo comunidade interessada no assunto.
A questo norteadora desta investigao como as artes, e mais pontualmente a
msica, esto representadas nas polticas educacionais da SME de Uberlndia no
perodo entre 1970 e 2002?
METODOLOGIA
O procedimento metodolgico desta investigao de natureza qualitativa, onde
estaremos recorrendo pesquisa documental e anlise de contedo. So considerados
documentos, folhetos de divulgao das polticas municipais, peridicos, projetos,
relatrios, artigos de jornais, trabalhos acadmicos, entre outros. O mtodo de anlise de
contedo constitui-se em
"um conjunto de tcnicas de anlise das comunicaes, visando obter, por
procedimentos sistemticos e objetivos de descrio do contedo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou no) que permitam a inferncia de conhecimentos
relativos s condies de produo/recepo (...) destas mensagens" (Bardin, 1988,
p.42).
A recorrncia a este mtodo se justifica na medida que, ao debruarmos sobre
vrios tipos de documentos, necessitaremos essencialmente de inferir da anlise do texto
escrito os seus "contedos manifestos" e os "contedos latentes", isto , "as motivaes,
atitudes, valores, crenas, tendncias (...) ideologias que podem existir" relativas s
5
polticas educacionais elaboradas para o ensino de artes e msica no mbito da Secretaria
Municipal de Educao de Uberlndia no perodo delimitado (Trivios, 1995, p.159 e 162).
Segundo Bardin (1988), o mtodo de anlise de contedo "organiza-se em torno de
trs plos cronolgicos": a pr-anlise, a explorao do material e o tratamento dos
resultados obtidos e interpretao.
Fundamentao terica
Sendo um dos objetivos deste estudo o desvelar das representaes de arte e msica
presentes nas polticas educacionais da SME de Uberlndia entre 1970 e 2002, e, em funo
disso, a necessidade de uma anlise dos contedos latentes (Trivios, 1995, p. 159), as
referncias tericas para anlise e interpretao dos dados esto baseadas, por um lado, nos
estudos ps-estruturalistas que abordam os textos como discursos criadores de sentido
(Foucault, 1987,1996; Dosse, 1994). Por outro lado, consideramos congruente ao objeto de
pesquisa em construo, os estudos crticos relativos formao de polticas educacionais.
Neste caso, nos referenciamos nos procedimentos analticos propostos por Raymond A
Morrow e Carlos A Torres que focalizam os determinantes da formao de polticas
educacionais (1995, p. 342).
Dados coletados
De agosto a dezembro de 2002 foram localizados 42 documentos. Desses, a maioria
estava na biblioteca do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais da SME de
Uberlndia, alguns na biblioteca da Universidade Federal de Uberlndia e alguns em
bibliotecas de escolas estaduais e municipais. Nesse ltimo caso, a pesquisa foi realizada
de modo indireto atravs da monografia de Marilda Nascimento (2002). Alm disso, por
nos depararmos durante a coleta com documentos relativos arte-educao e educao
musical no diretamente vinculados as polticas educacionais da SME, resolvemos inclu-
los no banco de dados.
Desse total de 42 documentos, 40 ou foram xerocopiados ou conseguiu-se um
exemplar para montagem do banco de dados.
a partir dessa coleta parcial que ensaiaremos uma primeira anlise dos dados,
seguindo Bardin (1988). Assim, apresentaremos uma pr-anlise dos mesmos.
6
Anlise dos dados
No mbito da pr-anlise, foi feita a catalogao dos documentos, seguida de breve
descrio de cada um. Tambm iniciou-se a montagem da indexao dos mesmos,
organizada por ndice de autores e ttulos, ndice de data e ndice de assuntos (ALVES,
2003). Desses, trazemos abaixo o de datas e o de assuntos.
ndice de datas
1970
Universidade Federal de Minas Gerais
Programa de enriquecimento de currculo para alunos
bem-dotados da 4. srie do 1. grau: educao artstica.
1980
Ministrio da Educao e Cultura A ao cultural vale tudo em banda rtmica.
SANCHEZ, M. M. Msica para os pequeninos.
1982
CARVALHO, V. L. O. A importncia da msica na educao do deficiente
auditivo.
SANTOS, F. S. M. Um contrato na primavera: quando as rvores falam.
1983
SOARES, M. I. B. Ensine seu aluno a ouvir.
1984
OLIVEIRA, D. E. Vem andar comigo.
FURTADO, M. C. X. Educao atravs da arte.
1989 1992
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
Educao pelas diferenas. Ensino fundamental no
seriado.
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
Departamento de projetos especiais.
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
Mdulo de educao infantil. Escola de tempo integral
Educao de 0 a 6 anos.
SILVA, C. A. M. A importncia da arte na educao escolar.
1990
WEIGEL, A. M. G. Msica: Ih! De novo? Ou: Ah! Que bom!
1991
COSTA, J. C.; RIBEIRO C. R.
Ensino e criatividade.
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
Mdulo de educao infantil. Escola de tempo integral
Educao de 0 a 6 anos.
Secretaria Municipal de Educao O projeto de arte-educao j realidade nas escolas
municipais.
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
Educao nota dez.
7
Prefeitura do Municpio de So Paulo
Secretaria Municipal de Educao
Reorientao do ensino noturno: diretrizes para
elaborao de projetos pelas escolas.
1992
SILVA, C. A. M.
A importncia da arte na educao escolar
SILVA, R. S. O ensino de educao artstica nas escolas de 1. grau
de Uberlndia/MG.
1993
Prefeitura Municipal de Uberlndia Uberlndia tem educao
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
2. Congresso dos Educadores de Minas.
1994
ARAJO, M. C. M. Projeto da Pr-escola.
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria de Planejamento
Plano Diretor de Uberlndia.
1995
Secretaria de Estado da Educao MG Programa de educao pr-escolar.
1996
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
I Encontro sobre o ensino de Arte.
Prefeitura Municipal de Uberlndia Teatro de fantoche na Pr Escola.
1998
Jornal Correio Uberlndia Secretaria anuncia mudana na Oficina Cultural.
Secretaria Municipal de Educao Proposta Curricular Ensino infantil e fundamental.
Prefeitura Municipal de Uberlndia
Secretaria Municipal de Educao
O futuro do Brasil est na educao.
1999
Secretaria Municipal de Educao Talento na msica.
FONSECA, P. Msica desenvolve educao e cidadania.
2001
LIMA, A. R. C. Dom Almir recebe o projeto circo.
LIMA, A. R. C. Festival de msica popular mostra o talento dos
servidores.
LIMA, A. R. C. Final do 3. Serv Music lotou Coliseu.
ndice de assuntos
A
Atividades propostas 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 27
datas comemorativas 24
leitura e msica 25
msica 13, 14, 15, 20, 27
8
teatro 20
C
Congresso de Educadores 11, 28, 39, 41, 42
arte-educao 11, 28, 39, 41, 42
Criatividade 4, 5, 9, 14
educao de 0 a 6 anos 4
educao pr-escolar 5
proposta curricular 9
atividades propostas 14
E
Ensino de artes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 26, 27, 33, 36,38, 41, 42, 18
importncia 3
proposta poltico educacional 1
projetos especiais 2
educao de 0 a 6 anos 4
educao pr-escolar 5
projeto social 7
projeto arte-educao 8, 36, 18
proposta curricular 9
criatividade 11
congresso de educadores 12
relato de experincia 13
atividades propostas 14
proposta de estudo 15
msica para deficientes auditivos 16
arte-educao 26, 33, 36, 41, 42
msica 27
ensino noturno 38
F
Festivais de msica 6, 17, 23
P
Projetos sociais 6, 7, 8, 19, 24, 26, 28, 33, 39
festivais de msica 6
projeto arte-educao 8, 28, 33
projeto circo 19
projeto pr-escola 24
educao atravs da msica 26
diretrizes para elaborao de projetos 39
Proposta curricular 9, 38, 40
ensino infantil e fundamental 9
ensino noturno 38
alunos bem dotados 4.srie 1.grau - 40
Proposta de estudo 15
msica 15
Proposta poltico educacional 1, 2, 4, 5, 7, 8, 30, 36, 42, 37
departamento de projetos especiais 2
educao de 0 a 6 anos 4
educao pr-escolar 5
projeto arte-educao 8, 36, 37, 42
projeto social 7
aulas especializadas 30
R
Relato de experincia 13, 21, 22, 25, 27
msica 13, 27
arte-educao 21
acuidade auditiva 22
9
educao atravs da arte 25
Concluso
A pesquisa em andamento permite vislumbrar seus resultados significativos para
uma compreenso mais abrangente do ensino e aprendizagem musical no mbito da rede
municipal de educao da cidade de Uberlndia.
Os documentos coletados indicam tanto a referncia arte-educao e/ou educao
musical, aspecto que em ambos os casos torna-se objeto de anlise e interpretao. A
reconstituio histrica da arte-educao e educao musical na rede municipal de
educao indica que projetos mais pontuais tiveram incio em 1989. E na dcada seguinte
que a maior parte da documentao est datada.
O ndice de assuntos permite ter uma idia das temticas relativas arte-educao e
educao musical que mais preocuparam os produtores de polticas nesse perodo.
Finalmente, atravs dessa documentao fica vivel compreender as
descotinuidades das polticas pblicas. Um exemplo diz respeito compreenso ou no do
que significa o ensino de arte citado na Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional de
1996. Enquanto que no edital para concurso pblico da Prefeitura de Uberlndia para
professor de educao artstica, s se contemplou no programa artes visuais, e questionado
sobre isso o responsvel pelo edital respondeu que no havia interesse da comunidade pelas
outras artes, a "proposta curricular de Educao Artstica", 1998, produzida no governo
anterior traz o seguinte:
"Cabe ressaltar que o ensino de Arte est dividido em trs reas distintas: Artes
Plsticas, Artes Cnicas e Msica. Contudo, devido formao especfica dos
professores de terceiro grau que atuam nesta rea de ensino, a equipe de trabalho
elaborou uma proposta curricular correspondente sua habilitao [Artes Visuais].
Nesse sentido, aguarda-se a incluso de profissionais das demais reas na equipe,
para que se possa apresentar os contedos e metodologias a serem trabalhadas pelos
mesmos". (Prefeitura Municial de Uberlndia. SME, 1998, p.1).
As prximas etapas da pesquisa contemplam: atualizar a documentao produzida
no mbito da SME, levantar dados sobre o assunto em foco junto imprensa local, montar
o banco de dados e analisar e interpretar o contedo dos documentos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
10
ALVES, Aline da S. Arte-educao e Educao musical na cidade de Uberlndia, MG
entre 1970-2002: criao de um banco de dados. 2002. 8 f. Projeto de pesquisa (graduao)
- Universidade Federal de Uberlndia, Uberlndia.
ALVES, Aline da S. Arte-educao e Educao Musical na cidade de Uberlndia entre
1970-2002: relatrio parcial. In: CONGRESSO DA FAEB - FEDERAO DE ARTES
EDUCADORES DO BRASIL, 16., 2003, Goinia. Anais... Goinia, 2003, p.223.
ARROYO, Margarete. Educao musical e polticas educacionais da Secretaria Municipal
de Educao de Uberlndia entre 1970-2002. 2002. 12f. Projeto de pesquisa -
Universidade Federal de Uberlndia, Uberlndia.
ARROYO, Margarete. Msica em escolas pblicas de Uberlndia, MG. 2000. 15 f. Projeto
de pesquisa - Universidade Federal de Uberlndia, Uberlndia.
ARROYO, Margarete. Representaes sociais sobre prticas de ensino e aprendizagem
musical: um estudo etnogrfico entre congadeiros, professores e estudantes de msica.
1999. 360 f. Tese (Doutorado em Educao Musical) - Instituto de Artes, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
ARROYO, Margarete; PENNA, Juliana P.; MACHADO, Mirian C. Msica no contexto
escolar: construindo polticas locais de educao musical. Trabalho apresentado ao 3
Encuentro Latinoamericano de Educacion Musical ISME / SADEM,3., 2001, Mar Del
Plata, Argentina, 2001. No publicado.
BARDIN, Laurence. Anlise de contedo. Lisboa: Edies 70, 1988.
DOSSE, Franois. Histria do estruturalismo. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1994.
FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 1987.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. So Paulo: Loyola, 1996.
MACHADO, Mirian C. Experincia musical formal e informal em escola municipal de
ensino bsico - Uberlndia, MG. 2000. 7 f. Projeto de pesquisa (graduao) - Universidade
Federal de Uberlndia, Uberlndia.
MORROW, Raymond; TORRES, Carlos A. The Capitalist State and Educational Policy
Formation. In: MORROW, Raymond; TORRES, Carlos A. Social Theory and Education:
a critique of theories of social and cultural reproduction. Albany: State University of New
York Press, 1995. p. 341-370.
PENNA, Juliana P. Msica e interdisciplinaridade: pluralidade cultural no primeiro ciclo
do ensino fundamental pblico em Uberlndia. 2000. 10 f. Projeto de pesquisa (graduao)
- Universidade Federal de Uberlndia, Uberlndia.
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLNDIA. SME. Proposta Curricular de
Educao Artstica. Uberlndia: PM/SME, 1998.
TRIVIOS, Augusto N. Introduo pesquisa em Cincias Sociais: a pesquisa qualitativa
em educao. So Paulo: Atlas, 1995.
Cano de cmara brasileira: procedimentos e metodologias adotadas
para a elaborao de um Guia Virtual
Margarida Borghoff
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Luciana Monteiro de Castro Silva Dutra
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Mnica Pedrosa de Pdua
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
cancaobrasileira@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho discute a importncia do estudo e da divulgao da cano de cmara
brasileira e apresenta estratgias adotadas por um grupo de pesquisa da Escola de Msica da
UFMG, com a finalidade de resgatar este gnero musical. Apresenta como principal estratgia a
elaborao de um guia virtual, no qual sero inseridos listas catalogrficas de compositores e ttulos
e estudos especficos sobre obras para canto e piano. Trata tambm da criao de metodologias a
serem empregadas na elaborao de comentrios analtico-interpretativos relativos s canes
estudadas.
Palavras-chave: cano de cmara brasileira, canto e piano, guia de interpretao musical.
Abstract: This article discusses the importance of the study and publication of the Brazilian art
song and presents strategies in defense of this genre, adopted by a research group of the Escola de
Msica da UFMG. As its most important strategy, this group presents the creation of a virtual
guide, which contains rolls of names of composers and titles and specific studies about Brazilian
voice and piano works. Also deals with the development of methodologies created in order to
elaborate analytical and interpretative comments about the art songs.
Keywords: Brazilian art song, voice and piano, musical performance guide.
Falando da cano de cmara brasileira
Grande parte dos pesquisadores tem no seu objeto de pesquisa a projeo de um antigo
ideal de investigao. Nosso ideal de intrpretes transformou-se em pesquisa: buscamos
hoje conhecer de maneira mais abrangente e aprofundada o repertrio brasileiro para canto
e piano do qual j vislumbrvamos amostras capazes de despertar grande interesse esttico
e suscitar questes instigantes. Por que um repertrio to vasto e interessante mantm-se
to pouco conhecido nos meios acadmicos e pelo pblico? Por que existe um considervel
distanciamento entre o intrprete, a cano brasileira e o pblico?
Algumas constataes poderiam elucidar tais questes. Sabemos da vastido deste
repertrio, mas desconhecemos a localizao de grande parte dele; poucos so os estudos e
as referncias bibliogrficas referentes cano de cmara brasileira; deparamo-nos
freqentemente com dificuldades de acesso s partituras manuscritas, engavetadas em
arquivos pblicos ou dispersas em arquivos particulares espera de resgate; h escassez de
partituras editadas e gravaes; verifica-se, de maneira geral, uma falta de interesse
especfico pela cano brasileira na maioria de nossas universidades e escolas de msica; a
msica estrangeira ocupa espao preponderante nos programas curriculares e nos concertos
realizados no Brasil; grande parte dos intrpretes da cano, arraigados a conceitos tcnico-
interpretativos mais adequados msica estrangeira, no consegue compreender a cano
em sua essncia, e acaba por travest-la, criando esteretipos estranhos ao pblico.
Buscando ampliar as perspectivas de estudo e divulgao da cano de cmara brasileira,
reunimo-nos, professores de canto, piano e literatura da UFMG com o intuito de contribuir
para uma mudana neste quadro atual. No nos orientamos por razes nacionalistas ou por
ufanismo, mas por considerar necessrio atribuir cano de cmara brasileira o seu real
valor, situando-a no posto que lhe compete dentro da msica brasileira e da msica
universal.
Estabelecendo um grupo de pesquisa
O crescente interesse destes professores pela cano de cmara brasileira levou
organizao de um ncleo de pesquisa vinculado instituio que o abriga, a UFMG. A fim
de satisfazer as demandas de um ncleo desta natureza, o grupo foi registrado no CNPq e
foram elaborados projetos para obteno de fomentos.
O ncleo de pesquisa traou em seguida estratgias de atuao. A primeira delas foi a
criao de uma disciplina voltada exclusivamente para a Cano de Cmara Brasileira,
oferecida no curso de graduao em Canto pela Escola de Msica da UFMG, dentro da
possibilidade oferecida pela flexibilizao curricular recentemente implantada nessa
Escola. Esta disciplina, ministrada a partir do 2
o
Semestre de 2002, teve grande aceitao
por parte dos alunos e da Instituio, resultando em concertos e na aprovao de um projeto
de aprimoramento de discentes pela Pr-Reitoria de Graduao da UFMG. Quatro bolsas
de estudos foram concedidas em estmulo pesquisa e prtica interpretativa nesta rea.
Outra estratgia adotada consiste na proposta de realizao de gravaes e edies de
canes de cmara brasileiras dentro das instalaes da Escola de Msica da UFMG,
contando com recursos tecnolgicos e humanos disponveis. Uma das primeiras propostas
a gravao de CD com obras escolhidas de Helza Camu (1903 1995) e edio de sua
sute Lricas Op.25 no ano do centenrio da compositora.
Levando-se em considerao a notria escassez de bibliografia referente cano brasileira
e a dificuldade que encontra o intrprete para a escolha e preparao de um repertrio desta
natureza, o ncleo de pesquisa assumiu como uma de suas mais importantes estratgias a
elaborao de um guia da cano de cmara brasileira, obra que prope a reunio
organizada de dados sobre a obra nacional para canto e piano, fornecendo uma viso a um
s tempo panormica e pontual.
2. Construindo o Guia da cano de cmara brasileira
Para a construo desse guia, baseamo-nos em conhecidos guias do Lied e da mlodie
franaise, elaborados por KAGEN (1968), WHITTON (1984), BRNAC (1978),
FISCHER-DIESKAU (1995) e na verificao do real auxlio que tais obras prestam aos
intrpretes.
Inicialmente, propnhamos uma edio impressa em fascculos, idia apresentada no II
Seminrio Nacional de Pesquisa em Performance Musical de Goinia, em novembro de
2002. Ao longo da pesquisa, a idia evoluiu para a construo de um guia virtual,
formato que permitiria a disponibilizao em curto prazo das informaes j levantadas e a
atualizao permanente dos resultados da pesquisa. Este formato ofereceria ainda a
apresentao imediata de um catlogo de obras e a posterior e gradativa insero dos
comentrios sobre as obras catalogadas, sendo o guia disponibilizado em pgina vinculada
ao site da Escola de Msica da UFMG.
Diante da possibilidade de nos depararmos com um vasto universo de obras, optamos por
delimitar em cem anos o perodo estudado inicialmente, partindo do ano de nascimento de
Alberto Nepomuceno 1864, considerado por grande parte dos musiclogos como o pai
da cano de cmara em vernculo. Optamos ainda por no enfocar as Modinhas e Lundus
dos sculos XVIII e XIX, outro vasto universo de pesquisa.
Um dos primeiros passos no sentido de realizar a coleta de dados para o guia foi o envio de
correspondncia padronizada a compositores brasileiros que sabidamente se dedicassem ao
gnero cano. Procedemos em seguida consulta de arquivos institucionais, tais como:
Biblioteca Nacional (DIMAS), Biblioteca Alberto Nepomuceno (UFRJ), Bibliotecas da EM
da UFMG, UEMG, UNI-RIO, UNICAMP e USP, alm de arquivos particulares. No
levantamento bibliogrfico, foram consultadas a Enciclopdia Brasileira de Msica (1998),
MARIZ (1956), catlogos editados pelo Ministrio de Relaes Exteriores, catlogos
divulgados pela INTERNET e catlogos de obras de Eunice Catunda, Ernest Mahle,
Radams Gnatalli, Villa-Lobos, Guarnieri, Nepomuceno entre outros.
Nos primeiros dois meses de pesquisa, chegamos a catalogar 150 compositores,
relacionando ttulos de aproximadamente 2000 obras. Este guia, que se inicia com a
catalogao de nomes de compositores, ttulo das canes e autores dos poemas musicados,
apresenta ainda um importante dado: a localizao fsica das partituras.
Se o formato catalogrfico fornece uma viso panormica do cancioneiro nacional, o
trabalho prope, alm da catalogao, o estudo individual de cada cano. Este estudo
consiste no levantamento de dados tcnicos e na anlise ltero-musical explicitada em
redao de comentrios analtico-interpretativos. So considerados dados tcnicos: ttulo
da cano; nmero do opus; local e ano da composio; transcrio de dedicatrias e
epgrafes; autor do poema (com data de nascimento e morte); localizao do poema na obra
potica; transcrio do poema (em parte ou na ntegra
1
) indicao de andamento e/ou
carter de expresso; frmula do compasso e tonalidade original; mbito vocal; durao
aproximada; forma (ABA, estrfica, durchkomponiert, rond etc.); edies; gravaes;
outras canes com mesmo poema.
Como j foi dito, um dos aspectos mais relevantes na estruturao deste Guia Virtual a
insero dos comentrios analtico-interpretativos sobre cada uma das canes. Na busca de
uma metodologia especfica para a redao destes comentrios foram estabelecidos critrios
para as anlises musicais e literrias das canes, bem como proposta uma sistematizao
para elaborao dos referidos textos.
3. Criando uma metodologia para a redao dos comentrios analtico-interpretativos
Realizados o levantamento de obras de determinados autores e o seu estudo inicial, algumas
questes surgiram. Qual seria a metodologia mais adequada a uma anlise que se prope a
fundamentar a interpretao musical? Sendo a cano em princpio reunio de msica e
poesia, no deveramos compreender tambm de maneira analtica o poema? J existiriam
processos metodolgicos que abordassem texto e msica conjuntamente? Sem respostas
objetivas e diante da escassa bibliografia, verificamos a necessidade do desenvolvimento de
uma metodologia prpria.
Consideramos como condio fundamental para a elaborao de comentrios sobre uma
cano a sua realizao musical. Propusemo-nos a uma leitura primeira seguida de ensaios
e gravao em MD. Esta gravao, baseada na compreenso inicial dos intrpretes, se
prestaria a uma primeira apreciao da obra.
Buscando estabelecer relaes entre a msica e a poesia, necessrias fundamentao das
decises interpretativas sugeridas ao leitor pelos pesquisadores intrpretes, propusemos a
realizao concomitante das anlises musical e literria da cano.
1
A apresentao da ntegra de textos literrios est sujeita a autorizao de autores ou editora ou ao fato da
Sob a perspectiva da anlise musical, busca-se extrair as informaes musicais essenciais e
relevantes da cano com base na observao dos cinco parmetros analticos sugeridos por
JAN LARUE (1970): som, harmonia, melodia, ritmo e crescimento. Tem-se como
objetivos a compreenso da macro-estrutura da obra, a identificao da forma, a localizao
de desenhos rtmicos e meldicos caractersticos, de pontos de tenso e relaxamento, de
temas, contrastes, ambincias e de caractersticas estilsticas da obra.
Sob a perspectiva da anlise potica, parte-se da compreenso do texto nos seus nveis
lexical, semntico e sinttico tomando por base os parmetros analticos sugeridos por
GOLDSTEIN (1989). Sero observados os elementos do verso, como ritmo, metro, estrofe
e som, as tcnicas estruturais do poema, o emprego de figuras de linguagem e de recursos
sonoros como assonncias e aliteraes. A compreenso sinttica essencial na anlise
potica, podendo conduzir inflexo adequada das frases musicais. Ao final de cada
comentrio analtico, o guia apresentar um glossrio explicando palavras pouco usuais ou
de difcil compreenso utilizadas no poema.
Visando estabelecer inter-relaes entre os dados obtidos nas anlises e auxiliar na
sistematizao da redao dos comentrios, procuramos elaborar e responder s seguintes
questes:
1. Qual os contextos histrico-estilsticos em que foram criados poema e msica?
2. O que se apreende do poema (verificao de significados, conotaes, figuras de
linguagem etc.)?
3. Que relaes se estabelecem entre as estticas do poema e da msica?
4. Que relaes se estabelecem entre a forma do poema e a forma da cano?
5. Que relaes se estabelecem entre as conotaes poticas e os empregos de elementos
musicais especficos?
6. Que papel assume o cantor na obra? narrador, o eu lrico ou outro personagem?
obra j se encontrar em domnio pblico.
7. H na msica variaes de elementos musicais que caracterizem mudanas de humores
ou sentimentos que devam ser realados pelos intrpretes?
8. H no poema mudanas de temperamento ou humor que sejam realados por elementos
musicais, devendo ento ser evidenciados tambm pelos intrpretes (timbre, dinmica,
articulao, andamento)?
9. Que outros aspectos musicais caractersticos da obra podem ser evidenciados pelos
intrpretes (temas, motivos, padres rtmicos, ambincias sonoras, contrastes de
andamentos, modulaes, sobreposies rtmicas, meldicas e tmbricas, fraseado,
mudanas de aggica, variaes de dinmica, etc)?
10. H problemas com a edio ou com o manuscrito estudado ou discrepncias entre as
diferentes verses?
11. Existem outras obras no mesmo opus e qual a relao entre elas?
12. Existem outras verses musicais do mesmo poema?
13. Existem verses desta cano para orquestra ou outros grupos instrumentais?
14. H no poema palavras ou expresses inusitadas ou de difcil compreenso que devam
ser explicadas no glossrio?
Feitas as anlises e respondidas as questes, procede-se redao dos comentrios
analticos interpretativos. Diante de uma nova viso da obra advinda das informaes
fornecidas pelas anlises, os intrpretes pesquisadores realizam uma segunda gravao.
Tendo em mos duas gravaes e comentrios redigidos, outros elementos do grupo de
pesquisa verificam, com o necessrio distanciamento, a coerncia entre os textos redigidos
e a performance musical, realizando assim uma reviso crtica do texto a ser inserido no
Guia.
4. Concluindo
Para o efetivo fornecimento de dados para o Guia Virtual da Cano Brasileira os
pesquisadores intrpretes j tm analisadas cerca de 80% das canes de Alberto
Nepomuceno e redigidos os comentrios analticos de 50% delas. J se encontram tambm
reunidas e lidas 70% das canes de Lorenzo Fernandez e 20% das canes de Helza
Camu. Paralelamente a este estudo especfico o grupo de pesquisa tem trabalhado
continuamente na localizao e catalogao das obras dos outros compositores brasileiros,
j tendo inserido no Guia cerca de 2000 ttulos.
Estas atividades iniciais de alimentao do Guia tm nos demandado amplos esforos,
por acontecerem simultaneamente ao desenvolvimento das metodologias de levantamento
bibliogrfico, sistematizao de anlise interpretativa e elaborao dos comentrios
analticos.
Alm disto, o grupo tem se empenhado em suas outras estratgias, voltando-se tambm
para a elaborao de projetos, realizao de concertos de divulgao, atividades didticas
voltadas para a cano brasileira e reviso para edio de partituras.
Diante das mltiplas atividades e do vastssimo universo de pesquisa, ainda que delimitado,
consideramos que o desenvolvimento desta pesquisa seja um trabalho contnuo e de
realizao a longo prazo. A expectativa do grupo de que esta pesquisa auxilie e motive
intrpretes e pesquisadores a atuarem cada vez mais nesta rea.
Referncias bibliogrficas
BERNAC, Pirre. Interpretation of frenc song. Nova York: W.W. Norton & Company,
1978.
ENCICLOPDIA da msica brasileira: erudita, folclrica e popular. So Paulo: ArtEditora,
1998.
FISCHER-DIESKAU, Dietrich. The Fischer-Dieskau book of Lieder. Nova York:
Limelight Editions, 1995.
GOLDSTEIN, Norma: Versos, sons e ritmo. So Paulo: tica, 1989
KAGEN, Sergius. Music for the voice - a descriptive list of concert and teaching material.
Indiana: Indiana Univeersity Press Bloomington, 1968.
LARUE, Jan. Guidelines for Style Analysis. New York: W.W. Norton & Company, Inc.,
1970.
MARIZ, Vasco. A cano brasileira contempornea. 2.ed. Braslia: Universidade de
Braslia, 1970.
WHITTON, Keneth. Lieder na introduction to german song. Londres:
Julia MacRae Books, 1984.
Fatores do desempenho e ao pianstica: uma perspectiva
interdisciplinar
Maria Bernardete Castelan Pvoas
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
c2mbcp@udesc.br / bernardete@brturbo.com
Camila Fernandes Figueiredo
*
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
camilapiano@hotmail.com
Guilherme Ferreira Amaral
*
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
guiamaral@iaccess.com.br
Resumo: Esta pesquisa tem como objeto de estudo investigar sobre a interveno de fatores do
desempenho (Rasch, 1991) na utilizao de recursos tcnico-instrumentais, visando a eficincia da
ao pianstica. O movimento considerado o elemento meio da ao pianstica cujo desempenho
fsico-motor est sujeito interveno de fatores diversos, entre eles: fora, energia, coordenao e
flexibilidade. Este entendimento indica para uma reviso de conceitos da tcnica pianstica e de
reas que tratam de questes referentes ao movimento humano associadas ao pianstica e aos
fatores que nela intervm. Para o estabelecimento de conexes entre fatores pesquisados e a ao
pianstica, esto sendo levantados argumentos interdisciplinares que respaldem a aplicao de
recursos tcnico-instrumentais e que considerem os fatores destacados. Para a comprovao de tais
correlaes, sero realizadas anlises qualitativas e/ou quantitativas (procedimentos biomecnicos)
com a participao de pianistas.
Palavras-chave: fatores do desempenho, ao pianstica, interdisciplinaridade,
tcnica pianstica
Abstract: This research aims to investigate the performance factors intervention (Rasch, 1991)
on the instrumental and technical resources in order to increase the efficiency of the pianistic
action. The movement is considered the way of the pianistic action in which the performance is
submited to many factors as: strenght, energy, coordination and flexbility. This aproach leads to a
review of concepts of the piano technique and correlated areas in which the human movement is
associated to the pianistic action. In order to conect the studied factors with the pianistic action it
has been collected interdisciplinary arguments which can support the use of the technical and
instrumental resources for the studied factors. To prove such conections it has been used
biomechanical procedures, qualitative and quantitative analysis with pianists.
Keywords: performance factors, pianistic action, interdisciplinarity, pianistic technique
1- INTRODUO
Esta pesquisa tem como objeto de estudo investigar sobre fatores do desempenho.
Tem sua origem em argumentos apresentados por Pvoas (1999) e, como referncia, os
pressupostos de Rasch (1991, p.183-193) sobre o desempenho humano, este entendido
como a expresso de vrios componentes denominados fatores do desempenho. Optou-
*
Bolsista CNPq.
*
Bolsista CNPq.
2
se por investigar determinados fatores, questes a eles relacionados e quais as implicaes
da destes fatores na utilizao de recursos tcnico-instrumentais.
O movimento considerado o elemento-meio da ao pianstica
1
. Sabe-se que o
desempenho desta ao fsico-motora est sujeita interveno de vrios fatores como
coordenao, flexibilidade, energia, fora e que aspectos a eles relacionados interagem na
atividade pianstica. No entanto, a literatura que trata da inter-relao entre fatores do
desempenho com a atividade pianstica escassa. Este entendimento indica para uma
reviso de conceitos da rea da tcnica pianstica e de reas que tratam de questes
referentes ao movimento humano que possam ser associados ao desempenho msico-
instrumental, dentro de uma perspectiva de contribuio interdisciplinar.
As reas que tratam do movimento humano como meio de produo do trabalho
seguem a tendncia das ltimas dcadas de buscar na interdisciplinaridade uma melhor
compreenso dos fenmenos envolvidos, intentando uma maior abrangncia dos recursos e
que esteja alicerada tanto na funcionalidade dos recursos j disponveis quanto nos
resultados de novas investidas e experimentos especficos. Os novos recursos
proporcionados por tcnicas de simulao computadorizada tm servido para importantes
avanos nas questes relacionadas ao ndice de eficincia do movimento humano, no
estando fora desta preocupao a rea da msica.
Dentro desta perspectiva, a reviso bibliogrfica est sendo articulada em dois
eixos: o primeiro percorre teorias e abordagens tcnico-tericas da rea pianstica que se
referem ou estabelecem alguma relao entre movimentos e fatores que podem influir na
sua eficincia, desde o final do sculo XIX at as contribuies mais recentes nesta rea. O
segundo eixo consiste de pressupostos de outras reas cujas inferncias ao fsico-
muscular e/ou pianstica ilustram e importam para o estudo proposto. Adentrados os
objetivos iniciais, na continuidade da pesquisa ser verificado, por meio de uma anlise
qualitativa e/ou quantitativa (procedimento biomecnico), a aplicao dos conceitos
levantados.
2- FORA E COORDENAO: ASPECTOS DE INTERSSE
1
Ao pianstica: atitude criativa e interpretativa construda atravs do processamento das questes
envolvidas na msica selecionando, coordenando e realizando tanto os elementos da construo musical que
constituem e caracterizam cada obra quanto os movimentos que possibilitam esta ao. (Pvoas, 1999, p.81).
3
Rasch (1991, p.183) esclarece que qualquer desempenho pode ser formal ou
informalmente analisado para determinar seus componentes em termos de fatores gerais ou
especficos. Uma vez identificados tais fatores, pode-se formular programas de
desenvolvimento ou treinamento. Expe o autor que a fora pode ser dividida em fora
dinmica, esttica e explosiva, subfatores que podem, por sua vez, ser separados e
desenvolvidos de modo diferencial.
Nos argumentos apresentados por Rasch (1991, p.183) e Hall (1993, p.86-88), a
fora est tambm relacionada com o tempo de manuteno e com a velocidade de
ativao muscular. Assim, o satisfatrio desenvolvimento deste fator depende,
significativamente, do repouso entre perodos de trabalho. H tambm a relao entre fora
e velocidade, definida pelas relaes existentes entre a fora mxima muscular e a taxa de
mudana instantnea de comprimento. Neste aspecto, e segundo Rasch (1991, p.183), a
fora muscular est relacionada velocidade de encurtamento, ao comprimento e ao tempo
de ativao de um msculo. Assim, a potncia muscular definida como o produto da
fora e velocidade (Nigg 1994, 173-175, 181), havendo uma relao de causa e efeito entre
fora e flexibilidade. Para Meinke (1998, p.59) o uso inadequado da fora destacado
como a causa mais comum de problemas msculo-esquelticos em msicos.
Destaca-se a diviso da fora em dois princpios apresentada por Rasch (1991,
p.187). O primeiro o princpio da amplitude de movimento e o segundo o princpio da
recuperao. Segundo esclarece, um exerccio para a fora deve comear de uma posio
na qual o msculo esteja totalmente ALONGADO e, caso se deseje como resultados a
FLEXIBILIDADE e FORA,
2
ao longo de toda amplitude
3
. Na prtica instrumental,
assim como em toda atividade que depende de movimentos, cada sesso de trabalho deve
iniciar com um perodo de aquecimento. Este aquecimento serve de preparao para o
trabalho muscular mais intenso que ocorrer na seqncia da atividade. A incluso de
exerccios de flexibilidade indicada. A flexibilidade adquirida quando a articulao
movida alm da amplitude normal do movimento, at o ponto de desconforto mnimo e
tambm, se praticados com uma certa regularidade. Coordenao e flexibilidade
articulares so consideradas fatores altamente especficos para o desempenho e variam de
acordo com as caractersticas da atividade.
2
Grifo do Autor.
3
A amplitude do movimento dos segmentos anatmicos que atuam na ao pianstica, [...] tem relao com o
grau de liberdade das articulaes. O conhecimento bsico sobre os graus de liberdade das articulaes mais
ativas durante a ao pianstica pode orientar a seleo de tcnicas e procedimentos a serem aplicadas durante
os treinamentos. (Pvoas, 1999, p.84, 85).
4
Para Meinel (1987, p.2) o agente do ato coordenado,
somente poder apropriar-se do decurso de um movimento solicitado quando
compreender corretamente a tarefa de movimento. Para isso necessrio que ele
conhea e compreenda exatamente o objetivo da ao, a razo do movimento. [...]
Quanto mais exatamente for compreendida a tarefa, tanto melhor ser a base dos
requisitos para a aprendizagem de novos movimentos.
Estes conceitos se aplicam ao pianstica quando se pretende que os movimentos
adequados ao design da obra, ou de partes da obra em estudo, sejam organizados e
realizados em funo de uma sonoridade prevista. A razo do movimento vai
determinar quais os procedimentos mais eficazes para que a relao causa efeito sonoro
seja otimizada como resultado da conexo entre a realizao da tcnica, e aqui se incluem
todos os recursos e meios aplicados realizao musico-instrumental.
A posio de Camp (1981, p.49) de que a percepo mental serve de guia para a
organizao dos aspectos aural e rtmico e que estes aspectos so determinantes na
coordenao dos processos mental e fsico na atividade musical.
Segundo Meinel (1987, p.2), uma "coordenao na atividade do ser humano a
harmonizao de todos os processos parciais do ato motor em vista do objetivo, da meta a
ser alcanada pela execuo do movimento. Esclarece o autor que coordenao quer dizer
literalmente ordenar junto, e que, dependendo da rea em que se aplica, o significado
desta ordenao se altera. No esporte, o conceito de coordenao se refere s fases do
movimento ou aos movimentos parciais, operaes que aparecem na estrutura bsica e no
ritmo de movimentos (parciais e isolados) que devem ser coordenados em outras formas de
movimentos. Nas reas da cinesiologia e da anatomia funcional entende-se por
coordenao
4
as ordenaes especficas da atividade de cada msculo e de grupos
musculares. Na biomecnica, dentro do conceito de coordenao so considerados os
parmetros codeterminantes do decurso do movimento, [como] impulsos de fora a serem
coordenados na ao motora. (Meinel, 1987, p.2).
Como em toda a atividade fsica, na ao pianstica a manuteno da energia est
relacionada resistncia. e esta intensidade do trabalho e durao na realizao de uma
tarefa. O tempo e/ou a intensidade do trabalho so determinantes durante o treinamento e
na avaliao dos resultados. (Lehmkuhl & Smith, 1989). Rasch (1991, p.185) diz que as
4
Aspectos referentes coordenao so encontrados em Ortmann (1929), Fink (1995), Kochevitsky
(1967), Kaplan (1987), Berry (1989) e Wilson (1988).
5
sesses de treinamento devem ser suficientemente espaadas para dar tempo ao organismo
de se recompor fisiologicamente, e freqentes o bastante para permitir o
desenvolvimento. Diante das indicaes anteriores, a significncia de intervalos para
repouso entre perodos de trabalho, de organizao, da distribuio de tarefas e tcnicas
durante o treinamento, sempre levando em conta fatores do desempenho durante o
treinamento pianstico, deve ser considerada.
3- MATERIAIS E MTODOS
O movimento praticado na ao pianstica pode ser avaliado por meio de diferentes
tcnicas de anlise qualitativa e/ou quantitativa. A anlise qualitativa um mtodo de
avaliao sistemtica realizada por meio da observao direta no somente dos resultados,
mas tambm dos diferentes fatores que contribuem para o resultado. Toda anlise pode
apresentar elementos e subsdios de vital significncia para a deciso de critrios e de
recursos tcnicos a serem adotados na resoluo de questes tnico-musicais e, se
necessrio, para solucionar problemas causados pelo uso indevido de procedimentos
mecnicos, muitas vezes imprprios s possibilidades fisiolgicas do intrprete, entre
outras causas.
A anlise quantitativa utiliza-se de mtodos e de equipamentos para a obteno de
dados numricos e para a realizao de clculos matemticos de parmetros do movimento
como a fora, trajetria e velocidade. As anlises biomecnicas enquadram-se nesta
categoria de anlise. Atravs de diferentes mtodos, vm oferecendo aos pesquisadores a
possibilidade de obterem dados cada vez mais precisos com relao estrutura do corpo
humano e s aes fsico-musculares nas mais diferentes atividades.
Os mtodos clssicos de medio para a anlise biomecnica que possibilitam
abordar as diversas formas de movimento do corpo humano so: a antropometria
5
, a
dinamometria
6
, a eletromiografia e a cinemetria. (Amadio, 1997, P.12; Araujo, 1998, p.2).
Dentre estes mtodos, para a realizao do experimento proposto, pretende-se utilizar a
eletromiografia e a cinemetria, por serem considerados adequados para a medio de
parmetros da atividade pianstica. A eletromiografia (EMG) definida como uma tcnica
que estuda a atividade neuromuscular, atravs da qual se pode representar graficamente a
5
Antropometria: tcnica que fornece dados sobre as dimenses corpo, sobre a geometria do corpo.
(Pvoas, p.76).
6
Dinamometria: atravs deste mtodo possvel medir-se as foras externas, isto , as relaes entre o
corpo e o ambiente (fora de reao). (Pvoas, p.76).
6
atividade eltrica do msculo em contrao. Gertz (1997, p.42). Na rea da cinesiologia, a
eletromiografia usada para descrever e classificar coordenaes musculares. (Araujo,
1998, p.32).
A eletromiografia tem sido utilizada na rea da msica. Moore (1987, p.77-91)
apresenta um estudo sobre diferentes sistemas de utilizao do arco por violoncelistas na
execuo de vibratos e o padro de acelerao de diferentes tipos de vibrato. Utiliza o
eletromiograma para medir a atividade eltrica de msculos, determinar quais so os
msculos ativados na atividade e quais sinais devem ser modulados para determinada
atividade. (Moore, 1987, p.80). Em 1988, Moore vai mais adiante em sua pesquisa,
levantando, pelo mesmo mtodo (EMG), questes sobre a execuo do trinado. Concluiu
Moore
que esta variao tem estreita relao com a funo de msculos ativos durante a
execuo e que os limites na taxa de velocidade de execuo dependem de ambos,
do instrumento e do executante. Tais consideraes podem ser transpostas para a
ao pianstica. (Pvoas, p. 74, 1999).
A cinemetria ou cinematografia de alta velocidade uma tcnica de coleta de dados
por meio da qual so registrados parmetros de desempenho. , por definio, um mtodo
de captao de imagens de uma atividade fsica cujos dados podem ser transformados em
um modelo fsico-matemtico simplificado, possibilitando a obteno de informaes de
medidas e a execuo de clculos sobre parmetros cinemticos do movimento tais como
posio, velocidade, acelerao e deslocamento tanto linear como angular do corpo ou de
seus segmentos, trajetria e curva de acelerao de movimentos. (Gertz, 1997, p.64;
Nabinger, 1997, p.56). Entre os principais objetivos que indicam a utilizao da
cinemetria, acompanhada da avaliao antropomtrica esto: a avaliao da tcnica e o
desenvolvimento de tcnicas de treinamento. (Vargas, Amadio, Guimares et al., 2002,
p.59). Dados sobre a altura de projeo do movimento pianstico e sobre o ngulo de
ataque podem ser comparados aos valores fornecidos pela cinemetria.
Amadio (1997, p.12) e Vargas, Amadio, Guimares et al. (2002, p.65) esclarecem
que no estgio em que se encontra a biomecnica e devido ao fato de que nem todas as
condies do processo de movimento so conhecidas, a cinemetria, pode ser classificada
como um mtodo emprico-indutivo primrio e considerada um mtodo indireto, uma vez
que a anlise dos dados procedida a partir do modelo representado. Pressupe-se que
7
dentre os mtodos de medio a eletromiografia e/ou a cinemetria podero ser utilizadas
para responder ao que se prope esta pesquisa.
4- CONCLUSES PARCIAIS
Com base nos pressupostos apresentados, considera-se que esta investigao, cujo
objeto de pesquisa o estudo de questes e fatores do desempenho inter-relacionados
atividade msico-instrumental, poder apresentar resultados significativos para a rea da
tcnica instrumental. As observaes e as informaes levantadas podero servir recursos
essenciais na busca do aumento no ndice de eficincia do desempenho pianstico atravs
do controle, aproveitamento e aprimoramento de movimentos, no sentido de torn-los mais
objetivos durante o treinamento. Estes resultados devero contribuir como suporte para
profissionais e alunos, no sentido de que a ao pianstica possa ser realizada com maior
eficincia tcnico-musical e menos esforo.
Na continuidade da reviso de literatura estaro sendo estabelecidas conexes entre
fatores pesquisados e a ao pianstica e, paralelamente, destacados argumentos que
justifiquem a aplicao e a avaliao de recursos tcnico-instrumentais no estudo do piano
que levem em conta a interveno dos fatores investigados. Para avaliar a aplicabilidade de
questes referentes aos fatores na melhoria do desempenho pianstico, ser realizado um
experimento biomecnico, utilizando-se a eletromiografia e/ou a cinemetria como mtodos.
Os resultados das anlises qualitativas e/ou quantitativas podero apresentar elementos e
subsdios de vital significncia para a deciso de critrios e de propostas tcnicas e
fornecer informaes que indiquem para uma maior considerao de fatores do
desempenho no processo de desenvolvimento msico-instrumental. As tcnicas adotadas
na resoluo de novas situaes musicais e de problemas tcnico-instrumentais estaro
sendo investigadas visando otimizar o desempenho pianstico.
5- REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AMADIO, Alberto Carlos. Consideraes metodolgicas da Biomecnica: reas de Aplicao para
a Anlise do Corpo Humano. Anais do VII Congresso Brasileiro de Biomecnica. Campinas, p.11-
15, 1997.
ARAUJO, Rubens Corra. Utilizao da Eletromiografia em Anlise Biomecnica do Movimento
Humano. Tese de Doutorado, Mimeo, 1998, Universidade de So Paulo, Escola de Educao Fsica
e Esporte.
8
VILA, Alusio Otvio Vargas; AMADIO, Alberto Carlos; GUIMARES, Antnio Carlos
Stringhini et al. Mtodos de Medio em Biomecnica do Esporte: Descrio de protocolos para a
Aplicao nos Centros de Excelncia Esportiva (REDE CENESP MET). Revista Brasileira de
Biomecnica, So Paulo: v.4, p. 57-67, 2002.
CAMP, Max W.. Developing Piano Performance. A Teaching Philosophy. Chapell Hill: Hinshaw
Music, 1981.
GERTZ, Luiz Carlos. Desenvolvimento de Sistema: Tarefa de Digitao, Anlise Biomecnica.
Dissertao de Mestrado. UFRGS, Porto Alegre, 1997.
HALL, Susan. Biomecnica Bsica. Traduo de Adilson Dias Salles. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1993.
HAY, James G .& REID, J. Gavin. As Bases Anatmicas e Mecnicas do Movimento Humano.
Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1985.
LEHMKUL, L.Don & SMITH, Laura. Cinesiologia Clnica. Traduo de Flora Maria
Gomide Vezz. 4.ed. So Paulo: Manole, 1989.
MEINEL, Curt. Motricidade I: Teoria da Motricidade Esportiva sob o Aspecto Pedaggico.
Traduo de Sonnhilde von der Heide. So Paulo: Ao Livro Tcnico, 1987.
MEINKE, William. Risks and realities of musical performance. Med Probl Perform Art: v. 13, p.
56-60, June, 1998.
MOORE, George P.. The study of skilled performance in musicians. The Biology of Music Making.
Saint Louis: MMB Music Inc., p. 77-91, 1987.
MOORE, George P. et al.. Trilss: Some Initial Observations. Psychomusicology, a Journal of
Research in Music Cognition: v.7, n.2, p. 153-162, 1988.
NABINGER, Eduardo. Desenvolvimento de um Sistema Para Anlise Biomecnica da Pedalada
de um Ciclista. Dissertao de Mestrado. UFRGS, Porto Alegre, 1997.
NIGG, Benno M. & HERZOG W. Biomechanics of The Musculo-Skeletal System, Nova Iorque:
John & Sons, 1994.
PVOAS, Maria Bernardete Castelan Pvoas. Princpio da Relao e Regulao do Impulso-
Movimento. Possveis Reflexos na Ao Pianstica. Tese de Doutorado, Mmeo, 1999,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
RASCH, Philip J. Cinesiologia e Anatomia Aplicada. Traduo de Marcio Moacyr de Vasconcelos.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.
ROEHMAN, Franz L.; WILSON, Frank R.. The Biology of Music Making. Proceedings of the
1984 Denver Conference. St. Louis: MMB Music, 1988.
Fadiga e rapidez do movimento na ao pianstica:
um estudo interdisciplinar
Maria Bernardete Castelan Pvoas
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
c2mbcp@udesc.br / bernardete@brturbo.com
Camila Fernandes Figueiredo
*
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
camilapiano@hotmail.com
Guilherme Ferreira Amaral
*
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
guiamaral@iaccess.com.br
Resumo: Esta pesquisa apresenta um estudo interdisciplinar sobre determinados fatores do
desempenho com vistas sua considerao no estudo do piano, tendo por base a premissa de
Rasch (1991, p.183) de que todo desempenho humano pode ser visto como a expresso de vrios
componentes. Como toda atividade que envolve movimento, fatores como rapidez e fadiga, entre
outros, interagem com o desempenho pianstico. O objetivo desta investigao aprofundar o
estudo sobre funes relativas aos fatores, estabelecendo conexes entre aqueles pesquisados e a
ao pianstica. O estudo proposto tem sua origem em um recorte da argumentao apresentada por
Pvoas (1999) e faz parte de um projeto mais amplo que engloba o estudo destes e demais fatores e
a realizao de anlise qualitativa e/ou quantitativa (procedimento experimental biomecnico).
Nesta etapa da pesquisa esto sendo estabelecidas relaes entre fatores investigados e a ao
pianstica.
Palavras-chave: fatores do desempenho, interdisciplinaridade, ao pianstica, tcnica pianstica.
Abstract: This research introduces to an interdisciplinary study about certain performance
factors related to the piano practicing under Raschs (1991, p183) premise: all human
performance could be taken as expression of many components. Like any activity that use
movements, factors as speed and fatigue interact with the piano performance. The objective of this
research is to go deeper on the functions related to the factors to determinated conections between
those and the pianistic action. The argumentation of Pvoas (1999) is the origin os this research
that take part on a wider project that includes the study of these and other factors and the qualitative
and/or quantitative analysis (biomecanical experimental procedure). The relations among the
factors with the pianistic action are being stablished.
Keywords: performance factors, interdisciplinarity, pianistic action, piano technique
1- INTRODUO
Esta pesquisa tem sua origem em um recorte da argumentao apresentada por
Pvoas (1999) e faz parte de um projeto mais amplo que engloba o estudo destes e demais
fatores desempenho e a realizao de anlises qualitativa e/ou quantitativa (procedimento
*
Bolsista CNPq.
*
Bolsista CNPq.
2
experimental biomecnico) para comprovao de conexes estabelecidas entre os fatores
aqui investigados com a ao pianstica
1
.
De acordo com a afirmao de que todo o desempenho humano pode ser visto
como a expresso de vrios componentes denominados fatores do desempenho (Rasch,
1991, p.187), tambm a realizao msico-intrumental, como atividade que depende
essencialmente de movimentos, a eles est sujeita. Entre os fatores destacam-se a energia,
fora, flexibilidade, resistncia, rapidez do movimento, crescimento e desenvolvimento
sseo e leses por treinamento. Poder o estudo e a anlise destes fatores tornar a prtica
instrumental mais eficiente?
Pressupe-se que o estudo e o conhecimento sobre os mecanismos de
funcionamento de fatores do desempenho podem tornar a prtica instrumental mais
eficiente. Nesta pesquisa esto sendo abordados dois destes fatores: fadiga e rapidez do
movimento. Entre os objetivos esto o estudo sobre os fatores do desempenho e o
estabelecimento de conexes entre fatores pesquisados e a ao pianstica.
O que se entende por desempenho? Uma das definies de interesse para a rea da
atividade msico-instrumental : execuo de um trabalho. (Ferreira, 1987, p.447).
Portanto, chutar uma bola, segurar um copo, cumprimentar algum, tocar um instrumento
musical so todas aes consideradas como desempenho humano.
2- MOVIMENTO E FADIGA
Rasch (1991, p.187), quando fala sobre a fora divide-a em dois princpios: da
amplitude de movimento e de recuperao. Diz que mover ou massagear um msculo
fadigado durante pausas de repouso acelera sua velocidade de recuperao.
O estudo sobre causas e efeitos da fadiga na atividade humana de interesse para a
rea pianstica. Provocada pelo treinamento excessivo de uma atividade motora, ou
tambm por uma atividade mental prolongada, uma de suas caractersticas ocasionar
erros que no ocorreriam em situao de controle. Por este motivo, o treinamento seguido
de intervalos essencial. A fadiga ser eliminada ou amenizada durante o intervalo.
nesta pausa que ocorre uma restaurao, reparo acompanhado por uma supercompensao
que eleva a capacidade do indivduo para um novo nvel. Intermitentes rodadas de
exerccios e pausas fazem com que o atleta esteja sempre pronto para a prxima prtica.
1
Ao pianstica: atitude criativa e interpretativa construda atravs do processamento das questes
envolvidas na msica, selecionando, coordenando e realizando tanto os elementos da construo musical que
constituem e caracterizam cada obra quanto os movimentos que possibilitam esta ao. (Pvoas, 1999, p.)
3
(Maggil, 1984, p.219). O treinamento a intervalos alm de prevenir a fadiga tambm
considerado um mtodo produtivo. O treinamento a intervalos permite que o pianista
descanse entre o perodos de prtica, eliminando indcios de fadiga.
Perrot (in Rasch, 19991, p.194) sugere cuidados para o trabalhador evitar a fadiga,
entre elas, eliminar movimentos desnecessrios, fazer uso da gravidade para a realizao
do trabalho e posicionar o corpo o mais confortavelmente possvel para que grupos
musculares possam trabalhar adequadamente. O estudo de aspectos ergonmicos, em
relao ao piano, tambm pode ajudar na preveno da fadiga. Por exemplo, o banco do
piano deve estar em uma altura que permita manter o cotovelo paralelamente ao teclado e
os ps apoiados no cho, e a uma distncia que permita a livre movimentao do tronco
diante do teclado.
A realizao de tarefas fsicas exaustivas pode resultar em fadigas musculares que
so, mais precisamente, o produto do cido lctico acumulado no sangue e nos msculos
devido ao trabalho fsico-muscular alm do limite saudvel. Assim, encontram-se
diferentes definies referentes resistncia. Uma delas diz que a resistncia a
capacidade de realizar o mesmo trabalho durante um perodo de tempo [e] a fadiga
definida como uma falha em manter a fora necessria ou esperada de contrao
muscular. Segundo Lehmkuhl & Smith (1989, p.115), uma atividade muscular prolongada
pode levar conseqncias metablicas que incluem a acumulao dos produtos das
reaes qumicas que diminui a velocidade das reaes subseqentes. Assim sendo, a
fatigabilidade o oposto da resistncia [e] quanto mais rapidamente um msculo fadiga-
se, menor sua resistncia.
Hall (1993, p.71) diz que uma fibra muscular entra em fadiga quando se torna
incapaz de desenvolver tenso quando estimulada por seu axnio motor [...] ou de gerar
um potencial de ao. Ao tratar do Princpio do treinamento excessivo, o qual est
relacionado, sobretudo, com o desenvolvimento da fora e energia, Rasch (1991, p.186)
esclarece que um estado de fadiga crnica acarreta alteraes morfolgicas [...] e
psicolgicas indesejveis. Destaca-se a observao do autor de que o treinamento
excessivo mais perigoso do que o treinamento deficiente. Segundo Perrot in Rasch
(1991, p.194), a fadiga pode ser evitada eliminando-se movimentos desnecessrios, pois a
repetio de movimentos, mesmo diminutos, pode ser lesiva; buscando-se a melhor postura
de maneira a permitir o melhor desempenho muscular; equilibrando-se o corpo
adequadamente e com apoio, permitindo assim a distribuio do uso da fora.
4
Em Fox et al. (1993, p. 87-88) vemos que uma das maneiras pelas quais obtida a
informao acerca de fadiga muscular
2
pelo registro da reduo de tenso mxima
(torque) de um grupo muscular depois de determinado nmero de repeties. Segundo o
autor, a fadiga de um grupo muscular pode ser causada por falha de um ou mais
mecanismos neuromusculares que participam da contrao muscular e a ausncia de
contrao voluntria de um msculo pode ocorrer devido a falhas do nervo motor, da
juno neuromuscular, do mecanismo contrtil e do sistema nervoso central. Entre as
falhas relacionadas ao sistema nervoso est a i ncapacidade de retransmisso dos impulsos
nervosos para as fibras musculares.
Uma vez que a fadiga dentro do mecanismo contrtil pode ser causada pelo
acmulo de cido lctico, a recuperao depende muito da remoo do cido lctico do
sangue e dos msculos. O tempo de remoo pode variar dependendo da forma de repouso.
Fox (1993, p.40) chama de repouso-recuperao a recuperao que consiste em um
repouso total, ou seja, a completa ausncia de exerccios durante o tempo de descanso. O
chamado repouso-exerccio aquele no qual a recuperao acompanhada de exerccios
leves, como tambm do chamado esfriamento para atletas. Este mesmo argumento pode
ser altamente vlido no trabalho pianstico. Segundo Fox, o cido lctico removido mais
rapidamente durante o exerccio-recuperao do que durante o repouso-recuperao.
Para o aprimoramento da tcnica pianstica, uma outra forma de aumentar o
rendimento e diminuir o dispndio energtico ter conscincia dos objetivos do estudo,
executando-os corretamente desde o incio, sempre evitando os erros. Uma vez cometidos,
os erros faro parte de reflexos condicionados (assimilados) e ser necessrio o dispndio
de mais tempo e de energia extra para corrigir as imprecises, sejam elas de movimentos
ou de leitura do texto musical, em sua relao com resultado sonoro.
3- RAPIDEZ DO MOVIMENTO
Tambm considerada um fator do desempenho, a rapidez do movimento , segundo
Rasch (1991), em parte uma caracterstica individual inata, isto , o limite da velocidade
de cada indivduo est no seu limite de ao no sistema nervoso. Oscar Raif (in
Kochevitsky, 1967 p.32) mostra que a velocidade no est na rapidez dos dedos no teclado,
mas na destreza da mente, uma rpida percepo do material musical. Ele complementa
2
Informaes sobre fadiga muscular ver: Wilson (1988, p.34-41); Assuno et al., (1993, p.13-22); Amadio
5
dizendo que qualquer desobedincia nos dedos causada por uma deficincia na
transmisso das ordens. (Kochevitsky, 1967 p.12). A posio de Kochevitsky a mesma
que a de Raif. Aquele diz que a agilidade depende mais de nossa habilidade em pensar
rpida e musicalmente, recomendando o estudo da anatomia da velocidade para que se
entenda quais so os msculos envolvidos na ao e como usar estes msculos de uma
maneira mais eficiente. Pvoas (1999, p.32) cita Ortmann, cuja opinio coincide com a de
Kochevitsky (1967, p.32), de que o conhecimento sobre o funcionamento do aparelho
muscular ativo na ao pianstica a principal ferramenta de trabalho do pianista.
A Escola Natural de Piano de Breithaupt ou Escola Fisiolgica, na primeira
metade do sculo XX precursora de uma concepo interdisciplinar no trabalho
pianstico. Um aspecto de destaque, tambm na orientao desta Escola, o
desenvolvimento da capacidade de poder controlar conscientemente os msculos,
relaxando e contraindo-os, pois a velocidade ou rapidez de movimentos uma constante
troca entre contrao e relaxamento dos msculos. Lembrando que qualquer movimento
suprfluo prejudicial execuo pianstica; a contrao deve sempre ser realizada com o
menor gasto de energia possvel.
O relaxamento absoluto outro aspecto essencial para o desenvolvimento da
velocidade. Segundo Leimer (1931, p.13), na execuo de escalas deve-se experimentar
sem interrupo a sensao de relaxamento absoluto. Assim, o aumento da velocidade de
uma obra ou trecho musical deve ser feito de uma forma gradual, aumentando-a aos
poucos com a alternncia de prticas muito lentas e cuidadosas. importante que os
movimentos sejam pensados e tocados de uma forma muito consciente. Como deve ocorrer
a preparao para uma competio ou uma prova? Nadadores ou ciclistas trabalham ao
longo de distncias consideravelmente maiores nos meses que precedem uma competio,
mas se dedicam a distncias mais prximas quelas da prova medida que esta se
aproxima. (Rasch, 1991, p.190).
Orientao equivalente indicada para os pianistas na preparao de repertrio. Na
fase inicial do estudo de um texto musical, paralelamente anlise, aconselhvel tocar-se
lentamente, pois esta uma fase de reconhecimento da partitura (fase da leitura) e qualquer
deslize pode prejudicar a realizao da pea. Em data mais prxima apresentao de um
repertrio, a velocidade j deve estar definida durante os perodos de estudo ou
(1993, p.53-58).
6
treinamento. igualmente aconselhvel que, nas datas de apresentao, sejam evitados
desgastes desnecessrios.
A velocidade do movimento pode ser prejudicada pela ocorrncia de leses por
treinamento, um fator cujo conhecimento de suas causas e conseqncias de interesse
para a rea da prtica instrumental. Segundo Rasch (1991, p. 187), as leses musculares em
conseqncia de atividade fsica exaustiva no podem ser inteiramente eliminadas, mas
com tcnicas de treinamento apropriadas, sua freqncia bastante reduzida. Uma das
tcnicas para evitar leses seria o alongamento feito no incio, no decorrer e quando o
estudo finalizado. O alongamento inclui exerccios de flexibilidade que devem reduzir,
consideravelmente, o nmero de leses. Tatz (1990, p.63), concordando com este
argumento, diz que muitos dos problemas e leses em msicos so causados por excessos
durante a prtica e que uma fase de aquecimento pode ser a preveno suficiente. Esclarece
o autor que muitos destes danos so difceis de se tratar porque muitas vezes resultam de
uso incorreto do corpo durante anos.
4- MATERIAIS E MTODOS
Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo que engloba o estudo destes e
demais fatores desempenho e a realizao de anlises qualitativa e/ou quantitativa
(procedimento experimental biomecnico) para comprovao de conexes estabelecidas
entre os fatores investigados com a ao pianstica. Anlises qualitativas e/ou quantitativas
podem apresentar elementos e subsdios para a determinao de critrios a serem adotados
na resoluo de questes tnico-musicais. So procedimentos biomecnicos, que
possibilitam a obteno de dados numricos precisos de aes fsico-musculares. Nesta
pesquisa, devero ser utilizados a eletromiografia e a cinemetria, por serem considerados
mtodos de medio adequados para a anlise da atividade pianstica.
A eletromiografia (EMG) uma tcnica que estuda a atividade neuromuscular,
permite representar graficamente a atividade eltrica do msculo em contrao (Gertz,
1997, p.42), descrever e classificar coordenaes musculares. (Araujo, 1998, p.32). A
cinemetria de alta velocidade uma tcnica de coleta de dados que permite registrar
parmetros de desempenho do movimento tais como posio, velocidade, acelerao e
deslocamento tanto linear como angular do corpo ou de seus segmentos, trajetria e curva
de acelerao de movimentos. Uma vez captadas as imagens, os dados so transformados
7
em um modelo fsico-matemtico simplificado, fornecendo medidas e outras informaes
essenciais para o aprimoramento do desempenho pianstico.
5- CONSIDERAES FINAIS.
A preveno e a resoluo de problemas que interferem no desempenho
instrumental encontram-se, em grande parte, em argumentos de reas como a ergonomia e
a fisiologia, entre outras. Este fato justifica que estudos interdisciplinares, procedimentos
experimentais com a utilizao de mtodos de anlise biomecnicos sejam realizados.
Como toda atividade que envolve movimento, fatores como rapidez, fadiga, fora
(princpio da amplitude do movimento e da recuperao) e leses por treinamento, entre
outros, interagem no desempenho pianstico.
A literatura disponvel da rea da tcnica instrumental no trata da correlao entre
estes fatores e a ao pianstica. Estudos neste sentido viro ampliar possibilidades de
pesquisa e de experimentao visando o aumento da eficincia tcnico-musical
considerando-se os fatores em estudo. Podero, igualmente, auxiliar na preveno de
leses. A interdisciplinaridade entre a fisiologia, a biomecnica, a ergonomia, entre outras
reas, coexistem com a ao pianstica.
Na fase em que se encontra a pesquisa esto sendo estabelecidas conexes entre os
fatores aqui investigados e a ao pianstica. Na seqncia, ser realizado experimento
biomecnico que contar com a participao dos grupos controle (GC) e experimental
(GE) formados por pianistas. As informaes obtidas at esta etapa serviro de
embasamento para a determinao dos protocolos experimentais.
6- REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARAUJO, Rubens Corra. Utilizao da Eletromiografia em Anlise Biomecnica do Movimento
Humano. Tese de Doutorado, Mimeo, 1998, Universidade de So Paulo, Escola de Educao Fsica
e Esporte.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Dicionrio Aurlio Eletrnico Sculo XXI.
Verso 3.0. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, MGB Informtica Ltda, 1999.FOX, Edward
L.; BOWERS, Richard W.; FOSS, Merle F.. Bases Fisiolgicas da Educao Fsica e dos
Desportos. 4. ed. Traduo de Giuseppe Taranto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1993.
GERTZ, Luiz Carlos. Desenvolvimento de Sistema: Tarefa de Digitao, Anlise Biomecnica.
Dissertao de Mestrado. UFRGS, Porto Alegre, 1997.
HALL, Susan. Biomecnica Bsica. Traduo de Adilson Dias Salles. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1993.
8
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York:
Summy-Birchard, 1967.
LEIMER- GIESEKING. La Moderna ejecucuin pianstica segn Leimer-Gieseking.
2. ed. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1931.
LEHMKUL, L. Don & SMITH, Laura. Cinesiologia Clnica. Traduo de Flora Maria
Gomide Vezz. 4. ed. So Paulo: Manole, 1989.
MAGILL, Richard. Aprendizagem Motora: conceitos e Aplicaes. So Paulo: Edgard
Blcher, 1984.
PVOAS, Maria Bernardete Castelan Pvoas. Princpio da Relao e Regulao do
Impulso-Movimento. Possveis Reflexos na Ao Pianstica. Tese de Doutorado, Mmeo,
1999, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
PVOAS, Maria Bernardete Castelan; DIETRICH, Alexandre. Ao Pianstica - Padres
e Ciclos de Movimento. In: II SEMINRIO EM PERFORMANCE MUSICAL, 2002,
Goinia.
RASCH, Philip J. Cinesiologia e Anatomia Aplicada. 7. ed. Traduo de Marcio Moacyr
de Vasconcelos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.
TATZ, Shmuel. Unwanted Physical Tension. The Piano Quarterly: N. 152, p.62-64, 1990.
WILSON, Frank R. Current Controverses on the Origin, Diagnosis and Management of
focal dystonia in Musicians. http://www.dystonia-support.org/LA-focal%20 Dystonia%
20in%Musicians.htm
Abordagens metodolgicas de uma pesquisa biogrfica com identidades
musicais: recorte de um projeto de tese
Maria Cecilia A. Torres
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Fundarte/UERGS)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
ctorres@vant.com.br
Resumo: Nesta comunicao descrevo as abordagens metodolgicas adotadas para a realizao de
uma pesquisa biogrfica acerca da constituio de identidades musicais de professoras do ensino
fundamental de uma tese de doutorado que vem sendo desenvolvida no PPGEDU da UFRGS,
na linha dos Estudos Culturais em Educao. O principal objetivo desse trabalho foi conhecer e
analisar as narrativas de si de um grupo de vinte alunas de um Curso de Graduao em Pedagogia,
a maioria tambm professora das sries iniciais, acerca das lembranas musicais significativas,
desde a infncia at a vida adulta. As opes metodolgicas escolhidas foram entrevistas, vistas no
mbito desta pesquisa no como instrumentos de captar verdades, mas como gnero discursivo,
compostas por questionrio de carter aberto, e biografias musicais, em que as entrevistadas
escreveram suas memrias. Relaciono, ainda, as memrias musicais s prticas religiosas, msicas
da escola, influncias de familiares, bem como os desdobramentos de tais lembranas nas crenas e
propostas pedaggicas.
Palavras-chave: identidades musicais, lembranas, pesquisa biogrfica
Abstract: In this communication I describe the methodological approaching adopted in the making
of a biographical research on the constitution of musical identities of Primary School teachers of a
doctorate thesis that is being developed at the PPGEDU at UFRGS, in the Cultural Studies in
Education line. The main objective of this paper was to know and analyse the self-narratives of a
group of twenty students of the Pedagogy Graduation Course, most of them also Primary School
teachers, on their significative musical memories, from childhood to adult life. The chosen
methodological options were interviews, seen in this research not as truth-capturing instruments,
but rather as a discursive gender, composed by open character questionaries, and musical
biographies, in which the interviewees wrote down their memories. I relate here, also, musical
memories with religious practices, school songs, familiar influences, as well as the developing of
those memories in beliefs and pedagogical proposals.
Keywords: musical identities, memories, biographical research
Esta comunicao o recorte de uma pesquisa de doutorado, que vem sendo
realizada junto a um grupo de vinte alunas de um Curso de Graduao em Pedagogia/Sries
Inicias, a maioria j atuando como professora do ensino fundamental de uma
Universidade na cidade de Porto Alegre/RS. Descrevo e analiso como se constituem as
identidades musicais das mesmas, atravs das narrativas de si, orais e escritas, e tambm
como so elas interpeladas e redefinidas pelos mltiplos discursos veiculados pela mdia
musical.
Outras questes relevantes referem-se aos diversos artefatos culturais utilizados
para o consumo musical, os quais esto entrelaados s lembranas musicais das alunas,
seus impactos ou desdobramentos nas crenas e propostas pedaggicas.
Nas opes metodolgicas adotadas nesta pesquisa destaco algumas questes de
pesquisa: quais so as memrias musicais que remetem aos momentos da infncia e da
adolescncia? Quais so as msicas preferidas para cantar, danar, tocar e ouvir? Quais so
as lembranas da msica e as relaes com as prticas religiosas? Que discursos e prticas
familiares e escolares foram incorporadas nas suas escolhas em termos de preferncias e
audincia? Quais os impactos ou desdobramentos de tais lembranas nas suas crenas e
propostas pedaggicas?
Biografias musicais: narrativas e lembranas
Gosto de pensar que, em todos os momentos significativos da minha vida, a msica sempre
se fez presente. Parece-me que, ao recordar certas vivncias minhas, remotas ou atuais,
indissociavelmente me lembro da sonoridade caracterstica de tais situaes. Creio que seja
essa memria auditiva, to heterognea e formada por tantas variedades, estilos e sons,
que me torna uma pessoa apaixonadamente envolvida com a msica, mesmo sem dominar a
arte de cantar, tocar ou falar (tecnicamente) sobre ela ( Yasmin, 2002).
Meu objetivo em eleger a abordagem da pesquisa biogrfica, atravs das biografias
musicais, para compor este trabalho, est entrelaado s preferncias musicais, memrias,
dolos e artistas, melodias e prticas musicais cotidianas. Para embasar essas abordagens
metodolgicas, busquei autores como Bryman (2002), Goodson e Sikes (2001), e Pais
(2003), dentre outros, que possibilitam a discusso, anlise e organizao dos dados ao
longo desta pesquisa.
Holly (1995) trabalha com biografias e dirios, justificando suas razes para
escolher e desenvolver esse tipo de pesquisa e explicando como nos sentimos em relao a
esta abordagem, afirmando que esta idia de termos parte do nosso tempo ocupado com a
tarefa de escrever uma autobiografia pode parecer uma satisfao pessoal ou mesmo um
luxo. A autora questiona se escrever sobre os fatos da vida cotidiana de professoras seria
considerado um tema de relevncia, destacando que, quando as professoras comeam a
escrever sobre suas vidas, entrelaando vida e carreira, parece ser uma viagem de
descobertas, com muitas dvidas e incertezas, mas, ao mesmo tempo, algo educativo e
desafiador.
Na perspectiva de Smith (1994, p.286) o escrever sobre a vida vem com muitos
rtulos: retratos, memrias, histrias de vida, estudos de casos, biografias, jornais, dirios e
mais e mais cada uma com suas perspectivas e diferenas a serem consideradas. Ela
enfoca o domnio geral das biografias pessoais, sugerindo que escrever deveria significar
refletir as vozes (em primeira pessoa) e a polifonia, complementando que a autobiografia
uma maneira de escrever a vida e o trabalho (profisso), devendo estar ligada s narrativas,
dentro do contexto de escrever sobre a vida.
Ferres (1994), Smith (1994), Heilbrun (1999), Fontana (2000) e Fischer (2001) so
algumas das autoras que pesquisam sobre recuperao e interpretao de vidas de
mulheres.
Heilbrun (1999), em sua pesquisa envolvendo a memrias de mulheres,
comenta que:
Olhando para as memrias escritas por mulheres hoje, ns encontramos imediatamente
vrias questes e assuntos dividindo com nfase (essas narrativas). No passado, algum s
escrevia uma autobiografia ou memrias se fosse famoso. Agora, nesse momento, as mais
significativas memrias so escritas por vrios autores desconhecidos (p.46).
Para Nvoa (1995), em sua obra Vida de professores, o processo que envolve
identidades narradas de professores vem sendo assunto de vrios debates e estudos nos
ltimos anos, e ele analisa as diferenas entre as narrativas de um eu pessoal e de um
eu profissional. Nvoa articula as histrias de vida e as autobiografias de professores com
um tipo de metodologia que trabalha com pesquisa biogrfica.
Um outro enfoque vem de Richards (1998), que discute identidades musicais de
jovens e as conexes das mesmas com estudos da mdia atravs de entrevistas com
professoras que narram suas histrias. Ele ressalta que a colaborao das professoras no
dilogo importante para desenvolver esta pesquisa e que os elementos que constituram as
autobiografias so muito mais do que apenas narrativas e histrias, justificando, dessa
maneira, por que elas so fundamentais para esse trabalho.
Meu argumento tambm que qualquer pesquisa tem algo de submerso na histria de vida
dos envolvidos e o que move uma pessoa a fazer uma certa pesquisa so as histrias
individuais no processo de identificao, que o pesquisador sempre divide com aqueles que,
inevitavelmente, tem o status de outros. (Richards, 1998, p.19).
As entrevistas e as entrevistadas
A msica faz parte da minha vida desde a minha infncia, meu pai era msico, tocava
instrumento de sopro. Na minha infncia eu gostava de bailados, de msicas que envolviam
brincadeiras na hora do recreio, hinos ptrios, etc... Ainda adolescente fui morar num
internato para estudar. A as amigas que conquistei gostavam de Roberto Carlos, Ronnie
Von e eu tambm comecei a gostar destas msicas da Jovem Guarda. (Madalena, 2002).
Para o desenvolvimento das entrevistas, no contexto desta pesquisa, busquei autores
como Arfuch (1995) que prope algumas questes de fundo para esta opo metodolgica
como: de quantas maneiras se conta uma vida?, Qual dos outros (do entrevistador)
convocado pelo investigador? e Qual das vidas possveis o entrevistador vai ajudar a
tecer no relato? (p.3). A autora complementa que as entrevistas so um gnero discursivo e
no devem ser vistas como um momento de captar verdades.
Ainda em relao ao tema das entrevista, Silveira (2002) destaca que:
Se j falamos da situao de entrevistas, problematizando seu status revelador de verdade,
partejador de dados, a outra face dessa viso a do uso e leitura das prprias entrevistas
tambm chama a nossa ateno. Enfim: se as entrevistas no nos revelam as verdadesque
tanto buscamos, o que fazermos com elas?(Silveira, 2002, p.134).
Ao refletir sobre as indagaes de Arfuch e Silveira ao longo das entrevistas e,
especialmente no momento de iniciar as anlises do material coletado, encontro nas idias
de Larrosa (1996) um entendimento que permeia minhas reflexes e auxilia no
delineamento das identidades musicais das entrevistadas.Larrosa destaca que: nossa
histrias so muitas histrias... Em primeiro lugar, porque nossas histrias so distintas a
quem as contamos(1996, p.474).
Quem so as entrevistadas?
No muito difcil para mim perceber o quanto a msica fez e faz parte da minha vida,
marcando pocas, momentos, trazendo recordaes. Falo isso pois muitas vezes sei a idade
que eu tinha quando algum fato ocorreu por lembrar das msicas que eu costumava ouvir
tocando nas rdios e fazer relao com o ano da escola que eu estava cursando. Assim,
lembro que a msica Repetition, do grupo Information Society, tocava entre os anos de
1989 e 1990; que a msica Enjoy the silence, do Depeche Mode, tambm fez sucesso nessa
mesma poca, etc. (Gisele, 2002).
Trabalhei com um grupo de 20 mulheres, todas alunas de um mesmo Curso de
Graduao em Pedagogia, numa Universidade em Porto Alegre/RS, nascidas no Rio
Grande do Sul, entre os anos de 1947 e 1981. Esse grupo constituiu-se como o corpus do
trabalho atravs de uma breve conversa comigo acerca do projeto, durante os encontros de
Educao Artstica/Educao Musical com duas turmas diferentes, onde a professora
da
disciplina cedeu espao para que eu apresentasse a pesquisa, explanasse as opes
metodolgicas e fizesse o convite para aquelas alunas que quisessem e pudessem participar
do trabalho.
Ao final da explanao, organizei uma lista em que as interessadas colocaram os
nomes, telefones, e-mails e as possibilidades de horrios para a realizao das entrevistas.
O local para a realizao das mesmas foi o prprio prdio da Faculdade de Educao, por
oferecer maior mobilidade para as entrevistadas.
As entrevistas envolviam um pequeno ritual, em que cada aluna lia o termo de
consentimento, preenchia, assinava, esclarecia alguma dvida e ficava com uma cpia.
Havia o roteiro com as questes de pesquisa, e a entrevista era gravada e posteriormente,
transcrita. Nesse momento, solicitava as biografias musicais, pedindo que organizassem as
narrativas do que lembravam, pois no havia um formato, nmero de pginas ou regras a
seguir. A entrega do material poderia ser feita por escrito ou em formato digital.
Conforme o material ia sendo coletado, percebi que precisava voltar sala de aula e
pedir que as alunas escolhessem um nome pelo qual gostariam de ser identificadas na
pesquisa, pois teriam seus nomes e identidades reais preservados ao longo do trabalho, nos
excertos de falas e trechos das biografias. Foi um momento importante como pesquisadora,
pois pude conhecer os diferentes motivos que levaram as alunas a escolher esses outros
nomes, dentre eles o fato de gostarem do mesmo, de fazerem associaes entre eles e
personagens de livros, artistas ou pessoas amigas. ficando assim o grupo composto por
Aline, Ana, Beatriz, Capitu, Carolina, Eva, Fernanda, Gisele, Isabela, Joana, Liliane,
Madalena, Manoela, Mrcia, Margarete, Milena, Roberta, Sofia, Viviane e Yasmin.
Em relao aos nomes escolhidos pelas entrevistadas para a tese, trago o comentrio
de Pais (2003) em sua obra sobre a vida cotidiana, na qual o autor pontua que:
O nome uma denominao distintiva pela qual se conhece uma pessoa. Um nome pode
revelar muitas coisa, tanto de quem o atribui como de quem o porta. De que maneira as
pessoas reagem tentativa de fixarem a sua identidade por antecipao atravs de uma
nome/ Que sentimentos de indiferena, rejeio ou aceitao desenvolvem ao nome que
tm? (2003, p.12).
Pais ressalta abordagens relacionadas questo identitria e aos nomes das pessoas,
possibilitando desta maneira, uma aproximao com o momento da pesquisa de
autonomeao das alunas.
Nesta fase do trabalho, com os dados j coletados, o material constitu-se por vinte
entrevistas gravadas e transcritas, que abordam dados de identificao como ano e local de
nascimento, escolaridade, hbitos e preferncias musicais, discursos e prticas familiares,
perfazendo um total de nove questes, que, juntamente com as biografias musicais,
completam o corpus dessa pesquisa. Atravs das anlises das narrativas orais e escritas
organizei um quadro com aspectos musicais de cada entrevistada e, desta maneira, comeo
a esboar e delinear as identidades musicais.
Ao ler e buscar destacar os achados musicais que emergiam daquelas narrativas
senti necessidade de organizar questes para nortear o trabalho: como proceder anlise
deste vasto material coletado atravs das entrevistas e biografias musicais desse grupo de
alunas? Quais os materiais que devo priorizar e destacar para organizar para o texto? Como
sistematizar esse trabalho? Que autores escolher para fundamentar a discusso terica na
perspectiva de uma anlise cultural?
Listei essa questes, sem a inteno de responder a todas e de uma nica forma, mas
na proposio de buscar caminhos de pesquisa que auxiliem a delimitao das anlises e
algumas consideraes.
Finalizando este texto, gostaria de ressaltar que o desafio desta pesquisa est sendo
analisar e organizar essas narrativas e biografias musicais de maneira polifnica, intensa e
instigante. O trabalho vem interpelando em muitos momentos a minha identidade musical
ao buscar, atravs das narrativas de si deste grupo de alunas, conhecer e perceber as letras
das msicas, as melodias cantadas, as vozes sussurradas, as biografias escritas, as
coreografias e movimentos dos corpos, os programas preferidos, as influncias familiares,
os dolos e as lembranas da vida. Penso esta pesquisa, na perspectiva dos estudos culturais,
como uma condio de possibilidade para algumas articulaes entre as reas da Educao
Musical e da Pedagogia, na tentativa de conhecer e mapear as identidades musicais de um
grupo de professoras do ensino fundamental e os entrelaamentos com suas crenas e
propostas pedaggicas.
Referncias Bibliogrficas
ARFUCH, Leonor. La entrevista, una invencin dialgica. Buenos Aires: ediciones Paidos,
1995.
ARFUCH, Leonor. Figuras del desplazamiento: migrants, viajeros, turistas. In: Revista
Sociedade, Buenos Aires, septiembre, 2001.
BRYMAN, Alan. Biographical research.Buckingham: Open University Press, 2002.
BEN-PERETZ, Miriam. Episdios do passado evocados por professores aposentados.
In:NVOA, Antonio. Vidas de Professores. Porto: Porto Editora, p.199-214, 1995.
FERRES, Kate. The paradox of woman: Problems of feminist biographer. In: FERRES,
Kate. Gender Representations in The Arts. Queensland: Griffith University Press, p.43-51,
1994.
FISCHER, Beatriz Daudt.O Poder que assujeita o mesmo que se faz desejar. Disponvel
em: < http: www.unisinos.com.br, UNISINOS, 2001.
FONTANA, Roseli Cao. Como nos tornamos professoras? Belo Horizonte: Autntica,
2000.
GOODSON, Ivor; SIKES, Pat.Life history research in educational setting. Buckingham:
Open University Press, 2001.
HEILBRUN, Carolyn. Womens lives The view from the Threshold. Toronto: University
of Toronto Press, 1999.
LARROSA, Jorge.. La experiencia de la lectura. Barcelona :Laertes, 1996.
PAIS, Jos machado. Vida cotidiana: enigmas e revelaes. So Paulo: Cortez editora,
2003.
RICHARDS, Chris. Teen Spirits Music and Identity in Media Education. London: UCL
Press, 1998.
RUSSEL, Helen. Signs on the box. In: PARKER, Ian. The Bolton Discourse Network.
Critical Textwork: an introduction to varieties of discourse and analysis. Buckingham;
Philadelphia: Open University Press,p.92-102, 1999.
SILVEIRA, Rosa Maria. A entrevista na pesquisa em educao. In: COSTA, Marisa
Vorraber (org.). Caminhos investigativos II. Rio de janeiro: DP&A editora, 2002.
SMITH, Sidonie. Subjectivity, Identity, and the body. Bloomington: Indiana University
Press, 1993.
Pedro e o Lobo - musicoterapia com crianas em quimioterapia
Maria Elena Schmitt Soares Gallicchio
Hospital So Lucas
Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)
mgallicchio@cpovo.net
Resumo: Este trabalho foi realizado no Hospital So Lucas da PUCRS, Brasil, com 10 crianas em
tratamento quimioterpico, durante 6 meses. Objetivo: propiciar a melhora do estado de nimo
felicidade em oposio tristeza resultando em melhor aceitao do tratamento. As sesses foram
realizadas na sala de musicoterapia, enfermaria, quarto de isolamento e UTI. Tcnicas: re-criao
musical; improvisao livre e orientada; audio musical; composio musical; criao de histrias
cantadas; jogos rtmicos e sonoros. Atividades: canto; execuo instrumental; dana livre e movimentos
corporais; audio de CDs e instrumentos musicais; exerccios de descontrao e relaxamento. Para
avaliao do estado emocional foi utilizada a Rgua PAS, "Pain Assessment Scale". Concluso: a anlise
dos dados coletados revela que, antes da sesso, as crianas apresentavam 69% de nimo positivo, depois
93%. Pais e familiares reportam que antes o estado de nimo 60% positivo e, depois, 83% positivo.
Palavras-chave: musicoterapia quimioterapia, criana.
Abstract: This work was developed at So Lucas Hospital - PUCRS, Brazil, with 10 children under
chemotherapy, during 6 months. Objective: improving their mood happiness in opposition to sadness,
for better treatment acceptance. The sessions occur either in the Music Therapy room, nursing room,
isolation room or in the ITC. Techniques: musical re-creation; free and guided musical improvisation;
music listening; composition; sung stories creation; rhythmic and sound games. Activities: singing,
playing instruments, free dancing and body movement, CDs listening, relaxation, graphic representations
of music experiences. To evaluate the emotional state, I use the "PAS Ruler" (Pain Assessment Scale) an
instrument for the psychological self-evaluation identified by self-portraits. Conclusion: analysis of
collected data revealed that before the session the children presented a rate of 69% positive mood;
afterwards, 93% positive. Parents or relatives state that before the treatment, the children were 60%
positive and afterwards 83% positive.
Keywords: music therapy, chemotherapy, child.
PEDRO E O LOBO
Pedro com seus seis anos completos
e... sua espingarda de rolha carregada
foge, enquanto seu av dorme,
aventurando-se pela floresta.
Vai acompanhado de seus amigos
Sacha o passarinho
Snia a pata
e Ivan o gato.
Este grupo intrpido sai...
...para caar o Lobo.
O encontro no tarda.
Snia parece ter sido engolida pelo Lobo
enquanto Ivan e Sacha
ajudam Pedro a preparar uma armadilha.
Os caadores aproximam-se
e conseguem caar o Lobo
preso na armadilha de Pedro.
De Snia, s resta uma peninha voando pela neve.
Pedro e seus amigos saem em desfile pela cidade,
carregando junto com os caadores
o Lobo dominado.
Pedro do poema sinfnico de Prokofiev, a criana que tem coragem.
Acreditamos que cada criana tem dentro de si um Pedro, que capaz de dominar
o Lobo que a ameaa.
INTRODUO
A quimioterapia uma arma poderosa contra a doena, mas as reaes que ela provoca so
extremamente agressivas ao ser humano. O adulto tem uma idia do que ocorre com seu
organismo em tal situao, mas o tratamento e suas consequncias so muito mais ameaadores
para a criana que no tem entendimento do que se passa com seu corpo. Isto, nos levou s
reflexes de autores que acreditam na capacidade do crebro em alterar a qumica do corpo (1),
produzindo substncias que eliminam ou atenuam a dor como encefalinas e endorfinas,
substncias que esto presentes no ser humano saudvel. Tambm bem conhecida a capacidade
do crebro de intensificar alteraes qumicas quando h vontade de viver (1, 2, 3, 4). Justamente
por isso a musicoterapia est cada vez mais presente nos centros de tratamento oncolgico-
peditrico j que seus efeitos teraputicos so vistos como transformadores do estado fsico e
emocional dos pacientes, dando criana oportunidade de expressar suas necessidades, desejos,
medos e solido (5,6,7).
Acreditamos que a musicoterapia v o ser humano como um todo, onde o corpo e mente, psique
e soma, matria e esprito formam um todo indivisvel (8). Segundo a Organizao Mundial de
Sade, sade "um estado de total bem estar fsico, mental, e social, e no meramente a ausncia
de doena ou enfermidade"(9). Acreditamos tambm, que a msica em musicoterapia o
principal agente na busca da melhora desse bem estar do paciente. A Msica trata, a msica o
terapeuta (10).
MATERIAL E MTODOS
Este trabalho foi realizado no Setor de Pediatria do Hospital So Lucas da PUCRS. Durante seis
meses foram avaliadas dez crianas em tratamento quimioterpico na faixa etria de 1 ano e seis
meses a quatorze anos de idade.
O principal objetivo foi:
Propiciar a melhora do estado de nimo felicidade em oposio a tristeza - das crianas em
tratamento quimioterpico.
A primeira parte do processo musicoterpico foi realizada em uma visita as crianas e seus
familiares. Nesta ocasio, diziamos o que e quais so os objetivos da musicoterapia.
Faziamos com a criana e a seu respeito, por seu responsvel a avaliao do seu estado
emocional, utilizando a Rgua PAS ( Pain Assessment Scale) (11).Esta avaliao era repetida
antes e depois de cada sesso.
A testificao musical, uma investigao para conhecer aspectos da identidade sonora da criana,
foi realizada na sala de musicoterapia ou onde se encontrava a criana.
A durao da sesso, era planejada de acordo com a faixa etria da criana. O atendimento foi de
duas vezes por semana.
Os instrumentos utilizados foram: instrumentos de percusso; metalofone ; xilofones; toca-
fitas/CD; flauta-doce; gravadores.
Tcnicas Musicoterpicas: re-criao musical ; improvisao musical livre e orientada; audio
musical; composio musical; criao de histrias cantadas; jogos rtmicos e sonoros.
Atividades : canto; execuo instrumental e corporal; utilizao do corpo atravs da dana livre e
movimentos corporais; audio de fitas, CDs e instrumentos musicais; exerccios de
descontrao e relaxamento; representao grfica das criaes musicais.
As sesses musicoterpicas foram realizadas em atendimento individual ou em grupo na sala de
musicoterapia, na Enfermaria, quarto de isolamento ou UTI.
A sesso geralmente iniciava-se pelo manuseio dos instrumentos musicais. Houve momentos em
que a esses instrumentos musicais foram atribudos outros significados que no o seu prprio
sonoro, como no caso de C, 4 anos, leucemia.
C. na dcima terceira sesso colocou o tringulo como um trip, sua baqueta como se fosse um
espeto e comeou a "assar um churrasco" como seu pai fazia em sua casa. A cano que
cantvamos era "Minha Casinha". Numa sesso bastante posterior, em que C. estava
acompanhado por seu pai, C. colocou os tringulos sobre o metalofone e pediu para cantarmos
"Minha Casinha". Num determinado momento, ele disse que no queria mais cantar. Voltou-se
para seu pai e comeou a falar.
Falava num tom triste, sem prestar a menor ateno nossa presena. Este menino de 4 anos,
falou sobre quando foi internado, depois do seu aniversrio. Falou que nesta ocasio no podia
mais caminhar pela forte dor nas pernas, sobre a dificuldade em comer e falar por causa das
feridas em sua boca e no nariz. Do quanto estava triste pela necessidade de permanecer mais
tempo hospitalizado. Da quimioterapia que era "ruim", das dores que provocava.
Seu pai surpreso disse que ele nunca lhe havia falado assim, com tanta intimidade, tantos
detalhes e to demoradamente. Expondo uma srie de fatos que ele, desconhecia.
Acreditamos que, a cano provocando de forma ldica o jogo de "faz de conta" transformando o
significado dos instrumentos musicais, foi o que levou este menino a poder verbalizar, de forma
to clara, tantos e to antigos sofrimentos. Isto ocorreu seis meses aps sua internao.
Observamos tambm que a relao com os instrumentos musicais provocou nas crianas uma
curiosidade por outros, do seu conhecimento, mas no existentes no Hospital. Como foi o caso
de D., e F., que conseguiram teclados emprestados com seus familiares. Nenhum dos dois sabia
como toc-los.
F., 9 anos, linfoma, tinha o nome das notas escrito em fita adesiva colada nas teclas do teclado.
Pediu para que escrevssemos a sua cano preferida conforme a solfejvamos. Desta forma ele
conseguiu toc-la. Depois desta, outras canes tambm foram aprendidas. Percebemos que isto
elevava sua auto-estima dando um outro significado sua internao hospitalar. Por exemplo,
quando chegavam suas visitas ele tocava para elas e comentava que estava no hospital, mas tinha
"aulas de msica". Ele no estava ali s na condio de paciente mas estava fazendo msica.
O canal de comunicao estabelecido com a msica, muitas vezes foi alem do que prevamos,
como nos casos de W. e F. .
W. havia feito 5 sesses quando sofreu uma parada cardaca entrando em coma. A partir de ento
passamos a realizar com ele, na UTI um maior nmero de atendimentos semanais. Realizvamos
sesses de audio. Utilizamos inicialmente a gravao de uma msica criada por ele para
metalofone. Posteriormente as canes folclricas, que haviam sido trabalhadas com as outras
crianas durante as sesses. Seus pais trouxeram diversas fitas cassete, de msica popular, que
ele costumava ouvir em casa. Passamos a utilizar tambm estas gravaes durante as sesses. Ele
melhorava muito lentamente. Depois da 14 sesso, abria os olhos, mas tinha as pupilas muito
dilatadas e sem movimentos. Durante as sesses cantvamos junto com as gravaes e batamos
o ritmo ou a pulsao das msicas ora na palma de sua mo, ora no seu brao. Falvamos com
ele encorajando-o, fazendo aluso s sesses realizadas na sala de Musicoterapia e nas canes
ali cantadas . Depois de desligado o respirador artificial foi transferido para um quarto em
isolamento. Nesta poca (31 sesso) percebemos que, algumas vezes, quando desligvamos o
gravador ele piscava. Passamos a insistir com ele, fazendo-lhe perguntas que, deveriam ser
respondidas em sinal afirmativo com um piscar de olhos. Percebemos que este procedimento em
muitos momentos funcionou, nos permitindo um contato com a parte de seu crebro no
danificada. Segundo os mdicos, seu estado logo aps a parada cardaca, estava muito prximo
de uma morte cerebral e posteriormente de um estado vegetativo. Entretanto, o fato dele piscar,
numa tentativa de comunicao, observado por ns, por sua me, por enfermeiras e mais de uma
vez pela fisioterapeuta, nos leva a acreditar que existiu com a msica uma mobilizao da
energia, que segundo Jung chamada de vital e que atinge a relao entre "corpo e alma" ( 12 ).
No caso de F. na 19 sesso estava com uma cirurgia de emergncia marcada para a hora
seguinte, estava com duas enfermeiras e os pais, chorava muito. Tinha as unhas e a pele da ponta
de seus dedos muito rodos, quase em carne viva. Quando F. nos viu disse que queria a msica
do "Desacansinho". Apelido colocado pelas crianas nas msicas de Debussy utilizadas nos
relaxamentos. Durante esta atividade ele parou de chorar, fechou os olhos mas no dormiu.
Depois de algum tempo pediu as canes folclricas j trabalhadas. Cantvamos e tocvamos
caxixis junto com a gravao. No final da sesso F. nos pediu para ficar com o gravador e as
fitas. Na sesso seguinte F. estava em isolamento na UTI. Tinha muitos hematomas em
decorrncia de hemorragias pela baixa de plaquetas. Demonstrou satisfao ao nos ver e pediu
pela msica do "Descansinho". Logo aps pediu "as outras msicas", - canes folcricas. Sua
postura sobre a cama era de relaxamento. F.teve mais duas sesses. Nestas duas, estava entubado
e sedado, mas mesmo assim, atravs dos batimentos cardacos e pela expresso fisionmica,
percebamos o efeito tranqilizante que a msica lhe proporcionava. Na ltima sesso ele tinha
uma gaze entre os dentes que sangravam constantemente, durante a sesso ele foi relaxando ao
ponto de entreabrir os lbios no forando mais os dentes sobre a gaze. Acreditamos que o canal
de comunicao estabelecido com a msica, no s com o externo mas tambm com o interno,
proporcionou a esta criana, tambm nos momentos em que estava sedada, nos ltimos dias de
sua vida, paz e tranqilidade.
Entre as diversas msicas utilizadas nas sesses de Musicoterapia, algumas se destacaram.
Ousaremos, uma breve anlise, assim como levantar hipteses a respeito da simbologia
encontrada nas suas letras e nos seus elementos musicais. Podemos citar como mais presentes
nas sesses as canes folclricas "Pretinho Barnab", "Bambalalo" e "Minha Casinha". Estas
trs canes esto no modo maior em compasso binrio simples. Em atividades de expresso
corporal, com crianas saudveis realizadas em outros ambientes percebemos que para a
identificao do modo maior e menor, a criana, mesmo sem conhecimento musical, e, em tenra
idade, expressa alegria e tristeza atravs da postura e expresso fisionmica associados aos
modos. O compasso binrio simples corresponde ao ritmo mais prximo do ser humano, assim
como est presente na natureza. Ou seja, reconhecemos o ritmo binrio na respirao da pessoa
acordada, na pulsao, no caminhar, no dia e na noite.
A cano "Pretinho Barnab" fala de algum que mesmo de p quebrado no se abate, no se
entrega. Esta mensagem positiva de fora revitalizadora encontrada na letra est numa melodia
ascendente sobre o acorde perfeito maior. O ritmo binrio simples subdividido em colcheias.
Existe uma acentuao rtmica por uma colcheia pontuada no alto da linha meldica. A
combinao destes elementos age como estimulao a um estado de alegria o que confirmado
pelo depoimento das crianas: " alegre", "d vontade de danar".
"Bambalalo" no incio fala de um cavaleiro que "capito", est no comando, "espada na cinta
ginete na mo", destemido com sua espada e tem o controle do "cavalo" na mo.Logo aps fala
na Lua. Ela simboliza a dependncia e o princpio feminino, assim como a periodicidade e a
renovao. Todo este simbolismo apesar de no estar consciente na criana age de forma a
fortificar a sua esperana , abrindo uma perspectiva de vida no futuro. O andamento moderado.
Na primeira parte desta cano existe uma repetio do intervalo de 4 justa formado pela tnica
e dominante num movimento descendente/ascendente, como o prprio embalar na cano de
ninar. A repetio do intervalo de 4, parece provocar na criana um certo recolhimento, uma
certa introspeco. Se a primeira parte da cano for repetida pode ser cantada em ostinato para a
segunda. So duas linhas meldicas que seguem juntas, distintas, mas em harmonia, cada qual
com seu simbolismo e sua fora. Acreditamos que, pela combinao destes elementos foi to
cantada pelas crianas.
"Minha Casinha" o mundo no qual a criana vive. Remete a sua vivncia no seu lar. A
combinao do ritmo e melodia resulta numa cano classificada por elas como "alegre". Para a
criana hospitalizada falar de sua "casa", dos seus animais de estimao, dos seus objetos
preferidos, seus brinquedos uma forma de minimizar a falta que deles sente, trazendo atravs
da msica estes elementos ausentes. Nesta cano, como nas outras, foi sugerido s crianas
criarem uma nova letra expressando o que gostariam de ter na "sua casinha". Acompanhamos um
nico caso em que uma criana no se remete a sua casa, mas sim ao ambiente do prprio
Hospital. I. 5 anos, leucemia, estava sempre irritada, choramingando e gritava muito. Na sua
ltima sesso, I. colocou na sua "casinha" um piano, como ela se referia ao metalofone , dois
pandeiros e dois chocalhos. Percebemos atravs da sua participao que ela estava alegre e
integrada naquele momento. I. faleceu depois desta sesso, o que nos leva a pensar que esta
menina intuitivamente sabia que no voltaria para sua casa . Na sua "casinha" utilizou s
elementos presentes no ambiente atual.
Para o "Descansinho" utilizamos na maioria das vezes as msicas de Debussy. Acreditamos que
os elementos caractersticos da msica deste compositor como: o abandono das formas
tradicionais; a supresso da simetria musical; a relaxao do ritmo; geralmente, provocavam nas
crianas reaes mais ou menos previsveis do seu estado de nimo, como por exemplo uma
sensao de liberdade de imensido. A utilizao de quartas e quintas paralelas, como um retorno
ao antigo, parecia provocar nas crianas a tranqilidade do conhecido, mesmo elas no tendo
nenhuma informao sobre o assunto. Podemos resgatar aqui o conceito de arqutipo de Jung. A
linha meldica das msicas de Debussy, geralmente em pequenas frases e melismas, com a fora
da dinmica, parecia resultar para as crianas num inflar-se e num esvasiar-se, num movimento
repetitivo, num respirar profundo, levando-as a um estado de relaxamento que, ousamos dizer,
favorecia a elaborao de contedos internos durante o processo musicoterpico. Acreditamos
tambm, pelo que foi muitas vezes relatado pelas prprias crianas, que as msicas de Debussy ,
geralmente resultaram para elas num espao vago, indefinido, um espao propcio as suas
fantasias, em sentimento nem sempre otimista, mas que lhes permitia um reencontro do prprio
eu, num espao distante, de forma vaga e muito tranqila.
CONCLUSO
Em relao aos objetivos propostos constatamos que: as crianas que apresentavam um estado de
nimo depressivo, muitas vezes demonstrado pelo choro, por no quererem abandonar o leito,
por no quererem conversar com ningum, no decorrer dos trabalhos revelaram que a
musicoterapia foi o agente que permitiu mudanas positivas quanto a este mesmo estado de
nimo. Esta mudana foi verificada: pela nossa observao; registro fotogrfico; relato de
familiares e equipe de sade; e principalmente pela prpria criana e a seu respeito, por seu
responsvel, na avaliao PAS a qual submetida a clculos nos aponta o seguinte resultado:
crianas antes da sesso de Musicoterapia apresentavam um indce de sessenta e nove por
cento de amplitude do estado de nimo positivo,
depois- noventa e trs por cento deste mesmo estado.
Pais ou responsveis, a respeito da criana: antes sessenta por cento do estado de nimo
positivo, depois oitenta e trs por cento deste mesmo estado.
A expectativa por parte da criana pela sesso de Musicoterapia cresceu medida que o trabalho
se desenvolveu. Tanto que muitas delas alm de contarem os dias que faltavam entre uma sesso
e outra solicitavam cpia das gravaes das msicas trabalhadas e da prpria sesso em que
participavam, como uma maneira de conservarem e prolongarem aqueles momentos
considerados por elas como "preciosos".
Observamos que o desconforto, dores, nuseas, dificuldades de locomoo e movimentos
tolhidos ocasionados pela constante aplicao de soro e medicamentos quimioterpicos, em
nenhum momento foram empecilhos, apesar de estarem presentes durante as sesses. Como
quando Cris, 4 anos e A., 6 anos, com diagnstico de leucemia, brincaram de roda cantada com o
suporte para soro entre elas. As dificuldades advindas do tratamento quimioterpico, se diluiam
no prazer de fazer msica.
O relaxamento com msica muito contribuiu para a liberao de tenses como nos casos j
relatados. E constatamos, que embora dirigido criana e atingindo-a ao ponto de adormec-la,
quando realizado na presena dos familiares a estes tambm, geralmente atingiu. Assim como o
medo, ansiedade e a angustia das crianas contagiavam seus familiares, o mesmo aconteceu com
a tranquiliadade e o alvio de tenses. O entregar-se ao momento presente provocado pelo
relaxamento com msica, parece-nos que tendeu a elaborao talvez inconsciente dos contedos
internos da criana. Quando a prpria doena passa a ser integrada ao desenvolvimento de sua
vida e no mais contra o desenvolvimento da mesma.
A participao das crianas nas sesses em grupo, levou-as ao contato entre elas numa situao
prazerosa. Isto foi verificado geralmente, pela maneira alegre e descontraida com que trocavam
os instrumentos musicais, como participavam das atividades propostas, respeitando o trabalho
uns dos outros e permanecendo at o final ou prolongando as sesses.
Pela maneira como evitavam qualquer interferncia constatamos que geralmente, nos momentos
em que a criana estava fazendo msica ela sentia-se dona de seu corpo e do seu tempo.
CODA EPLOGO
Em vista dos resultados alcanados, acreditamos no valor significativo da msica na melhora do
estado de nimo de crianas em tratamento quimioterpico. Assim como Cris, que quando
acordava durante a noite na Enfermaria cantava "Bambalalo", para embalar o prprio sono e
afugentar seu Lobo, e, como na histria de Pedro e o Lobo do folclore russo, Pedro, Sacha e Ivan
o dominaram, mesmo que Snia tenha sido engolida por ele, acreditamos, que juntos podemos
dominar o cncer e os efeitos nocvos de seu tratamento utilizando a musicoterapia para
fortalecer o Pedro que existe em todos ns.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
1. LeShan, L. O Cncer Como Ponto de Mutao. So Paulo: Summus, 1992.
________, Brigando Pela Vida. So Paulo: Summus, 1994.
2. COUSINS, N. In: LeShan. Brigando Pela Vida: Aspectos Emocionais do Cncer. So
Paulo: Summus,1994.
3. SIMONTON, C. O. et alii. Com a Vida de Novo. So Paulo: Summus, 1987.
4. MARANTO, C.D & SCARTELLI, J.P. A Msica no Tratamento de Disturbios
Imunolgicos . In: International Society for Music in Medicine. St. Louis, n.6313, 1990.
5. BAILEY, L.M. The effects of live music versus tape-recorded music on hospitalized
cncer patients.Music Therapy,1983,v.3, n.1, 17-28.
____________. The use of song's in Music Therapy with cancer patients and their
families. Music Therapy, 1984, v.4, n.1, 5-17.
6. BRODSKY, W. Music Therapy as an Intervention for Children with cancer in isolation
rooms. Music Therapy, 1989, v.8, n.1, 17-34.
7. FROEHLICH, Dr. MARY R. Music Therapy with hospitalized children: A Creative
Arts
Child Life Approach. Cherry Hill, Jefrey Books, 1996, p.39
8. BENENZON, R. Teoria da musicoterapia. So Paulo: Summus, 1988.
9. NASSETTI,P. O que voc deve saber sobre Cncer.So Paulo:Editora Martin
Claret,1999.
10.BRANDALISE,A. Musicoterapia msico-centrada Linda -120 sesses.Apontamentos
Editora. So Paulo, 2001.
11. KIPPER,D.J.Exame da Validade de Instrumentos de Avaliao de Dor em Crianas.
Tese de Mestrado. Ps Graduao,Faculdade de Medicina da PUCRS. Porto Alegre, RS.
Abril de 1996.
12. JUNG,C.G. A Energia Psquica. Volume VIII/1. Petrpolis: Vzes, 1994.
1
A obra de Henry Cowell como pea chave do repertrio pianstico do
sculo XX
Maria Helena Maillet Del Pozzo
1
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
hpozzo@uol.com.br
Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior sobre aspectos de anlise da
Indeterminao na Msica Brasileira Contempornea para Piano. O objetivo deste trabalho
investigar as caractersticas da produo pianstica do compositor Henry Cowell que se relacionem
com aspectos abordados nesta pesquisa. Desta maneira, o presente texto discutir as inovaes
referentes ao emprego de novos smbolos de notao na obra de Henry Cowell, em especial o
desenvolvimento da notao de clusters. Alm disso, abordar a utilizao de novos recursos
sonoros do piano e a aplicao de novas tcnicas de execuo do instrumento. Sero comentados
tambm aspectos de indeterminao presentes na sua obra. A metodologia abrangeu desde a leitura
do livro New Musical Resources de autoria do prprio compositor, at o estudo de partituras e a
escuta de CDs. Na concluso ser ressaltada a importncia de Henry Cowell no desenvolvimento
do repertrio pianstico do sculo XX.
Palavras-chave: msica contempornea, notao, repertrio pianstico.
Abstract: This essay is part of a larger research about Indeterminacy in Brazilian Contemporary
Music for Piano and its goal is to investigate some features aspects of piano in the work of Henry
Cowell that should be connected. Thus, this text will discuss innovations concerning about the use
of new symbols of Cowells notation, specially the developing of the clusters one. Besides that,
will extend the use of new sounds resources and the application of new techniques of performance
at the piano. There will be also comments about some aspects of indeterminacy present in Cowells
music. The metodology included since reading the book New Music Resources by the own
composer, until study of scores and listening of CDs. In conclusion, will be emphasized the
importance of Henry Cowell for the developing of piano repertory of 20
TH
century.
Keywords: contemporary music, notation, piano repertory.
Introduo
A pesquisa sobre Indeterminao na Msica Brasileira para Piano se iniciou a
partir da contextualizao histrica desta tcnica de composio, procurando esclarecer
inicialmente como a indeterminao foi utilizada por compositores americanos e europeus a
partir do incio da dcada de cinqenta, para em seguida ser realizado um estudo similar no
repertrio pianstico brasileiro.
1
Bolsista CAPES.
2
No decorrer desta contextualizao, foram observados aspectos singulares do
emprego da indeterminao: utilizao de novos smbolos de notao, expanso do uso dos
instrumentos, atravs da aplicao de novas tcnicas de execuo e novos recursos sonoros.
Como a pesquisa se restringe a peas escritas para piano, procurou-se descobrir
como estes aspectos se desenvolveram no repertrio pianstico do sculo XX. Neste
sentido, a obra do compositor Henry Cowell se coloca como pea chave.
Henry Cowell criou novos smbolos de notao e novas tcnicas de execuo que
foram utilizados, por uma imensa gama de compositores, ao longo do sculo XX, podendo
citar como exemplos, o uso de cluster no teclado e de glissandi no encordoamento. Alm
disso, aspectos de indeterminao j estavam presentes na sua obra, muito antes de seu
aluno John Cage compor Music of Changes (1951) e proferir a clebre conferncia
Indeterminacy em Darmstadt (1958).
Metodologia
A pesquisa se desenvolveu a partir da leitura do livro New Musical Resources de
autoria do prprio Cowell, de textos de outros autores comentando sua obra e seus escritos,
e crticas de encartes de CDs e LPs. Tambm foi consultado o lbum The Music of Henry
Cowell, sendo possvel estudar a notao empregada e verificar instrues do autor sobre a
execuo. As peas utilizam diferentes tipos de notao e novos recursos de execuo,
representando dificuldades para o pesquisador conhecer a sonoridade resultante das peas.
A audio da gravao das peas tornou-se de suma importncia, sendo possvel o acesso
dois CDs: New Music: Piano Compositions by Henry Cowell e Henry Cowell Piano Music:
Twenty Pieces Played by the Composer.
Contribuio para o Desenvolvimento de Novos Recursos Sonoros do Piano e a
Criao de Novos Smbolos de Notao
Cowell foi pioneiro na utilizao do encordoamento do piano (tocado diretamente
nas cordas) como recurso timbrstico do instrumento. Deve-se sublinhar que, para Cowell, a
experimentao de novos recursos sonoros do piano estava intrinsecamente ligada ao
desenvolvimento de novas tcnicas de execuo e, consequentemente, ao emprego de
novos smbolos de notao para o instrumento. Desta maneira, a utilizao do
encordoamento do piano acarretou a criao de uma grafia especfica.
Aps compor algumas peas combinando sons do teclado e do encordoamento,
Cowell compe um novo grupo de peas nas quais no faz referncia a qualquer som
convencional do instrumento: The Aeolian Harp (?1923), The Banshee (1925) e Sinister
Resonance (1930). Os principais recursos utilizados nestas peas so, respectivamente:
glissandi no encordoamento, enquanto acordes so abaixados silenciosamente no teclado;
glissandi em sentido longitudinal (comprimento das cordas) e glissandi em sentido
transversal (direita para esquerda ou vice-versa); modificao do timbre das notas
executadas no teclado, atravs da manipulao do encordoamento produzindo harmnicos
de maneira similar ao dos instrumentos de cordas. Em Banshee, o compositor coloca letras
na partitura (de A a L), em uma folha anexa, que se referem s instrues de execuo:
Fig. 1 Incio de Banshee. Copyright by Associated Music Publishers, Inc., New York.
David Nicholls considera este tipo de notao inadequada, uma vez que deveria
haver uma certa similaridade entre a notao empregada e o resultado sonoro da execuo
dos signos utilizados:
As instrues para o intrprete so relativamente claras, mas os signos
empregados na partitura no guiam o ouvinte de maneira adequada. Desse modo, a
partitura de The Banshee, uma vez esclarecida, d ao intrprete uma tima noo de
uma srie de aes que devem ser realizadas, mas no proporciona, virtualmente,
nenhuma noo para o ouvinte ou pessoa que est lendo a partitura.. Em peas
deste tipo as relaes tradicionais entre notao, execuo e percepo so
fundamentalmente alteradas a partitura passa a ser parcialmente indeterminada
em relao sua execuo. (Nicholls, 1990, p. 166)
4
Desenvolvimento da Notao de Clusters
Ainda que possamos encontrar exemplos do uso isolado de clusters
2
anteriores a
Cowell, como em peas de Charles Ives, Edgar Varse e Leo Ornstein, Cowell
reconhecido como um compositor que utilizou clusters de maneira sistemtica, criou uma
notao especfica e desenvolveu uma tcnica de execuo singular para o piano, incluindo
procedimentos com a palma da mo, brao e punho. Alm disso, lembrado pela
elaborao de uma parte terica da utilizao do cluster. O primeiro texto no qual a palavra
cluster foi mencionada Harmonic Development in Music, escrito em 1921 com a
colaborao de Robert Duffus.
3
H uma srie de controvrsias no que se refere primeira pea que Cowell teria
escrito utilizando clusters e a data da sua composio. A maioria das fontes consultadas
atestam que a primeira pea na qual Cowell utilizou clusters foi Tides of Manaunaun,
composta em 1912, aos 15 anos. Apenas Michael Hicks
4
discorda desta verso, afirmando
que a data da composio da obra foi fornecida pelo prprio compositor, no havendo
nenhum documento, manuscrito ou programa de recital da poca que confirme isto. (Hicks,
1993, Fall, p.433). Segundo Hicks, a primeira obra a utilizar clusters foi Adventures in
Harmony, composta em 1913 pelo prprio Cowell, comprovando a data atravs de
manuscritos e crticas de jornais da poca. Em Adventures of Harmony, podemos notar que
Cowell no havia ainda desenvolvido sua notao caracterstica de clusters, limitando-se a
escrever na partitura simile e a indicao para tocar com o brao (with arm):
Fig. 2 Trecho de Adventures in Harmony. Manuscritos no publicados de Cowell so utilizados atravs da
permisso de Sidney Robertson Cowell por H. Wiley Hitchcock.
A tentativa de Cowell de criar uma notao para o cluster passou por vrias etapas.
(Segundo Hicks, 1993, Fall, p.442-4). Em 1916, Cowell inventou o primeiro tipo de
smbolo para o cluster. De acordo com esta notao, o cluster a ser executado entre duas
2
Clusters so acordes construdos a partir da sobreposio de segundas maiores e menores. (Cowell, 1996.
p.117). Segundo Griffiths, vrias notas adjacentes tocadas simultaneamente. (Griffiths, 1995. p. 45).
3
Para saber mais detalhes, consultar: (Hicks, Fall 1993. p. 445).
4
Hicks afirma ainda que outros compositores e msicos de jazz estavam utilizando clusters na mesma poca,
mas que foi Cowell que os empregou de maneira sistemtica.
5
alturas dadas, era expressado por um ngulo reto saliente a partir da haste da nota, direita,
esquerda ou de ambos os lados:
Fig. 3 Notao dos Clusters - 1916
Uma variante deste tipo de notao, representava o cluster com um ngulo mais
encurvado:
Fig. 4 Variante da notao anterior
Provavelmente por volta de 1920, Cowell inventou um segundo tipo de notao para
o cluster, representado por uma barra vertical, com um sustenido ou bemol por cima,
indicando se o cluster era nas teclas pretas, ou um bequadro para designar um cluster nas
teclas brancas:
Fig. 5 Notao do cluster cerca de 1920
Uma variante desta notao aparece nas peas de Cowell escritas a partir de 1922:
clusters cuja durao de uma semnima ou menos, so grafados com uma trave vertical
entre as cabeas das notas:
Fig. 6 Notao do cluster a partir de 1922
No terceiro captulo do seu livro New Musical Resources
5
, denominado Formao
de Acordes, Cowell elabora um srie de sugestes sobre a maneira que o cluster poderia ser
utilizado. A maioria destas sugestes se baseia em procedimentos da harmonia tonal e do
contraponto, como, por exemplo, a construo de clusters utilizando combinaes de
segundas maiores e menores, como nas trades menor, maior, aumentada e diminuta da
harmonia tonal. Prope tambm a aplicao do contraponto de segunda espcie ao utilizar
clusters. Apesar de toda esta teorizao da utilizao do cluster, tanto David Nicholls como
Michael Hicks consideram que os clusters mais proeminentes de obra de Cowell so os de
5
New Musical Resources foi escrito entre 1916 e 1919, embora tenha sido publicado apenas em 1930. Uma
segunda edio deste livro, organizada e comentada por Joscelin Goldwin, foi publicada pela editora
Something Else Press em 1969. Mais recentemente (1996), o livro foi publicado pela Cambridge University
Press, com notas e um artigo de David Nicholls.
6
oitava e que, na maioria das vezes, assumem um papel meramente decorativo em contextos
modais ou tonais. (Nicholls, 2001, p.622) e (Hicks, 1993, Fall, p.441).
Contribuio para o desenvolvimento de outros smbolos de notao
No segundo captulo de New Musical Resources, denominado Ritmo, Cowell prope
a utilizao de escalas de ritmo e escalas mtricas, denominando os dois processos,
respectivamente, contra-ritmo e polimetria. Cowell utilizou o termo contra-ritmo para
descrever a relao que criou entre a srie harmnica e o ritmo: o valor rtmico de cada
altura estar condicionado ordem desta altura na srie harmnica, na qual a fundamental
o som de maior valor rtmico e os harmnicos so divises deste valor na razo de dois para
um (segundo harmnico), trs para um (terceiro harmnico), e assim por diante, em relao
fundamental. Cowell utilizou os contra-ritmos nos Rhythm-Harmony Quartets (Quartet
Romantic - 1917 e Quartet Euphometric - 1919) e na pea para piano Fabric (1920). Nesta
ltima, Cowell emprega um tipo de notao baseado em complicadas sries geomtricas
para o formato de cabeas de notas, que tornaram desnecessrias figuraes mais
tradicionais:
Fig. 7 Trecho de Fabric. Copyright by Breitkopf Publications, Inc., New York.
Cowell prope tambm, no mesmo captulo, uma relao similar entre a srie
harmnica e o metro, denominando este processo de polimetria.
Contribuio para o Desenvolvimento de Novas Tcnicas de Execuo
Uma grande parcela da contribuio de Cowell para a msica do sculo XX se
refere s surpreendentes inovaes representadas por suas peas para piano. Foi uma
verdadeira revoluo no uso do instrumento, que infelizmente ainda chocam pianistas e
ouvintes:
O choque de valores causado aos pianistas e ouvintes, pelos meios de produo
fsica destas peas , provavelmente, o maior responsvel por esta msica
permanecer fora do repertrio tradicional do piano. Tocar as teclas com a palma
das mos, com o punho ou o antebrao, ainda um tabu, muito original para
caber no decoro exigido por executantes de Mozart e Chopin. Mas isto vem
inegavelmente da tradio de Beethoven e Liszt, que criaram a msica a partir da
7
percepo do potencial sonoro total dos melhores instrumentos modernos de suas
respectivas pocas.(Chris Brown, ENCARTE do CD New Music: Piano
Compositions by Henry Cowell, 1997, p.5)
Suas peas requerem uma coordenao fsica do executante bem maior do que a
especializao de dedo/brao exigida pela tcnica convencional do piano. Por exemplo:
quando o pianista deve posicionar a extremidade dos cotovelos exatamente nas teclas a
serem abaixadas em clusters com os antebraos, ou quando deve alternar clusters com um
antebrao enquanto a outra mo executa melodias cromticas ou pentatnicas. A
importncia de Cowell neste aspecto imensa, podendo ser considerado como o criador de
tcnicas de execuo para o instrumento que esto sendo utilizadas durante os ltimos
setenta anos.
Contribuio para o Desenvolvimento da Indeterminao
Dois aspectos principais surgem ao discutirmos aspectos de indeterminao na obra
de Cowell. Por um lado, ao criar novos smbolos de notao musical, Cowell no conseguiu
estabelecer algumas vezes uma coerncia clara entre os signos utilizados e o som resultante.
Na pea A Composition (1925), a notao empregada no determina claramente que notas
devem ser executadas em alguns glissandi no encordoamento do piano, relegando ao
instrumentista esta deciso:
Fig. 8 Trecho de A Composition. Copyright by C. F. Peters Corporation, New York.
Por outro lado, Cowell deixa a possibilidade para o intrprete realizar escolhas em
outras peas, sugerindo e propondo claramente a sua participao. Os cinco movimentos de
Mosaic Quartet (1935) podem ser tocados em qualquer ordem. Em Amerind Suite (1939)
escrita com fins didticos cada um dos trs movimentos possuem cinco verses com
nveis de dificuldade crescentes. A partitura permite tambm a execuo simultnea de dois
ou trs pianos com diferentes verses de um mesmo movimento. Talvez a inovao mais
radical de Cowell nesta rea seja a forma elstica. Ritournelle, da msica incidental de
Les Maris de la Tour Eiffel (1939), foi concebida como uma pea que poderia variar de
tamanho, de maneira a estender-se de acordo com as necessidades dos danarinos e/ou
coregrafos. Consiste de 24 compassos de msica, sendo que cada um dos compassos pode
8
ser teoricamente combinado com qualquer outro (ou outros) para fornecer diferentes
extenses de msica.
Em Anger Dance (1914), o compositor sugere que o intrprete escolha o nmero de
vezes que cada frase deva ser repetida. Nesta pea, a frustrao do compositor com um
mdico insensvel foi traduzida em uma multi-repetio de pequenas frases musicais. O
compositor sugere que cada frase pode ser repetida vrias vezes, dependendo de quanto
irritado o intrprete se sinta. (Cowell, Encarte do LP Piano Music by Henry Cowell, 1963,
p.6)
Concluso
Atravs deste trabalho torna-se clara a contribuio de Henry Cowell para o
repertrio pianstico do sculo XX e para aspectos musicais desenvolvidos na
indeterminao, como notao e novos recursos do instrumento.
O que se deve notar que Cowell, na maioria das vezes, utilizou novos smbolos de
notao de uma maneira determinada. Por exemplo, instrues do compositor indicam que
os limites de altura do cluster devem ser obedecidos rigorosamente: O pianista deve notar
que os limites externos do cluster so absolutamente precisos, como escritos, e que cada
som entre os limites externos esto soando realmente.
6
Em outras ocasies, como no
exemplo citado de A Composition, o tipo de smbolo utilizado ocasiona liberdade de
escolha ao intrprete e, consequentemente, se torna indeterminado. Ambos os smbolos
citados, foram largamente utilizados por compositores que empregaram a indeterminao.
surpreendente que, apesar de todas as contribuies apresentadas neste texto,
Cowell no seja lembrado ou considerado pela sua msica, nem pelos seus escritos. Na
verdade, Cowell deveria figurar como um dos grandes compositores para piano do sculo
XX, pelas extraordinrias inovaes apresentadas no campo da notao e da tcnica de
execuo. Como disse Cage: Henry Cowell foi o Abre-te Ssamo da Msica Nova na
Amrica. (Cage, 1966, p.71)
6
Explicao dos smbolos e instrues de execuo. COWELL, Henry. Piano Music by Henry Cowell.
(Partitura). New York: Associated Music Publishers, s.d.
9
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CAGE, John. Silence. 2
nd
Edition. Cambridge: The M.I.T. Press, 1966
COWELL, Henry. New Musical Resources with notes and an accompanying essay by David Nicholls. 3
rd
Edition. Cambridge: University Press, 1996.
COWELL, Henry. Piano Music by Henry Cowell. (Partitura). New York: Associated Music Publishers, s.d.
ENCARTE do CD New Music: Piano Compositions by Henry Cowell, gravado por vrios pianistas em
comemorao ao centenrio de nascimento do compositor. North Hollywood: Forty-Four One, 1997.
ENCARTE do LP Piano Music by Henry Cowell Twenty pieces played by the composer, com comentrios
do prprio compositor. New York: Folkways Records, 1963.
GRIFFITHS, Paul. Enciclopdia da msica do sculo XX. Trad. Marcos Santarrita e Alda Porto. So Paulo:
Martins Fontes, 1995.
HICKS, Michael. Cowells Clusters. The Musical Quaterly. V.77. n.3. New York: Oxford University Press,
Fall 1993. p.428-58.
NICHOLLS, David. American Experimental Music, 1890-1940. Cambridge: University Press, 1990.
NICHOLLS, David. Cowell. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2. ed. Vol. 6.
London : Macmillan, 2001. p. 620-30.
10
FIGURAS
Figura 1
Figura 2
Figura 3
11
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Msica e relaes de gnero no Alto Xingu
Maria I gnez Cruz Mello
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
mig@cfh.ufsc.br
Resumo: Este trabalho se insere no campo da Antropologia da Msica e constitui uma
sntese de minha dissertao de mestrado sobre a msica e os rituais dos ndios Wauja,
povo que vive de maneira tradicional no Alto Xingu, no Estado do Mato Grosso. A partir
de dados obtidos em campo, busco analisar o sistema musical Wauja de forma entrelaada
mitologia, encontrando uma ressonncia particular no campo das relaes de gnero.
Como resultado de tais anlises, postulada uma raiz comum para um conjunto de canes
ligadas ao ritual feminino conhecido como Iamurikuma e para a msica instrumental
masculina do complexo das flautas sagradas kawok.
Palavras-chave: msica indgena, Alto Xingu, relaes de gnero.
Abstract: This paper relates to the area of the Anthropology of Music, and it constitutes a
synthesis of my master's thesis about the music and rituals of the Wauja Indians from
Upper Xingu region, Mato Grosso. Based on fieldwork data, I intend to analyze the Wauja
musical system in its inter-relatedness to the native mythology, particularly resonating the
gender relations. The results of these analyses lead to the postulation of a common root to a
set of female songs related to Iamurikuma ritual, and to the sacred flute male music of
kawok complex.
Keywords: indigenous music, Upper Xingu, gender relations
A constatao etnogrfica de que a msica ocupa uma parte central nas sociedades
indgenas -os ndios devotam mais tempo ao fazer musical do que a questes relativas
sobrevivncia (Seeger, 1988:24)- reflete-se no campo da pesquisa etnolgica, como mostra
o crescente interesse pela Antropologia da Msica. Nesta rea de estudo, durante muito
tempo foram negligenciadas as pesquisas junto s sociedades indgenas, seguindo de perto
o descrdito com que a sociedade brasileira sempre tratou a cultura indgena, esta tendo
sido associada quase que exclusivamente a uma natureza distante, sem praticamente
nenhuma participao na formao da cultura brasileira. Este quadro, no entanto, tem se
modificado nas ltimos dcadas, com trabalhos pioneiros como os de Aytai (1985),
Menezes Bastos (1978, 1990), Beaudet (1983, 1997), Fucks (1989), Travassos (1984),
Seeger (1987) e Hill (1992,1993) que abordaram, respectivamente, a msica entre os
Xavante, os Kamayur, os Waipi (Beaudet pesquisou no lado da Guiana Francesa e Fucks
1
no lado brasileiro), os Kayabi, os Suy e os Wakunai. Trabalhos mais recentes
representam uma revigoramento desta linha de pesquisa nos quadros universitrios
brasileiros: Bueno da Silva (1997) sobre a Msica Kulina (comunidade do Alto Purs),
Piedade (1997) sobre a Msica Yep-masa (grupo da famlia Tukano do Alto Rio Negro),
Montardo (2002), sobre a Msica Guarani, e Werlang (2001) sobre a Msica Marubo e o
meu prprio trabalho.
Em minha dissertao de mestrado (Mello,1999), realizei um estudo exploratrio da
msica Wauja
1
, a partir de dados obtidos em pesquisa de campo. Procurei apresentar
classificaes nativas das categorias sonoro-musicais Wauja, classificaes de seus
instrumentos musicais e uma classificao geral do repertrio msico-ritual deste povo.
Neste trabalho busquei, sobretudo, analisar o sistema musical de forma entrelaada
mitologia, pois, se cremos, assim como Lvi-Strauss (1978), que o pensamento
selvagem
2
tanto pode ser desinteressado, no apenas funcionalista, como tambm
intelectual e no s emocional, temos que admitir que tal pensamento tem, no entanto, uma
ambio totalitria. Sua finalidade atingir, pelos meios mais diminutos e econmicos,
uma compreenso geral do universo, no s geral, mas total (op.cit.:31). Assim sendo, o
mito, atravs de uma narrativa sinttica, d a iluso extremamente necessria de que se
entende o universo (op.cit.:32). Alm disso, para as sociedades primitivas a mitologia age
no sentido de assegurar com alto grau de certeza que o futuro permanecer fiel ao presente
e ao passado. Durante minha pesquisa de campo, pude observar que na maioria dos mitos
Wauja, bem como nas prescries comportamentais que norteiam a vida cotidiana deste
povo, h uma nfase na delimitao dos espaos sociais a serem ocupados por cada gnero
sexual. Esta forte marcao dos limites dada aos papis de gnero uma questo central do
thos deste povo, que tem como ponto nevrlgico o ritual das flautas kawok.
3
A partir dos
mitos e msicas, das exegeses e tradues de canes, e do discurso nativo sobre msica,
surgiu a temtica das relaes de Gnero, que a princpio, no fazia parte de meu objeto de
1
Os povos indgenas habitantes da rea dos formadores do rio Xingu, parte sul da Terra Indgena do Xingu,
so: os Wauja, os Mehinku e os Yawalapiti - grupos de lngua Aruak -, os Kamayur e Awet - falantes de
Tupi, os Kuikro, Kalaplo, Matiphy e Nahukw - pertencentes famlia lingstica Karib - e os Trumi -
falantes de uma lngua isolada. Os alto-xinguanos so, hoje, cerca de duas mil e quinhentas pessoas.
2
No sentido que o autor usa para primitivo, ou seja, povo sem escrita. Apesar de sabermos que hoje em dia
este critrio mudou, visto que muitos destes povos tm se instrumentalizado atravs da alfabetizao tanto em
lngua nativa quanto na lngua dominante, creio podermos nos entender com este conceito.
2
estudo. Com base nestas anlises de mitos e em anlises musicolgicas, busquei
compreender a ligao entre a msica vocal de Iamurikuma (ritual feminino) e as msicas
de flauta kawok (ritual masculino), pois as mulheres afirmavam que msica de
Iamurikuma msica de flauta. Verifiquei, ento, que h uma raiz comum, dada pela
estrutura musical, para o conjunto de canes de Iamurikuma e para a msica instrumental
das flautas kawok. Procurei tambm demonstrar que a questo colocada por estes rituais
musicais no diz respeito nem dominao masculina (tal como o estupro ritual coletivo
ligado s flautas sagradas visto na literatura), nem inverso de papis sexuais (como
alguns autores interpretam o ritual de Iamurikuma) e nem hierarquia sexual de qualquer
dos gneros. Estas negativas seguem de perto as pistas deixadas por Lagrou, (1998),
McCallum (1994) e Overing, (1986) que percebem os rituais e a vida (esferas inseparveis)
dos povos indgenas das terras baixas da Amrica do Sul como um entrelaamento dos
poderes criativos masculinos e femininos.
No ritual das flautas kawok entre os Wauja, bem como em todo o Alto Xingu, as
mulheres so proibidas de ver as flautas e tambm no podem ser vistas pelos executantes.
Caso isto ocorra, a infratora ser estuprada por todos os homens da aldeia, vindo
provavelmente a morrer. Importante salientar que, no discurso nativo, no so os homens
que estupram as mulheres, mas sim a prpria flauta kawok. Em uma descrio apresentada
por Gregor de como seria este estupro coletivo, dito que, ao agarrarem a mulher, a
flauta comea a tocar e ento o ato consumado (1985:101). No se tem registro entre os
Wauja de ter, de fato, acontecido tal punio nos ltimos quarenta anos, porm isto no
torna a questo menos amedrontadora.
O ritual de Iamurikuma, por sua vez, tambm insere o medo e a distncia entre
homens e mulheres, pois, durante toda a festa, mulheres dirigem cantos agressivos aos
homens e, segundo alguns informantes, as mulheres podem vir a bater e at mesmo matar
algum homem, o que tambm dizem no ter acontecido nos ltimos anos. Para Basso
(1987), o Iamurikuma focaliza a natureza da identidade de gnero, dos papis sexuais, e
joga com vrias transformaes destas idias, como por exemplo, estes quatro pontos:
como pessoas de um gnero podem adquirir atributos fsicos e mentais de um outro gnero;
3
Ritual que carrega uma forte interdio visual para as mulheres durante sua performance, de que tratarei
3
como a fuso destas caractersticas em uma s pessoa associada com a transformao do
indivduo em um esprito monstruoso; como a identidade de gnero associada com
atributos particulares de musicalidade humana; como a solidariedade entre membros de um
mesmo gnero pode se tornar to exclusiva que implica na rejeio dos papis sociais
normais (op.cit.:166).
Em todos estes rituais o medo parece ser a tnica, no um medo qualquer, mas sim
aquele que impe distncia e respeito. No caso da flauta kawok e o estupro coletivo este
medo to fortemente introjetado nas mulheres que elas no querem nem mesmo falar
sobre este assunto
4
. Mas, por que um povo to gentil, incapaz de bater em suas crianas,
incapaz de exercer uma dominao direta de um indivduo sobre o outro, que preza
sobretudo a liberdade individual de seus membros, erigindo esta como ponto fulcral de sua
tica social, por que os homens Wauja haveriam de impor tal penalidade s mulheres,
introjetando um medo to profundo? Uma resposta possvel dada pela quantidade de
mitos que tratam do medo dos homens em relao s mulheres, mitos sobre os perigos da
menstruao
5
, sobre vaginas dentadas, sobre o roubo das flautas (que antes pertenciam s
mulheres), sobre a necessidade que os homens tm de se libertar das coisas de mulher
para adquirirem fora fsica e moral. H um grande esforo entre os homens para delimitar
os espaos, como pode ser notado pela instituio da casa dos homens , tambm chamada
de casa das flautas. Gregor v estes investimentos masculinos como representando um
custo bastante alto, pois "o preo que os homens pagam em ansiedade: medo de seus
prprios impulsos sexuais e medo das mulheres" (op.cit.:115).
Uma interpretao que me pareceu possvel sobre esta violncia a de que a mulher
carrega em seu corpo o veneno que pode contaminar os homens - o sangue menstrual - e
esta potencialidade de causar o mal parece ser retribuda na mesma moeda, ou seja, os
homens no tm este veneno mas tm a fora fsica e a unio necessria entre eles para
impor um mal e um medo que est na mesma altura do mal e do medo sentidos por eles:
adiante.
4
Segundo Gregor (1985:103), as mulheres Mehinaku relataram muitos pesadelos envolvendo agresses
fsicas sofridas por elas e impostas pelos homens. De acordo com sua anlise, isto mostra o quanto este medo
permeia a vida consciente e inconsciente das mulheres Mehinaku. Se considerarmos que as interdies, as
presses e as punies sofridas pelas mulheres xinguanas so basicamente as mesmas em todas as aldeias,
pode-se generalizar tais concluses.
5
Sobre a temtica dos tabus envolvendo menstruao em diferentes culturas ver Buckley e Gottlieb, 1988.
4
aqui tambm funcionaria uma lgica de reciprocidade, to valorizada pelos amerndios em
todos as suas relaes.
Voltando questo da msica, e seguindo as pistas levantadas por Basso, Gregor, e
tambm por minha pesquisa de campo, tratarei de mostrar, em um breve exemplo de anlise
musicolgica dos repertrios dos cantos das mulheres e da msica de flauta, que a fuso de
caractersticas masculinas e femininas em uma s unidade ocorre na msica de forma
similar ao mito. Veremos, com os exemplos e anlise a seguir, que os temas principais so
frases muito prximas, como variaes de uma frase bsica. Em todo o repertrio destes
cantos femininos e na msica masculina de flauta encontramos similaridades temticas
semelhantes, e isto com uma tal intensidade que podemos pensar estes repertrios
(Iamurikuma e Kawok) como constituindo uma unidade musico-simblica poderosa.
Uma de minhas informantes comps a msica a seguir para falar de seu primo
Talakway. Na msica ela se refere a ele como irmo. Ela est contando de uma poca em
que ela morava entre os Kamayur e viu Talakway namorando uma moa de l. Ela diz na
msica que vai contar para os Wauja o que ela viu. Esta msica faz parte do ciclo de
Kawokakuma (msica de kawok cantada pelas mulheres durante festa de Iamurikuma).
5
Canto de Kawokakuma
E h ... ku h h
Aitsa tsama Talakway
Ehejua nutsa
Iapai kamo kana
Onaku
Nateja
E h ... ku h h
no at parece Talakway
fugir, esconder de mim
indo sol buraco
dentro
palavra Mehinaku que talvez queira dizer "eles"
Roteiro para a leitura:
Y Y A A B A A B Y C C
A A B D C C
A A B Y Y
A A B A A B
Y
6
A pea de flauta a seguir foi executada por um de meus informantes e faz parte de
um ciclo intitulado Mepiywakapitiwi - msica dos dois dedos - que, segundo o flautista,
tocada quando uma mulher est com problemas com o namorado, quando ela quer
conquist-lo, ou quando ela est com cime. Este ciclo executado em flauta Kawokata
(diminutivo de kawok), instrumento que tambm faz parte do complexo das flautas
kawok e, portanto, segue a mesma interdio visual para as mulheres.
Flauta Kawokata
Roteiro da cano:
Y A A B C C
A A C C A B (FIM)
7
Quadro relacional dos motivos principais de Iamurikuma e Kawokata
I amurikuma
Kawokata
A partir dos mitos recolhidos em campo e das msicas analisadas - das quais esto apenas
dois exemplos aqui - pode-se dizer que o repertrio de flautas Kawoka como que
transponvel para os cantos femininos, ou vice-versa. possvel notar isto comparando a
pea Mepiywakapitiwi e a cano de Iamurikuma conforme acima. O tema C da cano
vocal uma frase quase idntica ao tema A da pea instrumental. Minha hiptese, a partir
da totalidade dos dados que obtive em campo, que tais homologias musicais so
abundantes nestes repertrios. Se esta correlao puder ser confirmada com mais
evidncias, ou seja, se a msica de Iamurikuma e Kawokakuma representam uma verso
cantada e feminina da msica de kawok, ento ficar claro que o aspecto sonoro (ao menos
rtmico-meldico) no objeto de proibio. E mais ainda, que so estes sons comuns que
unem a extrema masculinidade, exclusiva e interdita s mulheres (representada pelo
simbolismo kawok) e a feminilidade em sua expresso mais marcante, o Iamurikuma.
Fuso de gneros sexuais em um supergnero musical.
Entretanto, o que ligaria prticas sociais envolvendo eventos musicais altamente
estruturados a relaes de Gnero? O que est por trs desta inter-relao entre gnero,
msica e sociedade? Ellen Koskoff, em seu volume Women and Music in Cross-Cultural
Perspective, observa que tal relao acontece pelo fato de que estruturas conceituais
subjacentes tanto s relaes de gnero quanto dinmica musical e sexual compartilham
um mesmo e importante trao estrutural: "ambas se unem, em um alto grau, a noes de
poder e controle" (Koskoff, 1987:10)
6
. A forma como o poder e o controle operam nas
relaes de gnero parecem evidentes, mas o que Koskoff indica que h uma similaridade
8
com os aspectos estruturais da msica: ali tambm se trata de uma arte do controle, do
tempo e do espao (msica/dana), bem como uma manifestao de diversos poderes, da
cura, da transformao - no caso do repertrio Wauja, um poder concentrado pela fuso de
caractersticas masculinas e femininas, e que opera na perigosa fronteira da ambigidade
sexual. Mito e msica Wauja se interconectam de forma indissocivel com a temtica do
poder e do controle, da poltica, do erotismo, do medo e da morte. E as relaes de gnero
so fundantes neste complexo, pois as assimetrias que nelas se percebe podem ser
"protestadas, mediadas, revertidas, transformadas ou confirmadas atravs de vrias
estratgias scio-musicais, por meio de comportamento ritual, simulao, linguagem
secreta ou 'decepes' sociais envolvendo a msica" (op.cit.:10).
Referncias Bibliogrficas:
AYTAI, Desiderio. O Mundo Sonoro Xavante. So Paulo:USP,1985.
BASSO, Ellen B. Musical Expression and Gender Identity in the Myth and Ritual of the
Kalapalo of Central Brazil, In: Ellen Koskoff (ed.) Women and Music in Cross-
Cultural Perspective, New York: Greenwood Press, 1987.
BEAUDET, Jean-Michel Les Orchestres de clarinettes Tule des Waipi du Haut-Oiapok.
Tese de doutorado, Universit de Paris X, 1983.
__________, Souffles d' Amazonie: Les Orchestres "Tule" des Waypi. Nanterre: Socit d'
Ethnologie, (Collection de la Socit Franaise D' Ethnomusicologie, III), 1997.
BUENO DA SILVA, Domingos A.B. Msica e Pessoalidade: por uma Antropologia da
Msica entre os Kulina do Alto Purs, dissertao de mestrado em Antropologia
Social, UFSC, 1997.
BUCKLEY, T. e GOTTLIEB A. (org.) Blood Magic: The Antropology of Menstruation,
Berleley: University of California Press, 1988.
FUCKS, Victor, Demonstration of multiple relationships between music and culture of the
Waiapi Indians of Brazil, Dissertao de doutorado, Indiana University, 1989.
GREGOR, T. Anxious Pleasures: The Sexual Lives of Amazonian People, Chicago: The
University of Chicago Press, 1985.
HILL, Jonathan, A Musical Aesthetic of Ritual Curing in the Northwest Amazon, In: The
Portals of Power: Shamanism in South America, E.J. Langdon, org., University of
New Mexico Press, 1992. p.209.
, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in na Amazonian
Society, Tucson: University of Arizona Press, 1993.
KOSKOFF, Ellen (ed.) Women and Music in Cross-Cultural Perspective, New York:
Greenwood Press. 1987.
6
Sobre estudos envolvendo a temtica do Gnero na tradio da Msica Ocidental, ver McClary (1991),
Herndon e Ziegler (1990) e Shepherd (1987).
9
LAGROU, E.M. Caminhos, Duplos e Corpos. Uma abordagem Perspectivista da
identidade e alteridade entre os Kaxcinawa, Tese de Doutorado em Antropologia
Social, USP, 1998.
LVI-STRAUSS, Claude Mito e Significado, Lisboa: Edies 70, 1978.
HERNDON, Marcia; ZIEGLER, Susanne (Guest Editors): Music, Gender, and Culture.
Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag, (Intercultural Music Studies, vol. 1), 1990.
McCALLUM, Cecilia Ritual and the Origin of sexuality inthe Alto Xingu, In: Sex and
Violence: Issues in Representation and Experience, P. Harvey and P. Gow (org.),
London: Routtledge, 1994.
McCLARY, Susan Feminine Endings, Minnesota: University of Minnesota Press, 1991.
MELLO, Maria Ignez C. Msica e Mito entre os Wauja do Alto Xingu, dissertao de
Mestrado em Antropologia Social. PPGAS/UFSC, 1999.
MENEZES BASTOS, Rafael J. A Musicolgica Kamayur: para uma antropologia da
comunicao no Alto-Xingu.Braslia: Fundao Nacional do ndio, 1978.
, A Festa da Jaguatirica : uma partitura crticointerpretativa. Dissertao
de Doutorado, USP, 1990.
MONTARDO, Deise Lucy Atravs do "Mbaraka" - Msica e Xamanismo Guarani, Tese
de doutorado em Antropologia Social, So Paulo: USP, 2002.
OVERING, Joanna Men control women? the catch 22 in the analysis of gender, In:
International Journal of Moral and Social Studies. 1(2), Summer, 1986.
PIEDADE, Accio Tadeu de C. Msica Yep-masa: Por uma Antropologia da Msica no
Alto Rio Negro, dissertao de mestrado em antropologia social, UFSC, 1997.
SEEGER, Anthony, Why Suy Sing: a musical anthropology of an Amazonian people.
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
, Voices, Flutes, and Shamans in Brazil, The World of Music, Vol XXX, 2,
Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag, 1988.
SHEPHERD, John Music and Male Hegemony, In Susan McClary and Richard D. Leppert,
(eds.) Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception,
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
TRAVASSOS, Elizabeth. Xamanismo e Msica entre os Kayabi, tese de Mestrado, Museu
Nacional-UFRJ, 1984.
WERLANG, Guilherme. Emerging Peoples. Marubo Myth-Chants, Tese de doutorado,
University of St. Andrews, Esccia, 2001.
1
Um estudo da textura em peas de Villa-Lobos
Maria Lcia Pascoal
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
alux@rcm.org.br
Carlos Rosa
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
carlosrosa@bol.com.br
Resumo: O artigo prope uma observao de aspectos da textura nas peas de Villa-Lobos A Prole
do Beb n.1 e 2. e Serestas, atravs do material que lhes serve de sustentao, os ostinatos. Estas
peas, compostas nas primeiras dcadas do sculo XX, refletem o que foi a busca por caminhos
que, ao ampliar os limites da tonalidade, trouxeram novas perspectivas estruturais. A Metodologia
constou de vrias etapas, como leitura de bibliografia de Anlise e Teoria da msica do sculo XX,
leitura das peas, anlise, comparao e seleo de exemplos mais significativos. Conclui-se que
Villa-Lobos utilizou a processos de composio utilizados por compositores europeus, porm em
uma elaborao diferente, incorporando o ambiente musical do Brasil, atravs de ritmos e linhas
meldicas, formadores de uma grande sntese na qual se revelam as caractersticas de sua
linguagem musical.
Palavras-chave: anlise musical, texturas, Villa-Lobos.
Abstract: This paper proposes an investigation of the texture aspects in Villa-Lobos A Prole do
Beb n.1 and 2 and Serestas, through the observation of the ostinatos. These pieces are dated from
the early decades of the twentieth century and demonstrate the historical period in which the
research for new technical processes could get the compositions out of boundaries of the tonality
and create other structural perspectives. Although Villa-Lobos has been a reference in Brazilian
music, the analytical aspects of his music are not yet well known and must be an object of
consideration under various points of view. This work has been developed by steps, such as the
study of techniques of analysis and comparisons and the choices of representative examples. One
concludes that Villa-Lobos composition reveals his link to Europe, but in a different elaboration
that includes Brazilian aspects of rhythm and melodic lines, creating a way of a special synthesis.
Therefore, Villa-Lobos may be considered a man of his time and his music may be as much
Brazilian as universal.
Keywords: musical analysis, textures, Villa-Lobos.
Desde o incio do sculo XX, a efervescncia artstica nos centros europeus
viveu rupturas e movimentos que mudaram conceitos e se consolidaram como
conquistas.
Na msica, a busca de novas formas de expresso e linguagem manifestou-se
desde as primeiras dcadas, principalmente quanto ampliao e negao do
sistema tonal, prtica sonora que vigorara nos trs sculos anteriores. O grande
desafio e a pesquisa a que se lanaram os criadores musicais foi uma procura de
caminhos tcnicos para estruturar suas idias.
Atravs do distanciamento que vivemos hoje possvel assimilar mais
criticamente, compreender e refletir sobre a msica das primeiras dcadas do sculo
XX, bem como estud-la sob os aspectos tcnicos, estticos, histricos,
interpretativos e os que mais se apresentarem nas grandes transformaes vividas.
2
Essas transformaes passam, entre outros, pelo discurso e pelo uso de novo
material, o que levou a novas formas de escuta e compreenso dessa msica e no
desenvolver de novas teorias e ferramentas de anlise.
O compositor Heitor Villa-Lobos considerado internacionalmente como
referncia para a msica brasileira, desde as primeiras dcadas do sculo XX, com a
sua composio que ficou conhecida como nacionalista, porm, como bem observa o
musiclogo Grard Bhague, nacionalismo multifacetado e no exclusivo, uma vez
que seu interesse e tratamento nacionalistas tendiam a se integrar nos numerosos
experimentos estilsticos, resultando em uma complexa e variada linguagem
musical.(Bhague, 1994, p. 43).
Os estudiosos da msica brasileira, Carlos Kater, Jos Maria Neves, Vasco
Mariz e o j citado Grard Bhague, (Kater,1990 p. 52; Neves,2000, Cd-Rom; Mariz,
2000, p.143; Bhague, 2001, p.614) so unnimes ao considerarem a dcada de vinte
e os anos que imediatamente a antecedem, como plenos das inovaes e experincias
que se constituram na definio da linguagem de Villa-Lobos. Entre as composies
representativas, contam-se as duas colees Prole do Beb n.1 e 2, para piano, com
os subttulos A famlia do beb e Os bichinhos, respectivamente. A primeira srie
data de 1918 e a segunda de 1921. Quanto s Serestas, para canto e piano, as de n. 1 a
12 so de 1925-26. (Catlogo Villa-Lobos, 1989, p. 142; 182).
A revista Brasiliana publica dois artigos recentes que renem trabalhos sobre
Villa-Lobos, um o Panorama da Bibliografia Villalobiana, (Bittencourt, 1999,
p.38-47) do qual constam trabalhos de anlise de sua msica que se referem
principalmente esttica, ao estilo e crtica musical e outro, Notcia sobre o
Primeiro Congresso Internacional Villa-Lobos (Lima, 2002, p.2-8), relatando as
comunicaes a apresentadas. Mais relacionado anlise estilstica, s influncias e
escrita pianstica, situa-se o ensaio Villa-Lobos e Chopin: dilogo musical das
nacionalidades (Barrenechea. Gerling, 2000. p. 11-74) e, quanto a consideraes
harmnicas e estruturais da msica de Villa-Lobos h, entre outros, trabalhos dos
compositores Lorenzo Fernandez e Jamary de Oliveira (Fernandez, 1946; Oliveira,
1984).
Partindo da investigao dos elementos de superfcie, suas implicaes na
estrutura e ainda procurando associar o estudo do material s peas que representam
perodo to fecundo na criao de Villa-Lobos, a proposta deste artigo uma
observao da textura nas peas Prole do Beb n. 1 e 2 e Serestas.
Toma como ponto de partida a considerao do pesquisador Andrew Mead,
no artigo em que sintetiza com muita clareza as principais linhas de pesquisa
voltadas ao estudo da teoria da composio no sculo XX, da qual a primeira delas
a que estuda a gramtica da superfcie musical, os processos bsicos de agrupar
eventos como entidades inteligveis. (Mead, 1989, p. 40). Para o tratamento dos
termos e os processos de composio, tem por base os trabalhos de Kostka e Straus
(Kostka,1999; Straus, 2000).
O estudo da organizao dos elementos constitutivos, dos recursos que
estabelecem relacionamentos entre as sees de uma pea e do tratamento de textura
e timbre, constitui aspectos que se resumem na questo: qual o material de
superfcie, que associaes gera e como se relaciona na estrutura da pea?
3
Aspectos da Textura Bordes
Ao mesmo tempo difcil de conter em uma definio, textura algo que tanto
se refere ao relacionamento entre as partes (vozes) de uma composio, como entre
ritmo e contorno meldico, espao e dinmica. (Kostka, 1999, p. 220).
A audio e a leitura das peas evidencia o uso que Villa-Lobos faz dos
movimentos de motivos rtmico-meldicos repetidos, os conhecidos ostinatos, que
aqui esto classificados como bordes, segundo Ernst Widmer (Widmer,1982, p. 14-
16). Nas peas Prole do Beb, e nas Serestas, Villa-Lobos cria bordes para constituir
a textura, aos quais vai acrescentando outros tipos de material, como acordes, linhas
meldicas e canes. Na considerao de Kiefer, esses movimentos assumem
importncia extrema na sua msica (Kiefer, 1981, p. 57).
A observao dos bordes nas peas Prole do Beb e Serestas
1
nos mostra que
esto tanto nas peas inteiras como em trechos, so formados por um elemento ou por
vrios, esto superpostos e justapostos, articulam sees, contm ritmos
caractersticos e se constituem em timbres especficos.
Para esta apresentao, foram selecionados exemplos de texturas quanto aos
aspectos do ritmo e do timbre. Alguns exemplos esto apresentados em uma
aplicao de grficos segundo as vozes condutoras (Salzer, 1982).
1. Ritmo
1.1. Clula rtmica
Observa-se o ritmo constitudo como estrutura a partir de uma clula base,
que se apresenta durante a pea na forma original ou em variaes. Trata-se de uma
variao do ritmo de Habanera, que no Brasil est presente nas danas tango,
maxixe, samba e choro (Bhague, 1994, p. 60-2).
Na Figura 1 observa-se esta clula rtmica durante toda a pea, sempre com
dois sons:
1
A prole do Beb n. 1 consta de oito peas, a n. 2 de nove e as Serestas aqui utilizadas, de doze peas. As
Serestas n.13 e 14 datam de 1943.
4
VILLA-LOBOS Prole do Beb I, 3. Caboclinha
(comp.1-2)
Figura 1. Clula rtmica
1.2. Clula rtmica em variao de alturas
A mesma clula rtmica forma uma polifonia, presente em toda a primeira
seo da pea, no exemplo da Figura 2.
VILLA-LOBOS Prole do Beb II, 1. A baratinha de papel
(comp. 1-60)
Figura 2. Clula rtmica com variao de alturas
1.3. Clula rtmica em acordes
Ampliada na estrutura e em acordes (Figura 3).
VILLA-LOBOS Prole do beb II, 6. O boisinho de chumbo
(comp. 2-10)
Figura 3. Acordes em clula rtmica
1.3.1. Clula e polifonia rtmica
A mesma clula combinada linha meldica do canto resulta em uma polifonia
rtmica. (Figura 4)
VILLA-LOBOS Seresta n. 5. Modinha
(comp. 9-10)
Figura 4. Clula e polifonia rtmica
5
2. Timbre
2.1. Polifonia em planos independentes
Villa-Lobos trata a polifonia em uma combinao de planos que se desenvolvem
em diferentes timbres, dinmicas e espaos sonoros, criando texturas estratificadas
(Kostka, 1999, p. 237), como se observa no exemplo abaixo (Figura 5).
VILLA-LOBOS- Seresta n. 8. Cano do Carreiro
(comp. 38-42)
Figura 5. Polifonia em planos independentes
2.2. Clulas formadoras de timbres
Um intervalo pode ser considerado como clula bsica formadora do timbre, pela
constante presena na pea. (Kostka, 1999, p.178). No exemplo abaixo (Figura 6), o
intervalo de segunda menor ocorre tanto na dimenso meldica na voz, quanto na
harmnica no piano.
VILLA-LOBOS Seresta n. 12. Realejo
(comp.1-4)
Figura 6. Clulas bsicas
2.3. Faixa sonora
Combinaes de colees diatnicas (Straus, 2000, p. 116-7) aqui se constituem em
massas ou faixas sonoras. Os sons no so percebidos individualmente, mas pelo impacto
do seu conjunto (Figura 7).
VILLA-LOBOS Prole do Beb II, 9. O lobosinho de vidro
(comp. 1-10)
Figura 7. Faixa sonora
6
Concluso
A observao das tcnicas de composio que constituem a textura e o timbre das
peas de Villa-Lobos Prole do Beb n. 1 e 2, e Serestas apontam para as seguintes
concluses sobre o material formador de sua linguagem:
- os bordes, presentes em todas as peas, servem de base para linhas meldicas,
ritmos e acordes, como elementos formadores da textura e articulao nas peas;
- a polifonia, constituda por idias desenvolvidas em planos independentes;
- o piano e a voz, tratados na procura e explorao de timbres.
A partir deste material, Villa-Lobos desenvolve suas caractersticas, as quais
podem ser resumidas:
- no emprego de clulas rtmicas praticadas no Brasil, como elemento estrutural da
composio;
- no uso de linhas meldicas de canes folclricas ou no, superpostas aos planos
polifnicos, como mais um ornamento da textura e do timbre;
- no timbre, tratado como valor caracterstico na sua msica.
Os processos de composio praticados por Villa-Lobos nestas peas, tambm
so encontrados em compositores como Debussy, Satie, Stravinsky, entre outros, o
que revela sua ligao com a Europa na teoria da composio, porm Villa-Lobos os
usa em uma elaborao diferente, incorporando o ambiente musical do Brasil, atravs
de ritmos e linhas meldicas, elaborando uma grande sntese. Representa
perfeitamente a grande mistura de culturas e raas, caracterstica formadora da
cultura brasileira e pode por isto, ser considerado um homem de seu tempo, criador,
brasileiro e universal.
Referncias Bibliogrficas
BARRENECHEA, Lcia. GERLING, Cristina Capparelli. Villa-Lobos e Chopin: o dilogo
musical das nacionalidades. In: GERLING, Cristina (Org.) Trs estudos analticos. Villa-Lobos,
Mignone, C. Guarnieri. Porto Alegre: UFRGS, 2000. pp. 11-74.
BHAGUE, Gerard. Hector Villa-Lobos: the Search for Brazils Musical Soul. Austin: Institute of
Latin American Studies / University of Texas at Austin, 1994.
_______________ Villa -Lobos, Heitor. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2
ed. London: Macmillan, v. 26, p. 614, 2001.
BITTENCOURT, Maria Cristina Futuro. Panorama da Bibliografia Villalobiana. Brasiliana..Rio
de Janeiro: n. 3. set. pp. 38-47, 1999.
FERNANDEZ, Lorenzo. A contribuio harmonica de Villa-Lobos para a msica brasileira.
Boletin latino americano de musica. vol. 6. (Abril). pp. 283-300, 1946.
KATER, Carlos. Aspectos da modernidade de Villa-Lobos. Em Pauta. Porto Alegre: 1, n.2 pp.
52-65, 1990.
KIEFER, Bruno. Villa-Lobos e o modernismo na msica brasileira. Porto Alegre: Movimento,
1981.
KOSTKA, Stephen. Materials and Techniques of Twentieth Century Music. 2 ed. Upper Saddle
River: Prentice Hall, 1999.
LIMA, Luiz Fernando Nascimento de. Notcia sobre o Primeiro Congresso Internacional Villa-
Lobos. Brasiliana. Rio de Janeiro: n. 12, set. pp. 2-9, 2002.
MARIZ, Vasco. Histria da Msica no Brasil. 5 ed. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 2000.
MEAD, Andrew. The State of Research in Twelve-tone and Atonal Theory. Music Theory
Spectrum. 11: (1), Spring pp. 40-48, 1989.
7
NEVES, Jos Maria. Depoimento. In : Vida e obra de Heitor Villa-Lobos. Rio de Janeiro : CD-
ROM. CDArte, 2000.
OLIVEIRA, Jamary. Black Key versus White key: a Villa-Lobos device. Latin American Music
Review/ Revista de Msica Latinoamericana. V. 5, n. 1 (Spring/Summer), pp. 33-47, 1984.
Villa-Lobos, sua obra. Catlogo. 3 ed. Rio de Janeiro : Museu Villa-Lobos, 1989.
SALZER, Felix. Structural Hearing. New York: Dover, 1982.
STRAUS, Joseph. Introduction to post-tonal music. 2 ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000.
WIDMER,Ernst. Bordo e bordadura. ART. Salvador: 004, jan.mar pp 4-16, 1982.
FIGURAS
Figura 1. Clula rtmica
Figura 2. Clula rtmica com variao de alturas
Figura 3. Acordes em clula rtmica
8
Figura 4. Clula e polifonia rtmica
Figura 5. Polifonia em planos independentes
Figura 6. Clulas bsicas
Comp. 1-3 4-5 6-7 8-9 10
Figura 7. Faixa sonora
Pianista acompanhador: um estudo analtico de suas competncias e
aes enquanto produtor musical
Marlia de Alexandria Cruz Coelho
Universidade Federal de Gois (UFG)
robcoelho@uol.com.br
Resumo: Esta pesquisa um estudo analtico sobre diferentes competncias e aes de pianistas
acompanhadores. O corpus de anlise formado por dez pianistas acompanhadores da Escola de
Msica de Braslia, com os quais se verificaro os princpios necessrios para uma melhor atuao
neste meio. A fundamentao terica est voltada para a produo performtica e composta por
entrevistas individuais semi-estruturadas. A pesquisa tambm considerar outros aspectos
qualitativos evidenciando que estes profissionais, embora tenham necessidade de uma formao
acadmica especfica, devem ser vistos no como simples acompanhadores figuras secundrias na
produo musical -, mas indivduos dotados de habilidades prprias.
Palavras-chave: pianista acompanhador, msica de cmara, competncias.
Abstract: This research is an analytical study about different competence and action of a
accompanying pianists. The scope of analysis is constituted by ten accompanying pianists of the
Braslia School of Music Brazil in whom the necessary principles for a better performance was
verified. The theoretical fundament is focused on performance production and composed by semi-
structured individual interviews, through which different competences is being studied and actions
developed. The research will also considers other qualitative aspects highlighting the fact that in
spite of having a specific academics formation these professionals are to be seen not as mere
accompanists -secondary figures in the musical production -, but individuals endowed very
personal abilities.
Keywords: accompanying pianist, chamber music, competence.
Estudos referentes performance pianstica no Brasil apresentam um crescimento
significativo como rea cientfica de interesse (GERLING, 1995; NEVES, 2000) ainda que,
especificamente, a atuao do pianista acompanhador, como objeto de pesquisa, no tenha
recebido muita nfase, dadas as poucas informaes sistematizadas sobre esta atuao.
Para melhor conhecimento da prtica do profissional pianista acompanhador, este
trabalho, como pesquisa, prope-se a estudar as competncias e aes necessrias para tal
prtica, abrangendo aspectos considerados essenciais sua atuao e tomando como campo
de trabalho a Escola de Msica de Braslia. Nesse sentido, a atuao do pianista
acompanhador se apresenta como objeto desta anlise, articulada a um conjunto de
qualidades aplicadas realidade em que este pianista se insere. Observe-se que a escolha
desse corpus de anlise se deve ao fato de a mesma ser uma escola profissionalizante que
conta com um corpo docente de dez professores pianistas acompanhadores, concursados e
contratados para exercer apenas esta funo.
Inicialmente, entenda-se que, sob a ptica scio-lingstica
1
, classificar uma pessoa
como acompanhadora denota funo de segundo plano. Este conceito referendado
pelaprpria literatura musical que, segundo o Dicionrio Grove de msica, acompanhadora
aquela pessoa que atua acompanhando um solista (1994, p.5), termo no suficiente para
definir a prtica do pianista que atua tocando com, pelo menos, mais uma pessoa, seja
instrumentista ou cantor.
Em muitas obras a parte referente ao piano poderia ser considerada como parte
acompanhadora, quando o pianista realiza ou apenas executa redues de orquestra e/ou
coro, por exemplo (comumente chamado de pianista correpetidor
2
), sendo esta apenas uma
das aes do pianista acompanhador.
Esta prtica, todavia, no corresponde atuao do pianista em sua totalidade, j
que existem ainda outras situaes de atuao, que abordaremos mais frente. Observem-
se, por exemplo, alguns duos ou trios (sonatas de Bach, Beethoven, Prokofiev) em que
pianista e demais instrumentos (ou vozes), para os quais a pea foi escrita, exercem papis
de semelhante importncia, no decorrer de uma obra, revelando nessa, a parte escrita para
piano to e por vezes mais complexa que a dos demais msicos envolvidos.
Embora a expresso pianista correpetidor ou pianista acompanhador no
represente a realidade dos pianistas em questo, optou-se por utilizar esta ltima no sentido
de manter a maneira como tem sido denominado aquele que no est desempenhando,
naquele momento performtico, a funo de solista. Assim, a expresso pianista
acompanhador faz referncia aqui quele que, como pianista e no uso de suas
competncias, estar tocando com um ou mais instrumentistas e/ou cantores.
Segundo o Dicionrio Houaiss, competncia soma de conhecimentos ou de
habilidades; capacidade objetiva de indivduos para resolver problemas, realizar atos
1
A scio-lingstica um dos ramos da Lingstica que se preocupa, basicamente, com a manifestao da
lngua como manifestao social, resultado da comunicao entre emissor e receptor, respeitadas suas
condies de transmisso de mensagem.
2
O pianista correpetidor tambm tem atuado como um coach (preparador), em geral para cantores, onde,
alm de executar a parte da obra referente ao piano, este tambm orienta o intrprete em outras questes tais
como pronncia, parte tcnica do canto propriamente dita, presena no palco (cena), etc.
definidos e circunscritos (2001, p. 775). A noo de competncia sugere, portanto,
conhecimentos e saberes especficos norteando aes no sentido de resolver problemas.
O reconhecimento de uma competncia no se limita a identificao de problemas
a serem resolvidos ou situaes a serem controladas, decises a serem tomadas, mas
tambm pela explicitao dos saberes, das capacidades, dos esquemas de pensamento
(PERRENOUD, 2002, p.19). Em seu livro tica e competncia, Terezinha Rios (1995),
define competncia como saber fazer bem. Assim, deve-se entender o saber como domnio
dos contedos e o saber-fazer como estratgias utilizadas para que se consiga realizar
aquilo que desejado, ainda como um conjunto de saberes saber-fazer, saber-ser e saber-
agir necessrio, ao longo do tempo, para o exerccio de uma profisso (OLIVEIRA. A,
2001, p. 22).
Isto significa dizer que para ser competente, o indivduo deve ser capaz de usar
habilidades, conhecimentos, atitudes e experincias adquiridas para desempenhar bem os
papis sociais e desenvolver atividades de maneira autnoma. Autonomia esta que no
pode ser separada da idia de auto-organizao, e de que s se pode ser autnomo, de fato,
a partir de dependncia original em relao, pelo menos, a um saber (MORIN, 2001). Neste
particular, surgem como questionamento, dois pontos fundamentais: Que saberes so
necessrios para que o pianista acompanhador se qualifique como tal? E como o pianista se
organiza para atuar de forma autnoma?
Reforando o conceito do que se entende por profissional autnomo, a boa
formao profissional favorece competncias e habilidades norteadas por consideraes
como solucionar problemas, expressar e defender pontos de vista, compreender fenmenos,
dominar cdigos artsticos, musicais e criar propostas (SOUZA, 2001).
Quanto formao do pianista, outro tema que gera grande preocupao nos
pesquisadores em msica da contemporaneidade
3
est relacionado s experincias musicais
dos alunos
4
. A percepo crtica e compreenso desta realidade contempornea por parte
dos professores, em que vrios alunos j atuam como pianistas acompanhadores no
3
Dentre alguns pesquisadores que escreveram nesta rea podemos citar Esperidio (2002); Freire (2001),
Hentchke (2000), Souza (2000)
5
O que Joel Silva, professor emrito do curso de Psicologia da PUC-SP e ex-reitor daquela universidade, j
falecido, chamou de experincia mundo-vida da pessoa.
proporciona um ensino musical adequadamente eficaz e produtivo, integrando exigncias
dos modelos de ensino s do prprio exerccio da profisso de pianista acompanhador.
Considerando nas ltimas dcadas, a revoluo cultural, tecnolgica, social e
econmica global, a formao de pianistas e suas atividades no mundo contemporneo
enquanto configurao moderna do contexto de mercado de trabalho , tem levado a
profundas transformaes no panorama educacional brasileiro, em diferentes nveis e reas
do conhecimento. Assim, tal qual os fenmenos culturais, a atuao do pianista tem sido
plasmada continuamente quando, ao circular entre os mais diferentes espaos e funes,
adquire e modifica caractersticas musicais e sociais (FREIE, 2001).
Ao considerar a importncia de um estudo terico acadmico mais eficiente e
moderno em relao s posteriores atividades prticas, deve-se avaliar a necessidade de
integrao, e adequar mais eficazmente a relao entre ensino e exerccio da profisso de
pianista. O fato que muitos dos alunos iniciam seus cursos na universidade com algum
tipo de experincia profissional. Vrios deles adquirem tal experincia no decorrer dos
cursos enquanto questionam quantos professores tm considerado este conhecimento
prtico do aluno. (HENTSCHKE, op. cit).
Na prtica, observa-se tambm que estas teorias tm-se mostrado insuficientes para
que o aluno de piano, j atuante, desenvolva suas competncias para resolver problemas de
ordem essencialmente prtica com maior autonomia e otimizao de tempo tais como, por
exemplo, resolver situaes de ensaio que at ento no lhe haviam sido oportunizadas.
Em face dessas transformaes, e considerando uma primeira anlise dos itens
levantados pela pesquisa, entende-se que h pianistas que se antecipam s instituies e se
adaptam a essas mudanas construindo, empiricamente, as competncias e aes que
avaliam necessrias para atuar no mercado de trabalho.
Acrescente-se a tal realidade, a necessidade contempornea de se formarem
pianistas conscientes das especificidades de diferentes situaes de atuao (SOUZA,
2001). A partir desta tomada de conscincia, estes alunos reconheceriam suas competncias
e adequariam melhor sua ao em funo de realidades profissionais, passando a se
caracterizar como receptor e gerador de conhecimento nessa relao ensino-aprendizagem.
Como conseqncia desta situao, em que alunos de piano precisam se adequar
rapidamente s exigncias do meio profissional, observa-se que se encontra mais
diversidade de atuao do que as alternativas apresentadas pelas instituies de ensino.
Ressalte-se o caso do pianista acompanhador, cuja formao especfica no amplamente
contemplada pelas instituies educacionais brasileiras, apesar do grande nmero de
pianistas atuando nesta rea.
Apesar da situao atual, possvel notar, em encontros e debates recentes na rea
da msica, preocupao com os mltiplos espaos de atuao existentes que vo alm dos
apontados pelos cursos acadmicos
5
. Para proporcionar comunicao significativa entre
esses cursos e seus alunos, pesquisadores defendem um olhar mais crtico, reflexivo, que
incida sobre a formao/ao do profissional em diferentes contextos.
A partir da vivncia cotidiana com esta prtica, surgiu a necessidade de pesquisa
sobre quais competncias e aes inerentes ao pianista acompanhador. Ainda, qual a
relao existente entre conhecimentos adquiridos pela formao educacional e os
construdos a partir de sua prtica, problemas enfrentados no seu trabalho enquanto pianista
acompanhador, e que competncias julgam necessrias para construir sua ao.
Aliada s competncias tcnicas propriamente ditas, a importncia da valorizao
do pianista como artista e como criador, coloca-o em p de igualdade ao pianista solo no
que se refere aos valores pessoais, adquiridos e utilizados na sua atuao, enquanto
produtor de arte. No por ser solista que um pianista tem mais valor do que outro que atua
na msica de conjunto cada um guarda habilidades especficas.
Nesse sentido de anlise, os passos metodolgicos do estudo foram assim
organizados:
- A partir de pesquisa bibliogrfica, desenvolveu-se uma fundamentao terica sobre
conceitos que dizem respeito performance pianstica abrangendo tanto o solista quanto o
camerista.
- Relacionou-se, sob o ponto de vista dos pianistas acompanhadores entrevistados como
base da pesquisa, quais as competncias necessrias para atuar nesta funo, sejam elas de
cunho especificamente tcnico, no que diz respeito mecnica do instrumento
propriamente dita, ou mesmo psicolgica.
- Verificaram-se as aes desenvolvidas pelos pianistas acompanhadores da Escola de
Msica de Braslia quando no exerccio de sua atividade.
5
Vide textos relacionados na Bibliografia, sobretudo em Anais do Encontro Anual da ABEM, 2001.
- Com uma anlise detalhada, foram verificadas falhas e inadequaes quanto formao
profissional dos pianistas acompanhadores em relao realidade do meio em que atuam.
Para a execuo desta pesquisa, devido s caractersticas do objeto de estudo
investigado, trabalhou-se no s com pesquisa quantitativa (coleta de dados), mas tambm
com pesquisa qualitativa, que permite a compreenso de processos dinmicos configurados
na prtica do pianista acompanhador. Vale lembrar que o estudo de caso possibilita a
realizao de um estudo aprofundado sem intervir diretamente na realidade; permite,
tambm, estabelecer comparaes entre enfoques diferentes e especficos, atravs de
entrevistas, ao que se denomina Estudo comparativo de dados (TRIVIOS, 1987).
Como resultado at a presente fase deste trabalho, segundo entrevistas j realizadas
e consulta bibliogrfica feita, tm-se alguns pontos parcialmente verificados quanto s
competncias e aes prprias do pianista acompanhador. Em face das transformaes,
citadas anteriormente e considerando uma primeira anlise dos itens levantados, observou-
se que h pianistas que se antecipam s instituies e se adaptam a essas mudanas
construindo, empiricamente, competncias e aes que avaliam necessrias para atuar na
Escola de Msica de Braslia.
Mediante tal pesquisa, alguns itens foram observados pelos pianistas
acompanhadores como importantes, em seu desenvolvimento e aperfeioamento, para
traar um perfil mais objetivo quanto atuao tcnico-interpretativa, por vezes limitada,
bem como sua valorizao como profissional, a saber:
- Leitura primeira vista de diferentes obras e estilos;
- Estudo individual considerando ser ele (pianista) um produtor musical tal qual os
demais instrumentistas do grupo;
- Compreenso do texto musical no que diz respeito forma e estilo;
- Subsdios para troca de informaes com o(s) instrumentista(s) com o(s) qual(is)
est atuando tais como familiaridade com o repertrio e com o instrumento ou voz
para qual a pea tambm foi escrita;
- Interesse e disposio para saber-fazer-bem;
- Prtica de redues tanto orquestral como coral ou de outras formaes;
- Sonoridade que possa corresponder ao(s) instrumento(s) que o piano est
representando em determinadas obras (orquestra, coral, etc que exigem
sonoridades mais cheias, por exemplo) para que o instrumentista se adapte quela
sonoridade, familiaridade com transposio;
- Postura profissional como a de quem ele representa parte realmente importante
naquela produo musical (valorizao pessoal e profissional);
- Prtica de expresses da msica popular, como cifras, ritmos e estilos;
- Realizao de baixos cifrados, caractersticos da msica barroca;
- Conhecimento de lnguas (alemo, italiano, latim e ingls);
Estas entrevistas e observaes verificaram, ainda em processo de anlise dos dados
levantados, que competncias tm sido necessrias aos pianistas acompanhadores no
exerccio de suas funes e que aes tm desenvolvido para tanto em suas atividades na
Escola de Msica de Braslia. Ainda que parcialmente, conclui-se tambm que o pianista
acompanhador pede, quanto a sua formao profissional, um olhar mais especfico, seja em
relao sua aprendizagem, seja quanto ao seu valor artstico.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CHIZZOTTI, Antnio. Pesquisa em cincias humanas e sociais. 4 ed. So Paulo: Cortez,
2000.
ESPERIDIO, Neide. Educao profissional: reflexes sobre o currculo e a prtica
pedaggica dos conservatrios. In: Revista da ABEM, n. 7, 2002, p. 69-74.
FREIRE, Vanda. Educao musical, msica e espaos atuais. In: Anais do X Encontro
Anual da ABEM, 2001, p. 11-18.
HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. Petrpolis:
Vozes, 2001.
HENTCHKE, Liane. O papel da universidade na formao de professores: algumas
reflexes para o prximo milnio. In: Anais do IX Encontro Anual da ABEM, 2000, p. 79-
90.
GERLING, Cristina Capparelli. A formao do intrprete e educador decorrncias na
ao pedaggica. In: Em Pauta, v. 11, 1995, p.59-66.
HOUAISS, Antnio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionrio Houaiss da Lngua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construo do saber. Porto Alegre: Artmed, 1999.
MORIN, Edgar. A cabea bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
NEVES, urea Maria Pinto. Pianista para aulas de bal clssico: uma reflexo em torno
de sua formao direcionada e de sua contribuio em um estdio de bal clssico.
Comunicao apresentada no IX Encontro Anual da ABEM, 2000.
OLIVEIRA, Alda. Mltiplos espaos e novas demandas profissionais na educao
musical: competncias necessrias para desenvolver transaes musicais significativas. In:
Anais do X Encontro da ABEM, 2001, p. 19-40.
PERRENOUD, Philippe. Construir as competncias desde a escola. Trad. de Bruno
Charles Magne. Porto Alegre : Artmed, 1999.
_______. Dez novas competncias para ensinar: convite viagem. Trad. de Patrcia
Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 2000.
_______. As competncias para ensinar no sculo XXI: a formao dos professores e o
desafio da avaliao. Trad. de Cludia Shilling e Ftima Murad. Porto Alegre: Artmed,
2002.
RIOS, Terezinha A. tica e competncia. 4 ed. So Paulo: Cortez, 1995.
SILVA, Joel da. Poiesis: um estudo fenomenolgico do currculo. So Paulo: Cortez, 1996.
SOUZA, Jusamara. (Org). Msica, cotidiano e educao. Porto Alegre: Programa de Ps-
Graduao em Msica do Instituto de Artes da UFRGS, 2000.
SOUZA, Zilmar Rodrigues de. Curso tcnico de msica: formao por competncias.
Comunicao apresentada no X Encontro Anual da ABEM, 2001.
TRIVIOS, Augusto Nibaldo. Introduo pesquisa em cincias sociais: a pesquisa
qualitativa em educao. So Paulo: Atlas, 1987.
Dicionrio Houaiss da lngua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
Dicionrio Grove de msica (ed. concisa). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
A viso do terreiro no processo de mudana musical
Mrio Lima Brasil
Universidade de Braslia (UnB)
mariobr@terra.com.br
Este trabalho se remete ao estudo paralelo entre as gravaes realizadas pela
Misso de Pesquisas Folclricas de 1938, em Belm do Par, e as realizadas pelo autor
desta comunicao com o objetivo de avaliar as possveis mudanas musicais, nas
doutrinas do Babassu, nos ltimos 60 anos.
. Procura-se mostrar a viso dos membros do terreiro de 1998 sobre o processo de
mudana, os parmetros musicais que consideram haver mudado.
Nas primeiras entrevistas, quando nada sabiam dos propsitos desta pesquisa,
expunham que no houve mudanas, que as tradies do nag e da mina estavam
preservadas, por isto o mina-nag. A mudana era interpretada como diferena; o
antigo, como o referencial legitimador. Nada mudara, pois. O terreiro procurava manter
as tradies do ritual.
O antigo vinha do Maranho, onde o pai-de-santo havia feito o santo, onde
estavam as razes do mina-nag. FURUYA (1986) mostra a necessidade de legitimao
e como ela se conecta ao Maranho, no caso do mina-nag
1
.
Nas ltimas entrevistas, aps ouvirem a gravao de 1938 e darem sua verso
sobre os cnticos, o discurso no terreiro muda de forma to radical que possvel
duvidar de toda a conscincia expressada antes de ouvir a gravao de 1938. Quando
entenderam que o antigo no era o referencial legitimador, que era muito diferente do
que cantavam, dos toques, nos andamentos e em algumas letras das doutrinas,
formularam a prpria teoria sobre o que teria acontecido
2
.
(...)No inicio eu no tocava tambor, fui na federao, registrei(...)Tenda de Umbanda So
Sebastio(...) ai fiquei trabalhando (o Pai-de-santo canta e bate palmas, Fig. 1), mas voc
v que essa mesma doutrina tinha em outras casas que tocavam assim (o Pai-de-santo
1
Os depoimentos esto nas fitas gravadas at maio/1998.
2
Os depoimentos esto nas fitas gravadas a partir de julho/1998.
canta e bate palmasFig.1), eu no, j criei diferente a palma (canta e bate palmas como
no ex.1)(...)
Percebe-se que o pai-de-santo de 1998 comeou na linha de umbanda na
curimba, o batido de palmas, e logo se diferenciou de outras casas onde viu o ritual.
FIGURA 1 Clula rtmica das palmas do pai-de-santo de 98 e de outras casas.
O pai-de-santo tinha conscincia das diferenas nos ritmos e do tipo de ritmo
que queria. Encontra-se o ritmo da curimba no agog do toque Adarrum de 1998
3
. Por
ser tambm filho natural de um pai-de-santo, pai Bassu procurava um toque mais
africano
4
, trazendo de volta umbanda a sncope, que em vrias casas no existia.
Fator relevante, o carter inovador o direcionou ao Maranho. Passou a falar, inclusive
musicalmente, do que mudara desde a origem.
Diz da mudana de sair da curimba da linha de umbanda para o mina-nag nos
atabaques. Houvera sido um pedido da caboca Jarina, a quem prontamente atendera.
Pediu os tambores emprestados a seu pai, que lhe negou e perguntou o que iria cantar;
ao que respondeu que iria cantar o que tinha ouvido todos os anos em casa. Conseguiu
outros tambores, e o ritual de 19 de janeiro de 1966 foi um sucesso.
A segunda mudana foi voltar a suas origens no mina-nag, cuja clula rtmica
do agog ele havia levado para a curimba da umbanda.
Tanto na ida para a umbanda, quanto na volta ao mina-nag, percebe-se um
elemento de continuidade, o padro rtmico do Agog que ele incorpora nas palmas. o
3
Vide tpico 5.6.4 Socado - Adarrum.
4
Variaes deste padro h nos estudos de KAZADI sobre a influncia bantu na msica brasileira: WA
MUKUNA (1970)
que GARFIAS (1984) considera mudana gradual e constante. Apesar de mudarem para
outro ritual, os elementos comuns so mantidos.
Viajou ao Maranho, em busca das verdadeiras razes nag.
(...) Quando eu cheguei no Maranho, a, um dia, a Me-de-santo, antes deu passar
pela iniciao, ela disse assim pra mim: Orlando,
5
como que posso corrigir as
doutrinas que tu cantas l em Belm, se tu no cantas pra mim? Como que tu abrias
o toque da tua casa? (o Pai-de-santo canta e toca o tambor, Fig.2)Eela dizia: olha,
aqui pra ns assim (o Pai-de-santo toca dizendo como a Me-de-santo do Maranho
o corrigia, Fig2)(...)
FIGURA 2 Clula rtmica do toque do pai-de-santo de 1998 e da me-de-santo do
Maranho.
V-se que o toque uma espcie de rufo na casa do pai-de-santo de 1998, a que
denominam Bravum ou Tremido. J a me-de-santo corrige o toque para o Ager
6
.
Como correo implica mudana, ambos falavam de um processo construdo toque a
toque, doutrina a doutrina, mesmo sem conscincia disso.
O pai-de-santo mostra o que mudou e como a me-de-santo modificava o que ele
levara de herana do Par para o Maranho.
5
Nome do pai-de-santo de 1998.
6
Esta clula rtmica uma variao do padro rtmico dos yorubas
(...)Orlando, canta o p dessa doutrina (o Pai-de-santo canta e toca: Avereketi da
coluna reis do m, Avereketi da ind...Fig.3). Da ind Orlando, no meu filho t
errado, Dariod, (o Pai-de-santo canta e toca como a Me-de-santo corrigiu, Fig.3)
eles levaram l pro Par, mas mudaram coisas.(...)
FIGURA 3 Base do corrido e Base do Adarrum
Nota-se a conscincia em mnimos detalhes, como numa simples palavra na letra
da doutrina. A diferena estava tambm nos toques. O pai-de-santo executou o antigo
Corrido, e ela corrigiu para o atual toque Adarrum.
(...)Quando eu trouxe pra c eu adiantei, achava esse toque muito lento(...)No d pra
mim; tanto cansa como fica um toque enjoado; no, eu vou mudar(...)
7
Pai Bassu cria outras modalidades de Ager e as denomina Ager I, II e III. A
diferena bsica est no andamento:
Ager I = 46 ppm (pulsaes por minuto)
Ager II = 60 ppm
Ager III = 80 ppm
7
Entrevista com o pai-de-santo de 98 nas fitas a partir de julho, este discurso constante
Cansa refere-se ao p-de-dana e voz, outro motivo de acelerar os
andamentos. Ao se acelerar o andamento, sutil mudana nos Ager I e II para o Ager
III acontece. (Fig. 4)
FIGURA 4 Ager I, II, III
Para a sensao de que o andamento ficou mais rpido, no lugar da semnima do
primeiro tempo o Ager III usa duas colcheias, fazendo com que todas as notas sejam a
colcheia, no deixando que o movimento pare na semnima, como no Ager III, mas
mantm a diviso binria do primeiro compasso e a diviso ternria do segundo
8
.
Pode-se dizer que neste caso apenas uma variao, como diz BLACKING
(1976); mas no que a mudana constante e imperceptvel, como quer GARFIAS
8
LACERDA, M. B. (1990)
Ex.4
(1984), pois ela intencional e funcional, acelera o p-de-dana e descansa a voz ao
cantar as doutrinas em andamentos mais rpidos.
Estas aceleraes no ritual foram presenciadas numa ocasio em que o pai-de-
santo no se sentia bem. Tudo deveria ser cantado em Ager I e Ager II, mas era
cantado em Ager III. Com discrio, ele disse ao pesquisador: para descansar a
garganta; por isso criei o III. Difcil afirmar quando o Ager III foi criado, mas foi
intencionalmente criado, no gradativamente. A hiptese de que as mudanas seriam
graduais e constantes no se aplica a este caso.
(...)Quando as Mineiras (antigas de Me-de-santo do Maranho que chegaram aqui)
vinheram, no trouxeram abataseiro (tocador de tambor). No caso do Adarrum (O
Pai-de-santo toca o que representaria no Par o Adarrum da casa dele que ele trouxe
do Maranho, Fig.5); t bom? Ta...d pra danar n? E assim foi ficando. (...)Em vez
de dar esta resposta (O Pai-de-santo toca o Adarrum, Fig.5), fico mais fcil pra eles
assim, por que esse realmente cansa, esse tum-tum repetido que d o ritmo que o
caboco gosta.(...)
FIGURA 5 Clulas tocadas pelo pai-de-santo
Notam-se estudiosos do culto afro-brasileiro no Par que advogam que o ritual
veio do Maranho, assim como por que os toques no foram bem apreendidos. Com as
mes-de-santo maranhenses no vieram os abatazeiros ( tocadores de atabaques ). Da
forma que iam aprendendo, deixavam, desde que se assemelhasse ao original e se
pudesse danar. Alm disso, a percepo do pai-de-santo do timbre do tambor mudando
o ritmo, porque as duas batidas ( tum-tum ) do atabaque eram importantes para a dana
dos cabocos.
Formula-se no terreiro uma teoria de como o processo de mudana aconteceu.
Pode-se ento perceber a conscincia que a comunidade demonstra ter sobre estas
mudanas.
(...)Foi difcil ensinar os toques, perdi at amigos por causa disto. (...)meu caboco
chegou e disse: no d pra vocs tocar do jeito que eu expliquei, do jeito que eu
quero? Ai ele disse, poxa Pai-de-santo, eu vou fazer 60 anos, depois de velho ter que
aprender.(...) Ai seu Rondador (caboco do Pai-de-santo) disse: se for dessa maneira
voc vai levantar, eu no preciso mais do trabalho de vocs.(...) A ele ficou no
instrumento cantando e batendo sozinho, isso a casa lotada. (...).
Este fato parece representar um marco para a comunidade. Os mais antigos se
emocionam ao relat-lo: o caboco Rondador expulsando os tocadores de atabaque
mais antigos e ficando sozinho a tocar, at no agentar mais. Jovens que estavam
aprendendo o toque novo, mas que nunca haviam tocado em festividades, ao verem o
pai-de-santo exausto se encorajaram e com o Rondador assumiram os atabaques.
Tornaram-se ento os tocadores de atabaque oficiais da casa. Estava oficializado o
novo toque.
O depoimento elimina a hiptese de que as mudanas foram graduais e
constantes
9
. Se alguns parmetros se mantiveram, como o ritmo em alguns toques, no
foram suficientemente fortes para o instrumentista no perceber a mudana como
ruptura brusca, recusando-se inclusive a tocar.
(...)Onde a gente chegava, eles diziam: chegou o Bassu e as Bassuletes (referindo-se s
chacretes), e a todo mundo se encostava e ficava s meu pessoal danando. Iinclusive
isso aconteceu na Federao.(...)
Demonstra-se que a ruptura no foi s para os instrumentistas. Toda a
comunidade percebeu, inclusive a Federao, onde ficam os intelectuais do santo.
9
GARFIAS (1984)
(...)na poca da gravao de 38 se cantava mais moda maranhense, mais meldico, o
corrido teria vindo da prpria adaptao da linguagem do cntico ao dialeto
paraense, talvez mais rpido, n? (...)
Acima, o comentrio de um filho-de-santo ao ouvir a gravao de 1938. Nota-se
que percebe o contorno da melodia - ao dizer que a de 38 era mais meldica - e teoriza
que o canto no Par mais rpido, menos meldico (talvez mais rtmico e com menos
inflexes), devido diferena nos falares paraense e maranhense.
Perceptveis as diferenas ao ouvir cantar ou tocar em Belm pagode ou ax,
executados em andamentos bem mais rpidos para que se possa caquear
10
e cantar de
forma mais rtmica. teoria do filho-de-santo - que pode estar certa - acrescente-se a
importncia do movimento corporal para um povo que transforma quase tudo em ritmo
danante, fazendo nascer um gnero atual de msica genuinamente paraense que
transformou o bolero e as batidas da jovem guarda no brega do Par, msica rpida,
para danar.
Importante reiterar a conscincia da mudana, desta vez do carter da melodia, e
da formulao de teorias para a explicar o fenmeno. Para a comunidade do terreiro, o
processo todo consciente.
O carter inovador, a necessidade de legitimao, buscas de andamentos mais
rpidos e melodias mais rtmicas para se danar mais rapidamente ativaram as
mudanas. O processo uma ruptura que choca a comunidade do santo e entendido
como uma mudana radical.
BIBLIOGRAFIA
BLACKING, John . Identifying Process of Musical Change. Berlin, Henrichshofen, 1976.
10
Termo popular paraense para designar as variaes na dana.
FURUYA, Yoshiyaki. Entre Nagoizao e Umbandizao: uma sntese no culto Mina-Nag
de Belm, Brasil. Universidade de Tquio, 1986.
GARFIAS, Robert. The Changing Nature of Musical Change. Symposium, 24(l): 1-10, 1984.
LACERDA, Marcos Branda Textura Instrumental na frica Ocidental: a Pea Agbadza.
Revista Msica, ECA/US, 1: 18-28, 1990.
WA MUKUNA, Kazadi. O contato musical transatlntico: contribuio Bantu na msica
popular brasileira. Tese de Doutoramento FFLCH, USP, Departamento de
Cincias Sociais, 1994.
1
Musicoterapia: desafios da interdisciplinaridade entre a modernidade
e a contemporaneidade
Marly Chagas
Conservatrio Brasileiro de Msica (CBM)
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
marlychagas@alternex.com.br
Resumo: Este trabalho tem como tema central o estudo da interdisciplinaridade como uma
forma de produo de conhecimento hbrido nascida na modernidade. Para delimitar esta
questo, enfocam-se como o interesse da atitude moderna a categorizao e a separao, Utiliza-
se no presente estudo, a musicoterapia como plano privilegiado para entender as questes da
formao de um campo disciplinar, que pretende unir a cincia e a arte para construir o seu
conhecimento. Analisa-se o movimento que suscitou a disciplinarizao como requisito
purificador indispensvel ao surgimento da interdisciplinaridade. Expem, brevemente, as
atitudes modernas da cincia e da msica at se desembocar na virada contempornea, que cria
espaos para os diversos tipos de misturas disciplinares. A musicoterapia entendia como um
novo campo de conhecimento contemporneo que pretende a purificao, atravs da sua prpria
disciplinarizao, tanto quanto almeja a hibridao, atravs de novas misturas contemporneas.
Palavras-chave: musicoterapia, interdisciplinaridade, contemporaneidade
Abstract: The central theme of this work is the study of inter-disciplinarity as a form of
knowledge, born in modernity, it may be thought of as a hybrid with its beginnings in
contemporaneity. To outline this question, one focus on the modern attitude and its practices of
categorizing and separation. Use music therapy as a privileged situation to understand the
questions of formation of an inter-disciplinary field, which intends to unite science and art to
construct its skills. Analyze the movement which raises disciplining as a purifying requirement,
indispensable to the emergence of inter-disciplinarity. Briefly expose the modern attitudes of
science and music until they flow into the contemporaneous overturn, which creates spaces for
those diverse types of disciplinary mixtures. Music-therapy is understood as a new field of
contemporaneous knowledge, One must understand that music-therapy is intent on purification
through its own disciplining, as much in its strong desire as in hybridization by way of new
contemporaneous mixtures.
Keywords: music therapy, inter-disciplinarity, contemporaneity
1 - DE COMO FOMOS SENDO MODERNOS E VIVENDO NO MODERNOS
A modernidade distingui-se por uma nova forma de pensar e de
entender a realidade. Bauman (1998) acredita ter a modernidade se iniciado na Europa
Ocidental no sculo XVII, caracterizando-se por um desmantelamento de um tipo de
ordem e pelo estabelecimento de uma outra ordem. A maneira moderna de pensar a
realidade implica em situ-la em dois grandes plos: ou o real o relacionamento
humano - os humanos-entre-si, a sociedade e a cultura-, ou o real a natureza.
2
A cincia moderna, com o seu dilogo experimental, comeou a
negar os antigos conhecimentos sobre a relao do homem com a Natureza. O mundo
deveria ser conhecido, porque matematizvel. A cincia carrega uma grande histria de
dominao da natureza, dos comportamentos, dos corpos, da irracionalidade, dos
sentimentos, da paixo, e alguns autores acreditam que a anlise da histria da cincia
se confunde com o surgimento do que chamamos de Ocidente (DAmaral, 1995). A
histria da msica, por sua vez, conta com uma noo de desenvolvimento tonal que,
assim como a cincia, se traduz, igualmente, como a histria do Ocidente (Wisnik,
1989; Sekeff, 1996).
O ambiente harmnico a contrapartida musical do ambiente
experimental cientfico. As leis harmnicas exigem as cadncias e os acordes. A partir da
rigorosa aplicao dessas leis, da nfase na beleza e na graa da melodia e da forma, da
proporo e do equilbrio, estabeleceu-se o pensamento moderno da msica.Os sistemas
musicais traaram o mesmo percurso da cultura: orientaram-se por um processo de
racionalizao e por um considervel progresso cientfico e tecnolgico (Sekeff, 1996)
O que se engendra com este tipo de pensamento purificador uma
verdadeira Constituio, a Constituio moderna (Latour, 1994). A hiptese de Bruno
Latour (1994) para pensar a modernidade a de que ela designa dois conjuntos de
prticas totalmente diferentes para lidar com a sociedade e com a natureza. Ao separar a
natureza da cultura, a atitude moderna utiliza dois grandes tipos de prticas diferentes: as
prticas de purificao e as prticas de traduo e de mediao. As prticas de
purificao se empenham em clarificar campos e espaos, entender separadamente
situaes, hierarquizar conhecimentos. Elas separam os humanos dos no - humanos. No
entanto, enquanto tais prticas promovem essa separao, outras prticas, as de traduo
e de mediao, os misturam os elementos mencionados revelia do pensamento
moderno. As prticas de purificao, ao criarem zonas inteiramente distintas de
humanos e de no - humanos, produzem misturas entre os gneros que to
cuidadosamente separaram. o prprio trabalho de purificao que possibilita a
mediao, visto que afasta o que no cotidiano se entrelaa: coisas, sentidos, aes.
Latour (1994) acredita que ns, ocidentais modernos, sofremos a
Grande Diviso interior, pois diferenciarmos, de forma absoluta, a natureza da cultura, a
cincia da sociedade. A Grande Diviso determina a separao entre as cincias e os
3
outros conhecimentos; a supremacia da razo sobre a emoo; a universalidade do
homem; o grande lugar ocupado pelo Ocidente na histria das civilizaes. A Grande
Diviso compreende diferentes tipos de conhecimentos, classificado-os como selvagem
ou domstico, mticos ou racionais, modernos ou tradicionais, lgicos ou ilgicos
(Latour, 1999).
O resultado desta mistura proibida-permitida entre natureza e
cultura o surgimento de seres hbridos - todas as coisas-seres, misturas de natureza e
de cultura. Latour (1994) considera que tanto os hbridos quanto os puros entranham-se
na modernidade.
2 - A VIRADA CONTEMPORNEA
A modernidade portadora de tarefas impossveis" (Bauman,
1999, p17): a busca de ordenao e purificao exacerbada foi a grande possibilitadora
da formao de hbridos que, desafiando a Constituio moderna, determinaram a sua
transformao. A hibridao surge como a outra face da purificao. Sempre se
misturou certo tipo de humanos com certo tipo de no- humanos.
Os hbridos habitam um espao no contemplado pela Constituio
moderna, um espao que preenche a zona mediana, intermediria entre os plos da
natureza e da cultura. Quando no levamos mais em conta somente esta Constituio, os
plos da natureza e da cultura deixam seu papel de nicos aglutinadores da cincia e da
arte e passam a representar mais uma possibilidade de estruturao do conhecimento.
Tornam-se pontos que possuem localizao em um espao reticulado, com latitude e
longitude.(Latour, 1994). A cincia, hoje, no pode mais negar a pertinncia e o
interesse de outros pontos de vista. A cincia da natureza precisa preocupar-se em
compreender as cincias humanas, a filosofia e a arte. (Prigogine e Stengers, 1997, p.
41). A arte, por sua vez, tambm no pode ignorar os aspectos da cincia e da filosofia.
As novas redes formadas na no modernidade so comparadas em
funo de seus tamanhos, do nmero de pontos ligados, do volume de trocas, mas no
podem ser classificados em funo de sua maior ou menor lgica ou verdade ( Latour,
1994, p. 177). Nenhuma rede mais ou menos lgica do que outra: todas so scio-
4
logicamente distintas. Podemos, ento, formular processos que geraro mais
conhecimento em cada mbito..
A interdisciplinaridade aparece como uma possibilidade de sada
contempornea face aos dispositivos modernos, oficializando a mediao e a
complexidade de antigos territrios puros. Envolve, necessariamente, a criao de um
lugar intermedirio, um espao entre, uma no purificao disciplinar. O interdisciplinar
no se submete s normas e regras estabelecidas pelos campos organizados do
pensamento moderno. Busca um espao que no o da disciplina, arriscando ocupar o
lugar da ambigidade.
O conhecimento interdisciplinar pode ser considerado uma forma
hbrida que, disposta em rede, poder ser colocada em situaes diversas segundo uma
maior ou menor sntese de conhecimentos purificados ou traduzidos.A prtica da
interdisciplinaridade carrega um incmodo, uma tenso, uma sempre presente lacuna
que deixa para trs a segurana do conhecimento disciplinar. O pesquisador
interdisciplinar, o cientista que se arroja a pertencer a um campo novo, mesclado,
defronta-se com os desafios da Constituio moderna.
3 - MUSICOTERAPIA - UM NOVO CAMPO
Msica e sociedade, tanto quanto cincia e sociedade, no podem
ser entendidas em disjuno. "Se mudarmos a relao entre essas potncias, alteramos
imediatamente o sentido do que a cincia , e do que a sociedade pode fazer" ( Latour,
2001 ). Se mudarmos a relao entre essas potncias, alteramos imediatamente o sentido
do que msica, e do que a sociedade pode fazer.
Na evoluo do pensamento cientfico, as inovaes resultam da
possibilidade de incorporao desta ou daquela dimenso nova da realidade, do
desenvolvimento de tecnologias cada vez mais sofisticadas e da existncia das prprias
especializaes e interdisciplinaridades. Essas inovaes, complexificando a
compreenso e a resoluo dos problemas, provoca mais e mais hibridaes.
A musicoterapia um campo de conhecimentos que apresenta
diversas formas de integrao de saberes. Conjugando outros campos de saber,
elaborando snteses e construindo um novo conhecimento, a musicoterapia um
5
exemplo de um hbrido interdisciplinar, tendo surgido pela possibilidade da virada
contempornea.
A realidade de um ser humano que vivencia simultaneamente
msicas e sofrimento, exploraes sonoras e deficincias sensoriais, a terra hbrida
onde se desenvolveu o conhecimento musicoteraputico. A terra hbrida que coloca uma
sesso clnica em musicoterapia no lugar ambguo de no pertencer msica, nem
psicologia, nem medicina. A musicoterapia ameaa, deste lugar, a ordenao moderna.
4 - MUSICOTERAPIA: HIBRIDISMO OU NO MODERNIDADE?
A musicoterapia - tendo surgido na modernidade e continuando,
cada vez mais, a ocupar um lugar hbrido de atuao clnica e de interpretao das
dificuldades emocionais humanas - vive possibilidades opostas e no excludentes de
desenvolvimento conceitual e de formas de insero na sociedade. Por um lado, a
musicoterapia constri-se como uma hibridao que deseja a purificao, e, por outro
uma hibridao que deseja mais mistura.
4.1 - A Musicoterapia como hibridao que deseja a purificao
A musicoterapia, nascida de pais disciplinares, moderna na
medida em que a sua prpria existncia cria hbridos tradutores de situaes diversas.
Atravs da aplicao da msica, a musicoterapia outorga a si o direito de se comunicar
com pessoas incomunicveis, de prevenir diversos tipos de sofrimento humano, de
reabilitar seres em situaes de impedimentos variados e de tratar das dificuldades
emocionais e fsicas. Outorga-se o direito de realizar uma grande traduo, sem
purificao alguma. Mistura tcnicas, sons, prescries. As prticas musicoteraputicas
- inicialmente aplicadas em maior escala aos que no possuam habilidades verbais -
experimentam a relao sonora tambm com os que se comunicam muito bem
verbalmente. A possibilidade criativa, a experimentao das alteraes de tempo, de
andamento, de tonalidades, a insero em campos sociais novos, vo incluindo a
6
musicoterapia em novos conhecimentos que englobam sociedades, comunidades,
grandes grupos.
Acontece que as atitudes modernas que durante anos engendraram
a nossa sociedade e sua Constituio, ainda nos estruturam... Uma das conseqncias da
ocupao moderna deste lugar interdisciplinar a ausncia de parmetros oficiais para
compreender um conhecimento hbrido, portanto, para compreender a musicoterapia.
Outra conseqncia o desejo de purificao disciplinar que existe em nosso campo.
Almejamos por categorias claras, queremos a regulamentao profissional, defendemos
pesquisas que delimitam o lugar exato da msica, ou do som, na recuperao de
determinada doena... Afinal, assim se constitui uma disciplina, uma categoria
profissional, um campo de conhecimentos.
4.2 - A Musicoterapia como hibridao que deseja mais mistura
A musicoterapia, mesmo nascida de pais disciplinares, em plena
modernidade, pode desenvolver-se como um conhecimento no moderno, que esteja
comprometido em desbancar a Grande Diviso. Para tal necessrio que se preocupe
em empregar o princpio da simetria generalizada enunciado por Bloor (apud Latour,
1994, p 91).
Este princpio recomenda que, para alcanarmos uma posio
simtrica, precisaremos, antes de tudo, ser capazes de enfrentar os conhecimentos que
temos. A aderncia a esses conhecimentos - a maneira como os encaramos, a certeza e a
importncia que atribumos sua metodologia - o primeiro desafio com que, como
cientistas contemporneos, temos que nos deparar. Precisamos abrir mo de antigas
certezas modernas.
Para avanarmos no trabalho no moderno do estabelecimento de
complexidades, precisaremos considerar de forma simtrica o trabalho de purificao e
o de mediao. (Latour, idem). Tratando a musicoterapia com o princpio da simetria
generalizada, enfocamos com a mesma seriedade as disciplinas originais, as novas
problemticas, os procedimentos e as tecnologias surgidas, os enganos, os atalhos, as
novas articulaes.
7
Este ponto de mirada simtrico, do hbrido que busca mais hibridao, leva em
conta acertos e erros, privilegia igualmente tcnicas-seres-conhecimentos-sentimentos-
processos-produtos. A interdisciplinaridade da musicoterapia no lhe garante a simetria.
O objetivo dessa retificao dos saberes o de permitir uma investigao livre de
preconceitos sobre os saberes desacreditados, bem como sobre os saberes acreditados.
O ganho no filosfico, , sobretudo emprico. " ( ibidem, p. 174)
Suportar a musicoterapia a tenso entre o confiar e o desconfiar, a
discrio e a curiosidade, as certezas e as incertezas? Talvez a grande possibilidade
esteja em se explorar as fronteiras do conhecimento. No precisamos abrir mo das
crenas modernas nem da valiosa inquietude no moderna. A simetria embarca todos
ns no mesmo barco". ( Latour, 1999, p. 174)
Estaramos, assim, como musicoterapeutas, ocupando o lugar da
mediao, estabelecendo fronteiras para nossa atuao clnica, fronteiras essas que
seriam sempre novamente demarcadas, com novos limites e novos contedos para a
musicoterapia.
5 CONCLUSO
A musicoterapia ocupa uma posio emblemtica para o estudo dos
hbridos.Quanto maior a tarefa de purificao exercida pelas cincias que formam o
campo do conhecimento musicoteraputico, mais conhecimentos musicoteraputicos se
geram. Quanto mais conhecimentos musicoteraputicos so gerados, maior o desejo de
purificao deste conhecimento, que passa a representar um novo plo purificador, que
no pensamento no moderno proposto por Latour nada mais do que uma das formas
de mediao.
A questo contempornea para a musicoterapia que direo ela
ir tomar. Com o desenvolvimento do conhecimento, a problematizao da atuao
clnica, a inteno de atuar junto populao atravs desta hibridao entre cultura e
sade, entre arte e cincia, a musicoterapia ir se tornar definitivamente moderna,
disciplinar, burocrtica, ou suportar a possibilidade da simultaneidade no moderna, da
complexidade e da interdisciplinaridade, que a um s tempo dobra e desdobra o
conhecimento?
8
Estamos dentro do fogo contemporneo.
REFERNCIAS BIBLIOGRRICAS
BAUMAN, Z. O mal-estar da ps - modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar , 1998
___________Modernidade e Ambivalncia. 1ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
D'AMARAL, M. T .O Homem sem fundamentos, sobre linguagem, sujeito e tempo.1ed.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ. Tempo Brasileiro. 1995.
LATOUR, B____________ From the World of Science to that of Research?
http://www.ensmp.fr/~latour 12/10/2001
_________ Como redividir a Grande Diviso. In: Mosico..Revista de Cincias Sociais
2(1).Vitria p 168 -199,1999
______________ Jamais fomos modernos.1 ed, Rio de Janeiro: Editora 34. 1994
PRIGOGIONE, I, STENGERS, I. A Nova Aliana: Metamorfoses da Cincia . 1 ed,
Braslia: Editora Universidade de Braslia. 1997
SEKEFF,M. L. Curso E Dis-Curso De Sistema Musical.(TONAL) So Paulo: .
Annablume, 1996.
WISNIK, J. M..O Som e o Sentido - Uma outra Histria das Msicas. 1 ed So Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
1
Isto bom! ou Yay, voc quer morrer? a tradio oral e a tradio escrita
no lundu
Martha Tupinamb de Ulha
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RI O)
mulhoa@unirio.br
Resumo: Com o objetivo de compreender as matrizes musicais e culturais da msica brasileira
popular, torna-se necessrio analisar comparativamente a cano popular como registrada na forma
escrita e como transmitida pela tradio oral. Trs verses do lundu Isto bom, de Xisto Bahia (1841-
1894) como publicado com o ttulo Yay, voc quer morrer por Eugne Hollender (So Paulo, s.d.) e
gravado por Nara Leo em 1977, e na tradio oral (gravado por Eduardo das Neves, entre 1904-1911)
so discutidas em termos de prosdia, estrutura e interpretao.
Palavras-chave: lundu, prosdia, cano popular.
Abstract: In order to understand Brazilian popular music musical and cultural matrices, it is necessary
to study comparatively how popular song functions in an aural and written form. Three versions of the
lundu Isto bom by Xisto Bahia (1841-1894) a score arranged for voice and piano, its 1977 recorded
version sang by Nara Leo, and an early Twentieth century recording by popular artist Eduardo das
Neves are discussed in terms of prosody, structure, and interpretation.
Keywords: lundu, prosody, popular song.
Prosdia musical tem sido entendida como o ajuste das palavras e da msica, de modo
que o encadeamento e sucesso de slabas fortes e fracas coincidam com os tempos fortes e
fracos do compasso. Na prtica observa-se que todos parmetros sonoros (intensidade, altura,
durao e timbre) podem interferir na nfase do texto.
Nas canes brasileiras o nmero de slabas do verso e seu padro de acentuao nem
sempre coincidem com o nmero de tempos e localizao de acento do compasso musical.
Esta peculiaridade aparece nas partituras sob a forma de sncopes internas e em antecipaes
do tempo forte atravessando a linha imaginria dos compassos. Exemplo emblemtico do
ltimo o lundu de Cndido Incio da Silva (c. 1800-1838) para versos de Arajo Porto
Alegre (1806-1879), L no largo da S velha, composto na primeira metade do sculo XIX e
estudado por Mrio de Andrade em 1944.
De fato, existem vrias instncias de uma certa incompatibilidade prosdica entre letra
e msica identificveis na partitura impressa. Esta frico entre a chamada diviso da letra e
compasso da cano resolvida no momento da performance, com o que chamei em outra
2
instncia de mtrica derramada (Ulha 1999).
1
Derramar a mtrica s vezes necessrio
para manter a inteligibilidade e naturalidade do canto. Doriana Mendes e Rodrigo Lima so
particularmente felizes ao interpretar L no largo da S velha (Duo Laguna, Rio de Janeiro,
2000), Doriana descolando a diviso do texto da marcao do compasso, Rodrigo
amaciando as acentuaes com um acompanhamento arpejado ao violo.
2
Esta uma das questes decorrentes da tradio escrita. A partitura, como nos
ensinou Charles Seeger uma prescrio, uma receita que precisa ser manipulada e
decodificada. O que significa neste caso, que alm das correes de prosdia so
necessrios ajustes de performance histrica. O lundu e sua irm modinha so uma prtica
que remonta ao sculo XVIII. Canes cantadas ao violo (ou viola), muitas como, por
exemplo, as 20 Modinhas Portuguezas (sic) de Joaquim Manoel arranjadas por Sigismund
Neukomn em 1824, so transcritas para piano. Ou seja, existe uma tradio oral, de canes
feitas e interpretadas ao violo e uma tradio escrita, para canto e piano. Assim, justifica-se
um acompanhamento de violo, mesmo se a partitura seja para piano. Inclusive, na verso de
L no largo da S velha, impressa por Filippone e Tornaghi a parte de piano do tipo baixo
de Alberti, com a mo esquerda tocando os baixos e a direita dedilhando alternadamente as
notas do acorde enfatiza a regularidade mtrica binria e o carter sincopado, se
interpretada de forma mecnica.
Uma outra maneira de se aproximar de prticas interpretativas distantes no tempo
como o caso das modinhas e lundus do sculo XIX, observar registros de repertrio
tradicional oitocentista que chegaram a ser gravados no incio do sculo XX. A escuta desses
fonogramas permite a comparao da verso gravada diretamente da tradio oral, com a
partitura, elemento da tradio escrita, sendo uma porta de entrada para discutir algumas das
prticas interpretativas de repertrios antes de interesse meramente histricos.
Examinemos, portanto o lundu Isto bom, de Xisto Bahia (1841-1894) como
publicado em partitura (com o ttulo Yay, voc quer morrer), de onde foi feito o arranjo de
Radams Gnatalli para a gravao por Nara Leo em 1977, e na tradio oral (gravada por
Eduardo das Neves no disco Odeon 108076, entre 1904-1911). Atravs da comparao das
1
O que escrito como antecipao nas palavras de Mrio de Andrade ao escrever sobre o lundu de Cndido
Incio da Silva indica mais uma flexibilizao dos limites do compasso do que uma sncope ou
contrametricidade, na conceituao de Carlos Sandroni (2001). No meu entender ir contra a mtrica
diferente de derram-la, o ltimo procedimento sendo mais prximo do que acontece na prtica interpretativa
da cano brasileira.
3
trs verses so feitas algumas consideraes sobre a prosdia, estrutura e interpretao da
cano brasileira popular.
3
O que chama a ateno inicialmente no caso de Isto bom com Eduardo das Neves e
Yay, voc quer morrer com Nara Leo que as melodias (e parte dos versos) so diferentes,
dando a impresso at que sejam msicas distintas... A autoria fcil de comprovar. Ambas
verses so realmente de Xisto Bahia, a ltima pela inscrio na partitura e a primeira por
observaes faladas na prpria gravao. A confirmao encontrada com a ajuda de Mello
Moraes Filho no livro Cantares brasileiros [1901], onde aparece a letra de Isto bom, com a
indicao de ser do repertrio de Xisto Bahia. A ordem das quadrinhas (a maioria com sete
slabas, ou seja, em redondilha maior) (primeiros versos):
A renda de tua saia...
Levanta a saia mulata...
Iai, voc quer morrer...
O inverno rigoroso...
Se eu brigar com meus amores...
Me prendam a sete chaves...
Ou seja, alguns versos presentes numa verso e outros presentes noutra, sem uma
ordem lgica, apontando para uma caracterstica do lundu: versos improvisados e estribilho
curto (como depois ficou sendo a prtica no partido alto).
4
Observemos, no entanto a verso escrita e a verso gravada a partir da partitura.
Discutindo somente uma quadra podemos observar imediatamente algumas diferenas
(Exemplo 1). Na partitura e na transcrio do que faz Nara Leo, parece que a verso de Nara
mais sincopada, com antecipaes quase que sistemticas de tempos fortes ou parte de
tempos fortes.
2
Existe uma outra verso de L no largo da S velha pelo Quadro Cervantes, solo de Helder Parente (Quadro
Cervantes Brasil 500 anos, Rio de Janeiro, LSB150484, 2000), que utiliza uma verso para canto e violo por
F. Hidalgo, impressa por Arthur Napoleo.
3
Tanto a partitura de Yay voc quer morrer (Eugne Hollender de So Paulo, s.d.) quanto sua gravao (lbum
duplo Cantares Brasileiros - 1 A Modinha, Cia Internacional de Seguros, Natal de 1977) foram encontradas no
acervo Mozart de Arajo (1904-1988) abrigado no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro
(CCBB-RJ). Pesquisador meticuloso, Mozart de Arajo se interessou muito pela investigao da msica
brasileira, tendo estudado, sobretudo sobre a modinha, o lundu (Arajo 1963). Para uma reviso atualizada dos
estudos em torno da modinha ver Veiga 1998.
4
Exemplo 1. Primeiros versos de Yay voc quer morrer na partitura e a partir da gravao.
A primeira frase Yay, voc quer morrer transcorre sem problemas de prosdia. A
frase seguinte quando morrer morramos juntos mais complicada. Na verso escrita
observe-se que a slaba do de quando cai num tempo forte. Averso de Nara/Gnattali
antecipa o incio do verso de modo a deixar que a slaba tnica de morrer, palavra mais
importante que quando caia no incio do compasso, mas faz o mesmo com o incio do outro
compasso. Ficou mais sincopado? Ou simplesmente derramou a mtrica? Coisas do tipo
continuam acontecendo na pea inteira.
E a comparao entre Iai, voc quer morrer e Isto bom? O estribilho o mesmo,
confirmando serem a mesma cano. A grande diferena est no contorno meldico (Exemplo
2). Na verso com Nara Leo o refro cantado numa melodia pendular, indo do sol 2 ao d 3
e s vezes ao si 2, ou seja, ora na tnica, ora na dominante. O estribilho com Eduardo das
Neves comea no f 3 bequadro, descendo em teras e parando no mi e depois no r, retoma o
f e descamba at terminar no sol 2 inferior.
Exemplo 2. Estribilho transcrito das gravaes com Nara Leo e Eduardo das Neves.
Nos versos a mesma coisa (Exemplo 3): a verso de Nara Leo comea no sol 2,
atingindo com um salto o d 3, repousando no si 2 (Yay voc quer morrer). O segundo
verso comea tambm no sol 2, salta at o mi 3 e termina por uma apojatura inferior no r 3
(quando morrer morramos juntos). O terceiro verso atinge a nota mais aguda l 3 a partir do
sol 3, desce num arpejo at o sol 2 e salta novamente para o sol 3 com uma apojatura superior.
o verso de registro mais agudo, enfatizando os verbos querer e caber tanto na mtrica
quanto na altura (queu quero ver como cabe). O ltimo verso conclusivo at um pouco
disfrico, como diria Luiz Tatit pelo movimento descendente at o sol 2 partindo da nota mi
3 (numa cova dois defuntos).
Exemplo 3. Incio das estrofes com Nara Leo e Eduardo das Neves.
4
Isto bom o primeiro verso do estribilho, enquanto Yay, voc quer morrer o primeiro verso da
quadrinha inicial do arranjo escrito por XXX. Isto no chega a ser um problema, uma vez que as canes
5
A verso de Eduardo das Neves, de sonoridade modal praticamente no usa saltos,
declamando o texto dos versos em torno da nota final (Sol), mas com a sensvel abaixada (O
inverno rigoroso, j dizia a minha av, quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme
s!).
Ou seja, estamos diante de duas canes condicionadas por seu meio de registro e
transmisso, a prosdia musical mediando prticas sociais diferenciadas que se mostram na
oposio verso/estribilho. Numa a nfase na interpelao, noutra na reiterao. A verso
escrita varia a melodia com saltos percorrendo a extenso de uma oitava mais uma nota com
desenvoltura e movimento nos versos e mais contida, utilizando somente a metade inferior da
sua escala, no estribilho. Aqui a nfase est nos versos, na diferena enquanto o refro
funciona apenas como um repouso para a retomada de outra estrofe. A verso tradicional
funciona exatamente ao contrrio, a parte dos versos na metade superior da escala numa
melodia em terrao e o estribilho percorrendo uma extenso de uma stima (f 3 ao sol 2). Na
verso popular o estribilho se torna a parte mais importante, enfatizando o ldico, o irnico e
o travesso.
Mas ser que estas prticas se opem? Como concluso gostaria de compartilhar algo
que s apareceu no laboratrio, mas que pode abrir novos rumos na questo. Para
comparao as 3 verses esto em D M, seja da partitura (original em L M) seja das
gravaes (transcritas por Roberto Gnatalli). Os exemplos foram preparados no programa
Finale por Mnica Leme, que est estudando a produo de Eduardo das Neves. Ao ouvir
todas as partes em arquivo midi, incluindo sua prpria transcrio da gravao de Isto bom
Mnica observou que as verses no so incompatveis, como pode parecer primeira vista.
A hiptese que fica para ser explorada que talvez o arranjo de xxx pudesse ter sido
concebido como uma variao destinada a ser cantada em dueto com a verso tradicional,
algo bastante plausvel se considerarmos a prtica musical da msica de salo da poca.
Assim as sinhazinhas poderiam exibir seus dotes vocais enquanto a audincia, ou um
enamorado cantava a cano gravada na memria de todos: Isto bom, isto bom, isto
bom que di!.
Referncias bibliogrficas:
tradicionais so conhecidas ora pelo primeiro verso das estrofes no repetidas ora pelo verso inicial do refro.
6
ANDRADE, Mrio de. Cndido Incio da Silva e o Lundu. Revista Brasileira de Msica vol
X, p. 17-39, 1944.
ARAJO, Mozart de. A Modinha e o Lund no sculo XVIII. So Paulo: Ricordi, 1963.
MORAES FILHO, Mello. Cantares brasileiros. Rio de Janeiro: Instituto Estadual do Livro,
1982 [1901]).
SANDRONI, Carlos. Feitio Decente Transformaes do samba no Rio de Janeiro (1917-
1933). Rio de Janeiro: Jorge Zahar; Editora UFRJ, 2001.
ULHA, Martha Tupinamb de. Mtrica Derramada. Brasiliana 2, p. 48-56 , 1999.
VEIGA, Manuel. Estudo da Modinha Brasileira. Revista de Msica Latino Americana, v. 19,
University of Texas, 1998.
EXEMPLOS
Exemplo 1. Primeiros versos de Yay voc quer morrer na partitura e a partir da gravao.
Exemplo 2. Estribilho transcrito das gravaes com Nara Leo e Eduardo das Neves.
7
Exemplo 3. Incio das estrofes com Nara Leo e Eduardo das Neves.
1
Choro: a fora do gnero na capital federal
Milena Tibrcio de Oliveira Antunes
1
Universidade de Braslia (UnB)
milena@caiocesar.com / melenatiburcio@terra.com.br
Mrcia Pinto de Vasconcelos
Universidade de Braslia (UnB)
alva@yawl.com.br
Resumo: Este trabalho busca entender como o gnero musical choro vem se tornando
parte da paisagem sonora de Braslia, cidade cujas atividades relacionadas ao gnero j
referncia nacional de qualidade. A pesquisa se compromete a investigar o incio das
atividades dos chores em Braslia, as fontes histricas sobre a criao, a estruturao e a
consolidao do Clube do Choro de Braslia, o surgimento da Escola Brasileira de Choro
Raphael Rabello, sua prtica pedaggica e sua influncia no cenrio musical da cidade.
Os dados tm sido coletados de fontes escritas (livros, documentos, reportagens), orais
(entrevistas, depoimentos) e de observaes (shows, encontros informais, aulas). Como
resultado pretende-se recuperar parte da memria da cidade, explicar a existncia de
grande quantidade e diversidade de instrumentistas locais interessados neste tipo de
msica e constatar a relevncia cultural, social e pedaggica destas instituies para
msicos, estudantes e pblico em geral.
Palavras-chave: msica popular, choro, msica em Braslia.
Abstract: This paper tries to understand how the musical genre "choro" is becoming part
of Braslia musical landscape, a city which activities relate to this genre is indeed a
national reference. The research intends to investigate the earliest activities of "chores"
in Braslia, the historical sources about the beginning, the organization and the
consolidation of "Clube do Choro", as well as the emerging of "Escola Brasileira de
Choro Raphael Rabello", its educational praxis and its influence in the musical scenery
of the city. The datas has been collected from written sources (books, documents, news
papers) interviews, informal meetings, tuitions and shows as well. Finally we intend to
recuperate part of the memory of the city, explaining the great influence and diversity of
local performers interested in this genre confirming the cultural relevance of this
instituition to professional musicians, students and audience.
Keywords: popular music, choro, music in Braslia.
1) INTRODUO
Esta pesquisa
1
se d no encontro entre tradio (o incio do choro em Braslia) e
modernidade (a Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello
2
), tendo como objetivo
entender a fora do gnero na cidade, a quantidade, a diversidade e a notvel participao
de instrumentistas locais interessados neste tipo de msica. Estas questes nos remetem a
1
Bolsista PIBIC UnB/CNPq.
2
investigao da histria do choro na Capital Federal, da criao do Clube do Choro de
Braslia
3
, da E.B.C.R.R.. Conhecer as razes desse interesse, constatar a relevncia
cultural, social e pedaggica destas instituies e suas ligaes com a vida dos msicos,
dos estudantes e do pblico em geral a contribuio mais relevante deste trabalho.
A pesquisa foi iniciada com um levantamento bibliogrfico acerca do que vem a
ser o gnero musical choro; como surgiu, de que se constitui, em que se fundamenta.
Depois, o trabalho foi direcionado para o conhecimento de sua histria em Braslia. A
escassez de fontes escritas a respeito do tema nos levou a recorrer entrevistas com
alguns msicos que fazem parte desta histria.
A etapa seguinte foi conhecer o C.C.B e a implantao da E.B.C.R.R.. Para isso
entrou-se em contato com alguns documentos da escola, compreendendo, assim, sua
organizao estrutural e seu projeto pedaggico. A conversa com professores e alunos
nos levou a entender como funcionam as aulas, as turmas, as atividades desenvolvidas e
qual a importncia da escola para cada um. Em suma, como acontece o processo de
ensino e aprendizagem. Foram observadas algumas atividades realizadas na E.B.C.R.R. ;
aulas, rodas de choro, workshop e apresentao final. Este contato com a instituio
nos levou necessidade de conhecer uma bibliografia que trate de currculo, projeto de
escolas, ensino musical, educao formal, no formal e informal.
__________________________________
1- Pesquisa pelo Programa Institucional de Iniciao Cientfica PIBIC / Unb, de agosto de
2002 julho de 2003 (se encontra na realizao das ltimas etapas)
2- A expresso ser substituda pela sigla E.B.C.R.R.
3- A expresso ser substituda pela sigla C.C.B.
Para entender sua concepo pedaggica, vimos a necessidade de expandir nossos
conhecimentos acerca do currculo de outra escola de msica, a Escola de Msica de
Braslia
4
, para, assim, fazer um paralelo entre o ensino formal e o projeto da E.B.C.R.R..
Todas as observaes nos levaram a compreenso do comportamento dos msicos
nas diversas situaes e nos variados locais. A existncia do carter informal da
performance, a presena da improvisao na execuo das msicas e a forma como estas
3
caractersticas so lidadas na atualidade e na E.B.C.R.R. so aspectos relevantes que se
evidenciam na medida em que avana a investigao.
2) RECUPERANDO PARTE DA MEMRIA DA CIDADE
O choro, gnero musical que surge em meados do sculo XIX, das interpretaes
das msicas de danas de salo europia (polcas, valsas, xotis) executadas por msicos
populares do Rio de Janeiro, em Braslia teve incio semelhante; brotou nas rodas de
amigos, em sua maioria funcionrios pblicos transferidos para a nova capital, que se
reuniam nos finais de semana. Como no havia muita diverso na cidade, eram comuns
essas reunies que aconteciam nas casas das pessoas.
O msico Avena de Castro
5
, que chegou em Braslia nos anos 60, foi um dos
grandes articuladores desses encontros. Reunia-se com outros msicos aos sbados
tarde com muita freqncia na casa do jornalista Raimundo de Brito
6
. Durante um longo
perodo o choro sobreviveu em Braslia nessas reunies informais e em pequenas
apresentaes realizadas na Escola Parque
7
, em hotis e bares.
4- Centro de Educao Profissional, de nveis bsico e tcnico.
5- O msico tocava ctara. Veio Braslia como contador de uma construtora. Foi scio fundador
e o primeiro presidente do Clube do Choro de Braslia, foi tambm presidente da Ordem dos
Msicos de Braslia. Faleceu em 1981.
6- Raimundo de Brito era jornalista redator dos anais da Cmara dos Deputados. Tocava piano
clssico e cavaquinho. Morava em uma apartamento na 105 sul.
7- A escola parque um projeto do educador Ansio Teixeira que tem como objetivo propiciar
uma educao integral aos alunos do ensino fundamental. Segundo o projeto, o ensino
curricular ocorreria na escola-classe em um turno e as atividades artsticas, esportivas e sociais
aconteceria na escola parque no outro turno.
Com a morte de Raimundo de Brito, em meados dos anos 70, as reunies passam,
com mais freqncia, a ter lugar na casa da professora e flautista Odete Ernest Dias.
Recm estabelecida na cidade, em virtude de sua contratao para lecionar flauta no
Departamento de Msica da Universidade de Braslia, Odete, que veio ao Brasil para
tocar na Orquestra Sinfnica Brasileira, se encantou pela msica popular brasileira, em
especial com o choro, participando e divulgando de forma intensa as reunies musicais
4
na cidade. O movimento em sua casa passou a ser to grande que foi sensato pensar na
possibilidade de uma sede para concretizar a criao de uma agremiao que se chamaria
mais tarde de Clube do Choro de Braslia.
A sede foi conseguida pelos msicos depois do governador Elmo Serejo
8
, por
meio do Dr. Evandro Pinto, arquiteto da Novacap
9
, ter conhecido e desfrutado alguns
choros executado pelo grupo. As instalaes do vestirio do Centro de Convenes de
Braslia
10
foram cedidas para constituir a sede do Clube. A concesso foi realizada aps a
elaborao da ata de fundao que foi registrada no Cartrio do 1 Ofcio de Registro
Civil, por Geraldo Dias, o marido da flautista Odete Ernest Dias, no dia 09/09/77.
O primeiro presidente foi Avena de Castro. A diretoria era tambm composta por
Pernambuco do Pandeiro
11
,o Diretor de Patrimnio que teve que de vender seus
passarinhos para comprar a geladeira e o fogo, alm de ter de pedir no clube AABB e no
Hotel das Naes mesas e cadeiras. O local foi todo equipado com o dinheiro e os
esforos dos msicos. As atividades no C.C.B funcionava durante os finais de semana.
Servi-se comida tpica no almoo, com o preo razovel, para atrair o pblico roda de
choro que acontecia no lugar.
8- Engenheiro, maranhense, nomeado diretamente pelo regime militar na presidncia de Ernesto
Geisel para governar Braslia de 02.04.1974 a 29.03.1979
9- Companhia Urbanizadora da Nova Capital que administra a execuo de obras e servios de
urbanizao e construo civil de interesse do Governo do DF.
10- Localizado no centro do Eixo Monumental, importante carto postal da cidade.
11- Panderista que veio para Braslia em 1959 para tocar na Rdio Nacional. um dos fundadores
do C.C.B.
Neste perodo, o clube funcionava sem pretenso de se divulgar e de profissionalizar seus
integrantes. Reco do Bandolim, o atual presidente do C.C.B., lembra que as rodas de
choro eram reunies harmnicas e familiares, porm, aconteciam sempre da mesma
maneira; eram os mesmos msicos, tocando as mesmas msicas, com os mesmos
5
arranjos. O pblico, em geral, tambm era o mesmo; os prprios msicos, suas famlias e
alguns amigos.
O crescimento da cidade possibilitou o aparecimento de novas formas de lazer e de
outros gneros musicais que passaram a dividir a ateno do pblico. A falta de
divulgao dificultou o acesso das pessoas contribuindo, tambm, para que o clube
entrasse em decadncia. A falta de segurana e de estrutura contribuiu para piorar sua
situao financeira; o lugar foi assaltado vrias vezes. Em 1983, a sede do C.C.B. foi
fechada e abandonada.
Em 1993, com a sede ainda fechada, Reco do Bandolim, assumiu a presidncia do
C.C.B., interrompeu um processo de despejo que estava em andamento no GDF,
conseguindo, em 1995 a regularizao da sede junto Terracap
12
. Depois da
regularizao do espao, foi necessrio reiniciar as atividades musicais e atrair pblico. O
violonista Raphael Rabello e o bandolinista Armandinho Macedo atenderam a um pedido
do Reco do Bandolim e fizeram um show na sala Villa Lobos com a renda revestida para
a reforma. O equipamento de som foi comprado e o lugar que havia sido inundado por
um esgoto estourado e estava sendo ocupado por trs famlias de mendigos foi reativado.
Durante um perodo os msicos da cidade foram convocados para tocarem cada um
em uma semana, pois o clube no podia ficar sem atividades regulares. Porm, a falta de
verba fez com que a idia funcionasse apenas por alguns meses. Reco do Bandolim
declarou que foram esses momentos que o levaram a reflexo sobre a importncia da
profissionalizao dos msicos e daquele tipo de msica, levando-o a buscar apoio
financeiro no governo e em empresas privadas.
12 - Companhia Imobiliria de Braslia que assumi os direitos e as obrigaes na execuo das
atividades imobilirias de interesse do Distrito Federal
O C.C.B. foi reinaugurado em 1997 com a adeso de patrocinadores e com um
projeto anual temtico, apresentado ao Ministrio da Cultura, homenageando o centenrio
6
de nascimento de Pixinguinha. A idia foi de, a cada ano, destacar um compositor
consagrado e aprofundar os conhecimentos acerca de suas obras. Hoje em dia, os shows
acontecem de quarta a sexta-feira. O projeto Prata da Casa, que tambm faz parte da
agenda do C.C.B., acontece aos sbados e reservado aos artistas da cidade.
Hoje, o C.C.B. uma casa de show consagrada nacionalmente, que est sempre
trazendo ao pblico brasiliense o melhor dos instrumentistas e da msica brasileira. Alm
disso, os shows so transmitidos para todo o Pas atravs das TVs Senado, Cmara e
TVE, que alcanam um pblico estimado em 12 milhes de telespectadores.
3) A MULTIPLIAO DO CHORO EM BRASLIA
O sucesso do C.C.B. possibilitou a realizao de um outro projeto. Idealizada por
Reco do Bandolim, a Escola Brasileira de Choro Raphael Rabelo foi inaugurada em 29
de abril de 1998. A idia fruto da experincia do prprio msico. Ele conta que quando
se encantou com o choro e o bandolim de Armandinho Macedo, procurou as escolas de
msicas da cidade em busca de um professor. O choro no era lecionado em nenhuma
instituio. Desta forma ele viu a necessidade de criar um espao que possibilitasse o
contato dos estudantes com as obras dos grandes compositores brasileiros.
O projeto da escola foi apresentado ao Ministrio da Cultura que julgou-o
desnecessrio por acreditar que j existiam muitas escolas de msicas. Depois o projeto
foi aprovado por unanimidade na Cmara Distrital e reavaliado e aprovado no Ministrio
da Cultura, contando, ento, com o incentivo da Lei do Mecenato. A E.B.C.R.R. teve o
apoio de uma empresa estatal que disponibilizou os recursos financeiros necessrios sua
implantao.O governo do Distrito Federal, atravs da Secretaria de Turismo do D.F.
cedeu um espao do Anexo do Centro de Convenes de Braslia, ao lado da sede do
C.C.B., para ser utilizado pela escola.
O principal objetivo da instituio dar ao msico intimidade com a linguagem
do choro. Para isso, a escola oferece seis cursos de instrumentos tpicos do gnero:
bandolim, violo 6 cordas/7 cordas, cavaquinho, pandeiro, flauta, sax/clarineta. A
E.B.C.R.R. se preocupa em manter a caracterstica da informalidade do gnero e
7
desenvolver no aluno capacidades necessrias aos msicos em geral. Por isso, os
contedos dos cursos incluem desde a leitura musical ao treinamento auditivo.
As aulas se do uma vez por semana e so em grupo. Tem-se uma aula de
instrumento, uma aula de teoria e um ensaio com o grupo. Alm disso, os alunos
participam das rodas de choro, que acontecem no ltimo sbado de cada ms e dos
workshops que ocorrem eventualmente com os msicos que vem se apresentar como
parte da programao do C.C.B..
Os grupos so divididos pelos professores de acordo com o nvel dos participantes
e do repertrio que cada um toca. As msicas praticadas com o grupo so ensinadas nas
aulas de instrumento. Os alunos iniciantes comeam com exerccios bsicos e vo
aprendendo a tocar as mesmas msicas, independente do instrumento. Desta forma, eles
j podem se juntar para formar os grupos. um processo de aprendizagem coletiva que
possibilita o incio da construo de suas prprias concepes musicais. Os alunos j
comeam a tocar tendo mais atitude em relao aprendizagem. Desenvolvem, tambm,
outros aspectos importantes como: autonomia, interao, cooperao, disponibilidade
para a aprendizagem e organizao do tempo.
Cada curso est dividido nos nveis iniciante, intermedirio e avanado. No h
diviso de sexo e idade; mulheres e homens, crianas e idosos podem estar na mesma
turma e grupo. um espao que satisfaz as exigncias de todos justamente por respeitar
suas diferenas. A partir do momento em que se coloca, a exemplo de uma turma
observada na E.B.C.R.R., um senhor de sessenta e cinco anos e garotos na faixa de doze
anos na mesma turma, estabelece-se um ambiente de troca de experincia, em que a
diferena de idade ser um fator de incentivo para ambas as partes.
Pressupe-se tambm, que respeitado o tempo de aprendizagem de cada aluno,
pois os nveis dos cursos no tm durao especfica; os alunos so remanejados de turma
de acordo com suas necessidades. No h, tambm, qualquer avaliao formal;
observado o desenvolvimento do aluno nas aulas e nos grupos.
8
Em se tratando da performance, os alunos estudam a obra dos grandes mestres do
choro e convivem com professores que so msicos atuantes; fazendo, assim, a ligao
entre passado e modernidade. O contato com as obras de artes possibilita que eles faam
relao com sua experincia. Eles aprendem um sistema de composio e ganham
instrumentos para inventar novas produes com todas essas influncias. Desta forma so
desenvolvidas duas vertentes importantes; apreciar e fazer arte.
As observaes feitas na escola nos levaram a reflexo sobre como ocorre o
processo de ensino e aprendizagem. Em comparao com a prtica e a proposta
pedaggica da Escola de Msica de Braslia, pudemos observar que a E.B.C.R.R., no
est totalmente formalizada. H uma interao da educao formal, com a educao
informal , que um processo espontneo, e a no formal, marcada pela prtica social.
Os alunos j chegam na escola com uma concepo sobre choro e msica. Esta
certamente formada a partir de experincias vivenciadas que so selecionadas,
intencionalmente ou no pelos seus familiares e amigos. Na escola ele tem contato com
uma prtica que ocorre no plano da comunicao verbal, do descobrimento em grupo,
dentro de uma proposta mais flexvel, que respeita as diferenas existentes para absoro
e reelaborao dos contedos. Por outro lado, tambm tem contato com a teoria da
msica e a rigidez da partitura musical.
Essa mistura assegura ao choro a permanncia de suas caractersticas
elementares, sujeito, apenas, a releitura natural que ocorre com todos as artes, quando so
transmitidas por uns e vivenciada por outros. A escola mostra-se como um importante
espao para a divulgao do choro, na medida que promove o encontro de msicos e a
formao de grupos que j atuam ou prometem atuar no cenrio musical da cidade e do
pas.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
9
BRASIL. Secretaria da Educao Fundamental. Parmetros Curriculares
Nacionais: Introduo aos Parmetros Curriculares Nacionais. Braslia: MEC/SEF,
1997.
CAMPOS, M. Christina S. de Souza. Educao: agentes formais e informais.
So Paulo: EPU, 1985. ( Coleo temas bsicos da educao e ensino)
CASCUDO, Lus da Cmara. Dicionrio do Folclore Brasileiro. 10. ed.. So
Paulo: Global, 2001.
CAZES, Henrique. Choro: do quintal ao municipal. 2. ed.. So Paulo: Ed. 34,
1998. (Coleo Ouvido Musical).
CLUBE DO CHORO DE BRASLIA.Histria do Clube do Choro.Disponvel
em: http://www.clubedochoro.com.br. Acesso em: 12 de dezembro de 2002.
DAIBEM, Ana Maria Lombardi; MINGUILI, Maria da Glria. Projeto
pedaggico, trabalho coletivo, interdisciplinaridade: uma proposta instigadora. In:
Grupo de Estudos e Desenvolvimento do Ensino Universitrio, 18/10/95, UNESP de
Jaboticabal e Presidente Prudente.
Enciclopdia da Msica Brasileira erudita, folclrica e popular. So Paulo: Art.
Editora, 1977.
FERRAZ, M. Helosa; FUSARI, M. de Rezende e. Metodologia do Ensino de
Arte. So Paulo: Cortez, 1991. (Coleo Magistrio 2 grau. Srie Formao do
Professor)
GAUTHIER, Claude. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporneas
sobre o saber docente. Traduo de Francisco Pereira. Iju: UNIJU, 1998.(Coleo
fronteiras da educao).
GOHN, M da Glria. Educao no-formal e cultura poltica: impactos sobre o
associativismo do terceiro setor.So Paulo: Cortez, 1999. (Coleo questes da nossa
poca; v.71)
HIPKIN, John. Aprendizagem em Grupos. In: BUCKMAN, Peter (org.).
Educao sem Escolas.(traduo de lvaro Cabral). So Paulo: So Paulo Editora S. A.
HOLANDA, Hamilton; MARTINS, Heitor. Catlogo e lbum dos Choros de
Braslia. Trabalho PIBIC/Unb-CNPq - Braslia, julho de 1997.
LIMA, Irlan Rocha. Jubileu de Prata. Correio Braziliense, Braslia, 30 de
outubro de 2002. Disponvel
em:http://www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20021030/vid _mat_301002_82.htm.
Acesso em: 15 de fevereiro de 2003.
NEVES, Jos Maria. Villa-Lobos, o choro e os choros. So Paulo: RICORDI,
1977.
10
Projeto Pedaggico. Escola de Msica de Braslia.
________________ Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello.
REYSBAT, Maria Victoria. A Comunicao oral e sua didtica. Traduo de
Waldo Mermelstein. Bauru; SP: EDUSC, 1999.
TINHORO, Jos Ramos. Histria Social da Msica Popular Brasileira. So
Paulo: Ed. 34, 1998.
_____________________ Pequena Histria da Msica Popular (da modinha ao
Tropicalismo). 5. ed.. So Paulo: Art. Editora, 1986.
ENTREVISTAS
ARAJO, Sandro. Entrevista concedida em 02/12/02
BANDOLIM, Reco do (Henrique Filho). Entrevista concedida em 16/11/02.
CAETANO, Rogrio. Entrevista concedida em 12/12/02
COSTA, Hamilton (Jos da Costa Pinto). Entrevista concedida em 19/10/02
DIAS, Odete Ernest. Entrevista concedida em 7/11/02
PANDEIRO, Pernambuco do (Incio Pinheiro Sobrinho). Entrevista concedida
em 24/10/02.
Aspectos da organizao musical em Viosa (MG) no sculo XIX, a
partir de manuscritos musicais
Modesto Flvio Chagas Fonseca
Orquestra Filarmnica do Esprito Santo
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RI O)
modest1@uol.com.br
Resumo: Com o surgimento de manuscritos musicais na cidade de Viosa MG, pesquisas
musicolgicas so deflagradas com o objetivo de investigar o contexto social, econmico e
cultural que envolveu a manufatura desta documentao. Atualmente muito pouco se sabe a
respeito das atividades musicais desenvolvidas na Zona da Mata de Minas Gerais no sculo XIX.
O objetivo desta pesquisa buscar e organizar de forma sistemtica, informaes que permitam
responder a diversas questes sobre o fazer musical no sculo XIX em uma regio que se
desenvolveu aps o declnio do ouro, e tendo como base econmica a agricultura. A anlise das
msicas do acervo de Viosa revela uma surpreendente atividade musical at o momento
desconhecida do meio acadmico e mesmo de grande parte da populao local.
Palavras-chave: Brasil, manuscritos musicais, msica em Viosa.
Abstract: With the findings of musical manuscripts in the city of Viosa, MG, musicological
investigations has taken place in order to determine the social, economical and cultural contexts
that involved the production of this documentation.
Until this moment, very little is known about the musical activities developed in Zona da Mata,
Minas Gerais during the 19th century. The objective of this research is to collect and
systematically organize this information in order to better understand the musical developments
in this agricultural region, born after the gold decline. A preliminary evaluation of the already
located musical collection of Viosa has revealed a surprisingly musical activity not yet known
by the academic community and even by the local population.
Keywords: Brazil, musical manuscripts, 19th century music in Viosa
Este texto parte integrante de minha dissertao de mestrado em andamento na
Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio) com a orientao do Prof. Dr. Carlos Alberto
Figueiredo. O principal objetivo de minha dissertao a aplicao de um sistema de
catalogao para manuscritos musicais brasileiros em cerca de trinta obras do acervo de
msica da cidade mineira de Viosa. Para o trabalho de identificao dos manuscritos
alvo da dissertao, ser necessrio um trabalho investigativo sobre as atividades
musicais em Viosa e regio objetivando esclarecer dvidas e apontar caminhos para
novas pesquisas.
2
A descoberta de manuscritos musicais de obras dos sculos VXIII, XIX e XX
de autores brasileiros e estrangeiros na cidade de Viosa (MG) refora a necessidade
eminente do desenvolvimento de duas frentes de trabalho: a pesquisa sobre o fazer
musical brasileiro no sculo XIX e incio do sculo XX e a organizao dos arquivos
musicais, este ltimo imprescindvel para a realizao do primeiro.
Em Viosa foram localizados no ano de 2000, cerca de 400 ttulos de obras
sacras e um possvel nmero equivalente de obras para banda de msica, a incluindo
msica de salo
1
. Mais significativo do que estes nmeros e o prprio contedo do
arquivo o simples fato de o local aonde se encontravam ser o municpio de Viosa, uma
cidade que no corresponde s caractersticas daqueles antigos centros urbanos nascidos
no sculo XVIII em Minas Gerais, patrocinados pelo ouro e pedras preciosas. A regio
geopoltica em que Viosa se localiza a zona da mata mineira (Figura 1), cuja economia
em seus primrdios era a agropecuria e que teve seu desenvolvimento no incio do
sculo XIX.
Figura 1: Zona da Mata Mineira - Piranga (X) e Viosa (*)
A busca dos bandeirantes paulistas pelo precioso metal no sculo XVII nos
sertes de Minas Gerais faz com que o futuro municpio de Viosa aparea no caminho
3
que levaria os desbravadores ao rio Tripu de Ouro Preto. Alexandre de Alencar faz o
seguinte registro: bandeira de Antnio Rodriguez Arzo, consoante o consenso de
muitos, a primeira a revelar o ouro das Gerais, estaria reservada a sorte de pisar, em
1693, o solo do Municpio de Viosa. (ALENCAR, 1959, p. 13).
Este relato bem ilustra o fato de a regio de Viosa ter o seu comeo de histria
juntamente com as vilas do ouro como foi Ouro Preto e Mariana. Naturalmente os
primeiros arraiais foram levantados bem prximo aos locais de extrao do ouro. E no
havendo ouro em terras viosenses, Alencar informa que o povoado de Santa Rita do
Turvo surgiria apenas no ano de 1800 quando o Pe. Francisco Jos da Silva obteve
proviso episcopal para erigir uma ermida sob a invocao de Santa Rita. (ALENCAR,
1959, p. 26).
Ao focalizarmos a produo musical no sculo XIX na Zona da Mata Mineira e
especialmente em uma cidade como Viosa, importante observarmos as diferenas
sociais, polticas e econmicas em relao aos povoados desenvolvidos no sculo XVIII
para melhor entendermos os fatos da histria. Enquanto que a extrao de riquezas
minerais foi o combustvel propulsor para o desenvolvimento dos centros urbanos no
sculo XVIII, a agricultura de subsistncia era a base econmica na regio de Viosa
nesta mesma poca. Maria do Carmo Tafuri Paniago informa: Nos primrdios da
colonizao, Viosa e outras cidades da regio tinham por objetivo principal abastecer
os centros mineradores de Ouro Preto e Mariana com produtos necessrios
sobrevivncia, em falta nas lavras: arroz, feijo, milho, mandioca e outros.
(PANIAGO, 1990, p. 28).
Com este acentuado diferencial econmico natural que a regio da zona da
mata mineira apresentasse estgios de desenvolvimento diferenciado com a regio
mineradora. A igreja catlica com seus ritos era um dos elementos unificadores de
expressiva importncia. Ainda que posterior s vilas do ouro Viosa e micro regio
levantou templos e nestes certamente no faltou msica a servio da liturgia. Em Viosa
o Curato de Santa Rita do Turvo elevado freguesia em 1832, tendo como filiais So
1
Todo o acervo est sendo preparado para ser catalogado.
4
Jos do Barroso e Conceio do Turvo
2
. At este momento o povoado dos Aplicados de
Santa Rita do Turvo era freguesia do Pomba (TRINDADE, 1945, p. 277).
Analisando os manuscritos musicais encontrados em Viosa observamos a
constante presena do nome SantAnna indicando ora propriedade, ora autoria da cpia
e s vezes uma possvel autoria da obra. Este nome refere-se a uma das mais antigas e
tradicionais famlias viosense. Seu mais antigo representante, o Capito Jos Maria
SantAnna nascido em Porto Firme, mudou-se para Santa Rita do Turvo em 1815. Vrios
membros desta famlia esto relacionados com a atividade musical em Viosa at os dias
de hoje. O nome mais antigo dentre eles o de Jos Jacintho Dias de SantAnna nascido
em 1858 na cidade de Viosa. At o momento no encontrei nenhuma meno a um
msico de Viosa anterior a Jos Jacintho Dias de SantAnna. Os manuscritos musicais
de Viosa fizeram parte do arquivo dos membros da famlia SantAnna que ainda tiveram
como importantes representantes Randolpho SantAnna (1864 1944) e Jos SantAnna
e Castro (1884 1967), e dos msicos Francisco Mariano de Assis (1871 1951) e Jos
Lopes Gouveia (1892 1945), sendo estes os mais representativos.
Dentre os aspectos que caracterizam o fazer musical na virada dos sculos XIX
para o XX em Viosa, fica claro depois de observado a instrumentao contida nas cpias
assinadas pelos msicos viosenses, que obras criadas no sculo XVIII e incio do XIX
foram recopiladas para um conjunto instrumental modificado se adaptando para que
pudessem ser executadas pelos msicos locais. Este fato uma soluo comumente
encontrada pelo quadro scio-econmico que surgiu aps o fim da produo de ouro que
dava a sustentao econmica para atividades como a msica. Esta nova situao em que
o conjunto instrumental caracterstico das bandas de msica vai assumindo o lugar da
orquestra composta de cordas e madeiras alm de metais e percusso, a exceo de
antigos conjuntos da regio dos campos das vertentes que ainda hoje so atuantes
3
, est
presente nas demais regies mineiras do ouro.
Em Viosa no h notcias e nem registro sobre a existncia de uma orquestra
nos primrdios de sua histria. A primeira banda de msica aparece em 1889 com o
nome de Lyra Viosense e foi organizada por um grupo de msicos constando entre
2
Atuais cidades de Paula Cndido e Senador Firmino respectivamente.
3
Orquestras de So Joo Del Rei, Prados e Tiradentes.
5
eles Jos Jacintho Dias de SantAnna, Randolpho SantAnna, Francisco Lopes de Gouva
e membros de outra famlia que originou grande parte da populao de Viosa. Trata-se
dos Jacob, descendentes do Alferes Jacob Lopes de Faria que chegou em Viosa em
1854. O instrumental tem a presena de instrumentos de bucal e percusso. Existe uma
fotografia deste grupo mostrando claramente sua formao. Apesar do predomnio dos
instrumentos de sopro nas fotografias de poca, nos papis de msica h uma grande
quantidade de partes escritas para violino e em menor quantidade para baixo em d, o que
provavelmente seria para o contrabaixo acstico de cordas. Dentre os 400 ttulos de
msica sacra do acervo de Viosa foram encontradas apenas trs ou quatro partes para
viola
4
o que nos leva a crer na ausncia deste instrumento no local. A trompa parece ter
uma situao semelhante da viola, sendo que as cpias de ambos instrumentos
apresentam uma caligrafia musical que se difere dos msicos de Viosa, sendo grande
as possibilidades destas serem provenientes de outras localidades.
O conjunto tpico em Viosa j no incio do sculo XX tem sua formao
contendo violino (s vezes com o 2
o
. violino), clarineta, piston, sax alto e tenor,
bombardino, oficleide, tuba, baixo em d e harmnio. No h nenhuma parte para obo e
fagote. Rarssimas so as partes para trombone e o violoncelo estaria includo na
terminologia baixo em d
5
. Em se tratando das vozes, bastante grande o nmero de
partes para o quarteto vocal, depois para apenas as duas vozes e um nmero menor para
trs vozes. Em algumas das partes vocais podemos encontrar os nomes das pessoas que
delas fizeram uso.
Aps este estudo preliminar das cpias produzidas em Viosa, incluindo alguns
aspectos paleogrficos e de caligrafia dos msicos locais, tornou-se possvel as primeiras
tentativas de detectar cpias produzidas em outros municpios. H um caso confirmado
de cpia autgrafa do Pe. Jos Maria Xavier. Trata-se de uma partitura de uma ladainha
breve para as quartas-feiras proveniente de So Joo Del Rei confirmada por Aluzio
Viegas que atravs de uma cpia digitalizada da primeira pgina da partitura, confrontou
com o material constante do acervo da Orquestra Lira Sanjoanense.
6
Esta ladainha seria
4
Uma trazendo a nomenclatura violeta.
5
Existe uma fotografia de conjunto musical constando de um violoncelo. H tambm notcias da existncia
deste instrumento em outras localidades da micro-regio de Viosa.
6
Quero registrar meus sinceros agradecimentos ao maestro Aluzio Viegas pela ateno e interesse.
6
numerada posteriormente como no. 5. Outras obras deste compositor e de outros da
mesma regio como Ribeiro Bastos
7
e Joo da Matta fazem parte do acervo viosense.
Dentre as obras que contam do acervo de Viosa, grande parte possui cpia que
no identifica o compositor. Chamam a ateno alguns motetos para semana santa cuja
escrita musical levanta a possibilidade de ser msica do sculo XVIII. Algumas destas
obras so encontradas tambm em municpios circunvizinhos a Viosa. o caso de um
Oficio de Ramos (Figura 2) encontrado em Pedra do Anta e Visconde do Rio Branco
alm de Viosa. As cpias de Rio Branco trazem o nome de Salles Couto em cpias
provenientes de Barra Longa com a assinatura de Joaquim Theodoro da Silva,
Nicodemos Passos e Raymundo Polycarpo como copistas em 1917 e Jucada em 1929(?).
As cpias de Viosa so de fontes
8
diferentes e em uma delas no apresenta nenhuma
assinatura, apenas um carimbo de propriedade de Randolpho SantAnna que acredito,
considerando a caligrafia musical, ser o autor da cpia. A outra fonte uma cpia
assinada por Jos Jacintho Dias de SantAnna, tratando-se de cpia mais antiga. Tambm
no h nomes nas cpias de Pedra do Anta.
A escrita musical deste oficio tem o predomnio de notao branca com
mnimas, semibreves e breves sempre com a figura de compasso do C cortado lembrando
a escrita do estilo antigo. Nas cpias de Rio Branco (provenientes de Barra Longa)
comum a figura da semibreve desenhada em cima da barra de compasso. Na cpia de
Jos Jacintho Dias de SantAnna verificamos uma escrita de colorao castanha e
encontramos o sinal de repetio com duas linhas helicoidais se entrelaando. Verifica-se
nestes diferentes conjuntos de cpias, uma instrumentao bastante variada. Enquanto
que no material de Rio Branco existem cpias para violino, clarineta e instrumentos de
metal, o material de Viosa s acrescenta um baixo instrumental alm das quatro vozes.
Aluzio Viegas acredita ser obra annima da primeira metade do sculo XVIII escrita
para o quarteto vocal e baixo.
7
Um Applaudatur copiado em Sabar em fins do sculo XIX.
8
As fontes aqui significam que se trata de cpias produzidas por diferentes copistas.
7
Figura 2 Parte de tenor do Ofcio para Domingo de Ramos annimo.
O acervo de msica de Viosa possui ainda um conjunto de obras impressas,
algumas com cpias manuscritas, de compositores europeus. Entre eles encontramos os
nomes de Perosi, Mercanti, Foschini, Battmam, Bordese, Satriano, Cerruti, Concone,
Risi, Dobici, Durand, Costamagna e Lardelli.
Este significativo volume de obras que sobreviveram ao tempo e aos insetos
chegando at os dias de hoje, nos leva a vislumbrar um momento no passado da cidade de
Viosa, em que a msica teve uma importncia praticamente vital para a vida daquela
sociedade. Sendo seu povoado desenvolvido no comeo do sculo XIX, bastante
aceitvel a presena de pessoas, sejam elas religiosos ou no, vindas de comunidades
com forte movimento musical como Ouro Preto, Mariana e Piranga, e que certamente
trouxeram em suas bagagens alguma contribuio para o desenvolvimento musical da
antiga Santa Rita do Turvo.
Pelo fato da pesquisa se encontrar em seus primeiros passos, muitas lacunas
ainda esto por preencher. A documentao da igreja catlica local ainda no foi
examinada de forma sistemtica para que se possa responder s seguintes questes: teria
existido uma irmandade de leigos com atividades semelhantes s de Ouro Preto? Seriam
estes msicos de Viosa em meados do sculo XIX profissionais ou amadores? Haveria
um mestre-de-capela de fora que dava as devidas orientaes e fornecia a msica, e at
mesmo os msicos, para a realizao dos servios litrgicos?
Como mencionei anteriormente, a primeira banda de msica a ser formada em
Viosa foi a Lyra Viosense no ano de 1889, constituda de instrumentos de bucal e
percusso. Porm este conjunto no corresponde ao instrumental que se configura nos
manuscritos encontrados em Viosa confeccionados na mesma poca, que por sua vez,
8
possuam instrumentos de cordas como o violino, violoncelo e contrabaixo alm do
quarteto vocal. Dentre as cpias assinadas por Randolpho SantAnna, h uma com a data
de 1883, parte escrita para sax horn em d de um Te Deum Laudamus sem indicao de
autoria. O Curato de Santa Rita do Turvo j teria sido elevado categoria de Parquia no
ano de 1832 possuindo a partir de ento vigrio encomendado.
Analisando os fatos acima citados, acredito na possibilidade de ter existido um
conjunto musical anterior Lyra Viosense destinado a atuar nos ofcios litrgicos pelo
menos desde a elevao do Curato categoria de Parquia, agora com uma importncia
que no justifica a ausncia de msica em seus servios. A cpia de Randolpho
SantAnna de 1883 um forte indicativo de atividade musical na igreja antes da
formao da Lyra Viosense, alm da possibilidade de haver outras cpias sem data
registrada anteriores dcada de 80 que somente futuras pesquisas o podero confirmar.
Jos Jacintho Dias de SantAnna, nascido em 1858, o nome de msico
viosense mais antigo representado no acervo de manuscrito de Viosa. Se existe uma
cpia que seja representativa do perodo de atividades musicais anterior a este msico,
esta ainda no foi identificada. A Ladainha do Pe. Jos Maria Xavier com data de 1855
deve ter sua histria investigada a fim de identificar quem e quando esta chegou a Viosa.
Um por menor neste manuscrito que delimitaria a data de sua transferncia para Viosa,
o nome de Joo Pequeno visivelmente acrescentado em poca posterior da cpia do
manuscrito, que um autgrafo do Pe. Jos Maria Xavier (1819 1887). Joo
Evangelista Pequeno atuava como regente da Orquestra Ribeiro Bastos em So Joo Del
Rei no ano de 1934. Contudo, ainda no possvel determinar quando e atravs de quem
este manuscrito teria chegado a Viosa, mas certamente no foi na poca de sua
manufatura.
Viosa e regio ainda no tiveram sua histria da msica investigada de forma
sistemtica. Ao iniciarmos esta pesquisa, alguns fatos j constatados em outras regies de
Minas e do Brasil so tambm registrados em Viosa e regio como a soluo de
adaptabilidade para os recursos disponveis em cada local. A transformao instrumental
dos conjuntos um exemplo que salta aos olhos. As mudanas econmicas com a
diminuio da produo de ouro no significam o fim das atividades musicais e sim o
comeo de uma nova etapa na relao entre o msico, a igreja e a sociedade.
9
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALENCAR, Alexandre de. Fatos e Vultos de Viosa. Belo Horizonte: Estabelecimentos
Grficos Santa Maria S. A., 1959.
PANIAGO, Maria do Carmo Tafuri. Viosa, Mudanas Socioculturais: Evoluo
Histrica e Tendncias. Viosa: Universidade Federal de Viosa, Imprensa Universitria,
1990.
PANIAGO, Maria do Carmo Tafuri. Viosa, Tradies e Folclore. Viosa: Universidade
Federal de Viosa, Imprensa Universitria, 1977.
TRINDADE, Raimundo. Instituies de Igrejas no Bispado de Mariana. Rio de Janeiro:
Ministrio da Educao e Sade, 1945.
1
Batuque na cozinha? Sinh num qu!
1
Identidade musical afro-carioca no oitocentos
Monica Leme
2
Universidade Federal Fluminense (UFF)
monicaleme@inpauta.com.br
Resumo: Utilizando um quadro terico transdisciplinar, considerando que cultura funciona como
uma sntese de estabilidade e mudana, de passado e presente, de diacronia e sincronia (Sahlins,
1990:180), a presente comunicao procura expor os resultados parciais da pesquisa de doutorado cujo
ttulo provisrio A Msica Popular Urbana no Rio de Janeiro do II Reinado: Matrizes Culturais,
Prticas Musicais e o Dilogo entre Culturas. Procurando estabelecer um campo de abrangncia para
a utilizao do conceito de msica popular no oitocentos, o presente trabalho tambm constitui um
esboo de captulo para a tese final. Pretendemos discutir, nesse captulo, a existncia de uma
identidade musical afro-carioca, tendo como base os mais recentes debates sobre etnicidade. Esta
comunicao fruto das primeiras anlises sobre as fontes pesquisadas.
Palavras-chave: msica popular no Rio de Janeiro do II Reinado, identidade musical afro-carioca,
etnicidade.
Abstract: Using a transdisciplinary theoretical framework, and taking into account that "culture
operates as a synthesis of stability and change, of past and present, of diachronism and synchronism"
(Sahlins, 1990:180), this presentation displays the partial results of a Doctorate research which was
given a provisional title: "Urban Popular Music in Rio de Janeiro of the II Reign: Cultural Matrices,
Musical Practices and the Dialogue Between Cultures". Looking to establish the musical practices
which could be included in the concept of "popular music" in the 1800's, the present work also
constitutes an outline for a chapter in the final thesis. We intend to argue the existence of an "afro-
carioca" musical identity, based on the most recent debates about ethnicity. This presentation is the
result of the first analyses on the current research on the subject.
Keywords: popular music in Rio de Janeiro of the II Reign; Afro-Carioca musical identity, ethnicity.
X, x, x Arana,
No deixa ningum te peg, Arana
Tenho dinheiro de prata, Quizumba,
Pr gastar coas mulata, Quizumba.
Tenho dinheiro de ro, Quizumba,
Pr gast cos crilo.
3
1
Inspirado em samba tradicional do Recncavo Baiano (Pedreira, 1978: 117). Existem inmeras recriaes
desse samba em diferentes pocas. Martinho da Vila, LP Batuque na Cozinha (RCA Victor 103.0050) e
Clementina de Jesus, Pixinguinha e Joo da Baiana, LP Gente da Antiga (Odeon MOFB 3527).
2
Bolsista do CNPq.
3
Verso transcrita em LIMA, Rossini Tavares de. Da Conceituao do Lundu, So Paulo: s. ed.,1953: 28 e 29.
Por se tratar de um lundu, pensamos que o que foi grafado com quilteras (tercinas) deva ser cantado como uma
sncope .
2
Lanando mo de seus costumeiros arroubos de linguagem, Mrio de Andrade
comentou certa vez, segundo o folclorista Rossini Tavares de Lima, que o lundu cuja letra
transcrevemos acima teve vida intensa e mesmo histrica entre os negros de 1871 a 1880 no
Rio de Janeiro (Lima, 1953: 31). A expresso merece uma pequena reflexo, pois aponta
para questes importantes sobre prticas musicais e identidades no Rio de Janeiro do sculo
XIX. Tal afirmao peca em outorgar homogeneidade a uma categoria, a de negros do Rio
de Janeiro, que na verdade jamais existiu. Hoje, tomando contato com a mais recente
historiografia sobre o assunto, sabemos que devemos ler Mrio de Andrade levando em conta
o seu tempo e suas prioridades que, sem dvida, estavam muito mais no campo da
musicologia. Sua afirmao entretanto, nos traz uma pista importante: as camadas subalternas,
pelo menos em parte, elegiam seus sucessos, propagando-os no dia a dia da cidade,
fazendo de algumas canes possveis elos entres as diferentes procedncias tnicas que
formavam aquele verdadeiro mosaico de culturas, obrigadas a se reconstruir no cotidiano de
sua nova realidade social.
Mesmo que a crena numa homogeneidade cultural entre escravos seja um erro,
podemos pensar num espao de trocas culturais que permitiam a formao de uma cultura de
uso comum, uma cultura afro-carioca:
Graas a diversidade tnica da cidade, criaram uma cultura afro-
carioca nova que combinava muitas tradies africanas e luso-
brasileiras. Forjaram um bando [...] a partir de muitos grupos, e o
que desenvolveram no era mais unicamente africano ou mesmo luso-
brasileiro, mas uma mistura de costumes que aliviava o fardo da
escravido, transmitia tradies religiosas e contribua para o desfrute
de uma vida social (Karasch, 2000: 292).
O crescimento, desde os ltimos 30 anos, da produo acadmica sobre este tema
caminha lado a lado com os debates tericos em relao s alteridades e reconstrues etno-
culturais nas reas da histria e da antropologia.
4
Esta comunicao um recorte de um
trabalho que procura discutir a construo de uma identidade musical afro-carioca no
oitocentos. Pretendo ampliar este trabalho, que espero que renda um captulo de minha futura
tese de doutorado.
Cultura um objeto por demais complexo. Ao mesmo tempo que carrega suas estruturas,
baseadas em cdigos e smbolos compartilhados, produto do comportamento, da
4
A chamada Etno-Histria um campo que vem crescendo nos ltimos 20 anos.
3
organizao social e da ao dos homens. Nas palavras de Marshall Sahlins, cultura
historicamente reproduzida na ao (Sahlins, 1990: 7). Essa viso de complementaridade
entre estrutura e processo nos permite entender que a cultura funciona como uma sntese de
estabilidade e mudana, de passado e presente, de diacronia e sincronia (Sahlins, 1990: 180).
Sahlins utiliza o conceito de estrutura da conjuntura para as possveis snteses da
ordem cultural (idem: 190). Essa maneira de encarar objetos culturais bastante til quando
pensamos na msica popular. Esse conceito traz embutido alguns problemas de significao
que devem ser lapidados. Entendemos msica popular como um conceito abrangente e
datado (final do sculo XIX e incio do sculo XX), capaz de revelar alteridades em relao
msica culta, de tradio ocidental europia. Essa alteridade fruto de diferenas
socioculturais o que nos faz concluir que para definir o que msica popular precisamos optar
por uma maneira de abordar a cultura popular. Adotamos ento uma viso bakhtiniana,
5
que
v as culturas em constante dilogo. Assim no podemos pensar em cultura popular sem ter
em conta sua interao com a cultura hegemnica, culta. A noo de trocas culturais, de
dialogismo entre diferentes maneiras de pensar e fazer msica, nos faz perceber a sociedade
como um campo de batalha entre diferentes formas de ver o mundo. Os produtos dessas
alteridades so o reflexo desses embates, que podem ou no levar a acordos e novas snteses
culturais. Assim, podemos pensar e utilizar o conceito de msica popular no sculo XIX para
definir algumas prticas musicais de camadas subalternas em relao cultura hegemnica
(no caso da msica de concerto de matriz europia). So elas:
I. A msica dita folclrica:
6
de autoria indeterminada, mas cantada nas ruas, nas festas
populares, sofrendo a ao da prtica social, mantendo-se viva como sntese da
reproduo e da variao da cultura das camadas subalternas. A transmisso dessa
msica essencialmente oral.
II. Msica popular pode ainda ser entendida como a msica que se insere dentro de um
campo de produo e consumo musical que nasceu, ainda no sculo XIX, como uma
espcie de proto-indstria cultural, permitindo a profissionalizao de msicos e
compositores.
7
5
Mikhail Bakhtin (1895-1971), ao estudar a cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento, atravs da obra
do escritor francs Franois Rabelais, legou s posteriores geraes de historiadores um conjunto de solues
tericas, metodolgicas e conceituais.
6
O Folclore disciplina que nasceu no sculo XIX, na Europa, dentro do movimento romntico que segundo
Barbero, construiu um novo imaginrio no qual pela primeira vez adquire status de cultura o que vem do povo
(Barbero, 2000: 39).
7
O Teatro musicado, as festas, os saraus, etc.
4
III. E finalmente, msica popular abrange tambm as prticas musicais de grupos tnicos,
formados nas relaes vividas entre africanos, crioulos, ndios, etc., obrigados a viver
dentro de novas realidades sociais e culturais.
Temos o popular visto portanto sob trs dimenses, onde temos uma subalternidade em
relao cultura letrada, hegemnica. claro que cada situao possui sua complexidade, que
deve ser enfrentada objetivamente.
A historiografia mais recente da escravido nos ensina que o Rio de Janeiro ao longo
do oitocentos recebeu um contingente de escravos vindos de vrias regies da frica.
8
Essa
diversidade de procedncias pode ser comprovada, em parte, atravs de registros da
alfndega, de registros de enterros, arquivos de polcia, etc. Mary Karasch afirma que, era do
Centro-Oeste Africano, seguido da frica Oriental, que vinha a maioria dos africanos do Rio
de Janeiro (Karasch, 2000: 50). Nessa regio havia, desde o sculo XV, um certo
intercmbio poltico e cultural, fruto da expanso comercial portuguesa (Souza, 2002: 52).
Chamada de mundo bantu por especialistas,
9
essa parte da frica possui certa
homogeneidade lingstica, mas de maneira alguma homogeneidade cultural. Isso significa
que existe um fator de facilitao para trocas culturais e de criao de novas identidades.
Meu projeto de doutorado,
10
cuja meta reconstituir a msica popular (na abrangncia
do conceito, conforme sugerimos) do perodo do II Reinado, pretende dar grande ateno
msica tnica (a msica afro-carioca) dentro de uma abordagem transdisciplinar.
Encontramos em Max Weber a chave para entender o significado de grupo tnico, que para
ele pode ser definido como,
...aqueles grupos humanos que, em virtude de semelhanas no habitus
externo ou nos costumes, ou em ambos, ou em virtude de lembranas
de colonizao e migrao nutrem uma crena subjetiva na
procedncia comum, de tal modo que esta se torna importante para a
propagao de relaes comunitrias, sendo indiferente se existe ou
no uma comunidade de sangue efetiva (Weber, 1987: 270).
Um dos fatores para a construo de uma identidade afro-carioca est presente nas
prticas musicais trazidas da frica e ressignificadas no Novo Mundo. Temos procurado
identificar os traos de identidade musical afro-carioca no oitocentos:
8
Sobre o tema ver, por exemplo, Mariza de Carvalho Soares (1998: 73-93), Joo Reis (1997: 7-33), Maria Ins
Cortes de Oliveira (1997: 37-73), Marina Mello e Souza (2002).
9
Arthur Ramos, 1961; Kazadi Wa Mukuna, 2000.
10
Ingressei em 2002 no Programa de Ps-Graduao em Histria da UFF, com o projeto intitulado A Msica
Popular Urbana no Rio de Janeiro do II Reinado: Matrizes Culturais, Prticas Musicais e o Dilogo entre
Culturas, sob orientao do Professor Doutor Guilherme Castagnolli Pereira das Neves.
5
a) Traos organolgicos instrumentos musicais de marca identitria da populao africana
e descendentes (marimbas, xilofones, tambores, etc.).
b) Traos funcionais - as diferentes maneiras de usar a msica, passando pelas apropriaes
da msica europia por parte desses grupos tnicos (a msica ritual das macumbas e
condombls, a msica das ruas, canes de trabalho, etc.).
c) Traos estruturais aspectos formais, temticos, organizao escalar, aspectos rtmicos,
etc.
Robert Slenes ao reconstruir a vida das famlias escravas que viveram em algumas regies
do sudeste brasileiro no sculo XIX, constata que homens e mulheres vindos de diferentes
regies da frica viram-se diante de um desafio ao mesmo tempo trgico e inexorvel: criar
uma nova vida a partir de suas esperanas e recordaes. Ele constata as
... estratgias cotidianas dos escravos para lidar com a opresso,
inclusive sua disposio de negociar com os senhores (entendendo
negociar... como um processo conflituoso em que ambas as partes
procuram persuadir o outro, podendo usar como arma at a ameaa
de guerra e a prpria guerra) (Slenes, 1999: 17).
A prtica do batuque foi sem dvida um trao identitrio para os africanos e afro-
decendentes radicados no Rio de Janeiro. A maioria dos observadores brancos no pode
perceber tal prtica, seno como extremamente sensuais ou at lascivas, comparadas a seus
prprios divertimentos (Slenes, 1999: 139). Por desconhecer o significado de determinados
gestos, essas danas eram reprovadas pela cultura hegemnica.
11
Com a perseguio
empreendida pelas autoridades a tais manifestaes coletivas, os escravos tiveram de criar
zonas permitidas por meio de negociao. Um bom exemplo disso foi um batuque
acontecido em 12 de junho de 1849, nas imediaes do Rio Maracan, subrbio da cidade do
Rio de Janeiro. Nesse episdio, narrando por Holloway em Polcia no Rio de Janeiro, cerca
de 200 negros, segundo ofcio do Chefe de Polcia da Corte,
12
fizeram um batuque na chcara
de um tal Sr. Antnio Alves da Silva Pinto, possivelmente o dono de boa parte desses
escravos. Esse fato permite pensar em espaos culturais conquistados atravs de uma
negociao estratgica dos escravos com seus senhores. Muito mais que uma concesso,
11
Alfredo de Sarmento em Sertes dfrica descreveu pejorativamente um dos inmeros possveis significados
do batuque na regio do Congo: entre o gentio do Congo, o batuque [dana de pares] uma espcie de
pantomima em que o assunto obrigado sempre a histria de uma virgem a quem so explicados os prazeres
misteriosos que a esperam, quando o lembamento [casamento nativo] a fizer mudar de estado, e outras
obscenidades que, representadas com a mais perfeita imitao, so uma prova evidente da depravao que reina
entre os habitantes daquele serto (Carneiro, 1961: 12).
12
Arquivo Nacional, IJ6 212 (Ofcios do Chefe de Polcia da Corte do Rio de Janeiro), 13 a 15 de julho de 1849
(Holloway, 1997: 297).
6
Holloway chama essas prticas de resistncia cultural, j que dentro de uma rea particular,
a polcia no poderia reprimi-los sem inicialmente pedir ao dono da propriedade que
controlasse a animao da festa, para no perturbar a vizinhana (Holloway, 1997: 205). A
resistncia de que fala Holloway no deve ser pensada como uma luta pela manuteno de
valores culturais preexistentes, numa atitude de clara rejeio mudanas. Deve ser entendida
como Miguel Bartolom define uma cultura de resistncia, que nasce de um processo de
gerao de identidades por meio de elementos diacrticos, assumidos como traos
distintivos (Bartolom, 2000:138) em relao aos outros. Para Bartolom, a alteridade surge
no do...
... apelo a um passado, mas sim da expresso de um presente, [...] Por
isso, o conceito de cultura de resistncia no deve ser confundido com
o de resistncia cultural, termo que apenas designa manifestaes
culturais contestatrias... (idem, 2000: 139).
O processo de construo de uma identidade coletiva conseqncia de,
... uma luta ativa s vezes silenciosa e cotidiana desenvolvida
durante sculos, e que pretende lograr a conservao de matrizes
ideolgicas e culturais consideradas fundamentais para a reproduo
da filiao tnica (idem).
Essa identidade, criada pelo populao de escravos e seus descendentes, foi
fundamental para a criao (e inveno) da msica popular brasileira. No sculo XIX, era
comum ver escravos assobiando e cantando modinhas e polcas europias, apropriando-se das
canes dos senhores e dando-lhes outro sotaque (Karasch, 2000: 326). Essa interao
cultural certamente foi fator importante para a criao de novas estruturas musicais, que
influenciaro no nascimento de gneros musicais mestios (lundu, polca-lundu, maxixe, etc.)
e de estilos de interpretao (o choro) no oitocentos. A cano X Arana, citada por
Rossini Tavares de Lima, revela traos identitrios afro-cariocas. Arriscamos uma possvel
significao dessa quadrinha para os negros do oitocentos: arana (o mesmo que grana)
13
uma ave de cor negra, o que revela uma identificao com o homem de cor, que pode ser
capaz de driblar a opresso, conquistando uma sonhada liberdade (X Arana, no deixa
ningum te peg) e que tambm pode ser capaz de participar da sociedade, sem negar sua
cultura (tenho dinheiro de prata, quizumba, pra gastar coas mulata). Interessante que
tambm a mulher foi representada nessa quadrinha, mostrando uma possvel e sonhada
13
A ave muito comum no Brasil e, por ser granvora, causa estrago s colheitas de arroz e aos milharais. Um
fato interessante como nos anos 70 (sculo XX), o cartunista Henfil utilizar uma grana (preta e magrinha,
mas muito perspicaz) como smbolo de resistncia popular ditadura e desigualdade social.
7
autosuficincia da mulher negra (tenho dinheiro de ouro, quizumba, pra gastar cos crilo).
O termo quizumba, segundo Ney Lopes
14
vocbulo de origem quimbundo e significa hiena,
um animal que se alimenta da carcaa de outros animais. Esses animais em bando, ao
encontrarem carne morta, causam grande alvoroo e confuso. Assim, quizumba pode ter o
significado de baguna, confuso. No contexto da quadrinha, a expresso fica sem sentido
aparente, embora cumpra uma funo bem expressiva, musicalmente falando, pela fora do
som (trs vogais nessa seqncia qui, zum, ba) e pela acentuao, que funciona como um
breque (arrisco a pensar que a palavra devia ser repetida em coro com grande prazer pelos
negros). O ritmo da cano mais um fator de identificao para os negros, pois utiliza
padres sincopados, muito comuns em msicas de tradio africana. A harmonia implcita
reincidente em muitos lundus populares da poca: I/V/V/I/I/II/V/I.
Os traos dessa identidade musical afro-carioca sero elementos importantes na
construo (e inveno) da msica popular brasileira e produzir reflexos na msica de
concerto brasileira. Sabemos que o etnocentrismo cultural das sinhs, zelosas com a educao
dos filhos, contribuiu para reproduzir a ideologia da sociedade escravista. Os batuques, como
revela o samba da epgrafe, no devia chegar sequer cozinha da casa dos brancos. Porm, a
dinmica da cultura no pode evitar as hibridaes dirias, construdas na prtica social que
punha frente frente as alteridades. O som dos batuques pouco a pouco conquistou espao na
casa de muita gente e produziu uma msica capaz de sobreviver na memria e na histria do
Rio de Janeiro. A obra de Chiquinha Gonzaga, de Joaquim Callado, de Nazareth e de tantos
outros, sobrevive para nos provar isso.
***
Referncias bibliogrficas:
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Mdia e no Renascimento. (Y. Frateschi,
trad.) So Paulo: Hucitec; Braslia: Ed. UNB, 1993.
BARBERO, Jesus Martin -. Dos Meios s Mediaes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.
BARTOLOM, Miguel Alberto. Bases Culturais da Identidade tina no Mxico, in
ZARUR, George (org.) Regio e Nao na Amrica Latina. Braslia: Ed. UNB, So
Paulo: Ed. Oficial do Estado, 2000. Pp. 135-161.
HOLLOWAY, Thomas H. Polcia no Rio de Janeiro: Represso e Resistncia numa Cidade
do Sculo XIX. Rio de Janeiro: FGV, 1997.
KARASCH, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro (1808 1850). So Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
14
Dicionrio de vocbulos banto.
8
LIMA, Rossini Tavares de. Da Conceituao do Lundu. So Paulo: s. ed., 1953.
LOPES, Nei. Dicionrio Banto do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa da Cidade, s. d.
MUKUNA, Kazadi Wa. Contribuio Bantu na Msica Popular Brasileira perspectivas
Etno-musicolgicas. So Paulo: Terceira Margem, 2000.
OLIVEIRA, Maria Ins Cortes de. Quem eram os negros da Guin? A Origem dos
Africanos na Bahia, in Afro-Asia, n 19/ 20. Salvador: UFBa, 19971997. Pp. 37-73.
PEDREIRA, Esther. Folclore Musicado da Bahia. Salvador: Fundao Cultural do Estado da
Bahia, 1978.
RAMOS, Artur. Introduo Antropologia Brasileira: As Culturas no Europias. Rio de
Janeiro: Editora Casa do Estudante do Brasil, 1961.
REIS, Joo. Identidades e Diversidades tnicas nas Irmandades Negras no Tempo da
Escravido, in Revista Tempo, v. 2, n 7. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1997, (verso on-
line).
SAHLINS, Marshall. Ilhas de Histria. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
SLENES, Robert W. Na Senzala, uma Flor Esperanas e Recordaes na Formao da
Famlia Escrava (Brasil Sudeste, sculo XIX). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
SOARES, Marisa de Carvalho. Mina, Angola e Guin: Nomes dfrica no Rio de Janeiro
Setecentista, in Revista Tempo, v. 3, n 6. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1998. Pp. 73-93.
SOUZA, Marina de Mello e. Reis Negros no Brasil Escravista Histria da Festa de
Coroao de Rei Congo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.
WEBER, Max. Relaes Comunitrias tnicas, in Economia e Sociedade. Braslia: Ed.
UNB, 1994, pp. 267-277.
1
Msica e literatura na Kreisleriana op. 16 de R. Schumann
Mnica Vermes
Universidade Federal do Esprito Santo (UFES)
mvermes@uol.com.br
Resumo: O presente trabalho prope uma discusso sobre a relao entre a msica
instrumental e a literatura no romantismo alemo da primeira metade do sculo 19.
Concentra-se na anlise da relao entre a Kreisleriana Op. 16 de Robert Schumann (1810-
1856) e duas obras de E.T.A. Hoffmann (1776-1822) com as quais dialoga - o ciclo
homnimo e o romance A vida e opinies do gato Murr - a partir de uma reflexo sobre os
conceitos de ironia romntica e crtica do movimento primeiro-romntico, tal como propostos
particularmente por Friedrich Schlegel (1772-1829).
Palavras-chave: R. Schumann, E.T.A. Hoffmann, Kreisleriana
Abstract: This work is a discussion on the relations between instrumental music and
literature in German Romanticism during the first half of the 19th-century. It is focused on the
relations between Kreisleriana Op. 16 by Robert Schumann (1810-1856) and two works by
E.T.A. Hoffmann (1776-1822) with which it establishes a dialogue - the homonymous literary
cycle and the novel Life and opinions of Tomcat Murr - from the standpoint of a reflection on
the concepts of romantic irony and criticism arising from the Frhromantik group, as
proposed particularly by Friedrich Schlegel (1772-1829).
Keywords: R. Schumann, E.T.A. Hoffmann, Kreisleriana
tradicional na literatura musicolgica fazer referncia importante presena
da literatura na obra musical de Robert Schumann (1810-1856). Se esta evidente,
por exemplo, nos ciclos de canes sobre poemas de autores como Mricke, Rckert,
Goethe, Chamisso, Eichendorff e Heine, os ciclos de peas para piano com ttulos
sugestivos que remetem ao mbito da literatura prope a questo de como se d o
vnculo entre a obra musical e a obra literria.
Apresentaremos aqui algumas questes - que esto discutidas em maior
detalhe em nossa tese de doutorado, Crtica e criao: um estudo da Kreisleriana Op.
16 de R. Schumann - a respeito dessas relaes tal como se configuram na
Kreisleriana Op.16, ciclo de oito peas para piano de Schumann baseado na obra
literria de E.T.A. Hoffmann (1776-1822).
A Kreisleriana de E.T.A. Hoffmann uma coleo de treze textos musicais
curtos e de gneros variados. O ttulo advm do Kapellmeister Johannes Kreisler,
compositor, regente e professor de msica de natureza temperamental e volvel, que
2
serve de eixo para o ciclo. A coleo est organizada em duas partes, a primeira com
seis peas e a segunda com sete, e o conjunto foi publicado como parte do primeiro
livro de Hoffmann - Fantasiestcke in Callots Manier [Peas fantsticas maneira de
Callot] entre 1814 e 1815. Algumas das peas individuais que compem o ciclo j
haviam sido publicadas anteriormente no Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ).
A coleo no conta linearmente a histria de Kreisler, mas prope um retrato
multifacetado do compositor. Algumas das peas crticas tiveram sua autoria atribuda
a Kreisler e o ciclo comea e termina com peas que situam o percurso de
aprendizagem do compositor. A idia de ciclo reforada pelo desfecho que sugere
uma coincidncia ou resposta ao incio e est tambm incrustada no nome de sua
personagem principal: Kreis, em alemo, significa precisamente "ciclo" ou "crculo".
Para alm, no entanto, desse movimento circular, a Kreisleriana contm um rico
complexo de relaes internas, com outras obras contidas nas Fantasiestcke e com
obras musicais e literrias de outros autores.
relevante pontuar a forte conexo que existe entre este ciclo e o pensamento
dos romnticos de Jena.
1
Charlton, em seu ensaio introdutrio aos textos musicais de
Hoffmann, aponta para a importncia da obra de F. Schlegel, Schelling e Novalis na
formao da concepo musical de Hoffmann e situa a Kreisleriana como exemplo
supremo de uma escrita que fica "na fronteira entre a filosofia e a fico", uma "crtica
romntica: um modo de escrever no qual a imaginao e a filosofia romntica guiam a
pena, mas sempre com o propsito de colocar a essncia de uma obra musical em
foco" (Charlton, 1989, p.ix). A proximidade mais evidente com a obra de um autor
ligado ao crculo de Jena provavelmente com Die Lehrlinge zu Sais [Os discpulos
de Sais], romance de Novalis que narra uma trajetria de aprendizagem, como um
"Bildungsroman (romance de formao) interior" (Charlton, 1989, p.28), mas mais
importante que isso a identidade de princpios: a esttica do fragmento, a propenso
1
Jeremy Adler, na introduo a sua traduo inglesa de A vida e opinies do gato Murr ressalta
tambm o importante papel de Hoffmann como ponte entre a filosofia primeiro-romntica e um pblico
mais amplo: "It was also in large measure via Hoffmann that early German Romanticism's aesthetic
discoveries, notably the ideas of the Schlegel brothers, Novalis, Tieck and Wackenroder, as well as
popularized versions of Romantic philosophy, based on Fichte and Schelling, reached a wider
European audience." (Hoffmann, 1999, p.viii)
3
forma do dilogo, a idia do romance como mescla de outras formas - literrias e
no literrias - e uma concepo transcendental das artes.
2
Uma das realizaes mais significativas de Hoffmann no mbito da msica foi
justamente estabelecer a ponte entre o pensamento primeiro-romntico e a msica de
sua poca, particularmente a de Beethoven. nesse sentido que Charles Rosen
salienta a grande proximidade de Hoffmann com o pensamento dos romnticos de
Jena e sua posio intermediria entre esse crculo e a gerao de escritores na qual
est includo Heine. Da adviria a importncia do encontro de Schumann com a obra
de Hoffmann,
3
que representa mais um encontro com os ideais estticos do primeiro
romantismo.
A Kreisleriana, sob a enganosa aparncia de espontaneidade, esconde um
verdadeiro virtuosismo literrio - aqui, diferentemente do virtuosismo que
Kreisler/Hoffmann criticavam - significativo e quase imperceptvel. A seqncia de
peas curtas de gneros distintos que poderia parecer, como o mesmo Kreisler sugere
ironicamente, um amontoado descuidado de anotaes soltas , na verdade, uma
construo elaborada, que trai um rigoroso trabalho de planejamento. As palavras que
a "plebe musical" dedica msica instrumental de Beethoven evocadas por Kreisler
podem perfeitamente ser aplicadas ao prprio ciclo, revelando - pela via negativa - o
tipo de construo que est em jogo:
O poderoso gnio de Beethoven intimida a plebe musical; eles tentam em vo resistir
a ele. Mas sbios juizes, trocando olhares com um ar superior, nos asseguram que
podemos tomar suas palavras de que ele um homem de grande intelecto e profunda
compreenso, mas no sabe como control-los! No h seleo e organizao de
idias; seguindo o assim chamado mtodo inspirado, ele lana tudo medida que o
trabalho febril de sua imaginao o dita naquele momento. (Charlton, 1989, p.98)
4
O ciclo, mais que simplesmente discutir questes musicais, fala sobre msica e
funciona de uma maneira que tambm faz sentido musicalmente.
A personagem Kreisler - que j aparecera antes da Kreisleriana como
assinatura em artigos de Hoffmann publicados em diferentes peridicos, insinua-se
2
Ver Charlton, 1989, p.32-35.
3
Ver Rosen, 1995, p.51.
4
As referncias remetero verso inglesa da Kreisleriana, editada por David Charlton, mas
sugerimos a consulta verso original da mesma, disponvel online em:
<http://www.gutenberg2000.de/>
4
em outras obras do autor e ganha novamente uma posio central no ltimo romance
(inacabado) de Hoffmann, Lebensansichten des Katers Murr [A vida e opinies do
gato Murr]. O subttulo do livro, nebst fragmentarischer Biographie des
Kapellmeisters Johannes Kreisler in zuflligen Makulaturblttern [com uma biografia
fragmentria do Kapellmeister Johannes Kreisler em folhas soltas de papel usado],
estabelece o mote central da obra: um gato educado escreve sua autobiografia em
folhas esparsas de papel em cujo verso fora escrita a biografia de Kreisler. O material
enviado ao editor e, por um descuido, o texto de ambas as faces do papel impresso,
misturado e fora de ordem.
A idia, evidentemente absurda, de um gato letrado torna-se aqui uma fico
em segundo grau: quando Murr escreve sua autobiografia utilizando as pginas da
biografia de Kreisler, quase acreditamos que Kreisler tenha, de fato, existido. Como
destaca Jeremy Adler na introduo a sua traduo do romance ao ingls, a destruio
do livro de Kreisler para servir de suporte obra de Murr transforma a autobiografia
do segundo em um palimpsesto, neste caso, o palimpsesto mais concreto em uma obra
que incorpora uma rede de citaes e referncias - literrias e musicais - e na qual "a
literatura surge atravs de um dilogo com a arte anterior, sendo ao mesmo tempo
imitao e canibalismo esttico" (Hoffmann, 1999, p.xxii). O resultado desta colagem
improvvel - que no s entremescla duas camadas de texto, mas no qual estas
dialogam - e o "canibalismo esttico" no deixam de ser duas formas de leitura.
No cabe aqui uma anlise detalhada do romance, mas gostaramos de apontar
algumas das caractersticas da construo do texto e suas relaes com a Kreisleriana.
Das duas narrativas, somente a do gato segue a ordem cronolgica convencional e o
texto retomado do ponto onde havia sido deixado aps cada interrupo. A biografia
de Kreisler aparece fora de ordem e sem continuidade, faltam segmentos e a narrativa
comea pelo episdio que corresponderia, numa cronologia linear, ao final. Ao ser
organizado dessa maneira, o texto vai revelando aos poucos detalhes sobre a
identidade e histrico das personagens e eventos descritos no primeiro episdio e faz
com que seja necessrio chegar ao final do livro para que possamos entender com
clareza o que ocorrera antes, ou seja, leva-nos de volta ao incio, desenhando um
crculo.
5
A idia do crculo, para alm da estratgia formal empregada pelo autor,
tematizada pela personagem Kreisler. Ao discutir a respeito do significado de seu
nome, Kreisler comenta:
No, no h como escapar da palavra Kreis, que significa crculo, e os cus
determinaram que ela nos faa pensar naqueles maravilhosos crculos nos quais se
move toda a nossa existncia e dos quais no podemos escapar, no importa o que
faamos. Um Kreisler circula nesses crculos, e muito provavelmente, exausto pelos
saltos e pulos da dana de So Vito que obrigado a realizar, e em dificuldade com a
fora escura e inescrutvel que delineou esses crculos, ele freqentemente deseja
mais do que o que um estmago de constituio fraca permitiria. (Hoffmann, 1999,
p.50-51)
Esse estado de assombro ante uma realidade inescapvel e que supera sua
compreenso no , no entanto, exclusividade do protagonista humano do romance. O
estudioso e letrado gato Murr mostra tambm que - apesar de sua erudio - a lgica
da humanidade lhe escapa, mantendo-se um eterno estrangeiro no mundo dos homens.
Em certas situaes no fica claro se Murr no se ajusta perfeitamente humanidade
mais por ser gato ou por ser poeta.
A Kreisleriana e A vida e opinies do gato Murr tm mais em comum que a
personagem central, mas so tambm mais do que duas verses - uma resumida e
outra ampliada - da histria dessa personagem. Em ambas encontramos os princpios
de circularidade, duplicidade, recorrncia motvica, em ambas a msica colocada em
uma posio central, como meio privilegiado de traduo dos hierglifos em que est
cifrado o universo, mas ambas so tambm duas maneiras diferentes de reinventar o
modo de contar uma histria. Nas duas verses da histria de Kreisler chegamos ao
final desconhecendo muitos elementos de sua vida - e a ignorncia sobre detalhes da
vida de Kreisler pode ser tambm considerada um motivo reiterado em ambas as
obras -, mas o propsito em nenhum dos dois casos estabelecer rigorosamente quem
foi e como viveu o Kapellmeister. O que as duas obras nos proporcionam uma
leitura que leva o pensamento em volutas semelhantes quelas que provavelmente
desenharia a msica de Kreisler.
A Kreisleriana de Schumann normalmente associada obra homnima de
Hoffmann. Charles Rosen, no entanto, defende que "a obra est baseada ... menos na
coleo de histrias e ensaios chamada Kreisleriana que no romance Gato Murr"
(Rosen, 1995, p.672).
6
Acreditamos, no entanto, que determinar se uma ou outra obra a fonte
literria na base da criao de Schumann seja uma questo secundria. Avesso mera
adoo de um programa literrio a ser sonorizado, plausvel acreditar que Schumann
tenha proposto no ciclo uma leitura ao mesmo tempo mais frouxa - na medida em que
no pretende reproduzir mincias da obra literria - e mais estreita - na medida em
que toma da obra literria o que lhe mais profundo - do universo kreisleriano
presente tanto no ciclo como no romance de Hoffmann. No podemos subestimar, no
entanto, a importncia da maneira como Hoffmann transforma Kreisler (e as relaes
que o caracterizam: com a msica, com o mundo) em literatura e a que reside o
brilhantismo do autor: as obras dedicadas a Kreisler no so apenas sobre ele, so
como ele.
possvel levar esse argumento ainda um passo adiante considerando que
essas obras so mais como Kreisler que sobre Kreisler, uma vez que ele aparece em
ambas em uma posio excntrica: na Kreisleriana delineado a partir de sua
ausncia, como num negativo, e no Gato Murr insinua-se pela publicao acidental de
seu material biogrfico fragmentado e desordenado. A tentativa de construir uma
narrativa linear que nos contasse quem foi e como viveu Kreisler demandaria que se
estabelecesse uma coerncia e uma cadeia de causalidades que no se coadunam com
uma viso de mundo em que este aparece como um complexo apenas parcialmente
coerente e inteligvel e no qual aquilo que h de mais significativo resiste s palavras.
Essa fragmentao inevitvel ao mesmo tempo instaura e registra o processo
reflexivo, que gera uma circularidade ao mesmo tempo centrpeta - voltando-se para
dentro, para a prpria obra - e centrfuga - retornado ao mundo, do qual uma leitura
e a escrita possvel.
A Kreisleriana de Schumann caracteriza-se tambm por essa fragmentao:
em um plano mais amplo, pela sua prpria organizao como ciclo de oito peas de
carter contrastante, e pela constituio das peas individuais, nas quais o fluxo, a
tendncia continuidade, tende a ser quebrado. A esses dois planos de fragmentao
soma-se ainda um terceiro: o ciclo comea num movimento impetuoso que parece dar
continuidade a um movimento que j fora iniciado anteriormente e termina
dissolvendo-se no silncio. O ciclo aparece ele prprio como um grande fragmento
composto de fragmentos, estes tambm fragmentados internamente.
7
Os procedimentos que causam a fragmentao das peas individuais variam
de pea a pea, mas apontam invariavelmente para a existncia de um criador que
intervm, fazendo-nos lembrar constantemente de que a msica que ouvimos criada
- e por vezes, procurando iludir-nos de que est sendo criada -, eliminando assim a
iluso esttica. Essas intruses deslocam o foco da ateno para o prprio processo
criativo, colocando a msica em dilogo consigo mesma no jogo irnico que est na
base do romantismo.
As estratgias irnicas que Schumann aplica variam nas diversas peas do
ciclo, mas elas tm em comum o fato de se apresentarem como uma negao,
neutralizao ou interrupo daquilo que seria o fluxo musical que poderia ser
entendido como normal ou natural.
possvel estabelecer um vnculo entre o ciclo de Schumann e a obra de
Hoffmann em trs planos diferentes. Em primeiro lugar, peculiaridades do estilo de
composio musical atribudo a Kreisler (ou valorizado por ele) que se encontram
realizadas na Kreisleriana de Schumann. Assim, encontramos comentrios em sees
da Kreisleriana que descrevem msica como a de Schumann, como neste segmento
de "Pensamentos sobre o grande valor da msica":
Com relao msica, no entanto, apenas inimigos incorrigveis desta nobre arte
negariam que uma composio bem feita - isto , que se mantenha dentro das
fronteiras adequadas e consista de uma melodia agradvel seguida de outra, sem
histeria ou indulgncia tola em passagens e resolues contrapontsticas infinitas -
exerce um encanto relaxante. (Charlton, 1989, p.92)
A abundncia contrapontstica e os "rudos" introduzidos ironicamente na pea a
tornam um exemplo de msica cujo propsito justamente no ser relaxante, mas
estimular - intrpretes e pblico.
Em segundo lugar, existe uma similaridade entre os princpios composicionais
da obra musical e da obra literria. Nesta categoria inclumos os princpios de
circularidade, dualidade, fragmentao e excentricidade/assimetria. Na Kreisleriana
de Hoffmann - que tomaremos aqui como exemplo, mas que se aplica tambm ao
Gato Murr -, a idia de circularidade realizada pelo retorno peridico a algumas
situaes de sua biografia e pelos vnculos entre as peas do ciclo que parecem faz-lo
girar para dentro de si mesmo. Em Schumann, a observao dessa circularidade exige
8
um pouco mais de boa vontade interpretativa, aceitando a idia de que o incio
abrupto do ciclo e sua desintegrao final traam uma espiral que parte de todo o som
para som nenhum.
A idia de dualidade se manifesta em Hoffmann na polarizao do carter de
Kreisler em extremos opostos, na recorrncia dos duplos e na organizao do ciclo em
fragmentos positivos e negativos.
5
Em Schumann podemos observ-la na justaposio
de peas contrastantes lricas/impulsivas e na organizao tonal do ciclo que oscila
entre as tonalidades de si bemol maior e sol menor.
A fragmentao est presente em ambos na prpria organizao dos ciclos
como colees de peas de carter diversificado, mas os prprios ciclos como um
todo representam tambm fragmentos maiores: em Hoffmann marcado por um incio
no afirmativo e por um final no conclusivo, repetido em Schumann, onde
encontramos um incio abrupto e um final completamente no-dramtico. Neste
ltimo, podemos observar ainda a fragmentao trazida para dentro das peas
individuais, atravs de intervenes irnicas que interrompem o "fluxo natural" da
msica.
A excentricidade uma caracterstica essencial da personalidade de Kreisler e
transportada ao ciclo na explorao do humor pela negativa - o "cmico absoluto" -
e na construo de uma rede de relaes que, no entanto, no redunda em uma forma
simtrica. Em Schumann associamos a excentricidade assimetria, manifesta tanto na
construo de perodos de extenses variadas e atpicas, como nas recapitulaes
deformadas e na introduo de elementos que rompem a uniformidade ou
previsibilidade.
Em terceiro lugar e incorporando as outras duas categorias, est a identidade
de princpios estticos entre Schumann e Hoffmann/Kreisler. Est includa a a idia
de que a msica mais que pura diverso, ou seja, a criao musical entendida
como atividade intelectual de primeira categoria; a idia de que a criao do novo
passa por uma leitura e absoro dos melhores exemplos do passado; e a idia de que
5
A caracterizao das vrias peas do ciclo de Hoffmann como fragmentos positivos/negativos
empregada aqui como diferenciao entre as peas que dizem algo diretamente e aquelas que
expressam a opinio do autor utilizando-se do recurso - identificado por Baudelaire como "humor
absoluto" - de dizer o exato oposto do que se pretende expressar.
9
a criao constitui uma decifrao da natureza ou, de maneira mais ampla, do
mundo. essa identidade que nos leva a considerar Kreisler um promissor candidato
a membro da "Liga de Companheiros de David", alegorizada numa apario dele
pouco tempo antes de desaparecer, num alegado acesso de loucura, "com duas penas
de traar pentagramas presas a seu cinto vermelho como adagas" (Charlton, 1989,
p.80). Essa identidade de princpios , na verdade, a prpria razo de ser da
Kreisleriana de Schumann. Ironista como Hoffmann, ele "transmite sua mensagem
real a seu pblico somente no sentido de que nos mune dos meios de alcan-la"
(Muecke, 1995, p.60).
10
Referncias
BAUDELAIRE, Charles. Escritos sobre arte. So Paulo: Imaginrio, 1998.
CHARLTON, David (Ed.). E.T.A. Hoffmann's musical writings: Kreisleriana, The poet and
the composer, music criticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
HOFFMANN, E.T.A.. Contos fantsticos. Rio de Janeiro: Imago, 1993.
______. The life and opinions of the tomcat Murr: together with a fragmentary biography of
Kapellmeister Johannes Kreisler on random sheets of waste paper. Londres: Penguin, 1999.
MUECKE, D.C. Ironia e o irnico. So Paulo: Perspectiva, 1995.
ROSEN, Charles. The romantic generation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
Texto tomado da Internet
- Do Projekt Gutenberg - DE <http://www.gutenberg2000.de/>
HOFFMANN, E.T.A. Kreisleriana.
A idia de msica brasileira nos livros didticos de msica
Nisiane Franklin da Silva
nifranklin@yahoo.com
Resumo: O estudo do livro didtico como objeto cultural tem se solidificado aos poucos na rea da
Educao Musical. Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma a msica brasileira
representada nos livros didticos de msica direcionados para a escola do Ensino Bsico e produzidos
no Brasil nas dcadas de 60 e 70. A escolha desse perodo justificada por ser nessas dcadas que a
msica brasileira apresentada como contedo nos livros didticos de forma mais acentuada do que
em outros perodos. Tendo como referencial terico-metodolgico o conceito de representao de R.
Chartier, o estudo procurou abarcar as concepes e conceitos de msica brasileira apresentadas nos
livros didticos de msica, bem como identificar os cnones eleitos para representar, gneros musicais,
compositores, obras e pocas da msica brasileira. Essas representaes constrem uma idia de
msica brasileira a partir de uma viso comparativa e de hierarquizao da cultura europia sobre a
indgena e africana.
Palavras-chave: msica brasileira, livro didtico, representao.
Abstract: The study of textbooks as cultural objects has been slowly taken into consideration in the
Musical Education Area. This work has as objective to analyze how Brazilian music is represented in
music textbooks used in Elementary Schools, being these books produced in Brazil in the 60s and 70s.
Such choice is justified because it is during this period, rather than in others, that Brazilian music
appears as a more solid textbook content. Having R. Chartiers representation concept as a theoretical-
methodological reference, this study aimed to enclose Brazilian music concepts displayed in music
textbooks, as well as to identify the criteria elected to represent music genres, composers, works and
periods in the Brazilian music. These representations build up an idea of Brazilian music from a
comparative point of view, as well as it ranks the European culture over the Indian and the African
ones.
Keywords: Brazilian music, textbooks, representation
1 INTRODUO
Esta comunicao um recorte de minha dissertao de mestrado realizada na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2002 sob a orientao da Prof. Dr. Jusamara Souza
e que teve como objetivo analisar de que forma a msica brasileira representada nos livros
didticos de msica direcionados para a escola do Ensino Bsico. Tratarei das seguintes questes:
quais so as concepes e conceitos utilizados para definir msica brasileira nos livros didticos de
msica e, quais os gneros musicais, compositores e pocas so escolhidos para representar a
msica brasileira nos livros didticos de msica?
A seleo do material para a anlise teve como ponto de partida, os 223 livros didticos de
msica catalogados e comentados na pesquisa de Souza (1997) intitulada Livros de Msica para
Escola, uma Bibliografia Comentada.
A pr-anlise deste material mostrou que a produo didtico-musical das dcadas de 60 e
70 apresenta o estudo da msica brasileira como contedo, de forma mais acentuada que a
produo de outros perodos. A msica brasileira abordada em captulos denominados Msica
Erudita Brasileira, Msica Popular Brasileira e Folclore Brasileiro. Encontram-se, ainda,
Msica dos Nossos ndios, A Evoluo da Msica Brasileira, Formao da Msica
Brasileira, Influncias na Msica Brasileira e Msica Cvica Brasileira.
Quadro 1: Livros selecionados para anlise
AUTORES OBRAS PBLICO-
ALVO
ANO EDITORA OBSERVAES
MEC** Msica na Escola Primria Curso
Primrio
1962 MEC** Volume nico
Maria Augusta
Joppert
Educao Musical no
Curso Secundrio Canta
o Brasil
Curso
Secundrio
1967 Copyright 1
o
volume
Maria Lusa de
Mattos Priolli
Princpios Bsicos da
Msica Para a Juventude
Curso
Secundrio
1968 Casa Oliveira de
Msicas
Volume nico
Aurea Kocher Msica Comunicao 1 1
o
Grau 1974 Distribuidora de
Livros Escolares
1
o
volume
Srgio Ricardo S.
Corra
Ouvinte Consciente. Arte
Musical. Comunicao e
Expresso
1
o
Grau 1975 Editora do Brasil Volume nico
Srgio Ricardo S.
Corra
Ouvinte Consciente. Arte
Musical. Comunicao e
Expresso
1
o
Grau * Editora do Brasil Volume nico
Livro do Mestre
Gilberto Vieira Cotrim TDEM Trabalho Dirigido
de Educao Musical
1
o
Grau 1975 Saraiva 1
o
volume
Aurea Kocher Msica Comunicao 2 1
o
Grau 1976 Distribuidora de
Livros Escolares
2
o
volume
Gilberto Vieira Cotrim TDEM Trabalho Dirigido
de Educao Musical
1
o
Grau 1977 Saraiva 2
o
volume
Luz Martins Abraho Msica e Comunicao * * Nacional 2
o
volume
Cibelli Menezes e
Maria Barrachi
Iniciao Musical * * IBEP*** 1 volume
*No existe registro desses dados nos livros.
**Ministrio da Educao e Cultura, Programa de Emergncia.
***Instituto Brasileiro de Edies Pedaggicas.
Obs. Foram utilizadas as designaes dos nveis de ensino vigentes na poca.
O estudo das representaes, na perspectiva de Roger Chartier (1999), permite
compreender o porqu de certas escolhas, referentes a determinados contedos, em detrimento de
outros, e de que forma so abordados nos livros didticos. Permite, tambm, identificar os cnones
eleitos para representar estilos, gneros musicais, compositores, obras e pocas que constroem uma
idia de msica brasileira.
2 O que os livros chamam de msica brasileira?
As concepes que os livros didticos de msica analisados apresentam de msica brasileira
deixam entrever dois momentos. O primeiro abrange a idia de uma gnese da msica brasileira a
partir da combinao de trs etnias, e o segundo, quando essa passa a ser dividida em folclrica,
popular e erudita.
A msica brasileira discutida a partir de sua origem formadora, ou seja, da fuso de trs
etnias. Como afirma Priolli, da reunio dessas trs raas distintas - amerndia, portuguesa e africana
- moldou-se a msica brasileira com caractersticas rtmicas meldicas e harmnicas inteiramente
inditas (Priolli, 1968, p. 119).
Os autores tambm consideram o grau de importncia e contribuio que cada etnia
ofereceu para a constituio dessa msica. Em uma categoria de valor inferior, situa-se o indgena
sempre associada ao ritmo primitivo e, portanto, com pouca ou quase nenhuma contribuio
artstica para a msica brasileira.
As melodias indgenas no possuam grande variedade de sons, o que as tornava
excessivamente enfadonhas (Priolli, 1968, p. 117).
Esta msica muito ritmada, como qualquer msica primitiva, foi e ainda
essencialmente mstica, ligada as cerimnias e s atividades de que dependia a vida da
tribo: cantos e danas de guerra, de pesca, de caa, de invocao dos deuses (animais
e espritos) dos quais se consideravam dependentes, finalmente em cerimnias de
casamentos, nascimentos e mortes (Kocher, 1974, p. 22).
Observa-se referncias implcitas de valor que fortalecem o pensamento hegemnico cultural
europeu, em que, de uma forma etnocntrica, sugerido um comportamento selvagem e primitivo
do ndio, tornando-o, assim, intelectualmente inferior ao colonizador europeu.
Para Rocha (1984), as diferentes situaes sociais e os mais variados grupos de pessoas
so categorizados atravs da grande quantidade de representaes sociais de que dispomos.
Acredita que o outro do qual falamos na nossa sociedade apenas uma representao que
manipulamos como bem entendemos e a quem negamos, invariavelmente, um mnimo de autonomia
(Rocha, 1984, p. 15). Complementa que as representaes do outro podem ser manipuladas
vontade e, no foi coisa diferente, o que o pensamento europeu fez em relao ao Novo Mundo
(Rocha, 1984, p. 17).
Em uma categoria intermediria, enquadrada a etnia africana ligada imagem de
superioridade rtmica sobre a indgena, porm de um mesmo primitivismo meldico.
Somente com a vinda dos negros, que tinham uma cultura mais avanada que a do
indgena, foram introduzidos outros instrumentos, usados at hoje na nossa msica. So
eles: marimba, urucungo, atabaque, cuca, ganz (Menezes e Barrachi, s.d., p. 82).
A melodia negra no era muito desenvolvida, mas a sua riqueza musical vem do
ritmo, que era muito variado. Utilizavam instrumentos de percusso de timbres
diversos, bate-mo (palmas) e vozes (Corra, 1975, p. 119).
O carter evolucionista permeia os conceitos que sugerem ser a cultura africana mais
desenvolvida que a indgena, porm a nica dimenso considerada como contribuinte na
formao da msica brasileira a rtmico-percussiva, o que refora e reproduz o conceito de
hierarquia cultural europia sobre a africana e a indgena.
Em um plano superior, enquadrado o branco europeu, em especial, o portugus. A este,
vincula-se uma imagem de contribuio atravs de uma msica mais elaborada, superior, mais
desenvolvida.
O canto estridente e montono, prprio da msica amerndia, acompanhado quase
sempre de instrumentos ruidosos, foi recebendo o influxo direto dos cnticos serenos,
melodiosos e to cheios de sentimento religioso, dos missionrios jesutas (Priolli,
1968, p. 118).
De Portugal vieram as linhas mestras e as influncias mais duradouras de nossa
msica, pois de l recebemos, com a maior dosagem do sangue, a religio, a lngua, os
costumes, a instruo (Kocher, 1974, p. 30).
Esse modelo de formao da msica brasileira assentada em uma mescla hierrquica e
assimtrica da cultura musical do colonizador europeu sobre a do africano e indgena , segundo
Lucas (1996), uma herana de autores como Luciano Gallet, Mrio de Andrade, Oneyda
Alvarenga, Renato Almeida, Arthur Ramos, que, consciente ou inconscientemente, passaram para
os seus estudos os preconceitos advindos das teorias raciais do sculo XIX, que informaram grande
parte do pensamento humanstico no Brasil pelo menos at 1940. Lucas (1996) prossegue:
Sobejamente citados, estes estudos conectam argumentos de ordem evolucionista -
o suposto primitivismo dos povos africanos ou de origem afro - para explicar o
entendimento das msicas africanas calcado s na sua dimenso rtmico-percussiva
e do seu apelo corporal imediato. Nas entrelinhas queriam expressar a incapacidade`
destas culturas em alcanar os padres intelectuais do ocidente europeu, de
comunicarem-se pela linguagem da razo; a comunicao gestual e musical intensa
na cultura afro-brasileira funcionaria como mecanismo de compensao desta
incapacidade` (Lucas, 1996, p. 4).
3 O folclore, o popular, o erudito
O conceito de msica folclrica o mais descrito nesses livros. Basicamente so
apresentados dois tipos de definio: o primeiro traz uma explicao etimolgica da palavra:
A palavra folclore foi criada em 1846 pelo arquelogo ingls William John Thoms.
composta de folk, que significa povo, e lore, que significa saber, sabedoria. Folclore
significa, portanto, saber popular, cultura popular (Kocher, 1976, p. 42, grifos no
original).
O segundo tipo de definio descreve as caractersticas que a msica deve ter para ser
considerada folclrica:
As caractersticas da msica folclrica, como nos ensina Lus Ellmerich, so: a)
espontaneidade; b) transmisso oral; c) funcionalidade; d) aceitao coletiva no
agrupamento em que criada; e) curta, para mais facilmente ser memorizada.
portanto msica concebida ou aceita e utilizada espontaneamente por quem ignora por
completo os aspectos tericos da cincia e da arte musical, tendo sempre uma funo
relacionada vida da comunidade em que existe; transmite-se de forma
predominantemente oral, de um para outro membro da coletividade (Corra, 1975, p.
136).
Para definir a msica popular brasileira, alguns autores recorrem novamente explicao da
origem, da procedncia dessa msica. A abrangncia e os limites que esses conceitos assumem so
definidos atravs dos gneros musicais. Os escolhidos para representar a origem da msica
popular brasileira so o lundu e a modinha.
Dentro de uma postura evolucionista, os autores descrevem o desenvolvimento da
msica popular brasileira e o prximo gnero a fazer parte dessa seqncia a polca. Quando o
choro entra nas descries dos autores, vem associado ao esteretipo de exigncia de qualidade
musical da classe mdia e da alta sociedade. Alguns gneros como a quadrilha, o schottish e a
valsa so apenas listados sem haver preocupao com definies, o que demonstra a pouca
representatividade desses para os autores.
O gnero considerado mais importante e de maior representatividade musical o samba.
Nessa direo, Cotrim (1977, p. 144) acredita que no final do sculo XIX e incio do sculo XX
foi se popularizando um gnero musical que se tornaria, mais tarde, o smbolo de nossa msica
popular: o samba (grifos no original).
Depois do samba, o gnero de maior veiculao nos livros a bossa nova. Este carrega o
esteretipo de ser uma msica mais elaborada, de renovao artstica. Cotrim (1977, p. 149)
acredita que a bossa nova veio em forma de reao ao esvaziamento e conseqente decadncia
de nossa msica popular causados pela influncia cada vez maior do bolero e outras canes
estrangeiras.
O denominado Movimento da Jovem Guarda abordado pelos autores com referncias
sobre sua pouca contribuio artstica para o desenvolvimento da msica brasileira, mas
consideram sua importante influncia comportamental para a juventude. Corra (1975) afirma que,
de origem estrangeira, o i-i-i no oferecia inovaes, a no ser o uso da guitarra eltrica.
Tinha como principal atrativo o fato de ser vivamente ritmado e danante, representando ao
mesmo tempo uma manifestao de rebeldia e inconformismo (Corra, 1975, p. 128).
Sobre o tropilcalismo Abraho (s. d.) acredita que
Nela [no tropicalismo] se integram a bossa nova com a bossa velha, a guitarra e o
berimbau, os instrumentos eletrnicos e o reco-reco, o gnero popular e o gnero
erudito, o som e o rudo, o canto e o grito, tudo numa manifestao da alma brasileira,
para quem a msica a essncia mesma da alegria e da tristeza, do prazer e da dor,
da felicidade e do infortnio, da vida e da morte (Abraho, s. d., p. 81).
O que os autores selecionam e classificam de msica erudita brasileira est atrelado e
organizado a partir dos perodos da Histria do Brasil, revelados nos ttulos e sub-ttulos dos
captulos: A msica na Histria do Brasil, Evoluo da Nossa Msica - Na Repblica,
Msica Erudita Brasileira - No Descobrimento, Brasil Colnia, II Imprio, A Repblica e a
Msica Nacionalista Brasileira, A Msica no Brasil no Sculo XVII, A Msica no Brasil no
Sculo XVIII.
Os conceitos sobre msica erudita so delimitados atravs da seleo de compositores que
ilustrem os perodos e fatos histricos oficiais abordados, de resumos biogrficos e listagem de
principais obras dos mesmos.
Embora alguns autores citem o jesuta Navarro e os compositores do Barroco Mineiro
como grandes contribuintes para a formao da msica erudita brasileira, na figura do Padre
Jos Maurcio Nunes Garcia que se cristaliza a idia de ser o primeiro compositor de destaque
e, portanto, um marco para a nossa msica erudita (Corra,1975, p.113).
Compositores e letristas dos hinos patriticos brasileiros preenchem um grande espao nos
livros didticos analisados. Os poucos livros que trazem partituras so de hinos e/ou suas letras.
Outro compositor selecionado pelos autores Antnio Carlos Gomes. Embora sua
presena seja constante nos livros, alguns autores questionam a autenticidade brasileira de sua
produo artstica. Sua figura utilizada como ponte para abordar os compositores
nacionalistas.
Abraho (s.d.) explica que
sofrendo os reflexos da poca e do meio, com a repblica surge em nossa msica o
movimento de brasilidade. Nossos compositores comeam a inspirar-se no nosso
folclore, no amerndio e no afro-brasileiro com suas lendas, mitos, cantos e danas. A
essas composies chamamos NACIONALISTAS (Abraho s.d., p. 70, grifos no
original).
Os compositores eleitos pelos autores como representantes da msica nacionalista brasileira
so: Ernesto Nazareth, Alberto Nepomuceno, Villa Lobos, Alexandre Levy, Glauco Velasques,
Francisco Mignone, Lorenzo Fernandes, Luciano Gallet, Camargo Guarnieri, Francisco Braga,
Itiber da Cunha, Guerra Peixe e Barroso Neto.
No captulo Compositores Brasileiros Contemporneos, Kocher (1976, p. 29)
expe que os compositores contemporneos continuaram a aproveitar os temas brasileiros, porm,
numa linguagem atual, com expresso prpria. Cita como compositor de destaque desse perodo,
Villa Lobos.
Muitos outros compositores so citados nos livros, mas os que merecem destaque com
biografias so os compositores dos Hinos Nacionais e da msica classificada como nacionalista.
3 Consideraes finais
Estabelece-se um paradoxo nas idias expostas pelos autores entre a representao de
msica brasileira fundamentada na idia de formao tnica com princpios hierrquicos e de
desenvolvimento da cultura musical europia sobre a africana e a indgena e a viso histrica da
msica brasileira marcada por forte tendncia nacionalista. Ou seja, existe a necessidade de se
inventar uma msica genuinamente brasileira, uma msica que represente a nao, que seja indita
e peculiar, mas, ao mesmo tempo essa msica comparada e analisada a partir da msica de
tradio europia. Por um lado, rejeita-se os estrangeirismos mas, por outro, refora-se o
pensamento de superioridade tcnica, esttica e intelectual da msica europia. Essa concepo est
fortemente ligada herana histrica que acompanha o Brasil desde sua colonizao que a
necessidade de se inventar o brasileiro.
4 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CHARTIER, Roger. El mundo como representacin. Histria cultural: entre prtica y
representacin. Barcelona: Gedisa, 1999.
LUCAS, Maria Elizabeth. Wonderland musical: notas sobre as representaes da msica
brasileira na mdia americana. Pesquisado em 01/06/2001
(http://www2.uji.es/trans/trans2/Lucas.html).
ROCHA, Everardo P. G. Um ndio didtico: nota para o estudo de representaes. In:
Testemunha ocular: textos de antropologia social do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984, pp. 13 - 43.
SOUZA, Jusamara (Org.). Livros de Msica para a escola, uma bibliografia comentada.
Porto Alegre: PPG Msica UFRGS, 1997 (Srie Estudos).
Modelos Pr-Composicionais nas Lamentaes de Jeremias no Brasil
Pablo Sotuyo Blanco
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
psotuyo@ufba.br / psotuyo@ig.com.br
Resumo: Esta pesquisa (de natureza composicional com aproveitamento de metodologias
prprias de musicologia histrica) definiu e identificou modelos pr-composicionais (MPC)
historicamente contextualizados para um repertrio determinado. Para isto foram escolhidas as
Lamentaes de Jeremias constantes no Brasil, no perodo compreendido entre o Conclio de
Trento (1545-1563) e o Motu Proprio de Pio X (1903). Assim definido o objetivo e
determinados os necessrios marcos referenciais, realizaram-se dois levantamentos: a)
documentos que definissem o contedo e limites dos MPC e b) as partituras, alvo analtico da
eventual permanncia dos MPC. Obtiveram-se assim dois tipos de resultados. Entre os
resultados primrios destacam-se a definio, articulao e categorizao dos MPC (como
ferramenta de conhecimento terico-prtico historicamente contextualizado), dos processos pr-
composicionais e dos resultados musicais, assim como o conhecimento dos usos e funes
litrgico-musicais das Lamentaes de Jeremias no catolicismo tridentino. Entre os resultados
secundrios incluem-se a identificao de autorias de fontes annimas e a discusso da notao
relativa s prticas interpretativas.
Palavras-chave: composio/musicologia, modelos pr-composicionais, msica sacra brasileira
Abstract: This research focused the identification of pre-compositional models (PCM) in the
Lamentations repertoire inside Brazilian boundaries, during the historical period defined
between the Council of Trent (1545-1563) and the Pius Xs Motu Proprio (1903). Thus defined
the main goal and the needed referential landmarks, the following task was to research two
different sources: a) documents that allowed defining the limits and essence of PCM, and b) the
musical scores that became the analysis field where applied PCM would be observed. From the
analytical crossed study of both materials, two kinds of results were obtained. Among the
primary results, clearly appear the PCM concept, its categories, and levels of articulation (as a
useful and historic contextual, theoretical and practical research tool applied on pre-
compositional process and its musical products), and a more profound and better-defined
knowledge about music-liturgical uses and functions of Jeremiahs Lamentations throughout
Tridentine catholic world. Among the secondary results may be included many authorships
identifications from anonymous sources, and the discussion of different topics related to
performance practices linked to notation.
Keywords: composition/musicology, precompositional models, Brazilian sacred music
Objetivos -
A pesquisa desenvolvida na tese Modelos Pr-Composicionais nas Lamentaes de Jeremias no
Brasil, partindo do conceito terico de Modelo Pr-Composicional, procurou delimit-lo nos diversos
aspectos observados (texto, instrumentao, estilo ou prtica, carter, nmero, entre outros), tendo
observado a sua articulao entre dogmticos (MPCd) e pragmticos (MPCp), resultante da anlise
musical historicamente contextualizada.
Modelo Pr-Composicional (ou MPC) foi definido como o conjunto de princpios e/ou fatores
que condicionam a priori explcita ou implicitamente, raciocinada ou intuitivamente o produto
composicional, em algum dos seus aspectos. O referido conjunto de princpios e/ou fatores pode vir tanto
da tradio oral/aural como da tradio escrita, podendo se manter ou se modificar, isto , interagindo no
criador, para se refletir, de alguma forma, na obra. Na repetio constante deste processo, se acrescentam
os aportes do prprio ser criativo em devir (individual ou coletivo), que podem, eventualmente,
integrar-se s tradies compreendidas (Figura 1).
FIGURA 1 - ESQUEMA GERAL DO FUNCIONAMENTO DOS MPC
Fontes
Depois de delimitar o espao geogrfico (Brasil) e o perodo histrico (1545-1903), foram
realizados dois tipos de levantamentos documentais: a) aqueles que definissem o contedo e limites dos
MPC e b) as partituras, alvo analtico da eventual permanncia dos MPC.
Comentados aspectos tais como ttulo, localizao cannica do livro, autoria, poca de
composio, estrutura formal, chaves teolgicas, e interpretao do Livro das Lamentaes, visando um
melhor entendimento do texto em si e do seu uso musical no repertrio estudado, foram levantadas as
regulamentaes eclesisticas vigentes no perodo histrico definido, que permitiram identificar os MPC
procurados nas partituras.
Mediante pesquisa bibliogrfica e de campo, o repertrio coletado completou 45 Lamentaes
constantes no Brasil, abrangendo quatro Estados (Bahia, Par, Minas Gerais e So Paulo) e um perodo
histrico que vai desde a segunda metade do sculo XVIII at o final do sculo XIX.
Pressupostos tericos e Procedimentos metodolgicos
A pesquisa se articulou em duas etapas metodolgicas. Na primeira, o estudo das
regulamentaes eclesisticas relativas msica litrgica, definiu os MPC existentes atravs da pesquisa
histrica. Para isto, foi necessria a reviso bibliogrfica de quatro tipos de fontes: a) histrias gerais e da
msica; b) estudos especficos (teses, dissertaes, artigos); c) regulamentaes eclesisticas emitidas no
perodo estudado; d) documentos que apresentassem aspectos relevantes prtica musical litrgica em
cada poca no Brasil e/ou nos centros europeus vinculados diretamente pesquisa.
A segunda etapa, que envolveu a coleta e anlise do repertrio musical no qual foi estudada a
permanncia dos referidos MPC, se desenvolveu: a) determinando a lista dos produtos musicais relativos
pesquisa, atravs da reviso bibliogrfica dos catlogos publicados e/ou daqueles ainda inditos e
consultados nos acervos visitados na pesquisa de campo
1
; b) coletando as cpias do repertrio, atravs da
visita direta aos acervos onde esto depositados (pesquisa de campo) nos diversos suportes disponveis
2
;
c) transcrevendo as partituras; d) analisando musicalmente as transcries realizadas pelo seu confronto
com os MPC definidos; e) relacionando os resultados obtidos e as reflexes finais.
Assim definidos os MPC, fez-se a verificao da sua permanncia no repertrio das
Lamentaes no Brasil. Quando a prtica desviou-se do padro definido pelos MPC, procurou-se explicar
os eventuais motivos desses desvios mediante o estudo dos usos e prticas (litrgicas e/ou musicais)
comuns em cada poca.
Resultados
Do confronto analtico entre MPC e repertrio, obtiveram-se dois tipos de resultados. Entre os
resultados primrios destacam-se a definio, articulao e categorizao dos MPC, dos processos pr-
composicionais e seus resultados musicais, assim como o conhecimento dos usos e funes litrgico-
musicais das Lamentaes de Jeremias no catolicismo tridentino. Entre os resultados secundrios
incluem-se a identificao de autorias de fontes annimas e a discusso da notao relativa s prticas
interpretativas.
Entre os MPC se distinguem dois tipos bsicos com diferente peso e valor na anlise: a) os
surgidos das regulamentaes e documentos eclesisticos (com eventual apoio de documentos conexos) e
que ficaram definidos como MPC dogmticos (ou MPCd); e b) os estabelecidos pela prtica comum (com
eventual apoio de outros documentos relacionados) e que, por sua vez, foram chamados de MPC
pragmticos (ou MPCp). Tentando uma quantificao dos desvios do MPCd (em favor do MPCp)
observados no repertrio, as tabelas 1, 2, e 3 incluem as avaliaes realizadas (Tabelas 1, 2 e 3).
TABELA 1 - AVALIAO DAS LAMENTAES EM CANTOCHO EM FUNO DOS MPC
MPC
Literrios Musicais Compilador Lamentao Datao
Texto Instrumentos Estilo/Prtica Carter
Avaliao
do desvio
1 a 3 de 5
O O O O 0
1 a 3 de 6
O O O O 0
D. de
Rosrio
1 a 3 de S
1817
O O O O 0
1 a 3 de 6
O O O O 0
J. da
Veiga
1 a 3 de S
1780
O O O O 0
1
A definio de um repertrio determinado de suma importncia para o desenvolvimento da
pesquisa. Uma viso do cristianismo mostra que o uso de textos bblicos nas diversas manifestaes
musicais , quase sempre, a regra. Levando em considerao que o texto bblico das Lamentaes de
Jeremias utilizado em grande parte do repertrio litrgico e para-litrgico de diversas tradies crists
no Brasil, determinou-se, com anterioridade coleta de partituras: a) a tradio crist a ser estudada (a
catlica); b) o tempo do ano litrgico especfico dessa tradio (o Trduo Sacro); c) o espao fsico do
estudo (o interior do templo); e d) a parte especfica da hora litrgica (Lies de Matinas). Desta forma,
ficou excludo todo o repertrio para-litrgico e/ou responsorial que utiliza versculos do texto das
Lamentaes.
2
Os suportes das cpias presentes no repertrio coletado so trs: a) flmico (microfilme); b)
papel (fotocpia ou cpia em papel fotogrfico), c) digital (fotografia digital ou imagem scanneada, e
arquivos grficos prprios do Acrobat Reader (.pdf) e de partitura prprios do Coda Finale (.mus)).
TABELA 2 - AVALIAO DAS LAMENTAES EM ESTILO ANTIGO EM FUNO DOS MPC
MPC
Literrios Musicais Autor Lamentao Datao
Texto Instrumentos Estilo/Prtica Carter
Avaliao
do desvio
ANI (GMC) 1 de 5 1700-1730
X O O O 1
1 de 5
X O O O 1
D. Barbosa
de Arajo
1 de 6
1778 -
1856
X O O O 1
TABELA 3 - AVALIAO DAS LAMENTAES EM ESTILO MODERNO EM FUNO DOS MPC
MPC
Literrios Musicais Autor Lamentao Datao
Texto Instrumentos Estilo/Prtica Carter
Avaliao
do desvio
1 de 5
O O O X 1
1 de 6
O O O X 1
J. de Sousa
[Lobo ou
Queiros]
1 de S
1729
1826
O O O X 1
1 de 5
X X O O 2
1 de 6
X X O O 2
J. J. E.
Lobo de
Mesquita
1 de S
1746
1805
X X O O 2
1 de 6 1810
X O O X 2
A. da
Silva Gomes
1 de S 1775 ?
? O ? ? ?
1 de 5
O X O O 1
1 de 6
X X O X 3
A. Santos
Cunha
1 de S
1786
1815
X X O X 3
1 de 5
O X O O 1
1 de 6
O X O O 1
J. D.
Rodrigues
de Meirelles
1 de S
1811
O X O O 1
2 de 5
? X O X 2 [?]
2 de 6
a
O X O X 2
2 de S
1862
? X O X 2 [?]
3 de 5
O X O X 2
3 de 6
a
O X O X 2
3 de S
1862
O X O X 2
2 de 5
O X O X 2
2 de 6
a
O X O X 2
J. M.
Xavier
2 de S
1870
O X O X 2
2 de 5
X ? ? ? ?
J. M. A.
Muniz
3 de 5
Sc. XIX
X ? ? ? ?
1 de 5
O X O O 1
ANI (MI)
1 de S
1800
1850
O X O X 2
Casos de desvios relativos ao nmero de Lies compostas, assim como ao texto abreviado
utilizado (ausncia de versculos), permitiu a definio de MPCp correspondentes, tendo-se encontrado
manifestaes semelhantes em arquivos portugueses, assim como em obras do repertrio catlico
circulante e na Catedral de Toledo (Espanha). As tabelas 4, 5 e 6 apresentam os resultados (tabelas 4, 5 e
6).
TABELA 4 - RELAO DAS LAMENTAES EM ESTILO ANTIGO OU MODERNO COLETADAS
Origem AUTOR Lio Estilo
1
a
de 5
a
feira Santa Antigo
Bahia Damio Barbosa de Arajo
1 de 6 feira Santa Antigo
1 de 6 feira Santa Moderno
Andr da Silva Gomes
1 de Sbado Santo Moderno So Paulo
ANI (GMC) 1
a
de 5
a
feira Santa Antigo
1 de 5 feira Santa Moderno
1 de 6 feira Santa Moderno
Jos Joaquim Emerico Lobo
de Mesquita
1 de Sbado Santo Moderno
1
a
de 5
a
feira Santa Moderno
1 de 6 feira Santa Moderno
Jernimo de Sousa [Lobo ou
Queiros]
1 de Sbado Santo Moderno
1
a
de 5
a
feira Santa Moderno
1 de 6 feira Santa Moderno
Jos Domingues Rodrigues
de Meirelles
1 de Sbado Santo Moderno
1
a
de 5
a
feira Santa Moderno
1 de 6 feira Santa Moderno Antonio dos Santos Cunha
1 de Sbado Santo Moderno
2 de 5 feira Santa Moderno
J. M. Augusto Muniz
3 de 5 feira Santa Moderno
2 de 5 feira Santa (1870) Moderno
2 de 5 feira Santa (1862) Moderno
3 de 5 feira Santa Moderno
2 de 6 feira Santa (1870) Moderno
2 de 6 feira Santa (1862) Moderno
3 de 6 feira Santa Moderno
2 de Sbado Santo (1870) Moderno
2 de Sbado Santo (1862) Moderno
Jos Maria Xavier
3 de Sbado Santo Moderno
1
a
de 5
a
feira Santa Moderno
Minas Gerais
ANI (MI)
1 de Sbado Santo Moderno
TABELA 5 - RELAO DOS VERSCULOS PRESENTES E AUSENTES NO REPERTRIO COLETADO
Origem AUTOR Lio Versculos Condio
1
a
de 5
a
feira Santa I:1-3 Faltam 2
3
Bahia
Damio Barbosa
de Arajo 1 de 6 feira Santa II:8-9 Faltam 2
1 de 6 feira Santa II:8-11 Completo Andr da Silva
Gomes 1 de Sbado Santo (nada consta) - So Paulo
ANI (GMC) 1
a
de 5
a
feira Santa I:1-2 Faltam 3
1 de 5 feira Santa I:1-3 Faltam 2
1 de 6 feira Santa II:8-10 Falta 1
Jos Joaquim
Emerico Lobo de
Mesquita 1 de Sbado Santo III:22-26 Faltam 4
1
a
de 5
a
feira Santa I:1-5 Completo
1 de 6 feira Santa II:8-11 Completo
Jernimo de
Souza [Lobo?
Queiroz?] 1 de Sbado Santo III:22-30 Completo
1
a
de 5
a
feira Santa I:1-5 Completo
1 de 6 feira Santa II:8-11 Completo
Jos Domingues
Rodrigues de
Meirelles 1 de Sbado Santo III:22-30 Completo
1
a
de 5
a
feira Santa I:1-5 Completo
4
1 de 6 feira Santa II:8-9;11 Falta 1
5
Antonio dos
Santos Cunha
1 de Sbado Santo III:22-24;28-30 Faltam 3
6
2 de 5 feira Santa I:6-9 Completo
7
J. M. Augusto
Muniz 2 de 6 feira Santa I:10-12 Faltam 2
8
2 de 5 feira Santa I:6-9 Completo
3 de 5 feira Santa I:10-14 Completo
2 de 6 feira Santa II:12-15 Completo
3 de 6 feira Santa III:1-9 Completo
2 de Sbado Santo IV:1-6 Completo
Jos Maria
Xavier
3 de Sbado Santo V:1-11 Completo
1
a
de 5
a
feira Santa I:1-5 Completo
Minas Gerais
ANI (MI)
1 de Sbado Santo III:22-30 Completo
O repertrio de Lamentaes no Brasil que no apresenta as caractersticas previstas pelo MPCd
relativo instrumentao, mostra uma tendncia geral de aproximao conformao instrumental dos
conjuntos existentes no territrio brasileiro. Os conjuntos surgidos da prtica comum (condicionada por
diversos aspectos scio-econmicos), apresentam dois tipos de conformao instrumental, cada uma das
quais depende do momento histrico (Tabela 6)
TABELA 6 - RELAO DO USO DE INSTRUMENTOS PROIBIDOS PELO MPC RESPECTIVO
INSTRUMENTAO
Madeiras Metais Vozes Teclas Cordas Baixo
AUTOR Lio
fl ob cl pst trpa S C T B rgo vno vla vc B
J. J. E. 1 de 5 2 2 2 2 2 2 4 1 1
3
Barbosa de Arajo indica a opo de pular o versculo 3, passando assim do versculo 2
diretamente para o encerramento Jerusalem...
4
A ausncia de partes musicais no impediu inferir o uso do texto.
5
Falta o versculo 10 inteiro (incluindo a letra hebraica JOD), assim como a letra hebraica
CAPH do ltimo versculo utilizado.
6
Faltam os versculos 25, 26 e 27, correspondentes letra THETH.
7
A ausncia de partes musicais, embora no impedisse a confirmao do uso dos versculos
correspondentes, no permitiu confirmar positivamente o uso das letras hebraicas.
8
Dos versculos 11 e 12 faltam as letras hebraicas.
1 de 6 2 2 2 2 2 2 4 1 1 Lobo de
Mesquita 1 de S 2 2 2 2 2 2 4 1 1
1 de 5 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1
1 de 6 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1
J. D.
Rodrigues
de Meirelles 1 de S 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1
1 de 5 1 1 2 2 2 2 2 4 2 1 1
1 de 6 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1
A. Santos
Cunha
1 de S 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1
2 de 5-6
a
-S 1 1 1 2 1 4 2 1 1
3 de 5-6
a
-S 1 1 2 1 4 2 1 1
J. M.
Xavier
2 de 5-6
a
-S 2 2 1 4 2 1 1
1 de 5 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 ANI (MI)
1 de S 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1
Em relao ao carter teatral, tanto o cerimonial litrgico quanto a encenao teatral, possuem
elementos comuns. Depois de estudar os diferentes aspectos da liturgia do Oficio de Trevas catlico no
Brasil, sob o ponto de vista cnico, foi identificada uma caracterstica dupla do tipo cnico-litrgica,
manifestando a articulao de um plano dramatrgico funcional no acontecer da liturgia, que a sustentaria
e justificaria, inclusive, musicalmente. A partir da, o uso crescente de elementos musicais vindos do
teatro ou da pera durante o sculo XIX (exemplificado no elevado nmero de Lamentaes que
extrapolaram os limites definidos pelo MPCd relativo ao carter musical), pode ser entendido como
conseqncia da eventual inteno composicional de enriquecer, ainda mais, a liturgia, com todos os
elementos dramtico-musicais disponveis, dos quais os gneros operstico e teatral se mostravam
generosamente ricos.
Concluses
Baseados na definio terica e funcional geral de MPC aqui proposta, foram definidos MPCd
relativos a quatro tpicos (texto, instrumentao, prtica ou estilo, e carter musical) cujo fundamento e
objetivo ficaram esclarecidos no contexto da liturgia catlica. Tais MPCd ficaram articulados, na teoria e
na prtica, atravs do estudo das regulamentaes eclesisticas levantadas e da anlise do grau da sua
permanncia no repertrio estudado.
Foi constatada a existncia de MPCp surgidos da prtica composicional que, em geral, vieram
ocupar o lugar dos MPCd no utilizados.
Entre os MPCd e os MPCp observou-se uma relao majoritria de contraposio substitutiva,
excetuando apenas a das Lamentaes isoladas.
Mesmo observando uma certa falta de comunho ideolgico-religiosa da estrutura hierrquica
catlica em alguns perodos da sua histria, problemas na divulgao de certas regulamentaes no
territrio catlico (tanto europeu quanto americano), e a aceitao da permanncia de certas tradies
litrgicas e musicais ibricas por parte de Roma, acredita-se que a gerao e o uso de certos MPCp se
deve fundamentalmente a escolhas de tipo musical, condicionadas pelos contextos scio-econmicos.
9
Observou-se tambm a distribuio temporal e geogrfica dos MPC utilizados no Brasil, entre
cujas causas contam-se os diversos fatores scio-econmicos que condicionaram o processo histrico e de
9
No se descarta a possibilidade de encontrar, no estudo de outros repertrios sacros ou profanos, MPCd
e MPCp que se relacionem em diverso grau de complementaridade entre eles, mostrando inclusive
motivaes extramusicais para o seu uso.
desenvolvimento desse pas, cujas fronteiras culturais luso-centristas foram varadas por influncias
diferentes das desejadas pelo poder central.
Observou-se o uso de MPCd e/ou MPCp em todas as pocas compreendidas no repertrio
estudado, desde o Ms. do Grupo de Mogi das Cruzes at as Lamentaes de Muniz ou Xavier, desde o
Par at So Paulo, em graus diversos de substituio de uns pelos outros, permitindo uma compreenso
maior do repertrio, e das prticas efetivamente utilizadas pelos compositores envolvidos.
Do ponto de vista contextual, pode-se dizer que o estudo dos MPC reflete o panorama
comportamental em relao s escolhas pr-composicionais (tanto no plano dogmtico quanto
pragmtico) no Brasil e nos territrios culturalmente conexos, configurando uma ferramenta muito til no
estudo de repertrios especficos tanto nos seus aspectos histricos, sociais e/ou culturais, quanto nos seus
detalhes tcnicos e/ou musicais especficos.
Definidos para perodos de tempo determinados, os MPC permitem reconhecer o momento
histrico que uma obra do respectivo repert rio reflete, alicerando assim eventual datao de Ms., de
estilos ou prticas composicionais, de tratamentos do texto, de escolhas instrumentais (permitindo
diferenciar as mais prximas da eventualmente realizada pelo compositor quando esta se desconhece
por falta de Ms. autgrafos das geradas por arranjadores posteriores), entre outras possibilidades.
Por outro lado, os MPC permitem compreender e/ou aprofundar o conhecimento dos usos e
funes sociais do respectivo repertrio nos contextos histricos correspondentes (com as variveis
sociais e econmicas concomitantes), levando em considerao as diversas relaes de poder (e com o
poder) na escolha entre MPCd e MPCp, assim como desvendar novos MPC existentes porm ainda no
definidos.
Entre as contribuies catalogrficas, destaca-se o questionamento a duas autorias indicadas em
diversos Ms. (as de Jernimo de Sousa Lobo e de Jernimo de Sousa Queiros, que ainda esperam estudos
mais aprofundados nos seus aspectos musicais); assim como a identificao da autoria de trs Ms.
considerados annimos, e atribudos a Lobo de Mesquita, Jos Maria Xavier ou de Jernimo de Sousa
[Lobo ou Queiros].
Entre as contribuies histria das formas de notao instrumental em uso no Brasil, ficaram
esclarecidos certos detalhes especficos na prtica da notao para as trompas, observados nas
Lamentaes de Jos J. Emerico Lobo de Mesquita.
As perspectivas que se apresentam, alm das especificamente composicionais e musicolgicas,
incluem possveis interfaces entre elas.
Bibliografia referida
ARAJO, Damio Barbosa de. Oficio de Quarta-feira de Trevas. Ms. 6.30. Arquivo Histrico
Municipal. Fundao Gregrio de Matos. Salvador (BA).
. Oficio de Quinta-feira Santa. Ms. 6.31. Arquivo Histrico Municipal. Fundao Gregrio de
Matos. Salvador (BA).
AUTOR NO INDICADO. Em 6
a
feira da Paixam. Partes musicais. Ms. CT3 581. Acervo de
Manuscritos Musicais. Coleo Francisco Curt Lange. Casa do Pilar. Museu da Inconfidncia.
Ouro Preto (MG).
. Lamentao 2
a
de 4
a
e 5
a
feira Santa. Partes musicais. Ms. CT3 518. Acervo de Manuscritos
Musicais. Coleo Francisco Curt Lange. Casa do Pilar. Museu da Inconfidncia. Ouro Preto
(MG).
. Ofcio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. 065. In Catlogo de Manuscritos Musicais
Presentes no Acervo do Maestro Vespasiano Gregrio dos Santos. Pesquisa e catalogao de
Mrcio Miranda Pontes. 2 Vols. [CD-Rom]. Belo Horizonte: UEMG, FAPEMIG, 1999. Vol. 1.
. Ofcio de Sbado Santo ad Matutinum. Partes musicais. Ms. CT3 519. Acervo de Manuscritos
Musicais. Coleo Francisco Curt Lange. Casa do Pilar. Museu da Inconfidncia. Ouro Preto
(MG).
. Oficio de Sbado Santo. Partes musicais. Ms. 013. In Catlogo de Manuscritos Musicais
Presentes no Acervo do Maestro Vespasiano Gregrio dos Santos. Pesquisa e catalogao de
Mrcio Miranda Pontes. 2 Vols. [CD-Rom]. Belo Horizonte: UEMG, FAPEMIG, 1999. Vol. 1.
. Officio de 4
a
feira. Partes musicais. Ms. CT3 580. Acervo de Manuscritos Musicais. Coleo
Francisco Curt Lange. Casa do Pilar. Museu da Inconfidncia. Ouro Preto (MG).
BLANCO, Pablo Sotuyo. Modelos Pr-Composicionais nas Lamentaes de Jeremias no Brasil. Tese de
Doutorado. Programa de Ps-Graduao em Msica da UFBA, Fevereiro de 2003.
CUNHA, Antonio dos Santos. Oficio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da
Orquestra Ribeiro Bastos (So Joo del Rei, Minas Gerais). Microfilme BRMGSJrb 24.
Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Oficio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos
(So Joo del Rei, Minas Gerais). Microfilme BRMGSJrb 23. Pontifcia Universidade Catlica
do Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Oficio de Sexta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos (So
Joo del Rei, Minas Gerais). Microfilme BRMGSJrb 24. Pontifcia Universidade Catlica do
Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Oficio de Sbado Santo. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos (So
Joo del Rei, Minas Gerais). Microfilme BRMGSJrb 24. Pontifcia Universidade Catlica do
Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
GOMES, Andr da Silva. Lamentazione Prima Nel'Offizio Matutino di Venerdi Sancto / Per quatro
Voce concertate, e Organo / Composizione / Di A.S.G. anno di / 1810. Partes musicais. Ms.
244 (P-109). Arquivo da Cria Metropolitana de So Paulo. Acervo de Manuscritos Musicais
dos sculos XVIII e XIX.
MEIRELLES, Jos Rodrigues Domingues de. Oficio de Quinta-feira Santa ad Matutinum. Partes
musicais. Ms. CT1 066. Acervo de Manuscritos Musicais. Coleo Francisco Curt Lange. Casa
do Pilar. Museu da Inconfidncia. Ouro Preto (MG).
. Oficio de Sexta-feira Santa ad Matutinum. Partes musicais. Ms. CT1 067. Acervo de
Manuscritos Musicais. Coleo Francisco Curt Lange. Casa do Pilar. Museu da Inconfidncia.
Ouro Preto (MG).
. Oficio de Sbado Santo ad Matutinum. Partes musicais. Ms. CT1 068. Acervo de Manuscritos
Musicais. Coleo Francisco Curt Lange. Casa do Pilar. Museu da Inconfidncia. Ouro Preto
(MG).
MESQUITA, Jos Joaquim Emerico Lobo de. Matinas de Quinta-feira Santa. Partitura. N 016. Rio de
Janeiro: Funarte, s.d.
. Matinas de Sexta-feira Santa. Partitura. N 017. Rio de Janeiro: Funarte, s.d.
. Matinas de Sbado Santo. Partitura. N 018. Rio de Janeiro: Funarte, s.d.
. Matinas de Sbado Santo. Partitura. Edio e aparato crtico por Andr Guerra Cotta. Mariana:
Museu da Msica, 2001. Arquivo Acrobat disponvel na internet em <http://
www.mmmariana.com.br> [Acessado em 10 de Agosto de 2002].
. Ofcio de Quarta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 05. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Quarta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJrb 24. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 05. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJrb 24. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Sexta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 05. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Sexta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos (So
Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJrb 24. Pontifcia Universidade Catlica do Rio de
Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. 184. In Catlogo de Manuscritos Musicais
Presentes no Acervo do Maestro Vespasiano Gregrio dos Santos. Pesquisa e Catalogao de
Mrcio Miranda Pontes. 2 Vols. [CD-Rom]. Belo Horizonte: UEMG, FAPEMIG, 1999. Vol. 1.
. Ofcio de Quinta Feria in Coena Domini. Partes musicais. Ms. SE-SS02. Museu da Msica da
Arquidiocese de Mariana (MG).
. Ofcio de Sexta Feria in Parasceve. Partes musicais. Ms. SE-SS03. Museu da Msica da
Arquidiocese de Mariana (MG).
. Ofcio de Sbado Sancto. Partes musicais. Ms. SE-SS04. Museu da Msica da Arquidiocese de
Mariana (MG).
. Ofcio de Sbado Sancto. Partes musicais. Ms. SE-SS09. Museu da Msica da Arquidiocese de
Mariana (MG).
MUNIZ, J. M. Augusto. 2 Lio do 1 Nocturno do / Officio / de / Quinta feira Maior / arranjada sobre
um motivo / de / C. M. v. Weber / com / V.os Viola e Basso. Partes musicais. Ms. do Arquivo
da Orquestra Lira Sanjoanense (So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 14. Pontifcia
Universidade Catlica do Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. 3 Lio / Do 1 Nocturno do Officio de / 5 Feira Maior / arranjada sobre um / motivo de Haydn /
com / V.os Viola e Basso. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 14. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
ROSRIO, Domingos do. Theatro Ecclesiastico. 9
a
Impr. Lisboa: Impresso Regia, 1817.
SOUSA LOBO [ou Queiros], Jernimo de. Matinas de Quinta-feira Santa. Partitura. N 050. Rio de
Janeiro: Funarte, s.d.
. Ofcio de Quarta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 05. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 05. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Sexta-feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense
(So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 05. Pontifcia Universidade Catlica do Rio
de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Ofcio de Quarta-feira Santa. Partes musicais. Ms. AY 842-844-846-847. Laboratrio de
Musicologia da Escola de Comunicao e Artes da Universidade de So Paulo.
. Ofcio de Quarta-feira Santa. Partes musicais. Ms. BL-SS02. Museu da Msica da Arquidiocese
de Mariana (MG).
. Ofcio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. BL-SS03. Museu da Msica da Arquidiocese
de Mariana (MG).
. Ofcio de Sexta-feira Santa. Partes musicais. Ms. BL-SS04. Museu da Msica da Arquidiocese
de Mariana (MG).
SOUSA QUEIROS [ou Lobo], Jernimo de. Ofcio de Quarta-feira Santa. Partes musicais. Ms. OP-SS
02. Museu da Msica da Arquidiocese de Mariana (MG).
. Ofcio de Quinta-feira Santa. Partes musicais. Ms. OP-SS 03. Museu da Msica da
Arquidiocese de Mariana (MG).
VEIGA, Joo da. Rituale Sacri, Regalis, ac Militaris Ordinis B. V. Mariae de Mercede Redemptionis
Captivorum, ad usum Fratrum ejusdem ordinis in Congregatione Magni Paraensi
commorantium. Lisboa: Francisco Luis Ameno, 1780.
XAVIER, Jos Maria. Lamentao 2
a
de 4
a
, 5
a
e 6
a
feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da
Orquestra Lira Sanjoanense (So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 05. Pontifcia
Universidade Catlica do Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Lamentao 2
a
de 4
a
, 5
a
e 6
a
feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira
Sanjoanense (So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 06. Pontifcia Universidade
Catlica do Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
. Lamentao 3
a
de 4
a
, 5
a
e 6
a
feira Santa. Partes musicais. Ms. do Arquivo da Orquestra Lira
Sanjoanense (So Joo del Rei, MG). Microfilme BRMGSJls 06. Pontifcia Universidade
Catlica do Rio de Janeiro. Diviso de Bibliotecas e Documentao.
O desenvolvimento musical: uma anlise atravs do mtodo clnico
Patrcia Kebach
ferreira@netu.unisinos.br
Resumo: Este estudo voltado para a rea da psicologia cognitiva musical e visa a compreender
a construo do conhecimento musical, atravs da anlise das condutas e do conhecimento
espontneo dos sujeitos pesquisados sobre a msica, assim como constatar seus nveis de
desenvolvimento a partir dos fundamentos tericos da epistemologia gentica piagetiana. Para
desenvolver esses objetivos, adotei, como metodologia de pesquisa, o mtodo clnico para observar
de que forma os sujeitos diferenciam o objeto musical atravs das abstraes que fazem sobre os
parmetros do som (altura, durao, timbre e intensidade) e de que modo conseguem integrar (ou
no) esse conhecimento a seus esquemas de ao. Provas especficas sobre o tema foram
criadas para verificar o nvel de desenvolvimento de 47 sujeitos e confirmam a hiptese inicial de
que a construo do conhecimento musical ocorre de forma homloga aos nveis investigados pela
Escola de Genebra para outros objetos de conhecimento.
Palavras-chave: msica, cognio, epistemologia gentica
Abstract: This study is about the psychology of knowledge and shall cover the construction of
musical knowledge through the analyses the musical conducts, the spontaneous understanding of
subjects researched about music and to verify your different levels of development on the basis of
a genetic epistemology. The research methodology used was the clinical method. I develop these
objectives, studying how subjects differentiate the musical object through abstractions made upon
the sound parameters (pitch, duration, intensity, and timbre) and the way they manage to integrate
(or not) this knowledge in their schemes of action. Specific tests were created to verify the level
of development of the 47 subjects and confirmed the initial hypotheses: the construction of musical
knowledge occurs in a form homologous to the levels investigated by the School of Geneva for
other objects os knowledge.
Keywords: music, knowledge, genetic epistemology
Introduo
Esta pesquisa voltada para a compreenso da construo do conhecimento musical.
dirigida tanto para pesquisadores da rea, quanto para professores de msica, considerando-se
a necessidade de que se compreenda os processos de aprendizagem e as estruturas cognitivas
do sujeito que interage com o objeto musical. Entre o conjunto de pesquisas realizadas na rea
de msica e cognio, as que serviram de referncia para o presente trabalho so as que
possuem um foco terico construtivista (Bamberger, 1990; Beyer, 1993, 1994/1995, 1995;
Delalande, 1982; Fraisse 1974; Maffioletti, 2002; Soulas, 1990), em particular, as
fundamentadas na teoria construtivista e interacionista de Piaget.
A problemtica da pesquisa foi a seguinte: De que modo ocorre a construo do
conhecimento na esfera musical, se analisada a partir da epistemologia gentica? Quais os nveis
de desenvolvimento musical de crianas de quatro a 12 anos, se estudados a partir dessa teoria
e se relacionados s mdias de idade dos estgios piagetianos? Como elaborar provas clnicas
musicais e aplic-las a partir do mtodo clnico para a apreenso das condutas musicais,
visando explicao da construo desse conhecimento e dos nveis de desenvolvimento
ligados msica?
Procurei compreender a construo do conhecimento musical atravs de uma
metodologia aplicada verificao das diferenciaes das propriedades fsicas do som, ou
seja, pela diferenciao dos parmetros altura, durao, intensidade e timbre, por pensar esses
como sendo os elementos mais simples a serem diferenciados pelos sujeitos, no momento em
que procuram estruturar o mundo sonoro. Portanto, a escolha desses elementos como fonte de
observao simplesmente metodolgica. Isto , no busco uma teoria sobre a msica nem
dos processos de aprendizagem musical stricto sensu. Essa escolha inspirada nas provas
clnicas de Piaget sobre os conhecimentos fsicos e matemticos, em que os objetos com os
quais o sujeito deve interagir so os mais simples possveis. Observo, ento, os parmetros do
som, na perspectiva mais epistemolgica do que pedaggica.
A hiptese da pesquisa foi a de que a construo do conhecimento musical ocorre de
forma homloga aos nveis investigados pela Escola de Genebra para outros objetos de
conhecimento. Essa hiptese se aproxima do que outros autores j afirmaram. A diferena,
nesta pesquisa, est no uso do mtodo clnico, na base epistemolgica e corpo conceitual
desenvolvidos para essa anlise.
A partir dessa hiptese, dois pressupostos orientam esse estudo. Primeiro, a de que o
desenvolvimento relacionado s construes feitas pelo sujeito sobre os parmetros do som
deva iluminar qualquer compreenso sobre a aprendizagem musical. Segundo, a de que o
mtodo clnico bastante pertinente para se observar de que maneira os sujeitos constroem
conhecimento sobre o objeto musical, na medida em que o pesquisador no procura conhecer
simplesmente as respostas dos sujeitos entrevistados, e sim, a lgica de suas aes sobre os
objetos.
Referncias Conceituais
A epistemologia gentica piagetiana est ligada psicologia do desenvolvimento e
procura explicar o que o conhecimento e como a criana se desenvolve, atravs da
observao e anlise das condutas humanas. Ou seja, suas performances e competncias. A
partir desse foco terico, investiguei as aes e/ou representaes cognitivas dos sujeitos
pesquisados, procurando caracteriz-las como pr-operatrias, intuitivas (nvel avanado do
estgio pr-operatrio) ou aes e/ou conceitos operatrios, em funo do modo pelo qual os
sujeitos diferenciam o objeto musical e integram (ou no) esse conhecimento a seus esquemas
de ao.
Para compreender os nveis (aqui ligados aos estgios) de desenvolvimento necessrio
definir critrios precisos. Mesmo em Piaget, as idades atribudas a cada estgio so apenas
mdias, tendo em vista que o conhecimento construdo diferentemente pelos sujeitos, de
acordo com a qualidade interativa entre sujeito e objeto. Piaget pensa os estgios da seguinte
forma:
- um estgio definido por sua estrutura, sua organizao, que lhe inerente e
diferente das outras;
- a ordem de sucesso dos estgios constante;
- essa ordem abrange caractersticas universais do pensamento;
- cada estgio integra as estruturas de conhecimentos adquiridos no estgio
precedente;
- no h reposio das condutas por outras, mas sim, integrao;
- cada estgio contm um perodo de preparao e um de acabamento. A
passagem de um estgio a outro definida por um mecanismo de equilibrao
majorante (Piaget, 1995) que restabelece os desequilbrios oriundos dos
desafios do meio, das perturbaes e dos conflitos interiores;
Para explicar os mecanismos de construo de conhecimento utilizei os seguintes
conceitos piagetianos para a anlise dos dados: o conceito de adaptao, que envolve a
assimilao, atravs da qual o sujeito procura se apropriar das novas informaes do meio
exterior a partir de seu lugar particular, e a acomodao, na qual o sujeito integra esses novos
dados aos seus esquemas precedentes, transformando-os (Piaget, 1978). Esquemas aqui se
referem organizao mental que permite a ao do sujeito sobre o objeto, ou seja, sua
estrutura de base.
Utilizei tambm os conceitos de diferenciao e integrao para compreender os
mecanismos de estruturao do objeto musical a partir das abstraes reflexionantes
(Piaget, 1995). O conceito de abstrao emprica foi utilizado para compreender como o
sujeito pesquisado constri os observveis dos objetos e a abstrao reflexionante para
verificar como ele interpreta as relaes entre os objetos, a partir do equilbrio cognitivo, como
processo dinmico.
A pesquisa realizada
Para verificar o valor da hiptese e dos pressupostos ligados a ela, realizei as seguintes
provas clnicas (Kebach, 2003):
1) Verificao da Conceituao dos parmetros do som, prova em que conversei
livremente com as crianas sobre o tema msica para verificar suas representaes
verbais sobre os elementos da linguagem musical, mais especificamente, sobre os
parmetros do som;
2) Dissociaes e diferenciaes dos parmetros do som, na qual o sujeito deveria
apontar as modificaes que o experimentador realizava em algum parmetro sonoro
durante a aplicao das provas;
3) Seriao da escala temperada, em que o sujeito deveria montar a escala,
procurando relacionar oito sinos que formavam uma escala de d;
4) Conservao da pulsao e generalizao da subdiviso de tempos, em que as
crianas tinham como tarefa continuar batendo a pulsao enquanto o experimentador
transformava suas palmas em outras figuras rtmicas. No final, a criana deveria
inventar figuras rtmicas, acompanhada pela pulsao do experimentador;
5) Conservao da durao de uma nota, em que a criana deveria observar a
durao de uma nota, depois de ser deslocada no compasso, atravs da troca de
lugar da pausa do final para o incio da nota.
Recolhi um total de 90 protocolos realizados com 47 crianas. Essas provas realizadas
confirmam a hiptese inicial. Entretanto, h um implcito nesta pesquisa: a msica um objeto
constitudo pela ao humana que se caracteriza pelo atravessamento das estruturas lgico-
formais estudadas por Piaget.
As concluses da pesquisa
Reuni as evidncias informadas em cada prova num quadro geral (figura 1, abaixo) que
indica a validade da hiptese desenvolvida, apontando os Nveis de desenvolvimento de todas
as provas e as respectivas mdias de idade.
Nvel I (pr-operatrio) Nvel II (intuitivo) Nvel III (operatrio)
Conceituao dos
parmetros do som
6,7 anos 7,3 anos 9,3 anos
Dissociao e
diferenciao dos
parmetros do som
5,3 anos 7,6 anos 8,4 anos
Diferenciao de
intervalos e seriao da
escala temperada
7,0 anos 8,5 anos 9,5 anos
Conservao da pulsao
e generalizao das
subdivises de tempos
5,4 anos 7,5 anos 9,5 anos
Conservao da durao
de uma nota frente ao
deslocamento de pausa
5,2 anos 8,8 anos 10,4 anos
Mdia total de idades em
cada estgio
5,9 anos 7,9 anos 9,6 anos
Figura 1 - Mdias gerais de idade em todas as provas
Atravs da anlise relacional qualitativa e quantitativa dos dados expostos na figura 1 e
da comparao dessas mdias com as indicadas por Piaget (o estgio pr-operatrio, que
abrange tambm o intuitivo, vai at sete/oito anos, e operatrio comea, em mdia, a partir de
oito anos) pode-se observar que a hiptese de que o desenvolvimento musical est ligado ao
desenvolvimento geral da criana foi confirmada.
Verifiquei que at mais ou menos 5,9 anos de idade, as crianas no diferenciam os
elementos da estrutura musical em jogo. No Nvel I, portanto, o objeto musical aparece como
uma estrutura indiferenciada para os sujeitos que buscam explicar os fenmenos ocorridos
durante a aplicao das provas atravs de elementos que no fazem parte da estrutura em jogo.
Por exemplo, quando procuro questionar a criana sobre a durao de duas notas, e ela
explica que elas no vo durar o mesmo tempo, assim como o fez KEV (4 anos e 11 meses):
Porque da se voc apertar esta (a tecla mais grave do teclado) com esta (a mais aguda)
vai ficar que nem passarinho. KEV no explica nem pelo parmetro em jogo (durao), e
nem se refere s notas que realmente foram executadas, buscando suas informaes nas
prprias percepes sobre o parmetro altura e o timbre, que as remetem aos passarinhos.
Ora, os jogos complexos de diferenciaes, seriaes, conservaes, compensaes e de
inverses comportam coordenaes que resultam de operaes lgico-matemticas,
caractersticas da abstrao reflexionante. O exemplo o caso de MUR (11 anos) que explica
a conservao das duraes pelas quantidades de tempo: Porque o mesmo tempo. Do um
at o trs tem trs tempos e do dois at o quatro tem trs tempos tambm., e no, de
abstraes empricas, em que o sujeito apenas repara nas caractersticas observveis dos
objetos, na tentativa de explic-lo atravs de elementos desconectados. A contagem
representa o tempo de durao da nota (a nota tocada enquanto a pesquisadora conta um,
dois, trs etc. e/ou quando a criana acompanha com batidas de palmas o tempo em que a nota
mantida soando).
No Nvel II, a mdia geral de idade aponta que, por volta dos 7, 9 anos de idade, as
crianas comeam a intuir os problemas propostos relativamente estrutura do objeto musical.
Ou seja, elas comeam a tentar relacionar os elementos internos da estrutura da linguagem
musical como objeto, mas recaem na explicao dos fatos pelas percepes de aspectos
separados da estrutura, ou pela explicao da totalidade estrutural do objeto musical atravs
das percepes feitas, o que as tornam apenas intuitivas em relao resoluo dos problemas
propostos. O sujeito desse nvel de desenvolvimento explica ainda os fatos por determinadas
abstraes empricas ou por relaes que no so reversveis. Enquanto a abstrao emprica
leva a contradies por seu carter irreversvel, preso a um quadro espao-temporal, a
reflexionante leva a reversibilidades crescentes, que no esto presas ao mesmo quadro, mas,
ao contrrio, construo de estruturas intemporais, como nos casos em que os sujeitos
modificam e criam novas subdivises de tempos (batendo palmas com perodos variados),
acompanhando a pesquisadora, que mantm a mesma pulsao (batendo as palmas com
perodo constante). Nesse caso, h reversibilidade, generalizao e conservao,
caractersticas do Nvel III.
No estgio operatrio (Nvel III) a criana comea a equilibrar as acomodaes e
assimilaes feitas sobre o objeto musical. Cito, aqui, a ttulo de exemplo, o sujeito GAB (6,2),
que consegue organizar oito sinos, do mais grave ao mais agudo, ou seja, seriar a escala
temperada, respeitando a ordem de relao dos elementos dessa estrutura, na qual um sino
ser sempre mais grave do que o posterior e mais agudo que o anterior, como ocorre na
seriao ascendente. O descentramento caracteriza este estgio. O equilbrio cognitivo
decorrente das aes lgicas do sujeito sobre o objeto musical, diferenciando-o, integra este
conhecimento as suas estruturas mentais, em forma de novos esquemas de assimilao,
generalizando-o. Mais tarde, ele poder acionar esses novos esquemas, na medida em que
outras situaes perturbadoras o desequilibrem. Esse um processo constante e interminvel,
pois o funcionamento cognitivo incessante.
A mdia geral de idade dos sujeitos operatrios ficou em 9,6 anos, o que assinala que as
habilidades musicais so pouco experienciadas pelas crianas, ou talvez configura um
conhecimento mais complexo a ser construdo, se compararmos essa mdia com a do estgio
operatrio piagetiano que comea em torno dos sete/oito anos de idade.
Bibliografia
BAMBERGER, Jeanne. As estruturas cognitivas da apreenso e da notao de ritmos simples.
In: SINCLAIR, Hermine (org.) A produo de notaes na criana. Linguagem, nmero e
melodias. So Paulo: Cortez, 1990, p. 97-124.
BEYER, Esther. A construo do conhecimento musical na primeira infncia. Em Pauta, Porto
Alegre, v.5, n.8, p. 48-58, dez. 1993.
_____. A construo de conceitos musicais no indivduo: perspectivas para a educao
musical. Em Pauta, Porto Alegre, v.9/10, dez.1994/ abril 1995.
_____. Os mltiplos desenvolvimentos cognitivo-musicais e sua influncia sobre a educao
musical. Revista da ABEM. Porto Alegre ABEM, v. 2 , n. 2, p. 53-67, 1995
DELALANDE, Fr. Vers une psycho-musicologie. In: CLESTE, DELALANDE, &
DUMAURIER. Lenfant du sonore au musical. Paris: INA GRM, Buchet Chastel, 1982,
p.155-178.
FRAISSE, Paul. Psychologie du rythme. Paris: PUF, 1974.
KEBACH, Patrcia. A construo do conhecimento musical: um estudo atravs do mtodo
clnico. Dissertao de Mestrado. Faculdade de Educao da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 2003.
MAFFIOLETTI, Leda. Conhecimento e aprendizagem musical. In BECKER, Fernando
(coord.) Aprendizagem e conhecimento escolar. Pelotas: EDUCAT, 2002, p. 119- 132.
PIAGET, Jean. A formao do smbolo; imitao, jogo e sonho, imagem e representao.
Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
PIAGET, Jean. Abstrao reflexionante: relaes lgico-aritmticas e ordem das relaes
espaciais. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1995.
POUTHAS, V. Dveloppement de la perception du temps et des regulations temporelles de
laction chez le nourrisson et lenfant. In: DELIGE & SLOBODA. Naissance et
dveloppement du sens musical. Paris: PUF, 1995, p. 133-163.
SAADA-ROBERT, M. & RIEBEN, L. Psychologie du dveloppement cognitive. Universit de
Genve: Documents de cours de Saada-Robert e Rieben de la Facult de Pychologie et des
Sciences de lEducation, Section des Sciences de lEducation. UNIMAIL, 1999/2000
SOULAS, Brigitte. La construction du sens musical. In: Les sciences de lducation, numero
spcial: Education musicale et psychologie de la musique, 1990, 3-4, 145-166.
Ps-modernismo e msica: um estudo
Paulo de Tarso Salles
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
ptsalles@uol.com.br
Resumo: Este relato um informe a respeito da dissertao de Mestrado defendida em agosto de
2002 no Instituto de Artes da UNESP intitulada: Aberturas e Impasses: a msica no ps-
modernismo e um estudo sobre a msica erudita brasileira dos anos 1970-1980. O ponto de partida
de nossa pesquisa foi uma certa insatisfao com a noo de ps-modernismo como justificativa
estilstica de uma presumvel necessidade histrica que prescinde, ou supera, o modernismo. Isso
daria a entender que ser ps-moderno uma questo de opo esttica marcada pela ausncia de
critrios reguladores, contraposta a uma postura artstica mais rigorosa. Entendido dessa maneira, o
conceito de ps-modernismo d margem idia de vale-tudo, esvaziando com isso qualquer
conceituao esttica criteriosa. Nossa pesquisa entretanto pode delinear outras possibilidades
dentro das teorias que abordam o ps-moderno, bem como descortinar alguns elementos que
contriburam para essa distoro conceitual.
Palavras-chave: msica brasileira, ps-modernismo, esttica musical
Abstract: This article is about our Master Degree Dissertation completed on August 2002 at
UNESP Arts Institute, entitled Openings and deadlocks: postmodern music and a study on 1970s
and 1980s classical brazilian music. The start point of this work was a disagreement with the
stylistic notion of postmodern music. It sounds like there is no more criterions criticism in
postmodern times, resulting a picture where everything is acceptable. Our research proposes other
possibilities under the postmodernism rubric, showing some elements that reveal this conceptual
distortion.
Keywords : Brazilian music, postmodernism, music aesthetics
O conceito de ps-modernismo
Nascido no contexto das Cincias Sociais, da Filosofia e no campo das Artes na
Arquitetura, na Literatura e nas Artes Visuais, o conceito de ps-modernismo ainda
timidamente atrelado Msica. As razes para tal reserva ocorrem pela dificuldade em
estudar a Msica em seu aspecto multifacetado de funo social (arte, entretenimento,
indstria) e cultural (educao, crtica, linguagem, estrutura), tendo como referncia uma
teoria to ampla como a ps-moderna. No obstante, uma quantidade considervel de textos
tem enfocado de maneira mais ou menos direta os problemas relativos ps-modernidade
ou sobre o fim do modernismo na msica.
Ao se elaborar a idia de superao do modernismo, de acordo com uma teoria de
ps-modernismo, necessrio olhar para a msica como um fenmeno social, inserido
2
em uma cultura onde o olhar do msico habitualmente preocupado com as questes de
estilo e desenvolvimento da linguagem musical passa a ser apenas um (privilegiado)
ponto de vista, possvel entre vrios.
Portanto, a msica do ps-modernismo no pode ser definida em termos
estritamente positivos. Se verificarmos o que ocorreu na msica erudita por volta de 1950,
poca que Jameson (1997) define como o marco inicial do ps-modernismo, poderemos
observar o choque de pelo menos trs tendncias: 1) a vanguarda neoserialista europia; 2)
a vanguarda experimental norte-americana e 3) o neoclassicismo (inclusive nas
manifestaes musicais nacionalistas).
A somatria dessas tendncias constituiu o que se chama de modernismo em
msica, um emaranhado de correntes progressistas e conservadoras que almejavam
legitimidade artstica dentro de um padro moderno de necessidade histrica. Porm a
certa altura, tais limites tornaram-se demasiado estreitos para delinear a criao e a
interpretao musical. A contradio passou a ser um elemento aceito pelos compositores
em suas propostas estilsticas. Nisso se pode ver certa semelhana com a teoria ps-
moderna, ou seja, o fim do ciclo dos sistemas fechados, totalizantes, passando para a
criao de obras musicais onde o dilogo entre linguagem, estrutura, indeterminao,
multimeios e a cultura popular torna-se cada vez mais aparente.
A msica do ps-modernismo por isso mesmo indefinvel, j que aos prprios
compositores falta qualquer vontade de um estilo. Uma das crticas mais severas ao ps-
modernismo justamente a possibilidade de um vale-tudo, dados os infinitos
maneirismos e solues individuais a que se pode chegar. Isso ir determinar o novo papel
da crtica, no mais discernindo entre categorias fechadas de estilo como coerncia,
equilbrio ou verdade, mas investigando a validade das proposies que uma obra
possibilita.
Os novos critrios so muito mais complexos, verificados de acordo com as
caractersticas histricas, sociais, culturais e polticas de cada caso. Embora se chegue a
falar em morte da arte, algo j comentado por Hegel, o ps-modernismo seria de fato a
3
impossibilidade de se estabelecer padres internacionalmente vlidos para o julgamento
esttico, o que no significa o abandono de critrios.
Nosso referencial foi a teoria do ps-moderno feita pelo crtico marxista norte-
americano Fredric Jameson (1997), sob o olhar de Perry Anderson (1999), qual
contrapusemos observaes de Jrgen Habermas (2000), Gianni Vattimo (1996) e
Boaventura Santos (2000b), entre outros. Nisso consistiu o primeiro captulo: uma
investigao das teorias ps-modernas nos campos filosfico e sociolgico.
O ps-modernismo e a msica
O segundo e o terceiro captulos de nossa dissertao desdobram-se na aplicao do
referencial terico do primeiro, dessa vez direcionados questo do ps-moderno na
msica. Trata-se tambm de uma discusso sobre o modernismo musical, que requer uma
investigao a partir da obra terica e musical de Adorno, Benjamin, Schoenberg,
Stravinsky, Lippman, Boulez, Cage, Eco, Nattiez, Tacuchian, Buckinx e outros. Ambos
consistem portanto em um estudo da bibliografia especializada de uma esttica musical
ps-moderna, amparada tambm por algumas referncias pontuais composio musical.
Todavia as discusses vo se ater principalmente a uma abordagem terica, amparada por
breves anlises extradas da literatura crtica e no propriamente musical.
Tentar definir conceitos como modernismo e ps-modernismo tarefa rdua at
mesmo para filsofos e historiadores experientes, que tm debatido esses temas desde 1970
sem chegar a um consenso satisfatrio (e talvez esse consenso nem seja mais possvel ou
desejvel); no ser nossa pretenso dar uma palavra definitiva sobre o assunto, seno tecer
algumas conexes entre as teorias levantadas nos campos filosfico, sociolgico, poltico e
esttico e aplic-las s suposies que suscitamos anteriormente, de modo a dar algum tipo
de contribuio para a compreenso da msica do final do sculo XX em seus mltiplos
aspectos e significados. O que nos pareceu importante foi no caracterizar o ps-
modernismo como um estilo, mas como uma pluralidade semelhante do maneirismo do
sculo XVIII, como observa Charles Rosen:
4
a ausncia de qualquer estilo integrado, igualmente vlido em todos os
campos, entre 1755 e 1775 que torna este perodo suscetvel de ser chamado de
maneirista [...]. De modo a superar o problema de estilo que os assolava, os
compositores daquela poca foram obrigados a cultivar uma forma altamente
individual. (Rosen, 1998:47).
Portanto, os sintomas que resultaram no ps-modernismo j podem ser evidenciados
em pocas anteriores e mesmo em um estilo moderno como o neoclassicismo,
especialmente em Stravinsky e, posteriormente, Schoenberg.
1
Assim, nos empenhamos em
buscar uma distino entre neoclassicismo e ps-modernismo a partir de aspectos que
traam a origem de ambos, o que demonstra como precria a tentativa de estabelecer o
ecletismo (e os processos decorrentes, como a citao e a colagem) como a caracterstica
mais evidente do ps-moderno. Do mesmo modo, John Cage pode ser arrolado como um
precursor do ps-modernismo, apesar de sua profunda conexo com a vanguarda, no
mesmo grau que Boulez ou Stockhausen. Nos parece mais proveitoso buscar as conexes
que ligam todas as vertentes do modernismo ao ps-modernismo, como uma questo de
poca. O moderno tende ao ps-moderno por uma lgica social, que envolve e se sobrepe
ao aspecto esttico.
Um aspecto notvel do mundo ps-moderno a constatao de que os referenciais
universais so cada vez mais questionados devido s particularidades de cada contexto
(econmico, social e cultural). Se as naes desenvolvidas articulam um conceito de ps-
modernismo dominante, isso ocorre porque tais pases viveram um intenso processo de
modernizao que excluiu o chamado Terceiro Mundo. Por isso, o cuidado ao transpor esse
conceito para uma realidade como a brasileira, deve levar em conta as especificidades do
nosso modernismo. Iremos concluir a partir da, que h pelo menos duas espcies de ps-
modernismo: uma decorrente dos pases que viveram intenso processo de modernizao;
outra, nos pases que viveram margem da modernidade, os chamados pases perifricos.
1
Esta distino entre Schoenberg e Stravinsky alm da perspectiva que os nivelou como neoclssicos nos
anos 50, realizada por Alan Lessem (1982).
5
A msica erudita brasileira (MEB): ps-moderna?
O ltimo captulo de nossa dissertao um estudo de caso em que as teorias do
ps-modernismo so direcionadas e empregadas como meio de analisar a MEB dos anos
1970 e 1980, discutindo a passagem pelo modernismo com a orientao nacionalista de
Mrio de Andrade e seus seguidores, bem como a corrente universalista, representada por
Koellreuter e posteriormente, pelo Grupo Msica Nova. Alm disso observamos as vises
de tericos, como ORTIZ (1988; 1994) e CONTIER (1991), que discutem a questo da
construo de uma identidade nacional para o Brasil tendo como base a fuso racial. Esse
ser o fio condutor para a anlise de algumas obras musicais compostas no limiar dos anos
70 e durante a dcada de 80 por Camargo Guarnieri, Almeida Prado, Marlos Nobre e Willy
Corra de Oliveira, onde as questes do ps-modernismo se voltam para o caso brasileiro e
seu modernismo nacionalista contraposto ao modernismo de carter vanguardstico.
Ao se tentar qualquer tipo de analogia entre a MEB e o ps-modernismo, preciso
antes de tudo estabelecer que tal comparao se d a partir de dados extra-musicais. As
teorias ps-modernas parecem mais adequadas discusso sobre arquitetura, literatura e
artes visuais contemporneas do que propriamente msica. O ps-modernismo no
constituiu at o momento um estilo musical bem definido e o uso desse conceito s nos
parece vlido por meio de uma viso sociolgica da questo.
Para a sociedade brasileira, as dcadas de 1970 e 1980 foram cruciais por causa da
chamada transio democrtica e da profunda reviso a que praticamente todas as
instituies nacionais foram submetidas. A extrema polarizao poltica daquele perodo
teve de ser abrandada por meio de um esforo conciliatrio que viabilizou o processo de
abertura e de retorno ao estado de direito. Assim intentamos buscar para a MEB daquele
perodo seno um significado a que se possa inequivocamente atribuir o rtulo de ps-
moderno, ao menos indcios de que as transformaes de ordem nacional e mundial de
algum modo afetaram os compositores e a msica que eles faziam durante aquele perodo
de tempo.
As polarizaes ideolgicas que haviam na MEB ao final dos anos 1960 opunham
violentamente os msicos de orientao nacionalista aos de vanguarda, num espectro
6
envolvido por um clima poltico marcado pelo binmio esquerda-direita e seus possveis
desdobramentos: nacionalismo/direita; nacionalismo/esquerda; vanguardismo/direita;
vanguardismo/esquerda. Isso, de certa forma, foi a aclimatao do mesmo debate entre
neoclassicismo, vanguarda e experimentalismo que houve na Europa dos anos 1950, sob os
mais diversos matizes poltico-ideolgicos.
2
Devido a essa polarizao, consideramos significativa e sintomtica a mutao
sofrida pela msica de Camargo Guarnieri se considerarmos o teor de sua Carta Aberta aos
Msicos e Crticos do Brasil (1950), onde o posicionamento contra o dodecafonismo,
associado sua prtica nacionalista o coloca na fronteira entre o nacionalismo de esquerda
e direita. A natureza do documento faz supor a colaborao de Rossini Camargo Guarnieri,
irmo do compositor e membro do Partido Comunista, denotando a proximidade com o
relatrio de Jdanov, divulgado dois anos antes; porm o compositor sempre se declarou
apoltico, apesar de ter colaborado com o governo JK.
O fato que, ao adotar elementos da linguagem serial em sua msica no final dos
anos 1960, Guarnieri sinalizava os elementos de uma possvel conciliao das correntes
musicais no Brasil.
3
Tal gesto passou despercebido poca, mas podemos interpret-lo
retrospectivamente como um dos primeiros passos em direo ao ecletismo que
caracterizou as dcadas seguintes.
Evidentemente, houve msicos mais ou menos envolvidos com questes poltico-
ideolgicas; alguns, como Gilberto Mendes e Jorge Antunes, chegaram a compor obras
diretamente relacionadas ao movimento pelas Diretas. Mas a atmosfera de conciliao
ideolgica pode ser notada mesmo em obras de carter desinteressado, como apontamos
em Camargo Guarnieri (Concerto para piano n 4), Marlos Nobre (Yanomani), Willy
Corra de Oliveira (Pequena pea zen), Almeida Prado (Savanas e Poesildios), nas idas e
2
Discusso que empreendemos no segundo captulo, ao falar principalmente das contribuies de Cage e
Stravinsky.
3
Ver a anlise do Concerto n 4 para piano e orquestra de Camargo Guarnieri (SALLES, 2002, p. 221-238).
Outro expoente do nacionalismo, Francisco Mignone, tambm adotou a tcnica serial por volta da mesma
poca.
7
vindas de Cludio Santoro,
4
alm da teoria ps-moderna de TACUCHIAN (1992 e 1995).
5
Nesses trabalhos, o que procuramos demonstrar uma nova percepo do msico brasileiro
em relao a sua prpria identidade, a qual, por transcender o ambiente tenso e polarizado
dos anos 1960 e incio da dcada de setenta,
6
por superar o projeto de modernizao ento
em curso, nos sugere uma manifestao de ps-modernidade.
O que chamamos ps-modernidade nos compositores acima mais a ausncia de
certas caractersticas modernistas, notadamente sua adeso a sistemas organizacionais
fechados, do que propriamente a presena de traos estilsticos comuns. Note-se tambm
que as caractersticas modernistas que nos serviram de referncia so sobretudo aquelas
do modernismo praticado no Brasil, com sua vertente conservadora, nacionalista e
neoclssica proveniente da orientao de Mrio de Andrade em oposio vertente
vanguardista, do crculo de compositores, intrpretes e crticos associados a Koellreuter.
Sabe-se que a escola nacionalista foi hegemnica at o incio dos anos 1960, e por isso
considerada por ns como a base do modernismo brasileiro, com todas as suas implicaes
de afirmao de uma suposta identidade cultural/racial.
Quando comparada msica do cenrio internacional, pode-se observar que no
Brasil, ao invs de se pensar a msica propriamente, como Boulez props nos anos 1950,
pensa-se fundamentalmente na questo da identidade nacional. As proposies sobre a
msica feita no pas so sobretudo ontolgicas. O carter ps-moderno de uma nao do
Terceiro Mundo parece transitar entre as tenses de seu prprio desenvolvimento e de uma
economia mundializada.
Referncias Bibliogrficas
ADORNO, Theodor Wiesengrund. Filosofia da nova msica. Traduo de Magda Frana. So Paulo:
Perspectiva, 1974.
4
Santoro despontou como dodecafonista nos anos 1930; aderiu ao nacionalismo neoclssico no final dos anos
40 e regressou ao atonalismo no incio da dcada de 60.
5
Observe-se no entanto, que Tacuchian vem elaborando suas teorias sobre o ps-modernismo principalmente
a partir da dcada de 1990, o que implica, naturalmente, em uma reflexo sobre a MEB nas dcadas
anteriores. Suas teorias foram comentadas no terceiro captulo de nossa dissertao (SALLES, 2002).
6
Lembrar por exemplo a vaia recebida Guarnieri, Mignone e Gnattali no Festival da Guanabara em 1969
(SALLES, 2002, p. 244-245).
8
ANDERSON, Perry. As origens da ps-modernidade. Traduo de Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Zahar,
1999.
CONTIER, Arnaldo Daraya. A sacralizao do nacional e do popular na msica. In: Revista Msica, v. 2, n.
1, p. 5-36, maio de 1991.
HABERMAS, Jrgen. O discurso filosfico da modernidade. Traduo de Luiz Srgio Repa e Rodnei
Nascimento. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos, o breve sculo XX: 1914-1991. Traduo de Marcos Santarrita. So
Paulo: Companhia das Letras, 1997.
JAMESON, Fredric. Ps-modernismo: a lgica cultural do capitalismo tardio. 2 ed. Traduo de Maria
Elisa Cevasco. So Paulo: tica, 1997.
KRAMER, Lawrence. Classical music and postmodern knowledge. Berkeley (CA): University of California
Press, 1995.
LESSEM, Alan. Schoenberg, Stravinsky and Neo-Classicism: the issues reexamined. In: The Musical
Quarterly, v. 68, n. 4, p. 527-542, October, 1982.
LPEZ, Julio. La msica de la posmodernidad: ensayo de hermenutica cultural. Barcelona: Editorial
Anthropos, 1988.
ORTIZ, Renato. A moderna tradio brasileira cultura brasileira e indstria cultural. So Paulo:
Brasiliense, 1988.
________ . Cultura brasileira & identidade nacional. 5 ed. So Paulo: Brasiliense, 1994.
RAMAUT-CHEVASSUS, Batrice. Musique et postmodernit. Paris: Presses Universitaires de France
(PUF), 1998.
ROSEN, Charles. The classical style: Haydn, Mozart e Beethoven. Expanded edition. London e New York:
W.W. Norton & Co., 1998.
SALLES, Paulo de Tarso. Ethos real e virtual: um impasse na msica brasileira. In: Revista Unicsul A tica
no sculo XXI: uma abordagem multidisciplinar. So Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, ano 5, n. 7, p.
148-153, dezembro de 2000.
______ . A msica brasileira e sua condio ps-moderna. In: Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM.
Msica no sculo XXI: tendncias, perspectivas e paradigmas, v. II, p. 417-423, Belo Horizonte MG, 2001.
______ . Aberturas e impasses: a msica no ps-modernismo e um estudo sobre a msica erudita brasileira
nos anos 1970-1980. So Paulo: Dissertao de Mestrado, Instituto de Artes da UNESP (orientadora: Profa.
Dra. Lia Toms), 2002.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Introduo a uma cincia ps-moderna. 3 ed., So Paulo: Graal, 2000a.
________ . A crtica da razo indolente contra o desperdcio da experincia. 2 ed., So Paulo: Cortez,
2000b.
TERRA, Vera. Acaso e aleatrio na msica: um estudo da indeterminao nas poticas de Cage e Boulez.
So Paulo: EDUC: FAPESP, 2000.
VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade niilismo e hermenutica na cultura ps-moderna. Traduo de
Eduardo Brando. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
TACUCHIAN, Ricardo. O ps-moderno e a msica. In: Em Pauta, IV-5, p. 24-31, junho de 1992.
_________ . Msica ps-moderna no final do sculo. In: Pesquisa e msica, Revista do Conservatrio
Brasileiro de Msica, Rio de Janeiro, v1, n 2, p. 25-40, dez 1995.
A origem do drama musical grego e o tema da fidelidade na IV Reflexo
Intempestiva de F. Nietzsche
Paulo J os Moraes Pinheiro
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RIO)
pjmp@uol.com.br
Resumo: Se por um longo perodo de nossa histria a noo de fidelidade pode nos remeter aos
critrios de uma virtude metafsica, capaz de nos livrar do conflito trgico e sem soluo entre as
partes; em outro, sem dvida anterior ao que acabo de enunciar, a fidelidade foi tomada como a
virtude que apenas reunia as partes antagnicas e, por vezes, no conciliveis, que as colocava em
relao umas com as outras e de uma tal forma que uma no deveria existir sem a outra. Por um
longo e frutfero perodo, a fidelidade foi a virtude do combate ou a virtude que nos permitiu
dramatizar e fazer soar uma harmonia que dizia respeito unicamente ao combate. A fidelidade
tornou-se, para ns, uma virtude de resignao. Ela nos remete redeno ou resoluo do
conflito e, nesse caso, pde ser compreendida como a fidelidade a um deus que nos redime de
todo o conflito. Eis o que, de algum modo, ocorreu entre Elizabeth e Tannhuser na pera de
Wagner. Mas no devemos esquecer que a fidelidade pode ser tomada, tambm, como fidelidade
dramtica, ou terrena, a que sustenta o conflito entre as partes, a que praticamente um pathos
uma experincia vivida, um grande sentimento arrebatador que, no obstante, nos leva
dramatizao. O meu objetivo nesta comunicao no outro seno o de me referir a esta
modalidade de fidelidada terra, fidelidade ao drama ou dramtica, fidelidade ao combate, que nos
remete tanto avaliao nietzscheana do drama musical antigo quanto ao que se passa, ao menos
em sua primeira avaliao, com a obra e a personalidade do dramaturgo ditirmbico de sua
contemporaneidade, isto , com R. Wagner. A Comunicao que pretendo apresentar se insere no
Projeto de Pesquisa Questes Estticas (UNIRIO-RJ), desenvolvido dentro da linha de pesquisa
Pesquisa Linguagem e Estruturao Musical do Mestrado e Doutorado em Msica da UNIRIO
PPGM, no qual pretendo analisar os textos filosficos que tratam direta ou indiretamente da msica.
No estgio atual do Projeto a pesquisa se concentra nos estudos nietzscheanos sobre a msica e a
Tragdia.
O que esperamos do futuro j foi uma vez realidade - em
um passado que remonta h mais de dois mil anos.
O que chamamos hoje de pera, caricatura do drama
musical antigo, surgiu como plgio direto da antigidade.
Que o estado de alma trgico no perea. Uma
lamanetao sem precedente seria ouvida em toda a terra
se os homens devessem um dia perd-lo completamente.
Se por um longo perodo de nossa histria a noo de fidelidade pode nos remeter aos
critrios de uma virtude metafsica, capaz de nos livrar do conflito trgico e sem soluo
entre as partes; em outro, sem dvida anterior ao que acabo de enunciar, a fidelidade foi
tomada como a virtude que apenas reunia as partes antagnicas e, por vezes, no
conciliveis, que as colocava em relao umas com as outras e de uma tal forma que uma
no deveria existir sem a outra. Por um longo e frutfero perodo, a fidelidade foi a virtude
do combate ou a virtude que nos permitiu dramatizar e fazer soar uma harmonia que dizia
respeito unicamente ao combate. Tal como a physis de Herclito, a fidelidade tambm ama
ocultar-se (pistis kryptesthai philei physis kryptesthai philei
1
), mas o seu ocultamento
fruto de um intenso combate entre o surgir e o submergir, entre o aparecer e o ocultar-se .
Assim, podemos designar, pelo menos, dois modos de se compreender o verbo kryptesthai
(ocultar-se): pelo combate, quando a luta faz surgir e desaparecer os agentes que esto
mutuamente em ao - e nesse momento a fidelidade ainda est direcionada para a terra -;
ou pela renncia, pela resignao, quando a fidelidade se orienta para uma resoluo
definitiva do conflito, ou seja, quando ela quer transcender e sublimar toda a terra. Essa
segunda forma, como julgamos saber, vigorou no ocidente. A fidelidade tornou-se, para
ns, uma virtude de resignao. Ela nos remete redeno ou resoluo do conflito e,
nesse caso, pde ser compreendida como a fidelidade a um deus que nos redime de todo
o conflito. Eis o que, de algum modo, ocorreu entre Elizabeth e Tannhuser na pera de
Wagner
2
. Mas no devemos esquecer que a fidelidade pode ser tomada, tambm, como
fidelidade dramtica, ou terrena, a que sustenta o conflito entre as partes, a que
praticamente um pathos uma experincia vivida, um grande sentimento arrebatador que,
no obstante, nos leva dramatizao. Ento, a fidelidade pode ser de renuncia ou
resignada (fidelidade a algo maior que poderia nos livrar de toda situao conflituosa ou
mesmo trgica), mas tambm pode ser dramtica ou terrena, ou seja, a que nos situaria,
justamente, no conflito, no que trgico e, por si mesmo, dramtico. O meu objetivo aqui,
hoje, no outro seno o de me referir a esta modalidade de fidelidada terra, fidelidade
1
A aluso feita aqui incide sobre o fragmento de Herclito, citado por Temstio (Or., 5): fu/sij kru/ptesqai filei=
(Diels-Kranz ?? - Fr. 123 - VERIFICAR), normalmente traduzido por a verdadeira constituio das coisas gosta de
ocultar-se. O verbo crypto designa a ao de cobrir para esconder ou para subtrair do olhar. A natureza, nesse caso,
gosta de se criptar, ou seja, gosta de ocultar-se e esconder-se. como se dissssemos que a physis no apenas o
que surge ou aparece, mas tambm o que se oculta ou o que se recolhe, subtraindo-se percepo comum. H uma
parte da natureza que permanece sob a terra, misturada, oculta, tal como a semente que to pouco nos permite notar a
presena da rvore que, de algum modo, j se insinua. Para Herclito, a physis est sempre ocultando-se, sempre
remetendo-se a um outro momento, a um outro lugar, em uma palavra ao movimento que faz com que todas as coisas
se recolham e ressurjam sem atingir qualquer estado de permanncia, o que, no obstante, no o impede de pensar na
harmonia mplicita nesse jogo contnuo do sugir e ocultar-se, ou melhor, do surgir ocultando-se. Vale tambm notar a
traduo proposta por Heidegger para esse mesmo fragmento: o surgimento favorece o encobrimento (incluir texto em
alemo), Heraklit (Herclito, trad. por Mrcia Cavalcanti, Editora?, Ano?, p.?). Essa traduo, ainda que sujeita a muita
controversa, carrega o mrito de nos forar a compreender que com o verbo crypto, Herclito no quis se referir apenas
ao ato de ocultar-se, mas ao gesto contnuo de ocultar-se a partir do que surge, e surgir a partir do que se oculta.
2
Tannhuser, R. Wagner, 18??.
ao drama ou dramtica, fidelidade ao combate, que nos remete tanto avaliao
nietzscheana do drama musical antigo quanto ao que se passa, ao menos em sua primeira
avaliao, com a obra e a personalidade do dramaturgo ditirmbico de sua
contemporaneidade, isto , com R. Wagner.
De fato, o estudo que ora apresento procede de duas questes principais que se
articulam entre si. A primeira diz respeito ao desenvolvimento do pensamento trgico em
Nietzsche e sua possvel aplicao ao drama musical wagneriano. A segunda trata do
tema da fidelidade, esta espcie de virtude originria que Nietzsche descobre na
dramaturgia wagneriana e que nos permite pensar no modo de vida dramtico que orienta
tanto a existncia do homem Wagner quanto a articulao entre as suas personagens. Trata-
se, portanto, de um estudo em que nos manteremos atentos ao primeiro pensamento de
Nietzsche, abordando, de preferncia, a palestra proferida na Universidade de Basilia
sobre o Drama musical grego
3
- e que, de algum modo, resume a polmica reflexo
nietzscheana sobre a origem da tragdia no gnio musical grego - e o que pensa Nietzsche a
respeito de Wagner e sua obra de dramaturgo ditirmbico na IV Intempestiva (Wagner em
Bayreuth
4
). Esse tema pode dar margens a muitas dvidas e controvrisas. Como possvel
desenvolver um estudo sobre a noo de drama e de fidelidade num autor como Nietzsche?
Pareceu-me, no entanto, importante desenvolver um tal estudo, sobretudo num Simpsio
cujo tema central no outro seno o da fidelidade terra, tema que perpassa toda a saga
do heri nietzscheano por exelncia, Zaratustra. Logo no prlogo do seu livro, Nietzsche,
na pele e na voz de Zaratustra, aconselha a todos que permaneam fiis terra.
A ousadia a que me proponho aqui no a de interpretar o tema nietzscheano da
fidelidade terra, mas o de construir uma reflexo que passo-a-passo nos permita relacionar
o tema da fidelidade noo de drama. A passagem que me levou a pensar numa tal relao
surgiu da leitura da IV Intempestiva, onde Nietzsche se refere fidelidade como uma
condio inerente ao prprio Wagner. Trata-se do termo empregado por Nietzsche para se
3
Conferncia proferida na Universidade de Basilia no dia 18 de janeiro de 1870. O texto desta conferncia e da
seguinte, Scrates e a tragdia, so precedidos do ttulo: Duas conferncias pblicas sobre a tragfia grega, por F.
Nietzsche, Prof. ordianrio de filologia clssica, Basilia 1870. A verso manuscrita definitiva desta conferndia encontra-
se em [U, I 1, 2-57].
4
IV Considerao Inatual ou IV Considerao Intempestiva (Unzeitgemasse Betrachtungen), Wagner em Bayreuth,
julho, 1876.
referir relao entre as fases diversas da personalidade wagneriana e, tambm, da relao
que sustenta os personagens deste compositor operstico que Nietzsche designa, como uma
certa satisfao, de dramaturgo ditirmbico. Mas o fato derradeiro que a tradio nos
acostumou a encontrar no termo fidelidade apenas uma noo metafsica, e mesmo
transcendente, que caracteriza, sobretudo, a relao do homem com algo que lhe superior,
tal como um Deus. O termo nos conduz, quase diretamente, noo de f, fides para os
latino e pistis para os gregos (tal termo nos teria surgido da noo de Credo, j utilizado nos
idiomas indo-europeus). Pistis uma das potncias que, ao lado de dik (justia) e de
peith (persuaso), confere palavra mgico-religiosa (ou palavra mito-potica) o seu
estatuto de palavra verdadeira (althes). A palavra do poeta verdadeira desde que nela
possamos encontrar uma articulao entre essas trs potncias. Assim, dik, pistis e peith
so termos que definem a potncia que faz com que o velado (lth) possa vir luz,
abrindo, para usar um termo de extrao heideggeriana, uma clareira onde o que se desvela
surge, bem diante dos nossos olhos, como o verdadeiro, ou seja, como o des-velado
(altheia). Esse tema foi trabalhado exaustivamente por M. Detienne num livro muito
conhecido e que logrou de um certo prestgio nos cursos de histria do pensamento antigo,
a saber: Os mestres da verdade na Grcia arcaica (de 1967). Isso apenas para no citar,
mais uma vez, o famoso 44 de Ser e Tempo de M. Heidegger, onde a controvertida
interpretao da verdade pr-platnica como a-ltheia (desvelamento) foi apresentada.
Como sabemos, para Heidegger, a verdade no ser mais compreendida, aps Plato, como
o des-velamento e sim como a correo, a orthotes, que se elabora entre uma coisa e outra,
entre uma ordem e outra como, por exemplo, entre a ordem dos discursos e a das prprias
coisas
5
. O fato que, antes de Plato, a palavra potica no estava a servio de uma relao
entre ordens distintas, mas a servio do prprio aparecer das coisas. Falar, poetizar, no
apenas a atividade por intermdio da qual adequamos uma ordem a outra, mas o ato mesmo
de construir uma realidade em que a palavra empregada descoberta - constitui a prpria
coisa que ela faz existir enquanto aparncia, vislumbre, epifenmeno. isso, justamente, o
5
Sobre essa questo, ver tambm Platons Lehre von der Wahrheit, estudo primeiramente apresentado em duas
conferncias pblicas proferidas por Heidegger nos semestres de inverno de 1930-1931 e 1933-1934. Para um estudo
mais detalhado vale a pena a leitura de O fim da filosofia e a tarefa do pensamento, M. Heidegger, trad. port. de Ernildo
Stein, Os Pensadores, p.80. Ver tambm a traduo de J. Beaufret e F. Fdier, La fin de la philosophie et le tournant. Ed.
franc., p.135 - Question IV: "On mentionne souvent et avec raison que, dj chez Homre, le mot althes ne se dit
que se pode chamar de uma realidade potico-dramtica, ou seja, uma realidade ou uma
aparncia que o drama trgico, enquanto palavra-potica, constitui. Ora, bem possvel
que Nietzsche esteja nos remetendo a uma noo de palavra potica anterior s investidas
socrtico-platnicas. Nesse caso, atento a uma tradio potica pr-socrtica, ele estaria,
tambm, nos remetendo a uma noo de fidelidade que nada tem a ver com a noo que
normalmente elaboramos do termo. O filsofo socrtico-platnico fiel Idia, ao eidos
que paira como fundamento sobre a imagem (eidolon), essa mesma que nos constitui nesse
mundo aparente de coisas-falantes. A fidelidade nietzscheana no a do filsofo
metafsico, no a de uma dialtica que nos depura das nossas falsas impresses e nos abre
o acesso a um mundo de coisas em si, mas a que investe, justamente, na aparncia, na
imagem de superfcie que se forma sobre um mundo que no planeja expandir-se para um
extra-mundo de essncias estveis (bebaiotes tes ousias) mas que retorna regularmente,
convulsivamente, dionisiacamente ou trgicamente, terra. E a fidelidade terra tambm
uma fidelidade ao drama, ou seja, poesia, palavra potica pr-socrtica. A fidelidade
nietzscheana , portanto, uma noo ambgua: ela nos reconduz de volta terra, mas nos
torna tambm capazes de dramatizar, ou seja, de constituir uma poesia sem centro, sem
narrador e que se forma, basicamente, da fora expressiva do pathos, do sentimento que nos
atinge e que nos norteia/desnorteia.
Por mais estranho que possa parecer a princpio, o fato que o termo grego pistis no
nos remete originariamente f, mas confiana que se depositava no outro. Quando
Sfocles escreve pstis chein tin , ele est se referindo apenas ao ato de ter confiana
(chein pstis) em algum (tini). Pstikos um adjetivo que caracteriza aquele que fiel,
aquele que tem f ou confiana em algum. No Dicionrio Etimolgico da lngua grega de
Pierre Chantraine, podemos notar que os termos pstis e pistos participam do mesmo grupo
que ir formar o verbo pethomai. O aoristo de pethomai pithstai e o adjetivo formado a
partir do verbo, pthanos, qualifica apenas aquele que persuasivo, que capaz de
persuadir e que assim chega a suscitar, no outro, a crena. Ento, parece-nos evidente que a
origem baixa, como quer Nietzsche, do termo fidelidade provm de uma profunda
relao entre peithos e phitans, ou seja, ter f, pistis, tem o mesmo sentido de ser
persuasivo. Pistis, antes de significar a relao de confiance e de f que existe entre um
jamais que des verba dicendi, des paroles qui expriment une nonciation, et, ds lors, au sens de justesse de cette
homem e o seu deus, significou a relao de confiana que pode existir entre homens ou
entre partes que se situam, por assim dizer, num mesmo plano de possibilidade. Confiar
antes de tudo persuadir, atuar, interagir. A fidelidade, pstei, a potncia que funda uma
modalidade de relao entre os homens ou entre as partes de um todo que interage. Nela, as
partes confiaro umas nas outras. E no se trata de uma confiana em que as partes so
absolutamente estveis, mas de um verdadeiro exerccio de persuaso, quando uma s voz,
um s mpeto dionisaco, uma s sonoridade, pode conduzir e influenciar muitos. O que
interessa, no entanto, a Nietzsche, observar que a fidelidade, essa influncia entre as
partes no dominadas mas passveis de persuaso, pode conduzir ao drama. Foi o que
aconteceu, em sua primeira avaliao ao menos, com Wagner. Para Nietzsche, o termo
fidelidade est relacionado drama. Poderamos mesmo dizer que a fidelidade , para o
jovem Nietzsche, uma virtude relativa ao drama; mas tambm se trata de um verdadeiro
pathos o pathos da fidelidade ou pathos dramtico, que parece emanar diretamente do
drama e da situao dramtica que caracteriza a prpria existncia do poeta dramtico.
Nietzsche, como j disse, descobre a fidelidade como o tema central que orienta a
composio potica deste dramaturgo ditirmbico que ele pensa encontrar na personalidade
e nas personagens do prprio Wagner. Para Nietzsche Wagner passa a ter uma existncia
dramtica no momento preciso em que se descortina a fidelidade existente entre as partes e
as personagens da sua prpria personalidade.
nonciation, de la confiance quon peut avoir en elle, mais nullement au sens du non-retrait de la chose."
1
A mgica como agente scio-cultural no Rio de Janeiro
do final do sculo XIX
Paulo Srgio Trindade Queiroz
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
pqueiroz@uninet.com.br
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar relato parcial de pesquisa de mestrado
em musicologia histrica, em andamento pela Escola de Msica da Universidade do Rio de Janeiro,
cujo fio central se concentra no estudo, por meio de mtodos que utilizam a dialtica e a
fenomenologia, da mgica e sua importncia como gnero dramtico-musical que operou, na
segunda metade do sculo XIX e incio do sculo XX, nas relaes sociais, como elemento de
articulao dos processos scio-culturais. Tal estudo nos tem levado a reforar a concluso, ainda
parcial, de que a msica se manifestou no somente como forma provocadora e articuladora, mas
tambm como apaziguadora de conflitos inerente s relaes sociais e como elemento essencial na
formao da construo de uma identidade nacional.
Palavras-chave: mgica, circularidade, modernidade.
Abstract: The aim of this text is to report what has been studied in historical musicology so far, that
is, the study of the Mgica, and its importance as a dramatic-musical kind of music that act in the
kernel of the social relationships, acting and instigating the social and cultural processes. Such
research is being carried out in the Federal University of Rio de Janeiro. This study intends to
reinforce the thesis that music showed itself as a provocative form of art as well as disarming of
conflicts in what concerns the social relationships. Its also an essential element in the establishment
of a national identity.
Keywords: mgica, circularity, modernity.
2
I - Introduo
A msica aqui considerada como forma de articulao social que interage nos diferentes
espaos sociais e temporais, contribuindo assim para o processo de circularidade cultural,
segundo a linha de pensamento de nossa orientadora Vanda Freire (EM, UFRJ).
Desta forma, este trabalho enfatiza a circulao da msica nos diferentes meios sociais e
tenta traar, seguindo a linha da histria cultural, a articulao da mesma na vida social do Rio de
Janeiro do final do sculo XIX, dando nfase para os elementos caractersticos que contriburam
para a circulao de bens culturais e, conseqentemente, para a construo de uma identidade
que expressasse as caractersticas de uma cultura nacional, centrada na Capital.
Com o objetivo de abranger e poder encontrar diferentes elementos que pudessem
caracterizar a circulao de bens culturais, escolhemos como objeto de estudo duas cenas de
duas Mgicas que j foram catalogadas e esto sendo analisadas pelo grupo de pesquisa
coordenada pela professora Vanda Freire.
A pesquisa de dissertao de Mestrado em musicologia (Escola de Msica da UFRJ) em
andamento e aqui relatada tem como objetivo principal realizar uma leitura da mgica do final do
sculo XIX como forma cultural e artstica que se articulava e interagia com os processos scio-
culturais e polticos.
O presente trabalho prioriza assim, os processos scio-culturais presentes no perodo que
abrange aproximadamente os anos de 1870 a 1910, com nfase no gnero Mgica.
A mgica utilizada como objeto de estudo para exemplificar a circularidade de
caractersticas e elementos nos diversos espaos sociais, no perodo considerado.
A escolha de duas cenas, ambas abrangendo elementos fantsticos, e dentro das quais
uma prioriza aluses vida cotidiana, tem como objetivo visualizar possveis significados que
ambas as cenas portam, significados estes que podem servir de subsdios reflexo sobre a
formao de uma identidade nacional no final do sculo XIX.
O fantstico remete sempre a universos de significao mltiplos, onde a realidade perde
suas fronteiras e onde o espao e o tempo adquirem outras dimenses. Assim, o elemento
3
fantstico focalizado a partir das relaes espao-temporais que estabelece e a partir das
relaes que se articulam na sociedade.
O cotidiano, por sua vez, nos remete a significados caractersticos de uma sociedade
diversificada, cujo imaginrio transita pelos diferentes espaos sociais. A tipificao de
personagens (como no caso a libra esterlina), articula, instiga e interage com as relaes sociais.
A construo de uma interpretao do fenmeno estudado ter como conceitos complementares,
alm do de circularidade cultural os de significados atuais, residuais e latentes (Freire, 1994),
modernidade (Cancline, 1990) e identidade nacional (Hall, 2000).
II - Metodologia e Referencial Terico
A metodologia utilizada neste trabalho embasada nos enfoques dialtico e
fenomenolgico. O primeiro referente concepo de Histria Social, e o segundo, referente aos
processos de anlise musical adotados. Essa metodologia entrelaa-se com os respectivos
conceitos e questes principais.
O popular e o erudito
Na presente pesquisa, tratamos a msica como expresso artstica, na qual os elementos
especficos, so vistos como elementos que se processam nos diversos meios culturais, podendo
representar ou fazer-se representar, gerando formas inter-significantes de um imaginrio rico de
significados. Tais significados se inter-relacionam e se apresentam nos diversos gneros musicais e
culturais, dissolvendo assim, as barreiras espaciais e temporais.
A inter-relao promove assim a diversidade e a circularidade de significados, atravs dos
diversos espaos que se caracterizam como espaos geradores de idias, formadores de opinio,
de crticas, de pensamentos estticos e de formas de comportamento. A msica considerada
ento, como um agente que participa do dilogo, da stira, da crtica, da relao entre os
diversos significados, da relao entre enredo e pblico e, ainda, como elemento de criao
simblica e de formas de caracterizao e de tipificao.
4
Utilizando como base o conceito de circularidade cultural, este trabalho desconsidera
possveis fronteiras rgidas entre os gneros musicais e as diversas formas de manifestao
cultural. A concepo de circularidade abrange os meios e as formas de interao, de
apropriao, de reelaborao e de influncia que os diferentes gneros culturais exercem entre em
si, proporcionando uma viso da rede de relaes culturais presentes nos diversos espaos fsicos
e temporais.
Circularidade, resduos e latncias.
A circularidade considerada neste trabalho como um processo inerente ao prprio
processo histrico do homem. As prticas sociais (e isto inclui as prticas musicais, a poltica, a
economia, as cincias, etc) possuem universos prprios. Porm, ao contrrio do que muitas vezes
considerado, tais universos interagem e se reconstroem atravs da contribuio de elementos
inerentes a outros universos. As contribuies entre as artes, entre arte e prticas sociais diversas,
entre arte e cincia e vice-versa, no so difceis de serem enxergadas.
A inter-relao destes fenmenos scio-culturais cria momentos de contradio
(provocadas por divergncias, por diferenas prprias e ainda, por ritmos diferentes), da mesma
forma que cria momentos de corroborao e sntese. Este processo gera uma permeabilidade
onde cada evento penetra e participa do espao do outro, criando assim, formas e tempos
mltiplos de manifestaes culturais. Desta maneira, deixam de existir, ou pelo menos de ser
nitidamente demarcados, os limites espaciais e temporais dos fenmenos culturais. Os espaos se
permeiam e o tempo perde sua delimitao estanque pelos resduos e pelas latncias inerentes em
sua articulao na atualidade, segundo definio de Freire (Vanda Freire, 1994). As trocas
culturais se tornam mtuas e extrapolam o tempo em processos de criao e recriao ao longo
da histria.
Os conceitos de atualidades, resduos e latncias vem corroborar com a concepo
histria adotada neste trabalho, isto , a histria vista como um processo dinmico. Para ns,
elementos residuais podem permanecer e se fazer presentes na atualidade de diferentes espaos e
momentos histricos, assim como elementos latentes de um determinado fenmeno, podem ter
5
sido encontrados em momentos histricos anteriores e em espaos outros. Atualidades, latncias
e resduos esto assim, associados a circularidade, tanto no que concerne ao espao fsico
quanto ao que concerne ao espao temporal.
A modernidade e o modernismo no Brasil
O conceito de modernidade ser adotado aqui de forma distinta do conceito de
moderno.
...raramente se observa, na historiografia, a presena de perspectiva
segundo a qual a modernidade, longe de se apresentar apenas como
substantivao do moderno, se configura como entidade histrica distinta
e concreta, em relao qual os chamados tempos modernos, ou a Idade
Moderna dos historiadores, representam apenas, historicamente, uma
espcie de proto ou pr-histria (Falcon, 2000, p. 224/225).
O nosso objetivo no apenas distinguir o momento da modernidade e o momento do
modernismo no Brasil. Neste trabalho, apesar de serem considerados de forma distinta, o
modernismo considerado inerente modernidade, e se constitui paralelamente e no cerne da
mesma. Esta por sua vez, vista como um novo momento dentro do moderno, distinto deste,
porm resultante da experincia dos processos e fenmenos ocorridos no mesmo.
Utilizaremos ainda, complementando o conceito acima, a distino adotada por Cancline
a qual coloca a modernidade como uma etapa histrica, a modernizao como o processo social
que trata de ir construindo a modernidade e, os modernismos, como processos culturais que se
relacionam com os diversos momentos de desenvolvimento do capitalismo (Cancline, 205/206,
1990).
Desta forma, a viso adotada neste trabalho difere da concepo adotada pelos
modernistas da Semana de 22. Este movimento, que seguiu a doutrina ideolgica da Semana de
22, parte de um princpio ideolgico de fundo romntico-separatista, segundo o qual considera
que as manifestaes da cultura popular urbana no serviriam como base cultural e temtica para
a construo de um ideal nacionalista (Wisnik, 2001).
6
A negao da cultura popular urbana no se opera por um capricho elitista, mas por
fundamentos ideolgicos que, em alguns casos, tornam-se contraditrios. Para Mrio de
Andrade, a cultura popular urbana estaria contaminada por influncias estrangeiras, tornando-se
assim incapaz de representar o iderio nacionalista. Neste caso, o que a ideologia da semana no
enxerga que a cultura (e sua formao) opera-se por processos que se dilatam e se contraem
em um intercmbio constante. O processo de circularidade inviabiliza toda e qualquer
possibilidade de culturas puras, que possam conter uma gnese identificvel, e cujo teor cultural
no tenha sofrido alteraes e influncias de outras manifestaes culturais. No ser, portanto,
com a viso de Modernismo de Mrio de Andrade que este trabalho estar operando, mas sim
seguindo a linha que considera que os movimentos culturais urbanos do sculo XIX j se
manifestavam como formas de construo de uma modernidade e de construo de uma
identidade nacional.
A trajetria da Mgica insere-se em diferentes momentos do final do sculo XIX e incio
do sculo XX, nos quais a busca de modernidade fenmeno presente.
O Nacionalismo e o Modernismo
Para ns, nacionalismo e modernismo, no caso brasileiro, no podem ser pensados de
forma dissociada. O modernismo se corrobora pela ideologia do nacionalismo e este, por sua
vez, se consolida nas aspiraes do primeiro. Os esforos de modernizao, mesmo que
localizados e objetivados a uma camada especfica da sociedade vm reforar as formas de
expresso modernistas. Por outro lado, o anacronismo e o arcasmo encontrados principalmente
nos setores sociais e polticos, vm comprovar a dissociao do modernismo com o processo de
modernizao.
O modernismo no expressa a modernizao scio-econmica e sim o modo
em que as elites fazem emprego da interseo de diferentes temporalidades
histricas e tratam de elaborar com elas um projeto global. . (Canclini, 1990,
pg. 212).
7
Os fatos histricos so, muitas vezes, metamorfoseados, transformados e mitificados
gerando um repertrio mito-histrico o qual servir como cenrio simblico para a neutralizao
dos conflitos e das tenses. Os mesmos, quando no so omitidos ou menosprezados, acabam
por se dissolver no prprio discurso narrativo ou ainda no prprio decorrer temporal.
A construo de identidades faz parte da dinmica cultural, assim como a construo da
identidade nacional. Neste trabalho, est sendo buscada a visualizao da trajetria da Mgica
que permita caracterizar sua articulao com a construo da identidade nacional no perodo
considerado.
III - Concluses parciais
A mgica, gnero dramtico musical de grande aceitao no sculo XIX, contm
elementos que circulam pelos vrios espaos culturais, que ao longo de sua movimentao pode
representar e adquirir diversos significados simblicos.
O espao do teatro articula assim, todo um conjunto de representaes e de significaes
que no apenas refletem, mas principalmente articulam-se como processos que criam e recriam
bens simblicos, bens estes que fazem parte do universo scio-cultural do Rio de Janeiro da
segunda metade do sculo XIX, relativos construo de uma identidade nacional.
A proximidade da Mgica com a pera, com a opereta, com o teatro de revista e com
gneros musicais diversos, no se d sem um sentido ideolgico. O espao teatral opera como
um espao de snteses culturais. Atravs do espetculo, de sua repercusso e de sua extenso
(que se processa pelas edies de partituras e pela execuo de suas peas em reunies nos
sales, e provavelmente nos nmeros musicais dos teatros populares, cafs-concerto etc.), a
mgica cria caractersticas peculiares, apropria-se de diversos elementos culturais, reprocessa-os,
reelabora-os e articula-os nos meios sociais.
8
As anlises que esto sendo realizadas da introduo e da cena O Coro dos Espritos
da Mgica O Remorso Vivo (Arthur Napoleo 1867), nos levam a visualizar, um carter
possivelmente irreverente. A presena de elementos meldicos e harmnicos encontrados em
gneros populares urbanos, tais como as modinhas, parecem remeter a elementos caractersticos
da vida musical cotidiana.
Especificamente no Coro dos Espritos, o carter aparentemente irreverente da melodia
parece se contrapor ao contedo textual, criando um certo contraste que pode sugerir a
caracterizao da cena como aluso ou crtica aos modelos do romantismo literrio e musical.
A anlise, ainda em fase inicial, de uma das cenas da Sataniza, na Mgica A Rainha da
Noite (Barrozo Neto - 1905), j permite observar a sobreposio de componentes
personificados com crtica social. A libra esterlina (moeda inglesa), personificada na Rainha da
Noite pelo personagem Sataniza, gera, juntamente com o texto, uma aluso ao domnio
econmico e comercial da Inglaterra.
Esto sendo procurados, em arquivos do Rio de Janeiro, os libretos das referidas
mgicas, com vistas a elucidar melhor os aspectos acima referidos, permitindo maior interao
dos aspectos musicais com os literrios e cnicos.
Assim sendo, a anlise at aqui realizada, parece ressaltar aspectos de aluso operados
pela Mgica. Aparecem tambm, elementos de carter possivelmente irreverente, carter este
que se tornou importante na construo do imaginrio social do Rio de Janeiro no perodo
considerado. De uma maneira ou de outra, a mgica teve um papel importante na articulao das
relaes sociais, contribuindo para os processos e reprocessos que se deram na sociedade do
Rio de Janeiro do sculo XIX, e atuando na sntese de caractersticas musicais diversas,
contribuindo, ao que tudo indica, para a construo de uma identidade nacional.
Bibliografia
Barreto, Paulo. As Almas Encantadoras do Rio. S.ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Carioca, 1987.
9
Berman, Marshall. Tudo que Slido Desmancha no Ar. 16 ed. So Paulo: Companhia das
Letras, 1999.
Bosi, Alfredo. Dialtica da Colonizao. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
Burke, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. 2 ed. So Paulo: Companhia das Letras,
1999.
Canclini, Nestor Garcia. La Modernidade Despus de la Posmodernidad. In: Beluzzo, Ana Maria
de Moraes. Modernidade e Vanguardas Artsticas na Amrica Latina. So Paulo: Memorial.
Unesp, 1990.
Cardoso, Ciro Flamarion e Brignoli, Hector Prez. Os Mtodos da Histria. 5 ed. Rio de
Janeiro: Graal, 1990.
Carvalho, Jos Murilo de. Os Bestializados. O Rio de Janeiro e a Repblica que no foi. 3 ed.
So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
Castoriadis, Cornelius. A Instituio Imaginria da Sociedade. 5 ed. So Paulo: Paz e Terra,
2000.
Cunha, Maria Clementina Pereira. Ecos da Folia. So Paulo: Companhia das Letras, 1991.
DaMatta, Roberto. Carnavais, Malandros e Heris, Para uma Sociologia do Dilema
Brasileiro. 6 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
DaMatta, Roberto. A Casa & A Rua 1997. 6 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
Domingues, Jos Maurcio. Sociologia e Modernidade. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1999.
Falcon, Francisco J. C. e Rodrigues, Antnio Edmilson M. Tempos Modernos. Ensaios de
histria cultural. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000.
Freire, Vanda Lima Bellard. O Real Teatro de S. Joo e o Imperial Teatro S. Pedro de
Alcntara. In: ANPPOM, 13 Congresso, 2001, Belo Horizonte:
Freire, Vanda Lima Bellard. A Histria da Msica em Questo uma reflexo metodolgica. In
ABEM, 1994, Porto Alegre.
Freire, Vanda Lima Bellard. pera e Msica de Salo no Rio de Janeiro Oitocentista. In
Colquio da Ps-Graduao da Escola de Msica da UFRJ, 3, 2000, Rio de Janeiro.
Gonalves, Luciana. Os Espetculos de Rua do Largo da Carioca como Ritos de Passagem. In
Arte e Cultura Popular. Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, N 28, p. 216-
235, 1999.
Guibernau, Montserrat. Nacionalismos. O Estado Nacional e o Nacionalismo no Sculo XX.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
Hall, Stuart. A identidade Cultural na Ps-Modernidade. 4 ed. Rio de Janeiro: DP&A editora,
2000.
Harvey, David. Condio Ps-Moderna. 9 ed. So Paulo: Edies Loyola, 2000.
10
Heitor, Luiz. 140 Anos de Msica no Brasil. Rio de Janeiro: Jos Opympo, 1956.
Holanda, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. 26 ed. So Paulo: Companhia das Letras, 1997.
Ianni, Octvio. A Idia de Brasil Moderno. So Paulo: Editora Brasiliense, 1996.
Karasch, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808 1850. So Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
Kiefer, Bruno. A modinha e o Lundu. 2 ed. Porto Alegre: Movimento, 1986.
Konder, Leandro. A questo da Ideologia. So Paulo: Companhia das Letras, 2002.
Leite, Renato Lopes. Republicanos e Libertrio. Pensadores radicais no Rio de Janeiro
(1822). Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000.
Lemo, Pedro. Introduo Metodologia da Cincia. Braslia: UNB, 1982.
Oliveira, Lima. Formao Histrica da Nacionalidade Brasileira. Rio de Janeiro: Expresso e
Cultura, 2001.
Neves, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira. So Paulo: Ricordi Brasileira, 1981.
Pereira, Sonia Gomes. A Reforma Urbana de Pereira Passos e a Construo da Identidade
Carioca. Tese de Doutorado em Comunicao e Cultura, Escola de Comunicao. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1998.
Pinheiro, Marlene Soares. A travessia do avesso: Sob o Signo do Carnaval. So Paulo:
Annablume, 1995.
Sodr, Neson Weneck. Sntese de Histria da Cultura Brasileira. 19 ed. Rio de Janeiro:
Bertrand, 1999.
Souza, Nelson Mello. Modernidade. A estratgia do Abismo. 2 ed. So Paulo: Editora da
Unicamp, 1999.
Squeff. Enio e Wisnick, Jos Miguel. O Nacionalismo e o Popular na Cultura Brasileira. 2
ed. So Paulo: Editora Brasiliense, 2001.
Starobinski, Jean. A Inveno da Liberdade. So Paulo: Editora da Unesp, 1994.
Travasso, Elizabeth. Introduo, Arte e Cultura Popular, Revista do Patrimnio Histrico e
Artstico Nacional, Rio de Janeiro, N 28, p. 7-13, 1999.
Velloso, Mnica Pimenta. As tradies Populares Na Belle poque Carioca. Rio de Janeiro:
Funarte, 1988.
_______________. Modernismo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Fundao Getlio Vargas,
1996.
Veneziano, Neyde. No Adianta Chorar, Teatro de Reivita Brasileiro...OBA!. So Paulo:
Editora da Unicamp, 1996.
Wisnick, Jos Miguel. O Coro dos Contrrios. Msica em torno da semana de 22. 2 ed. So
Paulo: Livraria Duas Cidades, 1983.
Definindo mega-instrumentos com XML
Pedro Krger
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
kroeger@pedrokroeger.net / kroger@ufba.br
Resumo: Esse artigo aborda a implementao de meta-linguagens para sntese sonora em XML e suas
vantagens. O objetivo final a criao de mega-instrumentos que permitam que um instrumento seja
constitudo de blocos que possam facilmente ser substitudos ou reutilizados. Uma implementao para o
csound se d na forma do csoundXML, uma verso avanada da linguagem do csound em XML, e da
CXL, uma biblioteca com descrio em alto-nvel dos opcodes e parmetros do csound.
Palavras-chave: composio, sntese sonora, informtica em msica
Abstract: This paper approaches an implementation in XML of meta-languages for sound synthesis and
its advantages. The ultimate goal is the creation of mega-instruments allowing instrument construction in
easily reusable blocks. An implementation for the csound language is provided with csoundXML, an
advanced meta-language for sound synthesis, and CXL, a library with high-level description of csound's
opcodes and parameters.
Keywords: computer music, composition, sound synthesis
1 Introduo
Aplicaes XML tem sido usadas em reas diversas como matemtica (mathML), grfica (VML
e SVG), e programao (OOPML)
1
. Ainda que o nmero de aplicaes XML para msica tenha
crescido consideravelmente com solues para descrio e notao musical como o musicXML
(GOOD 2001) ou MDL (ROLAND, 2001), os esforos para a sntese sonora so poucos e esto
em estgio inicial de desenvolvimento como o Javasynth (MAKELA, 2003) e FlowML
(SCHIETTECATTE, 2000). Com o XML posvel criar uma meta-linguagem para sntese
sonora que pode funcionar como um formato universal entre as linguagens j existentes. No
obstante, importante que essa meta-linguagem seja baseada em princpios concretos e em
programas j existentes como o csound, cmix, ou common lisp music, evitando que o formato
seja apenas algo abstrato e sem utilizao prtica.
1
Uma lista completa pode ser vista em http://www.oasis-open.org/cover/xml.html.
Esse artigo abordar a implementao da csoundXML, uma meta-linguagem para sntese sonora,
alm de duas outras tecnologias relacionadas com a XML; a CXL, uma biblioteca de XML para
csound; e mega-instrumentos, uma linguagem de alto nvel para descrever instrumentos
complexos.
2 XML
XML uma linguagem de marcao para documentos contendo informao estruturada onde a
marcao ajuda a identificar a estrutura do documento. O XML um padro definido pelo World
Wide Web Consortium baseado no SGML
2
. Similarmente ao HTML, o XML define a estrutura
do documento entre tags como <exemplo> e </exemplo>. A maior diferena que no HTML as
tags so sempre semnticas e fixas, enquanto o XML no tem um conjunto de tags fixas e elas
no so semnticas.
Dentre as vantagens do XML esto a possibilidade de criao de linguagens de marcao
especficas, dados auto-explicativos, troca de dados ente diferentes aplicativos, dados
estruturados e integrados (HAROLD, 1999, pp. 6-8), alm de haverem inmeros parsers
disponveis gratuitamente.
Para uma introduo aplicao do XML na rea musical ver Castan, Good e Roland (2001).
3 CsoundXML: uma meta-linguagem para sntese
O csoundXML descreve a linguagem do csound em XML com alguns acrscimos. Como foi
visto na seo 2 as vantagens de se usar o XML so descrio estruturada, tags auto-explicativas,
facilidade de parseamento, dentre outras. Dentre as vantagens de se descrever a linguagem de
orquestra em XML esto converso para outras linguagens, banco de dados, pretty-print, e
ferramentas grficas.
converso para outras linguagens.
Como foi visto anteriormente, o XML tem sido usado com sucesso para criar meta-
2
SGML significa Standard Generalized Markup Language. e definida pelo ISO 8879.
linguagens cujo principal propsito a converso para diferentes linguagens. O csoundXML
funciona como um ponto de partida para a criao de instrumentos que podem ser
convertidos para diversas linguagens de sntese, como csound, cmix, etc.
banco de dados.
A existncia de uma vasta coleo de instrumentos uma das principais fontes de
aprendizado do csound. Agora que o nmero desses instrumento passa dos 2000, faz-se
necessrio a criao de uma base de dados mais formal. O csoundXML permite a criao de
tags de meta-informao como autor, descrio, localizao, dentre outras. Essa informao
pode facilmente ser extrada, ao contrrio da meta-informao inserida com comentrios.
pretty-print.
O pretty-print muito mais do que um recurso eye candy, a possibilidade de imprimir
cdigo do csound com qualidade grfica uma necessidade de autores de artigos e livros.
Tendo o cdigo descrito em XML, pode-se converter para csound de inmeras maneiras. Um
simples exemplo o uso de comentrios. Pode-se escolher se os comentrios sero ou no
impressos, ou como sero impressos, se acima, abaixo, ou do lado do cdigo, tudo isso sem
interveno manual.
ferramentas grficas.
Devido a sua descrio altamente estruturada e formal possvel descrever o instrumento em
csoundXML graficamente automaticamente.
3.1 Sintaxe
Essa seo abordar alguns elementos da sintaxe do csoundXML e suas vantagens.
3.1.1 Opcodes.
O corao dos instrumentos do csound so as unidades geradoras, implementadas como
opcodes. O exemplo 3.1 mostra um uso tpico para o opcode oscil, onde afoo a varivel do
tipo a onde ser armazenada a sada do oscil; 10000 a amplitude; 440 a freqncia, e 1 o
nmero da funo que ser acessada. O resto da linha depois do ; um comentrio e ser
ignorado pelo csound.
No csoundXML os opcodes so descritos pela tag genrica <opcode>, enquanto os seus
parmetros pela tag <par>. O nome do opcode definido pelo atributo name. O ex. 3.2 mostra
como ficaria o cdigo do ex. 3.1 escrito em csoundXML. Assim como a tag <opcode>, cada
parmetro tem um atributo chamado name. O valor dos parmetros ficam entre o comeo e fim
de tag: <par>valor</par>.
Outra caracterstica do csoundXML o atributo type que indica o tipo da varivel (e.g. k ou a).
Dessa maneira as variveis podem tem qualquer nome, o csoundXML se encarrega de iniciar o
nome da varivel com a letra certa (linha 1 do ex. 3.2). Esse recurso til para a converso
automtica entre variveis, por exemplo.
Uma caracterstica que salta aos olhos a extrema verbosidade da verso xmllificada, afinal
nosso exemplo original (ex. 3.1) tem apenas 1 linha, enquanto a verso em csoundXML (ex. 3.2)
tem 6! Uma vantagem dessa verbosidade extra a possibilidade de fazer buscas mais completas.
Ainda no ex. 3.2, um programa de desenhar funes poderia rapidamente ver quantas e quais
funes um instrumento est usando procurando pelo atributo function na tag <par>.
3
3.1.2 Parmetros e variveis.
No csound geralmente usam-se variveis para definir os parmetros dos opcodes. No
csoundXML eles so definidas com a tag <defpar>, e assim como os opcodes, tm os atributos
name e type. O csoundXML faz uma diferena entre parmetros e variveis. Ambos so
variveis, mas enquanto esse refere-se s variveis locais, aquele refere-se as variveis
designadas a p-fields, ou seja, que sero exportadas e definidas na partitura.
Um exemplo mais complexo pode ser visto no ex. 3.3 onde o parmetro gain definido. Uma
breve descrio inserida nas tag <description>, o valor padro na tag <default>, e o mbito
na tag <range>. Uma unidade grfica, por exemplo, poderia extrair essa informao para
automaticamente criar sliders para cada parmetro.
3.1.3 Tipos de sada
O csoundXML define a tag genrica <output>, que engloba os opcodes de sada do csound
como out, outs, e outq. Dessa maneira o compositor pode, de antemo, definir como sero
geradas as sadas em diferentes contextos, como mono ou estreo. Isso particularmente til
para fazer diferentes verses da mesma msica, ou quando se quer, a bem da brevidade, gerar
uma verso estreo de uma msica quadrafnica, por exemplo. s indicar o tipo de sada e o
3
Esse tipo de busca implementado pela linguagem XPath. Para maiores informaes ver Clark e DeRose (1999).
programa se encarrega de escolher a opo certa. (ex. 3.4)
3.1.4 Funes
A tag <deffunc> serve para descrever funes, um dos requisitos bsicos em se trabalhar com o
csound. O atributo name indica o GEN a ser usado, enquanto o atributo id define um nome para
a funo. (ex 3.5) Novamente, o programa se encarrega de converter o cdigo para os opcodes
ftgen ou f de acordo com a necessidade. No csoundXML cada GEN tem tags especficas para
cada parmetro. No ex. 3.5, por exemplo, a tag <size> refere-se ao tamanho da tabela enquanto
a tag <partialStrength> fora de cada parcial.
3.1.5 Meta informao
Como vimos, o csoundxml permite a criao de meta-informao entre a informao principal. O
parser se encarrega de extrair o que necessrio a cada aplicao. Tags como <author>,
<description>, e <from> ajudam a identificar o instrumento.
4 A biblioteca de XML para csound
A biblioteca de XML para csound (CXL) uma biblioteca com descrio em alto-nvel dos
opcodes e parmetros do csound. Essa biblioteca descreve os opcodes e parmetros no apenas
dizendo como eles devem ser parseados (como a sintaxe BNF) mas descrevendo como cada
opcode se comporta, e que tipo de entrada esperada, i.e. se em graus ou em decibeis. Esse
recurso pode ajudar na criao de programas mais inteligentes, como assistentes, para ajudar
na criao de instrumentos de csound. O assistente poderia, por exemplo, interpretar um valor e
determinar pelo contexto sua validade, alm de poder sugerir valores vlidos.
A CXL tem uma sintaxe similar do csoundXML, exceto que enquanto esse usado para
descrever instrumentos, aquele usado para descrever opcodes e parmetros do csound. Como
pode ser visto no ex. 4.1 a tag para definir opcodes <defOpcode> enquanto os parmetros so
definidos com <par>. O atributo type indica o tipo da varivel, se k, a, ou i. A tag
<description> contm uma breve descrio do opcode. Naturalmente mais dados podem ser
inseridos, como valores padro (valores que sero automaticamente selecionados se nenhum
valor for entrado), exemplos, presets, e mais dados sobre o opcode.
Os valores entre as tags de parmetro so na verdade variveis definidas pela tag <defvar>. A
definio dessas variveis permite estabelecer o tipo de parmetro que cada opcode recebe.
(ex. 4.2)
A CXL permite criar programas que entendam a sintaxe do csound em um nvel mais alto. Isso
pode ser til na criao de assistentes, por exemplo, e est sendo fundamental no
desenvolvimento dos mega-instrumentos.
5 Mega-instrumentos
5.1 Introduo
O mega-instrumento uma forma de descrever instrumentos usando blocos em diferentes nveis
(layers). O termo foi pego de emprstimo da programao para GUI, onde um mega-widget
uma coleo de widgets trabalhando juntos. Um exemplo disso a coleo de mega-widgets
implementados em [incr Tcl] (SMITH, 2000).
Em geral algoritmos de sntese so implementados no csound em um bloco nico, o em um
nico instrumento. A fig. 1 mostra a implementao de Dodge para o instrumento de cordas de
Schottstaedt (DODGE E JERSE, 1997, p. 125), cuja implementao em geral feita em um
nico bloco.
Figura 1: Instrumento em um bloco nico Figura 2: Instrumento dividido em
blocos
Podemos observar na figura 1 que o instrumento constitudo de quatro partes bsicas, uma gera
o rudo de ataque (attack-noise), outra o vibrato (vibrato), outra o envelope geral (envelope), e
finalmente outra gera o timbre geral de cordas atravs de FM (fm-instrument). A idia dos mega-
instrumento poder definir blocos menores de instrumentos e conecta-los em instrumentos
maiores, como visto na fig. 2. Cada caixa representa a implementao separada de uma parte
constituinte do mega-instrumento. Uma das vantagens dessa abordagem que os blocos podem
facilmente ser substitudos. O gerador de vibrato, por exemplo, poderia ser substitudo por outro
ao gosto do compositor.
5.2 Utilizao
A utilizao de mega-instrumentos permite que o instrumento seja construdo de blocos, como na
fig. 2. A vantagem dessa abordagem que um bloco pode ser facilmente substitudo ou
reutilizado em outros instrumentos.
5.3 Interface
A interface para o mega-instrumento pode se dar de diferentes maneiras, dai o poder do XML. O
XML apenas descreve o mega-instrumento, o programa grfico decidir como essa informao
ser mostrada. O programa pode mostrar essa informao como um fluxograma (como o
patchwork (PINKSTON, 1995)), uma estrutura em lista de notas (como o csound), ou uma
estrutura mais descritiva como schottstaedt-string -carrier 440 -modulator 440 -
envelope {.4 1 .1 4}, tudo isso sem alterar uma nica linha do mega-instrumento. E assim
como na programao orientada a objetos, o encapsulamento dos dados permite que o
usurio/compositor possa usar o instrumento pensando em termos mais musicais como envelope
ou carrier, ao invs de campos-p.
5.4 Programas externos
O mega-instrumento um conceito implementado em XML, incorporando o csoundXML e o
CXL. Mas ele no usado apenas para definir opcodes do csound. Ele pode utilizar programas
externos, como um mixer, ou um programa de anlise. Dessa maneira mega-instrumentos
complexos podem ser criados, por exemplo, para executar um programa de analise e criar
automaticamente a resntese, integrando o resultado com outros opcodes. Programas externos
podem ser executados como se fossem opcodes do csound. A sada de um opcode pode ser a
entrada de um desses programas ou vice-versa, as possibilidades so praticamente ilimitadas.
6 Resultados
A sintaxe dos mega-instrumentos, csoundXML, e CXL est concluda e em um estado maduro.
Um subconjunto bsico de opcodes do csound foi implementado no csoundXML e CXL.
Um utilitrio, o orc2xml, est sendo desenvolvido para converter o formato de orquestra do
csound para XML. Ele escrito usando flex/bison e correntemente capaz de parsear 96% de
325 orquestras simples (exemplos do The Alternative csound Reference Manual
4
) e 72% de 86
exemplos complexos (coleo de instrumentos do Dr. Russell Pinkston
5
). Com esse utilitrio a
converso poder ser feita em ambos os sentidos, ou seja, de XML para orquestra e de orquestra
para XML, possibilitando a converso de instrumentos existentes com o mnimo de trabalho
manual. Algumas ferramentas bsicas para a criao e manipulao de mega-instrumentos est
completa.
7 Concluso e trabalho futuro
A criao de uma meta-linguagem de sntese em XML permite o intercmbio entre linguagens
existentes. Contudo, para garantir sua utilidade, necessrio que ela seja baseada em programas
j existentes. Esse artigo abordou a meta-linguagem csoundXML, a biblioteca de XML para
csound CXL, e os mega-instrumentos. Com as trs possvel descrever instrumentos complexos
em alto nvel e de maneira estruturada.
O prximo passo ser concluir a implementao de opcodes do csound no csoundXML e CXL
garantindo funcionalidade completa a esses formatos. Alm disso mais utilitrios e interfaces
devero ser criados, permitindo uma maior usabilidade e expansibilidade. Finalmente, a coleo
de ferramentas para a criao e manipulao de mega-instrumentos dever ser ampliada e
desenvolvida.
4
Disponvel em http://kevindumpscore.com/docs/csound-manual/.
5
Disponveis em http://www.utexas.edu/music/cofa/ems.
Referncias Bibliogrficas
CASTAN, G.; GOOD, M.; ROLAND, P. Extensible markup language (xml) for music
applications: An introduction. In: HEWLETT, W. B.; SELFRIDGE-FIELD, E. (Ed.). The Virtual
Score: Representation, Retrieval, Restoration. Massachusetts: The MIT Press, 2001, (Computing
in Musicology, v. 12). p. 95-102.
CLARK, J.; DEROSE, S. http://www.w3.org/TR/xpath. (S.l.), 1999. Disponvel em:
<http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116>.
DODGE, C.; JERSE, T. A. Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance. 2nd ed.
New York: Schirmer Books, 1997.
GOOD, M. Musicxml for notation and analysis. In: HEWLETT, W. B.; SELFRIDGE-FIELD, E.
(Ed.). The Virtual Score: Representation, Retrieval, Restoration. Massachusetts: The MIT Press,
2001, (Computing in Musicology, v. 12). p. 113-124.
HAROLD, E. R. XML Bible. New York, NY: IDG Books Worldwide, 1999.
MAKELA, M. Javasynth. (S.l.), 2003. Disponvel em: <http://javasynth.sourceforge.net/>.
PINKSTON, R. F. Rapid instrument prototyping system (rips): A new graphical user interface
for instrument design in csound. In: 1995 SEAMUS National Conference. (S.l.: s.n.), 1995.
ROLAND, P. Mdl and musicat: An xml approach to musical data and meta-data. In: HEWLETT,
W. B.; SELFRIDGE-FIELD, E. (Ed.). The Virtual Score: Representation, Retrieval, Restoration.
Massachusetts: The MIT Press, 2001, (Computing in Musicology, v. 12). p. 125-134.
SCHIETTECATTE, B. A format for visual orchestras: Flowml. 2000.
SMITH, C. [incr Tcl/Tk] from the Ground Up. Berkeley: Osborne/McGraw-Hill, 2000.
From the concept of sections to events in Csound
Pedro Krger
Universidade Federal da Bahia
kroeger@pedrokroeger.net / kroger@ufba.br
Abstract: This paper approaches some solutions involving the division of the csound score in smaller
parts to reduce its rendering time to a minimum. The ultimate solution involves the use of events. Besides
solving elegantly the problem, the definition of events make possible the creation of scores with a
hierarquical structure. This concept has been implemented by the author of this paper in Monochordum, a
compositional environment for Csound.
1 Introduction
Csound uses two files as input, the orchestra and the score file. Traditionally only one monolithic
score file is used per composition. Unfortunately, Csound does not have any device to compile
1
only separated parts so the full composition is rendered even if only one part was modified.
Nevertheless, it is not very productive to wait for the rendering of the entire piece only to hear
one small section.
In this paper some solutions for this problem will be proposed based in splitting the score into
smaller parts and using the utility for recompilation Make. The goal is to reduce the time for
recompilation to a minimum.
Finally, a solution will be introduced involving the use of events, a structure between the list of
notes and the section. The use of events not only solves elegantly the problem but allows the
creation of hierarquical structures. Besides the possibility of defining blocks of events, it is
possible to define the relationship between these events. This concept has been implemented by
the author of this paper in Monochordum, a complete compositional environment for Csound.
1
In this article the word compile is used as synonym for render, i.e., run Csound over an orchestra and score
2 Solutions
2.1 Manual splitting
Commenting sections out is a primitive way to select parts to render. Although this procedure
works with small files, it is impracticable with larger ones with hundreds of lines. A better way is
to use the Csound's #include command. Sections are saved in separated files and called in a
main file with the #include command (ex. 2.1). The sections not going to be rendered can easly
be commented out. For example, section 3 in ex. 2.1 will not be compiled.
This procedure has some advantages; it only uses Csound (not needing any external tool), and
arbitrary sections can be selected (e.g., sections 1 and 3).
The disadvantages are: the selected sections are always fully compiled, even if nothing was
modified at all; there are more files to manage, and the #include command has a long history of
bugs.
Using Make
The previous solution can be much more automatized with Make. The same file structure as in
ex. 2.1 is kept, but the main score file is discarded.
The Make tool was created to automatize the process of program compilation. It can recompile
files to get some output (usually a sound file).
only the necessary files based in the modified source files. Although widely used to manage
computer programs, make is not limited to programs. You can use it to describe any task where
some files must be updated automatically from others whenever the others change. (Stallman e
McGrath 1998, p. 1)
A deeper description of Make is out of the scope of this paper, for more information please refer
to the manual.
The ex. 2.2 shows a simple use of Make. The rule sec1.wav is defined and can be called by
typing make sec1.wav in a terminal.
Since we don't have the main score anymore we need some way to mix the sections together.
The Csound mixer tool or programs like ecasound and sox can be used for this purpose.
The real power of Make can be seen in ex. 2.3. The rule Main.wav has the rules sec1.wav,
sec2.wav, and sec3.wav as dependencies. That means that to be able to perform the command
in the Main.wav rule the three dependencies have to be complete. If one of them is not, Make
will automatically compile only the missing section. An overview of the process is shown in
fig. 1.
Figure 1: Overview of the process
Conclusion
By splitting the score into separated files and using Make, the renderization of individual
sections is possible, giving more flexibility and speed. The second solution shows an advance in
comparison with the first, since in the later the renderization time is not as small as in the former.
Nevertheless, in both solutions the files have to be created and named manually. This is a hassle,
especially if the composition changes and new sections are created between the existent ones.
2.2 Automatic splitting
In the previous sections we could see how handy and flexible is the use of Make to render
Csound scores. The major problem is the somewhat cumbersome management and editing of
separated files in large compositions. In this section will be presented a few solutions using the
same concept but now the composer will be dealing with one score file only. The secondary files
will be generated automatically.
Using the section command s
Probably the most direct aproach is the creation of a script that will read the score and create one
file for each section defined with s. Thus, the problem of managing multiple files is solved, they
are created automatically and named according a given prefix. The sections then can be compiled
with the command make prefix sectionNumber. (fig. 2)
Figure 2: Splitting the score
Using a new section command.
Although the previous solution is a great improvement, the mixer data is still separated from the
music. A more complete solution is to create a new command section. It accepts a label and the
start time of the section. Naturally Csound doesn't have this command and we are not going to
implement it in Csound's core. The previous script will be modified to extract the sections using
the new command. Since we want to have some backward-compatibility the section command
will be preceded of the comment character ; and the | character. The later is necessary to avoid
the script catching a valide comment with the word section. The ex. 2.4 shows the syntax. The
lines 1 and 4 define valid sections while in line 7 we have a regular comment.
Now not only the files for each section are automatically generated but the mixing data as well.
A good side effect of this approach is that the user no longer uses the mixer commands directly
anymore. The mixing engine can be replaced without the user notice.
This is the best of the four solutions, backward compatibility is kept while gives more power,
flexibility and convenience.
3 From the concept of sections to events
3.1 Introduction
The previous solutions splitted the score in sections to recompile only the necessary parts.
However, this procedure is inefficient when the goal is to manipulate smaller elements. In fig. 3
the boxes represent events in time. The common aproach of moving events around while
composing is cumbersome with plain Csound because the durations of notes have to be
recalculated manually, one by one. Splitting the score into sections, as in the previous examples,
would not work since the large box in 3 delimits a section. The best solution is the possibility of
defining events.
Figure 3: Events
I am working in a compositional environment called monochordum that uses Csound as a
rendering engine. It implements, among other things, the concept of events. Monochordum
works basically using the same idea of the previous examples; it creates a separated score for
each event and a Makefile to control the rendering process.
The ex. 3.1 shows the basic syntax to create events. An event is defined with the event
command followed by a label. The start time of each event can be defined with the option -
start. The Csound code is inserted after event and the label, between curly braces. The option
-gain determines the event's gain value in the final mixing. (fig 1)
Naturally, events can be nested. At that point it is possible to represent hierarquical and more
complex structures than with plain Csound, or even with the previous section-based solutions.
3.2 Advanced features
In monochordum an event time can be expressed in relation to the time of other events. The
implementation was freely based in the relations proposed by Allen (Allen 1991). This relations
can indicate that one event starts after another event, or one event starts with another one. In
ex. 3.2 the event bar starts right after foo, while the event chords starts at the same time of
bar. The fig. 4 shows a graphic representation of ex. 3.2.
Figure 4: Events relations
Events definitions can be more flexible if they have paddings (positive or negative). In ex. 3.3
both events bar and chords start after foo, however bar has a padding of 2 seconds while
chords a padding of -2 seconds. (fig. 5)
Figure 5: Events padding
Others relations such as before, finishes, middle and meets are available, but the user can
create their own relations as well.
4 Implementation
Monochordum is implemented in [incr tcl], a well-known object-oriented extension to Tcl.
Besides the general organization of classes in attributes (e.g. start and duration) and methods
(e.g. with, before, and after) some features of [incr tcl] are used such as the configure
command. The value of an attribute can be changed with the command object configure -
attribute value, where object is the name of the object, attribute is the name of the attribute,
and value is the new value of the attribute.
5 Future work
This idea can be extended to work with other languages besides Csound. This will allow a more
easy and consistent use of languages with different paradigms. A feature already implemented in
monochordum is a high-level score language, capable of using notes names or letters (e.g. do or
c), rhythms, chords, graphical notation (using lilypond), etc.
6 Conclusion
The score splitting into smaller files and the use of a recompilation tool such as Make can
provide more flexibility, speed, and power in the process of Csound rendering. Nevertheless is
necessary to create some sort of device to split the score and generate the secondary files
automatically. The ultimate solution is the definition of events, a structure between a note list
and a section. Besides solving elegantly the former problem, the definition of events make
possible the creation of scores with a hierarquical structure. This concept has been implemented
in monochordum, a compositional environment for Csound.
References
ALLEN, J. F. Time and time again: the many ways to represent time. International Journal of
Intelligent Systems, v. 6, n. 4, p. 341-355, 1991.
STALLMAN, R. M.; MCGRATH, R. GNU Make: A Program for Directing Recompilation.
Boston, MA, 1998.
Sute Floral op. 97 para piano de Heitor Villa-Lobos: uma comparao
entre edies
Polyane Schneider
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
poly-schneider@bol.com.br
Cristina Capparelli Gerling
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
cgerling@vortex.com.br
Este trabalho tem por objetivo comparar seis edies da coleo intitulada Sute
Floral op. 97 para piano de Heitor Villa-Lobos estabelecendo, atravs de tabelas, uma
comparao entre cada discrepncia assinalada nas diversas partituras. Constatando a
variedade, inconsistncia, discrepncia entre as vrias edies, seja na articulao, sinal de
expresso, altura de notas, colocao de bemis e sustenidos, na escrita de registros, e,
sobretudo pela divergncia resultante na execuo justifica-se proceder a este trabalho. As
fontes consultadas esto listadas como pode ser observado na tabela abaixo (vide Tab. 1).
Manuscrito 1. Idlio na Rede
2. Uma Camponesa Cantadeira
3. Alegria na Horta
Edies Brasileiras Editores Casa Arthur
Napoleo (1926), RJ.
1. Idlio na Rede
Editora Casa Arthur Napoleo
Ltda. (1968), RJ,
Distribuidora Fermata do
Brasil, SP.
1. Idlio na Rede
2. Uma Camponesa
Cantadeira
3. Alegria na Horta
Edies Americanas Consolidated Music
Publishers (1949), N.Y.
1. Idlio na Rede
2. Uma Camponesa
Cantadeira
3. Alegria na Horta
Consolidated Music
Publishers (1973), N.Y.
1. Idlio na Rede
2. Uma Camponesa
Cantadeira
3. Alegria na Horta
Edio Japonesa Edition Kawai (1968), Japo.
1. Idlio na Rede
2. Uma Camponesa Cantadeira
3. Alegria na Horta
Tabela 1: Fontes Consultadas
Composta por Villa-Lobos, a Sute Floral op. 97 consiste de trs peas, Idlio na
Rede (1917), Uma Camponesa Cantadeira (1916) e Alegria na Horta (1918). Esta coleo de
peas est includa na produo musical da primeira fase do compositor, a qual estende-se de
sua juventude at sua primeira viagem Europa em 1923. (LIMA, Joo de Souza, p. 05,
1969). Entre outras obras anteriores e posteriores escritas para piano, destacam-se Brinquedo
de Roda (1912), Danas Caractersticas Africanas (1914-15), Prole do Beb n 1 (1918),
Ballet Amazonas (1918), Ballet Uirapuru (1917) e Prole do Beb n 2 (1921).
Ainda que no seja o foco deste trabalho, torna-se evidente que Villa-Lobos conhecia
as obras de seus contemporneos europeus e Tarasti comenta: na primeira fase inicial
podem ser classificar as obras compostas da primeira viagem Paris em 1923. Nesta fase
peculiar assimilao de obras de Debussy, Cesar Franck, Stravinsky e outros compositores,
os quais Villa-Lobos teve a oportunidade de ouvir na sua cidade natal, Rio de Janeiro. Volpi
observou que, durante boa parte de sua produo musical, Villa-Lobos manteve-se ao par da
tradio romntica tradicionalista brasileira recebida dos compositores Alberto Nepomuceno
(1864-1920) e Henrique Oswald (1852-1931). Segundo esta autora, Villa-Lobos absorveu e
modernizou as sonoridades evocativas atravs da explorao de recursos nativos como um
meio de localizao da paisagem, tais como o nascer do sol, os murmrios da floresta
diversificados e o expandir dos sons incluindo animais e monstros. Recursos estes,
relacionados a Indianismo e Paisagem, smbolos mais salientes do nacionalismo brasileiro
entre 1870 e 1930.(VOLPI, Maria Alice, p. 06, 2001). Em relao a Sute Floral, verifica-se
que esta est inserida nos aspectos nacionalistas aliados a estilos europeizados, por apresentar
elementos meldicos, rtmicos, harmnicos e tmbricos que invocam uma paisagem nacional.
Os prprios ttulos da sute e das peas sugerem uma aluso paisagem tropical e Natureza,
sua flora, seus animais e pssaros exticos e selvagens.
Em Idlio na Rede verifica-se no s a influncia de Debussy, mas da escrita francesa
para piano, sobretudo Faur nas suas Barcarolas, e a influncia comum a todos os
compositores posteriores, a escrita arpejada, rendilhada e idiomtica de Chopin. Soma-se a
esta escrita arpejada do acompanhamento, o dedilhado do violo de carter muito suave.
Quanto ao ritmo Villa-Lobos explora possibilidades do compasso binrio 6/8, as quais
incluem a ambigidade gerada pelo abandono da diviso binria em favor da ternria em uma
ou mais linhas resultantes as quais caracterizam o movimento balanceado que percorre toda a
pea. (LIMA, p. 28, 1969). Esta pea est estruturada em esquema ternrio ABA.
Uma Camponesa Cantadeira tambm apresenta um acompanhamento ao estilo de
guitarra e estrutura ternria ABA. Explora o bitonalismo, o tonalismo, os acordes de quintas e
oitavas paralelas e a polirritmia de cinco contra seis semicolcheias Nesta obra o compositor
faz extenso uso de padres pentatnicos da configurao do teclado. Pode-se dizer que a pea
Alegria na Horta
1
inaugura uma nova escrita e um desenvolvimento sonoro diferenciado, na
produo pianstica do compositor. Tarasti (1987, p. 254) chama a ateno para seu desenho
inventivo em larga escala, as appogiaturas de teras e a mudana acentuada entre as
tonalidades maior e menor. Sob todos estes aspectos a personalidade do autor assume nesta
pea uma posio mais decidida.
2. TABELAS
2.1 Tabelas de indicaes de andamento e carter
1
Esta obra foi posteriormente orquestrada e integrada a Sute orquestral Descrobrimento do Brasil na dcada de
30.
2.1.1 Idlio na Rede
N de
compassos
Manuscrito C.M.P. 1948 A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P. 1973
1 Andamento
de Berceuse
Acalanto Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
50 poco rall. no
primeiro
tempo
Expresso
deslocada
para o
segundo
tempo
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
2.1.2 Uma Camponesa Cantadeira
N de
compassos
Manuscrito A.N. 1926 C.M.P.
1948
A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P.
1973
14 Uma
indicao
rall.
Idem
manuscrito
Duas
indicaes
rall.
Idem
C.M.P.
1948
Idem
manuscrito
Idem
C.M.P.
1948
26 Sem
indicao
Agitato
Com
indicao
Agitato
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
27 Sem
indicao
animando
Com
indicao
animando
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
2.1.3 Alegria na Horta
N de
compassos
Manuscrito C.M.P. 1949 A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P. 1973
12 Indicao
suprimida
Com
indicao
stringendo
molto
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
16 Indicao
suprimida
Com
indicao
poco
allargando
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
25 Com
indicao
Molto allegro
Com
indicao
Vivo
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
48 Com
indicao
Com
indicao
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Allegro Allegro non
troppo
79 Indicao
suprimida
Com
indicao rall.
poco a poco
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
80 Com
indicao rall.
Indicao
suprimida
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
2.2 Tabelas de indicaes de dinmica
2.2.1 Idlio na Rede
N de
compassos
manuscrito C.M.P. 1949 A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P. 1973
1 Indicao
suprimida
mf Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
8 Com sinal de
crescendo
Acrscimo de
f e sinal de
diminuendo
Idem
C.M.P.1948
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
37 Indicao
suprimida
mf Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
47 p Indicao
suprimida
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
51 Indicao
suprimida
p Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
2.2.2 Uma Camponesa Cantadeira
N de
compassos
manuscrito A.N. 1926 C.M.P.
1949
A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P.
1973
1 Indicao
suprimida
p Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
3 Indicao
suprimida
mf Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
15 Com
indicao f
Com
indicao p e
sinal de
crescendo
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
19 Contm
indicao f
Contm sinal
de crescendo
e p
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
20 Com
indicao
crescendo
Com
indicao
crescendo
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
sempre
26 Indicao
suprimida
fff Idem A.N..
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
29 Indicao
suprimida
Sempre ff Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
30 Indicao
suprimida
Diminuendo Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem AN.
1926
Idem A.N.
1926
31 Indicao
suprimida
p Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
32 Indicao
suprimida
Diminuendo Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem AN.
1926
Idem A.N.
1926
44 Indicao
suprimida
Dim. Poco a
poco
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
45 Com
indicao
diminuendo
p Idem A.N.
1926
Idem AN.
1926
Idem A.N.
1926
Idem AN.
1926
48 m.e.-
indicao
suprimida
m.d.- pp
m.e.- pp
m.d.- mf
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem A.N
1926
Idem A.N.
1926
2.2.3 Alegria na Horta
N de
compassos
Manuscrito C.M.P. 1949 A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P. 1973
1 sfz rffz Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
5 Indicao
suprimida
m.d.- mf
m.e.- f (o
canto bem
fora)
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949 com o
acrscimo de
muito leve a
m.d.
Idem C.M.P.
1949
80 Indicao
suprimida
Crescendo Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
103 Indicao
suprimida
ff Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
104 Indicao
suprimida
sffz Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
105 Indicao
suprimida
sffz Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
107 ff fff Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
108 ff fff Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
2.3 Tabelas de notao # e b
2.3.1 Idlio na Rede
N de
compassos
Manuscrito C.M.P. 1948 A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P. 1973
9 F# e R# F e R
natural
Idem C.M.P.
1948
Idem
manuscrito
Idem
C.M.P.1948
15 MIb no
segundo
tempo.
MI natural Idem C.M.P.
1948
Idem C.M.P.
1948
Idem
C.M.P.1948
22 FA# FA natural Idem C.M.P.
1948
Idem
manuscrito
Idem
C.M.P.1948
2.3.2 Uma Camponesa Cantadeira
N de
compassos
Manuscrito A.N. 1926 C.M.P.
1949
A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P.1973
15 SOL# SOL
natural
Idem A.N.
1926
Idem A.N.
1926
Idem
manuscrito
Idem A.N.
1926
2.3.3 Alegria na Horta
N de
compassos
Manuscrito C.M.P. 1949 A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P. 1973
78 MIb no
segundo
tempo da m.d.
MI natural Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
Idem C.M.P.
1949
2.4 Tabelas de indicaes de ritmo
2.4.1 Uma Camponesa Cantadeira
N de
compassos
Manuscrito A.N. 1926 C.M.P.
1949
A.N. 1968 E.K. 1968 C.M.P.
1973
27 Semnima
no segundo
tempo
Idem
manuscrito
Duas
colcheias
no segundo
Idem
C.M.P.
1949
Idem
C.M.P.
1949
Idem
C.M.P.
1949
tempo
Ao consultar os manuscritos do compositor muitas dvidas sobre notao e ritmo se
esclarecem, pois prevalece a autoridade do compositor com relao a estes critrios. Muitas
indicaes de dinmica, articulao, andamento e carter que constam nas demais edies no
esto definidas neste autgrafo. A edio A.N. 1926 de Uma Camponeza Cantadeira
apresenta a verso mais completa que as demais. Como no poderia deixar de ser tambm
difere do manuscrito em alguns aspectos como indicaes de dinmica, andamento e carter,
notao e articulao. A edio C.M.P. 1949 a que mais se distancia do manuscrito. As
discrepncias referem-se a erros de notao de ritmo e de notas, como por exemplo, as notas
FA# e RE# na pea Idlio na Rede [9]. Esta verso ainda apresenta vrias indicaes de
andamento e carter, dinmica e articulao que no constam no manuscrito. As edies
A.N.1968 e C.M.P. 1973 so idnticas C.M.P. 1948-49. A edio Kawai de 1968 a mais
completa e mais prxima do manuscrito, denota-se nesta verso a juno entre o que h de
melhor em cada uma das fontes, salvo algumas excees quanto s indicaes de andamento e
carter, dinmica e acentos. Tambm se verifica nesta edio uma excelente sugesto de pedal
em todas as trs peas e ainda uma importante indicao de oitava acima na pea de nmero
trs [22] a [24] que em nenhuma outra est escrito. Poderia-se conjecturar que Villa-Lobos
tivesse tido a oportunidade de revisar esta edio.
Cada uma das edies revela qualidades e falhas, seria necessria uma verso
definitiva que considerasse estas discrepncias detectadas e as corrigisse. Sendo este trabalho
um estudo preliminar, sugere-se uma ampliao com respeito anlise de gravaes da obra,
e, porque no uma futura edio revisada a partir das observaes constatadas.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
APPLEBY, David P. Heitor Villa-Lobos: A Bio Bibliography. Westport, Connecticut:
Green Wood Press, 1988.
LIMA, Joo de Souza. Comentrios sobre a obra pianstica de Villa-Lobos.
Rio de Janeiro: MEC/Museu Villa-Lobos, 1969.
LOSS, Andr da Silveira. Variantes de Texto em Edies da Prole do Bebe
n 1 para piano de Heitor Villa-Lobos: Estudo preliminar para uma edio
Crtica. Porto Alegre, 1990. Tese de mestrado.
NEVES, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira. 1 edio. So Paulo: Editora
Ricordi, 1981.
PEPPERCORN, L. M.. Collected Studies by L. M. Peppercorn. Scolar Press, 1992.
SRIE ESTUDOS: N 5. Trs Estudos Analticos: Villa-Lobos, Mignone e Camargo
Guarnieri. 1 edio. Porto Alegre: Programa de Ps-Graduao em Msica, 2000.
TARASTI, Eero. Villa-Lobos Sinfnico dos Trpicos. Presena de Villa-
Lobos. Rio de Janeiro: MEC/Museu Villa-Lobos.
Grande do Sul.
WRIGHT, Simon. Villa-Lobos. New York: Oxford University Press, 1992.
VILLA-LOBOS, Heitor. Sute Floral op 97 para piano. Rio de Janeiro: Editora
Arthur Napoleo Ltda, 1968. Partitura.
_____. _____. A New Edition Revised end Edited by the Composer. New York.
N.Y.: Consolidated Music Publishers, 1949. Partitura.
_____. _____. Japo: Edition kawai, 1968. Partitura
_____. _____. New York, N.Y.: Consolidated Music Publishers, 1973. Partitura.
_____. Uma Camponesa Cantadeira (Sute Floral op. 97 para piano). Rio de
Janeiro: Editores Casa Arthur Napoleo S.A., 1926. Partitura.
VOLPI, Maria Alice. Indianismo and Landscape in the Brazilian age
of Progress: Art Music from Carlos Gomes to Villa-Lobos 1870s 1930s. Texas, 2001.
Dissertation (Doctor of Philosophy) The University of Texas at Austin.
Paisagem sonora: uma proposta de anlise
Rael Gimenes Toffolo
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
rael_gimenes@uol.com.br
Luis Felipe Oliveira
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
luisfol@bol.com.br
Edson Zampronha
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
edson@zampronha.com
Resumo: Este artigo discute o uso do som ambiental na composio musical, particularmente nas
msicas denominadas Paisagem Sonora. O uso de tal material sonoro nas composies criadas
com meios tecnolgicos aps a dcada de 1960 tem gerado grandes controvrsias no que se
refere sintaxe musical que tais sons podem gerar. O som ambiental tambm proporcionou
importantes discusses relativas s teorias de percepo sonora. Relativo a este ponto so
apresentados os processos de escuta baseados na abordagem ecolgica da percepo auditiva,
provenientes da teoria da percepo direta de J. J. Gibson. Essa teoria tomada como base para
uma nova proposta de abordagem do material sonoro ambiental e sua insero no processo
composicional. Pretendemos, dessa forma, levantar os problemas que geraram tais discusses,
assim como realizar uma pequena incurso na teoria de escuta ecolgica de Gibson. Conclumos
apresentando o uso de tais propostas como abordagem analtica para as Paisagens Sonoras.
Palavras-chave: paisagem sonora, escuta ecolgica, anlise musical.
Abstract: This paper discuss the use of environmental sounds in musical composition, specially
in the so-called Soundscape music. The use of such sounds in compositions created with
technological support after the 60s have started a controversial discussion on the musical
syntax that such sounds can generate. The environmental sounds also raised important debates
related to theories of auditory perception. Related to this point we present the processes of
listening based on the ecological approach to auditory perception, which comes from J. J. Gibsons
theory of direct perception. This theory is taken as base to a new approach to environmental sonic
materials and its insertion in the compositional processes. Our goal is to raise the issues that had
lead to all those problems, and to briefly expose the theory of direct perception of J.J. Gibson as
well. We conclude showing a possibility to use the notions of the ecological approach to perception
as alternative analytic tools for soundscape music.
Keywords: soundscape, ecologic perception, musical analysis.
1 Um breve histrico das paisagens sonoras
Em meados da dcada de 1960 teve incio no Canad, mais precisamente na Simon
Fraser University, um movimento que se propunha realizar uma anlise do ambiente acstico
como um todo. Tal projeto foi denominado Word Soundscape Project e foi encabeado pelo
compositor canadense R. Murray Schafer. A palavra Soundscape foi um neologismo
introduzido por Schafer que pretendia criar uma analogia com a palavra Landscape
(paisagem). A paisagem sonora, segundo Schafer, seria ento: o ambiente sonoro.
Tecnicamente, qualquer poro do ambiente sonoro vista como um campo de estudos.
(Schafer, 1997, p. 366). Inicialmente o Word Soundscape Project (WSP) tinha como
preocupao analisar o ambiente acstico a sua volta e realizar um mapa sonoro das regies
estudadas (geralmente o prprio Canad) criando um catalogo dos sons caractersticos de
cada regio. Decorrncia direta desse estudo foi a preocupao com as mudanas que
estavam acontecendo nos ambientes acsticos gerados pela industrializao das sociedades, e
a correspondente insero do som contnuo ou repetitivo (sons com caractersticas tipo-
morfolgicas estveis) na paisagem sonora desses ambientes, sons produzidos pelos
maquinrios da era industrial, e que no so encontrados na natureza. Vrios trabalhos
resultaram deste projeto. A primeira composio foi The Vancouver Soundscape, um
conjunto de gravaes dos ambientes sonoros de Vancouver. Neste momento as obras eram
compostas coletivamente. Depois de algum tempo os compositores que participaram do WSP,
entre eles Hildegard Westerkamp e Barry Truax, partiram para o estudo direto do uso do som
ambiental na composio musical. Barry Truax foi um dos primeiros a apontar problemas do
uso do som ambiental na composio, dentre os quais destacamos (Truax, 1996):
1) Os sistemas de abordagem psicoacstica da msica geralmente esto baseados em
modelos que se adaptam aos sons instrumentais e da fala. Conjuntamente a isso, os algoritmos
de anlise de espectro sonoro tambm privilegiam os sons instrumentais e da fala. Geralmente
os algoritmos de anlise espectral esto baseados na anlise de Fourier, e do conta somente
de tipo-morfologias que privilegiam relaes harmnicas lineares no se adaptando bem
complexidade, muitas vezes catica, dos sons ambientais.
2) As poticas musicais dos compositores contemporneos tambm no incluem de
forma fcil o som ambiental na composio musical. Mesmo dentro dos paradigmas da msica
acusmtica, a qual iniciou o uso do som ambiental, esse tipo de material geralmente sofre
transformaes que resultam em uma abstrao atravs da eliminao da referencialidade do
objeto sonoro. A forte referencialidade e a carga de significao que tais objetos carregam
sempre foi fortemente negada pelas correntes de composio que se utilizam de objetos
sonoros captados no ambiente.
3) A teoria musical ocidental tem, ao longo de seu desenvolvimento, privilegiado
relaes abstratas que tem por base sintaxes estruturadas em parmetros de alturas e
duraes. A maioria dos musiclogos tem afirmado que no possvel a emergncia de uma
sintaxe musical a partir de uma configurao baseada unicamente em timbres.
neste ponto que os estudos das teorias de escuta entram. Na tentativa de criar uma
potica musical que englobe os sons ambientais, incluindo suas referencialidades e a grande
carga semntica que tais sons carregam, compositores e pesquisadores como Damin Keller
(1999) e William Luke Windsor (1995) sugerem o uso da abordagem de escuta ecolgica
gibsoniana.
2 Abordagem gibsoniana da escuta
Na teoria da percepo direta Gibson prope alternativas ao entendimento tradicional
da percepo, considerando tanto o percebedor quanto o ambiente como um nico sistema
mutuamente informacional, da a denominao de abordagem ecolgica (Gibson, 1979).
justamente sobre este mutualismo que encontrada a informao
1
. Os sistemas perceptuais
realizam ativamente uma busca pela informao atravs da deteco de affordances e
invariantes, (categorias ecolgicas de alta-ordem). Estas duas noes so aspectos
complementares que podem ser entendidas, respectivamente, como informao-para um
organismo e informao-sobre um evento do ambiente.
2.1 Audio incorporada e situada
Na teoria Gibsoniana da percepo, devemos considerar o sistema perceptual como
parte de um corpo que est inserido num ambiente, e no como um rgo do sentido
independente da atividade do organismo que o possui, como uma caixa-preta que processa
informao que lhe chega passivamente. Neste sentido, o sistema perceptual possui uma
mobilidade sobre o ambiente, visando uma melhor sintonia entre o sistema perceptual e o
evento, melhorando a deteco de informao. Da mesma forma que a mobilidade daquele
que percebe altera a deteco de informao, o prprio ambiente tambm a altera. Cada
ambiente especifica a informao de acordo com suas propriedades estruturais, como, por
exemplo, as propriedades acsticas de um ambiente
2
. Todo objeto sonoro carrega informao
sobre a fonte que o produz e sobre o ambiente em que a fonte e o percebedor esto situados.
Para o entendimento completo da audio incorporada e situada vamos, agora,
brevemente descrever as noes de invariantes e affordances sonoros, e verificar como tais
noes podem ser aplicadas ao estudo das paisagens sonoras, no enfoques analtico.
2.2 Invariantes sonoras
A invariante a informao-sobre as propriedades estruturais tanto do ambiente
quanto do evento mecnico que produz um objeto sonoro, permitindo o reconhecimento da
fonte sonora e do ambiente (referencialidade). Invariantes so propriedades perceptuais
coerentes sobre o fluxo do tempo, permanecendo estveis enquanto outros aspectos do objeto
sonoro esto se modificando. As caractersticas do ambiente (medium) e do evento mecnico
so ambas especificadas sincronicamente no objeto sonoro atravs de dois tipos de invariantes:
estrutural e transformacional.
Invariante estrutural a propriedade que se mantm constante sobre o fluir temporal,
especificando tanto a fonte quanto o ambiente. No caso do timbre, Oliveira & Oliveira (2002)
apontam o padro espectral coerente do objeto sonoro como um exemplo de invariante
1
Information is the bridge between an animal and its environment and cannot be usefully described
without a specification of both (). Information is a dual concept whose components can be described as
information-about and information-for. (Michaels & Carello, 1981, pp. 38-39)
estrutural sonora, onde cada objeto sonoro possui um envelope espectral caracterstico. Outro
exemplo de invariante estrutural, com relao ao ambiente que serve de medium a um evento
sonoro a reverberao tpica de uma sala de concerto ou de uma catedral. Nesse caso a
invariante estrutural informa quele que percebe o ambiente em que se encontra (mesmo que
ele no se encontre em tal ambiente fisicamente, possvel a simulao de tais invariantes em
ambiente computacional).
Invariante transformacional aquela que representa um padro coerente de mudana,
um modo especfico de mudar sobre o domnio do tempo. No caso da audio, o exemplo
tpico deste tipo de invariante o ataque de um objeto sonoro. Durante o ataque de um objeto
sonoro no temos um padro espectral (invariante estrutural) mas um padro comportamental
de tal objeto especificado pelo tipo de distrbio mecnico que o produziu. Outro exemplo de
invariante transformacional o efeito Doppler (Michaels & Carello, 1981, p. 26), onde o
padro de variao no domnio da amplitude e da altura (pitch) especificam a direo e a
velocidade de uma fonte sonora em movimentao num determinado ambiente. Trata-se de
uma informao que especifica propriedades do ambiente e de objetos nele contido para um
percebedor.
2.3 Affordances sonoros
Affordances so aspectos da informao compatveis com um determinado
percebedor, de acordo com suas caractersticas e limites perceptuais e corporais. Esta noo
est relacionada diretamente com a relao percepo-ao, informando as possibilidades que
um objeto ou evento oferece num determinado contexto. Sendo especfica para cada espcie e
cada individuo, alguns objetos podem gerar affordances para um indivduo e no para outro,
com uma constituio corprea diferente. Por exemplo, uma garrafa gera um affordance de
agarrar para animais com mos grandes o suficiente para agarra-la, mas para uma criana
pequena o mesmo objeto no possibilita a mesma ao. Pelo affordance o animal detecta
2
acoustic array na terminologia de Oliveira & Oliveira, 2003
quais comportamentos podem ser adequados em cada ambiente. Michaels & Carello (1981,
p. 42) afirmam que a grande inovao desta noo que a percepo no atua sobre objetos
e eventos, mas sobre affordances, i.e., o significado perceptual de cada objeto ou evento.
No caso da percepo auditiva, eventos sonoros (ou objeto sonoros) geram
affordances para cada percebedor. Por exemplo, o som de um tiro pode gerar diferentes
affordances para um percebedor dependendo do ambiente onde ele esteja. Estando na linha
de largada de uma corrida de atletismo o som de um tiro vai gerar uma ao em particular, a
de correr. Por outro lado, estando numa escola o mesmo som pode gerar um comportamento
distinto, como o de buscar abrigo.
3 A abordagem ecolgica aplicada s paisagens sonoras
As noes ecolgicas anteriormente descritas so propriedades emergentes, j que
esto acima do nvel estritamente fsico de anlise
3
. Esto num nvel superior (ecolgico) que
resulta da interao entre percebedor e ambiente. Tais propriedades emergentes possuem
significados perceptuais que so independentes de aspectos culturais. Para aplica-los anlise
de obras musicas teremos que estabelecer uma relao entre propriedades ecolgicas e
culturais. Gibson (1966, 1979) chama de percepo de segunda-mo quelas que envolvem
significados culturais ou lingsticos. Podemos pensar na diferena entre os dois tipos de
percepo como possuindo semnticas diferentes, uma naturalizada e outra paradigmtica
(simblica). No estudo da composio e anlise de paisagens sonoras ambas devem ser
consideradas.
Pela abordagem ecolgica da percepo podemos responder aos trs problemas de
Truax apontados no incio do artigo. Quanto ao primeiro, a inadequao das ferramentas
matemticas, como FFT, anlise de sons ambientais, podemos postular que uma soluo
estabelecer a anlise sobre parmetros ecolgicos de tais sons, e no sobre parmetros fsicos.
Uma anlise ecolgica baseia-se em invariates e affordances de objetos sonoros,
estabelecendo seu significado perceptual sobre a relao entre este e o ambiente acstico. O
segundo problema a negao da forte referencialidade e da carga significao de objeto
sonoros pelas teorias composicionais buscando uma abstrao do objeto pode ser superado
por uma abordagem ecolgica, visto que as noes de invariante e affordance dizem respeito
justamente referncialidade e significao. J a terceira questo, a impossibilidade de uma
sintaxe musical sobre sons no formalizados tais como sons ambientais, parece tratar-se mais
de um problema mal formulado e menos de um problema no respondido. Nesse sentido,
como alternativa possvel buscar no uma sintaxe dos objetos sonoros, mas uma semntica
(tanto naturalizada quanto paradigmtica) de tais objetos para a construo de um discurso
musical em paisagens sonoras. No entanto, a dicotomia sintaxe-semntica no parece ser
inteiramente adequada ao estudo deste tipo de obra musical, o que leva a uma generalizao
que v essa linguagem musical no como conexes entre objetos sonoros (fsicos), mas como
o estabelecimento de relaes entre suas referencialidades e significaes possveis
(propriedades emergentes).
4 Concluindo em direo a uma proposta de anlise das Paisagens Sonoras
Aps realizarmos esse breve apanhado sobre a teoria da percepo direta de Gibson
podemos propor agora uma metodologia de anlise que possa cuidar de composies musicais
do tipo Paisagens Sonoras, ou composies com sons ambientais. A anlise se divide em dois
blocos:
1 Anlise pelo vis da referencialidade (deteco de invariantes por anlise tipo-
morfolgica)
1.1 Categorizao perceptual da fonte;
1.2 Categorizao perceptual do ambiente acstico;
3
A psicologia ecolgica no nega o nvel fsico, apenas defende a anlise de propriedades perceptuais
num nvel mais alto, dependente do nvel fsico.
2 Anlise pelo vis da significao (deteco de affordances e relaes simblicas)
2.1 Anlise de affordances;
2.2 - Anlise de significados simblicos.
O primeiro bloco seria dividido em dois sub-itens que seriam responsveis pelos dois
tipos de informao especificados pelo objeto sonoro: a fonte e o ambiente acstico. A anlise
que daria conta do conceito de invariantes seria realizada atravs de uma anlise tipo-
morfolgica segundo a teoria do solfejo dos objetos musicais proposto por Pierre Schaeffer no
seu Trait des Objets Musicaux (1966) (ver exemplos deste tipo de anlise em Toffolo &
Zampronha 2000 e 2002). As invariantes dos objetos sonoros analisadas pela sua tipo-
morfologia so categorizadas pela sua referencialidade atravs do quadro de classificao
proposto por Schafer (2001). As classificaes sugeridas por Schafer so divididas em seis
categorias (Sons Naturais, Sons Humanos, Sons de Sociedade, Sons Mecnicos, Quietude /
Silencio e Sons de Indicadores). Cada uma das categorias subdividida em vrios sub-itens e
pode ser ampliada dependendo do que se est analisando. Tal quadro analtico servir de
ponto de partida para uma anlise da referencialidade dos eventos sonoros.
O segundo bloco de anlises relaciona-se com o significado perceptual e cultural dos
objetos sonoros. Objetos sonoros induzem a comportamentos (percepo-ao) e tais
propriedades sero analisadas pela determinao dos affordances que cada objeto carrega.
Ao mesmo tempo, neste bloco de anlise esto includas as relaes simblicas construdas a
partir da escuta dos objetos naturais. Segundo Simon Emmerson (Emmerson, 1986), as
Paisagens Sonoras podem ser consideradas um tipo de composio de sintaxe abstrada e
discurso musical mimtico. Isso significa que no nvel do discurso musical as paisagens sonoras
so constitudas por objetos sonoros referenciais e significativos, podendo ser considerada um
tipo de composio em que tanto a sintaxe quanto semntica emergem dos eventos sonoros
percebidos.
Essa proposta de anlise decorrente fundamentalmente da grande modificao que se
pode observar em diferentes propostas da msica atual. Esse o caso das Paisagens Sonoras,
cujas obras chegam mesmo a questionar conceitos de objeto artstico e obra musical. Mtodos
tradicionais de anlise no do uma perspectiva dessas obras no mesmo nvel em que elas re-
propem e re-inventam o fazer musical. O presente mtodo se configura, assim, como um
passo em direo explicao de como a significao das paisagens sonoras constituda na
relao entre elas e uma escuta contempornea.
Referncias.
EMMERSON, Simon. The Relation of Language to Materials. In: EMMERSON, Simon (Ed.)
The Language of Electroacoustic Music. New York: Harwood academic publishers, 1986.
p. 17-39.
GIBSON, J. J. The Senses Considered as Perceptual Systems. Hillsdate: Houghton Mifflin
Company, 1966.
GIBSON, J. J. Ecological Approach to Visual Perception. Hillsdate: Lawrence Erlbaum
Associates Publishers, 1979/1986.
KELLER, D. Touchn go: Ecological models in composition. [online]. Disponvel em:
http://www.sfu.ca/sonic-studio/EcoModelsComposition.html, 1999.
MICHAELS, C. F. & CARELLO, C. Direct Perception. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
Inc, 1981
OLIVEIRA, A. L. G. & OLIVEIRA, L. F. Por uma abordagem ecolgica do timbre. In:
SEGUNDO ENCONTRO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA PARA LA CIENCIA
COGNITIVA DE LA MSICA Anais (Cd-rom). Buenos Aires: SACCoM, 2002
OLIVEIRA, A. L. G. & OLIVEIRA, L. F. The ecological approach to auditory perception
reviwed and extended a compositional perspective. [no prelo], 2003
SHAFER, R. Murray. A afinao do Mundo. So Paulo: Editora UNESP, 2001.
SCHAEFFER, Pierre. Trait des objets musicaux [Nouvelle dition]. Paris: ditions du
Seuil, 1966.
TOFFOLO, Rael B. G. & ZAMPRONHA, Edson S. A composio e a escuta no Trait des
objets musicaux de Pierre Schaeffer. Revista de Iniciao cientfica (Fundao Editora da
UNESP). So Paulo. V. II. p. 561-569, 2000
___________________ A utilizao da linguagem musical tradicional no tude aux objets
de Pierre Schaeffer. FORUM DO CENTRO DE LINGUAGEM MUSICAL ECA-USP. 5.,
2002, So Paulo, Anais, 2002, p. 148-154
TRUAX, Barry. Soundscape, Acoustic Communication and Environmental Sound
Composition. Contemporary Music Review. V. 15(1). p. 49-65, 1996.
WINDSOR, W. L. A perceptual approach to description and analysis of acusmatic
music. Sheffield, 228 f. Tese (Doutorado em Filosofia) - Universidade de Sheffield. [online].
Disponvel em: http://www.shef.ac.uk/uni/academic/I-M/mus/staff/wlw/lwhomepage.html, 1995
A Sonatina para Piano de Carlos Chavez:
uma abordagem analtico-musicolgica
Rafael Liebich
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
rafaliebich@pop.com.br
Cristina Capparelli Gerling
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
cgerling@vortex.ufrgs.br
Resumo: Neste texto analisa-se a Sonatina (1924) do compositor mexicano Carlos Chavez com
o objetivo de identificar os principais aspectos relacionados com o ambiente historiogrfico no
qual a obra se insere e que lhe imprimem um estlo caracterstico. A descrio dos gestos e do
carter contrastante das suas sees apoia-se nos pressupostos de Kofi Agawu, Playing with
Signs (1991), e Marcelo Macedo Cazarr, A trajetria das danas de negros na literatura
pianstica brasileira: um estudo histrico-analtico (1998). Este referencial contribui na
identificao de elementos apropriados msica folclrica e urbana do Mxico. O tratamento
erudito que Chavez confere escrita pianstica e composicional resulta em uma obra de estilo
refinado e modernista descrito mais amplamente no corpo do trabalho.
Palavras-chave: musicologia, sonatina, repertrio pianstico latino-americano, Carlos Chavez.
Abstract: This text presents an analyses of Carlos Chavezs Sonatina, written for piano in 1924
and aims at identifying some of the aspects related to its historiographical environment. Studies
related to the description of musical character and gestures such as Kofi Agawus Playing with
Signs (1991), and Marcelo Macedo Cazarrs A trajetria das danas de negros na literatura
pianstica brasileira: um estudo histrico-analtico (1998) [The trajectory of the African dances
in the Brazilian piano literature: a historic-analytical study] point to rethorical aspects here
invoked. This procedure contributes to the identification of ethnomusicological elements which
are appropriated from Mexian popular music and culture. The fusion of these elements
characterizes Chavezs modernist and refined writing style.
Keywords: musicology, sonatina, Latin American piano repertoire, Carlos Chavez.
APRESENTANDO CARLOS CHAVEZ
Nascido em 13 de junho de 1899, na Cidade do Mxico, o compositor Carlos Chavez, era filho
de pai branco e me ndia. Teve suas primeiras noes de msica no ambiente familiar. Ainda muito
jovem, tomou aulas de piano e composio com Manuel Ponce, um dos expoentes da msica mexicana.
Nas bases da sua formao musical h uma grande parcela de conhecimento proveniente de atividade
autodidata, constituda de anlises sobre obras de Bach, Beethoven e Debussy.
Ainda que Chavez tenha tido estreito contato com a msica e a cultura dos ndios mexicanos e
que durante sua infncia participado junto com sua me de visitas freqentes regio de Tlaxcala e outras
provncias indgenas tais como Puebla, Jalisco, Nayarit, Michoacn, Guanajuato, e Oaxaca, foi o
compositor francs Paul Dukas que, em 1922, aconselhou-o a seguir o exemplo do espanhol Manuel de
Falla e a incorporar definitivamente a riqueza da msica popular e folclrica do Mxico na sua prpria
produo. A absoro deste aconselhamento reflete-se de maneira decisiva no carter de sua msica
que constituda de obras orquestrais, camersticas, vocais e ballets, obras que caracterizam-se pelo uso
2
constante de ritmos, temas derivados de melodias modais e instrumentos musicais peculiares, todos
caractersticos da cultura musical indgena e popular mexicanas.
1
Em retrospecto, considera-se Chavez como um dos participantes na consolidao de uma Msica
Nacionalista Mexicana, mesmo que nem todas as suas obras sejam necessariamente homogneas no que
tange ao seu estilo, mas por conterem estes elementos caractersticos apropriados do seu meio cultural.
No entanto, nos anos 20 o compositor encontrou grande resistncia por parte dos seus conterrneos que
esperavam ouvir uma msica europeizada e de orientao tonal. Gradativamente, e atravs de contatos
com figuras importantes do governo mexicano, sua presena incorporou-se ao meio poltico-cultural do
pas. Conseguia, no entanto mais facilmente, que suas obras fossem executadas em Nova York ou
Londres do que na cidade do Mxico. A partir de 1928 ocupou cargos tais como o de regente da
Orquestra Sinfnica do Mxico, diretor do Conservatrio Nacional, tendo ocupado tambm outros cargos
de carter pblico e diplomtico. Como colaborador do jornal dirio da Cidade do Mxico El Universal, e
como criador do jornal cultural Gladios, pde tambm utilizar destes veculos para expressar seus ideais
culturais e artsticos.
Na msica de Chavez, um fator marcante e que sempre esteve presente nas suas obras refere-se
ao tratamento dado forma. Sobre este aspecto, Chavez freqentemente concebia suas obras com ttulos
acadmicos e em estruturas simtricas. Como em algumas das obras compostas entre 1923 e 1934,
remete-se abstraes geomtricas em seus ttulos aexemplo de: Polgonos (1923), para piano;
Hexgonos (1924), para voz e piano; 36 (1925), para piano; Espiral (1934), para piano e violino;
e Pirmides, um manuscrito orquestral inacabado e no datado
2
. Desta poca sobressai-se o ballet
Energia (1925), descrito por Cowell como estruturado em uma politonalidade contrapontstica
(Parker, 1998, p. 105). Este gosto por estruturas bem delineadas caracterstico do estilo neoclssico ento
vigente expressa uma familiaridade relacionada com o lado Europeu de sua origem o lado paterno. Esta
tendncia expande-se aps Chavez ter estado por quase um ano na Europa (entre 1922 e 1923), residindo
em Berlim e visitando Paris e Viena.
DESCREVENDO OS ASPECTOS MUSICAIS DA SONATINA DE CHAVEZ:
Composta aps duas Sonatas para o instrumento, a Sonatina (1924) para piano foi executada por
Aaron Copland em Londres em 1931 e novamente em Viena em 1932 em festivais de msica
contempornea, sendo portanto considerada uma obra representativa de Chavez. Na primeira ocasio, a
pea suscitou elogios por sua intimidade com o idioma tonalmente avanado e comentrios referentes
relutncia da audincia em aceit-la.
3
Notabilizando-se por seu estilo esquemtico e formal, o sabor
mexicano percebido no uso de escalas modais extradas das melodias nativas e conseqentemente,
na formao de dissonncias speras. Chavez concentra uma carga emocional significativa em um motivo
repetitivo e marcante. A recorrncia persistente destas figuraes rtmicas e meldicas sugere uma
elaborao e um re-pensar constante do material musical, at que permanea somente a sua essncia.
1
MALMSTRM, 1993, p.64.
2
SLONIMSKY, 1945, p.231.
3
1. FORMA:
Mesmo tendo intitulado-a Sonatina, Chavez d a esta obra um tratamento no-tradicional da
forma ainda que a mesma conserve uma estrutura organizada e esquemtica. Ao invs de propr o
antagonismo de idias musicais de carter contrastante, conforme sugere a dinmica tradicional de
argumento e contra-argumento prpria da forma sonata, esta Sonatina trabalha extensivamente com a
oposio de materiais musicais elaborados em sees bem definidas.
Nota-se esta coeso formal atravs da demarcao e enunciado claros de cada uma das sees.
Dinmica, textura, articulao, e andamento so indicativos claros destas delimitaes e que so
confirmadas pelas barras duplas compassos 30, 40, 62, 71, e a barra dupla final, em 96. O fraseado
tambm bem enunciado, e tal como um discurso verbal, conduz ao entendimento dos pontos de partida,
inflexo e chegada num claro enunciado.
Na interpretao sugerida, cada seo mostra-se com um determinado carter que no seu todo
aponta para um ambiente cerimonial, quase litrgico. Observando os diversos fatores que contribuem para
a orientao orgnica desta retrica, e seguindo estudos similares (AGAWU, 1991 e CAZARR, 1998),
sugere-se a seguinte interpretao dos gestos musicais pertinentes a cada seo ou parte deste
cerimonial:
I) [01 30]: CHAMADA PROCESSIONAL
II) [31 40]: PREPARAO
III) [41 62]: INVOCAO
IV) [63 71]: INTERMEZZO TRANSE
V) [72 96]: DESPEDIDA RECESSIONAL
I) A primeira seo [01 30] caracteriza-se pela apresentao de movimentos amplamente
meldicos, acompanhados de um pulso rtmico claro e firme, baseado na figura da
subdiviso do ritmo (colcheias), atribuindo a esta seo um carter solene como em uma
marcha lenta. A melodia desenvolve um arco de tenso dinmica crescente (f fff),
quando, ao atingir o seu ponto culminante de dinmica, encerra a seo. Os gestos
piansticos expressivos, caracterizados pela amplido no uso dos registros, atribuem um
carter grandiloqente a esta seo justificando-se assim a escolha do termo
PROCESSIONAL.
II) Na segunda seo [31 40] ocorre uma mudana de textura (densidade meldica) e de
articulao, fazendo uma analogia a escrita passa do pesado para o leve e observa-se a
presena de apenas duas linhas meldicas uma para a mo direita, e outra para a mo
esquerda no registro mdio agudo do instrumento. Esta modificao reflete-se nos detalhes
de articulao e no grau de transparncia da passagem. Isso implica na economia de uso do
pedal recurso bastante utilizado na primeira seo. Cada voz dotada de articulaes
3
Henri Boys. Forecast and Review: American in London. Modern Music, 9-2 Jan. Feb., (1932):92-93.
4
diferentes; um toque leve faz-se necessrio. Por sua vez as inflexes de dinmica
prescindem do arco dinmico integrante da seo anterior. O trajeto desta sesso no
descrito por inflexes dinmicas e, tambm no delimitando pelo sentido de partida e
chegada, mas sim a presena de um gesto musical idntico tanto no incio quanto no fim
desta seo. A ausncia de grande atividade rtmica e dinmica sugere um carter
suspensivo e que sugere uma seo de PREPARAO.
III) Apresentando uma mudana brusca de andamento subitamente mais rpido, dinmica
mais forte, e textura mais densa, inicia-se a terceira seo [41 62] no qual recede o clima
de suspense e preparao. A sobreposio de diversas linhas meldicas, um andamento
quase constante (como um ostinato, ou moto perptuo) e movimentos meldicos repetitivos
nos remetem a uma espcie de ladainha, caracterstica das invocaes de cerimoniais.
Sem pausa, bruscamente, esta INVOCAO leva-nos ao TRANSE.
IV) Esta penltima parte [63 71] caracterizada por um aumento maior de andamento e de
intensidade, no havendo um aumento significativo da densidade. O uso deliberado de
dissonncias speras, saltos, combinado com a mudana brusca de andamento e o uso de
ritmos pontuados, atribui a esta seo o carter de TRANSE o ponto culminante da obra,
da cerimnia.
V) Esta ltima seo [72 96] apresenta um alto grau de semelhana com a seo inicial
podendo ser descrita como uma repetio quase literal. As pequenas divergncias que
ocorrem so: 1) no comeo desta seo o patamar de dinmica inferior ao do incio da obra
e, 2) cria-se um clima etreo aps o transe da seo anterior, um eco da primeira
seo. Uma ampla preparao, caracterizada pela tenso crescente descrita num arco
dinmico (p fff), e tambm um allargando anuncia que a obra a cerimnia chegou
ao fim. Por este motivo, sugere-se que esta ltima seo seja intitulada RECESSIONAL
pois encerra-se com a mesma solenidade inicial.
2. RITMO:
A elaborao rtmica, que tambm contribui na distino de sees formais, percebida no
deslocamento de acentos, hemolas (seo I e V, principalmente), polirritmias e justaposio de
figuraes rtmicas contrastantes e frases com tamanho irregular. Nota-se a influncia das danas
populares e indgenas mexicanas, em particular a apropriao dos padres rtmicos do Huapango
4
. Linhas
meldicas irregulares, com extenso no mltipla da mtrica da frmula de compasso, acabam
atravessando a mtrica, e deslocando o acento mtrico esperado. Nas sees I, II e V, notvel a
presena de figuraes rtmicas que resultam em poliritmia. Especialmente na seo III, ocorre a
sobreposio de motivos meldicos em seu estado original, com a respectiva elaborao (ampliaes ou
redues) de suas qualidades intervalares.
3. TRATAMENTO MOTVICO:
4
SLONIMSKY, 1945, p. 217, 218.
5
Um dos aspectos marcantes desta obra refere-se textura contrapontstica assentada sobre a
recorrncia do motivo rtmico/meldico:
(compasso [01]).
Em cada seo este motivo elaborado de uma determinada maneira: transposies ([22],
alterado cromaticamente), ampliaes ([31 32], no baixo), inverses ([57], na 3
a
linha, alterado
ritmicamente), e em cnone, ou entrada defasada ([46 50], ampliado ritmicamente, entre a 2
a
e 4
a
linhas), por exemplo. As elaboraes apresentam-se tanto na sua forma rtmica (ampliaes ou redues)
quanto na sua feio meldica (inverses ou transposies). H momentos que estas elaboraes podem
apresentar-se simultaneamente sobre o motivo, ou seja, estando ampliado e invertido ([19 20], no
soprano), por exemplo. Esta ocorrncia paradigmtica do trabalho contrapontstico empregado na
Sonatina.
Considerando-se o dilema formal apresentado, a oposio de diferentes idias musicais dotadas
de carter distinto substituda por diversas elaboraes de material musical recorrente, a saber: nas
sees I e V est presente o motivo caracterstico que formado pelo intervalo de 4
a
aumentada preenchido
por graus conjuntos. A elaborao deste motivo, tanto nas ampliaes quanto nas redues, constitui a
base do acompanhamento da melodia, gerando uma recorrncia de intervalos de 5as e 6as. Desta forma
uma srie de sobreposies dos intervalos derivados desta elaborao resultam na ocorrncia de encontros
intervalares secundrios, de 2as, 9as e 7as.
Nas outras sees, este motivo, ampliado somente na sua feio rtmica, passa a ser uma espcie
de cantus firmus sobre o qual desenvolve-se um extenso trabalho contrapontstico baseado na
elaborao destes intervalos secundrios. Pequenas e ocasionais alteraes cromticas modificam as suas
qualidades intrnsecas. Na seo III ([41 62]), ocorre uma intensa elaborao do mbito intervalar do
motivo principal na melodia (m.d., 5
a
diminuta, inverso da 4
a
aumentada), atravs de graus conjuntos e
que insiste na manuteno deste mbito. Apenas no segundo tempo do compasso 58 este mbito de 5
a
diminuta expandido em um tom para cima, por grau conjunto, compondo um intervalo de 6
a
menor,
conferindo assim um contorno expressivo melodia neste compasso.
O carter contrastante das sees assume o papel tradicionalmente reservado oposio entre
grupos temticos e a solidez estrutural d-se atravs desta exposio antagnica de um intenso trabalho de
elaborao motvica. A consistncia deste trabalho caracteriza esta Sonatina com uma unidade estilstica
e confere a coeso formal. O tecido contrapontstico resultante do trabalho de elaborao sobre a
qualidade dos intervalos recorrentes na obra, tambm contribui na caracterizao do ambiente harmnico
desta.
4. AMBIENTE HARMNICO:
6
As melodias so baseadas em formaes escalares polimodais, acrescidas de inflexes
cromticas, numa evocao de sonoridades associadas msica dos povos mexicanos. O contraponto
elaborado entre estas melodias, caracteriza de uma maneira especial o ambiente harmnico criado para
ampliar sensivelmente as fronteiras do sistema tonal.
Conforme explicado anteriormente, o contraponto meldico desenvolvido na obra, impregna a
obra de sonoridades de forte identidade e as tcnicas de sobreposio dos intervalos derivados da
elaborao motvica ensejam uma srie de dissonncias de carter muito assertivo.
A seguir as principais sonoridades harmnicas recorrentes na obra:
(c. [01]); (c. [05]); (c. [13]); (c. [16]).
Este tratamento harmnico caracteriza a atmosfera modernista da produo de Chavez que
assimilou e combinou elementos musicais modernos e antigos do seu pas, com dissonncias speras,
intenso cromatismo, melodias angulares, tonalidade deceptiva e polirritmia enquanto manteve um apego
por esquemas tradicionais e uma base tonal de longo alcance. Nesta sonatina duas ou trs melodias
independentes so superpostas e formam uma sequncia aparentemente randmica de harmonias. O
contraste formado pela justaposio entre um pano de fundo estvel e tonalmente orientado contra um
plano imediato no qual a ao se desenrola atravs de intervalos dissonantes. Outro elemento decisivo
relaciona a recorrncia de clulas muito marcantes e seu revestimento modal ou mesmo pentatonal. O alto
grau de identidade e o carter erudito da sua produo so fatores decisivos na sua insero no mesmo
crculo onde se encontram compositores como Bartk, Villa-Lobos e Ginastera.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS:
AGAWU, Kofi. Playing with Signs A Semiotic Interpretation of Music. Princeton: Princeton University
Press, 1991.
BHAGUE, Grard. Latin America. In: MYERS, Helen. Ethnomusicology Historical and Regional
Studies. New York: The Macmillan Press, 1993. p. 472 476.
_______________. La Musica en America Latina. Caracas: Monte Avila Editores, 1983.
BOYS, Henri. Forecast and Review: American in London. Modern Music, 9 2 (Jan.-Feb. 1932): 92-
1.
7
CAZARR, Marcelo Macedo. A trajetria das danas de negros na literatura pianstica brasileira: um
estudo histrico-analtico. Dissertao (Mestrado em Msica). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 1998.
GODOY, Susan. Mexican Music from 1920 1953. Tese de doutorado em Msica. Cambrige: Radcliffe
College, 1960.
MALMSTRM, Dan. Introduccin a la Msica Mexicana del siglo XX. San Lorenzo: BREVARIOS, del
Fondo de Cultura Econmica, 1993.
PARKER, Robert. Carlos Chavez. In: SADIE, Stanley (Ed). The new Grove dictionary of music and
musicians. London: Macmillan Publishers Limited, 2001, v. 5, p. 544 548.
_____. Carlos Chavez. A Guide to Research. New York: Garland, 1998.
SLONIMSKY, Nicolas. Music in the Twenty Republics Mexico. In: Music of Latin America. New York:
Thomas Y. Crowell Company, 1945. p. 214 254.
STEFAN, Paul. Forecast and Review: Vienna Resists the Depression. Modern Music, 9 3 (March-
April, 1932): 129 130.
As vivncias musicais formais, no-formais e informais dos adolescentes
Trs estudos de caso
Regiana Blank Wille
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
regicris@terra.com.br
Resumo: Este trabalho consiste em uma sntese da dissertao: As vivncias musicais formais,
no-formais e informais dos adolescentes
1
. A presente pesquisa teve como objetivo: Investigar
como os processos de ensino e aprendizagem musical formal se manifestam nas experincias e
vivncias no-formais e informais dos adolescentes fora da escola. Utilizei como referencial terico
a perspectiva de LIBNEO (2000). Foram realizados trs estudos de caso com adolescentes
expostos ao ensino formal de msica, e que possuam experincias musicais em bandas. Os
resultados desta pesquisa demonstram como a msica faz parte da vida cotidiana dos adolescentes e
o interesse deles em obter conhecimentos especficos, bem como superar dvidas e
questionamentos. Destacaram tambm o quanto precisamos, como educadores musicais, rever
alguns conceitos relativos ao ensino e aprendizagem de msica dentro da escola e,
conseqentemente, nossas prticas educativas.
Palavras-chave: educao musical formal, no-formal, informal.
Abstract: This paper consists of a synthesis of the dissertation: " The existences formal, non-formal
and you informal of the teenage". The present research aimed at investigating how the formal
teaching-learning music processes are expressed in non-formal and informal teenage experiences
outside the school. I used as theoretical framework the perspective of LIBNEO (2000). Three case
studies with adolescents exposed to the formal study of music, who were also band-players. The
results of this research demonstrate as the music makes part of the teenage daily life and their
interest in obtaining specific knowledge, as well as to overcome doubts and questions. They also
detached all we needed, as musical educators, to review some relative concepts inside to the
teaching and the music learning of the school and, consequently, our educational practices.
Keywords: formal music education, non-formal, informal.
Introduo
A educao musical brasileira tem enfrentado vrios desafios, sendo um deles o de
lidar com a diversidade de vivncias musicais no escolares. So persistentes os problemas
que dizem respeito falta de relacionamento e at mesmo de conhecimento sobre os
processos que ocorrem em diferentes contextos socioculturais. H, de um lado, uma
diversidade de vivncias musicais no escolares propiciadas pela sociedade atual e, de
outro lado, prticas arraigadas de ensino e aprendizagem escolar de msica. Mas alguns
1
Esta dissertao foi defendida em abril de 2003, no Programa de Ps-Graduao em Msica da UFRGS -
Mestrado e Doutorado, sob a orientao da Prof Dr
a
Liane Hentschke.
processos de articulao entre as estruturas formais e informais j esto sendo realizados
atravs do desenvolvimento de pesquisas, grupos de pessoas e organizaes no
governamentais. Nesse processo de transio e articulao, a educao musical poder ser
ampliada, desenvolvendo aes e estruturas pedaggicas mais condizentes com a realidade
brasileira (ARROYO, 2000; OLIVEIRA, 2000).
O projeto de pesquisa de Hentschke, Souza, Bozzetto e Cunha (2000), que abordou
as articulaes de processos pedaggicos musicais em ambientes no escolares atravs de
um estudo multicasos na cidade Porto Alegre, motivou meu interesse em conhecer outras
realidades e as prticas musicais no escolares dos adolescentes. Como trabalho na cidade
de Pelotas, optei em realizar um levantamento em algumas escolas desta cidade. Houve
ento a oportunidade de conhecer uma escola da rede pblica que oferecia msica no
currculo do primeiro ano do ensino mdio. Os alunos que cursavam o primeiro ano do
ensino mdio possuam atividades musicais fora da escola, em bandas de diferentes gneros
musicais.
Objetivos:
O objetivo geral desta pesquisa foi:
Investigar como os processos de ensino e aprendizagem musical formal se
manifestam nas experincias e vivncias no-formais e informais dos adolescentes fora da
escola.
Os objetivos especficos foram:
Identificar as atividades que constituem as prticas musicais de adolescentes do
ensino mdio realizadas fora da escola.
Investigar quais os conhecimentos musicais
2
obtidos em sala de aula so utilizados
durante os fazeres musicais realizados fora da escola.
Indicar de que forma e quais so as experincias musicais dos adolescentes obtidas
em sala de aula que so aproveitadas fora da escola.
Perspectivas Tericas
2
Neste trabalho os conhecimentos musicais sero abordado conforme SWANWICK (1994)
enquanto experincia, vivncia prtica da msica atravs da composio, execuo e apreciao.
Atravs do conhecimento de trabalhos
3
que j contemplam essas vivncias
realizadas em outros ambientes no institucionais, pude definir melhor o objeto desta
pesquisa, bem como a necessidade de procurar referenciais e aportes tericos que melhor
definissem e conceituassem as diferentes formas de ensino e aprendizagem que ocorrem em
espaos escolares e no escolares. Ao revisar a literatura de educao musical brasileira foi
possvel encontrar vrias discusses em torno da temtica que envolve os mltiplos espaos
e contextos de ensino e aprendizagem musical. O objetivo desta pesquisa revelou a
necessidade de repensar a educao [musical], bem como as condies e os locais onde se
manifestam os processos educativos musicais. Assim considero a educao como um
fenmeno que no acontece isolado da sociedade e da poltica, e que a escola convencional
no nica forma de manifestao do processo educativo (LIBNEO, 2000).
A partir de uma reviso bibliogrfica pude conhecer as perspectivas de alguns
autores da educao, visualizando alguns significados ou extenses que estes autores
manifestam sobre a prtica educativa. Para tanto, nesta pesquisa adotei os termos utilizados
por Libneo (2000), que considera a educao em duas modalidades: a educao
intencional e a educao no-intencional. Sendo que a educao intencional desdobra-se em
formal e no-formal; e a educao no-intencional em informal ou, ainda, educao
paralela. Ao investigar as experincias e vivncias de adolescentes dentro e fora da escola,
considerei a escola como ensino formal e a banda qual pertenciam os adolescentes como
ensino no-formal.
Metodologia
Para a realizao deste trabalho foi definida como metodologia mais apropriada o
estudo de caso ou multicasos.
Slide 6: Metodologia
A escolha desse tipo de metodologia, denominada por Stake (1994, p. 253)
naturalista, deve-se ao fato de permitir um estudo aprofundado de um caso, sendo que
esta no uma escolha metodolgica, mas uma escolha do objeto a ser estudado
(STAKE, 1994, p. 236).
3
Ver por exemplo: CAMPBELL, 1995; CORRA, 2000; GOMES, 1998; GREEN, 2001; HENTSCHKE;
SOUZA; BOZZETTO; CUNHA, 2000; MLLER, 2000; PRASS, 1998; RABAIOLI, 2001.
Ao investigar como os processos de ensino e aprendizagem musicais formais dos
adolescentes se manifestam fora da escola, os adolescentes foram o objeto de estudo. Dessa
forma, escolheu-se como unidade de caso os adolescentes que possuam atividades
musicais fora do ambiente escolar e que estiveram, no momento da pesquisa, expostos
educao musical dentro da escola. Como a pesquisa foi realizada com trs adolescentes,
pertencentes a trs grupos musicais diferentes, sendo portanto trs casos, esta investigao
caracterizou-se como estudos multicasos.
Com o objetivo de colher as informaes sobre vrios aspectos que envolviam as
vivncias musicais dos adolescentes, foram realizadas observaes no-participantes e
entrevistas semi-estruturadas. As observaes no-participantes dos adolescentes foram
realizadas durante os ensaios das bandas, as quais eles integravam, e tambm das aulas de
msica a que estiveram expostos.
Os trs casos
Ao apresentar individualmente os trs casos estudados, houve a inteno de revelar
como os processos de ensino e aprendizagem formal se manifestam nas experincias e
vivncias musicais formais e informais dos adolescentes fora da escola.
A prtica musical de Amanda: estudo de caso n
o
1
A possibilidade de ter aula de msica no ensino mdio foi para Amanda
fundamental ao escolher a escola em que iria estudar. Como teve uma experincia com
aulas de msica no ensino fundamental, estudar em uma escola de ensino mdio, que
proporcionasse em seu currculo ensino de msica, seria um complemento. Mesmo com a
aula de msica no tendo influncia sobre a sua participao na banda, Amanda revelou em
sua fala que havia interesse em aprender atravs das aulas de msica, mesmo sendo aulas
mais tericas do que prticas.
O aprendizado de Amanda vem ocorrendo aos poucos e revela uma necessidade de
superar o que Souza (2001a, p. 42) chama de um dualismo da experincia
cotidiana/escolar, ou seja, tornar sua experincia musical formal em algo que possa
articular-se com as suas experincias no-formais e informais. Atravs dos relatos de
Amanda destaca-se o distanciamento entre o ensino e a aprendizagem formal, no-formal e
informal, bem como a necessidade de articulaes entre essas dimenses, to presentes na
vida dos adolescentes.
A prtica musical de Rafael: estudo de caso n
o
2
A trajetria formal de Rafael com a msica comeou no ensino mdio. Nas escolas
em que estudou anteriormente no teve nenhum contato com aulas de msica. Seu ingresso
na escola no foi porque o currculo oferecia aulas de msica; segundo Rafael, a escola
possua uma tradio em relao qualidade de ensino em geral, o que para ele foi
essencial para o ingresso.
As prticas formais de Rafael pouco acrescentaram ao seu fazer musical no-formal,
na banda; os contedos e o repertrio utilizados foram considerados insuficientes para
suprir suas necessidades. Mas as aulas de msica, mesmo no tendo contribudo de forma
efetiva para seu fazer musical especfico, acabaram por contribuir para que Rafael tivesse
uma viso mais crtica em relao msica em geral. Isso porque, mesmo de uma forma
inconsciente, ele passou a perceber que no existe um nico gnero ou estilo musical, e que
para poder criticar um ou outro, gostar ou no, seria necessrio conhecer, entender a
origem, a poca, o sentido especfico da cada msica ou composio.
A prtica musical de Rodrigo: estudo de caso n 3
A experincia musical formal de Rodrigo iniciou ainda no ensino fundamental, ao
estudar em uma escola religiosa onde havia aulas de msica e, principalmente,
apresentaes por parte dos alunos. Seu ingresso no ensino mdio no teve uma relao
direta com fato da escola oferecer em seu currculo aulas de msica. O objetivo principal
foi a possibilidade de obter uma profisso, uma forma de conseguir um emprego fixo, pois
o fazer musical para Rodrigo surgiu como um divertimento, uma brincadeira entre amigos.
Para Rodrigo o ensino de msica no precisaria ser obrigatrio, pois segundo ele
nem todas as pessoas tm interesse, por no possurem um dom ou talento. Mesmo
enfatizando a importncia da msica em suas prprias experincias, reitera que na escola
seu ensino deveria ser facultativo, onde aqueles que possuem talento apenas sero
descobertos, e os que no possuem podero desfrutar de momentos de descanso e lazer.
Transversalizao dos dados
Ao realizar uma anlise transversal procurei compreender os casos como um
conjunto, estabelecendo caractersticas peculiares aos trs casos, bem como diversas. Na
anlise transversal dos dados procurei estabelecer, tambm, um dilogo entre a literatura da
educao e educao musical. Foram novamente retomadas as perspectivas tericas que
serviram como referencial deste trabalho, a saber, as dimenses formal, no-formal e
informal da educao.
A forma como cada um dos trs casos concebe o ensino de msica demonstrada
em seus relatos e reflexes sobre as aulas de msica, os contedos abordados e o repertrio
utilizado, revelando suas concepes acerca do significado da aula de msica. Essas
concepes podem ser analisadas tendo como base duas categorias: primeiro, a msica
como disciplina autnoma, uma das atividades da vida humana, dimenso fundamental da
cultura; e, segundo, a msica como lazer, divertimento e prazer, tornando a cansativa vida
escolar algo mais interessante e alegre (ver SOUZA et al., 2002, p. 70).
Entende-se neste trabalho, tomando como base o referencial explicitado
anteriormente, a educao no-formal como uma das dimenses da educao de carter
intencional, mas com baixo grau de estruturao e sistematizao, possuidora de relaes
pedaggicas no formalizadas (LIBNEO, 2000, p. 81).
Ao utilizarem a banda como um local de ensino e aprendizagem de msica, numa
organizao no-formal, esses adolescentes demonstram que no querem brincar de fazer
coisas, de somente experimentarem sons, eles demonstram a necessidade de construir e se
constituir como sujeitos histricos (GARCIA, 2001). Esses adolescentes que possuem
atividades musicais fora da escola, que possuem um fazer musical, no se satisfazem mais
com os modelos escolares at agora difundidos.
Concluso
Vrias so as discusses sobre estes mltiplos espaos em que ocorre a educao
[musical], mas em nenhuma delas h uma definio precisa acerca dos termos a serem
utilizados ou considerados mais adequados ao nos referirmos a essas diferentes
modalidades. Assim, houve o interesse em aprofundar, compreender e reconhecer aspectos
relevantes desses espaos no-institucionais, utilizando-o como fio condutor do trabalho.
Esses aspectos se referem: 1) organizao desses espaos, 2) interao existente entre o
ensino e a aprendizagem, 3) conexo entre os contedos necessrios a essas prticas e
aqueles da educao formal, 4) aos processos de aprendizagem musical utilizados;
evidenciando as dimenses institucionais e no institucionais presentes na vida desses
adolescentes.
Os adolescentes puderam revelar, atravs de seus relatos, a necessidade de que o
ensino formal proporcionasse no somente a transmisso de conhecimentos hierarquizados,
muitas vezes abstratos, tericos e no prticos. Que este pudesse contribuir e incentivar
capacidades para atuar e pensar de forma criativa, inovadora, com liberdade (GOHN,
1999, p. 109). Como afirma Libneo (2000, p. 84), no h a inteno de minimizar a
escola, mas por causa da importncia dos processos educativos no-formais e informais
que se reitera a sua necessidade. A escola necessria como um espao de intercmbio de
vivncias, capazes de incorporar poderosos instrumentos e ferramentas de conhecimento
(PREZ GOMZ, 1998, p. 93), de construir pontes entre o conhecimento formal e as
experincias cotidianas adquiridas fora dela. Esses instrumentos e ferramentas podero ser
utilizados pelos alunos na resoluo de problemas e no como adereo de uso escolar,
utilizvel para a realizao de provas e trabalhos, apenas com intuito de obter uma nota ou
conceito.
Os resultados desta pesquisa demonstram como a msica faz parte da vida cotidiana
dos adolescentes e o interesse deles em obter conhecimentos especficos, bem como superar
dvidas e questionamentos. Puderam destacar, tambm, o quanto precisamos, como
educadores musicais, rever alguns conceitos relativos ao ensino e aprendizagem de
msica dentro da escola e, conseqentemente, nossas prticas educativas. Os resultados
tencionam tambm fertilizar outros estudos que possam verificar os processos de ensino e
aprendizagem de adolescentes que participam de diferentes experincias musicais fora da
escola como em corais, grupos de capoeira, bandas marciais, e tambm estender a
investigao para conhecer como se configuram os processos de transmisso e apropriao
musical de outros adolescentes do ensino fundamental.
Referncias Bibliogrficas
ARROYO, Margarete. Transitando entre o Formal e o Informal: um relato sobre a
formao de educadores musicais. Anais do VII Simpsio Paranaense de Educao
Musical. Londrina:2000. p. 77-90.
CAMPBELL, Patricia Shean. Of garage bands and song-getting: the musical development
of young rock musicians. Research Studies in Music Education. n. 4 June 1995. p. 12-20.
CORRA, Marcos Krning. Violo sem professor: um estudo sobre processos de auto-
aprendizagem com adolescentes. 2000. Dissertao (Mestrado em Msica)Instituto de
Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.
GARCIA, Valria. A educao no-formal no mbito do poder pblico: avanos e limites.
In: FERNANDES, R.; PARK, M.; SIMSON, O. Educao no formal: cenrios da criao.
So Paulo: UNICAMP, 2001. p. 147-165.
GOHN, Maria da Glria. Educao no formal e cultura poltica. So Paulo: Cortez, 1999.
GREEN, Lucy. How popular musicians learn: a way ahead for music education. [s.l.]
Ashgate, 2001.
HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara; BOZZETTO, Adriana; CUNHA, Elisa.
Articulaes de processos pedaggicos musicais em ambientes no-escolares: estudos
multi-casos em Porto Alegre. Pesquisa CNPqUFRGS, Porto Alegre: 2000.
LIBNEO, Jos Carlos. Pedagogia e pedagogos, para qu? 3. ed. So Paulo: Cortez,
2000.
MLLER, Vnia. A msica , bem diz a vida da gente: um estudo com crianas e
adolescentes em situao de rua na Escola Municipal de Porto Alegre - EPA. 2000.
Dissertao (Mestrado em Msica)Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2000.
OLIVEIRA, Alda. Educao musical em transio: jeito brasileiro de musicalizar. Anais do
VII Simpsio Paranaense de Educao Musical. Londrina:2000. p. 15-34.
PREZ GMEZ, Angel I. Os processos de ensino-aprendizagem: anlise didtica das
principais teorias da aprendizagem. In: GIMENO SACRISTN, J.; PREZ GMEZ,
Angel I. Compreender e transformar o ensino. Traduo de Ernani F. da Fonseca Rosa. 4.
ed. Porto Alegre: ARTMED, 1998.
PRASS, Luciana. Saberes musicais em uma bateria de escola de samba: uma etnografia
entre os Bambas da Orgia. 1998. Dissertao (Mestrado em Msica)Instituto de Artes,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1998.
RABAIOLI, Incio. Atividades musicais extra-escolares de adolescentes: um estudo em
trs escolas de Londrina. Projeto de Pesquisa (Mestrado)UFRGS, Porto Alegre, 2001.
SOUZA, Jusamara. O formal e o informal na educao musical no ensino mdio. Anais IV
Encontro Regional Sul da ABEM. Santa Maria: 2001a. p. 38-44.
SOUZA, Jusamara; HENTSCHKE, Liane; OLIVEIRA, Alda; DEL BEN, Luciana;
MATEIRO, Teresa. O que faz a msica na escola?: concepes e vivncias de professores
do ensino fundamental. Porto Alegre: UFRGS, 2002. p. 53-90. (Srie Estudos, 6).
STAKE, Robert. Case studies. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Ed.).
Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2000.
SWANWICK, K. Musical Knowledge: intuition, anlysis and music education. London:
Routledge, 1994.
Um paradigma esttico para o currculo: consideraes a partir de
Gilles Deleuze e Jorge Larrosa
Regina Marcia Simo Santos
Universidade do Rio de J aneiro (UNI-RI O)
rmarcia@alternex.com.br
Resumo: Esta comunicao de pesquisa discute as possibilidades de se pensarem currculos e
tratamento de programas de ensino de msica a partir de um paradigma esttico. Para tal,
produz um debate bibliogrfico: considera o que Gilles Deleuze designa como esttico e o que
Jorge Larrosa comenta sobre a experincia. Remisses a uma pesquisa emprica se mesclam a
esse quadro. O estudo faz parte de uma pesquisa integrada e interinstitucional em andamento.
Palavras-chave: experincia, currculo e ensino de msica, paradigma esttico.
Abstract: This research communication discusses the possibilities of creating curriculums and
treatment of musical teaching programs starting from an esthetic paradigm. For that, produces a
bibliographic debate: considers what Gilles Deleuze establishes as esthetic and what Jorge
Larrosa comments about the experience. Remissions to an empiric research mix up to this
picture. The study is part of an integrated and inter-institutional ongoing research.
Keywords : experience, curriculum and music teaching, esthetic paradigm.
Esta comunicao de pesquisa se refere a um projeto integrado em andamento
1
.
O projeto amplia a discusso sobre paradigmas de currculo que, anteriormente
desenvolvida segundo a noo de rizoma, nos colocou ante o debate sobre um
paradigma esttico para o currculo. Dessa forma, nos distanciamos de um
pensamento em educao e de uma teoria do currculo em msica centrados no
paradigma cientfico da cincia moderna e no paradigma da cultura (nas perspectivas
crtica e ps-critica).
Concebida em 2001, a pesquisa se transformou em proposta de cooperao
interinstitucional, envolvendo duas instituies que mantm escolas de msica no Rio
de Janeiro: a UNIRIO e o Seminrio Teolgico Batista do Sul do Brasil (STBSB)
2
.
Com aes de pesquisa, extenso e ensino o projeto discute as possibilidades de
se construir um marco referencial para o currculo a partir do que aqui definido como
um paradigma esttico.
O projeto motivado por quatro questes, mas nesta comunicao importa-nos
apenas o primeiro foco de debate: a definio de princpios que caracterizam um
paradigma esttico no funcionamento de currculos e tratamento de programas. Faremos
1
Equipe sob a minha coordenao: Thegenes Eugenio Figueiredo, Neila Ruiz Alfonzo, rica de Abreu
Santos, Rivelino Carvalho de Aquino, Marcio Freire Horst Vieira e Priscilla dos Reis Ribeiro.
2
O STBSB oferece curso tcnico de msica aberto comunidade e Curso de Bacharel em Msica Sacra.
Forma profissionais para o ministrio de msica em igrejas, com atuao em escolas de msica livres e
em espaos comunitrios variados.
um debate conceitual que se ocupa do que Deleuze designa como esttico e do que
Larrosa comenta sobre a experincia, como condio para formular princpios que
caracterizam um paradigma esttico no funcionamento de currculos e tratamento de
programas. Remisses a uma pesquisa emprica se mesclam a esse quadro.
Deleuze fala da arte como plano de composio esttica, que recobre o plano
tcnico. Fala da arte como produtora de afetos, criadora de agregados sensveis que nos
apanham no seu composto. E considera a indiscernibilidade entre os campos da arte,
cincia e filosofia:
(...) No h nenhum privilgio de uma dessas disciplinas em relao outra.
Cada uma delas criadora. O verdadeiro objeto da cincia criar funes, o
verdadeiro objeto da artes criar agregados sensveis, e o objeto da filosofia,
criar conceitos. (Deleuze, 1992, p. 154).
A arte a linguagem das sensaes (...) A arte desfaz a trplice organizao das
percepes, afeces e opinies, que substitui por um monumento composto de
perceptos, de afetos e de blocos de sensaes (...) (Deleuze & Guattari, 1992,
p.228).
S h um plano nico, no sentido em que a arte no comporta outro plano
diferente do da composio esttica: o plano tcnico, com efeito,
necessariamente recoberto ou absorvido pelo plano de composio esttica.
(Deleuze & Guattari, 1992, p.251)
Composio, composio, eis a nica definio da arte. A composio
esttica (...). No confundiremos todavia a composio tcnica, trabalho do
material que faz freqentemente intervir a cincia (matemtica, fsica, qumica,
anatomia) e a composio esttica, que o trabalho da sensao. S este ltimo
merece plenamente o nome de composio, e nunca uma obra de arte feita
por tcnica ou pela tcnica. (Deleuze & Guattari, 1992, p.247)
Por um lado, temos a arte como composio esttica, produo de afetos: somos
arrastados por blocos de sensaes, num composto de afectos e perceptos. Por outro
lado, temos a msica (arte) no contexto dos processos de educao musical na escola
regular e nas escolas especializadas.
O campo da educao tem sido caracterizado como o campo dos sujeitos
tcnicos que aplicam com maior ou menor eficcia as diversas tecnologias pedaggicas
produzidas pelos cientistas, pelos tcnicos e pelos especialistas (Larrosa, 2002, p. 20).
O par cincia/tcnica situa a educao como cincia aplicada, em contrapartida
perspectiva poltica e crtica, que situa a educao como prxis poltica e emancipadora.
Larrosa prope a explorao de outra possibilidade, distinta destas duas, e que ele
chama de mais esttica: pensar a educao a partir do par experincia/sentido (p.
20).
A educao musical escolar tem se encaixado perfeitamente no que Larrosa
(2002) identifica como campo dos sujeitos tcnicos. Ela se traduz na arte-teckn: o
treinamento de habilidades tcnicas e repasse de proposies, conceitos; o campo
tcnico recobrindo o plano de composio esttica. Na educao escolar impera uma
episteme que reduz a produo do acontecimento tcnica, busca de estruturas
estveis (os modelos), ao aprendizado de mecanismos de produo, aos processos de
conhecimento tcnico e cientfico.
Queremos pensar as possibilidades de conciliar a educao musical com a
matriz da manifestao da arte que Deleuze nos apresenta: arte como plano de
composio esttica. Desta forma, as consideraes de Deleuze nos impelem a pensar
na possibilidade de alternativas para o funcionamento de currculos e tratamento de
programas de ensino de msica potencializado pelo que chamarei, por ora, de ciclo
problematizador e metodologias problematizadoras de senso esttico.
Numa das atividades desenvolvidas na presente pesquisa
3
, um Aleluia de
Handel (do Oratrio Messias de Handel) tecido na memria se conjuga com o seu
arranjo, ouvido em verso gospel funk
4
. Os registros dessa experincia de apreciao
musical permitem-nos discutir a possibilidade da construo de um ambiente de ensino-
aprendizagem potencializado pelo momento de imerso num corpo-msica e
caracterizado pela singularidade do encontro, conjugando parmetros ordenadores e
estruturas abertas. A escuta desta verso do Aleluia - um corpo que afeta e que
afetado por aqueles que dele se aproximam - faz emergirem matrias de expresso que
passam a ter lugar na sala de aula, mantendo em andamento tanto as possibilidades de
expresso, quanto de construo do conhecimento e as contextualizaes das obras. A
experincia de ver-se afetado por um bloco de sensao capaz de gerar potncia de
agir e potncia de entendimento, afirmando o mximo de possibilidades da decorrentes
e nutrindo aprendizagens mltiplas.
Saber deste corpo-msica (esta verso do Aleluia) saber o que pode um corpo,
quais so seus afetos, compondo-se ou no com outros corpos; saber da lgica das
redes cotidianas, das conexes e multiplicidades na escuta. Estamos mergulhados nesta
rede, que lida com a variao de um idntico e com a identidade de vrios diversos
3
Atividade desenvolvida em 2001 com um grupo de alunos dos cursos de graduao e ps-graduao em
msica da UNIRIO e docentes do STBSB.
4
Hallelujah (from Handels Messiah: A Soulful Celebration) SCTB, acompanhamento de piano,
incluindo trompete, sax tenor, trombone, guitarra, contrabaixo e percusso (drums). Performance
(Barbero, 1987, p. 237). Buscar a identidade na diversidade, ou gerar uma diversidade
na unidade so operaes realizadas pelo homem, que tece uma simultaneidade de
passado e futuro, memria e implicao, ao lidar com um texto que uma
intertextualidade, rede, trana, um texto plural, discurso transverso. O mltiplo j est
posto, longe da fixao de qualquer identidade e longe de coordenadas horizontais e
verticais. Um sistema multilinear (uma linha-bloco) passa no meio dos sons e brota por
seu prprio meio:
No sabemos nada de um corpo enquanto no sabemos o que pode ele, isto ,
quais so seus afetos, como eles podem ou no compor-se com outros afectos,
com os afectos de um outro corpo (...) (Deleuze & Guattari, 1997, p.43)
Tudo se faz ao mesmo tempo, num sistema multilinear: a linha libera-se do
ponto como origem; a diagonal libera-se da vertical e da horizontal como
coordenadas... em suma uma linha-bloco passa no meio dos sons, e brota ela
mesma por seu prprio meio. (p.97)
Isso se conecta ao debate trazido por Larrosa (2002): a experincia o que nos
passa, o que nos acontece, o que nos toca (p. 21). No levantamento que ele faz, a
palavra experincia vem do latim experiri, provar (experimentar), com o radical periri
(que se encontra tambm em periculum, perigo) e a raiz indo-europia per (que diz
principalmente de travessia e que gera, em grego, aquilo que marca a travessia, o
percorrido, a passagem). Em alemo (erfahrung) contm o fahren, de viajar. Tanto nas
lnguas germnicas como nas latinas, a palavra experincia fala de travessia e perigo. E
a presena do ex na palavra experincia diz de exterior, estrangeiro, exlio, estranho,
e tambm de existncia - uma forma sempre singular.
O sujeito da experincia um territrio de passagem (o que lhe passa produz
alguns afetos, marcas, vestgios, efeitos), lugar de chegada ( ce que nous arrive
p. 24), um espao onde tm lugar os acontecimentos ( what is happening to us p.
21).
Larrosa (2002) fala do sujeito da experincia que no se define por sua
atividade, mas por sua disponibilidade, abertura, receptividade, passividade (distinta do
par ativo/passivo) feita de paixo, de padecimento, de pacincia, de ateno (p. 24).
Falar da experincia a partir de uma lgica da paixo (e no da ao) implica considerar
um sujeito que quer permanecer cativo e que vive a tenso entre prazer e dor. Pedro
Demo (2000), semelhantemente, usa o termo ativo para dizer da experincia que abre
aproximada de 435. Arranjo de Mervyn Warren, Michael O. Jackson e Mark Kibble. Adaptao: John
Higgins.
possibilidades continuadas de aprendizagem e possibilita um tipo de colaborao para
alm da escola (p.32). Portanto, sempre um ensino-aprendizagem ativo, no atrelado
ao par ativo/passivo ou desvirtuado em mero cumprir a tarefa (Doll, 1997) com o
apoio de recursos criados pela tecnologia da instruo e no contexto de tticas de
motivao, conforme destaca Pedro Demo.
A experincia de escuta da verso do Aleluia aqui referida se conecta a uma
forma de logos pedaggico definido como aquele que faz pensar, e distinto do logos
pedaggico que transmite o j pensado. Larrosa (2000) trata desses dois logos
pedaggicos indo a Deleuze quando este distingue entre os objetos do reconhecimento
e os encontros que foram a pensar (p. 127). Neste ltimo logos
o pensamento um modo da sensibilidade e da paixo em relao quilo que
comove a alma e a deixa perplexa. E s nessa relao sensvel e apaixonada
com aquilo que faz pensar, o pensamento tambm uma aprendizagem
(Larrosa, 2000, p. 127).
Larrosa (2000) fala do modo dogmtico e monolgico de pedagogizao, com
um discurso pedaggico que estabelece o modo de leitura, tutela a leitura e a avalia:
seleciona o texto, determina a relao legtima com o texto, controla essa
relao e determina hierarquicamente o valor de cada uma das realizaes
concretas da leitura (p. 130)
Essa pedagogia se apropria do texto para dada funo e passa a programar a
atividade do leitor: ou o texto contem de forma evidente o que se lhe requer, ou o
professor tutela a leitura e impe um sentido correto. O professor exerce um forte
controle sobre as modalidades de recepo, em funo de uma intencionalidade
determinada (p. 131): o leitor deve saber que o relato uma ilustrao de uma
doutrina ou uma exposio de uma regra de conduta (p. 131).
Larrosa (2000) convida o leitor a imaginar um outro modelo, caracterizado pela
sua abertura, e fala da aprendizagem, citando Deleuze:
... nunca se sabe, de antemo, como algum chegar a aprender (...) No h um
mtodo para encontrar tesouros e tampouco h um mtodo de aprender, a no
ser um movimento violento, um cultivo ou paideia que percorre o indivduo em
sua totalidade. (...)(Larrosa, 2000, p. 128) .
A experincia de escuta da verso do Aleluia aqui referida se conecta ao
exerccio de mapear. Segundo Deleuze (Deleuze, 1997; 1992; Deleuze &Guattari,
1992; 1995; 1997), mapas so moventes e seus fluxos e dimenses devem ser
detonados por critrio expressivo e por fora ativa. No so mapas direcionais, traados
por coordenadas e ligaes localizveis, dadas por critrio funcional
5
e por fora
passiva, reativa (termos de Espinoza e Deleuze):
Precisamente, h territrio a partir do momento em que componentes de meios
param de ser direcionais para se tornarem dimensionais, quando eles param de
ser funcionais para se tornarem expressivos. (Deleuze & Guattari, 1997, p. 121)
As linhas traadas num mapeamento no podem ser tomadas como
pretendentes, como doxa, em termos de uma ordenao ideal ou de conjuntos fechados,
que representem o percurso em si. Mapeamentos no visam equipar o docente com uma
frmula tcnica aplicvel, um esquema simplificador tomado como modelo para
reproduo. Cada situao (singular) de ensino-aprendizagem desenhar sua prpria
trajetria numa rede, ao percorrer um meio.
No campo da educao musical, podemos prosseguir nesse pensamento,
tomando a premissa de Swanwick (2001, p. 43) sobre um ensino musical da msica:
(1) tem como princpios o cuidado pela msica como discurso, o cuidado pelo discurso
musical dos alunos e a fluncia como objetivo inicial e final
6
; e (2) tem a centralidade
do planejamento nas prticas musicais - de execuo, apreciao (audience-listening) e
composio -, enquanto imerso em prticas que gerem o sentimento de realizao
(Swanwick, 1993) e nutram a busca de conhecimentos tcnicos e a ampliao do
conhecimento sobre a literatura.
A experincia cada vez mais rara, afirma Larrosa (2002), devido falta de
tempo e ao excesso de informao, opinio e trabalho. Informao no experincia,
afirma (p. 21):
(...) o que gostaria de dizer sobre o saber de experincia que necessrio
separ-lo de saber coisas, tal como se sabe quando se tem informao sobre as
coisas, quando se est informado (p. 22).
5
dado a priori por funes designadas: para ensinar escala, para treinar acordes
6
Traduo usada pelo autor no evento (palestra e workshop) O ensino musical da msica, UNIRIO,
setembro 2002.
Tambm (...) a obsesso pela opinio (...) faz com que nada nos acontea (p.
22). Quanto falta de tempo, registra que em educao estamos sempre acelerados e
nada nos acontece: no se pode perder tempo e o currculo se organiza em pacotes
cada vez mais numerosos e cada vez mais curtos (p. 23).
Experincia no se confunde com trabalho. O sujeito moderno pe no fazer
coisas a sua existncia, enquanto a experincia requer parar para pensar, olhar,
escutar, sentir (p. 24).
Larrosa (2000) fala do professor que, ao dar a lio, no resolve a questo,
mas a reabre, a re-pe e a re-ativa (p. 142).
Concepes de currculo como "modelo fechado" e "modelo aberto" esto
implicadas na presente pesquisa, requerendo uma outra representao de currculo,
metforas sugestivas do funcionamento do currculo como paradigma esttico.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
BARBERO, Jsus Martin. De los medios a las mediaciones comunicacin, cultura y
hegemonia. Mxico: Gustavo Gili, 1987
DELEUZE. Gilles. Conversaes. Rio de Janeiro: Ed 34, 1992
____________. Crtica e Clnica. So Paulo: Ed 34, 1997
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. O que a Filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34,
1992.
___________. Devir-Intenso, Devir-Animal, Devir- Imperceptvel. In: _______. Mil
Plats: Capitalismo e Esquizofrenia. v. 4. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997, p. 11-114
___________. Introduo: Rizoma. In: ____. Mil Plats: Capitalismo e Esquizofrenia.
v. 1. Rio Janeiro: Ed. 34, 1995, p. 07-37.
DEMO, Pedro. Conhecer & Aprender - sabedoria dos limites e desafios. Porto
Alegre: Artes Mdicas Sul, 2000.
DOLL, William E. Jr. Currculo: uma perspectiva ps-moderna. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1997.
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experincia e o saber de experincia. trad.
Joo Wanderley Geraldi. Revista Brasileira de Educao, Campinas, n. 19, p.
20-28, 2002.
_____________. Pedagogia profana danas, piruetas e mascaradas. 3. ed.
trad. Alfredo Veiga-Neto. Belo Horizonte: Autntica, 2000.
SWANWICK, Keith. Permanecendo Fiel Msica na Educao Musical. In:
ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE EDUCAO
MUSICAL, 2, 1993, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: ABEM, 1993, p. 19-32.
_____________. Ensinando Msica Musicalmente. Per Musi: Revista de
Performance Musical, Belo Horizonte, v.4, p. 29-36, 2001.
1
A prtica do solfejo na proposta de Davidson e Scripp
sob a tica do desenvolvimento
Regina Antunes Teixeira dos Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
jhsreg@adufrgs.ufrgs.br
Liane Hentschke
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
hentschk@portoweb.com.br
Cristina Capparelli Gerling
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
cgerling@vortex.ufrgs.br
Resumo. O presente artigo discute a prtica de solfejo com base na Proposta de desenvolvimento de
leitura musical de Davidson e Scripp e na teoria de Piaget. Os artigos que descrevem a Proposta
foram submetidos a uma anlise de contedo qualitativa. A fundamentao psicolgica da Proposta
contm impreciso de terminologia e de conceitos, cuja adequao, com base na teoria de Piaget,
sugerida nesse estudo. O desenvolvimento da escuta interna explicado a partir de mecanismos de
equilibrao entre a imitao e o jogo. Dessa forma, a construo de uma linha meldica implica
processos de imitao diferida e de exerccio funcional de manipulao dos elementos constituintes
da linha meldica.
Palavras-chave: solfejo, desenvolvimento, teoria de Piaget
Abstract. The present study discusses Davidson and Scripps sightsinging program based on
Piagets theory. Having submitted their proposal to an analysis of psychological concepts and
fundaments as well as to an evaluation of terminology, some adjustments are then suggested. The
development of internal hearing is explained in terms of equilibration mechanisms between acts of
imitation and play. The construction of a melodic line involves acts of deferred imitation and
functional manipulations of elements belonging to the melodic line.
Keywords: solfge, development, Piagets theory
Introduo
A proposta de desenvolvimento leitura musical atravs do solfejo, empregada no
New England Conservatory of Music, Boston, E.U.A (DAVIDSON e SCRIPP, 1988a;
1988b; 1988c; DAVIDSON et alli, 1988; 1995) visa buscar alternativas para a prtica do
solfejo, focalizando-se em estratgias para resoluo de problemas na execuo e no na
memorizao ou reproduo de exerccios. Nesta Proposta, destinada ao nvel superior de
msica, busca-se a compreenso musical e desenvolvimento da escuta interna,
fundamentando-se para tal, na teoria de Piaget. Uma descrio detalhada das atividades
constantes na Proposta foram objeto de publicaes anteriores (SANTOS, 2002; 2003).
2
Segundo Davidson e Scripp, na emisso do solfejo encontram-se envolvidos 3 tipos
de modalidades de representao: modalidades visuais (atravs da imagem da notao
escrita da melodia na pauta), cinestsicas (sensao fsica do movimento dos dedos para
localizao imaginria das notas no instrumento) e auditivas (associao entre as slabas
das notas e suas alturas respectivas), denominadas de modos de representao
(DAVIDSON e SCRIPP, 1988c, p. 22).
Assim, os autores afirmam:
Piaget descreve nveis contrastantes de pensamento figurativo e operacional [sic]. O aspecto
figurativo refere-se ao estado inicialmente passivo do conhecimento relacionado com percepo,
imitao e imaginrio mental. De acordo com Piaget, imaginrio mental nesse nvel imitao
internalizada [imitao diferida] (DAVIDSON e SCRIPP, 1988c, p. 18-9).
Em uma segunda assero os autores colocam: Pensamento figurativo pode ser
enriquecido e progressivamente operacionalizado solicitando aos estudantes mesclarem
diferentes modos de representao (DAVIDSON e SCRIPP, 1988c, p. 19). Embora os
autores apresentam essas afirmaes fundamentadas na teoria de Piaget para justificar o
desenvolvimento da escuta interna atravs da prtica de solfejo, sua abordagem no
aprofundada, contendo imprecises e simplificao dos fenmenos envolvidos.
No presente trabalho, a proposio de prtica de solfejo na Proposta, fundamentada
na teoria de Piaget, com vistas a atingir desenvolvimento da compreenso musical e da
escuta interna foi ento analisada. Dessa forma, o princpio metodolgico empregado
constitui-se em um modelo analtico-interpretativo fundamentado na teoria de Piaget,
empregando como tcnica de pesquisa a Anlise de Contedo qualitativa (MAYRING,
2001). O conjunto de artigos que enfatizam esse aspecto na Proposta (DAVIDSON e
SCRIPP, 1988a; 1988b; 1988c) constitui o corpus desse estudo.
Fundamentao Terica
Segundo PIAGET (1970), as conexes geradas no curso do desenvolvimento no
podem ser consideradas associaes empricas, uma vez que estas conexes consistem
em assimilaes tanto no sentido biolgico, como intelectual. Dessa forma, o autor
argumenta que a adaptao cognitiva proveniente de um equilbrio entre assimilao e
acomodao. Para Piaget, assimilao a integrao de elementos em desenvolvimento
3
ou estruturas completas de um organismo (p. 106). Acomodao pode ser definida em
relao ao comportamento como qualquer modificao de esquemas assimilatrios ou
estrutura efetuada pelos elementos que este assimila (p. 107).
Para ter-se um quadro completo de desenvolvimento intelectual, preciso
considerar tambm os aspectos operativos e figurativos das funes cognitivas. Nos
aspectos operativos esto compreendidas aquelas atividades em que o sujeito tenta
transformar a realidade. Nos aspectos figurativos existe somente a tentativa de representar a
realidade como essa aparece, sem procurar transform-la (PIAGET, 1970, p. 115).
Para Piaget, a percepo, a imitao e a imagem mental intervm no aspecto
figurativo. O autor afirma que as percepes no constituem fonte de conhecimento, mas
assumem uma funo de conectores, assegurando, a cada instante e em seu ponto especial
de aplicao, contato entre ao e operao, de um lado, e os objetos do outro (PIAGET,
1975, p. 445). Na emisso vocal de uma linha meldica, a percepo desempenha um papel
fundamental. Antes de qualquer ao, faz-se necessrio perceber a gama de tons. Pular essa
etapa anloga a pintar sem ter percebido uma gama de cores. Embora a percepo no
seja uma fonte de conhecimento, esta desempenha um papel essencial de conector entre o
que se escuta e o que se emite. Da a dificuldade muitas vezes vivenciada por estudantes em
relao emisso de sons, dificuldades essas oriundas de falta de ateno na qualidade do
tom percebido.
Estreitamente aliada percepo, encontra-se a imitao que envolve, em uma
primeira etapa, a cpia dita acomodadora, ou seja aquela executada frente a um modelo
externo. Na prtica de solfejo, essa situao corresponde quela na qual o estudante repete
uma linha meldica executada em um instrumento ou por outra pessoa. Nesse caso, o
estudante reproduz apenas o som escutado a partir do modelo externo.
Um outro tipo de imitao na teoria de Piaget, denominada diferida, ocorre com o
advento da funo simblica.
1
A imitao diferida um tipo de imitao que requer um
tempo maior de preparao, pois o sujeito necessita constru-la a partir de suas prprias
possibilidades. A emisso de uma linha meldica sem ajuda do instrumento um processo
1
A funo simblica consiste em poder representar alguma coisa por meio de um significante diferenciado
e que s serve para essa representao: linguagem, imagem mental, gesto simblico, etc. (PIAGET e
INHELDER, 1995, p. 46).
4
de construo pessoal que constitui-se uma imitao do tipo diferida e ela um fator
fundamental para o desenvolvimento da representao.
Um outro componente do aspecto figurativo a imagem mental, que por sua vez,
no provm da percepo, mas parte do processo da imitao diferida (PIAGET, 1970).
Na teoria de Piaget, as imagens mentais podem tanto evocar aquilo que se tenha
previamente percebido, como tambm realizar transformaes (GRUBER e VONCHE,
1977, p. 499).
Outro conceito na teoria de Piaget o jogo, que corresponde a uma atividade que se
desenvolve em direo representao, partindo de seu estgio inicial de atividade
sensrio-motora para seu estgio de jogo simblico ou imaginativo. (HENTSCHKE, 1997,
p. 19). Para atingir a representao necessrio tambm a dinmica entre a imitao e o
jogo. Na imitao h predominncia da acomodao sobre assimilao, enquanto no jogo,
a assimilao predomina sobre a acomodao. O jogo, nos seus estgios iniciais
caracterizado por um conjunto de comportamentos definidos pela assimilao que parece
ser oposta acomodao (ibid, p. 20). Essa bipolaridade do jogo encontra-se tambm
descrita na teoria de Piaget como o exerccio, onde de um lado est o polo da acomodao
sobre o objeto, que simplesmente fonte de aquisio baseada em suas propriedades. Do
outro lado, encontra-se a assimilao funcional, ou seja, a consolidao por repetio ativa
(PIAGET, 1970, p. 118). O Jogo, na prtica do solfejo, parece ser anlogo repetio de
uma linha meldica na qualidade de exerccio, com vistas integrao de suas dimenses:
identificao de notas, expresso rtmica e expresso de alturas. Essa ao pode ser
simplesmente um exerccio de consolidao do reflexo, desempenhando assim um papel
puramente tcnico e extremamente limitado. No entanto, essa interao pode ser, por outro
lado, um exerccio funcional, uma experincia em busca do reconhecimento das qualidades
intrnsecas do fazer musical.
Anlise da Fundamentao Msico-Psicolgica da Proposta
Conforme exposto no incio do presente trabalho, Davidson e Scripp apresentam
uma relao entre os conceitos da teoria de Piaget e o desenvolvimento da representao
musical. Interpretando essa relao, tal qual fora exposta por esses autores, pode-se dizer
que o pensamento figurativo como sendo um pensamento do tipo intuitivo, que pode ser
5
progressivamente conduzido ao pensamento operacional, atravs da imitao internalizada
e da combinao de imagens dos diferentes modos de representao (visual, cinestsico e
auditivo). Alm disso, eles descrevem esses dois tipos de pensamentos como
contrastantes (DAVIDSON e SCRIPP, 1988c, p. 18-9). Considerando essas asseres, o
seguinte esquema pode ser proposto para descrever o desenvolvimento da representao
musical, segundo as proposies de Davidson e Scripp.
Imitao
Internalizada
Pensamento
Figurativo
Combinao de imagens
de diferentes modos de
representao
Pensamento
Operacional
Imaginrio Mental
Percepo
Esquema 1
Nessas consideraes, apresentadas por Davidson e Scripp, existem uma
simplificao dos fenmenos envolvidos com relao teoria de Piaget. Primeiramente
nesse contexto, Piaget no utilizaria o termo operacional, mas, sim, operativo para
explicar um dos aspectos das funes cognitivas. De acordo com Piaget, os aspectos
operativos relacionam-se com as transformaes e com tudo aquilo que modifica o objeto a
partir da ao at s operaes (PIAGET, 1975, p. 441). O termo operacional est
vinculado aos perodos de desenvolvimento que compreendem operaes, a saber: o
concreto operacional e o operacional formal.
A afirmao sobre esses dois tipos de pensamento como sendo contrastantes
requer tambm alguma reflexo, pois para Piaget no se deve distinguir dois tipos de
pensamento, um operativo e outro figurativo. Ao contrrio, faz-se necessrio encontrar um
outro modo de ligao entre esses dois aspectos das funes cognitivas: Se quisermos
obter um quadro completo do desenvolvimento mental, devemos no somente considerar o
6
aspecto operativo das funes cognitivas, mas tambm o aspecto figurativo (PIAGET,
1970, p. 115).
Em seus textos, Davidson e Scripp consideram 2 tipos de imitao: por cpia
acomodadora e diferida. Os autores mencionam a imitao internalizada (ou diferida)
quando abordam os aspectos figurativos das funes cognitivas (DAVIDSON e SCRIPP,
1988c, p. 18-9). Alm disso, eles ainda apresentam um outro tipo de imitao quando
descrevem o primeiro estgio de desenvolvimento de um estudante: Exemplos de estgios
cinestsicos incluem aprendizagem por repetio [cpia acomodadora] de melodia (...) sem
estar consciente das relaes aurais estabelecidas pelas notas (DAVIDSON e SCRIPP,
1988c, p.19). Os autores, embora faam meno a esses 2 tipos de imitao, eles no as
relacionam no processo de desenvolvimento de leitura musical. Segundo a Teoria de Piaget,
a cpia acomodadora precede a imitao diferida, e essa propicia a evoluo da
representao. Assim, adequando os conceitos de acordo com a teoria de Piaget, a imitao
acomodadora deve gradativamente ser conduzida imitao diferida, ou seja, libertando-se
da dependncia do modelo externo. Dessa forma, pode-se considerar que a imitao
diferida favorece a construo e a organizao individual de sensibilizao ao espao
sonoro de uma linha meldica. Mesmo que o aluno com problemas de emisso vocal tenha
de comear imitando o tom frente ao modelo externo (instrumento), essa dependncia
deve ser o quanto antes afastada.
Cabe salientar que as prticas de ensino e aprendizagem de Solfejo encontram-se
freqentemente baseadas na imitao como cpia acomodadora, ou seja, frente a um
modelo externo (piano). Este tipo de prtica pode ser necessria sensibilizao da
expresso de alturas, mas ela isoladamente no pode conduzir evoluo da representao.
preciso, o mais cedo possvel passar imitao diferida.
Para Piaget, para atingir a representao no basta apenas a imitao, preciso
tambm a ao atravs do jogo. Davidson e Scripp desconsideram esse fenmeno (o jogo)
em sua fundamentao. O Jogo, na prtica do solfejo, manifesta-se atravs da ao de
exercitar-se frente a uma linha meldica, na qualidade de atividade exploratria perceptiva
que pode fornecer novas informaes medida que consolida sua construo atravs da
integrao dos elementos constituintes uma linha meldica. Dessa forma, a prtica de um
exerccio de solfejo pode ser considerada como uma situao de experimentao e reflexo
7
com vistas integrao das dimenses de uma linha meldica, ou seja, identificao de
notas, expresso rtmica e expresso de alturas. Nesse contexto, a atividade deixa de ser
inerte, mecnica, pois o estudante estar buscando, atravs de mecanismos de equilibrao,
resolver um problema especfico, no caso, a coordenao e a compreenso de uma linha
meldica.
Com base nessas consideraes, o Esquema 2 apresenta uma sugesto de adequao
da fundamentao da Proposta de Davidson e Scripp, dos fenmenos envolvidos na prtica
do solfejo, de acordo com a teoria de Piaget. Na construo de uma linha meldica atravs
do solfejo, os aspectos figurativos e operativos das funes cognitivas encontram-se
analogamente envolvidos, atravs de processos de imitao e do jogo. Quando a emisso
vocal de uma linha meldica esboada por imitao diferida sem o auxlio do
instrumento o estudante demonstra sua compreenso e possibilidades momentneas em
termos de integrao das dimenses a contidas. O produto dessa emisso pode estar ainda
frgil e exigir etapas de manipulao, que parece corresponder quilo que na teoria de
Piaget denomina-se de exerccio funcional (jogo). Essa busca pelo equilbrio entre
processos de imitao e jogo podem conduzir, como o passar do tempo, ao
desenvolvimento da representao musical.
Aspectos
Figurativos
Aspectos
Operativos
Imitao
(diferida)
Jogo
(exerccio)
Acomodao
/Assimilao
Assimilao
/Acomodao
Desenvolvimento da Representao Interna
Construo de uma linha meldica
Esquema 2
8
Esse estudo buscou analisar e adequar a fundamentao psicolgica da prtica de
solfejo na Proposta de Davidson e Scripp, com base na teoria de Piaget, demonstrando que
o solfejo, como prtica de construo pessoal de uma linha meldica, tem condies de
firmar-se como um instrumento que fornece meios qualitativamente distintos de interao
do estudante com uma partitura, alm de possibilitar o desenvolvimento da representao
musical.
Referncias Bibliogrficas
DAVIDSON, Lyle; SCRIPP, Larry. Sightsinging at New England Conservatory of Music.
Journal of Music Theory Pedagogy, Norman, v. 2, n. 1, p. 1-9, 1988a.
______. A developmental view of sightsinging. Journal of Music Theory Pedagogy,
Norman, v. 2, n. 1, p. 10-23, 1988b.
______. Framing the dimensions of sightsinging: teaching toward musical development.
Journal of Music Theory Pedagogy, Norman, v. 2, n. 1, p. 24-50, 1988c.
DAVIDSON, Lyle; SCRIPP, Larry.; MEYAARD, Joan. Sightsinging ability: a quantitative
and qualitative point of view. Journal of Music Theory Pedagogy, Norman, v. 2, n. 1, p. 51-
68, 1988.
DAVIDSON, Lyle; SCRIPP, Larry; FLECHTER, Alan. Enhancing sight-singing skills
through reflective writing: a new approach to the undergraduate theory curriculum. Journal
of Music Theory Pedagogy, Norman, v. 9, n. 1, p. 1-28, 1995.
GRUBER. Howard E.; VONCHE, Jean-Jacques. The essential Piaget. New York: Basic
Books, 1977.
HENTSCHKE, Liane. Analogia entre o desenvolvimento musical e o desenvolvimento do
jogo: uma anlise crtica. Em Pauta, Porto Alegre, nov 97-abr 97, no. 12/13, p. 17-34.
MAYRING, Philipp. Qualitative content analysis research instrument or mode of
interpretation? 2001. Disponvel em: http://www.uni-tuebingen.de/qualitative-
psychologie/t-ws01/Mayrigen.htm. Acessado: 16 nov. 2002.
PIAGET, Jean. Piagets Theory. In: MUSSEN, Paul Henry (Ed.) Handbook of child
psychology. New York: Wiley, 3 ed., v. 1, 1970, p. 103-27.
______. Les mecanismes perceptifs. 2 ed. Paris: Presse Universitaire, 1975.
9
PIAGET, Jean; INHELDER, Barbara. A Psicologia da criana. 14 ed Traduo Octvio
Mendes Cajado. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
SANTOS, Regina Antunes Teixeira dos. Anlise da proposta de desenvolvimento de leitura
musical de Davidson & Scripp. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO
BRASILEIRA DE EDUCAO MUSICAL, 11., Natal: ABEM, 2002, p. 100.
______. Proposta de desenvolvimento de leitura musical de Davidson & Scripp: uma
anlise terico-interpretativa. Dissertao (mestrado em Educao Musical) - IA/PPG-
Msica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, maro 2003.
Aspectos texturais nas peas orquestrais dos ciclos dos Choros e das Bachianas
Brasileiras
Renata Botti
Universidade de So Paulo (USP)
renatabotti@uol.com.br
Resumo: No decorrer do sculo vinte, a noo de textura enriqueceu o vocabulrio da anlise musical,
contribuindo para a compreenso das relaes dentro de uma composio. Neste trabalho, podemos
perceber, nas obras de Heitor Villa-Lobos pertencentes ao ciclo dos Choros e das Bachianas, um
tratamento particular e abundante da textura. Procuraremos apontar determinados padres texturais que
reforam a identidade de sua linguagem musical. A concepo textural de suas obras est intimamente
ligada a influncias que o compositor recebeu de autores europeus das primeiras dcadas do sculo passado
e vigorosa incorporao de elementos da cultura brasileira. Entre nossas descobertas, apontamos vrios
aspectos texturais mais evidentes relacionados densidade, tendncia anti-verticalizao, ao predomnio
da progresso textural, superfcie compreendida por grande espaamento intervalar, ao afastamento da
orquestrao tradicional a servio do timbre e da textura e recorrncia de determinados padres texturais.
E, apesar das to comentadas diferenas entre os dois ciclos, demonstramos como a orientao mais
marcadamente tonal e meldica das Bachianas no interfere essencialmente na resultante textural das
obras.
Palavras-chave: anlise, textura, Villa-Lobos
Abstract: Throughout the twentieth century, the notion of texture enriched the lexicon of musical analysis
and contribute to the understanding of the relationships within a composition. In Heitor Villa-Lobos
music, the special treatment awarded to texture is clearly discernible. In his orchestra works, (and in this
paper we focus those pertaining the Choros and Bachiana cycles), a number of textural standards
reinforcing the identity of his musical language are imprinted. The textural conception of his compositions
is intimately connected to the influences received from European composers in the early decades of the
past century, and to his vigorous incorporation of Brazilian cultural elements. Among our conclusions, we
indicate some very importants textural aspects, like the high density, the opposition to the vertical
structures, the preponderance of the textural progression, the interval problems in the musical space and a
new conception of orchestration, which privilege the timbre and the texture. And, despite the well-know
differences between the Choros and the Bachianas, we found out basicly the same textural treatment.
Keywords: analysis, texture, Villa-Lobos
A escrita de Heitor Villa-Lobos possui um perfil absolutamente particular, que se
deve, em grande medida, ao tratamento que o compositor dedica dimenso textural de suas
composies. Este artigo tratar de alguns aspectos texturais em suas obras orquestrais
pertencentes ao ciclo dos Choros e das Bachianas.
A originalidade e importncia dos Choros no conjunto de obras do compositor
incontestvel. Villa-Lobos cunha este novo nome para seu ciclo no referindo-se a um gnero
da msica popular, j que originalmente o choro era um conjunto de msicos que interpretava
nmeros populares em voga, como polcas, schottischs, e etc. Tal feio peculiar dos conjuntos
de choros muito nos interessa na pesquisa de procedimentos texturais, j que a ligao entre a
fonte de inspirao do compositor e o resultado formal de suas obras no distante. Vamos
esclarecer por qu.
Surgido na dcada de 1870, o choro era um grupo que se reunia apenas pelo prazer
de tocar. Suas apresentaes davam-se em festas de famlia e saraus e, pouco a pouco,
ganharam as ruas. Como afirma Nbrega:
A execuo era enriquecida de liberdade criativa atravs de contribuies propostas
pelo solista, novidade ou bossa que os companheiros tinham de captar ou pegar, como
se dizia no jargo dos chores. Se acaso algum no apanhava determinada modulao
ou se mostrava incapaz de reproduzir um motivo novo, lanado no momento, dizia-se
dele que fra derrubado. Como castigo, tinha que pagar uma rodada (Nbrega,
1975:12).
Na juventude, Villa-Lobos participou de grupos de choro tocando violo, o que, para
certos bigrafos, teria sido a sua verdadeira iniciao artstica. Essa experincia no teria
determinado a linguagem com a qual o autor se expressaria? O carter de improvisao
inerente ao choro no estaria, dessa forma, intimamente ligado forma (ou ausncia de) dos
Choros? A atitude de captar ou pegar determinada modulao ou tema e tranform-la no
pode ser compreendida como um procedimento composicional do compositor, levado, talvez,
s ltimas conseqncias?
Ao focalizar a anlise sob este ponto de vista talvez seja possvel aproximar-se um
pouco mais da essncia do pensamento composicional do compositor. Podemos partir da
premissa que os fatos que se sucedem em sua msica so elementos de improvisao em
constante mudana. Conquanto todas as colocaes generalizantes meream ressalvas, tal
maneira de perceber os Choros pode ser muito interessante e abrangente. A anlise da textura
tambm pode ser bastante esclarecedora, ao reconhecer determinados padres usuais e
procedimentos ligados descrio de ambientes (trao comum em sua obra) e conseqente
traduo em termos musicais. Tal fato de muita relevncia, pois o compositor, ao comentar
suas obras, atesta adotar como ponto de partida uma (ou um conjunto de) inspirao, como
um ambiente bomio, pssaros da floresta, ou ainda uma dana africana. No incomum a
associao de vrios elementos descritivos, resultando num colorido textural sem paralelos.
Desta forma, Villa-Lobos traduz para a msica ambientes da cultura e da natureza
brasileira. Ao lado disso, como fruto histrico absolutamente conectado a seu tempo, sua
linguagem estava em sintonia com as mudanas propostas por outros grandes nomes do incio
do sculo vinte, tanto no procedimento harmnico, como no plano da instrumentao e na
escrita textural. Esta tcnica teve alguns elementos formativos. Alm das j narradas
experincias como msico popular, foi de extrema importncia o estudo autodidata que Villa-
Lobos fez do volume Curso de Composio Musical, de autoria do compositor e pedagogo
francs Vincent DIndy, discpulo de Csar Franck. Tambm a influncia das composies de
Debussy e Stravinsky, que circulavam no Rio de Janeiro do incio de sculo, foram
determinantes.
Deixando de lado o quanto havia de intuio nas partituras do msico brasileiro,
poderamos dizer que a composio dos Choros resultante das experincias na msica
popular e da aguda observao do modo europeu de se escrever. Antes dos Choros, porm, o
compositor j havia ensaiado uma escrita orquestral prodigiosa em Uirapuru e Amazonas,
ambos de 1917.
Concluindo esta breve reflexo sobre os Choros, vale a pena citar a definio
publicada pelo compositor na edio do Choros N3, Max Eschig, 1928:
Choros representam uma nova forma de composio musical, na qual so sintetizadas
as diferentes modalidades da msica brasileira indgena e popular, tendo por
elementos principais o ritmo e qualquer melodia tpica de carter popular que aparece
vez por outra, acidentalmente, sempre transformada segundo a personalidade do autor.
Os processos harmnicos so, igualmente, uma estilizao completa do original
Com relao s Bachianas Brasileiras, a definio do autor para os Choros, expressa
acima, poderia ser aplicada. Afinal Bachianas tambm podem ser uma nova forma de
composio musical, com elementos da msica indgena e popular, padro rtmico no
diferente dos Choros e melodias de carter popular. Sem mencionar a estilizao dos
processos harmnicos, considerando-se a fonte barroca. Existem, por certo, diferenas entre
os dois ciclos, e disso trataremos a seguir.
No h, explicaes objetivas para a aproximao com a msica de Bach. Mas
tambm inegvel que Villa-Lobos, escrevendo peas com movimentos de sutes barrocas em
ambiente musical de Bach, insere-se num movimento mundial de retorno s idias barrocas
e clssicas, tambm chamado de neoclassicismo, cujo expoente maior foi Stravinsky, por
quem Villa-Lobos nutria grande admirao.
A abordagem de Villa-Lobos na apropriao da temtica barroca no sistemtica
(assim como no uso do folclore), nem h emprego literal de formas. sua maneira, ele
exercita sua inventividade tomando emprestado um certo ar bachiano. O sentido, na maioria
das vezes, de livre associao.
Para nossa investigao sobre os aspectos texturais mais releventes desses dois
ciclos, entendemos que a textura, este termo do vocabulrio da anlise musical do sculo
vinte, ferramenta utilssima na pesquisa da obra de Villa-Lobos, ao nos permitir relacionar
os aspectos verticais da composio s combinaes de elementos estruturais, como nmero
de componentes, configurao interlinear, disposio e compresso de intervalos,
dissonncias, simultaniedade de eventos e tantos outros traos presentes na obra do
compositor. As questes levantadas foram as seguintes:
1) Quais so os aspectos texturais mais evidentes na msica orquestral de Villa-Lobos?
2) H diferenas texturais bsicas, tratando-se de ciclos distintos, entre os Choros e as
Bachianas?
3) Pode-se apontar a textura predominante como material composicional em algum momento?
1) Quanto aos aspectos texturais mais evidentes:
1
a ) densidade elevada. A Densidade remete ao nmero de componentes sonoros dentro de
um tempo musical; tambm relao entre o nmero de componentes sonoros em um
determinado espao intervalar. a caracterstica mais marcante na anlise villa-lobiana. Suas
partituras so sempre repletas de acontecimentos simultneos. Nem mesmo numa textura
evidentemente homofnica a melodia escapa de vultoso acompanhamento, por vezes tomando
seu lugar. A idia de material tranformando-se e associando-se reflete na textura, atravs no
s do adensamento, como da mudana constante de polaridade temtica.
A densidade elevada pelos seguintes motivos:
- alto nmero de componentes;
- simultaneidade de linhas com contornos diversos;
- simultaneidade de texturas independentes;
1 b) tendncia anti-verticalizao. As estruturas verticais so muito frgeis. Configuram-se
por um breve momento, quando elementos horizontais ou quebras rtmicas interferem e as
desfiguram;
1 c) predomnio de progresso textural, atravs de acrscimo de notas, de linhas, de
instrumental, intensificao de dinmica e de acentuao. A recesso comumente feita por
cortes;
1 d) em relao superfcie, que configura os extremos da textura e est relacionada
distncia e s relaes intervalares, a tendncia a de grande espaamento intervalar. As
vozes externas esto em boa distncia. A escrita em oitavas, caracterstica do autor, contribui
para o alargamento da superfcie;
1 e) afastamento da orquestrao tradicional a servio do timbre e textura, atravs de
combinaes instrumentais imaginativas, escrita nos registros extremamente grave ou agudo,
uso intenso de glissandos, harmnicos e divises mltiplos para as cordas (trs ou mais), ampla
utilizao de instrumentos de percusso da msica brasileira e efeitos gerados por
combinaes timbrsticas;
1 f) recorrncia de padres texturais que tornam as composies do autor identificveis:
- um acompanhamento textural, mais constante nos violinos, de figurao espessa e constante,
com certo grau de rugosidade (que remete basicamente percepo de aspereza ligado
sobreposio de sons), repetindo determinado modelo intervalar. Em certos momentos, as
madeiras fazem o mesmo desenho;
- escrita em oitavas;
- uso de instrumentos de metal e piano como percusso.
2) H diferenas texturais bsicas, tratando-se de ciclos distintos, entre os Choros e as
Bachianas?
Ao se falar das Bachianas, um dos traos normalmente apontado a textura
contrapontstica, por imitao ao estilo de Bach. Vejamos o que Nbrega cita, como
caracterstico das Bachianas:
1) o contraponto (escrita horizontal em oposio escrita vertical apoiada em
acordes);
2) o estilo imitativo, em oposio ao desenvolvimento dramtico da forma sonata;
3) o carter esttico de certas melodias villalobianas. (Nbrega, apud Horta, 1987:71)
Se tais consideraes procedessem, teramos uma significativa mudana do perfil
textural entre os Choros e as Bachianas, j que o carter de inventividade dos Choros se
oporia a qualquer esquema de imitao de vozes. Tambm quando Nbrega defende o estilo
imitativo das Bachianas em oposio ao desenvolvimento, faz supor que tal procedimento foi
usado nos Choros. Quanto ao carter esttico das melodias, talvez Nbrega se refira
repetio motvica de certos temas das Bachianas.
Nas 9 Bachianas, Villa-Lobos escreveu 4 Fugas, que seguem perfeitamente o
esquema formal. Esses quatro movimentos em forma de fuga so talvez os mais prximos do
modelo barroco, no que concerne escrita contrapontstica. Quanto aos demais movimentos
(e as Bachianas tm entre trs ou quatro movimentos), o que se v novamente livre criao.
Dificilmente encontramos modelos formais de construo e podemos observar nas Bachianas
todos os procedimentos texturais enumerados no item acima. Mas h diferenas essenciais,
que tornam os dois ciclos distintos. Ressaltamos que essas so consideraes generalistas, que
enfocam os pontos mais comuns da obra artstica.
Nas Bachianas, a diferena primordial a volta tonalidade. Se, em grande parte dos
Choros, podemos observar uma orientao harmnica voltada para os experimentos atonais,
modais e politonais, nas Bachianas predomina o encadeamento harmnico tradicional. A
orientao tonal poderia acarretar mudana drstica no perfil textural das Bachianas, mas no
o que se observa. Isto se deve basicamente ao fator de insensibilizao da fisionomia dos
intervalos, tambm chamado de permeabilidade. Sendo a superfcie caracterizada por grande
distncia intervalar, na qual linhas independentes se sobrepem, as estruturas de diferentes
perfis que se coordenam simultaneamente podem interagir mudando apenas as relaes de
densidade horizontal e vertical, sendo indiferente, em princpio, quais intervalos se formam
individualmente. Dessa forma ficam neutralizadas possveis consonncias ou dissonncias.
Tambm se observa uma continuidade dos padres texturais de acompanhamento, ou de
descrio, que no seguem leis harmnicas.
Outra caracterstica o perfil essencialmente meldico das Bachianas. Se, nos
Choros, temos grandes efeitos e sonoridades, as melodias so o carro chefe do ciclo das nove
sutes. Neste ponto tambm poderamos relacionar carter meldico com textura homofnica,
mas tambm a impera a linguagem textural de Villa-Lobos. Vamos exemplificar com duas
das obras mais conhecidas e interpretadas: ria da Bachiana N5 e o O Trenzinho Caipira, da
Bachiana N2. A densidade elevada caracterstica do acompanhamento dos violoncelos
(pizzicato de semicolcheias) da ria da Bachiana N5. O andamento indicado Adagio refere-
se sobretudo melodia, j que sentimos o acompanhamento bem mais agitado. Segundo
Tarasti, esta uma inveno particularmente villa-lobiana, uma combinao de uma ria
lenta barroca com o acompanhamento de uma toccata (Tarasti, 1995:208). Em O Trenzinho
Caipira, da Bachiana N2, acompanhamento denso e efeitos, glissandos, acordes fora da
tonalidade acompanham a famosa melodia.
Finalizando, mais duas importantes diferenas entre os ciclos:
- as sutes so separadas por movimentos, enquanto os Choros so peas contnuas. Neste
caso, recesses texturais sbitas que caracterizavam as mudanas de carter nos Choros
so menos freqentes nas Bachianas;
- a repetio motvica maior nas Bachianas, artifcio que, ainda que inspirado em sistema
bachiano, no empregado de forma literal. sabido que Bach repete seus modelos
meldicos no mais que duas vezes, enquanto, em Villa-Lobos, as repeties so mais
numerosas.
3) Pode-se apontar a textura predominante como material composicional em algum momento?
A grosso modo, poderamos dizer que a presena da textura preponderante
principalmente em obras nas quais as relaes tonais ou temticas no estejam presentes.
Dessa forma, as combinaes de estruturas verticais e horizontais e a associao timbrstica
focadas na construo de sonoridades passam a favorecer aspectos basicamente relacionados
textura.
Uma vez que a obra de Villa-Lobos ainda essencialmente apoiada em relaes
tonais e temticas, a textura, aparentemente, no poderia ser ento considerada elemento
essencial no processo de composio. Mas, depois de apontarmos traos principais da escrita
instrumental do compositor, vemos que a concepo textural fator que no se pode
desassociar de sua msica. No possvel, por exemplo, transcrever para piano parte dos
Choros ou das Bachianas, sem que se perca o seu sentido essencial. Villa-Lobos constri
sonoridades. Mesmo havendo material temtico inserido em relaes tonais, o pensamento
textural corre paralelamente na formao da obra, tornando sua escrita absolutamente
identificvel. imprescindvel aos que se propem a uma anlise da obra do compositor, que
se considere Villa-Lobos um arteso de texturas.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
NBREGA, Adhemar(1975).Os Choros de Villa-Lobos. Rio de Janeiro. Ministrio da
Cultura/ Museu Villa-Lobos.
TARASTI, Eero (1995). Heitor Villa-Lobos. The Life and Works, 1887-1959. North Carolina:
McFarland & Company.
Avaliao do ditado musical como ferramenta didtica
na percepo musical
Ricardo Dourado Freire
Universidade de Braslia (UnB)
frereri@unb.br
Resumo: Este artigo apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa na rea de percepo
musical avaliadas a partir de pressupostos dos processos cognitivos e metacognitivos de alunos de
msica de nvel universitrio. O objetivo foi identificar a relao entre diferentes estmulos
musicais apresentados e o grau de resposta dos alunos. Foram realizados 7 testes de percepo
musical entre ditados simples, ditados com o solfejo, escrita de canes folclricas e identificao
de tonalidades. Aps anlise dos resultados foi possvel verificar que grande parte dos alunos no
conseguia um desempenho satisfatrio mesmo quando faziam teste com solfejo cantado ou
msicas conhecidas. Desta maneira, pode-se verificar que grande parte dos alunos no possui os
pr-requisitos bsicos para transcreverem os exemplos musicais apresentados e desenvolverem
ferramentas cognitivas para realizarem tarefas de ditado musical com xito.
Palavras-chave: percepo musical, alfabetizao musical, psicologia da msica.
Abstract: This is the first paper presenting a research on ear-training responses by music
students. The main objective was to investigate how music students would respond to different
kinds of ear-training tests. There were music dictation, music dictation with solfege, writing of
popular songs and recognition of Major and Minor modes. The results showed that most
studentss results did not differ from the different kinds of tests. It was possible to verify that
most students do not present the readiness to use music dictation as an effective tool for
developing the inner ear.
Key-words: ear-training, music literacy, psychology of music
A disciplina percepo musical e as atividades tradicionalmente propostas nesta
disciplina geralmente provocam um alto grau de ansiedade e apreenso entre os alunos de
msica. A percepo musical ou seja, a capacidade de transcrever trechos musicais,
vista como privilgio para poucos e inatingvel para a maioria dos alunos. A metodologia
adotada , muitas vezes, excludente e elitista, pois incentiva ao sucesso apenas os alunos
que possuem conhecimento e treinamento prvios enquanto a vasta maioria destinada a
um fracasso parcial ou total. Alunos provenientes da msica popular, onde o processo
oral valorizado, so completamente excludos pela abordagem e pelo repertrio
escolhido pelos professores. Na maioria dos casos, os processos de aprendizagem dos
alunos so inteiramente desconsiderados pelos professores que realizam atividades
centradas apenas no contedo musical.
Esta pesquisa teve como objetivo investigar os requisitos cognitivos e metacognitivos
bsicos para as atividades de percepo musical. Foram realizados diversos testes de
percepo comparando o grau de sucesso dos alunos em atividades centradas no contedo
e atividades centradas no processo a partir de diversos tipos de estmulos musicais. A
pesquisa foi realizada com alunos do 1
o
semestre do curso universitrio na disciplina
Introduo a Msica 1 da Universidade de Braslia.
O modelo preponderante de ensino da Percepo musical o ditado musical. Vrios
autores brasileiros, entre eles Cristina Grossi (2001) e Virgnia Bernardes (2001) tm
questionado a validade e utilidade destes procedimentos como ferramentas efetivas para a
aprendizagem da leitura e escrita musicais.
Verticalizando um pouco essa questo, o que um ditado musical na concepo pedaggica tradicional?
Seria o professor tocar, geralmente ao piano, para serem escritos pelo aluno, melodias a uma, duas ou mais
vozes, intervalos meldicos e/ ou harmnicos, acordes isolados ou encadeados, enfim, toda sorte de signos
musicais isolados ou na forma de fragmentos musicais geralmente criados por ele ou tomados ao repertrio
musical e que apresentem determinadas questes que necessitam ser trabalhadas auditivamente. Quando um
professor faz (toca) um ditado espera que o aluno escreva exatamente aquilo que ele tocou. Normalmente o que
no literalmente decodificado, de acordo com a verso que o professor tem em mos, considerado errado.
Cada nota, ritmo, cifra, enfim, o que for objeto do ditado, vale pontos. (Bernardes, 2001, 75)
Grossi aps revisar diversos modelos de testes auditivos desenvolvidos na psicologia
da msica pde avaliar que os testes buscam respostas relacionadas aos aspectos
tcnicos da msica e neste contexto, a percepo "objetivamente" avaliada atravs do
emprego de questes padronizadas e mensuraes quantitativas. (Grossi, 2001, 51)
A abordagem tradicional do ensino de percepo pressupe que o aluno por conhecer
as notas musicais deve ser capaz de poder escrever ditados musicais. Vrios professores
consideram absurdas as dificuldades dos alunos e acreditam, a partir do senso comum,
que o aluno que conhece as notas musicais capaz de ler e escrever msica sem maiores
dificuldades. Maurice Lieberman chega a afirmar que as dificuldades que os estudantes
podem experienciar ao escrever melodias e ritmo nos ditados musical , ao menos,
parcialmente atribudo aos seus procedimentos errados. (Liberman, 1959, 29). O autor
ignora quaisquer ferramentas cognitivas para a aprendizagem musical e indica que o
aluno necessita apenas seguir os seguintes passos: 1) No escrever as notas
imediatamente, memorizar 2) Determinar se a melodia inicia no grau 1, 3 ou 5, 3)
Indicar a tonalidade corretamente e escrever o ditado, 4) Estabelecer mtrica, 5)
Determinar os ritmos usados em de cada compasso. Lieberman finaliza afirmando que o
uso consistente desta abordagem tornar a escrita do ditado rpida e automtica.
A dicotomia entre solfejo e percepo agrava ainda mais a situao. Muitos alunos
no possuem segurana no solfejo e assim perdem a principal ferramenta de
aprendizagem na percepo musical. O preparo para a escrita musical no considerado
como fator importante no processo de aprendizagem e o cdigo escrito no considerado
como fator de interferncia na percepo musical.
A capacidade de escrever msica no est diretamente relacionada ao nvel de aptido
musical de uma determinada pessoa. Uma srie de testes de aptido musical foram
criados por Edwin Gordon a partir do conceito de diferenciao auditiva de exemplos
musicais, e no na sua grafia, entre eles: MAP, PMMA, IMMA e AMMA. Nestes testes,
cada questo consiste em um breve exemplo musical seguido de uma breve resposta
musical e o aluno deve decidir se o exemplo e a resposta so iguais ou diferentes.
(Gordon, 1997, 109). Nesta situao a capacidade de grafia musical no fator
determinante para que possa ser avaliada a aptido musical da pessoa ou sua capacidade
musical.
O processo de percepo musical nas atividades de ditado musical a uma voz
extremamente complexo no qual est presente a audio, a compreenso da informao
musical e a escrita do que foi apresentado. Na maioria dos casos, os alunos esto
requisitados a realizar estas tarefas em tempo real e apresentar resultados quase
instantneos.
A Teoria de Vigotsky, no campo da psicologia cognitiva, considera que a linguagem
o que media os diferentes nveis de pensamento (Freire, S., 2000, 57). Fazendo uma
correlao com a rea de msica, pode-se considerar que a percepo servir como
mediador no processo do pensamento musical. Considerando a msica como uma
linguagem (Bernardes, 2001) pode-se tambm verificar que as habilidades necessrias
para a percepo e escrita musical so semelhantes s mesmas utilizadas no processo de
alfabetizao.
Na rea de alfabetizao, o processo de dom nio da linguagem falada e escrita segue quatro
etapas: primeiro acontece o ato de ouvir, depois o ato de falar, em seguida o ato de ler e finalmente o
ato de escrever. A pessoa aprende quando associa sons a significados cognitivos e emocionais. Em um
primeiro momento os conjuntos de sons (fonemas) so agrupados em palavras que representam
objetos, pessoas ou aes. Gradativamente, a linguagem se torna mais complexa e a pessoa comea a
conectar palavras formando frases. (Freire, 2002)
Para investigar os processos cognitivos durante o ditado musical foram realizados 3
testes com uma turma de estudantes do primeiro semestre do curso de Msica da
Universidade de Braslia, na disciplina Introduo Msica 1. A turma era composta de
54 alunos, sendo 35 homens e 19 mulheres dos cursos de Bacharelado em Instrumento,
Bacharelado em Composio, Bacharelado em Regncia e Licenciatura em Educao
Artstica com habilitao em Msica. Todos os alunos haviam sido previamente
aprovados em provas de habilitao especfica nos seus respectivos instrumentos e em
prova de conhecimentos tericos. Para maior segurana e privacidade, os alunos no
foram identificados.
O objetivo dos testes era avaliar a capacidade dos estudantes escreverem msica a
partir de estmulos variados. Neste contexto, o ditado musical est diretamente associado
habilidade de transcrio musical, ou seja, o ato de realizar em escrita musical os sons
apresentados por voz ou instrumento musical de acordo com os parmetros dos sistemas
tonal e rtmico ocidentais.
Foram realizados os seguintes tipos de atividades de percepo musical:
1. Ditado simples a uma voz (1)- Transcrio do soprano de um coral de
Bach em F Maior, realizado por Seqenciador MIDI, a 2 vozes. O exemplo
composto por 8 compassos que eram repetidos imediatamente como ritornello. O
exemplo foi repetido novamente aps dois minutos de intervalo. Exemplo n. 1.
Exemplo 1.
2. Percepo tonal- identificar a tonalidade das peas apresentadas como
Maior ou menor, os exemplos musicais foram Aberturas de G. F. Haendel do CD
Haendel, faixas 1 a 10, da Deutsche Grammophon Collection, lanado pela
editora Altaya.
3. Ditado a uma voz decodificado (1)- apresentao cantada com solfejo da
voz do baixo do coral de Bach do Exemplo n. 1. Nesta situao, o professor
cantou com as slabas de solfejo no sistema fixo e regeu a mtrica no compasso
4/4. O exemplo foi repetido 3 vezes com intervalo de 1 minuto entre as
repeties.
4. Ditado a uma voz decodificado (2)- apresentao cantada com solfejo pelo
professor da voz do soprano de um coral de Bach em L menor. O professor
cantou com as slabas de solfejo no sistema fixo e regeu a mtrica no compasso
4/4. O exemplo foi repetido 3 vezes com intervalo de 1 minuto entre as
repeties. Exemplo n. 2.
Exemplo 2
5. Transcrio da cano folclrica O cravo brigou com a Rosa, em F
Maior, apenas com a indicao do acorde de tnica e sem limite de tempo.
6. Ditado a uma voz decodificado (3)- Apresentao de um trecho musical de
nove compassos. Primeiro com o solfejo a uma voz cantado pelo professor com os
nomes de notas, repetido trs vezes.
Exemplo 3
7. Ditado simples a uma voz (2)- Repetio do exemplo 3 para transcrio, o
exemplo foi apresentado em gravao do CD Haendel, mencionado
anteriormente, o exemplo foi repetido 2 vezes.. Separando os dois ditados, houve
uma atividade escrita para definio dos termos percepo verbal e percepo
musical com durao de 5 minutos.
A variedade de estmulos visava avaliar as repostas para cada tipo de atividade. No
ditado a uma voz o aluno se depara com as situaes tradicionais de avaliao no qual
deve responder uma informao externa que no est decodificada dentro do sistema de
solfejo. Esta atividade foi o teste de controle a partir do qual os resultados das outras
atividades foram comparados e analisados.
O ditado a uma voz decodificado foi criado com o intudo de oferecer ao aluno todas
as informaes musicais necessrias para a realizao do ditado musical com sucesso. O
professor apresenta a tonalidade, a frmula de compasso, notas musicais cantadas com
slabas de solfejo e pulsao mtrica indicada pela regncia.
O exerccio de Percepo tonal foi realizado com o objetivo de avaliar a percepo
global do candidato na qual faz-se necessrio que o participante tivesse experincias
prticas de identificar os tipos de tonalidades apresentadas.
A transcrio da cano folclrica foi realizada para identificar a capacidade do aluno
em estabelecer todos os parmetros musicais na percepo interna e transcrio do
exemplo musical. O fato de o exemplo musical ser de domnio pblico permitia que cada
um estabelecesse os seus procedimentos de realizao da escrita. Cada aluno pde repetir
internamente o exemplo musical quantas vezes fossem necessrias e estabelecer os
procedimentos individuais para escrita do exemplo solicitado.
Resultados
Cada questo foi corrigida seguindo uma escala percentual de 0 a 100, na qual foi
avaliada principalmente a questo meldica. Houve diferena no nmero de participantes
devido ao fato de que houveram respostas anuladas no teste 1. Nos testes 2 e 3 alguns
alunos chegaram atrasados, no respondendo a primeira questo e outros faltaram no dia
do teste.
A Tabela 1 indica os dados coletados em cada um dos testes:
Tabela 1
Ditado
Simples
1
Percepo
tonal
Ditado
decodificado
1
Ditado
Decodificado
2
Transcrio Ditado
Decodificado
3
Ditado
Simples
2
100
9 16 8 19 10 0 0
90
2 8 8 1 2 10 0
80
1 5 3 2 3 11 2
70
0 11 1 3 3 3 3
60
6 3 4 0 1 2 1
50
4 2 1 4 2 4 1
40
8 1 6 4 1 2 2
30
1 2 2 6 1 3 1
20
7 1 8 5 4 2 4
10
2 3 1 1 4 8
0
14 0 7 2 26 3 24
Analisando os dados dos Ditados decodificados 3 e o Ditado Simples 2, que
apresentaram o mesmo exemplo possvel verificar que houve um desempenho inverso
nos testes. No ditado decodificado a maior parte dos alunos acertou entre 80 e 90%
enquanto no Ditado Simples a maior parte dos alunos acertou entre e 20% dos exerccios.
Ver tabela 2.
Tabela 2
0
5
10
15
20
25
0 20 40 60 80 100
Ditados Iguais
Ditado Decodificado 3
Ditado Simples 2
O teste que apresentou o melhor nvel de acerto foi o reconhecimento dos modos.
Apesar de este teste no ser prtica comum nas aulas, aproximadamente 75% apresentou
desempenho satisfatrio no teste.
Tabela 3
Percepo tonal
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
O teste que apresentou o menor percentual de acerto foi a transcrio da cano
folclrica. Os alunos no tinham limite de tempo e dependiam apenas de referenciais
internos para realizao do teste. Neste caso, ocorreu uma curva invertida na qual parte
da turma teve desempenho mximo e grande maioria da turma teve desempenho mnimo.
Tabela 4
0
5
10
15
20
25
30
0 20 40 60 80 100
Transcrio
Transcrio
Concluses
Conhecer o cdigo musical e a teoria musical no fator determinante para a
percepo musical. Existem diversos aspectos relacionados com a percepo musical e
vrios fatores de interferncia no processo. A partir da verificao de que os resultados de
escrita musical no so satisfatrios nos ditados decodificados e na transcrio de uma
cano popular possvel afirmar que vrios alunos no possuem ferramentas cognitivas
adequadas para realizarem com sucesso ditados musicais simples. O processo de ouvir,
compreender e escrever no est desenvolvido de maneira satisfatria para a maioria dos
participantes dessa pesquisa.
O ditado musical no se apresenta como nica ferramenta de aprendizagem que
permita ao aluno de msica desenvolver habilidades cognitivas para o domnio da
percepo musical. Faz-se necessrio pesquisar outras atividades que associem o ouvir,
compreender e decodificar o objeto sonoro para uma percepo musical mais efetiva e
com resultados satisfatrios para alunos e professores.
Referncias Bibliogrficas:
BERNARDES, Virgnia. A percepo musical sob a tica da linguagem. Revista da ABEM, Porto
Alegre, n. 6, p. 73-85, 2001.
FREIRE, Ricardo J. Dourado. Reconstruindo o saber: o aprendizado do sistema de solfejo mvel
no contexto universitrio. In: Anais do XI Encontro Nacional da ABEM. Natal, 2002.
FREIRE, Sandra. Dialogue in the Classroom: The Intersection Between Paulo Freire
And Lev S. Vygtosky. Dissertao de Mestrado. East-Lansing, Michigan State
University, 2000.
GORDON, Edwin. Introduction to Research and the Psychology of Music. Chicago: GIA,
1997.
GROSSI, Cristina. Avaliao da percepo musical na perspectiva das dimenses da
experincia cultural. Revista da ABEM, Porto Alegre, n. 6, p. 49-58, 2001.
LIEBERMAN, Maurice. Ear Training and Sight Singing. New York: Norton, 1959.
1
A escuta da gua
Rodolfo Caesar
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
caesar@acd.ufrj.br / rc@unisys.com.br
Resumo: Motivado por teorias e comentrios sobre a experincia da escuta musical
eletroacstica, extensamente abordada por inmeros pesquisadores (Schaeffer, Smalley, Chion,
entre outros), o texto desenvolve algumas hipteses recorrentes sobre as condies de anlise
dessa msica. Descreve de que modo a falta de terminologias comuns e a problematizao das
semiologias, dificultando segmentaes e anlises de msica eletroacstica, tornaram esta um
problema crtico. Aborda a vinculao da percepo de espao com a emoo como ponto de
partida para uma discusso sobre a abrangncia das experincias envolvidas na escuta da msica.
Palavras-chave: escuta, msica eletroacstica, anlise.
Abstract: Motivated by comments and theories (on listening electroacoustic music) extensively
undertaken by authors like Schaeffer, Smalley, Chion and others, the paper dwells into recurring
problems concerning analytical conditions of this music. It describes how far the lack of common
terminologies and the difficulties for semiology turned electroacoustic music segmentation and
analyses into a critical problem. A discussion about the scope of electroacustic music listening
starts by an approach of spatial perception and its links to emotions.
Keywords: listening, electroacoustic music, analysis.
Vinda do espao
As experincias de escuta musical 'eletroacstica', isto , aquelas pertencentes ao
repertrio de aportes da msica eletroacstica, so essencialmente no-quantificveis.
Contrapostas quantificao representada pelo parmetro - e paradigma de quantidade - a
altura, sua descrio impregna-se de metaforizao e neologismo. Exemplo do alcance deste
recurso dado pelas experincias na dimenso espao-temporal, ocorrendo especialmente no
campo das referncias relacionadas s noes de espao. Este tema to recorrente
1
nos textos
tericos da msica eletroacstica sempre pode ser mais esmiuado, e no presente trabalho
servir como introduo a outros problemas analticos similarmente abordveis graas
abrangncia da informao musical - no s para a anlise mas tambm, e conseqentemente,
para a experincia musical como um todo. A complexidade da escuta musical evidenciada com
1
Novas tecnologias, composio e universidade, apresentado em palestra no I Seminrio de Pesquisa em
Artes Plsticas da Escola de Belas Artes da UFMG, disponvel na revista eletrnica OPUS.
2
a msica eletroacstica leva ao entendimento de que na verdade no h anlise sem crtica,
assim como no haver uma escuta sem sua escrita.
Autores como os sempre citados Chion, Smalley, Parmegiani, Wishart, Emmerson,
Kpper e Bayle consideram o 'espao' como um dos mais indiscutveis e explorados aportes
da eletroacstica para a experincia musical ocidental. Em textos desses autores encontram-se
afirmaes que - na ressonncia de Gaston Bachelard em sua Potica do Espao' - faro
ligaes entre um espao em sua percepo 'euclidiana' tri-dimensional (os efeitos panormicos
lateral, distancial e vertical) e espaos mais investidos de contedos psicolgico-emocionais. O
espao , de fato, no apenas uma das experincias mais reconhecidas em seus textos mas
tambm minuciosamente exploradas nas obras de msica eletroacstica. Graas s
possibilidades de captura microfnica, sntese, registro em suporte, processamento e difuso
em concerto, 'espao', para a msica eletroacstica, uma dimenso to musical quanto
timbre, massa, altura, espectro-harmonia, etc... Embora j usado desde a msica barroca em
Veneza pelos Gabrielli, com a ME que sua explorao se aprofunda radicalmente. A
organizao espacial do som amadureceu, podendo agora articular estruturas musicais
com tanta eloqncia quanto os parmetros de altura, ritmo ou timbre. (Harrison: 1988,
63)
2
. O compositor Denis Smalley sofistica apresentando uma proposta mais sistemtica:
Para realar a relao entre espao composto e espao de escuta, inventei as
noes de consonncia e dissonncia espacial. Espaos sonoros compostos podem
ser consonantes ou dissonantes com relao ao espao de escuta, alterando a
natureza da experincia de escuta a uma extenso pouco contemplada pelos
compositores. Por exemplo: existe uma diferena muito significativa em apresentar
contedos espao-sonoros ntimos em espaos de escuta amplos (dissonncia),
comparada com espaos menores (consonantes), ou em transportar um vasto
espao aberto para dentro de um pequeno espao (dissonante), comparado com um
grande auditrio (relativamente consonante). (Smalley: 1991, 121)
3
2
Spatial organisation of sound has thus come of age - it can now articulate musical structure as
eloquently as the parameters of pitch, rhythm or timbre. (Jonty Harrison, Space and the BEAST concert
diffusion system, in LEspace du Son, LIEN, Revue dsthtique Musicale, Ohain, Blgica, 1988, p. 63)
3
To highlight the relationship between composed and listening space I have invented the notions of
spatial consonance and spatial dissonance. Composed sound-spaces may be either consonant or
dissonant with the listening space, changing the nature of the listening experience to an extent often
not contemplated by the composer. For example, there is a very significant difference in presenting
intimate, composed-space content within large listening spaces (dissonant spatial relationship)
3
O compositor Lo Kpper prossegue nesta via definindo um temperamento do
espao de projeo musical, uma tentativa de recuperao da noo de sistema para a msica
contempornea. Para uma cpula [de alto-falantes] de quatro metros de dimetro
conclumos que o intervalo espacial temperado de 15. ... determinamos assim cerca de
3.151 pontos espaciais para a cpula.
4
Em sua experincia prtica Kpper utilizou, com
indiscutvel sucesso musical, uma cpula com 104 alto-falantes controlados manualmente
durante o concerto. Pode-se objetar que uma noo de sistema dificilmente encontrar novo
lugar na histria da msica; entretanto o espao, esse sim, confirmou-se como parmetro de
trabalho at para Pierre Boulez, que em 1991 reconheceu nele uma funo 'hiper-
coordenadora' para a atividade coordenadora do timbre:
A espacializao permite a clarificao da criture'. Se temos diversos elementos,
opostos ou contrastantes, mais ou menos independentes, o fato de distingui-los no
espao clarifica a audio. Assim, na msica instrumental habitual, colocamos
grupos de instrumentos em lugares distintos para que eles sejam escutados
diferentemente.
5
A espacializao - recurso portanto trabalhado tanto na composio quanto na
difuso de obras em concerto de msica eletroacstica - faz a percepo tri-dimensional de
sons associar-se a experincias tpicas de separao fsica entre emissor e ouvinte mas
tambm a vivncias complexas como aquelas de contedo emocional j aludida por Smalley.
Eventos sonoros escutados em baixa intensidade e situados perto do ouvinte - como o sussurro
ou o cochicho dirigidos a um indivduo - podem ser classificveis como agentes da percepo
compared with small listening spaces (consonant spatial relationship), or in transporting a vast open
space into a small space (dissonant) compared to a large auditorium (relatively consonant). (Denis
Smalley, Spatial Experience in Electro-acoustic Music, in LIEN, Revue dsthtique Musicale, Ohain,
Blgica, 1991, pg. 121)
4
For a cupola of 4 meters diameter, as conclusion to our measures we have determined 15 as the space
temperated interval. Lo Kpper, 'Space perception in the computer age', in LEspace du Son, LIEN
Revue dsthtique Musicale, Musiques et Recherches, Ohain, BELGICA, 1988, pg. 61.
5
'La spatialisation permet la clarification de lcriture. Si on a divers lements, opposs ou contrasts,
plus ou moins indpendents, le fait de les distinguer dans lespace clarifie laudition. Ainsi, dans la
musique instrumentale habituelle, on place des groupes dinstruments divers endroits pour quils soient
couts diffrement. (Pierre Boulez, 'Musique/espace, un entretien avec Jean-Jacques Nattiez', in LEspace
du Son II, LIEN Revue dsthtique Musicale, Musiques et Recherches, Ohain, BELGICA, 1991, pg.115)
4
de intimidade. Em revanche eventos de alta intensidade, manifestados a maiores distncias,
quando no trazem meramente uma frieza 'longnqua', (com a exceo, por exemplo, de um
grito de socorro), associam-se comumente a um 'alheiamento emocional', como p. ex.: um
apelo impessoal. Atravs dessa abertura s complexidades de ordem emocional, que se
manifestam em conjunto com as terminologias mais objetivas schaefferianas (gro, allure, etc.),
inicia-se uma tarefa mais difcil para as segmentaes da escuta. Para Franois Bayle a noo
de 'lugar' permite a formulao de neologismos que ajudam a compreender sua obra e a escuta
em geral.
6
(Bayle, 1993):
Propusemos i-son como objeto retrico, artificial e imaginal, considerado como um mi -son
[meio-som] movendo-se em um mi-lieu' [meio-lugar]. Isto quer dizer que ser muito interessante
sondar a sobreposio de camadas da produo da escuta predisposta pelo modo acusmtico...
...E isto por efeito da parada sobre a imagem, e de sua volta ao movimento, propriedade que eu
resumo com o termo rimagem, que se poder tanto compreender como um retorno sobre a
imagem quanto como uma rima, assonncia de ecos internos que somente o trabalho sobre o i -
son pode experimentar e explorar.
Uma rimage de espao: seria isto uma recorrncia tambm da intensidade emocional
daquele 'som' que 'rimou'?
Sem lugar, sem momento
Em um domnio no qual vemos preponderar a metfora, sempre vale re-lembrar o
aforisma de Nietzsche sugerindo que na noite - este domnio acusmtico por excelncia, a
escuta e o medo convergem em direo msica.
'O ouvido, este rgo do medo, s alcanou tanta grandeza na noite e na
penumbra de cavernas obscuras e florestas, bem de acordo com o modo de viver da
era do receio'...'Na claridade do dia o ouvido menos necessrio. Foi assim que a
6
Objet rhtorique artificiel et imaginal, ainsi avons-nous propos li -son, considr comme un mi -son se
mouvant dans un mi -lieu. Cest--dire quil sera bien intressant de sonder les couches superposes de la
production dcoute auquel le mode acousmatique prdispose. ...Et ceci par leffet de larrt-sur-image,
et du retour, proprit que je rsume par le terme de rimage, quon pourra aussi bien comprendre comme
un retour sur limage, que comme rime, assonance aux chos intrieurs que seul le travail sur li -son peut
exprimenter et exploiter.
5
msica adquiriu o carter de arte da noite e da penumbra.' (Nietzsche: Aurora)
7
.
Sublimao de terrores, a escuta musical dentro dessa caverna no seria uma
'explicao' daquilo que se escuta na condio propiciada pelo acusmatimo da noite, mas um
processo que resulta em interpretaes dos eventos que, inicialmente perturbadores num
estado de viglia, despertam a ateno para uma imaginao - apenas porque esses eventos da
escuta noturna deixam de se apresentar apenas como portadores de significados indiciais claros
e imediatos. Essa escuta no lida necessariamente somente com os sinais ou indcios
ameaadores identificados luz do dia mas realiza - ou se confunde com - a superao de um
medo, celebrando o seu fim. A explorao do aforisma no pretende tematizar a escuta de
msica como sendo um ato motivado pelo receio, mas que ela pode, sim, ser uma conquista
sobre ele, mantendo, no entanto, com esta emoo - por suas origens comuns - um vnculo
muito estreito.
Seria como dizer que o nascimento da escuta musical acontece no exato momento em
que o conhecimento comea a operar suspendendo a relao bi-unvoca entre significante e
significado, para nela inserir plurivocidade. Assim como ns em escuta musical, o ouvinte da
caverna ignora, suspende ou releva a fonte geradora dos sons que escuta; passa a perceber as
relaes 'musicais', estejam elas apontando para critrios de uma coute rduite
8
, ou para
outros de ordem mais bio-orgnica, tais como os ritmos regulares associados vida e
sexualidade por exemplo, ou ainda para o prprio mundo 'no-reduzido' das referncias e dos
indcios.
Para continuar em uma pesquisa sobre o medo e sua reverberao na escuta musical,
sigo amparado principalmente pela delimitao de um campo de explorao, o da msica
eletroacstica, campo este privilegiado devido ao alcance de sua especificidade: a suspenso
7
'Nacht und Musik - das Ohr, das Organ der Furcht, hat sich nur in der Nacht und in der Halbnacht
dunkler Wlder und Hhlen so reich entwickeln koennen, wie essich entwickelt hat, gemaess der
Lebensweise des Furchtsamen, das heisst, des allerlngsten menschlischen Zeitalter, welches es gegeben
hat: im Hellen ist das Ohr weniger nthig. daher der Charakter der Musik, als einer Kunst der Nacht und
Halbnacht.' Morgenrth, (1881), aforisma 250. Gesamte Aufgabe, Coli-Molinari, vol. v, 1982. p.116.
6
da fronteira entre 'som' e 'msica'. Neste territrio torna-se possvel refletir em que medida o
medo de fato participante na escuta musical.
Os dois eixos principais da experincia musical de cruzamento reconhecidamente
opaco, o tempo e o espao, poderiam ter participao, cada um a seu modo, em um entre dois
plos do receio lembrado por Nietzsche. Ansiedade e angstia no so sinnimos, mas plos
designando diferentes vetores da emoo. O primeiro, o plo da ansiedade, fala do sofrimento
com os efeitos da passagem do tempo, querendo det-lo, ou aceler-lo. Ele de ordem
preponderantemente temporal porque anseia pelo trmino de uma espera. O tempo
teleolgico da msica ocidental, comparado com o tempo contemplativo da cultura oriental,
denota o desejo constante de renovao, de ultrapassagem, de no-conformidade com o
presente. Na base da emoo ansiosa, marca cultural do Ocidente, prevalece a no aceitao
do tempo. J a angstia parece se ligar mais a noes espaciais, como at lembra sua raiz
etimolgica germnica eng, de estreito. A angstia de se estar dentro de um espao menor,
sufocante, uma situao que no se cansa de ser musicalmente resolvida por exemplo
atravs de uma abertura espacial - durante a difuso da obra - no eixo da profundidade e no da
panormica entre alto-falantes extremos laterais. Ocorre tambm quando a msica oferece o
conforto de uma reverberao de grandes espaos.
Uma objeo poderia ser feita: e a intimidade, pela proximidade do som close-miked -
isto , captado com distncia mnima entre microfone e fonte gravada - no contradiria aquela
noo de 'conforto da intimidade' ao chamar de volta o medo de uma falta de espao? No
necessariamente, at porque o efeito de um close-miking no o de 'pouco espao', mas o de
'no-espao'. Assim como para o sussurro, a escuta ouve o evento 'dentro da cabea', como
se no houvesse separao fsica entre fonte e ouvinte. E para complicar ainda mais o
dispositivo analtico musical, outras instncias vitais convergem e alteram a experincia, tais
como contextualizao narrativa, eventos antecedentes, redundncia, surpresa.e sobretudo a
condio subjetiva do ouvinte. Cada um desses condicionantes potencializa, a seu modo, a
8
Pierre Schaeffer, Trait des objets musicaux, 1966.
7
diversificao da vivncia musical no apenas quanto percepo de espao e tempo, mas a
todos os contedos. Se cada experincia da msica - a comear pelas espao-temporais -
sempre de ordem 'subjetiva', como ento obteremos certezas em terrenos 'subjetivos'? O
problema j no mais tanto dos compositores, a quem interessa a complexidade, mas sim dos
analistas, que no dispem de fundamentao para aplicar a esta msica ou a seus eventos
noes como, por exemplo, a de funo simblica. Se uma funo sobrevive, est oscilando
entre o extremo de significados emocionais e o da polissemia de interpretaes subjetivas.
Sem significados, sem...
A msica eletroacstica ofereceria, ento, contedos em que aquilo que ela
'passa' ao ouvinte , na falta de outro termo, o signo de si mesmo, a prpria coisa, dentro de
um complexo de vivncias pessoais que individualizam a interpretao. No existe uma diviso
possvel entre significante e significado. Esta msica o que porque nada significa alm dela
mesma. Se a comunicao depende de uma sujeio ao modelo lingustico, ento a discusso
sobre a 'comunicabilidade' da msica no pode mais ter lugar. No havendo funo simblica,
como que ser uma semiologia da msica? Durante seu esplendor nos anos setenta, a
semiologia musical propunha que a msica tivesse um status de linguagem. Segundo Raymond
Court:
Todo fenmeno social , em sua essncia, linguagem, neste sentido fundamental
que, longe de se reduzir a uma instituio entre outras, confunde-se com a
instaurao da comunicao, da reciprocidade, da troca pela qual o prprio lugar
social selado.
9
E Nattiez conclui:
9
"Tout phnomne social est, dans son essence, langage, en ce sens fondamental o le langage, loin de se
rduire une institution parmi d'autres, se confond avec l'instauration de la communication, de la
rciprocit, de l'change par quoi est scell le lien social lui-mme." *(Raymond Court, Musique en jeu
n2, p.16.)'
8
Diremos, guisa de definio primeira da semiologia musical, que seu objetivo
definitivo explicar e descrever os "phnomnes de renvoi que a msica
apresenta. Apoiando-nos sobre a definio de smbolo [a seguir] pode-se afirmar
que ela uma forma simblica e que, por este motivo, passvel de uma semiologia.
Mounin oferece uma definio de funo simblica que nos parece
particularmente clara: Toda funo de substituio mental, isto , toda a aptido
para utilizar todo objeto de uma percepo associado de maneira natural ou
convencional a um objeto ou a uma situao como suscetvel de estar no lugar
deste objeto ou situao sempre que seu uso for impossvel. (Nattiez: 1975, 27)
10
Aqui se pergunta: como - e por qual motivo - substituir por um significado e um
significante uma experincia de, p. ex.: 'angstia espacial', durante a escuta de uma pea
eletroacstica? A percepo musical no se limita a ser um exerccio de segmentao analtica.
Pode muito mais, ser a experincia de um todo que contm uma 'especificidade musical' (e aqui
retorna a pergunta a que sempre nos remetemos: como separar percepo de experincia
como um todo, ou ainda: como delimitar entre o que 'meramente' sonoro do que
musical?). Isto nos traz at o umbral de uma hiptese: a de que no h nveis, camadas,
segmentaes ou quaisquer outros procedimentos analticos capazes de dar conta do fato
musical (pelo menos deste a que circunscrevi: pertencente ao campo da msica eletroacstica).
As separaes em nveis e classes so - invariavelmente - operaes de segmentao que,
para valerem de fato dependem da demarcao de limites fechados, mas aqui as operaes
delimitadoras esbarram na vigncia de uma fluidez.
Para tornar uma msica, ou um simples evento seu, analisvel, preciso poder separar
do todo as partes pertencentes a um mesmo registro ou categoria. Pelas razes anteriormente
mencionadas, a experincia analtica da msica eletroacstica demonstra que isso no
possvel porque de uma forma ou outra no apenas os conceitos se infiltram mutuamente, como
10
Nous dirons, en guise de premire dfinition de la smiologie musicale, quelle a pour objectif
dexpliquer et de dcrire les phnomnes de renvoi auquels la musique donne lieu. En nous appuyant sur
la dfinition du symbole (a) ci-dessus), on peut affirmer quelle est une forme symbolique et qu ce titre,
elle est justifiable dune smiologie.... ...Mounin offre une dfinition de la fonction symbolique qui nous
parat particulirement claire: Toute fonction de supplance mentale, cest--dire toute aptitude
utiliser tout objet dune perception, associe de manire naturelle ou conventionnelle un objet ou une
situation, comme susceptible de se substituer cet objet ou cette situation chaque fois que leur saisie
directe est difficile ou impossible (Mounin, G., 1970 Introduction la smiologie, Minuit, Praris,
FRANA.) (Jean Jacques Nattiez Fondements dune smiologie de la musique, Coll. 10/18, Union Gnrale
dditions, Paris, FRANA, 1975, pg. 27-1.)
9
tambm critrios de uma classe ou nvel derramam-se em outros de outras classes e nveis.
No se trata de uma dificuldade produzida pela 'no-notabilidade' da ME, mas sim pela
impossibilidade de separar entre o que de ordem emocional-subjetivo e o que
formal/espacial-objetivo. Como tinha sido observado: o distancial no se separa facilmente do
emocional.
Como fica a discusso da forma? Segundo um personagem do autor de policiais
Andrea Camilleri:
... vi que o meu amigo havia arrumado na beira do poo uma tigela, uma xcara,
uma chaleira, uma lata quadrada, todas cheias dgua, e observava-as
atentamente. O que voc est fazendo?, perguntei. E ele, por sua vez, me fez
uma pergunta: Qual a forma da gua? Mas a gua no tem forma!, respondi
rindo. Ela tem a forma que lhe derem. (A Forma da gua, 2002)
Segundo Walter Benjamin a atividade da escrita anterior inveno dos caracteres
alfabticos. Seu argumento parece muito aceitvel: a leitura (divinatria) de vsceras e estrelas
surgiu anteriormente criao de qualquer alfabeto ou sistema de notao. E bem assim que
estamos quando em escuta de msica eletroacstica: lemos vestgios, traos, entranhas, e
interpretamos sinais que por vezes at podem ocorrer sem desejo expresso do autor. Da s
podermos evidenciar isto: que nossa escuta agora primitiva como a da caverna; participante
como aquela, a escuta uma escrita.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
BAYLE, Franois. Musique acousmatique, propositions... ...positions. Paris: ditions
Buchet/Chastel, 1991
BOULEZ, Pierre. Penser la musique aujourd-hui. Paris: Bibliothque Mdiations, ditions
Gonthier, 1963.
BOULEZ, Pierre. Musique/espace, un entretien avec Jean-Jacques Nattiez'. In: LEspace du
10
Son II. LIEN Revue dsthtique Musicale. Ohain: Musiques et Recherches, 1991. p. 115-
116.
AVRON, Dominique. L'Appareil Musical. Paris: coll.1018, Srie Esthtique, Union Gnrale
d'Editions, 1978.
CAESAR, Rodolfo. The composition of Electroacoustic Music. PhD Thesis. Norwich:
University of East Anglia, 1992.
CAESAR, Rodolfo. Material e forma na msicaeletroacstica. Artigo disponvel na
internet. http://www.ufrj.br/lamut/lamutpgs/rcpesqs/matfor.htm
CAMILLERI, Andrea. A forma da gua. Rio de Janeiro: Col. Negra Especial. Record, 2a,
2002.
CHION, Michel. L'Art des Sons Fixs. Fontaine: Ed. Mtamkine, 1991.
HARRISON, Jonty. Space and the BEAST concert diffusion system. In: LEspace du Son,
LIEN Revue dsthtique Musicale. Ohain: Musiques et Recherches, 1988. p. 63-64.
KPPER, Leo. Space perception in the computer age. In: LEspace du Son, LIEN Revue
dsthtique Musicale. Ohain: Musiques et Recherches, 1988. p. 58-61.
NATTIEZ, Jean-Jacques. Fondements dune smiologie de la musique. Paris: Coll. 10/18,
Union Gnrale dditions, 1975.
SCHAEFFER, Pierre. Vers une Musique Exprimentale. In: SCHAEFFER, Pierre (Ed.), Vers
une Musique Experimentale, La Revue Musicale. Paris: Ed. Richard-Masse, 1957. p. 11-
25.
SCHAEFFER, Pierre. Trait des Objets Musicaux, essai interdisciplines. Paris: Ed. du
Seuil, 1966.
SMALLEY, Denis. 'Spatial Experience in Electro-acoustic Music'. In: LEspace du Son II.
LIEN Revue dsthtique Musicale. Ohain: Musiques et Recherches, 1991. p. 121-124
O ambiente da livre improvisao:
referncias para um campo de consistncia
Rogrio Luiz Moraes Costa
Universidade de So Paulo (USP)
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP)
rogercos@usp.br
Resumo: Neste trabalho, que parte de um captulo de nossa tese de doutoramento, procuramos
definir um ambiente em que se torna possvel a prtica da livre improvisao musical. Este tipo
de proposta de performance, que se ope tanto msica "composta" ou escrita quanto
improvisao idiomtica, tem revelado um grande potencial de produo e ao musical e o
tema central de nossa tese. Nossa inteno neste texto demonstrar como este tipo de fazer
musical preparado historicamente e em que medida se torna uma possibilidade no mundo
contemporneo que definido por sua complexidade e multiplicidade. Com estes objetivos, aqui
so expostos as linhas, os acontecimentos e foras que preparam este ambiente. Por exemplo: de
um lado as formulaes de Pierre Schaeffer - a escuta reduzida e o objeto sonoro, a oposio
entre sonoro e musical; de outro o desgate das sintaxes musicais tradicionais e a aproximao
entre culturas musicais originalmente distantes (tanto histrica como geograficamente).
Palavras-chave: livre improvisao, ambiente, referncias e pressupostos histricos.
Abstract: In this text, that is a fragment of a chapter of our undergraduate work, we strive to
define an environment which became possible the practice of free musical improvisation. This
kind of performance proposal which it is opposed to composed or written music as well as to
idiomatic improvisation, has revealed a great potential of musical production and is the heart of
our investigation. Our intention in this text is to demonstrate how this kind of creative musical
performace is historically prepared and in which measure it becames a possibilitie in the
contemporary world which is defined by its complexity and multiplicity. With this goals in mind,
here are exposed the general lines and forces that prepare this environment. For example: the
investigation set up by Pierre Schaeffer - the reduced listening and the sonic object, the oposition
between sonority and musicality. Or, in other context, the failure of traditional musical systems
and the interpenetration between originally distant musical cultures (historically and
geographically speaking).
Keywords: free improvisation, environment, historical backgrounds.
A improvisao, genericamente falando - especialmente a coletiva -, um fazer
musical com caractersticas especficas, onde muitas linhas de fora convergem.
Devemos pens-la num contexto amplo - que definimos aqui como sendo o seu ambiente
ou campo de operaes - que engloba muitos fatores, no somente musicais mas tambm,
sociais, culturais, pessoais e especficos do grupo que se engaja numa prtica deste tipo.
Devemos pensar, inicialmente, que uma performance de improvisao se insere
necessariamente como um "fato musical" - conforme concepo de Jean Molino
1
-
estruturada no contexto de um idioma musical. Assim, ela uma manifestao complexa
que estabelece vnculos e resultado de uma srie de conexes em rede que acontecem
neste ambiente. Ao mesmo tempo em que ela manifestao do ambiente, ela -
enquanto um fato de cultura - um dos fatores que conferem a este ambiente sua
identidade.
importante ressaltar que, para a prtica da improvisao necessrio, por parte
dos msicos que dela participam, um estado de prontido auditiva, visual, ttil e sensorial
que diferente daquele exigido para a prtica da interpretao ou da composio. Este
estado de prontido exige uma espcie de engajamento corporal integral. A realizao
efetiva da improvisao depende, em certa medida, desta preparao especfica.
Pensemos, conforme definio proposta por Derek Bailey a partir de duas formas
bsicas de improvisao: de um lado a improvisao idiomtica, que aquela que se d
dentro do contexto de um idioma musical, social e culturalmente delimitado histrica e
geograficamente como por exemplo, a improvisao na msica hind, e de outro a livre
improvisao. Nesta ltima, supostamente, no h um sistema, uma linguagem
previamente estabelecida, no contexto da qual se dar a prtica musical.
A livre improvisao , para ns, uma possibilidade no mundo contemporneo:
cada vez mais integrado e onde as "membranas" - lingusticas, culturais, sociais - e as
fronteiras eventualmente se dissolvem
2
. Neste contexto os territrios se interpenetram e
os sistemas interagem cada vez mais, de maneira que os idiomas tornam-se mais
permeveis. Assim, a livre improvisao possvel num cenrio em que os idiomas e os
1
Molino define assim o fato musical: "Como tantos fatos sociais, a msica parece carregar-se de elementos
heterogneos - e, aos nossos olhos, no musicais -, medida que nos afastamos no espao e no tempo//.O
prprio campo do fato musical, tal como reconhecido e delimitado pela prtica social, nunca recobre
exatamente o que entendemos por msica: de fato, a msica est em toda a parte mas no ocupa nunca o
mesmo lugar//o fato musical aparece sempre no apenas ligado mas estreitamente misturado com o
conjunto de fatos humanosNo h,pois, uma msica, mas msicas. No h a msica, mas um fato
musical. (MOLINO, Jean, Umberto Eco, J-J Nattiez, Nicolas Ruwet, Semiologia da msica, Lisboa, Vega
Universidade, p.112 a 114).
2
Se, por um lado, o conceito de globalizao ainda hoje indefinido e polmico, por outro, no h como
negar a realidade do aumento da velocidade na interao entre as diversas realidades sociais no planeta
decorrentes da diminuio das distncias e das barreiras entre os pases a partir do desenvolvimento das
foras produtivas, da cincia e da tecnologia da informao. As novas tecnologias de informtica,
transporte, comunicao, etc., tornam o mundo um espao muito mais interativo. Um fato que ocorre aqui e
agora transmitido quase imediatamente para o resto do mundo e vai influenciar de maneira imprevisvel a
ocorrncia de outros fatos.
sistemas musicais se esgotaram enquanto possibilidades autosuficientes e expansveis. O
tonalismo ocidental, por exemplo, a partir de uma longa histria de gestao,
consolidao, afirmao de regras e flexibilizao das mesmas, se expandiu at
"explodir" com o advento do atonalismo, serialismo e sucedneos. A histria do jazz, de
maneira anloga, desembocou num esgotamento de procedimentos.
O livre improvisador lida com vrios sistemas simultaneamente ou -
supostamente - com a ausncia deles. Ele pode ser um msico proveniente do territrio
do jazz que, em sua busca por novas formas de expresso e liberdade criativa acaba se
deparando com um esgotamento dos antigos sistemas de referncia. Para este msico no
h mais nada de novo a dizer atravs dos antigos idiomas. Cabe ressaltar que o jazz ,
essencialmente, uma msica que se realiza atravs da improvisao e quando todas as
solues pessoais parecem j no surpreender - todos os gestos do instrumentista
parecem "dicionarizados" e previsveis - a prtica da improvisao se torna "burocrtica"
e pode perder o significado.
Este msico pode ser tambm o compositor/intrprete de msica "eurolgica"
(erudita ocidental) que vivencia o esgotamento dos sistemas aps o fim do tonalismo e se
volta para novas formas de expresso que podem incluir as msicas tnicas, o jazz, etc.
Lembremos que, atualmente, grande parte dos msicos no mundo ocidental
submetido uma enorme multiplicidade de sistemas e idiomas. Hoje temos acesso
retrospectivo, a toda a produo de msica no ocidente e mais toda a msica feita em
outros lugares do mundo e de origem no europia. Esta situao cria condies para um
desenraizamento da msica atual. Este desenraizamento parece apontar positivamente
para o advento de novos tempos onde as estruturas mais profundas da arte, da linguagem
e do pensamento se desprendem de suas especificidades idiomticas para expressar
formas mais suts da existncia: o "molecular", o csmico.
Num primeiro momento, centremos nossa argumentao na escuta. A livre
improvisao, que para ns se d numa espcie de negao de territrios ou a partir de
uma sobreposio (colagem, raspagem, transbordamento) de idiomas, , como dissemos
acima, uma possibilidade (histrico/geogrfica) contempornea. E esta possibilidade se
delineia a partir da configurao de novas formas de escuta. Podemos dizer que, para o
msico, o ambiente da livre improvisao longamente preparado. Por exemplo, ao
contrrio do que nos diz o senso comum, no jazz, a improvisao no uma performance
sem preparao. De fato haveria, segundo Paul Berliner, "uma vida inteira de preparao
e conhecimento por traz de toda e qualquer idia realizada por um
improvisador"(Berliner, p.17, 1994). Pensemos nas dimenses comunicativas da
improvisao idiomtica: nela h um nvel de significao dominante resultante de um
processo de enunciao coletiva e um nvel de subjetivao. Assim, a improvisao
idiomtica se d num contexto de redundncia que remete ao idioma (gramaticalidade) e
portanto, intersubjetividade e um nvel de ressonncia onde se do as subjetividades
("indisciplinas"). Os dois nveis se interpenetram e dependem da natureza dos enunciados
realizados (agenciamentos) num campo histrico e social dado. Deste modo h "um
agenciamento coletivo que ir determinar como conseqncia os processos relativos de
subjetivao, as atribuies de individualidade e suas distribuies moventes no
discurso" (Deleuze, 1997, p.18).
Por outro lado, a possibilidade da livre improvisao preparada por uma srie de
fatores presentes na histria e na geografia da msica. Vamos proceder agora, a uma
enumerao de referncias (prticas e tericas) que tornam possveis as prticas de livre
improvisao a partir da configurao de novas formas de escuta. Estas referncias
serviro como base para as investigaes a que nos proposmos neste trabalho.
Em primeiro lugar, temos as pesquisas conduzidas por P. Schaeffer no mbito da
msica concreta. Dali emerge a formulao do conceito de escuta reduzida do objeto
sonoro com todas as implicaes que dela decorrem: ouvir o som em si mesmo
abstraindo a fonte geradora (princpio da escuta acusmtica) e o contexto idiomtico em
que ele eventualmente se apresente ("sonoridade" em oposio a"musicalidade").
Temos tambm a obra e as reflexes de Edgard Varse em busca da "autonomia
do som". Seus procedimentos inauguram uma escrita em que se busca de forma
intencional, uma escuta de massas sonoras e texturas. Alm disso, a questo da forma
tratada de uma maneira particular, enquanto resultado de um processo de desdobramento
de elementos e componentes maneira de um organismo. A forma se forma no processo
de composio a partir de atributos inerentes s texturas. O material se enforma a partir
de sua energia intrnseca. A forma no imposta sobre uma matria inerte.
Temos tambm a obra do compositor italiano Giacinto Scelsi. Ali, o que se almeja
uma espcie de molecularizao do som atravs de um processo contnuo de micro
percepes. Ele se prope a "viajar dentro do som". A obra Scelci, por sua vez, vai
influenciar - tanto quanto a msica eletroacstica - a corrente da msica espectral. Seus
maiores representantes so Gerard Grisey e Tristan Murail que trabalham a composio a
partir de anlises detalhadas do som enquanto um acontecimento acstico complexo
(anlise espectral).
Outra referncia a obra de Olivier Messiaen. Nela, a partir de um minucioso
trabalho de desdobramento de figuras e de imbricamento de proto-melodias -
relacionadas na escuta e na composio de uma maneira rizomtica (simultnea, linear,
diagonal, etc.) -, se almeja uma escuta mltipla e heterognea da simultaneidade. De
maneira diversa e a partir de uma colagem "alucinada" de signos musicais (figuras,
fragmentos de gestos musicais) o compositor americano Charles Ives tambm prope,
entre outras coisas, um tipo de escuta nmade e mltipla. Em sua obra convivem vrios
estratos temporais heterogneos.
Citemos tambm a msica experimental norte americana e a revoluo conceitual
promovida por John Cage. Sua aproximao com o Zen e as demais formas de
pensamento oriental e suas conseqncias sobre o fazer musical ocidental; seus
questionamentos estticos sobre a noo de obra artstica separada da vida, sua adeso a
uma espcie de dadasmo que questiona a solenidade do fazer artstico. A escuta aqui se
coloca como ato no intencionado ou como uma escuta sem propsito integrada
naturalmente na vida. A racionalizao abre espao sensao pura.
Assim tambm, o nascimento da livre improvisao s possvel no contexto de
uma idia de ps-modernidade em que surge um trabalho como o do compositor Luciano
Berio
3
onde o gesto (o simblico investido na linguagem) e o idiomtico se vem
descontextualizados, deformados, reterritorializados e reconfigurados em composies
em que uma escuta polifnica resultado da simultaneidades de linhas de escuta numa
proposta de convvio entre o gestual, o figural e o textural. Mas tambm s possvel a
3
Lembremos como obras significativas desta tendncia o 3o. movimento da Sinfonia - onde h um
impressionante trabalho de colagens, raspagens de peas do repertrio ocidental - e as Sequenzas, mais
especificamente as para voz e para trombone.
partir da desterritorializao da figura
4
(aspecto rtmico-meldico: propores entre as
notas) promovida por Schoenberg quando, em suas primeiras obras atonais, a liberta dos
condicionamentos idiomticos da tonalidade e fundamenta um pensamento propriamente
figural - e em certa medida, timbrstico - desvinculado de um sistema (apesar de haver
logo depois promovido uma extensa territorializao da mesma figura atravs do
serialismo).
Temos tambm a prtica e as reflexes de msicos como Cornelius Cardew,
Derek Bailey, todos os grupos de free improvisation europeus e norte americanos que se
ligam a uma longa histria de desenvolvimento do jazz norte americano e uma
preocupao com o intrprete enquanto formulador e enunciador de discurso musical.
Resumindo ainda de maneira introdutria, podemos dizer que a livre
improvisao um fato musical com grande potencial de produo e que s possvel no
contexto de uma busca de superao do idiomtico, do simblico, da representao, do
gestual, do sistematizado, do controlado, do previsvel, do esttico, do identificado, do
hierarquizado, do dualista e do linearizado em proveito do mltiplo, do simultneo, do
instvel, do heterogneo, do movimento, do processo, do relacionamento, do vivo, da
energia e do material em si (em oposio dupla matria/forma).
Bibliografia
DELEUZE, Gilles, Dilogos, So Paulo: Ed. Escuta, 1998.
_______________Pricles e Verdi, A filosofia de Franois Chtelet, Rio de Janeiro, RJ,
Pazulin, 1999.
________________Lgica do sentido, So Paulo, Ed. Perspectiva, 2000.
______________ A Dobra, Campinas, SP, Papirus, 1991.
______________ Mil Plats, So Paulo, SP, Editora 34, 1997.
______________ O que a Filosofia?, So Paulo, SP, Editora 34, 1992.
4
Os conceitos de textura, figura e gesto aqui utilizados foram ormulados pelo compositor Brian
Ferneyhough a partir de aproximaes com a semitica Peirciana: a figura est ligada ao aspecto rtmico-
meldico da msica e diz respeito s proporcionalidade entre as notas. O contraponto enquanto uma tcnica
que disciplina estas proporcionalidade pensamento tipicamente figural. O gesto diz respeito ao que emana
dos idiomas e estilos especficos. Assim Bach e o choro brasileiro so ambos pensamento figural mas cada
um se caracteriza por uma gestualidade especfica. J a textura se relaciona o objeto sonoro: por exemplo,
o nvel propriamente sonoro de uma trama polifnica Bachiana.
FERRAZ, Silvio, Msica e repetio; a diferena na composio contempornea, So
Paulo, SP, EDUC 1998.
GARDNER, Howard, Estruturas da mente: A teoria das inteligncias mltiplas, Porto
Alegre, RGS, Artes mdicas 1994.
SALLES, Ceclia de Almeida, Gesto Inacabado, Processo de criao artstica, So Paulo,
SP, FAPESP, Annablume, 1998.
MATURANA, Humberto, De mquinas e seres vivos:autopoiese - a organizao do
vivo, Porto Alegre, Ed. Artes Mdicas, 1997.
BAILEY, Derek, Improvisation, its nature and practice in music, Ashbourne, England,
Da Capo Press, 1993.
BERLINER, Paul F. ,The infinite art of improvisation, Chicago and London, The
university of Chicago Press, 1994.
MENEZES, Flo (org.), Msica Eletrnica, So Paulo, SP, Edusp, 1996.
MATURANA, Humberto e Francisco Varela, A rvore do conhecimento: As bases
biolgicas do entendimento humano, Campinas, SP, Editorial Psy II, 1995.
VIVIER, Odile , Varse, Paris, ditions du Seuil, 1973.
NYMAN, Michael, Experimental Music, United Kingdom, Cage and Beyond, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999.
HUIZINGA, Johan, Homo Ludens, So Paulo, SP, Ed. Perspectiva, 1993.
BOULEZ, Pierre, Apontamentos de aprendiz, So Paulo, SP, Ed. Perspectiva, 1995.
SANTOS, Ftima Carneiro dos, Por uma escuta nmade, a msica dos sons da rua, So
Paulo, SP, EDUC, FAPESP,2002.
ZUMTHOR, Paul, A letra e a voz, So Paulo, SP, Companhia das letras, 1993.
SCHAEFFER, Pierre (1994), Tratado dos objetos musicais, Braslia, Edunb, 1994.
NATTIEZ, Jean Jacques, Umberto Eco, Nicolas Ruwet, Jean Molino, Semiologia da
Msica, Lisboa, Vega Universidade.
No Manantial: processos composicionais
Rogerio Tavares Constante
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
rogeriotc@pop.com.br
Resumo: O presente texto apresenta os principais aspectos tcnico-composicionais e estticos da
obra No Manantial: a ligao entre modelo literrio e msica; a complexidade tmbrica; a
organizao de alturas; a conciso na construo e no desenvolvimento das regies temticas; a
conduo do percurso dramtico e a proporo formal. O trabalho composicional aqui
apresentado possui um posicionamento esttico subjacente ligado Esttica do Frio, teorizada
pelo compositor sul-rio-grandense Vitor Ramil. Atravs deste texto, o autor pretende revelar as
suas principais tomadas de decises e as principais consideraes tcnicas e estticas que o
nortearam, dando forma sua linguagem composicional.
Palavras-chave: composio, analogias, esttica do frio.
Abstract: The present document discusses technical and esthetic aspects of the composition No
Manantial for nine instruments, based on a short story by Brazilian author Simes Lopes Neto.
These aspects of composition are: the relation of music to literary sources, the complexity of
timbric organization, the conciseness of thematic regions, the continuity of drama, and the
structuring of formal proportions. In the present document, the author discloses his main
decision-taking processes; he assesses the technical and esthetic implications of his compositional
language while acknowledging his debt to the Aesthetics of the cold movement theorized by
Brazilian composer Vitor Ramil.
Keywords: composition, analogy, aesthetics of the cold.
O presente texto tem por objetivo apresentar o meu trabalho composicional
realizado em 1998 e 1999, durante o curso de Mestrado em msica. Este trabalho foi
formado por um conjunto de composies musicais, que culminaram na obra final - No
Manantial. Assim, pretendo explicar os processos composicionais de No Manantial
atravs da discusso de seus principais aspectos tcnico-composicionais e estticos. Estes
aspectos, consolidados em No Manantial, foram-se formando gradualmente nas obras Os
ventos uivantes, Manuscrito encontrado numa garrafa e Trio para violino violoncelo e
piano, e em miniaturas (para diversas orquestraes) que, sem a pretenso de formarem
uma obra mais completa, representaram os estudos composicionais iniciais deste perodo.
O trabalho composicional apresenta um posicionamento esttico subjacente
ligado Esttica do Frio, que abrange uma srie de convenes filosficas oriundas do
contexto cultural e da paisagem sul-rio-grandense, a qual amplamente definida pelo
rigor de seu frio. Analogamente, no meu processo composicional, este rigor representa
um cuidado minucioso e uma severidade nos procedimentos realizados ao compor. Estes
procedimentos sempre envolvem tomadas de decises que esto presentes em todos os
momentos do processo composicional e que, por este enfoque do rigor, devem ser
coerentes com as necessidades e regras intrnsecas de cada composio.
Este posicionamento esttico subjacente est fundamentado em referncias
tericas e poticas ligadas Esttica do Frio atravs do artigo Brazilian music before
and after Koellreutter(CHAVES, 1996), no ensaio A esttica do frio (RAMIL, 1992), e
no disco Ramilonga (no texto do encarte e na letra da cano Milonga de sete
cidades)(RAMIL, 1997).
O disco Ramilonga est inserido nesta Esttica do Frio que est refletida no
texto de apresentao do encarte, na letra da cano Milonga de sete cidades e nas suas
msicas - atravs da forma da milonga que, segundo Ramil, contm os elementos da
Esttica do Frio.
Na letra da cano Milonga de sete cidades esto apresentados sete conceitos
pertencentes a esta esttica (rigor, profundidade, clareza, conciso, pureza, leveza e
melancolia), dos quais quatro esto fortemente relacionados minha definio esttica:
rigor, profundidade, clareza e conciso.
O rigor que est presente na paisagem sul-rio-grandense e no seu frio, para mim,
tem sua analogia no rigor tcnico-composicional que, como j definido anteriormente
deve ser responsvel pela coerncia do processo composicional.
A conciso torna-se necessria para que o universo de cada composio (ou suas
sees) seja bem estabelecido. Esta conciso, ao evitar a diversidade desnecessria,
favorece a definio das estruturas formais.
A clareza deve ser entendida como o resultado do rigor e da conciso. Desta
maneira, ela pode ser encontrada em vrios procedimentos do processo composicional,
como no desenvolvimento de temas e especialmente na definio das sees e das regies
temticas.
A profundidade est relacionada com o cuidado para que todos detalhes
composicionais possuam uma relao ntima com o impetus da composio. Este impetus
aqui definido como o impulso gerador que leva composio de uma determinada
obra
1
.
Outra idia presente nesta letra, representada pela frase Jamais milonga solta no
espao, indica, para mim, que a composio musical deve estar fundamentada e contida
nos seus parmetros estticos e nas suas prprias regras de composio.
No trabalho composicional que precede a obra final (No Manantial), foram
identificados e desenvolvidos quatro principais aspectos tcnico-composicionais: a
conciso na construo e no desenvolvimento das regies temticas
2
; a conduo do
percurso dramtico; a proporo formal entre as sees e a relao entre texto e msica.
O trabalho que objetivou a busca da conciso teve como parte principal a
composio de miniaturas, onde foi possvel construir peas musicais baseadas em um
nmero restrito de elementos essenciais. As suas caractersticas de curta durao e de
identidade coesa permitiram o estabelecimento dos parmetros que guiaram, em obras de
maior durao, o desenvolvimento musical preservando a conciso.
A conciso tambm encontrada nas junes de regies temticas atravs das
conexes. Nestas, o desenvolvimento de materiais igualmente baseado em elementos
das duas regies temticas ligadas ou baseado em elementos de uma regio temtica
enquanto que os elementos da outra so gradativamente inseridos ao seu
desenvolvimento.
As conexes so importantes para a conduo do percurso dramtico de forma
contnua, como em Manuscrito encontrado numa garrafa e em Notos (segundo
movimento de Os ventos uivantes). Nestas obras a continuidade do percurso dramtico
caracteriza-se pela ligao entre os diferentes contedos dramticos das regies temticas
e/ou sees, de modo que no haja interrupo na ao musical e seja construdo um
nico desenvolvimento dramtico.
1
O termo impetus utilizado aqui tambm a partir da definio de Reynolds: ... o impetus da obra, a
essncia da qual o todo pode nascer e para qual, uma vez iniciada a composio, toda a evoluo est
continuamente fazendo referncia, como responsvel (REYNOLDS, no prelo, p. 9)
2
O significado da expresso regio temtica est relacionado com o significado de exposio temtica na
forma sonata, onde idias musicais so apresentadas mantendo uma relao direta com a fisionomia dos
principais motivos (BAS,1969, p.266). No contexto deste trabalho, regio temtica significa uma seo
da msica que possui um conjunto de elementos os quais lhe do uma identidade e a diferenciam de outras
sees.
Outro aspecto da conduo do percurso dramtico o cuidado para que no haja
um esvaziamento do contedo dramtico no desenrolar da ao musical. Esta questo
relaciona-se a diversos elementos como o ritmo, o desenvolvimento de materiais, a
textura e a definio de sees. Cada caso props uma soluo particular. Portanto, para
evitar o esvaziamento do contedo dramtico necessria a constante reavaliao das
vrias etapas do processo composicional, tendo em vista a fluidez da ao musical.
A proporo formal entre as sees o resultado da confirmao dos diferentes
nveis de movimentao e de tenso do percurso dramtico, o qual define, assim, o
tamanho e a importncia de cada seo.
Os aspectos tcnico-composicionais aqui mencionados tambm esto presentes
em No Manantial. No entanto, assim como a questo esttica, em No Manantial eles j
estavam melhor definidos, o que possibilitou um maior aprofundamento especialmente
nos problemas de correspondncia do texto em msica.
A composio No Manantial teve como impetus o conto homnimo de Simes
Lopes Neto, que possui, para o compositor, caractersticas de estilo e forma,
principalmente no que se refere ao desenvolvimento dramtico e descrio de
ambientes, personagens, episdios e estados emocionais que desencadearam o
estabelecimento de analogias entre texto e msica. O contraponto entre a intensificao
de rispidez, tenso e obscuridade, e imagem subjacente de delicadeza e calma pareceu
bastante adequado para ser refletido pela msica. Estas caractersticas foram ressaltadas
pelo estilo do escritor, onde a naturalidade do linguajar regional faz o folclore recriado
atravs da fantasia tornar-se verdadeiro.
Paralelamente, o desenvolvimento dramtico do conto eficaz ao encadear
vrios momentos com diferentes graus de tenso no seu desenrolar. Esta eficincia
realmente assegura a ateno durante a leitura, indicando um procedimento similar a ser
adotado no percurso dramtico da msica.
As analogias entre o texto e a msica serviram de impulso para determinar o
carter das peas e/ou sees, a sua organizao formal, os seus desenhos rtmicos e
meldicos, e os gestos musicais. A proporo formal entre as sees tambm foi
determinada pelo texto, uma vez que o prprio percurso dramtico derivado das
analogias com o conto. As peas estabeleceram analogias com alguma parte do conto, de
modo que um conjunto de seis peas terminou por corresponder ao conto inteiro.
A primeira pea do ciclo corresponde parte inicial do conto, onde a narrativa
descreve o manantial e apresenta a explicao do seu surgimento. Esta parte do conto
gerou: a exposio de um tema, relacionado ao manantial, sendo que o motivo gerador
deste tema (primeiro compasso) tambm serviu de referncia para outras peas do ciclo,
como uma analogia ao manantial; gerou um compasso de pausa separando esta exposio
inicial da seo seguinte, com o objetivo de criar uma expectativa que representa a
indagao inicial do texto (- Est vendo aqule umbu, l embaixo, direita do
coxilho?); e uma seo que desenvolve o tema inicial e anlogo explicao do
manantial.
A instrumentao desta primeira pea um importante elemento de analogia
com o texto. O ambiente sonoro do ciclo introduzido, mas reduzindo o noneto (a
instrumentao do ciclo como um todo) a um quinteto que contm um elemento de cada
grupo de instrumentos (fagote, guitarra portuguesa, violo, percusso e violoncelo), assim
como o respectivo trecho do conto introduz o ambiente do manantial. Esta
instrumentao tambm tem o objetivo de relacionar o carter sombrio e aterrador do
manantial s regies graves do fagote e do violoncelo apresentadas no material principal
da pea.
A segunda pea foi construda a partir do trecho do conto onde a histria inicia e
so apresentados os seus personagens principais. A msica relaciona-se com o conto ao
nvel estrutural - pelo nmero de sees - assim como na definio do carter das sees
e de gestos musicais. A personagem Maria Altina tem sua analogia determinada pelo seu
carter delicado e suave refletido nas dinmicas (entre p e ppp), no andamento (lento) e
na regio da escala geral (aguda), encontradas na segunda seo. Na terceira seo, o
gesto agressivo apresentado pelo violo e violoncelo, aliado s intensidades fortes e
utilizao da regio grave, estabelecem uma analogia entre o carter tenso e agressivo da
msica e do personagem Chico. A analogia para o Mariano, na primeira seo,
estabelecida pelo fato de ele ser o primeiro personagem (entre os principais) a ser
apresentado no conto e pela diferenciao desta para as outras sees. No existe uma
ligao direta entre os materiais musicais ou o carter da seo e o personagem, pois ele
no possui traos caractersticos marcantes que pudessem ser transportados para a
msica.
A terceira pea do ciclo corresponde parte do conto onde ocorre a perseguio
na qual Chico e Maria Altina acabam afundando-se no lodaal do manantial. Este trecho
foi considerado o clmax do conto e, por analogia, esta pea o ponto extremo de tenso
dentro do ciclo.
O texto gerou na msica a estrutura formal A B, onde A, que representa o
pressentimento do que ir acontecer, possui carter tenso e andamento lento; e em B, de
andamento rpido, a tenso que representa o clmax (no texto e na msica) alcanada
atravs da soma de vrios elementos musicais: o ritmo obstinado de semicolcheias no
violo e vibrafone, e percusso adicionada posteriormente; as intervenes
progressivamente mais longas dos instrumentos de sopro; o aumento da tenso
harmnica, gerado pela progressiva utilizao de maior nmero de notas da srie ao
mesmo tempo; a intensificao da dinmica no final da seo; e um progressivo
adensamento da textura pelo acrscimo de instrumentos.
O texto gerou ainda uma associao para o final desta pea. Uma analogia entre
texto e msica acontece nos compassos finais que reproduzem a frase do conto: E como
rastro, ficou em cima, boiando, a rosa do penteado.. Neste trecho da msica acontece
uma citao do motivo anlogo ao manantial, apresentado no primeiro movimento, mas
modificado atravs da aumentao rtmica e tambm no seu contedo intervalar. Esta
citao (tocada pelo violoncelo) reestabelece o ambiente sombrio do manantial, sobre o
qual a rosa est boiando (material tocado pela flauta nos compassos finais).
A quarta pea anloga parte do conto onde o sossego do manantial
reestabelecido. Nesta pea, a analogia acontece de duas maneiras: o carter tranqilo e
meditativo (anlogo ao sossego, no conto), assegurado pelo andamento lento e pela
clareza da textura homofnica; e a utilizao de um tema derivado do motivo gerador da
primeira pea, que representa o manantial. Este tema tem os seus contedos intervalar,
meldico e de alturas idnticos ao motivo gerador da primeira pea, alm de possuir um
desenho rtmico semelhante.
A parte do conto, onde ocorre a discusso entre Mariano e Chico e que culmina
com o afogamento de ambos, no manantial, foi o impulso gerador da quinta pea do
ciclo.
Quanto forma, este trecho do conto gerou trs sees: a primeira anloga
discusso entre Mariano e Chico, at o ponto onde a me do Chico interfere abraando-
se aos joelhos do Mariano - nesta seo a analogia estabelecida pelo dilogo entre os
materiais apresentados por flauta e clarinete e por guitarra portuguesa e vibrafone; a
segunda seo reflete a aparente desistncia de Mariano matar Chico, e a analogia
estabelecida atravs da mudana repentina para um ritmo mais lento, gerando um carter
meditativo; e a ltima seo anloga ao gesto no qual Mariano atira-se no manantial e
com Chico acaba afundando-se, - nesta seo a analogia se d atravs da retomada da
movimentao rtmica (ainda mais intensa que na seo inicial) e pelos desenhos
meldicos que, em linhas gerais, so descendentes.
A ltima pea anloga parte final do conto, onde est descrito como o
arranchamento abandonado foi desaparecendo, mas a roseira que nasceu do talo da rosa
que ficou boiando, ao contrrio, permaneceu.
Em um primeiro nvel de analogia, a pea foi formalmente organizada em duas
sees anlogas ao conto: a primeira seo reflete a desaparecimento do arranchamento; a
segunda representa a roseira que nasceu do talo da rosa que ficou boiando no lodaal.
No segundo nvel de analogia, foram definidas as texturas das sees. Na
primeira seo ocorre uma subdiviso, em trs partes, caracterizada pelo decrscimo de
timbres e de materiais, que representa o desaparecimento do arranchamento. Na segunda
seo a textura de notas longas e estticas, inicialmente com flauta e percusso , e depois
com o acrscimo tmbrico e harmnico do violo, fagote, vibrafone e clarinete. Nesta
seo a analogia estabelecida pelo material da flauta (ao referenciar a representao da
rosa na terceira pea), pelo rufo no bumbo (que reflete a obscuridade do manantial, assim
como as peles graves, no quarto movimento), e atravs dos materiais dos outros
instrumentos que, ao ampliarem o espectro harmnico e tmbrico da seo, formam a
representao da roseira. O violo, o vibrafone e o fagote contribuem ainda analogia do
manantial, atravs do reforo harmnico na regio grave e/ou do trmolo, reforando a
tenso e obscuridade do material do bumbo, de maneira que os materiais anlogos
roseira e ao manantial acabam por fundirem-se.
O trabalho composicional aqui descrito visou um desenvolvimento tcnico e
intelectual que estabelecesse um pensamento composicional coerente. Foram buscadas
solues que indicassem identidade, definio e coerncia e, assim, cada composio
aqui citada, ao solucionar problemas propostos, representou um estgio indispensvel e
indissocivel em meu desenvolvimento composicional.
Neste sentido, as definies estticas tiveram funo preponderante, j que esta
coerncia foi alcanada atravs do rigor. O rigor, aqui, no se refere somente s
caractersticas musicais (como denotado pela conciso no desenvolvimento de materiais).
Ele se relaciona tambm ao rigor na prpria relao do compositor com a sua obra,
refletindo-se na constante necessidade de uma reflexo que, a cada etapa do processo
composicional, identifique possveis lapsos e coloque em questo os procedimentos que
viessem a comprometer a coerncia do pensamento composicional.
Este trabalho representou um amadurecimento do meu processo composicional,
expandindo concepes tcnico-composicionais e estticas atravs da reflexo e da
resoluo dos problemas propostos a cada pea. Este amadurecimento do processo
composicional est exemplificado na busca por respostas s diversas questes aqui
abordadas. Sendo este trabalho um recorte de um processo composicional em constante
movimento, possvel dizer que as composies subseqentes (entre 2000-2002), ao
proporem as suas prprias questes especficas, expandiram ainda mais as concepes
estticas e tcnico-composicionais, aqui expostas, assim como as composies futuras
podero continuar expandindo estas concepes, configurando um processo sem fim.
BIBLIOGRAFIA
ALBUQUERQUE, Armando. Texto publicado no encarte do disco Mosso, 1985. Sem
nmero de pgina.
BAS, Julio. Tratado de la forma musical. 5. ed. Buenos Aires: Ed. Ricordi, 1969.
BERNARD, Jonathan W. Analytical strategies and musical interpretation. (Ayrey Craig
and Everist, Marr, eds,). Cambridge: Cambridge University Press. 1996. P. 169-204.
BOULEZ, Pierre. Apontamentos de Aprendiz. So Paulo: Perspectiva. 1995.
CARDASSI, Luciane. A msica de Bruno Kiefer: "Terra", "Vento", "Horizonte" e a
poesia de Carlos Nejar. Dissertao de Mestrado. Porto Alegre, UFRGS, 1998.
CHAVES, Celso L., Brazilian Music and After Koellreutter. Word New Magazine n 6,
1996, p.65-72.
________________. Um pouco da msica de Armando Albuquerque. Texto publicado no
encarte do disco Mosso, 1985. Sem nmero de pgina.
EPSTEIN, David. Shaping Time. New York: Schirmer Books,1995.
FERNEYHOUGH, Brian. Collected Writings. Amsterdam: Harwood Academic
Publishers , 1995.
KRAMER, Jonathan D. The time of music. New York: Schirmer Books, 1988.
LOPES NETO, Joo Simes. Contos Gauchescos e Lendas do Sul. 5. Ed. Porto Alegre,
1957.
MATTOS, Fernando. A Salamanca do Jarau de Luiz Cosme: Anlise Musical e Histria
da Recepo Crtica. Dissertao de Mestrado. Porto Alegre, UFRGS, 1997.
MEYER, Augusto. Prefcio. In: LOPES NETO, Joo Simes. Contos Gauchescos e
Lendas do Sul. 5. Ed. Porto Alegre, 1957. p. 11-23.
POE, Edgar Allan. Manuscrito encontrado numa garrafa e outros contos. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1996.
RAMIL, Vitor. Esttica do frio. Satolepage (www.ufpel.tche.br/~ramil/vitor), 1996, sem
nmero de pgina.
REYNOLDS, Roger. About Form and Method. Volume 1: The text. Switzerland:
Harwood Academic Publishers. no prelo.
ROSEN, Charles. Sonata Forms. New York, London: W.W.Norton & Company,
Inc.1980.
1
Memria musical indgena no Brasil. A implementao do Catlogo de
registros sonoro-musicais indgenas
1
Rosngela Pereira de Tugny
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
tugny@musica.ufmg.br
Osvaldo Carvalho
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
vado@ufmg.br
Luiz Antonio Pinheiro Martins
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
pinheiro@ufmg.br
Fabiana Pereira Peixoto
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
fabiana@ufmg.br
Daniel Magalhes
2
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
ze_daniel@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho pretende apresentar as premissas sobre as quais foi elaborado e implementado o
Catlogo de registros sonoro-musicais indgenas Brasil em base de dados on-line, no intuito de
coletar, organizar e fornecer informaes e criar um ambiente de interlocuo com pesquisadores,
instituies, bem como com sociedades indgenas e grupos indigenistas. Fruto de um levantamento
preliminar sobre o estado de colees mais significativas de registros sonoros indgenas, a realizao
deste catlogo suscita reflexes relacionadas a diferentes conceitos sobre patrimnio religioso e musical
indgena.
Palavras-chave: memria musical, msica indgena, arquivos sonoros
Abstract: This paper intends to present the premises that guided the elaboration and implementation of
the Catalogue of indigenous music/sound records Brazil (Catlogo de registros sonoro-musicais
indgenas - Brasil) in on-line database. The Catalogue aims at collecting, organizing and providing
information and at creating a means of interlocution among researchers, institutions, as well as among
indigenous societies and indigenist groups. Resulting from a preliminary survey about the conditions of
the most significant collections of indigenous sound records, the elaboration of this catalogue raises
questions related to different concepts of indigenous musical and religious patrimony.
So mltiplas as perspectivas pelas quais pode-se pensar o tema da memria de grupos sociais
com respeito s suas prticas musicais. Como processo construtivo de formas de percepo
temporal, misto de escoamento e sntese (Accaoui, 2002, p. 3), os gneros musicais assumem
nas sociedades humanas funes simblicas centrais e diversas. Junto s sociedades indgenas
brasileiras, estas funes podem estar vinculadas formao de conceitos de temporalidade em
1
A presente pesquisa realizada com recursos da Pr-reitoria de pesquisas da UFMG, FAPEMIG, CNPq. Os
autores agradecem o apoio destas instituies.
2
Bolsista PIBIC UFMG/ CNPq.
2
alguns grupos e organizao espao-temporal dos seus indivduos (Seeger, 1987),
atualizao coletiva de tempos mticos e estruturantes (Bastos, 1986), renovao de elos com
seres do mundo invisvel (lvares Martins, 1992). desta forma que as suas prticas do que
comumente chamamos memorizao, transmisso e preservao musical, assumem formas e
significaes mltiplas. Este vasto horizonte de sentidos relacionados memria musical se
amplia ainda mais diante da dinmica das sociedades ou dos grupos indgenas, de suas
renovadas recolocaes face sociedade nacional e face aos demais grupos. Dentro do contexto
dos mais recentes processos de reconhecimento de etnias e territrios indgenas, as atividades
musicais e os conjuntos de repertrios tidos como patrimnios grupais adquirem novos
sentidos.
Paralelamente a estas perspectivas de abordagem, as situaes de contato entre as sociedades
indgenas e os brancos produziram, e continuam produzindo, um acmulo de provas materiais
que nos levam a pensar a memria musical do ponto de vista das prticas arquivsticas,
inclundo o recolhimento, o arranjo, a informao, a preservao e a disseminao dos
documentos. Desde as primeiras gravaes, cujos registros mais antigos constantes no
Phonogramm-Archiv de Berlim datam de 1903, realizados por iniciativa de Paul Trger (1867-
1933) junto aos ndios Guarani (Ziegler, 2001), sucessivas etapas de contato e recolhimento
delinearam um panorama heterogneo e disperso de um vasto conjunto de colees de
documentos sonoro-musicais realizados no Brasil. So diferentes suportes fonogrficos,
diferentes perspectivas postuladas na origem das expedies responsveis pela formao das
mais representativas colees, e diferentes as atuais polticas de preservao e de tratamento da
informao praticadas pelas instituies mantenedoras destas gravaes
3
.
Uma pesquisa inicial se props realizao de um catlogo crtico e histrico dos conjuntos de
registros sonoros indgenas realizados no Brasil, buscando apreciar as situaes de contato em
que tais registros foram produzidos. Paralelamente a esta pesquisa, buscou-se a realizao de
reprodues de tais registros sonoros junto s diferentes instituies de custdia, por iniciativa
do Laboratrio de etnomusicologia da UFMG, o qual se propunha constituio de um centro
documental sobre msica indgena. No decorrer desta pesquisa, foi, por um lado, possvel
apreciar a existncia de uma grande quantidade de documentos sonoros de altssimo interesse, e
por outro, constatar a inexistncia de polticas brasileiras voltadas para a conservao,
organizao e difuso destes documentos, a qual se reflete na inexistncia de articulao e
3
colaborao entre instituies acadmicas, museus e outras. Alm dos fundos constitudos por
missionrios (como por exemplo Pre Caron, Pre Lambert), por sertanistas (como Jesco
Puttkamer) e pelas misses de pesquisa anteriores primeira guerra mundial (Phonogramm-
Archiv de Berlim, Roquete Pinto), os centros promovedores de pesquisas etnogrficas
produzem e acumulam incessantemente novos documentos cujos destinos so pouco
conhecidos do pblico acadmico e das sociedades indgenas. Alm dos problemas que
suscitam a conservao e substituio de suportes fonogrficos, face aos quais as instituies
responsveis no tm encontrado solues satisfatrias, o tema aqui abordado nos remete
novamente aos delicados aspectos vinculados ao temas da memria e patrimnio musical junto
s sociedades indgenas. Cada pesquisador que retorna do campo com documentos gravados,
sabe que traz consigo o fruto de um longo e vulnervel processo de negociao, onde diferentes
planos de construo de sua relao com os grupos em que esteve, so neles representados.
por tal razo que seria impossvel pensar em polticas nicas de difuso das informaes de um
desejvel centro de documentao da msica indgena no Brasil. Tendo em vista o volume das
informaes levantadas nas pesquisas e as complexas questes acima mencionadas, o
Laboratrio de etnomusicologia e o Laboratrio de Computao Cientfica da UFMG
desenvolveram o Catlogo de registros sonoro-musicais indgenas-Brasil, sobre suporte
eletrnico
4
. Este catlogo permite a consulta permanente on-line e o cadastramento simultneo
de diferentes colees, podendo congregar colaboradores de vrios estados, aldeias e pases.
Desta forma, o catlogo poder atuar ao mesmo tempo como instrumento coletivo de pesquisa,
proporcionando maior transparncia com respeito aos aspectos ticos que ela implica.
Diferentes tentativas e formatos de catalogao se sucederam at a definio da verso que ora
apresentamos. Em todos eles, buscava-se a mais adequada apresentao da multiplicidade do
universo sonoro indgena, levando em conta as limitaes prprias de cada grupo de gravaes.
Para tanto, foram definidas trs grandes reas de identificao para cada registro a ser descrito:
rea 1 - A situao do recolhimento
rea 2 - A situao do registro na atualidade
3
Seria desejvel apresentar aqui um mapeamento das mais significativas colees de registros
sonoros musicais indgenas do Brasil. No entanto, ainda sucinto e seletivo, esta apresentao
extrapolaria os limites do presente trabalho.
4
Alguns colaboradores foram decisivos na elaborao deste catlogo, aportando observaes
e sugestes importantes e atendendo pacientemente s questes que lhes colocamos.
Agradecemos especialmente a Accio Tadeu Piedade (UFSC), Jean-Michel Beaudet (CNRS-
Frana), Rafael Jos de Menezes Bastos (UFSC) e aos demais integrantes do MUSA (UFSC).
4
rea 3- Caso existente no Laboratrio de Etnomusicologia da UFMG, seriam preenchidos
os dados concernentes.
Sem dvida, a primeira rea de identificao, apresenta as maiores dificuldades de descrio. A
primeira dificuldade reside na definio da unidade a ser descrita. No se tratando de conjunto
de obras musicais, com autorias, ttulos e noes de incio/meio/fim, encontramo-nos diante de
diferentes formatos de gravaes. Algumas so totalmente interrompidas em pequenas
amostras, onde o momento da gravao conduzido e organizado pelo recolhedor, outras
cobrem ininterruptamente rituais cuja durao pode se estender a vrias noites. Em outros
casos, a limitao do suporte de origem (como no caso dos cilindros de cera) que delimita as
amostragens de situaes musicais. Desta forma, definiu-se que a unidade deveria representar o
momento da gravao, podendo ele conter uma ou mais interrupes do fluxo musical e cobrir
as mais variadas duraes. Outros casos mais complexos referem-se s gravaes de falas,
narraes de mitos e outras formas de registros sonoros vocais, os quais, colocam-nos diante da
dificuldade de definio do que propriamente musical. Um campo denominado
circunstncia se destina traduzir a situao a mise en scne na qual se produziu a
gravao, traduzindo o desempenho do recolhedor na construo da situao de gravao.
Outros campos possibilitam a informao sobre o gnero musical (ou repertrio), as pessoas
presentes no momento da gravao, a data, o local, o recolhedor e os instrumentos
repertoriados. O aplicativo prev a indexao de termos referentes s etnias, tipos de
repertrios e instrumentos segundo as terminologias nativas e aquelas mais consensuais entre
os estudos acadmicos. As denominaes das etnias, em conjunto com a denominao das
localidades em que se encontravam no perodo do recolhimento, foram destacadas dentro desta
rea de identificao, aparecendo como dados que melhor confeririam um ttulo ao registro. As
informaes sobre os registros sonoros podem ser cadastradas segundo dados fornecidos pelo
recolhedor e pelo prprio documento ou segundo dados recuperados em pesquisas adicionais
realizadas pelos catalogadores. Em caso de informao recuperada por meio de pesquisa
complementar do catalogador ou por meio de interpretaes extradas da audio das
gravaes, estas sero inseridas em colchetes.
A segunda rea de identificao apresenta dados sobre a situao do suporte ou dos suportes
preservados. A existncia de cpias, suas localizaes, suas condies fsicas, a durao, as
condies de acesso e reproduo, etc. So acrescentadas nesta rea, informaes sobre a
Em etapas anteriores, este projeto contou com a participao dos bolsistas PIBIC Eduardo
Rosse, Flvio Ferreira e Jos Henrique Padovani.
5
existncia de fontes de pesquisa relacionadas ao registro sonoro, tais como: dirios de campo,
anotaes do recolhedor, publicaes, encartes (no caso de registros editados), fotos, etc.
A terceira rea de identificao diz mais propriamente respeito ao Laboratrio de
etnomusicologia, que pretende desenvolver potencialidades para futuramente se constituir em
um centro de documentao e preservao de registros sonoros indgenas no Brasil. Desta
forma, o catlogo prev o controle de substituio dos suportes, a organizao interna do
acervo e maior especificao, como a minutagem dos documentos. Dados e links sobre os
grupos e instituies que atuam no cadastramento dos seus documentos sero apresentados nas
pginas iniciais. O catlogo de registros sonoro-musicais indgenas aparece-nos como uma
possibilidade de compartilhar informaes por meio de um ambiente de pesquisa transparente e
dinmico, e de congregar esforos e benefcios das experincias de pesquisadores, dos grupos
de pesquisa e das coletividades interessadas no tema da msica indgena.
Referncias bibliogrficas
Accaoui, Christian. Le temps musical. Paris, Descl de Brouwer, 2001.
lvares Martins, Myriam. Ymiy. Os espritos do canto. A construo da pessoa na sociedade
Maxacali (Dissertao de mestradoUNICAMP, 1992).
Rafael Jos de Menezes Bastos. "Msica, cultura e sociedade no Alto-Xingu: a teoria musical
dos ndios Kamayur" in : LAMR 7 (1): Spr/Sumer, 1986, pp. 51-80
Seeger, Anthony. Why Suya Sing : a musical anthropology of an amazonian people.
Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
Ziegler, Susanne. De volta s fontes. Antigos registros em cilindro de cera de origem sul-
americana no Phonogramm-Archiv de Berlim. Comunicao proferida na 36 conferncia
mundial do ICTM. Rio de Janeiro, 2001. (traduo livre de Jos Henrique Padovani).
Ilustraes anexas:
1. Uma forma de busca inicial, realizada por nomes de etnias.
2. Formulrio com campos de preenchimento de cada unidade a ser descrita
6
Ilustrao 1
7
Ilustrao 2
8
Ilustrao 2 (cont.)
O rancho e a rua; questes sobre a atualizao de uma forma cnico-
musical carnavalesca
Samuel Arajo
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
samuca@openlink.com.br
Resumo: Este trabalho procura refletir sobre o papel da msica como instrumento de atualizao da
memria social e, para tal, como mediadora de complexas negociaes simblicas entre atores
sociais, tempos e espaos diferenciados. Com este propsito de carter mais geral, procede-se uma
anlise etnogrfica do processo criativo em uma forma cenico-musical denominada rancho,
recentemente recriada no carnaval de rua do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: ranchos carnavalescos, Rio de Janeiro, etnomusicologia
Abstract: This paper reflects upon the role of music as a tool in the updating of social memory and,
for that purpose, as a mediator of a complex symbolic negotiation between distinct social actors,
and different concepts of time and space. Departing from this general viewpoint, it undertakes an
ethnographic analysis of the creative process in a scenic-musical form called rancho, which has
been recently recreated in Rio de Janeiros street Carnival.
Keywords: carnival ranchos, Rio de Janeiro, ethnomusicology
INTRODUO
Tem-se como marco deste estudo a iniciativa, em meados do ano de 2000, de
retomada da tradio dos chamados ranchos carnavalescos por folies, msicos e
acadmicos do Rio de Janeiro, fato relacionado percepo por uma parcela dessa
coletividade de desapario daquela tradicional forma cenico-musical, ao menos da cena
pblica, em algum momento incerto entre o final da dcada de 1960 e o incio da seguinte.
Reconstituir uma forma considerada extinta por meio de fontes histricas primrias
(depoimentos de participantes e estudiosos dos ranchos, registros fonogrficos e
iconogrficos) e secundrias (reduzidas bibliografias especfica e tangencial) foi, portanto,
o grande desafio inicial enfrentado pelo grupo em questo.
Atravs do estudo de caso, prope-se colocar em debate algumas questes teorico-
metodolgicas cruciais interpostas ao estudo da msica em geral no Brasilembora aqui
seja mais enfatizada uma literatura de temtica comumente rotulada msica popular,
tornando salientes condicionantes ideolgicos que limitam reconstituies desse objeto a
um recorte excessivamente particular e redutor. Assim, invoca-se, por um lado, o que Eric
Este trabalho tornou-se possvel graas a [Bolsa de Fomento No-Identificada] ao Projeto [idem].
Hobsbawm (1998) denomina uso social do passado no Ocidente, para discutir a
interrelao entre os problemas de interpretao e novos usos potenciais da memria social.
Por outro lado, procura-se ressaltar a contribuio de uma abordagem, tanto quanto
possvel, historico-etnogrfica compreenso da dinmica dos processos criativos em
msica, particularmente a integrao de dimenses em geral estudadas em sub-reas de
conhecimento relativamente estanques, tais quais composio, prticas interpretativas,
histria da msica e etnomusicologia.
Outro aspecto importante a ser considerado na leitura deste trabalho o
envolvimento do prprio autor, enquanto folio [sic] e msico, no processo de reinveno
recente da tradio aqui enfocada, o que exige ser ainda mais aguda a conscincia do grau
de reflexividade necessrio anlise que se segue, para que no se a tome por imparcial
ou neutra. Longe, porm, de julgar tal fato um empecilho, a etnomusicologia
contempornea (ver, por exemplo, BARZ e COOLEY 1997) tem reconhecido que os
diferentes modos interferncia do observador de um processo cultural, do teoricamente
mais neutro ao mais intervencionista, diferenciam-se to somente pela intensidade, mas
exigem o mesmo nvel de autocrtica por parte do pesquisador, de modo a no incidir em
interpretaes subjetivas epistemologicamente irrelevantes.
O USO DO PASSADO MUSICAL NA VIDA SOCIAL DO PRESENTE
Leituras variadas e relativamente recentes (ver, por exemplo, ARAUJO 1988, 1992;
BARBEITAS, 1995; LIMA 2001) tm constatado a pouca substncia terica entremeada a
reconstrues problemticas do objeto de estudo msica popular brasileira marcando boa
parte da literatura pertinente. Muitos dos problemas bsicos resultam da falta de abordagem
crtica das fontes de informao (quais, exatamente, teriam sido aquelas consultadas, onde
se encontrariam, o que efetivamente podem dizer?), sobre a qual assentam-se vises
panormicas quase sempre descoladas de uma reflexo sobre as muitas contradies
identificveis nos vestgios disponveis (partituras, gravaes etc.) de prticas musicais
diversas. Embora a limitao de espao no permita desenvolver-se aqui tais questes de
modo mais adequado, prope-se que essas e outras lacunas tm levado a uma certa viso
apressadamente essencialista e reificada de gneros musicais historicamente
significativos no Brasil e a um relativo obscurecimento do trnsito e emprstimos
recprocos de caractersticas estilistico-musicais pelos meandros de uma formao social
simultaneamente hierarquizada e permissiva.
Conforme Hobsbawm (1998), a legitimao de uma determinada maneira de se
entender o passado, recortando alguns entre os variados traos visveis do mesmo, respon-
de, grosso modo, a necessidades das geraes posteriores de reproduzirem e consolidarem
determinadas relaes de hegemonia. Consequentemente, a maior ou menor durao de
certas concepes do passado dizem muito a respeito das relaes de poder entre segmentos
diferenciados da sociedade, sendo que aquelas de mais longa existncia chegam a produzir
a sensaono raro ilusriade que as coisas realmente tiveram tal forma ou procederam
num determinado sentido. Mas, como alerta Hobsbawm, qualquer pretenso estabilidade
eterna de tais vises sempre, de uma maneira ou outra, igualmente ilusria.
1
As inovaes
que ocorrem em interpretaes desse passado dever-se-iam, segundo o historiador ingls,
exatamente s possibilidades abertas pela revelao e explorao dessas omisses em
funo de novos anseios sociais. Haveria nesse caso, diz o autor, duas possibilidades: uma
que comporta mudanas do tipo em que as estruturas e relaes sociais, e as respectivas
ideologias subjacentes, no so modificadas (por exemplo, inovaes tecnolgicas); nesse
caso, o passado continua a ser o padro para o presente; j na segunda possibilidade de
inovao,
....o passado deve deixar de cessar ser o padro para o presente, e pode, no mximo, tornar-
se modelo para o mesmo.(...) Isso implica uma transformao fundamental do prprio
passado. Ele agora se torna, e deve se tornar uma mscara para inovao, pois j no
expressa a repetio daquilo que ocorreu antes, mas aes que so, por definio, diferentes
das anteriores (1988, 26).
Tal situao , portanto, igualmente bifurcada, podendo significar tanto a implantao de uma nova
ordem, quanto o simulacro de uma antiga. O caso relatado a seguir se enquadra, como procura-se demonstrar,
no primeiro caso e os espaos assim abertos inovao tendem (embora no possam jamais garantir),
segundo a interpretao aqui formulada, a instaurar uma nova ordem, muitas vezes revelia do prprios
atores sociais envolvidos.
1
Claro que uma dominao total do passado excluiria todas as mudanas e inovaes legtimas, e
improvvel que exista alguma sociedade humana que no reconhea nenhuma delas. A inovao pode
acontecer de dois modos. Primeiro, o que definido oficialmente como passado e deve ser claramente
uma seleo particular da infinidade daquilo que lembrado ou capaz de ser lembrado. Em toda sociedade, a
abrangncia desse passado social formalizado [grifo do autor desta comunicao] depende, naturalmente,
das circunstncias (HOBSBAWM 1988, 23).
OS RANCHOS E A MEMRIA SOCIALDO RIO DE JANEIRO
As escassas referncias bibliogrficas sobre os ranchos carnavalescos do Rio de Janeiro apontam, de modo
implcito (EFEG 1965) ou explcito (S 2002), para o seu decisivo papel como mediadores culturais desde seu
surgimento entre populaes de classe mdia baixa do sculo XIX, sob a liderana, ao que tudo indica, de migrantes
do estado da Bahia, recriando em espao urbano cortejos pastoris natalinos das reas rurais nordestinas (ver
TINHORO 1972, 1998). Sua adaptao ao contexto citadino leva ao eventual deslocamento, ainda ao final do
sculo XIX, de seu perodo de apresentao para o carnaval, mais apropriado, no entender de destacados ranchistas,
para a exposio de contedo profano-religioso popular (ver depoimento de Hilrio Jovino ao Jornal do Brasil, apud
TINHORO 1998). Assim, funde-se o rancho progressivamente s diversas formas carnavalescas de rua, como
blocos e cordes, bem como assimila elementos de formas cnicas expressivas, da pera ao espetculo de revista,
que tanto influenciam aspectos do carnaval da poca, como os temas de carros alegricos, personagens, figurinos e
alegorias, para tornar-se um dos principais eixos de trnsito e interao entre produtos culturais da segmentao
social vigente (ver a este respeito BAKHTIN 1984).
Objeto de crescente admirao e envolvimento por parte dos mais variados segmentos sociais da cidade,
chegam os ranchos ao seu apogeu na primeira dcada do sculo XX, tendo na fundao do rancho-escola
2
Ameno
Resed, em 1907, um de seus marcos. Por esse perodo, segundo a historiografia disponvel, j encontram-se
consolidados alguns do traos estilsticos mais gerais dos ranchos, entre eles, a forma de cortejo tomado de
emprstimo aos pastoris, a subordinao do mesmo a um enredo, muitos dos quais derivados de peras famosas, o
uso de alegorias portteis e carros alegricos, e, o que mais diretamente nos interessa, a consagrao da marcha, a
tempo denominada marcha-rancho, como gnero musical com funo alusiva ao enredo do desfile.
Por fim, e de acordo com as mesmas fontes, o rancho serve aindacom sua concepo de cortejo
organizado, suas alegorias e alas fantasiadas segundo um enredo determinadode modelo de organizao s escolas
de samba. A ascenso destas, no entanto, foi contempornea ao progressivo declnio do prestgio dos ranchos, at
seu desaparecimento do olhar pblico na segunda metade do sculo XX.
FLOR DO SERENO OU A VOLTA DOS RANCHOS AO CARNAVAL DE RUA
A cena noturna diria de Copacabana permite que se pense sem sobressalto em todo o tipo de
encontro coletivo, do mais informal ou esprio ao mais legitimado e regrado. Ainda assim, no parece
exagerado rotular como singular uma reunio de trabalho em torno de um conjunto de pequenas mesas em um
minsculo bar
3
daquele bairro, em que falas alternadas (uma subverso notvel do efeito acstico que
prevalece no cotidiano), cercadas de certa cerimnia, marcaram, em abril de 2002, a fundao do rancho
carnavalesco que mais tarde se denominaria Flor do Sereno.
2
Termo usado pelos integrantes do rancho em questo para referir-se a sua excelncia.
3
Minsculo em dimenses espaciais, maisculo em dimenses simblicas, o bar em questo mantm-se h
algumas dcadas, graas ao reconhecido carisma de seu dono e cumplicidade de seus clientes, como
referncia a um movimento de valorizao da msica popular brasileira, promovendo principalmente
performances de samba e choro.
O primeiro orador da noite, msico e compositor prestigioso cujo nome costuma servir de referncia
a vrias geraes de outros msicos, repassou sua memria dos desfiles de ranchos. Em sua interveno,
referncias escassa literatura especfica (principalmente EFEG 1965) mesclaram-se a reminiscncias, uma
vez que sua prpria biografia se confundia com algo que sistematicamente apontado pela literatura: a
continuidade entre os ranchos como forma cenico-musical popular (cujos desfiles assistiu na infncia, levado
pelos pais, ligados aos ranchos) e as escolas de samba (algumas das quais ajudou a fundar j na adolescncia).
Seguindo essa reconstruo recorrente, o declnio e virtual desaparecimento dos ranchos do carnaval carioca
abriram caminho afirmao progressiva e eventual hegemonia absolutae, no entender do orador e de
muitos dos presentes, perniciosa (uma vez tornada mercadoria) e asfixiantedas escolas de samba (cada uma
delas apresentando cerca de 4.000 pessoas nos desfiles oficiais de hoje) e dos chamados blocos da Zona Sul
(que chegam a congregar 20.000 pessoas durante o carnaval, o que tem gerado controvrsias acirradas entre
seus prprios integrantes). Colocada a importncia de se buscar, em tal quadro, outras referncias, os demais
presentes se manifestaram oralmente e em ata pela fundao do rancho, uma novidade assentada no passado.
Em reunies semelhantes outras pessoas foram se agregando ao grupo original e procurando atualizar
as muitas dimenses envolvidas em colocar o rancho na rua, ou seja, enredo (aluso a temticas
contemporneas), cores emblemticas (verde, azul e prata), msica, adereos, figurinos e, qui, carros
alegricos, sendo importante, em relao a esses trs ltimos itens, recorrer-se criatividade como
compensao ao desejado baixo custo dos respectivos materiais. Em todas as discusses, adotou-se o
princpio bsico, j proposto na alocuo-chave da primeira reunio, de que a busca de referncias no passado
no deveria ser vista como modelo estanque para o presente. O uso do passado nesse caso envolvia uma ntida
percepo de mudana em relao ao comrcio e gigantismo desenfreados, e de retomada, pelos participantes
do grupo em formao, do poder simblico julgado perdido no caso de agremiaes como escolas de samba e
blocos.
Com relao msica, vrias idias foram postas em prtica, como a recuperao e audio de
gravaes comerciais de marchas-rancho do perodo ureo dos ranchos no carnaval carioca (ca. 19071930),
bem como de gravaes no-comerciais posteriores do mesmo gnero musical, algumas dessas ltimas, at
ento, inditas. Foi mais uma vez o orador-chave da primeira reunio quem formulou a noo de repertrio-
padro
4
do desfile: trs canes, duas delas em sub-gneros associados marcha-rancho (marcha-enredo e
marcha-regresso) e uma no gnero samba, mas com caractersticas de maxixe, como foi comum nas trs
primeiras dcadas do sculo XX.
O tempo, porm, passava e as discusses sobre o enredo e, consequentemente, sobre a organizao
no avanavam, em grande medida, pela quantidade e grau de especializao das tarefas relacionadas a esses
dois aspectos. A msica, por sua vez, tambm vivia alguns impasses, embora fosse tida como, entre as
diversas dimenses conjugadas no rancho, a de mais fcil soluo, tamanha a concentrao de msicos
gravitando historicamente em torno do contexto acima delineado. Embora a dificuldade maior fosse
evidentemente o enredo no estar ainda definido, talvez a novidade de se compor uma marcha em
andamento lento sobre enredo a ser explorado tambm em termos plsticos e cnicos em desfile pblico
impusesse desafios adicionais a compositores habituados a ver na chamada marcha-rancho,
5
cujo modelo se
assentou ao incio do sculo XX, algo anacrnico e representativo de um Brasil igualmente deslocado do
tempo presente.
6
inequvoco, contudo, o efeito agregador que essas reunies informais permeadas por
msica produziram sobre o grupo, que mantinha seu ncleo inicial pouco a pouco acrescido de indivduos de
variadas procedncias e geraes, todos animados pela mistura de ansiedade e incerteza cercando a
empreitada. O papel da msica nesses encontros sempre foi central, pois ouvia-se e tocava-se ao vivo, em
formaes instrumentais improvisadas, marchas-rancho, sambas e choros, produzindo uma espcie de
reverberao crescente de valores afins, no importando tanto a indefinio quanto marcha-rancho alusiva
ao enredo ou ao samba amaxixado que daria, atravs de sua letra, um toque de crtica social ao desfile.
Esse ethos em formao foi, sem dvida, crucial para o surgimento da primeira cano original
composta para o Flor do Sereno, a marcha-rancho de mesmo nome. Com forma usualmente encontrada em
marchas-rancho (bissecional, 1 parte em tom menor, 2 em homnimo maior), prestava-se, segundo a
concepo original do compositor, tanto a intercalaes entre coro feminino e coro masculino, quanto a
passagens em teras ou unssono (estas, como sabido, oitavadas) entre os dois, alm de dois versos da
primeira parte cantados por voz solista masculina. Tais recursos derivaram parcialmente da informao de
que a msica dos ranchos, em seu perodo ureo, contava com o concurso de cantores lricos, embora
nenhuma das fontes bibliogrficas ou fonogrficas registrassem a estruturao das partes vocais sugerida
acima como de uso padronizado ou mesmo eventual nos desfiles do incio do sculo XX. No entanto,
questes relativas ao escasso tempo para preparao e, talvez, falta de um modelo carnavalesco anlogo
ainda em uso, tornaram invivel tal concepo, recorrendo-se ento a um modelo usual em blocos e escolas de
samba, com um cantor solista e eventuais passagens a duas vozes em unssono.
A harmonia modulante da segunda metade da segunda parte tambm no partiu de modelos dos
ranchos do perodo citado, mas, sim, de processos caractersticos de outros contextos de criao musical,
como a bossa nova, o jazz, e a msica de concerto. Tais inovaes foram a tempo sublinhadas pela partitura
de fatura contrapontstica (elaborado por representante do meio academico-musical)
7
, certamente
contrastando com o modelo arquetpico de arranjos em partes apenas parcialmente fixadas para formao
instrumental ad hoc dos pioneiros ranchos, para a novidade que produziu, inquestionavelmente, o maior
4
Aparentemente, tal idia no encontra respaldo na literatura especfica (ver EFEG 1974), o que no
invalida, certamente, a hiptese de ser um procedimento adotado em casos especficos no tempo e no espao.
5
Aqui prope-se uma possibilidade baseada em observao pessoal, uma vez que a dificuldade apontada
contrastava com o nmero incontvel de compositores altamente qualificados e atuantes na chamada MPB
entre os freqentadores do bar tomado como sede do rancho.
6
Para marcha-regresso, porm, foi escolhida de uma fita cassete no-comercial uma cano no gnero,
composta em parceria com dois outros co-autores, na dcada de 1970, pelo compositor que aparece citado
acima como mentor exponencial do grupo. Suas inflexes sonoras de bossa-nova e metforas contestatrias,
tpicas do perodo poltico em que foi concebida, pareceram de imediato servir desejada construo de
significados relativamente novos sobre uma forma musical do passado, uma vez que alguns condicionantes
histricos (concentrao de renda e poder, excluso social), na percepo dos folies, no teriam mudado
tanto at o ano de fundao do rancho.
impacto junto ao pblico nos ensaios e no desfile de rua: a Orquestra Tpica Flor do Sereno, com regente
(tambm do meio academico-musical) frente de 15 instrumentos de sopro, cavaquinho, violo e percusso
8
.
Embora o contedo de sua letra fosse mais nitidamente de reintroduo do lirismo dos ranchos s
ruas que o consagraram no passado, a marcha em questo foi proposta e aprovada sua adoo como marcha-
enredo para o primeiro desfile, em 2001, sendo, a partir da, tomadas as decises relativas aos demais
aspectos envolvidos, como figurinos, alegorias, adereos e estrutura do desfile.
REINVENTANDO A TRADIO, INVENTANDO SIGNIFICADOS
A breve reflexo acima sobre o retorno dos ranchos s ruas do Rio de Janeiro, representado pela
preparao para o desfile do Flor do Sereno,
9
aponta para o campo musicolgico a fertilidade de abordagens
crticas que integrem histria e etnografia com a anlise da dinmica de criao e (re-)interpretao de formas
culturais. Constata-se atravs dela a natureza simultaneamente diacrnica e sincrnica dos prprios processos
criativos que tenta-se compreender, em que a busca de referncias em formas pr-estabelecidas (diacrnico)
apresenta lacunas significativas que estimulam intervenes (sincrnico) ora inovadoras, ora meramente
circunstanciais, nas prticas do presente. Tal abordagem, ainda aplicada de modo incipiente, mas em ntida
expanso, msica produzida no Brasil, insinua-se como um passo potencial rumo superao de categorias
reificadas, sacralizadas como formas e gneros ideais isto , frmas [sic] reducionistas de produtos
desvinculadas da prxis que os constitui como talassim como integrao de dimenses histricas,
etnogrficas, criativas e interpretativas no estudo das prticas musicais em geral.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARAJO, Samuel. Brega: music and conflict in urban Brazil. Latin American Music
Review Vol. 9, N 1, p. 50-89, 1988.
______________ Acoustic labor in the timing of everyday life; a critical contribution to
the history of samba in Rio de Janeiro. Dissertao de doutorado (Ph.D.) em Musicologia,
Universidade de Illinois, Urbana-Champaign (E.U.A.), 1992.
BARZ, Gregory; COOLEY, Timothy (org.). Shadows in the field; new perspectives for
fieldwork in ethnomusicology. Oxford: Oxford University Press, 1997.
BAKHTIN, Mikhail. Rabelais and his world. Trad. Hlne Iswolsky. Bloomington, IN:
Indiana University Press, 1984.
7
Efeito ainda mais acentuado pelo recurso a desenvolvimento motvico, modulao levando a seo
exclusivamente instrumental, acordes de emprstimo e poliacordes.
8
Note-se que, no desfile, o equilbrio do volume sonoro entre os diversos instrumentos e vozes foi produzido
por sistema de amplificao de cada fonte sonora individual montado sobre um estrado de caminho, ficando
os instrumentistas e regente acomodados sobre o mesmo, e os cantores desfilando na rua em meio aos demais
folies.
9
Com a participao de cerca de 600 pessoas, o desfile do Rancho Carnavalesco Flor do Sereno na Av.
Atlntica, Copacabana, segunda-feira de carnaval de 2001, foi saudado por representantes da imprensa
carnavalesca carioca como o mais surpreendenteem sentido positivoacontecimento do carnaval de rua
carioca no ano em questo (ver a sucinta lista de stios virtuais aps bibliografia).
BARBEITAS, Flvio Terrigno. Circularidade cultural e nacionalismo nas Doze Valsas
para violo de Francisco Mignone. Dissertao de mestrado. PPGM, Escola de Msica da
UFRJ, Rio de Janeiro,1995.
EFEG , JOTA (pseud. de Joo Ferreira Gomes)
1974 Ameno Resed; o rancho que foi escola. Rio de Janeiro: Letras e Artes.
HOBSBAWM, Eric. Sobre histria. So Paulo, Companhia das Letras: 1998.
LIMA, Luiz Fernando Nascimento de. Live samba; analysis and interpretation of the Brazilian pagode.
Helsinqui: International Institute of Music Semiotics, 2001.
S, Renata Gonalves de. Cultura urbana e cultura popular: os ranchos carnavalescos.
Comunicao apresentada ao I Encontro Nacional da Associao Brasileira de Etnomusico-
logia, Recife, 2002
TINHORO, Jos Ramos. Pequena histria da msica popular. Petrpolis, RJ: Vozes,
1972.
_____________________Histria social da msica popular brasileira. So Paulo: Ed. 34,
1998.
STIOS VIRTUAIS
http://www.samba-choro.com.br/fotos/porexposicao/fgrande?foto_id=310&chave_id=5
http://jbonline.terra.com.br/jb/evento/carnaval2001/rio/materia/2001/02/carriomat20010210
010.html
http://odia.ig.com.br/sites/carnaval2003/ranchos.htm
Consideraes sobre a noo de "ao vivo" na msica
Srgio Freire
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
sfreire@musica.ufmg.br
Resumo: Este trabalho aborda a relao de diferentes atividades musicais com a noo de ao
vivo. O primeiro tpico abordado o uso primordialmente comparativo desta caracterizao,
que s se faz necessria a partir do momento em que determinada atividade passa a contar com
outras formas de concretizao (em geral, com menos elementos ao vivo do que a original).
abordada a seguir a acepo mais difundida dessa noo: a interpretao musical em concerto.
Estas duas idias iniciais fornecem a base para a ampliao da discusso, que se desloca ento
para o ato da escuta musical, para novas prticas de composio/interpretao, e tambm para a
apresentao em concerto de msica acusmtica (tape music). Neste ltimo caso conclui-se que o
ao vivo no mais uma caracterstica intrnseca dessa modalidade de apresentao musical, e
que, em sua reconstruo, mesmo provisria, a atitude e experincia do ouvinte so fundamentais.
Palavras-chvave: msica ao vivo, escuta musical
Abstract: This paper tackles the relationship between various musical activities and the live
idea. Firstly the discussion of the mainly comparative use of this characterization is presented,
characterization that shows up its necessity only from the moment on which a certain activity
begins to count with other ways of realization (generally less live than the original). Next, the
most spread meaning of this idea is approached: the live concert performance. These two initial
ideas prepare the ground for the enlargement of the discussion towards the musical listening, the
new composition/performance practices, and also the concert presentation of tape music. In the
latter case the conclusion is that live is no more an intrinsic characteristic of this type of
musical presentation, and that, for its reestablishment, even provisory, the listeners attitude and
experience are crucial.
Keywords: live music, musical listening
Introduo
A utilizao do termo "ao vivo" na caraterizao de diversas atividades humanas
tem a ver menos com uma qualificao intrnseca do que com uma oposio entre
diferentes possibilidades de se realizar esta mesma atividade, na qual uma delas apresenta
maior grau de imediaticidade e/ou presena fsica viva do que a(s) outra(s). Duas
situaes extra-musicais ilustram esta aplicao proeminentemente comparativa do termo
"ao vivo". Em instituies de ensino inglesas o exame final de qualificao acadmica
deve ser realizado de forma oral - processo entitulado viva (oriundo de viva voce) - e no
de forma escrita; em estudos de anatomia animal no rara a dissecao ao vivo, em
oposio a cortes realizados em organismos j mortos.
No caso do rdio a situao um pouco diferente: a chamada transmisso ao vivo
pressupe a existncia de um evento - limitado no tempo e espao - cuja transmisso seja
simultnea a seu desenrolar. A oposio aqui no se dirige transmisso em si - que est
sempre fadada a acontecer ao vivo - mas a outras configuraes entre o evento e sua
transmisso: ou no h transmisso alguma do evento, ou se transmite do prprio local do
evento, porm em um momento diverso do ocorrido, ou ainda se transmite uma gravao
do evento em questo
1
.
A utilizao desse termo no campo musical apresenta novas facetas e nuances. Se
a oposio tradicional ao "ao vivo" feita pela noo de gravado, no raro
encontrarmos tambm a meno de uma gravao ao vivo; neste caso trata-se de uma
gravao de um evento limitado no tempo e espao (um concerto, p. ex.), em oposio a
uma gravao montada a partir de excertos de diferentes execues, ou como resultado da
superposio de partes gravadas de modo no sincrnico. Mas nem mesmo a co-presena
em um determinado evento garantia da experincia ao vivo, pois pode-se estar
presenciando uma atuao musical com play-back, seja total ou parcial. Os concertos,
nos moldes em que foram concebidos no sculo XIX, so eventos que tm como um de
seus pontos fortes os desafios enfrentados ao vivo por um intrprete na concretizao de
uma obra musical. Mas desde o "pecado original" de Pierre Schaeffer (1973, p. 6),
cometido em 1950, programas de concerto passam a contar com obras eletroacsticas
contidas em uma gravao pr-existente, as quais, alm de prescindir de uma atuao
interpretativa para a criao de seus sons, tambm no fazem, via de regra, referncia
explcita a eventos j acontecidos.
A aplicao do termo ao vivo na msica est tradicionalmente ligada ao ato da
interpretao musical; outras situaes, entretanto, tambm merecem ser analisadas sob
esse ponto de vista: a escuta musical, as novas prticas de composio/interpretao ao
vivo, a presena de registros sonoros em uma performance musical.
O "ao vivo" da interpretao
1
Mais recentemente, a utilizao do termo on line no campo da comunicao digital traz conotaes
semelhantes.
A situao mais caracterstica da interpretao (e da prpria idia de msica) ao
vivo a de um msico tocando frente a uma platia, sem amplificao. Toda produo
sonora vem da interao entre o instrumentista (ou cantor) e seu instrumento. Esta
interao a um s tempo energtica, mecnica e musical. O instrumentista pe em
vibrao um refinado sistema acstico, cujo conhecimento e controle lhe exigiu uma
dedicao considervel, com o objetivo de tocar da melhor maneira possvel o programa
musical escolhido. Tambm faz parte deste processo a interao do msico e seu
instrumento com o ambiente especfico em que se encontra
2
.
A interpretao constitui-se em um elemento essencial para a complementao
das lacunas deixadas pela notao em uma obra, que podem variar das indicaes para-
composicionais do baixo cifrado barroco exigncia mnima de interpretao feita por
Stravinsky: "minha msica deve ser 'lida' para ser 'executada', no para ser 'interpretada'."
(Stravinski e Craft, 1984, p. 98) A prtica da composio com "formas abertas" levou
estas lacunas a uma dimenso extrema, onde muitas vezes o trabalho do criador se
limitou a algumas indicaes imprecisas sobre a execuo, tornando o intrprete um
verdadeiro co-autor da obra. Para o ouvinte, esta situao no apenas aumenta as
incertezas sobre a identidade da obra, como tambm confunde a sua possvel avaliao do
trabalho do intrprete. Pois se a interpretao de obras abertas pode incentivar a
colaborao entre compositor e intrprete, alm de propiciar ao intprete uma experincia
musical menos tecnicista, resta por outro lado a constatao de que no decorrer de uma
composio tambm no se pode compartilhar expressamente com o ouvinte as regras da
roleta sonora. (Boehmer, 1967, p. 98)
A dependncia da interpretao, objeto de preocupao de muitos compositores,
seja por falta ou excesso de liberdade do intrprete, ao mesmo tempo uma das grandes
riquezas da experincia musical. Bla Bartk, em seu artigo sobre msica mecnica,
afirma que, devido variabilidade da interpretao o melhor fongrafo imaginvel,
portanto, no ser jamais capaz de atuar como substituto da msica ao vivo. (1937, p.
298) Na realidade, o uso da caracterizao de ao vivo para a interpretao musical s
passa a fazer sentido a partir da existncia de outros tipos de interpretao: uma gravao,
2
Claude Cadoz (1999) analisa com detalhes e prope uma classificao para gestos instrumentais e no
instrumentais.
uma execuo mecanizada, ou ainda uma apresentao musical dublada. Por outro lado, o
incio da reproduo fonogrfica contemporneo de um crescimento da complexidade
na escrita composicional, cujas exigncias passam a superar os padres da instruo
musical e da prtica instrumental em vigor. Arnold Schoenberg (1926, p. 328) chega a
defender o uso de instrumentos mecanizados com o objetivo de tornar as execues
independentes do despreparo do intrprete nos casos em que os perigos de um produtor
de sons primitivo, no confivel e relutante ameaam a integridade da obra musical.
Caminho inverso trilhou a msica eletroacstica, quando alguns compositores
sentiram falta de elementos ao vivo nas apresentaes pblicas de suas obras para fita
magntica, e reintroduziram a interpretao humana neste novo contexto composicional.
Quando se traz ao palco novos instrumentos - sejam equipamentos de udio, sensores,
controladores, computadores -, um novo tipo de anlise se faz necessrio, pois a relao
entre o intrprete e seu instrumento no mais do tipo instrumental (caracterizada pela
continuidade energtica entre o gesto humano e o sistema vibratrio). Isto pode gerar
diversas distores entre a percepo gestual e auditiva, uma vez que sons podem surgir
sem um vnculo imediato com a atuao do intrprete, do mesmo modo que seus gestos
tambm no so garantia de surgimento de um evento sonoro. Simon Emmerson chega a
diferenciar entre real-time e live. Se para ele a noo de tempo-real pode ser
totalmente arbitrria, bastando para isto que uma ao seja feita simultaneamente sua
percepo, a restaurao da noo de ao vivo em uma poca de rupturas espaciais,
temporais e causais dos sons bem mais complexa. Ele acredita que no campo do
timbre que a nica conexo entre o verdadeiro ao vivo e o tempo-real pode ser feito,
atravs da criao de relaes aparentemente causais, nas quais tanto informaes
timbrsticas quanto articulao (sintaxe) interagiro para convencer o ouvinte acusmtico
de uma presena ao vivo. (1994, p. 99)
O "ao vivo" da escuta musical
Ao abordar esse tema, a primeira dvida que nos vm mente se realmente faz
sentido associar a caracterizao ao vivo escuta musical, j que ela seria apenas a
contrapartida indispensvel de uma interpretao ao vivo; esta no faz sentido sem
aquela. Da a frase frequentemente utilizada pelo pblico de concertos e shows: Escutei
fulano ao vivo. No entanto, essa discusso ganha novos contornos quando se aborda a
mesma questo em sentido inverso: uma escuta musical ao vivo necessita realmente de
uma interpretao ao vivo? A experincia do ouvinte do sculo XX, acostumado s
distores espao-temporais na percepo auditiva, responde negativamente a esta
pergunta, ao mesmo tempo em que enfatiza a grande autonomia por ele conquistada.
Adicionalmente, se considerarmos a escuta no simplesmente como um processo
fisiolgico simultneo a uma emisso sonora, e sim como tomada de conscincia de
eventos sonoros, podemos ainda identificar outras duas situaes relativas percepo
auditiva,: ouvir sem escutar (estar presente sem se dar conta dos eventos sonoros) e
escutar sem som (ler uma partitura, decorar uma obra musical).
Pode-se inferir da discusso acima que estamos excluindo da noo de escuta
musical ao vivo apenas as situaes dominadas por uma escuta desatenta e involuntria.
Dentre a diversidade de situaes restantes, sero aqui abordadas, alm das j
mencionadas msica ao vivo e audio interior, a relao do ouvinte com gravaes
musicais e a escuta como ato criativo autnomo. Para o ouvinte, a existncia das
gravaes musicais representou uma liberdade at ento inimaginada. Ele se torna
independente da necessidade da presena fsica dos intrpretes, e passa a comandar a
agenda de sua fruio musical. Esta nova situao defendida at mesmo por artistas e
intelectuais, seja por motivos estticos, prticos ou histrico-culturais:
Poder escolher o momento de um prazer, poder desfrut-lo quando ele no
somente desejado pela mente, mas tambm exigido e como se j esboado pela
alma e pelo ser, oferecer as maiores oportunidades s intenes do compositor,
pois permitir que suas criaturas revivam em um ambiente bem pouco diferente
daquele de sua criao. O trabalho do artista msico, autor ou virtuose, encontra
na msica gravada a condio essencial do mais alto proveito esttico. (Valry,
1928, p. 1286)
J que o disco se tornou a mais prtica e rpida forma de divulgao da msica,
principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, onde os bons concertos so
raros, a formao de uma discoteca no assunto que se possa desdenhar numa
seo de jornal dedicada msica.
No me refiro a discotecas de instituies; no momento s quero mencionar as
possibilidades de discotecas para amadores. (Murilo Mendes, 1946, p. 6)
Nossa civilizao mecnica realizou um milagre ... ela trouxe de volta vida,
por meios mecnicos, todo o repertrio da msica ocidental para no falar de
nos apresentar s msicas do oriente. (Barzun, apud Chanan, 1995, p. 12)
Por outro lado, instrumentistas, ao ouvir gravaes de seu prprio instrumento
realizadas por outros msicos, constroem ainda um outro tipo de escuta ao vivo: eles
conseguem, ou pelo menos tentam, recriar mentalmente os gestos necessrios quela
execuo especfica, praticando um tipo de escuta chamado por Schaeffer de musicista
(1966, p. 332-348).
Para finalizar esta seo, vale lembrar que o sculo XX foi rico em exortaes a
uma participao mais ativa do ouvinte na definio do prprio objeto musical. Se vrios
desses textos ainda defendem, mesmo que de forma dissimulada, a prpria obra ou
gnero musical praticado pelo compositor/escritor, com John Cage que esta postura
atinge seu momento mais radical. Fundamental nas posies estticas mais conhecidas de
Cage parece ser o fato de que a audio assume uma total independncia face a seus
correlatos musicais (composio e interpretao). Se no meio musical esta postura foi
muitas vezes encarada como crtica e destrutiva, abriu-se, por outro lado, uma nova
experincia esttica, dependente exclusivamente das intenes do ouvinte. O mundo
audvel se tornou uma obra em perptuo movimento, passvel de ser escutada a
qualquer momento, bastando para isto a inteno voluntria do ouvinte.
O "ao vivo" da composio/interpretao
No uma idia comum associar a noo de "ao vivo" com o ato composicional,
pelo menos na tradio erudita ocidental. A composio normalmente concebida como
uma atividade temporalmente autnoma e anterior apresentao de seu resultado. A
cadeia tradicional da comunicao musical confirma esta anterioridade: o compositor
fornece a obra ao intrprete, que por sua vez a torna acessvel ao pblico. Esta cadeia,
entretanto, no tem validade absoluta, e a clara diviso de funes por ela expressa s se
concretizou em alguns contextos histrico-culturais bem definidos. A partir do final do
sculo XIX vrias mudanas econmicas, tecnolgicas e culturais contribuem para sua
dissoluo, ao menos parcial. A autonomia do ouvinte em relao ao intprete (e,
indiretamente, tambm em relao ao compositor), a programao de concertos
normalmente voltada para um repertrio no contemporneo, a fixao da interpretao
atravs dos discos, a criao de obras musicais diretamente nos estdios de gravao, a
produo sonora automatizada, dentre outros fatores, so indicadores de uma grande
mudana na prtica musical desde ento.
Nesse novo contexto pode-se tambm observar o surgimento de prticas ligadas
idia de composio ao vivo, onde o termo ao vivo significa a simultaneidade da
criao da obra e sua apresentao pblica. Nestas situaes, fugacidade, irrepetibilidade,
improvisao so caractersticas determinantes, o que torna difcil a aplicao de valores
mais tradicionais (originalidade e identidade da obra, exatido da interpretao) em seu
julgamento e apreciao. Esta prtica de composio/interpretao se d atravs da
criao coletiva feita grupos puramente instrumentais, ou tambm pela utilizao de
sistemas, quase sempre interativos, eletrnico-digitais.
Se diferentes grupos instrumentais desenvolvem tcnicas especficas de conduo
e articulao de um discurso musical no previamente determinado (no qual tambm o
grau de indeterminao pode variar bastante), os sistemas interativos, por seu lado,
contam com diferentes estratgias de programao e performance. bvio que um tal
sistema musical no deve ser completamente determinista, fato que contrariaria a prpria
essncia da composio ao vivo. O grau de indeterminao de cada sistema pode estar
localizado no prprio algoritmo - capaz de tomar decises ou gerar variedade
autonomamente -, ou na interao de um msico com este algoritmo atravs de diferentes
interfaces.
Para os participantes diretos destes processos de composio/interpretao, a
sensao de uma prtica musical ao vivo inquestionvel. As interaes entre o fazer e o
escutar assumem novas conotaes, j que concepo e apreciao musicais se do
simultaneamente nesses processos
3
. Por outro lado, a apreciao e julgamento dos
ouvintes (no participantes diretos da produo sonora) se vem novamente desafiados
pela roleta sonora mencionada acima. Entretanto, como em qualquer gnero musical, a
atitude do ouvinte depende de sua familiaridade com as propostas criativas em questo e
3
Apesar das semelhanas entre esta situao e a da obra aberta discutida anteriormente, acredito que haja
uma diferena relevante entre elas: enquanto que no primeiro caso a funo do compositor mantm uma
boa distncia (inclusive temporal) da do intrprete, que por sua vez pode ainda obedecer ao compositor,
no segundo caso a superposio dos papis de compositor, intrprete e ouvinte se d de modo inequvoco.
tambm de sua predisposio auditiva. Esta predisposio pode variar de uma simples
comparao com a prtica musical tradicional at uma atitude de escuta
predominantemente criativa e independente, j abordada anteriormente, passando ainda
por diferentes graus de curiosidade tcnica e afinidade esttica em relao aos meios
criativos empregados.
O registro sonoro e o "ao vivo"
Algumas situaes que misturam o registro sonoro e a noo de ao vivo j foram
mencionadas neste trabalho: a gravao ao vivo, a msica gravada que soa como se
tivesse sido tocada ao vivo, execues musicais com play-back, a escuta domstica de
gravaes. A seguir ser examinado um caso especial de interao entre registro sonoro e
o ao vivo: o concerto eletroacstico, ou mais especificamente, a execuo de uma obra
acusmtica (totalmente definida e pr-gravada em estdio) em concerto.
Para o presente trabalho de especial interesse a relativizao da noo de ao
vivo na situao descrita logo acima. Se por um lado o ouvinte no tem problemas em
criar esta sensao frente a uma gravao - como j discutido acima -, por outro as
expectativas geradas por um concerto so de outra ordem. Estas duas experincias no se
acumulam de forma imediata e sem conflitos. No s porque se espera de um concerto
elementos de uma performance instrumental altamente qualificada e os desafios a ela
relacionados, mas tambm porque nessa situao o ouvinte no tem nenhum controle e
acesso gravao e aparelhagem de difuso sonora.
Obivamente o design do concerto, a qualidade da aparelhagem e sua adequao
ao espao de difuso, e as especificades de cada obra contribuem intensamente para a
postura especifica do ouvinte de obras acusmticas. Mas tambm inegvel que a
intensidade da sensao de ao vivo depende primordialmente de sua atitude, que algumas
vezes no tem nada a ver com a de seu vizinho de poltrona. O ouvinte familiarizado com
as novas tecnologias e modos de escuta desenvolvidos durante todo o sculo XX est
mais preparado para uma experincia musical deste tipo, apesar de muitas vezes
questionar o ritual de concerto que envolve esta experincia. J o ouvinte tradicional de
concertos, embora no raramente envolvido pelo contedo composicional das obras, se
sente incomodado com as vrias faltas: falta de algo para se ver, de uma performance
instrumental ao vivo, de identificao das fontes sonoras, da idia de uma re-criao
sempre renovada de uma obra pr-existente.
Pela breve descrio feita acima pode-se concluir que o concerto eletroacstico
no conta com os mesmos pressupostos de recepo de um concerto de msica
instrumental. Nestes concertos, a qualificao de ao vivo j dada de antemo pela
existncia de uma performance musical no sentido tradicional. No caso eletroacstico, o
ao vivo deve ser reconstrudo, e esta reconstruo, na maior parte das vezes provisria e
individualizada, no depende apenas da vontade do compositor e da simples realizao
do concerto. O ouvinte com sua experincia e predisposio - passa a ter um papel
fundamental.
Bibliografia
BRTOK, Bla. Mechanical Music (1937). In: SUCHOFF, Benjamin (Ed.). Bla Brtok
Essays. New York: St. Martins Press, 1976. p. 289-298.
BOEHMER, Konrad. Zur Theorie der offenen Form in der neuen Musik. Darmstadt:
Tonos, 1967.
CADOZ, Claude. Musique, geste, technologie. In: GENEVOIS, Hugues; DE VIVO,
Raphal (Eds.). Les nouveaux gestes de la musique. Marseille: Parenthses, 1999. p. 47-
92.
CHANAN, Michael. Repeated Takes: a short history of recording and ist effects on
music. London: Verso, 1995.
EMMERSON, Simon. Live versus Real-time. Contemporary Music Review. Vol. 10,
Part 2, p. 95-101, 1994.
MENDES, Murilo. Formao de Discoteca e outros artigos sobre msica (Matria
publicada originalmente no suplemento Letras e Artes, do jornal carioca A Manh,
entre 1946 e 1947). So Paulo: Edusp, 1993.
SCHAEFFER, Pierre. Trait des Objets Musicaux. Paris: Seuil, 1966.
SCHAEFFER, Pierre. La Musique Concrte. 2a. edio. Paris: Presses Universitaires de
France (coleo Que sais-je?), 1973.
SCHOENBERG, Arnold. Mechanical Musical Instruments (1926). In: STEIN, Leonard
(Ed.). Style and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg. London: Faber & Faber,
1975.
STRAVINSKI, Igor; CRAFT, Robert. Conversas com Igor Stravinski. So Paulo:
Perspectiva, 1984. Traduo do ingls de Stella Rodrigo Octavio Moutinho.
VALRY, Paul. La Conqute de LUbiquit (1928). In: HYTIER, Jean (Ed.). Paul
Valry Oeuvres II. Paris: Gallimard, 1960.
1
Mahler em Schoenberg: angstia da influncia na Sinfonia de Cmara op. 9
Sidney J os Molina J nior
UniFI AM/FAAM SP
Fundao Carlos Gomes / Universidade Estadual do Par (UEPA)
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP)
sidney@quaternaglia.com.br
Resumo: Esta comunicao, baseada em dissertao de mestrado apresentada ao PEPG em Comunicao
e Semitica da PUC-SP (2001) sob a orientao do Professor Dr. Arthur Nestrovski, aborda a relao de
influncia da msica de Gustav Mahler na obra de Arnold Schoenberg. Tal relao tratada a partir da
teoria e das categorias analticas propostas pelo crtico literrio norte-americano Harold Bloom (1930). O
trabalho procura mostrar que conceitos como angstia da influncia, desleitura e tardividade podem
trazer contribuies aos estudos musicais. Nesse contexto terico, a influncia mahleriana sobre
Schoenberg passa a ser to ou mais central do que as fartamente documentadas influncias de Brahms e
Wagner. Permeando todas as fases de sua obra, ela mais evidente em seu perodo de juventude.
Palavras-chave: influncia, Mahler, Schoenberg.
Abstract: This communication, based on a master dissertation presented to PEPG in Communication and
Semiotics at PUC-SP (2001) supervised by Prof. Dr. Arthur Nestrovski, shows the relations of influence
between the works of Gustav Mahler and the works of Arnold Schoenberg. Such relations are studied from
the perspective afforded by the theory of influence developed by the American literary critic Harold
Bloom (1930). Based on the Blooms theory of influence, it will be seen that concepts such as anxiety of
influence, misreading and belatedness can bring contributions to musical scholarship. In this
theoretic context, Mahlers influence on Schoenberg becomes so or more important than the widely
documented influences of Brahms and Wagner. This influence is more evident in his youth.
Keywords: influence, Mahler, Schoenberg.
O crtico literrio norte-americano Harold Bloom (1930) sugere, em Um Mapa da
Desleitura, que as razes revisionrias a partir das quais um poeta desl ou desinterpreta
seus antecessores atuam em trs pares correspondentes ou dialticos, sendo que cada par segue o
padro lurinico de limitao / substituio / representao:
Vejo tambm que todos os trs pares podem atuar em poemas
realmente abrangentes e ambiciosos, longos ou curtos. [...] No importa suas
divises formais em estrofes, um nmero considervel de poemas centrais da
tradio romntica se dividem argumentativamente e imagisticamente em
trs partes, seguindo de perto o modelo da ode Intimations [de Wordsworth].
As partes so as seguintes: primeiro, uma viso inicial de perda ou crise,
centrada em uma questo de renovao ou sobrevivncia imaginativa;
segundo, uma resposta desesperada ou redutora pergunta, em que o poder
da mente, por maior que seja, parece inadequado para superar os obstculos
tanto da linguagem quanto do universo da morte, do significado externo;
terceiro, uma resposta mais auspiciosa ou pelo menos continuadora, ainda
que marcada pelo reconhecimento da permanncia da perda.Historicamente,
2
trata-se certamente de um deslocamento de um padro protestante, e
remonta a trades espirituais semelhantes contidas nos Salmos e Profetas e
em Job. Mas, no importa como, o padro existe, e sugiro agora que ele
mais intrincado e tambm mais preciso do que pensvamos, e
necessariamente estabelece tambm os padres de desapropriao, ou seja,
da interpretao bem como da poesia revisionista ou tardia. (Bloom, 1995,
p.105-6).
No iremos aqui afirmar que obras musicais a partir da Sinfonia n 9 de Beethoven
tendem a se dividir, tanto argumentativamente quanto imagstico-sonoramente, em trs partes,
mas, apesar disso, digno de meno que um compositor como Gustav Mahler (1860-1911)
tenha procurado em algumas de suas sinfonias explicitar uma diviso das obras em duas ou
trs partes no coincidentes com a estrutura dos movimentos. Em algumas dessas divises,
Mahler busca deixar pistas do teor de algum programa extramusical que tenha servido de pretexto
para a composio; em outras, a diviso pode ser claramente reveladora de uma estrutura retrica
qual a obra sonora submetida em si mesma e que se superpe diviso clssica em
movimentos, como, por exemplo, no caso da Sinfonia n 5.
Assim, Mahler divide os cinco movimentos da verso original (e os quatro da verso
final) de sua Sinfonia n 1 em duas partes. J na Sinfonia n 3, o primeiro movimento constitui
sozinho a primeira parte da obra, enquanto que os cinco movimentos subseqentes perfazem a
segunda; a citada Sinfonia n 5 dividida em trs partes pelo compositor, sendo que a Marcha
Fnebre e o segundo movimento constituem a primeira, o Scherzo a segunda, e o Adagietto e o
Rond-Finale a terceira. Na Stima, tambm, apesar do prprio compositor no ter explicitado, o
primeiro Allegro e a primeira Nachtmusik constituem uma primeira parte, o Scherzo, novamente
a intermediria, e a segunda Nachtmusik e o Finale, a terceira parte, numa estrutura similar a que
seria utilizada, por exemplo, no Quarteto n 5 de Bla Bartk.
1
Na Sinfonia de Cmara op. 9 de Arnold Scheonberg,
2
a escuta parece tambm deixar
clara uma diviso em trs momentos, a despeito dos enigmas da compresso da sinfonia-sonata e
de suas partes. Mesmo a crtica estruturalista no deixa de apontar para a importncia das
intervenes decisivas do tema de quartas e do acorde de quartas como delineadores das
principais etapas da obra (Dale, 2000, p. 24-5). Assim, a volta do Quartenthema caracteriza o
1
O Quarteto n 5 de Bla Bartk, escrito em 1934, tem suas trs partes distribudas nos movimentos Allegro /
Adagio molto / Scherzo / Andante / Finale.
2
A Sinfonia de Cmara n.1 op. 9 de Arnold Schoenberg (1874-1951) foi escrita em 1906.
3
incio do segundo momento (desenvolvimento) e a volta do Quartenakkord d incio ao ltimo,
que abrange o movimento lento e a recapitulao.
Este ltimo momento da obra no obstante seu interesse musical e sua extenso, que
perfaz 36% do total da obra o que merece menos comentrios da crtica, uma vez que no h
nada de estruturalmente novo na seo: em relao ao trabalho motvico-temtico, apenas os
temas numerados por Alban Berg como nmeros 21, 22 e 23 ainda no haviam sido
apresentados;
3
Catherine Dale, por exemplo, ao tratar especificamente desta recapitulao, dedica
to somente uma das trinta pginas de seu captulo sobre o processo temtico no op. 9 (Dale,
2000, p. 71); Reinhold Brinkmann, que aprofunda-se em questes de instrumentao e polifonia,
tambm no se refere a aspectos que caracterizam o trecho (Brinckmann, 1999, p.149-53); o
mesmo vale para Webern (Webern, 1999, p. 218-20) e para Leibowitz (Leibowitz, 1981, p. 64-8).
O incio do que estamos chamando de terceiro momento um dos trechos mais incrveis
da Sinfonia de Schoenberg: pela primeira vez desde o compasso 1 ouvimos novamente o tema
wagneriano, baseado em Tristo: a msica tem aqui, de fato, um reincio. Mas a resoluo em Sol
maior (e no no esperado F maior) traz, de modo ainda mais explcito, a melodia wagneriana: o
lb de Schoenberg (sol# de Wagner) caminhar, como no incio de Tristo, para l natural, sib
(l# de Wagner) e, finalmente, si natural. admirvel como Schoenberg, aps tantos desvios e
esvaziamentos, acredita que poder anular a dualidade ao recusar os tons inteiros e conciliar o
acorde de quartas com uma cadncia harmnica romntica (ver exemplos 1 e 2):
Exemplo 1 Tristan und Isolde: incio
3
Alban Berg foi o autor da primeira anlise extensiva do processo temtico no Op. 9. Ele preparou sua Thematische
Analyse para a srie de dez ensaios abertos da Sinfonia de Cmara conduzidos por Schoenberg no pequeno auditrio
do Musikverein de Viena em junho de 1918. A anlise de Berg que identifica 23 temas na Sinfonia j sugere a
convivncia de duas interpretaes sobre a constituio formal da obra, a saber: 1) a da sinfonia em 4 movimentos
interligados (1 Movimento, Scherzo, Adagio e Finale), onde inserido um Desenvolvimento entre o Scherzo e o
Adagio, e onde o ltimo movimento no apresenta nenhum material novo, sendo uma espcie de Recapitulao
seguida por uma coda; e 2) a da forma-sonata em um nico movimento, onde inserido um scherzo entre a
exposio e o desenvolvimento e um movimento lento entre o desenvolvimento e a reexposio. A anlise temtica
de Berg no pretende decidir-se por nenhuma das duas propostas de interpretao formal, mas ressalta a constante
recorrncia, durante toda a obra, dos mesmos componentes temticos. (ver Berg, 1993).
4
Exemplo 2 Kammersymphonie op. 9: resoluo em Sol maior
O momento final do trecho a transio para a recapitulao, de algum modo o real
desenvolvimento da obra: nela no h apenas elaborao dos materiais apresentados durante a pea,
mas uma transformao, uma mudana substancial de contexto. Tal mudana, porm, d-se num
movimento simultneo de Schoenberg para Schoenberg e de Schoenberg para Mahler; de
Schoenberg para Schoenberg na medida em que de Schoenberg para Mahler. Como isso se d?
Ao submeter o universo de suas quartas e tons inteiros fanfarra mahleriana, Schoenberg
impulsiona o mundo de Mahler para este mundo do op. 9: no apenas as quartas e os tons inteiros
so devolvidos a um possvel referencial cadencial original, mas eles mesmos so, a partir desse
momento, a razo de ser da prpria cadncia tonal que deles e s deles emana; no apenas a
msica de cmara transforma-se em sinfnica, mas ela mesma passa a ser a fonte de energia da
qual a orquestra sinfnica extrai suas possibilidades sonoras.
A fanfarra total na Endkoda, e a referncia ao final da Sinfonia n 5 de Beethoven
evidente: aps a resoluo napolitana dos compassos 582-584, podemos ouvir 12 conclusivos
acordes de Mi maior; alm disso, sobretudo nos ltimos compassos, fica clara a transmutao
prodigiosa do grupo de cmara em orquestra sinfnica mahleriana.
5
O tropo musical de Schoenberg parece aludir ao final do prprio primeiro movimento da
Sinfonia n 6 de Mahler,
4
como mostra uma simples comparao da frase final da trompa de
Schoenberg com a do trompete de Mahler (ver exemplos 3 e 4):
Exemplo 3 Kammersymphonie op. 9: frase final (trompa)
Exemplo 4 Sinfonia 6: frase final do primeiro movimento (trompete)
A frase de Mahler extrada do tema de Alma, isto , do tema B da exposio (ex. 5):
Exemplo 5 Sinfonia 6: tema de Alma (primeiro movimento)
4
No vero de 1903 Mahler j havia terminado dois movimentos da Sinfonia n 6; ele completou a obra em
Maiernigg, em 9 de setembro de 1904. Nesse perodo, ele e Alma, sua esposa, eram freqentemente visitados
por Zemlinsky e por seu cunhado Schoenberg. Mahler conduziu um ensaio de leitura da Sexta com a
Filarmnica de Viena em maro de 1906. A estria e a publicao da obra ocorreram tambm em 1906 (estria
em Essen, em 27 de maio), enquanto que a estria em Viena deu-se apenas em 10 de janeiro de 1907. A Sinfonia
de Cmara n 1 de Schoenberg, escrita em 1906, estreou menos de um ms aps a estria vienense da Sexta, em
8 de fevereiro de 1907 (o Quarteto op. 7 havia tido sua primeira performance trs dias antes, em 5 de fevereiro).
Mahler compareceu aos dois concertos que estrearam as obras de Schoenberg.
6
Podemos observar uma forte relao entre o trecho descendente do exemplo acima (r-d-
sib-sol-mi-r-r-d) e a descida final da trompa na Sinfonia de Cmara (segundo compasso do
exemplo 3). H tambm em Schoenberg uma predominncia de elementos do tema B da
exposio na frase final da pea (ex. 6):
Exemplo 6 Kammersymphonie op. 9: tema da seo B da exposio
Neste tema, que Schoenberg denominava tema do corao (Schoenberg, 1963, p. 211)
podemos encontrar, ao observarmos a escala ascendente que comea no terceiro tempo do
terceiro compasso, a estrutura das primeiras notas do tema de Alma (ex. 5); tomando essa mesma
frase retrogradamente (lendo-a da direita para a esquerda, notas f#-r#-d#-si) encontramos
com a troca nica de d natural por d# as quatro ltimas notas da descida final da trompa (ex.
3). O contorno do tema tem outros traos mahlerianos, muitas vezes disfarados pela estrutura de
tons inteiros: a desleitura atenta pode atingi-los mais facilmente, no entanto, do que os complexos
esquemas com os quais Schoenberg geralmente pretende, a posteriori, justificar para si mesmo
certas coerncias estruturais ocultas (Dale, 2000, pp. 89-92).
clara tambm a relao j apontada por Berg da frase final da trompa na Sinfonia de
Cmara com o cadenzierende Thema, como mostra o exemplo 7:
7
Exemplo 7 Kammersymphonie op. 9: cadenzierende Thema
Vemos, no ltimo compasso do exemplo acima, a matriz da frase final da trompa (ex. 3);
por outro lado, a relao com o tema de Alma ainda mais clara: as trs primeiras notas do
exemplo acima, se lidas retrogradamente, coincidem com a estrutura intervalar de seu incio (ex.
5). Alm disso, a semelhana do perfil meldico e do ritmo com a presena ostensiva da figura
colcheia pontuada-semicolcheia faz parecer, paradoxalmente, que o tema cadencial da Sinfonia
de Cmara, com sua conteno e simetria, que gerou, numa inverso entre anterioridade e
posteridade, o tema de Alma do primeiro movimento da Sinfonia n 6.
Aceitemos o paradoxo: Schoenberg projeta o passado no futuro, carregando consigo o
mundo de Mahler, e introjeta o futuro no passado, deixando-se carregar por ele; entre um e outro,
o presente se anula e se confunde. Trata-se de uma superao da temporalidade pela substituio
do anterior pelo tardio.
A escuta tradicional da Sinfonia de Cmara faz dela o produto abstrato da arte pela arte;
ressalta tambm seu inovador apontar em direo emancipao da dissonncia, hamonia de
quartas, individualizao de vozes e timbres e compresso formal. Apontando para frente,
Schoenberg estaria imerso em seu trabalho estrutural no recusando o passado (o que seria
inaceitvel para ele), mas reverenciando o passado como algo que de fato passou, como algo cuja
influncia deve ser incorporada respeitosamente, quase tecnicamente.
O que seria ento uma escuta antittica (ou desleitura) do op.9?
A desleitura no pretende naturalizar ou romantizar a obra, mas mostrar que a Sinfonia
de Cmara superou a perspectivao dualista entre passado e presente. Subjugado pela
sonoridade de Brahms, de Wagner e aqui sobretudo de Mahler, Schoenberg tomou para si a
tardividade do Romantismo fazendo nascer sua prpria voz potica. No havia outra sada: ele
talvez tenha pressentido, ao compor a Sinfonia de Cmara, que seu excepcional intelecto e seu
domnio impecvel do artesanato composicional poderiam no fazer dele um compositor
8
suficientemente forte para ser cannico. Foi preciso que ele se libertasse da prpria busca de
significado artesanal pois, esta ltima, por estar ainda presa a um certo naturalismo, poderia
velar a conscincia da tardividade.
Harold Bloom refere-se questo da falta de significado nos seguintes termos:
Somente um poeta forte pode criar uma carncia de significado, um
Tzimtzum ou limitao que compele substituio subseqente e ao tikn
ou restaurao da representao potica. Qualquer poetastro ou impostor
acadmico pode escrever um poema transbordante em plenitude de
significado, numa infindvel amplitude de significaes. A esta altura
avanada da tradio, todos chegamos uns aos outros asfixiados no e pelo
significado; morremos diariamente, enfrentando-nos uns aos outros, em
interminveis interpretaes e auto-interpretaes mtuas. Enganamo-nos,
ou somos enganados, ao pensar que, se ao menos pudssemos ser
corretamente interpretados ou interpretssemos os outros corretamente,
tudo estaria bem. Mas, a esta altura depois de Nietzsche, Marx, Freud e
todos os seus seguidores e revisionrios com certeza secretamente todos
ns sabemos que no assim. Sabemos da necessidade de sermos
desvirtuados para suportar viver, assim como devemos desvirtuar os outros
para que permaneam vivos. A necessidade da desleitura mtua outra
necessidade diria como a do sono e do alimento, to universal quanto a da
luz e do ar. No h paradoxo no que afirmo, apenas relembro a verdade
bvia, de Ananke, ou o que Emerson chamou de Bela Necessidade
(Bloom, 1994, p.140-1).
A arte pela arte seria um belo tropo para a busca da falta de significado, se no fosse
hostil desleitura que a conscincia da tardividade impe: no h como compor depois de Mahler
sem descompor Mahler. E essa , ao nosso ver, a conquista de Schoenberg no terceiro e ltimo
momento da Sinfonia de Cmara.
Lembremos a histria contada por Schoenberg durante toda sua vida, sobre a pergunta que
ele fizera a Mahler em 1903 ou 1904:
5
enquanto tentava concentrar-se em seu prprio mundo
5
Mahler estava trabalhando na Sexta Sinfonia exatamente nessa poca. O episdio era contado freqentemente por
Schoenberg a seus alunos da Universidade da Califrnia no perodo final de sua vida (Newlin, 1979, p. 197). O
relato do prprio Schoenberg o seguinte: Por volta de 1903-1904 eu vivi na Liechtensteinstrasse, em Viena,
onde havia uma vista da janela de meu estdio para o Thury o Vale Liechten , com uma igreja bem ao centro.
As muitas aulas que dei naquela poca eram usualmente marcadas para o perodo vespertino, mas, s vezes, eu
tinha uma tarde livre para compor. Bem, das duas da tarde em diante havia uma sucesso ininterrupta de
funerais na igreja, de forma que os sinos no paravam de soar por horas a fio. No incio, absorvido em meu
trabalho, eu mal os notava. Depois de algum tempo, no entanto, uma certa fadiga, uma depleo das reservas
imaginativas se apossava de mim e, finalmente, eu tinha de desistir do trabalho. Contei isso a Mahler, e reclamei
a respeito. estranho como as pessoas podem ser indiferentes quando elas mesmas no tenham passado por
certas experincias. No se pode realmente compreender o sofrimento dos outros. por isso que a resposta de
Mahler foi: Certamente isso no precisa te perturbar; basta incluir os sinos nas composies! (Lebrecht, 1987,
p. 170-1).
9
para compor, ele era perturbado pelos sinos dos funerais de Viena. Sinos dos funerais de Viena
so um belo tropo para a msica de Mahler. Talvez a pergunta de Schoenberg pudesse ter sido:
como posso compor minha prpria msica se a sonoridade da msica de Mahler me impede?
A resposta foi ambgua: ao recomendar que o jovem efebo incorporasse os sinos de Viena sua
prpria msica, o precursor pode ter indiretamente afirmado tambm que enquanto a msica de
Schoenberg no conseguisse desler a de Mahler, ela no teria nenhuma chance de se impor
enquanto uma voz prpria. Schoenberg conquistou definitivamente essa voz ao compor o op. 9.
Referncias Bibliogrficas
BEETHOVEN, Ludwig van. Symphonies ns 5, 6 and 7 in full score (partitura). New York:
Dover, 1989.
BERG, Alban. Arnold Schoenberg: Chamber Symphony n 1. Traduo de Mark De Voto.
Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Los Angeles, v. 16, p. 236-268, 1993.
BLOOM, Harold. A Angustia da Influncia: uma teoria da poesia. Traduo de Arthur
Nestrovski. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
______ Poesia e Represso: o revisionismo de Blake a Stevens. Traduo de Cillu Maia. Rio de
Janeiro: Imago, 1994.
______ Um Mapa da Desleitura. Traduo de Thelma Mdici Nbrega. Rio de Janeiro: Imago,
1995.
BRINCKMANN, Reinhold. The Compressed Symphony. In: FRISCH, Walter (ed.). Schoenberg
and his World. Princeton: Princeton University Press, 1999, p. 141-61.
DALE, Catherine. Schoenbergs Chamber Symphonies. Aldershot: Ashgate Publishing Limited,
2000.
FRISCH, Walter (ed.). Schoenberg and his World. Princeton: Princeton University Press, 1999.
LEBRECHT, Norman. Mahler Remembered. London: Faber and Faber, 1987.
LEIBOWITZ, Rene. Schoenberg. Traduo de Hlio Ziskind. So Paulo: Perspectiva, 1981.
MAHLER, Gustav. Symphonies n 1 and 2 in full score (partitura). Orquestra, solista e coro.
New York: Dover, 1987.
_______ Symphonies n 3 and 4 in full score (partitura). New York: Dover, 1989.
______ Symphonies n 5 and 6 in full score (partitura). New York: Dover, 1987.
______ Symphony n 7 in full score (partitura). New York: Dover, 1992.
NEWLIN, Dika. Schoenberg Remembered. New York: Pendragon Press, 1980.
SCHOENBERG, Arnold. El Estilo y la Idea. Traduo de Juan J. Esteve. Madrid: Taurus, 1963.
______ Kammersymphonie fr 15 Solo-Instrumente op. 9 (partitura). Los Angeles: Universal
Edition, 1922.
_______ Kammersymphonie op. 9 fr Klavier (partitura). Reduo de Eduard Steuermann. Los
Angeles: Universal Edition, 1922.
WAGNER, Richard. Overtures and Preludes in full score (paritura). New York: Dover, 1996.
WEBERN, Anton. O Caminho para a Msica Nova. Traduo de Carlos Kater. So Paulo:
Novas Metas, 1984.
10
______ Schoenbergs Music. In: FRISCH, Walter (ed.). Schoenberg and his World. Princeton:
Princeton University Press, 1999, p. 210-30.
Trios brasileiros para piano e cordas:
levantamento e organizao do acervo disponvel
Silvana Andrade
Universidade Federal de Gois (UFG)
sil-rod@bol.com.br
Sonia Ray
Universidade Federal de Gois (UFG)
soniaray@cultura.com.br
Resumo: Em nossas investigaes preliminares detectamos a escassez de pesquisas em msica de
cmara no Brasil, refletindo em tmida presena de repertrio brasileiro em performances de grupos
camersticos. Dois fatores centrais colaboram para esta escassez de abordagem do tema: a falta de
informao sobre as obras existentes e suas esparsas publicaes. O objetivo da pesquisa ora proposta
o de colaborar para a ampliao das pesquisas na rea de performance e de investigar o repertrio
brasileiro contemporneo para trios com piano e cordas. Assim, o presente artigo apresenta o processo
de coleta e levantamento e listagens desses trios.
Palavras-chave: msica de cmara brasileira, performance musical, trios para piano e cordas
Abstract: Preliminary investigations revealed the lack of studies on chamber music in Brazil as well as
the rare appearance of Brazilian repertoire on chamber music performances. Two main factors
contributed to this situation: the almost inexistence of information about the available repertoire and the
lack of publications. This research aims to increase studies on music performance and to present the
process of collecting and listing Brazilian trios for piano and strings.
Keywords : Brazilian chamber music, musical performance, piano and string trio
I - INTRODUO
A msica de cmara se encontra amplamente discutida em seu aspecto histrico como
de msica para msicos amadores ou profissionais (funo social), msica destinada a
pequenos recintos ou salas de concerto, msica para celebraes e homenagens, msica
difundida amplamente por sociedades de concerto, msica s para iniciados. (Bashford, 2001)
Entretanto, aspectos relacionados performance de msica em grupos camersticos so
escassos, em particular no que toca performance de obras brasileiras.
No Brasil, dois fatores centrais colaboram para esta escassez de abordagem do tema: a
falta de informao sobre as obras existentes e a pouca oferta de obras publicadas. Tais fatores
tornaram-se evidentes aps realizarmos um levantamento na literatura brasileira para msica de
cmara, na qual no foram encontrados catlogos de composies ou de publicaes no gnero,
excetuando-se iniciativas independentes e parciais de compositores. (Mannis, 2002; Escalante,
2002; Ray, 1998 e Iazzetta, 2002).
Iniciativas de instituies pblicas e privadas promovendo o constante interesse dos
compositores pela formao camerstica merecem destaque: Concurso Ritmo e Som (Unesp-
SP), Prmio da APCA Associao Paulista de Crticos de Arte, Concurso Jovem Solista
(Funarte), CONC - Concurso de Composio para Contrabaixo (ABC Associao Brasileira
de Contrabaixistas), APCT - Associao Paulista de Crticos Teatrais e Fundao Ita Cultural.
Informaes relativas premiaes em concursos de composio ou eleio pela crtica teatral,
publicaes de catlogos e partituras em sries ou colees, srie de concertos e gravaes de
CDs dedicados msica brasileira, constam nas edies de vrios trios para cordas e piano.
Igualmente relevante, so as informaes relativas participao de instrumentistas na
divulgao de vrias obras, sendo este crdito registrado por compositores em seus manuscritos
em forma de dedicatria.
Durante o levantamento preliminar na literatura de msica de cmara brasileira
disponvel, notamos a existncia de trios na formao de piano e cordas de 1882 a 2002, o que
nos motivou a prosseguir com a coleta, a medida em que vislumbrvamos a possibilidade de
historiar a msica de cmera brasileira a partir dos referidos trios, num futuro trabalho.
Assim, com a finalidade de ampliar as possibilidades de escolha de repertrio e
incentivar novas iniciativas no campo editorial, o presente trabalho levantou e listou 114 trios
brasileiros para piano e cordas. Dentre estas obras 57, que estavam disponveis em partituras
completas, foram selecionadas, coletadas e organizadas em uma listagem cujo processo
passamos a descrever.
II - O PROCESSO DE COLETA E ORGANIZAO DAS OBRAS
O primeiro passo para a coleta foi a elaborao de correspondncia padro destinada a
compositores, visando o levantamento das partituras disponveis de trios para cordas e piano.
Consideramos todas as obras de autores brasileiros incluindo composies e/ou arranjos do
prprio autor. Consultamos tambm instituies que renem compositores a exemplo do
CDMC Centro de Documentao de Msica Contempornea, Correio Musical, Associao
Brasileira de Msica e Anppom Associao Nacional de Pesquisa e Ps-Graduao em
Msica, alm de acervos como o DIMAS Diviso de Msica e Arquivo Sonoro, da Biblioteca
Nacional, dentre outros. O levantamento compreendeu ainda visitas a acervos selecionados e
troca de correspondncias com os compositores e com editoras de msica, via endereo
eletrnico ou residencial.
Das 16 instituies consultadas (via e-mail ou carta impressa), 12 enviaram materiais
e/ou sugestes para novas consultas. As consultas diretas aos compositores por vezes se
transformaram em inestimveis fontes de informaes sobre obras no s para trios de cordas,
mas tambm para outras instrumentaes (que no cabe aqui detalhar) como resultado da
disposio e interesse dos compositores em ver sua produo melhor divulgada. Muitas
informaes coletadas destas entrevistas informais foram registradas e organizadas como parte
de um material que estamos preparando para dar continuidade o presente levantamento,
elaborando um catlogo ilustrado de todos os trios para piano e cordas de compositores
brasileiros.
No momento, o levantamento conta com 114 trios brasileiros para piano e cordas, sendo
que 78% deles so para a formao tradicional com violino, violoncelo e piano. Outras
formaes encontradas combinam piano com violino e viola, com violino e contrabaixo, com
viola e violoncelo, com dois contrabaixos e com dois violinos. Muitas das obras existentes no
puderam ser localizadas ou esto incompletas, sendo que apenas 57 obras puderam ser
coletadas integralmente.
As 114 obras levantadas esto listadas em ordem cronolgica. As 57 obras coletadas
integralmente trazem informaes quanto ao nmero de movimentos de cada obra, bem como
sua edio e publicao. Diante desse quadro, a atualizao das listagens e a busca por
exemplares atualmente no disponveis, seriam os prximos passos no sentido de se elaborar
um catlogo temtico dos trios brasileiros para piano e cordas.
III LISTA DAS 114 OBRAS COLETADAS
Data da
Obra
COMPOSITOR Titulo da Obra Formao
* 1882 Levy, Alexandre Trio em Sib M, op.10 Vl, Vc e Pn
1894 Gomes, Jos Pedro de Santana Trio 2 Vls e pn
1889 Oswald, Henrique Trio op. 9 Vl, Vc e Pn
* 1889 Levy, Alexandre Trio em re mineur
1897 Oswald, Henrique Trio opus 28
* 1906 Braga, Francisco Meditao
* 1909 Velasquez, Glauco (1883-1914) Preldio
* 1909 Velasquez, Glauco Trio I
* 1911 Villa-Lobos, Heitor Primeiro Trio
* 1911 Velasquez, Glauco Trio II, op. 63
* 1912 Velasquez, Glauco Trio III
* 1912 Velasquez, Glauco Trio IV (inachev)
* 1915 Villa-Lobos, Heitor Segundo Trio
* 1916 Nepomuceno, Alberto Trio em Fa# menor
* 1916 Oswald, Henrique Trio op. 45
* ? Barreto, H. de S (1854-1924) Trio em re m
* 1918 Villa-Lobos, Heitor Terceiro Trio
1920 Benedicts, Savino Velha cano
1921 Lorenzo, Fernandez Oscar Primeiro Trio
1924 Lorenzo, Fernandez Oscar Idlio romntico
* 1924 Lorenzo, Fernandez Oscar Trio Brasileiro
* 1927 Oswald, Henrique Serrana
1930 Garritano, Assuero Jos Trio
* 1930 Braga, Francisco Trio
1932 Siqueira, Jos Trio
1932 Mignone, Francisco Paulo Cano sertaneja
1933 Gnattali, Radams Trio
1936 Rosato, Clorinda Improviso
1936 Maul, Otvio Batista Divertimento
1936 Batista, Rafael Trio em re menor
* 1937 Gnattali, Radams Lenda n 2
1938 Priolli, Maria Luiza de Matos Trio em sol maior
1938 Gnattali, Radams Trio em do maior
1938 Bocchino, Alceu Paran
1939 Reis, Hilda Pires dos Trio
1939 Itiber, Braslio Trio n1
1939 Lima, Florncio de Almeida Talita
* 1940 Gnattali, Radams Trio-Miniatura
1956 Mahle, Ernst Trio 2 Vl e pn
1959 Kiefer, Bruno Trio Vl, Vc e pn
* 1960 Blauth, Breno Trio T.12
* 1960 Guerra-Peixe, Cesar Trio
* 1960 Nobre, Marlos Trio op. 4
1961 Vieira Brando, Jos Trio
1964 Vasconcelos-Correia, Srgio O. Trio
* 1967 Cardoso, Lindemberg Trio I , op. 4
* 1967 Oliveira, Jamary de Trio
* 1967 Cerqueira, Fernando B. de Metamorfose
1969 Antunes, Jorge Trs Comportamentos
* 1969 Lacerda, Osvaldo Trio
1970 Mahle, Ernst Trio
1971 Widmer, Ersnt Plexo
1971 Almeida Prado, Jos Antnio de Trio n1
* 1972/73 Santos, Murillo Quatro Peas Breves
* 1971/73 Cardoso, Lindemberg Trio n 2
*
1973 Bidart, Lycia de Biase Srie Intervalos:2
a
, 3
a
, 4
a
, 5
a
, 6
a
, 7
a
,
Vrios-final
Vl, Vla e pn
* 1973 Santoro, Cludio Trio Vl.,Vc e Pn
* 1974 Lacerda, Osvaldo Choro Seresteiro 2Vc ou 2Cb e
Piano
1975 Mignone, Francisco Paulo Canes de roda e algo mais 2 Pn e Vl
* 1975 Cardoso, Lindembergue Trio n 3 Vl, Vc e Pn
* 1976 Bidart, Lycia de Biase Trio Loetitia ou Trio Jogral Vl, Vla e Pn
1976 Resende, Mariza Trio Vl, Vc e Pn
* 1976 Tacuchian, Ricardo Estruturas Verdes Vl, Vc e Pn
* 1978 Soares, Calimrio Reisado
* 1978 Souza, Rodolfo Coelho de EENG
* 1979 Villani-Cortes, Edmundo Cinco Miniaturas Brasileiras
* 1980 Bauer, Guilherme Trio n 1
1981 Krieger, Edino Sonncias 2 Pn e Vl.
1983 Almeida Prado, Jos Antnio de Trio martimo Vl, Vc, pn
1984 Gnattali, Radams Trio n2
1987 Viana, Andersen Trio n 1
* 1988 Escalante, Eduardo Trio n 1
1989 Camargo, Guarnieri Mozart Trio
* 1990 Seincman, Eduardo Noturno Vl,Vla e Pn
1991 Viana, Andersen Trio n 2 Vl, Vc e Pn
* 1993 Curitiba, Henrique de Trio 93
* 1993 Nogueira, Ilza Canto n5: Almas sobre o verde
* 1995 Soares, Calimrio Trio
* 1995 Campos, Glcia Silva Trio
1995 Tomic , Danilo La Lumire et lombre
1996 Sabbato, Srgio Trio
1997 Penaforte, Raimundo An Eroica Trio
1997 Ripper, Joo Guilherme Vianna Improviso n.1
1997 Siqueira, Marcus Barroso de Elegia
* 1997 Ficarelli, Mrio Toccata
* 1997 Miranda, Ronaldo Alternncias
* 1998 Mahle, Ernst Trio p/ 2 violinos e piano 2 Vl e Pn
* 2000 Cavalcanti, Nestor de Hollanda Cerco da Paz:5 Rio de Janeiro Vl, Vc e Pn
* 2000/1 Villani-Crtes, Edmundo Royati
* 2001 Wolff, Daniel Trio for violin, cello and piano
2002 Aquino, Maria Francisca Nina 2 Cb e pno
Alimonda, Heitor (1922-2002) Trio Vl, Vc e pn
Braga, Francisco (1868-1945) Barcarola, Canto da Saudade, Idlio
Ferreira, Ari Jos (1911-1975) Trio em do maior
Florence, Paulo (1864-1949) Grande trio em re menor
J. Otaviano Gonalves (1892-1962) Trio
Peas p/ iniciantes- Margarida, Cai, cai
balo
2 Vl e pn
Mahle, Ernst (n.1929) Peas p/ iniciantes- Eu j sei solfejar,
Zum, zum, zum, Melodia grega, Melodia
Alem, Vem Maninha
Vl, Vc e pn
Santos, Murillo # Nazarethiana de Duas Peas Populares Vl, Vc e pn
Ribeiro, Antnio Tavares # Trio para violino, violoncelo e piano Vl, Vc e pn
S
E
M
D
A
T
A
D
E
C
O
M
P
O
S
I
O
Schroeter, Guilherme # Msica para violino, viola e piano op. 26 Vl,Vla e pn
* Obras coletadas integralmente (57 no total)
IV CONCLUSO
O levantamento dos trios brasileiros para piano e cordas se revela como uma fonte para
muitas outras pesquisas relacionadas performance musical e aspectos estticos da msica.
Nesse sentido, as obras listadas e apresentadas neste artigo, visam possibilitar e incentivar: a
divulgao e incluso dessas obras - em concertos, em programas de cursos de bacharelado e
em gravaes; novas pesquisas que dem continuidade ao levantamento e coleta dos trios para
organizao de um catlogo ilustrado; traar um histrico da msica brasileira a partir dos trios
para piano e cordas e; pesquisas que abordem aspectos da pedagogia do instrumento e/ou da
interpretao na msica de cmara.
V - BIBLIOGRAFIA
BASHFORD, Christina. Chamber Music. In: MACY, Laura (ed.) The New Grove Dictionary of Music
and Musicians. 1
a
ed. Online. <http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html? section=music.
05379.1-05379.5>. Acesso em: 08 out.2001.
CARLSON, Andrew. Programming in the 21st Century. In: Anais do XIII Encontro Nacional da
ANPPOM. volume I. Belo Horizonte: UFMG, 2001. p.56-59.
CAVAZOTTI, Andr. As Sonatas Brasileiras para Violino e Piano: Classificao dos Elementos
Tcnico-Violinsticos. In: Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM. volume I. Belo Horizonte:
UFMG, 2001. p.50-55.
DUNSBY, Jonathan. Performance. In: MACY, Laura (ed.) The New Grove Dictionary of Music and
Musicians. 1
a
ed. Online. <http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?Section=music.
43819.1>. Acesso em: 08 out. 2001.
ESCALANTE, Eduardo. Consulta ao Correio Musical. Disponvel em:<http://www.correio
musical.com.br>. Acesso em: 20 maio.2002.
ESTRELA, Arnaldo. Msica de Cmara no Brasil. In: Boletim Latino-Americano de Msica. Tomo VI.
Rio de Janeiro, 1946.
FREITAS, Elaine Thomazi. Msica de Cmara Brasileira Ps-1960. Disponvel em:<http://acd.
ufrj/lamutpgs/numuts/pesquisa.htm>. Acesso em: 24 jun.2001.
GANDELMAN, Salomea. A Relao Anlise Musical/Performance e a Pesquisa em Prticas
Interpretativas no Programa de Ps- Graduao em Msica da Uni-Rio. In: Anais do XIII Encontro
Nacional da ANPPOM. vol. II. Belo Horizonte: UFMG, 2001. p. 498-495.
____________. Compositores Brasileiros: Obras para piano (1950/1988). Rio de Janeiro: FUNARTE,
1997.
GRODNER, Murray. Comprehensive Catalog of Music, Books, Recordings and Videos for the Double
Bass. 4rth ed. Bloomington: Groder Publications, 2000.
IAZZETTA, Fernando (org.). Consulta ao site da ANPPOM - Associao Nacional de Pesquisa e Ps-
graduao em Msica. Disponvel em: <http://www.ufmg.br/anppom>. Acesso em: 02 ago. 2002.
LIMA, Snia Albano de. Pesquisa e Performance. In: Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM,
vol. II, Belo Horizonte: UFMG, 2001. p. 531-538.
MANNIS, J. Augusto (org.). Consulta ao CDMC - Centro de Documentao da Msica Contempornea.
Disponvel em: <http://www.unicamp.br/cdmc>. Acesso em: 02/08/ 2002.
MARCONDES, Marcos Antnio (org.). Enciclopdia da Msica Brasileira: erudita, folclrica e
popular. 2
a
ed. So Paulo: Art Editora/Publifolha, 1998. 887 p.
NIREMBERG, Ivan Srgio. Msica de Cmara: Msica de conjunto ou msica em conjunto?
Dissertao defendida no Mestrado em Msica rea de Musicologia, Centro de Ps-Graduao,
Pesquisa e Extenso do Conservatrio Brasileiro de Msica, 1995.
NOGUEIRA, Ilza.(org.) & SOTUYO, Pablo (coord.). Srie Marcos Histricos da Composio
Contempornea na UFBA, Salvador: UFBA, 2001.
RAY, Snia. A Influncia do Choro no Repertrio Brasileiro Erudito para Contrabaixo. In: Anais do I
Seminrio Nacional de Pesquisa em Perfomance Musical. Belo Horizonte:UFMG, 2000. p.328-331.
________. Brazilian Classical Music for the Double Bass: an overview of the instrument, the major
popular music influences within its repertoire and a thematic catalogue. Tese defendida para aquisio
do grau de Doctor of Musical Arts, na Universidade de Iowa, dezembro de 1998.
TILMOUTH, Michael & SMALLMAN, Basil. Piano Trio. In: MACY, Laura (ed.) The New Grove
Dictionary of Music and Musicians. 1
a
ed. Online. <http://www.grovemusic.com/shared views/
article.htmal?section=music.21647>. Acesso em 09 set.2001.
ULRICH, Holmer. Chamber Music. 2
a
ed. New York: Columbia University Press, 1966.
Msica e memria: o trabalho com
as tramas memorialsticas dos ouvintes da Bossa Nova
Simone Luci Pereira
1
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP)
simonelp@uol.com.br
Resumo: Esta comunicao se refere minha pesquisa de Doutoramento em Antropologia na PUC/SP sobre os
ouvintes das canes da Bossa Nova. As memrias destes, so utilizadas como uma das principais fontes de
pesquisa. Busco neste texto, fazer uma discusso terica sobre a memria, a recepo e escuta musical e as
premissas metodolgicas estabelecidas e utilizadas, onde narro as experincias que esto sendo realizadas no
trabalho com os depoimentos, e o protocolo metodolgico adotado. Mais ainda, ressalto a questo da oralidade,
da memria oral (meu material de trabalho) e suas particularidades, utilizando as formulaes conceituais de
Paul Zumthor. Ainda valendo-me do mesmo autor, saliento o uso de alguns de seus conceitos na anlise das
canes e da escuta musical, tais como vocalidade, performance, na tentativa de compreender a msica em sua
realizao como obra vocal, e suas articulaes com a memria.
Palavras-chave: msica, memria, Bossa Nova
Abstract: This communication allude to my research of Doctorate in Anthropology in the PUC/SP about the
listeners of the Bossa Novas songs.. The memories of these, are used as one of the main sources of research. I
search in this text, to make a theoretical discussion on the memory, the reception and musical listening and the
established and used methodological premises, where I tell the experiences that are being carried through in the
work with the depositions, and the adopted methodological protocol. I stand out the question of the orality, the
verbal memory and its particularitities, using the conceptual formularizations of Paul Zumthor. Still using the
same author, I point out the use of some of his concepts in the analysis of the songs and musical listening, such
as vocality, performance, in the attempt to understand music in its accomplishment as vocal workmanship,
and its joints with the memory.
Keywords: music, memory, Bossa Nova
Perscrutar um tempo - anos 50 e 60 - e em meio a este emaranhado de eventos, marcos
histricos, focalizar uma cidade (Rio de Janeiro) que reunia em si diversos elementos-snteses deste
momento, lembrada e edificada na memria at hoje como um local que agrupou o que havia de mais
fecundo na cultura brasileira. Em meio a isso, localizar a msica, as sonoridades, centrando-se na
Bossa Nova, um estilo que virou mito junto com seus participantes. Mais ainda, olhar para seus
ouvintes jovens, para a recepo destes sons em meio densa tessitura que chamamos de cotidiano das
sociedades, permeado de normas, coeres, mas onde tambm so possveis liberdades, resistncias,
sempre numa perspectiva dialgica. Ouvintes que so homens e mulheres, possuindo diferenciaes em
suas formas de dilogo com esta sonoridade e em seus cotidianos. Trazer tona as compreenses
destes ouvintes sobre a Bossa Nova, em dilogo com outras linguagens que discursam sobre o
momento, pode proporcionar uma interpretao deste tempo e sua especificidade auditiva.
1
Bolsista FAPESP.
Para buscar estes ouvintes, preciso documentar a recepo atravs do cotidiano nesta cidade, o
que est sendo feito a partir da interpretao da imprensa da poca, das memrias dos bossanovistas
e dos ouvintes; das canes da Bossa Nova e de uma sondagem acerca do campo musical naquele
perodo, o que recai necessariamente numa anlise sobre a formao e desenvolvimento das mdias
sonoras no Brasil.
Quanto memria, algumas consideraes. Tem-se como pressuposto que a memria, a
reminiscncia, o ato de reter aquilo que j passou, comporta a lembrana e o esquecimento, em que o
memorioso articula o recuperar e o apagar, num jogo dialgico que fruto do presente, um ato de
reconstruo, restaurao dos tempos pretritos que tem como base a atualidade, aquilo que se
considera importante, preponderante hoje. Portanto, a memria reconstri a prpria relao entre
passado e presente, o sentido que se d histria.
Maurice Halbwachs
2
nos salienta a importncia da memria em resguardar traos do passado
como forma de se contrapor aos efeitos desintegradores da rapidez contempornea. Segundo ele, a
memria tem como sustentao o grupo, sendo social, coletiva, e acabando quando no se tem mais
como suporte o grupo, seja fsico ou afetivo; assim, o esquecimento se d quando o pertencimento
deixa de existir.
J Henri Bergson ressaltava o passado como conservao no presente, sendo que sua reflexo
sobre a memria em si mesma, como fenmeno do esprito humano. As imagens da lembrana, tempo
contnuo, esto intimamente ligadas corporeidade, ou seja, percepo que o indivduo tm do seu
mundo fsico e sua consequente ao sobre o mesmo. Da, observava dois tipos de encadeamentos
fsicos percorridos por estes estmulos corporais no momento da lembrana: um motor e outro
perceptivo.
3
Esta idia de percepo fundamental para se pensar a memria pois, neste vazio deixado
pelo caminho de ida e volta interrompido, abre-se o espao para o imaginrio.
Mas aqui, percepo no sinnimo de memria. Se a percepo pura depende do meio fsico
atual, um ato presente, ento h outras formas de percepo passadas, ligadas a outros estgios de
psiquismo, outras experincias e imagens captadas. O esquema perceptivo no mero resultado de uma
interao de um mundo fsico com o sistema nervoso, mas est presente tambm a lembrana,
impregnando as representaes. O autor chama de conservao, a capacidade que temos de guardar
toda a vida psicolgica j decorrida, em que este passado se combina com a percepo do momento
2
HALBWACHS, Maurice. A memria coletiva. So Paulo: Vrtice, 1994.
3
Bergson denomina duas cadeias cerebrais na lembrana: uma motora, em que articulam-se imagem-crebro-ao, e em que
relacionam-se imagens exteriores, corpo e as modificaes deste sobre as imagens; e outra, em que articulam-se imagem-
crebro-representao, que j no motora e sim um esquema perceptivo. BERGSON, Henri. Matria e memria. So
Paulo: Martins Fontes, 1992.
atual, misturando-se percepes reais do presente, com imagens j sentidas e evocadas. A memria
assim, interfere em todo o processo subjetivo humano, pois faz a ponte entre o corpo presente com o
passado, e interfere no processo atual de representaes, como ressurreies do passado.
4
Feito este prembulo em torno da memria, que podemos das memrias dos ouvintes, as
mulheres e homens que ouviam Bossa Nova nos anos 50 e 60.
Estes depoentes esto sendo analisados com os seguintes critrios: a pesquisa se centra na
cidade do Rio e Janeiro, portanto seleciono moradores da cidade (na poca), que no necessariamente
precisam viver nela at hoje. A pesquisa dever contar com mais ou menos 15 depoentes, onde h um
recorte por gnero (mulheres e homens). Estes devem ter sido jovens (por volta de 20 anos) nos anos da
existncia da Bossa Nova enquanto movimento assim chamado pela imprensa (1958 a 1964),
possuindo hoje uma idade em torno de 58 e 64 anos. Sete depoimentos j foram gravados e esto sendo
analisados.
Outra questo relevante, que seleciona-se os ouvintes comuns da Bossa Nova, no
especializados, ou conhecedores de msica, ou necessariamente apreciadores do estilo, enfim, no se
busca a crtica especializada da Bossa Nova, mas os sujeitos comuns que habitavam na zona sul (local
onde nasceu a Bossa Nova e que mais identificado com as camadas mdias e altas) como tambm
moradores de outros locais da cidade.
A forma de trabalho no momento da entrevista por histria de vida, onde no h um
questionrio previamente produzido e nem uma sequncia ordenada de assuntos a serem tratados, uma
vez que a busca pelos depoentes e suas memrias muito menos em funo de se saber suas opinies
cristalizadas ou tcnicas sobre a Bossa Nova, e muito mais para compreender as suas memrias de
juventude na cidade, a narrativa sobre seu cotidiano complexo, permeado de questes, normas, mas
tambm tticas, subverses dialogando com a escuta da Bossa Nova. Nesse sentido, necessria uma
interpretao profunda destas memrias, pois o objetivo central da tese no est dito claramente pelos
depoentes, mas requer interpretao. O que se quer so os fios do cotidiano destes sujeitos na poca em
estudo, para assim, compreender sua escuta musical.
Mais ainda, lida-se com memria oral, que traz uma pluralidade de aspectos subjetivos que a
diferencia das fontes escritas, envolvendo forte carga emocional, o contato com o depoente, que
interfere na narrativa e na sua interpretao. Fornece informaes acerca das emoes, sentimentos,
crenas, motivaes do depoente, e o impulsionam a falar, sem tantas travas que a narrativa escrita
coloca, liberando o fluxo da memria
5
.
4
BOSI, Ecla. Memria e sociedade : lembranas de velhos. 3.ed. So Paulo: Cia das Letras, 1994.
5
THOMPSON, Paul. A voz do passado Histria Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
Paul Zumthor, ao estudar o fenmeno da oralidade e da voz humana, utilizava o termo
vocalidade, que a historicidade de uma voz humana, seu uso, considerando-a como portadora de
linguagem. Isso nos diz respeito da voz humana e sua ao num tempo/espao. Estas consideraes
so importantes tanto para a anlise dos depoimentos orais dos ouvintes, como tambm para se refletir
num outro mbito da oralidade que tambm central neste trabalho: a cano. Pois, para alm de
vocalidade, Zumthor fala em performance
6
, e a define como uma ao complexa pela qual a
mensagem ocorre no hic et nunc, transmitida e percebida simultaneamente, onde emissor, destinatrio e
circunstncias se confrontam concretamente, e em que o gesto, o corpo tm papel preponderante, numa
teatralidade que se refere tanto ao emissor, quanto ao receptor da mensagem, como realizadores da
obra potica
7
.
Indo alm, o autor refere-se tambm performance mediatizada tecnicamente, encerrada no
disco, no rdio, na TV. Este tipo de oralidade deve ser entendida como uma situao em que no ocorre
a coincidncia entre espao e tempo, em que o momento da interpretao no coincide com a sua
recepo. Ao necessitar de aparatos tcnicos para a emisso da mensagem ou ainda, para a emisso e
recepo, a performance da oralidade mediatizada tem seus aspectos alterados, pois o suporte miditico
tende a apagar as referncias espaciais da voz viva, retirando-lhe o aspecto da corporeidade. No
entanto, esta presena do corpo se transforma, mas no desaparece, isto , a mediatizao no faz com
que deixe de existir performances ou vocalidades. Numa gravao, no radio, na cano mediatizada,
por traz da voz gravada h uma gestualidade, uma plasticidade da voz, h a presena de um corpo, de
qualquer forma. No se pode mais v-lo, mas se sente suas pulsaes, respiraes, sentimentos, energia
vital. Tem-se, de qualquer forma, a presena de um corpo, e isso que definidor da performance.
A interpretao feita pelo cantor tem comunicao com o ouvinte, pois por trs dos recursos
tcnicos, do timbre do cantor, existe uma gestualidade oral. Por trs da voz que canta, existe uma voz
que fala
8
, e esta palavra cantada que produz em quem ouve a formulao de sentidos, da a
importncia em se analisar a interpretao do cantor, mesmo mediatizada tecnicamente, pois ainda
assim, h a assinatura prpria do intrprete, seu trao caracterstico nos arranjos, no processo de
captao sonora, na utilizao do microfone
9
. A gravao parece assim, no dever ser desmerecida e
vista como menor ou falseadora da performance, como que retirando-lhe uma aura.
6
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepo, leitura. So Paulo: EDUC, 2000.
7
ZUMTHOR, Paul. I ntroduo poesia oral. So Paulo: Hucitec, 1997.
8
TATIT, Luiz. O cancionista : composio de canes no Brasil. So Paulo: EDUSP, 1996.
9
VALENTE, Heloisa de Arajo Duarte. As vozes da cano na mdia. So Paulo, 2000. Tese (Doutorado em Comunicao
e Semitica). PUC/SP.
Tomando como pressuposto que no h como analisar a recepo sem que se compreenda a
produo, numa perspectiva relacional, interpreta-se a produo musical, o campo
10
musical, com a
instaurao e consolidao das mdias sonoras e audiovisuais no pas, com a estrutura de vendagem de
discos, a circulao das canes no rdio, os shows da Bossa Nova e abrangncia de tudo isso, num
meio tenso de lutas por hegemonia no campo cultural e artstico. Analisa-se, assim, o momento de
consolidao, no Brasil, de um mercado de bens simblicos
11
. Vem da a ateno gravao da
cano, pois ela que chega at o pblico, tendo papel fundamental na recepo/audio que se far
destas canes. A gravao, com seus arranjos musicais e todo aparato tecnolgico que possa ter, bem
como o seu intrprete, sua figura, padres comportamentais e pessoais, tm papel muito importante na
interpretao da msica, pois o gosto, a identificao, os sentidos atribudos s canes passam tambm
por este aspecto.
As canes da Bossa Nova nesta pesquisa, so entendidas em sua performance, buscando os
discos, gravaes da poca - como lugar de memria
12
- e interpretando a sua comunicao com seu
pblico, com seus ouvintes, compreendendo de que maneira afetavam sua percepo, como dialogavam
neste encontro. Privilegia-se, assim, o uso da voz cantada, seu modo de existncia como objeto de
percepo, de escuta e no uma anlise musical em si mesma, formalista, com suas partituras, ou
caractersticas semnticas. Vem da a busca por ouvintes que tenham escutado e assistido Bossa Nova
no final da dcada de 60, pela TV, e as diferenas em relao queles que a ouviram principalmente (ou
apenas) no rdio ou disco.
Encarar este ouvinte como algum que compe sua narrativa urbana, sonora, como um flaneur
13
que constitui sua experincia na massa urbana, no seu ondular, pertencendo ela e ao mesmo tempo a
negando, a olhando de fora. Indivduos que caminham pela cidade constituindo experincias por meio
de fragmentos da metrpole, contemplando vitrines, consumindo, assistindo TV, ouvindo rdio,
discos, mas tambm indo praia, contemplando as montanhas, a natureza, a acelerao do tempo, a
desenfreada proliferao dos prdios, o extremo processo de super-povoamento de Copacabana ainda
nos anos 60 tudo isso parece contribuir para compreender melhor esta escuta da Bossa Nova. Se a
paisagem o signo preponderante para este habitante da cidade moderna que o Rio de Janeiro j se
tornara, uma paisagem urbana repleta de imagens e choques que estimulam o olhar, a contemplao,
10
BOURDIEU, Pierre (Org Renato Ortiz.) Pierre Bourdieu. So Paulo: tica, 1983. (Grandes Cientistas Sociais).
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte : gnese e estrutura do campo literrio. So Paulo: Cia das Letras, 1996.
11
ORTIZ, Renato. A moderna tradio brasileira: cultura brasileira e indstria cultural. So Paulo: Brasiliense, 1984.
12
NORA, Pierre. Entre memria e histria. Projeto Histria So Paulo: Educ, n.10, 1993. p.7-28.
13
BENJAMIN, Walter. O Flanur ; Sobre alguns temas em Baudelaire. In: _____ Obras escolhidas. Vol 3. So Paulo:
Brasiliense, 1989.
ela no est separada da paisagem sonora
14
que tambm compe este ambiente, em que luzes, cores,
vitrines, prdios, montanhas, cheiros, rudos, presenas fsicas, canes vo delineando o tempo em
questo, na percepo multi-sensorial que tem dele os ouvintes analisados.
A tradio guardada nos discos encontram-se saturadas de elementos que, ouvidos no presente,
suscitam diversas formas de percepo e novas performances. Retomando Bergson, a percepo
musical do ouvinte hoje, j no ser a mesma daquela feita em outros tempos, pois o presente, a cidade,
a paisagem sonora so diferentes. No entanto, a memria est guardada, e no momento em que se
aciona esta percepo, formas perceptivas guardadas sero acionadas podendo vir tona. Assim, o
sujeito, ao ouvir msica, tm suscitadas impresses, sentimentos, lembranas, em que seu imaginrio
evocado, como numa viagem em busca das origens, a qual pode recompor sua experincia e permitir
um passeio pela paisagem sonora passada.
Referncias bibliogrficas
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol 3. So Paulo: Brasiliense, 1989.
BERGSON, Henri. Matria e memria. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
BOSI, Ecla. Memria e sociedade : lembranas de velhos. 3.ed. So Paulo: Cia das Letras, 1994.
BOURDIEU, Pierre (Org Renato Ortiz.) Pierre Bourdieu. So Paulo: tica, 1983. (Grandes Cientistas Sociais).
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte : gnese e estrutura do campo literrio. So Paulo: Cia das Letras, 1996.
HALBWACHS, Maurice. A memria coletiva. So Paulo: Vrtice, 1994.
NORA, Pierre. Entre memria e histria. Projeto Histria So Paulo: Educ, n.10, 1993. p.7-28.
ORTIZ, Renato. A moderna tradio brasileira: cultura brasileira e indstria cultural. So Paulo: Brasiliense, 1984.
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. So Paulo: UNESP, 1991.
TATIT, Luiz. O cancionista : composio de canes no Brasil. So Paulo: EDUSP, 1996.
THOMPSON, Paul. A voz do passado Histria Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
VALENTE, Heloisa de Arajo Duarte. As vozes da cano na mdia. So Paulo, 2000. Tese (Doutorado em Comunicao e
Semitica). PUC/SP.
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepo, leitura. So Paulo: EDUC, 2000.
ZUMTHOR, Paul. I ntroduo poesia oral. So Paulo: Hucitec, 1997.
ZUMTHOR, Paul. Tradio e esquecimento. So Paulo: Hucitec, 1997.
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: a literatura medieval. So Paulo: Cia das Letras, 1993.
14
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. So Paulo: UNESP, 1991.
Musicoterapia e paralisia cerebral
Simone Presotti Tibrcio
Ncleo de Atendimento Caminhar
simonet@gold.com.br
Resumo: Este trabalho demonstra as possibilidades que a Musicoterapia pode oferecer para o
portador de paralisia cerebral e indica algumas caractersticas especficas do atendimento desta
clientela. Inclui uma pesquisa realizada a partir da anlise de 26 questionrios respondidos por pais
e cuidadores que acompanham a rotina de crianas e adolescentes portadores de paralisia cerebral.
Os dados coletados, apresentam informaes importantes que vo contribuir para uma melhor
compreenso do significado da msica para o portador de paralisia cerebral. O estudo aborda o
conceito de vulnerabilidade do portador desta patologia, demonstrando a importncia da expresso
artstica para o ser humano enquanto forma de se constituir enquanto sujeito.
Palavras-chave: musicoterapia, paralisia cerebral, significado.
Abstract: This study presents the possibility that the music therapy can offer to the brain
paralysisbeares and it mark some specifics caracteristics of these patients under treatment. Also
there is a search accomplished from the analysis of the 26 questionnaires answered by parents and
attendant that escort the routine of the deficients teenagers and children. The basic facts coleted
presents importants informations that will contribute for a better understanding and the meaning of
the music to brain paralysis bearer. It approuches the concept of vulnerability for the patient and
presents the meaning of the artistic expression t the human being.
Keywords: music therapy, brain paralysis, meaning.
A utilizao da msica e seus elementos no contato com a criana um fato natural.
A melodia da fala, carregada do afeto inerente interao entre me e filho, constitui
verdadeira msica para os bebs. Esta melodia vocal percebida muito anteriormente
compreenso dos significados da fala e constitu o primeiro passo para a aquisio da
linguagem.
Na interao com o beb portador de paralisia cerebral, a me e a famlia tm
sentimentos ambguos. Conscientes do diagnstico, lidam com a intercorrncia comum de
outros transtornos associados, e com uma criana especialmente frgil s doenas comuns
da infncia. Isto altera as relaes familiares. Condutas de superproteo, simbiose,
rejeio, medo da perda e uma srie de outros sentimentos ocorrem com freqncia,
interferindo na relao familiar. Diante da patologia, a escolha da postura parental
influencia diretamente a musicalidade da comunicao e o manuseio da criana.
No relato dos pais, quase sempre ouvimos referncias positivas ao poder que a
msica exerce sobre a criana portadora de paralisia cerebral. Isso leva o adulto a lanar
mo mais e mais do recurso sonoro. Quando o recurso usado de forma espontnea e
apropriada, atua estimulando e reforando os comportamentos adequados. Entretanto, o
prolongado perodo de dependncia fsica e emocional da criana torna o processo
diferenciado, podendo levar a um uso iatrognico dos elementos em questo. O
musicoterapeuta inclusive muito pode colaborar de forma preventiva, orientando a famlia
quanto correta utilizao dos recursos sonoros e musicais na estimulao precoce.
A percepo pela famlia do alto grau de motivao e prazer que a msica e seus
elementos representam para o portador de paralisia cerebral um dos motivos mais
freqentes da procura pela Musicoterapia. Muitos pais acabam por descobri-la na busca de
uma atividade que focalize a expresso artstico-musical como um canal potencializador da
comunicao.
Em estudo recente, analisamos 26 questionrios respondidos por pais ou cuidadores
(familiares ou funcionrios) que acompanham a rotina de crianas ou adolescentes
portadores de paralisia cerebral. Os dados foram coletados graas colaborao de
instituies de ensino e de profissionais da rea de sade.
Foi solicitada resposta a cinco questes sobre a percepo dos responsveis quanto
ao significado da msica para o portador da patologia. Obtivemos
22 respostas, indicando que pais ou cuidadores sempre percebem modificao no
comportamento do portador de paralisia cerebral quando existe msica no ambiente. Quatro
dos entrevistados responderam que s vezes ocorre modificao. Nenhum deles indicou as
opes: raramente ou nunca.
Na questo sobre o uso da msica e do canto ou de brincadeiras com sons para
facilitar os cuidados ou a comunicao e o relacionamento com o portador de paralisia
cerebral, 16 entrevistados declararam que sempre utilizam os recursos citados e dez
responderam s vezes. Tambm nessa questo no ocorreram as respostas raramente ou
nunca.
Solicitada justificativa para as respostas, prevaleceu a percepo pelos responsveis
de alteraes positivas na ateno, motivao, relaxamento e vocalizao do portador de
paralisia, na presena de recursos musicais.
fato que o desejo de ampliar quantitativa e qualitativamente as possibilidades de
vida dos portadores do transtorno, assim como a dificuldade de lidar fsica e
emocionalmente com as seqelas presentes no ser amado tenham levado familiares e
cuidadores a improvisar formas de atenuar as dificuldades. Esta parece-nos ser a origem de
algumas das idias que posteriormente foram sistematizadas como mtodos e tcnicas, por
terapeutas das diversas reas,.
A maioria das tcnicas teraputicas de reabilitao reconhecidas na atualidade so
recentes, se considerarmos que sempre houve na histria da humanidade portadores de
paralisia cerebral.
At 1960, podemos considerar diminuta a bibliografia sobre a utilizao da msica
com pacientes portadores de paralisia cerebral. O Tratado de Musicoterapia, que rene
trabalhos apresentados em um dos primeiros eventos cientficos da histria desta cincia,
apresenta trs artigos sobre o tema. Nesta obra, Pomeroy afirma que a msica um meio
valioso que permite criana com paralisia cerebral exteriorizar-se de modo criativo, ainda
que sua deficincia possa ser tal que a impea de tomar parte ativa na produo musical
(Gaston, 1968.p. 165).
A afirmao vem de encontro aos postulados bsicos da Psicologia Existencial
Humanista. Segundo Severim, Como uma terceira fora na psicologia contempornea, ela
[a Psicologia Existencial Humanista] est preocupada com tpicos que ocupam pouco
espao nas teorias e sistemas existentes como, por exemplo: amor, criatividade, o eu,
crescimento, organismo, gratificao bsica necessria, auto-realizao, ser, vir a ser...
(Ruud, 1990.p.63). nesse pressuposto que norteamos nosso trabalho com o recurso
sonoro-musical no atendimento de pacientes portadores de atraso global no
desenvolvimento neuropsquico e motor.
A concepo existencial humanista, alicerada no respeito ao valor do indivduo e
s diferenas inerentes a cada ser, vem de encontro caracterstica bsica da patologia em
questo.
A paralisia cerebral acomete seu portador em graus e formas variadas, dependendo
do tipo de envolvimento neuromuscular, podendo estar ou no associada a outras
enfermidades que venham agravar o quadro motor, cognitivo e emocional. Comparada a
outras patologias responsveis por distrbios no desenvolvimento neuropsquico e motor, a
paralisia cerebral apresenta um espectro muito variado de quadros clnicos. So observadas
desde seqelas mnimas at comprometimento global severo.
Atualmente cada vez maior a divulgao sobre a aplicao da Musicoterapia em
instituies de sade, de ensino superior e em eventos cientficos de carter interdisciplinar.
Cada dia mais neurologistas, psiquiatras, fonoaudilogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, psiclogos e pedagogos tm percebido o quanto esta prtica pode contribuir
para o desenvolvimento do paciente.
A formao do musicoterapeuta se compe de disciplinas da Psicologia, Msica,
Medicina, Filosofia, das Artes Cnicas, entre outras. O musicoterapeuta busca fundir
saberes, a fim de se constituir integralmente diante da sua prtica. O estudo de disciplinas
de reas afins possibilita uma discusso e uma atuao interdisciplinar, que contribui
significativamente para o desenvolvimento global do paciente. Assim, para o
musicoterapeuta, no estudo da paralisia cerebral, de sumo interesse recorrer a informaes
das demais tcnicas utilizadas: teoria de integrao sensorial, mtodo Bobath, comunicao
alternativa, viso subnormal, abordagem funcional, reintegrao neurolgica,
psicomotricidade relacional, entre outros. importante tambm acompanhar e atualizar os
conhecimentos sobre Neurologia e Ortopedia (ex.: uso de toxina botulnica).
O PROCESSO MUSICOTERPICO
O primeiro passo do atendimento musicoterpico o processo de avaliao do
paciente. Como na maioria dos atendimentos clnicos, consiste de uma entrevista de
anamnese, na qual os responsveis fornecem dados sobre a histria de vida do paciente.
Neste ponto, especfico da prtica musicoterpica o levantamento de dados sobre as
experincias sonoro-musicais do paciente: trata-se da ficha musicoterpica. Este material
de grande importncia para o procedimento clnico, pois demarca o back ground sonoro e
musical, no qual o musicoterapeuta ir se deslocar durante as sesses.
A Musicoterapia uma abordagem que utiliza tanto o som, o silncio, o ritmo, o
movimento, o timbre, a melodia, alm de outros elementos constituintes do fazer musical,
quanto da prpria msica para alcanar propsitos teraputicos. Segundo Albinati o
musicoterapeuta antes de tudo um pesquisador em repertrio musical. Ao dedicar-se ao
uso da msica em terapia, dificilmente ouvir uma msica sem pensar nela como possvel
objeto teraputico. Ir sempre analis-la do ponto de vista dos materiais, da forma, do
contexto histrico e de provveis associaes extramusicais...
(Albinati, 2000. p.3).
Tambm fazem parte do processo de avaliao contatos com o paciente, com a
famlia e com os demais profissionais envolvidos. O processo de avaliao termina com
uma sesso com os responsveis, na qual o musicoterapeuta expe suas observaes e
demarca os objetivos especficos, de acordo com as necessidades primordiais do paciente.
A ttulo de exemplo, citamos a seguir algumas necessidades que podem ser
detectadas entre os portadores de paralisia cerebral. Cada exemplo seguido de uma breve
descrio de atividades que o musicoterapeuta pode proporcionar ao paciente.
Estimular a propriocepo: atravs da vibrao inerente ao fenmeno sonoro, ao
tocar os instrumentos musicais ou ao ouvi-los (ou senti-los) sendo tocados bem
prximos de si pelo musicoterapeuta, o paciente percebe o contorno corporal, formando
um esquema e uma imagem corporal.
Reduzir a defensibilidade ttil: atravs da vibrao e da textura dos instrumentos
musicais que o paciente deseja fazer soar.
Estimular as emisses sonoras: atravs da valorizao e contextualizao dos sons
produzidos por ele, utilizando fragmentos meldicos, criados pelo musicoterapeuta, de
contedo sonoro que o paciente capaz de emitir.
Trabalhar a ateno dirigida: atravs de jogos musicais que surgem das
possibilidades do paciente e so estruturados com auxlio do musicoterapeuta.
O objetivo primordial, em todos os casos, criar as condies ideais para que se
forme um vnculo positivo entre paciente e terapeuta. Nesse momento, ambos estaro
tocando, cantando, porm o musicoterapeuta estar atento comunicao do paciente. A
expresso da face, o gesto, a postura e todas as outras manifestaes no-verbais, so
observados pelo musicoterapeuta, principalmente no caso de pacientes com
comprometimento de linguagem ( FIG.1).
FIG.1
Uma das singularidades de alguns portadores de paralisia cerebral a presena de
movimentos involuntrios ou dificuldade em outros movimentos, o que altera a percepo
imediata da comunicao no-verbal.
A percepo do musicoterapeuta quanto comunicao dos pacientes com
acometimento severo dificultada, o que prolonga o perodo de formao de vnculo. Este
um perodo, para o paciente e para o musicoterapeuta, de reconhecimento, e que
ultrapassado medida que o paciente adquire confiana e segurana no musicoterapeuta.
Quando este se torna apto a lidar com as particularidades do quadro clnico apresentado, a
expresso do paciente torna-se uma verdadeira fonte de significados, cada vez mais
consistentes, favorecendo a interao e as decorrentes intervenes.
O processo musicoterpico com portadores de paralisia cerebral requer que ambos,
paciente e terapeuta, toquem instrumentos. necessrio que o paciente esteja bem
posicionado, da forma mais autnoma possvel s suas condies motoras. Para alcanar
esse objetivo, o profissional dever usar da sua criatividade, seguindo sempre as
recomendaes do fisioterapeuta que acompanha o paciente.
Quando o paciente possui cadeira adaptada, a utilizao desta a forma mais
indicada para a realizao das primeiras sesses. Ao paciente, isso garante uma postura
ideal, propicia segurana e facilita a ateno. Um bom posicionamento da criana
possibilita ao musicoterapeuta:
Tocar os instrumentos, potencializando os estmulos musicais.
Oferecer instrumentos adaptados s necessidades motoras do paciente e auxili-lo
no manuseio.
Manter contato visual com o paciente, a fim de perceber o contedo no-verbal da
comunicao, principalmente em casos nos quais ocorre disfuno de linguagem.
Monitorar a funo visual do paciente, quantitativa e qualitativamente.
Facilitar a formao de vnculo entre paciente e terapeuta.
Alm da cadeira adaptada, o musicoterapeuta necessita conhecer todas as rteses
usadas pelo paciente, a fim de proporcionar a este um maior aproveitamento da sesso.
Aps buscar orientao do especialista, o musicoterapeuta dever lidar com: colar cervical,
polainas, culos, aparelho auditivo, tutor, splints de posicionamento, entre outros.
Nossa prtica tem demonstrado que a sesso de Musicoterapia , muitas vezes, um
facilitador do processo de adaptao s rteses. A aceitao das adaptaes estimulada
pelo prazer e pela motivao que o manuseio dos instrumentos musicais proporcionam ao
paciente. O musicoterapeuta, consciente do ganho que ter seu paciente, pode contribuir,
criando, com sua habilidade, situaes nas quais a utilizao da rtese facilite e aprimore a
execuo musical.
Para exemplificar o processo de adaptao, podemos citar o caso de uma portadora
de paralisia cerebral de sete anos, quadriplgica espstica, com componente atetide. Foi
estimulada a usar suas polainas durante a sesso de Musicoterapia. A utilizao da rtese
em questo pode causar dor, pois exige o estiramento de uma musculatura atrofiada pelo
desuso. A estratgia foi iniciar a sesso com a execuo do Tema Clnico, um
determinado contexto musical (geralmente uma ou duas frases musicais) com o qual o
paciente interage de forma bastante particular
(Brandalise, 2001, p. 34).
. No tema clnico o paciente se reconhece, se v como sujeito do fazer musical. O
reconhecimento da melodia proporcionou paciente um referencial de segurana e
estmulo. Sentada em sua cadeira, ela utilizava um instrumento adaptado, denominado
pulseira de guizo , enquanto acompanhava o tema clnico, executado pela musicoterapeuta
no piano. A atividade permitia trabalhar: a funo motora dos membros superiores; a
percepo dos pares opostos (comear-terminar, forte-fraco, rpido-lento), e a ateno
dirigida. A paciente foi ento convidada a acompanhar o mesmo tema clnico com um
instrumento de grande porte e maior potncia sonora: o tambor
(FIG. 2). Naquele momento, a polaina foi introduzida, pois permitia paciente a postura de
p, essencial para a execuo do instrumento. Motivada pela musicoterapeuta e pela
possibilidade de melhorar a execuo musical, a paciente passou a perceber os ganhos que
o uso de polaina oferecia (FIG. 3).
4
BRANDALISE, 2001. p. 34.
(FIG. 2 e 3)
fundamental ressaltar que a qualidade do produto musical executado pela criana
est totalmente ligado sua capacidade motora, cognitiva e emocional . O belo e o esttico
do fazer musical neste contexto evidentemente afetado pela patologia.
A perfeio de notas e ritmos, a estabilidade da pulsao ficam em segundo plano,
pois o musicoterapeuta tem como meta ampliar os canais de comunicao e expresso do
paciente.
Como a capacidade global do portador de paralisia cerebral depende do grau de
acometimento da patologia, na Musicoterapia ele pode usufruir desde seqncias
basicamente rtmicas e meldicas at a percepo dos parmetros harmnicos mais
complexos, chegando a adquirir conhecimentos sobre notao musical, signos da Msica. E
podemos afirmar que o desenvolvimento do paciente reflete-se diretamente na qualidade de
sua performance musical, provocando um movimento de realimentao motivacional.
No acervo terico da Musicoterapia, esto descritas quatro tcnicas, isto , quatro
tipos de experincias musicais que so utilizados durante o processo. Caracterizados por
diferenas na necessidade de engajamento e comportamento sensorial e motor, as tcnicas
so distinguidas como: improvisar, recriar (ou executar), compor e escutar (
Bruscia, 2000,
p.121).
Essas tcnicas so utilizados no tratamento do portador de paralisia cerebral, com
objetivos e adaptaes especficos para o paciente. Em todas elas, o material necessrio est
relacionado com o fazer musical, portanto, as tcnicas valem-se dos recursos inerentes
produo de som.
A est o diferencial do setting musicoterpico: a presena do instrumento musical.
Benenzon denominou de Grupo Operativo Instrumental (GOI) a srie de instrumentos
sonoro-musicais que fazem parte do patrimnio teraputico prprio de cada
musicoterapeuta, e do qual este se valer para estabelecer ou melhorar o vnculo com seu
paciente (Benenzon,1998. p.19).
Fazem parte do GOI todos os objetos que possibilitam a produo de som audvel,
desde que este seja do interesse do paciente. Na prtica musicoterpica, os instrumentos so
chamados: de convencionais (primitivos, folclricos, eruditos e eletrnicos) e no-
convencionais (sons da natureza, instrumentos confeccionados pelo prprio paciente, alm
de todos os sons produzidos pelo prprio corpo).
A Musicoterapia tem se mostrado bastante organizada, em sua teoria e prtica, para
auxiliar o portador de paralisia cerebral. A utilizao sistematizada dos recursos musicais
tem contribudo para que muitos portadores, crianas e adolescentes, conquistem nova
qualidade motora, cognitiva, emocional e interpessoal.
A Musicoterapia rompe com o conceito de vulnerabilidade, uma vez que as
possibilidades do paciente, sejam elas quais forem, so tomadas como condio real e
inegvel, na qual se articula e se d o progresso. A face artstica da abordagem teraputica,
num dado momento, conduz o paciente a romper as barreiras da patologia, revelando
potenciais de expresso. E, como na arte, quando h qualquer potencial de expresso, isto
se torna uma necessidade.
BIBLIOGRAFIA:
ALBINATI, Maria Eugnia C. B. O repertrio musical em Musicoterapia. In: V Encontro
Mineiro de Musicoterapia, 2000, Belo Horizonte. Associao de Musicoterapia de Minas
Gerais, p.3.
BENENZON, Rolando O. La Neuza Musicoterapia. Buenos Aires: Editora Lumen., 1998.
BRANDALISE, Andr. Musicoterapia msico-centrada. So Paulo: Apontamentos Editora,
2001.
BRUSCIA, Kenneth E. Definindo a Musicoterapia. 2.ed. Rio de Janeiro: Ennelivros, 2000.
GASTON, Thayer. Tratado de Musicoterapia. Buenos Aires: Editora Paidos, 1968.
RUUD, Even. Caminhos da Musicoterapia. So Paulo: Summus, 1990.
1
Film as music: o rdio musical de Glenn Gould e a construo sonora do
filme de Franois Girard
Suzana Reck Miranda
Universidade Anhembi Morumbi (UAM)
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
suzanarm@iar.unicamp.br
Resumo: O texto articula elementos formais e sonoros dos documentrios radiofnicos de Glenn
Gould e do filme Thirty-two short films about Glenn Gould (Trinta e dois curtas sobre Glenn
Gould) de Franois Girard. Uma breve anlise da construo do prlogo da pea radiofnica The Idea
of North (Gould) e do curta Truck Stop (Girard) apresentada. A reflexo teve como base conceitos
de Michel Chion sobre a natureza da percepo sonora e visual no cinema, mais precisamente sobre o
conceito musical de contraponto diante dos pressupostos especficos da linguagem flmica. O
objetivo revelar o peculiar tratamento que o cineasta desenvolveu entre a relao som/imagem neste
filme. Em especial, a relao da construo sonora do curta analisado destacada. Relao esta que
resultou do rico intercambio entre as idias estticas de ambos os artistas: Gould e Girard .
Palavras-chave: Glenn Gould, contraponto radiofnico, trilha sonora.
Abstract: This paper examines the sound and formal elements in Glenn Goulds radio documentaries,
together with Franois Girards movie Thirty-two short films about Glenn Gould. A brief analysis of
sound construction in the prolog of Goulds radio piece, The Idea of North, is presented in connection
with the sound treatment in Girards short film, Truck Stop. The ideas in this paper spring from Michel
Chions vision of the sound/image relationship in cinema, particularly with regard to counterpoint
techniques in the realm of audio-visual language. The objective is to revel the peculiar treatment that
Girard developed with his use of sound and image in this movie. In particular, the Truck Stop sound
construction is presented as a result of the interplay of the aesthetic ideas of the two artists Gould
and Girard.
Keywords: Glenn Gould, contrapuntal radio, soundtrack.
O cenrio uma estrada a 20 milhas de Toronto (Canad). Vemos Glenn Gould (Colm
Feore) dentro de um carro (um Lincoln Continental) mexendo em algo no painel. A seguir, o
carro sai da pista e estaciona ao lado de enormes caminhes. Tudo isto visto enquanto
ouvimos Petula Clark cantando Downtown
1
. A prxima imagem revela o interior de um
restaurante. Ao fundo, vemos a silhueta de Gould abrindo a porta e entrando. Em primeiro
plano aparece um rdio (em cima de um balco). Neste exato momento, escutamos a mesma
cano com uma sonoridade diferente: o filtro sonoro usado passa a ntida idia de que a
msica provm dos autofalantes do rdio.
A descrio acima refere-se ao incio do curta denominado Truck Stop, do Thirty-two
short films about Glenn Gould, filme do canadense Franois Girard, composto de trinta e dois
curtas. A proposta do filme abordar de uma forma mltipla a vida do pianista, destacando o
1
Cano de Tony Hatch gravada por Petula Clark, 1964 Welbeck Music Ltd. Londres, Inglaterra.
2
seu ponto de vista filosfico e artstico em relao a vrios assuntos como, por exemplo, a
performance pianstica, o papel do artista, os meios tecnolgicos. A estrutura do filme em
trinta e duas partes uma referncia ao nmero de peas das Variaes Goldberg (BWU 988)
de J.S. Bach, caracterstica que permitiu a Girard tratar os curtas como variaes da
biografia de Gould. A montagem do filme mescla depoimentos em estilo de reportagem (de
vrias pessoas que realmente conviveram com o pianista), trechos dramatizados com atores,
imagens diversas que caracterizam performances musicais e seqncias onde Feore interpreta
Gould.
Um filme sobre Gould, claro, se permitiria ter, como grande parte de sua trilha sonora,
gravaes do prprio Gould. Mas, o Truck Stop foge desta regra. Alis, a nica msica da
trilha sonora que no pertence ao repertrio erudito a cano Downtown que, a partir do
sexto plano, vai sumindo, bem como os outros rudos naturalistas. Vozes tomam conta do
espao sonoro. De acordo com a ateno de Gould, determinados grupos de pessoas so
enfatizados visual e sonoramente. O resultado deste aparente exerccio auditivo um
complexo sonoro. Diferentes timbres vocais se destacam no meio de falas simultneas.
Sonoridades tpicas de inflexes das lnguas inglesa e francesa se mesclam. So histrias
paralelas que vo perdendo sua fora semntica e ganhando musicalidade, regidas pelas mos
do pianista.
Que o assunto principal deste curta a observao auditiva de Gould, no h dvida.
Mas, quais os motivos que levaram Girard a incluir uma seqncia desta natureza no filme?
Em outras palavras, que aspectos da vida de Gould esto sendo realmente abordados neste
trecho do filme?
verdade que Gould freqentava regularmente um restaurante de beira de estrada,
mais precisamente na Highway 400, ao norte de Toronto. Ele realmente tinha um Lincoln
Continental e possua uma habilidade auditiva incomum. Entretanto, as principais referncias
desta seqncia vo alm de meros dados biogrficos. A construo sonora que traz para o
centro do curta uma das principais caractersticas estticas da filosofia musical gouldiana: a
experimentao com meios tecnolgicos.
De acordo com Payzant
2
, Gould declarou diversas vezes que sua primeira transmisso
radiofnica (na CBC - Canadian Broadcasting Corporation, em 1955) o despertou para um
forte interesse pelos meios tecnolgicos. O jovem pianista havia tocado a sonata K 281 de
Mozart e a sonata n
o
3 de Hindemith. Ele achou que o piano tinha o som grave muito pesado e
2
PAYZANT, Geoffrey. Glenn Gould Music & Mind. Toronto : Key Porter Books, 1984. p.37.
3
escuro. Ao escutar a gravao desta transmisso, percebeu que, se pudesse suprimir um pouco
os sons graves e aumentar discretamente os agudos, poderia obter o efeito que havia tentado
colocar em sua performance. Entretanto, ele no conseguiu extrair este efeito do piano. Como
soluo a este impasse, pensou que, se pudesse alterar a sonoridade atravs dos microfones,
forneceria uma qualidade sonora melhor aos ouvintes, superando assim as limitaes do
piano. Em sua opinio, isto seria realmente colocar a tecnologia a servio da arte.
Esta descoberta teve uma grande influncia no direcionamento de sua carreira
profissional. Cada vez mais, as gravaes ocupavam o seu tempo. Cada vez menos, os
recitais. Aos 31 anos abandonou definitivamente as salas de concerto e se dedicou somente s
gravaes da Columbia, aos programas de rdio e TV, aos inmeros artigos e resenhas que
escreveu e a algumas poucas composies (incluindo msica de filmes). A cmera e o
microfone - principalmente - passam a representar, na filosofia gouldiana, uma possibilidade
de liberdade artstica em contraposio ao aprisionamento das salas de concerto, a que Gould,
a cada dia, desenvolvia uma fobia maior.
So justamente os programas de rdio de Gould que esto no centro do trabalho
sonoro do curta de Girard. Os documentrios radiofnicos que o pianista fez representam um
ponto culminante no seu experimentalismo esttico. O primeiro deles, sobre Schoenberg, foi
bastante convencional no formato. Mais tarde ele comeou a escolher temas que no eram
necessariamente sobre msica. Porm, o tratamento sonoro das peas radiofnicas era
totalmente musical. Gould construa seus programas de rdio pensando em formas musicais e
refletiu sobre suas idias em um artigo em forma de entrevista, chamado Radio as Music, de
1971
3
. Para ele, as peas que compem a Solitude Trilogy so msica. Os programas The
Idea of North, The Latecomers e The Quiet in the Land so basicamente compostos de
material pr-gravado que enfatiza, sobretudo, a palavra falada. Este material misturado
polifonicamente.
Tendo como material bruto diversas entrevistas, Gould criava um efeito de conversa
entre entrevistados que nunca sequer se encontraram. Estas conversas eram regidas por
tenses emocionais que crescem e decrescem, por suspenses, por momentos de reflexo. As
vozes, por vezes, so sobrepostas umas s outras, ora se complementando, ora se
contradizendo. Esta sobreposio feita de acordo com algumas regras muito semelhantes a
processos de composio musical que usam temas e motivos. Existe sempre um ponto de
3
Radio as Music: Glenn Gould in conversation with John Jessop in: PAGE, Tim (org.). The Glenn Gould
Reader. Toronto: Lester & Orpen Dennys Publishers, 1984. Esta entrevista foi originalmente publicada no The
Canadian Music Book (Spring-Summer, 1971).
4
convergncia entre as vrias vozes, uma espcie de palavra ou assunto (tema) que acaba
justificando a polifonia vocal. Um vocbulo semelhante, um conjunto de nmeros, uma
opinio contrria. Muitas vezes, uma palavra na voz de algum ecoa no discurso de uma outra
pessoa, construindo assim o efeito contrapontstico.
Por exemplo, na introduo do The Idea of North
4
, logo aps as palavras iniciais da
enfermeira Marianne Schroeder, um homem (o Professor Frank Vallee) comea a falar as
seguintes palavras
5
: I dont go, let me say this again, I dont go for this northmanship bit at
all (...). A voz feminina retorna: we seemed to be going into nowhere, and the further north
we went (...)
6
Ao mesmo tempo, a voz masculina est falando I dont know, those people
who do claim they want to go farther and farther north, but (...)
7
. Entra uma terceira voz
(Bob Phillips) dizendo and then for another eleven years, I served the North in...
8
, no exato
momento em que a voz de Vallee estava falando Well I did one of thirty days...
9
. Segundo
Otto Friedrich, Gould descreveu esta edio inicial em The Idea of North como tendo a forma
de uma sonata trio. So trs vozes que vo aparecendo gradativamente. A primeira voz
masculina entra falando farther logo aps a voz feminina pronunciar further. Friedrich
cita um comentrio de Gould sobre esta parte inicial, onde o pianista demonstra que buscou
inspirao em algumas tcnicas composicionais modernas:
(...) Ele diz thirty days e, neste ponto, j nos damos conta de uma terceira
voz, que imediatamente aps o thirty days diz eleven years e um novo ponto de
passagem foi efetuado. A cena construda de modo que tenha um tipo de eu no
sei se voc j percebeu a diferena entre as sries tonais de Webern e Schoenberg,
mas tem um tipo de continuidade na passagem parecida com Webern, em que aqueles
motivos que so parecidos, mas no idnticos, so usados para o intercambio de idias
instrumentais...
10
(Friedrich, 2000, p.187)
Voltando ao filme, a banda sonora do Truck Stop trabalhada de uma forma
semelhante ao que Gould fazia em seus documentrios para o rdio. O emaranhado sonoro
construdo por Girard no apenas demonstra a habilidade auditiva do personagem. Ela uma
4
Neste programa, Gould tinha como objetivo explorar temas filosficos, aspectos da solido, do isolamento e
retratar subjetivamente o fascnio que ele mesmo nutria pelos vastos territ rios do norte canadense. Este
documentrio no algo didtico que ir fornecer detalhes histricos e precisos sobre uma regio. Ao contrrio,
um mosaico sonoro, inspirado em estruturas musicais (o prlogo possui uma estrutura inspirada na forma trio
sonata do perodo barroco).
5
As frases sero mantidas em ingls para que a estrutura especfica da lngua possa melhor exemplificar a edio
de Gould. H uma breve traduo em forma de notas de rodap.
6
Parecamos estar indo para lugar nenhum e quanto mais ao norte amos...
7
Eu no sei, estas pessoas que dizem que desejam ir cada vez mais e mais ao norte, mas...
8
E ento, por mais onze anos eu servi ao norte...
9
Bem, eu fiz uma (viagem) de trinta dias...
5
verdadeira explicao do tipo de edio que Gould realizava em suas peas radiofnicas. H
uma transio no tratamento do espao sonoro ficcional que vai ocorrendo aos poucos.
Primeiramente, os rudos realistas, incluindo a cano Downtown, vo sumindo e as vozes
dominam todo o espao snico. Neste momento, a edio sonora j est significando um
mundo sonoro particular, uma espcie de escuta seletiva. medida que novas vozes se
somam do primeiro caminhoneiro, a escuta de Gould torna-se ainda mais especial,
orquestrando um verdadeiro contraponto sonoro. Aos poucos, a relao semntica das
palavras colocada em um segundo plano e o emaranhado de vozes, guiado pela regncia
discreta do personagem, passa a explorar as qualidades acsticas das vozes, suas entonaes,
pausas e sonoridades tpicas de cada timbre vocal, de cada lngua.
John Roberts
11
, ao analisar o trabalho radiofnico de Gould, destacou que h vrias
maneiras de escutar a textura entremeada da abertura do The Idea of North. Pode-se buscar o
sentido das palavras, pode-se tentar assimilar a atmosfera do norte ou ainda observar a
minuciosa textura das vozes. Sem esquecer que Gould fazia das palavras a sua ferramenta
principal e que ele as tratava simultaneamente de acordo com perspectivas diferentes,
acrescenta o autor (Roberts, 1888, p. 178).
Da mesma forma, h vrias maneiras de escutar o filme de Girard. No Truck Stop,
certamente podemos compreender o sentido das palavras, seja na histria que o primeiro
caminhoneiro relata a seus companheiros ou ainda nas desavenas do casal que conversa no
balco. Tambm possvel assimilar a atmosfera do local: um restaurante simples, beira de
uma estrada, que serve de ponto de encontro e desencontro entre os caminhoneiros - viajantes
profissionais que carregam suas mltiplas histrias neste estar de passagem inevitvel da
profisso. Por ltimo, temos o privilgio de compartilhar a audio especial de Gould, se
prestarmos ateno na textura dos sons. Girard tambm trabalhou com pontos de
convergncia entre as vrias vozes. Por exemplo, o primeiro cruzamento de dois diferentes
dilogos ocorre quando um assunto semelhante est sendo exposto. A voz do segundo
caminhoneiro, que conversa com a namorada sobre seu descontentamento com a relao,
entra justamente no momento em que o primeiro caminhoneiro est explicando as
dificuldades de relacionamento familiar da garota que estava de carona com ele. H um tema
dificuldades de relacionamento que predomina
12
. Logo aps, relaes numricas passeiam
10
FRIEDRICH, Otto. Glenn Gould Uma vida e variaes. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 187.
11
ROBERTS, John P.L. Glenn Gould: um examen des documentaries de la Trilogie Solitude In GUERTIN,
Ghyslaine (org.). : Glenn Gould Pluriel. Quebec: Louise Courteau - ditrice, 1988.
12
Trucker #1: ...generation gap or what the hell it was...
Trucker #2: ...Janet, viens tasseoir. Je sais que cest pas le moment, mais il fout que je te parle...
6
entre as vozes. O primeiro caminhoneiro revela que a garota tinha dezesseis anos enquanto
o segundo fala que h trs anos faz a mesma rota. Mais tarde, a voz de um terceiro
caminhoneiro surge, dizendo para um colega que ir pagar os quinze dlares da aposta.
13
Estes temas numricos funcionam mais como desencadeadores de uma construo potico-
sonora em torno de determinadas palavras, do que como portadores de uma lgica semntica
entre as diversas vozes.
No audiovisual, a construo sonora percebida simultaneamente com a imagem,
caracterstica que Michel Chion denomina de contrato audiovisual. Para Chion, as
informaes visual e auditiva, quando percebidas ao mesmo tempo, mutuamente se
influenciam, uma emprestando outra suas respectivas propriedades por contaminao ou
projeo
14
. Tomando novamente Truck Stop como exemplo, o emaranhado de vozes
percebido como sendo o resultado da audio subjetiva do personagem que vemos na tela. A
montagem relaciona espacialmente os personagens que esto falando e os gestos que
representam uma ateno auditiva de Gould. Por este efeito de contrato audiovisual, que
Chion diz ser uma espcie de acordo para esquecer que o som vem do autofalante e a imagem
da tela, o contraponto sonoro entendido como proveniente de uma escuta direcionada do
personagem. Gould seleciona determinadas vozes para dirigir a sua ateno auditiva. Esta,
certamente, a leitura mais imediata deste curta.
Segundo Chion
15
, na terminologia da Histria da Msica Ocidental, contraponto um
estilo de escrita que combina diferentes vozes simultneas, vozes que costumam ser
contrastantes e independentes. J no audiovisual, h uma tendncia de se excluir a
possibilidade de um funcionamento horizontal e contrapontstico entre som e imagem, devido,
justamente, ao que ele chama de contrato audiovisual. Para o autor, a maior parte dos
exemplos classificados como contrapontsticos no passam de uma discordncia pontual entre
o som e a imagem, e exemplos reais de canais paralelos de imagens e sons so raros.
No filme de Girard, como j foi dito, podemos ouvir a trilha sonora de diversas
formas, algumas delas independentemente do que est sendo visto na imagem. Esta
caracterstica pode, portanto, ser entendida como um exemplo de contraponto na relao entre
o som e a imagem. Podemos dizer que o curta Truck Stop se inspira em relaes
contrapontsticas no apenas no mbito da edio sonora, mas tambm nas mltiplas linhas de
13
Trucker #1: ...sweet little 16 years old...
Trucker #2: ...trois ans sur la mme route...
Trucker #3: ...fifty bucks, Ill pay you...yeah...
14
CHION, Michel. Laudio-vision. Paris: Nathan, 1990.
15
CHION, Michel. Op. Cit. p.33.
7
significao que, embora independentes, combinam-se harmoniosamente em relao ao tema
principal do filme - Glenn Gould.
Enfim, o som neste filme de Girard no deve ser percebido apenas no contexto em que
est inserido em relao s imagens. H uma multiplicidade de leituras possveis que so
decorrentes das informaes sonoras, independentemente deste sentido primeiro, apreendido
na percepo simultnea do som e da imagem. Estes nveis de significao independentes no
comprometem a leitura mais espontnea do espectador. Ao contrrio, a enriquecem.
Nem mesmo a cano de Petula Clark est livre de referncias paralelas. Gould, de
acordo com Friedrich
16
, enquanto dirigia para Wawa, uma pequena cidade costeira ao norte de
Toronto, ouviu tantas vezes no rdio Petula Clark cantando, que resolveu escrever um
pequeno artigo em forma de questionrio intitulado The Search of Petula Clark, publicado
na revista High Fidelity em novembro de 1967. E foi em Wawa, em um pequeno quarto
alugado, localizado beira do lago, que Gould escreveu o roteiro de edio do The Idea of
North.
Referncias Bibliogrficas:
CHION, Michel. Laudio-vision. 2. ed. Paris: Nathan, 1990.
FRIEDRICH, Otto. Glenn Gould Uma vida e variaes. Rio de Janeiro: Record, 2000.
GIRARD, Franois e McKELLAR, Don. Thirty-Two Short films About Glenn Gould - The
Screenplay. Toronto: Coach House Press, 1995.
PAGE, Tim (org.). The Glenn Gould Reader. Toronto: Lester & Orpen Dennys Publishers,
1984.
PAYZANT, Geoffrey. Glenn Gould Music & Mind. Toronto: Key Porter Books, 1984.
ROBERTS, John P.L. Glenn Gould: um examen des documentaries de la Trilogie Solitude
In: GUERTIN, Ghyslaine (org.). Glenn Gould Pluriel. Quebec: Louise Courteau - ditrice,
1988.
16
FRIEDRICH, Otto. Op. Cit. p. 185.
"Sem planejar no tem como dar aula": os estagirios falam e escrevem
sobre as suas aulas de msica na escola
Teresa Mateiro
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
tmateiro@intercorp.com.br / c2tanm@udesc.br
Marcelo Rbson To
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
marceloteo@hotmail.com
Resumo: O presente estudo tem como objetivo investigar os processos de planejamento durante o
estgio supervisionado, levando em conta os fatores externos que orientam, influenciam ou, ainda,
determinam o planejamento, alm de detectar as possibilidades e funes do planejamento diante
da realidade dos diferentes estagirios, futuros professores de msica. Tomamos como base a
pesquisa de campo realizada no ano de 2000, quando foram coletados dados atravs de entrevistas
e relatrios de estgio, junto a trs alunas do curso de Educao Artstica - Habilitao em Msica
da Universidade do Estado de Santa Catarina. Selecionamos, assim, apenas os segmentos de textos
codificados na categoria 'planejamento'. Os resultados, ainda que parciais, refletem a importncia e
a necessidade de fomentar a formao pedaggica dos futuros professores de msica, bem como o
desenvolvimento de trabalhos cooperativos e mais estreitos, principalmente, entre os sujeitos
professor orientador, professor cooperante e estagirio.
Palavras-chave: educao musical, planejamento, prtica pedaggica
Abstract: The present study has as objective to investigate the planning processes during the
supervised apprenticeship, taking into account the external factors that guide, influence or
determine the planning, besides detecting the possibilities and functions of the planning regarding
the different trainees' reality, future music teachers. We took as base a field research developed in
the year 2000, when data were collected through interviews and apprenticeship reports, with three
students of the Santa Catarina State University Artistic Education - Qualification in Music course.
We selected only the texts' segments codified in
the 'planning' category. The results, although partial, reflect the importance and the need of
fomenting the future music teachers pedagogic formation, as well as the development of
cooperative works, mainly, among the subjects - guiding teacher, cooperating teacher and trainee.
Keywords: musical education, planning, pedagogic practice.
Introduo
Durante a nossa experincia como professora responsvel pelos estagirios do
Curso de Licenciatura em Msica da Universidade do Estado de Santa Catarina,
observamos que muitos deles tinham dificuldades para planejar uma aula de Educao
Musical, fosse para crianas e adolescentes do ensino fundamental ou para jovens do
ensino mdio. As dvidas giravam em torno s perguntas bsicas O que farei na
primeira aula? Que contedos seleciono para trabalhar? Quais so os objetivos? Que tipo
de atividades posso planejar? Que repertrio seleciono? Como saberei que dar certo? Que
materiais didticos posso utilizar?
Os estudos sobre como os professores planejam suas aulas surgiram a partir de
1970, constituindo um campo novo, com um grande nmero de problemas ainda no
abordados (Marcelo, 1987). Alguns estudos podem ser mencionados como, por exemplo,
os trabalhos de Taylor (1970) talvez o pioneiro ; Zahorik (1975); Clark e Yinger
(1979); McCutcheon (1980); Hill, Yinger y Robbins (1983); Tillema (1984); Peters (1984);
Marcelo (1987); Borko, Livingston, McCaleb y Mauro (1988) y Zabalza (1991).
Na rea de Educao Musical ressalta-se o trabalho de Richards e Killen (1996)
realizado na Universidade Australiana de Newcastle durante o primeiro semestre de 1994.
Os pesquisadores estudaram os aspectos que influenciaram as decises tomadas pelos
estagirios de msica no planejamento aulas. Algo semelhante se pretende com o presente
trabalho uma vez detectada a importncia de se estudar os estagirios como sujeitos de
pesquisa dos programas de formao de professores. O estudo em andamento tem como
objetivo investigar como se produzem, nos estagirios, os processos de planejamento,
analisando que elementos so considerados, quais so os fatores externos que influenciam
e determinam o planejamento e que tipos e funes este tem para os futuros professores de
msica.
1. Contexto da pesquisa
Tomamos como base a pesquisa de campo realizada no ano de 2000, quando foram
coletados dados atravs de entrevistas, observaes e relatrios de estgio, junto a trs
alunas
1
do curso de Educao Artstica - Habilitao em Msica da Universidade do
Estado de Santa Catarina. Portanto, os documentos escritos consultados para a realizao
deste trabalho tm sido: os relatrios de estgio das trs estudantes, os cadernos de
entrevistas, os cadernos dos recortes das entrevistas e a tese de doutorado intitulada: "Las
prcticas de enseanza en la formacin inicial del profesorado de msica en Brasil: trs
estudios de caso" (Mateiro, 2003).
A anlise qualitativa dos textos exigiu um processo cclico de trs fases tpicas
estreitamente relacionadas: reduo de dados, organizao e verificao (Maroy, 1997).
Apesar de sua linearidade, estas fases foram desenvolvidas de forma espiral, ou seja,
1
As estudantes realizaram o estgio em turmas do ensino fundamental de uma escola pblica de
Florianpolis (SC), duas com 2 srie e uma com de 5 srie durante o perodo de fevereiro a junho de 2000,
totalizando trinta horas/aula.
mesmo que distintas, so complementares e dependentes. Assim como sucedem uma
depois da outra, tambm podem ser realizadas simultaneamente em doses desiguais,
podendo cada fase ser repetida quantas vezes o investigador julgar necessrio. Pretendeu-
se, assim, manipular e transformar os dados extrados das entrevistas e dos relatrios em
um todo significativo, mantendo a natureza textual, caracterstica da pesquisa qualitativa.
Considerando que o foco deste estudo centra-se no planejamento da prtica
pedaggica dos estudantes de msica durante o perodo de estgio, selecionamos para esta
discusso apenas os segmentos de textos codificados nessa grande categoria. Das
entrevistadas foram extrados trechos referentes a crenas, conhecimentos, habilidades e
decises acerca do planejamento. Dos relatrios de estgio foram extrados, de um lado, os
trechos referentes escolha e sua justificativa dos contedos, objetivos, atividades e
recursos de ensino e, de outro, os fatores pessoais e as condies externas que
influenciaram as tomadas de deciso durante o processo de planejamento.
2. Elaborao das aulas: concepes e decises
As trs estudantes foram questionadas sobre o que para elas significa o ato de
planejar. Beatriz e Ceclia levantam dois aspectos semelhantes: um, relacionado
segurana que o planejamento oferece para o desenvolvimento de uma boa aula e o outro
relacionado improvisao possvel de ocorrer durante a aula. Ceclia diz: "eu acho que
at cabe improvisao, mas desde que haja o plano. Para improvisares em cima das
situaes tem que haver um pensamento anterior". Beatriz conta que no conseguiu
desviar-se do plano mesmo sentindo que muitas vezes pudesse ter sido melhor. Podemos
dizer que as estudantes no consideram o planejamento como um processo de elaborao
terica, mas como um processo de desenvolvimento das aes prticas, pois parecem levar
em conta a dialtica entre a realidade existente e a realidade desejada (Gandin, 1994).
"Eu no teria condies de chegar l [na escola] sem ter planejado uma aula, no
conseguiria dar uma aula, de jeito nenhum. Prefiro nem ir. No tem como chegar l sem
planejar. Com planejamento, as coisas no do totalmente certas, tudo foge ao controle.
Aquilo ali um roteiro, mas tudo pode acontecer na hora e, at talvez, esse jogo de
cintura da gente e chegar l e mudar o planejamento na hora, apostar naquilo, uma
questo que a gente no tem muito, talvez no saiba fazer muito bem, porque, s vezes,
tu queres aquilo ali, aquele papel, uma segurana de que vai dar certo" (Beatriz).
Por sua vez, Sara fala em "ordenamento", "organizao", "estabelecimento de
metas" e sobre "compreenso do cotidiano". Recordamos Turra e outros (s/d, p.13) quando
dizem que "nunca devemos pensar num planejamento pronto, imutvel e definitivo.
Devemos acreditar que ele representa uma primeira aproximao de medidas adequadas a
uma determinada realidade, tornando-se, atravs de sucessivos replanejamentos, mais
apropriado para enfrentar a problemtica dessa realidade".
"Eu acho que planejamento ordenamento, a organizao, o estabelecimento de metas,
de onde voc quer chegar, da onde voc partiu, pra onde voc quer chegar" (Sara).
"O planejar tem que envolver a compreenso do cotidiano e quando voc planeja tem
que visualizar o cotidiano porque ali que vai aplicar tudo o que voc est ensinando"
(Sara).
Beatriz comenta que foram muitos os fatores que influenciaram e determinaram as
alteraes de seu planejamento inicial. Cita o interesse dos alunos, a difcil tarefa de
"controlar a disciplina", as interferncias do professor de msica da escola em suas aulas e
os recursos materiais disponveis. Do mesmo modo, Sara destaca que "planejar pensar
em alternativas" para conseguir "atingir os alunos". Ceclia, por sua vez, demonstra
desnimo ao constatar a falta de interesse dos alunos em suas aulas e, com tantas dvidas,
parece fundamentar seu planejamento em tentativas e erros.
"Parece que a prpria experincia vai ajustando a cabea da gente. Ento, no adianta
botar um milho de coisas, dar a atividade porque tem que dar a atividade parece que
uma coisa que vai amadurecendo" (Ceclia).
Para as estudantes, planejar simples. Selecionar os contedos, os objetivos e as
atividades fcil. Entretanto, as dificuldades vivenciadas pelas trs estagirias incidiram
na forma de apresentar didaticamente os contedos. A dificuldade no foi sentida no
domnio de planejar, mas na hora da aplicao em sala. Tanto Beatriz como Sara enfatizam
o processo de comunicao com os alunos, mencionando a necessidade de adequar a
linguagem verbal e corporal para facilitar a compreenso dos contedos. De acordo com a
literatura, a "transposio didtica" (Perrenoud, 2000) vista atualmente como uma
competncia profissional do professor que cria situaes amplas e carregadas de
significado.
3. Elaborao das aulas: influncias e orientaes
O processo de estgio envolve uma srie de sujeitos com diferentes funes. O
estagirio , neste contexto, o centro das atenes. Tendo em vista a presena do fator
inexperincia, o papel de orientao torna-se providencial. Pode-se detectar diferentes
resultados na orientao e no auxlio aos estagirios, uma vez que cada estudante e cada
professor carregam diferentes concepes do que vem a ser o papel dos orientadores
2
.
Pudemos perceber que cada uma das alunas percebeu de forma diferente a
orientao recebida. A alternncia de julgamentos acerca da participao dos professores
cooperantes no decorrer das aulas demonstra a dificuldade no entendimento dos limites
existentes entre esses professores e o estagirio. Nas palavras de Ceclia podemos entender
o quo reais so tais dilemas:
"Depois da aula conversamos com os professores. Eu estava cansada e um pouco
decepcionada porque o planejamento que eu tinha feito e tendo certeza que daria certo,
pela falta de tempo, indisciplina da turma e falta de clareza nas minhas explicaes no
deu to certo como eu esperava. Mas os professores foram muito compreensivos nos
apoiando e explicando como so essas situaes" (Ceclia).
"(...) eu fazia um comentrio sobre o instrumento e depois colocava o nome no quadro.
Na metade da atividade, o professor interferiu dizendo que eles estavam fazendo muita
baguna e que a ultima famlia (sopros) que faltava ser comentada, ficaria para a
prxima aula (mas ele no perguntou se eu concordava com esta deciso). Sendo assim,
quando ele acabou de falar eu disse que nos precisvamos acabar aquele exerccio hoje
e que eu iria botar os ltimos instrumentos no quadro" (Ceclia).
Ao mesmo tempo em que a estudante encontra nas figuras dos professores
cooperantes um ponto de apoio, sugere a necessidade de uma maior liberdade na atuao
para que se origine um aprendizado calcado em uma experincia mais prxima da situao
real da sala de aula, ou seja, o professor e o aluno, a ss.
No podemos idealizar o estgio supervisionado como um processo neutro, livre de
influncia externas, pois sabemos da existncia de outros pontos a serem considerados a
responsabilidade para com os alunos, por exemplo. Porm, a identificao de problemas
decorrentes de uma orientao insuficiente ou mal interpretada e a busca de explicaes
para tais com o intuito de criar sugestes teis ao processo de orientao e ao prprio
estgio, so formas de restringir ao mnimo possvel os atritos pertinentes a este contexto,
ampliando a capacidade de previso durante o planejamento.
2
Nos referimos tanto ao professor orientador ligado universidade quanto ao professor cooperante,
conhecedor da estrutura da instituio e reconhecido pelos alunos.
"Esse assunto no estava no planejamento, mas por solicitao dos professores da
escola, fiz essa explicao, pois o assunto seria contedo da prova apesar de eu ainda
no t-lo passado na turma. (Beatriz)
O estagirio deve ser preparado e preparar-se para o contato com a prtica, no
s no sentido terico-pedaggico, mas tambm para as especificidades cotidianas, sejam
burocrticas ou relacionais, para que possa exercer o uso de seus direitos e deveres,
construindo sua auto-estima enquanto sujeito no processo de construo do conhecimento.
"Quanto pensamos no estgio, de certo modo lidamos com uma certa impotncia, pois
entramos em contato com uma dimenso do processo de ensino em que os contedos j
estavam previstos anteriormente e tinha-se que cumpri-los. Este fato contribuiu pois
deu-nos segurana e delimitou-nos um caminho a seguir. Por outro lado, o fato de no
podermos ter o nosso prprio ritmo de ensino impediu-nos de explorar com mais
profundidade certos contedos e descobrir novos caminhos de ensinar musica". (Sara)
A experincia da liberdade e o planejar criativo devem ser desejados durante o
estgio, mesmo que no mbito idealizado da ambio. Para que tal experincia/desejo faa-
se presente, torna-se necessrio o estudo dos fatores influentes impostos ao estagirio na
hora de planejar, gerando uma etapa 'pre-visiva' do planejamento, aproximando-o da
realidade escolar.
Consideraes finais
Encontramos durante a anlise, em andamento, uma srie de vestgios teis
compreenso das aes dessas estudantes por via de suas vises sobre o planejamento
expostas, explcita ou implicitamente, em cada fragmento das entrevistas e dos relatrios
de estgio.
Ficou visvel a importncia e a reflexo que o planejamento proporciona ao
estagirio durante o processo da prtica realizada atravs do estgio. Se de um lado,
favorece a sistematizao e a previso metdica das possveis aes, de outro, torna-se um
guia rgido e inacabado, ainda que no o concebam dessa forma.
Os professores orientadores, durante o estgio, exercem um papel importante e, em
algumas situaes, determinante, pois o fato de serem "representantes da universidade",
instituio mxima do saber, pesa na hora das decises.
Tendo em vista que as dvidas so constantes na prtica docente, quando a
inexperincia ainda vigora, a participao destes personagens faz-se primordial, pois a falta
de discusso anterior prtica dos planos de aula pode ocasionar o confronto com o
erro no interior da classe, face a face com os alunos, e o estgio pode tornar-se, antes de
um campo de experincias, uma seqncia de traumas.
A participao dos professores cooperantes, durante as classes, podem gerar alguns
conflitos prtica pedaggica durante o estgio supervisionado. Oficialmente, que funes
poderamos delegar a estes personagens? Existem limites para a sua interveno nas aulas
dos estagirios? Como identific-los? Da mesma forma que a inexperincia dos estagirios
pode criar alguns problemas, a ausncia de bom senso, de conhecimento intelectual, por
parte dos professores cooperantes, tambm faz parte dos elementos que, desviados de sua
funo original dentro do processo de estgio curricular transformar tal experincia em
uma base slida e positiva para o futuro diplomado podem ocasionar uma srie de
desentendimentos e conflitos que podem resultar em construes simblicas negativas
acerca da prtica pedaggica pelo estagirio, alm da criao de um abismo imaginrio
entre a teoria universitria e a prtica escolar; ou ainda, a descrena na prpria profisso, o
desmerecimento do profissional e da formao do aluno.
O estagirio precisa conhecer seu espao e suas limitaes anteriormente prtica,
para que esta torne-se o retrato de um xito acadmico gratificante. Nossa pesquisa vem
nos mostrando progressivamente que isto possvel, levando-se em conta a flagrncia dos
desencontros e dificuldades enfrentadas pelos vrios sujeitos inseridos neste processo. Este
processo de deteco de entidades e aes, e suas possveis relaes e resultados, est
acompanhado de um suporte terico que vem nos auxiliando na construo de diferentes
anlises que percorrem o processo de estgio destas alunas.
O intuito final unir estes processos para que possamos contribuir com o sucesso
dos futuros estagirios em educao musical durante esta complicada, porm
insubstituvel, etapa da sua formao acadmica, contribuindo para a qualificao do
ensino da msica e para a conscientizao da sua necessidade enquanto componente no
currculo escolar.
Referncias Bibliogrficas
CLARK, C.. and YINGER, R. Three Studies of Teacher Planning. East Lasing: Institute
for Research on Teaching, Michigan State University, Research Series, n.55, 1979.
GANDIN, D. A prtica do planejamento participativo. 7 ed. Petrpolis: Vozes, 1994.
HILL, H.; YINGER, R.; ROBBINS, D. Instructional Planning in a Laboratory Prescholl.
The elementary Scholl Journal, v.83, n.3, p.182-193, 1983.
MARCELO GARCA, C. El Pensamiento del Profesor. Barcelona: CEAC, 1987.
MAROY, Christian. A anlise qualitativa de entrevistas. In: ALBARELLO, L. et al.
Prticas e Mtodos de Investigao em Cincias Sociais, Lisboa: Gradativa, 1997, p.117-
155.
MATEIRO, T. Las prcticas de enseanza en la formacin inicial del profesorado de
msica en Brasil: tres estudios de caso. Tese de Doutorado, Universidad del Pas Vasco,
2003.
MCCUTCHEON, G. How do Elementary Scholl Teacher Plan? The nature of planning and
influences on it. The Elementary School Journal, n.81, pp.4-23, 1980.
PERRENOUD, Ph. Novas competncias para ensinar. Porto Alegre: Artes Mdicas, 2000.
RICHARDS, C. and KILLEN, R. Preservice Music Teachers: Influences on Lesson
Planning. In: Bristish Journal of Music Education, vol.13, n.1, Cambridge, p.31-47, 1996.
TAYLOR, P. H. How Teachers Plan their Courses. Slough: National Foundation for
Education Research, 1970.
TILLEMA, H. Categories in Teacher Planning. In: HALKES, R.; OLSON, J. K. (Eds.):
Teachers Thinking. A new perspective on persisting problems in education. Lisse, Swets
and Zeitlinger, 1984, p.176-185.
TURRA, M.; ENRICONE, D.; et al. Planejamento de Ensino e Avaliao. 11 ed. Porto
Alegre: Sagra Luzzatto, s/d.
ZABALZA, M. A. El Practicum en la Formacin de los Maestros. In: RODRGUEZ
MARCOS, et al (Coord.), La Formacin de los Maestros en los Pases de la Unin
Europea. Madrid: Narcea, 1998, p.169-202.
ZAHORIK, J. A. Teachers Planning Models. In: Educational Leadership, vol.33, pp.134-
139, 1975.
1
Instrumentos musicais eletrnicos no Brasil
muitos prottipos, poucos produtos
Theophilo Augusto Pinto
Universidade Anhembi Morumbi
theophilo_p@hotmail.com / theophiloaugusto@ig.com.br
Resumo: Entre as dcadas de 1960 e 1990, houve no Brasil uma srie de experimentos ligados
eletrnica aplicada msica. A maioria destes experimentos, em seu estgio mais avanado, no passou
de prottipos. Seus criadores so tcnicos, engenheiros e at compositores, com pouca coisa em comum
quanto ao gnero musical a que se dedicaram, mas com um domnio tecnolgico admirvel,
especialmente se for levado em conta suas carreiras num perodo posterior. Mesmo criando prottipos
tecnologicamente interessantes, a maioria no conseguiu torn-los atraentes para o mercado brasileiro,
mais interessado em produtos importados. Nesta pesquisa pretende-se refletir sobre a reao da sociedade
frente a uma novidade tecnolgica e suas conseqncias. Alm disso, sero mostrados alguns trabalhos
muito interessantes na rea da construo de equipamento musical eletrnico, pouco conhecidos at
ento.
Palavras-chave: msica, eletrnica, Brasil.
Abstract: There were several experiments with electronics applied to music in Brazil from the 1960s to
the 1990s. The most part of it, in its very advanced stage, was constituted of prototypes. The people who
created them were technicians, engineers, and even composers with few things in common in the musical
field but with admirable technological skill, especially if we look at their careers in a more contemporary
way. They have created interesting prototypes but didn't make it look so attractive to make them products
in an industrial way. The Brazilian market kept looking abroad for musical instruments. In this paper we
will think about the society's reaction for a technological novelty and its consequences. Besides, it is
shown some nice works in the field of electronic musical equipment construction in Brazil that is little
known.
Keywords: music, electronic, Brazil.
I ntroduo
comum pensar-se no msico brasileiro independente do gnero musical que em que
ele esteja situado como um usurio de instrumentos musicais importados, especialmente
eletrnicos. Desde 1960, equipamento e instrumentos musicais so vistos em estdios, shows e
mesmo em conservatrios, universidades ou cursos independentes.
Desse estado de coisas pode-se deduzir que no foram feitas pesquisas de ordem
tecnolgica no Brasil que pudessem transformar prottipos em produtos musicais para o
mercado consumidor interno. No entanto, nossa pesquisa mostrou justamente o contrrio, ou
seja, que existiram diversas iniciativas para a construo de sintetizadores, de guitarras, de um
piano eletromecnico e at mesmo de Theremins nos anos que transcorreram entre as dcadas de
1960 e 1990. H uma srie de iniciativas desse tipo neste perodo, dentro do meio acadmico e
fora dele. O resultado dessas iniciativas no foi produzido industrialmente, ficando apenas na
2
condio de prottipos. Os motivos para esses "vos abortados"
1
so o objeto de estudo da nossa
pesquisa.
Tecnologia e sociedade
Se tanta atividade na rea de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico existiu ao longo
destes anos, por que se pode constatar to poucos produtos feitos nesta poca? Afinal, o msico
brasileiro ainda continua utilizando equipamento e instrumental importados. Uma deduo deste
fato pode fazer crer que as pesquisas feitas no pas simplesmente no tinham qualidade suficiente
para se tornarem competitivas frente forte indstria estrangeira (notadamente americana e
japonesa) ou seus criadores no tinham a competncia necessria para levar adiante esse tipo de
atividade. Novamente, estes argumentos podem ser facilmente refutados, uma vez que muitas
das pessoas inicialmente envolvidas com a construo de prottipos est trabalhando ainda com
eletrnica em postos profissionais relativamente prestigiados mas praticamente todos fora do
mercado musical.
Se houve pesquisa de qualidade feita por pessoal qualificado no Brasil, qual a razo para
que ela no tenha gerado frutos? Se existiram prottipos to interessantes assim, por que no
evoluram condio de produtos? Por que a comunidade musical brasileira no se volta para o
potencial tecnolgico que pretensamente afirmamos parece existir dentro do territrio
nacional? A incongruncia apontada por estas perguntas est na relao da tecnologia e sua
influncia na sociedade. Em outras palavras, espera-se que a tecnologia, medida que se
desenvolva, v sendo absorvida pela sociedade, num ritmo imposto por esta tecnologia. Este
determinismo tecnolgico um termo usado por Schulman (1988 p. 110) para se referir a uma
corrente de pensamento em que Marshall McLuhan seria o principal expoente - duramente
criticado por Brian Winston (1986, 1998) em textos que serviram de base para esta reflexo.
Segundo Winston, a sociedade no se comporta passivamente perante a mudanas que lhes so
oferecidas. Antes, dispe de mecanismos que condicionam a aceitao de elementos que venham
a modific-la. No que diz respeito s tecnologias de comunicao (e, para o presente trabalho,
consideramos a construo de instrumentos musicais como tal), Winston sugere que a sociedade
dispe de aceleradores e freios, ou seja, de fatores que imprimem uma velocidade de
apropriao de uma determinada tecnologia pela sociedade num ritmo em que esta possa faz-lo
sem ser grandemente alterada isto , mantendo a mesma estrutura social anterior. Para
1
Fao referncia aqui minha dissertao de mestrado: Msica e Eletrnica no Brasil Vos abortados de
uma pesquisa frutfera, defendida em agosto de 2002, no Departamento de Msica da ECA-USP, sob orientao do
Prof. Dr. Fernando Iazzetta.
3
Winston, independente do seu Potencial Radical
2
(1986 pp. 23-25), uma determinada novidade
tecnolgica ser absorvida de acordo com o ritmo imposto pela sociedade sobre ela, e no por
algum mrito da tecnologia em si.
O ponto a ser salientado nesta pesquisa pode ser resumido assim: a mudana de rumos da
sociedade, no que se refere tecnologia, relaciona-se mais prpria sociedade do que
tecnologia em si. Em outras palavras, a tecnologia no o fator principal para que esta se volte
ou no para determinado produto, mas sim outros elementos. Alguns destes elementos sero
analisados adiante.
Algumas iniciativas na rea de pesquisa tecnolgica
O primeiro ponto a ser mostrado para sustentar a argumentao acima a de que houve
diversos projetos interessantes e sofisticados desenvolvidos por brasileiros ao longo das dcadas
entre 1960 e 1990. Estaremos nos concentrando aqui em projetos envolvendo eletrnica de
estado slido ou seja, que utilizaram transstores ou circuitos integrados. Estariam de fora,
portanto, equipamento valvulado e programas de computador.
Dentre alguns projetos interessantes encontrados durante a nossa pesquisa esto alguns
Theremins construdos por Jorge Antunes e Cludio Csar Dias Baptista. Jorge Antunes, um
compositor com formao acadmica mas tambm um tcnico em eletrnica, utilizou o
instrumento em suas primeiras composies eletroacsticas. Mas tanto ele como Cludio Csar
levaram o instrumento aos palcos do IV Festival da Msica Popular Brasileira em 1968 (Cludio
Csar fez o instrumento para ser usado pelos Mutantes naquele festival).
Na dcada de 1970, vrias outras pessoas se envolveram na construo e/ou divulgao
de informaes deste tipo de instrumento. Guido Stolfi, engenheiro de formao, construiu,
como trabalho de graduao na Escola Politcnica da USP, um sintetizador monofnico com
oscilador digital que podia ser ligado a um minicomputador, tambm criado na prpria escola
para outros fins
3
. Neste computador podia-se tocar melodias tanto quanto ajustar alguns
parmetros do sintetizador, dispondo-se, ainda, de um equipamento para sincronismo, que
permitia a gravao de vrias melodias, uma a uma. Luiz Roberto de Oliveira criou, em meados
da dcada de 1970, alguns cursos no MASP Museu de Arte de So Paulo com a finalidade de
ensinar a programao bsica de sintetizadores utilizando-se um grande ARP 2500 e um outro,
da mesma firma, o 2600. Posteriormente conheceu Guido Stolfi e com ele desenvolveu um
2
Entenda-se por potencial radical de um produto tecnolgico o conjunto de caractersticas que ele possui
para modificar a estrutura da sociedade.
3
O principal objetivo deste computador era servir de prottipo a um projeto financiado pela Marinha
Brasileira para equipar suas fragatas (Dantas, 1988).
4
sampler digital de nome interessante Papagaio que permitiria a Luiz Roberto, um msico
voltado para a gravao de trilhas publicitrias, a agregao de valor ao seu produto musical.
Alm destes, Ivan Seiler, tambm engenheiro, criou alguns produtos interessantes, como
sintetizadores e, em especial, uma bateria eletrnica semelhante ao da fbrica Simmons,
americana. Alm disso, fez as primeiras interfaces MIDI no fim da dcada de 1990. Ricardo
Peculis, outro engenheiro, criou uma srie de prottipos de sintetizadores, mas nenhum deles
chegou a ser construdo em escala industrial. Clomildo Suette, msico de baile, construiu um
piano eltrico semelhante ao Wurlitzer e, ao contrrio da maioria dos outros entrevistados,
conseguiu um nmero expressivo de vendas por aproximadamente uma dcada, sempre fazendo
seu instrumento em escala artesanal. Da mesma maneira, Cludio Csar Dias Baptista continuou
trabalhando at o comeo da dcada de 1990, no Rio de Janeiro, confeccionando mesas,
amplificadores e acessrios para guitarras e contrabaixos, dentre outros aparelhos.
Alm destes pesquisadores solitrios, alguns fabricantes foram ouvidos para o presente
trabalho. A Giannini, com 103 anos de existncia, tambm chegou a construir sintetizadores em
parceria com a firma italiana Siel. Alm destes instrumentos, fabricou mesas de som, guitarras,
contrabaixos e pedais de efeitos. Alguns outros, como Novatron, Staner e Gambitt tambm
tentaram introduzir produtos eletrnicos no mercado nacional. Naturalmente, toda essa pesquisa
no foi motivada simplesmente pelo entusiasmo das pessoas envolvidas. Alguns fatores
contriburam para que fosse criada uma Necessidade Decorrente (Winston, 1986) para tais
produtos. Essa necessidade foi "criada" atravs de cursos voltados operao de instrumentos, a
publicaes peridicas e a apresentaes musicais como shows e concertos.
Cursos, publicaes e apresentaes meios de divulgao
Como se pode deduzir a partir do que foi dito acima, grande parte da atividade de
pesquisa sobre instrumentos musicais eletrnicos realizou-se por meio de pessoas que, ou no
estavam diretamente vinculadas comunidade musical, ou eram ligadas a ela sem ter a inteno
de fazer pesquisa tecnolgica formalmente. Muitos eram engenheiros ou estudantes de
engenharia ou, no caso de msicos, perceberam que a eletrnica poderia lhes dar mais elementos
para lidar com a msica que pretendiam fazer. O que levou essas pessoas a se aventurarem na
pesquisa eletrnica voltada msica?
Um dos elementos muito importantes foi, com certeza, a exposio que este tipo de
msica conseguiu atravs de apresentaes, shows e gravaes. Por exemplo, em 1961 houve um
dos primeiros concertos de msica erudita envolvendo instrumentos eletrnicos, que foi visto por
Jorge Antunes e o inspirou a criar seus prprios aparelhos, uma vez que seria impossvel para o
compositor, naquela poca, compr-los prontos. Em 1968, Walter Carlos grava Switched on
5
Bach, um disco cujo repertrio era totalmente baseado na obra de J. S. Bach, executado no ento
novo sintetizador Moog. A gravao, alm de ser um imenso sucesso comercial (sendo citada por
alguns entrevistados, inclusive), recebeu a ateno tambm de Glenn Gould (1968), que lhe fez
grandes elogios, chamando a gravao de The Record of the Decade (idem, ibid). Ao longo dos
anos, a msica comercial apresentou outras novidades acompanhadas por muitos destes
pesquisadores brasileiros. O rock progressivo da dcada de 1970 tambm foi lembrado pela
grande exposio que dava ao sintetizador eletrnico.
Alm da exibio feita pelos shows, os cursos feitos no Brasil tambm foram um
importante fator para a divulgao deste tipo de artigo musical e criao de um mercado para
eles. Estes cursos tm pouca semelhana com as aulas tradicionais em um conservatrio ou
faculdade de msica. Seu contedo programtico est voltado para a operao de instrumentos e
no para a teoria ou repertrio musicais. Atravs destes cursos, muitas pessoas cuja formao
podia ser erudita ou popular - tomaram conhecimento pela primeira vez da existncia de
instrumentos musicais totalmente eletrnicos, em especial na forma de teclados e rgos. O
interesse aumentava ainda mais quando descobriam que eles estavam sendo usados em muitas
gravaes de artistas da poca. Os cursos, tendo uma orientao didtica, a princpio, tambm
ajudaram a criar um mercado para os fabricantes de instrumentos musicais, uma vez que o objeto
de estudo passava, gradualmente a ser objeto de consumo. Outro subproduto destes cursos foram
algumas pessoas com um pouco mais de conhecimento em eletrnica se sentindo inspiradas a
tentar criar seus prprios prottipos. Tais cursos tambm tiveram um outro efeito: o de
popularizar marcas e produtos estrangeiros. Aqueles voltados para a programao de
sintetizadores ou para o aprendizado de rgos eletrnicos, utilizavam instrumentos existentes,
claro e a maioria era feita por fabricantes estrangeiros. O resultado que, se algum fosse
aprender elementos bsicos de sntese analgica, por exemplo, o faria tendo um Arp 2600 (na
poca, um instrumento bastante popular) em sua frente. Mesmo que um curso pudesse ser
desvinculado de qualquer modelo ou marca, como no caso do assunto citado, em sua realizao
teria sempre um instrumento importado , criando-se um ambiente muito mais receptivo para este
tipo de aparelho do que para um outro, nacional, independente de sua qualidade
4
.
Publicaes, especialmente na forma de revistas e outros peridicos, contriburam para a
formao de um mercado consumidor de elementos musicais. A influncia de veculos de
comunicao como estes pode ser avaliada pelos artigos de Cludio Csar Dias Baptista, ou
4
Deve ser feita uma observao sobre a pesquisa aqui: no se pretende afirmar que um instrumento de
fabricaao nacional tenha a mesma qualidade de outro, estrangeiro. O objetivo principal ressaltarque no
somente a qualidade tecnolgica o elemento determinante para sua aceitao pela sociedade, h tambm outros
elementos a serem considerados.
6
CCDB, na revista Nova Eletrnica da dcada de 1970. Nesta revista, CCDB publicou uma srie
de artigos descrevendo seu projeto de um sintetizador feito para seu irmo Srgio, guitarrista do
conjunto Mutantes. Os fatos de a revista estar disposio e de seu irmo pertencer a um
conjunto famoso na poca contriburam para que seu sintetizador tivesse um relativo sucesso de
vendas naquele momento (era vendido na forma de kits de montagem). A mesma revista, CCDB
que aproveitou-se das iniciais de seu nome para criar uma marca divulgou diversos outros
projetos e conseguiu criar um mercado para seus produtos, atividade que exerceu at meados da
dcada de 1990.
Se todas essas pessoas criaram projetos, nenhuma delas (talvez com a exceo de Ivan
Seiler) continuou no ramo. Assim como os grandes fabricantes, Giannini, por exemplo - foram
mudando de atividade ao longo dos anos. De novo, pode-se afirmar que os motivos para isso no
esto fundamentados simplesmente na qualidade (ou na falta dela) dos prottipos e produtos
feitos no Brasil.
A supresso do Potencial Radical
De acordo com Winston, a sociedade se vale de freios para impedir que determinada
novidade tecnolgica venha a perturbar sua prpria estrutura , freio chamado de Lei da
supresso do Potencial Radical. H pelo menos trs fatores que podem ser apontados como
freios para o desenvolvimento de um prottipo eletrnico/musical brasileiro.
1 Poltica Alfandegria brasileira: O Brasil sempre adotou uma poltica protecionista
no que se refere ao comrcio exterior. Produtos considerados suprfluos (e os instrumentos
musicais de um modo geral so vistos nesta condio) tinham sua entrada no pas dificultada
com altas alquotas de importao. Mas, alm do custo adicional que uma importao legal
traria consigo, havia o desconhecimento da regulamentao existente, uma vez que ela era
bastante complexa e podia mudar rapidamente
5
. Um indivduo comum dificilmente saberia
prever quais as taxas e demais restries que deveria enfrentar para importar um artigo
legalmente. Isto criava uma insegurana muito grande para o msico solitrio desejoso de
comprar um nico instrumento. Se a tarifao de produtos estrangeiros foi pensada com a
finalidade de proteger o empresrio brasileiro por um lado, prejudicava-o por outro, pois este
mesmo empresrio precisaria importar equipamentos (tambm passveis de altas alquotas) para
seguir na construo de instrumentos musicais.
5
Para esta parte da pesquisa, obtive a maior parte das informaes junto Biblioteca da Receita Federal,
em So Paulo. Alguns funcionrios da prpria Receita duvidavam, com razo, que eu conseguisse dados completos
e exatos sobre o perodo, uma vez que esse tipo de informao altamente descartvel.
7
O msico brasileiro, por muitos anos, viu o instrumento importado como um bem
desejvel, mas proibido, pelo menos oficialmente. A demanda por instrumentos musicais
importados fez com que se desenvolvesse um tipo de comerciante especializado
6
: o
contrabandista de instrumentos musicais. Mesmo acreditando que sua atividade fosse ilegal (e
muitas vezes no o era pois o comerciante, tambm msico, viajava e trazia produtos dentro da
cota estipulada pela Receita Federal, pagando multa quando ultrapassava esse valor), o servio
que tal pessoa prestava tinha uma grande vantagem em relao aos canais oficiais: preo e prazo
conhecidos, uma vez que a pessoa se comprometia em trazer determinado artigo pelo preo pr-
estabelecido. Naturalmente, este comerciante tinha grande interesse em promover o artigo
estrangeiro, j que esta era sua mercadoria.
Outro fator importante foi a atrao oferecida por outros mercados a pesquisadores como
aqueles entrevistados para este trabalho. A pesquisa eletrnica requer, atualmente, grandes
investimentos em dinheiro e amortizao desse custo com pesquisa atravs da venda de uma
grande quantidade de produtos do mesmo tipo. Infelizmente, esse mercado no Brasil (e em
muitas outras partes do mundo) muito pequeno para absorver produtos como esses . Os
fabricantes brasileiros atuantes nesse mercado normalmente contornavam esse problema criando
produtos "redundantes", para usar um termo de Winston, em que a tecnologia j testada e
aprovada era reaproveitada, diminuindo o custo da produo e, colateralmente, o interesse pelo
produto.
Muitas pessoas, inicialmente envolvidas nesse tipo de projeto, s vezes como trabalho
acadmico ou como puro passatempo, tornaram-se profissionais de sucesso em outras reas. Por
exemplo, Ricardo Peculis chefe de um departamento da Marinha Australiana, pas em que se
naturalizou, e l j participou de equipes que desenvolveram projetos de um helicptero e um
submarino para esta mesma Marinha. Guido Stolfi, construtor de um sintetizador e de um
sampler, dentre outros prottipos, aperfeioa at hoje um projeto de video-wall para a empresa
Art Sistemas, projeto que est na quarta gerao. Saindo bastante da rea, Clomildo Suette,
construtor de pianos eletromecnicos, tem uma empresa com mais de vinte empregados voltada
ao ramo de artigos para condomnios residenciais. Em resumo, no por falta de talento ou de
competncia por parte das pessoas envolvidas que as pesquisas em msica no foram avante.
Um terceiro fator que pode ser considerado como freio a prpria concorrncia
externa. A partir da dcada de 1990, depois de um perodo de ausncia (isto , de representao
oficial), o fabricante estrangeiro conquistou o mercado interno, em especial aquele voltado para
6
Apesar de parecer artificial achar que exista um contrabandista que apenas negocie artigos musicais,
parece ser essa a realidade. Segundo depoimentos, uma pessoa que trouxesse mquinas fotogrficas, por exemplo,
no teria competncia para escolher um instrumento musical numa loja especializada.
8
instrumentos vistos como tecnolgicos, ou seja, sintetizadores, mesas de som, microfones etc.
Os at ento comerciantes no-oficiais muitas vezes tornaram-se representantes oficiais destas
firmas e o fabricante/pesquisador nacional fechou as portas ou mudou de rea. Por exemplo, a
Giannini fechou todo o setor de fabricao de instrumentos eletrnicos e passou a fabricar
apenas violes, cavaquinhos e bandolins, diminuindo o nmero de empregados em
aproximadamente um tero e mudando-se para o interior onde a mo-de-obra mais barata. No
se deve ver o caso da Giannini como uma derrota comercial, afinal a empresa ainda sobrevive
depois de 102 anos. Apenas para dar uma perspectiva mais global, cite-se o caso de sua ex-
parceira, a Siel italiana que fechou as portas e foi vendida, passando a chamar-se Roland Europe,
num sinal de que alguns poucos fabricantes dominam o comrcio mundial
7
.
Concluses
O msico brasileiro consumidor de artigos musicais estrangeiros? Sim, verdade. Mas
dessa afirmao no se pode inferir a falta de pesquisa ou falta de competncia por parte dos
pesquisadores brasileiros, afinal, possvel encontrar diversos indcios desse trabalho ao longo
do perodo estudado. Utilizou-se aqui a idia de que no se pode avaliar o destino de
determinada tecnologia unicamente pela sofisticao tcnica que ela possa ter mas necessrio,
antes, tentar entender a tecnologia como um elemento disposio da sociedade, que ir lanar
mo dele de acordo com suas necessidades e convenincia.
Referncias bibliogrficas
DANTAS, V. Guerrilha Tecnolgica - A verdadeira Histria da Poltica Nacional de
Informtica.Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e Cientficos, 1988.
GOULD, G. The Record of the Decade. In: T. Page (Ed.). The Glenn Gould Reader.
London: Faber and Faber, 1968. pp. 429-434.
PINTO, T. A. Msica e Eletrnica no Brasil - Vos abortados de uma pesquisa
frutfera. 2002. 232. Tese (Mestrado) indita - Universidade de So Paulo, So Paulo.
SCHULMAN, M. Gender and Typographic Culture; Beginning to Unravel the 500-Year
Mystery. In: C. Kramarae (Ed.). Technology and Women's Voices - Keeping in Touch. New
York, London: Routledge & Kegan Paul, 1988. pp. 98-115.
WINSTON, B. Misunderstanding Media.London: Routledge & Kegan Paul, 1986.
7
Uma anlise das mudanas globais, envolvendo inclusive fabricantes americanos que fecharam suas
portas dever levar em conta a introduo do microprocessador como um elemento importante para o desequilbrio
at ento existente entre essas empresas, o que analisado em minha dissertao de mestrado.
O piano preparado de John Cage como instrumento de transformao dos
sons do piano: consideraes histricas e interpretativas
Valrio Fiel da Costa
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
fieldacosta@yahoo.com.br
Resumo: O presente artigo procura estudar a obra para piano preparado do compositor norte-americano
John Cage (1912-1992), procurando relevar aspectos tcnicos, metodolgicos e esttico-idiomticos
referentes sua evoluo e concepo interpretativa. Este trabalho representa parte de minha dissertao
de mestrado (em andamento) sobre expanso dos sons do piano via preparao cageana e foi embasado
na prtica de preparao do instrumento no decorrer dos ltimos 2 anos. Esta pesquisa consiste ainda na
definio de critrios de preparao no danosos ao piano, minuciosa anlise comparativa de sonogramas
de cada resultado sonoro obtido e produo de obra musical ilustrativa dos processos estudados, uma vez
que meu campo de estudo o de Processos Criativos. No presente texto pretendo mostrar que apesar do
rigor de alguns esquemas de preparao cageanos, estes so fundamentalmente relativos e opiano
preparado caracteriza-se como um recurso expressivo e de expanso sonora privilegiado ao alcance de
qualquer intrprete.
Palavras-chave: John Cage, piano preparado, msica do sculo XX
Abstract: The present article pretends to study the prepared piano work of the american composer John
Cage (1912-1992), in search for showing technical, methodological, and esthetic-idiomatic aspects, related
to its evolution and interpretative conception. This work represents a part of my master degree
dissertation (in progress) on piano sounds expansion by cagean preparation and was based on a
preparation practice in the last two years. This research consists, in addiction, on no harmful preparation
criteria definition to the piano, detailed comparative sonogram analysis of each obtained result and the
composition of an illustrative musical work of the studied processes. My research field is Creative
Processes. On the present text I want to show that, despite of some cagean table of preparations rigor,
these are fundamentally relatives and the prepared piano is characterized as a expressive and of
distinguished sound expansion resource within reach of any performer.
Keywords: John Cage, prepared piano, twentieth century music
Data de 1940 a criao do chamado piano preparado (ou como quer o pianista alemo,
especialista na obra de Cage, Steffen Schleiermacher, a descoberta do potencial de preparao do
piano
1
) e da composio da primeira pea para o novo instrumento: Bacchanale. Existe ainda alguma
controvrsia a esse respeito: a obra para grupo de percusso Second Construction (1940), que traz
um piano preparado no seu instrumental (e que precede a estria de Bacchanale em dois meses), seria
a primeira pea onde a inveno foi usada. Aqui entende-se como preparao a adio de objetos
fixos s cordas do piano com o objetivo de alterar-lhes a sonoridade, ou seja, uma operao que se d
necessariamente a priori, antes da performance. Pritchett prefere ser cauteloso e considerar o
testemunho de Cage em seu artigo A Composers Confession (1948), que cita Bacchanale como a
2
primeira obra. Para Pritchett isso pode significar que a data de estria desta pea seja, na verdade a de
uma segunda performance ou de uma reviso ou que o piano de Second Construction tenha sido
preparado depois da inveno do recurso em Bacchanale (Pritchett, 1995, p. 206).
De qualquer modo, o compositor, em diversas oportunidades revela como se deu a inveno.
Cage, em 1940, trabalhava ainda na Cornish School em Seattle, realizando acompanhamento de dana
para a classe de Bonnie Bird. Entre as alunas da turma havia uma danarina chamada Syvilla Fort que
encomendou a Cage uma msica para uma coreografia de carter africano chamada Bacchanale. No
teatro onde a pea seria estreada no havia espao nas coxias para acomodar o enorme grupo de
percusso de Cage. Foi oferecido um piano ao compositor como opo para realizar o
acompanhamento musical.
At ento Cage havia apenas escrito de duas formas: ao piano utilizando mtodos de
estruturao semi-seriais e junto ao seu grupo de percusso lidando com rudo e estruturas rtmicas
micro-macrocsmicas. H pelo menos 2 anos Cage no compunha ao piano. Segundo o compositor,
todas as tentativas de se conceber uma srie de carter africano deram em nada. Partindo do princpio
de que o problema no era dele, mas do piano, decidiu alterar os sons do instrumento. Assim Cage
usou como referncia o trabalho de expanso dos sons do piano realizado pelo seu antigo professor
Henry Cowell em peas como The Banshee (1923). Assim, experimentou criar sons percussivos
tocando diretamente nas cordas ou colocando objetos sobre estas. Apesar de conseguir com isso
resultados satisfatrios, Cage logo notou a necessidade de que tais objetos ficassem fixos nas cordas
para evitar que o som do piano mudasse no decorrer da performance. Experimentou usar pequenos
objetos que se encaixavam entre as cordas e, desse modo, chegou aos parafusos, pinos, porcas e
fragmentos de weather stripping (material fibroso aderente usado para vedar janelas durante o inverno
nos EUA) para compor os sons da pea
2
. O resultado sonoro equivalente ao de um pequeno
ensemble de percusso.
Depois de Bacchanale, Cage demorou mais dois anos para voltar a compor para piano
preparado novamente. Isso coincide com o perodo em que ele se muda para Nova York e passa a
sofrer com a falta de dinheiro. O fato que Cage foi forado a substituir seu grupo de percusso,
enorme e de difcil e cara locomoo, pelo seu ensemble de percusso porttil, que demandava
apenas a presena de um piano de cauda na sala de espetculos e uma pequena maleta para o
1
Schleiermacher, Steffen. The Prepared Piano 1940-52. Artigo no encarte do CD John Cage Complete Piano
Music Vol. 1 The Prepared Piano 1940-1952. Detmold: Werner Dabringhaus MDG 613 0781-2.
2
Cage, John. How the Piano Came to be Prepared: artigo introdutrio em John Cage Prepared Piano Music
Volume 2 1940-47. New York: Edition Peters N67886b, p. 3.
3
transporte dos objetos de preparao. Este foi o principal recurso instrumental utilizado pelo
compositor entre 1942 e 1948.
A escrita para o instrumento sofreu mudanas de natureza expressiva no decorrer da dcada de
40 com a gradual adaptao idiomtica que o instrumento experimentou medida em que sua origem
como simulador de ensembles de percusso foi sendo superada e Cage passou a conceber para o
instrumento um tipo de escrita mais apropriada ao seu carter intimista.
As primeiras obras para piano preparado comportam-se como ensembles de percusso em
miniatura, onde ainda podemos ver muito da esttica das obras anteriores: aglomerados de rudos
atacados violentamente, figuras em repetio perptua lembrando as vezes da percusso como motor
estimulante dana, o cuidado para evitar as notas no preparadas do instrumento, alm da concepo
da distribuio dos objetos dentro do piano sempre delimitando reas timbrsticas respectivas a
personagens sonoros especficos. Ou seja, o piano transforma-se, atravs da preparao, em
diversos instrumentos de percusso mais ou menos definidos pelas suas caractersticas sonoras. Alm
disso, as peas do incio dessa fase no trazem misturas entre notas preparadas e no-preparadas. J
no seu famoso ciclo de 16 sonatas e 4 interldios (Sonatas & Interludes 1946-48) para piano
preparado, Cage traz um design de preparao muito mais complexo e abrangente e admite a insero
de sons no-preparados como complementares. Dessa forma o compositor realiza finalmente o dilogo
entre rudos e sons musicais, proposto 11 anos antes no seu clebre artigo The Future of
Music:Credo
3
.
Dentro da diviso quaternria da msica proposta pelo compositor entre estrutura: a diviso
do todo em partes; forma: a morfologia da continuidade dos sons dentro da estrutura; o mtodo: o
modo como se monta a forma; e material: os sons usados para produzir a obra o piano preparado
representa o auge do interesse no parmetro material. Cada som podia ser modelado de acordo com
o gosto do preparador para figurar na composio e tal modelagem timbrstica acabava servindo como
o mais importante referencial para a pea, aquilo que a individualizava, que a distinguia de forma
marcante de outras do mesmo perodo.
Podemos dizer que a concepo de uma preparao implica na concepo de um novo
instrumento, uma vez que, dependendo do set de objetos adicionados e da maneira como estes esto
dispostos e regulados, o piano tem seu som alterado em todos os seus parmetros: a durao
reduzida uma vez que os objetos funcionam como surdinas, abafando parcialmente o som da corda e
impedindo-a de vibrar normalmente; a altura sofre sutis modificaes, que podem ser mais ou menos
4
marcantes dependendo do cmbio de tenso da corda produzido pela adio do objeto e do ponto da
corda onde fixado; a amplitude reduzida em funo do que j foi descrito para o parmetro
durao: o piano preparado um instrumento de pouca projeo sonora se comparado ao piano
normal devido influncia dos objetos; e o timbre, a somatria dos sons concomitantes de um som
fundamental, acaba sendo totalmente alterado principalmente devido ao cancelamento e nfase de sons
harmnicos produzidos ao dispor os objetos em pontos especficos da extenso da corda e influncia
dessas alteraes dentro do contexto do corpo sonoro, traduzidas em inmeros sons diferenciais
devidos somatria de batimentos resultantes da preparao: com o intuito de ganhar volume no
momento dos ataques, temos que da regio super-aguda do piano at a sua regio mdio-grave, h
cordas triplas, afinadas por igual e que so articuladas pelos martelos simultaneamente. Ao
prepararmos um desses trios respectivos a uma determinada nota, o parafuso posto entre duas (na
concepo cageana), deixando a terceira livre ou preparada em um ponto distinto, com isso conflitando
os resultados harmnicos entre elas, gerando batimentos, muitas vezes da ordem de centenas de
vibraes por segundo, criando efeitos paradoxais como o de uma nota no superagudo soar grave ou
como um acorde dissonante.
Esta possibilidade de preparar somente duas das trs cordas que compem uma nota do piano do si
bemol 1 (considerando o d central como d 3) at o extremo agudo faz com que o pedal una
corda, adquira uma importncia fundamental. Este pedal, quando acionado, promove um deslocamento
dos martelos do piano para a direita, de modo que eles articulem apenas as duas ltimas cordas de
cada nota reduzindo assim a amplitude sonora de determinados trechos musicais. No caso do piano
preparado, podemos usar esse recurso para promover mudanas radicais no resultado sonoro.
Considerando que as cordas 2 e 3 (contam-se da esquerda para a direita) esto preparadas e a corda
1 encontra-se livre, por exemplo, ambas as sonoridades o som normal do piano e o rudo da
preparao se misturam. Com o pedal una corda acionado, o martelo respectivo atingir apenas as
duas cordas preparadas, emitindo exclusivamente o rudo. Assim, esse mecanismo, que havia sido
usado pela literatura pianstica tradicional como um discreto recurso expressivo, nas obras para piano
preparado de Cage, representa uma maneira prtica de transformao adicional (no menos radical),
fazendo com que uma mesma preparao produza mais de um resultado sonoro diferente. Uma
verdadeira expanso sonora do instrumento, perfeitamente adaptada aos recursos tcnicos oferecidos
pelo meio.
3
Cage, John. Silence Lectures and Writings. London: Boyars, 1995, p. 3.
5
As peas para piano preparado cageanas so, via de regra, de execuo bastante simples: a
maior parte delas foram compostas como acompanhamento de dana a serem executadas pelo prprio
compositor. A grande dificuldade insuspeita consiste na maneira como os objetos interferem
desequalizando o peso das teclas ao toque. O intrprete logo percebe que para cada nota preparada,
principalmente numa preparao muito heterognea, existe um peso de tecla diferente e que, para que
o sistema todo soe equilibrado, deve graduar seu toque nota a nota. Em peas onde se misturam notas
preparadas e no-preparadas mais complicado pois estas ltimas tendem a soar demais quando
articuladas dentro de um contexto de notas preparadas. Especulamos que esse detalhe tcnico tenha
exercido influncia no estilo de composio de acompanhamento de dana do perodo, excessivamente
apoiada em ostinatos de carter percussivo com poucas e/ou bruscas mudanas de dinmica, inclusive,
como aponta Pritchett, representando um retrocesso, em termos de complexidade de escrita, em
relao aos trabalhos da fase anterior, com instrumentos de percusso (Pritchett, 1993, p. 20).
Cage utilizou em suas preparaes, via de regra, poucos objetos distintos. So basicamente:
parafusos de vrios tipos, com ou sem porcas, de tamanhos e larguras diversos; fragmentos de
borracha, faixas de weather stripping, fragmentos de madeira, moedas, pedaos de plstico, e
combinaes desses materiais. comum encontrarmos cordas preparadas com dois ou mais objetos
posicionados em distncias diferentes em relao aos abafadores.
Cage, ao escrever uma pea para piano preparado sempre acrescenta partitura um esquema
preliminar de preparaes onde procura especificar, para o intrprete, os objetos a serem utilizados,
as cordas a serem preparadas e a posio do objeto ao longo da corda. O rigor em relao exatido
na preparao varivel de pea para pea. Por exemplo, em Bacchanale (1940), quanto distncia
dos objetos em relao aos abafadores do piano, o compositor prope: determinar a posio (ao
longo da corda) e o tamanho das surdinas (objetos) experimentando; e, no outro extremo, temos
nas Sonatas & Interludes (1946-48), na nota s4 a especificao: (distncia do)abafador para a
ponte = 4 7/16 (em polegadas); ajustar de acordo. Em seguida Cage define o objeto: um pino mdio
a 3 3/4 polegadas dos abafadores. Na msica para piano preparado o esquema de preparaes
fundamental, pois este define as aes preliminares que o intrprete dever seguir no processo de
recriao do instrumento. No h um modelo rgido na obra de Cage para estes esquemas.
Vejamos agora, para finalizar, a cautelosa declarao cageana de 1972, no artigo How the
Piano Came to be Prepared:
6
Quando eu, pela primeira vez fixei objetos entre as cordas de um piano, fiz isso
com o desejo de possuir os sons (ser capaz de repeti-los). Mas, quando a msica
deixa minha casa e passa a ir de piano em piano e de pianista para pianista, fica
claro que no apenas dois pianistas so essencialmente diferentes um do outro,
como dois pianos tampouco podem ser o mesmo. Ao invs da repetio, estamos
cara a cara, na vida, com as qualidades nicas e caractersticas de cada ocasio.
Cage, 1973
A concluso que, por mais detalhado que seja um esquema de preparaes, nunca ser
possvel simular com mxima fidelidade a preparao original. Os motivos: no existe um piano igual a
outro cada instrumento ter um tamanho de cordas diferente, de modo que as especificaes
cageanas da ordem de 1/16 de polegada tornam-se necessariamente relativas; quase impossvel ter
acesso aos materiais originais utilizados nas primeiras preparaes cageanas, pois materiais como os
parafusos da poca e as weather stripping foram sendo gradualmente modificados com o tempo
4
. Na
prtica, acabamos tendo que tomar como referncia gravaes antigas de performances cageanas,
como a da comemorao dos 25 anos de carreira do compositor em 1958, onde a prpria Maro
Ajemian (pianista para quem Cage escreveu as Sonatas & Interludes) executa seu trabalho
5
. Baseado
nesses referenciais, o intrprete escolhe objetos similares que levem quelas sonoridades. Cada
intrprete deve respeitar os esquemas de preparao de Cage como ponto de partida e, de acordo
com seu prprio senso esttico, adaptar os objetos e sua posio nas cordas a contento. Assim, temos
que para cada intrprete, h uma leitura diferente do prprio esquema de preparaes. Por mais
preciso que seja, o esquema deve ser visto como uma sugesto mais que como uma regra rgida. Esse
fato faz do piano preparado, mesmo considerando exclusivamente a obra de Cage, um recurso
perptuo de expanso dos recursos sonoros do piano da sua inveno at nossos dias.
Referncias Bibliogrficas:
Cage, John. Silence: Lectures and Writings. London: Boyars, 1995.
Cage, John. De Segunda a Um Ano: Novas Conferncias e Escritos de John Cage. So Paulo:Hucitec,
1985 (trad. Rogrio Duprat; rev. Augusto de Campos);
Cage, John. How the Piano Came to be Prepared: In John Cage Prepared Piano Music Volume 2
1940-47. New York: Edition Peters N67886b, p. 3.
Fetterman, William. John Cage Theatre Pieces: Notations and Performances. London: Harwood, 1996;
Kostelanetz, Richard. Conversing With Cage. New York: Limelight, 1991;
4
Em entrevista pianista francesa, Martine Joste, em outubro de 2002 em Campinas, descobrimos que as weather
stripping estavam praticamente extintas no mercado devido inveno de novas fitas aderentes e isolantes trmicas
mais adequadas e econmicas para o vedamento de janelas no inverno (N.P.).
5
The 25-Year Retrospective Concert of the Music of John Cage recorded in performance at Town Hall, New York,
May 15, 1958. (3CDs). Wergo WER6247-2.
7
Nattiez, Jean-Jacques. The Boulez-Cage Correspondence. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999;
Nicholls, David. American Experimental Music 1890 - 1940. Cambridge: Cambridge University Press,
1990;
Pritchett, James. The Music of John Cage. New York: Cambridge University Press, 1995;
A Mgica no Rio de Janeiro e a construo de identidade musical
*
Vanda Lima Bellard Freire
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
jwfreire@ccard.com.br
Resumo: A presente comunicao relata resultados parciais das pesquisas O Real Theatro de So
Joo e o Imperial Theatro de So Pedro de Alcntarae pera e msica de salo no Rio de Janeiro
Oitocentista , vinculadas rea de Musicologia (Histria Social da Msica Brasileira), apoios
CNPq, UFRJ, FUJB. Seus objetos principais so a pera e gneros correlatos (Rio de Janeiro,
sculo XIX e incio do sculo XX). Na momento, privilegia-se o gnero Mgica, enfatizando, nos
objetivos, a caracterizao musical e dramtica, bem como o papel do gnero na sociedade da
poca. A metodologia utilizada apoia-se nos enfoques fenomenolgico (anlise das obras) e
dialtico (concepo de histria). As concluses parciais permitem sistematizar algumas
caractersticas das mgicas msica e dramaturgia , bem como evidenciar o papel que o gnero
exerceu sobre o repertrio e salo e sobre a construo da identidade musical brasileira.
Palavras-chave: msica brasileira, teatro, histria social
Abstract: This paper focuses the partial results of the following researches: O Real Theatro de So
Joo e O Imperial Theatro de So Pedro de Alcntara e pera e Msica de Salo no Rio de
Janeiro Oitocentista, attached to musicology area Social History of Brazilian Music support
CNPq, UFRJ and FUJB). Their main aims are opera and correlate trends (Rio de Janeiro, 19
th
century and the beginning of the 20
th
). At present, we are giving importance to Magic trend,
emphasizing the musical and dramatic characterization, as well as the role of this trend in the
society of the above mentioned centuries. The methodology used is based on the phenomenological
(musical analysis) and dialectic (history conception) focus. The partial conclusions allow us to
systematize some characteristics of the Magic, as well as to make evident the role that the trend had
on the salon repertory and on the building of a Brazilian musical identity.
Keywords: Brazilian music, theatre, social history
I) Introduo
Este texto focaliza alguns aspectos musicais e dramticos das Mgicas encenadas no
Rio de Janeiro (1870-1930), com nfase nos processos de construo de identidade cultural
e musical.
Mgica uma manifestao dramtico-musical que alcanou grande sucesso no Rio
de Janeiro em finais do sculo XIX e declinou nas primeiras dcadas do sculo XX.
Contm caractersticas da pera, da opereta, do teatro de revista e de manifestaes
populares urbanas, como modinhas, lundus, choros, maxixes etc. O gnero no
*
A presente comunicao relata resultados parciais das pesquisas O Real Theatro de So Joo e o Imperial
Theatro de So Pedro de Alcntara e pera e Msica de Salo no Rio de Janeiro Oitocentista (UFRJ;
FUJB; CNPQ).
abordado na literatura sobre msica brasileira, e vem sendo redescoberto e caracterizado
atravs das pesquisas aqui relatadas parcialmente ( Freire, 1999; 2001; 2002).
A importncia da mgica como espao de snteses musicais e culturais diversas,
bem como sua participao nos processos de articulao de identidade cultural e musical
no Rio de Janeiro vm se revelando no decorrer dos trabalhos de pesquisa por mim
coordenados, apontando para a importncia de estudos visando caracterizao do gnero.
Trabalha-se, na pesquisa, com a hiptese de que a mgica, no Brasil, um
espetculo com caractersticas peculiares, permitindo que se identifique uma mgica
brasileira, apesar das apropriaes e adaptaes de caractersticas de espetculos similares,
realizados, sobretudo, na Frana e em Portugal.
II) Metodologia e Referencial Terico
A pesquisa vem se apoiando em dois enfoques filosfico-metodolgicos : a
dialtica, fundamento de uma concepo de histria social e da cultura, e a fenomenologia,
fundamento de uma concepo de anlise musical, aplicada pesquisa musicolgica. Os
dois enfoques se interligam, pois descartam a separao sujeito objeto.
Assim, as caratersticas das mgicas vm sendo analisadas segundo uma concepo
de anlise musical baseada na fenomenologia ( Cliffton, 1986; Souza, 1999 ), a partir de
um olhar situado no contexto atual . Privilegia-se o receptor , sem desconhecer o horizonte
de experincia em que o fenmeno musical se deu e em que as caractersticas dramticas e
musicais foram criadas ( Jauss, 1978).
Esse olhar fenomenolgico se interliga com a concepo de histria social adotada,
em bases dialticas, sendo os fenmenos abordados em sua insero na sociedade e na
cultura, segundo uma perspectiva de circularidade cultural.
As principais fontes documentais consultadas so peridicos de poca, libretos (
at o momento s foi encontrado o libreto de Pandora, de Darbilly) e partituras musicais de
mgicas. Libretos e partituras trabalhados, at aqui, so os encontradas no Arquivo da
Biblioteca da Escola de Msica da UFRJ. Arquivos da Biblioteca Nacional e outros vm
sendo consultados atravs de seus fichrios, visando localizao de informaes sobre a
mgica.
Esto sendo analisadas trs mgicas de diferentes dcadas e de diferentes autores,
enfatizando-se a identificao de aspectos cmicos e dramticos, entendidos simplesmente
como opostos ( Pavis, 1999).
Esto sendo caracterizados elementos lricos, fantsticos e alegricos, como uma
primeira tentativa da classific-los e de visualizar a interao msica-dramaturgia, esta
ltima entendida como um conjunto que engloba texto e realizao cnica ( Pavis, 1999).
As partituras de mgicas so cantadas e executadas ao piano pela equipe de pesquisa
, como forma de partir do evento musical para a anlise fenomenolgica. Tem-se recorrido
audio de trechos gravados de mgicas ( CD pera Brasileira em Lngua Portuguesa /
UFRJ,1998 ), como forma de transformar o material musical em experincia efetiva.
Jornais do sculo XIX e incio do sculo XX servem como testemunhos de poca.
Anncios de teatros e referncias s mgicas do voz sociedade ( ou parte dela).
Permitem tambm que se procure compreender a mgica como sntese de diferentes nveis
de significados, residuais atuais e latentes ( Freire, 1994) , situando-a no mbito das
articulaes sociais.
Assim, a partir do evento musical , subsidiado pelo exame das partituras e libretos,
realiza-se a anlise musical, sendo a mesma articulada ao mbito scio- cultural da poca,
atravs das fontes documentais .
A construo da identidade musical, no Rio de Janeiro, tem sido visualizada, a partir
dos procedimentos acima, como um processo complexo, dinmico e resultante da interao
de foras contraditrias.
Considera-se, nesta pesquisa, a sociedade do Rio de Janeiro (e do Brasil) como
essencialmente mutvel e heterognea, sendo portanto as identidades musicais enntendidas
como aspectos das identidades culturais que se processam no mesmo perodo, e que
conferem aos indivduos possibilidade de reconhecimento e de pertencimento a
determinados nveis de articulao da sociedade e da cultura ( Hall, 2002).
II) Resultados parciais
Alguns resultados parciais podem ser apresentados:
1) Caractersticas dramtico-musicais das mgicas, a partir da anlise
fenomenolgica de libretos e partituras:
Esto sendo analisadas trs Mgicas: O Remorso Vivo ( 1867), de Arthur
Napoleo, Pandora ( 1896), de Cavalier Darbilly, e A Rainha da Noite ( 1905), de
Barroso Netto. Alguns subsdios vm sendo sistematizados para a caracterizao musical
do gnero em trs momentos de sua trajetria ( meados e final do sculo XIX e incio do
sculo XX) , buscando estabelecer algumas relaes entre msica e dramaturgia.
Foram analisados os seguintes trechos: Introduo, Coro dos Espritos e
Balada de Gretcchen ( O Remorso Vivo); ria de Pandora e Coro da Natureza (
Pandora) ; Maxixe da Pataca, Romance de Nair e Dueto de Malandrino e Bonina (
A Rainha da Noite) . A seleo decorreu do fato de terem sido, em sua maioria, gravados
na forma de reduo para canto e piano (CD pera Brasileira, j citado), favorecendo os
procedimentos da anlise fenomenolgica.
Nos mesmos trechos, foi feita uma leitura analtica, buscando identificar
caractersticas musicais brasileiras, com base em observaes do prprio grupo de
pesquisa, a partir da escuta das msicas, e tambm a partir das caracterizaes de
Andrade (1962), Neves ( 1977) e Bertoche (1996).
Destacamos algumas caractersticas comuns a essas mgicas , trascrevendo, aqui, as
j citadas no I Encontro da ABET (2002), e que continuam vlidas apesar da continuao
dos procedimentos de anlise:
1) predomnio de formas binrias e ternrias;
2) uso de harmonia tonal, sem grandes giros modulatrios
3) importncia da linha meldica, com caractersticas por vezes tomadas s peras
e operetas, por vezes ao cancioneiro brasileiro ( melodias torturadas, saltos de
sexta ou stima seguidos de bordadura ou grau conjunto e outros)
4) orquestrao nos moldes gerais do romantismo, utilizando efeitos texturais,
timbrsticos e expressivos comuns s peras e operetas francesas e italianas (
contrastes, adensamentos, rarefaes e outros)
5) silncios expressivos e fermatas, gerando descontinuidades e protenses (
comuns nas peras e operetas e, por vezes, nas modinhas)
6) interao expressiva texto/msica - a msica no serve apenas como suporte ao
texto, mas os dois se complementam para constituir o sentido expressivo
7) independncia formal, harmnica (diferentes tonalidades) e expressiva entre os
quadros ( coros, duetos, danas, solos e outros, com caractersticas diversas).
As caractersticas brasileiras foram identificadas com maior incidncia em A
Rainha da Noite, a mais recente entre as mgicas analisadas ( ritmos de danas brasileiras,
como o maxixe ; contracantos polifnicos no baixo e acompanhamento no plano
intermedirio, no estilo do choro , etc).
Aspectos dramticos e cmicos vm sendo focalizados. Diferindo do Teatro de
Revista, que no aborda aspectos sentimentais ou lricos (Veneziano, 1996), as mgicas o
fazem. Podemos citar o Romance de Nair e a Balada de Gretchen , nessa categoria.
As cenas analisadas, em que predomina, de alguma forma, o lirismo apresentam
caractersticas formais encontrveis no cancioneiro do Brasil oitocentista ( balada,
romance) , com caractersticas meldicas e harmnicas comuns s modinhas.
Elementos fantsticos, alegricos e aluses aparecem nessas mgicas . Aluso, na
forma de personificao, aparece em o Maxixe da Pataca ( personificao da moeda) e no
Coro da Natureza ( Personificao da Natureza). Aluses satricas e polticas aparecem no
mesmo Maxixe (crtica desvalorizao da moeda e demolio empreendida no Rio de
Janeiro). Aluses na forma de caricatura tambm aparecem no Maxixe ( a mulata) , sendo
sua caracterizao complementada pela prpria msica, o maxixe. Aluses mitolgicas
podem ser identificadas na personagem Pandora, na mgica do mesmo nome.
Os elementos fantsticos diferem nas trs obras, parecendo decorrer das
transformaes do gnero. Em O Remorso Vivo, espritos; em A Rainha da Noite,
Satans e Sataniza; em Pandora, um Drago. A mgica no tem compromisso com a
verossimilhana, e, por isso, tais personagens so presena caracterstica.
Aproximando a Mgica e o Teatro de Revista, algumas caractersticas so
observveis, principalmente em A Rainha da Noite, parecendo sugerir uma tendncia
gradativa, que pode ser evidenciada nos seguintes aspectos ( Freire, 2002):
1) estruturao do espetculo em quadros estanques;
2) uso de stira social;
3)emprego de alegorias e aluses;
4) referncias atualidade, passada em revista;
5) uso de linguajar popular;
6) emprego de obstculos a serem superados, como elemento importante do
enredo; etc
Caractersticas similares a peras e Operetas tambm aparecem : emprego
eventual de virtuosismo vocal; melodismo, silncios e fermatas expressivos;
orquestrao com caractersticas dramticas, texturais e timbrsticas do
romantismo. Possivelmente, o uso da dico trabalhada, da voz empostada, usando
tcnicas opersticas e do bel-canto foram utilizadas nas mgicas, similarmente ao
que Veneziano ( 1996) observa no Teatro de Revista do incio do sculo XX.
1) A mgica e suas inseres na sociedade , segundo depoimentos de
peridicos.
Atravs dos peridicos de poca, pode-se constatar que as mgicas
alcanaram grande sucesso de pblico, embora nem sempre a crtica as aplauda.
Atestando esse sucesso, h notcias como a que transcrevemos abaixo :
Realizou-se, no dia 10 do corrente, no Theatro Santnna, o beneficio da
sympathica actriz Izabel Porto, com a mgica A Loteria do Diabo. A
aceitao que sempre teve esta pea durante longo tempo concorreu muito
para o bom resultado que esperava a beneficiada.( O Beija-Flor, maio/junho
de 1863).
Tambm podemos citar trecho de comentrio da Gazeta Musical, de
novembro de 1892: (...) as mgicas vo scena seguidamente (...), cem, duzentas
e tantas vezes. Tantas rcitas atestam, sem dvida, a afluncia do pblico, que o
mesmo das peras:
Respondam-me: qual o frequentador do Lyrico que no viu e ouviu As
Mas de Ouro, A Pera de Satanaz, o Frei Satanaz (...) cantado por gente
que nunca teve voz nem aqui nem na casa do diabo, mais de dez vezes (
grifo nosso). Contradizem-me ainda! Mas os que frequentam o Lyrico no
so os que frequentam os theatrinhos. Engano redondo ( grifo nosso) ! (
Gazeta Musical, novembro de 1892)
A divergncia entre os crticos possivelmente decorre de diferentes
posicionamentos ideolgicos dos articulistas ou dos peridicos em que escrevem,
mas no deixam dvida quanto acorrncia de pblico.
Encontramos referncias a apresentaes de mgicas no Imperial Theatro de
So Pedro de Alcntara e no Teatro Santnna, ambos tambm dedicados
apresentao de peras, concertos etc. Ou seja, evidencia-se a utilizao de mesmos
espaos teatrais para prticas musicais diferentes, como peras e mgicas, estas de
perfil mais popular.
Entre os autores de texto das mgicas, incluem-se os nomes de Barrozo
Netto, Coelho Netto, Machado de Assis, Moreira Sampaio, Arthur Azevedo ( estes
dois ltimos, experientes autores teatrais) . O texto nem sempre original, podendo
ser adaptao ou traduo de libreto estrangeiro ( geralmente, francs).
A msica, difererindo da Revista, que geralmente no composta
especificamente para o espetculo a que se destina, composta integralmente por
um mesmo autor : Henrique Alves de Mesquita ( discpulo de Giannini, lecionou
no Imperial Conservatrio , onde se formou , obtendo prmio de viagem Europa e
Medalha de Ouro) , Barroso Netto ( discpulo laureado de Nepomuceno, professor
do Instituto Nacional de Msica, onde se formou) , Carlos Cavalier Darbilly (
formado e premiado pelo Imperial Conservatrio de Msica, onde lecionou Piano e
Harmonia), Arthur Napoleo ( msico reconhecido ) , Cardoso de Menezes ( com
larga experincia em msica para teatro), Abdon Milanez (dirigiu o Instituto
Nacional de Msica de 1916 a 1921), e outros. Constata-se, portanto, que havia
msicas de mgicas compostas por autores de competncia e experincia
inquestionveis.
Entre os ttulos de mgicas nos jornais, podemos citar: A Tentao, O Anel
de Salomo, Loteria do diabo, A Cora do Bosque ( mgica francesa,traduzida por
Arthur Azevedo), A Pera de Satanaz, etc. Nos arquivos da Biblioteca Nacional
aparecem outros ttulos :
A Donzela Theodora, O Bico do Papagaio e A Chave do Inferno, (
Abdon Milanez) ;
A Gata Borralheira, Ali Bab ou Os Quarenta Ladres, Trunfo s
Avessas ( Henrique Alves de Mesquita);
A Borboleta de Ouro ( Assis Pacheco e Costa Jnior) ;
O Papagaio (mgica de Gomes Cardim, pardia de O Periquito) ;
Frei Satanaz ( Soares de Souza e Costa Junior) ;
Mas de Ouro ( Costa Jnior)
As mgicas geraram farto repertrio de salo, principalmente redues ou
arranjos para piano e para canto e piano . So polcas, valsas, rias, tangos,
modinhas, romances, quadrilhas, lundus etc, anunciados com freqncia nos jornais
pelos editores e estabelecimentos de venda de partituras. Muitas dessas msicas so
encontradas nos arquivos da Escola de Msica e da Biblioteca Nacional, atestando a
receptividade das mgicas junto ao pblico.
IV) Concluses
As principais concluses parciais so as seguintes:
1) As mgicas, com texto em portugus, e utilizando elementos meldicos e
rtmicos da msica popular urbana, estabelecem fcil comunicabilidade com o
pblico o que, em parte, talvez explique seu sucesso, em contraponto
decadncia da pera. O contraste entre estticas romnticas e realistas no
perodo ( Faria, 1993) talvez possa ser exemplificado nas mgicas.
2) O lirismo , presente em cenas das mgicas, contrasta com aspectos satricos e
caricaturais, e permite, nos casos estudados, reconhecer procedimentos ,
sobretudo meldicos e harmnicos, das modinhas , das operetas e peras do
perodo.
3) As caricaturas so utilizadas, ao que tudo indica, em fase mais recente da
mgica, talvez como uma importao do teatro de revista, e parecem contribuir
para a construo de alguns tipos emblemticos, como o malandro, a mulata,
etc.
4) As personificaes parecem ser mais antigas que as caricaturas, e correspondem
apario de personagens como a Pataca, a Naturezae outros, que do vida
a elementos inanimados.
5) Os personagens fantsticos ( figuras mitolgicas, satans etc) parecem
apresentar uma verso irreverente, no moralista, contrastando, possivelmente,
com a moralidade ( ainda que velada) do romantismo.
6) As aluses ao cotidiano ( polticas, satricas, etc) parecem articular-se com a
concepo realista que penetra o teatro brasileiro na segunda metade do sculo
XIX, e, provavelmente, contribuem para a receptividade junto ao pblico e para
a representao simblica de valores da sociedade da poca.
7) As mgicas, atravs da msica e da dramaturgia, exercem papel importante na
articulao de identidade cultural brasileira do perodo em questo, em especial
da identidade musical.
8) O declnio da concepo romntica, mais associada pera, contrape-se
ascenso de outras formas de comunicao dramtica, como o cinema,
produzido no Rio de Janeiro desde 1896 (Capellaro e Ferreira, 1996), e a
mgica, que parecem apontar mais claramente para concepes realistas e
modernistas.
9) A trajetria da mgica permite a identificao preliminar de caractersticas
dramticas e musicais diferenciadas, aproximando-se cada vez mais do teatro de
revista, com troca de elementos entre ambos.
10) A importncia da mgica, no Rio de Janeiro, como espao de snteses culturais
e musicais, merece revalorizao , sobretudo pelo circularidade que confere s
manifestaes musicais urbanas .
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ANDRADE, Mrio de . Ensaio sobre a msica brasileira. So Paulo :
Martins ,1962.
__________________. Modinhas Imperiais. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
BERTOCHE, Valria. Valsa brasileira para piano & Arquitetura no Rio de
Janeiro Uma abordagem histrico social (1850 1950). Dissertao de
mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.
CAPELLARO, Jorge J.V. e Ferreira, Paulo Roberto. Verdades sobre o incio
do cinema no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1996.
CLIFFTON, Thomas. Music as Heard. A study in applied Phenomenogy.
New Haven: Yale University Press, 1983.
FARIA, Joo Roberto. O Teatro Realista Brasileiro: 1855-1865. So Paulo:
Pesrspectiva/EDUSP, 1993.
____________________ . Idias Teatrais. So Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2001.
FREIRE, Vanda L. Bellard. A Histria da Msica em Questo uma reflexo
metodolgica. Porto Alegre: ABEM / UFRGS, 1994.
_______________________ . A mgica um gnero musical esquecido . In Revista da
ANPPOM . Belo Horizonte : ANPPOM ( meio eletrnico), 1999.
________________________. pera e Msica de Salo no Rio de Janeiro
Oitocentista. Texto apresentado no III Colquio da Ps Graduao da
Escola de Msica da UFRJ, 2000.
_________________________. A Mgica no Rio de Janeiro ( final do
sculo Xix e incio do sculo XX). Comunicao de Pesquisa apresentada no
I encontro Anual da Associao Brasileira de Etnomusicologia. Recife,
2002.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Rio de Janeiro:
DP&A, 2002.
JAUSS, Hans Robert. Pour une esthtique de la rception. Paris: Galimard,
1978.
NEVES, Jos Maria. Villa Lobos O choro e os choros. So Paulo:
Musicli, 1977.
PAVIS, Patrice. Dicionrio de Teatro, So Paulo: Editora Perspectiva,
1999.
SOUZA, Luciana Cmara Queiroz de. Tempo e espao nos Ponteios de M.
Camargo Guarnieri Subsdios para uma caracterizao fenomenolgica
da coleo. Dissertao de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000
VENEZIANO, Neyde. No adianta chorar Teatro de Revista Brasileiro...Oba!
Campinas/ SP: UNICAMP, 1996.
1
As Trs Cantorias de Cego para Piano de Jos Siqueira um enfoque
sobre o emprego da tradio oral
Vania Camacho
Universidade Federal da Paraba (UFPB)
vaniacamacho@yahoo.com.br / vaniacgc@ig.com.br
Resumo: Este trabalho investigou trs peas para piano do compositor paraibano Jos Siqueira
(1907- 1985). O objetivo primordial do artigo elucidar como os elementos poticos e musicais da
tradio folclrica oral, especificamente da cantoria nordestina, foram transportados ao piano. O
estudo observou as relaes existentes entre as estruturas originais, cantorias de rua, e sua
adaptao ao piano, meio de expresso atpico, nas Trs Cantorias de Cego. O referencial terico
adotado foi o Sistema Modal na Msica Folclrica do Brasil de Siqueira (aspectos meldicos e
harmnicos) e Fenomenologia de la Etnomusica del Area Latinoamericana de Ramon y Rivera
(aspectos rtmicos e estruturais). Nas Trs Cantorias de Cego o regionalismo se concretiza como
uma forte tendncia composicional presente em quase todas as obras para piano de Siqueira. Vrios
aspectos da cantoria nordestina so representados destacando-se: as melodias folclricas; os
modelos de versos empregados pelos cantadores; a alternncia entre voz e instrumento; os
instrumentos; as caractersticas da voz do cantador.
Palavras-chave: cantoria de cego, msica para piano, Jos Siqueira.
Abstract: This work investigated Trs Cantorias de Cego for piano by the Brazilian composer Jos
Siqueira (1907 1985). The main objective of this article is to elucidate how the poetic and musical
elements of oral native tradition, specifically of northeastern singing, were transported to piano.
This study analyzed the relation between the original structures, cantorias de rua, and their
adaptation to the piano, an atypical means of expression of these manifestation. The theoric
reference adopted was the Sistema Modal na Msica Folclrica do Brasil by Siqueira (melodic and
harmonic aspects) and Fenomenologia de la Etnomusica del Area Latinoamericana by Ramon y
Rivera (structural and rhythmic aspects). In Trs Cantorias de Cego the regionalism is a stronge
compositional tendency that appears in almost all piano works by Siqueira. Many aspects of
northeastern singing tradition are represented: the folklore melodies; the models of verses used by
the singers; the alternation between voice and instrumental part; the instruments; the characteristics
of vocal emission.
Keywords: cantoria de cego, piano music, Jos Siqueira
1. Introduo
As Trs Cantorias de Cego para Piano de Jos Siqueira - Um Enfoque Sobre
o Emprego da Tradio Oral foi estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) sob a orientao da Prof Dra. Any Rachel Carvalho, requisito parcial para
a obteno do grau de mestre em msica (piano).
Este trabalho elucida como Jos Siqueira transportou para o piano elementos
musicais e poticos da tradio folclrica oral nordestina, especificamente da Cantoria, e
2
assume representatividade para a posteridade principalmente porque, atualmente, a
Cantoria nos moldes aqui tratados no mais encontrada com freqncia. A leitura de
poca realizada por Siqueira marca decisivamente o repertrio pianstico brasileiro pela
originalidade e pelo valor de documentrio.
Esperamos nesta exposio sucinta mostrar os principais pontos deste trabalho,
sem pretenses outras que no a de historiar um panorama geral das trs peas compostas
por Siqueira (transcries vivas de uma tradio oral), assim como, da prpria Cantoria
nordestina e de parte do contexto que envolve a sua realizao.
Dentre as principais questes a serem respondidas estavam:
1. Quais os elementos musicais nas Trs Cantorias que indicam sua origem na
tradio folclrica?
2. De que forma ocorreu a adaptao destes elementos ao piano para imprimir
caractersticas vocais e instrumentais da cantoria de rua?
3. De que modo interpenetram a forma potica das cantorias, a melodia e a
estrutura fraseolgica apresentadas nas trs peas?
Dentre os procedimentos adotados nesta investigao apontamos:
1. Reviso da bibliografia disponvel e pesquisa da terminologia Cantoria de
Cego;
2. Anlise dos recursos transcritos e discogrficos encontrados (cantorias,
cantigas de cegos, desafios entre outros) assim como, dos procedimentos
utilizados pelos cantadores e tocadores;
3. Anlise das Trs Cantorias de Cego (escalas utilizadas, melodias, ritmos.
estrutura formal empregada, aspectos de dinmica, andamentos, etc.);
4. Comparao dos elementos musicais piansticos utilizados com os
elementos da tradio oral;
5. Nomeao dos elementos encontrados a partir dos referenciais adotados,
Sistema Modal na Msica Folclrica do Brasil de Jos Siqueira e
Fenomenologia de la Etnomusica del Area Latinoamericana de Ramon y
Rivera.
1
1
Estes estudos foram utilizados como referencial terico para nomear os elementos transcritos da tradio
oral presentes nas trs peas de Siqueira.
3
2. Jos Siqueira
Jos de Lima Siqueira (1907-1985), compositor e regente paraibano, um
importante expoente da msica nacional. Suas realizaes principais vinculam-se ao
incentivo e valorizao da msica brasileira, seja atravs das suas composies ou de
atividades relacionadas divulgao da msica ao pblico.
2
Siqueira realizou importantes
pesquisas folclricas no Brasil, especialmente no nordeste, coletando temas, constncias
meldicas, rtmicas, harmnicas e instrumentais inerentes ao estilo musical nordestino. Do
resultado destas pesquisas foram elaborados, durante a dcada de 50, o Sistema Pentatnico
Brasileiro
3
e o Sistema Modal na Msica Folclrica do Brasil, tambm chamado de
Sistema Trimodal Brasileiro. Estes mtodos expem os elementos musicais mais freqentes
do folclore nordestino.
4
3. Referencial Terico
Adotamos O Sistema Modal na Msica Folclrica do Brasil como referencial
terico para a denominao dos elementos musicais, meldicos e harmnicos encontrados
nas Trs Cantorias de Cego. Conforme citado anteriormente, este sistema originou-se das
pesquisas realizadas por Jos Siqueira no folclore nordestino; uma coleta de escalas e
constncias (meldicas e harmnicas) recorrentes na msica desta regio.
5
O sistema em
questo adota seis escalas (Ex. 1): trs reais e trs derivadas, sendo que a primeira nota das
escalas derivadas dista uma tera menor abaixo do 1 grau das escalas pertencentes ao
modo real.
2
Jos Siqueira fundou a Orquestra Sinfnica Brasileira (1940), a Sociedade Artstica Internacional (1946) e o
Clube do Disco (1951). Siqueira foi um dos incentivadores criao da Ordem dos Msicos do Brasil.
3
No Sistema Pentatnico, Jos Siqueira sistematizou a coleta dos elementos encontrados na msica folclrica
negra, especialmente dos candombls baianos. No apresenta qualquer relao com a arte da cantoria
nordestina.
4
A partir da dcada de 50 at 1976 compreende o perodo mais maduro da composio musical de Siqueira,
onde ele utiliza um vocabulrio baseado em seus Sistemas Trimodal e Pentatnico. Siqueira revela um estilo
pessoal e independente. Neste perodo esto includas as Trs Cantorias de Cego (1949) e as Sonatinas.
5
O Sistema Trimodal surgiu de uma prtica usual do compositor para nacionalizar a msica, e descreve
elementos freqentemente encontrados nas cantigas de cego, desafios, aboios, preges e acalantos (Siqueira,
1954, p.168).
4
Ex. 1: Modos nordestinos
Para os elementos musicais ritmo e estrutura, encontrados nas Trs Cantorias
de Cego e pertinentes s melodias folclricas, adotamos a nomenclatura proposta por
Ramon y Rivera (1980) descrita em Fenomenologia de la Etnomusica del rea
Latinoamericana. O autor prope uma anlise para os acontecimentos encontrados na
msica de transmisso oral latino americana, determinando termos para enquadrar
procedimentos comuns encontrados em espcies e gneros musicais. O ritmo pode ser
classificado como uniforme, sincopado, contratempo, alternado, contraposto, mltiplo, e
livre. Exemplo de ritmo uniforme encontramos na Primeira Cantoria de Cego (Ex.2). A
semelhana entre a pea para piano e a tradio oral dos cegos pedintes se d
principalmente no aspecto ritmo. Citamos para exame Peo aqui peo acul, cantiga
executada pelo cego Joo Carminha em Esperana, Paraba (Ex. 3).
Ex. 2: Primeira Cantoria de Cego, c. 4-15
5
Ex. 3: Cantiga de cego cantada pelo cego Joo Carminha, c. 1-14 (Ribeiro, 1992, p. 33)
Eu sou cego de esmola
Peo aqui peo acol
Quem me d uma esmola
Jesus Cristo agradar
Agradeo a sua esmola
eu s peo a quem tem
Virge Me, Nossa Senhora
6
recebi s um vintm
J para a estrutura de uma melodia (micro ou macro estruturas) as
nomenclaturas usadas so: motivo, frase e perodo. Dentre estes itens mencionados a frase
merece maiores esclarecimentos. Ela o resultado de dois enunciados, o primeiro que
inicia o discurso chamado ponto A e o segundo, ponto B, que finaliza conclusiva ou
suspensivamente a frase. Os pontos A e B so chamados de capital [principal] e caudal
[final], respectivamente, sendo geralmente delimitados em um compasso cada. Alm disto,
as frases podem ser perfeitas ou imperfeitas. Nas primeiras, o compasso caudal tem a
mesma medida que o compasso capital; nas frases imperfeitas isto no ocorre, os referidos
compassos possuem valorao diversa.
Nesta exposio no foram mencionados nem explicados todos os termos
adotados por Ramon y Rivera (1980), alguns destes so exemplificados no corpo do
trabalho.
4. Cantoria Tradio Oral Nordestina
A cantoria um termo bastante abrangente. De modo geral, define a poesia em
verso da tradio oral. Como gnero potico musical, porm, apresenta diferenas de
acordo com a regio em que aparece. No Nordeste, a cantoria adquire contornos mais
elaborados do que em outras regies, pois suas estruturas obedecem padres mtricos de
maior complexidade.
6
H vezes, que o termo cantoria apresentado como sinnimo de
desafio.
7
No entanto, o termo possui conotao genrica, incluindo outras espcies alm dos
desafios. bastante coerente a proposta de Digues Junior (1973, p. 136), o qual admite o
desafio como apenas um aspecto da cantoria. A inexistncia de um consenso geral que
determine exatamente o significado da cantoria, no impede, no entanto, a nosso ver, uma
delimitao do gnero. Sem pretenses de estabelecer um conceito conclusivo, definimos a
cantoria como a poesia em verso da tradio oral nordestina, incluindo tanto a parte
narrativa como improvisada (tabela 1). O primeiro grupo contm o ato de cantar
versejando, ou seja, narrao em forma de versos (romances, desafios que utilizam a
6
O nordeste brasileiro a rea da cantoria, de acordo com a definio de Corra de Azevedo citado em
Bhague (1980a, p. 224-225). Azevedo determina reas culturais folclricas baseadas em gneros musicais.
7
Por exemplo na Enciclopdia da Msica Brasileira (1998, p.149).
7
literatura, entre outros gneros musicais). O segundo engloba a disputa potica travada
entre os cantadores (desafios), ou o verso dito em improviso por um nico indivduo, como
o caso das cantigas de pedintes.
Tabela 1: Aspectos da cantoria nordestina
REA Nordeste Sertanejo
GNERO Cantoria
SUB-
GNERO
Narrativa
8
Improviso
ESPCIE Romance Desafio Xcara Desafio
Cantiga (de
pedinte)
4.1. Cego Cantador - Cantoria ou Cantiga de Cego?
Os cegos formam uma classe caracterstica entre os cantadores nordestinos.
acompanhados da mulher ou de uma criana para gui-los, tocam e cantam a poesia em
verso da tradio oral desta regio. Elba Braga Ramalho (1999) indica-nos que o termo
cantiga de cego usado nas cantorias feitas pelos cegos, no havendo diferenas cruciais
entre uma e outra.
9
As cantigas de cegos, por outro lado, distinguem-se entre si
principalmente pela finalidade que cada cego cantador imprime ao canto.
Podemos
identificar estas distintas espcies: o pedinte cantador que vive de esmolas conseguidas e, o
profissional que distingue-se dos outros cantadores pela polidez apresentada, tanto no
aspecto potico como no musical (Figura 1).
8
Os romances e as xcaras so espcies do sub-gnero narrativo; as xcaras so dramticas, enquanto os
romances so picos.
9
As formas potica, meldica, estrutural e instrumental utilizadas pelos cegos, assemelham-se empregada
pelos cantadores de modo geral. Neste caso, tratamos especificamente dos cantadores nordestinos.
8
Figura 1: Cego Aderaldo (Lamas, 1973, p.256) reproduo
5. As Trs Cantorias de Cego
Nas Trs Cantorias de Cego os elementos musicais que produzem uma
atmosfera caracterstica arte dos cantadores so: a melodia, a harmonia, o ritmo, o
andamento, o compasso, a estrutura e a intensidade. A recorrncia destes elementos nas
Trs Cantorias determinou uma padronizao dos recursos composicionais utilizados para
cada elemento folclrico presente. Encontramos na transcrio dos elementos folclricos a
reproduo:
das melodias folclricas: (1) no uso das escalas modais, (2) na utilizao do tema com
intervalos comumente empregados nas cantorias, (3) no uso das constncias meldicas,
(4) na utilizao de um mbito correspondente ao usado pelos cantadores;
dos modelos de versos empregados pelos cantadores: (1) no ritmo inerente ao tema, (2)
na estrutura das frases antecedente e conseqente, (3) nas finalizaes harmnicas de
cada ponto A e B, (4) no nmero de pontos A e B;
da alternncia entre a voz e a parte instrumental na cantoria: (1) atravs da alternncia
de sees, (2) mudana de andamentos, (3) da alternncia da utilizao de material
mondico e de material polifnico, (4) pelo uso do rubato;
das caractersticas instrumentais (rabeca, viola e pandeiro): (1) atravs do uso de
9
padres rtmicos e meldicos presentes nas cantorias, (2) pelo emprego de intervalos
simultneos, (3) pelo trmulo;
das caractersticas da voz do cantador: (1) atravs das harmonizaes do tema, (2) das
dinmicas empregadas, (3) do uso de notas ornamentadas, (4) pelo emprego da
acentuao, (5) pelo alargamento temporal do tema.
O uso das escalas modais para representar as melodias folclricas pode ser
constatado nas trs peas de Siqueira especialmente na Segunda Cantoria de Cego (Ex.4)
onde encontramos a utilizao do Modo Nacional (Ex.5), caracterstico da cultura
nordestina.
10
Ex. 4: Segunda Cantoria de Cego, c. 1-7.
Ex.5: Modo nacional (real) tranposto para l
Uma constncia muito utilizada na cantoria de rua, a quarta descendente com
semitom no meio, pode ser identificada na Primeira Cantoria de Cego (Ex.2) no compasso
10
Segundo Siqueira encontrado apenas nesta regio, no entanto, Gervaise (1971, p.43) cita-o como Modo
Karntico da cultura indiana- encontrado nas obras de Faur e Debussy.
10
11 e 12 utilizando as notas r-l (quarta justa descendente) e o d sustenido (semitom em
relao r). Esta mesma constncia est presente no Romance do Valente Vilela (Ex.6).
Ex. 6: Romance cantado pelo cego Sinfrnio (Lamas, 1973, p. 242).
Hom peste ateno
eu agora vou cont
um hom muito valente
Que morava num lug
at o prope gunverno
pediu de o pega
Quanto ao modelo de versos empregados pelos cantadores, h uma reproduo
exata da frase musical e potica do romance (Ex.6) expressa na estrutura das frases do tema
da Segunda Cantoria (Ex.4). evidente a associao entre cada ponto A ou B da referida
pea, e o nmero de linhas de cada estrofe na cantoria nordestina, determinando uma
transcrio para piano do que geralmente ocorre com os versos setessilbicos, que
obedecem forma a b c b d b, sextilha. Deste modo, a finalizao silbica de cada frase, a
rima propriamente dita, que na sextilha ocorre na segunda, quarta e sexta linhas dos versos
transcrita na Segunda Cantoria por cada ponto B da frase musical.
11
Na transcrio, portanto, encontramos a seguinte disposio: a primeira frase
potica hom peste ateno, eu agora vou cont (apresentao da cantoria), equivalendo
aos compassos 1 3 na Segunda Cantoria de Cego (Ex.4). O mesmo ocorre na segunda
frase, referindo-se aos compassos 3 5 para a frase um hom muito valente, que morava
num lug, e aos compassos 5 - 7 para a terceira frase potica at o prope gunverno,
pediu de o peg. Esta ltima, repete musicalmente a segunda frase do exemplo 6 e resulta
11
Ex.4 c.2-3, c.4-5 e c. 6-7.
11
da reproduo das rimas, c b em d b. Na Segunda Cantoria este aspecto descrito na
repetio da segunda frase (c. 3 5).
Uma aluso ao interldio instrumental ocorre tambm na pea nos compassos 7
- mo esquerda (Ex.7) e, 37 - mo direita e esquerda (Ex.8), na apresentao de arpejos
ascendentes em uma execuo mais livre, transcrita na partitura pelo rubato. Este recurso
expressivo utilizado pelo compositor pela primeira vez nesta pea para indicar a liberdade
caracterstica do improviso. Os arpejos, por sua vez, so reminiscncias dos acordes
[realizados pelos tocadores] que reforam a terminao de cada verso (Alvarenga, 1982,
p. 302) na cantoria da tradio oral. No rojo, desafio cantado por Rouxinol e Chico
Pequeno, encontramos um exemplo de acordes entre os versos (Ex.9).
Ex. 7: Segunda Cantoria de Cego, c. 6-8
Ex. 8: Segunda Cantoria de Cego, c. 36-38
12
Ex. 9: Desafio cantado por Rouxinol e Chico Pequeno (Carvalho, 1979, p. 37)
A reproduo de instrumentos da tradio folclrica pode ser notada na
Terceira Cantoria quando h a aluso ao instrumento percussivo (pandeiro), atravs de
indicao feita na partitura por Siqueira e atravs do prprio material musical utilizado no
motivo (nota seguida de acorde) para representar batida do pandeiro e chocalhar dos aros de
metais do instrumento (Ex.10).
Ex. 10: Terceira Cantoria de Cego, c. 1-12
13
O efeito do arrastamento da voz (glissando) e o anasalamento da voz do
cantador nordestino so evidenciados nos compassos 77-88
12
quando o tema na Primeira
Cantoria reproduzido em sextas com apogiaturas transcrevendo respectivamente o
anasalamento e o glissando da voz do cantador.
Ex. 11: Primeira Cantoria de Cego, c. 77-88
12
So observados tambm nos compassos 105 a 108.
14
As transcries e aluses encontradas nas trs peas de Siqueira aparecem
dentro de um esquema que permite identificarmos uma estrutura e um centro que norteia as
peas.
13
Deste modo, Siqueira realiza uma transcrio fiel das caractersticas estilsticas do
gnero musical folclrico escolhido para a composio das suas peas. A maioria dos
elementos musicais e dos procedimentos descritos so empregados nas trs peas, no
entanto, h uma preponderncia nas Trs Cantorias de Cego, em ordem crescente, da
explorao dos recursos tcnicos e de registros do piano. Esta elaborao tambm ocorre no
material temtico, sendo que das trs peas, a Terceira Cantoria de Cego apresenta uma
maior unidade entre elementos formativos da composio.
13
Discordamos da afirmativa de Jos Siqueira, o qual identifica as obras baseadas no Sistema Trimodal como
atonais.
15
6. Referncias Bibliogrficas
ALMEIDA, Renato. Manual de coleta folclrica. Rio de Janeiro: Grfica Olmpica Editora,
1965.
ALVARENGA, Oneyda. Msica popular brasileira. 2.ed. So Paulo: Livraria Duas
Cidades Ltda Editora, 1982.
ANDRADE, Mario. Ensaio sobre a msica brasileira. So Paulo: Ed. Martins; Braslia:
INL, 1972.
____. Aspectos da msica Brasileira. So Paulo: Ed. Martins, 1972.
____. Dicionrio musical Brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada, 1989. p.103-
109.
ANDRADE, Maristela Oliveira de. Cultura e tradio nordestina- ensaios de histria
cultural e intelectual. Joo Pessoa: Ed. Idia, 1997.
APPLEBY, David P. The Music of Brazil. Austin: University of Texas Press, 1983.
ARAJO, Samuel. Cavalo Marinho da Paraba. In: encarte do disco Cavalo Marinho da
Paraba a viagem dos sons. Portugal: TRADISOM, 1998. p.7-14.
BATISTA, F.Chagas. Cantadores e poetas populares. 2.ed. Joo Pessoa: Ed.Universitria,
1997.
BATISTA, Sebastio Nunes. Regras da cantoria. In: encarte do disco A arte da Cantoria
regras da Cantoria. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Folclore, 1984.
BHAGUE, Gerard. Brazil. In: The New Grove Dictionary Of Music And Musicians.
London: Macmillan Publishers Limited, vol.II, 1980a. p.221-244.
____. Siqueira. In: The New Grove Dictionary Of Music And Musicians. London,:
Macmillan Publishers Limited, vol.XVII, 1980b. p.350-351.
BRAUNWIESER, Martim. Cegos pedintes cantadores do Nordeste. In: Boletim Latino
Americano de Msica. [S.l.: s.n.]: vol.6, abril, 1946. p.323-329.
CARIRY, Rosemberg. Depoimento do Cego Oliveira. In: encarte do disco Cego Oliveira.
Fortaleza: Imopec, Cariry filmes, Equatorial produes, 1999.
CARVALHO, Jos Jorge. Formas musicais narrativas do nordeste brasileiro. In: Revista
INIDEF n 1, [S.l.] 1979. p. 33-68.
CASCUDO, Lus da Cmara. Dicionrio do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Ediouro
Publicaes, [1972].
____. Vaqueiros e Cantadores. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; So Paulo: Ed. da
Universidade de So Paulo, 1984.
COOK, Nicholas. A guide to musical Analysis. New York: George Brazilier, 1987.
CORRA DE AZEVEDO, Luiz Heitor. Instrumentos de msica do cantador nordestino. In:
Relao de discos gravados no Estado do Cear, Rio de Janeiro, Escola Nacional de
Msica, 1943.
____. Luis Heitor. Folk music: brazilian, apud. Bhague, Gerard. Brazil. In: The New
Grove Dictionary Of Music And Musicians, London,: Macmillan Publishers Limited,
Vol.II, 1980. p.221-244.
____. Msica popular nordestina. In: Relao de discos gravados no Estado do Cear. Rio
de Janeiro, Escola Nacional de Msica, 1943.
DIGUES JUNIOR, Manuel. Ciclos temticos na literatura de cordel. In: Literatura
Popular em Verso, tomo I. Rio de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1973. p. 1-151.
ENCICLOPDIA DA MSICA BRASILEIRA: erudita, popular e folclrica. Reimpr. da
2.ed. So Paulo: Art Editora: Publifolha, 1998.
16
FIALKOW, Ney. The ponteios of Camargo Guarnieri. Dissertao de doutorado. The
Peabody Institute of the Johns Hopkins University, 1995.
FONSECA, Renata Simes (rsbf@netwaybbs.com.br). Rabeca. 24 jan. 2000. E-mail para:
Vania Camacho (vaniacamacho @yahoo.com.br).
GERVASE, Claude. tude compare des languages harmoniques de Faur et Debussy.
Paris: Richard-Masse, 1971.
GUERRA PEIXE, Csar. Zabumba orquestra nordestina. In: Revista Brasileira do
Folclore, ano X, n 26, jan/abril, 1970. p. 15-37.
LAMAS, Dulce Martins. A msica de tradio (folclrica) oral no Brasil. Rio de Janeiro:
CBAG, 1992.
____. A tradio potico-musical no Brasil: suas razes portuguesas. In: Revista da
Academia Nacional de Msica. Rio de Janeiro: Edio da ANM, vol. III, 1992. p. 16-29.
____. A msica na cantoria nordestina. In: Literatura Popular em Verso, tomo I. Rio de
Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1973. p. 233-270.
____. A Cantoria tradicional no Brasil. In: Estudos de Folclore em Homenagem a Manuel
Digues Junior, Macei: Instituto Arnon de Mello, 1991. p. 91-100.
____. Msica folclrica. In: Boletim da Comisso Catarinense de Folclore, ano XV, n 29,
dez., 1975. p. 55-66.
MARIZ, Vasco. Histria da msica no Brasil. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1994.
____. Figuras da msica brasileira contempornea,.2.ed. Braslia: Universidade de
Braslia, 1970.
MEGALE, Nilza. Folclore Brasileiro. Petrpolis: Ed. Vozes, 1999.
MELO, Jos Octvio de Arruda. Histria da Paraba- lutas e resistncias. 5.ed. Joo
Pessoa UFPB: Ed. Universitria, 1997.
MURPHY, John Patrick. The rabeca and it's music old and new, in Pernambuco, Brazil. In:
Latin American Music Review, Austin: by University of Texas Press, 1997. p.147-172.
NBREGA, Ana Cristina, Nota sobre a rabeca e seu uso no cavalo marinho de Bayeux. In:
encarte do disco Cavalo Marinho da Paraba a viagem dos sons, Portugal: TRADISOM,
1998. p.15-16.
PEREIRA, Kleide Amaral. Um mestre chamado Jos Siqueira. In: Revista da Academia
Nacional de Msica. Rio de Janeiro, Vol. VII, 1996. p.16-22.
PINTO, Aloysio de Alencar. A arte da Cantoria. In: encarte do disco A arte da Cantoria
regras da Cantoria. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Folclore, 1984.
QUEIRS, Raquel de. O Cego Aderaldo. In: Literatura Popular em Verso, tomo I. Rio de
Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1973. p. 312-329.
RAMALHO, Elba Braga. Cantoria. 27 nov. 1999. E-mail para: Vania Camacho
(vaniacamacho@yahoo.com.br).
RAMALHO, Elba Braga. A Cantoria nordestina um gnero potico-musical de
resistncia. (reelaborao da Dissertao de Mestrado em Sociologia Msica e palavra no
processo de comunicao social: A Cantoria Nordestina, Universidade Federal do Cear,
1992), Cuba: Colquio Internacional Musicologa y Globalizacin, 1999.
RAMON Y RIVERA, Luis Felipe. Fenomenologia de la Etnomusica del Area
Latinoamericana, Venezuela: Biblioteca INIDEF 3 CONAC, 1980.
RIBEIRO, Domingos de Azevedo. Cantigas de cego. Joo Pessoa: RIGRAFI editora Ltda,
1992.
RIBEIRO, Joaquim. Maestro Siqueira. Rio de Janeiro: [s.n.], 1963.
17
ROMERO, Slvio. Cantos populares do Brasil. So Paulo: Ed.Itatiaia, 1985.
SIQUEIRA, Jos de Lima. Sistema pentatnico brasileiro. Joo Pessoa: Secretaria da
Educao e Cultura - diretoria geral de cultura, 1981.
____. Sistema modal na msica folclrica do Brasil. Joo Pessoa: Secretaria de Educao e
Cultura - diretoria geral de cultura, 1981.
____. Msica para a juventude (terceira srie). Rio de Janeiro: Companhia Editora
Americana, 1954.
TRIGUEIROS, Edilberto. A lngua do folclore da bacia do So Francisco. Rio de Janeiro:
Funarte, 1977.
VEGA, Carlos. La msica popular Argentina, fraseologia apud RAMON Y RIVERA, Luis
Felipe. Fenomenologia de la Etnomusica del Area Latinoamericana, Venezuela: Biblioteca
INIDEF 3 CONAC, 1980. p. 44-46.
REFERNCIAS DISCOGRFICAS
A Arte da Cantoria Regras da Cantoria, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do
Folclore, FUNARTE, 1998 (reproduo dos discos de vinil , 1984).
A Arte da Cantoria cangao, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Folclore,
FUNARTE, 1998 (reproduo dos discos de vinil , 1989).
A Arte da Cantoria ciclo do Padre Ccero, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do
Folclore, FUNARTE, 1998 (reproduo dos discos de vinil , 1984).
Cavalo Marinho da Paraba a viagem dos sons, Portugal: TRADISOM, 1998.
Cego Oliveira, Fortaleza: Imopec, Cariry Filmes, Equatorial Produes, 1999.
Cego Oliveira rabecas e cantorias, Fortaleza: Cariry discos, produo: Rosemberg
Cariry, 1991.
1
O programa televisivo Hip Hop Sul como um espao de formao musical
Vania A. Malagutti da Silva Fialho
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
vaniamalagutti@hotmail.com / vaniafialho@pop.com.br
Resumo: Esta pesquisa investigou o programa televisivo Hip Hop Sul (TVE-RS) e a sua relao com
os msicos que dele participam. O objetivo foi entender as funes scio-musicais e as experincias de
formao e atuao musical que o programa desempenha. As tcnicas utilizadas na coleta de dados
foram entrevistas, observaes e registros fotogrficos e audiovisuais da equipe de produo e dos
grupos entrevistados. A investigao foi desenvolvida na perspectiva dos estudos culturais (Wolf,
1995) e a anlise dos dados foi feita com base no modelo de anlise televisiva de Casetti e Chio
(1998). O trabalho fundamentou-se na viso da televiso como mediadora de conhecimentos musicais
(Fischer, 1997, 2000a, 2000b; Kraemer, 2000; Nanni, 2000; Souza, 2000; Ramos, 2002), e os aspectos
abordados foram referentes s experincias musicais dos grupos de rap como telespectadores e
participantes do programa. Os dados mostram que para os grupos entrevistados ter estado na televiso
resultou em uma modificao no ser e no fazer musical dos mesmos.
Palavras-chave: televiso, formao musical, juventude
Abstract: This work investigated the TV program Hip Hop Sul and its relation with the musicians
that participate in it. It tried to understand the socio-musical functions and the experiences of
formation and musical performances. The techniques which were used in the collection of data were
the following: semi-structured interviews, observations following the producers routine and using
digital photos and audiovisual recordings of the performances of the rap artists and the production of
the program. The investigation was based on cultural studies (Wolf, 1995) and an analysis of data
based on method of analyzing television by Casetti and Chio (1998). The basic perspective of this
work is: television as a means of spreading musical knowledge, wich gave evidence of the musical
aspects presenting formation and performances in Hip Hop Sul. As for these bands, the results of this
research show that watching themselves on TV is an experience that modifies the person and the fact
of making music.
Keywords: television, musical form and knowledge, youth.
1. INTRODUO
Essa comunicao refere-se a uma sntese da dissertao de mestrado
1
que teve como
foco compreender as funes scio-musicais que o programa televisivo Hip Hop Sul
desempenha e as experincias de formao e atuao musical que proporciona aos grupos de
rap que dele participam.
O programa Hip Hop Sul veiculado pela TV Educativa do Rio Grande do Sul, aos
sbados s 19h30 com reprise s quintas-feiras, s 23h30. O programa est no ar desde junho
de 1999, e caracteriza-se por divulgar a cultura hip hop atravs da apresentao de grupos de
rap, grafiteiros, danarinos de Break e DJs. O programa aborda temas como, drogas,
2
violncia, sade, educao, arte, literatura e poltica, dentro da linguagem e dos cdigos
prprios da cultura hip hop.
As questes principais da pesquisa foram: qual a proposta musical do programa Hip
Hop Sul e suas expectativas em relao aos grupos de rap? Quais so as expectativas que os
grupos de rap tm em relao ao programa Hip Hop Sul? Como os grupos de rap apreendem
os aspectos musicais formativos e atuantes presentes no Hip Hop Sul?
A temtica desse trabalho est relacionada com dois fenmenos que so a televiso e o
hip hop. A televiso hoje parte integrante do cotidiano. Sua funo na vida moderna tem
ultrapassado o entretenimento e tem se mostrado uma potencializadora na formao do
indivduo. Fischer (2000a) afirma que todos os produtos veiculados pela televiso possuem
uma funo formadora e subjetivadora, desenvolvendo um papel similar ao da escola (ibid.
p.117).
J o hip hop caracteriza-se como um movimento cultural juvenil que, historicamente,
nasceu em Nova Iorque, no final da dcada de 60. Essa cultura engloba quatro expresses
artsticas: o DJ, o MC, o Breakdance e o grafite. Atravs dessas expresses essa cultura ao
mesmo tempo artstica, poltica e ideolgica. Ela apresenta e expressa, por meio da arte, as
experincias vividas na periferia, tais como o desemprego, os conflitos nas relaes de poder,
o preconceito social e racial, as condies de moradia, sade e educao, a falta de
perspectivas para o futuro, o narcotrfico e o crime.
2. METODOLOGIA
Essa pesquisa foi desenvolvida na perspectiva dos estudos culturais o que possibilitou
expor a dialtica que se instaura entre o sistema social, a continuidade, e as transformaes
do sistema cultural (Wolf, 1995, p. 96), interpretadas a partir das relaes que h entre o
programa televisivo Hip Hop Sul e os rappers, MCs e DJs.
A investigao teve como colaboradores a equipe do programa Hip Hop Sul dez
pessoas entre produtores, DJs, apresentadores e coordenador e dezessete grupos de rap que
participaram do Hip Hop Sul no perodo de abril a agosto de 2002, alm de trs grupos de rap
aos quais pertenciam membros da equipe de produo do programa.
1
O ttulo da dissertao Hip Hop Sul: um espao televisivo de formao e atuao musical. A mesma foi
defendida em abril de 2003 no Programa de Ps-Graduao em Msica da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul sob a orientao da Dr Jusamara Souza.
3
As tcnicas utilizadas para a coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas;
observaes de 10 gravaes do programa; acompanhamento da rotina de trabalho dos
produtores do programa, e, registros fotogrficos e em audiovisuais da atuao dos
participantes da pesquisa.
A anlise dos dados foi feita com base nas quatro funes sociais da televiso proposta
por Casetti e Chio (1998): a funo de contar histrias, a funo porta-voz, a funo de criar
rituais e a funo de criar modelos.
3. SOBRE OS RESULTADOS
O programa Hip Hop Sul constitui-se em um espao na televiso onde, principalmente
a comunidade de hip hoppers e de jovens excludos se sente representada. H uma
identificao direta dos hip hoppers com os contedos do programa o que acontece,
possivelmente, por ele ser gerido por jovens da cultura hip hop.
A msica o carro-chefe do Hip Hop Sul. H uma preocupao da equipe com
relao qualidade da mesma. Alm disso, dentro do programa a msica adquire a funo de
passar informaes para a periferia por meio de uma msica que faz parte da identidade
musical da comunidade perifrica, e que est sendo veiculada pela televiso.
Na funo de passar informaes, a letra da msica o principal aspecto observado
pelo programa:
A msica tem que expressar a realidade que acontece na periferia, n, por exemplo, tu
no tem que rebolar. Tu tem que te expressar srio, falar o que t acontecendo, no
dando risada, entendeu? [...] Tu tem que t com o microfone na mo, e o microfone na
mo uma arma: cada palavra que tu pensa tu engatilha, e quando tu saltas pra ela, tu
t disparando. Pra mim a msica, o rap, tem que ter uma boa instrumental e
principalmente um bom contedo (Jota P, DJ do programa).
Outro aspecto considerado no momento de colocar um grupo de rap no programa o
papel que os msicos desempenham dentro da sua comunidade. Para o Hip Hop Sul a conduta
dos hip hoppers tem valor igual ou superior sua performance artstica/musical.
Nas entrevistas com grupos ficou evidente que antes de produzir rap eles eram
consumidores dessa msica. medida que os hip hoppers vo passando, gradativamente, de
consumidores para produtores, segundo seus depoimentos, h uma transformao significativa
em suas vidas. Muitos contam que antes de estarem na cultura hip hop, fazendo rap, eram
usurios de drogas e praticavam crimes, como assaltos mo armada e narcotrfico. Esses
4
msicos atribuem ao rap o desligamento das coisas negativas: o rap naquela poca me deu
suporte, era a nica coisa que tinha naquele momento pra me segurar (MC Oxy).
So raros os rappers e MCs que cantam msicas de outro grupo. Eles interpretam sua
prpria composio e se expressam com base na experincia que abstraem de seu cotidiano.
Atravs de suas msicas, os grupos, vem o seu papel dentro da comunidade como uma
misso, cujo compromisso aumentar a estima da comunidade, as perspectiva para o futuro, a
conscientizao e fornecer alternativas de sobrevivncia por meio do rap.
A relao dos grupos entrevistados com o programa Hip Hop Sul foi vista em trs
momentos: como telespectadores, como participantes e aps a participao dos mesmos no
programa.
a) Como telespectadores do Hip Hop Sul
Todos os grupos entrevistados so unnimes em afirmar que to logo souberam do Hip
Hop Sul tornaram seus telespectadores fiis. Isso porque acreditam que assistindo ao
programa possvel estar atualizado dentro da cultura hip hop. Alm disso, comum eles o
verem como uma escola da ideologia e dos elementos artsticos do hip hop. Na fala deles:
no se pode deixar de assistir nenhum programa, porque cada vez que tu v tu aprendes uma
coisa diferente. Porque cada vez que tu v tem um grupo diferente. Tem estilos diferentes
(MC Profeta do Rap).
Acompanhar o programa regularmente permite aos grupos apreenderem os aspectos
musicais presentes no mesmo. DJ Delley, relata que presta muita ateno, por exemplo, na
performance dos msicos de So Paulo, que se apresentam no programa. Pois eles podem
trazer outras tcnicas, outras coisas, e tu procura dar uma olhada em como que ele ta
fazendo aquilo ali, a tu j tem a noo, e tu: p!, legal aquele efeito que ele fez e a tu tenta
criar o teu. MC Baze afirma que olhando o programa e observando o estilo dos grupos,
mais fcil encontrar um jeito prprio de fazer sua msica. Ele assegura que no gosta de
ficar vendo rima quadrada, ou seja, rimar, ra com a, o com no, i com i, sabe, essas coisa
assim quadradinha. Isso evidencia o senso crtico que esses msicos possuem em relao ao
que assistem.
Pode-se afirmar que o ato de ver o programa desencadeia um processo mental
complexo, onde o espectador articula um raciocnio analtico e crtico em relao ao que esta
vendo/ouvindo. Esse processo mental possibilita a formao de conhecimentos que so
5
constitudos a partir da negociao entre os contedos internos do telespectador e o contedo
televisivo (Casetti e Chio, 1998; Nanni, 2000).
b) Como participantes do Hip Hop Sul
Nessa pesquisa no foi surpresa constatar que praticamente todos os grupos de rap
entrevistados tinham o sonho de cantar no Hip Hop Sul. O desejo de estar na televiso est
relacionado, dentre outras coisas, a cantar para um grande nmero de pessoas. Os grupos
entendem que estar na televiso uma oportunidade que pode ou no lhes projetar como
msicos dentro da cultura hip hop. Tudo depende do desempenho no programa. Assim eles
intensificam seus ensaios o que resulta em um crescimento musical, pois h uma preocupao
com a qualidade. MC Buda relata como foram os dias anteriores apresentao do seu grupo
no programa:
ensaiamos todos os dias, quase. At a gente tava meio precrio, naquela poca a gente
no tinha muito aparelho como a gente tem agora, caixa e as coisas. Ns ensaiava num
trs em um, num sonzinho normal de CD, todo o dia, todo dia. At eu tava de frias
do servio. Eu tirei o p quente de bem naquela poca eu tar de frias do servio, e da
todo dia tarde ns ia pra l e ensaio, ensaio, ensaio toda hora pra chegar l e no dar
nada errado, n. Porque imagina a responsa do cara de tar na televiso, com vrias
pessoas olhando, n. No pra uma pessoa s... (MC Buda).
A gravao do programa para maioria dos grupos um momento muito esperado. A
passagem de som, que antecede gravao propriamente dita, uma ocasio que ajuda os
msicos a controlar a emoo de estar dentro da televiso, alm de ser o momento em que a
equipe de produo sugere dicas para uma melhor performance, como: movimentar-se
enquanto cantam, olhar para cmera que est gravando, cantar para quem est em casa, usar o
microfone, no desafinar e projetar a voz, usar os tocas-discos.
Cabe lembrar que nem a equipe de produo e tampouco os grupos de rap possuem uma
formao musical formal, assim como no tocam instrumentos musicais convencionais. Para
Azevedo e Silva (1999), esses aspectos so revolucionrios, pois abolem a noo
tradicional de que s faz msica quem tem formao e toca instrumentos musicais
[convencionais]. Essa idia j corrente na rea da educao musical, que entende que
saber msica no s saber ler e escrever, como escreve Souza (2001).
6
c) Os msicos aps sua participao no programa
Ver-se na televiso tambm significa auto-avaliar-se. Para muitos, o fato de ter uma
apresentao gravada e assisti-la na televiso, possibilita uma anlise crtica de seu trabalho.
Isso permite modificaes na performance da apresentao e na prpria msica.
Se no fosse o programa a gente no teria evoludo, porque a gente s se evolui
quando a gente se v. [...] essa histria, s evolui quando tu se v na TV, e da tu
diz: bah! eu posso melhorar, eu posso fazer melhor que isso. Da, se evolui (MC
RM).
MC Nego Sid conta que modificou, inclusive, a letra da sua msica. Foi se olhando na
TV que notou que falava muito rpido, e parecia que no dava pra entender as palavras e
por isso trocou umas palavras por outra. Alguns fazem alteraes no instrumental, outros na
disposio do grupo no momento de cantar, ou simplesmente percebem que precisam ensaiar
mais e melhorar um ou outro trecho da msica.
Outro fator importante o retorno e reconhecimento do pblico. Aps ir ao ar muitos
grupos conseguem se projetar na cena do rap gacho, e ento so convidados para tocar em
festas, tm a msica solicitada nas rdios comunitrias e conseguem apoio para produzir suas
bases instrumentais.
4 CONSIDERAES FINAIS
O Hip Hop Sul no um programa educativo no sentido mais restrito do termo.
Contudo ele desempenha funes scio-educativas que lhe so inerentes, dado que a cultura
hip hop representada na televiso pela prpria cultura hip hop. Isso resulta em uma
identificao dos grupos de rap com o programa, o que fazem deles telespectadores assduos.
O interesse desses msicos pelo programa faz lembrar o que Pillar (2001, p. 13)
escreve: difcil, quase impossvel, neste final de sculo, pensar como seria nossa
compreenso, nossa percepo do mundo, nossa subjetividade sem o poderoso meio de
comunicao que a televiso.
Concluindo, essa investigao procurou compreender a relao, no mbito musical,
que os grupos de rap tem com o Hip Hop Sul, o que implicou no entendimento dos valores
prprios que esses jovens possuem. No h dvidas que para esses grupos, ver a si mesmo ou
7
sentir-se representados na televiso, significa existir, ter uma identidade e sair do anonimato.
Estar na televiso , portanto e inclusive, uma experincia que modifica o ser e o fazer
musical.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
AZEVEDO, Amailton Magno G.; SILVA, Salloma Salomo Jovino. Os sons que vm das
ruas. In: ANDRADE, Elaine Nunes. Rap e educao Rap educao. So Paulo: Summus,
1999, p. 65 81.
CASETTI, Francesco e CHIO, Federico di. Analisi della televisione. Milano: Strumenti
Bompiani, 1998.
FISCHER, Rosa Maria Bueno. O estatuto pedaggico da Mdia: questo de anlise.Cultura,
Mdia e Educao. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v.22, n. 2, p. 59
79, 1997.
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Tcnicas de si na TV: a mdia se faz pedaggica. Educao
Unisinos. So Leopoldo: Unisinos, v. 4, n. 7, p. 111 139, 2000a.
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Mdia, estratgias de linguagem e produo de sujeitos. In:
Linguagens, espaos e tempos de aprender. Rio de Janeiro: DP&A, p. 75 88, 2000b.
KRAEMER, Rudolf-Dieter. Dimenses e funes do conhecimento pedaggico-musical.Trad.
Jusamara Souza. Em Pauta. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v.11,
n. 16/17, p. 50 73, 2000.
NANNI, Franco. Mass media e socializao musical. Trad. Maria Cristina Lucas. Em Pauta.
Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v.11, n. 16/17, p. 110 143, 2000.
PILLAR, Analice Dutra. Criana e Televiso. Porto Alegre: Mediao, 2001.
RAMOS, Silvia N. Msica da televiso no cotidiano de crianas. Dissertao de Mestrado,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
SOUZA, Jusamara. Caminhos para a construo de uma outra didtica da msica. In:
SOUZA, Jusamara (Org.). Msica, Cotidiano e Educao. Porto Alegre: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 2000, p. 173 185.
SOUZA, Jusamara. Sobre as mltiplas formas de ler e escrever msica. In: NEVES, Iara
Conceio B. SOUZA, Jusamara; SCHFFER, Neiva Otero; GUEDES, Paulo Coimbra;
KLSENER, Renita.. Ler e Escrever: compromisso de todas as reas. 4 ed. Porto Alegre:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001, p. 207 216.
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicao Mass media: contextos e paradigmas; novas
tendncias; efeitos a longo prazo; O newsmaking. 4 ed., Lisboa: Presena, 1995.
1
Ecleticismo na obra do compositor Ronaldo Miranda: quatro
perodos distintos analisados a partir de sua linguagem harmnica
Vitor Mathiesen Monteiro Duarte
vmatthiesen@terra.com.br
Resumo: Este estudo visa demonstrar o ecleticismo aparente, a constante evoluo lingustica
musical, e a subdiviso em quatro perodos distintos na obra para piano do compositor Ronaldo
Miranda. A anlise detalhada de sua linguagem harmnica, com nfase e enfoque principal na
utilizao dos acordes formados por uma quarta aumentada e uma quarta justa (tritone forth
chords), evidenciando desde o academicismo e influncia jazzstica ao livre arbtrio, tem como
objetivo revelar a constante evoluo na linguagem musical comtempornea do compositor, uma
vez que este menciona sua preferncia por formas clssicas. Tonal, atonal e neotonal so termos
utilizados por Miranda que descrevem sua msica. Esta evoluo vista desde a linguagem
primria de sua Suite #3 (1973), linguagem atonal das peas Prlogo, discurso e reflexo
(1980) e Toccata (1982), linguagem neotonal de sua virtuosa Estrela Brilhante (1984),
liderando ao livre atonalismo das Trs Micro-Peas (2001).
Palavras-chave: Ronaldo Miranda, harmonia contempornea, linguagem musical
Abstract: Mirandas piano pieces reveals a constant evolution in the composers language.
Following a strong preference for Classical forms, Mirandas evolution of language solidifies in
the uniqueness of harmonic compositional devices used to build every piece. Compositional
experimentation is not only part of Mirandas musical vocabulary, besides clearly defining
distinctive periods in his music, the unique compositional approach in each of his piano pieces
also clearly defines him as an eclectic composer. Tonal, atonal and neotonal are terms that the
composer himself uses to describe his music. This evolution is seen in his solo piano works from
the early language of his tonal Suite #3 (1973), to the atonal pieces Prlogo, discurso e reflexo
(1980) and Toccata (1982), the neotonal language of his virtuoso Estrela Brilhante (1984),
leading to the free atonalism of Trs Micro-Peas (2001).
Keywords: Ronaldo Miranda, advanced harmony, musical language
Following a strong preference for classical forms, Mirandas evolution of language
solidifies in the uniqueness of harmonic compositional devices used to build every piece.
A. First Period
1. Suite # 3 (1973)
Youthful works characterize Mirandas first period. Belonging to this period, Suite # 3 is
rather simple compared to his mature works. Instead of the apraised Brazilian Mixolydian
mode (ex. 01), Mirandas already states his preference for the raised fourth scale and
major seventh chords, l ater to consolidate in the tritone fourth chord. Hints of the raised
2
fourth scale, and also the whole tone scale, can be found in the second movement of suite
#3 (ex. 02 and 03).
Example 01. Brazilian Folk Scales
Mixolydian Mode and Raised Fourth Scale
Example 02. Raised Fourth Scale
Example 03. Whole tone scale
B. Second Period
A drastic evolution in musical language mark Mirandas second musical period. The
nationalistic modal style of Suite #3 is completely abandoned in favor of atonality.
Mirandas Prlogo, discurso e reflexo and the Toccata belong to this period. Miranda
himself defined the style of this set of compositions as free atonal. Particular to this
period, and overlapping the next, is the manner in which Miranda applies tritone fourth
3
chords, always building a thick texture, and following a compositional evolution. A
tritone fourth chord is formed by the juxtaposition of an augmented fourth and a perfect
fourth interval.
2. Prlogo, Discurso e reflexo (1980)
Example 04 presents a clear view of Mirandas new language and the intervallic material
used in this piece. In it, a tritone fourth chord (F-B-E) is found on the first and third
aggregates. Miranda uses this chord in several ways: alone and apart from related
harmony, to set up tonal poles, or to build up other cluster-like chords as on the third
aggregate. Moreover, this chord outlines a major seventh that inverted forms the interval
of a minor second which broadens Mirandas ways of using the tritone fourth chord via
pulling gravitational appoggiaturas, chord movements, motive and cell formations.
Indeed, tritone fourth chords and major seventh chords linked by pulling half steps are a
constant characteristic in Mirandas atonal language.
Example 04. Prlogo, discurso e reflexo
Prlogo beginning
The discurso sets up an uninterrupted toccata motion in ABA form. The first A section
also has a ternary subdivision (motive 1- motive 2 - transition motive 1). The first
motive (ex. 05) contains several cells used to build other motives and harmony during the
discourse of this movement. Analyzing example 05 we find interrelated a minor second
pattern in the bass (Eb-D).
4
Example 05. Prlogo, discurso e reflexo
Discurso Motive 1 Mm. 5-7
Many features make motive 2 (ex. 06) very special. In this motive, Miranda uses the
tritone fourth chords (right hand) to build up tonal poles. Indeed, the Eb-D correlation
already used in motive 1 (ex. 05) is now expanded harmonically.
Much used in the North American Gospel, a tritone fourth chord can be more simply
analyzed as an extension of the characteristic gospel minor seventh. In a basic Gospel
band formed by drums, bass and a piano or a Hammond organ, usually the drums set the
rhythm, the bass plays moving bass lines, meanwhile the piano improvises freely on the
patterns set by the bass. If the key of a gospel hymn is Eb major, the bass plays the lower
Eb while the pianist could improve on the chord by adding its minor seventh, third and
thirteenth (the same as added sixth in jazz and gospel harmony). Consequently, the
resulted chord would be as in measure 17 in the right hand (ex. 06). Intrinsically, Miranda
seems to use this same gospel device, but omitting the lower bass note. Example 06
clearly evidences motive 2 in the tonal pole of Eb. In the same example, motive 2 is
transposed to the tonal pole of D, beginning in measure 20.
Example 06. Prlogo, discurso e reflexo
Discurso Motive 2 Mm. 17-20
5
Another harmonic feature similar to American Gospel and Jazz harmony is used in the
transition back to motive 1. Example 07 shows a common resolution V7-I in a gospel
manner. Example 08 demonstrates how Mirandas transition recalls the same harmonic
pattern applied to a dominant-tonic resolution, however and again, without the bass
player. Next in order, Motive 1 is restated in the tonal pole of Eb and then in D,
revealing the beginning Eb-D minor second in the bass, now expanded harmonically in
the motive.
Example 07. Gospel V-I (PAC)
Example 08. Prlogo, discurso e reflexo
Discurso Transition to Motive 1 Mm. 26-28
The missing correlated bass Eb-D of Motive 2 (ex. 05) is then introduced as part of a
climax build-up. However, even though the missing Eb bass note finally appears,
example 09 demonstrates a surprising move away from the Eb seventh chords.
Example 09. Prlogo, discurso e reflexo
6
Section A Restatement of Motive 2 Mm. 77-80
The last movement (reflexo) presents a fugato in which the subject entries are
exclusively pitch wise evidencing the lack of key relationship.
Example 10 demonstrates how the tritone fourth chord (F-B-E) of the first aggregate (ex.
04) is modified on the transition to the fugato and conclusion as a variant of the same
introductory aggregate of the recitative.
Example 10. Prlogo, discurso e reflexo
Reflexo, Developments of the First Aggregate
3. Toccata (1982)
7
The free atonal idiom of the Toccata reveals another stage in the evolution of Mirandas
language. Unlike the Prlogo, discurso e reflexo, fourth and tritone fourth chords are
used freely: juxtaposed or not, and whether or not they delineate tonal poles. Tonal
ambiguity generated from the use of tritone fourth chords and theme transformations are
strong characteristics of the Toccata.
Example 11 presents tritone fourth chords melodically used in the main theme. The
melodic contour of this theme fragment (mm.1-4) beginning on B and ending on the F#
reveals a tonic-dominant tonal center in the key of B. Observe that Measures 5-8 of this
example feature theme 1s second fragment, made out of an inversion of the first. It
moves sequentially downward. Every first downbeat of this fragment contains a tritone
fourth chord harmonizing the melody. This example also includes the beginning of theme
1s third fragment presented in the bass (mm. 9-13). It recalls the second fragment
ambiguously transposed a minor second down beginning and ending on the Bb pitch.
This B-Bb tonal ambiguity generated from the use of tritone fourth chords and theme
transformations are strong characteristics in the entire Toccata.
Example 11. Toccata
Toccata, Section A Theme 1 Mm. 1-9
8
Example 12 features the closing theme made out of theme 1s third fragment. Analyzing
this example one observes an expansion of the augmented ninth and tritone fourth chords
found in the right hand of m. 9 (ex. 11), respectively, positioned on the middle and top
staff. The sudden bass change from B (m. 28) to Bb (m. 30) recalls not only measure 9,
but also the overall ambiguous B/Bb tonal pole polarity of theme 1.
Example 12. Toccata
Section A Closing Theme Mm. 28-30
The Reflexivo tempo marking reveals Section C (mm. 105-118) as a calm interlude within
the Toccata. In it, tritone fourth chords are used within ninth, eleventh, and thirteenth
chords as shown in example 13.
Example 13. Toccata
Section C Mm. 105, 108, and 110
9
C. Third Period
4. Estrela Brilhante (1984)
Continuing through the evolution of his musical language, Estrela Brilhante belongs to
Mirandas neotonal period. Unlike the previous piano pieces, this work has tritone fourth
chords used freely, joined together or separated by each other in distances of thirds,
fourths and sixths, delineating melodies whether this forms tonal poles or not, and
interacting with Mirandas preference for fourth, ninth, eleventh and thirteenth chords in
a rotational tonal/modal idiom.
Estrela Brilhante consists of an introduction, a theme followed by four variations, and
coda. The first variation exemplifies very well Mirandas use of tritone fourth chord.
Example 14 demonstrates the introduction of the first variation joining together two
tritone chords generating tonal ambiguity. Example 15 shows progressions by minor third
creating diminished tonal poles that recurs through out this variation.
Example 14. Estrela Brilhante
1
st
Var. Introduction M. 28
Example 16. Estrela Brilhante
1
st
Var. Diminished progression M. 46
10
The third variation is more complex melodically and harmonically than the others. A
modal character scale (E-F#-A-B-D-E) used in this variation can be understood as the
result of the juxtaposition of two fourth chords (E-A-D and F#-B-E) found in measures
82-83. It also can be understood as a displacement of the pentatonic scale (D-E-F#-A-B).
Example 17 demonstrates very well the neotonal style adopted by Miranda. In it, non-
functional tritone fourth chords are used to increase tension, building a thick dissonant
texture over a complete functional cadential pattern in the bass.
Example 17. Estrela Brilhante
Coda - Final PAC Cadence Mm. 173-177
D. Fourth Period
5. Trs Micro-Peas (2001)
The Trs Micro-Peas represent Mirandas most recent style. Currently, Miranda feels he
has fused all his previous explorations into one cohesive musical language that randomly
integrates a variety of compositional techniques. While losing importance, fourth and
tritone fourth chord based harmonies, melodies and texture are still used, however, within
a lighter texture than the previous solo pieces. Instead, harmonies and melodies made out
of the octatonic and artificial scales seem to exist in a free atonality.
11
The first piece, Incisivo, recalls the recitative of the Prlogo, discurso e reflexo (ex. 04)
beginning with the same F-B-E tritone fourth chord (ex.18). The Poco Pi Mosso of the
Incisivo is built out of an artificial scale made from the juxtaposition of Bb and B major
(ex. 19). The descending B-A#-Eb-D intervallic content based on two groups of half
steps from the artificial scale (ex. 19) found in the beginning appoggiaturas of the Poco
Pi Mosso (ex. 20) will be recalled several times later in the piece.
Example 18. Trs Micro-Peas
I - Incisivo Mm. 1-2
Example 19. Trs Micro-Peas
I Poco Pi Mosso, Artificial Scale
Example 20. Trs Micro-Peas
I Poco Pi Mosso, M. 8-10
The second movement Lrico exposes harmonies based on augmented seventh chords.
Formally, this second movement is through composed. The descending B-A#-Eb-D
intervallic cell (ex. 19 and 20) is found concealed as part of the melody and harmony.
12
Example 21 shows the descending B-A#-Eb-D intervallic cell transposed and inverted to
G-G#-D#-E.
Example 21. Trs Micro-Peas
II Lento Mm. 12-13
The third movement, the Burlesco, consists of a series of characteristic theme
appearances and their transformations based on the formal structure of a rondo ABCA
Coda. Grouping together all the notes of Theme 1s measure 1 (ex. 22) reveals an
artificial scale (B-C#-D#-F#-G#-A-B). Measure 1 also reveals half of a grouping from
the octatonic scale (F#-G#-A-B) followed by a tritone fourth chord spelled melodically in
the left hand (F#-C-F). However, tension increases in every statement being, at the third
and last time, expanded sequentially upward revealing a complete octatonic scale (B-C-
D-Eb-F-F#-G#-A-B).
Section B, Meno Mosso (mm. 17-25), exposes theme 2 (ex. 23) with a naive taste of
bitonality as illustrated in measure 17 (ex. 23). The F and C natural pitches in the right
hand originate from a tritone fourth chord (F#-C-F) over F# Major generating a
particularly beautiful sound effect.
Example 22. Trs Micro-Peas
III Ldico Theme 1 Mm. 1-4
13
Example 23. Trs Micro-Peas
III Ldico Theme 2 Mm. 17-19
Section C (mm. 26-47) presents a developmental theme made out of theme 1
harmonically transformed by diminished harmonies and embellished with the octatonic
scale (ex. 24).
Example 24. Trs Micro-Peas
III Ldico, Section C Mm. 34-36
The Coda section (mm. 74-83) recalls theme 2 modified to fit into cadential patterns.
Note that the tritone fourth chord F#-C-F (ex. 25), spelled enharmonically here, already
stated in section B, expands harmonically, continuing throughout a fiery Coda towards
the end of the piece (ex. 25) in the tonal pole of F.
Example 25. Trs Micro-Peas
III Ldico, Final end Mm. 82-83
14
E. CONCLUSION
Mirandas piano pieces reveals a constant evolution in the composers language.
Following a strong preference for Classical forms, Mirandas evolution of language
solidifies in the uniqueness of harmonic compositional devices used to build every piece.
Compositional experimentation is not only part of Mirandas musical vocabulary, besides
clearly defining distinctive periods in his music, the unique compositional approach in
each of his piano pieces also clearly defines him as an eclectic composer.
1. First Period
Miranda avoids the common minor sevenths of northern Brazilian folk style explored by
many composers such as Marlos Nobre and Camargo Guarnieri. The raised fourth
interval does seem to attract Mirandas attention. Hints of the raised fourth scale can be
found as a consequence of the modal character of his Suite #3, together with the use of
the whole tone scale. Suite #3 also features parallel fourths in all movements that later
develops into his mature style.
2. Second Period
Miranda himself defined the style of this set of compositions as free atonal. Particular
to this period, and overlapping the next, is the manner in which Miranda applies tritone
fourth chords, always building a thick texture, and following a compositional evolution.
15
The Prlogo, discurso e reflexo presents tritone fourth based harmonies setting up tonal
poles, but not functional dominants, once the use of this chord does not imply any
functional tonality. The Toccata presents tritone fourth chords more freely used, whether
setting up tonal poles or not. According to Ludmila Ulehla in her book Comtemporary
Harmony,
Because of the tonal ambiguity that fourth made chords contain,
they are frequently used to gain a Modern effect that poses few
harmonic problems. They fit so easy into many different
areas.
Intervallic structures which are made up of a mixture of perfect
fourth intervals and augmented fourths, or their enharmonic
diminished fifths may be called tritone fourths.
Any number of tritones may be included, but they must
alternate between the perfect fourths if a duplication of pitch is
to be prevented. The additional tritones increase the harmonic
tension.
Tonal ambiguity is as prevalent among tritone fourths as with
perfect fourths. There is no single compelling tone that insists
on a specific resolution of pitch, tritone notwithstanding. This
isolated quality is the result of intervallic structures which
defy any significant root tone. It leaves the entire effect of the
movement to the melodic contour and the slight deviations in
the vertical quality.
Omissions of some middle members do not affect the basic
chord quality.
A tritone fourth may reflect a dominant quality, as the gap
between the single tone and the upper arrangement may provide
its own overtone which, if supported in the above group, will
disclaim a fourth hierarchy (Ulehla, 1966, 379).
Example 26 demonstrates that Miranda still follows academic rules featuring two tritone
fourth chords separated in their distance by the interval of a perfect fourth.
Example 26. Toccata M. 98
16
Academic use of Tritone Fourth Chord
3. Third period
Miranda characterized the compositional style of his third period as neotonal. The
analysis of Estrela Brilhante shows Mirandas free use of tritone fourth chords as
underlying melodies or for building texture, juxtaposed with other tritone fourths
demonstrating that Miranda no longer cares for the academic rules.
4. Fourth Period
Characterized by the consolidation of eclecticism. Atonal, neotonal, and tonal fluctuates
from one piece to another, and even in the same piece. As a result, Mirandas recent
compositions present a high diversity of musical language. Finally, tritone fourth based
harmonies lose preference in favor of the octatonic scale and its diminished chord
implications. Hence, the musical texture appears lighter compared with Mirandas second
and third period compositions.
17
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA, Renato. Histria da Msica Brasileira. 2d. ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet &
Comp. Editores, 1942.
ANDRADE. Mrio de. Aspectos da Msica Brasileira. So Paulo: Livraria Martins
Editora, 1965.
________. Ensaio sobre a Msica Brasileira. So Paulo: Livraria Martins Editora, 1962.
________. Msica do Brasil. Curitiba: Editora Guara, 1941.
________. Msica Brasileira. Revista Brasileira de Folclore 5, No.12 (May-August
1965): 119-130.
APPLEBY, David P. The music of Brazil. Austin: University of Texas Press, 1983.
________. Trends in recent Brazilian Piano Music. Latin American Music Review 2,
No. 1 (1981): 91-102.
AZEVEDO, Lus Heitor Correia de. 150 Anos de Msica no Brasil. Rio de Janeiro:
Livraria Jos Olympio, 1956.
BHAGUE, Gerard. Latin American Music: an Annotated Bibliography of recent
Publications. In Inter American Institute for Musical research Yearbook, XI, 190-218.
Austin: Institute of Latin American Studies, University of Texas in Austin, 1975.
________. Heitor Villa-Lobos: The Search for Brazils Musical Soul. Austin: Institute of
Latin American Studies, University of Texas at Austin, 1994.
________. Music in Latin America: an introduction. New Jersey: Prentice-Hall: 1979.
Dyson, George. The New Music. New York: Oxford University Press, 1945.
________. The Beginnings of Musical Nationalism in Brazil. Detroit Monographs in
Musicology, n. 1. Detroit: Information Coordinators.
FRISCH, Walter. Brahms and the Principle of Developing Variation. Los Angeles:
University of California Press, 1984.
MARIZ, Vasco. Histria da Msica no Brasil. 4th rev. ed. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1981.
MIRANDA, Ronaldo. A Trajectory of 20 years. Liner notes. CD Ronaldo Miranda,
Trajetria. RD 020. RioArteDigital.
________. Catlogo de Obras. Rio de Janeiro: Edio Rio Arte, 1985.
18
________. Interview by the author. Tape recorder. Rio de Janeiro, Brazil, 20 October
1999.
________. O Aproveitamento das formas tradicionais em linguagem musical
contempornea na composio de um concerto para piano e orquestra. Ph.D.
diss., Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1987.
________. Uma questo de opo de linguagem. Jornal do Brazil (Rio de Janeiro), 09
de outubro de 1983.
NEVES, Jos maria. Msica Contempornea Brasileira. So Paulo: Ricordi Brasileria,
1981.
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-
Century Music. New York: Alfred A. Knopf, 1984.
PISTON, Walter. Harmony. New York: W.W. Norton & Company, 1962.
A observao da prpria prtica como instrumento de avaliao do
professor de msica
Viviane Beineke
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
vivibk@uol.com.br
Resumo: O presente trabalho focaliza a avaliao que trs professoras de msica fazem da sua
prtica educativa enquanto assistem as prprias aulas gravadas em vdeo. A avaliao vista no
seu aspecto formativo, como instrumento mediador que permite o diagnstico e
aperfeioamento da prtica. O objetivo analisar como a observao da prpria prtica pode
contribuir para a investigao didtica do professor, auxiliando na melhoria da qualidade de
ensino. Os dados foram obtidos atravs de entrevistas de estimulao, nas quais as professoras
eram incentivadas a refletir sobre as suas prticas em sala de aula enquanto assistiam s suas
prprias aulas gravadas em vdeo. Os resultados mostram que as observaes permitiram tanto a
reafirmao de algumas das suas prticas, como tambm sinalizaram alguns caminhos de
mudanas necessrias. A observao mostrou-se um instrumento importante para a investigao
didtica, permitindo ao professor refletir sobre a sua prtica e rev-la, auxiliando no seu
desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: educao musical, avaliao, prtica educativa.
Abstract: This paper focus on the evaluation that three music teachers do on educational
practice through observing their own classes recorded in video. The formative aspect of
evaluation is a tool that allows both the practice diagnosis and improvement. The objective is to
analyze how the observation of their own practice can contribute to the teachers' didactic
investigation, helping to improve the teaching quality. The data were obtained through
stimulation interviews, in which the teachers were motivated to reflect about their classroom
practices observing their own classes in the video. The results show that the observations
permited to the teachers to reaffirm some of their practices, and also indicated some necessary
changes. The observation stands out as an important instrument for the didactic investigation,
allowing to the teachers not only to reflect on and to review their classroom practice, but also
helping to their professional improvement.
Keywords: musical education, evaluation, educational practice.
Introduo
A avaliao uma rea que mobiliza a pesquisa em diferentes campos, como a
avaliao curricular, a avaliao dos alunos, e tambm, a avaliao que o professor faz
da prpria ao pedaggica. Para que ela ocorra, o professor precisa tomar conscincia
dos processos de aprendizagem dos seus alunos, para ento reorganizar suas estratgias
de ao em sala de aula.
Vista no seu aspecto formativo, que permite o diagnstico e o aperfeioamento
da prtica, a avaliao uma ferramenta importante na busca por melhorias no ensino.
Por meio da avaliao, o professor pode acompanhar o processo de aprendizagem dos
alunos e, ao mesmo tempo, monitorar o seu ensino, realizando uma investigao
didtica (Andr e Darsie, 2002, p. 31). A avaliao da ao docente condio
2
necessria para um ensino crtico e reflexivo, no qual as prprias prticas so
constantemente revistas e reconstrudas, implicando em relaes mais maduras nos
processos de ensinar e de aprender. Como afirmam Andr e Darsie,
Se a interveno do professor na aprendizagem do aluno implica sempre
organizao/reorganizao do ensino, isso nos leva a afirmar que ensinar
sempre uma ao que exige permanente investigao e,
conseqentemente, permanente aprendizado. Nesse sentido, a avaliao
como investigao didtica desencadeadora de reflexes e autocorreo
do processo de ensino, tendo em vista a aprendizagem dos alunos (Andr
e Darsie, 2002, p. 32).
Situado na rea das pesquisas qualitativas sobre o pensamento do professor
(Elbaz, 1981; Bresler, 1993; Del Ben, 2000; Beineke, 2001), neste trabalho procuro
refletir sobre o potencial da observao em vdeo da prtica em sala de aula para a
avaliao que os professores fazem da sua ao pedaggica, analisando de que forma
estas observaes podem contribuir para a tomada de conscincia e transformao da
prtica educativa.
A entrevista de estimulao de recordao
Os dados para estas reflexes foram obtidos atravs de entrevistas de
estimulao de recordao realizadas com trs professoras de msica Marlia,
Madalena e Rose
1
. A entrevista de estimulao de recordao consiste na tcnica de
realizao de entrevista enquanto o professor assiste sua prpria aula em vdeo.
Mediante as imagens assistidas, o professor recorda-se do que se passa e tenta analisar
a prtica atravs do seu prprio discurso reflexivo e introspectivo (Pacheco, 1995, p.
74). Essa tcnica tem sido bastante utilizada nas pesquisas sobre o pensamento do
professor, com o objetivo de investigar como os professores tomam decises e
processam informao em uma situao interativa. Refletindo sobre a aula atravs da
tcnica de estimulao de recordao, o professor pode expor, explicar e interpretar a
sua ao cotidiana em sala de aula.
1
Estes dados foram coletados para a realizao da minha dissertao de mestrado, intitulada O
conhecimento prtico do professor de msica: trs estudos de caso, defendida em 2000 no Programa de
Ps-Graduao em Msica da UFRGS Mestrado e Doutorado, sob orientao da profa. Dra. Liane
Hentschke e co-orientao da profa. Dra. Jusamara Souza.
3
Para a estruturao da entrevista de estimulao de recordao tomou-se como
referncia o trabalho de Pacheco (1995). As questes norteadoras foram de carter
aberto, do tipo: O que voc pensa sobre a sua aula?; O que voc pode dizer sobre essa
aula?; Como voc v essa aula de msica?. Em trs momentos incio, meio e final da
aula, questionou-se a professora sobre como ela percebia os alunos naquele momento de
desenvolvimento da aula, como descreveria a sua atuao docente, se as atividades
desenvolvidas haviam sido planificadas anteriormente e o que a preocupava naquele
momento de situao educacional. Foram discutidas, essencialmente, questes
relacionadas com os eventos especficos da aula observada, mas questes subsidirias
que surgiram no decorrer da entrevista tambm foram consideradas. Alm disso, as
professoras foram orientadas de que poderiam interromper a reproduo da fita de vdeo
a qualquer momento para falar sobre questes que considerassem relevantes.
Dessa forma, as prprias professoras selecionaram os aspectos a serem
abordados, considerando-se que a prpria seleo de temas ou momentos da aula j
revelam dados significativos sobre os seus pensamentos. Segundo Cunha (1993, p. 359),
quando os elementos constitutivos da verbalizao do professor no so previamente
encaminhados pelo pesquisador, o discurso do professor indica um valor. O fato dele
salientar alguns aspectos e silenciar outros, leva a crer que h significados prprios
subjacentes s suas palavras.
Foram realizadas, individualmente, trs entrevistas de estimulao de recordao
com cada uma das trs professoras participantes, sendo que em cada entrevista foi
assistida uma aula em todo o seu contedo e seqncia. Para o presente trabalho esses
dados foram revistos, tomando-se como foco da anlise os aspectos relativos avaliao
da prtica que surgiram nessas entrevistas.
A observao da prpria prtica como instrumento de avaliao
um espelho pra mim. Muitas coisas eu odeio ver, muitas coisas eu
gosto de ver. Eu ali, trabalhando, coisas que eu no sabia que eu era
(Madalena).
O primeiro aspecto que chama a ateno das professoras quando elas se
observam no vdeo refere-se sua auto imagem, medida que se do conta de algumas
atitudes e posturas perante os alunos.
4
Eu estou muito tranqila nesta aula. No estou ansiosa para fazer a
atividade, estou esperando por eles (Rose).
Me achei brava! Eu achava que eu era mais engraadinha com os alunos,
sabe? Tinha mais humor. Me achei sria nessa aula. Mas a minha atuao
passa uma coisa de muita responsabilidade na produo. Desde o incio
at o fim. (...) Tem uma responsabilidade na conduo do trabalho
(Madalena).
A partir do reconhecimento das prprias atitudes, elas percebem que os alunos
imitam alguns dos seus comportamentos. A professora Marlia se espanta quando v um
aluno fazendo gestos com a mo, imitando sua regncia. Observando o vdeo, a
professora Madalena tambm toma conscincia da forma como as crianas imitam sua
forma de conduzir uma execuo musical. Ela observa que no ensinou isso para eles,
mas que acha isso legal,
... porque a a gente v que o conhecimento no s aquilo que o
professor fala pra eles aprenderem. aquilo que eles pegam por conta
prpria. O professor (...) no tem que dizer tudo, tem que fazer tudo. a
partir de todo movimento que feito em aula que eles vo construindo. O
grupo est reproduzindo uma atitude minha na sala de aula. (Madalena).
Assistindo s suas aulas, as professoras se sentem vendo a aula de fora, e
quando esto na posio de espectadoras, percebem a aula de outra forma.
L [na sala de aula] bem mais turbulento, n? Pra quem est vendo aqui
de fora, a coisa fica at meio montona! (Rose).
Falando sobre a forma como estava introduzindo uma msica na flauta doce, a
professora Madalena revela que isso que estou falando agora, l [na aula] eu no
percebi. Mas agora que estou vendo de fora, estou analisando....
Eu estava entrando de sola numa coisa que eles no gostariam de fazer,
de soletrar uma coisa [msica] que eles j estavam pegando. Estava
fazendo isso de uma maneira no musical. No musical. Isso mesmo. Por
qu? (Madalena).
E medida que ela questiona e faz crticas ao seu trabalho, pode modificar a sua
ao, visando um melhor aproveitamento por parte dos alunos.
A prpria opinio das professoras sobre os resultados da aula tambm mudaram
a partir da observao em vdeo. Rose lembra que saiu de uma aula muito frustrada,
5
pensando que no tinha conseguido realizar o que havia planejado, mas quando observa
o seu trabalho no vdeo, percebe que atingiu os seus objetivos.
Eu estou achando, assim, que eles esto fazendo bem. (...) Eles no
deixaram de trabalhar em nenhuma atividade. Isso est sendo bom de
observar (Rose).
Ela toma conscincia de que a forma como os alunos esto interagindo com o
conhecimento na aula diferente da forma como ela pensava que isso aconteceria.
Observando a aula, a professora Rose tambm revisa suas idias sobre o planejamento e
continuidade das atividades que estava desenvolvendo.
Olhando a atividade do passeio imaginrio, comearam a me surgir
idias... a gente podia ter terminado a atividade fazendo uma msica pra
cada parte da histria... (Rose).
Esse comentrio revela que a observao e a reflexo sobre a prtica podem
ampliar o repertrio de exemplos, imagens, compreenses e aes que vo sendo
incorporados ao conhecimento prtico da professora, orientando suas prticas em
situaes futuras (Schn, 2000). Outro foco das anlises que as professoras fazem a
partir da observao das suas aulas refere-se aos processos de aprendizagem dos alunos.
Observando como um aluno se comporta frente atividade proposta, Rose comenta:
Ele no dissocia. Olha. Se ele est cantando, ele est se mexendo. Ele no
pra pra cantar. Pra ele, cantar e se movimentar a mesma coisa (Rose).
Quando a professora faz esse comentrio, revela que est compreendendo
melhor como a criana se relaciona com a msica, o que pode auxiliar no seu
planejamento e fundamentao das atividades. Como afirmam Andr e Darsie (2002), a
avaliao da prtica permite que o professor transfira a sua aprendizagem para uma
prtica futura, atribuindo significado para as mudanas que deseja realizar.
A professora Marlia, cuja prtica pedaggica essencialmente centrada no
aluno, ao assistir o vdeo, observa os comportamentos dos alunos e suas atitudes em
relao aula. Dessa forma ela confirma suas idias sobre como eles aprendem msica,
porque na aula ela no tem controle sobre todas as iniciativas tomadas pelos alunos no
seu fazer musical espontneo.
Olha s que brbaro, eles todos tocando. Um ouvindo o outro, um
olhando. Eu acho brbaro essa troca! (Marlia).
6
Tu viste? Olha ali. na hora: ela olhou e disse deixa eu experimentar.
Eles gostam e querem tocar tambm. Em seguida tem essa resposta assim
(Marlia).
A gravao em vdeo ajuda Marlia a observar as aes das crianas na aula,
quando ela procura compreender como as crianas se relacionam com a msica, como
trocam idias com os colegas, como aprendem a tirar uma cano no xilofone. E esses
dados a ajudam no planejamento e avaliao das suas atividades de ensino.
Observando a maneira como interage com os alunos, Madalena observa como
eles avanam no seu aprendizado. E ela se alegra quando consegue ver com mais
clareza como algumas de suas concepes tericas so colocadas em prtica.
Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. E formulando
hipteses, derrubando e construindo outras. Agora eu consegui ver isso
a. Que legal! Que tri! Eu quero gravar mais as minhas aulas!
(Madalena).
Madalena tambm rev algumas das suas prticas que, segundo ela, poderiam ter
sido melhor conduzidas. Analisando uma atividade em que os alunos deveriam compor
um arranjo para uma cano, ela percebe que apenas alguns alunos aqueles que
estavam tocando flauta doce trabalharam com a leitura da partitura. E reconstruindo a
aula, a professora avalia que teria sido melhor que todos os alunos tivessem tido essa
experincia.
Eu estou me dando conta disso agora, vendo a aula. Uma auto-crtica
assim, de que um processo foi eliminado. (Madalena).
Essas passagens revelam como a observao da prtica pode contribuir na
avaliao da aprendizagem dos alunos e na avaliao da prpria prtica das professoras
que participaram da pesquisa. A partir das reflexes desencadeadas pela entrevista de
estimulao de recordao, elas puderam rever a sua ao pedaggica, melhorando a
qualidade do ensino.
Consideraes finais
Nesta pesquisa, a entrevista de estimulao de recordao configurou-se como
um momento de reflexo das professoras sobre as prprias prticas e, mais do que isso,
um momento em que elas avaliam a sua ao docente, articulando os seus pensamentos
7
educacionais. Puderam ser vistas contribuies da entrevista de estimulao de
recordao para a tomada de conscincia e avaliao das suas prticas educativas, sendo
construdos novos conhecimentos a partir das prtica e para ela. Nessa perspectiva,
caminha-se tambm para uma superao da tradicional fragmentao dos saberes da
docncia (Pimenta, 1999, p. 25).
Observando as suas aulas, as professoras puderam tanto reafirmar algumas das
suas prticas, quando perceberam a sua eficcia, como tambm sinalizar alguns
caminhos de mudanas necessrias. A observao da prpria prtica nas entrevistas de
estimulao de recordao mostrou-se como um instrumento importante para a
investigao didtica, permitindo ao professor refletir sobre a sua ao docente e rev-
la, promovendo melhorias no ensino. E, medida que a observao em vdeo auxilia no
desenvolvimento profissional, tambm podem ser vistas possibilidades da utilizao
desse recurso tanto na formao inicial quanto continuada de professores de msica.
Essas idias esto possibilitando a realizao de uma nova pesquisa
2
, agora na formao
inicial de professores, quando acadmicos do curso de Licenciatura em Msica realizam
suas prticas de ensino na rede escolar.
Referncias bibliogrficas
2
Pesquisa interinstitucional da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC com a Universidade
Federal de Santa Maria - UFSM, intitulada A prtica educativa na formao do conhecimento prtico do
educador musical: oito estudos de caso. Coordenao na UDESC: Viviane Beineke. Coordenao na
UFSM: Cludia Ribeiro Bellochio.
8
ANDR, Marli; DARSIE, Marta Maria Pontin. Novas prticas de avaliao e a escrita
do dirio: atendimento s diferenas? In: ANDR, Marli (org.). Pedagogia das
diferenas na sala de aula. 3. ed. So Paulo: Papirus, 2002. p. 27-45.
BEINEKE, Viviane. O conhecimento prtico do professor: uma discusso sobre as
orientaes que guiam as prticas educativo-musicais de trs professoras. Em Pauta,
Porto Alegre, v. 12, n. 18/19, p. 95-129, 2001.
BRESLER, Liora. Teacher knowledge in Music Education research. Bulletin of the
Council for Research in Music Education, n. 118, p. 1-20, 1993.
CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e a sua prtica. In: TAVARES, Jos
(coord.). Linhas de rumo em formao de professores. Aveiro: Universidade de Aveiro,
1993. p. 353-366.
DEL BEN, Luciana M. A pesquisa sobre o pensamento do professor: um caminho para
a anlise e compreenso da educao musical escolar. Expresso, Santa Maria, ano 4, n.
2, p. 199-206, 2000.
ELBAZ, Freema. The teachers practical knowledge: report of a case study.
Curriculum Inquiry, v. 11, n 1, pp. 43-71, 1981.
PACHECO, Jos Augusto. O pensamento e a aco do professor. Porto: Porto Editora,
1995.
PIMENTA, Selma Garrido. Formao de professores: identidade e saberes da docncia.
In: PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedaggicos e atividade docente. So Paulo:
Cortez, 1999. p. 15-34.
SCHN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e
a aprendizagem. Porto Alegre: Artes Mdicas, 2000.
Msica nunca antes ouvida: o medo do desconhecido
Zelia Chueke
Universit Paris-Sorbonne Paris I V
Chueke Produes
zchuekepiano@aol.com
Resumo: Observando a cena musical de nossos tempos, podemos identificar dois grupos: um que se
ocupa do repertrio tradicional e outro que se dedica divulgao da msica contempornea, denotando a
existncia de uma barreira entre o sculo XIX e o XX - este ltimo abarcando a produo do sculo XXI.
Alm disso, o fato de associarmos a novidade em termos de texto musical composies
contemporneas faz com que negligenciemos as inmeras obras do repertrio de todos os outros perodos,
dos quais no temos conhecimento. O fato que por simples falta de curiosidade ou medo do
desconhecido, intrpretes, pblico e programadores das temporadas de concerto acabam dando
preferencia a um repertrio do qual j se possua alguma memria auditiva. Combinando e comparando
declaraes de intrpretes, educadores, musiclogos, psiclogos da msica e filsofos, o autor apresenta
evidncias sobre o enriquecimento que a explorao da msica sem preconceitos ou barreiras de espcie
alguma, traz para a experincia auditiva em geral.
Palavras-chave: escuta, barreiras, educao
Abstract: Observing the present musical scene, two categories of musicians can be identified: one would
include those who promote repertoire of the past and the other, those dedicating themselves to
contemporary repertoire. This attitude denotes the existence of a substantial barrier between ours -
including 20th and 21st - and the past centuries, bigger than the ones already imposed for the sake of
studies in history of music. Disregarding music from any period may reveal a certain fear of the unknown
- new or old - as well as plain lack of curiosity and the fact is that performers, audiences and program
managers always give preference to repertoire from which there is already some kind of auditory
memory. Combining and comparing the ideas of performers, music educators, musicologists,
psychologists of music and philosophers, the author presents evidence of the invaluable advantages of
exploring music without any kind of prejudice or barriers, towards a healthy experience from the
standpoints of listeners and performers.
Keywords: listening, barriers, education
Costumamos associar a novidade no texto musical ao termo msica contempornea,
esquecendo por vezes as inmeras obras do repertrio tradicional e de compositores menos
divulgados de todos os perodos, dos quais no temos conhecimento. Esta atitude
perfeitamente normal; apesar de uma certa curiosidade vir ocasionalmente B tona, continuamos
afastados destas obras e destes compositores.
Grandes psiclogos da msica e filsofos dissertaram sobre o medo do desconhecido, do
que nos estrangeiro. Nossa primeira atitude de auto-proteo; no queremos nos aproximar
do novo porque no podemos prever suas demandas psicolgicas, intelectuais, emocionais ou
fsicas. Certamente lucraramos mais se nossa atitude fosse diferente, visto que a curiosidade e a
ousadia promovem a evoluo do pensamento artstico.
O que moderno?
Tendemos a considerar moderno tudo que no nos familiar e como conhecido toda informao,
mesmo que incompleta, j registrada de alguma forma em nossa memria. Esta necessidade de conforto, bloqueia
nossa percepo da novidade mesmo quando inserida num context o familiar. Porque razo os ouvidos habituados
nica ou primordialmente musica tonal, sentem-se incomodados ao serem expostos ao atonalismo e vice-versa?
Porque, de todas as barreiras que foram construdas entre os perodos da histria da msica, a mais difcil de ser
transposta a que separa os sculos XX e XXI dos sculos passados?
A questo se resume basicamente em hbito e condicionamento, independentemente de
tonalismo ou atonalismo. Tudo que inova ou revoluciona geralmente considerado ameaador.
No entanto, compositores usam a linguagem musical da forma que lhes mais conveniente; a
msica soa moderna porque a atitude do compositor moderna, cabendo aqui estabelecer-se
uma relao entre modernidade e autenticidade. Podemos citar diversos exemplos de
compositores cuja genialidade consiste no necessariamente em introduzir novos elementos, mas
em utilizar elementos tradicionais de forma inovadora. Schubert consegue com uma nica nota
estrategicamente colocada numa segunda frase ou num segundo membro de frase, tornar tudo
novo. Beethoven em suas ltimas sonatas, consideradas at hoje de difcil compreenso, utiliza
a mesma notao de suas obras anteriores; porm, sua ousadia mudou o curso da histria da
msica
1
. A atitude de Brahms, promovendo a tradio e assumindo as diversas influncias que
recebia dos grandes mestres dos sculos passados, assim como sua opinio sobre a dependncia
dos artistas em relao opinio do pblico e dos crticos, foram bastante revolucionrias; no
foi toa que Schoenberg apelidou-o de progressista (Schoenberg, 1984, 308-441). Brahms, por
sua vez, considerava Mozart um companheiro modernista
2
.
Discorrendo sobre a revoluo causada por Debussy com sua tcnica de composio que no apenas
confunde, mas elimina a harmonia tradicional e as regras eternas do belo, Paul Landorny chama a ateno para o
fato de que para a maioria dos ouvintes, a msica de Debussy antes de tudo msica; sua arte no reside apenas em
suas inovaes, mas em sua maneira de ser, de sentir, seu carter, sua genialidade.
Um exemplo atual de autenticidade George Crumb, que no s admite receber
1
No entanto todos preferem ouvir relaxadamente a Waldstein, a Apassionata, a Les Adieux, a op.13 ou a Sonata ao
Luar, evitando o suspense da abertura da op.101 ou do trinado final da op.109 ou ainda da impresibilidade formal da
op.111.
2Brahms simplesmente adorava D. Giovanni, considerando-a uma anti - pera, cuja energia musical eliminava
qualquer vestgio da teatralidade ftil cultivada na Viena do final do sculo XIX, questionando desejo e moralidade,
vida e morte.
influncias, como tambm emprestar idias de compositores de todas as pocas, particularmente
Bla Bartk e Debussy, costumando justapor sem preconceitos, Christmas Carols, dissonncias,
contraponto bachiano e atonalidade. Da mesma forma, as idias de John Cage soaram radicais
numa poca em que a msica de concerto estava se tornando incrivelmente complexa e se
distanciando cada vez mais do ouvinte amador; ao invs de promover mudanas na linguagem
musical, Cage empenhou-se em promover nno apenas uma nova forma de percepo, mas uma
nova viso da prpria natureza da experincia musical.
O Processo de aprisionamento.
O modelo preestabelecido proporciona um agradvel sentimento de segurana, podendo
no entanto prejudicar a experincia auditiva. A maioria dos intrpretes por exemplo, espera
encontrar num primeiro contato com a partitura, algum tipo de notao ou material sonoro j
conhecido; alguns simplesmente se apoiam na memria de interpretaes alheias. De forma
semelhante, durante uma temporada de concertos, a escolha dos ouvintes sempre recai sobre
programas que incluam obras ou compositores conhecidos; em lugar do silncio que deve
antecipar toda execuo, soa j em suas mentes aquela interpretao preferida, que jamais poder
ser igualada
3
No entanto, a pluralidade de interpretaes possveis e perfeitamente pertinentes de
uma mesma obra justamente o que a torna imortal.
Em nossa atitude de auto-proteo, apegamo-nos a elementos isolados, caractersticos de
cada perodo da histria da msica ou de compositores especficos, para que uma vez
armazenados em nossa memria imediata possam ser acessados facilmente. Procuramos
semelhanas, influncias, seqncias, frmulas de cadncia, sries - tudo que possa ser
analisado, classificado e rotulado; colocamos Brahms ao lado de Chopin, Rachmaninoff e
Schumann, nivelando a interpretao das obras destes compositores sob o rtulo de estilo
romntico, sem diferenci-los como indivduos. Leos Janacek entra na categoria de
compositores eslavos ao lado de Dvorak e Smetana,
4
enquanto Debussy chamado de
impressionista, apesar de ser do conhecimento de muitos que tanto esta denominao o
incomodava profundamente. Finalmente, qualquer obra composta a partir da segunda metade do
3 O pianista austraco Rudolf Buchbinder considera uma das mais rduas misstes, conseguir que algum na platia
realmente oua qualquer interpretano da Trumerei de Schumann diferente daquela que j esteja gravada em sua
mente.
4 Nno poderia haver ningum mais determinado do que Janacek em promover a cultura especfica de sua regino, a
Morvia, involvendo principalmente teatro e pera. O compositor expressou inclusive diversas vezes o desejo de
que suas peas soassem como uma narrano, imitando a voz humana.
sculo XX classificada como msica contempornea, sem distino alguma.
Tambm no temos o cuidado de considerar a singularidade de cada obra de um mesmo
compositor. Alfred Brendel numa recente entrevista
5
ressaltou este aspecto, lembrando que a
estrutura e o carter muda de uma obra para outra, frutos da mesma mente criadora. Ele tambm
declara que cada vez que retoma uma pea que j tenha tocado antes, como se estivesse tendo
uma nova experincia.
realmente alentador ouvir declaraes como a do pianista Alfons Kontarsky, que h muitos anos combina
em seu repertrio msica de todas os perodos. O pianista conta que em sua juventude no teve problemas em
aceitar a msica de Boulez ou Stockhausen ou mesmo a chamada msica contempornea na poca: Schoenberg e
Strawinsky. Para ele, no existiam barreiras entre a msica composta antes e depois da guerra.
Vrios musicistas concordam com a idia de que a convivncia com obras da qual no se
possui nenhuma memria auditiva proporciona uma disponibilidade experincia da novidade
no texto musical. Trata-se de uma atitude despojada de qualquer preconceito ou antecipao; um
ato de generosidade e no de condescendncia. o que Nietzsche chama de aprender a amar
(SPve, 2001, p. 34).
6
A afinidade pode acontecer ou no. Mas como descobrir afinidades sem explorar? Na
verdade, a situao ideal seria a de chegar a reconhecer o valor de uma obra de arte independente
de afinidades. Esta seria a atitude ideal do crtico, que por sua experincia, julga imparcialmente,
encorajando seus leitores a terem a sua prpria experincia, sem influencia-las. Inclui-se na
categoria de crtico, o educador, o formador de platias; todos os estejam em posio de motivar
pessoas a vivenciarem a msica, seja como intrpretes ou como platia, mas em ambos os casos,
como ouvintes, sendo esta a forma primordial de relacionamento com a msica.
Liberdade.
Quando a impresso auditiva e a teoria se contradizem, a teoria que deve se inclinar (Bllis, 1986, 234).
Dentro desta atitude de liberdade, o conceito de variao em desenvolvimento
7
introduzido por Schoenberg, a anlise Schenkeriana, a hermenutica musical (Viret, 2001,
283-296) ou a descrio do texto musical (SPve, 2002, 17- 26) podem servir de ajuda para
5Programa Maestro, 28. 04. 2002. Canal ARTE, Frana.
6Aceitar uma figura meldica por si mesma, fazer o esforo de suport-la apesar de sua estranheza na aparLncia e
na expressno, usar de ternura para com sua singularidade. Acabaremos nos habituando a esta figura, dispondo-nos a
escut-la com atenno, chegando ao ponto de consider-la essencial.
7Developing variation. Segundo Schoenberg, trata-se das variates de um motivo bsico, originando frmulas
temticas que por um lado promovem fluLncia, contrastes, variedade, lgcia e unidade e por outro, carter, esprito,
expressno e todas as diferenciates necessrias para a elaborano da idia de uma obra.
enriquecer o relacionamento do intrprete com obras de compositores de todas as pocas.
Interessantemente, a notao, a anlise e outros recursos que deveriam ser usados para nos ajudar
a compreender e comunicar melhor o texto musical, acabaram se tornando fonte de mal
entendidos ou ocupando o lugar da msica
8
.
A barra de compasso por exemplo, inexistente no incio da histria da msica, tornou-se
um aprisionamento que acaba prejudicando o entendimento da mensagem musical como um
todo. No entanto prova-se perfeitamente dispensvel em obras de Brahms
9
, Messiaen
10
, Satie
11
e
outros compositores bem mais contemporneos como o brasileiro Paulo Lima.
12
Em nenhum manuscrito de canto gregoriano, de poca alguma, iremos encontrar um
exemplar sequer de barra de compasso ou qualquer sinal que a ela se assemelhe, visto tratar-se
de um elemento causador de diviso, quando na msica buscamos a unidade: justamente o que
motiva Sir Adrian Boult a sugerir que o intrprete deve apresentar ao pblico uma grande e nica
partitura, aberta como um quadro para ser admirado e usufrudo e sua totalidade.
"Analfabetismo" musical
Para comunicar a mensagem musical como um todo, o intrprete precisa t-la lido e
ouvido como um todo. A leitura de um texto musical requer basicamente a capacidade de
decodificar o que est registrado na partitura. Para isso precisamos compreender a notao,
agrupando visualmente os elementos de acordo com a relao musical entre eles. Nossa
experincia ser mais rica na medida em que nos libertarmos das barreiras criadas pelas
informaes codificadas
13
e nos servirmos de nossa alfabetizao musical para descobrir
novas mensagens, novas frases, novos sentidos, mesmo com materiais com os quais estejamos
supostamente familiarizados.
8A musicologia uma invenno recente (seculo XIX). Ela pode ser descritiva, analtica, histrica, mas nno normativa; ela analisa os fatos mas n
maneira. (SPve, 2002, p.45)
9Atravs dos compassos 6/4, das ligaduras de frase, das frases interpoladas, das hemolas e da poliritimia, entre
outros aspectos de sua obra.
10Ver Le Merle Noir para Flauta e Piano, onde as partes sno completamente independentes apesar de acontecerem
simultaneamente. A fluLncia em ambas as partes o que promove a unidade da pea. O constrangimento criado pela
da barra de compasso causaria danos irreparveis B execuno.
11Em sua obra Sports et Divertissements, Satie elimina completamente a barra de compasso. O fraseado no entanto
perfeitamente indicado pela escrita musical.
12Em sua obra Vs para piano solo, o compositor utiliza apenas algumas barras duplas nos dois ltimos
movimentos com a nica funno de indicar o agrupamento do texto, que fluente, initerrupto e requer uma
verdadeira incorporano do ritmo pelo pianista.
13 A falta de liberdade muitas vezes decorrLncia de vcios erronemanete chamados de tradino. Alguns atribuem
este tipo de dependLncia B um simples problema de leitura. Andreas Schiff chegou a declarar que pianistas em geral
Se nos fosse dado um texto para leitura em voz alta e nos limitssemos a pronunciar as palavras de maneira
clara e articulada, mas sem um mnimo de compreenso do contedo do texto, poderamos imediatamente ser
diagnosticados como analfabetos. Se o mesmo fosse observado na leitura de um texto musical - substituindo-se
obviamente a leitura em voz alta pela execuo vocal ou instrumental - jamais nos ocorreria diagnosticar o
executante como analfabeto musical. Em outras palavras, o fato do alfabeto que conhecemos estar presente em
diversas lnguas, no quer dizer que sejamos fluentes em todas elas; analogamente, apesar de sabermos ler as notas,
se no formos capazes de transformar a notao musical em som no sabemos ler msica.
Rita Fussek diferencia leitura primeira vista e execuo primeira vista, sendo a segunda mais
complexa que a primeira e dela dependendo. Fica claro que se alguns de ns no possuem a habilidade fsica para
executar imediatamente ao instrumento a mensagem musical que ouviu da partitura, isso no nos torna menos
musicais. No entanto, sem o domnio da linguagem no podemos sequer decodificar a mensagem.
Educando ouvidos livres
Educar o ouvido algo que deve comear cedo e com repertrio variado. A experincia
auditiva deve ser apenas proporcionada, nunca orientada ou influenciada. um processo pessoal,
nico e de preferncia inesquecvel. Devemos evitar o comodismo, sem ignorar o fato de que a
relao com a novidade dependente do passado cultural de cada sociedade, que influencia tanto
o pblico leigo como a formao oferecida em conservatrios e escolas de msica. O que novo
para alguns velho para outros; de acordo com o nvel de condicionamento, a novidade
infelizmente jamais ter lugar em alguns grupos.
Em resumo, educa-se quando se organiza uma programao variada, quando se combina primeiras
audies e obras do repertrio tradicional seja num recital, numa aula de msica ou num curso de apreciao
musical. O ideal seria alcanar a completa eliminao de rtulos como os que usamos quando nos referimos a dois
tipos de msica, uma de antes e outra de agora. Msica msica.
BIBLIOGRAFIA:
BAMBERGER, Jeanne. Coming to Hear in a New Way. In: AIELLO, Rita and John Soboda.
Musical Perceptions. New York: Oxford University Press, 1994, p.131-151.
BARRAQU, Jean. Debussy. Paris: Editions du Seuil, 1994.
BEAUG, Pascal. Un Savoir Musical (2Pme partie): Transposition Didactique de la Notion
Musicale de Hauter. Journal de Recherche en ducation Musicale Volume 1, no. 2, p.49-80,
automne 2002 .
BLACKING, John. How Musical is Man? Seattle and London: Washington University Press,
nno sabem ler msica e lembra a frase de Mahler: Tradition ist schlamperei - tradino comodismo.
1973.
B0TSTEIN, Leon. Time and Memory: Concert Life, Science and Music in Brahms's Vienna. In:
FRISH, Walter. Brahms and His World. Princeton, NJ: Princeton University Press, p.3-21.
BOWEN, Jose A. Why should Performers Study Performance? Performance Practice vs.
Performance Analysis. Performance Practice Review 9, no. 1, p.16-35, 1996.
BRENDEL, Alfred. Musical Thoughts and Aferthoughts. London: Robson Books, 1976.
BROWN, Calvin. Music and Literature: A Comparison of the Arts. Hannover and London:
University Press of New England, 1987.
CHUEKE, Zelia. Stages of Listening During Preparation and Execution of a Piano
Performance. Doctoral Dissertation, University of Miami, 2000.
CHURCHLAND, Paul. Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States. The
Journal of Philosophy 82, no.1, p.8-28, 1985.
CONE, Edward. Musical Form and Musical Performance. New York: W.W.
Norton, 1968.
CONE, Edward. The Authority of Music Criticism. Journal of the American Musicological
Society 34 No.1, p.1-18, 1981.
COPLAND, Aaron. Music and Imagination. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
COPLAND, Aaron. What to Listen for in Music. New York: McGraw-Hill Book Company,
1957.
DOMMEL-DINY, Amy. L'Analyse Harmonique en Exemples: de J.S. Bach a Debussy.
Fascicule 16. Neuchtel, Suisse: Delachaux et Niestl, 1967.
DUBOST, Beatrice. Le Rapport au Savoir dans le Deciffrage Pianistiques, Regard sur les Erreurs
de Lecture. Journal de Recherche en ducation Musicale, Paris: Observatoire Musical Franais,
Volume 1, n.2, p. 23-48, automne 2002.
DUNSBY, Jonathan. Performing Music: Shared Concerns. New York: Oxford University
Press, 1995.
FERRETTI, Paolo D. Esthtique Grgorienne. Solesmes, 1938.
FRISH, Walter. Brahms, Developing Variation and the Schoenberg Critical Tradition. 19th
Century Music Vol.V no.3, p. 215-231, Spring 1982.
FRISH, Walter. Brahms: From Classical to Modern. In: TODD, Larry. 19th Century Piano
Music, p.316-351, New York: Schirmer, 1990.
FUCKS, Peter Paul. Interrelations Between Musicology and Musical Perfomance. Current
Musicology, 14, p.104-110, 1972.
GABRIELSON, Alf and Patrik N. Juslin. Research Note: Emotional Expression in Music
Performance: Between the Performer's Intention and the Listeners's Experience. Psychology of
Music 24 , p.68-91,1996.
HOLLAND, Bernard. Old Brahms a Modernist? In More Ways Than One. New York Times,
p.31-32, 29 September 1996.
KOSTON, Dina. Research Note: Musicology and Performance: The Common Ground.
Current Musicology 14, p.121-123, 1972.
LANDAU, Siegfried. Do the Findings of Musicology Help the Performer? Current
Musicology 14, p.124-127, 1972.
LANDORNY, Paul. Debussy et l'Avenir de la Musique Franaise. Le Courrier Musical.
13e.Ane n.3, p.98-101, 1er Fvrier 1910.
LANGER, Susanne. Feeling and Form. New York: Charles Scribner's Sons, 1953.
LERDAHL, Fred and Ray Jackendoff. A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge, MA:
MIT Press, 1983.
LESTER, Joel. Performance and Analysis: interaction and interpretation. In RINK, John. The
Practice of Performance: Studies in Music Interpretation. Cambridge: CUP, 1995, p.197-216.
LEVIN, Harry. Reading Silent and Aloud. In PICK, Anne D., Perception and its development:
A tribute to Eleanor J. Gibson. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1979,
p.169-182.
RABIN, Michael. A Performer's Perspective. Current Musicology 14, p.155-158, 1972.
RAFFMAN, Diana. Language, Music, and Mind. Cambridge, MA: MIT Press, 1993.
REIMER, Bennett and Jeffrey E. Wright. On the Nature of Musical Experience. Niwot, CO:
University Press of Colorado, 1992.
SAULNIER, Daniel D. Gregorian Chant. Solesmes, 2003.
SCHMITZ, Robert. The Capture of Inspiration. New York: Carl Fisher, 1935.
SCHOENBERG, Arnold. Style and Idea. Berkeley and Los Angeles: University of California
Press, 1984.
SCHIFF, Andreas. Interview by Harald Goertz. In : SALZBURG FESTSPIELE, 10 August
1998, Hrsaal 230, Salzburg. Schumann Der Dichter.
SCHUMANN, Robert. On Music and Musicians. New York: Pantheon Books, 1946.
Reprint, 1952.
SOVE, Bernard. L'Altration Musicale. Paris: ditions du Seuil, 2002.
SLOBODA, John A. Expressive Skill in Two Pianists: Metrical Communication in Real and
Simulated Performances. Canadian Journal of Psychology 39, 2, p. 273-293, 1985.
SLOBODA, John A. Generative Process in Music. New York: Oxford University Press, 1988.
STUECKLAND, Edward. American Composers: dialogues on Contemporary Music.
Indianapolis: Indiana Universoty Press, 1991.
TARUSKIN, Richard. On Letting The Music Speak for Itself: Some reflections on Musicology
and Performance. The Journal of Musicology Vol. 1, No. 3, July 1982.
TOMMASINI, Anthony. Tired of Fr Elise? New York Times, B 14, 2 March 2000.
VIRET, Jacques. Entre Sujet et Objet: L'hermneutique musicale comme mthodologie de
l'coute. In: VIRET, Jacques, Approche hermneutique de la musique. Strasbourg: Presses de
l'Universit, p. 283-296, 2001.
VYSLOUZIL, Jiri. Leos Janacek contemporain de Claude Debussy. Festschrift Christoph-
Hellmut Mahling zum 65. Geburstag. Wolfgang Ruf, 1993.
ZEMANOV, Mirka, ed. Jancek's Uncollected Essays on Music. New York: Marion
Boyars, 1993.
1
1
A msica evanglica e a indstria fonogrfica no Brasil: anos 70 e 80
Zilmar Rodrigues de Souza
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
zilmar@musica.ufrn.br
Resumo: O objeto de investigao desse trabalho a msica evanglica produzida no Brasil at a dcada
de 1980. Mais especificamente, a anlise do mercado fonogrfico evanglico e as alteraes sofridas por
este, decorrente de mltiplas transformaes na sociedade. Interessa aqui, a reflexo sobre como se tm
produzido msica evanglica no Brasil, considerando-a como produto das transformaes culturais e das
mudanas de comportamento observadas nas denominaes evanglicas ao longo de todo o sculo XX. A
presente pesquisa foi norteada por duas concepes metodolgicas; histrica e dialtica. Histrica ao
documentar, analisar e interpretar os fatos, e dialtica ao admitir que os fatos no existem numa concepo
de linearidade, destacado uns dos outros, independente, mas, como um todo organicamente ligado.
Palavras-chaves: msica, evanglicos, indstria fonogrfica.
Abstract: The object of this dissertation is the study of the gospel music produced in Brazil until the 80s.
More specifically, the analysis of the gospel recording market and the alterations occurred inside it, due to
multiple transformations in society. The focus here, is the reflection on the way gospel music has been
produced in Brazil, understanding it as product of cultural transformations and of changes of behavior
observed among the various evangelical denominations along the 20th century. This research was leaded
by two methodological approaches; historical and dialectical. It is historical when document, analyze and
interpret the facts, and dialectical when admit that the facts dont exist in a linear conception, each one
detached of the other, independent, but, as parts organically linked to a whole aggregate.
Keywords: music, gospel, record market.
1. O Mercado Fonogrfico Evanglico no Brasil
A presente comunicao diz respeito a dissertao de mestrado desenvolvida na UNICAMP, no ano de
2002 sob a orientao do professor Dr. Jos Roberto Zan. Nela propus-me a investigar as mudanas ocorridas com a
msica evanglica no Brasil a partir de seu regis tro fonogrfico. A msica evanglica no Brasil apresenta dois
momentos distintos: o anterior e o posterior dcada de 1980. A msica evanglica antes da dcada de 1980
apresentava vnculos muito tnues com o mercado e a indstria a do disco. No entanto, a partir de 1990, novas
denominaes evanglicas passam a ter acesso aos veculos de comunicao e, a partir da, dominam boa parte do
mercado fonogrfico evanglico. O mercado musical evanglico possuir a partir de ento, carter monopolista e
ecumnico, pois, mesmo tendo as igrejas evanglicas possuindo pontos doutrinrios divergentes, a msica evanglica
ser, logo, um fator de unidade entre elas. O disco evanglico enquanto, materializao sonora, implicar em
transformaes da mentalidade evanglica e modificaes das condies de produo, distribuio e consumo desse
tipo de msica.
Segundo Braga (1960), at o ano de 1932, as gravaes evanglicas no Brasil eram de carter
2
2
particular e independente, com a participao de grandes gravadoras que incorporaram o segmento evanglico aos
seus catlogos, o que se deu inicialmente empresas com a RCA Victor e, posteriormente, com a Odeon. A tiragem,
ainda era numericamente pouco expressiva e tinha por contedo alm das gravaes de msica sacra, como era
definida na poca pelos evanglicos, histrias bblicas para crianas, textos bblicos e sermes, conforme podemos
observar no trabalho de Braga. As gravaes, em sua maioria, eram pertencentes hindia evanglica, i.e., aos
hinrios evanglicos tradicionais , executadas por coros e geralmente acompanhadas por harmnio ou rgo.
A partir do surgimento de gravadoras e estdios de gravao, no final da dcada de 1950 e incio de
1960, logo se observa uma rpida formao de um mercado fonogrfico evanglico. Segundo o Jornal Shopping
News, Citado por Vicente, (2002, p. 252) atuavam no mercado evanglico na dcada de 80, em estimativa, mais de
40 gravadoras especializadas. Dessas, podemos citar; a Boas Novas, GCS, (SP) Favoritos Evanglicos, Louvores do
Corao (SP), Bandeira Branca (RJ), Rocha Eterna (RJ), Doce Harmonia (RJ), Novas de Paz (SP) Som Evanglico
(PE/SP), Califrnia que j atuava desde 1959 no mercado fonogrfico brasileiro, Continental, Arca Musical (RJ),
Estrela de Belm (SP), Sonoros Evanglicos, Estrela da Manh de Florianpolis (SC), pertencente a Matheus Iensen,
proprietrio da Rdio Morumbi, e, por fim, a JUERP (RJ) Junta de Educao Religiosa e Publicaes. A maioria
dessas gravadoras no possua estdios. A gravao era realizada com equipamentos mono ou em dois canais.
Com base no levantamento fonogrfico por mim realizado, pode-se considerar que a produo da
msica evanglica no Brasil, at a dcada de 80, significativa e possuidora de uma importante diversidade musical.
Entretanto, o fato de no haver, na poca, veculos de comunicao voltados para esse segmento, fez com que as
informaes sobre os grupos e artistas evanglicos fossem pouco registradas e apenas divulgadas para um pblico
especfico (Baggio, 1997, p. 69).
A partir da entrada no mercado, no incio da dcada de 1990, de igrejas possuidoras de mdia
(geradora e repetidoras de televiso, emissoras de rdios AMs e FMs e estdios de gravao), vrias gravadoras
evanglicas tiveram dificuldades para manter-se em atuao, ocasionando, em muitos casos, sua retirada paulatina do
mercado.
2. A divulgao nas dcadas de 70 e 80
Da dcada de 1970 at final dos anos 80, no Brasil, mesmo havendo um mercado musical
evanglico em vias de consolidao, contando j com muitas gravadoras evanglicas e estdios em operao, a
divulgao de discos desse segmento restringia-se a esforos particulares feitos pelos artistas e pelos grupos nas
igrejas, em apresentaes durante os cultos. As livrarias evanglicas, pertencentes em sua maioria s igrejas,
comercializavam artigos religiosos em geral e incluam discos e fitas cassetes em seus estoques. O pblico
consumidor e os lojistas podiam ter acesso a catlogos divulgados pelas gravadoras nas contracapas dos discos. Em
muitos casos evitava-se dispor dos veculos de comunicao disponveis, comumente chamados de seculares.
As divulgaes nas rdios AM eram feitas em programas de cunho evangelstico, com intercalaes
3
3
de msicas e sermes. Por ser mais abrangente, o rdio projetou a msica evanglica nacionalmente, contribuindo
fortemente para a expanso desse segmento pelo Brasil.
4
4
3. A Gospelizao do Mercado
Durante a dcada de 90, observa-se cada vez mais a tendncia configurao de um mercado em
vias de consolidao comercial. bem verdade que os artistas evanglicos, como cita Vicente (2002, p. 225), jamais
dispuseram do nvel de exposio na mdia como outros artistas de fora do segmento. Entretanto, como aconteceu
em todos os outros setores da produo fonogrfica nacional, tambm o segmento evanglico experimentou um
enorme crescimento e diversificao nos anos 90 (Vicente, 2002, p. 252).
Um fato marcante aconteceu com a msica evanglica no incio dos anos 90: a mudana de rtulo,
proposta pela indstria do disco como estratgia de marketing, de msica evanglica para msica gospel.
Alguns fatos contriburam para essa mudana no cenrio da msica evanglica: o surgimento de
outras denominaes evanglicas,
1
como a Universal do Reino de Deus, a Igreja Renascer, a incorporao da
Teologia da Prosperidade pelos Neopentecostais e o crescimento dos carismticos catlicos no Brasil. Essas
denominaes entram no mercado com um forte esquema de marketing para divulgar seus produtos - emissoras de
rdio, canais de TV, publicao especializadas e Points Gospel.
De igual modo a entrada dos carismticos, de forma mais acentuada com seus padres cantores em
grandes gravadoras com altos ndices de vendas, contribuem para uma mudana no cenrio evanglico no Brasil. Os
carismticos recorriam s mesmas estratgias de converso utilizadas pelos evanglicos; mega-reunies religiosas e
incluso do discurso da Teologia da Prosperidade.
A Msica Evanglica no Brasil manifesta-se como novo gnero musical, a partir de suas releituras
baseadas na supresso ou adio de elementos fundamentados pela ideologia e concepo doutrinria das igrejas. A
autenticidade e validao da Msica Evanglica, enquanto gnero musical, no reside unicamente nos atributos
inerentes ao objeto, mas est tambm relacionada com sua funcionalidade religiosa. O que lhe d uma configurao
singular no o fato de serem, em essncia, evanglicas as composies, mas o fato de se ter a msica, enquanto
organizao sonora, atrelada a uma funo religiosa produzida e executada por evanglicos.
Abordar as influncias doutrinrias sectaristas na produo da msica evanglica implica considerar
que esse cenrio formado por subdivises e denominaes diversas: Igrejas Presbiterianas, Igrejas Batistas, Igrejas
Congregacionais, Igrejas Metodistas, Assemblias de Deus, entre outras, e, dentro de uma classificao mais ampla:
Tradicionais, Pentecostais e mais recentemente os Neo-Pentecostais. Numa perspectiva teolgica e doutrinria, a
caracterstica comum a todas corresponde ao fato de haver concordncia em vrios aspectos da teologia evanglica,
liturgia e ministrio religioso.
Entretanto, entra em cena um elemento que ir estreitar as diversidades religiosas desse
conglomerado religioso, legando assim a possibilidade de investigao sob uma nova tica: a do mercado fonogrfico
evanglico. O que trar tal possibilidade a atitude de concentrar no disco a aura de produto religioso, destinado ao
consumo coletivo das diversas denominaes religiosas.
5
5
A dcada de 1980 um momento ainda de incipincia da produo da msica evanglica, haja vista
ser produto no s das peculiaridades litrgicas e doutrinrias das vrias denominaes, mas tambm ser produto de
tenses instauradas entre as igrejas evanglicas e o mercado musical secular.
Segundo Hustad (1986), a msica evanglica anterior produo fonogrfica, no Brasil, era quase
unicamente importada e traduzida do ingls, na maioria dos casos pertencentes a hindia europia. A estrutura musical
dos hinos foi facilmente aceita pelas primeiras geraes evanglicas, sem haver ameaa ao gosto musical dos fiis.
Nos hinrios, pode-se verificar um interesse predominante por temas escatolgicos
2
e pela devoo
individual. Ocorre, no contedo temtico das letras, um completo alheamento ao mundano e desinteresse pelos temas
sociais e do cotidiano.
3
A associao com o "mundanismo", que aos ouvidos evanglicos evocava a msica popular,
impedia no s uma maior aproximao entre esse tipo de msica e as igrejas, como tambm barrava um maior
dilogo entre os hinrios evanglicos e a msica popular brasileira. Contudo, por volta de 1950 houve uma acentuada
utilizao de corinhos
4
em ritmo de marcha nas campanhas evangelsticas e a hindia vai perdendo cada vez mais
espaos para os compositores brasileiros.
Desse modo, corinhos aos poucos, quebraram a rigidez devocional e litrgica existente nas igrejas,
uma vez que j se aceitava o acompanhamento com palmas, coisa que no era comum no Brasil no seio das igrejas
evanglicas.
Com a expanso da indstria do disco no Brasil mais especificamente durante a dcada de 1970
5
e o crescimento do mercado de bens de consumo aliado msica popular, podem-se observar transformaes
musicais ocorridas nas igrejas evanglicas a partir do momento em que elas comeam a participar desse novo mercado
em ascenso. A msica evanglica foi se integrando a um complexo de relaes capitalistas de produo,
ultrapassando suas funes essencialmente litrgicas.
As inovaes observadas no mercado fonogrfico evanglico brasileiro ocorreram em vias de mo
dupla; do mercado para s igrejas e, em seguida, aps releituras, das igrejas para o mercado. A msica evanglica,
outrora escrita por profissionais, passa para o domnio popular. Esse processo verifica-se principalmente nas igrejas
pentecostais com os recm-convertidos que, dispondo j de algum tipo de conhecimento musical eram convidados
para tocar, cantar, reger grupos ou at mesmo, j na dcada de 1980, gravar discos.
Mesmo havendo semelhanas em relao ao estilo de artistas seculares, evitava-se qualquer
1
O termo denominaes utilizado aqui para designar a diversidade das faces evanglicas (Batistas,
Presbiterianas Assemblias de Deus, etc).
2
Tratado sobre os fins ltimos do homem.
3
FREDERICO, Denise Cordeiro de Souza. op. cit., documento no paginado.
4 A palavra no consta no dicionrio brasileiro. Entretanto em ingls, a palavra chorus utilizada para designar o estribilho, i.e.,
a parte da msica, que se repete regularmente, com o plural choruses. Em portugus foi traduzido por coros e corinhos.
(BENJAMIM, Cleide Dorta: comunicao pessoal).
5
Proporcionalmente podemos afirmar, pela baixa incidncia de discos encontrados na coleta, referentes s dcadas de
50 e 60, que a partir da dcada de 1970 h um acentuado aumento na produo de discos evanglicos, ocasionado
principalmente, pelo surgimento de gravadoras como a Bom Pastor que iro ter uma forte atuao dentro do
segmento.
6
6
referncia aos modismos mercadolgicos musicais vigentes, ou seja, ao mundano. Essa identidade proposta para a
msica evanglica, separada do mundo ir referir-se, de incio, no-utilizao dos instrumentos eltricos e
eletrnicos (guitarra e o sintetizador), bateria e aos instrumentos de percusso, pela nfase rtmica e pela analogia de
estilos musicais que traziam lembrana os padres comportamentais e de vesturio inerentes ao artista popular.
Termos como msica espiritual, msica sacra, sero utilizados pelos crentes pentecostais, em contrapartida a uma
msica secular, e por isso, mundana.
Durante muito tempo, os crentes, como so ainda comumente conhecidos os evanglicos brasileiros,
estiveram associados a camadas sociais menos favorecidas. Propunham o desprendimento das coisas materiais e dos
valores dos terrenos. Essa renncia ao mundano dava-se, sobretudo, atravs de indicadores externos da converso,
ou seja, de sinais externos da santidade. Dito de outro modo, era imprescindvel o apartamento do mundo, o qual
dava-se com base em uma nova tica religiosa e em um cdigo de comportamento para o cotidiano. O crente no
podia ir ao cinema, tomar bebidas alcolicas, ver televiso, as mulheres cortar o cabelo, usar cala comprida, etc.
A expanso do mercado de bens simblicos no Brasil, o desenvolvimento dos media e a
popularizao dos eletros domsticos, a partir da dcada de 1970 contriburam acentuadamente para uma mudana na
mentalidade evanglica que, embora se referisse inicialmente aos Neopentecostais, expandiu-se aos poucos s demais
denominaes evanglicas. Diante dos fortes apelos de uma sociedade baseada no consumo e entretenimento, os
crentes, a partir da segunda metade dos anos 80, alm de desejosos, reuniam condies de desfrutar das boas coisas
que o mundo poderia oferecer (Mariano,1995, p. 146). A Teologia da Prosperidade,
6
com a promessa de que o
mundo seria um lcus de felicidade e abundncia de vida para os cristos, herdeiros da promessa divina (Mariano,
1995, p. 147), viria a validar essa idia, rompendo com toda uma forma de conceber a tradicional doutrina crist.
A idia de acomodao s coisas do mundo reflete-se, no somente no comportamento
evanglico, mas transforma, aos poucos, o gosto musical. nesse contexto que, no final da dcada de 1980 e incio
1990, o Rock, outrora proibido, expande-se no meio evanglico. A principal diferena entre o sacro e o profano, no
mais residia na utilizao de certos instrumentos musicais, mas, nas letras das msicas, que deviam falar de Deus.
Desse modo, constitui-se a formao de um pblico consumidor em um mercado que j dispe de
veculos promocionais, desfazendo-se, musicalmente, a tenso entre o sagrado e o profano, decorrente das lutas
simblicas ocorridas ao longo dos anos, entre as igrejas evanglicas e o mercado musical secular. Apropriou-se,
sem restrio, de qualquer estilo; rock samba, pagode, funk, tecno, rap, MEG (Msica Eletrnica Gospel), entre
outros, para difuso de mensagens religiosas.
7
A aceitao gradativa do Rock e outros estilos musicais pelas igrejas evanglicas estava aliada
flexibilizao da contracultura assumida no mbito pentecostal.
Segundo Mariano (1995, p.192), durante a dcada de 1980 despontaram significativas
transformaes na esttica, nos costumes e hbitos das comunidades evanglicas. Essas mudanas ocorreram,
7
7
sobretudo, pela apario dos Neopentecostais, igrejas como a Universal do Reino de Deus e a Renascer, que passam a
consentir um maior liberalismo de conduta, permitindo ento, a incorporao de estilos musicais, comportamentos e
vesturios similares aos dos artistas seculares.
A extino das tenes instauradas entre a msica popular e a evanglica,
abordadas no trabalho foi, antes de tudo, um processo de conformao progressiva dos
princpios religiosos a uma sociedade de consumo. Voltar-se prtica de estilos musicais
populares, significava antes, ceder prtica profana do mundo.
Investigar as mudanas ocorridas com a msica evanglica, a partir da concepo
da existncia de um mercado fonogrfico, voltado ao segmento, foi algo complexo de abordar,
posto que, antes de ser uma abordagem sobre a msica evanglica, trata-se da evidencia de
elementos, que definem o indivduo evanglico e sua prxis. Desse modo, a msica evanglica
produto do seu tempo, de elementos simblicos e religiosos, que se somam aos conflitos da
relao do homem (evanglico) com o mundo.
6
Teologia da prosperidade a doutrina que afirma que todos os fiis - todos aqueles que passaram pelo processo de
converso, portanto nascidos de novo - so filhos de Deus, ou melhor, do Rei. Deus os tornou filhos para serem
abenoados e terem sucessos em seus empreendimentos (Siepierski, 2001, p. 31).
7
O surgimento do movimento Gospel, lanado e difundido por algumas congregaes Batistas e Metodistas e
Presbiterianas e depois encabeadas pelos Neopentecostais incorporaram todo e qualquer ritmo musical, incluindo
aqueles vinculados dana (Mariano: 2001, p. 219).
8
8
Referncias Bibliogrficas
BAGGIO, Sandro. 1997. A revoluo na msica gospel no Brasil. So Paulo: Exodos,
BRAGA, Henriqueta Rosa Fernandes. [1960?]. Msica sacra evanglica no Brasil. s.n.t.
BLANCHARD, John et. al.1986. Rock in... Igreja?!, So Paulo: Fiel.
BENJAMIM, Cleide Dorta. 1997. Arte de acompanhar: histria e esttica. Recife: Speed
Solues Grficas e Editora.
CHAPPLE, Steve & GAROFALO, Reebee. 1989. Rock & Indstria, Lisboa: Editorial Caminho.
COSTA, Jefferson Magno de Santana et al. 1986. A Mensagem Oculta do Rock, Rio de Janeiro:
Casa Publicadora das Assemblias de Deus.
DIAS, Mrcia T. 2000. Os Donos da Voz: Indstria Fonogrfica Brasileira e Mundializao.
So Paulo: Boitempo/Fapesp
FLICHY, P.1982.Las Multinacionales del Adiovisual. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli.
HUSTAD, Donald P.1991. A msica na igreja. 2 ed. So Paulo: Sociedade Religiosa Edies
Vida Nova.
IDART, Departamento de Informao e Documentao Artstica.1980.Disco em So Paulo,
Damiano COZZELA (org.), So Paulo, Secretaria Municipal de Cultura/Centro de Pesquisa de
Arte Brasileira.
LOPES, Paul D.1992. Inovation and Diversity in the Popular Music Industry, 1969 to 1990 In:
American Sociological Review, vol. 57(febr.).
MACHADO, Maria das Dores Campos. 1996. Carismticos e Pentecostais Campinas-SP: Editora
Autores Associados.
9
9
MARIANO, Ricardo. 2001. Anlise sociolgica do crescimento pentecostal no Brasil. So Paulo.
Tese (doutorado em sociologia) Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de So Paulo.
MARIANO, Ricardo. 1995. Neopentecostalimo: os pentecostais esto mudando. So Paulo.
Dissertao ( mestrado em sociologia) Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia,
Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo.
MARX, Karl. 1999. Para a Crtica da Economia Poltica, In: Marx vida e obra, Coleo os
Pensadores, So Paulo: Nova Cultural, p. 25-54.
MORELLI, Rita C. L. 1991. Indstria fonogrfica, um estudo antropolgico. Campinas, SP:
Editora da UNICAMP.
ORTIZ, Renato. 1988 . A moderna Tradio Brasileira. So Paulo: Brasiliense.
PETERSON, Richard e BERGER, David G.1975. Cycles in Simbol Production: the case of
popular music In: American Sociological Review, vol. 40(april)
SIEPIERSKI, Carlos Tadeu. 2001. De bem com a vida: o sagrado num mundo em
transformao. .(Tese em antropogia social) Departamento de Sociologia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo.
TATIT, Luiz. 1990. Cano estdio e criatividade, In: Dossi...Msica Brasileira, Revista USP,
dez-fev, p. 41-44.
TINHORO, Jos Ramos. 1981. Msica Popular, do Gramofone ao Rdio e TV, So Paulo:
tica.
WEBER, Max. 1992. A tica protestante e o esprito do capitalismo. So Paulo: Livraria Pioneira
Editora.
VICENTE, Eduardo. 1996. A Msica Popular e as Novas Tecnologias de Produo Digital,
dissertao de mestrado no publicada, Campinas, IFHC/UNICAMP
VICENTE, Eduardo. 1998. As Tecnologias Digitais de Produo Musical, In: Cadernos da Ps
10
10
Graduao: ano 2, vol. II, no. 2, UNICAMP- SP: Instituto de Artes, p. 103-108
VICENTE, Eduardo. 2002. Msica e disco no Brasil: a tragetria da insdstria nas dcadas de
80 e 90. Tese de doutorado no publicada, So Paulo: USP.
ZAN, Jos Roberto. 2001. Msica Popular Brasileira, Indstria Cultural e Identidade, In: Eccos,
Revista Cintfica: vol.3, n. 1, So Paulo: Centro Universitrio nove de julho, p. 105-122
ZAN, Jos Roberto. 1994. Msica Popular Produo e Marketing, In: Gneros Ficcionais,
Produo e Cotidiano na Cultura Popular de Massa, Coleo GTs, ITERCOM n
o
1, p. 75-94.
Para visualizar o ndice de ttulos,
clique sobre o sinal |+| do lado esquerdo das palavras
e depois sobre o ttulo ou autor escolhido.
Para visualizar apenas o texto, pressione a tecla F5.
Para retornar ao ndice, pressione novamente a tecla F5.
Por que o Curso de Licenciatura em Msica? Um estudo sobre escolha
profissional com ingressos da UFRGS/2003
Ana Lidia da Fontoura Prates
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
pratesal@zipmail.com.br
Resumo: Este trabalho o projeto de uma investigao sobre quais motivaes sociais/individuais
que levaram alunos ingressos no curso de licenciatura em msica da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul a esta escolha profissional, visando dados cientficos sobre tal pblico-alvo.
Palavras-chave: socializao musical, ingressos, profissionalizao em msica
Atualmente, as estatsticas demonstram que o ingresso dos alunos em curso superior
se d cada vez mais cedo. Propositadamente, SOUZA (1996) afirma:
quando reiniciam [sic] as atividades universitrias, um grande nmero de
jovens ingressa nos bancos das escolas superiores. Nem todos estaro
desenvolvendo os cursos que idealizavam; muitos estaro longe de suas
verdadeiras vocaes. Muitos estaro tomando conscincia da
desorganizao das escolas e, o que pior, sentindo-se desestimulados por
conhecerem as atuais dificuldades do mercado de trabalho... entretanto,
todos possuem a vantagem de estar dentro da universidade , por isso tm a
alternativa de poderem dedicar-se com afinco sua formao, adaptar-se
aos currculos e preparar-se para competir por capacidade... (SOUZA,
1996, p. 59)
Quando as opes acadmicas so cursos superiores em Msica, no incomum
que os que se candidatem tenham de enfrentar, alm das dvidas comuns de qualquer
iniciante, situaes como as citadas por TRAVASSOS (1999):
... eles no viam um curso de artes qualquer curso ligado a rea artstica
como um curso de graduao, um curso superior. Ficavam perguntando:
voc vai viver de qu? vai trabalhar com qu? (aluna de composio); ou
...eu queria fazer vestibular pra escola de msica e ele no deixou (o pai),
psicologicamente, era uma presso danada, e fizemos um acordo de que eu
faria uma faculdade qualquer e ele me ajudaria a estudar msica (aluno de
regncia) (TRAVASSOS, 1999, p. 129,130).
No obstante a essas dificuldades familiares, que traduzem pensamentos sociais mais
amplos sobre as profisses relacionadas msica, os estudantes continuam procurando Cursos de
Msica. Especificamente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segundo dados
DECORDI, no corrente ano de 2003, so quarenta os aprovados no vestibular, sendo que vinte e um
alunos tm o ingresso previsto no Bacharelado e dezenove na Licenciatura.
Antes disso, entre os que se inscrevem e os que fazem o teste de conhecimentos
musicais especficos nos quais exigida aprovao para que, efetivamente, possam prestar
o vestibular, o nmero de candidatos , com certeza, maior. Mas por que escolheram estes
cursos? O que leva, especificamente, a ingressarem nos cursos de Licenciatura em Msica?
O que esperam do curso que escolheram? Que expectativas profissionais carregam? Com
quem ou o qu se identificam social e profissionalmente? H relao disso com o curso de
escolha?
Ocupar-se desse tema e tentar responder a estes questionamentos a proposta do
presente trabalho. Os sujeitos da pesquisa sero considerados como sociais e, portanto,
expressivos de pensamentos mais amplos que os individuais.
Dentro da escolha profissional, um dos aspectos bastante abordado o vocacional.
Tradicionalmente, este objeto de estudo tratado pela psicologia. Por exemplo, trabalhos
encontrados na rea da educao como os de SFUNPF (1992) e SOARES (1985). Mais
recentemente, a escolha profissional, vem sendo interesse da Sociologia. Este assunto, bem
como a vinculao do homem ao seu trabalho, caracterizao e dinmica social de ofcios,
profisses e escolhas ocupacionais so fenmenos sociais importantes, seno cruciais na
construo da pessoa (social) que nos tornamos. Segundo Durkheim:
... em nvel mais estrutural, o self baseia-se tambm em idias culturais
sobre os status sociais que ocupamos. Dessa maneira, por exemplo, a
mulher que me, recorrer a idias culturais sobre mulheres, sobre vrias
ocupaes, sobre idade e assim por diante, e com elas formar um senso
geral sobre quem ela . Este componente do autoconceito, que se baseia nos
status sociais ocupados pelo indivduo, conhecido como identidade social
(DURKHEIM apud JOHNSON (1997, p. 204).
Conforme lembra Nanni (2000), a sociologia clssica salienta uma diferena importante
entre dois tipos de socializao: a primria e a secundria. Em suas palavras:
... a primeira inicia com o nascimento e pode-se dizer que se conclui depois
de uma srie de passagens, como a separao da famlia, o ingresso no
mundo de trabalho, a formao de uma nova famlia; eventos que so
reconhecidos pela nossa sociedade como pertencentes idade adulta. A
Segunda que termina com a morte, compreende todo o aprendizado que o
indivduo deve realizar, por exemplo, no local de trabalho, no
relacionamento com os colegas, em casa, na relao a dois, no tornar-se pai
ou me, aposentado, no iniciar a considerar-se velho (NANNI, 2000 p.
111, grifo do autor).
No caso especfico deste trabalho, a socializao primria interessa particularmente,
pois o fenmeno social do rito de passagem escolha profissional , traduzido pelos sujeitos
sociais e culturais o objeto de estudo.
Muitos estudos cientficos, nas mais diversas reas do ensino, tm destacado a
evaso no Ensino Superior: PRADO (1990), HOLZ, TUTIKIAN e LEITE (2000);
SANTOS e NORONHA (2001).
Dentre as causas de evaso mais citadas, esto o impacto que se d entre as
motivaes e expectativas profissionais dos alunos frente ao que encontraram nos cursos
mediante a vivncia dos currculos oficial e oculto e o desconhecimento sobre o curso que
escolheram. Muito poucos so os estudos cientficos para saber porque os alunos entram
nos cursos superiores, existindo, portanto, uma quase total carncia de dados a esse
respeito. E considera-se esse evento social no menos importante do que o citado acima.
Estudos e dados sobre universitrios dos cursos de msica- em especial sobre alunos de
licenciatura- em seu momento de ingresso, so praticamente inexistentes na literatura
brasileira de pesquisa. No entanto, extremamente necessrios e relevantes em um momento
histrico de implantao de novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior.
Alm disso, vive-se em um tempo em que a Educao Musical continua trabalhando
na busca de uma identidade prpria, das identidades de seus profissionais, das pessoas e
situaes que com ela se envolvem; discute-se no Brasil (ver ANAIS DA ASSOCIAO
BRASILEIRA DE EDUCAO MUSICAL, 2001) e tambm em outros pases, espaos de
atuao profissional, mercado de trabalho, reformas e concepes curriculares. Portanto e
para tanto espera-se que o presente trabalho venha a colaborar na configurao de dados
cientficos a respeito do aspecto escolha profissional de alunos ingressos e, provavelmente,
futuros professores de msica.
Referncias Bibliogrficas
COX, Patricia. The Professional Socialization of Music Teachers as Musician and
Educators. Org. RIDEOUT, Rogers. On the Sociology of Music Education. Norman:
University of Oklahoma. 1996, p. 113-120.
HOLZ, Norberto; TUTIKIAN, Jane; LEITE, Denise. Avaliao e Compromisso. Porto
Alegre: Editora da Universidade. Federal do Rio Grande do Sul, 2000.
JOHNSON, Allan G. Dicionrio de Sociologia. Guia prtico da linguagem
sociolgica. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,1997.
LAVILLE, C; DIONNE, J. A Construo do Saber: manual de metodologia da pesquisa em
cincias humanas. Adap. Lana Mara Siman. Belo Horizonte; Porto Alegre: UFMG;
ARTMED,1999.
NANNI, Franco. Mass Media e Socializao Musical. Em Pauta v.11,n.16/17-
abril/novembro.Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2000, p.109 a 143.
PADRS, Enrique Serra (coord) SILVA,; Maral,; PRADO, Fabrcio; HENRIQUE,
Fernando da Rosa; MELO, Jos Ernesto. Perfil dos Vestibulandos de Histria. Jornal
Folha da Histria. Maio de 2001. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, 2001.
PRADO, Fernando Dagnonine. Acesso e Evaso de Estudantes de graduao: a situao do
curso de Fsica da USP. So Paulo, 1990.Tese de Doutorado. Universidade de So Paulo.
ROBERTS, Brian. Music Teacher Education as Identity Construction. International
Journal of Music Education, 18, Londres 1991, p.18-39.
TRAVASSOS, Maria Elizabeth. Redesenhando as Fronteiras do Gosto: estudantes de
msica e diversidade musical. Horizontes Antropolgicos. Ano 5, n.11, Porto Alegre: 1999,
p.119-144.
SANTOS, Fabrcio Fernando Foganhole; NORONHA, Adriana Backx. Estudo do Perfil
dos Alunos Evadidos da Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade Campus
Ribero Preto. V SMEAD. Junho/2001. So Paulo, 2001.
SILVA, Walnia Marlia da. Motivaes, Expectativas e Realizaes na Aprendizagem
Musical: uma etnografia sobre alunos de uma escola alternativa de msica: RS, 1995.
Dissertao de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
SOARES, Dulce Helena Penna. O Jovem e a Escolha Profissional. Tese de Doutorado: RS,
1985. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
SOUZA, Ronald Pagnoncelli de. Nossos Adolescentes. Editora da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul; Terceira Edio. Porto Alegre, 1996.
STUMPF, Maria Conceio Tassiane. A Escolha profissional na Adolescncia: histria de
uma opo: RS, 1992. Tese de Doutorado; Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e mtodos. Porto Alegre: Bookman, 2001.
Procedimentos composicionais da Msica Eletroacstica
no contexto digital
Ana Lcia Ferreira Fontenele
Universidade Federal de Gois (UFG)
alfontenele@uol.com.br
Resumo: A presente pesquisa refere-se aos procedimentos composicionais da msica
eletraocstica realizada em contexto digital. Nesse sentido observa-se a presena do computador
como o principal meio de produo da msica eletraocstica atual. Destaca-se ainda que a
utilizao de mtodos de sntese por software, implementados em programas como o Csound,
vm se tornando um procedimento comum ao contexto das obras eletrocsticas compostas nas
ltimas dcadas. Como segunda etapa da pesquisa ainda em andamento, ser feita a anlise de
uma obra eletroacstica que utilize sons de fontes acsticas, processadas e manipuladas
digitalmente, como tambm timbres criados e manipulados com os recursos das tcnicas de
sntese por software. Tal atividade ir contextualizar os atuais meios de produo da msica
eletroacstica, sem esquecer das suas caractersticas estticas primordiais. Tais caractersticas
colocam a escuta como fator essencial.
Palavras-chave: msica eletroacstica, sntese sonora, processamento digital de sons.
Abstract: This research concerns about the compositional routines of electro-acoustic music in
the digital context. In this way we observe that the computer is the most important means of the
production of the current electro-acoustic music. On the other hand, the methods of synthesis by
software are present in the context of the present-day electro-acoustics compositions. In the
second stage of this current research, we propose the analysis of one piece of electro-acoustic
music, which uses acoustic sounds, processed and manipulated by a digital form, and other sounds
created and manipulated though the computer. This activity will situate the current means of the
production of electro-acoustic music, emphasizing these essential esthetics features. These
characteristics place the audition like a most important factor.
Keywords: electro-acoustic music, sound synthesis, digital signal processing.
O presente trabalho vem abordando a contextualizao da msica eletroacstica
realizada nas duas ltimas dcadas, onde a maioria dos procedimentos tcnicos, relacionados
ao seu meio de produo, realizada com o auxlio do computador. Nesse processo, observa-
se tambm que outros tipos de procedimentos de criao eletrnicos vm se incorporando s
rotinas de criao da msica eletroacstica realizada nas duas ltimas dcadas.
No sculo XX, a partir dos anos cinqenta, os computadores realizaram uma
verdadeira revoluo tecnolgica no mundo das artes e na sociedade em geral. Na msica as
operaes antes executadas em estdio como o tratamento e transformao dos sons, hoje
podem ser feitas atravs de programas especficos da informtica musical. Outros processos de
criao de timbres e de estruturao da obra musical, hoje podem ser executados pelo
computador ao transformar dados numricos em arquivos sonoros.
Atravs da anlise de uma obra eletroacstica composta de sons de fontes acsticas,
trabalhados no computador, e de timbres criados ou manipulados atravs de mtodos de
sntese sonora por software, no programa Csound, esperamos contextualizar a realidade de
parte da msica eletroacstica feita nas duas ltimas dcadas.
Tambm discutiremos sobre o tema atravs dos depoimentos publicados por
compositores e pesquisadores da rea especfica, bem como o padro operacional dos
estdios dirigidos produo de msica eletroacstica no Brasil. Outras possibilidades
composicionais no mbito da msica eletroacstica atual no sero abordadas na presente
pesquisa como as interferncias sonoras em tempo real, entre outras.
O estdio digital de msica eletroacstica dos anos oitenta do sculo passado utilizava
equipamentos digitais como os samplers e os sintetizadores, como tambm processadores de
som. Para Caesar, os sintetizadores digitais embora mais poderosos para a fabricao de
timbres, apresentavam uma interface menos apropriada para a experimentao da msica
eletroacstica (Caesar, 1997, p.164). Atualmente alguns estdios ainda utilizam,
principalmente, os sintetizadores digitais, mas boa parte dos timbres eletrnicos vem sendo
implementada no prprio computador, atravs dos softwares que funcionam como
sintetizadores virtuais ou dos que realizam sntese sonora. J os sons de fontes acsticas so
trazidos ao computador, via gravadores digitais ou captados por microfones, e posteriormente
manipulados e transformados no prprio computador. Observa-se a uma mudana nos meios
de produo musical e no propriamente uma mudana nos valores estticos anteriormente
presentes na msica eletroacstica realizada em estdio analgico.
Desde o surgimento dos primeiros programas de computador dirigidos sntese
sonora, como o MUSIC V no incio dos anos sessenta do sculo passado, a gerao de
timbres passou tambm a ser realizada no contexto da tecnologia digital de processamento de
sons. Esse tipo de procedimento foi pesquisado pelo engenheiro e um dos precursores da hoje
chamada msica computacional, Max Mathews. Nesse tipo de tcnica de sntese por
software, o computador responde em sons aos dados numricos relativo aos parmetros
acsticos dos sons. At os anos oitenta do sculo passado, esses tipos de estudos
desenvolviam-se no mbito da pesquisa acadmica. Atualmente esse tipo de procedimento
tornou-se mais acessvel atravs do surgimento do programa Csound, disponvel para as
plataformas PC/DOS, Macintosh e UNIX. Esses programas especficos realizam a
"manipulao espectral" dos sons e, na viso de Simon Emmerson, eles propiciam uma
"comunho da msica concreta com a eletrnica" no contexto da msica eletroacstica de
tecnologia digital (Emmerson, 1986, apud Caesar 1997, p.165 )
Herdeiro dos primeiros programas criados por Mathews, o programa Csound
(Vercoe, 1997) vem possibilitando a implementao dos diversos mtodos de sntese de som,
alm de outros recursos como a estruturao da obra e a transformao de sons de fontes
acsticas. Atravs de unidades geradoras como o oscil (gerador de forma de onda) os sons
vo sendo criados em resposta aos algoritmos declarados em dois arquivos de texto de
extenso "orc" e "sco" que depois de compilados, geram sons. Vrios tipos de mtodos de
sntese sonora podem ser implementados nesse tipo de software de criao de timbres como:
sntese aditiva, subtrativa, sntese por modulao de freqncia e amplitude, o mtodo de
phase vocoder, a sntese granular, entre outros.
Compositores que utilizam o computador para a criao e manipulao de timbres vm
publicando os resultados de suas experincias criativas nessa rea. Entre eles destacam-se os
trabalhos de Jean-Claude Risset, onde o compositor relata seus experimentos com sons
sintticos, gerados atravs de tcnicas de sntese aditiva (Risset, 1989). Outras tcnicas de
modelagem sonora, como a sntese granular aplicada a sons de fontes acsticas, so
abordadas nas pesquisas dos compositores Damian Keller e Barry Truax, nas quais so
descritas as ferramentas para a modelagem ecolgica de sons via computador (Keller &
Truax, 1998; Keller & Rolfe, 2000). O compositor brasileiro Rodolfo Caesar vem realizando
procedimentos de composio assistida por computadores utilizando tcnicas de sntese por
distoro, como a modulao de freqncia (FM), aplicada como forma de criar ritmos e
outros eventos pseudo-naturais(Caesar, 1996, apud Micolis, 1997, p.117). Na sua obra
Crculos Ceifados, o compositor realizou, entre outros tipos de procedimentos, tcnicas de
sntese subtrativa com a utilizao de um filtro, implementado no programa Csound, que
funciona como controlador de largura de banda e freqncia de corte (Caesar, 1992).
Na etapa referente anlise da obra musical eletroacstica um ou dois dos mtodos de
sntese referidos acima, sero estudados com maior profundidade. Esperamos observar de
forma detalhada os procedimentos utilizados, atravs da remontagem dos arquivos de texto e
dos prprios timbres no programa Csound. Por outro lado os sons de fontes acsticas, como
tambm de fontes sintticas sero observados segundo critrios mais relacionados aos estudos
tericos das msicas concreta e eletroacstica como os trabalhos dos compositores Pierre
Schaeffer e Denis Smalley, abordados em pesquisa anterior (Fontenele & Silva, 2001).
Esse novo universo da tecnologia digital para sons e imagem tem colocado os artistas
cada vez mais prximos de todas as etapas de produo da sua obra. Com o barateamento
dessas tecnologias acessveis em computadores pessoais o msico-compositor, o cineasta e o
artista plstico esto realizando suas obras com uma profundidade de conhecimentos, que os
levam a explorar tambm a dimenso tcnica desses meios. Nesse sentido destacamos a
necessidade de se abordar o comportamento da msica eletroacstica realizada nas duas
ltimas dcadas, atravs da contextualizao dos meios de produo em contexto digital e da
anlise de uma obra eletroacstica que utilize sons de fontes acsticas e timbres gerados e/ou
modificados pelo computador.
Referncias Bibliogrficas
CAESAR. Rodolfo. Novas Interfaces e a Produo Eletroacstica. Anais do IV Simpsio
Brasileiro de Computao & Msica. Sociedade Brasileira de Computao. Braslia, p.
163-169, 1997.
DODGE, C. & JERSE, T. A. Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance.
Schirmer Books, 1985.
FONTENELE, Ana Lcia & SILVA, Conrado. Anlise da Msica Eletroacstica sob a Viso
da Semiologia. Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM (Associao Nacional de
Pesquisa e Ps Graduao em Msica), Belo Horizonte, Vol I, p. 36 - 41, 2001.
KELLER, D & TRUAX, B. Ecologically-based granular synthesis. International Computer
Music Conference, Ann Arbor, IL, 1998.
KELLER, D & ROLFE, C. De-correlation as a by-product of granular synthesis. XIII
Colloquium on Musical Informatics, LAquila, 2000.
MICOLIS, Ana. Utilizao de Estrutura de Dados espaciais para Representao de Recursos
Composicionais em Msica. Anais do IV Simpsio Brasileiro de Computao & Msica.
Sociedade Brasileira de Computao, p. 115-120, 1997.
RISSET, Jean-C. C. Computer Music Experiments 1964-... Em Roads, C. The Music
Machine, EUA, MIT Press, p. 67-74, 1989.
SCHAEFFER, Pierre. Tratado dos Objetos Musicais. Braslia, Editora Universidade de
Braslia , 1993.
SMALEY, Dennis. Problems of Materials and Structure in Electro-Acoustic Music, Inglaterra.
University of East Anglia (UEA). Norwich 6, 1981.
SMALEY, Dennis. Spectromorphology: explaining sound-shapes, USA. Organized Sound
Volume 2, N 2. Cambridge University Press, p 107-126, 1997.
VERCOE, Barry and contributors. The Csound Manual. Montral, Pich, J., Universit de
Montral, 1997.
Um modelo interdisciplinar para o gesto musical
Andr Ricardo de Souza
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
arsdicendi@ig.com.br
Resumo: O presente texto o resumo do estado atual de um trabalho de pesquisa que
pretende propor um modelo interdisciplinar para o gesto musical que combine elementos da
Matemtica e da Semiologia. O ponto de partida o conceito de espao vetorial musical
proposto por Xenakis (1992); o gesto musical definido como uma funo neste espao
vetorial, a qual atende a certas propriedades de continuidade que lhe permitam ser percebido
como uma forma (uma Gestalt). Combinando esta definio com o estudo semitico do gesto
musical desenvolvido por Coker (1972), pretende-se investigar como os gestos musicais se
combinam para formar um sistema lgico com uma sintaxe e uma certa capacidade de
representao. Como estudo da viabilidade da aplicao prtica destes conceitos, pretendemos
ao final investigar o papel do gesto musical na busca de alternativas chamada crise do
serialismo.
Palavras-chave: teoria, gesto musical, msica contempornea
Abstract: This paper is a summary of the present state of a research program which aims at
an interdisciplinary model of the musical gesture that allies concepts from Mathematics and
Semiotics. The starting point is the concept of musical vector space proposed by Xenakis
(1992); musical gesture is defined as a function in this vector space that holds some properties
of continuity that allow it to be perceived as a form (a Gestalt). Combining this definition with
the semiotic study of the musical gesture developed by Coker (1972), we intend to investigate
how musical gestures join together to form a logical system, with a syntax and a certain
representation capability. As a study of the possibility of a practical application of these
concepts, we intend to interpret the role of musical gesture in the search for alternatives to the
so called crisis of serial music.
Keywords: theory, musical gesture, contemporary music
Introduo
Como ocorre com freqncia com os termos musicais, a expresso gesto musical
empregada nos textos tericos com significaes diferentes, s vezes at mesmo dentro de
um mesmo discurso, o que acentua o problema. Entretanto, nas ltimas dcadas tem se
buscado uma concepo mais definida do gesto dentro do contexto musical, e dentro
desta tendncia que este trabalho pretende apresentar uma abordagem interdisciplinar do
tema. O conceito de gesto musical vem ganhando espao dentro dos estudos musicais de
base semitica, como podemos ver em Coker (1972), e, mais recentemente, Lidov (1987),
Martinez (1991) e Tarasti (1994). Nas duas ltimas dcadas vrios trabalhos se dedicaram
ao estudo do gesto como modelo terico para a anlise e interpretao de questes
1
tcnicas e estilsticas da msica (RENARD, 1982; ZAGONEL, 1992; FERRAZ, 1998;
GENEVOIS, 1999; RISSET, 1999; ALDROVANDI, 2000). Alm do interesse dos
tericos pelo gesto, na dcada de 90 desenvolveram-se inmeros trabalhos relacionados
com a performance e as novas tecnologias na msica feita com meios eletrnicos
(GENEVOIS & DE VIVO, 1999, WANDERLEY & BATTIER, 2000; IAZZETTA,
2000).
O trabalho de pesquisa que o presente texto resume pretende reinterpretar o
conceito de gesto musical por meio de uma abordagem interdisciplinar que emprega
elementos da Matemtica, Psicologia da Forma, Semiologia e Lingstica, fundamentando
um conceito mais preciso, que possa auxiliar a compreenso e interpretao do fenmeno
musical como um todo e tambm apoiar a discusso esttica em torno da composio
contempornea. Partindo-se da descrio matemtica do gesto musical como um
movimento no espao multidimensional da percepo auditiva, procede-se ao estudo das
condies em que possvel perceber-se este movimento como forma e, em seguida, como
esta forma pode atuar como signo. Este modelo pretende fornecer uma base terica que
pode auxiliar a investigao do comportamento da msica como linguagem e do problema
da sua significao.
Interpretao matemtica do gesto musical: o gesto como movimento
A descrio ou representao matemtica de um movimento feita atravs de relaes e
operaes dentro de um tipo particular de conjunto denominado espao vetorial, cujo
exemplo mais comum o sistema de coordenadas cartesiano de trs dimenses, em que
triplas ordenadas de variveis reais (x,y,z) correspondem biunivocamente posio do
mvel. Xenakis (1992) props a representao dos eventos snicos (sonic events) em um
espao vetorial E, de trs dimenses correspondentes aos parmetros musicais de altura
(h), intensidade (g) e durao (u), numericamente representados conforme so percebidos e
organizados dentro de um dado sistema musical (p. 161). Desta forma, podemos imaginar
um movimento realizado entre dois pontos deste espao tridimensional que pode ser
descrito atravs de uma expresso do tipo r=F(t), ou seja, o vetor de posio r do mvel
2
uma funo (F) da varivel t (tempo), o que quer dizer que a cada instante t correponde um
vetor de posio r que pode ser determinado (calculado) a partir da expresso de F. A
trajetria deste movimento o conjunto de todos os pontos correspondentes aos vetores
de posio em cada instante t do incio ao fim do movimento. Se F atender a certos
critrios de continuidade (que podem ser definidos matematicamente ou inferidos a partir
das caractersticas da percepo musical) podemos falar em uma forma desta trajetria, a
qual ser determinada pelas caractersticas do movimento no que diz respeito a velocidade
e acelerao. Assim, neste trabalho estamos propondo a seguinte definio do gesto
musical: um conjunto de vetores pertencentes ao espao vetorial E ordenados
temporalmente que atenda a certas condies de limite e continuidade, de maneira a ser
percebido como uma forma (uma Gestalt). A percepo de uma forma no gesto musical
remete possibilidade de se propor uma morfologia do gesto, de maneira semelhante
morfologia do objeto sonoro proposta por Pierre Schaeffer em seu clebre tratado
(CHION, 1995). A classificao de Schaeffer baseada nos critrios de perfil dinmico,
meldico e de massa dever ser adaptada em nossa pesquisa para descrever e classificar os
gestos musicais, preparando o terreno para a abordagem do gesto musical enquanto signo.
Interpretao semiolgica do gesto musical: o gesto como signo
O gesto musical, ao ser considerado um signo, tambm pode ser estudado quanto
possibilidade de suas combinaes para a constituio de sistemas mais complexos, que
apresentam caractersticas lgicas e referenciais semelhantes s da linguagem. Coker
(1972) realizou um abrangente estudo de base semitica sobre o problema da significao e
da experincia esttica em msica, no qual a noo de gesto musical desempenha um papel
central. Para o autor, um motivo, uma frase, um tema, uma seo ou mesmo um movimento
inteiro pode ser tomado como um gesto, o qual pode ser analisado quanto sua atuao
como signo, ou seja, um estmulo que induz uma resposta (um pensamento ou uma ao)
por parte do ouvinte. O esforo de conduzir o ouvinte a uma organizao destas respostas
constituiria assim o significado (meaning) da obra musical. A atuao do gesto musical
como signo analisada conforme a classificao, proposta por Peirce, em cone, ndice e
smbolo, e o autor procura explicar como estas categorias de signos se relacionam com
3
aspectos lgicos e sintticos da msica (que ele denomina significao congenrica
congeneric meaning) e com as respostas afetivas e as referncias externas linguagem
musical (a significao extragenrica extrageneric meaning). Ao final Coker desenvolve
uma discusso sobre as implicaes do seu modelo em quetes estticas, como a da
verdade artstica e a dos afetos, em torno de uma obra musical.
Em nossa pesquisa pretendemos adotar o conceito de gesto musical segundo
Coker, especialmente no que diz respeito lgica e sintaxe das linguagens musicais.
Acreditamos que a compreenso da atuao como signo dos gestos musicais pode ajudar a
esclarecer inmeras questes ainda pendentes na polmica discusso em torno do problema
da significao em msica bem como no desenvolvimento de novas linguagens.
Perspectivas e metas da pesquisa
Como resultado da combinao destas duas vises, o gesto musical passa a ser visto como
uma Gestalt que se manifesta atravs da variao de um ou mais parmetros sonoros e
pode ser interpretada segundo a sua forma de atuao enquanto signo. Este modelo
pretende fornecer uma base terica que pode contribuir na investigao do comportamento
da msica como linguagem. Para complementar a exposio terica e tambm verificar a
aplicabilidade dos conceitos apresentados em situaes reais obras musicais
pretendemos investigar, com base no quadro terico desenvolvido, como a busca de
alternativas para a chamada crise do serialismo se relaciona com o retorno do gesto ao
papel de elemento estruturador da composio. O objeto dessa investigao devem ser os
escritos tericos dos compositores que lidaram com o assunto (BERIO, 1966; XENAKIS,
1975; FERNEYHOUGH, 1987; MENEZES, 1993; FERRAZ, 1998 , entre outros),
cotejados com anlises de trechos de obras. Ao final, o trabalho dever discutir o papel do
gesto musical na msica contempornea e sua relao com as diferentes correntes estticas
da msica atual e com as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias.
Referncias bibliogrficas
ALDROVANDI, Leonardo A. V. Gesto na criao musical atual: corpo e escuta
(dissertao de mestrado). So Paulo: PUC, 2000.
4
BERIO, Luciano. Du geste et de Piazza Carita. Contrechamps . Paris: LAge dHomme,
1966.
CHION, Michel. Guide des Objets Sonores. Paris: Buchet/Chastel, 1995.
COKER, Wilson. Music and meaning: a theoretical introduction to musical aesthetics. Nova
Iorque: The Free Press, 1972.
FERNEYHOUGH, Brian. Le temps de la figure. Entretemps. n 3, Paris, 1987.
FERRAZ, Slvio. Msica e repetio. So Paulo: EDUC, 1998.
GENEVOIS, Hughes. Geste et pense musicale: de loutil a linstrument. In: GENEVOIS,
Hughes: DE VIVO, Raphal (Ed.). Les nouveaux gestes de la musique Marseille:
Parenthses, 1999. p. 35-45
IAZZETA, Fernando. Meaning in musical gesture. In: WANDERLEY, Marcelo. &
BATTIER, Michel (Ed.). Trends in gestural control of music. Paris: Ircam, 2000. p. 259-
268.
LIDOV, David. Mind and body in music. Semiotica . v. 66-1/3. Amsterd: Mouton de
Gruyter, 1987.
MARTINEZ, Jos Luiz. Msica e semitica: um estudo sobre a questo da representao
na linguagem musical (dissertao de mestrado). So Paulo: PUC, 1991.
MENEZES, Flo. Luciano Berio et la Phonologie. Frankfurt: Peter Lang, 1993.
RENARD, Claire. Le geste musical. Paris:Hachette/Van de Velde, 1982.
RISSET, Jean-Claude. Nouveaux gestes musicaux: quelque points de repre historiques. In:
GENEVOIS, Hughes: DE VIVO, Raphal. Les nouveaux gestes de la musique. Marseille:
Parenthses, 1999. p. 19-33.
TARASTI, Eero. A theory of musical semiotics. Bloomington: Indiana University Press,
1994.
WANDERLEY, Marcelo: BATTIER, Michel (Ed.). Trends in gestural control of music.
Paris: Ircam, 2000.
XENAKIS, Iannis. Notes sur un geste lectronique. In: Musique. Architecture . Tournoi:
Casterman, 1975.
XENAKIS, Iannis. Formalized music. Stuyvesant: Pendragon, 1992.
ZAGONEL, Bernadete. O que gesto musical. So Paulo: Brasiliense, 1992.
Repertrio brasileiro para rgo:
histria, anlise, apreciao esttica e avaliao didtica
Any Raquel Carvalho
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
anyraque@cpovo.net
Resumo: A msica brasileira para rgo ainda constitui um repertrio pouco conhecido. Sua
divulgao ainda que incipiente, pode ser atribuda a dois fatores: (1) criao da Associao
Brasileira de Organistas, fundada em Mariana, MG, em 1992, a qual rene anualmente
organistas e organeiros Latino-americanos; e (2) criao do peridico Caixa Expressiva,
publicao semestral desde 1997 e nico na Amrica do Sul. O objetivo desta pesquisa
determinar como as obras brasileiras para rgo, compostas desde 1900, podero se enquadrar
como peas do repertrio de ensino em nvel de graduao. Objetivos especficos: (1)
levantamento histrico das obras; (2) anlise das obras; (3) apreciao esttica, e (4) sua
avaliao didtica. Pretende-se apontar as deficincias e dificuldades nesta rea ainda incipiente,
ressaltando influncias e diferenas estilsticas. No se trata de produo didtica, mas sim, de
uma reflexo crtica e esttica sobre o material existente.
Palavras-chave: msica organstica, anlise, avaliao esttica e didtica.
Abstract: Brazilian organ music still comprises a repertoire note widely known. The onset of its
circulation can be attributed to two main factors: (1) the creation of the Brazilian Association
for Organists, founded in Mariana, MG, in 1992, which annually unites Latin American
organists and organ builders, and (2) the bi-annual publication of the periodical Caixa
Expressiva (Swell Box) since 1997, the only one of its kind in Latin America. The purpose of
this study is to determine how Brazilian organ music since 1900 may be inserted in the
repertoire at the undergraduate level. Specific objectives include (1) a historical survey of the
works, (2) analysis of the repertoire, (3) its aesthetic appreciation, and (4) its pedagogical
evaluation. Deficiencies and difficulties in this area will be depicted, as well as stylistic
influences and differences. The object here is not the pedagogical production, but a critical and
aesthetic reflection of existing material.
Keywords: organ music, analysis, aesthetic and pedagogical evaluation.
INTRODUO
A msica brasileira para rgo ainda constitui um repertrio pouco conhecido.
Sua divulgao, ainda que incipiente, pode ser atribuda a dois fatores: (1) criao da
Associao Brasileira de Organistas, fundada em Mariana, MG, em 1992, a qual rene
anualmente organistas e organeiros Latino-americanos; e (2) criao do peridico
Caixa Expressiva (ISSN 1519-4345), publicao semestral desde 1997 e nico na
Amrica do Sul. O contato com organistas brasileiros e estrangeiros tem proporcionado
(a) a divulgao de rgos existentes na Amrica Latina e suas condies, (b)
oportunidades para a divulgao de trabalhos nesta rea, (c) a divulgao da msica
para rgo atravs de concertos e conferncias, (d) maior conscientizao da
2
importncia da manuteno e restaurao de rgos de tubos no Brasil e, (e) a aquisio
de rgos sampleados para estudo.
Apesar do nmero crescente de concertos de rgo no pas, a msica brasileira
para este instrumento ainda pouco conhecida e executada. Com a minha pesquisa O
estudo dos processos contrapontsticos no repertrio organstico brasileiro (CNPq,
2001-2003) observa-se que a divulgao de anlises realizadas durante este projeto tem
contribudo para que estas sejam executadas nos concertos e recitais de rgo em nvel
nacional. Infelizmente a escassez de partituras editadas continua sendo fator de
impedimento nesta divulgao.
OBJETIVOS
O objetivo principal deste trabalho , atravs da trajetria de cada pea,
determinar como as obras brasileiras para rgo, compostas entre 1900 e o presente,
podero se enquadrar como peas do repertrio de ensino em nvel de graduao. Os
objetivos especficos incluem: (1) levantamento histrico das obras: (2) anlise das
obras; (3) apreciao esttica, e (4) sua avaliao didtica.
A avaliao didtica e apreciao esttica apontaro para deficincias e
dificuldades nesta rea ainda muito precria, podendo ressaltar diferenas estilsticas e
influncias na composio deste repertrio. Esta pesquisa tem como objetivo tambm,
resgatar o maior nmero de obras para este instrumento.
Ao mesmo tempo em que este trabalho dedica-se divulgao do repertrio
brasileiro para rgo atravs de uma tica histrica e analtica das obras, pretende suprir
carncias de material didtico para o ensino de rgo atravs de material instrucional na
rea de prticas interpretativas. No se trata de produo didtica, mas sim, de uma
reflexo crtica e esttica sobre o material existente ou que possa vir a existir durante a
durao da pesquisa.
JUSTIFICATIVA
Esta pesquisa est inserida dentro do Grupo de Pesquisa em Prticas
Interpretativas sediado no Programa de Ps-Graduao em Msica/UFRGS (cadastrado
no Diretrio dos Grupos de Pesquisa no Brasil) e enquadra-se dentro dos objetivos do
mesmo, qual seja, a transmisso, recepo, reflexo e integrao do repertrio musical
brasileiro e latino-americano.
3
A anlise musical pode ser um meio ou um fim. Ela pode existir para provar a
validade de uma teoria ou de um sistema ou pode isolar as caractersticas que
distinguem a estrutura harmnica entre uma obra e outra (Dahlhaus: 1983, p. 9). De
qualquer forma, ela requer uma interpretao. O estudo da situao histrica, a anlise e
a avaliao crtica poder resultar num impacto benfico para a rea.
METODOLOGIA E REFERENCIAL TERICO
O presente projeto ser dividido em 4 etapas:
1. Levantamento histrico: ser realizado um estudo histrico das obras atravs de (a)
elaborao de fichas biogrficas dos compositores; (b) levantamento dos dados
histricos de cada obra: data de composio, finalidade da obra, para qual instrumento
foi concebida, (c) influncias recebidas pelos compositores.
2. Anlise das obras: Como ponto de partida, sero utilizadas as anlises realizadas no
meu projeto O estudo dos processos contrapontsticos no repertrio organstico
brasileiro (CNPq 2001-2003), com o acrscimo de obras compostas a partir de 2000. O
referencial terico adotado ser A Guide to Musical Analysis (New York, 1992) de
Nicholas Cook.
3. Apreciao esttica das obras: o referencial terico a ser empregado aqui ser de Carl
Dahlhaus, Analysis and Value Judgment (New York, 1983). O autor afirma que A
anlise de obras musicais individuais indispensvel na instruo musical
(compreendida como uma instruo artstica), a qual ainda no possui dogmas estticos
enraizados que poderiam refletir ser suprfluo o estudo de casos especficos e nicos.
No entanto, justamente porque os dogmas tm se tornado frgil, a questo de provar
uma apreciao crtica surge quase sempre na sala de aula... Um julgamento esttico no
fundamentado numa norma poder prosseguir somente atravs de seu reconhecimento
da particularidade de uma obra individual, ou seja, de sua anlise (Dahlhaus, 1983, p.
vii-viii).
4. Avaliao didtica do material: O referencial adotado aqui ser Livros de Msica
para a Escola, uma bibliografia comentada, da Srie Estudos No. 3, organizado por
Jusamara Souza (Porto Alegre: Curso de Ps-graduao em Msica/UFRGS, 1997).
Com no h material didtico baseado em msica organstica brasileira, este projeto
pretende selecionar obras e orden-las e classific-las quanto a sua dificuldade tcnica
para serem includas junto ao repertrio tradicional de ensino de rgo em nvel de
graduao e ps-graduao.
4
CONCLUSES E RESULTADOS
Com a divulgao dos aspectos histricos e analticos deste repertrio, assim
como sua apreciao e crtica, estaremos colocando nosso repertrio disposio de
professores de rgo e organistas/concertistas. Saber quem est compondo para rgo
hoje tambm ser um dado importante, pois possibilitar conhecermos para que
finalidade estas obras esto sendo criadas, com que tipo de instrumento em mente e
estilos que podero apontar para uma nova fase de composio para rgo no Brasil. A
seleo de obras para uso nos repertrios dos cursos de graduao em rgo estar
colocando a msica brasileira dentro do estudo didtico formal, uma prtica quase
inexistente no Brasil.
Bibliografia inicial:
ANDRADE Mrio. Aspectos sobre a msica brasileira. So Paulo: Livraria Martins
Editora, 1965.
ANTOKOLETZ, Elliot. Twentieth-century music. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
Inc., 1992.
ARNOLD, Corliss Richard. Organ Literature: A Comprehensive Survey, vol. 1:
Historical Survey. 2.ed. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1984.
COOK, Nicholas. A guide to musical analysis. New York: W.W. Norton & Company,
Inc., 1992.
DAHLHAUS, Carl. Analysis and value judgment. Traduo de Siegmund Levarie. New
York: Pendragon Press, 1983.
DELONE, Richard, et al. Aspects of twentieth-century music. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall, Inc., 1975.
DUNSBY, Jonathan; WHITTALL, Arnold. Music analysis in theory and practice.
Boston: Faber Music, 1988.
GRIFFITHS, Paul. Modern music-the avant-since 1945. New York: George Braziller
Inc., 1981.
KENNEDY, Michael. The Oxford dictionary of music. New York: Oxford University
Press, 1985.
KRATZENSTEIN, Marilou. Survey of organ literature and editions. Ames, Iowa: The
Iowa State University Press, 1980.
LIPPMAN, Edward. A history of western musical aesthetics. Lincoln, NB: University of
Nebraska Press, 1992.
MORGAN, Robert P. Twentieth-century music/A history of musical style in modern
Europe and America. New York: W.W. Norton & Company, 1991.
MYERS, Rollo. Ed. Twentieth-century music. London: John Calder, 1960.
NEVES, Jos Maria. Msica contempornea brasileira. So Paulo: Ricordi, 1981.
SADIE, Stanley, ed. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. ed., vol. 1.
New York: Macmillan Publishers Limited, 2001.
SALZER, Feliz. Structural hearing/Tonal coherence in music. New York: Dover
Publications, Inc., 1962.
5
SALZMAN, Eric. Twentieth-century music: an introduction. 2.ed. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall Inc., 1974.
SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth-century. New York: Schirmer, 1996.
SOUZA, Jusamara, org. Livros de Msica para a escola, uma bibliografia comentada.
Srie Estudos No. 3. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso
de Ps-graduao em Msica, 1997.
STOLBA, K. Marie. The development of western music-a history. Dubuque, IA: Wm.
C. Brown Publishers, 1990.
Jos Guerra Vicente: contribuio formao de um repertrio
brasileiro para violoncelo
Augusto Guerra Vicente
Universidade de Braslia (UnB)
gutoguerra@pop.com.br
Resumo: Dentro da obra composicional de Jos Guerra Vicente destaca-se a vasta produo
para o instrumento que ele prprio executava: o violoncelo. Seja no aspecto tcnico, no
aspecto estilstico ou no aspecto timbrstico, oferecida uma vasta gama de opes ao
violoncelista que queira formar um repertrio de msica brasileira. Este texto tem como
propsito fornecer elementos a respeito do compositor e sua obra, localizar sua obra no
contexto histrico dando destaque s peas para violoncelo, em variadas formaes.
Palavras-chave: violoncelo, Jos Guerra Vicente, msica brasileira contempornea.
Abstract: When it comes to the compositional work of Jos Guerra Vicente, one should
certainly not forget to mention the wide production for the instrument he himself played: the
cello. Either in the technical aspect or in the stylistic aspect or in the tone aspect, a cello player
who intends to make up his own Brazilian music repertoire is offered a wide range of options.
The aim of this paper is to provide the listener with elements concerning this composer and
his works, inserting them in a historical context and focusing on the cello pieces.
Keywords: violoncello, Jos Guerra Vicente, contemporary Brazilian music.
INTRODUO
Jos Guerra Vicente traz uma contribuio ao desenvolvimento do repertrio
brasileiro para violoncelo. Seu catlogo demonstra a ateno devotada ao instrumento
que ele prprio executava (VICENTE, 1996). Infelizmente, sua obra, como a de
diversos outros compositores brasileiros, tem sido relegada ao esquecimento pelos
intrpretes. Mais recentemente, entretanto, por meio de gravaes e novas edies,
tem-se possibilitado um resgate das composies desse autor, filiado s correntes
neoclssica e neonacionalista de meados do sculo XX. Neste texto forneceremos
subsdios a respeito de Guerra Vicente e sua obra, contextualizando-os dentro da
histria da msica brasileira e, especificamente, seu tributo formao de um
repertrio de msica nacional para violoncelo .
RELATO BIOGRFICO
Nascido em Almofala, Portugal (1907), Jos Guerra Vicente veio para o Brasil
aos dez anos de idade, radicando-se no Rio de Janeiro. Estudou no Instituto Nacional
de Msica (hoje UFRJ) com J. Otaviano, Francisco Mignone e Newton Pdua.
2
Naturalizado brasileiro, participou ativamente da vida musical do Rio de Janeiro entre
as dcadas de 1940 e 1970, como violoncelista, professor e compositor.
Como violoncelista, atuou nas mais importantes orquestras da antiga capital
brasileira: a Orquestra Sinfnica do Theatro Municipal e a Orquestra Sinfnica
Brasileira. Tambm atuou em conjuntos camersticos.
Como professor, lecionou Harmonia e Composio no Instituto Villa-Lobos.
Participou dos cursos de msica da Pr-Arte em Terespolis .
Como compositor, foi membro-fundador da Sociedade Brasileira de Msica
Contempornea (1951), e da Sociedade Internacional de Msica Contempornea
Brasil. Participou do Movimento Musical Renovador (1962/64), grupo de
compositores que defendiam a difuso da msica brasileira independentemente de
orientaes estticas(Manifesto do Movimento Musical Renovador, 1962). Sua
Sinfonia n 3 Braslia obteve primeiro prmio (juntamente com Guerra-Peixe e
Cludio Santoro) em concurso promovido pelo MEC em homenagem nova capital
brasileira (1960). Em 1968, ganhou concurso comemorativo ao centenrio de
nascimento de Francisco Braga com Abertura Sinfnica. De sua produo,
destacam-se trs sinfonias (Ressurreio, Israel e Braslia), o poema sinfnico
Carnaval Carioca e numerosa msica de cmara (Enciclopdia da Msica
Brasileira, 1977; VICENTE, 1997).
FASES COMPOSICIONAIS DE JOS GUERRA VICENTE
So trs:
1
o
.) 1932-1952: Engloba tanto o perodo em que Guerra Vicente realizou seus
estudos composicionais quanto seus primeiros passos rumo a uma maturidade tcnica
e ideolgica, no sentido da mensagem que procurava transmitir atravs da msica.
Caracteriza-se pela escrita ps-romntica. Trata de variados temas, tendendo ao
nacionalismo. Busca, porm, suas razes ibricas, explorando cenas populares dessa
pennsula.
2) Aps cinco anos improdutivos comea o perodo nacionalista (1959-1970).
Neste perodo produzida significativa quantidade de obras, com uniformidade
esttica bem definida. Guerra Vicente evita embrenhar-se no campo da pesquisa
folclrica, procurando retratar as caractersticas musicais da regio na qual vivia: o
Rio de Janeiro.
3) 1970-1976: Livre, mas com brasilidade. Perodo em que pesquisada uma
linguagem menos conservadora, visto que o nacionalismo, da maneira como
3
concebido na dcada anterior, tornou-se ultrapassado. O autor evita o nacionalismo
direto, explorando ambincias nacionais atravs de novas tcnicas composicionais e
da valorizao de novos parmetros (VICENTE,1997).
CONTRIBUIO FORMAO DE UM REPERTRIO BRASILEIRO
PARA VIOLONCELO
A variedade de peas escritas para violoncelo pressupe que a obra de Jos
Guerra Vicente possa ser de grande valia para intrpretes desse instrumento. O
violoncelo est presente em todos os perodos de sua carreira. Sua primeira (Elegia,
para violoncelo e piano 1932) e sua ltima peas (Divertimento, para violoncelo
e obo 1975) trazem este instrumento como protagonista. No se trata de
coincidncia. Os quarenta e trs anos que separam estas composies foram
preenchidos por grande nmero de peas em que o violoncelo assume papel de
primazia, seja como instrumento solista ou em variadas formaes camersticas
(VICENTE, 1996).
As possibilidades de escolha so variadas sob diversos ngulos: tcnico,
estilstico ou timbrstico.
Sob o ponto de vista tcnico, sua obra vai das didticas 3 peas fceis, que
podem ser executadas totalmente na primeira posio at a sofisticada Sonata, na
qual explora o potencial do instrumento, exigindo alto virtuosismo do executante.
Cenas Cariocas provavelmente sua obra mais conhecida, fazendo parte do
repertrio de bom nmero de estudantes dos cursos universitrios brasileiros. Duo e
Trio de Violoncelos tambm denotam preocupao didtica, pois foram escritos
com a pretenso de promover o entrosamento de msicos do mesmo instrumento,
como no caso das transcries de Preldios e Fugas de Bach. No esqueamos do
Concerto e do Concertino, nos quais o violoncelo assume o papel de solista
chamando, consequentemente, a ateno de intrpretes de nvel avanado. Indo do
simples ao complexo, a obra de Jos Guerra Vicente atinge violoncelistas em
diferentes estgios de desenvolvimento.
Do ponto de vista estilstico, as peas para violoncelo abarcam todas suas fases
composicionais, do romantismo da Elegia e da Sonata ao nacionalismo assumido
das Cenas Cariocas. Dentro de uma mesma pea, o carter varia do meldico ao
rtmico. Extensas linhas meldicas, nas quais os temas sucedem-se quase
ininterruptamente, alternam-se com sees de carter rtmico, seja pela utilizao de
ostinatos ou de unssonos rtmicos.
4
Do ponto de vista timbrstico, explora tanto as possibilidades do violoncelo em
si, como conjugado a outros instrumentos. Extrai sonoridades percussivas. Muitas
vezes demanda colorao violonstica, por meio de pizzicatti arpejados. Explora
harmnicos naturais e artificiais, trechos com surdina, glissandi e sul ponticello.
Alm desses recursos timbrsticos inerentes ao instrumento, se utiliza do timbre do
violoncelo em diversos contextos, como solista ou camerista.
CONSIDERAES FINAIS
A obra de Jos Guerra Vicente oferece opes ao violoncelista que deseje
iniciar ou ampliar seu repertrio de msica brasileira. A diversidade refere-se tanto ao
grau de dificuldade tcnica e do estilo composicional quanto s diferentes
combinaes instrumentais em que insere o violoncelo, como solista ou camerista.
Apesar disso, sua obra tem sido pouco executada devido dificuldade de
acesso ao material, que, em grande parte, no est editado.
A barreira da inacessibilidade, no entanto, vem sendo vencida graas a
recentes edies e gravaes. 3 Peas Fceis, Cenas Cariocas e Sonata, todas
para violoncelo e piano, foram recentemente editadas. Encontram-se em brochuras
Duo e Trio de violoncelos, assim como Divertimento, para obo e violoncelo.
Foram gravadas recentemente Sonata e Cenas Cariocas, ambas pelo filho do
compositor, Antonio Guerra Vicente. Outros violoncelistas de renome, como Antonio
Meneses e Peter Dauelsberg, tm redescoberto a obra de Guerra Vicente, dela
utilizando-se em gravaes.
So os primeiros passos rumo divulgao da obra do compositor, que muito
tem a contribuir formao de um repertrio brasileiro para violoncelo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Enciclopdia da Msica Brasileira: erudita, folclrica, popular, 2
o
. volume. So
Paulo: Art Editora Ltda. 1977.
Manifesto do Movimento Musical Renovador (MMR), 1962, Ms.
VICENTE, Antonio de P. G. Catlogo de obras de Jos Guerra Vicente (brochura no
publicada). Braslia, 1996, Ms.
VICENTE, Augusto da S. G. Edio do Trio de Violoncelos (1961), de Jos Guerra
Vicente. Dissertao de Mestrado, Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO).
Rio de Janeiro, 1997.
O ensino do piano e do teclado: uma proposta metodolgica interativa em educao
musical sob a tica da percepo e da criao - o "fazer musical" precedendo a
simbologia musical
urea Maria Pinto da Neves
Universidade Federal de Gois (UFG)
Centro Livre de Artes
Escola de Artes Veiga Valle
ruthmedeiros@cultura.com.br
Resumo: Trata-se de uma investigao - ao sendo o pesquisador o agente: com previso de trs anos de
durao, o trabalho circunscreve-se em um campo constitudo de 9 alunos, entre 8 e 12 anos de idade, em um
centro cultural municipal com aulas semanais (em grupo e individual). O objetivo central consiste na
investigao de procedimentos didtico-pedaggicos em msica, centrados no desenvolvimento da percepo
auditiva e nos processos de criao, para que o aluno - ser sensvel/criativo - aprenda msica, "fazendo msica",
antes da elaborao dos conceitos referentes simbologia musical. Assim, apropriando da improvisao,
composio, transposio, harmonizao, etc, como instrumento didtico de uma educao alicerada no "fazer"
musical reflexivo, tem-se observado que o aluno compreende e interpreta melhor os elementos constituintes da
estrutura musical. Ademais, para esse msico, de posse dessas habilidades e competncias, est-se abrindo
espao para sua futura vida profissional no mercado de trabalho exigente de tais competncias.
Palavras-chave: percepo, criao, construo
Abstract: Its about a investigation-action being the researcher the agent: it will take about three years and the
work raises up around a field formed by nine pupils, between eigth and twelve years old, at municipal cultural
center with weekly classes (in group and individual), The main purpose consists on investigation concerning to
musical didatic pedagogical proceedings, centered upon the hearing perception development and on the creations
proceedings, to enable pupil - sensitive and creative being to learn music, by making music, before the
elaboration of the concepts concerning to musical symbology. So, using improvisation, composition,
transposition, harmonization, etc, like a didactic tool based on the musical reflexive making, one can observe
that pupil understands and interpretates better the forming elements of the musical structure. Otherwise, for this
musician, having those skills and competencies it is opened the way for professional future at the work market
which demands those skills.
Keywords: perception, creation, construction
OBJETIVOS:
Refletindo sobre as lacunas existentes em um tipo de educao musical que d nfase
execuo de um determinado repertrio musical, msica notada, aos exerccios repetitivos
descontextualizados, que restringe a atividade musical do aluno repetio de estruturas j
estabelecidas observou-se que, embora muito questionada, ainda vigora em grande parte das escolas de
msica no Brasil.
2
Pensando, ento, em uma prtica formativa mais abrangente, na qual o aluno participe
ativamente da construo do conhecimento para melhor compreend-lo e interpret-lo, est sendo
desenvolvida esta pesquisa que tem como objetivo central:
investigar procedimentos didtico-pedaggicos em msica, especificamente no ensino do piano e do
teclado, centrados no desenvolvimento da percepo auditiva e nos processos de criao, a partir de
experincias significativas, compatveis com um fazer musical imaginativo, reflexivo e expressivo.
PRESSUPOSTOS TERICOS
A teoria de Piaget referente aquisio do saber, como produto da "mediao da ao do sujeito
sobre o objeto, ou seja, ao e reflexo - prtica e teoria, vistas como um conjunto interdependente",
interferiu muito para a mudana de direo na educao musical. Para ele, o "saber fazer" impulsiona o
"saber conceptual' atravs da representao mental, operacionalizada segundo o sistema da imagem
mental, na msica denominada aural por estar alicerada sobre a audio. (in Beyer, 1999, p. 14 -15)
A partir dessa concepo, vislumbrou-se possibilidades de desenvolver uma metodologia na
qual o aluno pudesse estudar msica fazendo msica, descobrindo seus "segredos", primeiramente
manipulando os sons de forma reflexiva, para depois elaborar os conceitos referentes simbologia
musical.
Assim sendo, ao passar pela explorao, experimentao e manipulao dos sons ao improvisar,
ao buscar as notas que melhor agradam seu ouvido para o trabalho de composio, ao escolher os
acordes que harmonizam com a sua cano, o aluno vai se alimentando da descoberta desse material
sonoro. Aos poucos, sedimentando-o, passa a perceb-lo em outras situaes desenvolvendo desse
modo sua audio interna e externa. Ademais h a questo da auto - expresso, do jogo imaginativo, do
prazer de sentir o resultado sonoro de sua prpria construo. Concordando, pois, com Garmendia
impossvel conceber um conhecimento musical que no tenha a audio como
fundamento: " medida em que se experimenta fazendo, se agua a audio; medida em
que se toma conscincia do que se faz, se desenvolve e reconhece o que se faz. [...] No
somente se 'imaginam' sons como tambm se ' escutam' os sons imaginados." (Garmendia,
1981, p. 4)
3
Baseada nesses princpios, ela desenvolveu a Educao Audioperceptiva que consiste em
aprender a cano de 'ouvido', transport-la para diferentes tonalidades e criar um repertrio similar ao
apreendido.
Garmendia, colaborou de maneira decisiva para o avano desta pesquisa pois tambm a a
cano didtica como referncia para as atividades, veio ao encontro do processo formativo que estava
sendo utilizado. Trabalhada na aula de grupo, passada para o instrumento por meio da decomposio
da melodia em intervalos, identificados pelos alunos aps um trabalho para perceber se o som entre as
notas que os compem subiu, desceu ou repetiu. Simultaneamente a imagem aural passa a codificar
esses intervalos, registrando-os na memria, tornando portanto, referncia para posteriores percepes.
Entendendo como Costa,
No nvel pedaggico, da educao musical e especificamente do desenvolvimento da
percepo auditiva, podemos salientar que: a conjugao dos processos de imagem aural e
memria meldica um dos aspectos mais importantes na concretizao interna de alturas,
intervalos e seus relacionamentos dentro de uma melodia, por possibilitar ao indivduo
domnio suficiente do conhecimento para transform-lo e adequ-lo cada nova situao.
(Costa, 1997, p. 60)
Uma situao nova para o aluno, a criao da segunda seo para sua cano, como um
primeiro trabalho de composio. Confirmando o pensamento de Bernardes em relao criao,
No ato criativo tomado como pedaggico estariam contempladas todas as instncias do
fazer musical. Ou seja, na atividade de criao trabalha-se o ouvido interno e o externo,
tem-se a oportunidade de improvisar sobre o material e as possveis relaes que sero
estabelecidas, o que significa, alm da prtica instrumental, o treinamento auditivo feito de
forma ativa e reflexiva, uma vez que escolhas tero que ser feitas. (Bernardes, 2001, p. 583)
Schafer tambm admite que a educao musical deva primeiramente passar pelos meandros da
criao. Ele faz restrio leitura musical nos primeiros estgios da formao, alegando que "ela incita
muito facilmente a um desvio de ateno para o papel e para o quadro - negro, que no so os sons",
elementos fundamentais da educao musical. (Schafer, 1991, pp. 307).
Para ele, a escrita musical tem incio em um primeiro momento atravs da grafia elaborada
pelos prprios alunos. Apropriando tambm desse procedimento, observou-se que ele facilita a
compreenso da grafia convencional devido ao jogo existente entre o que j foi impresso na imagem
aural e o imaginrio para transformar o som vivenciado (durao e a altura) em smbolos.
Aps o aluno, ento, conhecer, compreender e reconhecer sua capacidade de construo do
conhecimento musical, a conceituao terica adquire substancial importncia ao escrever as partituras
4
de sua msicas j executadas por meio da grafia convencional. Dessa forma a notao no entendida
apenas pelo seu lado grfico, mas tambm pelo seu lado simblico, carregado de significado pelo fato
de ter sido experimentada pelos sentidos.
Em uma prtica musical desse porte, no haveria espao para o trabalho individualizado do
professor, isto , voltado apenas para o domnio de sua especificidade. Dalcroze, em 1921 j chamava
ateno para essa questo:
Os cursos de msica so muito fragmentados e especializados. Cada professor est
confinado no seu prprio domnio. [...] como toda msica est fundada na emoo humana,
e na pesquisa esttica a partir da combinao dos sons, o estudo do som e movimento
deveria ser organizado e harmizado sem nenhuma rea da msica ser separada da outra.
(1988, p. 6-7)
Entendendo como ele, para que no sejam desfeitos os elos interdisciplinares e
contextualizadores, a apreciao musical e o canto coral, permeiam todo o processo da formao como
atividades que do suporte para a percepo dos elementos estruturais musicais j vivenciados nas
canes. Fazendo parte, portanto de uma proposta metodolgica interativa so planejadas e trabalhadas
dentro do mesmo princpio norteador: a percepo e a criao.
PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
Desenvolvimento
1- Levantamento bibliogrfico
2- Atividades de ensino - aprendizagem
Por meio de canes elaboradas pelo professor (3, 5 sons, texto significativo, frases curtas) e,
posteriormente, de canes folclricas e populares, desenvolve-se o processo de musicalizao:
- Sensibilizao e a auto-expresso: movimentos corporais livres e, definidos com o objetivo de
trabalhar pulsao, apoio, etc.
- Estudo Instrumental: comea pela cano captada pelo 'ouvido' (cf. p. 3) por meio da relao
intervalar; quando o intervalo no identificado, o professor toca e o aluno 'de olhos fechados'
imediatamente o identifica. Parte do trabalho tcnico (igualdade, independncia de dedos,
5
preparao para os acordes) desenvolvido com o acompanhamento do professor. Uma fita cassete
com a gravao das canes, das frases cantadas na transposio vocal a referncia para o estudo
dirio.
- Harmonizao: o prprio aluno harmoniza suas canes - primeiro com a noo de qual acorde
(I / V graus) que combina com os tempos fortes da msica; depois com a noo de funes.
- Acompanhamento instrumental: tocando primeiramente notas fundamentais e comuns dos
acordes de I e V graus nos tempos fortes, outras notas dos acordes no tempo fraco e depois
preenchendo as notas longas da melodia com notas meldicas; dessa forma a mo esquerda realiza
o acompanhamento da canes instrumentais, e com ambas as mos o acompanhamento vocal.
- Transposio para outras tonalidades: vocal (frases cantadas no incio da aula com texto, depois
com nome das notas); instrumental (essas frases, canes, encadeamento de acordes); como nem
sempre os alunos conseguem captar de ouvido as notas alteradas no momento de realizar a
transposio dos pentacordes para as primeiras tonalidades a serem transpostas, inicia-se o trabalho
de percepo e conceituao de tons e semitons para auxiliar a percepo dessas notas alteradas.
- Improvisao e Composio: 1- livre, explorando sons de outras fontes sonoras - corpo e objetos;
2- com referncia: para a improvisao o ritmo (por meio de dilogo imitativo entre professor e
aluno - fora do instrumento e depois sob ostinato rtmico das escalas pentatnicas, tons inteiros,
diatnicas e modais); para a composio o texto ( o acento tnico da palavra e frase indicam o
compasso - a durao das notas atende a prosdia musical).
- Contedo Terico: apreendido e conceituado no momento que cada aluno escreve as partituras do
seu repertrio; esse procedimento continua at o fim do perodo formativo.
- Leitura primeira vista: a partir da apresentao das partituras das canes e composies j
trabalhadas (sem ttulo) para o aluno solfejar e/ou tocar. Os ditados meldicos so extrados desse
material e das frases cantadas no incio da aula.
- Repertrio tradicional: no exclui o trabalho das habilidades e competncias que comearam a ser
desenvolvidas desde o incio da educao musical; um enriquece o outro.
- Criao de Arranjos : ao trabalhar uma msica em conjunto, um aluno faz o solo, o outro cria em
cima; sobre a letra da msica colocada a cifra - toca uma das notas do acorde nos tempos fortes e
preenche as notas longas da melodia com notas meldicas.
6
3 - Avaliao:
3.1. A cada aula: detectando falhas para buscar novos recursos.
3.2. A cada semestre: observando os resultados obtidos no mbito da interpretao, da compreenso
e da expresso, atravs da comparao, entre o grupo focal desta pesquisa e um outro (formado por
alunos que iniciaram no mesmo perodo letivo, com outra abordagem metodolgica), durante
recitais e aulas pblicas.
RESULTADOS PARCIAIS E CONCLUSES
Foi editado um vdeo, no qual demonstra o mesmo aluno tocando com dois e seis meses de
estudo. Por meio dele pode ser comprovado o avano em termos da elaborao das improvisaes,
composies, e o nvel do repertrio executado. Posso adiantar que:
- os alunos que no incio tinham muita dificuldade para identificar os intervalos para captar uma
msica de 'ouvido' hoje j identificam com facilidade;
- o ndice de erro em apresentaes mnimo, porque a memria dificilmente falha; os alunos j
disseram que memorizar msica aprendida pela partitura mais difcil;
- possvel formar um repertrio amplo e diversificado em um curto espao de tempo;
- h mais motivao para o estudo;
- a criao, improvisao, transposio so atividades que os alunos passaram a desenvolver com
naturalidade depois de um certo tempo de estudo;
- mesmo sem tocar o aluno percebe a harmonia do solfejo e do ditado ( I e V graus);
Concluindo, a educao musical dentro da perspectiva da percepo, criao e construo est
ao alcance de todos; cada um dentro do seu potencial torna-se capaz de expandi-lo ao mximo em
virtude da constante estimulao para tal. Esse msico que desde o incio de sua formao entrou em
contato direto com a msica, que encontrou a chave para abrir os diversos caminhos por onde ela
passa, com certeza adquire um pensamento mais autnomo, mais crtico e por conseguinte melhor
compreenso dos elementos constituintes da msica para melhor interpret-la. Portanto, para esse
7
msico, possuidor dessas mltiplas competncias e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho no
faltar espao para sua futura vida profissional.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
- BERNARDES, Virgnia. A msica das escolas de msica: a percepo musical sob a tica da
linguagem. Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM, Vol. II, p. 579-586, 2001.
- BEYER, Esther. Idias em educao musical. Porto Alegre: Mediao, 1999.
- COSTA, Maria Cristina. A imagem aural e a memria do discurso meldico: processos de
construo. OPUS - Revista da ANPPOM, Ano IV, n 4, p. 52-61, 1997.
- DALCROSE, Emile, Jaques. Rhythm, music and education. Londres: Ayer Company, 1988.
- GAINZA, Hemsy, Violetta. La Iniciacion Musical Del Nin. Buenos Aires: Ricordi Americana,
1964.
- GARMENDIA, Emma. Educacion Audioperceptiva - bases intuitivas en proceso de formacin
musical. Buenos Aires, Ricordi, 1981.
- SCHAFER, Murray . Ouvido pensante. So Paulo, Editora Unesp, 1991.
Um delineamento analtico da trilha sonora do filme
Cinema Paradiso
Betnia Levien Pires
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
bepires@globo.com
Denise SantAnna Bundchn
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
denise.bb@uol.com.br
Reumo: O interesse em desenvolver uma pesquisa de carter analtico sobre a trilha sonora do
filme Cinema Paradiso, surgiu a partir de reflexes propostas na disciplina A construo do
significado artstico-musical no sujeito, ministrada pela Prof. Dra. Esther Beyer. Trata-se de uma
anlise da relao da msica no cinema, baseada nos pressupostos tericos apontados por
Karbusicky, bem como a hierarquia das qualidades do signo de Pierce. Objetivamos com esta
pesquisa caracterizar a msica dentro de cada momento do filme, traando relaes entre a msica e
a imagem. Os procedimentos metodolgicos utilizados foram: anlise do filme e da trilha sonora,
registro e anlise dos temas, edio de fita VHS organizando as cenas de acordo com os quatro
temas, identificao das qualidades semnticas cone, index e smbolo, e por fim, o esboo dos
resultados adquiridos at o momento. Optamos por analisar o filme Cinema Paradiso pois sua
trilha sonora rica em significados, o que proporciona uma unidade ao filme, a partir da perfeita
engrenagem entre msica e imagem.
Palavras-chave: semntica, significado musical, trilha sonora
Abstract: The interest in developing a research in the analitic charater on the sound track of the
movie Cinema Paradiso, has come up from the proposed thought on the matter the building of
the artistic-musical meaning of the subject, administered by the Ph.D. professor Esther Beyer. It
deals with the relation of the music on the cinema, based on theoretical presuppositions point by
Karbusicky, as well as the hierarchy of the qualities of the Piercis sign. Our purpose with this
research is to characterise music each moment of the movie, tracing relations between the music
and the image. The utilised methodology procedures were: analysis of the movie and the sound
track, score and analysis of the themes, edition of VHS tapes organising the scenes according to the
four themes, identification of the semantics qualities icon, index and symbol and finally, the scope
of the results reached up to the present. We opt to analyse the movie Cinema Paradiso because its
sound track is full of meanings which provides the movie with a unity. From the prefect integration
between music and image.
Keywords: semantics, musical meaning, sound track
Atualmente, as produes cinematogrficas so um entretenimento comum na vida
da maioria das pessoas. Devido s tecnologias mais avanadas e a grande diversidade de
temas abordados nos filmes, o cinema passou a ser uma opo de fcil acesso e alcanou
um grande nmero de espectadores. Entretanto, adentramos de uma maneira to
avassaladora na trama dos filmes que, muitas vezes, sequer percebemos a msica que est
por trs das imagens. Pouco nos damos conta do efeito que a mesma produz no resultado
final a ser transmitido para o espectador.
Observando a quantidade de elementos envolvidos na construo de uma melodia,
percebemos a complexidade de sua estrutura, mas isto, de fato, parece no alterar as
sensaes, que tanto leigos como msicos, vivenciam ao escutar certa melodia. Sua
complexidade est relacionada combinao de elementos diversos, tais como: tonalidade,
intervalos, ritmo, dinmica, planos timbricos, etc. A combinao destes elementos o que
provocar diferentes sensaes, levando-as alm do universo cultural do compositor.
Magnani (1996), salienta a importncia da escolha de determinados elementos e
eliminao de outros na construo meldica, para que possamos chegar a um cdigo de
smbolos universalmente compreensveis dentro de cada contexto histrico. Pierce enfatiza
a definio do carter que a msica assume a partir da escolha desses elementos.
Karbusicky (1986) em seu livro Grundriss der musikalischen Semantik, aponta e
descreve a hierarquia das qualidades do signo em Pierce. Para este autor, a combinao de
elementos musicais determina o significado na msica. Ele sugere que a inteno semntica
pode ter carter icnico, indexical, e/ou simblico.
O cone a relao mais simples e tambm mais funcional. Karbusicky aponta que
o cone auxilia na compreenso da representao sonora. Trata-se de um parmetro pr-
estabelecido, tal como a tera menor descendente como retrato sonoro do cuco, ou seja, a
imagem acstica do pssaro. Quanto ao index, o autor afirma que o primeiro fator
significativo desta categoria refere-se a ligao imediata, ou seja, algo mostra, algo indica.
O segundo fator significativo a sua natureza energtica, quer dizer, a pretenso do
compositor transmitida ao ouvinte atravs do sentimento excitado por sua pea de msica.
A entonao e a sonoridade da voz so as maiores formas de manifestao da indexalidade.
Segundo Karbusicky (1986, p.294)
1
, o index corporifica a nossa dimenso humana. A
prpria vida emocional gera o mesmo cotidiano, ele marca a coexistncia com os outros
seres humanos, com ele ns reavivamos o mundo objetual. O smbolo, por sua vez, um
cdigo puro, um fator caracterstico comum todas as msicas, de todos os nveis e estilos.
De acordo com Karbusicky (p.295), o smbolo uma qualidade sgnica, que pode partir de
nossa prpria dimenso... ...nos smbolos os significados so potencializados, porque sua
marca de categorizao, o mbito da representao pode ser pensado at no infinito.
Seguindo essa linha de raciocnio, optamos por analisar mais profundamente o
filme italiano Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, cuja trilha sonora foi composta
por Ennio Morricone, buscando caracterizar a msica dentro de cada momento do filme,
traando paralelos entre a msica e a imagem desta produo cinematogrfica. Os
objetivos especficos desta anlise foram: analisar a coerncia entre a msica e a imagem, a
interao existente entre o criador do filme e o autor da trilha sonora; verificar as
implicaes das mudanas de timbres musicais em trechos especficos do vdeo, e;
verificar, com base na anlise de Karbusicky, o significado musical de determinados
trechos do filme, definindo sua inteno semntica.
Para a execuo desta pesquisa foram seguidos alguns passos como: apreciao do
filme Cinema Paradiso, identificando e escrevendo os diferentes temas presentes na
trama; anlise da relao de cada um dos quatro temas com as situaes em que aparecem,
identificando-os como: Cinema, Amor, Salvatore e Infncia; edio da fita VHS,
agrupando todas as cenas em que cada tema aparece, de forma a facilitar a anlise; anlise
dos timbres em relao inteno da imagem, traando paralelos com autores que discutem
a relao de determinados timbres e as sensaes que produzem no indivduo, e; anlise do
significado de cada um dos temas musicais, em cada uma das cenas em que aparecem, ou
seja, da relao msica x imagem, identificando os trechos como: icnico, indexical ou
simblico, conforme suas caractersticas, com base nos apontamentos de Karbusicky.
Aps esta anlise, verificamos que a trilha sonora foi estruturada em quatro temas
principais, que so repetidos durante todo o filme. Percebemos que, de fato, a msica neste
contexto apresenta um carter extremamente funcional, na medida em que o compositor
1
A paginao aqui impressa faz parte de uma traduo ainda no publicada, realizada pela Prof. Dra Esther
Beyer
pensou reforar as cenas utilizando variaes de timbres, andamento e dinmica no mesmo
tema em momentos distintos. A sutileza dos detalhes e a possibilidade de integrar
movimento e sensaes as cenas o que possibilita uma unidade, demonstrando uma
perfeita engrenagem entre msica e imagem.
Referncias Bibliogrficas
BENNETT, R. Elementos bsicos da msica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora,1990.
CAMPOLINA, E. e BERNARDES, V. Ouvir para escrever ou compreender para criar?
Belo Horizonte: Editora Autntica, 2001.
GIORGIETTI, M. Da natureza e possveis funes da msica no cinema. Disponvel em:
<http://www.menmocine.com.br/cinema/somtextos/trilhasonora.htm> Acesso em:
2/12/2002
KARBUSICKY. Grundriss der musikalischen Semantik. Darmstadt:Wissenschaftliche
Buchgesellschft, 1986.
MAGNANI, S. Expresso e comunicao na linguagem da msica. 2. ed. Belo horizonte:
Editora UFMG, 1996
SALLES, F. A trilha sonora no cinema breve histrico. Disponvel em:
<http://www.menmocine.com.br/cinema/somtextos/trilhasonora.htm> Acesso em:
2/12/2002.
Banda Sinfnica do Centro Federal de Educao Tecnolgico de Gois
CEFET/GO estudo de sua formao
Carina da Silva Bertunes
Universidade Federal de Gois (UFG)
carina_bertunes@yahoo.com.br
Eliane Leo Figueiredo
Universidade Federal de Gois (UFG)
elianewi2001@yahoo.com.br
Resumo: Este artigo contm um breve histrico da Banda Sinfnica do CEFET, resultado de dados
obtidos de um estudo monogrfico intitulado Levantamento Histrico de Cinco Bandas Estudantis de
Goinia. O objeto de estudo foi a observao da musicalizao que acontece atravs da prtica de
banda na formao do msico profissional, bem como o carter artstico-cultural da atuao da banda
no meio musical goiano. Trs entrevistados, regentes dessa banda em particular, forneceram
informaes que fundamentaram esta anlise. Observou-se que a banda teve quatro formaes
diferentes: fanfarra, banda marcial, banda musical e banda sinfnica, para chegar na atualidade
tocando um repertrio similar ao das orquestras. A formao musical dos participantes, conduzida
simultaneamente aos ensaios do programa regular influenciou, segundo os entrevistados, a qualidade
musical do grupo.
Palavras-chave: formao musical; bandas escolares; pesquisa em msica
Abstract: This article contains a brief historical of the Symphonic Band of CEFET, and the data
were obtained from a study monographic entitled " Levantamento Histrico de Cinco Bandas
Estudantis de Goinia. The study objective was the observation of the musical initiation that happens
through the band practice in the professional musician's formation, as well as the cultural artistic
character of the performance of the band in the Goiano musical way. Three interviewees, regents of
that band in particular, supplied information for the analysis. It was observed that the band owes four
formations: fanfare, martial band, musical band and symphonic band, to arrive playing a similar
repertoire of the orchestras at the present time. The participants' musical formation, driven
simultaneously to the rehearsals of the regular program have influenced, according to the interviewees,
the musical quality of the group.
Keywords: musical formation; school bands; research in music
INTRODUO
A banda se tornou um patrimnio das cidades, principalmente no interior. Segundo
Gentil Rocha, ... cidade sem banda cidade morta. Mesma coisa que arroz-doce sem
canela... (Rocha, 1985, p. 1). Em Gois h indcios de bandas em nossas cidades coloniais:
As nossas cidades coloniais tinham suas orquestras de cmara e bandas de msica. No
entanto, na capital, onde o surto cultural pode ser mais intensivo, no existe, salvo
algumas bandas de msica, nem mesmo um pequeno conjunto de cmara. E no houve
falta de iniciativa nesse sentido. ( Pina, 1973, p. 24)
Em Gois, as bandas estudantis, que so em sua maioria de carter marcial, vieram
com a criao dos colgios. Na cidade de Gois, o Lyceu de Gois, nasceu da Lei nmero 9,
de 20 de junho de 1846, e foi transferido para Goinia em 27 de novembro de 1937, pelo
interventor Pedro Ludovico. Logo depois surgiu a Banda Marcial Lyceu de Goinia.
METODOLOGIA
As entrevistas sobre a Banda do CEFET foram feitas atravs de um roteiro de
perguntas pr-elaboradas, e foram registradas em ordem cronolgica. As entrevistas foram
anotadas na ntegra. Destes depoimentos foram tirados os excertos, ou seja, trechos das partes
entendidas como mais interessantes para a anlise. Fizeram partes dos dados os documentos e
registros, fotos, e programas musicais obtidos, visando observar a relao e autenticidade dos
dados, para a validao das informaes obtidas. Esta anlise levou redao final do estudo
que teve como objetivo comentar o que se apreendeu acerca desta banda em particular, sua
evoluo e formao.
FORMAO DA BANDA
1. Fanfarra
A Banda Sinfnica do CEFET ao longo dos anos sofreu algumas mudanas. Em sua
fundao, 1943 foi nomeada Fanfarra Nilo Peanha. A fanfarra tinha como objetivo
proporcionar aos alunos da escola oportunidade de desenvolver seus dons musicais, bem
como sentimentos cvicos e de apreo sua comunidade e de amor a ptria.
Em 1965, a Escola de Aprendizes Artfices passou a se chamar Escola Tcnica
Federal de Gois. E, de 02/05/1969 a 08/07/1974, a Fanfarra recebeu orientao do instrutor
Fbio Martine Neto.
2. Banda Marcial e Musical:
Em 01/08/1975, assumiu a banda o maestro Jaime Ferreira Borges, e ela passou a
marcial. A Banda Marcial Nilo Peanha era composta pelo corpo musical (60) e a comisso
de frente (20) . Tocava msicas como dobrados, marchas, msicas folclricas e infantis. Os
arranjos e transcries eram de Milton de Paula Santiago. A Banda participava de
comemoraes cvicas. Os uniformes eram vermelhos e azuis.
Em 1980, de marcial passou a Musical Nilo Peanha. Totalizaram 40 componentes,
tocando tambm madeiras, como: clarinetes, saxofones e flautas. Faziam testes de
percepo musical, alturas dos sons, rtmos (coordenao motora). Os alunos aprendiam
rapidamente o bsico de msica para tocar na banda. Nesta poca a banda tocava dobrados,
marchas, msicas folclricas, populares, infantis e clssicas como: Abertura da pera O
Guarany . O maestro Borges acredita que o principal objetivo da banda ... dar
oportunidade a uma pessoa adquirir determinada profisso ... e tirar um menino da rua
(Borges, 2002).
3. Banda Sinfnica:
Em 1994, a Escola Tcnica Federal de Gois se transformou em Centro Federal de
Educao Tecnolgico de Gois. A Banda Musical passou por um perodo sem funcionar. Em
1995, o maestro Marshal Gaioso Pinto assumiu a direo da banda e juntamente com o
maestro Borges reativou a banda, com a configurao de Banda Sinfnica, passando a se
chamar Banda Sinfnica do CEFET. Em 1997, assumiu o maestro Marcelo Eterno Alves. A
Banda Sinfnica do CEFET participou do III, IV Concurso Nacional de Bandas da Cidade de
Goinia, onde conquistou em ambos o 2 lugar, em Goinia. Apresentou-se tambm no
Festival de Artes de Gois. A banda possui aproximadamente 42 componentes, distribudos
em: 8 clarinetes, 1 clarone, 2 saxofones alto e 1 saxofone tenor; 2 fagotes, 3 obos, 2
euphonia, 2 flautas, 1 flautim, 8 trompetes, 3 trombones, 1 tuba, 4 percussionistas. O
uniforme da banda o traje social completo, para os homens, e vestido longo preto, para as
mulheres.
Em 1999, maestro Pinto licencia-se do CEFET e vai para S.P cursar o mestrado em
msica, na USP; e Eliseu Ferreira passa a reger a banda, juntamente com maestro Alves.
A Banda Sinfnica do CEFET uma referncia para os instrumentistas de sopro, pois
trabalha um repertrio que exige bastante tcnica, afinao e musicalidade. Como Guarany
de Carlos Gomes, Marcha Slava de P. Tschaikowsh, e Egmont de Ludwig Van
Beethoven. A escolha do repertrio criteriosamente pesquisada para cada ocasio. Tambm
h uma escolha criteriosa dos locais onde a Banda se apresenta: devem ser sempre locais que
tenham uma acstica e iluminao favorvel a um bom concerto sinfnico. Em 2001, o
maestro Pinto retorna regncia da Banda e exige dos msicos, um certo domnio tcnico.
.O maestro Pinto acredita que a banda possui 2 pblicos alvos: 1 - os alunos que
esto diretamente ligados banda, em que o objetivo principal da banda fornecer uma
formao musical completa; 2 - as pessoas que esto envolvidas de forma indireta e
aprendem com estas influncias, que so as pessoas que escutam a banda tocar, que assistem
o coral, e o teatro. Estas apresentaes ajudam a enriquecer o ambiente artstico-cultural do
CEFET, e de Goinia.
CONCLUSO
A Banda foi fanfarra, marcial, musical e atualmente sinfnica, que visa
estritamente o valor educativo e artstico no meio musical goiano. A Banda Sinfnica do
CEFET hoje representa um centro de referncia para os instrumentistas de sopros de Goinia
e do interior. A Banda uma escola de msica que ensina a msica, de maneira completa,
para seus alunos e leva em considerao a formao musical individual e os benefcios que
proporciona coletividade, visando estimular em seus alunos atitudes e habilidades como
disciplina, respeito aos horrios, companheirismo e esprito de equipe (mostrando ao jovem
sua importncia como indivduo e seu papel no grupo).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVES, Marcelo E.. Entrevista concedida para a coleta de dados de monografia de
final de curso da EMAC/UFG. In: BERTUNES, Carina da S. e LEO, Eliane. Levantamento
Histrico de Cinco Bandas Estudantis de Goinia. Trabalho aceito para ser apresentado na
55 SBPC/Julho de 2003/Recife-PE.
BORGES, Jaime F.. Entrevista concedida para a coleta de dados da monografia de
final de curso da EMAC/UFG. In: BERTUNES, Carina da S. e LEO, Eliane. Levantamento
Histrico de Cinco Bandas Estudantis de Goinia. Trabalho aceito para ser apresentado na
55 SBPC/Julho de 2003/Recife-PE.
ROCHA, Gentil. A Banda do Colgio Rosrio. Edio Ouro Preto UFOP, 1985.
SALLES, Vicente. Msica e msicos do Par. Belm: Conselho Estadual de Cultura,
1970.
PINA, Braz P.. Conservatrio de msica UFGo 16 anos. Ed da UFG-Oriente, Goinia,
1973.
PINTO, Marshal G. Entrevista concedida para a coleta de dados da monografia de
final de curso da EMAC/UFG. In: BERTUNES, Carina da S. e LEO, Eliane. Levantamento
Histrico de Cinco Bandas Estudantis de Goinia. Trabalho aceito para ser apresentado na
55 SBPC/Julho de 2003/Recife-PE.
REGULAMENTO DA FEDERAO GOIANA DE FANFARRAS & BANDAS -
01/09/2002. Trindade, Gois - IV CONCURSO ESTADUAL DE BANDAS E
FANFARRAS .
1
Ser professor de msica: um estudo sobre os saberes docentes
Cludia Ribeiro Bellochio
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
claubell@zaz.com.br
Resumo: O presente trabalho apresenta um projeto de pesquisa em desenvolvimento na cidade de
Santa Maria/RS. Referido projeto, prope-se investigar, em pesquisa qualitativa, sobre os saberes
docentes do educador musical, referendados sobretudo a partir de sua falas quanto formao,
concepes e prticas educacionais desenvolvidas, seja em escolas de educao bsica ou em
escolas de msica. Para tanto, apontam-se algumas questes: Qual a formao do professor de
msica que atua na educao bsica e em escolas de msica de Santa Maria? O que ser professor
de msica para esse sujeito? O que constitui a atividade docente do professor de msica? Que
saberes so elencados como essenciais para ensinar msica? Que referncias bsicas, em msica e
em educao, o professor acredita serem relevantes para sua prtica docente? Com alguns
resultados j levantados evidencia-se que, a maioria dos professores no so licenciados em msica
e a relao que mantm com o ensino decorrem de uma didtica profissional decorrente de suas
experincias pessoais e profissionais.
Palavras-chave: professor de msica, saberes docentes, formao profissional
Abstract: The current study presents a research project that has been developed in Santa Maria,
South of Brazil. The referred project aims at investigating, in qualitative research, the teaching
knowledge of the musical teacher, based on his/her speech in relation to formation, educational
practices and conceptions developed in primary, elementary and high schools or in musical schools.
For that, some questions are mentioned: What is the formation of the musical teacher who works in
basic education and in musical schools of Santa Maria? To this person, what is to be a musical
teacher? What constitutes the teaching activity? What knowledge is essential to this teaching? In
music and education, which basic references this teacher believes to be relevant? The research has
been conducted. Some results have been showed that the majority of teachers are not graduated in
music, and their relation with teaching arises from an educational practice originated from their
professional and personal experiences.
Keywords: music teacher, teacher knowledge, professional educaion
Situando a temtica de pesquisa: saberes docente e profisso professor
A pesquisa est relacionada com a necessidade de melhor conhecermos e
analisarmos compreenses educacionais sobre o que significa ser professor para um grupo
de educadores musicais, da escola bsica e da escola de msica atuantes em Santa Maria;
buscando verificar relaes estabelecidas pelo professor entre os conhecimentos musicais e
os conhecimentos pedaggicos e suas articulaes na prtica educativa.
Os estudos sobre os saberes que constituem a docncia tm se ampliado no conjunto
dos trabalhos de pesquisa sobre formao de professores (GAUTHIER et all. 1998;
TARDIF, 2002). No Brasil, os avanos nessa temtica tm sido realizados, sobretudo na
2
rea da educao. No campo da educao musical, poucos trabalhos tm sido apontados
nesse sentido, dentre esses, o de Requio (2002), que focaliza os saberes e competncias do
msico-professor a partir da formao profissional do msico.
No campo especfico da educao musical e no recorte da formao e prtica
educativa de professores, destacamos os trabalhos de Marques (1999), Beineke (2000,
2001), Del Ben (2001a, 2001b). No entanto ainda carecemos de pesquisas que direcionem
seu foco de anlise mais diretamente sobre a relao dos professores com os saberes que
ensinam, tarefa essa que, certamente, demanda um esforo de especialistas de diferentes
reas de conhecimento especfico (MONTEIRO, 2001, p.123).
A esse respeito, centra-se a idia da complexidade da tarefa educacional do
professor como uma tarefa profissional que exige competncias e saberes especficos.
preciso superar a idia de que basta gosto e habilidades em uma determinada rea do
conhecimento para ser professor. Um professor no se constitui apenas pelo querer ser, pelo
domnio de tcnicas de ensino ou habilidades, mas pela formao ancorada em
conhecimentos educacionais especficos, refletidos e reorganizados em situaes concretas
de desafios educacionais.
Gauthier e sua equipe (1998) apontam uma tipologia de saberes docentes. Para eles
o professor quando ensina mobiliza saberes de natureza diversificadas: saberes
disciplinares; saberes curriculares; saberes das cincias da educao; saberes da tradio
pedaggica; saberes experienciais e saberes da ao pedaggica. Ao relacionarem a questo
da formao com a profissionalizao do professor, tm defendido a idia de que no
podemos mais nos centrar em dois erros que so o de um ofcio sem saberes e o de saberes
sem ofcio (p. 28) Para eles, o professor mobiliza diversos saberes quando ensina. O
professor possui um repertrio de conhecimentos retirados do que denomina de
reservatrio de saberes.
A pesquisa em construo
3
Decorrente dos estudos sobre os saberes docentes e sobretudo de investigaes em
desenvolvimento
1
, que propomos a realizao de uma pesquisa que tem como foco os
saberes mobilizados pelo professor que atua com o ensino de msica em Santa Maria/RS,
buscando compreender como se d a relao desse profissional
2
com o ensino de msica a
partir de suas formao, suas concepes e prticas educacionais.
A pesquisa est sendo desenvolvida em dois espaos: a) o espao da escola bsica;
b) o espao da escola de msica. O foco est em entender como os professores de msica
concebem o seu prprio trabalho docente, e que saberes mobilizam quando exercem a
docncia no ensino de msica.
A pesquisa prope um enfoque qualitativo. Segundo Taylor & Bogdan (1986) a
pesquisa qualitativa possibilita flexibilidade em sua realizao; coloca os pesquisadores
diretamente no campo de trabalho interatuando com os pesquisados, numa relao dinmica
e natural; todas as perspectivas que emergem no contexto da pesquisa tornam-se
importantes.
Como referem Ldke & Andr (1986) o estudo qualitativo, o que se desenvolve
numa situao natural, rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexvel e
focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada (p.18). Este enfoque vivel ao
estudo tendo em vista que o mesmo se prope a pesquisar os processos de formao e ao
musical de professores que atuam na educao bsica e em escolas de msica.
Participam da pesquisa dez professores de msica que atuam na educao bsica e
escolas de msica de Santa Maria. Os sujeitos da pesquisa e as escolas esto sendo
selecionadas pela disponibilidade de participao no processo de pesquisa. No entanto,
critrio, para a seleo dos sujeitos de pesquisa, que eles j tenham experincia como
professor h no mnimo dois anos.
Como instrumentos de coleta de dados estamos utilizando a entrevista de tipo semi-
estruturada e a observao. (ver LDKE; ANDR, 1986).
1
Ver referncias do relatrio PIBIC nas referncias bibliogrficas.
2
Sero tomados como professores de msica os profissionais que atuam no espao escolar com a rea,
independente de terem formao acadmica.
4
Alguns resultados
At o momento, foram entrevistados quatro professores, dois em escola bsica e
dois em escolas de msica. At final de junho teremos concludo as entrevistas e
comearemos as observaes das prticas dos professores. Dos professores entrevistados,
apenas um possui formao em Licenciatura em Msica, mas, na escola bsica no atua na
rea e sim com educao infantil. Os outros trs so egressos de cursos de bacharelado. A
predominncia das falas quanto ao contedo disciplinar de msica. O professor Antnio
3
reconhece que, por possuir bacharelado, o que lhe falta um melhor casamento entre os
contedos e mtodos musicais e as formas de melhor ensinar aos alunos. De modo geral os
bacharis tornam-se professores por necessidade de trabalho. Edison diz um dia um colega
perguntou: - Por qu tu no d aula em creches, no tem ningum, to sempre procurando
gente? Eu entrei numa creche pra dar aula de msica, trs meses depois eu tinha onze
creches. No decorrer da entrevista o mesmo professor acrescenta: nunca tinha pensado
que ia seguir, eu nunca quis ou disse que ia ser professor de msica, s que as coisas foram
andando, foram acontecendo. O relato desse professor expressa os saberes da prtica
profissional como condutores de suas decises profissionais. No entanto preciso
reconhecer que o profissional no recorre somente aos saberes experienciais, ele traz
consigo toda uma bagagem de saberes provenientes de sua formao profissional, bagagem
certamente incompleta mas cujo peso no se pode desprezar. (Gauthier et all., 1998, p.
302-3). Esperamos que o trabalho de pesquisa em construo nos possibilite melhor
compreender sobre como um sujeito se constitui professor de msica e que saberes ele
articula quando exerce sua prtica educativa.
Referncias bibliogrficas:
BELLOCHIO, Cludia Ribeiro et. al. Pensar e realizar em educao musical: desafios
cotidianos do professor. Relatrio CNPQ/PIBIC, 2002.
BEINEKE, Viviane. O conhecimento do professor de msica: uma questo terica ou
prtica? In: ENCONTRO REGIONAL SUL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE
EDUCAO MUSICAL, 4., 2001, Santa Maria/Rio Grande do Sul. Anais... Santa Maria,
Associao Nacional de Educao Musical, 2001, p. 64-77.
3
Nome fictcio.
5
____. O conhecimento prtico do professor de msica: trs estudos de caso. 2000.
Dissertao. (Programa de ps graduao em Msica) PPGEMUS/Instituto de Artes.
DEL BEN, Luciana et.al. Aprendendo com os professores: reflexes sobre a formao do
educador musical a partir das concepes e aes de uma professora de msica. In:
ENCONTRO REGIONAL SUL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE EDUCAO
MUSICAL, 4., 2001, Santa Maria/Rio Grande do Sul. Anais... Santa Maria, Associao
Nacional de Educao Musical, 2001a, p. 78-77.
DEL BEN, Luciana Marta. Concepes e aes de educao musical escolar: trs estudos
de caso. Porto Alegre: UFRGS, 2001b. Tese (Doutorado em Msica) Instituto de Artes,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
GAUTHIER, Clermont et. all. Por uma teoria da Pedagogia. Iju: Ed. Uniju, 1998.
LDKE, Menga; ANDR, Marli. Pesquisa em educao: abordagens qualitativas. So
Paulo: EPU, 1986.
MARQUES, Eduardo Frederico Luedy. Discurso e prtica pedaggica na formao de
alunos de licenciatura em msica, em Salvador, Bahia. Salvador, 1999. (Mestrado em
Msica), CPGM/UFBA.
MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Professores: entre saberes e prticas. Educao
e Sociedade Dossi: os saberes dos docentes e sua formao. Campinas: CEDES, ano
XXII, n.74, pp. 121-142, 2001.
REQUIO, Luciana Pires de S. Saberes e competncias no mbito das escolas de msica
alternativas: a atividade docente do msico-professor na formao profissional do msico.
Revista da ABEM. Porto Alegre: ABEM, n.07, pp. 59-68, 2002.
SACRISTN, J. Gimeno. Conscincia e aco sobre a prtica como libertao profissional
dos professores. In: NVOA, Antnio (Coord.) Profisso Professor. 2. ed. Lisboa:
Publicaes Dom Quixote, 1997. P. 65- 89.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formao profissional. Petrpolis, RJ : Editora
Vozes, 2002.
TAYLOR, S.J. & BOGDAN, R. Introduccion a los metodos cualitativos de investigacion.
la bsqueda de significados. Buenos Aires : Paids, 1986.
Vivncias musicais e folclore:
um survey junto a alunos do ensino fundamental
Cristina Rolim Wolftenbttel
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Fundarte/UERGS)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Secretaria Municipal de Educao de Porto Alegre (SMED)
cwolffen@zaz.com.br
Resumo: Ao revisar a literatura de Educao Musical percebe-se uma crescente preocupao acerca
do cotidiano musical, no sentido de conhecer concepes e prticas que constituem o universo
musical dos alunos. Propostas de incluso da diversidade musical apresentam-se como tendncias
assumidas por educadores que se preocupam com estes aspectos. Neste vis de anlise apresenta-se
o folclore, particularmente a msica folclrica, cuja interlocuo d-se devido s suas caractersticas
de aceitao coletiva, tradicionalidade, dinamicidade e funcionalidade (GARCIA, 2000, p.18-19).
A presente pesquisa pretende investigar a presena do folclore nas vivncias musicais de alunos do
Ensino Fundamental. Alm disso, objetiva fazer um levantamento do repertrio folclrico-musical
destes alunos, identificando como os mesmos aprendem estas canes. Complementando a
investigao, procurar-se- analisar as concepes que os alunos do Ensino Fundamental possuem
em relao msica folclrica.
Palavras-chave: vivncias musicais, msica folclrica, cotidiano.
Abstract: When revising the literature of Musical Education perceives an increasing concern
concerning the daily musical comedy, in the direction to know conceptions and practical that they
constitute the musical universe of the pupils. Proposals of inclusion of the musical diversity present
as trends assumed for educators who if worry about these aspects. In this bias of analysis the
folklore is presented, particularly the folkmusic, whose interlocution is given due to its
characteristics of collective acceptance, tradicionality, dinamic and functionality (GARCIA, 2000,
p.18-19). The present research intends to investigate the presence of the folklore in the musical
experiences of pupils of Basic Ensino. Moreover, objective to make a survey of the repertoire
folkmusic comedy of these pupils, identifying as the same ones learns these songs. Complementing
the inquiry, it will be looked to analyze the conceptions that the pupils of Basic Ensino possess in
relation to folkmusic.
Keywords: musical experiences, folkmusic, everyday life.
Pressupostos Tericos
Ao revisar a literatura na rea da educao musical, percebe-se uma crescente
preocupao com diversos aspectos da vida do aluno, no sentido de conhecer as concepes
e as vivncias de msica que constituem seu universo musical (ARROYO,
1990;TOURINHO, 1993; SOUZA, 1996, 2000; OLIVEIRA, 2001).
O folclore, como o conjunto das mais diferentes tradies das pessoas inseridas em
uma sociedade, faz parte do dia-a-dia das pessoas, no importando a idade, o nvel social, a
classe econmica, a crena poltica e religiosa, a etnia, ou quaisquer outros componentes
(CMARA CASCUDO, 1984, p.334). Todos os indivduos so portadores de folclore. No
cotidiano, cada pessoa pratica aes que foram aprendidas por tradio (...) que fazem parte
da herana cultural legada pelas geraes que a precederam (GARCIA, 2000, p.20). O
folclore, como manifestao da tradio popular, possui caractersticas peculiares, cuja
anlise auxilia na compreenso da dimenso e abrangncia do fato folclrico. Dentre essas
caractersticas, alguns pesquisadores tm salientado a aceitao coletiva, a
tradicionalidade, a dinamicidade e a funcionalidade (GARCIA, 2000, p.18-19) como
fundamentais.
A msica folclrica , tambm, uma das reas de estudo na cincia do Folclore, e
possui caractersticas do folclore em geral, bem como algumas particularidades da rea
especfica. uma msica que corresponde aos impulsos criativos espontneos de um
grupo (LAMAS, 1992, p.15). O seu modo de transmisso e preservao oral e, por isso
mesmo, a sua expanso d-se com simplicidade e a aceitao no meio social coletiva, de
um modo comunitrio. H, tambm, uma funcionalidade ligada s msicas folclricas,
sendo que, normalmente, estas possuem uma funo especfica qual se destinam.
Aparecem, ento, as msicas de trabalho, os cantos para brincar, as cantilenas dos rituais
religiosos, as cantigas de ninar, enfim, uma grande variedade de msicas que possuem usos
e funes especficas.
Devido funcionalidade inerente msica folclrica, esta pode permear a vida das
pessoas, muitas vezes influenciando vivncias dirias. No caso da educao musical, essas
vivncias poderiam ser includas no ensino, enriquecendo-o e o diversificando. Oliveira
(2001, p. 91-92), investigando a freqncia de ocorrncias de elementos musicais
selecionados em uma mostra de canes folclricas na Bahia, realizou anlises musicais,
manualmente e por computador, verificando a confiabilidade do programa de informtica
que estava sendo testado.
Considerando o que foi mencionado anteriormente, e tendo em vista a presena do
folclore nas prticas pedaggico-musicais, pertinente indagar: A msica folclrica est
presente na vida dos alunos? Em que mbito das vidas dos alunos o folclore musical est
inserido? Quais as concepes que os alunos tm sobre a msica folclrica?
Essas questes partem da escassez de dados sistematizados acerca do que pensam os
alunos sobre o folclore musical, bem como de algumas observaes oriundas de projetos
prprios realizados anteriormente.
Todos esses aspectos desdobraram-se em muitas indagaes, gerando a necessidade
de pesquisar a este respeito.
Objetivo geral:
- Investigar a presena do folclore nas vivncias musicais de alunos do Ensino
Fundamental.
Objetivos especficos:
- Fazer um levantamento do repertrio folclrico-musical dos alunos do Ensino
Fundamental.
- Identificar como os alunos do Ensino Fundamental aprendem canes do
repertrio folclrico.
- Analisar as concepes dos alunos do Ensino Fundamental sobre a msica
folclrica.
Procedimentos Metodolgicos
O mtodo selecionado para esta pesquisa o survey.
A razo para a escolha desse mtodo justifica-se pelo objetivo de investigar,
descrever e compreender (BABBIE, 1999, p.95) as vivncias musicais de alunos do Ensino
Fundamental, pois o survey muito indicado no exame de temas sociais ...e tem uma
funo pedaggica, porque todas as deficincias ficam mais claras nele do que em outros
mtodos de pesquisa social, permitindo avaliaes conscientes de suas implicaes
(BABBIE, 1999, p.82).
Amostragem
Sero selecionados alunos que estejam regularmente matriculados no II ciclo de
escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Estes alunos encontram-se numa
faixa-etria que vai dos 9 anos aos 11 anos e 11 meses.
Buscar-se- uma relao das escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre
(RME-PoA) que ofeream aulas de msica no Ensino Fundamental, contendo nome,
endereo e telefone das escolas.
As escolas que preencherem esses requisitos sero divididas por regies: Regio
Norte, Regio Sul, Regio Leste, Regio Oeste.
De cada uma das regies ser escolhida uma escola, atravs de uma amostragem
randmica simples.
Depois de escolhidos os nomes das escolas, far-se- a seleo dos nomes dos alunos
que participaro das entrevistas.
Partindo-se dessa relao de alunos que tm possibilidade de participarem da
pesquisa, passar-se- para a etapa da obteno das listagens definitivas dos alunos por
escola.
De cada escola ser selecionado 1 aluno em cada ano-ciclo, o que tambm ser feito
atravs da amostragem randmica.
O total da amostra dos alunos que sero entrevistados ser originado da soma
total do nmero de alunos em cada regio. Assim, somando-se os 3 alunos da Regio Norte,
com os 3 alunos da Regio Sul, com os 3 alunos da Regio Leste, com os 3 alunos da
Regio Oeste tem-se o nmero de 12 alunos, que dever ser o resultado da amostra (N).
Tcnica de pesquisa
A tcnica que selecionada para esta pesquisa a da entrevista. A razo para essa
escolha deve-se possibilidade que esta tcnica oferece de acessar diversos dados,
situaes, conceitos, (HENTSCHKE, 2001) e, particularmente nesta investigao, as
vivncias musicais de alunos do Ensino Fundamental, verificando ou no a presena do
folclore.
O tipo de entrevista selecionado para coletar os dados a entrevista semi-
estruturada. Essa escolha deve-se natureza de informaes que esse tipo de entrevista
permite obter.
Tendo em vista as possibilidades apontadas quanto entrevista semi-estruturada,
ser organizado previamente um roteiro bsico, o qual dever conter questes relativas ao
repertrio musical que o aluno vivencia no seu dia-a-dia, perguntas quanto s formas de
aprendizado das canes do repertrio, alm das concepes dos alunos quanto msica
folclrica.
A coleta de dados ser realizada individualmente com cada aluno, permitindo uma
maior compreenso das informaes e facilitando o seu registro. Todas as entrevistas sero
gravadas e, posteriormente transcritas.
Anlise dos dados
As transcries das entrevistas realizadas com os alunos serviro de base para a
elaborao de uma anlise quanto s vivncias dos alunos, revelando seus possveis
repertrios folclrico-musicais, a partir das suas referncias durante as entrevistas,
juntamente com os modos de aprendizado destas canes (com a famlia, escola, amigos,
etc.).
Alm disso, ser elaborada uma listagem das msicas oriundas das indicaes dos
alunos acerca de suas vivncias musicais, e percebidas por eles como folclricas ou no
folclricas.
Quanto s concepes dos alunos em relao msica folclrica pretende-se, aps
as transcries das entrevistas, organiz-las em categorias, as quais devero ser definidas
posteriormente, aps a coleta dos dados, e tendo em vista a diversidade de depoimentos a
qual se poder chegar, bem como ao dilogo que se pretende manter com a literatura.
A anlise dos dados tambm ser desenvolvida tendo em vista uma consulta literatura
especializada em pesquisas sobre o folclore musical, que contenham informaes sobre as
msicas apontadas pelos alunos.
O resultado dessa anlise dever gerar um subsdio para registrar as percepes dos
alunos em precisar o que ou no folclore, identificar se o que vivenciam musicalmente
tradicional e conhecer a regio de onde procede essa msica. Esse subsdio poder servir
como ponto de partida para futuros trabalhos de investigao na mesma direo.
Referncias bibliogrficas
ANAIS DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE. Salvador, Bahia:
UNESCO: Comisso Nacional de Folclore, 1999.
ARROYO, Margarete. Educao musical: um processo de aculturao ou enculturao? Em
Pauta, v. 1, n. 2, p.29-43, 1990.
BABBIE, Earl. Mtodos de pesquisas de survey. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1999.
BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. Parmetros curriculares nacionais: arte.
Secretaria de Educao Fundamental. Braslia: MEC/SEF, 1998.
CMARA CASCUDO, Lus. Dicionrio do folclore brasileiro. 5. ed., Belo Horizonte:
Itatiaia, 1984.
COHEN, Louis; MANION, Lawrence. Research methods in education. 4. ed. London:
Routledge, 1994.
GARCIA, Rose Marie Reis. A compreenso do folclore. In: GARCIA, Rose Marie Reis
(org.). Para Compreender e Aplicar Folclore na Escola. Porto alegre: Comisso Gacha de
Folclore: Comisso de Educao, Cultura, Desporto, Cincia e Tecnologia da Assemblia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 2000 (p.16-21).
HENTSCHKE, Liane. Elaborao de um projeto de pesquisa. Montenegro: FUNDARTE
Seminrio Nacional de Arte e Educao, 2001. (Mimeo.)
LAMAS, Dulce Martins. A msica de tradio oral (folclrica) no Brasil. Rio de Janeiro:
Edio do Autor, 1992.
LAVILLE, Christian, DIONNE, Jean. A construo do saber: manual de metodologia da
pesquisa em cincias humanas. Porto Alegre: Editora Artes Mdicas Sul Ltda., Belo
Horizonte: Editora UFMG, 1999.
OLIVEIRA, Alda de Jesus. Msica na escola brasileira: freqncia de elementos musicais
em canes vernculas da Bahia utilizando anlise manual e por computador: sugestes
para aplicao na educao musical. Porto Alegre: ABEM, 2001.
SOUZA, Jusamara. O cotidiano como perspectiva para a aula de msica: concepo
didtica e exemplos prticos. Fundamentos da Educao Musical, n.3, p.61-74, jun. 1996.
______. Cotidiano e educao musical: abordagens tericas e metodolgicas. Porto
Alegre: Programa de Ps-Graduao em Msica do Instituto de Artes da UFRGS, 2000.
(captulo de livro)
TOURINHO, Irene. Seleo de repertrio para o ensino de msica. Em Pauta, ano V, n. 8,
p.17-28, 1993.
De dilogo sistema, a msica , nos dias de hoje,
uma prtica educativa transformadora?
Denise Andrade de Freitas Martins
Conservatrio Estadual de Msica Dr. J os Zccoli de Andrade
I tuiutaba - MG
denise@mgt.com.br
Resumo: O presente texto aborda a questo da aprendizagem da msica desde a relao informal de
mestre-aprendiz at o sistema educacional do conservatrio. Enfoca a formao dos msicos e a
criao de escolas no Brasil, com respeito ao chamado repertrio tradicional. E, verificando a
sobrevivncia dessas instituies, conduz interrogao sobre a prtica de sala de aula nos dias de
hoje.
Palavras-chave: ensino - espaos informal e formal, escolas de msica / conservatrios, educao
transformadora.
Abstract: This text shows the question os music learning since the informal relationship between
teacher-student until education system of conservatories. It shows the music formations and create
of schools in Brazil, according to the tradicional repertories and observing that the schools are alive,
we ask how are the classrrom practice nowdays.
Keywords: Teaching-informal and formal spaces, music school-conservatories, changing education.
Datam dos sculos XVIII e XIX, a Revoluo Francesa e a criao dos Conservatrios na
Europa. Segundo Silva (1998), as escolas de ensino musical das igrejas e catedrais no territrio
francs foram fechadas pela Revoluo Francesa. Numa importante iniciativa, o capito do
Estado Maior do Exrcito francs, Bernard Sarrete criou um corpo musical de quarenta e cinco
msicos para a Guarda Nacional, executando cantos e hinos revolucionrios nas festas pblicas
em Paris. Essa escola de msica militar oferecia ensino gratuito aos filhos dos soldados e
oficiais da Guarda Nacional (duas lies semanais de solfejo e trs de instrumento). A escola
passou a se chamar Instituto Nacional de Msica at se transformar no Conservatrio de Paris,
de acordo com a Lei de 3 de agosto de 1795. Situa-se assim a origem do Conservatrio de
Msica. (Silva apud Fernandes, 1997: 65-6).
1
De acordo com Harnoncourt, at finais do sculo XVIII a msica era um dilogo, uma
linguagem de sons; um mestre ensinava todos os aspectos de sua arte a um aprendiz.
(Harnoncourt, 1988). Com a revoluo, os msicos passaram a ser formados pelo sistema de
1
FERNANDES, Gislia. A origem do conservatrio nacional superior de msica e de dana de Paris.
(Monografia). Rio de Janeiro: Academia Nacional de Msica, 1997.
2
conservatrio. Portanto, a Revoluo Francesa rompeu com a relao mestre-aprendiz
transformando-a em professor-aluno; e o novo espao dessa relao passou a ser este outro
mundo, uma escola, esta instituio denominada Conservatrio.
Abordando a evoluo da msica artstica profana europia, Andrade (1987) usa o termo
deformao para caracterizar o quanto ela se distanciou de sua fonte original, que a
retemperava e realimentava, o canto popular; divorciando-se do verdadeiro esprito popular. Para
este autor, o sculo XIX Romantismo foi o reforo da deformao.
Raynor (1986), quando observa os aspectos sociais dentro da evoluo musical, parece
tomar a Revoluo Francesa como um ponto de referncia, ao usar a expresso antes dela e
depois dela. Diz que a msica, de uma necessidade social, converteu-se em prazer remoto e
esotrico, tornando-se fruio de uma elite requintada, em que homens e mulheres perderam a
comunicao imediata.
Em relao produo musical no Brasil, Lange (1966) constatou que seus criadores
foram os prprios mulatos, na maioria de origem humilde, desde que j existia em 1720 um
relativo nmero de cantores e instrumentistas na regio de Minas Gerais, alguns deles,
certamente, provenientes da Bahia, So Paulo e Rio de Janeiro devido rpida urbanizao em
conseqncia das jazidas de ouro. Esses msicos, com seu gosto e paixo, bem como uma
apurada tcnica, conduziram a msica ao apogeu nos anos de 1787-1790, possivelmente em
contato com obras europias. O exerccio musical parecia ter uma funo especfica o ensino
da msica , para esses msicos, que eram recebidos pelas corporaes existentes, como a
Casa do Mestre de Msica, numa certa correspondncia ao Conservatrio na Europa, segundo
o autor.
De acordo com Kiefer (1985), a formao desses msicos tinha um carter particular na
casa do professor e eles atuavam em conjuntos (orquestras) ou em coros (eventualmente
solistas), sendo a Igreja a grande empregadora. No perodo colonial brasileiro no se pensava na
formao de msicos solistas, o que foi modificado no sculo XIX, principalmente, pela vinda
da corte portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos em 1808; ocorreu assim uma ruptura da
histria da msica em nosso pas (Kiefer, 1985: 15).
Lucas (1980), em estudos realizados no Rio Grande do Sul, observou que no sculo XIX
os msicos eram profissionais (atividades pblicas e ensino da msica) ou amadores (educao
refinada, adorno, deleite); estes ltimos intensificaram sua participao a partir de 1860. Na
3
passagem ao sculo XX, despontaram dentre os amadores os profissionais virtuoses, msicos
da classe dominante que se serviriam da msica como profisso, basicamente: o msico
virtuose, o compositor, o cantor e (ou) o professor. Nesse momento surgiram escolas de msica
especializadas neste ensino, que expediam um diploma. Data de 1908 o primeiro Conservatrio
de Msica no estado do Rio Grande do Sul, que integrava o Instituto Livre de Belas Artes,
atual Instituto de Artes da UFRGS.
Diniz (1999) explica que a expanso vertiginosa no sculo XIX somada receptividade do
colonizado ao gosto colonizador, ou sua imitao, fez com que o piano fosse integrado vida
brasileira como smbolo de distino, gosto e prestgio, ocupando os sales bem como as salas
de msica em Conservatrios.
Como observa Kiefer (1985), o Rio de Janeiro, como capital do Brasil, encontrava-se
numa situao de crescente comrcio e importao de bens culturais, principalmente de pases
europeus e a formao de uma classe mdia estratificada, fatores esses responsveis pelo surto
de pianos na cidade, de incio imperando em apresentaes estritamente familiares e depois em
recitais pblicos.
Andrade (1987) comenta que no Brasil do sculo XIX o piano era cultivado nos saraus, at
que em 1841, s instncias de Francisco Manuel, Dom Pedro II fundou o Conservatrio de
Msica, que segundo Haas (1991), tornou-se em 1848 o Instituto Nacional de Msica, atual
Escola de Msica da UFRJ, responsvel pela formao de inmeros pianistas e compositores.
Em decorrncia da imigrao de pianistas europeus refugiados da guerra, firmou-se, no incio
do sculo XX, uma tradio solstica mais sria, que foi desestimulada posteriormente pelo
movimento musical e nvel de ensino brasileiros.
As escolas de msica ofereciam, basicamente, os cursos de piano e canto, principalmente,
devido importncia adquirida pelo piano no sculo passado, bem como do canto (Kiefer,
1985: 18).
Em Minas Gerais, segundo Gonalves (1993), com o objetivo de criar estabelecimentos
responsveis pelo ensino de msica que surgiram os conservatrios pblicos, por iniciativa
do ento governador Juscelino Kubitschek na dcada de 50. A oficializao, o reconhecimento
dessas escolas, bem como os cursos por elas propostos se relacionaram com a necessidade de
formar profissionais. Assim, os alunos dessas escolas com seus diplomas expedidos e
reconhecidos pelo Estado entrariam no mercado de trabalho, ou seja, seriam profissionais em
4
msica. Dentre os cursos propostos havia o Curso de Professor de Msica, o Curso de Canto e
o Curso de Instrumentistas, este com a inteno de preparar msicos executantes e virtuoses. O
Curso de Piano foi uma constante nessas escolas e os contedos programticos aplicados seriam
de responsabilidade do corpo docente, embora examinados pela Congregao e aprovados pela
Secretaria de Educao.
Como os profissionais de msica desta poca que tinham curso superior, na sua maioria,
haviam cursado ou cursavam o Conservatrio Mineiro de Msica de Belo Horizonte, o
Conservatrio Brasileiro de Msica do Rio de Janeiro e o Conservatrio Dramtico Musical de
So Paulo, a escolha desses programas foi influenciada e baseada nos j existentes nas
referidas escolas.
Essa prtica baseada, principalmente, no chamado repertrio tradicional mantida nas
escolas oficializadas de ensino em msica conservatrios at os dias de hoje, o que muito
questionado e criticado. Kaplan (1978: 15) comenta que o currculo, na funo de promover a
aprendizagem, apareceu desde que a Escola se tornou uma necessidade e a Educao um
sistema.
De acordo com o autor, esses currculos mtodos e programas , no campo da Educao
Musical, carecem de:
uma renovao fundamental [...], a aprendizagem msico-instrumental est ainda, em
inmeros aspectos, condicionada a postulados herdados de um empirismo tradicionalista e
de um subjetivismo totalmente nocivos, principais responsveis pelo fracasso social que o
ensino dos Conservatrios e Escolas de Msica apresentam em quase todos os pases [...]
fracasso este que se manifesta quando comprovamos o baixo ndice de rendimento, tanto
no sentido quantitativo como qualitativo, dos estabelecimentos ora mencionados
(Kaplan, 1978: 15).
Dourado (1995) chama esse repertrio tradicional com tendncia solista de repertrio
padro, e observa que uma proposta pedaggica direcionada unicamente a esse tipo de
formao profissional pode causar sensao de despreparo e frustrao nos profissionais,
principalmente pelas poucas possibilidades, existentes atualmente, no mercado de trabalho.
Pode-se dizer que os profissionais em msica, nos dias de hoje, so, em grande maioria,
absorvidos pelas escolas oficializadas de ensino em msica conservatrios e nessas
instituies so inmeras as preocupaes em relao ao repertrio aplicado, bem como a
metodologia usada; existindo, por parte de algumas dessas escolas, preocupao com o estudo
de compositores brasileiros, especialmente da segunda metade do sculo XX.
5
Muitas pesquisas vm sendo realizadas no Brasil, nesse campo, e a existncia, s no estado
de Minas Gerais, de doze Conservatrios Pblicos, comprova o interesse e comprometimento
com a educao musical do povo.
Mas, parece haver um distanciamento, na educao musical brasileira, entre teoria e prtica,
pensar e fazer, falar e executar e, assim, as constantes propostas de uma prtica de sala de aula
transformadora, ainda hoje, parecem maquiadas, para no dizer mascaradas. Por qu? Existiria
nisto alguma relao, com a passagem no ensino da msica de dilogo sistema?
Freire observa:
Somente um ser que capaz de sair de seu contexto, de distanciar-se dele para ficar
com ele; capaz de admir-lo para, objetivando-o, transform-lo e, transformando-o
saber-se transformado pela sua prpria criao; um ser que e est sendo no tempo que
o seu, um ser histrico, somente este capaz, por tudo isto, de comprometer-se
(Freire, 1981: 17).
O professor de msica para estar verdadeiramente comprometido com uma prtica
educativa transformadora no pode pensar essa atividade de modo ingnuo, mas pens-la de
forma a buscar um reencontro autntico e espontneo do homem-mundo, aqui especificamente
do aluno/professor-msica.
Nessa busca faz-se necessrio redimensionar as distncias existentes entre os diferentes
nveis de escolas de msica educao bsica e superior, tendo como referncia maior a prpria
formao do msico-professor, que tem, possivelmente, nos cursos superiores a oportunidade de
prolongamento, extenso e ampliao de suas vivncias e experincias em meio a propostas e
diretrizes curriculares. Cabe lembrar que, esse profissional, advindo das universidades, que em
sua maioria ocupa espao de trabalho nas escolas de msica-Conservatrios, escolas essas que
parecem ocupar em meio ao cenrio musical brasileiro um espao-apndice, desde que muito
pouco ou quase nada tm-se nelas acreditado e contribudo.
Para refletir: Rompeu-se com a relao de aprendizado dita espontnea, a de mestre-
aprendiz, institucionalizou-se essa relao, principalmente por meio da criao de escolas de
msica-Conservatrios, pouco, ou quase nada direcionou-se formao continuada desses
alunos-professores, e, o que se espera , em todos os nveis e mbitos, uma prtica educativo-
musical transformadora?
6
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ANDRADE, Mrio de. Pequena histria da msica. 9.ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987.
DINIZ, Edinha. Chiquinha Gonzaga: uma histria de vida. 4.ed. Rio de Janeiro: Record, Rosa
dos Tempos, 1999.
DOURADO, Oscar. Por um modelo novo. In: Revista da ABEM (Associao Brasileira de
Educao Musical), v. 2. n. 2. Junho, 1995. pp. 68-73.
FERNANDES, Gislia. A origem do conservatrio nacional superior de msica e de dana de
Paris. (Monografia). Rio de Janeiro: Academia Nacional de Msica, 1997.
FREIRE, Paulo. Educao e mudana. 3.ed. Trad. Moacir Gadotti e Llian Lopes Martin. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
GONALVES, Llia Neves. Educar pela msica: Um estudo sobre a criao e as concepes
pedaggico-musicais dos Conservatrios Estaduais Mineiros na dcada de 50. Dissertao
(Mestrado), Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1993.
HAAS, Eliane. A arte de tocar piano. Dissertao apresentada ao Centro de Ps-Graduao,
Pesquisa e Extenso do Conservatrio Brasileiro de Msica, como requisito parcial para obteno
do grau de Mestre em Msica rea de Concentrao em Educao Musical. Rio de Janeiro,
1991.
HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons. Caminhos para uma nova compreenso
musical. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.
KAPLAN, Jos Alberto. O ensino do piano O domnio psico-motor nas prticas curriculares da
educao msico-instrumental. Joo Pessoa: Editora Universitria / UFPB, 1978. (Coleo Texto
Didtico Srie Pedagogia / 2).
KIEFER, Bruno. Perspectivas da formao do msico e do educador musical no Brasil. In:
Msica - Textos e Contextos. Rio de Janeiro. v. 1. n. 1. FUNARTE Instituto Nacional de Msica,
Grupo de Estudos Musicais. Rio de Janeiro, fev., 1985. pp. 15-19.
LANGE, Curt. A organizao musical durante o perodo colonial brasileiro. Coimbra: Separata
do vol. IV das ACTAS do V Colquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, 1966. pp. 333-
433.
LUCAS, Maria Elizabeth. Classe dominante e cultura musical no Rio Grande do Sul: do
amadorismo profissionalizao. In: DACANAL, Jos e GONZAGA, Sergius. (orgs). RS:
Cultura e Ideologia. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1980. pp. 150-167.
7
RAYNOR, Henry. Histria social da msica; da idade mdia a Beethoven. Trad. Nathanael C.
Caixeiro. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
SILVA, Ana Cristina Ribeiro da. Teoria musical em seu tom original. Dissertao
apresentada ao Centro de Ps-Graduao, Pesquisa e Extenso do Conservatrio Brasileiro de
Msica como requisito parcial para a obteno do ttulo de Mestre em Msica - rea de
Concentrao em Educao Musical. Rio de Janeiro, 1998.
Uma anlise dos afastamentos composicionais
no Choro Torturado de Camargo Guarnieri
Elaine Milazzo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Any Raquel Carvalho
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
anyraque@cpovo.net
Resumo: Este trabalho motivado pela possvel relao entre o torturado, usado pelo
compositor como adjetivo para o gnero choro, e os reflexos musicais que este dado pode
representar. Fundamentado basicamente no conceito de Pantonalidade estabelecido por
Rudolph Rti em Tonality, Atonality, Pantonality A study of some trends in Twentieth
Century Music (1958), o presente trabalho prope-se a identificar o idioma contrapontstico
empregado por Camargo Guarnieri nesta obra atravs do exame dos elementos: melodia,
harmonia, ritmo e forma. O objetivo constatar o nvel de afastamento composicional na pea
Choro Torturado em relao ao paradigma da definio de choro vigente em sua poca.
Palavras-chave: choro, contraponto, Guarnieri.
Abstract: This study has been undertaken due to the possible relationship of the word
tortured, used by the composer as an adjective of the genre choro, and the musical reflexes
that this may represent. It aims at identifying the contrapuntal idiom used by Camargo
Guarnieri in this piece, with a basis on the definition of pantonality as established by Rudolph
Reti in his Tonality, Atonality, Pantonality A Study of some trends in Twentieth-Century
Music (1958). The elements to be examined include melody, harmony, rhythm, and form. The
object is to determine the level of compositional departure in the work Choro Torturado in
relationship to a paradigm of the choro genre of the same period.
Keywords: choro, counterpoint, Guarnieri.
INTRODUO
O Choro Torturado para piano de Camargo Guarnieri (1907-1993) foi
composto em 1930. Este ano est inserido em um perodo, denominado pelo prprio
compositor, de namoro com o atonalismo o qual estende-se de 1928 a 1934
(Verhaalen, 2001,p.28).
A intensa explorao e as novas experincias composicionais desta fase
tiveram inspirao nos estudos e anlises de obras de Schoenberg, Alois Haba, Alban
Berg e Hindemith (Verhaalen, 2001, p.28). Em 1930 Guarnieri tambm comps obras
orquestrais, camersticas e vocais, incluindo sua primeira obra para coro misto.
Sabemos que a grande utilizao de gneros brasileiros faz de Guarnieri um
compositor nacional em sua essncia. Suas primeiras composies intituladas choro
inclusive o Choro Torturado foram, de fato, inspiradas na msica dos conjuntos
1
de sopro, cordas e percusso que faziam serenatas pelas ruas da cidade, altas horas da
noite. Contudo, a partir de 1951, Guarnieri adotou este termo como substituto da
palavra concerto no ttulo das composies para instrumento solista com orquestra,
com o intuito de retratar a linguagem musical nacional utilizada nessas obras.
Guarnieri, em uma entrevista Gazeta Magazine em 16 de maro de 1941,
declara: Nesta segunda fase (a partir de 1928) acentuaram-se prodigiosamente em
mim as tendncias polifnicas baseadas no atonalismo.
1
Estas tendncias
polifnicas podem t-lo levado a escolher o choro para formatar uma das poucas
peas para piano solo compostas neste ano, j que o contraponto uma caracterstica
peculiar desse gnero. Resta-nos, ento, detectar como Guarnieri retrata o torturado
neste contraponto, caracterstico de sua linguagem nesta fase de experincia com o
atonalismo.
1. PROCEDIMENTOS DE TRABALHO
Este trabalho aborda a utilizao de um gnero genuinamente popular
brasileiro como recurso composicional na msica erudita brasileira. Alm disso, o
ttulo da obra instiga a pesquisa da possvel relao existente entre o torturado,
usado pelo compositor como adjetivo para o gnero choro, e os reflexos musicais que
este dado pode representar.
O objetivo desta pesquisa constatar o nvel de afastamento composicional de
Camargo Guarnieri na pea Choro Torturado em relao ao paradigma da definio
de choro vigente em sua poca. Pretende-se alcan-lo atravs do exame dos
elementos melodia, harmonia, ritmo e forma no Choro Torturado na busca pelo
idioma contrapontstico empregado por Guarnieri.
O trabalho ser estruturado em trs etapas:
1. Estabelecer o padro composicional referente ao conceito de choro com
base em pesquisa bibliogrfica a respeito desse gnero.
2. Examinar a melodia, harmonia, ritmo e forma no Choro Torturado na
busca pelo idioma contrapontstico empregado por Guarnieri;
3. Relacionar os pontos de desvio composicional de Camargo Guarnieri em
cada um dos parmetros estudados, com o conceito padro de choro
vigente em sua poca.
2
3. REFERENCIAL TERICO
Ao falarmos sobre o sculo XX, reconhecemos que se trata de um perodo
marcado pela diversidade de meios de expresso, inclusive no mbito musical. Cada
compositor acaba tornando-se um universo em si mesmo, por meio de suas tcnicas e
obras. Por esse motivo, encontramos certa dificuldade em identificar um fator comum
que possa ser abordado por um nico mtodo ou sistema de anlise.
Por alguns sculos, a tonalidade foi um conceito inquestionvel entre os
msicos. Conforme Reti, Devido ao seu extenso uso (e finalmente abuso) seu
abandono tornou-se inevitvel, sendo que os primeiros sinais de tal abandono
chocaram o mundo musical em sua essncia (1958, p.2). Toda msica que
contradizia os princpios da tonalidade denominava-se atonal. Reti insiste que esse
termo foi um exagero grosseiro pelo menos para aquela poca. Certamente hoje no
consideramos atonal a msica de Strauss, Reger ou Mahler, por exemplo, para a qual
o termo foi inicialmente usado (Reti, 1958, p.2).
De forma geral, poderamos entender por atonalidade, o abandono e a
libertao dos conceitos tradicionais... Porm, junto dessa libertao, algo ainda mais
vital, algo ainda mais radical estava em formao: um terceiro conceito, to diferente
da tonalidade quanto da atonalidade, mas no menos diferente de estgios
intermedirios como: tonalidade estendida, modalidade, politonalidade e
semelhantes.(Idem, p.3).
A este novo conceito Reti denomina pantonalidadade
2
, a qual em um plano
maior e com um novo tipo de formao composicional, desenvolve a idia inerente
tonalidade e, em seu rastro, um complexo de novos elementos tcnicos emergir de
fato, um novo conceito de harmonia (Ibidem, p.4).
Pantonalidade, segundo o autor, a grande sntese dentro das tendncias
musicais de nossa era... um conceito composicional geral da mesma maneira que
tonalidade ou atonalidade (Ibidem, p.118). Refere-se a uma tendncia, uma
abordagem. No se trata de uma tcnica, um esquema rgido ou um conjunto de regras
como, por exemplo, a tcnica fugal ou o dodecafonismo. Tanto a tonalidade, a
atonalidade ou a pantonalidade so conceitos que determinaram o curso da msica.
1
SANTOS, Flvio (org.). Camargo Guarnieri: o tempo e a msica, 2001, p.125.
2
Conforme Reti (p.4), pan a antiga palavra grega para todo, completo. Aqui o sentido de
universalidade, de totalidade.
3
Como complementao a esta teoria, tambm sero utilizados os livros de
Humphrey Searle e de Ludmila Ulehla. O primeiro, El Contrapunto del siglo XX
(1957), trar contribuies para o exame do contraponto em passagens
predominantemente harmnicas, atravs da proposta do autor de reconhecimento dos
centros tonais atravs das progresses das fundamentais.
O segundo, Contemporary Harmony (1966), ser til no exame da harmonia
em passagens predominantemente contrapontsticas. Ludmila Ulehla mostra que na
harmonia moderna no so mais as trades e os acordes de stima os responsveis para
o estabelecimento da tonalidade, mas sim, as novas combinaes intervalares que
criam maior ou menor grau de dissonncia. A tonalidade percebida quando
intervalos de fora predominam tanto na formao vertical quanto durante o curso da
linha meldica (1966, p.301).
BIBLIOGRAFIA INICIAL
ALMEIDA, Maurcio Zamith. Choro para piano e orquestra de Camargo Guarnieri:
Formalismo estrutural e presena de aspectos de musica brasileira.
Dissertao de mestrado - UNICAMP. So Paulo, 2000.
_____________. Verde e amarelo em preto e branco: as impresses do choro no
piano brasileiro. Dissertao de mestrado - UNICAMP. So Paulo, 1999.
ANDRADE, Mrio de. Aspectos da Msica Brasileira. So Paulo: Martins,1941.
____________. Ensaio sobre a msica brasileira. So Paulo: Martins, 1962.
CARVALHO, Ilmar. O Choro carioca: perspectiva scio-histrica. In: Revista de
cultura Vozes n9. Petrpolis, 1972.
DINIZ, Andr. Almanaque do Choro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,2003.
FIALKOW, Ney. The ponteios of Camargo Guarnieri. Tese de doutorado. The
Peabody Institute of the Johns Hopkins University, Baltimore, USA, 1995.
KIEFER, Bruno. Msica e dana popular. Porto Alegre: Movimento, 1983.
MARIZ, Vasco. Histria da Msica Brasileira. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1983.
MARCONDES, Marcos Antnio (org.).Enciclopdia da msica brasileira: popular,
erudita e folclrica 2Ed. So Paulo: Art Editora: Publifolha, 1988, p.200.
MARIZ, Vasco. Histria da Msica Brasileira. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1983.
MARTINS, Jos Henrique. Os estudos para piano de Camargo Guarnieri Uma
anlise dos elementos tcnicos e composicionais. Dissertao de mestrado.
UFRGS, Porto Alegre, 1993.
MORAES, Maria Jos D. Carrasqueira. A pianstica de Camargo Guarnieri
aprendida atravs dos vinte estudos para piano. Dissertao de mestrado.
USP, So Paulo, 1995.
NEVES, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira. So Paulo: Ricordi, 1981.
4
RAYMUNDO, Harley Aparecida Elbert. Camargo Guarnieri em fins de milnio: O
papel de um compositor nacional na formao da msica brasileira. Tese de
doutorado. USP, So Paulo, 1997.
RETI, Rudolph. Tonality Atonality Pantonality. Londres: Rockliff, 1958.
RIBAS, Geraldo Majela Brando. Camargo Guarnieri: uma anlise das Sonatinas
No. 3 e No. 6 para piano. Dissertao de mestrado. UFRGS, Porto Alegre,
2002.
S, Paulo Henrique Loureiro de. Receita de choro ao molho de Bandolim: uma
reflexo acerca do choro e sua forma de criao. Dissertao de Mestrado.
CBM, Petrpolis, 1999.
SALEK, Eliane Corra. A flexibilidade rtmo-meldica na interpretao do choro.
Dissertao de mestrado.UNIRIO, Rio de Janeiro, 1999.
SANTOS, Flvio (org.). Camargo Guarnieri: o tempo e a msica. Rio de Janeiro:
Funarte, 2001.
SEARLE, Humphrey. El Contrapunto del siglo XX. Barcelona: Vergara Editorial,
1957.
SILVA, Luis Felipe Splendore de Lima. Comunicao intercultural: o choro,
expresso musical brasileira. Tese de doutorado. UFRJ, Rio de Janeiro, 2001.
SILVA, Lutero Rodrigues da. As caractersticas da linguagem musical de Camargo
Guarnieri em suas sinfonias. Dissertao de mestrado. UNESP, So Paulo,
2001.
SOUZA, Luciana Cmara Queiroz de. Tempo e espao nos ponteios de M. Camargo
Guarnieri. Dissertao de mestrado. UFRJ, Rio de Janeiro, 2000.
TINHORO, Jos Ramos. Pequena Histria da Msica Popular da modinha ao
tropicalismo. So Paulo: Art Editora, 1996.
ULEHLA, Ludmila. Contemporary Harmony Romanticism through the Twelve-
Tone Row. New York: Free Press,1966.
VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri: expresses de uma vida. Trad: Vera
Silva Camargo Guarnieri. So Paulo: Edusp, 2001.
Partitura:
GUARNIERI, Camargo. Chro Torturado. So Paulo: Ricordi Brasileira, 1951.
Gravao:
SVERNER, Clara A msica brasileira para piano, 1971 - RCA Victor, BSL 1537.
1
12 Estudos para Violo de Francisco Mignone: a transcendncia do estudo
enquanto liberdade estilstica
Flvio Apro
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
apro@brfree.com.br
http://www.flavioapro.hpg.com.br
Gicomo Bartoloni
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Alberto T. I keda
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Resumo: Trata-se de um projeto de pesquisa em performance musical (estudos tcnico-
interpretativos, analticos e histricos de obras musicais e seus compositores sob a tica da
performance musical). Esse trabalho ter como objetivos centrais: realizar uma reviso crtica da
literatura sobre a obra violonstica de Mignone; apresentar um panorama histrico da forma Estudo
e da associao entre compositores no-violonistas e intrpretes consultores; tentar delinear a
escolha estilstica do compositor de uma obra na contramo da vanguarda; discutir ideologias e
categorizaes da historiografia da msica brasileira; comparar diferentes verses dos 12 Estudos.
Para a consecuo dessa pesquisa ser adotado o mtodo materialista dialtico. As concluses
tentaro esclarecer a opo de Mignone pela linguagem tonal em poca de plena efervescncia da
msica de vanguarda, as razes que levaram ao esquecimento desse ciclo por parte dos violonistas e
qual a concepo da forma Estudo (didtico, de concerto ou transcendental) adotada pelo
compositor nesta obra.
Palavras-chave: Francisco Mignone, violo, performance.
Abstract: This is a research project in music performance (technical and interpretative studies,
analisys and history about music compositions and its composers under the performance point-of-
view). This work will comprehend as main topics: a critical revision on the Mignones guitar
literature; presentation of a historical background of the Study and the association between
composers who do not play guitar and guitarists; attempts to demonstrate the composers stylistic
choice of composing music in opposition to the vanguard; ideological discussion and categories
outlined on the Brazilian music; a comparison between two versions of the 12 Estudos. Dialectical
method will be adopted to consecution of this research. Conclusions will attempt to explain
Mignones option for tonal language in a period of vanguard music fashion, the reasons that led to a
general overlook by most guitarists and what was the conception of Study (didact, concert or
transcendental) adopted by the composer in this composition.
Keywords : Francisco Mignone, guitar, performance research.
APRESENTAO DO TEMA
Francisco Mignone (1897-1986) foi uma das figuras mais versteis do cenrio musical
brasileiro do sculo XX pela sua intensa atuao como compositor, regente, pianista e
2
professor. Embora sua produo para piano seja mais difundida, sua obra para violo no
menos importante.
Seu primeiro interesse pelo violo, em 1953, resultou na composio de quatro pequenas
peas. Tudo indicava que Mignone no voltaria a escrever para o instrumento, conforme
declarao do compositor, de 1968:
Confesso que no sou muito admirador do violo, devido quele negcio
de escorregar o dedo na corda, aquele rudo que ningum consegue tirar,
nem o Segovia. E tem outra coisa, o violo um instrumento simptico
durante vinte minutos, depois comea a ficar cansativo.
1
Dois anos aps essa entrevista, o compositor travaria contato com o virtuose brasileiro
Carlos Barbosa-Lima, o que talvez o fizesse rever seus conceitos. Francisco Mignone (aos
73 anos de idade) surpreende ao compor o ciclo 12 Estudos Para Violo, que foram
publicados em 1973 pela editora norte-americana Columbia Music Company. Porm, talvez
em virtude dos altos desafios tcnicos que esses Estudos apresentam, no so obras to
freqentes no repertrio dos violonistas.
PROBLEMAS DA PESQUISA
As dcadas de 1960 e 1970 estavam fortemente impregnadas do modismo da msica de
vanguarda, em sua acepo mais radical. Os compositores que no estivessem escrevendo
msica serial, eletroacstica ou aleatria eram desprezados. O nacionalismo era
praticamente banido do repertrio daquela poca. Por que Francisco Mignone, que apesar
de j ter realizado experincias vanguardsticas (especialmente na msica de cmara),
decidiu caminhar pela contramo da vanguarda, escrevendo msica nacionalista tonal,
como no ciclo de 12 Estudos Para Violo?
1
Trecho de depoimento dado no dia 15/10/1968 para o Museu da Imagem e do Som, Rio de Janeiro.
3
Talvez em decorrncia do modismo pela vanguarda vigente na poca, os 12 Estudos Para
Violo de Francisco Mignone no tm merecido a ateno dos violonistas, desde a poca de
sua publicao. Seria em decorrncia de um preconceito dos violonistas em relao
tendncia nacionalista dessa obra, s dificuldades tcnicas exigidas para a execuo ou
tambm uma questo ideolgica?
Francisco Mignone no escreveu muitas obras em forma de Estudo conhecemos apenas
trs ciclos: Seis Estudos Transcendentais (para piano, 1931), 12 Estudos para Violo
(1970) e 12 Valsas Brasileiras em Forma de Estudo (1970). Qual a concepo dessa forma
para o compositor ao escrever para violo?
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
A motivao principal da escolha do tema estudar a linguagem violonstica de Francisco
Mignone, por meio da anlise de seu ciclo de Estudos e da busca de procedimentos que
auxiliem na resoluo de problemas tcnico-musicais e na discusso de aspectos
interpretativos. Tal pesquisa buscar contribuies para uma melhoria em nossa
interpretao como instrumentista ao apresentar o ciclo integral em audies pblicas.
A pesquisa dos 12 Estudos Para Violo de Francisco Mignone visa a:
1. salientar a importncia da associao entre compositores e intrpretes no repertrio
violonstico como uma tendncia especfica do sculo XX, iniciada com Andrs
Segovia e os compositores espanhis da dcada de 1920 e continuada no Brasil a partir
da dcada de 1950, destacando a contribuio da associao entre Mignone e Barbosa-
Lima;
2. ressaltar o uso das tonalidades e a importncia de se explorar regies harmnicas
incomuns no processo composicional de Francisco Mignone;
3. listar as diferenas entre os manuscritos (1970) e a edio da Columbia Music Company
(1973), fornecendo dados a futuros intrpretes sobre controvrsias existentes na edio
Columbia como fonte importante para um referencial interpretativo adequado, como
4
mudanas de notas, harmonias, dinmica, andamento, aggica, direo de fraseados, o
nvel de tenso exigido para determinadas frases;
4. oferecer referncias no aspecto da prtica interpretativa tanto para aqueles que j
conhecem os 12 Estudos quanto para aqueles que podero vir a estudar essa obra;
5. realizar execues pblicas e registro em CD da integral desta obra.
HIPTESES
Francisco Mignone estava na contramo da vanguarda porque estava possivelmente
saturado do modismo que permeou as dcadas de 1960 e 1970 e buscava uma libertao ao
escrever msica tonal. O violo, para o compositor, era um instrumento de tradio
romntica, portanto esse foi o estilo adotado para a escrita de suas obras violonsticas.
Os 12 Estudos Para Violo de Francisco Mignone no tm sido executados porque o
compositor sempre ficou em segundo plano em relao a Heitor Villa-Lobos para os
historigrafos da msica brasileira, acarretando, portanto, um grave problema, pois quase
todo compositor brasileiro hoje mais conhecido pelo nome do que pela sua msica. Uma
outra possibilidade refere-se ao fato de que os violonistas estavam imersos no esnobismo da
msica de vanguarda e evitavam abordar obras tonais e de carter nacionalista, ou tambm
questo de que a tcnica violonstica sofreu avanos nos ltimos vinte anos, e os Estudos
de Mignone estavam acima do padro mdio na poca em que foram publicados.
As concepes da forma Estudo para Francisco Mignone ao escrever para violo parecem
girar em torno do uso de tonalidades e regies incomuns, aberturas e extenses; formas
caractersticas brasileiras (chro, frevo, maxixe), estilo de estudos de concerto
(padronizao de elementos tcnicos n 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12) e transcendentais (mistura de
tcnicas n 3, 5, 7, 10, 11).
PROCEDIMENTOS METODOLGICOS E QUADRO TERICO
Sero adotadas as seguintes etapas de trabalho:
5
1. anlise comparativa entre diferentes verses;
2. levantamento bibliogrfico sobre o compositor e sua msica instrumental, bem como
documentos, cartas, depoimentos e outros itens relacionados;
3. leitura e anlise dos documentos e bibliografia;
4. entrevistas com familiares, intrpretes e pesquisadores;
5. relacionamento de informaes com outros trabalhos e dissertaes que possam
contribuir para a presente pesquisa.
Para a formao do nosso quadro terico, sero utilizados textos de Ferguson & Hamilton
(The New Grove Dictionary of Music and Musicians) para um histrico da forma Estudo;
Karl Manheim (Ideologia e Utopia) e Marilena Chau (O que Ideologia) para identificar
os problemas ideolgicos que permeiam a historiografia da msica brasileira.
SUMRIO PROVISRIO
Introduo: alguns problemas ideolgicos (Mignone X Villa-Lobos).
Captulo 1: reviso crtica da literatura sobre a obra violonstica de Mignone.
Captulo 2: breve histrico da forma Estudo e da associao entre compositores no-
violonistas e intrpretes consultores.
Captulo 3: anlise comparativa entre as duas verses dos 12 Estudos.
Concluses e bibliografia.
BIBLIOGRAFIA INICIAL
BARBEITAS, Flvio Terrigno. Circularidade Cultural e Nacionalismo nas 12 Valsas para
Violo de Francisco Mignone. Dissertao de mestrado apresentada Escola de Msica da
UFRJ, Rio de Janeiro, 1995.
6
BARTOLONI, Gicomo. Violo: a imagem que fez escola. Tese de doutoramento
apresentada UNESP, So Paulo, 2000.
CHAU, Marilena. O Que Ideologia. So Paulo: Brasiliense, 1980.
FERGUSON, H. & HAMILTON, K.L. Study. In: The New Grove Dictionary of Music
and Musicians. New York: Macmillan Publishing, 1980.
GERLING, Cristina Capparelli, ed. Trs Estudos Analticos: Villa-Lobos, Mignone e
Camargo Guarnieri. Dissertaes de mestrado apresentadas UFRGS, Porto Alegre, 2000.
GLOEDEN, Edelton. As 12 valsas brasileiras em forma de estudos para violo de
Francisco Mignone: um ciclo revisitado. Tese de doutoramento apresentada USP, So
Paulo, 2002.
KIEFER, Bruno. Mignone, vida e obra. Porto Alegre: Movimento, 1983.
MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
MARIZ, Vasco, ed. Francisco Mignone: o Homem e a Obra. Rio de Janeiro: Funarte, 1997.
MARQUES, Thais Maura. Seis Estudos Transcendentais para Piano de Francisco Mignone:
Anlise e Edio Crtica. Dissertao de Mestrado apresentada UFMG, Belo Horizonte,
2001.
MIGNONE, Francisco. A Parte do Anjo: Autocrtica de um Cinqentenrio. So Paulo,
Mangione, 1947.
SEGOVIA, Andrs. An Autobiography of the years 1839-1920. New York: Macmillan
Publishing, 1976.
7
SOARES, Albergio Claudino Diniz. Orientadores Tcnicos nos Estudos IV e VII de
Francisco Mignone. Dissertao de Mestrado apresentada UFBA, Bahia, 1998.
Aspectos formais de libretao na pera ABUL de Alberto Nepomuceno
Flvio Cardoso de Carvalho
Universidade Federal de Uberlndia (UFU)
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
fcarvalho@iar.unicamp.br
Resumo: Esta pesquisa tem como objeto a pera Abul de Alberto Nepomuceno. Estudaremos a
presena desta obra no cenrio musical e poltico do pr-nacionalismo musical brasileiro.
Analisaremos os diversos elementos musicais e extramusicais ali presentes relacionados busca de
uma identidade nacional aos moldes do momento histrico estudado (1895-1920). Aqui,
apresentamos o desenvolvimento da pesquisa relacionada ao estudo do libreto da pera em questo,
seus aspectos de versificao, mtrica e adequao musical desse texto, relacionados composio
e execuo musical.
Palavras-chave: pera brasileira, Alberto Nepomuceno, libreto de pera.
Abstract: This research intends to study the opera Abul composed by Alberto Nepomuceno. We
will study the presence of this work in the musical and political scenario during the pre-nationalistic
period in Brazilian music. We will also analyze the different musical and extra-musical elements
present in the opera, in search of a national identity according to the models of the historical period
in study (1895-1920). Here we present the development of the research related to the study of the
opera's libretto, its aspects of prose, versification, meter, musical adaptability to the musical text, as
they relate to the composition and to its performance.
Keywords: Brazilian opera, Alberto Nepomuceno, opera libretto
O material de estudo:
As principais fontes de estudos de nossa pesquisa so: a reduo piano-canto da
pera Abul editada pela Casa Musicale Lorenzo Sonzogno, em Milo, Itlia, em 1913 s
custas do prprio compositor e a grade orquestral da obra que um manuscrito autgrafo
do compositor
1
.
Neste momento, principiamos as investigaes sobre o libreto da pera e sua
adequao ao texto musical.
Inicialmente, constatamos que o texto presente na reduo piano-canto, que
bilnge portugus e italiano apresentava muitos erros de ortografia das palavras
portuguesas, dificultando sobremaneira seu entendimento, impedindo, assim, uma anlise
mais cuidadosa. Esta dificuldade nos levou procura do libreto editado da pera, sendo que
1
A pera Abul apresenta 11.745 compassos, 285 paginas na reduo piano-canto editada e 499 paginas na
grade orquestral autgrafa do compositor.
foram encontrados duas edies completas
2
distintas: uma de 1913 e outra de 1964.
A edio de 1913, bilnge, portugus e italiano, foi publicada pelo prprio
compositor em 1913, talvez para a estria da pera, em uma grfica italiana - a Tipografia
Cooperativa Operal. Aqui os problemas de ortografia do texto em portugus so tambm
muito expressivos e talvez se deva ao fato de que, sendo publicado na Itlia, os editores no
conheciam o idioma e a correta ortografia do texto. A procura do texto autgrafo inicial,
que deu origem a esta edio no obteve xito (at este momento) e, portanto, no h como
conjecturar sobre o tipo de material que foi enviado Itlia pelo compositor, seu grau de
legibilidade, etc.
A edio de 1964 no apresenta erros de ortografia, mas h uma srie de pontos em
que encontramos incongruncias com o libreto de 1913. Algumas palavras foram
substitudas, e algumas frases foram inteiramente alteradas.
Em uma comparao entre esses dois libretos completos, algumas caractersticas
foram estudadas:
1) A estrutura formal e mtrica do texto apresenta diferenas profundas entre eles, sendo
que na edio de 1913 o texto apresentado de uma forma mais homognea e a
versificao aparece mais estruturada que no libreto de 1964;
2) H, nas duas edies, um dilogo completo que no aparece na reduo ou na grade
orquestral.
Neste estudo do libreto estamos, tambm, analisando a versificao do texto em
italiano constantes no libreto e na reduo piano-canto editada. A presena de uma estrutura
formal de versificao, a mtrica regular dos versos, e a presena isolada deste mesmo texto
em italiano no manuscrito autgrafo do compositor, parecem indicar que o compositor
tenha trabalhado as linhas meldicas do canto usando o libreto em italiano, e no em
portugus como se pensava
3
. Ao observarmos as linhas do canto na pera Abul, tomando-
se como referncia o texto em portugus, verificarmos que em vrias partes h uma
adequao pouco natural das palavras em relao ao texto musical, o que no acontece se
considerarmos o texto em italiano.
2
H ainda uma edio de 1915 pela Tipografia Captolina D. Battanelli em Roma, Itlia, mas como o texto
apresenta muitos cortes, no foi considerada.
3
No manuscrito autgrafo, o texto em portugus aparece no terceiro ato, porm como um acrscimo escrito
em uma letra que no corresponde de Alberto Nepomuceno.
Fomos procura do texto que deu origem pera de Alberto Nepomuceno, que ele
mesmo chamou de ao legendria. A Folha de rosto da reduo editada apresenta o
nome do autor do conto como sendo Herbert C. Ward. Porm, ao encontrarmos a referida
obra, constatamos que h um pequeno erro na grafia do nome desse autor, sendo o correto
Herbert D. Ward, escritor americano que publicou o conto The Romance of the Faith em
folhetim no peridico The Century: a Popular Quarterly em Nova York, no ano de 1894
4
.
Quanto forma, a pera apresenta trs atos e quatro quadros sendo que,
internamente, cada ato tem a seguinte diviso: Ato 1 - quatro cenas; Ato 2 trs cenas; Ato
3 trs cenas. Os atos 1 e 2 correspondem a um quadro cada, sendo que o ato 3 possui dois
quadros: o primeiro compreende as cenas 1 e 2 e o segundo quadro apresenta a cena 3.
Os figurinos e cenrios da pera foram desenhados e, possivelmente executados
tambm, por Francisco Pacheco da Rocha e Nicola Denicola, Seus croquis podem ser vistos
em aquarela no Museu D. Joo VI na UFRJ. Eles compreendem os quatro quadros da pera
e dois figurinos, sendo que o restante do material ainda no foi localizado.
BIBLIOGRAFIA:
ANDRADE, Ayres. Francisco Manuel da Silva e seu tempo. Rio de Janeiro: TB, [19-]
CARVALHO, Flvio. Nacionalismo musical em Alberto Nepomuceno. In FRUM DO
CENTRO DE LINGUAGEM MUSICAL, V. 2002, So Paulo. Anais do frum. So Paulo:
ECA-USP, 2002. p. 38-44.
CONTIER, Arnaldo Daraya. Brasil novo, msica, nao e modernidade: os anos 20 e
30 So Paulo, 1988. Tese de Livre Docncia Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias
Humanas da Universidade de So Paulo.
CORREIA, Sergio Nepomuceno Alvin. Alberto Nepomuceno: catlogo geral. Rio de
Janeiro: MEC/FUNARTE, 1996.
DALHAUS, Carl. Dramaturgia dellopera italiana. In BIANCONI, L; PESTELLI, G. (ed).
Storia dellopera italiana. Turin: EDT, 1988. v. 6, p. 76-162.
FABBRI, P. Instituti metrici e formali. In BIANCONI, L; PESTELLI, G. (ed). Storia
dellopera italiana. Turin: EDT, 1988. v. 6, p. 163-234.
4
No h como saber de que modo Alberto Nepomuceno entrou em contato com esse conto. Muitas so as
conjecturas mas nenhuma pode ser comprovada.
NEPOMUCENO, A. Abul: pera em trs atos. Rio de janeiro, [191...]. Arquivo de obras
raras da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Msica da UFRJ. Partes
instrumentais. Manuscrito.
______________ Abul: pera em trs atos. Rio de janeiro, [191...]. Arquivo de obras
raras da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Msica da UFRJ. Grade orquestral
completa. Manuscrito autgrafo.
_______________ Abul: pera em trs atos. Milo: Casa musicale Lorenzo Sonzogno,
[1913]. Reduo piano-canto.
______________. Abul: libretto. Milano: Tipografia Cooperativa Operal, 1913.
______________. Abul: libretto. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Msica da
Universidade do Brasil, 1964.
______________. Abul: libretto. Roma: Tipografia Capitolina D. Battanelli, 1915.
SCHWARCZ, Llia Moritz. As barbas do imperador. So Paulo: Companhia das Letras,
1998.
WARD, Herbert D. (1894) The romance of the faith. The Century: a Popular Quarterly.
http://cdl.library.cornell.edu/cgi-bin/moa . Acesso em 10 dez 2002.
O uso de procedimentos analticos na memorizao da
Sonatina n 3 de Juan Carlos Paz: uma abordagem prtica
Francisco Koetz Wildt
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
pianowildt@bol.com.br
Any Raquel Carvalho
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
anyraque@cpovo.net
Resumo: O presente trabalho visa elaborar estratgias para a memorizao consciente de uma
partitura musical a partir do mtodo de mapeamento de partituras da autora Rebecca P. Shockley.
As estratgias apresentadas devero ter como principal caracterstica a aplicabilidade prtica, de
modo que a memorizao seja vista como um dos aspectos da prtica musical que estabelecem uma
ligao palpvel entre anlise e prtica interpretativa. O principal mbito terico no qual o trabalho
se insere o da memorizao musical. Este dever se relacionar com o campo da anlise medida
que esta se mostrar como ferramenta possvel a uma abordagem prtica. O referencial terico
adotado estar apoiado em duas linhas principais, uma que diz respeito a teorias analticas do sculo
XX, com especial enfoque no contraponto, e outra relacionada ao processo da memorizao no
estudo de piano. A obra escolhida para abordagem a Sonatina No. 3 para piano do compositor
argentino Juan Carlos Paz.
Palavras-chave: memorizao, anlise, mtodo.
Abstract: The present study intends to elaborate strategies for a conscious memorization of a
musical score, departing from a score mapping method as presented by Rebecca P. Schockley. The
principal characteristic of the strategies presented should be the practical applicability, so that
memorization can be seen as an aspect of musical practice that establishes a plausible union
between analysis and performance. The mains theoretical framework is that of musical
memorization. It will relate to analysis only as a possible tool for a practical approach. The
theoretical framework chosen will be sustained by two main works, one related to analytical
theories of the twentieth century, with special focus on counterpoint, and the other relates to the
memorization process at the piano. The work selected is Sonatina no. 3 for piano by the Argentine
Juan Carlos Paz. Due to the practical character of this work, memorization will not be focussed
from the psychological point of view.
Keywords: memorization, analysis, method.
INTRODUO
A vivncia nos meios em que se cultua e se ensina a arte de tocar piano nos faz
perceber que o emprego de mtodos racionais de memorizao musical ainda no
totalmente integrado ao cotidiano do estudante daquele instrumento. Este fato refletido
nas freqentes aluses feitas por muitos musicistas com relao dificuldade de se tocar de
memria.
Independente do fato de que possa haver discusses acerca do tocar ou no de
memria e ainda que a cultura musical de concerto passe a assimilar cada vez mais as
execues com partitura, tocar de memria estar sempre presente na vida do msico como
uma possibilidade, uma escolha espontnea baseada em valores artsticos pessoais do
intrprete.
Tendo em vista que a maior parte dos intrpretes tem mais familiaridade com o
repertrio musical baseado na tonalidade, pode-se afirmar que medida em que o pianista
adquire maior compreenso das estruturas musicais tonais, torna-se competente no
reconhecimento de padres de organizao destas estruturas, os quais se fundamentam no
princpio da hierarquia tonal. Tal competncia nem sempre construda com base em
mtodos racionais de memorizao, mas de uma maneira inconsciente que normalmente se
utiliza principalmente da mera repetio.
O repertrio atonal tido aqui como msica no organizada tecnicamente pelo uso
de tonalidades maiores ou menores (Krenek, 1940, p. vii) por sua vez, surge a partir de
um preceito esttico que visa o abandono dos princpios de estruturao tonal e demanda
outros pressupostos analticos. Ao estudar este repertrio, cujos princpios composicionais
j no so os da tonalidade, o intrprete no poder se apoiar nas relaes que tm aqueles
princpios como suporte. Como afirma Ernst Krenek:
Com a desintegrao inevitvel da tonalidade
trazida pela evoluo da msica no sculo XIX,
ergue-se questo sobre quais novos mtodos
poderiam ser planejados para criar formas
logicamente coerentes no material atonal.
O presente trabalho prope a abordagem de uma pea atonal para piano enfocando
elementos que auxiliem o intrprete na sua memorizao. A obra escolhida a Sonatina
No. 3 para piano do compositor argentino Juan Carlos Paz (1901 1972) e a abordagem
partir do princpio que o uso de um mtodo racional de memorizao s viabilizado a
partir da observao de relaes de ordem lgica em uma partitura.
OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa efetuar uma abordagem da Sonatina No. 3 de Juan
Carlos Paz que possibilite a elaborao de estratgias para sua memorizao.
REFERENCIAL TERICO
O referencial terico para este trabalho estar inicialmente apoiado em duas linhas
principais, uma que diz respeito a teorias analticas em msica do sculo XX com
enfoque especial no contraponto e outra relacionada com o processo da memorizao no
estudo do piano.
A primeira ter como ponto de partida o livro Studies in Counterpoint based on the
Twelve Tone Technique, de Ernst Krenek (1940), que dar as bases para uma
compreenso da estruturao meldica da obra escolhida. Segundo Krenek, o contraponto
aparece como um elemento de importncia fundamental na composio de obras atonais,
em contraste com o aspecto harmnico, preponderante na msica tonal.
Os elementos essenciais do sistema tonal tais como a
tonalidade, a funo tnica-dominante, a cadncia tonal so
fenmenos harmnicos. At aonde a atonalidade depende de
relaes motvicas para a sua organizao, ela aparentemente
traz o fenmeno meldico ao primeiro plano (Krenek, 1940, p.
viii).
O referencial terico no que se refere memorizao basear-se- no mtodo de
mapeamento de partituras proposto por Rebecca Payne Shockley. Este mtodo se
fundamenta na aplicao sistemtica do conhecimento de padres musicais (Shockley,
1997, p. 1) como uma maneira eficiente de se memorizar msica. O procedimento de
Shockely envolve basicamente dois elementos: o estudo da partitura longe do instrumento e
a confeco de um mapa destacando os elementos mais importantes da pea. Conforme
Shockley:
Uma boa estratgia geral procurar por padres e tentar determinar a forma
total de uma pea ou movimento antes de comear o seu mapa. Ao decidir
qual tipo de mapa poder ser mais til voc provavelmente vai querer
considerar elementos bsicos tais como melodia, estrutura fraseolgica, ritmo,
harmonia, textura e notar quaisquer padres que parecerem particularmente
importantes na pea.(Shockley, 1997, p. 7).
A procura por padres, assim como a busca por um mapeamento das relaes
estruturais em um nvel mais amplo da organizao musical servir de motes para a
estratgia de memorizao proposta pelo presente trabalho. A abordagem ser de carter
essencialmente prtico, visando propor uma possibilidade de aplicao direta para o
pianista. Apoia-se neste fato a escolha por um enfoque no direcionado ao estudo da
psicologia cognitiva.
METODOLOGIA
Este trabalho ser realizado atravs de uma anlise da estrutura motvica e rtmica
da pea que ir buscar nos procedimentos contrapontsticos um elemento de sentido e
direcionamento geral da pea. A anlise do contraponto dever se relacionar com a
memorizao na medida em que agrupa as unidades motvicas entre si.
As etapas a serem seguidas incluem:
1. Pesquisa bibliogrfica referente:
- s teorias analticas musicais para repertrio do sculo XX como ferramenta para a
anlise da pea;
- ao contraponto na msica do sculo XX, tendo como referncia inicial o Studies in
Counterpoint Based on the Twelve-Tone Technique, de Ernst Krenek;
- memorizao no estudo do piano, sob o ponto de vista prtico do instrumentista.
2. Fazer uma anlise da Sonatina No. 3 focalizando principalmente o encontro de
padres recorrentes na partitura e de procedimentos composicionais que estabeleam
relaes entre estes, os quais sero utilizadas para a sua memorizao;
3. Relacionar os padres recorrentes e a estrutura contrapontstica com a memorizao
musical baseado no sistema de mapeamento da autora Rebecca Shockley e,
4. Elaborao de um esquema para a memorizao intelectual da partitura, dada com
base nas relaes musicais estabelecidas, as quais devero fornecer possibilidades de
conexes entre os padres encontrados.
BIBLIOGRAFIA INICIAL
BARBACCI, Rodolfo. Educacion de la memoria musical. Buenos Aires: Ricordi
Americana, 1965.
BENJAMIN, Thomas. Music for analysis: examples from the common practice
period and the twentieth century. Boston: Houghton Mifflin, 1984.
BERY, Wallace. Structural functions in music. Nova Iorque: Dover, 1987.
BORNOFF, Jack. La musique et les moyens techniques du XX siecle. Florence:
Leo S. Olschki, 1979.
BRUSER, Madeline. The art of practicing: a guide to making music from the heart.
Nova Iorque: Bell Tower, 1997.
CONCEIO, Maria Beatriz Licurci. Processos de memorizao empregados para
a execuo do trecho intitulado Paganini do Carnaval op. 9 de Schumann.
1984.
DIAMOND, Harold J. Music analysis: na annotated guide to the literature. Nova
Iorque: Schirmer Books, 1991.
FERRARA, Lawrence. Philosophy and the analysis of music: bridges to musical
sound, form and reference. Nova Iorque: Greenwood Press, 1991.
GRIFFITHS, Paul. Enciclopdia da msica do sculo XX. So Paulo: Martins
Fontes, 1995.
GROSSMAN, Miriam. Recursos tcnicos para a memorizao consciente do texto
musical. 1984.
JOURDAIN, Robert. Msica, crebro e xtase (como a msica captura nossa
imaginao). Rio de Janeiro: Objetiva, 1998.
KRENEK, Ernst. Studies in counterpoint based on the twelve-tone technique.
Nova Iorque: G. Schirmer, 1940.
LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. Nova Iorque:
W. W. Norton, 1989.
MENEZES FILHO, Florivaldo. Apoteose de Schoenberg: ensaio sobre os
arqutipos da harmonia contmpornea (agosto de 1984/ dezembro de 1985).
So Paulo: Nova Stela, 1987.
MEYER, Leonard B. Music the arts and ideas: patterns and predictions in
twentieth-century culture. Chicago: University of Chicago, 1967.
PARASKEVAIDIS, Graciela. Musica dodecafonica y serialismo em america latina.
In: Brasiliana. Rio de Janeiro n. 2 (maio 1999), p. 38-47.
RAHN, John. Basic atonal theory. Nova Iorque: Schirmer Books, 1987.
SCHOCKLEY, Rebbeca Payne. Mapping music: for faster learning and secure
memory. Madison: A_R Editions 1997.
SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth-century: style and structure. Nova Iorque:
Schirmer Books, 1986.
SLONIMSKY, Nicolas. Music since 1900. Nova Iorque: W. W. Norton, 1937.
STRAUS, Joseph Natan. Introduction to post-tonal theory. New Jersey: Prentice-
Hall, 2000.
GERLING, Cristina Capparelli. Trs estudos analticos: Villa-Lobos, Mignone
e Camargo Guarnieri . In: Srie estudos Vol. 5. Porto Alegre (dez. 2000),
p. 7-260.
XENAKIS, Iannis. Formalized music: thought and mathematics in composition.
Nova Iorque: Schirmer Books, 1992.
Recepo e circularidade da msica erudita para piano na cidade de
Pelotas 1918 - 1968
I sabel Porto Nogueira
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
isadabel@terra.com.br
Marcelo Alves Brum
1
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Resumo: A pesquisa pretende realizar um diagnstico da recepo da msica erudita para piano na
cidade de Pelotas no perodo 1918-1968, a partir do levantamento e sistematizao das obras
veiculadas pelos concertos promovidos pelo Conservatrio de Msica da cidade de Pelotas e sua
repercusso nos meios de comunicao, bem como no repertrio executado pelos alunos da escola.
Tendo em vista que o Conservatrio foi e at hoje responsvel pela quase totalidade dos concertos
de msica erudita promovidos na cidade, e que o piano, neste perodo, o instrumento mais
procurado na escola; ser analisada a importncia deste repertrio como veculo de idias estticas e
como reflexo do pensamento da sociedade, contribuindo para a formao dos referenciais musicais
da cidade de Pelotas.
Palavras-chave: recepo musical, msica erudita para piano, msica e sociedade
Abstract: The research intends to evaluate the piano music reception in Pelotas from 1918 to 1968,
though a survey and sistemization of the works for piano performed at the concerts promoted by the
Music Conservatory of Pelotas and its repercussion in the communication means, as well as in the
school students repertoire. Knowing that the Conservatory was responsible for almost all the
classical music concerts promoted in the city and continues to be until today, and that in this period,
the piano was the instrument more sought at the school; the repertoire importance will be analised
as a vehicle of esthetic ideas and as a reflex of the society thought, contributing to the formation of
musical references in Pelotas city.
Keywords : musical reception, piano classical music, music and society
O Conservatrio de Msica da Universidade Federal de Pelotas, fundado em 18
de setembro de 1918, desenvolve, desde esta data at nossos dias, intensas atividades de
ensino musical e promoo de concertos, contribuindo para a qualificao da vida musical
da cidade e tornando-se importante veculo de idias estticas.
Pelo palco do Conservatrio de Msica, passaram ento inmeros pianistas
consagrados internacionalmente, tais como Cludio Arrau, Arthur Rubinstein, Ignaz
Friedman, Alexandre Brailowsky, Magda Tagliaferro, Guiomar Novaes, Francisco
Mignone; mais notadamente na poca da existncia da Sociedade de Cultura Artstica.
1
Bolsista de Iniciao Cientfica pela FAPERGS.
O estudo destes pianistas e sua importncia artstica, bem como o repertrio por
eles executado em concerto, trazem contribuies significativas para a reflexo sobre a
concepo pianstica da performance desde uma perspectiva histrica.
Uma anlise detalhada deste repertrio se faz extremamente importante, no
sentido de verificar e comprovar as relaes de circularidade que existiram entre este e as
obras executadas pelos alunos da escola em concertos pblicos, bem como de sua
repercusso e importncia no processo de construo das idias estticas desta sociedade.
Pretendemos que este estudo se processe com um levantamento integral das
obras para piano executadas em concertos promovidos pelo Conservatrio de Msica da
cidade de Pelotas no perodo 1918-1968 (perodo de fundao da escola at sua
incorporao Universidade Federal de Pelotas), com elaborao de planilhas (ex. anexo
1), grficos demonstrativos (ex.. anexo 2), levantamento e anlise de crnicas referentes aos
concertos de piano e entrevistas semi-estruturadas com pessoas que presenciaram estes
concertos, analisando sua recepo na cidade e buscando compor um quadro da
importncia do piano na cidade e do ambiente onde se processavam os concertos. Para
tanto, partiremos do modelo adotado na elaborao da Tese de Doutorado da Prof. Dr.
Isabel Porto Nogueira, apresentada Universidade Autnoma de Madri em 2001 (El
pianismo en la ciudad de Pelotas 1918-1968: una lectura histria, musicolgica y
antropolgica). Nesta Tese, a partir de um estudo exaustivo dos programas de recitais de
alunos de piano da escola no perodo 1918-1968, verificou-se a imensa renovao esttica
que este Conservatrio trouxe cidade de Pelotas, de onde podemos citar a presena de um
repertrio extremamente contemporneo para a poca, bem como as influncias ocorridas
no mbito artstico cultural desta cidade a partir da projeo musical de alunos e
profissionais brasileiros ou estrangeiros.
Inicialmente, partindo do material j analisado, apontaremos algumas
concluses a serem discutidas e aprofundadas, entre elas:
1. a existncia de disparidade, quanto contemporaneidade, entre obras
executadas em concertos e audies. Verificou-se que, surpreendentemente, o repertrio
executado pelos alunos da instituio era extremamente vanguardista em relao ao
executado pelos pianistas convidados. Neste caso, poderamos questionar a funo do
artista, em seus aspectos educativos, de contribuio para a renovao de repertrio, e
contribuio para formao de platias.
2. a presena macia de obras do compositor polons Frdric Franois Chopin,
nos perodos histricos at ento estudados. Sobre este aspecto especfico, poderamos
considerar como uma manuteno da tradio romntica, sempre tendo em vista, no
entanto, a importncia deste compositor para a msica pianstica e a empatia deste
repertrio com o pblico,;
3. a discusso da funo social e esttica dos concertos, sua representatividade
na construo dos referenciais estticos da cidade de Pelotas e sua repercusso nos meios
de comunicao.
Pretendemos adotar uma metodologia de carter histrico-social e analtico-
musical, fazendo do contexto social o ponto de convergncia dos tpicos abordados. Sero
imprescindveis consultas a textos especficos da rea de msica para piano, repertrio,
pianismo brasileiro, recepo do repertrio pianstico e musicologia.
Justificando a escolha de uma abordagem sociolgico-esttica, citamos o
musiclogo alemo radicado no Brasil, Bruno Kiefer:
num pas como o nosso, onde as tradies culturais prprias tiveram incio em
poca relativamente recente, onde as estrutura culturais ainda so precrias, o levantamento
sociolgico no campo da msica de suma importncia, conforme j frisamos vrias vezes. (...)
Certo, a compreenso de uma obra de arte verdadeira no necessita, a rigor, do conhecimento de
seus antecedentes, mas quando se busca a conscientizao do nosso processo cultural, tal
conhecimento imprescindvel (Kiefer, 1982 pg).
Pretende-se ainda que o presente trabalho possa contribuir para a literatura
crtica sobre o tema especfico da recepo musical, em sua perspectiva mais ampla da
relao msica e sociedade, tendo em vista seus desdobramentos estticos e culturais
Vale recordar que esta pesquisa somente se far possvel devido aos programas
de concerto que se conservam no Acervo Histrico do Conservatrio de Msica, cujo
trabalho de organizao e catalogao vem sendo realizado pela professora Isabel Nogueira
desde 1997, e que, juntamente com o Acervo de Partituras Musicais, sob responsabilidade
do professor Marcelo Cazarr; hoje vem concretizar-se no recentemente criado Centro de
Documentao Musical da Universidade Federal de Pelotas.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BOUSSEUR, Dominique e BOUSSEUR, Jean Ives. Revolues musicais: a msica
contempornea depois de 1945. Trad. Maria Jos Bellino Machado. Lisboa: Ed. Caminho,
1990. (edio original em francs).
CALDAS, Pedro Henrique. Histria do Conservatrio de Msica de Pelotas. Pelotas:
Semeador, 1992.
CARDOZO DA FONSECA, Anna Cristina. Histria social do piano- Nacionalismo/
Modernismo. Rio de Janeiro: 1808-1922. Dissertao de mestrado apresentada Escola de
Msica da UFRJ como requisito parcial obteno do ttulo de Mestre em Msica. Rio de
Janeiro, 1996
CORTE REAL, Antnio. Subsdios para a Histria da Msica no Rio Grande do Sul. Porto
Alegre: UFRGS / IEL, 1980.
DAMASCENO, Athos. Palco, salo e picadeiro em Porto Alegre no sculo XIX. Porto
Alegre: Globo, 1956.
DUVAL, Paulo. Histrico do Theatro Sete de Abril. Edio do autor.
FREITAS E CASTRO, nio de. A msica no Rio Grande do Sul no Sculo XIX.
Enciclopdia Rio Grandense vol.2- O Rio Grande Antigo. Porto Alegre: Livraria Sulina
Editora, 2
a
ed., 1968.
FUBINI, Enrico. La esttica musical desde la Antiguedad hasta el siglo XX. (trad.
castellana Carlos Guillermo Prez de Aranda). Madrid: Alianza, 1988. (edio original em
italiano).
KIEFER, Bruno. Histria da msica brasileira dos primrdios ao incio do sculo XX. 3
ed. Porto Alegre: Editora Movimento, 1982.
MARIZ, Vasco. Histria da msica no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilizao
Brasileira, 1983.
NASCIMENTO, Helosa Assumpo. Nossa cidade era assim. Vol.1 e 2. Pelotas: Ed.
Livraria Mundial, 1989 e 1994.
NAPOLITANO, Marcos. Histria e Msica. Belo Horizonte: Autntica, 2002.
OSRIO, Fernando. A cidade de pelotas.2 ed. Porto Alegre: Ed. Globo, 1962.
ROCHA, Cndida Isabel Madruga da. Um sculo de msica erudita em Pelotas (1827-
1927). Dissertao de mestrado. Porto Alegre: PUCRS, 1979.
ROSA GUEDES, Zuleika e ABREU, Maria. O piano na msica brasileira. Porto Alegre:
Editora Movimento, 1992.
SCHONBERG, Harold. The Great Pianists- from Mozart to the present. New York: Simon
and Schuster, 1963.
VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. So Paulo: Brasiliense, 1991.
ANEXO 1 - Exemplo Sucinto de Planilha de Repertrio
Autor Nacionalidade Obra Intrprete Nacionalidade Data Local
Beethoven, Ludwig van alem Sonata Appassionata, op. 57 Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Estudo, op. 10, em d maior Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Estudo, op. 10, em l menor Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Estudo, op. 10, em mi maior Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Estudo, op. 10, em d sustenido maior Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Preldio, em d menor Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Noturno, em d menor Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Berceuse Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Chopin, Frdric Franois polonesa Scherzo, em si bemol menor Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Liszt, Franz hngara Balada, em si menor Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Liszt, Franz hngara Murmrios do Bosque Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Liszt, Franz hngara Dansa dos Gnomos Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
Liszt, Franz hngara Rapsdia Hngara n. 2 Backaus, Wilhelm alem 24/08/21 Theatro Guarany
ANEXO 2: Exemplo Resumido de Grfico de Recorrncia de Compositores
Recorrncia de Compositores para Piano no Perodo de 1933 a 1937
60
16
15
9
7 7
6 6
5
4 4 4
3 3
2 2
1 1
0
10
20
30
40
50
60
70
Compositores
R
e
c
o
r
r
n
c
i
a
Chopin Liszt Debussy Beethoven Albniz Bach
Oswald Schumann Saint-Sans Granados Mendelssohn Villa-Lobos
Brahms Gluck Couperin Rameau Fres Sinding
Umbanda: msica e identidade
J os Carlos Teixeira J nior
Universidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ )
zeca_teixeira@bol.com.br
Resumo: A presente pesquisa etnomusicolgica, ainda em andamento, busca discutir o papel da
msica no processo de construo da identidade da umbanda na cidade do Rio de Janeiro. O
procedimento metodolgico consiste em: a) levantamento bibliogrfico referente construo da
identidade da religio umbanda como um processo de negociao e legitimao das prticas
religiosas afro-brasileiras na cidade do Rio de Janeiro; b) identificao dos principais elementos
musicais e suas transformaes dentro deste processo; c) trabalho de campo em terreiro, com
entrevistas e gravaes udio/visuais, para registrar suas configuraes simblicas e como se
relacionam no cotidiano de seus praticantes e no-praticantes. A partir da perspectiva de que a
msica desempenha um forte papel na configurao simblica desta religio e de que tal campo
simblico reproduz e transfigura a mesma lgica de distino da esfera social, acredita-se concluir
que a msica funciona com um dos elementos-chaves na construo da identidade da umbanda.
Palavras-chave: etnomusicologia, identidade, umbanda.
Abstract: This work researches how the music participate in the process of construction of the
umbandas identity in Rio de Janeiro city. The methodology of the research is: a) reading
bibliographycs about construction of umbandas identity as process of negotiation and legtimation
of the Afro-braziliam practices religious in Rio de Janeiro city; b) identification of the main musical
elements and its transformations in the process; c) fields labour in terreiros, with interview and
recording audiovisual, to register how the presents simbolics features mix with the umbandists and
non-umbandists. The umbandas music plays a very important role in the its identity, because this
simbolics features reproduce and transfigure the same distinctions logic of the social order.
Keywords: ethnomusicoly, identity, umbanda
Considerar a msica como parte integrante e essencial da simbologia da umbanda,
nos remete de imediato abordagem sociolgica de Pierre Bourdieu sobre o universo
simblico.
Bourdieu destaca a contribuio do pensamento materialista em sua abordagem
terica ao salientar o carter alegrico dos sistemas simblicos, os quais alm de possuir
uma ordem prpria, uma autonomia relativa, possui tambm uma estreita correspondncia
com as condies ideolgicas e polticas de existncia. Para ele, tais prticas e seus
elementos deixam de ser apenas instrumentos de comunicao e de conhecimento, viso
tpica dos estruturalistas, para tornarem-se expresso de uma lgica que a mesma da
ordem social: a lgica da distino.
Por lgica da distino entende-se todo um processo de troca de bens simblicos
que objetiva negociar e legitimar a relao entre determinadas diferenas sociais. A
construo da identidade de um grupo e do valor de seus bens simblicos passam a ser
orientadas muito menos por uma possvel essncia do que por uma lgica de organizao
social.
Srgio Miceli resume bem a viso de Bourdieu:
O trajeto de Bourdieu visa aliar o conhecimento da organizao interna do campo
simblico cuja eficcia reside justamente na possibilidade de ordenar o mundo
natural e social atravs de discursos, mensagens e representaes, que no passam
de alegorias que simulam a estrutura real de relaes sociais a uma percepo de
sua funo ideolgica e poltica e legitimar uma ordem arbitrria em que se funda o
sistema de dominao vigente. (Miceli, 2001, p. XIV)
Dentro desta perspectiva, a cultura afro-brasileira no se apresenta mais
simplesmente como uma cultura negra na sociedade brasileira, mas sim como prticas
culturais determinadas que se distinguem das prticas comuns de uma sociedade mais
ampla em que est inserida, cujo carter coercitivo provoca todo um processo de
negociao desta diferena. A umbanda, enquanto identidade religiosa, no apenas fruto
de um sincretismo religioso, de uma mistura gratuita de prticas e elementos religiosos,
mas sim fruto de todo um processo de integrao e legitimao de uma diferena (ou
vrias) na sociedade brasileira.
Renato Ortiz, ao destacar o processo de sistematizao e normatizao das prticas
da umbanda, termina apresentando alguns dos mecanismos de negociao utilizados pelas
prticas afro-brasileiras ps-escravido, caracterizadas principalmente por uma disperso e,
consequentemente, uma descentralizao, num processo de institucionalizao destas
prticas em determinados centros metropolitanos, como em So Paulo e Rio de Janeiro, por
exemplo.
Preocupados em constituir uma religio nacional, os umbandistas iniciam um
movimento de unificao que leva em parte burocratizao e institucionalizao do
culto (Ortiz, 1999, p.182).
Numa dialtica entre o que Yvone Maggie denominou de cdigo do santo e
cdigo burocrtico (Maggie, 2001, p. 131), promove-se no apenas uma transformao
no seu valor religioso dentro da sociedade brasileira, quando tais prticas deixam de ser
consideradas herticas para serem aceitas efetivamente como uma outra religio, como
tambm a prpria centralizao de tais prticas numa identidade denominada umbanda.
Entretanto, pensar esta identidade no significa nunca referir-se a uma
homogeneidade. Patrcia Birmam, atravs do paradoxo umbandista (Birmam, 1985, p.
23)
1
mostra com bastante clareza o quanto de heterogeneidade ainda existe sob a
denominao da umbanda. Por isso, admite-se aqui que a identidade configura-se mais por
uma diferena do que por uma essncia. Se comparar as diversas manifestaes e prticas
que se encontram denominadas como umbandista, duvidar-se- da prpria existncia de
uma unidade religiosa devido ao tamanho nmero de variantes, fato este que, numa anlise
estruturalista, se correria o risco de serem classificadas e hierarquizadas, elegendo algumas
caractersticas em detrimentos de outras.
Desta forma, ao pensar a posio de todas estas variantes em oposio a uma ordem
de valores vigentes e dominantes, toda essa diversidade passa a compor um quadro mais
centrado, configurando uma forma um pouco mais homognea, sendo possvel delimitar
um pouco mais o contorno de uma determinada identidade.
A msica da umbanda, ao participar intensamente do universo simblico desta
religio, acompanha inegavelmente todo esse processo de construo de identidade. Seja no
discurso dos seus prprios membros, quando atribuem a ela uma funcionalidade ritual, um
carter festivo, alm de ajudar a tornar presente uma identidade negra, africana, atravs dos
cantos e da percusso, como tambm no discurso dos no-praticantes, que geralmente
atribuem ela um carter repetitivo e montono, alm de contribuir na construo de um
ambiente pesado, em que a qualquer momento um santo poderia baixar, a msica, de
qualquer forma, apresenta-se como meio de reconhecimento de um determinado grupo.
Observando tais discursos, evidencia-se a presena de certos valores sonoros que
provocam nas pessoas envolvidas um movimento de incluso e excluso, de posio e
oposio, tpico nos processos de formao de grupos sociais.
A proposta de Samuel Arajo mostra-se aqui bastante til.
Da o conceito de trabalho acstico referir-se ao dispndio de energia humana em
fenmenos acsticos, i.e., aqueles fenmenos envolvendo a produo e propagao
de energia vibratria (ou, hoje em dia, de seus muitos simulacros), sua recepo
atravs do aparelho auditivo ou a sensao de som. Como qualquer outra forma
de trabalho, compreende uma noo de valor (diferenciada no tempo e no espao) e
1
O paradoxo umbandista refere-se a um conflito constante entre unidade e multiplicidade presente em
diversos elementos da umbanda, conforme apresentado pela autora.
pode envolver secundariamente conceitos que emergem da produo de valor em
condies histricas dadas. (Arajo, 1992-93, p. 30)
A msica, aqui, passa a ser encarada no apenas como um fruto imediato de uma
determinada prtica de produo, propagao e recepo sonora, mas tambm como meio
de construo e negociao de identidades atravs da produo de valor em condies
histricas determinadas. Promove-se, assim, uma aliana entre o fenmeno acstico-
musical e as suas funes ideolgicas
2
, viabilizando aquela lgica da distino e
evidenciando, assim, o carter identitrio e social do fenmeno musical.
O presente trabalho busca, em fim, discutir o papel da msica na construo da
identidade da umbanda, por meio de um estudo de caso num determinado terreiro da cidade
do Rio de Janeiro.
Bibliografias citadas
ARAJO, Samuel. Descolonizao e discurso: notas sobre o tempo, o poder e a noo de
msica. Revista Brasileira de Msica, Rio de Janeiro, n. 20, p. 25-31, 1995/93
BIRMAM, Patrcia. O que umbanda. So Paulo: Abril Cultural: Brasiliense, 1985.
MAGGIE, Yvonne. Guerra de Orix: um estudo de ritual e conflito. 3
ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2001.
MICELI, Srgio. Introduo: a fora do sentido. In: BOURDIEU, Pierre. A economia das
trocas simblicas. 5
ed. So Paulo: Ed. Perspectiva S.A., 2001.
ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira. 1
reimpr. da 2
ed. de 1991. So Paulo: Ed. Brasiliense, 1999.
2
A ideologia manifesta-se, aqui, no apenas como uma ferramenta autoritria de manipulao e dominao,
mas tambm como uma conscincia coletiva de um determinado grupo resultante de uma necessidade de
pensar a realidade e outros grupos a partir de sua posio (e oposio) em determinadas relaes sociais
(materiais e histricas) de existncia.
Os DJs e seus processos de aprendizagem musical
J uciane Araldi
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
juciane_jufem@yahoo.com.br / juciara@pop.com.br
Resumo: Este trabalho pretende investigar os processos de aprendizagem musical de DJs,
a partir da anlise da produo e atuao musical dos mesmos na cidade de Porto Alegre
RS. O estudo se insere no interesse da educao musical em verificar os diferentes espaos
do fazer musical, transitando na aprendizagem baseada em modelos (Bransford et al.,
2000). A metodologia utilizada ser o estudo multicasos, e a coleta dos dados ser feita por
meio de entrevistas semi-estruturadas, observaes e registros fotogrficos e audiovisuais.
Palavras-chave: DJ, aprendizagens, msica eletrnica.
Abstract: The purpuse of this work is to investigate the process of DJs musical training
from an analysis of their production and musical performances in the city of Porto Alegre
RS. Is studies the subject related to musical education, checking the different aspects of
making music, trough a training plan based on models (Bransford et all. 2000). The
methodology to be used will be a study based on many cases and the collection of data will
be carried out through semi-structured interviews, observations of photographs and audio-
visual recordings.
Keywords: DJ, training, electronic music.
1- DELIMITAO DO TEMA
O Disc Jockey (DJ) o msico que manipula discos de vinil e/ou discos compactos,
fazendo intervenes musicais por processos eletrnicos como: colagens, eco, acelerao e
desacelerao no andamento. Segundo Contador e Ferreira (1997, p. 30), o DJ est sempre
buscando efeitos rtmico-sonoros fazendo verdadeiras alteraes (...) por processos
eletrnicos. O processo de criao dos DJs consiste em uma expresso artstica que
engloba recorte e colagens musicais, utilizao do toca-discos como instrumento musical e
mixagens.
O fazer musical dos DJs se insere na prtica da msica eletrnica, uma vez que sua
matria prima provm de recursos eletroacsticos (efeitos), aparelhos para mixagens,
samplers, computadores, toca-discos. Para sua produo e atuao o DJ est sempre
procurando sons, garimpando o que pode oferecer elementos diferentes na criao de uma
nova msica, ou uma nova verso, de tal forma que os discos para ele, passam a ser muito
mais que um trabalho pronto, mas sim, um material que permite lapidao, manipulao e
recriao de uma nova composio.
Sobre a prtica dos DJs, Pires (2001), afirma que esses msicos tm como
caractersticas fundamentais do seu trabalho a tecnologia e a formao musical
popular. A tecnologia porque os DJs a utilizam em todas etapas de sua produo,
aprendendo a mexer com os equipamentos pelo prprio uso. A formao musical
popular porque a msica popular mundial que constitui a matria-prima desses
msicos, uma vez que seu som provm da manipulao direta daquilo que ouvem (ibid.
p. 86).
Ainda de acordo com Pires (2001, p.91), o DJ figura fundamental no processo de
mudana no modo como os discos e, mais amplamente, a gravao musical so vistos pelo
pblico, pela indstria musical e pelos prprios msicos. Isso acontece devido relao
ldica que os DJs tm com a tecnologia, uma vez que, para eles o importante no saber
apenas como funciona seu instrumento tcnico, mas sim, a descoberta de novos usos para
aquilo que se tem disponvel (Pires, 2001).
Outro elemento importante da sua prtica consiste na experimentao, que exerce
um papel fundamental, uma vez que neste mundo em que o som tem origens inusitadas e
os instrumentos utilizados no esto prontos, mas dependem de uma desconstruo para
tornarem-se de fato instrumentos musicais (Pires, 2001, p. 93).
No h dvidas que a prtica dos DJs complexa, o que exige dedicao e estudo
por parte desses msicos. Assim essa pesquisa se prope investigar como ocorrem os
processos de aprendizagem musical de DJs, respondendo a questes como: Quais
conhecimentos musicais os DJs julgam necessrios para sua atuao? Quais so as formas
de aprendizagem utilizadas na prtica de DJs? Onde aprendem a tocar?
2 METODOLOGIA
2.1 Estudo multicasos
A pesquisa pretende investigar quatro DJs atuantes na cidade de Porto Alegre- RS.
A opo metodolgica pelo estudo multicasos torna-se relevante uma vez que o
pesquisador pode ter a possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos, organizaes (...)
sem necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa (Trivios, 1987, p. 136).
Da mesma forma, Stake (2001) aponta que, mesmo estudando mais de um caso
simultaneamente, cada caso deve ser tratado como nico, na sua singularidade e
especificidade.
Uma das vantagens do mtodo consiste na sua estratgia de pesquisa se apoiar na
possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se vem concentrados no
caso visado, no estando o estudo submetido s restries ligadas comparao do caso
com outros casos (Laville e Dionne, 1999, p. 156).
2.2 Coleta de dados
As tcnicas utilizadas na coleta de informaes sero entrevistas semi-estruturadas
e observaes das atuaes dos DJs.
O registro ser em audiovisual e fotografias digitais, tanto nas entrevistas quanto
nas observaes das atuaes, meios estes que proporcionam um melhor desenvolvimento
e anlise do material emprico. Como assegura Trivios (1987), as prprias idias
interpretadas das gravaes podem sugerir novos encontros e novas entrevistas.
3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIES DA PESQUISA
Investigar essa temtica justifica-se, entre outros aspectos, no interesse da educao
musical em estudar diferentes formas de se fazer msica, bem como a relao das pessoas
com a mesma, reconhecendo que o conhecimento pedaggico-musical no se concentra
exclusivamente dentro dos institutos cientficos (Kraemer, 2000, p. 65). Essa temtica,
alm de permitir um novo olhar para as prticas de DJs, visa servir como literatura de
apoio para educadores musicais.
A partir do momento em que so criadas possibilidades de conhecer e entender os
diferentes fenmenos do fazer musical, ampliam-se as vises sobre as msicas que
circundam o espao social. Redimensionar o olhar para as diferentes prticas musicais
pode permitir ao educador musical refletir e ampliar as oportunidades de atuao
pedaggica.
De acordo com Souza (2001, p. 85) a compreenso de educao, adequada
sociedade na qual todos os lugares so lugares de aprendizagem, parece estar diretamente
articulada rpida transformao da sociedade dita do conhecimento. Essa
transformao conta com um novo olhar tambm da rea de educao musical, que se
fundamenta na idia de que possvel aprender e ensinar msica sem os procedimentos
tradicionais a que todos ns provavelmente fomos submetidos (ibid.p. 85).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BRANSFORD, John; BROWN, Ann L.; COCKING, Rodney R. (orgs). How people Learn
Brain, mind, experience, and school. Washington, D.C.: National Academia, 2000.
CONTADOR, Antnio Concorda e FERREIRA, Emanuel Lemos. Ritmo & Poesia: os
caminhos do rap. Lisboa: Assrio & Alvim, 1997.
KRAEMER, Rudolf-Dieter. Dimenses e funes do conhecimento pedaggico-
musical.Trad. Jusamara Souza. Em Pauta,. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, v.11, n. 16/17, 2000, p. 50 73.
LAVILLE, Christian e DIONNE, Jean. A construo do saber: Manual de metodologia da
pesquisa em cincias humanas. Porto Alegre: Artes Mdicas Sul Ltda, 1999.
PIRES, Maria Ceclia Cunha Morais. Criao e cultura de massa: algumas consideraes a
partir da msica dos DJs. Psicologia Clnica. Psicologia e Cultura: desafios
contemporneos. PUC Rio de Janeiro, v.12, n2, 2001, p. 83 96.
SOUZA, Jusamara. Mltiplos espaos e novas demandas profissionais: reconfigurando o
campo da Educao Musical. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO
BRASILEIRA DE EDUCAO MUSICAL, 10, Uberlndia MG, 2001, p. 85 92.
STAKE, Robert E. Case Studies. In: DENZIN, Norman K. e LINCOLN, Yvonna S.
Handbook of Qualitative Research. Second edition. London: Sage Publications Inc, 2001,
p. 435 454.
TRIVIOS, Augusto N. S. Introduo Pesquisa em Cincias Sociais: a pesquisa
qualitativa em educao. So Paulo: Atlas, 1987.
As funes do ensino de msica na escola, sob a tica da direo escolar:
um estudo nas escolas de Montenegro
J lia Maria Hummes
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Fundarte/UERGS)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
jhummes@terra.com.br
Resumo: O presente trabalho pretende investigar as funes da msica nas escolas de ensino
fundamental e mdio do municpio de Montenegro/RS, atravs de um survey realizado junto aos
diretores escolares. Tendo como instrumento de coleta de dados o questionrio, este survey pretende
colaborar com a educao musical no sentido de conhecermos mais detalhadamente os fatores que
facilitam ou dificultam o trabalho de msica nas escolas. Poder contribuir para a elaborao de
programas de formao de professores na rea de Educao Musical.
Palavras-chave: escola, funes da msica, survey
Abstract: The present work intends to investigate music functions in the fundamental and high-schools
of Montenegro/RS through a survey realized together with the city's school directors. Having a
questionnaire as an instrument for collecting data, this survey pretends to help musical education by
allowing it with more details about the factors that can facilitate or not music work in schools. It can
also contributes for an elaboration of teacher's formation programs in the field of Musical Education.
Keywords: school, music functions, survey
A escola tem sido objeto de investigao de muitos pesquisadores e pensadores na rea da
Educao. A literatura vem analisando o seu funcionamento, suas relaes, suas concepes, aes e
seu currculo, baseada na idia de que preciso investigar a escola para podermos nela intervir. Entre
esses pesquisadores encontram-se DOMINGUES (1988), FORQUIN (1993; 1995), ANDR (1995),
DEROUET (1995), GIROUX (1997; 1999), McLAREN (1997), SACRISTN e PREZ GMEZ
(1998).
Na rea da educao musical, muitos trabalhos tambm mostram a necessidade de conhecermos
melhor o cotidiano escolar, de descrevermos de modo mais aprofundado como a msica est presente
na escola e quais os fatores que favorecem ou dificultam sua presena. Pesquisadores na rea da
msica tm promovido estudos que buscam investigar a escola, professores, alunos e administrao
escolar, quanto s percepes e concepes dos diversos participantes da escola sobre o ensino de
msica e suas implicaes dentro das instituio. Entre eles, esto TOURINHO (1993; 1994), FREIRE
(1996), BASTIO (1998), SOUZA (1997; 2000), HENTSCHKE (2000), DEL BEN (2001), SOUZA,
HENTSCHKE, OLIVEIRA, DEL BEN, MATEIRO (2002).
SOUZA (1997) e DEL BEN (2001), em diferentes trabalhos, consideram que qualquer
programa de interveno em educao musical exige aes formativas, administrativas e curriculares
que estejam interligadas. Alertam para um problema que tem sido constatado por muitos pesquisadores:
para que a ao do professor de msica seja efetiva, preciso que a prtica pedaggica-musical escolar
constitua-se como parte de um projeto coletivo, envolvendo todos os membros da comunidade escolar,
inclusive a sua administrao. A partir dessas consideraes poderemos construir uma prtica que
satisfaa aos anseios dos alunos e professores da escola.
Com base nos trabalhos desenvolvidos por SOUZA, HENTSCHKE, OLIVEIRA, DEL BEN e
MATERIRO(2002), sobre as concepes e vivncias de professores do ensino fundamental em relao
a aula e msica, e com base tambm em minhas experincias com as escolas, atravs de meu trabalho
na FUNDARTE
1
, listei vrios questionamentos que deram origem a este projeto de investigao: Qual
a influncia da administrao escolar na efetivao do ensino de msica na escola? Como a educao
musical est presente no planejamento escolar? Quem so as pessoas envolvidas com a msica na
escola? Que condies a escola oferece para o ensino de msica? Que espao oferecido para o ensino
de msica na escola? Que funes a direo escolar atribui ao ensino de msica?
Este projeto de mestrado do Curso de Ps-Graduao em Educao Musical da UERGS, sob a
orientao da Prof Dr Liane Hentschke, pretende investigar, sob a tica da direo escolar, quais as
funes ensino de msica nas escolas. Ele justifica-se pela necessidade de uma descrio mais
detalhada dos fatores escolares envolvidos no ensino de msica e pela carncia de dados mais
especficos sobre as dimenses institucionais determinadas pela escola com relao ao ensino de
msica. Ele poder subsidiar o programa de formao de professores na rea de educao musical.
Para conduzir esta investigao optei por um survey, com um desenho interseccional, como
mtodo de pesquisa, que prev uma coleta de dados de uma amostra selecionada, na mesma ocasio.
Segundo BABBIE (1999, p.95) o termo "Pesquisa de survey refere-se a um tipo particular de pesquisa
social emprica, que inclui diferentes tipos, como censo demogrfico, pesquisa de opinio pblica,
pesquisa de mercado, entre outros. Para COHEN e MANION (1994, p.83) "os surveys agrupam dados
em um determinado momento com a inteno de descrever a natureza das condies existentes, ou de
identificar padres com os quais estas mesmas condies existentes podem ser comparadas, ou de
determinar as relaes que existem entre eventos especficos".
Optei por utilizar um questionrio semi-estruturado como tcnica de pesquisa por esse ser um
instrumento mais vivel de coleta de dados em funo do grande nmero de escolas. Davidson
considera que "um questionrio ideal possui as mesmas propriedades de uma boa lei: ele claro,
1
A Fundao Municipal de Artes de Montenegro - FUNDARTE - uma escola especfica de artes que h mais de 28 anos vem atuando no ensino de
msica, formando instrumentistas e professores de msica.
simples e uniformemente praticvel, seu design deve minimizar erros em potencial do
interlocutor...deve auxiliar a atrair o interesse da pessoa que est respondendo, estimulando sua
cooperao e apresentando respostas to prximas quanto possvel da realidade"( DAVIDSON,1976
apud COHEN e MANION 1994, p.93). O roteiro do questionrio dever contemplar os temas: dados de
identificao da escola; dados de identificao dos sujeitos; formao e atuao profissional; relaes
com o ensino de msica na escola; interesse em projetos na rea da msica; espaos oferecidos para o
ensino de msica (tempo, local e recursos), entre outros.
O locus para essa investigao, so todos os diretores das escolas de Ensino Fundamental e
Mdio do municpio de Montenegro/RS que tiverem disponibilidade para participarem dessa
investigao.
Bibliografia
ANDR, M.E.D. Etnografia da prtica escolar. Campinas: Papirus,1995.
BABBIE, E. Mtodos de Pesquisa de Survey. Traduo de Guilherme Cezarino. Belo Horizonte: Ed.
UFMG,1999.
BASTIO, Z. A. O interesse pelas aulas de msica na escola regular. In: Fundamentos da
educao musical, v. 4 1998.
COHEN, L.; MANION, L. Reseach methods en education. 4. Ed. Lodon: Routledge, 1994.
DEL BEN, L. M. Concepes e aes de educao musical escolar: trs estudos de caso. Porto
Alegre: Programa de Ps-graduao em Msica - Mestrado e Doutorado UFRGS, 2001 (Tese de
Doutorado).
DEROUET, J. L. Uma sociologia dos estabelecimentos escolares: as dificuldades para construir um
novo objeto cientfico. In: J. C. Forquin (org): Sociologia da educao. Dez anos de pesquisa. Rio de
Janeiro: Vozes, 1995, pp. 225-257.
DOMINGUES, J. L. O cotidiano da escola de 1
grau: o sonho e a realidade. Goinia: CEGRA/UFG;
So Paulo: Educ. Editora da PUCSP,1988.
FORQUIN, J. C. Escola e Cultura. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1993.
________. Sociologia da educao. Dez anos de pesquisa. Rio de janeiro: Vozes, 1995.
FREIRE, V. L. B. Msica, globalizao e currculos. Anais do VIII Encontro Anual da Associao
Brasileira de Educao Musical. Curitiba: ABEM, 1999, p. 10-16.
GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crtica da aprendizagem.
Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
________. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas polticas em educao. Porto
Alegre: Artes Mdicas,1999.
HENTSCHKE, L. (org). Educao musical em pases de lnguas neolatinas. Porto Alegre: Ed UFRGS,
2000.
HENTSCHKE, L., SOUZA, J. e OLIVEIRA, A. Relao da escola com a aula de msica: quatro
estudos de caso em escolas de Porto Alegre - RS e Salvador - BA. Anais do VIII Encontro Anual
da Associao Brasileira de Educao Musical. Curitiba : ABEM, 1999, p. 63.
Mc LAREN, P. A vida nas escolas. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
SACRISTN, J.G. e PREZ GMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. Traduo de
Ernani F. da Fonseca Rosa. 4 ed. Porto Alegre : Artes Mdicas Sul, 1998, p. 67- 97.
SOUZA, J. Relatrio: Relao da escola com a aula de msica: dois estudos de caso em escolas
de Porto Alegre. Porto Alegre: Projeto de Pesquisa do Programa de Ps- graduao em Msica -
Mestrado e Doutorado UFRGS, 1997 (Frum das Licenciatura da UFRGS).
SOUZA J., HENTSCHKE L., OLIVEIRA. A.,DEL BEN L., MATEIRO T. O que faz a msica na
escola? Porto Alegre: Programa de Ps-graduao em Msica do Instituto de Artes da
UFRGS, Srie Estudo 6, 2002.
TOURINHO, I. Msica e controle: necessidade e utilidade da msica nos ambientes ritualsticos
das instituies escolares. In: Em Pauta, ano V, No. 7, Porto Alegre,1993.
_________. A atividade musical como mecanismo de controle no ritual da escola. In: Boletim do Nea,
no. 2. Porto Alegre: 1994.
__________.Usos e funes da msica na escola pblica de 1 grau. Fundamentos da Educao
Musical, 1, 1993, p. 91-133.
Tcnicas expandidas para flauta transversal
Leonardo Loureiro Winter
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
llwinter@uol.com.br
Resumo: A msica de vanguarda para flauta tem possibilitado uma aplicao diferenciada do instrumento
em relao a outros perodos musicais. Esta aplicao diferenciada pode ser observada tanto na expanso dos
recursos normalmente empregados, quanto na utilizao de recursos at ento inexplorados no instrumento.
O alargamento das possibilidades sonoras do instrumento tem contribudo para o desenvolvimento da tcnica
instrumental, bem como para a utilizao de novas grafias para esta msica. Neste artigo so comentadas as
principais possibilidades de utilizao de tcnicas expandidas para a flauta transversal.
Palavras-chave: tcnicas expandidas para flauta
Abstract: The contemporary music for flute has offered a different application of the instrument in
comparison to the others periods. This different application can be observed in the expansion of the normally
apllied resources, as in the use of inexperienced resources in the instrument. The sounds possibilities
enlargement has contributed to the development of techniques for flute and the employ of the new ways of
music writing. This article comments the mains possibilities of expanded techniques for flute.
Keywords: expanded techniques for flute
I - Introduo
A msica de vanguarda
1
para flauta tem possibilitado uma aplicao diferenciada do
instrumento em relao a outros perodos musicais. Esta aplicao diferenciada pode ser observada
tanto na expanso dos recursos normalmente utilizados (registro, altura, durao, dinmica,
articulao), quanto na utilizao de possibilidades (recursos) at ento inexploradas no
instrumento, como por exemplo, a percusso de chaves
2
. Os compositores contemporneos tm se
interessado no alargamento das possibilidades sonoras do instrumento em termos de contrastes
acentuados de dinmica, de mudanas sbitas de registros, de experimentao de novas grafias, de
pesquisas de novos timbres, combinaes e recursos instrumentais, contribuindo para o
desenvolvimento da tcnica instrumental
3
.
II - Tcnicas Expandidas para Flauta Transversal
4
1. Termo utilizado para descrever artistas que adotam tcnicas ou objetivos expressivos radicalmente diferentes da
forma tradicional de compor. (New Grove Dictionary, 1980, 1:742).
2. Utilizao percussiva das chaves da flauta produzindo sons correspondentes. (Nota do autor).
3
Tcnica refere-se [...] parte material ou conjunto de processos de uma arte ou ainda, a maneira, jeito ou habilidade
especial de executar ou fazer algo. (Ferreira 1999, p.1935).
4
De acordo com o New Grove Dictionary, tcnicas expandidas so [...] possibilidades que vo alm das intenes do
fabricante ou do design original do instrumento (Sadie 1980).Tcnicas expandidas podem ser compreendidas como o
conjunto de recursos no-convencionais de um instrumento, geralmente aplicados msica de vanguarda. O termo
2
No incio do sculo XX, uma importante transformao, influenciada e complementada pelo
desenvolvimento industrial, alargou os elementos de contrastes sonoros no instrumento. Em 1912, o
compositor italiano Francisco Balilla Prattella utiliza sons produzidos em fbricas, automveis e
aeroplanos em sua msica. Tendo como base terica proclamao dos compositores futuristas
italianos durante a segunda dcada do sculo passado, concomitantemente com a possibilidade de
expanso dos contrastes sonoros da flauta foram incorporados elementos de rudos sonoros em
msica. Inicialmente os sons foram alterados atravs da utilizao de harmnicos e atravs do uso
variado de vibrato. Desde ento, alguns compositores passam a utilizar-se de novos parmetros para
a msica, seja atravs do alargamento da tessitura da flauta, do emprego de uma variedade
diversificada de timbres em uma nica nota, da utilizao de contrastes dinmicos e de articulao
ou atravs da explorao de novos recursos instrumentais.
Os primeiros compositores a utilizarem tcnicas expandidas para a flauta transversal foram
Edgard Varse em 1936 (com a obra Density 21.5 para flauta solo) e Andr Jolivet em 1938 (com
a obra Cinc Incantations para flauta solo). Entretanto, somente a partir de 1950 que estes novos
recursos passam a figurar mais decisivamente no repertrio da flauta transversal.
Segundo Pierre - Yves Artaud (Artaud 1986, p.76), as tcnicas expandidas para flauta podem ser
classificadas em trs categorias:
2.1- tcnicas relacionadas com interpretao tradicional;
2.2- tcnicas que empregam a ressonncia do tubo do instrumento;
2.3- tcnicas intermedirias.
Entre as tcnicas relacionadas com a interpretao tradicional, podemos citar as diferentes
formas de vibratos, flatterzunge (ou frulatto), sons parciais (ou harmnicos), bisbligliandi (ou
yellow tremollos), micro intervalos, glissandos, cantar e tocar ao mesmo tempo e sons multifnicos.
Entre os recursos que utilizam a ressonncia do tubo esto os pizzicatos, a percusso de chaves,
tongue-rams, jet whistles e sons de trompete. Dentre as tcnicas intermedirias podemos destacar os
whistles tones e os sons elicos. A seguir passaremos a descrever cada uma das tcnicas
pormenorizadamente.
2.1 - Tcnicas relacionadas com a interpretao tradicional
Vibrato
5
refere-se a uma linguagem musical que utiliza uma notao prpria para grafar a msica e no qual o intrprete produz
sons diferenciados em relao a outros perodos da histria da msica. Es ta utilizao dos recursos est relacionada
tanto com a ressonncia do instrumento quanto com a utilizao das tcnicas de interpretao tradicional. (Nota do
autor).
5
Segundo Robert Donington, vibrato [...] uma leve e mais ou menos rpida flutuao da afinao com objetivos
expressivos. (Donington 1980, p. 698).
3
Segundo PierreYves Artaud (Artaud 1986, p.76) o vibrato na flauta transversal pode ser
produzido na garganta (utilizado mais freqentemente); pelo diafragma (atravs de compresses
abdominais); por ligeiras vibraes nos lbios (conhecido como smorzato), ou pela inclinao da
cabea. Tambm possvel produzir o vibrato atravs do movimento dos dedos sobre os orifcios
da flauta, chamado de flattement
6
.
A amplitude do vibrato (pequena, normal, grande e varivel), a velocidade do vibrato (lento,
normal, rpido, variado ou sem vibrato) e a fonte de produo do vibrato (diafragma, garganta,
lbios ou cabea) podem ser indicadas pelo compositor na partitura.
Flatterzunge
7
Na flauta o frullato pode ser produzido pelo uso da lngua ou pela garganta, utilizando as
consoantes FRRR ou KRRR. Geralmente o frullato produzido pela lngua utilizado em
passagens fortes e / ou agudas, exigindo a utilizao de maior quantidade e presso de ar. A
desvantagem do uso do frullato de lngua a perda sonora apresentada principalmente quando em
deslocamento para o registro grave. O frullato de garganta produzido pela vibrao da vula e da
parte posterior da garganta, utilizando um rudo gutural com a slaba RRR. Geralmente, o frullato
de garganta utilizado em passagens suaves e no registro grave, apresentando como vantagem a
homogeneidade do som atravs dos registros. A escolha da fonte produtora do frullato (lngua ou
garganta) depende do contexto musical da obra.
Sons parciais (ou harmnicos)
8
Na msica de vanguarda para flauta, a srie harmnica vem sendo utilizada pelos
compositores como uma alternativa de timbre, produzindo uma sonoridade diferenciada em relao
ao dedilhado normal. Na parte da escrita musical, a srie harmnica tem sido utilizada
principalmente de duas maneiras: atravs da determinao dos harmnicos na partitura ou deixando
ao intrprete maior liberdade na escolha dos harmnicos. Atravs da utilizao de sons harmnicos
melodias podem ser construdas, produzindo sonoridades diferenciadas em relao ao dedilhado
original.
Bisbigliandi (ou yelllow tremolos)
6
Este tipo de vibrato foi muito utilizado na msica barroca com funo ornamental. O flattement geralmente era
utilizado em notas longas ou em notas de repouso. (Nota do autor).
7
Segundo Gustav Scheck (Scheck 1975, p.86), o flatterzunge provm da imitao do tremollo dos instrumentos de
cordas. Etimologicamente a palavra significa tremor da lngua. Outras denominaes utilizadas so: frullato, coup de
langue roul, tremolo avec la langue, t remolo roul, vibrato linguale ou tremollo dentale. Um dos primeiros
compositores a utilizarem o flatterzunge foi Richard Strauss na obra Don Quixote (1896-1897).
8
Quando uma nota produzida ela vem acompanhada de notas pertencentes sua srie harmnica. O primeiro som
denominado de fundamental, os sons seguintes so denominados de harmnicos parciais.(Nota do autor).
4
Segundo Pierre - Yves Artaud (Artaud op. cit, p.76), bisbligliandi uma [...} tcnica que
permite obter uma mudana de timbre em uma mesma nota, atravs da alternncia de vrias
digitaes ou da modificao na presso dos lbios. Essas mudanas de timbre provocam pequenas
alteraes de coloridos sonoros em uma mesma nota. Vrias digitaes podem ser empregadas em
uma nica nota, produzindo cada uma coloridos diferenciados. A velocidade empregada na
mudana de timbre pode variar de lento a rpido.
Microintervalos
Utilizao de intervalos menores que o semitom. Na flauta transversal podem ser produzidos
pelos lbios (abrindo ou fechando o orifcio da embocadura com os lbios) ou atravs da
progressiva abertura ou fechamento de chaves no instrumento.
Glissandos e portamentos
9
De acordo com Gustav Scheck (Scheck 1975, p. 89), a origem dos glissandos pode ser
encontrada nos instrumentos de cordas e do canto, principalmente ligados maneira no-europia
de executar. Segundo o dicionrio Harvard (Randel 1995, p.194), nos instrumentos de sopro [...]
a passagem contnua de uma nota para a outra. Na flauta, glissandos e portamentos so produzidos
atravs da modificao da posio dos lbios, da abertura ou fechamento gradual das chaves do
instrumento e do movimento de rotao de dentro para fora do bocal da flauta.
Sons multifnicos
Segundo o dicionrio Harvard (Randel op. cit.), sons multifnicos so [...] duas ou mais
notas produzidas simultaneamente atravs de um dedilhado especial e de uma maneira diferenciada
de soprar, freqentemente utilizado em msica contempornea. Embora no seja uma tcnica
exclusivamente empregada no sculo XX (conhecida h milnios no Oriente), os sons multifnicos
representam uma nova possibilidade para os compositores contemporneos, na medida em que
permitem a produo de acordes de sons variados. Na flauta existe a possibilidade de realizar os
sons multifnicos em todas as notas, combinando duas, trs, quatro e at cinco notas simultneas.
10
9
Uma pequena diferenciao pode ser utilizada entre o glissando e o portamento. Segundo David Boyden (Boyden
1980, p 447), glissando quando se distingue cada semitom empregado na passagem e portamento quando no
possvel distinguir cada nota, quando os sons so deslizados continuamente, como por exemplo, no trombone de vara.
Ainda segundo Boyden (Boyden, ibidem), o piano e a harpa so instrumentos que podem realizar somente glissandos,
enquanto que os instrumentos de cordas podem realizar glissandos e portamentos.
10 Para relao completa de multifnicos, ver: Pierre - Yves Artaud e Grard Geay, Flutes au Present, Paris:
Transatlantiques, 1980.
5
Tocar s com o bocal
Trata-se da utilizao do bocal da flauta para produzir sons diferenciados. Podem ser
utilizados os dedos, a palma da mo ou deixando livre o orifcio final da cabea da flauta. Cada uma
das tcnicas empregadas produz um som diferenciado.
Som e voz simultneos
o ato de tocar e cantar simultaneamente no instrumento. Segundo Artaud e Geay (Artaud e
Geay op. cit, p.119), existem quatro possibilidades de aplicar a tcnica:
1) utilizar a nota da flauta como pedal enquanto a voz realiza a melodia;
2) utilizar a voz como pedal enquanto a flauta realiza a melodia;
3) tocar e cantar ao mesmo tempo (geralmente em oitavas ou quintas);
4) cantar e tocar ao mesmo tempo com padres independentes de melodia.
2.2 - Tcnicas que utilizam a ressonncia do tubo
11
:
Pizzicato
Tambm conhecido como rudo de chaves, trata-se de um golpe de lngua sem a emisso de
som. O tubo da flauta utilizado como amplificador sonoro.
Percusso de chaves
Golpe de lngua com emisso de som. Utilizado primeiramente por Edgard Varse na obra
para flauta solo Density 21.5
Tongue-rams
So sons obtidos atravs da compresso da lngua dentro do orifcio da embocadura. Os
lbios do flautista cobrem totalmente o orifcio da flauta e a lngua fecha rapidamente o orifcio.
Isto produz na nota escolhida e digitada uma ressonncia com intervalo de stima abaixo da nota
digitada.
J et-Whistles
Obtido atravs do fechamento total do orifcio da flauta pelos lbios e soprando de maneira
violenta, produzindo um som agudo, semelhante a um silvo. Utilizado por Villa-Lobos na obra
Assobio Jato para flauta e violoncelo.
11
Tcnicas que produzem sons utilizando o corpo da flauta como aparelho amplificador.(Nota do autor).
6
Sons de trompete
Sonoridade produzida atravs do fechamento do orifcio da flauta pelos lbios e da
utilizao dos lbios de maneira semelhante ao uso empregado pelos instrumentos de metais.
Tambm pode ser produzido separando a cabea da flauta de seu corpo e soprando diretamente com
os lbios no corpo do instrumento.
2.3 - Tcnicas intermedirias
Whistles Tons
Obtido atravs de uma posio da embocadura bem afastada (aberta) do orifcio da flauta e
soprando ligeiramente, gerando um som agudo e fino.
Sons Eleos
Segundo Artaud e Geay (Artaud e Geay op.cit., p.118), tratam-se de sons onde somente o
sopro escutado.
Respirao Circular
Tcnica que consiste em inalar atravs do nariz, ao mesmo tempo em que o ar contido na
cavidade bocal expelido, causando uma sensao de continuidade sonora (sem interrupo do
som).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARTAUD, Pierre-Yves. La flte. Paris: Latts, 1986. Traduo Carme Lleix. Arribas. Barcelona:
Labor, 1991. 94p.
ARTAUD, Pierre-Yves; GEAY, Grard. Fltes au prsent: traite des techniques contemporaines
sur les fltes traversires lusage des compositeurs et des flutistes. Paris: Transatlantiques, 1980.
133p.
BROWN, Howard Meyer. s.v. Flute. In: The New Grove Dictionary of Music and Musician, ed.
by Stanley Sadie. New York: Macmillan, 1980. vol.6, pg. 664-681.
BOYDEN, David. s.v. Glissando. In: The New Grove Dictionary of Musicand Musician, ed. by
Stanley Sadie . New York: Macmillan, 1980. vol.7, pg. 447.
DVILA, Raul Costa. A Articulao na Flauta Transversal Moderna: Uma abordagem histrica.
2000. Dissertao (Mestrado em Msica). So Paulo: Faculdade Carlos Gomes, 2000. 189 fls.
7
DICK, Robert. The Other Flute. London: Oxford University Press, 1975.
DONINGTON, Robert. s.v. Vibrato. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed.
by Stanley Sadie. New York: Macmillan, 1980. vol. 19, pg. 698.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda (ed.). s.v. Tcnica. In: Dicionrio Novo Aurlio Sculo
XXI. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
GRIFFTHS, Paul. A Msica Moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1987.
RANDEL, Don (org.). s.v. multiphonics In: Harvard concise dictionary of music. Cambridge,
Mass: Belknap Press, 1995.
SCHECK, Gustav. Die Flte und ihre Musik. Mainz: Schott, 1975
SADIE, Stanley (ed.). s.v. Expanded Techniques. In: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians. New York:Macmillan, 1980.
TOFF, Nancy.. The Flute Book: a complete guide for students and performers. 2 ed. New York:
Oxford Press, 1996. 495p.
Ernst Widmer (1927-1990): msica de cmara para flauta
Leonardo Loureiro Winter
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
llwinter@uol.com.br
Resumo: Esta pesquisa enfoca o trabalho do compositor suo-brasileiro Ernst Widmer (1927-1990) em
obras de cmara para flauta transversal. Embora Widmer tenha composto um nmero significativo de obras
para flauta transversal, a maior parte da produo do compositor encontra-se em manuscrito. Vrias questes
pertinentes s obras para flauta permanecem sem respostas, seja em termos de interpretao, de edio ou
anlise, possibilitando campos para pesquisas. Atravs do levantamento e anlise do repertrio para flauta de
Widmer podemos verificar a diversidade estilstica e o emprego de diferentes tcnicas composicionais. So
obras que merecem um estudo aprofundado com o objetivo de difundir e enriquecer o repertrio de msica
brasileira contempornea para flauta transversal.
Palavras-chave: Widmer: Msica de cmara para flauta.
Abstract: This work is a research about the brasilian-swiss composer Ernst Widmer (1927-1990) in works of
chamber music for flute. Although Widmer has composed a significant number of works for flute, the
majority of the works are on the manuscripts. Many questions about the works remain without answers in
terms of interpretation, edition or analyses.Through this works we can observ the development of the
composer and the employ of different techniques. The music produced by Widmer are works of quality that
deserv a research to spread and enrich the repertoire of brasilian contemporary music for flute.
Keywords: Widmer: chamber music for flute
O objetivo deste trabalho proporcionar uma viso abrangente da msica de cmara para
flauta transversal do compositor Ernst Widmer, oferecendo ao leitor um primeiro contato com a
produo do compositor para este instrumento (veja Tabela 1). As obras foram classificadas de
acordo com as foras instrumentais utilizadas, iniciando com obras para flauta solo. So oferecidas
informaes como instrumentao, nome e nmero de opus, ano de composio e estria, durao,
intrpretes, registros e sntese analtica. A anlise detalhada e minuciosa de cada uma das obras ser
oferecida em um momento posterior adequado.
Tabela 1:
Msica de cmara para flauta transversal de Ernst Widmer:
Nome Opus- Ano Formao Instrumento(s)
La belle se siet Op. 25 (1961/62) Solo Fl.contralto / Flauta
Trgua Op. 93b (1976) Solo Flauta
Ondina Op 134 (1985) Duo Flauta e piano
Partita II Op.23 (1962) Duo Fl. Piano/Cravo
Brasiliana Op. 166 (1988) Trio Fl, Cello e Cravo
Cosmofonia IV Op. 164 (1988) Trio Fl, viola, harpa
Argus Op. 131 (1982) Quarteto Quatro flautas
/ saxofones
Paisagem Baiana IV
Lagoa do Abaet
Op. 149 (1986) Quarteto Fl, violino, viola e
violoncello.
Quatro Madeiras Op.170 a (1988) Quarteto Fl, ob, cl. e fgt.
Quinteto I Op. 12 (1954) Quinteto Fl, ob, cl, fgt, tpa.
Quodlibet Op. 14 (1955-60) Quinteto Fl, ob, cl, fgt, tpa.
30 Variaes Op. 16
a (1958) Quinteto Fl, ob, cl, fgt, tpa
Divertimento III-
Cco
Op. 22 (1961) Quinteto Fl, cl, trpa, piano e
percusso
Quinteto II Op. 63 (1969-75) Quinteto Fl, ob, cl, fgt, tpa
QuintetoIII-
Diafonia
Op. 88 (1974) Quinteto Fl, ob, cl, fgt, tpa.
Quinteto IV-
Carrillon
Op. 107 (1978) Quinteto Fl, ob, cl, fgt, tpa.
Notturno Op. 79 (1973) 10 instrumentos 2fls, 2 cls, 2 obs,
2 fag, 2 trompas.
Paisagem Baiana III
Piat
Op. 123 (1980) Sexteto Quinteto com piano
Fonte: Ernst Widmer Werkverzeichnis (EWV) / Ernst Widmer Gesellschaft-1999
Flauta solo
Widmer comps duas obras
1
nas quais ele utiliza a flauta como instrumento solo: as obras
denominadas La belle se siet op.25 e a obra Trgua op. 93b.
La belle se siet opus 25 para flauta solo (1962).
Esta obra foi composta originalmente para flauta doce contralto. A verso para flauta
transversal foi realizada pelo prprio compositor. Formalmente a obra constituda de um rond
com variaes sobre uma cano de Guillaume Dufay (c.1400-1474). Widmer apresenta o tema
(ide fixe) intercalado de variaes em forma ABACADA. A obra foi dedicada ao flautista alemo
Armin Guthmann (ento professor nos Seminrios de Msica da Universidade Federal da Bahia). A
obra apresenta uma durao de seis minutos e encontra-se no manuscrito do autor. Foi registrada em
1975 pela flautista Odette Ernst Dias na Sala Ceclia Meirelles no Rio de Janeiro.
1
A obra intitulada 69 Peas Crnicas e Anacrnicas foi composta em 1970 como um guia de apresentao dos
instrumentos da orquestra sinfnica. Embora tenha sido elaborada com funo didtica, a obra permite a execuo de
suas partes isoladamente, uma vez que encerra em si um contedo musical coerente. Esta uma das obras de Widmer
que no possuem nmero de opus catalogado.(Nota do autor).
Trgua opus 93b, para flauta solo (1976).
2
A obra para flauta solo Trgua op 93b foi composta em 1976, com primeira audio no
ano de 1977 em Salvador. Segundo Paulo Lima (Lima 1999, p. 271), podemos observar um
processo cclico de elaborao serial e segmentao atravs de conjuntos de classes de notas. As
pausas possuem papel importante na obra, sendo utilizadas como elementos articuladores do
discurso musical.
A obra inicia com a nota r no registro mdio da flauta em crescendos e decrescendos.
Gradativamente ampliada a tessitura de notas atravs de saltos meldicos (inicialmente pequenos
e gradativamente maiores), conduzindo a uma seo intermediria de longas linhas meldicas. Aps
a apresentao das notas formadoras da srie, ocorre um procedimento de sntese repentino que
conduz a volta das sonoridades longas.
Com durao de seis minutos, a obra encontra-se no manuscrito do autor e em verso
editada pela HBS Nepomuk de 1995.
Duos
Partita para flauta e piano (cravo), opus 23 (1961).
Composta no ano de 1961 e revisada em 1965, para flauta e piano (ou alternativamente cravo).
Constituda de cinco movimentos (Prludium, Pantomime, Loure, Gigue e Choral), a obra foi
dedicada ao flautista Armin Guthmann, com estria em Karlsruhe (Alemanha) em 14 de dezembro
de 1971 (segundo anotaes do compositor na partitura). Segundo Paulo Lima (Lima 1999, p. 220),
Widmer emprega a utilizao de clusters como idia bsica da obra, levando a uma progressiva
ampliao de intervalos para stimas, nonas e dcimas com deslocamentos de registros e utilizao
de figuras rtmicas diversificadas. A obra representa uma das primeiras aproximaes de Widmer
com as idias seriais de composio. Com durao de dezesseis minutos, a obra encontra-se no
manuscrito do autor.
Ondina para flauta e piano (1985)
3
.
2
A obra Trgua (opus 93b) para flauta solo origina-se da obra (SEM) Trgua (opus 93), composta entre os anos de
1974 e 1976 sobre textos de Jlio Cortzar e Jorge de Lima. A obra (SEM) Trgua (opus 93), foi originalmente
composta como msica incidental para uma pea teatral. Com a participao cnica de um ator, apresenta como
formao instrumental flauta, clarinete, fagote, trompete, percusso, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, com
durao de aproximadamente quarenta e cinco minutos. Esta obra originou as seguintes obras: Espelho (opus 93a,
1976) para clarineta; Trgua (opus 93b, 1976) para flauta; Catala (opus 93c, 1976) para fagote; Espera (opus 93d,
1976) para trompete; Cronpios e Tartarugas (opus 93e, 1976) para clarineta e a sute instrumental Trgua (op. 93f
- verso de concerto), para flauta, clarineta, fagote, trompete, violino, viola, violoncelo e contrabaixo.(Nota do autor).
3
Esta obra uma transcrio de parte da obra Kosmos Latino-Americano, opus 134, obra didtica em quatro volumes
concebida para o estudante brasileiro visando o desenvolvimento tcnico-musical, leitura primeira vista e exerccios
de improvisao. Em Kosmos Latino - Americano Widmer utiliza elementos do folclore de diversos pases (Brasil,
Sua, Albnia, Rssia, Espanha, Inglaterra, Bulgria, etc), com o objetivo de proporcionar uma viso cosmopolita do
mundo da msica. Do Brasil, Widmer utiliza referncias do folclore brasileiro e da msica popular, mesclando com
referncias msica nova (clusters e rudos).(Nota do autor).
Composta para flauta e piano em 1985, a obra foi dedicada ao flautista suo Alexandre Magnin,
com durao de cinco minutos. So variaes sobre uma cano popular brasileira com os seguintes
versos:
I, i, olhe a onda na ponta de areia, a onda me pega na ponta de areia.
A sonata Ondina foi gravada por Lucas Robatto (flauta) e Eduardo Torres (piano) em 1997
pelo selo Copene.
2.5.3-Trios
Cosmofonia opus 164 (1988)
Obra composta em 1988 para flauta, viola e harpa. A obra estruturada atravs da alternncia
dos instrumentos e da integrao destes instrumentos. A obra inicia com solo de viola, seguido de
solo de harpa, solo de flauta e finalmente apresentada a conjuno destes instrumentos. Tem como
subttulo: Eros e Thanatos, uma referncia entre amor e morte. Esta obra pode ter sido uma
possvel analogia por parte de Widmer ao trio de Debussy com a mesma formao. Com durao de
vinte e um minutos, a obra foi apresentada pela primeira vez em Aarau no mesmo ano de
composio.
Brasiliana opus 166 (1988)
Obra composta para flauta, violoncelo e cravo com durao de quatorze minutos. A obra est no
manuscrito do autor.
Quartetos
Argus opus 131 (1982)
Composta em 1982 para quarteto de flautas (ou de saxofones), foi dedicada ao flautista Armin
Guthmann. Apresenta como subttulo: Quarteto sobre um tema outonal, uma referncia
utilizao do tema do Outono das Quatro Estaes do Sonho (opus 129)
4
. A instrumentao prev
duas flautas em d, flauta em sol e flauta baixo.Com durao de seis minutos, a obra est no
manuscrito do autor.
Paisagem Baiana I V opus 149 (1986)
Com o subttulo de Lagoa do Abaet, a obra tem como instrumentao, flauta, violino, viola e
violoncelo. Apresenta dois movimentos: Muito Calmo e Scherzando. A obra foi dedicada ao msico
e pesquisador J. J. de Moraes, sendo finalizada no dia 25 de maro de 1986 (conforme anotaes do
compositor na partitura). Segundo Paulo Lima (Lima 1999, p.307), Widmer emprega como recursos
4
Poema sinfnico em forma de concerto para duas flautas e orquestra de cordas (As Quatro Estaes do Sonho opus
129), composto em 1981 sob encomenda da Curadoria de Desenvolvimento Cultural de Aargau (Sua).(Nota do autor).
composicionais a bifonia fundamental
5
e escalas octatnicas
6
. A estria da obra foi em Salvador, no
mesmo ano, tendo como flautista Oscar Dourado (professor da UFBA). Com durao de quatorze
minutos, a obra encontra-se no manuscrito do autor.
Quatro Madeiras opus 170
a (1988)
Composta para flauta, obo, clarineta e fagote, apresenta dois movimentos: Preldio e
Juazeiro.Com durao de oito minutos, a obra est no manuscrito do autor.
Quintetos
7
Quinteto I opus 12 (1954)
Quinteto de sopros (flauta, obo, clarineta, fagote e trompa) composto em 1954 por encomenda
da Fundao Pr-Argvia (Aargau - Sua). Segundo Paulo Lima (Lima 1999, 205), a obra parte de
uma nica nota, ampliando a tessitura para a apresentao de conjuntos maiores. A obra representa
o incio do processo empregado por Widmer de compor utilizando a escala octatnica. Com
durao de vinte e dois minutos, a obra teve primeira audio em Aarau em 1954, permanecendo no
manuscrito do autor.
Quodlibet opus 14 (1955)
Quinteto de sopros sobre quatro temas suos para quinteto de sopros. A obra foi dedicada ao
quinteto de sopros Zrches. Na instrumentao prev a utilizao de triangulo (ad libitum). *
30 variaes sobre I m Argau sind zwi Liebi opus 16 a (1956)
Obra composta para quinteto de sopros com durao de vinte minutos. Trata-se de um tema com
variaes sobre uma cano sua. Uma verso para dois pianos (opus 16) desta obra foi composta
em 1958.
Divertimento III - opus 22 intitulado Cco (1961)
Composta para flauta, clarineta, trompa, piano e percusso. Segundo Paulo Lima (Lima 1999, p.
226) esta obra representa a primeira abordagem consistente de um material brasileiro empregado
por Widmer. O compositor emprega semicolcheias e sncopes em um material meldico nordestino.
Com estria em Salvador em 1961 a obra apresenta uma durao de dezesseis minutos,
permanecendo no manuscrito do autor.
Quinteto I I opus 63 (1969)- revisado em 1975
Com trs movimentos (Noturno, Dana e Eplogo), a obra foi revisada pelo autor em 1975,
apresentando duas verses
8
. Segundo Paulo Lima (Lima 1999, p.259), Widmer utiliza segmentao
5
Segundo Paulo Lima, a bifonia um modelo reduzido das relaes motvicas a duas vozes, permitindo a flexibilizao
da obra em diferentes direes.(Lima 1999, 292).
6
Escalas octatnicas so escalas de oito notas que utilizam a alternncia de intervalos entre tons e semitons.(Nota do
autor).
7
A obra intitulada Sute latino-americana I para Quinteto de Sopros no foi includa por tratar-se de arranjo sobre
temas latino-americanos. (Nota do autor).
serial em acordes de quatro sons (ttrades), com utilizao de elementos em retrogradao,
diversidade de recursos timbrsticos, texturais e de intensidade. Widmer emprega a alternncia entre
compassos e blocos sonoros medidos em segundos. O compositor emprega procedimentos de
indeterminao, efeitos de timbre em contrastes instrumentais e utiliza o procedimento de acelerar
at o ...mais rpido possvel de maneira a articular os pontos da pea. Nesta obra aparece a
primeira bula interpretativa para flauta, com indicaes na partitura de instrumentos que guiam a
melodia, utilizao de andamentos independentes entre os instrumentos, sees de improvisao,
determinao para repetir uma seo muitas vezes, instrues para produzir o som mais agudo
possvel e utilizao de rudos de chaves na flauta. A reviso da obra foi realizada no ano de 1975
sendo finalizada no dia nove de novembro de 1975 (de acordo com as anotaes do compositor na
partitura). Com durao de treze minutos, a obra foi gravada por dois conjuntos: pelo Quinteto
Villa-Lobos, atravs do selo Funarte e pelo Stalder Quintet atravs do selo Grammont, ambas em
1979.
Quinteto I I I opus 88 (1974)
Quinteto de sopros com o subttulo Diafonia. Com durao de treze minutos, teve sua estria
em Ouro Preto em 1975, permanecendo no manuscrito do autor.
Quinteto I V opus 107 (1978)
Com o subttulo de Carrilon, trata-se de um quinteto de sopros em forma de tema e
variaes, com durao de dez minutos. Encontra-se no manuscrito do autor, sem partes
instrumentais separadas.
Notturno, op. 79 (1973)
Quinteto de sopros duplo, composto para duas flautas, duas clarinetas, dois obos, dois
fagotes e duas trompas. Com durao de oito minutos, a obra teve sua estria em Salvador em 1973,
permanecendo no manuscrito do autor.
Paisagem Baiana III, op 123, intitulado Piat (1980).
Quinteto de sopros com piano. A obra foi estreada no Rio de Janeiro em 1980.
CONCLUSO:
O objetivo deste trabalho foi proporcionar uma viso abrangente sobre o compositor Ernst
Widmer em obras de msica de cmara para flauta. Atravs do levantamento foi possvel constatar
a produo diversificada do compositor em obras de msica de cmara para flauta. So obras de
8
Na partitura da primeira verso o compositor data o trmino da obra como sendo o dia 15 de outubro de 1969. A
estria da primeira verso realizou-se no dia 19 de janeiro de 1970 no Teatro Guara em Curitiba. O quinteto era
formado por Armin Guthmann (flauta), Ludmila Jezova (obo), Dieter Kloecker (clarineta), Noel Devos (fagote) e
Zdenek Svab (trompa).(Nota do autor).
qualidade que enriquecem e aprofundam o repertrio de msica brasileira. Apesar disso, a maior
parte da produo do compositor permanece no manuscrito original. Muitas questes sobre as obras
permanecem sem respostas, seja em termos de interpretao, de edio ou anlise, permitindo um
vasto campo para pesquisas. Investigaes analticas de cada obra sero desenvolvidas
posteriormente, aprofundando o conhecimento das obras e traando um painel para as composies
com flauta.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BHAGUE, Gerard. Music in Latin America: an introduction. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1979. p.349-351.
________. 1980. s.v. "Ernst Widmer". In The New Grove Dictionary of Music and
Musicians.Stanley Sadie (ed). London: Macmillan. 20:397.
BIRIOTTI, Leon. Grupo de Compositores de Baha: resea de un movimiento contemporaneo.
Montevideo: Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileo, 1971. 19 p.
DALHAUS, Carl (ed.). s.v."Ernst Widmer". In Riemann Musik Lexikkon.. Mainz: Schott, 1975.
GANDELMAN, Saloma. Cidadezinha qualquer: anlise das canes de Guerra Peixe e Ernst
Widmer sobre um poema de Carlos Drummond de Andrade. 1983. 97fls. Dissertao (Mestrado em
Comunicao)-Programa de Ps- Graduao em Comunicao, UFRJ, 1983.
GLARNER, Hans; DIMAND, Emmy Henz. (org.). Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst
Widmer. Aargau: Gong, 1987.
Grupo de Compositores da Bahia. In: Boletim Informativo n.1. Ernst Widmer (org.). Salvador:
UFBA, 1967. 15 p.
Grupo de Compositores da Bahia. In: Boletim Informativo n.2. Ernst Widmer (org.).
Salvador:UFBA, s/d (ref. 1967).19 p.
Grupo de Compositores da Bahia. In: Boletim Informativo n.3.Ernst Widmer (org.). Salvador:
UFBA, s/d.(ref. 1968). 22p.
Grupo de Compositores da Bahia. In: Boletim Informativo n.4. Ernst Widmer (org.). Salvador:
UFBA, s/d.(ref.1969 e 1970). 18p.
Grupo de Compositores da Bahia. In: Boletim Informativo ns. 5 e 6. Salvador: UFBA, s/d (ref.1970
e 1971). 22p.
LIMA, Paulo Costa. Ernst Widmer e o ensino de Composio Musical na Bahia. Salvador:
FAZCULTURA/COPENE, 1999. 359 p.
________. Estrutura e superfcie na msica de Ernst Widmer: as estratgias octatnicas. 2000.
417fls. Tese (Doutorado em Artes) Escola de Comunicao e Artes, Universidade de So Paulo,
So Paulo, 2000.
MARCONDES, Marco Antnio. 1998. s.v."Ernst Widmer". In Enciclopdia da Msica Brasileira:
erudita, folclrica e popular. So Paulo: Art Editora, 912p.
MARIZ, Vasco. Histria da Msica no Brasil. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1981. 352p.
________. s.v. "Ernst Widmer". In Dicionrio Biogrfico Musical: compositores, intrpretes e
musiclogos. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1985.
MILEWSKI, Jerzy; SCHWEITZER, Aleida (org.). Csar Guerra Peixe, Edino Krieger, Ernst
Widmer, e Ronaldo Miranda. in: Msica nova do Brasil. Rio de Janeiro: Promemus, 1981.
.
NEVES, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira. So Paulo: Ricordi, 1981
NOGUEIRA, Ilza Maria Costa. Ernst Widmer: Perfil Estilstico. Salvador: Universidade Federal da
Bahia, 1997. 198p.
________. Grupo de Compositores da Bahia. In: Revista Brasiliana. Jos Maria Neves (coord.).
n.1, 8 p, janeiro 1999.
RIBEIRO, Maria Carolina Schindler Murta. 1985. 290 fls. A improvisao do intrprete face
grafia contempornea de Ernst Widmer. Dissertao (Mestrado em Msica).Programa de Ps-
Graduao em Msica, Escola de Msica da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1985
SADIE, Stanley (org.). s.v."Ernst Widmer". In: Dicionrio Grove de Msica. Rio de Janeiro: Zahar,
1994. 1026 p.
WIDMER, Ernst. Bordo e Bordadura. Tese (concurso ao cargo de professor assistente da Escola
de Msica e Artes Cnicas da UFBA).Salvador: EMAC-UFBA, 1970. 18p.
______ O ensino da msica nos conservatrios. In: Universitas (Revista de Cultura da
Universidade Federal da Bahia). v. 8, p. 175-185. 1971.
______. ENTROncamentos SONoros: ensaio a uma didtica da msica contempornea. Tese
(escrita para o concurso de professor titular da Escola de Msica e Artes Cnicas da UFBA).
Salvador: EMAC-UFBA, 1972. 11p.
______. Grafia e prtica sonora: perspectivas didticas da atual grafia musical na composio e na
prtica interpretativa. In: Simpsio Internacional sobre a Problemtica da Atual Grafia Musical
p.135-163. Roma: Instituto talo-Latino-Americano, outubro, 1972 a.
______. Relatrio do 46 Festival e Assemblia Geral da Sociedade Internacional de Msica
Contempornea. Graz-ustria. 4 p. Salvador: Escola de Msica e Artes Cnicas da UFBA, outubro,
1972 b.
______. Projeto Global de Pesquisa da Escola de Msica e Artes Cnicas da UFBA para o
Quadrinio 1976-80.Salvador: Escola de Msica e Artes Cnicas da UFBA, 1976.
WIDMER, Ernst; LITTO, Frederic. Relatrio da discusso preliminar para a implantao da Ps-
Graduao em Artes na Universidade Federal da Bahia. Salvador: CAPES/UFBA, maro,1978.
WIDMER, Ernst. Propostas. In: Art: Revista da Escola de Msica. Salvador: UFBA, n. 11, 1984.
.WIDMER, Gesellschaft (Zurzacherstr. 53, CH-5200- Brugg): www.ewg@bg-ag-ch, copyright,
1999. acesso em 20 nov de 2001.
Msica eletroacstica nos Festivais de Inverno da UFMG
Leonardo Pires Rosse
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
rexnfoid@yahoo.com.br
Resumo: Atravs da prospeco do acervo da Pr-reitoria de Extenso da UFMG e de entrevistas
com ex-coordenadores da rea de msica dos Festivais de Inverno, o evento apresentado como
um frum que, rapidamente, passa a catalisar a produo e divulgao da msica contempornea
em Minas Gerais, com a msica eletroacstica aparecendo freqentemente em oficinas, concertos
e demais atividades. A partir dos anos oitenta, ele perde gradualmente este perfil. Os Festivais de
Inverno representaram um importante elemento no cultivo local do gosto pela msica
contempornea, tendo trazido para Minas Gerais vrios nomes importantes da rea.
Palavras-chave: Festival de Inverno da UFMG, msica eletroacstica, msica contempornea.
Abstract: Through the examination of documents deposited in the Federal University of Minas
Gerais as well as interviews with heads of the area of music in the Winter Festivals, these events
are presented as fora which quickly began catalyzing creation and performance of contemporary
music in Minas Gerais, with electroacoustic music featured in workshops, concerts and other
activities. From the 1980s onwards, this gradually starts to change. The Winter Festivals represented
an important component in the cultivation of the local taste for contemporary music, having brought
to Minas Gerais various important names in the field.
Keywords: Festival de Inverno da UFMG (UFMG Winter Festival), eletroacustic music,
contemporary music.
O Festival de Inverno da UFMG surgiu da iniciativa de alguns professores da Fundao
de Educao Artstica, os quais empolgados pela experincia bem sucedida de promover, em
julho de 1965, cursos de frias na prpria sede da escola, tiveram a idia de realiz-los
novamente em Ouro Preto em 1967, em forma de festival. Ao mesmo tempo, professores da
ento Escola de Artes Visuais da UFMG (atual Escola de Belas Artes) pensavam em desenvolver
cursos de artes plsticas durante o perodo de frias em Ouro Preto. O projeto do primeiro
Festival de Inverno surge da convergncia entre a Fundao de Educao Artstica (FEA) e a
Escola de Artes Visuais. De acordo com o relatrio da rea de msica do dcimo segundo FI:
Em 1967, ano do primeiro Festival de Inverno, havia no
Brasil apenas um festival anual importante com cursos de msica:
os Cursos de Frias da Pr-Arte, em Terespolis. De l para c
proliferaram os cursos e festivais, a maior parte nascendo sob
inspirao do Festival de Inverno, at mesmo adotando-lhe o nome.
A realizao desses cursos de msica, em diferentes pontos do
pas, tem estimulado jovens de talento a darem passos decisivos
para sua profissionalizao e, de certo modo, vem suprindo a
carncia de informao em que vive o estudante de msica
brasileiro.
Esses tambm tm sido objetivos da rea de
msica do Festival de Inverno, porm sua contribuio mais
profunda e caracterstica se encontra no estmulo criao,
difuso da msica brasileira contempornea e formao de uma
atitude aberta, realista e construtiva em relao ao ensino e outras
atividades no campo da msica. Essa contribuio vem sendo
reconhecida, no mundo musical brasileiro, de forma cada vez mais
generalizada.
A nfase na rea da criao e da vanguarda
pertence ao Festival de Inverno de Ouro Preto (MG) [...] (UFMG,
1978)
Se, a princpio, os cursos de frias oferecidos pela Fundao em 1965 no deram nfase
particular msica contempornea, o Festival de Inverno passou rapidamente a demonstrar uma
preocupao com atividades ligadas composio e msica do sculo XX.
No oitavo festival, em 1974, a discusso em torno da msica contempornea e brasileira
ou latino-americana e da sua insero no contexto do festival, j estava bem madura e foi
estabelecido que a rea de msica passaria a tratar, exclusivamente, da msica do sculo XX.
Essa opo pela msica contempornea teve tambm uma outra
motivao [...]: os alunos que vinham para o Festival de Inverno,
ns amos observando, o repertrio deles mal chegava a Debussy.
Vinham de todo o Brasil, ento, era uma realidade das nossas
escolas de msica, que desconheciam toda a msica ps Debussy,
e tambm no havia interesse pelos compositores brasileiros, a no
ser aqueles j mais consagrados. (Menegale, 2003)
Essa temtica trouxe consigo a msica eletroacstica que passou a habitar o Festival
frequentemente em concertos e oficinas, constituindo um espao importante em Minas Gerais,
responsvel por grande parte da prtica eletroacstica subsequente em Belo Horizonte.
O Festival exerceu, sobretudo durante a dcada de 70, uma funo primordial em todo o
decorrer da vida musical belo-horizontina: ele foi o veculo pelo qual foram trazidos cidade
professores que mudariam a prtica musical, que inaugurariam para muitos o conceito de msica
contempornea. O cantor e professor Eldio Prez-Gonzlez e os compositores Dante Grela,
Eduardo Brtola e Hans-Joachim Koellreutter estabeleceram seus primeiros contatos em Belo
Horizonte atravs do Festival, vindo posteriormente a desenvolver cada qual, papel importante
no ensino de msica local em instituies como FEA e UFMG.
O Festival tambm foi responsvel pela formao de vrios msicos, intrpretes,
professores, compositores, crticos, atuantes na msica contempornea, muitos dos quais atuais
professores da FEA, da EM e do prprio Festival.
Um artigo mais amplo sobre o assunto do atual trabalho est sendo preparado para
publicao. Registros de udio de concertos produzidos pelo Festival e partituras realizadas em
funo do mesmo esto sendo localizados atravs de referncias do acervo pesquisado e de
entrevistas com ex-coordenadores, professores e alunos da rea de msica.
Bibliografia
BELM, Alice; MIRANDA, Rodrigo. Panormica da Criao Musical na Escola de Msica da
UFMG. Belo Horizonte, Escola de Msica da UFMG, 2000.
MENEGALE, Berenice. Entrevista concedida a Carlos Palombini e Leonardo Pires Rosse na
Fundao de Educao Artstica, Belo Horizonte, 27/02/2003.
OLIVEIRA, Nelson Salom. A msica contempornea em Belo Horizonte na dcada de 80.
Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes da Universidade do Rio de Janeiro, 1999.
UFMG. Relatrio da rea de Msica do XI Festival de Inverno da UFMG. Belo
Horizonte,1977. p. 96-98.
UFMG. Relatrio da rea de Msica do XII Festival de Inverno da UFMG. Ouro Preto,1978.
A obra pianstica de Estrcio Marquez Cunha: consideraes sobre
aspectos pedaggicos, estilsticos e tcnico-interpretativos
Lcia Barrenechea
Universidade Federal de Gois (UFG)
lucia.barrenechea@bol.com.br
Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo verificar os aspectos pedaggicos, estilsticos e tcnico-
interpretativos da obra para piano de Estrcio Marquez Cunha, criando, assim, subsdios para a
edio de uma coletnea comentada e revisada dessas obras. Esse projeto tem como ponto de
partida o trabalho desenvolvido por Nilsea Maioli Garcia em sua tese de mestrado, A msica para
piano de Estrcio Marquez Cunha: estudo de uma linguagem musical, defendida em 2002 na
Universidade Federal de Gois, sob orientao dessa pesquisadora. Trata-se de um estudo de
natureza qualitativa, que envolve o mtodo fenomenolgico. Um levantamento bibliogrfico e
documental ser realizado, assim como uma seleo de um nmero de obras que represente o
repertrio como um todo. Aps concluda a seleo, ser realizada uma anlise dessas obras,
utilizando como fundamentao terica os escritos de Cogan e Escot. As obras manuscritas sero
submetidas a um processo de editorao e reviso, com consultas aos manuscritos e ao compositor.
Palavras-chave: msica brasileira para piano
Abstract: This work will try to verify pedagogical, stylistic, technical, and interpretative aspects of
Estercio Marquez Cunhas piano works, which will provide elements for a revised collection of his
works. This is a continuation of a research developed by Nilsea Maioli Garcia for her Master
Thesis, defended at the Universidade Federal de Gois in 2002, with this researcher as her advisor.
This is a work of qualitative nature, which envolves the phenomenological method. First, it will be
necessary to collect bibliographic and documental data, as well as select a number of works which
will represent the repertoire as a whole. After that, an analysis based on the writings of Cogan and
Escot will be performed on these works. The manuscript works will be submitted to a process od
edition and revision, with consultation to the composer.
Keywords: Brazilian piano music.
Introduo
Estrcio Marquez Cunha (n. 1941) considerado um dos compositores goianos de
maior destaque no meio artstico e acadmico nacional. Sua produo musical abrange
gneros e formas diversas, que vo desde obras para um nmero reduzido de instrumentos
at composies para uma grande massa orquestral. Professor da Escola de Msica e Artes
Cnicas da Universidade Federal de Gois, possui uma carreira de docente atuante, tanto
em nvel de graduao como de ps-graduao. Sua obra para piano particularmente
significativa, pois o compositor considera esse instrumento seu principal veculo de
expresso artstica (Garcia, 2002, p. 29).
2
Ao lanar um olhar sobre a obra para piano de Estrcio Marquez Cunha, compositor
cuja formao musical se iniciou no antigo Conservatrio Goiano de Msica, volta-se a
ateno tambm para a produo do repertrio pianstico de outros compositores brasileiros
pertencentes mesma gerao do compositor goiano. Aylton Escobar (n. 1943), Ricardo
Tacuchian (n. 1939) e Almeida Prado (n. 1943) so apenas alguns nomes de compositores
que atuam intensamente na rea de criao artstica, contribuindo de maneira significativa
para o repertrio pianstico. Essa gerao de compositores carrega em comum o fato de
pertencer academia, onde o apoio para projetos de processos criativos incondicional.
Alm de encontrar na Universidade o ambiente propcio para desenvolver as atividades
artsticas, esses compositores inevitavelmente adquiriram um perfil profissional que projeta
uma interao extremamente desejvel: a do docente com o compositor. Essa combinao
de atividades levou Marquez Cunha, Escobar, Tacuchian e Almeida Prado, entre outros, a
percorrer uma trajetria pedaggico-criativa que inevitavelmente influenciou e continua a
influenciar sua produo artstica. Parte de suas composies refletem sua rotina
acadmica, o contato com alunos, e sua prtica pedaggica.
Diante desse cenrio, esse projeto prope verificar aspectos que influenciam a
produo pianstica de Estrcio Marquez Cunha. H consideraes de ordem pedaggica,
que envolvem a criao a servio do aperfeioamento tcnico e artstico do indivduo;
estilstica, que revelam a obra do compositor diante de influncias musicais e ideolgicas
diversas; e tcnico-interpretativa, que dizem respeito ao compositor como intrprete de sua
prpria obra e proponente de decises de performance.
Justificativa/Fundamentao Terica
A obra para piano de Estrcio Marquez Cunha pode ser considerada parte de um
repertrio de msica brasileira contempornea pouco freqentado. Em 2002, Garcia
defendeu sua tese de mestrado intitulada A msica para piano de Estrcio Marquez Cunha:
estudo de uma linguagem musical, na Universidade Federal de Gois, orientada por esta
pesquisadora. Neste trabalho, trs obras para piano solo so analisadas com o intuito de
traar pontos em comum na linguagem musical do compositor.
1
Garcia tambm apresenta,
1
As obras analisadas so: Msica para piano n. 46, n. 48 e n. 50.
3
em forma de anexo, um catlogo temtico das obras para piano solo de Marquez Cunha.
Esse trabalho de concluso de mestrado representa um ponto de partida para o estudo mais
aprofundado sobre a obra de um compositor que representa, em certos aspectos, a
identidade artstica de uma regio, de uma gerao, de um contexto cultural e acadmico.
Tecer consideraes sobre aspectos pedaggicos, estilsticos e tcnico-
interpretativos da obra para piano de Marquez Cunha significa radiografar uma realidade
que se reproduz em outras regies, com compositores que compartilham biografia
semelhante, a de ser um agente criador com a funo acumulada de ensinar. Ao perseguir
esse projeto, tem-se a inteno de evidenciar a multiplicidade de aes que o artista assume
ao abraar a vida acadmica.
As discusses sobre as questes pedaggicas da obra para piano de Marquez Cunha
abrem espao para consideraes sobre a pedagogia da performance, ou mais
especificamente, a pedagogia do piano. O ensino do piano por imitao direta, prtica que
persiste desde o advento do piano moderno no sculo XIX, impede o indivduo de perceber
a obra musical como um discurso estruturado e, por isso, passvel de leituras, releituras e
transformaes. O individuo, amparado por uma abordagem pedaggica que envolva a
percepo pessoal de conceitos, deve desenvolver a habilidade de entender os elementos
musicais bsicos e as qualidades arquitetnicas e retricas da msica. De acordo com
Camp, a compreenso dessas qualidades e dos aspectos proporcionais de uma estrutura
musical auxilia o indivduo em aprender a reconhecer, avaliar e articular o que a partitura
impressa representa. Essa compreenso fornece uma moldura para a interpretao
inteligente de uma obra musical (Camp, 1981, p. 3).
A obra para piano de Estrcio Marquez Cunha, cuja linguagem reflete uma
viso contempornea e extremamente pessoal de elementos musicais, representa um
universo a ser utilizado como referncia para a aplicao de estratgias pedaggicas que
envolvam a percepo e a absoro de parmetros que norteiam a interpretao eficaz da
obra musical. Atravs desse repertrio, que um espelho da trajetria artstico-acadmica
do compositor e parte importante da produo contempornea brasileira, ser possvel
verificar uma abordagem pedaggica mais reflexiva e crtica, como defendida por Camp.
Em relao aos aspectos estilsticos da obra para piano de Marquez Cunha,
pretende-se aprofundar o que foi verificado e discutido por Garcia no que tange a
4
identificao de uma linguagem musical. Ao analisar trs obras para piano de Marquez
Cunha, Garcia estabelece pontos de semelhana, gestos musicais especficos que
caracterizam a obra do compositor como um todo, tomando como embasamento terico o
estudo de Cogan e Escot, Sonic Design: the nature of sound and music (Garcia, 2002, p.
12).
As questes tcnico-interpretativas de uma obra musical envolvem consideraes
sobre a maneira como o compositor explora o instrumento, ou grupo de instrumentos e a
maneira como ele lana mo dos elementos musicais. Essas decises tm influncia direta
na construo do estilo do compositor, mas mesmo assim, devem ser observadas sob um
outro contexto. Marquez Cunha um compositor vivo e atuante. Sua possvel
proximidade com o intrprete um aspecto que no pode ser negligenciado, pois ele pode
ser decisivo em decises de interpretao. O interprete tem mo mais um dado na
equao que pode ser determinante na sua interpretao de uma obra musical. Griffiths
afirma que embora grandes obras de Stravinsky, Britten, Copland e Stockhausen tenham
sido gravadas em performances supervisionadas pelos compositores, a autoridade que deve
ser creditada a essas gravaes incerta (Griffiths, 1989, p. 483). Entretanto, a questo
existe e no pode ser ignorada. A proximidade cronolgica do compositor com o intrprete
um dado que pode ser somado com os outros elementos que definem a interpretao de
uma obra musical.
Objetivos
Verificar os aspectos pedaggicos, estilsticos e tcnico-interpretativos da obra para
piano de Estrcio Marquez Cunha;
Editar uma coletnea comentada e revisada de obras para piano solo de Estrcio
Marquez Cunha;
Gravar um CD com as obras contidas na coletnea.
Metodologia
5
Este projeto se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa, que envolve
o mtodo fenomenolgico. Num primeiro momento, ser necessrio realizar um
levantamento bibliogrfico e documental, que abrange a coleta de artigos de peridicos e de
jornais, partituras, entrevistas, gravaes e depoimentos. O catlogo temtico feito por
Garcia j oferece um ponto de partida para uma seleo posterior das obras que faro parte
da coletnea e que sero gravadas. Uma vez que Marquez Cunha possui sessenta e duas
obras para piano solo at a presente data, faz-se necessrio selecionar um nmero de obras
que represente o repertrio como um todo. Aps concluda a seleo, ser realizada uma
anlise dessas obras, baseada nos escritos de Cogan e Escot, com o intuito de verificar a
identidade de sua linguagem musical. Alm da anlise, buscar-se- subsdios para
interpretao das obras em entrevistas feitas com o compositor.
2
As obras manuscritas
sero submetidas a um processo de editorao e reviso, com consultas aos manuscritos e
ao prprio compositor. O processo de gravao das obras selecionadas ter incio numa
segunda etapa, aps a concluso do trabalho de anlise, comentrios e editorao da
coletnea.
Referncias Bibliogrficas
CAMP, Max W. Developing Piano Performance: A Teaching Philosophy. South Carolina:
Alfred, 1981.
COGAN, Robert; ESCOT, Pozzi. Sonic Design: the nature of sound and music. Englewood
Cliffs: Prentice-Hall, 1976.
GANDELMAN, Saloma. 36 compositores brasileiros: obras para piano (1950-1988). Rio
de Janeiro: Funarte, Relume Dumar, 1997.
GARCIA, Nilsea Maioli. A msica para piano de Estrcio Marquez Cunha: estudo de uma
linguagem musical. Goinia, 2002. 179 p. Dissertao (Mestrado em Msica) Escola de
Msica e Artes Cnicas, Universidade Federal de Gois
GRIFFITHS, Paul. The 20
th
century since 1940. In: BROWN, Howard Mayer; SADIE,
Stanley (Ed.). Performance Practice: Music after 1600. New York: Norton, 1989. p. 483-
491.
2
Garcia apresenta em sua tese, em forma de anexo, uma entrevista com Estercio Mrquez Cunha, realizada
em 2002.
1
Da trilha sonora ao sound design em curta-metragens de animao
Lcia Pompeu de Freitas Campos
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
luciapfc@terra.com.br
Resumo: Neste trabalho, procurei traar uma pequena histria da composio de trilhas sonoras
para o cinema de animao desde os primeiros curta-metragens sonoros de Disney, passando pelos
efeitos de sonoplastia em Tex Avery, as pesquisas inovadoras de McLaren at o sound design de
Normand Roger, em filmes de Paul Driessen. Durante a pesquisa, selecionei dez curta-metragens de
animao, enfatizando as peculiaridades da realizao de uma animao, que se baseia muitas vezes
em um roteiro musical. Busquei destacar clichs e procedimentos tradicionais e identificar
alternativas sincronicidade nas animaes contemporneas, investigando at que ponto a
dramaturgia e os diferentes padres visuais e tecnolgicos determinam ou dialogam com a trilha
sonora.
Palavras-chave: trilha-sonora, filmes de animao, sound design
Abstract: This work presents a brief history of composition for animated films since the first
Disney works, the sound effects of Tex Avery, the creative research of McLaren, until
contemporary experimentalism, when Paul Driessen films, with sound design by Normand Roger,
seem particularly interesting. Ten films were selected, which emphasize the making of an animated
movie, based on a musical script. I have found some cliches and traditional processes, aiming at
identifying how dramaturgy and different visual and technological patterns determinate the
soundtrack.
Keywords: musical soundtrack, animated films, sound design
1. Introduo: Trilhando o universo da animao
Neste trabalho, procurei traar um breve histrico do cinema de animao
para, em seguida, focalizar dois trabalhos especialmente relevantes: as pesquisas de
Norman McLaren e o sound design de Normand Roger. Durante a pesquisa, tive acesso a
inmeros filmes de animao do acervo do Cineclube da UFMG.
Para efeito de anlise, tradicionalmente podem ser distinguidos trs tipos de trilhas
sonoras: a trilha das falas, a trilha dos efeitos sonoros e a trilha musical. No entanto, numa
abordagem contempornea, o compositor pode elaborar a trilha como um todo, assumindo
uma funo chamada atualmente de sound design.
2. Os Clssicos
2
Georges Mlies, embora no fosse propriamente um animador, foi um dos primeiros
cineastas que pensou frame by frame. Ele apresentava seus filmes no teatro de variedades
com narrador e msica ao vivo. Sincronizada ou no, a msica sempre esteve presente
desde as primeiras exibies cinematogrficas e, por isso, h quem diga que o cinema
sempre foi sonoro. Os livros de partituras dos pianistas de cinema mudo eram compilaes
de temas escolhidos visando descrever um determinado estado de esprito ou atividade, o
que caracteriza a msica programtica - escrita para representar alguma coisa que acontece
no mundo.
A partir do advento do som, a animao rapidamente desenvolveu uma linguagem
sonora prpria, explorando ao mximo os recursos da poca. Imagem e som passaram a
desempenhar papis igualmente importantes.
Mickey, por exemplo, j nasce falando no filme Steamboat Willie (1928), com uma
concepo sonora j bem elaborada, que define o padro Disney. O que realmente
interessa na narrativa so os sons, tudo motivo para a ocorrncia de sons sincronizados.
Nos story sketches, to engraados quanto o filme, a preocupao com a sincronizao dos
sons evidente.
Nos anos 20 e 30, o som praticamente comanda a animao. Cada estdio vai ter
sua srie de filmes musicais Silly Symphonies, Happy Harmonies, Merry Melodies
- e a animao se estabelece como um espao em potencial para a msica no cinema,
contando com a participao de grandes orquestras.
Nos estdios Disney, a dupla formada por Ub Iwerks, o mestre do movimento, e o
compositor Carl Stalling responsvel pela concepo visual e sonora elaborada e d o
suporte para o desenvolvimento e consolidao de um estilo. Da o surgimento do termo
mickeymousing, definido por Carrasco como:
a tcnica de composio pela qual a msica acompanha a ao descritivamente, ilustrando-
a e comentando-a. a tcnica usada nos desenhos animados tradicionais, onde a forma,
ritmo, andamento e at mesmo a estrutura meldica e harmnica da msica esto
subordinadas aos seus correspondentes imagticos. (Carrasco, 1998, p.55)
Paralelamente ao estilo mais comportado que foi se afirmando com essas sries, Tex
Avery subverteu a ordem com suas gags (piadas), stiras e brincadeiras com a prpria
linguagem da animao, o tratamento sonoro de seus desenhos sem dvida contribuiu para
3
isso. O compositor Carl Stalling trabalhou com Avery na Warner Bros, onde
desenvolveram o mundo sonoro e visual do Pernalonga.
J na Metro, Avery satiriza o uso clich do som no desenho Screwball Squirrel.
Outro desenho de Avery em que sons e imagens esto diretamente associados, provocando
as gags mais incrveis, Magical Maestro, com direo musical de Scott Bradley.
Os irmos Fleischer, embora com um estilo totalmente diferente, tambm
desenvolveram um trabalho alternativo, marcado pelo mundo surreal de Betty Boop, por
exemplo. No incio do cinema sonoro, quando a maioria da platia ainda era analfabeta,
eles inventaram a bolinha animada que acompanhava a letra das canes, com uma funo
educativa. Preocupados com a pesquisa de tecnologia, sua animao se tornou cada vez
mais popular, at tomar a forma de seriados para a TV, como Popeye e Superman.
Com a importncia dada ao sincronismo de msica e efeitos, as animaes
tradicionais passaram longe das discusses tericas encabeadas pelos cineastas soviticos
sobre o futuro do cinema sonoro. A esttica peculiar da animao e sua estreita relao com
a msica propiciou sobretudo grandes avanos tcnicos. Dentre os pioneiros, no h uma
diviso clara entre produes comerciais e artsticas porque todos estavam desenvolvendo e
consolidando uma nova forma de arte. S com o advento da televiso e a produo em
srie, essa diviso adquire relevncia.
3. Mc Laren: o som animado e o roteiro musical
Um autntico autor de animao, Norman McLaren se destacou, a partir dos anos
40, pelo carter experimental de suas produes. Ele nasceu na Esccia, mas trabalhou no
Canad, foi o diretor de animao no National Film Board, na poca se estabelecendo como
um importante centro de cinema experimental.
Influenciado pelo animador Len Lye, Mc Laren pintava diretamente na pelcula, ou
seja, no precisava de cmera. Ele foi um mestre da experimentao, por isso considerado
um cientista da arte da animao. Dessa prtica de pintar na pelcula, passou tambm a
desenhar o som na pelcula, processo chamado de som sinttico.
Na abordagem experimental da trilha sonora, duas de suas prticas so especialmente
relevantes: uma o uso e aperfeioamento do som sinttico, como j foi dito; a outra sua
4
percepo da msica como um roteiro musical, principalmente nos filmes abstratos. Alguns
de seus filmes demonstram essas prticas.
Ele prefere chamar o som sinttico de som animado devido semelhana com o
processo de animao. O filme Synchromie (1949) o melhor exemplo de uso do som
animado; nele, som e imagem esto em perfeita sincronia, j que as imagens so cpias
das representaes feitas na banda sonora. No desenvolvimento do som animado, McLaren
sistematizou uma srie de desenhos organizados em um jogo de 72 cartas, que
correspondiam aos parmetros musicais trabalhados, por exemplo, a altura das notas
relacionada quantidade de listras na carta, j a intensidade relaciona-se largura da banda
sonora. Para o filme Synchromie, ele primeiro comps a msica segundo o mtodo
descrito, realizando trs partes. Para criar as imagens, colocou as tiras sobre a placa de
projeo, s vezes apenas uma coluna, ou a justaposio de mais de uma, enfim, realizando
vrias combinaes, que estabelecem um paralelismo minimalista entre som e imagem.
Para finalizar, acrescentou tambm cores s imagens, que mudam de acordo com a durao
das frases musicais.
4. Design de Som e Msica para Animao:
Esse foi o ttulo do workshop ministrado pelo sound designer Normand Roger, no
ANIMAMUNDI 2000, em So Paulo. Tive a oportunidade de participar do workshop e
organizei aqui as aulas ministradas por Roger, que explicitam sua forma de composio.
Trata-se de um material pertinente por sua atualidade, que provavelmente nunca foi
registrado e que muito me ajudou na finalizao da pesquisa e entendimento de algumas
novas experincias na concepo som-imagem.
Roger comeou sua carreira como compositor em 1972, para o National Film Board
of Canada, desde ento compe trilhas principalmente para animao, especificamente
animao de autor, ou seja, filmes curtos, mais artsticos do que comerciais que, segundo
ele, tm vida mais longa e grande difuso em festivais. Alguns filmes de animao nos
quais trabalhou foram muito premiados, dentre eles est o ganhador do ltimo Oscar na
categoria: The Old Man and the Sea, de Alexander Petrov. Alm desse, Roger j
5
trabalhou junto com algumas das personalidades mais conhecidas na animao, como Paul
Driessen.
Sua experincia com trilhas de outras formas de cinema permite a Roger evidenciar
determinadas caractersticas especiais da animao, particularmente a unidade dos efeitos e
da msica na trilha, por isso ele intitula essa especialidade como sound design e no
composio tradicional. Como ele afirma:
"Em animao, a forma original da arte pede uma trilha sonora mais inovadora e
completamente integrada em oposio ao cinema tradicional (live-action) onde geralmente
a tendncia reconstruir um ambiente sonoro realista para o qual a msica pode ser
adicionada como um suporte dramtico. Alm disso, vrios filmes animados no possuem
dilogo ou narrao e, portanto, uma maior integrao entre os efeitos sonoros e a msica
fortalece a trilha sonora e a dinmica do prprio filme, e eu acredito que a melhor forma de
atingir isto a criao total dos vrios elementos da trilha". (Roger, 2000)
Na chamada animao de autor, o carter fantstico e a pluralidade de invenes
possveis ainda mais marcante do que na produo comercial, pois cada artista explora
suas criaes individuais, que no seguem padres fixos. Esse mbito to mutvel requer
um profissional que consiga imaginar a trilha sonora, decidindo a ocorrncia de efeitos
sonoros, caricaturas, a relao da ao com o som, alm de ter a sensibilidade para se
adequar ao estilo do filme, que pode ser muito variado: cmico, surrealista, potico,
abstrato, etc. Diferentemente do uso de clichs recorrente na animao tradicional, a
animao de autor requer uma abordagem distinta para cada trabalho.
Mesmo sem seguir padres ou regras convencionais, Roger sistematizou sua
experincia, evidenciando diferentes papis que a msica pode desempenhar em uma
animao. Atualmente, alguns elementos norteiam suas pesquisas ao compor uma trilha
sonora, principalmente a forma pela qual a msica prepara a cena, direciona o olhar, alm
da relao das imagens com os timbres dos instrumentos, que tradicionalmente carregam
bagagens culturais.
Alguns dos aspectos-guias de uma pesquisa musical para compor a dramaturgia de
uma trilha sonora citados por Roger so:
- A trilha de introduo de um filme de animao pode apresentar um recurso
bsico: estabelecer a situao do filme, o contexto, onde e quando acontece a
ao, no precisa ser sincronizada com movimentos. No caso da utilizao de
6
msicas tpicas, ele defende a gravao da trilha original para conseguir melhor
unidade e, evidentemente, ter maior liberdade ao diversificar elementos ou
delimitar o comeo e fim, ou seja, cri-la especialmente para a sequncia. A
composio pode ser uma imitao realista do gnero ou apenas sugerir um
estilo. preciso estar atento para a bagagem cultural dos instrumentos,
principalmente quando a proposta inicial de uma sequncia, ao invs de
contextualiz-la, no situ-la em um lugar especfico, ou seja, no fazer
referncia a qualquer estilo especfico.
- Outra questo curiosa que a expectativa do senso comum frente a um filme de
animao de que trata-se sempre de uma comdia, por isso, caso no seja uma
comdia, Roger alerta para a necessidade de enfatizar desde o comeo o estilo
proposto, atravs da trilha: se um drama, se potico, etc.
- Diferentemente do compositor stricto senso, o trabalho do sound designer
parece abranger um roteiro sonoro, ele um especialista na relao da msica
com as imagens, com a estrutura do filme, participando da linguagem
cinematogrfica. No trabalho de Roger, por exemplo, lhe interessa mais o efeito
dramtico da estruturao da msica no filme do que suas prprias
caractersticas musicais.
Nessa estruturao inicial da trilha importante, portanto, delimitar os momentos de
incio e trmino dos trechos musicais, alm das incidncias de narraes ou efeitos sonoros,
tudo isso como um todo relacionado que estabelece os focos principais que devem guiar a
ateno do espectador. Trata-se de um modo de participar da dramaturgia do filme, no h
uma lgica, preciso identificar os momentos bsicos da ao.
Como ponto mais importante de suas criaes recentes, Roger sugere a
denominao Msica Estrutural para a msica que no expressa um papel dramtico por si
mesma, mas apenas na relao que estabelece com a estrutura do filme. Ela ajuda a contar a
histria. No se trata de uma msica de suspense, por exemplo, mas, na forma como ela
estruturada no filme, onde comea, onde termina, como se relaciona com a ao, ela pode
criar um efeito de suspense.
O filme Elbowing, da dupla Driessen e Roger, um bom exemplo do uso de
msica estrutural. O filme parece at ter sido composto musicalmente, isto , baseia-se em
7
surpresa e resoluo que se repete, como um tema bsico com pequenas variaes. H uma
fila de personagens idnticos que se acotovelam um depois do outro ao ritmo da msica,
um personagem marginal interrompe a msica cada vez que ele aparece na fila. O ltimo
personagem da fila sempre cai de um abismo ao ser acotovelado. A msica recomea e a
ao recomea, aparece o tal personagem e ao e msica so novamente interrompidas. Da
prxima vez que a msica interrompida, sabemos que por causa do personagem
marginal, mesmo que ele no aparea, sabemos at mesmo seu lugar na fila. Assim,
sabemos atravs da msica quando ele ser o ltimo da fila... A tenso e o efeito
tragicmico criados no esto na msica em si mas na forma como ela est estruturada.
Os filmes de Driessen so interessantes tambm por outro aspecto, muitas vezes so
comdias poticas que apresentam uma esttica singular, seus personagens tem um desenho
meio tremido, propositalmente deselegantes, caractersticas que se refletem tambm no que
ele busca com a trilha, segundo Roger, Driessen pede uma msica que no soe muito limpa,
muito profissional.
Particularmente em seus filmes mais recentes, como End of the World in Four
Seasons, que explora a simultaneidade de aes dispostas em diferentes quadradinhos na
tela, Driessen suscita novas abordagens para a trilha sonora. Nesse filme, Roger optou por
utilizar apenas efeitos sonoros e sugerir sutilmente uma direo de leitura da cena
aumentando e abaixando o volume dos efeitos sonoros dos quadradinhos que pretende
focalizar. Mas a disposio do filme sugere a multiplicidade de interpretaes possveis, o
que acontece em qualquer filme, mesmo que se usem os clichs visuais ou sonoros mais
recorrentes, mas isso j outra pesquisa...
Referncias bibliogrficas:
Chion, Michel. O Roteiro de Cinema. So Paulo: Martins Fontes, 1989.
Carrasco, Ney. Trilha Musical. UNICAMP, 1998 (Dissertao de Mestrado).
Duca, Lo. Le dessin anim: histoire, esthtique, technique. Paris: ditions dAujourdhui,
1982.
Eisenstein, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
Eisenstein, Sergei. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
8
Eisenstein, Sergei. Refelxes de um cineasta. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.
Layborne, Kit. The animation book: a complete guide to animated filmmaking from flip
books to sound cartoons. New York: Crown Publishers, 1979.
McLaren, Norman. Le gnie crateur. Montral, Canada: Office National du Film du
Canada, 1993.
Paolucci, A.A. Brevirio musical. Belo Horizonte, 1996 (mimeo.).
Pereira, Luciana A. Princpios da articulao sonora no cinema. Belo Horizonte: Escola de
Belas Artes da UFMG, 1999 (Dissertao de Mestrado).
Pudovkin, Vsevolod. Argumento e Realizao. Lisboa: Arcdia, 1961.
Roger, Norman. Entrevista concedida em 26.7.2000.
Schaffer, Murray. O ouvido pensante. So Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista,
1991.
Truffaut, Franois. Hitchcock Truffaut: Entrevistas. So Paulo: Brasiliense, 1986.
Trois chansons de Charles dOrlansde Claude Debussy e Trois
chansons pour choeur mixte sans accompagnement de Maurice Ravel:
relaes com a chanson do sculo XVI
Luiz Fernando Marchetto
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
lmarchet@terra.com.br
Dorota Kerr
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
dkerr@uol.com.br
Resumo: Este trabalho tem por objetivo estudar o gnero chanson, fundamentando-se na
pesquisa de documentao indireta que trata da transformao do gnero ao longo do tempo.
Concluiu-se que a chanson no foi um gnero esttico em sua forma e contedo. O fator comum
que remete a toda e qualquer chanson o texto escrito na lngua francesa, estruturado sobre
alguma forma potica e que versa sobre um tema especfico. A msica se agrega ao texto e segue
sua forma, podendo ou no funcionar como reforo expressivo.
Palavras-chave: chanson, coral a cappella, polifonia vocal.
Abstract: The purpose of this paperwork is to study the chanson, based on the research on
indirect documents about its mutation along history. It was concluded that chanson was not a
static genre concerning its shape and content. All chansons are related by having french lyrics
about a specific subject. Music joins the lyric and follows its shape, emphasayzing it or not.
Keywords: chanson, unaccompanied chorus, vocal poliphony.
A palavra chanson (do francs: cano) designa qualquer composio musical com
texto em francs. Mais especificamente, o termo empregado quando se refere quelas
canes polifnicas dos sculos XV e XVI cujos poemas possuam uma estrutura livre.
difcil precisar com segurana quando a palavra chanson foi empregada pela
primeira vez, mesmo nos documentos escritos. Os primeiros textos escritos em glico-
romano foram de carter hagiogrfico. Em um desses textos annimos, datado entre os
sculos X e XI e o primeiro escrito em occitane ou lngua doc
1
, o termo chanson
aparece exatamente em seu ttulo: Chanson de Sainte Foy d'Agen.
Sendo a escrita um saber restrito a poucos no difcil imaginar a importncia que
a comunicao oral teve durante a alta Idade Mdia. As msicas seculares - e nesta
categoria incluem-se as chansons - eram sobejamente conhecidas, pois eram sempre
passadas de gerao em gerao de forma oral. As lnguas vernculas passaram a ser
usadas cada vez mais na expresso literria e a msica secular acabou por incorpor-las,
abandonando progressivamente o uso do latim.
A msica secular deste perodo foi dominada por dois grupos. O primeiro era
conhecido como goliardos, e outro foi o dos jongleurs, ou menestris. Boa parte do
repertrio dos menestris constitua-se das chamadas chansons de geste (canes de
aes ou faanhas), baseadas em uma poesia eminentemente pica.
Durante o sculo XIII, a poesia pica cede espao gradativamente para o
florescimento de um estilo mais livre: a poesia lrica, a forma de expresso dos
troubadours (trovadores) e trouvres (troveiros). Os trovadores e troveiros
desenvolveram alguns gneros lrico-narrativos, dentre os quais as pastourelles, as
chansons de toile, as aubes e as cans ou cantigas de amor. Suas poesias evidenciavam o
modelo social da poca: a submisso do vassalo ao seu senhor, os laos de dependncia,
as suas juras de fidelidade, lealdade, subservincia e adorao so os mesmos elementos
que constituam a cano destinada s damas.
Trs formas bsicas originrias da dana, de estrutura repetitiva, se incorporaram
ao lirismo profano medieval: o rondeau, a ballade e o virelai. Elas serviram como
modelos estruturais para os compositores polifnicos do final da Idade Mdia e incio do
Renascimento. Guillaume de Machaut (1300-1377) foi um dos primeiros compositores a
empregar essas formas fixas em suas chansons, e do ponto de vista potico seguiu a
lrica dos trovadores dos sculos precedentes.
No final do sculo XV comeou a se delinear a chanson polifnica propriamente
dita. Os compositores procuraram estruturas mais livres e suas chansons tinham uma
textura bastante similar a do motete, tornando-se mais densa.
As poesias do incio do sculo XVI inclinavam-se para uma maior liberdade e um
dos maiores responsveis por esta mudana foi Clment Marot (1496-1544) que
procurou utilizar uma linguagem mais direta e coloquial. Libertou-se das formas fixas e
optou por pequenas estrofes e a alternncia entre rimas graves e agudas.
A partir da primeira metade do sculo XVI os compositores comearam a
desenvolver um modelo de chanson que era mais claramente regional, na msica e na
poesia. Nesse contexto e mais especificamente na literatura que surge o La Pliade
2
,
um cujo objetivo era criar uma escola literria genuinamente francesa, baseada na lrica
grega e latina. A busca incessante de uma identidade nacional fez com que a lngua
falada e cantada fosse objeto dos maiores cuidados.
A impresso tipogrfica musical surgida no incio do sculo XVI suportou o
momento de expanso dos ideais humanistas paralelamente s idias de constituio dos
1
Conjunto de dialetos de domnio glico-romano falado na Frana ao sul de Loire.
2
Os integrantes do La Pliade eram: Pierre de Ronsard, Joachim Du Bellay, Jean-Antoine de Baf, Jean
Dorat, Pontus de Tyard, Etienne Jodelle e Rmy Belleau.
estados, revelando-se um importante mecanismo de preservao e propagao de uma
cultura se no totalmente nacional, no mnimo, regional. Nas publicaes de Pierre
Attaignant (1494-1552), embora os novos poemas no seguissem um esquema fixo de
rimas, havia estrofes com repetio. Esta forma mais singela e de grande apreo popular
na corte francesa acabou sendo conhecida como chanson parisian. Tambm eram
apreciadas as chansons formadas por diversos fragmentos extrados de melodias
populares, geralmente com contedo ertico, denominadas de chansons fricasse ou
quodlibet.
3
A nova chanson que se desenvolveu a partir de 1530 foi uma sntese do modelo
polifnico praticado pela escola franco-flamenga, combinado com a simplicidade e
clareza ora proposta, baseada em acordes, frases curtas e declamao silbica do texto.
As chansons parisian de Clment Janequin (ca. 1485-1558) revelam o poder que
possua em captar os sons de seu cotidiano e transport-los para a sua msica.
Valendo-se das vozes com fonemas e slabas em onomatopias, Janequin consegue
recriar uma sonoridade ambiente como em La guerre e Le chant des oyseaux, bem
mais complexas e extensas do que as dos perodos e compositores anteriores. Nestas
chansons programticas ou descritivas no h uma preocupao excessiva quanto
forma ou s linhas poticas.
A partir do final do sculo XVI, a escrita para coral a cappella experimentou o
incio de um longo processo de declnio. A chanson acompanhou esta submerso, pois
sua caracterstica mutante fez com que a partir do sculo XVII ela se confundisse com as
airs de cour, perdendo sua identidade prpria como gnero polifnico, ressurgindo
apenas no incio do sculo XX, pelas mos de compositores como Claude Debussy e
Maurice Ravel.
Conclui-se, portanto, que a chanson no foi um gnero esttico, nem em sua forma
e nem em seu contedo. Exceo feita s velhas formas fixas que serviram como
modelo para os compositores dos sculos XIV e XV, as variaes foram tantas que a
chanson caracterizou-se como um gnero bastante variado quanto forma. A raiz dessa
questo reside no fato de que sendo um gnero vocal, a msica de uma chanson
apenas a vestimenta necessria da essncia que o texto, e esse, por sua vez, foi
tambm varivel na mtrica potica, no nmero de estrofes e versos e no esquema de
3
Fricass (fr.) designava um certo tipo de pot-pourri de chansons, enquanto a expresso quodlibet (lat.)
significa qualquer que seja.
rimas. Portanto a generalidade e a abrangncia da palavra chanson acabou servindo
muito mais aos propsitos temticos pertinentes s condies sociais, polticas e
religiosas do que aos propsitos de expresso puramente musical. Do ponto de vista
musical, a chanson transitou da monodia para a polifonia, da escrita contrapontstica
para uma estrutura acrdica homortmica, da complexidade para a simplicidade rtmica
e uma constante variao no uso de texturas, salvaguardado apenas o ambiente modal
que permaneceu em voga durante todos os perodos aqui abordados.
Portanto, o fator comum de toda e qualquer chanson o texto escrito na lngua
francesa, estruturado sobre alguma forma potica (ainda que essa possa ser livre) e que
versa sobre um tema especfico. A msica, elaborada a partir de diferentes recursos e
tcnicas, ento se agrega ao texto e segue sua forma, podendo ou no funcionar como
reforo expressivo.
Bibliografia:
BROWN, Howard M. Music in the Renaissance. New Jersey: Prentice-Hall, 1976.
________. Chanson. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. vol. 4,
London: Macmillan Publ., 1980. p. 135.
CAND, Roland de. Histria universal da msica. So Paulo, vol. 1, Martins Fontes,
2001.
HOPPIN, Richard H. (Ed.) Anthology of Medieval Music. New York: Norton, 1978. p.
79-117.
PALISCA, Claude V. (Ed.) Norton Anthology of Western Music. v. 1. New York:
Norton, 1980.
REESE, Gustav. Music in the middle ages. New York: Norton, 1968.
________. La msica en el Renacimiento. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
1
1
Projetos sociais e a prtica da educao musical
Magali Oliveira Kleber
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
makleber@sercomtel.com.br
Resumo: Esta pesquisa aborda a prtica da educao musical desenvolvida em projetos de base
comunitria, institucionalizados no mbito do Terceiro Setor como Organizaes No
Governamentais. O resgate da dignidade humana e o exerccio da cidadania plena so objetivos
primordiais desses movimentos sociais. A cultura vista como um importante meio de reconstruo
da identidade sociocultural e a msica est entre as atividades de maior apelo para a realizao de
projetos sociais, principalmente com jovens adolescentes. O campo emprico ser dois projetos
sociais desenvolvidos por ONGs: Meninos do Morumbi, So Paulo, capital e o Projeto Villa-
Lobinhos, Rio de Janeiro. So dois cenrios diferenciados de ensino e aprendizagem de msica que
tm como eixo comum o fato de congregar jovens adolescentes em situao de excluso ao acesso,
entre outras coisas, de uma vivncia de aprendizagem musical sistemtica. A partir das questes que
instigam esta pesquisa busca-se a compreenso de como se configuram esses espaos de prtica de
educao musical; como se constitui a identidade musical dos adolescentes que freqentam esses
projetos; que valores atribuem a esta vivncia; que padres culturais esto sendo valorizados no
mbito desta prtica musical e como isso influencia a seleo do conhecimento musical a ser
trabalhado nestes espaos? Considerando que esta pesquisa busca desvelar os significados, o
sentido do fazer musical na vida dos adolescentes a partir de suas condies de vida cotidiana, a
metodologia ter abordagem qualitativa, na forma de Estudo de Caso, utilizando-se tcnicas
etnogrficas.
Palavras-chave: cultura, educao musical, movimentos sociais.
Abstract: This research approaches the musical education practice developed in community
projects as ONGs - No Governmental Organization. The human dignity and citzeness exercise are
the principal aim of theses social movements. The culture is one way to social identity
reconstruction and the music is among the most important activity for young people in some kind of
these projects. The empirical field will be two social projects: Meninos do Morumbi, So Paulo city
and Projeto Villa-Lobinhos, Rio de Janeiro city. The common characteristic is that in both field the
musical learning and teaching are offered to young people that live in exclusion situation.
Keywords: culture, music education, social movements
1. INTRODUO
Este projeto de pesquisa aborda a prtica da educao musical
desenvolvida em projetos de base comunitria, institucionalizados no mbito do Terceiro
Setor como Organizaes No Governamentais (ONGs). O Terceiro Setor tem se
apresentado como um campo em que se proliferam prticas musicais ligadas a jovens
adolescentes em situao de excluso, notadamente em projetos sociais desenvolvidos em
ONGs.
2
2
O foco de interesse dos projetos voltados para a recuperao de jovens
adolescente tem revelado uma grande incidncia de atividades voltadas para a prtica
musical. Como exemplo podemos citar a matria veiculada dia 09/11/2001 no jornal O
Estado de So Paulo (site: www.estado.estado.com.br/servios, capturado em 03/11/2002)
com a manchete Brown ensino a arte de fazer msica solidria. Essa matria, destaca
dois projetos coordenados por Brown, a Escola de Msica Pracatum e o T Rebocado, os
quais funcionam como programas educacionais e comunitrios para a populao de bairro
do Candeal Pequeno, regio carente de Salvador. Segundo o coordenador, os projetos tm a
finalidade de recuperar a identidade, a auto-estima dos habitantes do bairro, alm de
propiciar, tambm, o acesso educao formal. A msica o eixo condutor desse processo
em que os alunos aprendem a lidar com instrumentos e fazem aulas de percusso,
composio, canto coral, entre outros (ibidem). A reportagem informa, ainda, que os
cursos so gratuitos e muitos msicos que l se formaram participam de shows como
msicos profissionais.
Um olhar mais atento aos discursos correntes na mdia, nas esferas
institucionais de educao e cultura sobre projetos sociais em msica vem fornecendo um
importante material sobre a vida social contempornea, consistindo, tambm, em uma fonte
de aprendizado sobre o modo de viver e conviver das pessoas que compem a trama
complexa da sociedade.
1. 2 SOBRE OS CENRIOS
O tema desta pesquisa emergiu a partir desse contexto e o propsito
realizar um estudo sobre as prticas musicais, no mbito dos movimentos sociais no
Terceiro Setor, mais especificamente em ONGs, que realizam trabalhos com jovens
adolescentes..
Esta pesquisa tratar da questo das prticas de ensino e aprendizagem
musical junto a dois projetos sociais. Um deles denomina-se Meninos do Morumbi e
coordenada pelo msico Flvio Pimenta, no bairro do Morumbi, em So Paulo, capital. O
outro, trata-se do Projeto Villa Lobinhos, desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro e
coordenado pelo msico Turbio Santos. So dois cenrios diferenciados de ensino e
aprendizagem de msica que tm como eixo comum o fato de congregar, em instituies,
3
3
jovens adolescentes em situao de excluso ao acesso, entre outras coisas, de uma
vivncia de aprendizagem musical sistemtica.
2 . QUESTES DA PESQUISA
A presente pesquisa toma como base as seguintes questes:
1. Como se configuram esses espaos de prtica de educao musical?
2. Como se constitui a identidade musical dos adolescentes que freqentam esses
projetos?
3. Que valores atribuem a esta vivncia?
4. Que padres culturais esto sendo valorizados no mbito desta prtica musical e
como isso influencia a seleo do conhecimento musical a ser trabalhado nestes
espaos?
3 . JUSTIFICATIVA
As organizaes do Terceiro Setor ocupam um espao importante nas
iniciativas que tratam da questo da violncia juvenil urbana. Os desdobramentos dessas
iniciativas estaro incidindo nos campos emergentes de trabalho, na educao, na cultura,
enfim nas diversas esferas e dimenses da sociedade.
A prtica musical existente no mbito dos movimentos sociais vista e
reconhecida em vrios estudos
(Fialho, 2003, Dayrell, 2002, Muller, 2000, Abromovay,
1999) como um significativo elemento de agregao e identidade cultural, principalmente
dos jovens adolescentes. Constitui-se, assim, objeto de anlise da rea de Educao
Musical.
Muitos trabalhos na rea tm revelado a importncia da msica na
construo da identidade desses jovens. Segundo Abramovay (1999) a msica dos rappers
representa a msica da juventude da periferia, em que os jovens msicos assumem o papel
de agentes sociais que crem em uma possvel transformao, por meio de um canal de
expresso a msica capaz de denunciar a realidade violenta em que vivem. Neste
sentido, a msica parece ser um importante elemento de formao da identidade social
4
4
juvenil e uma via para que os jovens se afastem das gangues e da criminalidade (ibidem,
p.182).
Ao entender que a pesquisa em educao musical deve contribuir para a
localizao, discusso e compreenso de problemas relacionados rea, a relevncia desse
tema pode ser atribuda aos seguintes pontos:
1. penetrar no universo do Terceiro Setor, das ONGs e movimentos sociais, paralelo
s atividades da Universidade
2. especificamente, em relao msica: identificar as maneiras e estratgias de como
a msica tem participado em projetos sociais
3. um entendimento desta questo tende a subsidiar decises de ordem poltica,
ideolgica, oramentria no campo educacional, especialmente no que concerne aos
problemas que juventude.
O tema desta pesquisa, ao tratar das conexes existentes entre as dimenses
sociedade- juventude-msica, poder contribuir para essas novas experincias associadas s
teorias que lhe do suporte propiciem uma melhor compreenso e um maior esclarecimento
desse complexo fenmeno que a excluso de uma grande parcela de nossos jovens.
4. FUNDAMENTAO TERICA
Pretende-se estruturar esta pesquisa a partir de uma viso cultural da
msica cujos aportes estejam alicerados, como propem Shepherd e Wicke (1997), em
uma teoria que reconhea a constituio social e cultural da msica como uma particular e
irredutvel forma de expresso e conhecimentos humanos. Esses autores assumem e
defendem a msica como uma prtica constituda social e culturalmente e, portanto,
descartam a posio dominante dos estudos culturais que vem a msica como qualquer
outro artefato cultural.
A partir de questionamentos, Shepherd e Wicke (1997) se propem a
indicar onde a teoria cultural tem tido algum sucesso em compreender a msica como
social e culturalmente constituda; onde h problemas; onde as caractersticas sociais e
culturais tem sido mal entendidas pela teoria cultural e identificar as lacunas que precisam
ser preenchidas se a teoria cultural est para um verdadeiro entendimento da msica.
5
5
A teoria social vem discutindo sobre o conceito de identidade,
argumentando que as velhas identidades que estabilizaram o mundo social esto em
declnio dando lugar a outras novas identidades e fragmentando o sujeito moderno.
Segundo Hall (2000), a crise de identidade vista como parte de um processo amplo de
mudana que est deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e
abalando os quadros de referncia que davam aos indivduos uma ancoragem estvel no
mundo social (Hall, 2000, p. 7). Os conceitos de identidade e sujeito determinam aspectos
de nossa identidade associados a um pertencimento a culturas tnicas, raciais, religiosas,
e acima de tudo, nacionais (ibidem, p. 8).
A partir desses eixos conceituais, foram elaboradas as questes que
nortearo a reflexo e o mapeamento das aes a serem desenvolvidas nos dois espaos
mencionados, com vistas a desvelar a relao existente entre os grupos sociais, a educao
musical, o ensino e a aprendizagem da msica e os valores simblicos e materiais de suas
respectivas culturas.
5. METODOLOGIA
A pesquisa ser desenvolvida segundo uma abordagem qualitativa
adotando a estratgia de Estudo de Caso uma vez tem suas caractersticas determinadas
pela natureza e abrangncia e consiste no exame pormenorizado de um determinado
contexto (Bogdan e Blicken, 1982, p. 58). Essa estratgia ampara-se, ainda, na perspectiva
de Yin (1994) que define Estudo de Casos como uma indagao emprica que investiga
fenmenos contemporneos no seu real contexto de vida, especialmente quando as
fronteiras entre o fenmeno e o contexto no esto claramente evidentes (Yin, 1994, p.13).
5.2 SOBRE A COLETA, SELEO E ANLISE DOS DADOS
Os procedimentos para coleta de dados estaro, em principio, alicerados
sobre mtodos de observao participante utilizando-se tcnicas etnogrficas. Assim, as
estratgias sero:
1. Entrevista semi-estruturada. O objetivo da entrevista levantar
elementos que ajudem a identificar as concepes e esclarecer fatos
observados.
6
6
2. Observao participante. As atividades sero filmadas e gravadas em
MD, em seu transcurso normal, no sentido de estudar a relao entre a
prtica musical e pedaggica e as concepes identificadas mediante
entrevistas.
7
7
BIBLIOGRAFIA
ABRAMOVAY, Miriam (et al.) Gangues, galeras, chegados e rappers: juventude,
violncia e cidadania nas cidades da periferia de Braslia.Rio de Janeiro: Garamond, 1999.
ARROYO, Margarete.Representaes sociais sobre prticas de ensino e aprendizagem
musical: um estudo etnogrfico entre congadeiros, professores e estudantes. Tese
(doutorado). Porto Alegre: Programa de Ps-Graduao em Msica, UFRGS, 1999.
BASTIAN, Hans Gnther. A pesquisa (emprica) na educao musical luz do
pragmatismo. Trad. Jusamara Souza. In: Em Pauta Revista do Programa de Ps-
Graduao em Msica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul v.11, n.16/17
abril/novembro 2000, p.76-109.
BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. A Construo Social da Realidade. Traduo
de Floriano de Souza Fernandes. Petrpolis: Vozes, 1985.
BERGER, Peter. Perspectivas sociolgicas: uma viso humanstica. 23. ed. Traduo de
Donaldson M. Garshagen. Petrpolis: Vozes, 1986.
BLACKING, John. The biology of music-making. In: MYERS, Helen (ed.)
Ethnomusicology: an introduction. New York: Macmillan Press, 1992. p.301-314.
DAYRELL, Juarez. O rap e o funk na socializao da juventude. Educao e Pesquisa, So
Paulo, v.28, n.1, p.117-136, jan/jun 2002.
DRUCKER, Peter.
FIALHO, Vnia. Hip Hop Sul: um espao televisivo de formao e atuao musical.
Dissertao de Mestrado, Programa de Ps-Graduao Mestrado e Doutorado em Msica,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Traduo de Jacira Lopes Louro.
Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
KRAEMER, Rudolf-Dieter. Dimenses e funes do conhecimento pedaggico-musical.
Trad. Jusamara Souza. Em Pauta Revista do Programa de Ps-Graduao em Msica da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul v.11, n.16/17 abril/novembro 2000, p. 50-75
LDKE, M., ANDR, M.E.D. Pesquisa em educao: abordagens qualitativas. So Paulo:
EPU, 1986.
MLLER, Vnia. A msica , bem diz. vida da gente: um estudo com crianas e
adolescentes em situao de rua na Escola Municipal de Porto Alegre EPA. Dissertao
de Mestrado, Programa de Ps-Graduao Mestrado e Doutorado em Msica, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.
MONTAO, Carlos. Terceiro Setor e a questo social:crtica ao padro emergente de
interveno social. So Paulo: Cortez, 2002
8
8
NETTL, Bruno. O Estudo Comparativo da Mudana Musical: estudo de caso de quatro
culturas. ENCONTRO DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE ETNOMUSICOLOGIA, 1.,
2002, Recife. Mimeo.
ROCHE, Chris. Avaliao do Impacto dos trabalhos de ONGS: aprendendo a valorizar
mudanas. Traduo: Tisel Traduo e Interpretao Simultnea Escrita. 2. ed. So Paulo:
Cortez: ABONG; Oxford, Inglaterra:OXFAM, 2002.
SOUZA, Jusamara. Contribuies tericas e metodolgicas da Sociologia para a pesquisa
em Educao Musical. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE
EDUCAO MUSICAL, 5., 1996, Londrina. Anais... Londrina: ABEM, 1996. p.1-39.
SOUZA, Jusamara. Currculo de Msica e Cultura Brasileira: mas que concepes de
Cultura Brasileira. Revista da Fundarte, Montenegro, v.1, n.1, p 22-25, 2001.
SHEPHERD, John, WIECKE Peter. Music and Cultural Theory. Malden: Polity Press,
1997.
Bla Bartok Rumanian Christmas Carols:
uma viso analtica de sua escrita para piano
Marcelo Macedo Cazarr
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
marcelocazarre@pop.com.br
Resumo: O trabalho que segue insere-se dentro da sub-rea da msica: prticas interpretativas tm
por objetivo gerar reflexes sobre a obra para piano Rumanian Christmas Carols de Bela Bartk,
alinhando a anlise musical ao momento biogrfico do compositor bem como aos seus
procedimentos composicionais relativos utilizao do folclore em obras para piano.
Palavras-chave: prticas interpretativas, piano, anlise musical.
INTRODUO
O presente trabalho tem por objetivo principal gerar reflexes que propiciem uma
interpretao mais fundamentada, compreendida e slida sobre a obra para piano Rumanian
Christmas Carols, composta em 1915 por Bla Bartk (1881-1945). A instrumentao
utilizada para tal fim foi da anlise da escrita da obra para piano bem como a inter-relao
com sua gnese composicional. Para alcanarmos o objetivo proposto partimos de duas
principais fontes: The Life and Music of Bela Bartok de Halsey Stevens ; e Bela Bartok
Compositeur Hongrois de Jean Gergely. Estas fontes serviram de base para traarmos
paralelos entre a biografia de Bartk, a maneira como recolhia e analisava o folclore, e suas
principais caractersticas composicionais nas obras para piano.
O MOMENTO BIOGRFICO
As composies de Bartk durante os anos de 1912
a 1916 so muito numerosas,
nesta poca o compositor estava interessado em divulgar a msica camponesa da Hungria,
uma tentativa de mostrar a importncia desta msica para o variado pblico hngaro. Nesta
poca o clima entre artistas, eventos e pblico era desfavorvel, visto que houve o
assassinato bala em Sarajevo em junho de 1914. Fazendo com que a Hungria participasse
da guerra, ento concentrando todas suas foras e pensamentos no conflito armado.
2
Bartk visitou o norte da frica em 1913, teria sido a primeira de muitas excurses
similares para estudar a msica do extenso grupo tnico cujas origens eram similares
aquelas dos Magyars (grupo tnico base do povo hngaro), a fim de descobrir o tanto
quanto possvel os traos que permaneciam nas culturas e os relacionamentos existentes
entre eles. O estudo da lngua hngara providenciou os primeiros sinais fidedignos das
origens dos Magyars, Bartk acreditava que a msica camponesa hngara cientificamente
analisada com os congneres pessoais tnicos forneceriam igualmente valiosas
informaes.
Mas a expedio africana foi a ltima por muitos anos, porque as fronteiras
hngaras foram fechadas durante a guerra, ele trabalhou somente em uma restrita rea
dentro de seu prprio pas, pelos prximos anos. Na primavera de 1914 ele e sua esposa
coletaram alguns cantos camponeses em Maros-Torda; no prximo ano fez o mesmo na
regio de Hunyad, e nos quatros anos seguintes mostrou seu trabalho em poucos lugares da
Hungria. Estudou tambm nesta poca seus registros fonogrficos de melodias camponesas
e escreveu alguns artigos, mas seu trabalho etnomusicolgico In vivo, teve que ser
abandonado. A impossibilidade de Bartk viajar fez com que ele dedicasse muito mais
tempo a sua famlia, ele pode acompanhar o desenvolvimento musical de seu filho, bem
como sua aptido para msica.
UMA VISO DA UTILIZAO DO FOLCLORE PELO COMPOSITOR
As fontes e as escolhas de Bartk na utilizao do folclore, modalidades estas que
perpassaram por mais de quarenta anos, dizem respeito a princpios definidos por ele
mesmo: como a influncia da msica camponesa pode se manifestar na msica erudita com
pretenso artstica. A transcrio de melodias e sua conservao fiel, acondicionada a um
acompanhamento, que poder ter um preldio ou um posldio, lembram de uma certa
forma o trabalho realizado por Bach nos corais, porm a modalidade a que Bartk se
prope em sua utilizao do folclore que a utilizao dessas melodias preserve
caractersticas do seu contexto musical, ou seja, que a melodia e que todo o demais
adicionado dem a impresso de uma unidade inseparvel e no apenas de uma melodia
extica inserida dentro de uma linguagem erudita ocidental cristalizada.
3
Para Bartk qualquer melodia por mais primitiva que seja suscetvel de receber
uma harmonizao ou um acompanhamento, como exemplo cita melodias que so
construdas por apenas dois graus de origem rabe e que, portanto no esto calcadas na
tonalidade, para o compositor a ausncia de um limite ou um marco como no caso da
tonalidade abre grandes possibilidades para a utilizao de novos procedimentos
composicionais. A msica camponesa do leste europeu atravs de seus contornos meldicos
conduz segundo Bartk a novas concepes harmnicas, o caso do intervalo de stima
consoante para eles permanente de fato nas melodias populares de carter pentatnico,
onde o intervalo de stima to e igualmente importante quanto o de tera e o de quinta.
Os diversos saltos de quarta nas melodias hngaras pentatnicas impulsionaram o
compositor a criar acordes de quartas, assim h uma projeo da sucesso horizontal com
uma simultaneidade vertical. Esta afirmao faz com que se possa observar o seguinte: a
harmonizao ou o acompanhamento de uma melodia popular em ltima analise no esta
ligada a nenhuma regra a no ser aquela imposta pelo prprio compositor, livre, o
acompanhamento pode estar combinado com a melodia ou no, esta no uma funo da
harmonia contrariando a esttica de Rameau, ela independente, ento a harmonia poder
ou no ser o produto da melodia.
O tratamento da melodia popular em monodia acompanhada consiste em uma dupla
estruturao, seja da prpria melodia e do acompanhamento, ou mais exatamente o oposto a
melodia, isto no uma regra, mas pode-se notar em diversas obras do compositor,
sobretudo aquelas do inicio de sua carreira.
Gergely (1980) argumenta que o numero total de melodias hngaras utilizadas por
Bartk superior a 130 eslovacas, entre sessenta e setenta romenas, e cerca de sessenta e
outras tantas que no se pode afirmar a espcie ou a origem certa. Gergely (1980) cr que
as solues estticas apresentadas por Bartk, querem ora experimentais ou cerebrais, no
so de uma certa forma totalmente conscientes por ele.
A utilizao de ostinatos harmnicos e a grande variedade de tratamento do material
pentatnico, so procedimentos evidenciados nas obras de Bartk onde h a utilizao de
formas meldicas originais ou criadas, a apresentao do trtono cria uma ambigidade
harmnica.
4
Musiclogos hngaros como Ern Lendvai acreditam que a seo urea uma das
preocupaes principais nas estruturas musicais de Bartk, a partir das obras de 1911,
embora o compositor nunca tenha falado nada a respeito.
Das obras de Bartk que utilizam melodias folclricas h um predomnio de obras para
piano solo, seguido de obras para canto e piano, outros instrumentos acompanhados de
piano, obras para coro a capella e duos para violinos. Nas obras para piano solo h uma
utilizao maior de melodias romenas e eslovacas tal fato talvez possa ser explicado porque
estas possuem uma estrutura menos simtrica que as hngaras o que seria uma forte razo
para a sua utilizao instrumental.
Gergely (1980) argumenta uma tendncia de Bartk h utilizao monotemtica,
herana de Liszt, presente em toda a vida de Bartk, sempre com vistas a utilizao do
folclore, porm o tema desenvolvido e transformado e sofre trocas na linguagem e no
carter.
MSICA PARA PIANO A GNESE DE COLI NDE
A msica para piano de Bartok extremamente extensa e variada, possvel encontrarmos
obras com caractersticas tnicas e folclricas bem como obras que nos remetem ao
universalismo. O grau de variao da dificuldade tambm chama a ateno, o compositor
teve a preocupao de escrever algumas obras para piano com o intuito didtico, como o
caso das Rumanian Christmas Carols, tambm chamadas por ele de Colindes.
No ano de 1913 o compositor providenciou arranjos de pequenas peas folclricas,
como as dezoito peas de um mtodo elementar de piano de Reschofsky, publicadas
posteriormente com o nome de The First Term at The Piano, durante este perodo ele
estava ocupada na composio do The Wooden Prince e o segundo quarteto, mas produziu
diversas peas para piano como a Sonatina, As danas romenas para piano, As canes de
natal romenas (objeto de nosso estudo) as quinze canes hngaras camponesas e a sute
para piano opus14, a nica do perodo no baseada em material folclrico direto.
The Rumanian Christmas Carols, Bartk transcreveu-as em 1915 em duas sries de
dez canes cada, designadas para serem tocadas sem pausas, com cada melodia emergindo
uma da outra. Como Bartk explica em seu Melodien der Rumnischen Colinde, estas
5
canes coletadas durante os anos de 1919 e 1917, eram usualmente cantadas por homens
jovens, algumas por garotas, que caminhavam de casa em casa durante a poca do
natal.Ritmicamente as Colindes so consistentemente menos regulares que as dance-
tunes,mesmo naquelas canes em tempo giusto, a unidade mtrica varia de compasso para
compasso. A plasticidade e a flexibilidade da rtmica tem haver com as canes dos
Magyars, poucas conexes podem ser feitas com os ritmos da msica folclrica blgara,
como a ocorrncia regular de padres rtmicos irregulares: por exemplo, 2/8+3/8+3/8 ou
4/8+3/8.
O compositor tambm utilizou nesta obra o processo de imitao cannica como
procedimento composicional. Tambm trabalhou com outros processos imitativos, somente
no final da obra escreve um cnone completo. Stevens (1967) enfatiza o valor pedaggico
desta obra bem como de outras do perodo.
Na primeira pgina da Universal Edition de 1918, Bartk com a conscincia de um
etnomusiclogo publicou as melodias e os textos das vinte canes bem como o lugar de
onde elas foram recolhidas, a forma como esto arranjadas em sua escrita demonstram a
inteno didtica do compositor que no fez uso de grandes dificuldades piansticas,
somente em uma edio posterior ele adicionou oitavas e outros acordes de mo inteira para
que a obra tivesse uma experincia mais vvida na performance, estas alteraes
encontram-se na edio de BOOSEY & HAWKES (1945). A obra foi apresentada pelo
autor em 30 de novembro de 1923, a primeira srie no Aeolian Hall em Londres e em 21 de
maro de 1925 em Budapeste a segunda srie. Passamos agora ao detalhamento de cada
uma das peas atravs da anlise de sua escrita para piano.
Primeira Srie
1. Allegro
Utilizao de armadura de f e d sustenidos, porm sem caracterizao da
tonalidade, uso de unssono nas duas mos, bem como notas pedais no baixo, grande
6
variedade de sinais de articulao e alternncia dos compassos 2/4 e 3/8. Cano com
carter lgubre ou cerimonial.
2. Allegro
Cano alegre com utilizao de muitas sncopas, em andamento vivo; armadura de
f sustenido caracteriza tonalidade de Sol maior, utilizao de notas duplas sem
grande extenso das mos, alternncia da melodia principal na direita e posterior
apresentao na esquerda. Utilizao de variao de compassos entre 5/8, 2/4 e 3/8.
3. Allegro
Tonalidade de r menor, porm na forma natural sem alteraes do sexto e stimo
graus. Carter campesino, repetio seguida da melodia principal em apresentaes
na mo direita, mo esquerda e retorno a mo direita. Mtrica 4/8 + 3/8.
4. Andante
Grande variao de compassos, cano de carter nostlgico, apresentao da
melodia em registros diferentes do piano, na segunda apresentao adiciona uma
linha contrapontstica na mo esquerda. Tonalidade de r menor caracterizando a
sensvel.
5. Allegro Moderato
Variao de sinais de articulao, cano viva e alegre, metro binrio como uma
dana. Apresentao da melodia somente na mo direita. Tonalidade de sol menor,
notas dobradas na esquerda acompanham a melodia.
6.Andante
Variao intensa de compassos, melodia lgubre, indeterminao tonal, a msica
gira em torno do modo de mi. Apresentao na esquerda seguida do mesmo processo na
direita.
7.Andante
7
Compassos 2/8 + 3/8 + 3/8, sincopao intensa, acompanhamento ao estilo de
Barcarole, apresentao da melodia somente na mo direita. Tonalidade de r maior.Carter
campesino alegre.
8. Allegretto.
Metro binrio com variao. Utilizao de ostinatos como uma dana masculina, de
uma certa forma esta pea lembra as Peas Lricas de E. Grieg; grande variao de sinais
de articulao e acentuao, uso de acordes nas duas mos, notas dobradas, sextas e oitavas
quebradas. Carter vivo, alegre e danante.
9.Allegro
Cano alegre, em metro binrio, utilizao de contratempos e deslocamentos de
acentuao entre as duas mos, ou seja, enquanto uma direciona-se para o tempo fraco ou
parte fraca do tempo a outra est no tempo forte ou parte forte do tempo. Armadura de si
bemol, porm sem caracterizao da tonalidade.
10. Pi Allegro
Apresentao da melodia em regio aguda em movimentao para regies graves do
instrumento. Carter alegre e danante. Tonalidade de f maior com alternncia de metro
binrio e ternrio. Finalizao da primeira srie com notas em staccatto na tonalidade de F
maior.
Segunda Srie
1. Molto Moderato
Melodia na tonalidade de sol menor de carter lnguido, apresentada em regies
contrastantes do piano, metro binrio. O autor utiliza tcnica contrapontstica,
elaborando uma pea com trs vozes bem definidas, diversas imitaes, trabalho
8
das vozes atravs de movimento contrrio, e paralelo. Uso de toque legato e
pesante.
2. Moderato
Apesar da inconstncia da mtrica ora binria ora ternria o padro de ostinato
utilizado mantm-se. Tonalidade de sol maior, melodia apresentada em teras
somente na mo direita com repeties.Melodia alegre com apogiaturas que talvez
faam aluso ao tradicional canto dos povos Blgaros.
3. Andante
Pea com elaborao contrapontstica da melodia, tonalidade de si menor,
carter triste e montono. A direo meldica tende ao movimento descendente,
variao de mtrica binria e ternria.
4. Andante
Melodia sem estabilidade tonal, gira em torno do modo de r. Apresentao
meldica na mo direita com variao de acompanhamento na mo esquerda
que ora apresenta um acompanhamento em ostinato cordal ou um contracanto
em colcheias em tcnica contrapontstica. Sincopao intensa.
5. Moderato
Melodia de carter enrgico, gira em torno do modo de r. Apresentao na M.d
e ao final apresentao na M.e. Variao do padro de acompanhamento ora em
saltos ora cordal. Utilizao intensa de sinais de articulao e acentos.
6. Andante
Utilizao da frmula de compasso 2/8 + 3/8 + 3/8, apresentao somente na mo
direita com variao de acompanhamento, porm sempre em ostinato, diversas
repeties. Melodia com carter campesino, em limitada tessitura vocal. Toque
expressivo ligado e dolce.
9
7. Variante Della Precedente
Mesma melodia anterior agora apresentada na mo esquerda na regio grave do
piano, posteriores apresentaes com mo direita e duas mos em unssono com
notas agregadas, com diferente tipo de toque: staccattos com tenutos. Instabilidade
tonal, gira em tono do modo de r.
8. Allegro
Trs apresentaes da melodia em diferentes regies do instrumento,
acompanhamento com notas longas ora na direita ora na esquerda. Carter nobre,
compasso binrio.
9. Allegretto
Compasso 4/8 + 3/8, carter alegre danante, uso de tcnica contrapontstica,
alternncia de apresentaes da melodia entre as mos.
Variedade de utilizao de sncopes, sinais de articulao conferem a pea um certo
grau de dificuldade, no demonstrado anteriormente. Tonalidade de f maior.
10. Allegro
Cano danante de carter alegre vivo e festivo. Encerra o ciclo com utilizao
de todas as tcnicas anteriores, mas com destaque para as imitaes que agora
apresentam um cnone completo. Tonalidade de d maior, utilizao de
extenso ampliada do piano.Tcnica de acordes repetidos.
CONSIDERAES FINAIS
A obra que foi brevemente analisada demonstra a preocupao de bartk
com a divulgao da msica de seu povo, dentro de um ambiente que no o
campesino e sim a elite cultural europia. A proposio que fizemos durante a
anlise com certeza no desvela todos os significados desta obra. Para uma
futura pesquisa deixamos a sugesto da traduo dos textos de cada melodia que
10
encontram-se na partitura aqui utilizada, de modo a ambientar letra e msica
traando paralelos seimiolgicos.
Esperamos que de alguma forma o trabalho empreendido tenha sido de
interesse dos profissionais da rea do piano, pois procuramos sedimentar
historicamente e analiticamente reflexes sobre alternativas para a performance
da obra.
BIBLIOGRAFIA
BARTK, Bla. Rumanian Christmas Carols. Partitura. USA: Boosey &
Hawkes, 1945.
GERGELY, Jean. BLA BARTK Compositeur Hongrois. Troisime Partie.
Paris: La revue Musicale, ed. Richard Masse, 1980.
KOVCS, Jnos. Encarte Rnky plays Bartk. Budapest: Hngaroton.1988.
STEVENS. Halsey. The life and Music of Bla Bartk. Londres:Oxford
University Press, 1967.
Mrio de Andrade ensaiando a unidade do Brasil:
um estudo sobre o canto nacional
Maria Elisa Pereira
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
rtmep@ig.com.br
Maria Helena Maestre Gios
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
mhgios@reitoria.unesp.br
Dorota Kerr
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
dkerr@uol.com.br
Resumo: Mrio de Andrade, um dos pilares do nacionalismo musical no Brasil, foi tambm
responsvel pela fixao de normas de dico para a cano erudita brasileira. Pesquisando
em suas obras os assuntos interpretao, canto e dico, verificamos que os mesmos so
uma constante em muitas delas. Queremos refletir sobre o pensamento esttico de Mrio de
Andrade no mbito da msica e do cantar em lngua nacional. Nos preocupamos tambm
com a relao msica / sociedade, aqui exemplificada na afinidade entre performance e
ideologia pregadas por Mrio de Andrade para o intrprete da cano brasileira. Os anais do
Congresso da lngua nacional cantada, de 1937, assim como os documentos do
Departamento de Cultura de So Paulo sero fontes primrias importantes para a pesquisa.
At o momento conclumos que, para o autor, a lngua unida msica seria um fator de
unidade nacional, e que desse modo a arte poderia transformar o pas.
Palavras-chave: Mrio de Andrade, cano brasileira, nacionalismo.
Abstract: Mrio de Andrade, one of the pillars of musical nationalism in Brazil, was also
responsible for the establishing of standard diction rules for the Brazilian art song.
Researching in his texts topics like performance, singing and diction, we have verified that
these themes are a constant in his works. Our text is a reflection on the esthetic thought of
Mrio de Andrade on singing in the national language. We have also looked at the
relationship music/society, exemplified by the affinity between performance and ideology
for the performer of the Brazilian song. The annals of the Congress of the sung national
language, (1937), as well as documents from the So Paulo Cultural Department will be
primary sources, important to our study. At the present time, we conclude that, for the
author, language fused to music constitutes a factor in national unity, and by this manner, art
can transform the country.
Keywords: Mrio de Andrade, Brazilian art song, nationalism.
INTRODUO
Os textos sobre questes musicais de Mrio de Andrade no se limitam a
fornecer dados do folclore ou indicaes a propsito dos procedimentos de
composio e de performance. Revelam algo mais que esttica, histria e teoria da
msica. Eles tambm so fonte de conhecimento a respeito do pensamento, das
ideologias e das utopias do sculo XX.
PEREIRA, Maria Elisa. Mrio de Andrade ensaiando a unidade do Brasil: um estudo sobre o canto nacional.
2
Nos seus escritos diretamente relacionados cano brasileira encontramos
indcios sobre suas idias a respeito da responsabilidade do cantor na construo do
ideal nacionalista. Suas obras onde existem informaes aparentemente normativas
sobre canto trouxeram tona aquelas idias fundamentais pelas quais o autor se
bateu por toda a vida: arte interessada, construo da nacionalidade, redescobrimento
do Brasil. As condies e os pressupostos para a consolidao desses ideais tambm
foram surgindo, amalgamados situao social e poltica vivida em nosso pas.
OBJETIVOS DA PESQUISA
Estudar as relaes entre interpretao e ideologia encontradas nos textos de
Mrio de Andrade a respeito do canto nacional; refletir sobre seu pensamento no
mbito da msica nacional e do cantar em brasileiro, seja nos aspectos da
composio, seja nos de performance; revelar informaes encontradas na pesquisa
de fontes primrias, como nos documentos do Departamento de Cultura do
Municpio de So Paulo (1935/1937) e nos anais do Congresso da lngua nacional
cantada, de 1937.
FONTES
Os textos de Mrio de Andrade que compem nossa analise para o estudo da
cano brasileira so, principalmente: o Ensaio sobre a msica brasileira
(ANDRADE, 1972, p. 11-151), Modinhas imperiais (ANDRADE, 1980), Os
compositores e a lngua nacional (ANDRADE, 1965, p. 41-118; CONGRESSO DA
LNGUA..., 1938, p. 95-168), A pronncia cantada e o problema do nasal brasileiro
atravs dos discos (ANDRADE, 1965, p. 119-141; CONGRESSO DA LNGUA...,
1938, p. 187-208), e Normas para a boa pronncia da lngua nacional no canto
erudito (CONGRESSO DA LNGUA..., 1938, p. 49-94; MARIZ, 1959, p. 261-292),
e O banquete (ANDRADE, 1989).
Alm destes, os anais do Congresso, os documentos do Departamento de
Cultura, as entrevistas com intrpretes da cano nacional e a bibliografia
especializada constituem fontes importantssimas para a dissertao.
PRESSUPOSTOS TERICOS
PEREIRA, Maria Elisa. Mrio de Andrade ensaiando a unidade do Brasil: um estudo sobre o canto nacional.
3
O caminho para conhecermos o autor de Macunama, o heri sem nenhum
carter (ANDRADE, 197-?) no contexto do modernismo e do nacionalismo
brasileiro, e suas idias sobre o papel do intrprete nesse ambiente ser feito atravs
da anlise de seus escritos, sendo eles permeados por outros depoimentos e estudos e
por trabalhos clssicos e tambm recentes sobre o tema. A releitura dessas obras visa
apresentar uma outra interpretao dos seus textos originais, sem desconsiderar o que
as diversas obras sobre Mrio de Andrade j produziram. Nesse contato geral com
quase toda a sua produo sobre assuntos musicais centraremos a ateno nas obras
que se referem ao problema do intrprete de msica nacional.
Esta pesquisa tem seu lugar na interface entre aspectos interpretativos e a
musicologia. Por isso, partes de seus subsdios viro de textos das reas de histria,
sociologia e filosofia, buscando, sempre, refletir sobre as relaes entre interpretao
e ideologia. J os fundamentos sobre performance sero obtidos atravs de textos
tcnicos de canto, dissertaes na rea de prticas interpretativas, dos relatos dos
intrpretes e dos artigos de Mrio de Andrade.
PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
A princpio realizaremos uma pesquisa bibliogrfica sobre os temas gerais da
dissertao: Mrio de Andrade, modernismo, nacionalismo, cano brasileira.
Selecionaremos e analisaremos obras de Mrio de Andrade na rea de esttica e
msica em geral, textos de sua autoria que diretamente interessam ao cantor de
msica brasileira, num passeio cronolgico.
Em seguida estaremos pesquisando fontes primrias, como os documentos do
antigo Departamento de Cultura depositados no Arquivo Municipal na poca da sua
gesto como diretor e, principalmente, toda a documentao referente ao Congresso
da lngua nacional cantada, seus anais e toda a literatura correlata.
Por fim, realizaremos algumas entrevistas com intrpretes consagrados da
cano nacional, buscando conhecer as razes da sua interpretao.
RESULTADOS PARCIAIS
At o momento foi sistematizada a trajetria pessoal, intelectual e profissional
de Mrio de Andrade, desde a Semana de arte moderna at seus ltimos dias, com
PEREIRA, Maria Elisa. Mrio de Andrade ensaiando a unidade do Brasil: um estudo sobre o canto nacional.
4
nfase no perodo em que foi Diretor do Departamento de Cultura, realizando l o
primeiro congresso musical do Brasil (CONGRESSO DA LNGUA..., 1938, p.
707). Em todos os textos pesquisados foram detectadas as situaes em que os
assuntos canto, dico, interpretao apareciam, e realizadas as anlises e
conexes.Tambm esto sendo aprofundadas as questes relativas dico da lngua
portuguesa na cano brasileira, a partir das diretrizes sugeridas nas suas Normas.
Algumas reflexes iniciais a respeito da relao entre ideologia e performance j se
encontram no artigo Mrio de Andrade e o dono da voz (PEREIRA, 2002).
CONCLUSES PARCIAIS
Nos projetos nacionalistas as diferenas e contradies devem se amalgamar,
visando um bem maior: raas, etnias, povo, lngua, msica, nao, estado e ptria
acabam por se aglutinar, sendo/representando a mesma coisa. Elemento essencial na
definio de nao e nacionalidade, a lngua de um povo revela sua cultura, sua
histria, seus valores. Preocupado por tudo o que a ela estivesse relacionado, o
escritor Mrio de Andrade empenhou-se na inveno da lngua brasileira. Muito
mais interessado em construir um novo Brasil, o seu lado esteta / musiclogo /
professor trabalhou para que, unida msica, a palavra transformasse nosso pas.
Os cantores eruditos do mundo todo seguem as regras de pronncia de sua
lngua natal e tentam observar as dos demais pases. Porm pensamos que Mrio de
Andrade no tivesse apenas essa preocupao, de ordem mais artstica. A tentativa de
propor uma pronncia geral est presente em grmen desde o primeiro texto
pesquisado. Se no seu Ensaio o canto coral aparece como unificador dos sentimentos
do povo, nas Normas se espera de todo o cantor a tarefa de, ao usar uma lngua-
padro de Norte a Sul do Brasil, edificar a unidade nacional. A idia de que uma
lngua culta descolada dos regionalismos pudesse ser tal fator de integrao s
poderia mesmo ter sado de uma figura do seu porte; no seu sonho civilizatrio
chegaramos ao seu Brasil utpico mediante reformas paulatinas nos campos da Arte
e Cincia.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
TESES E DISSERTAES
PEREIRA, Maria Elisa. Mrio de Andrade ensaiando a unidade do Brasil: um estudo sobre o canto nacional.
5
ABDANUR, Elisabeth Frana. Os ilustrados e a poltica cultural em So Paulo: O Departamento
de Cultura na gesto Mrio de Andrade (1935-1938). 1992. Dissertao (Mestrado em Histria),
Instituto de Filosofia e Cincias Humanas (IFCH) da Universidade de Campinas (UNICAMP),
Campinas.
CONTIER, Arnaldo Daraya. Brasil novo, msica, nao e modernidade: os anos 20 e 30. 1988. Tese
(Livre Docncia) FFLCH da USP, So Paulo.
OLIVEIRA, Rita de Cssia Alves. Os colonizadores do futuro: Cultura, Estado e Departamento de
Cultura do Municpio de So Paulo (1935-1838). 1995. Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais),
PUC, So Paulo.
LIVROS
ANDRADE, Mrio de. Aspectos da msica brasileira. So Paulo: Martins, 1965.
_________. Ensaio sobre a msica brasileira. So Paulo: Martins, 1972, p. 11-151.
_________. Macunama, o heri sem nenhum carter. So Paulo: Crculo do Livro, [197-?].
_________. Modinhas imperiais. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
_________. O banquete. Prefcio de Jorge Coli e Luiz Carlos da Silva Dantas. So Paulo: Duas
cidades, 1989.
CNDIDO Antonio (Antonio Cndido Mello e Souza). Literatura e Sociedade. So Paulo:
Publifolha, 2000.
COLI, Jorge. Msica final: Mrio de Andrade e sua coluna jornalstica Mundo Musical. Campinas,
SP: Unicamp, 1998 (Viagens da Voz).
CONTIER, Arnaldo Daraya. Msica e Ideologia no Brasil. So Paulo: Novas Metas, 1985.
DIAS, Mrcia Tosta. Os donos da voz: indstria fonogrfica brasileira e mundializao da cultura.
So Paulo: Boitempo, 2000.
DUARTE, Paulo. Mrio de Andrade por ele mesmo. So Paulo: HUCITEC - Secretaria da Cultura,
Cincia e Tecnologia, 1977.
MARIZ, Vasco. A cano brasileira de cmara. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002.
______. A cano brasileira: erudita, folclrica e popular. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa
Nacional, Ministrio de Educao e Cultura Servio de Documentao, 1959.
MICELI, Sergio. Intelectuais brasileira. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974): pontos de partida para uma
reviso histrica. So Paulo: tica, 1978 (Ensaios, 30).
NEVES, Jos Maria. Msica contempornea brasileira. So Paulo: Ricordi Brasileira, 1981.
RAFFAINI, Patrcia Tavares. Esculpindo a cultura na forma Brasil o Departamento de Cultura de
So Paulo (1935-1938). So Paulo: FFLCH da USP, 2001.
TRAVASSOS, Elisabeth. Modernismo e msica brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
___________. Os mandarins milagrosos: arte e etnografia em Mrio de Andrade e Bela Bartk. Rio
de Janeiro: Funarte, Jorge Zahar, 1997.
VALENTE, Helosa de Arajo Duarte. Os cantos da voz entre o rudo e o silncio. So Paulo:
Annablume, 1999.
WISNIK, Jos Miguel. O coro dos contrrios - a msica em torno da Semana de 22. So Paulo: Duas
Cidades, 1977.
PARTES DE MONOGRAFIAS
ANDRADE, Mrio de. Cultura musical (orao de paraninfo). In: __. Aspectos da msica brasileira.
So Paulo: Martins, 1965, p. 235247.
PEREIRA, Maria Elisa. Mrio de Andrade ensaiando a unidade do Brasil: um estudo sobre o canto nacional.
6
_________. O artista e o arteso. In: __. O baile das quatro artes. So Paulo: Martins, 1943.
_________. O movimento modernista. In: __. Aspectos da Literatura brasileira. So Paulo: Martins,
[196-?], p.231-255 (Trata-se de uma conferncia de 1942).
DUARTE, Fernando Jos Carvalhaes. A slaba (tonta de tanto tom) na boca das eras: notao
prosdica da msica brasileira. In: MATOS, Claudia Neiva de; MEDEIROS, Fernanda Teixeira de;
TRAVASSOS, Elisabeth (Org.). Ao encontro da palavra cantada - poesia, msica e voz. Rio de
Janeiro: Sete Letras, 2001, p.141-152.
IGLSIAS, Francisco. Modernismo: uma reverificao da inteligncia nacional. In: AVILA, Afonso
(Org.). O Modernismo. So Paulo: Perspectiva, Secretaria de Cultura, Cincia e Tecnologia, 1975.
MENDES, Gilberto. A msica. In: AVILA, Afonso (Org.). O Modernismo. So Paulo: Perspectiva,
Secretaria de Cultura, Cincia e Tecnologia, 1975, p.127-138.
NORMAS para a boa pronncia da lngua nacional no canto erudito, ditadas pelo primeiro congresso
da lngua nacional cantada, realizado em So Paulo, em 1937. In: MARIZ, Vasco. A cano
brasileira: erudita, folclrica e popular. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional,
Ministrio de Educao e Cultura Servio de Documentao, 1959, p. 261-292.
ARTIGOS EM PERIDICOS
ABDANUR, Elisabeth. Parques infantis de Mrio de Andrade. Revista do IEB - USP, So Paulo, v.
36, p. 263-270, 1994.
ALVARENGA, Oneyda. Sonora poltica. Revista Do Arquivo Municipal: 45 anos da morte de Mrio
de Andrade, So Paulo, Departamento do Patrimnio Histrico da Secretaria Municipal de Cultura, n
198, p. 7-44, 1990 (Edio fac-similar do n 106, de 1946).
CONTIER, Arnaldo Daraya. Mrio de Andrade e a msica brasileira. Revista Msica: revista da ECA
- USP, So Paulo, v. 5, n. 1, p. 33-47, mai. 1994a.
________. Memria, histria e poder: a sacralizao do nacional e do popular na msica (1920-1950).
Revista Msica: revista da ECA - USP, So Paulo, v.2, n. 1, p. 5-36, nov. 1991.
________. O Ensaio sobre a msica brasileira: estudos dos matizes ideolgicos do vocabulrio social
e tcnico-esttico (Mrio de Andrade, 1928). Revista Msica: revista da ECA - USP, So Paulo, v. 6,
n. 1/2, p. 75-121, mai./nov. 1995.
DUARTE, Fernando Jos Carvalhaes. A fala e o canto no Brasil: dois modelos de emisso vocal.
ARTEunesp: UNESP, So Paulo, v.10, p. 87-97, 1994.
FUBINI, Enrico. Individualidade ou universalidade da linguagem musical? Novos estudos CEBRAP,
So Paulo, n. 60, p. 109-118, jul. 2001.
PEREIRA, Maria Elisa. Mrio de Andrade e o dono da voz. PER MUSI: revista da Escola de Msica
da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 5/6, p. 101111, dez. 2002.
TRABALHOS EM ANAIS DE EVENTOS CIENTFICOS
ANDRADE, Mrio de. A pronncia cantada e o problema do nasal brasileiro atravs dos discos. In:
CONGRESSO DA LNGUA..., 1., 1937, So Paulo. Anais... So Paulo: Departamento de Cultura do
Municpio de So Paulo, 1938. p. 187-208.
_________. Os compositores e a lngua nacional. In: CONGRESSO DA LNGUA..., 1., 1937, So
Paulo. Anais... So Paulo: Departamento de Cultura do Municpio de So Paulo, 1938. p. 95-168.
CONGRESSO DA LNGUA NACIONAL CANTADA, 1., 1937, So Paulo. Anais... So Paulo:
Departamento de Cultura do Municpio de So Paulo, 1938.
CONTIER, Arnaldo Daraya. Msica brasileira e interdisciplinaridade. Algumas reflexes. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ANPPOM, 7., 1994, So Paulo. Anais... So Paulo, Escola de
Comunicaes e Artes (ECA) da Universidade de So Paulo, 1994b. p. 148-158.
PEREIRA, Maria Elisa. Mrio de Andrade ensaiando a unidade do Brasil: um estudo sobre o canto nacional.
7
KERR, Dorota Machado. Bases metodolgicas da pesquisa musical. In: ENCONTRO NACIONAL
DA ANPPOM, 7.,1994, So Paulo. Anais... So Paulo: ECA-USP, 1994. p. 137-139.
NORMAS para a boa pronncia da lngua nacional no canto erudito, ditadas pelo primeiro congresso
da lngua nacional cantada, realizado em So Paulo, em 1937. In: CONGRESSO DA LNGUA..., 1.,
1937, So Paulo. Anais... So Paulo: Departamento de Cultura do Municpio de So Paulo, 1938. p.
49-94.
1
Programa de rdio Clube do Guri: uma histria das idias e das
prticas pedaggico-musicais (1950-1966)
Marta Adriana Schmitt
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
martaschmitt@hotmail.com / mschmitt@fmcultura.com.br
Resumo: Um dos temas mais referenciados na atualidade por pesquisadores e tericos da educao
musical trata sobre a influncia da mdia nas prticas musicais. Embora hoje haja uma diversidade
de mdias disponveis, o rdio, pela facilidade de acesso e transporte, nos seus 80 anos de existncia
no Brasil, continua sendo o maior veculo de comunicao no pas. Este meio comea a ser
percebido como um novo espao onde ocorre apropriao e transmisso de saberes musicais. O
presente projeto tem como objetivo investigar o papel pedaggico-musical do programa de rdio
Clube do Guri, que era realizado semanalmente, na Rdio Farroupilha, em Porto Alegre, entre os
anos de 1950 e 1966. Para a realizao desta investigao ser utilizado o mtodo de pesquisa
histrica, tendo como tcnicas metodolgicas, a entrevista semi-estruturada e a prtica documental.
O interesse desse trabalho est em resgatar o significado deste programa para crianas e jovens que
dele participaram, oferecendo suporte terico para alguns dos desafios atuais na rea da educao
musical.
Palavras-chave: rdio, educao musical, Clube do Guri
Abstract: The influence of the midia over musical practice is one of the hot topics for discussion
among researchers and scholars of musical education. Even considering that there are several kinds
of midia available today, the radio, after 80 years of existence in Brazil, still holds as first place,
probably due to easy use and widespread access. The radio now starts to be seen as a new space,
where there is appropriation and transmision of musical knowledges. This project aims at
investigating the pedagogic/musical role of the radio program called Clube do Guri (Kids Club),
that was broadcasted weekly in Porto Alegre, RS between the years of 1950 and 1966. For this
purpose, the method of hystorical research will be used, with techniques such as semi-structured
interviews and research on documents available. The main importance of this project is to rescue
the actual meaning of this program for children and teenagers that were involved in it, and to offer a
theoric basis for some of the current challenges in the area of musical education.
Keywords: radio, musical education, Clube do Guri
1. Introduo
O presente projeto de pesquisa, em desenvolvimento no Programa de Ps-
Graduao em Msica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1
, tem
como objetivo investigar o papel pedaggico-musical do programa de rdio Clube do
Guri. Este programa era realizado semanalmente, na Rdio Farroupilha, em Porto Alegre,
entre os anos de 1950 e 1966, com apresentao de Ary Rego e colaborao de Dayse
Rego.
1
O referido projeto est sob a orientao da Prof. Dr. Jusamara Souza
2
O interesse desse trabalho est em resgatar o significado deste programa para aquela
gerao, refletindo sobre as seguintes questes: Qual era a importncia do programa Clube
do Guri para os participantes? Qual era o papel do rdio na formao musical de jovens e
crianas que dele participavam? Qual era o formato e a concepo do programa? Qual era a
relao do programa com a escola?
Certos aspectos vinculados a estas questes esto relacionados com um dos temas
mais referenciados na atualidade por pesquisadores e tericos da pesquisa em educao
musical, qual seja, a influncia da mdia nas prticas musicais dos indivduos (Nanni 2000,
Souza 2000, Garbin, 2001, Ramos 2002). O surgimento e o impacto de novas tecnologias
tm apontado para formas inusitadas de interao com o objeto sonoro, ocasionando uma
resignificao do fazer musical. Souza (2000) afirma que em decorrncia do processo de
globalizao da cultura e da informao, modificam-se cada vez mais as linguagens e meios
tcnicos de distribuio, bem como a noo de msica com a instituio som-imagem
(Souza, 2000, p.45).
O rdio, potencialmente encontra-se entre os novos espaos onde ocorre
apropriao e transmisso de saberes musicais. Estudos recentes tm se voltado para a
reflexo sobre mltiplos espaos e novas demandas msico-educacionais. Cada vez mais, a
pesquisa em educao musical tem procurado compreender os processos de transmisso-
apropriao que se estabelecem em formas e em prticas dirias de indivduos envolvidos
em realizaes musicais fora da escola, em contextos extra-escolares. Como exemplos de
trabalhos que tm desencadeado novos olhares e desenvolvido novos paradigmas para a
educao musical podemos citar Prass (1998), Corra (2000) e Ramos (2002).
2. Referencial Terico
O presente estudo tomar como referencial as fundamentaes que conceituam os
meios de comunicao como produtor de novos conhecimentos, baseado em tericos como
Wolf (1995), Thompson (1998) e Kellner (2001). Este pressuposto est associado ao
conceito de mdia como dispositivo pedaggico cultural, defendida por Fischer (1997), e
ao conceito de apreenso (transmisso-apropriao) de conhecimentos musicais realizados
em contextos no-escolares, apresentados por Kraemer (2000), Nanni (2000) e Souza
(2000).
3
Para Arroyo et al. (2000), a aprendizagem musical atravs dos meios de
comunicao denominada como educao informal, termo tambm chamado de no
formal, que conceitua a educao musical realizada fora do ambiente escolar e em
contextos no oficiais (Arroyo et al., 2000, p.79).
A terminologia formal, informal vem sendo discutida por autores como Wille
(2002), Gohn (2001), Grossi (2001), Simon; Park; Fernandes (2001), Oliveira (2000),
Arroyo et al. (2000), Sacristn (1999), Pan (1992) e Campos (1985). Libneo (2000),
conceitua a educao em duas modalidades: educao no-intencional, infomal ou paralela;
e educao intencional, que compreende a educao no-formal e formal (Libneo, 2000,
p.78-79).
As idias acima apresentadas podero colaborar com o estudo do programa de rdio
Clube do Guri, sob a perspectiva pedaggico-musical.
3. Objetivos
3.1 Objetivo geral
-Investigar as funes pedaggico-musicais do programa de rdio Clube do Guri,
realizado na Rdio Farroupilha, em Porto Alegre, nos anos de 1950 1966
3.2 Objetivos especficos
-Analisar a participao musical de jovens e crianas no programa Clube do Guri;
-Verificar o papel do rdio na formao musical de jovens e crianas que se apresentavam
no programa;
-Descrever o formato, os contedos e a concepo do programa;
-Analisar a relao do programa Clube do Guri com a escola.
4. Metodologia
4
Para realizar a presente investigao ser utilizado o mtodo de pesquisa histrica.
No estudo histrico, o pesquisador examina uma determinada realidade em um tempo
delimitado e em um lugar preciso, necessitando delimitar no tempo e no espao o objeto do
seu estudo (Borges, 1993).
As tcnicas metodolgicas utilizadas so a entrevista semi-estruturada e a prtica
documental realizada atravs do contato com os acervos documentais.
As fontes selecionadas para a realizao do presente projeto so fontes orais e
escritas. O emprego da fonte oral tem mostrado-se bastante relevante. Segundo Nabo
(2000) a fonte oral impem-se como primordial, pois s atravs dela que estamos
podendo conhecer trajetrias, sonhos, desejos, aspiraes, crenas, lembranas do passado
(Nabo, 2000, p.123). Entre as fontes orais, destaca-se entrevistas gravadas com o
apresentador do programa, o radialista Ary Rego, a colaboradora Daisy Rego e
participantes que atuaram no programa em diferentes perodos.
Dentre as fontes escritas esto documentos como jornais e revistas presentes em
arquivos particulares e pblicos e museus. Tambm sero considerados como fontes,
fotografias e gravaes.
5. Justificativa e Contribuies
O interesse por esse tema surgiu a partir da minha atividade profissional, atuando h
quase quinze anos em emissoras de rdio de Porto Alegre, nas reas de produo e
programao musical. Durante programas de entrevistas com maestros, compositores,
professores e instrumentistas de todo o Brasil, constatei a relevncia do rdio na sua
formao musical. Esta constatao vinculou-se a leituras e discusses em grupos de
estudo, tendo como foco a importncia da mdia nas prticas cotidianas dos indivduos e de
sua influncia e insero na sala de aula.
Mas por que voltar-se ao rdio de pocas anteriores? Qual a importncia de
olharmos para o passado? A contemporaneidade de um estudo histrico evidente quando
nos reportamos ao passado para compreendermos o presente e projetarmos o futuro. De
acordo com Kraemer (2000):
5
Para um julgamento apropriado da situao atual, uma considerao histrica
coloca disposio conhecimentos sobre origem, continuidade e mudanas de
idias, contedo e situaes pedaggico-musicais; atravs da comparao com
problemas semelhantes aos do passado, so colocadas disposio alternativas para
a discusso atual e com isso fundamentos para a crtica da situao atual (Kraemer,
2000, p.54; grifos no original).
As indagaes dos pesquisadores ao seu objeto de estudo refletem questionamentos
relacionados ao tempo presente, ao cotidiano do historiador. So as perguntas do presente
que direcionam nossas perguntas ao passado, atravs das quais construmos um novo
conhecimento histrico (Felix, 1998, p.95). De acordo com Borges (1993):
Conforme o presente que vivem os historiadores, so diferentes as perguntas que
eles fazem ao passado e diferentes so as projees de interesses, perspectivas e
valores que lanam no passado. (...) Mesmo quando se analisa um passado que os
parece remoto, portanto, seu estudo feito com indagaes, com perguntas que nos
interessam hoje, para avaliar a significao desse passado e sua relao conosco
(Borges, 1993, p. 56).
Considero importante o resgate de parte da histria da educao informal realizada
atravs do rdio, pois talvez muitos dos desafios atuais na rea da educao musical
possam buscar suportes tericos a partir de prticas j desenvolvidas.
Referncias bibliogrficas
ARROYO, Margarete. et al. Transitando entre o formal e o informal: um relato sobre a
formao de educadores musicais. Anais do 7 Simpsio Paranaense de Educao
Musical. Londrina, p. 77-90, out. 2000.
BORGES, Vavy Pacheco. O que histria. So Paulo: Editora Brasiliense, 1993.
CAMPOS, Maria Christina S. de Souza. Educao: agentes formais e informais. So
Paulo: EPU, 1985.
CORRA, Marcos Kroning. Violo sem professor: um estudo sobre processos de auto-
aprendizagem musical com adolescentes. Dissertao de Mestrado. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2000.
FELIX, Loiva Otero. Histria e memria a problemtica da pesquisa. Passo Fundo:
Ediupf, 1998.
6
FISCHER, Rosa. O estatuto pedaggico da mdia: questes de anlise. Educao e
Realidade. Porto Alegre: v. 22, n. 2, p. 59-80, jul/dez. 1997.
GARBIN, Elisabete Maria. Erro! Indicador no definido.: um estudo sobre msica da
internet. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 2001.
GOHN, Maria da Glria. Educao no-formal e cultura poltica. 2 edio. So Paulo:
Cortez, 2001
GROSSI, Cristina (coordenao). Grupo de trabalho educao musical informal. Anais do
X Encontro Anual da ABEM. Uberlndia, p. 95-98, out. 2001.
KELLNER, Douglas. A cultura da mdia. So Paulo: Edusc, 2001.
KRAEMER, Rudolf-Dieter. Dimenses e funes do conhecimento pedaggico-musical.
Trad. Jusamara Souza. Em Pauta. Porto Alegre, v.11. n. 16/17, p. 50-73, abr/nov.
2000.
LIBNEO, Jos Carlos. Pedagogia e pedagogos, para qu?. 3edio. So Paulo: Cortez,
2000.
NABO, Maria Teresa P.. Algumas questes acerca da utilizao de fontes orais no mbito
da pesquisa histrica. Ps-Histria Revista de Ps-Graduao em Histria. Assis:
Universidade Estadual Paulista. v. 8., p. 121-143, 2000.
NANNI, Franco. Mass media e a socializao musical. Trad. Maria Cristina Lucas. Reviso
Maria Elizabeth Lucas. Em Pauta. Porto Alegre, v.11. n. 16/17, p. 110-143,
abr/nov. 2000.
PAN, Abraham. Educacin informal: el potencial educativo de ls situaciones cotidianas.
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visin, 1992.
OLIVEIRA, Alda. Educao musical em transio: jeito brasileiro de musicalizar. Anais do
7 Simpsio Paranaense de Educao Musical. Londrina, p. 15-34, out. 2000.
PRASS, Luciana. Saberes musicais em uma bateria de escola de samba: uma etnografia
entre os Bambas da Orgia. Dissertao de Mestrado. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1998.
RAMOS, Silvia N. Msica da televiso no cotidiano de crianas. Dissertao de Mestrado.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002.
SACRISTN, J. Gimeno. Poderes instveis em educao. Porto Alegre: Artmed, 1999.
7
SIMON, Olga Rodrigues de Moraes von; PARK, Margareth Brandini; FERNANDES,
Renata Sieiro. Educao no-formal: cenrios da criao. So Paulo, Editora da
Unicamp, 2001.
SOUZA, Jusamara (org). Msica, cotidiano e educao. Porto Alegre: PPG Msica/Corag,
2000.
THOMPSOHN, John B.. A mdia e a modernidade uma teoria social da mdia. Petrpolis:
Editora Vozes, 1998.
WILLE, Regiana Blank. Os processos formais de ensino e aprendizagem musical e suas
manifestaes nas vivncias no-formais e informais dos adolescentes.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho no publicado, 2002.
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicao. 4 edio. Lisboa: Editorial Presena, 1995.
8
Curriculum Vitae
MARTA ADRIANA SCHMITT, graduada em 1992 pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, com a titulao de Licenciado em Educao Artstica - Habilitao em
Msica. Mestranda em Educao Musical pelo Programa de Ps Graduao - Mestrado e
Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Integra o grupo de
estudo Cotidiano e Educao Musical - Sociologia da Educao Musical - CNPQ -
UFRGS cd. 0287, coordenado pela Prof. Dr. Jusamara Vieira de Souza. Em 2000,
participou como voluntria da pesquisa Articulaes de Processos Pedaggicos Musicais
em Ambientes Escolares e no Escolares, sob a coordenao da Prof. Dr. Liane
Hentschke, do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa (UFRGS). Trabalhou
como bolsista na Rdio da Universidade (UFRGS) de 1988 1990. Atua como
programadora musical na Rdio Fm Cultura, de Porto Alegre, desde 1991.
Publicaes:
SCHMITT, Marta. Pensando Msica. Jornal Voz Inesiana. Ano3, n3, Porto Alegre, 1998.
SOUZA, Jusamara; BOZETTO, Adriana; LOURO, Ana Lcia; SCHMITT, Marta Adriana;
SILVA, Nisiane Franklin; RAMOS, Slvia Nunes. Et.al. Estudos e Produes
do Cotidiano e Educao Musical: algumas consideraes. Anais. IV Encontro
Regional da ABEM SUL. UFSM, Santa Maria, RS, 2001, p.137-146.
Quatro diferenas sobre Veni Sancte Spiritus de Calimerio Soares:
uma abordagem analtica
Martin Dahlstrm Heuser
1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
martinheuser2002@yahoo.com.br
Any Raquel Carvalho
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
anyraque@cpovo.net
Resumo: O repertrio organstico de Calimerio Soares compreende sete peas. O presente trabalho focaliza apenas a
obra Quatro diferenas sobre Veni Sancte Spiritus. O objetivo deste trabalho compreender os processos
contrapontsticos empregados pelo compositor atravs da anlise dos intervalos harmnicos, do uso do cantus firmus
e dos processos seriais aos quais esse cantus firmus submetido. O referencial terico utilizado para a anlise do
contraponto Modal and Tonal Counterpoint: from Josquin to Stravinsky de Harold Owen (1992). Inicialmente
verificou-se que o compositor utiliza as seguintes caractersticas principais no desenvolvimento desta obra: uso de
trades em movimento paralelo ou em espelho, uso de quintas paralelas; meio sonoro diatnico, sobreposio de
trades resultando na sonoridade de clusters diatnicos abertos.
Palavras-chave: anlise musical, contraponto, Calimerio Soares.
Abstract: The organ repertoire by Calimerio Soares comprises seven works. The present work will focalize on just
one of them, Four Differences on Veni Sancte Spiritus. The purpose of the study is to comprehend the contrapuntal
processes utilized by the composer through the analysis of the harmonic intervals, the use of cantus firmus and serial
processes employed in the latter. The theoretical framework to be utilized for the contrapuntal analysis will be
Harold Owens Modal and Tonal Counterpoint; from Josquin to Stravinsky (1992). Initial analysis reveals the use of
the following characteristics in the development of this work; use of triads in parallel movement or mirrored, use of
parallel fifths, a diatonic framework, overlapping triads that result in diatonic clusters.
Keywords: musical analysis, counterpoint, Calimerio Soares.
Introduo
Natural de So Sebastio do Paraiso-MG, Calimerio Soares compositor, cravista e organista, e
tem se apresentado em diversas localidades brasileiras e no exterior. Desde 2000 vem colaborando com a
Orquestra Camargo Guarnieri, como cravista e organista acompanhador. Dedica-se composio e
pesquisa musical. Seu repertrio organstico compreende sete peas. O presente trabalho focaliza apenas a
obra Quatro diferenas sobre Veni Sancte Spiritus.
Objetivo
1
Bolsista Pibic, CNPq-UFRGS
2
O objetivo deste trabalho compreender os processos contrapontsticos empregados pelo
compositor na obra Quatro diferenas sobre Veni Sancte Spiritus. Sero analisados os intervalos
harmnicos, o uso do cantus firmus e os processos seriais aos quais esse cantus firmus submetido.
Metodologia
O referencial terico deste trabalho adotado ser o livro de Harold Owen Modal and Tonal
Counterpoint: from Josquin to Stravinsky (1992). Primeiramente ser analisada o aspecto formal, e a seguir
a anlise contrapontstica.
Resultados
Veni Sancte Spiritus uma seqncia ou prosa cantada na missa durante a semana de pentecostes,
cuja melodia atribuda a Stephen of Langton (1228). Subdivide-se em versetes (estrofes) formados por
grupos de trs frases. Calimerio Soares trabalha apenas duas estrofes iniciais e a final dessa prosa.
O texto encontrado no incio da melodia original : Veni Sancte spiritus, Et emit-te calitus Lucis
tuae rdium, isto : Vem Esprito Santo e emite pelo cu tua luz radiante.
Ex .1:
3
Diferenas
Diferena um dos termos utilizados para designar variaes na msica instrumental espanhola do
sculo XVI. Uma das suas primeiras aparies foi na obra Los seys libros de dlphin de Luys de Narvez e
tambm nas obras do organista Antonio de Cabezn. Ambos utilizavam uma melodia pr-estabelecida
como cantus firmus, que mudava de voz conforme a variao (The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, 1980, Vol. 5, p. 473, Stolba, 1990, p. 276).
TEMA: A transcrio do Canto Gregoriano para notao moderna (Ex. 1) revela que o compositor
utiliza as primeiras duas estrofes da melodia na pedaleira (Ex. 1a, 1b, 1c). Durante a apario da melodia
h dois acordes arpejados nos manuais (c. 6-9) e no final da seqncia, trades em movimento contrrio, as
quais sero utilizadas na Diferena II. O meio sonoro utilizado no tema modo drico em r.
4
DIFERENA I: Conforme o compositor, A melodia inicial sofre tratamento invertido, executada
pela mo esquerda, acompanhada por uma progresso de quintas paralelas, apoiadas por um ostinato na
pedaleira.
2
Nesta diferena apenas a primeira frase da primeira estrofe utilizada, sempre aumentada, sofrendo
variao por inverso e expanso de intervalos (Ex. 2). A primeira frase inicia na mo esquerda (c. 21-23)
com inverso dos seus motivos a e b. A seguir (c.24-26) a frase transposta (Ex. 2c). Nos c. 27-29 o
motivo a parcialmente invertido, enquanto o motivo b apresenta um intervalo expandido (Ex. 2d). A
ltima apario desta frase (c. 30-33) utiliza a inverso do motivo a e a transposio e expanso intervalar
do motivo b (E. 2e).
A sobreposio de linhas diferentes nessa seo no segue regras tradicionais de resoluo de
dissonncias ou de paralelismo de quintas. As quintas paralelas da regio superior so muito pouco
variadas.
Ex. 2
2
No incio da anlise de cada Diferena, citaremos dados que o compositor colocou na introduo junto partitura.
5
DIFERENA II: O primeiro versete aparece com todo o vigor executado na pedaleira, entremeado
por contundentes acordes em clusters.
A melodia principal sofre apenas variao rtmica (Ex. 3). H a alternncia entre trechos meldicos
em unssono e outros em trades paralelas sobrepostas que formam clusters abertos, processo semelhante
ao utilizado no tema (nos c. 15-18), primeiro em movimento contrrio (c. 38 e 40) e depois em movimento
paralelo (c. 42 a 45). O meio sonoro principal o mesmo do tema, ou seja, o modo drico. O ritmo
caracterizado por valores rtmicos de colcheia, tercinas e notas pontuadas.
Ex. 3
DIFERENA III: O versete final (Da virtutis meritum) aparece executado pela mo esquerda
em pequeno contraponto com elementos da melodia inicial executados na pedaleira, sob um
acompanhamento de quintas paralelas em staccato executado pela mo direita.
As trs frases que compem o ltimo versete aparecem apenas nesta diferena (Ex. 4). O
acompanhamento em quintas na mo direita derivado da Diferena I. A textura contrapontstica e,
apesar de diatnica, no explicitamente tridica. Essa diferena a que apresenta maior uso de
contraponto, pois as linhas inferiores (mo esquerda e pedal) dialogam utilizando materiais meldicos
semelhantes. O uso do intervalo de quarta (Mi e L, c. 57-62) ajuda na obteno de instabilidade
harmnica.
Ex. 4
6
DIFERENA IV: As duas estrofes iniciais aparecem em tutti soladas na pedaleira. A primeira
entremeada por uma sucesso de acordes e a segunda, por uma progresso de acordes arpejados em
movimento contrrio, culminando com a escala do primeiro modo gregoriano (Protus)
3
executada na
pedaleira.
A apresentao das duas estrofes iniciais na pedaleira feita em ritmo sincopado. O segundo
versete re-exposto (c. 71-79) apenas com aumentao rtmica, acompanhado por acordes arpejados em
movimento contrrio que se estendem at o final. Esses acordes so uma variao das trades apresentadas
em bloco no decorrer da pea. (Ex. 5). O modo drico (c. 79-86), em semibreves ascendentes na pedaleira,
serve como uma espcie de coda.
Ex. 5
3
O sistema modal do cantocho dividia os modos em quatro grupos: protus, deuterus, tritus e tetrardus. O modo
protus equivale ao modo drico nas formas autntico e/ou plagal. (The New Grove Dictionary of Music and
Musicians 1980, vol. 12, p. 379)
7
Consideraes finais
O plano bsico da pea Quatro Diferenas Sobre Veni Sancte Spiritus de Calimerio Soares possui
dois pontos culminantes de intensidade, um na Diferena II e outro que com clmax no final da Diferena
IV. O meio sonoro sempre diatnico, com a nota Si freqentemente bemolizada. A registrao da obra
tem sempre a funo de enfatizar o tema, destacando os processos de variao.
bastante claro no tema o vnculo com o modo drico. No entanto, no decorrer da obra apenas o
conjunto de notas permanece o mesmo (com pouqussimas excees), sendo que a centralizao da nota r
na melodia original obscurecida pela sobreposio de vozes. Essa falta de nota finalis junto
independncia das vozes encontrada em grande parte da obra revela o uso do pandiatonismo, que se
caracteriza pelo uso livre de todas as notas de uma escala diatnica.
A tabela a seguir apresenta as caractersticas principais de cada seo da obra.
Seqncia Diferena I Diferena II Diferena III Diferena IV
MD
Quintas paralelas Quintas paralelas
ME
Arpejos e trades paralelas
Tema Tema
Trades paralelas /
Trades arpejadas
Pedal Tema Ostinato
Intercalao entre
tema e trades
Fragmentos
derivados do tema
Tema
Concluso
O compositor utiliza as seguintes caractersticas no desenvolvimento dessa obra:
- Uso de trades em movimento paralelo ou em espelho;
8
- Uso de quintas paralelas;
- Meio sonoro diatnico;
- Sobreposio de trades que resulta na sonoridade de clusters diatnicos abertos.
Referncias bibliogrficas:
OWEN, Harold. Modal and Tonal Counterpoint from Josquin to Stravinsky. New York: Schirmer Books, 1992.
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Washington: Stanley Sadie, 1980.
Groves Dictionary of Music and Musicians. New York: Eric Blom, 1954.
BORBA, Toms, GRAA, Fernando Lopes. Dicionrio de Msica. Lisboa: Edies Cosmos, 1963.
Impresso musical na Bahia
Ncleo de Estudos Musicais da Bahia [NEMUS]
http://www.nemus.ufba.br
O Ncleo de Pesquisas Musicais da Bahia (NEMUS) vem transferindo para seu
banco de partituras, na INTERNET, o acervo recuperado pelo projeto Impresso Musical
na Bahia. So presentemente 384 partituras (a meta inicial, pessimista, era de 200),
incluindo 168 compositores, 79 poetas, mais de 55 gneros e 3 obras j localizadas de
literatura musical. Embora no publicadas ou editadas na Bahia, 32 dessas obras esto
sendo includas por serem de compositores importantes nela radicados, ou serem peas
particularmente relevantes para a cultura baiana. As demais incluses (352) so produto de
74 ncleos constitudos de variantes das razes sociais de impressores e editores atuantes
na antiga provncia, abrangendo peridicos e suplementos de msica (nove), no perodo de
c. 1850 a 1933, data superior fixada em funo do tempo exigido para domnio pblico.
Como indicador do grau de cobertura alcanado, o ndice de duplicaes de apenas 12,3%
revela, mesmo diante de esforos continuados para ampli-lo, a disperso do acervo e a
perda irremedivel de parte da memria musical baiana. A identificao dos compositores
em verbetes disponveis em duas das principais fontes se resume a 31 nomes, da ordem de
18,5%, portanto. Eis, em essncia, a natureza do problema: os instrumentos de informao
biobibliogrfica sobre msica e msicos na Bahia so precrios tanto pelas omisses,
quanto pelas incluses de compositores e obras at mesmo inexistentes.
Os principais objetivos do projeto original tm sido: 1) Levantar o que ainda puder
ser localizado dos impressos musicais das litografias e outras oficinas grficas a partir da
segunda metade do sculo XIX, na Bahia; 2) Classificar o material obtido; 3) Estabelecer
cronologias; 4) Relacionar os impressos ao contexto. Com a variedade de situaes com
que nos temos deparado, no se pode cogitar de uma metodologia nica, oriunda quer da
musicologia histrica, quer da etnomusicologia. De imediato, devemos implementar as
pesquisas na Junta Comercial de Salvador, em busca de registros das firmas impressoras e
editoras dos ncleos j levantados (ver lista abaixo) e com isto a elaborao de uma
cronologia. Sendo as partituras raramente datadas e o estudo dos papis impraticvel,
outros artifcios tm sido usados para os problemas de datao: aluses a eventos;
2
ilustraes e ttulos que reflitam inovaes que capturaram a ateno dos contemporneos;
at mesmo datas de primeira meno de termos nas etimologias disponveis; dedicatrias a
pessoas importantes, presidentes e vice-presidentes de provncia de mandato fugaz e a
nobres de ttulos datveis. Uma sistemtica busca dos jornais e almanaques tem sido
produtiva, embora as colees sejam incompletas, ou meramente inacessveis, nos acervos
baianos do Instituto Geogrfico e Histrico e da Biblioteca Pblica, bem como da
Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Como os impressos refletem eventos, gostos e
necessidades imediatas de uma clientela que responde pelos custos da impresso, a maioria
das partituras levantadas tem significado social imediato. Onze exemplos esto sendo dados
que, de um modo ou de outro, falam por si. No possvel dar crdito a todas as
instituies que nos apiam, mas seria absurdo no mencionar o CNPq, a Fundao
Gregrio de Matos e todas as bibliotecas que nos tm assistido, alm do conselho
inestimvel de vrios especialistas.
Os impressos musicais relacionados foram obtidos dos seguintes acervos: Arquivo
Municipal de Salvador 203 impressos, Biblioteca Alberto Nepomuceno - 17, Biblioteca
Central da Bahia - 10, Escola de Msica da UFBA - 2, Fundao Biblioteca Nacional - 47,
Instituto Feminino da Bahia - 16, Instituto Geogrfico e Histrico da Bahia - 5, Arquivos
Hidelgardes Vianna 13 e Manuel Veiga - 35, e das Colees Fernando Amaral - 16,
Mrcio Meireles - 4, Tereza Alves Dias 26, e Valerie Montreiul Martins - 14.
Classificao mica dos gneros musicais encontrados:
lbum carnavalesco 01
ria 04
Cano 04
Cano brasileira 01
Canto para piano 01
Canto sentimental 01
Capricho 01
Coleo de textos 01
Dobrado 10
Dobrado-polca 01
Fox-blues 01
Fox-shimmy 01
Fox-trot 21
Galope 03
Havanera 01
Hino [escolar] 02
Hino [honorfico] 04
Hino [patritico] 04
Hino [poltico] 01
Hino [profissional] 02
Hino [religioso] 21
Lundu baiano 01
Marcha 03
Marcha carnavalesca 01
Marcha militar 03
Maxixe 05
Maxixe baiano 01
Mazurca 02
Melodrama 02
Modinha 21
3
Modinha a duo 01
Modinha baiana 02
Modinha brasileira 12
No classificadas 20
Obra terica 03
One-step 01
Ps-de-quatre 04
Polca 44
Polca balo 01
Polca-tango 01
Quadrilha 02
Qdr. de contradanas 03
Quadrilha de valsas 04
Recitativo 04
Romance 02
Samba 01
Samba carnavalesco 02
Schottisch 04
Serenata 01
Shimmy 01
Tango 20
Tango argentino 02
Valsa 90
Valsa com variaes 01
Valsa-cano 01
Impressoras e Editoras Baianas cadastradas:
Casa de Musicas Santa Ceclia
Casa Guarany
Casa Milano
D.E.I.P. BA
Deposito e Officina de pianos de Cristhovo
F. Lopes
Deposito Tanoa de Pianos, musica, calados e
modas
Edio Nortista
Editor Empresa Helvetico Brasileira
Escola Typ. Salesiana Bahia
F. A. C. G. Amorim Lithog.
F. R. Mono
Grupo Recreio Musical
Imprensa Econmica
Imprensa Musica e Lith. de Henrique
Albertazzi
Imprensa Official do Estado
Imprensa Popular da Bahia
Jesuno Sobrinho & C.
Lit. de Lao e Baio
Lith de Baventura J. da Silva
Lith de I. M. Cajueiro
Lith. Boaventura
Lith. Bottas & Cia
Lith. Conrado & Arrigoni
Lith. Copistaria Ladeira da Misericrdia
Lith. da Livraria Americana
Lith. de H. Albertazzi
Lith. de M. J. dArajo
Lith. de Odilon
Lith. de Odilon e Cardosos
Lith. do Commrcio
Lith. Econmica
Lith. Eustquio Lessa
Lith. Fasca
Lith. G. Robatto
Lith. Jourdan
Lith. Jourdan & Wirz
Lith. Ladeira da Misericrdia
Lith. Moura
Lith. Oliveira Bottas & Cia
Lith. Tourinho
Lith. Typo. M. do Carmo dArezio
Lith. Typo. Passos
Lith. V. Oliveira & Cia.
Lith. Viva Reis
Lithografia Popular
Litho-Typo de Vicente Oliveira & Cia.
Litho-Typographia Reis
Livino Jos de Argollo ed.
Livraria e Typografia Santa Cruz
Livraria Econmica de Tolentino lvares &
Irmos.
Loja 1 de Setembro
Loja Bello Sexo
Loja das Moas
Loja Leo
Loja O Pyrilampo
Loja Pinto Moreira de Carneiro & Gavazza
Loja Zizi
Lux
Multilith Imp. Oficial da Bahia
Palais Royal
R. Baptista
Sociedade Bahiana de Msicas
Sociedade de Farmcia da Bahia
Souza Leo e Filhos
4
T. F. Andrade & Irmo
Tip. Beneditina
Tip. So Joaquim
Tito Lvio ed.
Typ. Dois Mundos
Typographia de Camillo de Lellis Masson & C.
Typographia de So Francisco
Vera Cruz
Zincographia Palais Royal
Divulgao dos resultados:
1. Banco de partituras j disponvel na Internet.
2. Publicao de quinhentos CDs multimdia para distribuio entre bibliotecas de
msica e instituies relacionadas, estes sob patrocnio da Fundao Gregrio de
Matos da Prefeitura Municipal de Salvador.
3. Apresentaes do projeto no 3 Encontro de Musicologia Histrica, em Juiz de
Fora, 1 Encontro da Associao Brasileira de Etnomusicologia em Recife, III
Seminrio de Pesquisa e Ps-Graduao e XXI Seminrio Estudantil de Pesquisa da
UFBA.
Situao da pesquisa biogrfica de Damio Barbosa de Arajo
Pablo Sotuyo Blanco
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
psotuyo@ufba.br
Resumo: O presente trabalho apresenta o estado da pesquisa biogrfica do compositor Damio
Barbosa de Arajo, luz de novos documentos localizados em Salvador, procurando uma
maior compreenso dos fatos do seu desenvolvimento profissional, econmico, social e familiar.
A metodologia de pesquisa histrica aplicada, se articulou atravs da identificao, transcrio e
anlise contextual de fontes documentais primrias, localizadas em arquivos baianos.
Palavras-chave: musicologia, Damio Barbosa de Arajo, biografia.
Abstract: This paper introduces the present state of biographical research about the composer
Damio Barbosa de Arajo, through new documents found in Salvador looking for a better
understanding of his professional, economical, social and familiar development. The historical
methodology applied was articulated through transcription and contextual analysis of primary
documentary sources found in local archives.
Keywords: musicology, Damio Barbosa de Arajo, biography.
Introduo
Na pesquisa biogrfica, datas, logradouros, viagens, relaes pessoais, genealgicas ou
institucionais, quando disponveis, fornecem dados importantes para a compreenso contextual da
produo musical de determinado compositor e dessa classe social em geral. No caso de Damio Barbosa
de Arajo (Itaparica, 1778 Salvador, 1856), a ltima pesquisa publicada (em 1970) foi realizada por
Jaime C. Diniz.
Acrescentam-se aqui novas informaes biogrficas vindas de documentos localizados no
Arquivo Pblico do Estado da Bahia.
Subsdios fornecidos por Diniz
No Estudo Introdutrio edio do Memento Baiano de Barbosa de Arajo
1
, Diniz estabeleceu a
confiabilidade de certos dados biogrficos, atravs da crtica s fontes secundrias disponveis,
confrontando-as com as fontes primrias localizadas. (Tabela 1).
Suas descries contextuais incluem a relao dos msicos ativos na poca do nascimento de
Damio no Brasil pesquisado at ento, fornecendo uma idia geral da atividade musical no contexto da
vida urbana, assim como dos horizontes e modelos musicais influentes para algum destinado
msica.
Da mesma forma, as relaes profissionais estabelecidas por Damio como violinista e
compositor tanto no mbito sacro quanto no profano, expem as motivaes profissionais da diviso
estilstica da sua produo musical, em funo do palco-alvo.
Finalmente, Diniz inclui uma relao das obras de Damio, com a localizao em acervos
baianos, cariocas e mineiros, e de diversos aspectos musicais.
1
Jaime C. Diniz, Estudo Introdutrio In Damio Barbosa de Arajo, Memento Baiano para Coro e
Orquestra (Salvador: Departamento Cultural da Reitoria da UFBA, 1970).
Mas pouco informa sobre qual foi o retorno (econmico, social, musical, etc.) que tal atividade
teria lhe trazido, por exemplo. Referncias ao notvel musicista de reputao firmada como violinista
quando D. Joo VI chegou Bahia em 1808, so to importantes aos propsitos biogrficos quanto a
meno de que seu filho Francisco estudou engenharia em Paris (com tudo o que significou econmica,
social e musicalmente), ou que seu filho Tertuliano era organista membro da Irmandade de S. Ceclia da
Bahia.
Novos documentos
Na escritura de venda da casa ainda por acabar que Damio (por seu bastante procurador
Joo Gonalves da Matta) e sua mulher Silveria Maria da Conceio realizaram a 31 de julho de 1813
2
,
pelo valor de 150$000 reis, informa-se que ficava no caminho da Fonte (da Bica), na povoao de
Itaparica, em terras foreiras
3
Marquesa de Niza. A presena do procurador de Damio confirma a
ausncia dele, por ter viajado para o Rio com anterioridade.
4
Por sua vez, a informao de que Silveria
Maria era sua mulher indica que se casaram antes da venda.
Os filhos
Os dois inventrios localizados informam de quatro filhos de Damio, trs dos quais Diniz nunca
deu notcias.
No inventrio de 1879, realizado em Salvador
5
aparecem como inventariados, Patrcio Barbosa
de Arajo ( 05/1877), Francisco Barbosa de Arajo ( 3/03/1878) e Ignez Maria Barbosa da Guia (
26/01/1879) e como inventariante e nico herdeiro, o seu irmo Miguel quem, segundo declara a fl. 8, foi
tambm o inventariante dos bens do seu finado Pai Damio Barbosa de Arajo.
Por sua vez, o inventrio realizado quando faleceu Miguel ( 23/05/1905), com 74 anos (ergo,
nascido em 1830-31), o descreve como branco, solteiro, sem filhos reconhecidos nem ascendentes
vivos.
6
A herdeira foi sua amiga Telesilla Braulia de Miranda Veras, interdita e curatelada pelo primo
dela, Carlos Brasilio da Silva.
A no referncia a Tertuliano nesses inventrios, sugere que teria falecido antes de Patrcio,
porm depois de 28 de Dezembro de 1865, quando a sua assinatura aparece no Livro de Inventrio dos
Bens de Santa Ceclia.
7
2
Escritura de venda e quitao, Arquivo Pblico do Estado da Bahia, Seo Judicirio / Civil - Livro 176
fl. 83v-85v.
3
Pelo direito de morar em ditas terras, os proprietrios pagavam o foro correspondente ao nobre dono
das mesmas.
4
Se tal viagem aconteceu em 1808 como informa Sacramento Blake ou em junho de 1813 como afirma
Ayres de Andrade ainda matria de pesquisa.
5
Inventrio dos bens de Patrcio Barbosa de Arajo, Francisco Barbosa de Arajo e Ignez Maria Barbosa
da Guia, Arquivo Pblico do Estado da Bahia, Seo Judicirio / Inventrios Est. 03 Cx. 1054 M. 1523
Doc. 15.
6
Inventrio dos bens de Miguel Barbosa de Arajo, Arquivo Pblico do Estado da Bahia, Seo
Judicirio Inventrios, Est. 1 Cx 55 M. 63 Doc. 3.
7
Livro de Inventrio dos Bens de Santa Ceclia (1853-1900), Catedral Baslica de Salvador, fls. 3v.
Moradias, atividades e exquias
Retornados os Barbosa de Arajo Bahia, segundo a consistente descrio dos inventrios,
moraram na Ladeira da Misericrdia (Salvador) num sobrado edificado em terreno prprio, dois andares,
sto e lojas de rendimento.
O Almanaque civil, poltico e comercial da Cidade da Bahia para Ano de 1845 incluiu Damio
entre os Muzicos, Professores e Compozitores, assim como entre os Professores de Pianno e os
Professores Particulares, com o mesmo endereo.
8
Mantendo ditas atividades em 1855, o Almanak para a Provncia da Bahia desse ano menciona
Damio como Mestre de Capela do Cabido Metropolitano de Salvador, morando atrz do Muro das
Freiras 37.
9
Quando a morte do pai, segundo o Inventrio de 1879 Miguel morava na Rua do Ferreiro. fl.
2, o tabelio escreve que com ele vivia na maior harmonia a outra herdeira, sua irm Ignez Maria. Mas
quando Miguel faleceu, morava na Ladeira da Fonte das Pedras, mantendo como patrimnio, a casa da
Ladeira da Misericrdia.
10
Alm da dupla indicao do nmero municipal do mencionado sobrado,
11
a dvida que o
Inventrio de 1879 deixa, refere aonde Patrcio morreu.
12
Francisco, Ignez Maria e Miguel foram
sepultados no Cemitrio dos Lzaros (Salvador). Percebe-se o cumprimento das formalidades legais e
religiosas, assim como das etiquetas sociais correspondentes (funerais, carros fnebres, encomendao da
alma, missa do 7
o
e do 30
o
dia) sendo pagas do peclio familiar, mostrando a prosperidade da famlia
Barbosa de Arajo.
Bens herdados
Entre os bens herdados por Miguel, alm da moblia e outros utenslios domsticos, aparecem:
Um piano francez, de armrio, / e de 7 oitavas, bastante usado e
com / sua cadeira por oitenta mil reis. / Um dito de meza, muito estraga-/do
e antigo por quarenta mil rs. / Um ophicleide de metal ordinrio / por dez
mil reis. / Um violo com caixa por dez / mil reis. / Uma flauta de cinco
chaves por / quinze mil reis.
13
8
Almanaque civil, poltico e comercial da Cidade da Bahia para o Ano de 1845, edio fac-similar do
Almanach Civil..., publicado por M. A. da S. Serva [Salvador, 1844], Salvador: Fundao Cultural do
Estado da Bahia, 1998. Ver pginas 217, 241 e 335. Agradecemos ao Prof. Manuel Veiga ter fornecido
essa referncia bibliogrfica da sua biblioteca particular.
9
Almanak para a Provncia da Bahia 1855 [Salvador: s/i, 1854], p.116. O almanaque do ano seguinte
repete tais informaes.
10
No citado Almanaque, o endereo da Ladeira da Misericrdia (ainda sem nmero) aparece tambm
vinculado ao nome de Francisco Barbosa de Arajo, relacionado no item Mechanica applicada s artes,
estabellecida no Arsenal da Marinha, entre os Professores Pblicos do sub-item Instruco Pblica
(p. 327), assim como entre os Professores Particulares, no sub-item Geometria e Algebra (p. 334). J
no almanaque de 1855, Francisco, alm das atividades mencionadas, aparece como Presidente da
Sociedade Monte-Pio dos Artistas, morando atrz do Muro das Freiras 37, mesmo endereo do pai.
11
O nmero municipal do sobrado aparece como 124 no inventrio de 1879 e como 24 nas folhas 54r
(petio de nova tentativa de arrematao pelo inventariante), 65r (procurao do comprador), 73r (recibo
de depsito de Rs 3:600$000 do comprador Augusto Pinho pelo valor final do sobrado) do inventrio de
1905.
12
Enquanto nas fls. 1 e 4 se declara que todos os inventariados faleceram em Salvador, nas fls. 12 e
12bis, os recibos pagos pelo funeral e enterro de Patrcio, esto assinados em Itaparica.
13
APEB, Seo Judicirio / Inventrios Est. 03 Cx. 1054 M. 1523 Doc. 15, fls. 4v-5v
Juntamente com a poro de livros usados, / escriptos em francez e portuguez avaliada em
200$000 reis, inventariou-se uma poro de musicas antigas / para egreja e piano pelo mesmo valor.
14
Destaca-se uma moblia escolar praticamente completa, avaliada em 100$000 reis, possvel posse de
Damio ou Francisco para aulas particulares.
No inventrio de Miguel, alm do sobrado mencionado, entre outros bens, figura um violo
avaliado em 12$000 reis. Das partituras, dos instrumentos inventariados anteriormente ou da moblia
escolar, nada consta.
Consideraes finais
Pode-se dizer que os Barbosa de Arajo tiveram vidas bem sucedidas nas geraes registradas,
cujos desenvolvimentos profissionais, podem ser interpretados paralelamente s mudanas scio-culturais
do sculo XIX. Desde o reconhecimento do valor artstico e musical do pardo Damio por parte dos
contemporneos
15
, at o reconhecimento profissional dos seus filhos, todos souberam gravitar na
sociedade. Damio e Tertuliano na msica, Francisco no ensino de diversas disciplinas ligadas
Engenharia e o branco Miguel como capitalista (segundo o inventrio de 1905) e amigo da escritora
Amlia Rodrigues, segundo ela declara em documento includo nesse inventrio.
O esclarecimento das questes relativas posse, autoria, origem e destino dos itens musicais
(prticos e tericos) e patrimoniais includos no Inventrio de 1879 e no constantes no de 1905,
precisaria da localizao do inventrio de Damio, entre outros documentos, na procura de levantar
hipteses relativas ao destino desses bens culturais.
Bibliografia consultada
Almanak para a Provncia da Bahia 1855 [Salvador: s/i, 1854].
Almanaque civil, poltico e comercial da Cidade da Bahia para o Ano de 1845, edio fac-similar do
Almanach Civil, Politico e Commercial da Cidade da Bahia para o Anno de 1845, publicado por
M. A. da S. Serva [Salvador, 1844]. Salvador: Fundao Cultural do Estado da Bahia, 1998.
DINIZ, Jaime C. Estudo Introdutrio In Damio Barbosa de Arajo, Memento Baiano para Coro e
Orquestra. Salvador: Departamento Cultural da Reitoria da UFBA, 1970.
Escritura de venda e quitao. Arquivo Pblico do Estado da Bahia. Seo Judicirio Civil. Livro 176
fl. 83v-85v.
Inventrio dos bens de Miguel Barbosa de Arajo. Arquivo Pblico do Estado da Bahia. Seo Judicirio
Inventrios. Est. 1 Cx 55 M. 63 Doc. 3.
14
A falta de detalhes relativos s partituras e livros inventariados, mostra o particular desinteresse que
ditos bens patrimoniais mereciam dos avaliadores nas ltimas dcadas do sculo XIX, embora o valor
de avaliao possa dar uma idia da enorme quantia deles ou do volume de papel envolvido.
15
Alm da sua participao na Academia de Msica de Domingos Mussurunga na dcada de 1830,
referida por Querino, consta no Arquivo Histrico Municipal de Salvador, um exemplar de O
Philarmnico / ou / Galeria de Jovens Compositores e Pianistas / Peridico destinado Publicao de
Composies Brasileiras / Debaixo dos auspcios / do Illm. Sn.r D.r F. A. de Arajo, e da direco
im/mediata do Professor D. Barboza de Arajo. Bahia [Salvador]: Lit. de Lao e Baio, sem data. Este
documento faz parte da pesquisa de fontes musicais impressas na Bahia, desenvolvida pelo Ncleo de
Estudos Musicais, chefiado pelo Prof. Manuel Veiga, e cujos resultados encontram-se no endereo
eletrnico <http://www.nemus.ufba.br>.
Inventrio dos bens de Patrcio Barbosa de Arajo, Francisco Barbosa de Arajo e Ignez Maria Barbosa
da Guia. Arquivo Pblico do Estado da Bahia. Seo Judicirio Inventrios. Est. 03 Cx. 1054
M. 1523 Doc. 15.
Livro de Inventrio dos Bens de Santa Ceclia (1853-1900). Catedral Baslica de Salvador. Ms. s/n.
Tabela 1 Dados fornecidos, corroborados ou questionados por Diniz
Dados Informaes Fontes
Local e Data de Nascimento Itaparica (BA), 27 de Setembro de 1778 1
a
- Arquivo da Cria Metropolitana de Salvador
Profisso do Pai Sapateiro e amante da msica 2
a
- Manuel Querino, Artistas Baianos (Salvador, 1907)
Irmos 2 homens que tambm foram destinados ao cultivo da
msica
2
a
- Manuel Querino, Idem.
Formao musical Iniciao musical em Itaparica 2
a
- Querino, Idem.
Professores Autodidata? 2
a
- Questionrio Biogrfico sobre Musicistas Baianos Falecidos. A.M.S.
Nome da Esposa Silveria Maria da Conceio 1
a
- Livro de bitos da Parquia de SantAna, 1847-1864.
Violino I no Teatro do Guadelupe (Opera Velha) 2
a
- Querino, Idem. Atividades em SSA
Irmandade de S. Ceclia da Bahia 2
a
- Querino, Idem.
Viagem Destino e Data Rio de Janeiro, 08/06/1813 2
a
Ayres de Andrade, Francisco Manuel da Silva e seu Tempo, 1808-
1865: uma fase do passado musical do Rio de Janeiro luz de novos
documentos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967. p.136.
Chefe e Compositor da Brigada do Prncipe 2
a
- Luiz Heitor Correia de Azevedo, 150 Anos de Msica no Brasil.
Violinista da Capela Imperial (> independncia) 2
a
- Luiz Heitor Correia de Azevedo, Idem.
Mestre de uma banda de menores 2
a
- Luiz Heitor Correia de Azevedo, Idem.
Atividades no RJ
Irmandade de S. Ceclia do Rio de Janeiro < 1819 1
a
- Arquivo Nacional (RJ). Ms. Cx. 289, Pac. 1, Doc. 3, n 2, 5.
Data do Retorno SSA < 1828 1
a
- Frontispcio do Te Deum autgrafo de 1828. A.M.S.
Atividades em SSA Academia de Msica (1830-1836) 2
a
- Querino, Idem.
(*? ?) 1
a
- Frontispcio da obra Tantum ego [sic] a 4 vozes e Orgam / Composto
para Tertuliano / T. N. / por seo Pay Damio Barboza de Arajo.
A.M.S.
Organista 1
a
- Frontispcio da parte de baixo realizado do Acompanhamento / Baxo /
Trevas de 4
a
feira Santa / Pertence a Tertuliano Barboza de Arajo.
A.M.S.
Tertuliano
Filiado Irmandade de S. Ceclia (BA). 1 - Livro de Inventrio dos Bens de Santa Ceclia (1853-1900)
Filhos
Francisco (*? ?) Estudante de Engenharia mecnica
terica e prtica, formado em Paris.
1 - Frontispcio da obra Conselhos Deregidos a / Francisco Barbosa de
Arajo / Estudante de Mecnica theorica e pratica em / Pariz, postos
em Muzica por seo Pai, e / Dedicados ao Illmo. Senhor Andr Pinto da
/ Silveira pello mesmo. A.M.S.
Local e Data de Falecimento Salvador, 20 de Abril de 1856 1
a
- Livro de bitos da Parquia de SantAna, Idem.
Questionando a tradio da Novena do N. S. do Bonfim
Pablo Sotuyo Blanco
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
psotuyo@ufba.br
Resumo: O presente trabalho questiona aspectos da tradio relativa autoria da msica para a
Novena do Bonfim (atribuda a Damio Barbosa de Arajo no sculo XX e que ainda hoje se
canta na solenidade), atravs da identificao e anlise dos processos de mudanas no
posicionamento institucional da Devoo correspondente. A Devoo vem dando sinais
prprios de um agente multiplicador dessa atribuio no contexto comunitrio. Ela ser
questionada luz de novos documentos e do seu confronto analtico com fontes documentais
musicais oriundas da mesma Devoo, entre outras.
Palavras-chave: musicologia, Novena do Bonfim, autoria.
Abstract: This paper discuss aspects of the tradition referred to the authorship of the Novena do
Bonfim, sung up-today in solemnity, attributed to Damio Barbosa de Arajo in 20
th
century,
through identification and analysis of the changing process of Devotions institutionally
assumed position and its reverberations consequences in community, comparing newly found
musical documents with the Devoo do Bomfims own score materials.
Keywords: musicology, Bonfims Novena, authorship.
Introduo
As tradies mudam ou se mantm, entre outros fatores, dependendo dos interesses da
comunidade que as pratica. Para mudar uma tradio deveriam existir motivaes m nimas e suficientes
no processo histrico e social da comunidade em questo, as quais aproveitariam elementos de validao
da nova tradio, no processo de mudana, como benefcio comunidade. Isto se aplica ao caso da
tradio relativa autoria atribuda a Damio Barbosa de Arajo, da Novena do Senhor do Bomfim
proposta por Carvalho em 1923 e aceita pela Devoo do Senhor Bom Jesus do Bomfim, questionada
neste trabalho, confrontando-a com novos documentos encontrados na Bahia.
Tradio mutante
Segundo informa Mons. Pinto de Andrade em Solene Novena do Senhor Bom Jesus do Bomfim,
publicada pela Devoo
1
pelos 250 anos da chegada Bahia da venerada imagem,
A Novena do Senhor do Bomfim, composta por Damio Barbosa de
Arajo (Vol. A Devoo do Sr. Bom Jesus do Bomfim e sua Histria Nota
10) e cantada desde 1839 uma expresso de nossa cultura e de nossa
religiosidade popular. (BOMFIM, [1995], p.2)
Tal atribuio de autoria da msica da Novena que se canta atualmente na solenidade, a Damio
Barbosa de Arajo est baseada no trabalho de Jos Eduardo Carvalho Filho, quem questionou a autoria
at ento reconhecida do conterrneo Joo Manuel Dantas (*Cachoeira, 1815 Feira de Santana, 1874)
2
1
com o objetivo de suprir a comunidade baiana, de um valioso instrumento de difuso, pelo uso
continuado e pelo conhecimento mais amplos, das mincias de to cara tradio religiosa (BOMFIM,
[1995], p. 1).
2
O nome de Joo Manuel Dantas como autor da Novena que at hoje se executa na festa do N. S. do
Bonfim, consta em todas as partes instrumentais mais antigas que a Devoo dispe. A cpia foi realizada
em 1936 por Osmundo Pinho. A editorao da partitura que est sendo preparada para ser publicada pela
mesma Devoo inclui partes de flautim, flauta, clarineta, trompete, trombone, tmpanos, violinos 1
o
e 2
o
,
atribuindo-a ao nacionalmente afamado Barbosa de Arajo, baseado nos recibos de pagamento pela
composio da msica para as novenas assim como por ter acrescentado mais dous pistes msica das
novenas (CARVALHO, 1923, p.136-137), encontrados nas contas de 1839-40 do Tesoureiro da
Devoo, Francisco Agostinho Guedes Chaga.
Entre 1923 e 1995 dita tradio mudou. Quais as motivaes que levaram Devoo (entre
outros agentes envolvidos) a rejeitar a autoria constante nas partes instrumentais copiadas treze anos
depois do trabalho de Carvalho, para aceitar a autoria proposta por ele?
Motivaes contextuais
Editado em 1923, o livro de Carvalho fez parte do conjunto de lanamentos e eventos
comemorativos do 1
o
centenrio da independncia da Bahia. A srie de publicaes viabilizadas pelo
Governo Estadual atravs do Dirio Oficial, incluindo os trabalhos de Slio Boccanera Jr. e Silvio
Deolindo Fres, procuraram difundir a idia de uma Bahia promissria e progressista, cujos cones
culturais fossem de reconhecido valor nacional. Nesse contexto comemorativo e regionalmente ufano,
certas releituras histricas, procura de representaes culturais da Bahia no contexto nacional, foram
viveis.
A substituio de autorias entre Dantas e Barbosa de Arajo, proposta por Carvalho, quer se
fundamentar em aparentes semelhanas estilsticas. Segundo ele, a msica das novenas do Senhor do
Bom-Fim privativa, mui linda e passa como das melhores produes do notvel compositor Joo
Manuel Dantas (CARVALHO, 1923, p. 24).
Mas, no estgio inicial das histrias da msica e a quase inexistncia de crtica metodolgica
daquela musicologia, qualquer substituio de autoria, baseada apenas num recibo de pagamento, sem
anlise musical profundo s aconteceria em contextos que tendessem supremacia de uma das
personalidades envolvidas em detrimento da outra ou do pr-conceito que pairasse sobre elas.
Entre as referncias biogrficas dos mencionados compositores, publicadas antes de 1923,
encontram-se as includas por Silio Boccanera Jr em 1915.
NO Teatro na Bahia, Boccanera afirma que Damio foi um dos mais notveis compositores
dos tmpos colonies. Era considerado gnio, na msica (BOCCANERA, 1915, p. 217), enquanto Joo
Manuel referido apenas como violinista entre os musicistas bahinos que mais se distingiram nos
gneros sacro, dramtico, simphnico e marcial (BOCCANERA, 1915, p.160). Isto parece mais a
releitura das resenhas publicadas por Querino no seu livro Artistas Bahianos, do que a avaliao histrica
do valor musical de cada um deles. Talvez baseada na incluso que Blake faz de Damio e no de
Dantas.
3
Especulando com a relao de status entre modelos e cones musicais regionais (baianos) e
metropolitanos (cariocas) ento difundidos nacionalmente, junto semelhana de origens (humildes e
mestias) e das atividades (musicais) na corte portuguesa no Rio de Janeiro, poder-se-ia colocar Damio
viola, violoncelo, contrabaixo, harmnio e coro misto, mas atribuindo a autoria a Damio Barbosa de
Arajo.
3
Publicado no Rio de Janeiro em 1893, o Diccionrio Bibliographico Brazileiro de Augusto Victorino
Alves Sacramento Blake, inclui uma resenha biogrfica de Barbosa de Arajo no segundo volume, s
pginas 158-159.
num patamar mais prximo do Pe. Jos Maurcio Nunes Garcia (cone musical brasileiro por
excelncia), do que um compositor de aparente menor vulto, como Dantas.
4
Possivelmente a referncia a Damio (e no a Dantas) feita por Cernicchiaro na Storia della
Musica nel Brasile em 1926, forneceu argumentos de validao histrica e cultural internacional. A
repetio dessas informaes nas dcadas de 40 e 50, nos trabalhos de Vasco Mariz e Luiz Heitor
Correia de Azevedo, perpetrou aos olhos daqueles que, na Bahia, fazem parte da novena do Bomfim, o
status maior de Damio, estimulando-os na autenticao da referida troca de autorias atribudas.
5
Elementos musicais
Incitado por perceptveis divergncias fraseolgicas entre os finais das sees (majoritariamente
femininos) da novena do Bomfim, quando comparadas com as novenas autgrafas de Damio (Bom Jesus
dos Navegantes e Senhor dos Milagres, com finais geralmente masculinos
6
), e suspeitando que a
atribuio de autoria da novena que ainda se canta no Bonfim em favor de Damio, tivesse sido proposta
sem fundamentos musicais, mas pelo status ganho a partir da imagem internacionalmente
reconhecida dele, analisar-se- comparativamente a Novena do Bomfim com a Novena de N. Sen.
dAjuda composta por Joo Manuel Dantas em 1863 em Feira de Santana, segundo declara o frontispcio
da parte autgrafa de Rabeco grande (figura 1).
7
Localizada no Arquivo da Sociedade Ltero-Musical Minerva Cachoeirana, facilitadas por
Felisberto Jos da Silva, o manuscrito da Novena de N. Sen. dAjuda consta de 3 conjuntos de
materiais, um dos quais acredita-se ser autgrafo de Dantas. Por sua vez, os dois conjuntos estudados da
Novena do Bomfim foram localizados no Arquivo Musical da referida Devoo, tendo sido facilitados
por Francisco Carlos Rufino (tabela 1).
4
A confiar pela partitura para canto e piano intitulada Viagem da Bahia para o Rio de Janeiro e
publicada pela Litografia Amorim (BA) em 1858, Dantas tambm chegou a viajar para o Rio de Janeiro,
no navio Tocantins, e a confiar nos sub-ttulos das suas sees, hospedou-se na rua de S. Pedro.
5
A divulgao da atribuio da autoria a Damio Barbosa de Arajo se repete tanto no encarte do CD
Solene Novena do Senhor Bom Jesus do Bonfim (Salvador: Estdio DOREMIX, 1996), quanto nas
informaes histricas reunidas no site da devoo <http://www.senhordobonfim.org.br/datas.htm>,
acessado em 20 de Abril de 2003. A incluso literal de frases extradas das consideraes do Pe. Jaime C.
Diniz (ver DINIZ, 1970, 8-12) sem, porm, indicar a fonte bibliogrfica de forma explcita, parece ser a
ltima referncia includa, da ltima pesquisa disponvel sobre Damio, que a Devoo utiliza,
corroborando a nova tradio pretendida.
6
A mesma diferena fraseolgica se comprova na comparao dos finais das sees do Memento Baiano
de Barbosa de Arajo, com o Memento a 4 de Joo Manuel Dantas.
7
Apoiando essa suspeita, a autoria da Novena ao Senhor do Bonfim, assim como da Novena de N.
Sr.a dAjuda aparecem na Enciclopdia da Msica Brasileira, no verbete correspondente a Joo Manuel
Dantas (MARCONDES, 1998, p. 235), enquanto o verbete correspondente a Damio Barbosa de Arajo
inclui apenas a Novena do Senhor dos Milagres (MARCONDES, 1998, p. 41).
Figura 1 - Frontispcio da parte de Rabeco da Novena de N. Snr. d'Ajuda
Tabela 1 - Relao das fontes utilizadas
Novena Fonte Copista Partes
1 J. M. Dantas* Rabeco grande
2 1* Voz Baixa
Nossa Senhora dAjuda
3 2** 2 pautas em clave de sol, com texto inserido
1 Osmundo Pinho Flautim, flauta, clarinete, piston, trombone,
tmpanos, violinos 1 e 2 e Contrabaixo
Nosso Senhor do
Bomfim
2 Francisco Rufino Soprano, Alto, Tenor e Baixo
* partes incompletas [constam 2 primeiras sees - faltam pginas]
** parte sem indicao de instrumental ou vozes, com texto em outra tinta e indicaes de insero do
cantocho [verso ou rascunho?].
Comparando as estruturas gerais das msicas, a Tabela 2 inclui os dados mais relevantes. Da
comparao dos dados, chamam ateno certas semelhanas gerais das entre vrias sees. No
confronto das partes musicais disponveis, foram identificadas seis sees musicalmente semelhantes.
A maneira de exemplo, na seo Veni Sancte Spiritus, a diferena de um semitom entre ambas
no impediu que a comparao das partes de contrabaixo e rabeco fosse concordante. Observou-se
tambm que os desenhos meldicos das partes de violinos e das vozes intermedirias (Alto e Tenor) da
novena do Bomfim so semelhantes aos da fonte documental nmero 3 da novena dAjuda, apesar da
diferena de tonalidade (Exemplos 1, 2 e 3). Da mesma forma, os processos harmnicos percorrem
caminhos semelhantes, do tipo: i vii iv V i V/rel.maior I/rel.maior etc.
Situaes similares podem-se comprovar em outras sees tais como Gloria Patri, Spiritus
Sancte Deus, Sancta Maria, Consolatrix, e o Regina (indicados com setas na Tabela 2).
Ex. 1 - Inicio do Veni Sancte Spiritus da Novena do Bomfim (partes de vozes e cordas)
Figura 2 - Inicio do Veni Sancte Spiritus da Novena d'Ajuda (parte de rabeco grande)
Figura 3 - Inicio do Veni Sancte Spiritus da Novena d'Ajuda (Ms. a duas pautas [vozes/cordas?])
Tabela 2 Estruturas comparadas de ambas Novenas
Estrutura geral da Novena do Senhor do Bomfim Estrutura geral da Novena de N. Snr. d'Ajuda
Compassos Compassos
Sees Andamento Tonalidade
Tipo Quantia
Sees relacionadas
musicalmente
Sees Andamento Tonalidade
Tipo Quantia
Regem Confessorem Andante mosso Mib 37 Festivitatem Allegro vivo D (ou R*) 41
Veni Sancte Spiritus Andante d-Mib 33 Veni Sancte Spiritus Andante l-D (ou si-R*) 33
Padre Nosso Allegreto Sol 24 - - - - -
Ave Maria Allegreto Sol 16 Ave Maria Allegreto Sol 15
Gloria Patri Andante mi 12 Gloria Patri Andante mi 12
Kyrie Andante justo Sol 17 Kyrie Andante Sol 10
Pater de coelis Andante justo Sol 11 Pater de coelis Andante Sol 7
- - - - - Fili Redemptor Cantocho - - -
Spiritus Sancte Deus Andante justo V/mi-Sol 9 Spiritus Sancte Deus Andante V/mi-Sol 9
- - - - - - Cantocho - - -
Sancta Maria Moderato sol 13 Sancta Maria Moderato sol 14
- - - - - - Cantocho - - -
1
o
Ramo Allegro vivace Sol 8 [2x] 1
o
Ramo Allegro risoluto Sol 8 [2x]
- - - - - - Cantocho - - - [2x]
2
o
Ramo Allegro vivace mi 8 [2x] 2
o
Ramo Allegro risoluto mi 8 [2x]
- - - - - - Cantocho - - - [2x]
3
o
Ramo Allegro vivace Sol 8 [2x] 3
o
Ramo Allegro risoluto Sol 8 [2x]
- - - - - - Cantocho - - - [2x]
4
o
Ramo Allegro vivace D 8 [2x] 4
o
Ramo Allegro risoluto D 8 [2x]
- - - - - - Cantocho - - - [2x]
Consolatrix Moderato mi 10 Consolatrix Moderato mi 8
- - - - - - Cantocho - - -
Regina Allegro vivace Sol 8 [6x] Regina Allegro vivo Sol 8 [6x]
1
o
Agnus Dei Andante Sol 7 1
o
Agnus Dei Andante justo Sol 11
2
o
Agnus Dei Andante mi 7 2
o
Agnus Dei Andante justo mi 13
Christus factus Moderato l 40 Sub tuum praesidium Cmodo l** 39
1
a
Jaculatria Moderato Sol 23 1
a
Jaculatria - Mib 23
2
a
Jaculatria Moderato Sol 25 2
a
Jaculatria - Mib 26
3
a
Jaculatria Moderato r 37 3
a
Jaculatria Moderato Mib 31
* segundo aparece na parte de rabeco grande onde falta o resto da novena.
** falta no Ms. a duas pautas, aparecendo apenas na parte do Baixo.
Consideraes finais
A identificao musical realizada a partir das semelhanas entre ambas as novenas, levando em
considerao as prticas musicais vigentes no sculo XIX, como o remanejamento msica pr-existente
do mesmo autor, permite deduzir alguns resultados possveis,.
Tudo indica que a novena do Bomfim que anualmente se canta na solenidade, teria sido
composta por Dantas, quem teria reaproveitado 6 sees das suas estruturas formais musicadas, sem
importar aqui qual teria sido escrita inicialmente.
Por sua vez, Damio Barbosa de Arajo comps efetivamente uma novena para a Devoo do
Bomfim em 1839, mas ainda no foi localizada.
Finalmente, a tradicional autoria que permanece firmada na partitura que a Devoo possui desde
1936, deveria ser assumida novamente como vlida, ganhando assim a comunidade, o estmulo necessrio
para localizar a obra que Damio comps para to tradicional Devoo baiana.
Bibliografia
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionrio Bibliographico Brazileiro. 7 vols. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1893.
BOCCANERA, Silio (Jr). O Teatro na Bahia. Livro do Centenrio (1812-1912). Bahia: Officinas do
Dirio da Bahia, 1915.
BOMFIM, Devoo do Senhor Bom Jesus do. Solene Novena do Senhor Bom Jesus do Bomfim. Salvador:
Empresa Grfica da Bahia, sem data [1995].
CARVALHO, Jos Eduardo (Filho). A Devoo do Senhor Jesus do Bom-Fim e sua Histria. Salvador:
Typ. de So Francisco, 1923.
CERNICCHIARO, Vincenzo. Storia della Musica nel Brasile, da tempi coloniale sino ai nostri giorni.
Milo: Riccioni, 1926.
DINIZ, Jaime C. Estudo Introdutrio In Damio Barbosa de Arajo, Memento Baiano para Coro e
Orquestra. Salvador: Departamento Cultural da Reitoria da UFBA, 1970.
FRES, Silvio Deolindo. A msica na Bahia. Dirio Official do Estado da Bahia. Bahia [Salvador],
edio especial do centenrio, Ano VIII, p.107-117, 2 de Julho de 1923.
MARCONDES, Marcos Antonio, ed. Enciclopdia da Msica Brasileira, Popular, Erudita e Folclrica.
2
a
ed. revista e atualizada. So Paulo: Art, Publifolha, 1998.
QUERINO, Manuel. Artistas Bahianos. 2
a
ed. melhorada e cuidadosamente revista. Bahia [1
a
ed. 1907].
[Salvador]: Officina de A Bahia, 1911.
1
As obras para contrabaixo de Santino Parpinelli: aspectos biogrficos e
anlise estilstico-interpretativa
Paulo Andr Nascimento
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
nascimentodobaixo@interconect.com.br
Fausto Borm
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
fborem@musica.ufmg.br
Resumo: Estudo histrico, analtico e comparativo visando resgatar a importncia do compositor,
violinista e professor Santino Parpinelli e sua srie de obras destinadas ao contrabaixo solista. Busca
reconstruir a biografia negligenciada do compositor, compreender seu estilo composicional, sua
insero no panorama da msica nacionalista brasileira e sua utilizao dos recursos idiomticos do
contrabaixo. Analisar aspectos tcnicos (arcadas e dedilhados) e musicais (interpretao) de algumas
performances e sugere solues e alternativas de interpretao.
Palavras-chave: Contrabaixo, Santino Parpinelli, Msica brasileira
Abstract: This historical, analytical and comparative study aims at divulging the importance of
Brazilian composer, violinista and pedagogue Santino Parpinelli and his works for double bass. It
attempts to reconstruct his neglected biography, understand his compositional style, his insertion in the
Brazilian nationalism, and his exploitation of the double bass idiomatic writing. It eventually will
analyse musical and technical aspects of some performances and suggests solutions and alternatives
for the interpretation of the works.
Key words: Double bass, Santino Parpinelli, Brazilian music.
I VIDA E OBRA DE SANTINO PARPINELLI:
Professor Santino Parpinelli nasceu em So Paulo, no dia primeiro de novembro de 1912.
Comeou seus estudos musicais com o pai, Domingos Parpinelli, que era contrabaixista. Viaja
para o Rio de Janeiro e l ingressa no Instituto Nacional de Msica (I.N.M.). No ano de 1938,
diploma-se em violino, harmonia, msica de cmara e pedagogia musical, e no ano seguinte
conquista a medalha de ouro no concurso de violino promovido pela Escola Nacional de
Msica da Universidade do Brasil. Em 1952, Santino Parpinelli fundou o Quarteto Pr-
Msica que, sempre sob sua liderana, recebeu os nomes Quarteto Rdio M.E.C. e Quarteto
da Escola de Msica, antes de tornar-se, em 1956, o Quarteto Brasileiro da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Este grupo desenvolveu intensa atividade artstica, sendo que, s
em 1954, gravou mais de 80 obras de autores nacionais e estrangeiros. Em mais de trs
dcadas de existncia, no Brasil e em excurses pelo exterior (Europa, Estados Unidos,
Amrica do Sul e sia), o quarteto de Parpinelli se dedicou divulgao da msica erudita
brasileira e seus compositores. Em 1968 um LP contendo o Quarteto de Cordas n 17, de
Villa-Lobos, e o Quarteto n 3, de Alberto Nepomuceno, foi lanado nos E.U.A.. Em 1989,
2
por motivo de sade, Santino Parpinelli deixa o Quarteto Brasileiro da UFRJ. Falece no dia
17 de outubro de 1991.
Esse quarteto continua atuante no cenrio musical brasileiro, tendo completado cinqenta e
um anos de atividades ininterruptas. A atual formao do Quarteto, que ainda reflete ligaes
com seus membros fundadores, a seguinte: Joo Daltro de Almeida (discpulo de Santino
Parpinelli), Jaques Nirenberg (um dos fundadores), Ivan Srgio Nirenberg (filho e discpulo
de Jaques Nirenberg), e Yura Ranevsky (filho e discpulo do prprio Eugen Ranevsky).
Paralelamente s atividades do quarteto, Parpinelli desempenhou os cargos de Professor
Titular de violino e viola da Escola de Msica da U.F.R.J., onde tambm foi Chefe do
Departamento de Instrumentos de Arco e de Cordas Dedilhadas. Foi presidente da Academia
Brasileira de Msica e, segundo seu amigo e companheiro de quarteto por mais de cinqenta
anos, Jaques Nirenberg, S no fez mais, por dedicao ao quarteto, quase em tempo
integral NIRENBERG (2003). No Rio de janeiro, Parpinelli publicou os livros Histria da
expresso violinstica (1945); Comentrios sobre a pedagogia do violino (1949); Tcnica
violinstica (1952) e Histria e evoluo dos instrumentos de arco (1971).
Alm de instrumentista, pedagogo e autor de livros tericos, o Prof. Santino tambm
destacou-se como compositor. Entre suas obras, predominantemente para cordas, e ainda no
totalmente catalogadas, esto: Seresta (violino e piano); Toada de Caterete (violino e piano);
Lamento e dana (violino e piano); Quartetino (para quarteto de cordas, escrita para o
quarteto Vivaldi, na poca formado por filhos e alunos do Prof. Nirenberg); Tarantella (para
dois violoncelos); Vivaldiana (orquestra de cordas); Sinfonia do Nordeste, e seis obras para
contrabaixo e piano, que so objeto desse estudo: Dana Nordestina,(1979); Jongo,(1985);
Modinha,(1985); Cano do Agreste e Dana; Seresta e Temas Nordestinos.
Nas composies para contrabaixo de Santino Parpinelli podemos perceber uma ntida
influncia do folclore musical brasileiro, tpico da gerao de compositores nacionalistas ps-
Villa Lobos. Em Dana Nordestina, encontramos elementos rtmicos e escalares do baio.
Jongo, em que Parpinelli explora virtuosisticamente notas repetidas e arpejos, uma obra
baseada na dana afro-brasileira homnima, espcie de batuque ou samba, encontrada
principalmente em So Paulo, Rio de Janeiro, Esprito Santo e Minas Gerais. Na Modinha,
gnero de cantiga popular urbana, o compositor desenvolve uma melodia de carter
3
sentimental, suave, que faz lembrar uma cantiga de ninar. Em Cano do Agreste e Dana,
recorre frmula de dois movimentos - um lento seguido de outro rpido - para incorporar
vrios temas da msica folclrica nordestina, alguns bastante conhecidos e incorporados na
msica popular brasileira, como por exemplo, ltimo pau-de-arara (Venancio, Corumb,
Jos Guimares) e Asa Branca(Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira).
A recorrncia do referencial folclrico nessas obras nos leva a indagar sobre o estilo do
compositor, que ainda no foi formalmente estudado, e sua possvel relao com a esttica
nacionalista. Parpinelli, portanto, criou msicas estritamente delimitadas pela cultura
brasileira e aliceradas num conhecimento musical acadmico. Une com destreza elementos
da msica nordestina, da africanidade brasileira, com um sentimentalismo luso-brasileiro.
Outra questo a ser abordada refere-se motivao para que Parpinelli escrevesse um nmero
considervel de composies originais para o contrabaixo, principalmente se observarmos o
contexto da composio brasileira, em que poucos compositores voltaram sua ateno para
esse instrumento. A resposta parece estar na sua relao de amizade com o professor de
contrabaixo Sandrino Santoro, o que o teria levado a compor uma srie de obras dedicadas ao
contrabaixo solista. O Professor Sandrino Santoro, nascido na regio da Calabria, sul da Itlia,
veio para o Brasil aos 13 anos, juntamente com sua famlia para se fixar no Rio de Janeiro.
Aos 17 anos comeou a estudar contrabaixo com o Prof. Antonio Leopardi no Instituto
Nacional de Msica atual Escola de Msica da UFRJ e graduou-se na Universidade
Federal Fluminense. Como contrabaixista, atuou na Orquestra do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro e, como professor de contrabaixo, foi docente da Escola de Msica da UFRJ por 21
anos, perodo no qual conheceu e trabalhou com o Prof. Parpinelli.
II JUSTIFICATIVA
O tema proposto pretende contribuir para desenvolver o conhecimento sobre o repertrio
contrabaixstico brasileiro, ao evidenciar a obra do compositor Santino Parpinelli, tratar de
prticas de performance de contrabaixistas e prticas pedaggicas de professores de
contrabaixo e aspectos tcnico-musicais de contrabaixistas. Visa tambm contribuir para uma
melhora da linguagem contrabaixstica no repertrio sinfnico, de cmara e de concerto,
facilitando a comunicao entre compositor e performer.
4
Outro aspecto importante nesse estudo a necessidade de resgatar e divulgar o acervo musical
brasileiro, especialmente aquele no publicado ou de autores ditos "menores", que no foram
estudados devidamente, buscando preencher lacunas na nossa histria musical que a
musicologia no tem privilegiado como objetos de estudo. Finalmeante, como afirma Sergio
Magnani ...cabe ao interprete a importantssima tarefa de difuso da cultura musical, e
sobremaneira, da produo contempornea(MAGNANI, 1989). Mesmo os compositores
tidos como conservadores ou aqueles que no se dedicaram integralmente composio,
oferecem uma contribuio no sentido de reforar os valores das tradies culturais brasileiras
(como ritmos populares e danas folclricas), bem como integrar tais tradies dentro de
moldes acadmicos como a msica erudita.
Este resgate histrico e artstico, como no caso de Parpinelli, fundamental para que no
percamos tantos conhecimentos mantidos com base na tradio oral e dependentes de pessoas
(msicos, familiares, amigos etc.) cuja gerao tende ao desaparecimento e instituies pouco
comprometidas com sua preservao.
III OBJETIVOS E QUESTES
Busca-se demonstrar comunidade acadmica da rea de msica e ao pblico em geral a
importncia do Professor Santino Parpinelli enquanto educador e compositor e a relevncia de
sua obra para contrabaixo. So muito poucas e incompletas as referncias biogrficas sobre
esse compositor. Objetiva-se tambm comparar aspectos de interpretao de diferentes
instrumentistas nessas obras para contrabaixo e propor solues e alternativas de performance
fundamentadas no seu estudo.
O fato das obras para contrabaixo terem sido dedicadas ao Prof. Sandrino Santoro suscitam
algumas perguntas de ordem musicolgica, analtica e interpretativa e apontam para objetivos
especficos que sero melhor precisados medida que o projeto se desenvolva. (1) Por que o
Prof. Parpinelli usou como parmetro de suas composies danas e canes da msica
folclrica brasileira? (2) Como se deu a escolha do contrabaixo na sua instrumentao? (3)
Haveria alguma inteno didtica, quando se leva em considerao o nvel de dificuldade
tcnica? (4) Por que dedicou essas obras ao Prof. Sandrino Santoro? (5) Quem realizou a
estria das obras e que instrumentistas ou fatos as popularizaram? (6) Houve uma colaborao
entre o compositor e o intrprete, ou ainda, entre o compositor e o professor de contrabaixo e
5
em que nveis? (7) Pode-se observar alguma evoluo na linguagem idiomtica do
contrabaixo nessas obras? (8) O processo composicional implicou em experimentao com
intrpretes ou revises? (9) Houve alguma adaptao das obras para outros instrumentos?
IV METODOLOGIA
A abordagem metodolgica utilizada nesse estudo de natureza multifacetada e inclui
procedimentos de ordem documental, biogrfica, descritiva, analtica e comparativa.
Apresenta tambm um aspecto exploratrio ao considerar e propor diferentes alternativas de
interpretao para o mesmo conjunto de obras. Finalmente, sugere uma aplicao de seus
resultados ao considerar, nesse estudo ou em estudos posteriores, uma edio de performance
de cada obra.
Os procedimentos metodolgicos incluem o levantamento dos manuscritos das obras,
documentos e dados biogrficos por meio de pesquisa em diversos acervos e entrevistas
estruturadas sobre Santino Parpinelli, Sandrino Santoro e os membros fundadores e membros
atuais do Quarteto de Cordas da UFRJ. Sero pesquisados os acervos pblicos da UFRJ,
Biblioteca Nacional e Rdio MEC e os acervos particulares do Professor Sandrino Santoro, de
parentes do Professor Parpinelli e outros.
A anlise estilstica parte do estudo dos gneros folclricos que possivelmente inspiraram o
compositor e incluir a anlise formal de cada obra. Ser observada uma possvel recorrncia
de traos composicionais no conjunto das seis obras, que poderiam caracterizar o estilo de
Santino Parpinelli. Sero analisados os recursos instrumentais do contrabaixo explorados pelo
compositor e o nvel de dificuldade de cada obra. Com relao parte de piano ser analisado
apenas o nvel de dificuldade de cada obra.
O estudo comparativo dos aspectos interpretativos tem como ponto de partida o registro em
vdeo e/ou udio da performance das obras gravadas por alguns contrabaixistas reconhecidos
nacionalmente. Sero considerados no s a eficincia de dedilhados, arcadas, escolha de
cordas, mas tambm o resultado esttico decorrente de recursos expressivos como variaes
no timbre, inflexes no andamento etc.
Caso seja vivel dentro do perodo previst pelo Programa do Curso de Mestrado, ser feita a
reviso editorial dos manuscritos autografados e cpias, com vistas a corrigir possveis
6
discrepncias e erros. Numa outra etapa, seriam realizadas as edies de performance das
obras em questo com vistas sua publicao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
DOURADO, Henrique Autran. O arco dos instrumentos de cordas. So Paulo: Edicon. 1998
Enciclopdia da msica brasileira popular, erudita e folclrica. So Paulo: Art Editora:
Publifolha.1998.
MAGNANI, Sergio. Expresso e comunicao na linguagem da msica. Minas Gerais:
UFMG.1989.
PARPINELLI, S. Antologia di musica contemporanea. A cura di Milton Masciadri/Angiolina
Sensale. Italy: Edizione Musicali Sinfnica. 1997.
MASCIADRI, M. e EIKNER, E. Romanza.DMR Recordings: Athens, GA.1993.
NIRENBERG, Jaques. Informaes. Correspondncia via Internet de Jaques Nirenberg
a Paulo Andr Nascimento. From jniren@hotmail.com To
nascimentodobaixo@interconect.com.br. Quinta-feira, 7 de abril, 2003.
PARPINELLI, S. Antologia di musica contemporanea. Ed. Milton Masciadri e
Angiolina Sensale. Italy: Edizione Musicali Sinfnica, 1995.
______. Cano do Agreste e Dana. Rio de Janeiro: Manuscrito do autor, 1979.
______. Comentrios sobre a pedagogia do violino (1949);
______. Dana Nordestina. Rio de Janeiro: Manuscrito do autor, 1979.
______. Histria da expresso violinstica (1945);
______. Histria e evoluo dos instrumentos de arco (1971).
______. Jongo. Rio de Janeiro: Manuscrito do autor, 1985.
______. Modinha. Rio de Janeiro: Manuscrito do autor, 1985.
______. Seresta. Rio de Janeiro: Manuscrito do autor, ?.
______. Tcnica violinstica (1952) e
______. Temas Nordestinos. Rio de Janeiro: Manuscrito do autor, ?.
Uma anlise das fugas do repertrio pianstico de Bruno Kiefer: uma
busca por padres estilsticos na sua escrita contrapontstica
Rafael Liebich
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
rafaliebich@pop.com.br
Any Raquel Carvalho
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
anyraque@cpovo.net
Resumo: Atravs da anlise das fugas encontradas no repertrio pianstico de Bruno Kiefer, este
trabalho pretende encontrar padres estilsticos em sua escrita contrapontstica. A fuga uma das
tcnicas de composio linear mais estabelecidas da escrita musical e vem acompanhando as
transformaes das guias estticas que orientam esta escrita. Considerando a diversidade de
possibilidades estticas dentro da msica moderna, faz-se mister investigar como Kiefer tratou uma
tcnica composicional originalmente to esquemtica, preservando de modo singular e consistente o
estilo inovador que sempre atribudo s suas obras. Os estudos sobre a linguagem musical,
contraponto e anlise sero orientados pelos seguintes referenciais tericos: 1) Rudolph Reti,
Tonality, Atonality, Pantonality A study of some trends in Twentieth Century Music (1958); 2)
William Graves Jr., Twentieth Century Fugue A Handbook (1962); 3) Joel Lester, Analytic
Approaches to Twentieth-Century Music (1989). A partir da anlise dos padres recorrentes nas
fugas de Bruno Kiefer, procurar-se- verificar o distanciamento que ocorre em relao aos
parmetros tradicionais da escrita fugal, a fim de caracterizar um estilo da escrita contrapontstica
do compositor.
Palavras-chave: anlise, fuga, Bruno Kiefer.
Abstract: Through the analysis of the fugues found in the piano repertoire by Bruno Kiefer, this
work intends to find stylistic patterns in his contrapuntal writing. The fugue is one of the most
established linear compositional techniques in musical writing and it has followed all of the
transformations of the aesthetic lines, which guides this kind of writing. Considering the diversity of
the aesthetic possibilities within modern music, it is appropriate to investigate how Bruno Kiefer
dealt with such an originally schematic compositional technique, preserving an innovating style in a
singular and consistent manner which is always attributed to his music. The study of the musical
language, counterpoint and analysis will be guided by the following treatises: (1) Rudolph Reti,
Tonality, Atonality, Pantonality A study of some trends in Twentieth Century Music (1958); (2)
William Graves Jr., Twentieth Century Fugue A Handbook (1962); (3) Joel Lester, Analytic
Approaches to Twentieth-Century Music (1989). After the analysis of the recurrent patterns found
in the fugues by Kiefer, a verification of how these patterns in relationship to traditional parameters
of fugal writing will be undertaken.
Keywords: analysis, fugue, Bruno Kiefer.
1. INTRODUO
Bruno Kiefer (1923 1987), nascido em Baden-Baden, Alemanha, radicou-se em
Porto Alegre, onde foi professor do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). No entanto, foi atravs de suas composies que seu nome se fez
mais amplamente reconhecido.
A msica de Kiefer sempre se destacou por seus atributos de consistncia e
singularidade, no s pelo fato de ser dotada de um vocabulrio composicional original,
mas por apontar um estilo peculiar na utilizao deste vocabulrio. Este aspecto, uma
constante na sua produo musical, caracteriza as vrias fases da escrita do compositor,
conferindo assim a sua consistncia estilstica.
Juntamente com alguns de seus contemporneos, Kiefer tambm se aproximou de
Hans Joachim Koellreuter, compositor responsvel por introduzir as tcnicas dodecafnicas
no vocabulrio musical brasileiro. Embora o prprio compositor afirmasse que tambm
havia cometido minhas coisinhas dodecafnicas (Kiefer apud Chaves, 1994, p. 81), ele
esteve sempre comprometido com a busca incessante de sua prpria identidade musical.
O estilo de Kiefer facilmente reconhecido em suas obras para piano devido sua
peculiaridade: o discurso costuma ser sempre mais meldico do que harmnico. Quando
ocorrem encontros verticais, estes raramente se estabelecem como um discurso harmnico
previsvel. As melodias geralmente so fragmentadas, mas que em sucesso, podem
alcanar grande amplitude fazendo-se se assim uso dos extremos do teclado. O uso de
compassos irregulares contribui para um fluxo rtmico instvel. Por fim, as pausas:
tambm o silncio elemento gerador do discurso, em p de igualdade com o seu duplo, o
som. no jogo entre ambos que se estabelece com firmeza definitiva a dialtica ptrea da
msica para piano de Bruno Kiefer (Chaves, 1995).
O presente trabalho visa caracterizar o estilo da escrita contrapontstica utilizado por
Kiefer na composio das fugas do seu repertrio pianstico. As fugas utilizadas sero,
respectivamente, a segunda das Duas peas srias (1957) e o terceiro movimento da Sonata
I (1958), as quais foram compostas na fase inicial do compositor, ambas a duas vozes.
Neste perodo Kiefer procurava estabelecer a sua linguagem musical, pois ainda no eram
claras as caractersticas do estilo que viriam a singularizar a sua produo.
A fuga uma das tcnicas de composio linear mais consagradas da escrita
musical e que vem acompanhando as transformaes de estilo e linguagem no decorrer da
histria. Faz-se mister, portanto, analisar como Kiefer tratou esta tcnica, originalmente to
esquemtica, preservando com singularidade a aparente fragmentao e desestruturao de
sua obra (Gerling, 2001, p.52), que sempre desperta polmica e inquietao nos que a
ouvem.
2. OBJETIVO
O objetivo principal deste trabalho consiste em comparar as fugas escritas por
Bruno Kiefer, procurando semelhanas e diferenas referentes ao tratamento da fuga como
tcnica composicional tradicional, em busca de um estilo que caracterize a escrita
contrapontstica do compositor.
3. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS
At o final do sculo XIX, toda a musica ocidental estava sendo orientada por
aquilo que conhecemos como tonalidade padres e princpios que regem a hierarquia e as
relaes entre consonncia e dissonncia. A parti da, e durante muito tempo, chamou-se de
atonal toda e qualquer manifestao musical nova que no se adequava aos parmetros
estticos do que se conhecia como tonal.
Contrastando com compositores que procuram afastar-se radicalmente dos
fundamentos da tonalidade, h aqueles que permanecem no meio do caminho, e atualmente
tornou-se inadequado cham-los de compositores atonais como Strauss, Mahler, Debussy,
Ravel e Satie. Pois grande parte de sua produo musical ainda traz consigo traos do
idioma tonal, opondo-se ento ao radicalismo da atonalidade, no sentindo pleno da palavra.
Reti, em seu livro Tonality, Atonality, Pantonality A study of some trends in
Twentieth Century Music (1958) atesta que embora as leis da tonalidade possam ter sido
aparentemente abandonadas, a sua utilidade e validade relacionadas linguagem musical
ainda podem vigorar para o futuro (Reti, p.01). Para este autor, a pantonalidade abrange a
tonalidade num sentido ampliado, quase universal. Pan , naturalmente, a palavra do
grego antigo que designa o conceito do todo, do completo; mas h ainda um significado
de universalidade, de totalidade, ligado ao sentido da palavra pan, que vai alm do todo.
1
1
RETI, 1958, p. 04.
Assim sendo, o termo pantonalidade abrange toda a msica no-tonal, e que em um plano
mais elevado e com um novo tipo de formao composicional, desenvolve a idia inerente
tonalidade, e como conseqncia, faz formar todo um novo complexo de acessrios
tcnicos, inclusive, um novo conceito para a prpria harmonia.
2
William L. Graves Jr. afirma que a harmonia atingiu um ponto de complexidade
onde a diferena entre consonncia e dissonncia geralmente irrelevante, e que nesta
msica no-tonal linhas meldicas assimtricas e o carter tonal livre encontraram no
contraponto seu principal veculo de expresso.
3
Verificamos na obra de Bruno Kiefer indcios de princpios que regem uma unidade
esttica e lingstica, ligados tanto a aspectos tonais quanto atonais. O referencial terico
deste trabalho adotado ter trs fontes, a saber:
1) RUDOLPH RETI, Tonality, Atonality, Pantonality A study of some trends in
Twentieth Century Music (1958), para conduzir o trabalho de anlise sobre a linguagem e
os elementos musicais. Este autor fornece uma terminologia que se aplica a obras que no
se encontram apenas nos extremos da tonalidade e da atonalidade, refletindo sobre o uso
dos elementos musicais nas diferentes abordagens possveis dentro dos caminhos
intermedirios entre estes extremos;
2) WILLIAM L. GRAVES, Twentieth Century Fugue A Handbook (1962), para a
anlise contrapontstica, uma vez que o autor versa sobre a escrita fugal do sculo XX,
traando paralelos histricos que abordam a metamorfose das guias estticas da msica
ocidental que orientam esta escrita.
3) JOEL LESTER, Analytic Approaches to Twentieth-Century Music (1989), como
material de apoio, uma vez que Lester afirma que no existe uma nica e correta maneira
de se analisar a msica do sculo XX, pois a percepo de uma obra de arte uma questo
pessoal (Lester, 1989, p. xii). As abordagens analticas propostas no pretendem
estabelecer um nico mtodo de anlise, mas sim, fornecer uma idia de como o material
musical usado e como os efeitos sonoros e expressivos so atingidos (Idem).
Procurar-se- encontrar em ambas as peas os aspectos do procedimento
composicional empregado que caracterizem ambas as peas como fugas. Em seguida,
2
Ibid, p. 04.
3
Ibid, p. 73.
ser realizada uma investigao dos elementos musicais luz de seu carter estrutural e
funcional.
Por ltimo, ser estudado o trabalho contrapontstico de cada fuga, com o intuito de
verificar e caracterizar o distanciamento das obras em questo, em relao linguagem
fugal tradicional. Atravs da anlise dos dados obtidos procurar-se- reconhecer padres
que caracterizem um estilo do compositor, em se tratando de sua escrita contrapontstica,
diretamente ligado tcnica fugal.
4. LEVANTAMENTO BIBLIOGRFICO
Livros e Artigos:
BORDINI, Ricardo Mazzini. Uma investigao de Cano da garoa de Bruno Kiefer. In:
Em Pauta. Porto Alegre, v. 12/13, Nov. 1996 Abril 1997.
Cadernos Ponto & Vrgula. BRUNO KIEFER. Porto Alegre: U.E., v. 6, 1994, 104p.
CARDASSI, Luciane. A msica de Bruno Kiefer: Terra, Vento e Horizonte, e a poesia
de Carlos Nejar. Dissertao (Mestrado em Msica). Porto Alegre: Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, 1998.
CHAVES, Celso Loureiro. A msica esculpida em pedra. In: Bruno Kiefer E a vida
continua. Porto Alegre: Texto de apresentao do disco compacto BK001, 1995.
_____________. Na intimidade da sala de aula. In: BRUNO KIEFER Cadernos Ponto &
Vrgula, v.6. Porto Alegre: U.E., 1994.
GANDELMAN, Saloma. 36 Compositores Brasileiros Obras para piano (1958/1988).
Rio de Janeiro: Relume Dumar, 1997.
GERLING, Cristina Capparelli. Terra Selvagem, Lamentos da Terra e Alternncias: o
componente octatnico nas ltimas trs peas para piano de Bruno Kiefer. In: PER MUSI.
Belo Horizonte, v. 4, p. 52 71, 2001.
_____________. Msica para piano. In: BRUNO KIEFER Cadernos Ponto & Vrgula,
v.6. Porto Alegre: U.E., 1994.
GRAVES JR., WILLIAM L. Twentieth Century Fugue A Handbook. Washington, D.C.:
The Catholic University of America Press, 1962.
KOELLREUTER, Hans Joachim. Terminologia de uma nova esttica da msica. Porto
Alegre: Movimento, 1990.
LANSKY, Paul; PERLE, George & HEADLAM, Dave. Atonality. In: SADIE, Stanley
(Ed). The new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan Publishers
Limited, 2001, v. 2, p. 138 145.
LESTER, Joel. Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York: W. W.
Norton & Co., 1989.
NEVES, Jos Maria. Msica Contempornea Brasileira. So Paulo: Ricordi Brasileira,
1981.
PILLIN, Boris William. Some aspects of Counterpoint in selected works of Arnold
Schoenberg. Los Angeles: Western International Music, Inc., 1970.
RETI, Rudolph. Tonality, Atonality, Pantonality. London: Rockliff, 1958.
SACHS, Kurt-Jrgn & DAHLHAUS, Carl. Counterpoint. In: SADIE, Stanley (Ed). The
new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan Publishers Limited,
2001, v. 6, p. 551 571.
VALENTIM, Zada de Freitas. A interpretao da obra Terra Selvagem de Bruno Kiefer
atravs do conhecimento das caractersticas composicionais utilizadas pelo autor.
Dissertao (Mestrado em Msica). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 1990.
WALKER, Paul. Fugue. In: SADIE, Stanley (Ed). The new Grove dictionary of music and
musicians. London: Macmillan Publishers Limited, 2001, v. 9, p. 318 332.
Partituras:
KIEFER, Bruno. Duas Peas Srias. Partitura para piano (manuscrito). Porto Alegre, 1956.
_____________. Sonata I (composta em 1958). So Paulo: Ricordi, 1973.
Discografia:
KIEFER, Bruno. E a vida continua obras para piano solo de Bruno Kiefer. Cristina
Capparelli, piano. Porto Alegre: FUNPROARTE, 1995.
Cronograma de estudos dirios para flautistas:
otimizando o tempo de estudo
Renato Kimachi
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
reneveski@hotmail.com
Resumo: Supondo que, ns flautistas, saibamos administrar nosso tempo, outro grande
empecilho para uma rotina diria de estudos a falta de clareza quanto a o que, porque, como e
por quanto tempo devemos estudar. A proposta deste trabalho esclarecer as dvidas acima
atravs de um cronograma que idealizei. Este cronograma representa um conjunto de informaes
adquiridas ao longo de anos de estudo atravs de professores que me orientaram, atravs de
pesquisas, atravs de minhas prprias experincias didticas e durante o estudo e apresentaes.
Conclui-se que, para aprimorarmos ao mximo nossas potencialidades tcnicas e musicais,
devemos seguir a seguinte ordem de estudo: aquecimento e posterior alongamento dos msculos
(criando conscincia corporal, aprimorando a respirao, o relaxamento e a postura), respirao,
controle do sopro, sonoridade, articulao e controle dos movimentos dos dedos sem a flauta e,
finalmente, trabalha-se com a flauta, transferindo o controle adquirido separadamente para o
instrumento.
Palavras-chave: cronograma, estudos, flauta.
Abstract: We should know, as flutists, not only how to conciliate a daily routine of practicing
with our busy schedule but also what, why, how and how long we should practice. The goal of
this work is to answer these questions through a practicing schedule that I have made my own.
This schedule represents a set of information acquired over the years through the teachers I had,
through my researches, through my own teaching experiences and during my practice time and
performances. We can conclude that, in order to make good progress, technically and musically
speaking, we should follow this order: warming up and stretching the muscles (improving body
consciousness, breathing, relaxation and posture), breathing, blowing control, articulation and
finger technique without the flute and then practicing the flute, transferring the separately
acquired control to the instrument.
Keywords: schedule, practicing, flute.
1-) EXERCCIOS AERBICOS: No mnimo 10 minutos.
2-) ALONGAMENTO: 5 a 10 minutos.
3-) RESPIRAO: 5 a 15 minutos.
3.1- Faixa elstica fisioterpica. Prender a faixa sob os ps separados na largura do
quadril e esticar a faixa para cima e ao mesmo tempo para os lados com as costas das
mos, elevando os cotovelos e mos na altura dos ombros, formando um ngulo de 90
graus entre brao e antebrao. Inicialmente imitar a respirao ritmada de um cachorro,
mantendo o relaxamento e abertura da garganta, sem produzir rudos. A seguir, inspirar o
ar profundamente, de perfil para o espelho, sentindo a expanso primeiramente da barriga
e depois do trax. Expirar o ar usando os msculos abdominais, mantendo a caixa
torcica expandida. Evite contrair os ombros e a barriga.
3.2- Finger breath. Posicionar os lbios na parte baixa do dedo indicador mantendo um
grande espao entre os dentes. Sugar o ar como um grande bocejo, deixando o ar entrar
pelos cantos dos lbios e procurando sempre o som mais grave possvel, indicando que a
garganta est aberta. Deve-se inspirar progressivamente mais ar durante a inspirao.
3.3- Exercitador pulmonar. Este aparelho serve, em conjunto com os exerccios
aerbicos, para desenvolver a capacidade respiratria. Sempre inspirar com a garganta
aberta, como se fosse um grande bocejo, sugando progressivamente mais quantidade de
ar para os pulmes.
3.4- Respirao com gestos. Reger com as mos o movimento do ar, trabalhando desta
forma a visualizao e aprimorando o controle do uso do ar. Os movimentos devem ser
sempre amplos, suaves, graduais e ininterruptos acelerando gradualmente a inspirao e a
expirao. Primeiramente faz-se movimentos horizontais na altura da boca, acelerando
para frente durante a expirao e para trs durante a inspirao, sem nunca interromper a
passagem de uma para outra. Depois faz-se movimentos verticais, acelerando para cima
durante a inspirao e para baixo durante a expirao. Por ltimo faz-se movimentos
circulares, desenhando um crculo na frente do corpo.
3.5- Respirao com metrnomo. Gradua-se o metrnomo para 60 e inspira-se (sempre
profundamente) em um tempo e solta-se em um tempo. A seguir vai-se aumentando um
tempo para a inspirao e a expirao at se chegar a quatro, sempre procurando trabalhar
com a capacidade mxima dos pulmes. Com isto ganha-se maior controle da inspirao
e da emisso do ar, aprendendo-se a dosar o ar. A seguir faz-se o mesmo exerccio acima
mas sempre com um pulso para a inspirao. Depois inverte-se, mantendo um pulso para
a expirao.
3.6- Balo de reinalao.
3.6.1- Respirao Ritmada. Primeiro trabalha-se com uma quantidade mdia de ar,
enchendo o balo pela metade e imitando-se a respirao ritmada de um cachorro.
3.6.2- Capacidade total. A seguir, trabalha-se com a capacidade total dos pulmes,
enchendo lentamente todo o balo e inspirando todo o ar de volta para os pulmes como
um grande bocejo. Inspirar o mesmo ar do balo por no mximo duas vezes e fazer
pausas.
3.6.3- Com metrnomo. Fazer o mesmo de antes mas marcando o tempo com
metrnomo, semnima=60, compasso 5/4, primeiramente enchendo a bolsa e inspirando
na ltima semnima. Depois inspirar na ltima colcheia e finalmente na ltima
semicolcheia. Desta forma, trabalha-se a velocidade da inspirao mantendo a garganta
aberta e a respirao sempre silenciosa.
3.7- Breath builder. Consiste em um tubo de acrlico transparente, com uma bolinha de
ping-pong em seu interior, tendo na tampa superior orifcios para a sada e a entrada de ar
controlando a presso com que se sopra e inspira. Inicialmente sopra-se para que a
bolinha suba e a seguir inspira-se sem deixar a bolinha cair. Manter a respirao sempre
contnua como no exerccio 3.4, pensando-se em acelerar o ar progressivamente tanto na
expirao quanto na inspirao.
4-) CONTROLE DE SOPRO: 5 a 10 minutos
4.1- Vela. Segura-se uma vela acesa a uma distncia de aproximadamente trinta
centmetros diante da boca e sopra-se na direo da chama fazendo-a tremular sem, no
entanto, apag-la. A seguir trabalha-se com a vela alternadamente mais prxima e mais
distante para trabalhar o uso do ar para se fazer dinmica mais forte (mais ar / vela mais
distante) e mais piano (menos ar / vela mais prxima).
4.2- Tira de papel para vibrato. Com uma tira de papel trabalha-se o uso alternado de
mais ar e menos ar fazendo com que a tira se movimente para frente e para trs. Trabalha-
se inicialmente com uma grande amplitude, soprando o ar e fazendo com que a tira v
lentamente o mximo possvel para frente e soprar cada vez menos para que a tira volte
lentamente posio de repouso e ir acelerando gradativamente mantendo, porm, a
amplitude. Depois trabalha-se com uma pequena amplitude e tambm acelera-se aos
poucos, sempre mantendo a amplitude.
4.3- Garrafa. Tirar som da garrafa inicialmente com pulsos de ar lentos, depois vai-se
sustentando cada vez mais o som sempre mantendo o suporte, mantendo o trax
expandido, como no exerccio 3.1 e sentindo a embocadura como resultado do correto
uso de ar, sem apertar os lbios.
4.4- Bocal. Fazer o mesmo do exerccio anterior.
5-) ARTICULAO: 5 a 15 minutos.
5.1- Finger Breath
5.1.1- Pulsos de ar. Tanto a expirao quanto a inspirao devero ser realizadas em
quatro pulsos. Metrnomo marcando semnima=60.
5.1.2- Articulao Simples com T / D / K / G. Mantendo a mesma pulsao e o mesmo
uso de ar, trabalhar diferentes slabas lembrando que o mais importante o ar, a lngua
apenas d a preciso ao incio das notas, como uma vlvula. Trabalhar com articulao
tenuto, sem parar de soprar e inspirar. O K e o G devem ser to claros quanto o T e o D.
5.1.3- Articulao Dupla (TK / DG). Mantendo a mesma pulsao e uso do ar, articular
como quatro grupos de colcheias durante inspirao e expirao.
5.1.4- Articulao Tripla (TKT / DGD). Mantendo a mesma pulsao e uso do ar,
articular como quatro grupos de tercinas durante inspirao e expirao.
5.2- Balo de reinalao: (igual ao finger breath durante inspirao e expirao)
5.3- Breath builder: (igual ao balo de reinalao durante inspirao e expirao)
6-) EXERCCIOS PARA MOS E DEDOS: 5 a 10 minutos
6.1- Colocar as mos e braos sobre a mesa com os dedos naturalmente curvados.
Levantar e abaixar suavemente o dedo anular enquanto os demais permanecem sobre a
mesa.
6.2- Levantar e abaixar os dedos anular e mnimo simultaneamente.
6.3- Levantar e abaixar os dedos anular e mnimo alternadamente.
Se apresentar algum tipo de dor, pare imediatamente!
6.4- Colocar as mos e o brao sobre a mesa com os dedos relaxados e totalmente em
contato com a superfcie da mesa. Deslizar suavemente o anular at tocar no mnimo,
voltar at tocar no mdio. Fazer o mesmo com o mnimo.
6.5- Deixar os dedos naturalmente curvados mantendo a regio do pulso e as pontas dos
dedos em contato com a mesa. Elevar suavemente o anular e enrol-lo para dentro da
palma.
6.6- Com os dedos na mesma posio de antes, eleve o indicador e o anular
simultaneamente. Mova-os para cima e para baixo at que se movam em perfeita
coordenao. Faa o mesmo com os dedos mdio e mnimo.
6.7- A seguir move-se os dedos mdio e mnimo para baixo enquanto os dedos indicador
e anular movem-se para cima e assim por diante com um conjunto de dedos se movendo
em uma direo e outro conjunto se movendo em direo oposta.
Trabalhar tambm espremendo suavemente uma bolinha fisioterpica de densidade mdia
(cor azul) com os dedos anular e mnimo
7-) SONORIDADE. De 15 a 30 minutos.
7.1- Pulsos de ar (sem e com o fonema "P"). Inicialmente tocar sem articular (apenas com
pulsos de ar, inspirando antes de cada pulso) todas as escalas maiores em uma oitava,
ascendente e descendente, comeando pelo d mdio, em todo o registro do instrumento.
Este exerccio til para se estudar a quantidade certa de ar que se deve soprar e, ento,
usar o mesmo ar quanto for articular mais tarde. A seguir fazer o mesmo articulando com
os lbios inicialmente fechados como se pronunciando o fonema "P", sem usar a lngua.
7.2- Exerccio de oitavas. Tocar o sib, segunda oitava. Tocar a nota sem vibrato,
sustentar e, sem apertar os lbios, fazer um legato para oitava acima, apenas usando mais
ar, voltar para oitava abaixo, repetir e acelerar progressivamente at se transformar em
um vibrato de oitavas. Este exerccio trabalha o uso correto de ar para se fazer intervalos
grandes, sem apertar os lbios e sem espremer o som.
7.3- Moyse: De La Sonorit - Notas Longas. Fazer ambas as notas envolvidas como
mnimas para que se tenha mais tempo para timbrar. Fazer terminao nas ltimas notas
de cada grupo, diminuindo para pppp! Trabalhar em todo o registro do instrumento.
Descer cromaticamente at o d grave e, a seguir, iniciando novamente pelo si mdio,
subir cromaticamente at o r agudo.
7.3.1- Sem vibrato (com e sem "trillo lento"). Executar este exerccio como descrito
acima mas tocando as notas como um trillo que se inicia bem lento, a ponto de se ouvir
um glissando entre as notas e gradualmente vai acelerando. Fazer a fora mnima para
subir os dedos (sem deixar de tocar as chaves com a polpa) e a fora mnima para abaix-
los.
7.3.2- Com vibrato. Aplicar aqui o mesmo princpio do exerccio 4.2
7.4- Nota constante. Fazer tudo com articulao legato. Todas as notas so colcheias.
Marcar semnima=50. Iniciar pelo F mdio, dinmica mf, subir cromaticamente at o r
agudo, sempre retornando ao f mdio. Em seguida descer cromaticamente at o d
grave, tambm sempre retornando ao f mdio.
7.5- Dinmica. Escolher uma nota a cada dia e trabalhar em todas as oitavas. Tocar uma
semibreve, compasso 4/4, semnima=60. Fazer as seguintes dinmicas:
ff > pp
pp < ff
pp < ff > pp
ff > pp < ff
8-) ARTICULAO (Com Flauta). 10 a 15 minutos.
8.1- Propulso: Trabalhar como no balo de reinalao. Iniciar pelo Sol grave, tocando a
nota sem articulao, buscando o som mais redondo e lmpido possvel, sustentar e
comear a articular lentamente em tenuto, sem parar de soprar. Descer cromaticamente,
trabalhando individualmente cada nota at o d grave e depois trabalhar nos registros
superiores da mesma forma.
8.2- Velocidade. Imitar a articulao ricochet das cordas, buscando aumentar a
velocidade da articulao dupla e tripla. Trabalhar as escalas ascendentes e descendentes
em todo o registro do instrumento.
9-) EXERCCIO de 2m / 2M. 10 a 15 minutos. Inicia-se na nota mais grave e vai at a
mais aguda na flauta, subindo cromaticamente. Inicialmente trabalhar lentamente a
regularidade e a cada dia fazer mais rpido buscando agilidade sem perder regularidade.
Repetir por quatro vezes os seguintes grupos de quatro semicolcheias (tomando como
exemplo o d grave, onde iniciamos este exerccio):
9.1- d, do#, d, r
9.2- d, r, do#, r
9.3- d, do#, r do#
10-) ESCALAS: cromtica / Escalas e arpejos maiores e menores / Escala de tons
inteiros. No mnimo 20 minutos. Trabalhar em toda a extenso do instrumento. Trabalhar
com diferentes articulaes.
11-) TAFFANEL & GAUBERT - EJ1 e EJ4. No mnimo 20 minutos. Trabalhar em toda
a extenso do instrumento. Trabalhar o EJ4 com diferentes agrupamentos (de dois at
doze), um por dia e com diferentes articulaes, em todas as tonalidades maiores, indo da
nota mais grave at a mais aguda possvel na tonalidade em questo.
12-) ESTUDOS. No mnimo 15 minutos.
13-) PEAS. No mnimo 20 minutos.
14-) CONCERTOS. No mnimo 20 minutos.
15-) REPERTRIO DE ORQUESTRA. No mnimo 20 minutos.
Tempo total: 185 a 245 minutos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
WILSON, Ransom. Breathing: The Central Issue of the Flute Playing. The Flutists
Handbook: A Pedagogy Anthology. Santa Clarita-CA: The National Flute Association,
Inc., 1998. p.59-65.
PECK, Donald. Too Much Tongue in Tonguing. The Flutists Handbook: A Pedagogy
Anthology. Santa Clarita-CA: The National Flute Association, Inc., 1998. p.43-46.
KHANER, Jeffrey. How to Practice. The Flutists Handbook: A Pedagogy Anthology.
Santa Clarita-CA: The National Flute Association, Inc., 1998. p.31-34.
POOR, Mary Louise. How to Strengthen Your Pinky. Hands On!, Newport-NH, v.1, n.1,
p.1-2, 1994.
Um estudo sobre os saberes que norteiam a prtica pedaggica de
professores de piano
Rosane Cardoso de Arajo
Escola de Msica e Belas Artes do Paran (EMBAP)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
rosane_caraujo@yahoo.com.br
Resumo: A presente proposta de pesquisa situa-se no campo de estudos da educao musical,
especificamente na rea de formao docente. O objetivo investigar como se articulam os saberes
que norteiam as prticas pedaggicas de professores de piano em diferentes etapas da carreira
profissional. Para tanto, consideram-se como referencial terico os estudos de TARDIF(2002) sobre
saberes docentes, nos quais o autor identifica quatro saberes que integram a prtica do professor: os
saberes da formao profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes
experienciais. A metodologia utilizada para a realizao desta pesquisa o estudo multicasos,
associado um estudo de desenvolvimento de corte transversal, com quatro professores de piano,
em diferentes etapas da carreira profissional. As principais tcnicas de pesquisa sero a entrevista
semi-estruturada e a observao seqencial no-participante. Com esta pesquisa pretende-se
contribuir para a rea das pesquisas que abordam a formao pedaggica do professor de
instrumento.
Palavras-chave: saberes docentes, professor de piano, docncia do instrumento
Abstract: This research proposal is located in the field of music education, specifically in the
teachers education area. The aim of this investigation is to identify how teachers articulate the body
of knowledge that orient their piano teaching practices in different stages of their professional
career. The four kinds of knowledge that integrate the teacher's practice proposed by TARDIFF are
adopted as the theoretical framework: professional education knowledge, subject knowledge,
curricular knowledge and experiential knowledge. The methodology will consist of a multi-cases
study associated to cross-sectional developmental study. A sample of four piano teachers in
different stages of the professional career will be investigated. The main research techniques will be
the semi-structured interview and the non-participant observation. This research intends to
contribute for research in the area of pedagogical education of instrument teachers.
Keywords: knowledge base, piano teacher, instrument teaching
Esta proposta de pesquisa teve como origem o contexto de minha prpria atuao
profissional. Como professora de piano, formada no curso de bacharelado em msica,
encontrei dificuldades na minha prtica docente por ter recebido uma formao voltada
para a performance e curricularmente falha em disciplinas que orientassem para a prtica
pedaggica do instrumento. Minha experincia levou-me a questionar a situao de outros
professores de instrumento no sentido de compreender como eles procuram orientar sua
atividade docente e desenvolver sua prtica considerando que muitos possuem uma
2
formao semelhante minha. O problema que se apresentou como fio condutor do
presente estudo sintetizou-se na seguinte questo: Como se articulam os saberes docentes
que norteiam as prticas pedaggicas de professores de piano?
Os estudos sobre o saber dos professores surgiram, segundo TRADIF (2002), a
partir de 1980, desencadeando inmeros trabalhos de pesquisa no mundo anglo-saxo e,
recentemente, na Europa. Para ele, tratar do saber significa relacion-lo com as condies
de sua origem e com o contexto do trabalho.
TARDIF descreve quatro grupos de saberes que integram a prtica docente: Os
saberes da formao profissional (ou saberes pedaggicos); saberes disciplinares
(integram a formao por meio das diferentes disciplinas); saberes curriculares (se
apresentam na forma de programas escolares - contedos, mtodos, objetivos); e saberes
experienciais, que so aqueles que brotam da experincia (ibid. p.36-39). Segundo este
autor, o saber dos professores adquirido no contexto de uma histria de vida e de uma
carreira profissional.
Alm da opo por trabalhar com o referencial terico dos saberes docentes,
procurei analisar o estado da arte das pesquisas que aproximam-se das prtica pedaggica
do professor de msica, para compreender e situar o presente estudo neste campo. A partir
de uma reviso bibliogrfica, encontrei trs grupos de pesquisa prximos ao objeto em
questo: os estudos sobre metodologias e tcnicas de ensino; sobre aprendizagem musical;
e, especificamente, sobre o professor de msica. Neste ltimo grupo, detive-me nos estudos
situados dentro das seguintes categorias: O pensamento do professor (LENNON, 1997;
LEMONS, 1998; BEINEKE, 1999; DEL BEN, 2001; e RAIBER, 2001); formao de
professores (STEGMAN, 1996; TEACHOUT, 1997; MARK, 1998; DOCAL, 1999;
OSCASITAS, 1999; VIEIRA, 2000; BELLOCHIO, 2000; e REQUIO, 2002); currculo e
formao ( DOURADO, 1995; COSTA FILHO 2000); histrias de vida (WIGGINS,
1994/95; BOZZETO, 1999; CHEN, 2000; PINOTTI e JOLLY, 2002; e GERLING,
HASSELAAR e CAZARR, 2002); desenvolvimento profissional ( HARRIS, 1991;
STEPHEN, 1997; e BOUIJ, 1998) e prtica pedaggica do professor de instrumento
(SANTOS, 1998).
Observando o resultado desse levantamento, pude concluir que so poucos os
estudos que focam especificamente a docncia do professor de instrumento (LENNON,
3
1997; SANTOS 1998; e GERLING, HASSELAAR e CAZARR, 2002). Considerei,
portanto, oportuna uma pesquisa que pudesse contribuir para o crescimento de tal rea.
Objetivo:
Investigar como se articulam os saberes docentes que norteiam a prtica
pedaggica de professores de piano, em diferentes etapas da carreira profissional.
Metodologia:
De acordo com o tema proposto, esta investigao ser caracterizada como um
estudo qualitativo no qual a metodologia escolhida o estudo de caso, especificamente do
tipo multicasos, associado um estudo de desenvolvimento de corte transversal.
O estudo de caso tem como caracterstica o estudo aprofundado do objeto a ser
pesquisado para que deste se obtenha um detalhado e amplo conhecimento. Segundo
KEMP (1995, p. 111), no estudo de caso o objetivo do pesquisador em relao ao objeto
"relatar, pormenorizadamente, os acontecimentos e as suas relaes internas e externas".
Nesta proposta de pesquisa os casos escolhidos sero os quatro professores de piano, que,
por se encontrarem em diferentes etapas da carreira profissional, sero investigados luz de
um estudo de desenvolvimento de corte transversal. Segundo COHEN & MANION (1997),
os estudos de desenvolvimento de corte transversal caracterizam-se por englobarem, num
mesmo espao de tempo, diferentes sujeitos em etapas de vida diversas.
Seleo dos professores:
Para selecionar a amostra, ser utilizado um mapeamento das escolas de msica
da regio central de Curitiba nas quais trabalham professores de piano com formao
superior na rea. Os critrios para a seleo dos professores ser a localizao de um
profissional para cada uma das quatro primeiras fases do ciclo de vida profissional descrito
por HUBERMAN (1995), que concordem em participar desta pesquisa. Este autor
identifica cinco fases na carreira profissional docente: A entrada na carreira, fase de
estabilizao, da diversificao, da serenidade e do distanciamento afetivo, e, por ltimo,
fase do desinvestimento. Sero convidados professores que se encontram nas quatro
primeiras fases descritas acima, porque estas correspondem ao perodo previsto na
4
legislao brasileira
1
para a atividade docente em instituies de ensino. Espera-se obter
uma amostra de quatro professores.
Como tcnica de coleta de dados, utilizar-se- a observao no participante (com
uso da filmadora) e a entrevista semi-estruturada.
Procedimentos:
Seleo dos professores;
Observao e filmagem de aulas seqenciais;
entrevista com os docentes usando como recurso a gravao;
transcrio das entrevistas;
anlise dos dados;
concluses e consideraes finais.
Anlise dos dados:
Para ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNADJER (2000), as pesquisas
qualitativas geram, normalmente, um enorme volume de dados para organizao e anlise.
Neste sentido, buscar-se- as relaes nos dados, a construo das interpretaes, a gerao
de novas questes e/ou aperfeioando das anteriores, concomitantemente com a coleta dos
mesmos.
Segundo GIL (1999), o tratamento dos dados passa inicialmente pela descrio
para, em seguida, ser feita sua anlise. Para elucidar esse processo, considerar-se- a
anlise a etapa na qual sero estudados os dados, enquanto que a interpretao ser a busca
de um sentido mais amplo para estes, por meio do dilogo com outros conhecimentos j
obtidos. Nesta pesquisa, portanto, a interpretao dos dados ser realizada luz do
referencial terico escolhido, e, a partir das anlises das entrevistas e das observaes
realizadas com os professores de pianos, buscar-se- identificar as articulaes dos
diferentes saberes docentes em suas prticas.
1
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil, Art. 31, 7, 1988.
5
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVES-MAZZOTTI, A.J.; GEWANDSZNADJER, F. O mtodo nas cincias naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2.ed. So Paulo: Editora Guazzelli, 2000.
BEINEKE, Viviane. O conhecimento prtico do professor de msica: trs estudos de caso.
Dissertao de Mestrado. UFRGS, 1999.
BELLOCHIO, Cludia R. Educao musical: olhando e construindo na formao e ao de
professores. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO BARSILEIRA DE
EDUCAO MUSICAL, 9., Salvador. Anais do IX Encontro Anual da ABEM. Salvador:
ABEM, 2000. Disquete.
BOZZETO, Adriana. O professor particular de piano em Porto Alegre: uma investigao
sobre processos identitrios na atuao profissional. Dissertao de Mestrado. Porto Alegre,
UFRGS, 1999.
BOUIJ, Christer. Swedish music Teachers in training and Professional life. In:
International Journal of Music Education, n. 32, p.24-32. Michigan: International Society
for Music Education, 1998.
CHEN, Hsiao-Fen. An investigation of piano training in higher education and suggestions
for preparing secondary school music teachers in Taiwan, the Republic of China. EdD,
University of Illinois at Urbana-Champaign, 2000.
COHEN, L; MANION L. Research Methods in Education. 4 ed.. New York: Routledge,
1997.
COPE, Peter. Knowledge, meaning and ability in musical instrument teaching and learning.
In: British Journal of Music Education, v.15, n.3 November. Cambridge: Cambridge
University Press, 1998.
COSTA FILHO, Moacyr S. Os cursos de graduao em Canto no Brasil: dois estudos de
caso. Dissertao de Mestrado. Salvador, UFBa, 2000.
DEL BEN, Luciana. Concepes a aes de educao musical escolar: trs estudos de
caso. Tese de doutorado. Porto Alegre: UFRGS, 2001.
DOCAL, Consuelo L. La formacin permanente del profesorado de msica. In: Eufona-
Didctica de la Msica, n.15, p51-59. Barcelona: GRA, 1999.
DOURADO, Oscar. Por um modelo novo. In: Revista da Abem, n.2, ano 2, p.68-73.
jun/1995.
6
GERLING, C.; HASSELAAR, S.; CAZARR, M. abordagens de aprendizagem na
didtica pianstica: dois estudos de caso. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO
BARSILEIRA DE EDUCAO MUSICAL, 11. Natal. Anais do IX Encontro Anual da
ABEM. Natal: ABEM, 2002. CD-Room.
GIL, Antnio C. Mtodos e tcnicas de pesquisa social. 5.ed. So Paulo: Atlas, 1999.
HUBERMAN, Michal. O Ciclo de vida profissional dos professores. In: NVOA,
Antnio (org.) Vidas de professores. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1995.
KEMP, Anthony E. Introduo investigao em Educao Musical. Lisboa: Fundao
Calouste Gulbenkian, 1995.
LEMONS, Mary L. Image, context, and knowledge in the practice of two elementary music
teachers. EdD, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1998.
LENNON, Mary. Teacher Thinking: A qualitative Approach to the Study of piano
teaching. In: Bulletin of Council for Research in Music Education, n.131, p.35-36.
University of Illinois at Urbana-Champaign, 1997.
OSCOSITAS, Jos R. Formacin del profesorado de msica. In: Eufona-Didctica de la
Msica, n.15, p.7-13. Barcelona: GRA, 1999.
PAUL, Stephen J. The effects of Peer teaching experiences on the Professional Teacher
Role Development of Undergraduate Instrumental Music education majors. In: Bulletin of
Council for Research in Music Education. n.131, p.37 University of Illinois at Urbana-
Champaign, 1997.
REQUIO, Luciana P. de S. Saberes e competncias no mbito das escolas de msica
alternativas: a atividade docente do msico-professor na formao profissional do msico.
In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO BARSILEIRA DE EDUCAO
MUSICAL, 11. Natal. Anais do IX Encontro Anual da ABEM. Natal: ABEM, 2002. CD-
Room.
SANTOS, Cynthia G. A. Avaliao da Execuo musical: um estudo sobre critrios de
avaliao utilizados por professores de piano. Dissertao de mestrado. Porto Alegre:
UFRGS, 1998.
STEGMAN, Sandra F. An investigation of secondary choral music student teachers
perceptions of instructional successes and problems as they reflect on their music teaching.
PHD, The University of Michigan, 1996.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formao profissional. Petrpolis: Editora Vozes,
2002.
TEACHOUT, David J. The relationship between personality and the teaching effectiveness
of music student teachers. PhD, Kent State University, 1997.
7
VIEIRA, Lia B. A construo do professor de msica: o modelo conservatorial na
formao e na atuao do professor de msica em Belm do Par. Tese de doutorado,
UNICAMP, 2000.
WIGGINS, Jacqueline H. Teacher-research in a General music Classroom: effects on the
Teacher. In: Bulletin of Council for Research in Music Education. n.123, p.31-35.
University of Illinois at Urbana-Champaign, 1994/95.
O lamento como emblema da melancolia na obra de Barbara Strozzi
Silvana Scarinci
1
Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP)
silvanasca@terra.com.br
Resumo: O presente trabalho o resumo de um projeto de dissertao desenvolvida sob os
auspcios da FAPESP. O mesmo pretende examinar os Lamentos da compositora, cantora e cortes
italiana Barbara Strozzi. Os Lamentos destacam-se da totalidade de sua obra por expressarem mais
eloqentemente a melancolia, caracterstica que permeia toda a sua produo. O Lamento tornou-se
um dos gneros prediletos do perodo Barroco, tanto como parte central da recm criada pera
barroca, quanto na Cantata, cuja criao foi atribuda Barbara Strozzi.
Palavras-chave: Barbara Strozzi, lamento, melancolia
Abstract: The present work is a summary of a project for a PhD dissertation under the support of
the brasilian Institution FAPESP. It intends to examine the Laments of the composer, singer and
italian courtesan Barbara Strozzi. The Laments stand out amongst her work, for expressing more
eloquently the state of melancholy, a characteristic that permeates all of her production. The Lament
became one of the most favored genders in the Baroque Period, either as a central part in the newly
created opera, or in the Cantata, whose creation was attributed to Barbara Strozzi.
O primeiro dos oito volumes da obra de Barbara Strozzi inicia-se com um dueto para
sopranos e baixo-contnuo, no qual a protagonista mulher - canta:
Merc di voi, mia fortuna stella,
Volo di Pindo in fra i beati cori
e coronata d'immortali allori
forse detta sar Saffo novella (Blankenbury, 1991)
(Graas a ti, minha estrela da sorte, em vo de Pndaro entre beatos coros, e coroada com o louro imortal,
serei talvez chamada a nova Safo).
Os textos do primeiro livro de Madrigais so de autoria do poeta e libretista Giulio Strozzi,
pai elletivo de Barbara. significativo o fato de Barbara inaugurar suas publicaes,
anunciando-se como uma nova Safo aquela a quem o pai entrega uma voz, feminina,
autora, re-encarnando a voz da poeta grega. A identificao repleta de aluses: Safo,
segundo Ovdio, o modelo da mulher poeta que expressa a dor e a confuso causadas
pelo abandono amoroso. Em seu Herodes, a retrica a do Lamento, no qual a
personagem feminina muda rapidamente de um a outro intenso estado psicolgico, ora
num introspectivo monlogo interior, ora em exploses acusatrias contra o amante que a
abandonou. Da mesma forma, na tragdia grega, os lamentos tambm eram atribudos s
mulheres, inaugurando a tradio da eloqente expresso de emoes atravs do
personagem feminino, na maioria das vezes nos temas da mulher rejeitada ou abandonada
pelo ser amado. O lamento usufrua de um status especial - intensamente emocional,
apresentava-se como um clmax seguido de uma resoluo da ao. No de surpreender
que tenha se tornado um dos gneros prediletos do perodo barroco, tanto como parte
dramtica central na recm criada pera barroca, quanto na Cantata. Depois da pera e do
oratrio, a cantata era a forma vocal mais importante do perodo barroco, e certamente a
forma mais onipresente. As cantatas
2
nascem s margens da pera, numa tentativa mais
modesta de dar vazo s necessidades de expressar o novo estilo. Seria portanto a verso
camerstica da pera barroca, um primo pobre, sem o luxo que o teatro podia oferecer aos
poucos compositores que alcanavam este privilgio.
Neste contexto encontramos a cantora e compositora Barbara Strozzi. Barbara circulava
entre a elite intelectual da Serenissima
3
, presidindo a Accademia degli Unisoni, inventada
por seu pai para que ela pudesse cantar e executar sua obra e tambm participar de
discusses em voga na poca. Para um observador da vida cotidiana da Veneza do sculo
XVI ou XVII, a funo de Barbara teria imediatamente evocado a associao tradicional
entre o fazer msica e a liberdade sexual da famosa figura da cortes, ou meretrix onesta .
O espao ao mesmo tempo privilegiado criado pelo pai de Barbara, permitiu a ela
desenvolver e amadurecer sua sofisticada habilidade como compositora - no entanto, ela
ainda via-se restringida ao meio parcialmente domstico, que limitava sua expanso por um
crculo completamente profissional seja o de cantora de pera, ou mais longinquamente,
de compositora para pera. Este fato explica a razo pela qual sua msica permaneceu
restringida ao delicado universo da Cantata.
1
Bolsista da FAPESP.
2
Segundo David Shullemberg, o termo cantata, que literalmente significa qualquer coisa que fosse cantada,
foi usada para designar, no incio do sculo XVII, vrios tipos de msica secular vocal para voz solo que
diferiam dos madrigais e rias estrficas de Caccini simplesmente pela sua caracterstica de serem mais
longas. Um certo nmero de madrigais tardios de Monteverdi poderiam ser considerados cantatas, e podemos
pensar na cantata como a forma sucessora do madrigal e como um meio para a sria expresso da poesia
italiana. As cantatas estavam entre as mais populares formas de composio do Sculo XVII e XVIII, em
parte porque empregavam a linguagem potica e musical da pera mas podiam ser executadas sem os custos e
produes elaboradas requeridos pela larga escala da produo teatral. Em: Music of the Baroque, Oxford
University Press, 2001.
Barbara fica margem da produo central da poca, limitando-se ao gnero Cantata - mas
alm disto, concentra-se quase que unicamente num affetto
4
particular o do sofrimento.
As letras de suas msicas encontram-se, na maior parte, no estilo da poesia de amor de
Marino, poeta cultuado entre os Incogniti.
O lamento o gnero onde Strozzi cria seu drama em miniatura, sua recatada pera. Seus
lamentos distanciam-se da dramaticidade exacerbada dos Lamentos de Monteverdi, como
sua Arianna, por exemplo, a qual expressa a dor num estado beira da loucura, debatendo-
se de um sentimento a seu oposto, da raiva ternura, do dio, ao amor arrependido.
Barbara, em seus lamentos, entrega-se dor mais recatada, na dimenso da melancolia. Sua
dor no deseperada ou raivosa uma dor de resignao.
Em 1938, Monteverdi
5
estabelece a relao do tetracrdio
6
descendente menor (ou o basso
ostinato conhecido como Passacaglia) como um emblema do lamento: explorando as
oportunidades de oposio entre a voz e a linha do baixo, a composio de Monteverdi do
Lamento della Nimpha ilumina as implicaes expressivas do padro repetitivo do
tetracrdio descendente e demonstra seu potencial para a associao com o lamento
7
.
Barbara Strozzi vai usar sempre o padro da Passacaglia em seus lamentos, no como
Monteverdi usa no Lamento della Ninpha, mas sempre mesclando diversas sesses
contrastantes (a caraterstica da Cantata) entre ria e recitativo. Em seus oito livros de
Cantatas (o nmero quarto est aparentemente perdido), encontramos pelo menos nove
lamentos.
A tradio do Lamento no perodo Barroco no o define necessariamente como um
emblema da melancolia. Em Monteverdi, os Lamentos distinguem-se em sua obra como um
4
A palavra usada na acepo dos msicos do perodo barroco affetto significava um estado emocional
particular. Provocar affettos queria dizer provocar emoes.
5
Monteverdi no o criador do baixo ostinato da passacaglia mas seu Lamento della ninfa um marco no
gnero.
6
O tetracrdio constitudo de 4 notas descendentes (por exemplo, la, sol, fa, mi) na parte do baixo, que se
repetem exaustivamente por todo o lamento ou uma sesso distinta do resto da pea. A melodia desenvolve-se
independente na voz superior.
7
ver Ellen Rosand, The desecending tetrachord: an Emblem of Lament, em The Musical Quaterly, 1979, p.
346-359.
signo da tragdia. Em Strozzi, a tragdia ameniza-se, e o tom o da melancolia uma
tristeza resignada, sem esperana de mudana. O destino est traado e no h o que fazer
para mud-lo che si pu fare como bem expressa a Sexta Cantata do volume VIII de
1644, a ltima obra de Strozzi. Este lamento desenvolve-se sobre o tetracrdio em mi
menor, o motivo da Passacaglia - uma escala diatnica descendente de mi a si. O lamento
mais representativo de um perodo um pouco anterior a Che si pu fare o Lamento della
Ninfa de Monteverdi, de 1638, para soprano, baixo-contnuo e um trio masculino que
interfere, fazendo o papel do narrador (ou do coro grego que comenta o evento principal).
Usando igualmente o motivo da Passacaglia (desta vez sobre a escala diatnica
descendente de a e), Monteverdi representa a angstia da ninfa atravs de diversos
artifcios: melodias muito curtas, s vezes sobre somente duas notas, como as primeiras
exclamaes da ninfa sobre a palavra amor, repetida trs vezes, numa seqncia
ascendente, interrompida por longas pausas, estabelecendo, atravs da repetio obsessiva,
mas truncada pelas pausas, o affeto do desespero o baixo repetitivo cria a sensao de
opresso, sobre o qual a ninfa se debate, lutando por escapar ao inevitvel, ao destino que
se obstina (no toa que o baixo se chama ostinatto).
Mas o inevitvel, ela combate: trs vezes repete non mi tormenti e na terceira vez, ao dizer
non mi tormenti pi, um no acrescido, com sbito salto de quinta ascendente e ainda
marcado com um sinal de dinmica f, seguido de uma pausa. O salto uma surpresa
inesperada, pois a melodia havia se resolvido no l, no retorno do incio do tetracrdio.
Monteverdi representa a angstia da personagem quase beira da loucura
8
- perceptvel ao
ouvinte atravs das passagens inesperadas, sbita mudana de direo meldica; pausas
imprevistas, como se o pensamento mudasse subitamente de direo.
Em Che si pu fare, Barbara Strozzi trabalha tambm com a repetio de palavras para
expressar a inevitabilidade do destino. A idia do inescapvel e da resignao se d
justamente pela insistncia da frase de abertura que aparece repetidas oito vezes no decorrer
da pea, reiterando a idia de que nada h mesmo a fazer.
Da mesma forma, frases desenvolvidas em sequncias, reforam esta idia o destino j
est marcado, o desfecho previsvel a melancolia se estabelece no desenho descendente
num intervalo de sextas, a volta ascendente em quartas so como suspiros, um pouco de
alento na figura descendente inexorvel (na realidade o primeiro salto ascendente de quarta
b-e reitera o tetracrdio da passacaglia. As notas principais da melodia no so outra coisa
seno a mesma escala e - d c#- b. A repetio de certas palavras cumprem a funo de
reiterao do desejo negado de piet (piedade).
Nos momentos mais dramticos da pea, o uso de seqncias distanciam o Lamento de
Strozzi de obras como o Lamento della Ninfa pois se as frases marcam um certo desespero
e inconformidade com o destino, a previsibilidade que tais seqncias estabelecem colocam
a obra dentro de uma dimenso mais contida, a loucura e sua imprevisibilidade no parece
ser uma caracterstica de nossa autora.
BIBLIOGRAFIA
DAVIS, NATALIE ZEMON. Women on the Margins: three Seventeenth-Century Lives.
Cambridge: harvard University Press, 1995.
HARVEY, ELIZABETH D. Ventriloquizing Sapho: Ovid, Donne, and the Erotics of the
Feminine Voice, Criticism 31, no. 2 (1989)
HOWARD JACOBSON. Ovids Heroides. Princenton: Princenton University Press
1974.
KELLY, JOAN. Did Women have a Renaissance? in Bridenthal and C. Koontz (eds),
Becoming Visible: Women in the European Past. Boston, 1977, 137-64.
JOAN DE JEAN. Fictions of Sapho: 1546-1937. Chicago. University of Chicago Press,
1989.
McCLARY, SUSAN. Feminine Endings, Music, Gender and Sexuality. Minnesota:
University of Minnesota Press, 1991.
RADDEN, JENNIFER. The Nature of Melancholy: from Aristotle to Kristeva. Oxford:
Oxford University Press, 2002.
LAWRENCE LIPKING. Abandoned Women and Poetic Tradition. Chicago: University of
Chicago Press, 1988.
ROSENTHAL, MARGARET. The Honest Courtesan: Veronica Franco, citizen and Writer
in Sixteenth-Century Venice. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
TURNER, JAMES, ed.. Sexuality & Gender in Early Modern Europe. Cambridge:
Cambridge University Press, 1993.
Musicoterapia e viso subnormal
Simone Presotti Tibrcio
Ncleo de Atendimento Caminhar
simonet@gold.com.br
Resumo: Este trabalho indica a estreita relao entre a percepo sonora e visual durante o
desenvolvimento infantil. Busca ressaltar a importncia que o conhecimentos sobre a viso
subnormal tem na formao do musicoterapeuta que atua na rea da neuropediatria . Est
fundamentado na observao clnica de processos musicoterpicos, nos quais as funes
quantitativas e qualitativa da viso residual dos pacientes foram estimuladas, atravs do fazer
musical e do contato com os instrumentos musicais. Demonstra a importncia da Musicoterapia na
estimulao funcional da viso de pacientes com atraso global do desenvolvimento
neuropsicomotor, atravs da utilizao da msica e seus elementos como objeto intermedirio da
relao teraputica. Indica importncia da motivao que estes elementos representam para o
paciente, possibilitando uma interao scio afetiva em portadores de seqelas diversas.
Palavras-chave: musicoterapia, viso subnormal, funcionalidade.
Abstract: This study presents the relation between the visual and sonorous perception during the
childish development. There is a meaning to emphosize the importance that the knoledge about the
subnormal vision has in the formation of the music therapist who works on the neuropediatrics field.
It is based on the clinic observations, which the qualitative and quantitative funtions of the patients
residual vision was stimulated, through the touching and playing of musicals instruments. It seens
the music therapys importance on the visions functional stimulation on the deficients patients,
using the music and them elements as a intermediary object of the therepeutic relation. It also
presents the motivation that these elements meaning for the patient, getting a social affective
relationship on several problems beares.
Keywords: music therapy, subnormal vision, performance.
A musicoterapia uma abordagem teraputica que utiliza o universo corporal,
sonoro e musical para se estabelecer um vnculo com o paciente, buscando potencializar o
seu desenvolvimento global. Partindo do envolvimento e da motivao que os estmulos
sonoros e musicais desencadeiam no paciente, o musicoterapeuta estabelece estratgias
para alcanar os objetivos para os quais o trabalho foi indicado.
Daremos o nome de objetivos principais queles que esto diretamente relacionados
ao motivo pelo qual o paciente foi encaminhado para atendimento e que geralmente esto
ligados ao item queixa da anamnese
1
.
1
Histrico da vida do paciente.
Em nosso campo de atuao, temos trabalhado com pacientes que apresentam atraso
significativo no desenvolvimento neuropsicomotor, como nos casos de autismo, sndromes
genticas, paralisia cerebral, entre outros.
Certamente podemos colocar a questo da ausncia ou disfuno da linguagem
como o principal ponto a ser trabalhado nesses casos, por ser comum a todos eles, embora
se mantenham variaes especficas e muitas vezes caractersticas, como o caso da
ecolalia
2
no autismo.
Tendo em vista a disfuno da linguagem ou quaisquer outros objetivos principais,
o musicoterapeuta utiliza o som como objeto intermedirio da relao, buscando, atravs do
efeito ldico e motivador do fazer musical, desenvolver todo o potencial do seu paciente.
Para tanto, o musicoterapeuta deve estar atento a todas as possibilidades que o momento
proporciona, sendo capaz de se deslocar seguramente entre os j citados objetivos da queixa
para uma outra categoria de objetivos, intimamente ligados aos primeiros. A esta nova
categoria, daremos o nome de objetivos secundrios, uma vez que no se encontram como
queixa, embora sejam, na maioria das vezes, condio sine qua non para o sucesso dos
chamados objetivos principais.
nesse ponto que queremos ressaltar a importncia da questo da viso no seu
aspecto funcional, e sua relao com o estmulo sonoro durante o processo de
desenvolvimento global do paciente.
Sabemos que, no desenvolvimento normal do beb, a busca da fonte sonora est
associada busca visual. Assim, da localizao do som decorre a focalizao do objeto, e o
beb vai alcanando distncias e nitidez cada vez maiores de acordo com a maturao das
vias pticas e do crtex visual. Dessa forma, a motivao do beb para a ao est ligada
busca da fonte sonora.
Neste ponto, o som a fonte de toda mudana e o que antecipa a contemplao
do espetculo dos objetos em movimento, movimento este que som, ritmo, afeto, e que
vida.
Se, por algum motivo, nos primeiros meses de vida, os estmulos visuais no
chegarem s clulas nervosas, o nmero de sinapses no aumentar, levando a um prejuzo
viso.
2
Distrbio de linguagem caracterizado pela repetio do que foi ouvido.
O musicoterapeuta deve, portanto, estar atento para observar a funcionalidade do
aparato visual de seu paciente, levando em conta a possibilidade de a patologia apresentada
estar associada ou no a patologias visuais especficas. Se o paciente houver passado por
um exame oftalmolgico especializado, o musicoterapeuta deve se inteirar dos resultados
obtidos, a fim de proporcionar ao paciente as condies ideais de utilizao da funo
visual.
Essas condies apresentam grande especificidade, variando para cada patologia de
forma muito ampla. Isto acontece porque a utilizao da viso residual no depende apenas
de acuidade visual remanescente; depende tambm da integridade de outras funes visuais
como: sensibilidade aos contrastes, campo visual, viso de cores e capacidade de adaptao
luz
.
Nossa experincia clnica tem demonstrado que o setting musicoterpico um
timo espao para estimular a funcionalidade da viso. Esta afirmao est baseada na
observao de vrios pacientes, dos quais constamos ganhos quantitativos e qualitativos na
funo visual. Embora estejamos falando de um espao que priorize a interao entre
paciente e terapeuta atravs do universo sonoro, o musicoterapeuta deve aproveitar-se da
ntima relao entre o som e a busca visual para estimular seu paciente a uma melhor
utilizao desta funo.
H na sala de musicoterapia uma infinidade de instrumentos com caractersticas
visuais, s quais faremos referncia mais adiante. Os padres de alto contraste preto e
branco, cinza e preto, padres de grating (listras), crculos e figuras simples esto
presentes na sala. Podemos inclusive constatar que o prprio teclado do piano que se
encontra prontamente disposio do paciente durante o processo um timo exemplo
do padro de contraste, causando ao paciente impacto imediato, e perceptvel pelo
terapeuta.
Outros instrumentos como pandeiro, tringulo, chocalho e tambor, que apresentam
formato muito simples e, por esta razo, so ideais para estimulao inicial, podem e devem
ser adaptados a alguns dos padres citados, atravs de pintura ou utilizao de fitas
adesivas.
Podemos concluir que a estimulao visual no seu aspecto funcional inerente ao
processo musicoterpico, mesmo como objetivo secundrio.
Consideramos que o desenvolvimento visual ocorre a partir da organizao e da
percepo dos estmulos significativos captados e mediados pela interao socioafetiva.
Dentro desta idia, a motivao que o fazer musical proporciona muito importante,
principalmente quando estamos lidando com pacientes que apresentam srias dificuldades
em interagir. O som estaria, nesse contexto, atuando como reforo natural e positivo para o
contato visual nos seus quesitos quantitativo e qualitativo.
Um timo exemplo desse processo o atendimento musicoterpico do paciente
autista, que obtm seus primeiros contatos visuais a partir do elemento surpresa do
fenmeno sonoro, evoluindo posteriormente para uma melhora significativa no que diz
respeito qualidade visual.
Como j foi aqui descrito, o paciente deve ser avaliado por um oftalmologista
especializado em viso subnormal. Este realiza os exames de rotina, corrige as possveis
alteraes de refrao que possam estar impedindo o desenvolvimento visual e faz a
avaliao das funes visuais.
Cabe ao musicoterapeuta, sempre que julgar necessrio, encaminhar os pacientes
para a avaliao do oftalmologista e seguir as prescries do profissional especializado em
viso subnormal, da forma mais adequada possvel. Essa conduta ser de grande valia para
o desenvolvimento global do paciente e o sucesso do processo musicoterpico.
BIBLIOGRAFIA:
ALVIM, Juliette. Musicoterapia. Buenos Aires: Editorial Paidos,1997.
ANDRADE, Benedicta B. & PIMENTA Ana Lsia D. Musicoterapia um caminho. Belo
Horizonte: Imagem., 1992.
BENENZON, Rolando O. La Nueva Musicoterapia. Buenos Aires: Editora Lumen., 1998.
BRUNO, M.M.Garcia. O desenvolvimento do portador de deficincia visual. So Paulo:
Ed. Midi. 1993.
BRUSCIA, Kenneth E. Definindo a Musicoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Ennelivros, 2000.
1
Ensino fundamental msica e interdisciplinaridade
Sonia Albano de Lima
Faculdade de Msica Carlos Gomes (FMCG-SP)
Grupo de Estudos e Pesquisas da I nterdisciplinaridade (GEPI /PUC-SP)
soniaalbano@uol.com.br
Resumo: Os Parmetros Curriculares Nacionais atuais pensaram as Artes como uma das reas de
conhecimento humano. Nessa fase do ensino fundamental, o aprendizado visa integrar as Artes s
demais reas de conhecimento, buscando um saber voltado para o desenvolvimento do pensamento
artstico e da percepo esttica. O ordenamento revela tambm, a necessidade de uma ao
interdisciplinar das diversas linguagens artsticas, nos moldes implantados pela LDB 9394/96.
Referendando esta atuao, torna-se relevante conhecer a especificidade de cada zona do
conhecimento e a correlao entre elas, organizar os estudos de forma a priorizar a capacitao do ser
humano no mundo atual e projetar uma atividade profissional futura coerente com as necessidades
scio-culturais do pas. Somente um ensino musical assim pensado, possibilitar uma formao que
integre a msica s vrias linguagens, criando condies para o indivduo escolher no futuro, uma rea
de atuao congregada s necessidades scio-cultural do pas, sem menosprezar as tendncias pessoais
e habilidades prprias de cada ser humano.
Palavras-chave: interdisciplinaridade, msica, ensino fundamental.
Abstract: The current National Curricular Parameters have considered the Arts as one of the areas of
human knowledge. In this stage of basic education, the learning process aims at integrating the Arts to
the other areas of knowledge, searching for a kind of cognition which is turned to the development of
both the artistic thinking and the esthetical perception. The ordination also reveals the need for an
inter-disciplinarian action of the various artistic languages, in the same patterns implanted by the LBD
(National Education Guidelines)9394/96. Endorsing this action, it becomes relevant to get to know the
specificity of each zone of knowledge and the correlation among them, to organize the studies in a
way as to give priority to the qualification of the human being in the present world and to project a
future professional activity that is coherent with the countrys social and cultural needs. Only a kind of
musical teaching considered in this way would make it possible for an education that would be able to
integrate the Music to the various languages, creating the conditions which would enable the learner to
choose, in the future, an area of performance congregated to the countrys social and cultural needs,
without devaluating the personal inclinations and abilities which are inherent to each human being.
Keywords: inter-disciplinarian factors, music, basic education.
A promulgao da LDB n. 9394/96 introduziu no pas, uma poltica de ensino mais
flexibilizada, motivando a criao de novas diretrizes para os processos de aprendizagem, a
valorizao dos diversos procedimentos de aplicao do saber e a inter-relao entre eles.
Para que se cumprissem essas exigncias, surgiram os Parmetros Curriculares Nacionais,
uma coletnea de 10 volumes, que so o referencial de qualidade para a educao no ensino
fundamental brasileiro. Alm de consolidar as metas de qualidade que ajudam o aluno a se
conhecer, conhecer o mundo e atuar nele de forma participativa, reflexiva e autnoma, eles
2
tambm concorrem para implantar a compreenso e integrao das diversas reas do
conhecimento, contribuindo para uma prtica didtica mais eficiente.
Os objetivos pedaggicos desse documento esto nas intenes educativas quanto s
capacidades cognitivas que devem ser desenvolvidas nos alunos ao longo de sua escolaridade,
a integrao desses saberes sob o ponto de vista mental, fsico e afetivo e a introduo do
indivduo na realidade scio-cultural do pas.
No que diz respeito s artes, os Parmetros Curriculares difundem primordialmente o
desenvolvimento do pensamento artstico e da percepo esttica, sem incorrer nos erros do
passado que privilegiaram mais as atividades artsticas, do que o aprendizado de uma
linguagem especfica, deturpando o sentido filosfico da educao artstica. Evidenciou-se
com esse documento, a necessidade de uma reviso crtica da livre expresso e a investigao
da natureza da arte como forma de conhecimento.
Revendo a histria da educao, observa-se que a partir de 1973, cumprindo uma necessidade
do mercado de trabalho que priorizou profissionais mais inventivos, os cursos superiores de
educao artstica habilitaram professores polivalentes nas diversas modalidades de arte. Com
o tempo, esse sentido genrico da poltica de ensino, contribuiu para o despreparo do
professor de artes em atuar com determinadas linguagens artsticas. A msica devido
especificidade de sua linguagem sofreu o impacto, cedendo vez a outras manifestaes
artsticas de aplicabilidade mais privilegiada.
A LDB n. 9394/96, art. 26 2, ainda que considerando o ensino artstico como rea de saber
e no mais, atividade educativa, no fez desaparecer os vcios do passado, seja no despreparo
do docente para atuar em reas especficas do ensino artstico, como no reduzido espao de
tempo destinado compreenso desse saber, motivos mais que plausveis, para impedir a
formulao de um quadro de referncias conceituais e uma metodologia que permitam
alicerar a ao pedaggica dessa disciplina para integr- la corretamente aos contedos
curriculares das demais reas de conhecimento.
Independentemente dos parmetros curriculares, observa-se ainda, salvo raras excees, que o
ensino artstico ocupa nas escolas de ensino fundamental, mais diretamente em So Paulo,
uma posio pouco privilegiada e, dependendo da rea artstica empregada, bastante
incmoda. No mais das vezes, serve como entretenimento, ou processo auxiliar para
compreenso de outros contedos curriculares considerados prioritrios. Essa modalidade de
aprendizado tem se adequado bem mais aos propsitos de um processo multidisciplinar de
aprendizagem, do que propriamente interdisciplinar.
3
Se pensarmos a msica como uma das modalidades de ensino artstico aplicado, vamos notar
que a sua insero nos projetos curriculares, muitas vezes, revive a triste condio de uma
atividade artstica desprovida de qualquer implicao epistemolgica. Ela, na maioria das
vezes, no encarada como rea de conhecimento. No se privilegiam em muitas escolas de
So Paulo, a compreenso bsica da sua linguagem, os aspectos construtivistas deste
aprendizado, ou a sua capacidade de promover mais eficazmente a ligao entre o mundo
objetivo e subjetivo.
No ensino artstico, a compreenso do sentido do fazer artstico seria mais que necessria
para que esse fazer no se transformasse em puro lazer. Ao fazer e conhecer arte, o aluno
percorre zonas de cognio altamente subjetivas aplicveis s demais reas e desenvolve
potencialidades da sua personalidade bastante importantes, tais como: percepo, observao,
imaginao, sensibilidade e convvio social. No tocante msica, a importncia de se
trabalhar contextos musicais tem relevo no desenvolvimento de atividades muito implicadas
com o raciocnio matemtico-aritmtico e a aplicao de formas abstratas do pensar.
Sob a gide da interdisciplinaridade, as escolas atuais no medem esforos para promover a
integrao das diversas reas de conhecimento. Entretanto, a anlise atenta dos programas
curriculares, projeta na maioria das vezes, um ensino artstico margem desse processo,
desintegrado do contexto pedaggico.
Esse comportamento aponta para um questionamento de natureza interdisciplinar. Em que
medida as artes poderiam integrar os projetos interdisciplinares de ensino?
Tomando como base a msica, indago se o seu aprendizado poderia realmente ser
considerado interdisciplinar, uma vez que este conhecimento prev a implantao de uma
ordem de saber que relaciona o indivduo ao mundo atravs do som, utilizando uma
linguagem bastante especfica.
Saber msica implica necessariamente, conhecer a especificidade da linguagem sonora
enquanto estrutura gramatical, para aplic-la no dia-a-dia. Portanto, o ensino musical
pressupe o domnio dessa estrutura sinttica por parte do docente, para que ele possa utiliz-
la com propriedade no desenvolvimento sensorial e esttico do aluno. O objetivo pedaggico
do ensino artstico na rede de ensino fundamental interdisciplinar, mas, a capacitao do
professor de msica deve ser especfica. Uma coordenao pedaggica no pode menosprezar
a necessidade de incluir em seu quadro de docentes, um professor preparado nessa rea de
conhecimento, assim como o faz nas demais linguagens, quais sejam: a matemtica, lngua
materna, cincias sociais e exatas.
4
Isso ainda no exigncia da maioria dos programas curriculares do ensino fundamental,
onde a msica vista como uma atividade artstica. Ela, quase sempre, mise en scne para
as demais disciplinas e no tratada como um dos processos cognitivos para a formao da
epistme humana.
Hoje, numa estrutura acadmica comprometida com a mundializao, onde se torna mais
evidente a necessidade de se manter a eficincia pedaggica, o trabalho interdisciplinar e a
preservao da personalidade cultural de cada pas para impedir a massificao, o ensino
musical, no plano pedaggico das instituies, precisa recorrer ao sistema de parceria,
integrao e comprometimento interdisciplinar, para obter a valorizao e o reconhecimento
epistemolgico enquanto rea de saber. Sob esse aspecto, como pensar a msica como uma
atividade interdisciplinar?
Para Yves Lenoir, a preparao de um sistema de disciplinas cientficas requer tanto o recurso
de um processo de comunicao no centro das estruturas disciplinares e ao seu redor, como
tambm a comunicao com outras disciplinas e com a prpria sociedade. Nesse sentido, faz-
se necessrio adotar trs comportamentos interdisciplinares. Primeiramente, deve-se re-
explorar as fronteiras das disciplinas cientficas e as zonas intermedirias que se estabelecem
entre elas, levando em conta a especificidade de cada zona e a correlao existente em cada
uma delas. Posteriormente, a necessidade de uma organizao de estudos que priorize
essencialmente a real capacitao do ser humano no mundo contemporneo. Sob esse aspecto,
o conhecimento deve propiciar ao indivduo, a possibilidade de uma permanncia harmoniosa
em um mundo altamente conturbado e complexo. O terceiro aspecto a ser obedecido, seria a
ligao profunda da atividade profissional cotidiana desenvolvida pelo indivduo que
ambiguamente deve se coadunar s reais necessidades das sociedades industriais frente ao
fenmeno da mundializao. (LENOIR.2000)
Considerando a argumentao, a interdisciplinaridade impe-se em funo da necessidade de
se introduzir um outro mtodo de anlise do mundo atual, que leva em conta as finalidades
scio-culturais e psicolgicas subjacentes ao processo. Isso significa dizer que nenhuma
disciplina cientfica poder sozinha responder s problemticas altamente complexas que
envolvem o processo cognitivo.(LENOIR. 2000)
A ao de integrar, presente na interdisciplinaridade, bem mais profunda do que usualmente
se pensa. Ela deixa vir tona, potencialidades ou competncias escondidas, abafadas e
camufladas: A integrao surge como hiptese de ampliao do universo da razo, a abertura
no apenas da razo objetiva, mas a sensvel, a mtica e a potica.(FAZENDA. 2001). Nesse
5
sentido, a linguagem das artes soberana e pode com muita propriedade, interrelacionar o
pensamento objetivo com o pensamento subjetivo.
No se pode pensar a interdisciplinaridade como simples juno de saberes. G. Fourez (2000),
assim como Y. Lenoir, admite duas ordens distintas e complementares para se operar uma
formao interdisciplinar: a ordenao cientfica e a ordenao social. A ordenao cientfica
privilegia a formao dos saberes interdisciplinares. Ela busca a cientificidade disciplinar e o
surgimento de novas motivaes epistemolgicas e de novas fronteiras existenciais. Dessa
forma, cada disciplina precisa ser analisada no lugar que ocupa, nos saberes que contempla,
nos conceitos enunciados e no movimento que esses saberes engendram. J a ordenao social
busca o desdobramento dos saberes cientficos interdisciplinares s exigncias polticas,
sociais e econmicas. Para G. Fourez, s diante desses ordenamentos, tomamos conscincia
da complexidade que habita o real e a interao que est presente neles.
No bastasse, I. Fazenda apregoa uma terceira ordem de aplicao na prtica pedaggica - a
busca do saber ser interdisciplinar, que se presentifica na necessidade de conferir
experincia docente, um sentido, uma intencionalidade e uma funcionalidade, diferenciando
dessa maneira, o contexto cientfico do profissional e do prtico. (FAZENDA, 2001:2-5).
No basta saber interdisciplinaridade, preciso ser interdisciplinar e sentir a sua presena no
contexto cognitivo.
A msica, em essncia, uma arte multidisciplinar. A sua compreenso ocorre no apenas
nos princpios musicais que regem a sua linguagem, mas tambm nos conceitos e atribuies
que habitam outras reas de conhecimento e que se interrelacionam com ela. Enquanto rea de
saber ela se serve de alguns princpios da acstica, da matemtica, da histria, fsica,
mecnica, psicologia e de outras linguagens, alm de fornecer aptides fsicas, mentais e
psicolgicas que tambm auxiliam as demais reas de conhecimento. mais difcil conferir
msica, uma autonomia de linguagem, do que revelar e compreender as inmeras
interrelaes que se estabelecem na sua formao sinttica.
Sob essas circunstncias, no ensino fundamental os educadores musicais devem atuar de
forma interdisciplinar. Um conhecimento musical mais especfico dever ser repassado em
outras fases do aprendizado musical. Aqui, o professor no deve se preocupar em formar o
instrumentista, regente ou compositor, mas, o futuro apreciador musical. Sensibilizar o aluno
para o fenmeno sonoro, valorizar os benefcios que esse conhecimento produz, criar
ferramentas que possibilitem a comunicao e a expressividade do indivduo pela msica. Sob
6
essa perspectiva, ela torna-se um processo cognitivo agregado s demais reas do
conhecimento, harmonizando o pensar, sentir e fazer no mundo.
A interdisciplinaridade na msica manifesta-se na exata compreenso dessa arte enquanto
rea de conhecimento. Ela requer dos professores, capacitao especfica para orientar e
sensibilizar alunos que, no futuro, podero utilizar essa linguagem para interagirem no
mundo.
A ao interdisciplinar do professor de msica se faz presente na leitura que ele promove do
fenmeno sonoro integrada s diversas zonas de referncia que circundam a prtica musical,
na adequao dessas zonas de representao s reais necessidades da sociedade, na
capacidade de promover um conhecimento bsico que habilite o indivduo para o futuro e na
possibilidade de sensibilizar o aluno artisticamente.
Sob essa perspectiva, a msica no ensino fundamental, poder integrar-se verdadeiramente ao
elenco das disciplinas presentes no currculo escolar e adquirir o status de rea de
conhecimento.
Se no ensino fundamental projeta-se uma ao interdisciplinar para a compreenso e
entendimento das vrias linguagens (lngua materna, matemtica, histria, geografia e
linguagem artstica), necessrio um educador musical capaz de integrar a msica s vrias
linguagens, dentro de um contexto scio-cultural, sem menosprezar as tendncias e
habilidades de cada ser humano. Um diferencial que no se restringe ao puro conhecimento,
mas que congrega a poiesis ao saber.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BRASIL. Lei n 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educao nacional. Dirio Oficial [da Repblica Federativa do Brasil], Braslia, p.2784, 20
dez.1996, pt.1.
BRASIL. Ministrio da Educao. SEF. Parmetros Curriculares Nacionais: Arte. Braslia:
MEC/SEF, 2000.
FAZENDA, Ivani C. A. Diversidade cultural no currculo de formao de professores uma
dimenso interdisciplinar. So Paulo: Manuscrito 2001.
FOUREZ. G. Fondements pistemologiques pour lintedisciplinarit. Texto provisrio
contendo a comunicao do autor apresentada no 13 Congresso Internacional da AMSE em
Sherbrooke, 2000. Traduo de Vera Brando em 2001.
LENOIR, Yves. L interdisciplinarit dans la formation l enseignement: des lectures
distinctes em function de cultures distinctes. Texto provisrio contendo a comunicao do
7
autor apresentada no 13 Congresso Internacional da Associao Mundial de Cincias da
Educao em Sherbrooke. Quebec/ Canad: Universit de Sherbrooke. 2000.
MAFFIOLETTI, Leda de A. Uma viso interdisciplinar para a educao musical. Cadernos
de Estudo. Educao Musical. Belo Horizonte, n. 4,5, p. 44-51, novembro. 1994.
Msica na organizao psicomotora do portador de doena de parkinson:
uma experincia musicoterpica
Tereza Raquelde Melo Alcntara-Silva
Universidade Federal de Gois (UFG)
terezaraquel_mt@terra.com.br / tequel@terra.com.br
Leomara Craveiro de S
Universidade Federal de Gois (UFG)
leomara@usa.net
Resumo: Este trabalho apresenta alguns aspectos de uma pesquisa em desenvolvimento, focalizando a
msica no contexto musicoterpico, com pacientes portadores de doena de Parkinson. A partir de um
enfoque fenomenolgico, ritmo, tempo interno e externo, gesto, movimento, espacialidade,
multisensorialidade e outros, so estudados, visando a organizao psicomotora do parkinsoniano. Nos
atendimentos clnicos, observa-se que a msica promove uma interao rtmico motora, facilitando o
controle muscular temporal. Atravs da msica pode-se resgatar o tempo interno e a memria motora
do paciente, alm de ser uma fonte de prazer e evocao de emoes, ambas facilitando a mobilidade.
Por esta razo, acreditamos que a msica utilizada como terapia, pode atuar como coadjuvante no
tratamento da referida patologia, podendo minimizar alguns dos seus sintomas, com vistas a uma
melhor qualidade de vida do paciente portador da doena de Parkinson.
Palavras-chave: msica, musicoterapia, Parkinson.
Abstract: The authors present some aspects of a research currently going on concerning the role of
music therapy in patients harboring Parkinsons disease. In an attempt to verify if emotional
improvement induces a better motor performance, we studied the respective roles of rhythm, internal
timing, external timing, gesture, movement and others and of multiple sensorial aspects. During
clinical assessment we have observed that music produces an interaction between rhythm and
motricity, easening muscular temporal control. Through the music it seems possible to rescue internal
timing and the motor memory and to evoke pleasure and variety of emotions all of them ameliorating
motor performance. For these reasons we believe that music, as a type of therapy, may have an
auxiliary role in the treatment of Parkinsons disease, minimizing some of its symptoms and so
improving the quality of life of these patients.
Keywords: music, music therapy, Parkinson
Este trabalho teve incio h trs anos, a partir de um estudo bibliogrfico
envolvendo as reas de musicoterapia, msica e neurocincias e de experincias clnicas em
estgios do curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Gois.
O homem um ser musical. Fisiologicamente, os seus vrios sistemas
funcionam obedecendo a ritmos como: batimento cardaco, deambulao, circulao
sangnea, movimentos peristlticos etc. Fazendo uma associao com os elementos musicais
- ritmo, temporalidade, espacialidade, movimento e gestualidade , percebemos que estes
elementos podem ser utilizados no mbito da musicoterapia e em especial ao portador de
doena de Parkinson, que caracteriza-se principalmente, pela presena de tremor de repouso,
bradicinesia (lentido de movimentos), rigidez plstica (ocorre durante todo o percurso do
movimento), alterao da marcha e alteraes posturais.
Considerando que a musicoterapia aborda tanto o aspecto motor-como
facilitador e organizador do movimento-quanto o emocional onde o indivduo/paciente pode-
se expressar livremente sem as imposies estticas padronizadas, o portador de doena de
Parkinson pode ser inserido no processo musicoterpico, com vistas a facilitar a sua
organizao psicomotora.
A utilizao da msica no processo de reabilitao motora ocorre com base na
hiptese de a msica como ferramenta mnemnica, que , segundo Thaut e cols (apud David
e cols, 2000) a capacidade de memorizar seqncias motoras. Este processo mnemnico pode
ajudar o paciente na realizao e memorizao de seqncias de movimentos.
A outra hiptese que o estmulo rtmico atua como facilitador do movimento,
vez que o som estimula os neurnios motores na coluna vertebral e coloca o sistema motor em
um estado de excitabilidade (Thaut apud David e cols 2000).
Alm da resposta fisiolgica, a msica pode promover uma interao rtmica
auditiva motora, isto , quando os sons so organizados em padres rtmicos repetitivos,
comeam a estimular os neurnios motores e ativam os padres musculares em uma estrutura
temporal previsvel criando, assim, um efeito fisiolgico de sincronizao auditivo-motora.
(Thaut e Miller apud David e cols 2000).
Vale ressaltar que a doena de Parkinson tem como substrato anatmico os
gnglios da base, um grupo de ncleos subcorticais que esto diretamente ligados ao incio e
controle dos movimentos voluntrios. Jimnez Jimnez e cols (1998) afirmam que alguns
autores sugerem ainda que os gnglios basais esto ligados gerao interna do movimento,
assim como na execuo automtica, na aquisio e reteno dos programas motores.
Os ncleos da base so divididos em trs reas: sensoriomotora, associativa e
lmbica. H, portanto, nos gnglios basais circuitos ligados ao sistema motor e ao sistema
lmbico, cuja funo mais conhecida de regular os processos emocionais. Sabemos, ainda,
que h relao entre msica e emoo. Blood e col. (2001), em estudo avaliativo, concluram
que a habilidade da msica para induzir o intenso prazer semelhante estimulao
provocada por estmulo biolgico (como comida e sexo) e estmulos artificiais (como abuso
de drogas). Por esta razo, acreditamos na hiptese da ativao neuro-basal de Pacchett e cols.
(2000), da msica como elemento facilitador do movimento. Neste trabalho, os autores
mostram que a facilitao motora atravs da musicoterapia pode ser baseada na reao
emocional, momentaneamente ativando a rea do gnglio crtico-basal, circuito
primeiramente afetado na doena de Parkinson. A evidncia comportamental de uma interface
entre o sistema lmbico e motor e a integrao antomo funcional do gnglio basal e regies
crtico frontal oferece suporte a esta hiptese.
Finalmente, tempo na msica, propicia alteraes no movimento, isto , o
tempo interno influenciando o tempo externo e o tempo externo influenciando o tempo
interno, na organizao do movimento, promovendo melhora da marcha, do balano dos
braos, das alteraes posturais, da amplitude dos movimentos e, em menor grau, do tremor.
Isto ocorre porque a msica est ligada emoo que, por sua vez est vinculada ao sistema
lmbico, para onde h tambm projees dos gnglios da base, em especial, o sistema estriato
- nigral, onde a dopamina produzida e age na ao do movimento. A deficincia da mesma
, em ltima instncia, o substrato neuroqumico da doena de Parkinson. Isto nos possibilita
entender a razo pela qual a msica, como um estmulo externo, pode promover a
organizao e a integrao dos movimentos do paciente portador da doena de Parkinson
(Alcntara-Silva, 2002).
Atualmente, estamos ampliando os atendimentos musicoterpicos com
pacientes portadores de doena de Parkinson, visando o desenvolvimento de uma pesquisa
nesta rea, coletando dados para a construo de nossa dissertao de mestrado.
Referncias Bibliogrficas:
ALCNTARA-SILVA, Tereza Raquel de Melo. Atuao da Musicoterapia na Organizao
Psicomotora do Portador de Doena de Parkinson. Monografia (Graduao) Universidade
Federal de Gois, Escola de Msica e Artes Cnicas, 2003.
BENENZON, Rolando O. Manual de Musicoterapia; traduo Clementina Nastari. Rio de
Janeiro: Enelivros, 1985.
BLOOD, Anne J.; ZATORRE, Robert J. Intensely Pleasurable Responses to Music Correlate
with Activity in Brain Regions Implicated in Reward and Emotion. PNAS, 2001; 98, 20.
BRUSCIA, Kenneth E. Definido Musicoterapia. Trad. Maria Velozzo Fernandez Conde. 2
ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000.
DAVIS, Willian B; GFELLER, Kate E; THAUT, Michael H. Introduccin a la
Musicoterapia: Teora y Prctica. Trad. Espaol Melissa Mercadal Brotons. Barcelona:
Editorial de Msica Boileau, 2000.
JIMNEZ JIMNEZ, F.J; LUQUIN, M.R. Anatomia Funcional de los Ganglios Basales. In
Tratado de los Trantornos del Movimiento. Madrid; IM&C: 1998.
PACCHETTI, Claudio; MANCINI, Francesca; FUNDAR, Roberto; MARTIGNONI,
Emlia; NAPPI, Giuseppe. Active Music Therapy and Parkinsons disease: an Integrative
Method for Motor and Emotional Rehabilitation. Psychosomatic Medicine, 2000, May Jun;
62 (3): 386 93.
Abordagens da msica brasileira nas ltimas sete dcadas:
as expedies, os mapas e os mapeamentos
Vanildo Marinho
Universidade Federal da Paraba (UFPB)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
vanildom@uol.com.br
Resumo: Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa bibliogrfica sobre expedies, mapas e
mapeamentos musicais do Brasil ocorridos ao longo das ltimas sete dcadas, enfocando as
manifestaes musicais que ocorrem no campo da cultura popular, ou do chamado folclore.
Compreendidos num perodo que vai de 1938 a 2000, essas oito investidas aqui discutidas apresentam
uma crescente abrangncia do territrio brasileiro, e das manifestaes musicais que envolveram.
Consideramos, assim, que guardam importantes informaes para os estudos etnomusicolgicos,
dando uma mostra significativa dessa teia musical formada pelas msicas do Brasil.
Palavras-chave: mapeamento musical, msica do Brasil, etnomusicologia.
Abstract: This paper introduces a bibliographical research of different musical maps in Brazil,
developed through cultural expeditions made since the 1930s. It particularly focuses on musical
expressions of popular culture and folklore. From 1938 to 2000 eight expeditions were maid, which
enlarged the boundaries of unknown cultural areas in Brazil and which could be of great value for
further research. At each trip, new musical genres were discovered. We can conclude saying that the
work of these expeditions are of particular importance, because of the unique materials gathered which
could serve for further research, done by researchers, etnomusicologists, and others.
Keywords: musical mapping, Brazilian music, ethnomusicology.
Conhecer a msica, ou as msicas, do Brasil tem sido aspirao de grande parte
dos pesquisadores da rea - musiclogos e etnomusiclogos - e de alguns folcloristas,
empenhados em estudar o que produzido pelo pas afora. Buscam, assim, conhecer o tipo de
msica realizado, o quanto se faz, como elaborada e apresentada, e todo o contexto que a
envolve. Nesse sentido, importantes projetos e estudos foram desenvolvidos na busca de
esclarecer esses questionamentos.
Considerando que tarefa dos etnomusiclogos brasileiros aprofundar seus
conhecimentos sobre a cultura musical do pas, para assim poder contribuir, de maneira mais
efetiva, para o estudo dessa msica, procuramos neste trabalho, a partir de uma pesquisa
bibliogrfica, nos aproximar deste universo, discutindo e analisando expedies, mapas e
mapeamentos musicais do Brasil, que foram realizados a partir da dcada de 1930
1
.
1
Trabalhos dessa natureza foram realizados por antroplogos, e tambm por folcloristas. Muitas das pesquisas
etnomusicolgicas tm como base esses estudos, que muito contriburam e foram, assim, de grande valia para o
preenchimento de lacunas da pesquisa musical (Bastos, 1978, p. 28).
Podemos tomar como exemplo os
trabalhos desenvolvidos no Brasil, que tiveram a preocupao de estabelecer reas culturais brasileiras, neste
caso no campo do folclore. Rafael Jos de Menezes Bastos cita os trabalhos de: Jos Geraldo de Souza, 1966;
Manuel Diegues Jnior, 1967; Alceu Maynar de Arajo, 1967; e Joaquim Ribeiro, [s.d.] (Bastos, 1978, p. 28).
Buscamos, desta forma, um dilogo com os fatos que essa histria da msica pode nos
revelar.
A primeira grande iniciativa para conhecer a msica e as manifestaes populares
do Brasil foi concretizada na dcada de 1930, planejada por Mrio de Andrade
2
. Em 1938, a
Discoteca Pblica Municipal de So Paulo (dirigida por Oneyda Alvarenga), do
Departamento de Cultura (chefiado por Mrio de Andrade), enviou a campo a Misso de
Pesquisas Folclricas. Os integrantes desta misso
3
viajaram pelos estados de Pernambuco,
Paraba, Cear, Piau e Maranho, no Nordeste, e Par, no Norte do Brasil, fazendo gravaes,
coletando instrumentos musicais (dentre outros objetos), fotografando, filmando e
descrevendo as manifestaes que foram encontrando ao longo do trajeto (Figueira e Toni,
1984 [?], p. 7; Marks, 1997b, p. 13). O material coletado passou a fazer parte do acervo da
Discoteca Pblica Municipal de So Paulo. Posteriormente, uma seleo dos exemplos
musicais foi divulgada em um CD produzido pela Biblioteca do Congresso Americano, como
resultado de um convnio cultural entre o Brasil e os Estados Unidos (Marks, 1997b, p. 14).
Na dcada de 1940 Luiz Heitor Correa de Azevedo, compositor e estudioso do
folclore brasileiro, realizou viagens a quatro regies do Brasil, alcanando um estado em cada
uma delas. Nas regies Centro-oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, foram visitados os estados de
Gois (1942), Cear (1943), Minas Gerais (1944) e Rio Grande do Sul (1945),
respectivamente. As expedies do Cear e Minas Gerais foram supervisionadas pela
Biblioteca do Congresso (dos EUA), que emprestou os equipamentos necessrios para as
gravaes musicais em todas elas (Marks, 1997a, p. 15-16). O material coletado foi para a
Biblioteca do Congresso e uma duplicata ficou no Rio de Janeiro (Marks, 1997a, p. 15),
procedimento que fazia parte do convnio com os Estados Unidos. A partir de uma seleo do
que foi gravado no Cear e em Minas Gerais, foi produzido um CD tambm pela Biblioteca
do Congresso (Marks, 1997a, p. 15-16).
A primeira tentativa de elaborar um mapa musical do Brasil aconteceu em 1944,
quando o folclorista Joaquim Ribeiro classificou e agrupou, de maneira sistemtica, a msica
folclrica brasileira (citado por Azevedo, [1969], citado por Bastos, 1978, p. 28). Procurava,
2
O prprio Mrio de Andrade j teria realizado algumas coletas de msicas pelo Brasil, nas regies norte,
nordeste e sudeste, ainda na dcada de 1920 (Ayala, 1999, p. 1; Bastos, 1978, p. 33, 37, 44).
3
Participaram da Misso de Pesquisas Folclricas: Luis Saia (era o tcnico geral; estudante de engenharia;
estudou etnografia e folclore no Departamento de Cultura), Martin Braunwiser (msico; era o que decidia sobre
as gravaes), Benedicto Pacheco (foi contratado como tcnico de gravao, por conhecer o equipamento) e
Antonio Ladeira (auxiliar tcnico de gravao) (Figueira e Toni, 1984 [?], p. 27-29).
assim, retratar como se apresentava a distribuio dos diversos tipos de msica encontrados
no pas. Neste mapa, Ribeiro estabeleceu apenas quatro reas musicais
4
. Esta classificao,
simplificada e generalizante, no incluiu a regio norte, nem a regio sudeste (ou parte dela);
reduziu a quatro tipos, as manifestaes musicais; e no incorporou as demais manifestaes
musicais brasileiras j conhecidas.
Um segundo mapa musical do Brasil foi elaborado em 1954 por Luiz Heitor
Correa de Azevedo
5
(citado por Bhague, 1980, p. 224)
6
, partindo da antiga classificao de
Joaquim Ribeiro. Este mapa divide o pas em nove reas musicais e um ciclo
7
. Esta
distribuio, se bem mais abrangente do que a de Joaquim Ribeiro, ainda nos parece
insuficiente. Apesar de j englobar um maior nmero de manifestaes musicais, ainda isola,
em determinadas reas, algumas delas.
Outras iniciativas de pesquisa e registro das msicas do Brasil ocorreram na
dcada de 1970. A gravadora Marcus Pereira, dirigida pelo compositor e maestro Marcus
Vinicius, empreendeu uma importante srie de gravaes com intuito de preservar a
memria musical popular de diversas regies do Brasil (CliqueMusic, 2002). A coleo de
discos intitulada Mapa Musical do Brasil divide as manifestaes musicais do pas em regies
geogrficas (Calado, 2000a).
Tambm durante a dcada de 1970, e estendendo-se at a de 1980, foi realizado o
projeto Campanha da Defesa do Folclore Brasileiro, elaborado pela FUNARTE
8
. Deste
projeto resultou uma srie de publicaes (Cadernos de Folclore) e gravaes em discos
(Documentos Sonoros do Folclore Brasileiro), com uma amostragem das manifestaes
populares em vrias regies do Brasil (Vianna e Villares, 2000, p. 4; Trigueiro e Benjamin,
1978, p. 2).
4
1. Embolada: nordeste; 2. Moda: sul; 3. Jongo: zona de influncia Bantu; 4. Aboio: zona do gado do serto
(Bastos, 1978, p. 28).
5
Bastos (1978, p. 28) faz referncia ao ano de 1969, como o da elaborao deste mapa por Azevedo.
6
H, tambm, a referncia de Acquarone (1948, [?], p. 271) a um outro mapa de Azevedo (com algumas
diferenas em relao ao de 1954) denominado Geografia Folclrica do Brasil, provavelmente organizado aps
suas viagens em meados da dcada de 1940.
7
A) reas: 1. Amaznica; 2. Cantoria: serto do nordeste, projetando-se at a Bahia; 3. Coco: costa do nordeste;
4. Autos: com foco em Alagoas e Sergipe, estendendo-se a quase todos os demais estados; 5. Samba: da zona
agrria da Bahia at So Paulo, com manifestaes isoladas em alguns outros estados com influncia negra; 6.
Moda-de-viola: So Paulo estendendo-se em direo ao sul (Paran e Santa Catarina) e centro do pas
(passando por Minas Gerais, alcana Gois e Mato Grosso [do Sul]); 7. Fandango: costa dos estados sulistas; 8.
Gacha: extremo sul do Brasil (zona do gado do Rio Grande do Sul); 9. Modinha: espalhada pelos centros
urbanos mais antigos; B) Ciclo: Ciclo da cano infantil, que se estende por todas as reas (Bhague, 1980, p.
224-25; Bastos, 1978, p. 28).
8
Fundao Nacional de Arte, ligada ao Ministrio da Educao e Cultura.
Outro projeto, idealizado pelo antroplogo Hermano Vianna, em parceria com o
editor Beto Villares, foi concretizado no final da dcada de 1990. Msica do Brasil o
resultado de um mapeamento que cruzou o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, traando
um perfil musical do pas por temas, em vez de reas geogrficas (Vianna e Villares, 2000, p.
7). O documento sonoro resultou numa caixa com quatro CDs (alm de programas de TV, um
livro, e um site na Internet
9
). Fugindo da associao de formas ou estilos musicais similares,
os seus idealizadores, inspirados em Mrio de Andrade, dirigem seu foco sobre temas e
questes que acabam se ligando de alguma maneira questo da identidade brasileira
(Calado, 2000a).
No ano 2000, o Instituto Ita Cultural, dentro de seu programa Rumos Ita
Cultural Msica, iniciou e desenvolveu o projeto Cartografia Musical Brasileira, sob a
curadoria nacional de Hermano Vianna (Calado, 2000b). Nesse projeto, o Brasil foi dividido
em dez reas, a partir das reas geogrficas dos estados
10
, com curadores em cada uma delas,
que receberam inscries de todo tipo, estilo, ou gnero, de msica, indiscriminadamente
tradicional, folclrica, moderna, erudita, popular... . Esse projeto resultou na gravao de dez
CDs, um por rea, e um banco de dados no site da instituio
11
(Loureiro, 2001).
A partir dessas iniciativas para o estudo da msica do Brasil, podemos perceber
que as msicas produzidas pelo povo (folclrica, tradicional, da cultura popular, ou qualquer
outro nome que venha ter) no se encontram estagnadas, imutveis; no podem ser isoladas
em reas determinadas teoricamente. H uma disperso bastante significativa dos estilos,
gneros e tipos de manifestaes musicais por todo o pas. Os movimentos migratrios
(internos e externo
12
) e as comunicaes vm provocando essa disperso e tambm a
adaptao/readaptao das manifestaes. Vai surgindo algo novo no encontro do que parecia
distante; ou passa a haver uma aceitao desse novo, uma convivncia pacfica entre o
que chega e o que recepciona. Uma relao hegemnica [ou no] entre dois grupos indica a
probabilidade de transformao social, mas no indica a absoluta necessidade nem a direo
da transformao musical (Seeger, 1997, p. 475). As mudanas, ento, podem ocorrer, mas
9
www.musicabr.com.br; este endereo consta no artigo de Calado (2000a), mas no conseguimos acess-lo em
13/11/2002.
10
reas (de acordo com os estados includos): 1. AC/AP/AM/PA/RO/RR; 2. AL/CE/PB/SE/PE/RN/SE; 3. BA;
4. DF/GO/MT/MS/TO; 5. RJ/ES; 6. MA/PI; 7. MG; 8. PR/SC; 9. RS; 10. SP (Loureiro, 2001).
11
www.itaucultural.org.br (Loureiro, 2001).
12
A colonizao brasileira, principalmente pelos portugueses, em vrios pontos do pas, a chegada dos negros
escravos, tambm em vrias regies, levou ao surgimento de manifestaes idnticas ou semelhantes, ainda
hoje encontradas em vrias regies do pas.
tambm podem no ocorrer; ou, ainda, podem se dar de maneira muito lenta, quase
imperceptveis.
O que ns vemos, que neste campo da msica da cultura popular, do folclore,
cada fazedor da msica, ou, como na fala de Hermano Vianna, cada mestre de brincadeira,
ou cada brincante, no atua como o espectador passivo de uma tradio secular sobre a qual
no tem nenhum controle e s pode preservar (Vianna, 1999); ele aceita o que lhe chega,
ele interfere, ele recria; e essas msicas mudam, e permanecem. um dilogo do novo com
o que est estabelecido. Pois neste universo tudo circula: pedaos de melodias; versos;
instrumentos musicais [...] (Vianna, 1999); e essa circulao do fazer musical, essa troca
contnua, que faz emergir (ou que nos faz enxergar) a Msica do Brasil como uma
verdadeira teia musical com possibilidades de ramificaes e conexes infinitas.
Referncias Bibliogrficas
ACQUARONE, F. Histria da msica brasileira. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves e
Editora Paulo Azevedo, 1948 (?).
AYALA, Maria Ignez Novais. Apresentao. In: AYALA, Maria Ignez Novais (Coord.).
Cocos: alegria e devoo. Joo Pessoa: LEO/UFPB, 1999. p. 1-3. Encarte de CD.
BASTOS, Rafael Jos de Menezes. Las msica tradicionales del Brasil. Revista Musical
Chilena, n. 125, p. 21-77, 1978.
BHAGUE, Gerard. Brazil. In: SADIE, Stanley (Ed.). The New Grove Dictionary of Music
and Musician, vol. 3, p. 221-244. London: Macmillan, 1980.
CALADO, Carlos. A MPB que o Brasil no conhece. CliqueMusic. 2000a. Disponvel em
http://cliquemusic.uol.com.br/br/Acontecendo/Acontecendo.asp?Nu_Materia
=260. Acessado em 07 de novembro.
________. Ita Cultural faz novo mapeamento da MPB. CliqueMusic. 2000b. Disponvel em
http://cliquemusic.uol.com.br/br/Acontecendo/Acontecendo.asp?
Nu_Materia=1125. Acessado em 07 de novembro.
CLIQUEMUSIC. Marcus Vinicius. 2002. Disponvel em http://cliquemusic.uol.com.br/br
/Artistas/artistas.asp?Status=ARTISTA&nu_artista=376&xbio=1. Acessado em 07 de
novembro.
FIGUEIRA, Aurea Andrade; TONI, Ana Amlia (Eds.). A Misso de Pesquisas Folclricas:
do Departamento de Cultura. Pesquisa e texto de Flvia Camargo Toni. So Paulo: Diviso de
Difuso Cultural e Centro Cultural So Paulo, 1984 (?).
LOUREIRO, Mnica. Cartografando sons do Oiapoque ao Chu. CliqueMusic. 2001.
Disponvel em http://cliquemusic.uol.com.br/br/Acontecendo/Acontecendo.asp?
Nu_Materia=2837. Acessado em 07 de novembro.
MARKS, Morton. L. H. Correa de Azevedo: music of Cear and Minas Gerais, ed. The
Library of Congress. Endangered Music Project. Washington: The Library of Congress,
1997a. Encarte de CD.
________. The discoteca collection: Misso de Pesquisas Folclricas, ed. The Library of
Congress. Endangered Music Project. Washington: The Library of Congress, 1997b. Encarte
de CD.
SEEGER, Anthony. Cantando as canes dos estrangeiros: ndios brasileiros e msica de
derivao portuguesa no sculo XX. Trad. Maria Manuela Toscano. In: CASTELO-BRANCO
Salwa A. Shawan (Coord.). Portugal e o mundo: o encontro de culturas na msica, p. 475-
484. Lisboa: Publicaes Don Quixote, 1997.
TRIGUEIRO, Osvaldo Meira; BENJAMIN, Roberto. Cambindas da Paraba. Cadernos de
Folclore, 26. Rio de Janeiro: FUNARTE/MEC, 1978.
VIANNA, Hermano. A circulao da brincadeira. Folha de So Paulo. Mais! Brasil 500
d.C., 14 fev. 1999, p. 7.
VIANNA, Hermano; VILLARES, Beto. Apresentao. In: VIANNA, Hermano; VILLARES,
Beto (Coord.). Msica do Brasil. So Paulo: Abril Entretenimento, 2000. Encarte de CD.
Para visualizar o ndice de autores,
clique sobre o sinal |+| do lado esquerdo das palavras
e depois sobre o ttulo ou autor escolhido.
Para visualizar apenas o texto, pressione a tecla F5.
Para retornar ao ndice, pressione novamente a tecla F5.
Você também pode gostar
- Bom Dia Todas As CoresDocumento66 páginasBom Dia Todas As CoresMATTEW LOCKHART67% (3)
- Atividade Arte 1 Ano 1 QuinzenaDocumento1 páginaAtividade Arte 1 Ano 1 QuinzenaLidiane AndradeAinda não há avaliações
- FICHA DE TRABALHO Historia 5º 2º TesteDocumento9 páginasFICHA DE TRABALHO Historia 5º 2º TestePaulo Pires Basto84% (19)
- Spinoza em LlansolDocumento48 páginasSpinoza em LlansolBernardo Rb100% (1)
- Tião CarreiroDocumento175 páginasTião CarreiroDaniel De Freitas DiasAinda não há avaliações
- VasconcelosJorgeLuizRibeirode DDocumento242 páginasVasconcelosJorgeLuizRibeirode DSidartha Gautama100% (2)
- Anais VII ENABET - 2015 PDFDocumento1.006 páginasAnais VII ENABET - 2015 PDFRenan VenturaAinda não há avaliações
- Axé, Orixá, Xirê e Música - Estudo Da Música e Performance No Candomblé Queto Na Baixada SantistaDocumento251 páginasAxé, Orixá, Xirê e Música - Estudo Da Música e Performance No Candomblé Queto Na Baixada SantistaCall Ferraz100% (1)
- Antropologia Da Musica e Do SomDocumento3 páginasAntropologia Da Musica e Do SomKadu DiasAinda não há avaliações
- Anais Vii Enabet - 2015Documento1.006 páginasAnais Vii Enabet - 2015Felipe CemimAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos SIMIBA ManausDocumento71 páginasCaderno de Resumos SIMIBA Manausmario vlaxioAinda não há avaliações
- Fronteiras Da MúsicaDocumento23 páginasFronteiras Da MúsicaGeorge ChristianAinda não há avaliações
- ANS - ABEM - X Encontro Regional Nordeste (2011)Documento863 páginasANS - ABEM - X Encontro Regional Nordeste (2011)Heder DiasAinda não há avaliações
- 4718 18209 1 PB PDFDocumento468 páginas4718 18209 1 PB PDFWandencolk CoêlhoAinda não há avaliações
- Flauta Doce No Ensino SuperiorDocumento12 páginasFlauta Doce No Ensino SuperiorNatalia BuenoAinda não há avaliações
- O Canto Do KawokáDocumento254 páginasO Canto Do Kawokámarcelox2100% (1)
- PROMUSICADocumento161 páginasPROMUSICALivia SilvaAinda não há avaliações
- Unirio PPGM Tese Pedro AragaoDocumento331 páginasUnirio PPGM Tese Pedro AragaoLeonardo PellegrimAinda não há avaliações
- Programação IX ENABET Do Instituto de Artes Da UNICAMPDocumento107 páginasProgramação IX ENABET Do Instituto de Artes Da UNICAMPThais CamargoAinda não há avaliações
- Silva FGP DR Ia PDFDocumento154 páginasSilva FGP DR Ia PDFLeandro SoaresAinda não há avaliações
- "Ratoeira Não Me Prende, Que Eu Não Tenho Quem Me Solta" Música de Tradição Oral e Identidade Cultural No Litoral de Santa CatarinaDocumento166 páginas"Ratoeira Não Me Prende, Que Eu Não Tenho Quem Me Solta" Música de Tradição Oral e Identidade Cultural No Litoral de Santa CatarinaAlissonCleberPintodosSantosAinda não há avaliações
- REVISTA - ACADEMICA - DE - MUSICA - UFMG AnáliseDocumento241 páginasREVISTA - ACADEMICA - DE - MUSICA - UFMG AnáliseduferraroAinda não há avaliações
- Revista Academica de Musica Ufmg EscolaDocumento241 páginasRevista Academica de Musica Ufmg EscolaPedro Renato dos Santos RodriguesAinda não há avaliações
- Livro LaboratorioEtnomusicologiaUFPADocumento356 páginasLivro LaboratorioEtnomusicologiaUFPAAnielson FerreiraAinda não há avaliações
- Programa Antropologia e MúsicaDocumento6 páginasPrograma Antropologia e MúsicaJefferson PereiraAinda não há avaliações
- Anppom - 2001-2 PDFDocumento369 páginasAnppom - 2001-2 PDFCARLOS AUGUSTO VASCONCELOS PIRES100% (1)
- Tese S RgioDocumento308 páginasTese S RgioCaio CesarAinda não há avaliações
- Etnomusicologia - Revista Musica Usp ART 2Documento19 páginasEtnomusicologia - Revista Musica Usp ART 2jesusAinda não há avaliações
- IamurikumãDocumento335 páginasIamurikumãBárbara RodriguesAinda não há avaliações
- Anppom 2001 1Documento367 páginasAnppom 2001 1Paulo RamosAinda não há avaliações
- Etnomusicologia - Revista MúsicaDocumento18 páginasEtnomusicologia - Revista MúsicaTales Damascena de limaAinda não há avaliações
- Cruz Mello (Iamurikuma)Documento335 páginasCruz Mello (Iamurikuma)Cesar GordonAinda não há avaliações
- OPUS 20 1 FullDocumento272 páginasOPUS 20 1 FullElizaGarcia100% (2)
- Bios e Fotos ConvidadosDocumento28 páginasBios e Fotos ConvidadosBeatrizMagalhãesCastroAinda não há avaliações
- Indivíduo Músico, Música Universal: Uma Etnografia Na Itiberê Orquestra FamíliaDocumento250 páginasIndivíduo Músico, Música Universal: Uma Etnografia Na Itiberê Orquestra FamíliaMiriam LemosAinda não há avaliações
- LITERATURA E MÚSICA - Uma Análise Semiótica Das Canções Ontem, Ao Luar, Flor Amorosa e Cabôca de Ca PDFDocumento165 páginasLITERATURA E MÚSICA - Uma Análise Semiótica Das Canções Ontem, Ao Luar, Flor Amorosa e Cabôca de Ca PDFAdelino Frazao100% (1)
- Historia Da MusicaDocumento33 páginasHistoria Da MusicaKleber J G MartinsAinda não há avaliações
- Feld Acustemologia PortDocumento18 páginasFeld Acustemologia PortLucas SilvaAinda não há avaliações
- Lirismo, Circunstância e Musicalidade No Canto Recitativo Do Caipira (Rafael Marin - 2011)Documento347 páginasLirismo, Circunstância e Musicalidade No Canto Recitativo Do Caipira (Rafael Marin - 2011)Rafael MarinAinda não há avaliações
- Joêzer de Souza MendonçaDocumento300 páginasJoêzer de Souza MendonçaHenrique SousaAinda não há avaliações
- Ritmos Zoofonicos A Composicao Como Metodo Rodolfo CaesarDocumento16 páginasRitmos Zoofonicos A Composicao Como Metodo Rodolfo CaesarMarcela Laura Perrone Músicas LatinoamericanasAinda não há avaliações
- Livro Contribuição Musical BrasileiraDocumento40 páginasLivro Contribuição Musical BrasileiraFrom Hell DeppAinda não há avaliações
- Música TupinambáDocumento34 páginasMúsica TupinambáAnda AmaroAinda não há avaliações
- Per Musi - Revista Acadêmica de MúsicaDocumento240 páginasPer Musi - Revista Acadêmica de MúsicaÁlefe Junior Sutil da TrindadeAinda não há avaliações
- VagnoHiginoDaSilva DissertDocumento142 páginasVagnoHiginoDaSilva DissertAna PaulaAinda não há avaliações
- OPUS 11 FullDocumento382 páginasOPUS 11 FullAnderson MarquesAinda não há avaliações
- 48 - Unirio PPGM Tese Marco TulioDocumento238 páginas48 - Unirio PPGM Tese Marco TulioRivaldo Luiz CamargoAinda não há avaliações
- Neder, Alvaro. O Estudo Cultural... Per Musi 22 (Publicado)Documento240 páginasNeder, Alvaro. O Estudo Cultural... Per Musi 22 (Publicado)soundsmakerAinda não há avaliações
- Musica Ye Pa-Masa Por Uma Antropologia Da Música No Alto Rio NegroDocumento218 páginasMusica Ye Pa-Masa Por Uma Antropologia Da Música No Alto Rio NegroIsolina del MarAinda não há avaliações
- HISTÓRIA-DA-MÚSICA - ApostilaDocumento26 páginasHISTÓRIA-DA-MÚSICA - ApostilaaldoAinda não há avaliações
- Enviando Por Email Fiuza - Af - DR - AssisDocumento360 páginasEnviando Por Email Fiuza - Af - DR - AssisMário MouraAinda não há avaliações
- Resenha Sobre OrganologiaDocumento4 páginasResenha Sobre OrganologiaIgor CorreiaAinda não há avaliações
- A Retorica Dos Afetos Uma Analise LiteroDocumento71 páginasA Retorica Dos Afetos Uma Analise LiteroAcademia ConcertoAinda não há avaliações
- A Construcao Ilusoria Da Realidade - Ressignacao e Recontextualizacao Do Bumba Meu Boi Do Maranhao A Partir Da MusicaDocumento254 páginasA Construcao Ilusoria Da Realidade - Ressignacao e Recontextualizacao Do Bumba Meu Boi Do Maranhao A Partir Da MusicaCaiubi RubimAinda não há avaliações
- PPEHM1Documento162 páginasPPEHM1Paulo Castagna100% (1)
- A Música Contemporânea Nos Eventos Científicos Brasileiros Da Área: 1977 A 2000No EverandA Música Contemporânea Nos Eventos Científicos Brasileiros Da Área: 1977 A 2000Ainda não há avaliações
- Oficina da Canção: Do Maxixe ao Samba-Canção; a Primeira Metade do Século XXNo EverandOficina da Canção: Do Maxixe ao Samba-Canção; a Primeira Metade do Século XXNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- Le Istitutioni Harmoniche: As Virtudes Retóricas e a Música Prática no Século XVINo EverandLe Istitutioni Harmoniche: As Virtudes Retóricas e a Música Prática no Século XVIAinda não há avaliações
- A Fonologia Diacrônica do Proto-Mundurukú (TUPÍ)No EverandA Fonologia Diacrônica do Proto-Mundurukú (TUPÍ)Ainda não há avaliações
- Tempo da festa x tempo do trabalho: carnavalização na belle époque tropicalNo EverandTempo da festa x tempo do trabalho: carnavalização na belle époque tropicalAinda não há avaliações
- Poetas ou cancionistas? uma discussão sobre música popular e poesia literáriaNo EverandPoetas ou cancionistas? uma discussão sobre música popular e poesia literáriaAinda não há avaliações
- Na Roda Do Samba (Por ''Vagalume'' - 1933)Documento315 páginasNa Roda Do Samba (Por ''Vagalume'' - 1933)Mirela de Cintra100% (1)
- Abem 2002Documento706 páginasAbem 2002api-3809008Ainda não há avaliações
- Abem 2001Documento314 páginasAbem 2001api-3809008100% (4)
- Dossie Samba de Roda Do Recôncavo - IPHANDocumento218 páginasDossie Samba de Roda Do Recôncavo - IPHANJoão Almy100% (1)
- Art 2006 Waddey Samba Roda ViolaDocumento56 páginasArt 2006 Waddey Samba Roda Violaapi-380900850% (2)
- Etnomusicologia Universos Da Musica Praticas MusicaisDocumento631 páginasEtnomusicologia Universos Da Musica Praticas Musicaismarcojao100% (1)
- Mario Antônio SoldatelliDocumento6 páginasMario Antônio SoldatelliMichele WilbertAinda não há avaliações
- Check List ExtintorDocumento1 páginaCheck List ExtintorKamilo MachadoAinda não há avaliações
- Caca Palavras Sobre RenascimentoDocumento4 páginasCaca Palavras Sobre Renascimentorobinhojuarez50% (6)
- Revista Arquitetura & Aço 51Documento52 páginasRevista Arquitetura & Aço 51anon_142139765Ainda não há avaliações
- Tabloide Volta As Aulas CompressedDocumento8 páginasTabloide Volta As Aulas CompressedEthienyAinda não há avaliações
- Plano de Trabalho Mariana Ramos LucaDocumento14 páginasPlano de Trabalho Mariana Ramos LucaMariana LucaAinda não há avaliações
- PLANO DE AULA Semana 2 - Muryel DefinitivoDocumento31 páginasPLANO DE AULA Semana 2 - Muryel DefinitivoMuryel OliveiraAinda não há avaliações
- Catalogo Completo Sherwin-WilliansDocumento36 páginasCatalogo Completo Sherwin-Willianskakacissa233% (3)
- Roteiro para Elaboração de Especificações TécnicasDocumento3 páginasRoteiro para Elaboração de Especificações Técnicasflavio tabosaAinda não há avaliações
- DisciplinasOptativas HA1Documento22 páginasDisciplinasOptativas HA1Luan LopezAinda não há avaliações
- 9 Ano BJDocumento3 páginas9 Ano BJMorgana MorganaAinda não há avaliações
- Simulado 6 AnoDocumento4 páginasSimulado 6 AnoGabriele MartinsAinda não há avaliações
- Superkilen PraçaDocumento10 páginasSuperkilen PraçaNohan BarbosaAinda não há avaliações
- Conheça 10 Objetos Que Atraem Energias Ruins para Sua CasaDocumento11 páginasConheça 10 Objetos Que Atraem Energias Ruins para Sua CasaLucinha MadeiraAinda não há avaliações
- Tech Office Manual Do Proprietário Final REVDocumento155 páginasTech Office Manual Do Proprietário Final REVQiana AndersonAinda não há avaliações
- Memorial Descritivo Plaza RealDocumento23 páginasMemorial Descritivo Plaza RealJamille AlvarengaAinda não há avaliações
- Desdobramentos Da Semana 22 e A AntropofagiaDocumento19 páginasDesdobramentos Da Semana 22 e A AntropofagiaElaine SantosAinda não há avaliações
- Apontamentos para Uma Historiografia Da Performance No Brasil PDFDocumento16 páginasApontamentos para Uma Historiografia Da Performance No Brasil PDFlucianolukeAinda não há avaliações
- Johann Mortiz Rugendas No México (1831-1834) - Um Pintor Nas Pegadas de Alexander Von Humboldt (Johann Mortiz Rugendas, (Aut.) Renate Löschner Etc.)Documento136 páginasJohann Mortiz Rugendas No México (1831-1834) - Um Pintor Nas Pegadas de Alexander Von Humboldt (Johann Mortiz Rugendas, (Aut.) Renate Löschner Etc.)arqmareggAinda não há avaliações
- Boca de Ouro PDFDocumento17 páginasBoca de Ouro PDFmia.edsAinda não há avaliações
- Apostila de Aula - Photoshop Cs2Documento120 páginasApostila de Aula - Photoshop Cs2Rodrigo S. de QuadrosAinda não há avaliações
- Carlo CarraDocumento4 páginasCarlo CarraBarbaraAlencarPachecoAinda não há avaliações
- Como Fazer Render YeyyyyDocumento3 páginasComo Fazer Render YeyyyyMeiibo ArtAinda não há avaliações
- Espaço e Objeto - Interlocuções Entre As Artes Cênicas e Visuais No Ensino de Artes Visuais - Zildo André Vieira FloresDocumento63 páginasEspaço e Objeto - Interlocuções Entre As Artes Cênicas e Visuais No Ensino de Artes Visuais - Zildo André Vieira FloreschilaulejossefajoaoAinda não há avaliações
- 03) 00 - Secba - 19 - Fsa - Cieac - MD - Arq - R01Documento10 páginas03) 00 - Secba - 19 - Fsa - Cieac - MD - Arq - R01Daniele De Souza Sodre SilvaAinda não há avaliações
- French Revolution by SlidesgoDocumento9 páginasFrench Revolution by SlidesgoangelAinda não há avaliações