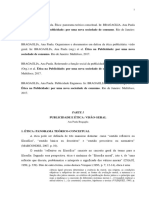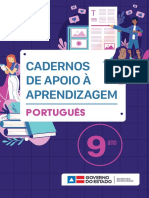Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cuidado
Cuidado
Enviado por
Darlene CastroDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cuidado
Cuidado
Enviado por
Darlene CastroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rev Esc Enferm USP
2004; 38(1):21-7.
A redescoberta da
tica do cuidado:
o foco e a nfase
nas relaes
21
THE REDISCOVERING OF THE ETHICS OF CARE: FOCUS AND EMPHASIS IN THE RELATIONSHIP
EL REDESCUBRIMIENTO DE LA TICA DEL CUIDADO: EL FOCO Y EL NFASIS EN LAS RELACIONES
Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli
1
RESUMO
Este artigo tem por objetivo
resgatar os sentidos, os
aspectos histricos e as
distintas estruturas
explicativas da tica do
cuidado, a fim de contribuir
para o debate acerca do
cuidar como bem interno e
razo de ser da enfermagem.
Tambm introduz o
contraponto da tica de cunho
feminino e da abordagem
feminista da tica, explorando
as possveis motivaes para
o lugar perifrico que tem
cabido tica do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Biotica.
tica.
tica de enfermagem.
Histria.
ABSTRACT
The author presents a
discussion of the meanings, the
historical aspects and the
different explanatory
frameworks for the ethics of
care. The main purpose is to
contribute to the debate
concerning the core role of
care in nursing and nursing
ethics. It also addresses the
opposition between feminine
and feminist ethics as an
explanation for the secondary
role of the ethics of care.
KEYWORDS
Bioethics.
Ethics.
Ethics, nursing.
History.
RESUMEN
Este trabajo objetiva rescatar
los sentidos, los aspectos
histricos y las distintas
estructuras explicativas de la
tica del cuidado, con miras a
contribuir en el debate acerca
del cuidar como el bien interno
y la razn de ser de la
enfermera. Tambin plantea
la contraposicin de las ticas
femeninas y las feministas, en
la bsqueda de las posibles
razones para el rol secundario
de la tica del cuidado.
PALABRAS CLAVE
Bioetica.
tica.
tica de enfermera.
Historia.
A redescoberta da tica do cuidado:
o foco e a nfase nas relaes
1 Professora
Assistente do
Departamento de
Enfermagem em
Sade Coletiva de
Escola de Enfermagem
da USP, Mestre em
Biotica, Mestre em
Sade Pblica,
Secretria da
Sociedade Brasileira
de Biotica e da
Sociedade de Biotica
de So Paulo.
Membro da diretoria
da Associao
Internacional de
Biotica.
elma@usp.br
Recebido: 18/12/2002
Aprovado: 16/10/2003
Rev Esc Enferm USP
2004; 38(1): 21-7.
22
Elma Lourdes C.P. Zoboli
INTRODUO
Ao longo dos tempos, a enfermagem
tem compreendido e sustentado o cuida-
do como seu bem interno. Parece oportu-
no, ento, propor no presente artigo um
resgat e dos di versos sent i dos, da
historicidade e das caractersticas da ti-
ca do cuidado, com vistas a contribuir para
o debat e que se t rava acerca das
especificidades do cuidar.
Aps a edio do livro Uma voz dife-
rente: psicologia da diferena entre homens
e mulheres da infncia idade adulta de
Carol Gilligan, em 1982, abordando a pers-
pectiva do cuidado no desenvolvimento
moral das mulheres, emerge uma tica do
cuidado, questionando as concepes ti-
cas vigentes com vistas a valorizar no ape-
nas os atos, as motivaes e o carter dos
envolvidos, mas se as relaes positivas so
ou no favorecidas
(1)
.
comum, desde ento, trabalhos contras-
tando a viso com base nos princpios ou
direitos individuais, que fica conhecida como
tica da justia e a tica do cuidado:
A noo de cuidado, entretanto, remonta
a pocas anteriores, com obras literrias da
Antiga Roma e fontes mitolgicas e filosfi-
cas que conformam suas razes. Usualmente,
a literatura sobre a tica do cuidado presta
pouca ateno a esta histria anterior dca-
da de 80, porm conhecer este horizonte mais
amplo de significados pode iluminar e desafi-
ar este emergente paradigma da tica e da
biotica.
ASPECTOS HISTRICOS
A filologia da palavra cuidado aponta
sua derivao do latim cura (cura), que cons-
titui um sinnimo erudito de cuidado. Na for-
ma mais antiga do latim, a palavra cura escre-
ve-se coera e usada, num contexto de rela-
es de amor e amizade, para expressar uma
atitude de cuidado, de desvelo, de preocupa-
o e de inquietao pela pessoa amada ou
por um objeto de estimao. Estudos
filolgicos indicam outra origem para a pala-
vra cuidado, derivando-a de cogitare-
cogitatus, que significa cogitar, pensar, colo-
car ateno, mostrar interesse, revelar uma
atitude de desvelo e de preocupao. Como
se pode notar, a natureza da palavra cuida-
do inclui duas significaes bsicas, intima-
mente ligadas entre si: a primeira uma atitude
de desvelo, de solicitude e de ateno para
com o outro e a segunda uma preocupao e
inquietao advindas do envolvimento e da
ligao afetiva com o outro por parte da pes-
soa que cuida. Assim, parece que a filologia
da palavra cuidado indica que cuidar mais
que um ato singular; modo de ser, a forma
como a pessoa se estrutura e se realiza no
mundo com os outros. um modo de ser no
mundo que funda as relaes que se estabe-
lecem com as coisas e as pessoas
(1-2)
.
Estas noes de cuidado como preocu-
pao e solicitude e o entendimento de que o
cuidar essencial para o ser humano confor-
ma elementos centrais na fbula-mito greco-
latina, que ganha expresso literria definiti-
va na Roma do final da era pr-crist. Mais do
que qualquer outra fonte, esta alegoria en-
contrada em uma coletnea mitolgica do se-
gundo sculo da era crist tem influenciado a
idia de cuidado na literatura, filosofia, psico-
logia e tica, atravs dos sculos.
Segundo a verso livre para o portugus
do texto latino que apresentada em Boff
(2)
,
conta esta fbula-mito:
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado
viu um pedao de barro. Logo teve uma
idia inspirada. Tomou um pouco do barro e
comeou a dar-lhe forma. Enquanto con-
templava o que havia feito, apareceu Jpiter.
Cuidado pediu-lhe que soprasse esprito
nele. O que Jpiter fez de bom grado.
Quando, porm, Cuidado quis dar um nome
criatura que havia moldado, Jpiter o
tica do cuidado tica da justia
Abordagem contextual
Conexo humana
Relacionamentos comunitrios
mbito privado
Refora o papel das emoes(sentimentos)
relativa ao gnero feminino
(female/feminine/feminist)
Abordagem abstrata
Separao humana
Direitos individuais
mbito pblico
Refora o papel da razo
relativa ao gnero masculino
(male/masculine/masculinist)
Rev Esc Enferm USP
2004; 38(1):21-7.
A redescoberta da
tica do cuidado:
o foco e a nfase
nas relaes
23
proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu
nome.
Enquanto Jpiter e o Cuidado discutiam,
surgiu, de repente, a Terra. Quis tambm
ela conferir o seu nome criatura, pois
fora feita de barro, material do corpo da
Terra. Originou-se ento uma discusso
generalizada.
De comum acordo pediram a Saturno que
funcionasse como rbitro. Este tomou a
seguinte deciso que pareceu justa:
Voc, Jpiter, deu-lhe o esprito, recebe-
r, pois, de volta este esprito por ocasio
da morte da criatura.
Voc, Terra, deu-lhe o corpo; receber,
portanto, tambm de volta o seu corpo
quando essa criatura morrer.
Mas como voc, Cuidado, foi quem, por
primeiro, moldou a criatura, ficar sob
seus cuidados enquanto viver.
E uma vez que entre vocs h acalorada
discusso acerca do nome, decido eu:
esta criatura ser chamada Homem
(a)
, isto
, feita de Hmus, que significa terra frtil.
(grifo do autor)
O mito do cuidado carrega um entendimen-
to de como cuidar central para o ser humano
e sua vida. Apresenta uma imagem alegrica
da humanidade na qual a caracterstica mais
notvel de sua origem, vivncia e finalidade
o cuidado. Prov, assim, uma genealogia do
cuidar, iluminando o repensar do seu valor e
de seu sentido para a vida. Oferece uma ima-
gem diferente da sociedade, com diferentes
implicaes para a tica em geral, para a biotica
em particular e, especialmente, para a interface
destas com a enfermagem.
Sren Kierkegaard, ainda que de forma
incipiente, o primeiro filsofo a fazer uso da
noo de cuidado ou preocupao. Introduz
as noes de preocupao, interesse e cui-
dado para contrapor o que considera a ex-
cessiva objetividade da filosofia e da teolo-
gia formuladas no comeo do sculo XIX.
Para recobrar o sentido e o significado da
existncia humana individual que, segundo
o filsofo, as categorias universais e abstra-
tas da filosofia moderna obliteram, chama a
ateno para a ausncia da preocupao ou
do cuidado no tipo de reflexo filosfica que
esses sistemas utilizam
(1)
.
Distingue a reflexo desinteressada e a
conscincia. A primeira simplesmente um
processo de classificar coisas em comparao
com outras, no tem nenhuma preocupao
ou interesse com quem conhece ou com o que
acontece com a pessoa como resultado deste
conhecimento adquirido. A conscincia est
inerentemente preocupada com quem conhe-
ce e com os conflitos que podem surgir a partir
do que conhecido na reflexo, trazendo os
elementos objetivos desta para um real relaci-
onamento com o sujeito do conhecimento atra-
vs do cuidado e da preocupao. Uma rela-
o pessoal com a verdade a base da teoria
do conhecimento de Kierkegaard
(1)
.
Este filsofo tambm recorre noo de
preocupao para expressar a natureza do ser
humano e suas escolhas morais. O indivduo
d forma ou direo a sua vida e expressa o
que lhe prprio exercitando sua livre escolha
e compromisso. Para responder a pergunta
fundamental da tica sobre como se deve vi-
ver, o raciocnio objetivo desempenha papel
importante, mas um argumento tico somen-
te vlido na medida em que explicita uma
busca preocupada e individual pelo signifi-
cado. Assim, a tica comea com o indivduo,
que, sendo obrigado a agir, toma sobre si o
interesse e a preocupao decorrentes da res-
ponsabilidade com ele prprio. Sem o cuida-
do ou a preocupao, a ao no seria poss-
vel, pois estes elementos constituem o mpe-
to para a ao moral resoluta do indivduo
capaz de refletir e agir com propsito
(1)
.
Na filosofia de Martin Heidegger, um dos
mais originais e influentes filsofos do s-
culo XX, o cuidado no apenas um con-
ceito entre os demais, mas seu eixo central,
o que o faz ser considerado como o filsofo
do cuidado por excelncia. O desenvolvi-
mento de sua noo de cuidado deriva do
tradicional mito de origem greco-latina do
cuidado, cuja narrativa citada literalmente
para justificar seu pensamento basilar de que
o ser humano leva a marca do cuidado. Os
ensinamentos de Kierkegaard acerca da pre-
ocupao e do cuidado tambm exercem uma
forte influncia conceitual no pensamento
heideggeriano, mas h uma diferena essen-
cial. Enquanto o primeiro v o cuidado de
maneira individualizada, subjetiva e psico-
lgica, o ltimo o assume em um nvel abs-
trato e ontolgico para descrever a estrutu-
ra bsica do ser humano
(1-2)
.
O cuidado tem, para Heidegger, o duplo
sentido de angstia e solicitude, que repre-
sentam duas possibilidades fundamentais e
conflitantes. O cuidado angstia (sorge)
retrata a luta de cada um pela sobrevivncia e
Rev Esc Enferm USP
2004; 38(1): 21-7.
24
Elma Lourdes C.P. Zoboli
por galgar uma posio favorvel entre os
demais seres humanos. O cuidado solicitu-
de (frgsorge) significa voltar-se para, aca-
lentar, interessar-se pela Terra e pela humani-
dade. No mundo cotidiano inevitvel esta
divergente ambigidade do cuidado. Aceit-
la como prpria do ser humano favorece o
entendimento de que o cuidado como angs-
tia impulsiona a luta pela subsistncia, en-
quanto compreend-lo como solicitude per-
mite revelar as plenas potencialidades de cada
ser humano
(1)
.
Rollo May, um dos pioneiros da escola da
psicologia humanstica, numa tentativa de tor-
nar Heidegger mais acessvel para a rea da
sade, delineia as implicaes psicolgicas e
ticas de seus ensinamentos. Em seu livro Love
and Will, escrito em 1969, argumenta que os
seres humanos experimentam um mal estar
geral e uma despersonalizao que resultam
em cinismo e apatia. O cuidado, entendido
como um estado no qual algo tem importncia,
conforma o antdoto para a apatia, constituin-
do seu contrrio, porque a identificao de
algum com a dor ou a felicidade do outro.
Argumenta que o cuidado deve ser a raiz da
tica, visto que a boa vida vem do que tem
importncia, do que merece cuidado. A tica
tem sua base psicolgica na capacidade do
ser humano transcender a situao concreta
do desejo orientado a si prprio para viver e
tomar decises voltadas ao bem estar das pes-
soas e dos grupos, dos quais a sua prpria
satisfao depende intimamente
(1)
.
Erick Erikson, tambm influenciado, em
parte, pela filosofia heideggeriana elabora uma
abrangente justificativa de base psicolgica
para o cuidado. A partir de casos e histrias
de vida, prope uma teoria humanstica do
desenvolvimento psicolgico na qual o cuida-
do tem papel central. Defende que o ciclo da
vida humana tem oito estgios, cada um carac-
terizado por uma crise desenvolvente ou um
ponto decisivo, um momento crtico. Da reso-
luo desta crise emerge uma fora psicolgi-
ca especfica, uma virtude
(1)
.
Na stima fase, a da maioridade, a crise
desenvolvente leva ao confrontamento da
capacidade gerativa e da absoro em si pr-
prio e a estagnao. A capacidade gerativa
configura a preocupao em estabelecer e
guiar a prxima gerao, propiciando procri-
ao, produtividade e criatividade, j a es-
tagnao manifesta-se na regresso para uma
necessidade obsessiva de intimidade. A vir-
tude ou a fora bsica que emerge desta cri-
se o cuidado. Desta maneira, o cuidado
adulto abarca a tarefa gerativa de cultivar a
prxima gerao, de preocupar-se concreta-
mente com o que gerado por amor, neces-
sidade ou acidente
(1)
.
Para este autor, a tica do cuidado envol-
ve a batalha entre a disponibilidade e a
indisponibilidade para incluir as pessoas ou
os grupos na capacidade gerativa. No primei-
ro caso, manifesta-se uma fora de simpatia
que a virtude do cuidado e no segundo uma
inclinao de antipatia, uma tendncia rejei-
o. Pelo fato do cuidado ser seletivo, sem-
pre inevitvel algum tipo de rejeio. A tica,
o direito e o discernimento devem definir a
extenso permissvel desta rejeio inerente a
qualquer grupo. Com o propsito de reduzi-la,
a religio e as ideologias devem continuar a
defender a universalizao do cuidado
(1)
.
Em 1971, o filsofo norte americano Ml-
ton Mayeroff prope em seu livro, On Caring,
uma explanao detalhada das experincias de
cuidar e ser cuidado. Apesar de partir dos prin-
cipais temas discutidos sob a gide da noo
de cuidado ao longo da histria, imprime-lhe
uma viso personalista. Cuidar do outro
ajud-lo a crescer numa relao mtua, no
importando se o outro uma pessoa, uma idia,
um ideal, uma obra de arte ou uma comunida-
de. Cuidar basicamente um processo e no
uma srie de servios orientados consecu-
o de determinados objetivos. O cuidado fa-
vorece a devoo, a confiana, a pacincia, a
humildade, a honestidade, o conhecimento do
outro, a esperana e a coragem
(1)
.
Assim, os valores morais so vistos como
inerentes ao processo de cuidar e crescer.
As responsabilidades e as obrigaes rela-
cionadas ao cuidado surgem graas aos re-
cursos internos prprios do carter e aos
compromissos derivados das relaes e no
devido s regras externas. Quando algum
alvo de cuidado, cresce de forma a tornar-se
mais autodeterminado e a escolher seus va-
lores e ideais com base em sua prpria expe-
rincia, ao invs de simplesmente conform-
los aos predominantes
(1)
.
Alguns outros paradigmas ticos contri-
buem com discernimentos teis no desenvol-
vimento de uma noo da tica do cuidado.
A tica da simpatia, desenvolvida por diver-
sos filsofos do fim do sculo XVII e comeo
Rev Esc Enferm USP
2004; 38(1):21-7.
A redescoberta da
tica do cuidado:
o foco e a nfase
nas relaes
25
do XVIII, como Joseph Butler, David Hume,
Adam Smith, Artur Schopenhauer e Max
Scheler, representa um deles. Vindo da pala-
vra grega sympatheia, simpatia quer dizer
sentir com, refere-se a um sentimento de
preocupao pelo bem estar do outro. Al-
guns dos autores que contribuem para a con-
formao de uma idia de cuidado incluem a
simpatia, a empatia ou a compaixo como ele-
mentos do cuidado
(1)
.
Outro exemplo concerne s teorias relati-
vas ateno, considerao ou ao respeito
que tm sido um dos significados de cuidado
e permanece como um dos seus elementos at
hoje. Cuidar de algum prestar-lhe ateno
solcita e ter uma disposio de afetividade.
Simone Weil, filsofa francesa que viveu de
1909 a 1943, afirmava que a ateno um es-
foro que consiste em suspender o prprio
pensamento, deixando-o neutro, vazio e pron-
to para receber o outro, como ele , em toda
sua verdade. Para a resoluo de um problema
de ordem filosfica, incluindo os ticos, re-
quer-se contemplao cuidadosa, determina-
da, incansvel que o compreenda em toda sua
insolubilidade. Desta postura, decorrem a ilu-
minao e a soluo do problema, pois se re-
conhecem deveres antes no percebidos
(1)
.
A TICA DO CUIDADO
NA ABORDAGEM DE
CAROL GILLIGAN
Em sua obra considerada como um marco
indelvel da noo contempornea de cui-
dado, Carol Gilligan contrasta a orientao
moral primria de meninos e homens com a
de meninas e mulheres, assinalando que h
tendncias de empregar estratgias diferen-
tes de raciocnio e de aplicar temas e concei-
tos morais distintos na formulao e resolu-
o de problemas ticos. Em seu livro so
mencionados trs estudos
(a)
que refletem a
hiptese central da autora:
o modo como as pessoas falam de suas
vidas significativo; a linguagem que uti-
lizam e as conexes que fazem revelam o
mundo que elas vem e no qual atuam
(3)
.
Seu objetivo ampliar a compreenso do de-
senvolvimento humano, integrando na elabo-
rao de sua teoria o grupo usualmente exclu-
do, com vistas a chamar a ateno para o que
falta nos enfoques correntes.
A autora busca registrar os diferentes mo-
dos de pensar sobre os relacionamentos e sua
associao com as vozes masculinas e femini-
nas nos dados das pesquisas, nos textos psi-
colgicos e literrios. A disparidade entre as
experincias dos homens e das mulheres, ge-
ralmente, denotada como um problema de
desenvolvimento moral destas. Contrapondo
isto, a autora defende que o fato das mulheres
no se ajustarem aos modelos existentes pode
apontar para problemas de representao, de
limites da concepo da condio humana ou
de omisso de certos aspectos e verdades
sobre a vida. Salienta, no entanto, que estas
diferenas tm mais a ver com temas do que
propriamente com o gnero:
A voz diferente que eu defino caracteri-
za-se no pelo gnero, mas pelo tema.
Sua associao com as mulheres uma
observao emprica, e , sobretudo, atra-
vs das vozes das mulheres que eu tra-
o o seu desenvolvimento. Mas essa as-
sociao no absoluta, e os contrastes
entre as vozes masculinas e femininas
so apresentados aqui para aclarar uma
distino entre dois modos de pensar e
focalizar um problema de interpretao
mais do que representar uma generaliza-
o sobre ambos os sexos. Ao traar o
desenvolvimento, indico uma interao
dessas vozes dentro de cada sexo e su-
giro que a sua convergncia assinala po-
cas de crise e mudana
(3)
.
O imperativo moral para as mulheres confi-
gura-se na obrigao de cuidar, j para os ho-
mens, aparece como o dever de respeitar as
pessoas protegendo-as de qualquer interfe-
rncia em sua autonomia ou nos direitos vida
e auto-realizao. A esta perspectiva que
define os problemas ticos com base em valo-
res hierrquicos e nas disputas impes-soais
de direitos Gilligan chama tica da justia,
contrapondo-a tica do cuidado,
prevalente na viso feminina. A integrao das
dimenses dos direitos e da responsabilidade,
devido a sua complementaridade, proporcio-
na para as mulheres o entendimento da lgica
psicolgica dos relacionamentos, moderando
o potencial destrutivo de uma tica autocrtica
decorrente da compreenso de que todas as
pessoas necessitam de cuidados e, para os
homens, corrige a indiferena potencial de uma
tica de no-interferncia, chamando a aten-
o para as conseqncias das escolhas
(3-5)
.
Gilligan no cogita sobre as origens das
diferenas constatadas e tampouco sua vari-
ao histrica, entretanto reconhece que sur-
gem em um contexto social no qual fatores
(a)
Os trs estudos men-
cionados integram um
projeto de pesquisa
sobre julgamento
moral do qual a autora
participa. O primeiro
envolve 25 estudantes
universitrios acompa-
nhados a partir do 2
ano da faculdade at
5 anos aps a gradua-
o e investiga o
desenvolvimento de
identidade moral nos
primeiros anos da vida
adulta, relacionando a
viso do eu e o pensa-
mento sobre
moralidade com expe-
rincias de conflito
moral e a tomada de
deciso na vida. A
segunda pesquisa
envolve decises
sobre aborto de 29
mulheres entre 15 e 33
anos de idade, de
diferentes etnias,
classes sociais, esta-
do civil e nmero de
filhos e considera o
nexo entre experincia
e pensamento e o
papel do conflito no
desenvolvimento. O
ltimo estudo abrange
uma amostra de 144
homens e mulheres
igualados por faixa
etria, inteligncia,
escolaridade, ocupa-
o e classe social em
nove momentos do
curso de vida e versa
sobre concepes do
eu e moralidade,
experincias e esco-
lhas em situaes de
conflitos ticos e
julgamento em dilemas
morais hipotticos.
Rev Esc Enferm USP
2004; 38(1): 21-7.
26
Elma Lourdes C.P. Zoboli
como poder e posio social se combinam
com a biologia reprodutiva para modelar a
experincia de homens e mulheres e as rela-
es entre ambos, como pode ser notado pelo
seu entendimento de voz:
Quando as pessoas perguntam-me o sig-
nificado de voz e eu penso mais refletida-
mente sobre a questo, digo que por voz
eu entendo algo semelhante ao que as
pessoas expressam quando falam do ma-
go de si mesmas. Voz natural e, tam-
bm, cultural. composta de respirao,
som, palavras, ritmo e linguagem. Voz
um poderoso instrumento psicolgico e um
canal que conecta os mundos interno e
externo. Falar e ouvir so uma forma de
respirao psquica. Esta troca relacional
contnua entre as pessoas mediada atra-
vs da linguagem, cultura, diversidade e
pluralidade. Por estas razes, voz uma
nova chave para a compreenso da or-
dem psicolgica, social e cultural, um tes-
te para os relacionamentos e uma medida
da sade psicolgica
(6)
.
Constituem elementos chave para a com-
preenso da tica do cuidado na viso de Carol
Gilligan
(3)
: a conscincia da conexo entre as
pessoas ensejando o reconhecimento da res-
ponsabilidade de uns pelos outros; o enten-
dimento de moralidade como conseqncia
da considerao deste relacionamento; a con-
vico de que a comunicao o modo de
solucionar conflitos.
A centralidade da soluo no-violenta
de conflitos e da noo de cuidado leva a que
se veja as pessoas envolvidas em um confli-
to tico no como adversrios numa pendn-
cia de direitos, mas partcipes interdepen-
dentes de uma rede de relacionamentos cuja
continuidade resulta essencial para a manu-
teno da vida de todos. Assim, a soluo do
estado conflituoso consiste em ativar esta
rede de relaes pela comunicao coopera-
tiva e no competitiva, visando a incluso de
todos mediante o fortalecimento em vez do
rompimento das conexes. Os conflitos ti-
cos so problemas que envolvem as relaes
humanas e ao traar uma tica do cuidado a
autora explora os fundamentos psicolgicos
dos relacionamentos no violentos. A violn-
cia destrutiva para todos e somente o cuida-
do torna possvel robustecer o eu e os outros.
O julgamento moral no pode ter por base re-
gras, mas deve ser nutrido por uma vida vivida
de forma suficientemente intensa para criar sim-
patia por tudo que humano
(3,6)
.
A TICA DO CUIDADO NA
ABORDAGEM DE NEL NODDINGS
Partindo das idias de Gilligan e Mayeroff,
Nel Noddings, em seu livro Caring: a feminine
approach to ethics and moral education edi-
tado em 1984, defende que os seres humanos
querem cuidar e ser cuidados e que, portanto,
h um cuidado natural acessvel a toda hu-
manidade. Certos sentimentos, atitudes e me-
mrias so universais, embora a resultante do
raciocnio tico que os toma por base pode
no ser universalizvel
(7)
.
A capacidade de agir eticamente enten-
dida pela autora como uma virtude ativa
que requer dois sentimentos: o primeiro o
sentimento natural de cuidado e o segundo
ocorre em resposta lembrana do primeiro,
pois cada pessoa traz consigo uma memria
dos momentos nos quais cuidou ou foi cui-
dada podendo acess-la e, caso assim o de-
seje, por ela guiar sua conduta. H momen-
tos em que cuidar apresenta-se como algo
completamente natural, no impondo confli-
tos ticos, porque o querer e o dever
coincidem. A questo gira em torno
exigibilidade do cuidado. Na opinio de
Noddings
(7)
, certamente, no pode haver uma
exigncia acerca do impulso natural que bro-
ta como um sentimento, uma voz interna que
diz eu devo fazer algo em resposta s ne-
cessidades do outro. A autora defende que,
a menos que haja alguma patologia, este im-
pulso surge naturalmente, mesmo que de for-
ma ocasional. No se pode exigir que algum
tenha este impulso, mas os que nunca o ma-
nifestam so, geralmente, repudiados.
Mas, como lembra a autora, no se deve
descartar a hiptese de que ao sentir o impul-
so natural inicial a pessoa o rejeite, passando
do eu devo fazer algo para algo deve ser
feito, excluindo-se, desta forma, do rol de
possveis agentes atravs dos quais a ao
poderia ser realizada. Cuidar requer que a
pessoa responda ao impulso inicial com um
ato de compromisso, o que configura o se-
gundo sentimento, genuinamente tico e que
brota da avaliao dos relacionamentos de
cuidado como algo bom, melhor do que qual-
quer outra forma de relao. A pessoa que
cuida reconhece que sua resposta pode forta-
lecer ou diminuir seu ideal tico, pode afet-la
como algum que cuida. Assim, a fonte de
obrigao para o segundo sentimento reside
no valor atribudo s relaes de cuidado como
resultante do cuidar e do ser cuidado real e da
Rev Esc Enferm USP
2004; 38(1):21-7.
A redescoberta da
tica do cuidado:
o foco e a nfase
nas relaes
27
reflexo sobre o quanto estas situaes con-
cretas de cuidado so boas. Tudo depende,
em ltima instncia, da vontade e da deciso
individual de ser bom e de permanecer num
relacionamento de cuidado com os outros
(7)
.
A TICA DO CUIDADO:
FEMININA OU FEMINISTA?
Os esforos para caracterizar uma tica
do cuidado chamando a ateno para as dife-
renas de raciocnio tico entre homens e
mulheres ocorrem em meio a importantes
avanos da tica feminista. Cabe, entretanto,
distinguir a tica do cuidado, especialmente
as descritas por Carol Gilligan e Nel Noddings,
que tm sido chamadas de tica feminina
ou tica do feminino e a tica feminista.
O interesse primrio das ticas femininas est
em descrever as experincias morais e as in-
tuies das mulheres, apontando como as
abordagens ticas tradicionais tm negligen-
ciado a incluso desta perspectiva. Por outro
lado, as ticas feministas tm como propsi-
to principal repudiar e por fim opresso so-
frida pelas mulheres e outros grupos histori-
camente oprimidos, estando, portanto, muito
mais preocupadas do que as primeiras em
provocar transformaes poltico-sociais
(4)
.
Um temor que as ticas femininas aca-
bem por minar, ainda que sem inteno, o femi-
nismo, pois as qualidades que atribuem aos
homens e s mulheres foram construdas no
contexto de uma cultura sexista. Enfatizar o
cuidado como virtude feminina pode servir
para manter as mulheres no lado mais vulner-
vel da relao de gneros. Apesar destas dife-
renas e temores assinalados, as duas abor-
dagens da tica so congruentes em muitos
aspectos. O estudo detalhado da vida e do
raciocnio tico das mulheres feito pelas ticas
femininas pode contribuir, substancialmente,
para desmantelar hbitos de pensamento e
prticas favorecedores da opresso ao gnero
feminino. Ambas compartilham do objetivo de
incluir a voz e a perspectivas das mulheres
nos vrios campos dos estudos acadmicos.
CONSIDERAES FINAIS
Parece claro que no desenvolvimento da
noo de cuidado tm concorrido, ao longo da
histria, vrias abordagens, como a mitolgica,
a religiosa, a filosfica, a psicolgica e a teolgi-
ca, que acabam por influir orientaes ticas e
comportamentos morais. Disto decorrem distin-
tas estruturas explicativas para a tica do cuida-
do, incluindo sua compreenso como tica
evolucionria, tica da virtude, tica do desen-
volvimento, tica da responsabilidade e tica
do dever. Os aspectos histricos revelam que
no h uma idia nica de cuidado, mas um
conjunto de noes de cuidado que se unem
por alguns sentimentos bsicos, por algumas
narrativas formativas, cuja influncia perdura
atravs dos tempos e por diversos temas recor-
rentes. A questo chave, no entanto, est nas
motivaes do descaso noo de cuidado e
sua incipiente influncia na tica. provvel
que a resposta a esta questo esteja no fato do
cuidado apresentar-se como uma cativante emo-
o ou idia que tem confrontado e desafiado
os sistemas de pensamento racionalistas, abs-
tratos, impessoais e detentores de abrangente
ascendncia social, tica, poltica e religiosa,
apoiando sua viso da condio humana na
capacidade das pessoas importarem-se com os
outros, com as coisas, com a comunidade, com
uma trajetria de vida ou consigo prprias. Nes-
te sentido, a tica do cuidado tem desempenha-
do um papel de contra cultura.
REFERNCIAS
(1) Reich WT. History of the notion of care. In:
Reich WT, editor. Bioethics encyclopedia. 2
nd
ed. [CD ROM]. New York: Mac Millan
Library; 1995.
(2)Boff L. Saber cuidar: tica do humano, compai-
xo pela terra. Petrpolis: Vozes; 1999.
(3)Gilligan C. Uma voz diferente: psicologia da
diferena entre homens e mulheres da infncia
idade adulta. Rio de Janeiro: Rosa dos Tem-
pos; 1982.
(4) Reich WT, organizer. Contemporary ethics of
care. In: Reich WT, editor. Bioethics
encyclopedia. 2
nd
ed. [CD ROM]. New York:
Mac Millan Library; 1995.
(5) Beauchamp TL, Childress JF. Principios de
tica biomdica. 4ed. Barcelona: Masson;
1999.
(6) Gilligan C. In a different voice: psychological
theory and womens development.
Massachusetts: Harvard University Press;
1993.
(7) Noddings N. Caring: a feminine approach to
ethics and moral education. Berkeley:
University of California Press; 1984.
Você também pode gostar
- Memorex CNU Bloco 02 Amostra 01Documento22 páginasMemorex CNU Bloco 02 Amostra 01sueadmAinda não há avaliações
- 1 Compromisso Ético PotDocumento24 páginas1 Compromisso Ético PotRosa Maria SalomaoAinda não há avaliações
- Reprodução assistida e bioética metaparentalidadeNo EverandReprodução assistida e bioética metaparentalidadeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- UFCD - 4259 - Intervenção Sociocultural e Representação Social Da Diferença - ÍndiceDocumento3 páginasUFCD - 4259 - Intervenção Sociocultural e Representação Social Da Diferença - ÍndiceManuais Formação100% (1)
- Fundamentos Eticos e Morais Na Pratica de Enfermagem PDFDocumento5 páginasFundamentos Eticos e Morais Na Pratica de Enfermagem PDFHyan CostaAinda não há avaliações
- 03 - Novas Pers - Ectivas CuidaDocumento19 páginas03 - Novas Pers - Ectivas Cuidaneidefolly1935Ainda não há avaliações
- Ética e MoralDocumento7 páginasÉtica e MoralAcsa SoaresAinda não há avaliações
- Moral Craft 2021Documento9 páginasMoral Craft 2021Gabriela CantisaniAinda não há avaliações
- Recurso Prévio 2 A - Moral - e - A - Etica - Nilo - AgostiniDocumento4 páginasRecurso Prévio 2 A - Moral - e - A - Etica - Nilo - AgostiniMarcello ZanluchiAinda não há avaliações
- A14v14n1 pdf05 05 2017 PDFDocumento5 páginasA14v14n1 pdf05 05 2017 PDFBruno FeitosaAinda não há avaliações
- PrincipialismoDocumento134 páginasPrincipialismoAntônio Neto MachadoAinda não há avaliações
- Aula Historico e UnescoDocumento56 páginasAula Historico e Unescobarbara.vieiraAinda não há avaliações
- Vol 4 Ética e BioéticaDocumento83 páginasVol 4 Ética e BioéticaFabricio CamargoAinda não há avaliações
- Bioética - História e Saúde PúblicaDocumento37 páginasBioética - História e Saúde PúblicaNara Rocha SilvaAinda não há avaliações
- Introdução À Ética e BioéticaDocumento38 páginasIntrodução À Ética e BioéticaFernando OliveiraAinda não há avaliações
- ÉticaDocumento81 páginasÉticaAndressaCAinda não há avaliações
- Ética, Prazer e ReligiãoDocumento26 páginasÉtica, Prazer e ReligiãoOcir AndreataAinda não há avaliações
- Bioética - História e Saúde PúblicaDocumento37 páginasBioética - História e Saúde Públicakamilla GarciaAinda não há avaliações
- Texto - Base - TIL - II - 2008 Tradução e Interpretação PDFDocumento41 páginasTexto - Base - TIL - II - 2008 Tradução e Interpretação PDFPedro MagalhaesAinda não há avaliações
- Bioética - História e Saúde PúblicaDocumento35 páginasBioética - História e Saúde PúblicaFernanda MarquesAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade e Finitude: A Ética No Cuidado Do OutroDocumento24 páginasVulnerabilidade e Finitude: A Ética No Cuidado Do OutrofvbotomeAinda não há avaliações
- Virtue Ethics in Pursuit of ExcellenceDocumento10 páginasVirtue Ethics in Pursuit of ExcellenceIsabel BáezAinda não há avaliações
- Aula-Introducao BioeticaDocumento24 páginasAula-Introducao BioeticaSMS Icapui ArquivosAinda não há avaliações
- Aula Introducao BioeticaDocumento24 páginasAula Introducao BioeticaProfe João GuidottiAinda não há avaliações
- 2508-Texto Do Artigo-3851-1-10-20120426Documento7 páginas2508-Texto Do Artigo-3851-1-10-20120426WIRES BARBOSAAinda não há avaliações
- Ética - Como Principio Da Pratica PedagogicaDocumento5 páginasÉtica - Como Principio Da Pratica Pedagogicazlma225100% (2)
- Textos de Apoio Completo 1Documento66 páginasTextos de Apoio Completo 1José MalondeAinda não há avaliações
- Bioética - História e Saúde PúblicaDocumento36 páginasBioética - História e Saúde Públicaluis felipe seroaAinda não há avaliações
- A Pesquisa e Os Dilemas Éticos Do Trabalho Da EnfermagemDocumento4 páginasA Pesquisa e Os Dilemas Éticos Do Trabalho Da EnfermagemDaniele C R BobrowecAinda não há avaliações
- Aula 1 Introducao Bioetica BiotecnologiaDocumento30 páginasAula 1 Introducao Bioetica BiotecnologiaKaique MeloAinda não há avaliações
- Manual de Etica GeralDocumento133 páginasManual de Etica GeralEpson Dos SantosAinda não há avaliações
- Correntes Da Ética AmbientalDocumento122 páginasCorrentes Da Ética Ambientalmarcelopelizzoli100% (3)
- Apostila de Ética Aplicada Aos Profissionais de EnfermagemDocumento25 páginasApostila de Ética Aplicada Aos Profissionais de EnfermagemBianca MartinsAinda não há avaliações
- 1066 1639 1 PBDocumento16 páginas1066 1639 1 PBMalena RufinoAinda não há avaliações
- 4 Aula 4Documento8 páginas4 Aula 4Evilane SallesAinda não há avaliações
- A Ética Da DiversidadeDocumento14 páginasA Ética Da Diversidadelaura.limarocha1Ainda não há avaliações
- Nocoes de BioeticaDocumento12 páginasNocoes de BioeticaErica QuaresmaAinda não há avaliações
- Etica ProfissionalDocumento65 páginasEtica ProfissionalDouglas MatosAinda não há avaliações
- ÉticaDocumento262 páginasÉticaPedro PauloAinda não há avaliações
- DocumentosDocumento8 páginasDocumentosJony FilhoAinda não há avaliações
- 11 Filosofia Clinica PDFDocumento9 páginas11 Filosofia Clinica PDFDiogo KurodaAinda não há avaliações
- Fazer EticoDocumento10 páginasFazer Eticojuampo75Ainda não há avaliações
- ÉticaDocumento10 páginasÉticaAny SouzaAinda não há avaliações
- Boemer, M. - Enfermagem em Sua Dimensão Bioética PDFDocumento6 páginasBoemer, M. - Enfermagem em Sua Dimensão Bioética PDFAlessandra TostaAinda não há avaliações
- Etica No Cuidado PDFDocumento7 páginasEtica No Cuidado PDFMilena BrunelliAinda não há avaliações
- Bioetica 7Documento17 páginasBioetica 7Eusébio AndradeAinda não há avaliações
- 02 Etica Profissional PDFDocumento65 páginas02 Etica Profissional PDFfernando santana da silvaAinda não há avaliações
- Teorias Eticas BioéticaDocumento6 páginasTeorias Eticas BioéticaGabriela CantisaniAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade I BioeticaDocumento78 páginasSlides de Aula - Unidade I Bioeticaflavia passosAinda não há avaliações
- Manual de Etica GeralDocumento130 páginasManual de Etica GeralGeopolo50% (2)
- A Evolução Da Sexualidade Masculina Através Do Tratamento Da Ejaculação Precoce Sob A Luz Da Terapia Cognitivo-ComportamentalDocumento10 páginasA Evolução Da Sexualidade Masculina Através Do Tratamento Da Ejaculação Precoce Sob A Luz Da Terapia Cognitivo-ComportamentalLeonardo Alvez SouzaAinda não há avaliações
- Apostila BioéticaDocumento57 páginasApostila BioéticaAngela MegerAinda não há avaliações
- Etica Na EnfermagemDocumento5 páginasEtica Na EnfermagemLeylany MonteAinda não há avaliações
- Bioetica Historia de Nuremberg A Belmont - Agostinho LopesDocumento12 páginasBioetica Historia de Nuremberg A Belmont - Agostinho LopesGeanilton FerreiraAinda não há avaliações
- Livro Bragaglia 2017 - Capítulos Organismos, Ética, Função Social, Pub EnganosaDocumento85 páginasLivro Bragaglia 2017 - Capítulos Organismos, Ética, Função Social, Pub EnganosaLaura WottrichAinda não há avaliações
- Artigo MottaDocumento33 páginasArtigo MottaEraldo LimaAinda não há avaliações
- Ética Das Virtudes - em Busca Da ExcelênciaDocumento10 páginasÉtica Das Virtudes - em Busca Da Excelênciaitamarbneres7955Ainda não há avaliações
- Atividade SistemáticaDocumento6 páginasAtividade SistemáticaDaniele GutierrezAinda não há avaliações
- A importância da psicanálise para o resgate dos valores humanosNo EverandA importância da psicanálise para o resgate dos valores humanosAinda não há avaliações
- A dignidade do embrião humano: Diálogo entre teologia e bioéticaNo EverandA dignidade do embrião humano: Diálogo entre teologia e bioéticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Enfermeiro Pref. GurinhémPBDocumento15 páginasEnfermeiro Pref. GurinhémPBSAMUEL ARAUJOAinda não há avaliações
- Projeto de TCC - Bruna TomaziDocumento12 páginasProjeto de TCC - Bruna TomaziLarissa CeroniAinda não há avaliações
- 33140-Texto Do Artigo-111385-1-10-20190823Documento21 páginas33140-Texto Do Artigo-111385-1-10-20190823Vinícius AmaranteAinda não há avaliações
- Tese - Lindamir Salete CasagrandeDocumento258 páginasTese - Lindamir Salete CasagrandeEdinei ReisAinda não há avaliações
- Estereotipos Genero Valeria PandjiarjianDocumento17 páginasEstereotipos Genero Valeria PandjiarjianClara LealAinda não há avaliações
- Auto EstimaDocumento31 páginasAuto Estimatatiyix865Ainda não há avaliações
- Lingua Portuguesa - 6oano - MC - 14082020Documento9 páginasLingua Portuguesa - 6oano - MC - 14082020camsinhaAinda não há avaliações
- Identidade de GeneroDocumento241 páginasIdentidade de GeneroRennan RibeiroAinda não há avaliações
- Cinema Paraibano e GêneroDocumento279 páginasCinema Paraibano e GêneroLucas MurariAinda não há avaliações
- Pós-Pornô Dissidência Sexual e A Situación Cuir Latino-Americana PDFDocumento19 páginasPós-Pornô Dissidência Sexual e A Situación Cuir Latino-Americana PDFCarlos CostaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Artigo Relações de Gênero em Catálogos de BrinquedosDocumento6 páginasFichamento Do Artigo Relações de Gênero em Catálogos de BrinquedosMylene Freitas De OliveiraAinda não há avaliações
- Coletânea Entre Versos e Flores Edição 1 (1) (1) 2024 Editora FênixartDocumento177 páginasColetânea Entre Versos e Flores Edição 1 (1) (1) 2024 Editora FênixartAlessandra BertazzoAinda não há avaliações
- Alexsandra Dantas Oliveira AndradeDocumento160 páginasAlexsandra Dantas Oliveira Andradefelinto rocoAinda não há avaliações
- Por Uma Agroecologia AntirracistaDocumento6 páginasPor Uma Agroecologia AntirracistaGabrielle Freitas ChavesAinda não há avaliações
- 23 Nov AulaDocumento26 páginas23 Nov Aulapriscila serafimAinda não há avaliações
- 1141 146 PBDocumento60 páginas1141 146 PBthiagoabraaoAinda não há avaliações
- Caderno Do 9º Ano I UnidadeDocumento35 páginasCaderno Do 9º Ano I UnidadeCarla LopesAinda não há avaliações
- Descomplicando As Identidades LGBTQIA+Documento84 páginasDescomplicando As Identidades LGBTQIA+cleberculturaAinda não há avaliações
- A Criança Participante Do Concurso de Beleza PDFDocumento15 páginasA Criança Participante Do Concurso de Beleza PDFStéfanie PaesAinda não há avaliações
- Esteriótipos Masculinos e Femininos e Suas Influências Nas Práticas CorporaisDocumento4 páginasEsteriótipos Masculinos e Femininos e Suas Influências Nas Práticas CorporaisAlice MelloAinda não há avaliações
- Terra Roxa e Outras Terras - Volume 18 - Representações Da HomossexualidadeDocumento117 páginasTerra Roxa e Outras Terras - Volume 18 - Representações Da HomossexualidadeAnselmo AlosAinda não há avaliações
- Merging Result MergedDocumento17 páginasMerging Result MergedMarco AurélioAinda não há avaliações
- A Contribuição Da Historia em Quadrinhos Na LeituraDocumento8 páginasA Contribuição Da Historia em Quadrinhos Na Leituraro_thi2930Ainda não há avaliações
- Edicao Completa 2Documento271 páginasEdicao Completa 2Laura Dela SáviaAinda não há avaliações
- Anais - Gênero Performance e Utopia - Artigo PDFDocumento242 páginasAnais - Gênero Performance e Utopia - Artigo PDFMárcia MaracajáAinda não há avaliações
- Sexualidade Gay em Igreja InclusivaDocumento302 páginasSexualidade Gay em Igreja InclusivaMoisés Costa50% (2)
- Uma Leitura Crítico-Reflexiva, Pela Perspectiva de Gênero, Dos Contos "A Cela Um" e "Réplica", Da Escritora Nigeriana Chimamanda Ngozi AdichieDocumento11 páginasUma Leitura Crítico-Reflexiva, Pela Perspectiva de Gênero, Dos Contos "A Cela Um" e "Réplica", Da Escritora Nigeriana Chimamanda Ngozi AdichieanacachinhoAinda não há avaliações
- Fenomenologia Do Corpo No EnvelhecimentoDocumento13 páginasFenomenologia Do Corpo No EnvelhecimentoSimone WayampiAinda não há avaliações