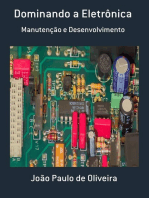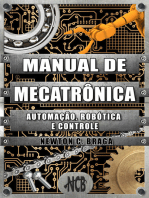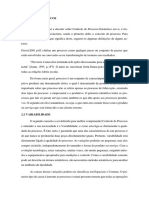Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Corrosao PDF
Corrosao PDF
Enviado por
Vasco Jardim0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações80 páginasTítulo original
corrosao....pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações80 páginasCorrosao PDF
Corrosao PDF
Enviado por
Vasco JardimDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 80
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA
EDUARDO AMLIO DE FARIAS ARRUDA / 02021001201
ESTUDO COMPARATIVO DO PROCESSO CORROSIVO DO AO PATINVEL E
DO AO CARBONO COMUM
BELM
2009
2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA
EDUARDO AMLIO DE FARIAS ARRUDA 02021001201
ESTUDO COMPARATIVO DO PROCESSO CORROSIVO DO AO PATINVEL E
DO AO CARBONO COMUM
Trabalho de Concluso de Curso apresentado
ao Colegiado do Curso de Engenharia Mecnica
do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal
do Par. Para obteno do grau de Engenheiro
Mecnico.
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Magalhes Braga
BELM
2009
3
EDUARDO AMLIO DE FARIAS ARRUDA / 02021001201
ESTUDO COMPARATIVO DO PROCESSO CORROSIVO DO AO PATINVEL E
DO
AO CARBONO COMUM
Trabalho de Concluso de Curso
apresentado para obteno do grau de
Engenheiro Mecnico pela Universidade
Federal do Par. Submetido banca
examinadora constituda por:
______________________________________
Prof. Dr. Eng. Eduardo de Magalhes Braga
UFPA Orientador, Presidente
Prof. Dr. Eng. Jos Carlos Cardoso Filho
UFPA
Prof. M. Sc. Hlio Antnio Lameira de
Al meida. CEFET/PA
J ulgado em ____ de _____________de 2009
Conceito:____________________________
BELM
2009
4
RESUMO
O presente trabalho trata do estudo comparativo entre o ao carbono comum e o ao
patinvel em relao resistncia a corroso. Foram estudados vrios tipos de
processos corrosivos em diferentes meios. Pelo estudo verificou-se que o ao
patinvel apresenta maior resistncia a corroso do que o ao carbono comum em
diferentes ambientes, a formao da ferrugem nos dois materiais algo bem distinto
j que a ferrugem no ao patinvel se comporta como uma barreira dificultando que
o material se desgaste com o tempo, diferente do ao carbono comum que vai se
desgastando lentamente ao passar do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Ao patinvel, ao carbono, corroso, resistncia.
5
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Mecanismo eletroqumico de corroso .. .................................................. 15
Figura 2 Comportamento corrosivo processo metalrgico. .................................... 20
Figura 3 Corroso uniforme em uma chapa metlica. ............................................ 22
Figura 4 Trecho de uma chapa com corroso em placas ...................................... 22
Figura 5 Corroso por pite nas proximidades do cordo de solda ......................... 23
Figura 6 Tubo de ao inoxidvel AISI 304 co corroso por pite ............................. 23
Figura 7 Corroso filiforme em superfcie com pelicula de tinta ............................. 24
Figura 8 Esfoliao em liga de alumnio ................................................................. 25
Figura 9 Corroso graftica em tubo de ferro fundido cinzento............................... 26
Figura 10 Parte interna da vlvula de lato apresentando corroso por
dezincificao ........................................................................................................... 27
Figura 11 Placa com empolamento por hidrognio ................................................ 28
Figura 12 Corroso em tubulao em rea prxima solda .................................. 29
Figura 13 Corroso em componentes tubulares nas proximidades de solda ......... 29
Figura 14 Corroso intergranular ou intercristalina ................................................ 30
Figura 15 Corroso galvnica em ao inoxidvel AISI 304 .................................... 31
Figura 16 Corroso por frestas em rosca ............................................................... 33
Figura 17 Corroso transcristalina ......................................................................... 33
Figura 18 Corroso alveolar ................................................................................... 34
Figura 19 Produo de produtos de corroso formados durante a exposio em
atmosfera industrial ................................................................................................... 76
6
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Valores prticos de potenciais de vrios materiais.. ................................ 16
Tabela 2 Propriedades mecnicas, caractersticas especiais e empregos de alguns
aos ASTM de alta resistncia e baixo teor em liga. ................................................. 41
Tabela 3 Teor de cobre entre ao comum e ao patinvel. .................................. 47
Tabela 4 Composio qumica de alguns aos patinveis comercializados no Brasil
.................................................................................................................................. 50
Tabela 5 Taxa de corroso instantnea do ao carbono e do ao patinvel em trs
ambientes diferentes ................................................................................................. 66
Tabela 6 Produtos de corroso formados durante a exposio corroso
atmosfrica ................................................................................................................ 73
7
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1 Efeitos de pequenas adies de cobre na taxa de corroso do ao
carbono, exposto durante 15,5 anos em atmosfera marinha, industrial .. ................. 52
Grfico 2 Efeito da adio de fsforo na taxa de corroso de aos ligados ao
cobre. ........................................................................................................................ 53
Grfico 3 Efeito da adio do nquel na resistncia corroso dos aos liogados
ao cobre. ................................................................................................................... 55
Grfico 4 Efeito da adio de 1% de nquel na resistncia corroso dos aos
ligados ao cobre sem e com adio de fsforo e cromo ........................................... 56
Grfico 5 Efeito da adio de cromo e/ou fsforo na taxa de corroso de aos
ligados ao cobre ........................................................................................................ 58
Grfico 6 Efeito da adio do mangans na taxa de corroso de um ao co 0,3%
de cobre com baixo teor de fsforo ........................................................................... 59
Grfico 7 Efeito da adio do silcio aos aos ligados ao cobre com ou sem a
adio de fsforo e cromo ......................................................................................... 61
Grfico 8 Mdia aritmtica anual (2001) de [So
2
] atmosfrico na cidade de So
Paulo ......................................................................................................................... 64
Grfico 9 Mdia aritmtica anual (2001) de [So
2
] atmosfrico no interior do estado
de So Paulo ............................................................................................................. 64
Grfico 10 Corroso de um ao patinvel e de um ao comum ............................. 65
Grfico 11 Perda de espessura do ao carbono e do ao patinvel em funo do
tempo de exposio em ambiente rural .................................................................... 67
Grfico 12 Perda de espessura do ao carbono e do ao patinvel em funo do
tempo de exposio em ambiente urbano ................................................................ 68
Grfico 13 Perda de espessura do ao carbono e do ao patinvel em funo do
tempo de exposio em ambiente industrial ............................................................. 69
Grfico 14 Perda de espessura do ao carbono e do ao patinvel em funo do
tempo de exposio em ambiente marinho ............................................................... 70
8
SUMRIO
1 INTRODUO ....................................................................................................... 10
1.1 Consideraes iniciais ...................................................................................... 10
1.2 Objetivo do estudo ............................................................................................ 11
2 REVISO BIBLIOGRFICA .................................................................................. 12
2.1 Variveis do processo corrosivo ..................................................................... 12
2.2 Mecanismos bsicos de corroso ................................................................... 13
2.3 Meios corrosivos ............................................................................................... 17
2.4 Definies de corroso ..................................................................................... 20
2.5 Formas de corroso .......................................................................................... 20
2.5.1 Corroso uniforme ............................................................................................ 22
2.5.2 Corroso por placas ......................................................................................... 22
2.5.3 Corroso puntiforme ......................................................................................... 23
2.5.4 Corroso filifome .............................................................................................. 24
2.5.5 Corroso por esfoliao ................................................................................... 25
2.5.6 Corroso graftica ............................................................................................. 26
2.5.7 Corroso por dezincificao ............................................................................. 27
2.5.8 Corroso por empolamento pelo hidrognio .................................................... 28
2.5.9 Corroso em torno do cordo de solda ............................................................ 29
2.5.10 Corroso intercristalina ................................................................................... 30
2.5.11 Corroso galvnica......................................................................................... 31
2.5.12 Corroso em frestas ....................................................................................... 32
2.5.13 Corroso transcristalina .................................................................................. 33
2.5.14 Corroso alveolar ........................................................................................... 34
2.6 CORROSO SOB TENSO ............................................................................... 34
2.6.1 Mecanismo de propagao da corroso sob tenso ........................................ 35
2.6.2 Fratura intergranular ......................................................................................... 35
2.6.3 Fratura intragranular ......................................................................................... 35
2.6.4 Sistema: Material metlico Meio corrosivo na corroso sob tenso .............. 36
3 AOS ESTRUTURAIS........................................................................................... 37
3.1 Introduo .......................................................................................................... 37
3.2 Classificao ..................................................................................................... 38
3.3 Aos carbono .................................................................................................... 38
3.4 Aos de baixa liga ............................................................................................. 38
3.5 Fatores que afetam as propriedades macnicas do ao ............................... 42
9
3.5.1 Influncia da composio qumica ................................................................... 42
3.5.2 Histrico termomecnico .................................................................................. 46
4 AOS PATINVEIS .............................................................................................. 47
4.1 Marcas comerciais e especificaes ............................................................... 49
4.2 Efeito dos elementos de liga sob o ponto de vista de resistncia a corroso
.................................................................................................................................. 51
5 FATORES PARA FORMAO DA PTINA ......................................................... 61
6 MECANISMO ......................................................................................................... 71
6.1 Mecanismo macrospico da corroso atmosfrica dos aos patinveis .... 74
7 PINTURA DOS AOS PATINVEIS ..................................................................... 75
8 CONSIDERAES FINAIS ................................................................................... 78
REFERNCIAS ......................................................................................................... 79
10
1 INTRODUO
1.1 Consideraes iniciais
Pela importncia dos compostos metlicos no nosso dia-a-dia, a corroso
um processo de degradao que deve ser analisado com todo o cuidado necessrio
por envolver custos diretos e indiretos, assim como por expor vidas ao perigo
(GENTIL, 2007).
Como custos diretos tm-se: os custos de substituio das peas ou
equipamentos que sofreram corroso, incluindo-se energia e mo-de-obra; os custos
e a manuteno dos processos de proteo (proteo catdica, recobrimentos,
pinturas, etc.) (GENTIL, 2007).
Com o avano tecnolgico mundialmente alcanado, os custos da corroso
evidentemente se elevam, tornando-se um fator de grande importncia a ser
considerado j na fase de projeto de grandes instalaes industriais para evitar
futuros processos corrosivos. No Brasil em 2005 o estimado teria sido 22.12 bilhes
de dlares o custo da corroso (GENTIL, 2007).
J como custos indiretos tm-se: paralisaes acidentais para a limpeza de
(peas e/ou equipamentos com grandes prejuzos materiais, de vidas humanas e
principalmente ao meio ambiente) trocadores de calor ou caldeiras assim como a
parada para a substituio de um tubo corrodo que faria com que toda uma
produo parasse para tal servio; perda de produtos tais como leo, solues, gs
ou gua atravs de tubulaes corrodas e por fim o superdimensionamento de
projetos devido ao medo de deixar expostos sistemas de longo comprimento aos
malefcios da corroso, como no caso de longas redes de tubulaes que para no
perderem a sua eficincia de distribuio de fluidos so projetadas com dimetros
superiores (GENTIL, 2007).
Deve-se salientar tambm que alm dos custos que a corroso ocasiona, esta
envolve tambm questes de segurana, interrupo de comunicaes, preservao
de monumentos histricos e poluio ambiental como sendo os fatores de maior
importncia para que se evite a sua ocorrncia (GENTIL, 2007).
11
1.2 Objetivo do estudo
Devido ao processo de degradao proveniente da corroso a escolha do
material que ser aplicado na estrutura um fator de muita importncia. Os aos
patinveis se apresentam como uma opo dentre os aos devido sua alta
resistncia principalmente no que diz respeito corroso em diferentes ambientes,
comparado com os aos carbono comuns, devido a sua superioridade pode-se
projetar estruturas com menor peso e maior durabilidade.
Neste sentido o objetivo do trabalho foi o de comparar dois tipos de ao
comumente utilizados na indstria (ao carbono comum e o ao patinvel), em
relao corroso em diversos meios.
12
2 REVISO BIBLIOGRFICA
2.1 Variveis do processo corrosivo
No estudo dos processos corrosivos devem ser sempre consideradas as
variveis dependentes do material metlico, do meio corrosivo e das condies
operacionais, pois o estudo conjunto dessas variveis permitir indicar o material
mais adequado para ser utilizado em determinados equipamentos ou instalaes.
Dentre essas variveis devem ser consideradas:
Material Metlico composio qumica, presena de impurezas, processo
de obteno, tratamentos trmicos e mecnicos, estado da superfcie, forma,
unio de materiais (solda, rebites etc.), contato com outros materiais;
Meio Corrosivo composio qumica, concentrao impurezas, pH,
temperatura, teor de oxignio, presso, slidos suspensos;
Condies Operacionais solicitaes mecnicas, movimento relativo entre
materiais metlicos e meio, condies de imerso no meio (total ou parcial),
meios de proteo contra a corroso, operao contnua ou intermitente
(GENTIL,2007).
recomendvel, no estudo de processos corrosivos, que sejam seguidas as
etapas:
Verificar a compatibilidade entre o meio corrosivo e o material, consultando
tabelas que apresentam taxas de corroso;
Verificar condies operacionais;
Verificar relatrios de inspeo de equipamentos que so de fundamental
importncia, tendo em vista que, atravs deles, os problemas de corroso
so identificados nos equipamentos e instalaes que se acham em servio
para isto, a inspeo de equipamentos conta com uma srie de ferramentas
apropriadas, mtodos de trabalho e tcnicas especficas que constituem hoje
um novo ramo da engenharia especializada;
Estabelecer o mecanismo responsvel pelo processo corrosivo;
Proceder a avaliao econmica custos diretos e indiretos;
13
Indicar medidas de proteo esclarecidos o mecanismo e a avaliao
econmica, pode-se indicar a proteo no s eficiente, mas tambm de
adequada relao custo benefcio (GENTIL, 2007).
2.2 Mecanismos bsicos de corroso
De acordo com o meio corrosivo e o material, podem ser apresentados
diferentes mecanismos para os processos corrosivos:
Mecanismos Eletroqumicos:
Segundo Gentil (2007), pode-se considerar que ocorrem no mecanismo
eletroqumico reaes qumicas que envolvem transferncia de carga ou eltrons
atravs de uma interface ou eletrlito: So os casos de corroso observados em
materiais metlicos quando em presena de eletrlitos, podendo o eletrlito estar
solubilizado em gua ou fundido.
- corroso em gua ou em solues aquosas;
- corroso atmosfrica;
- corroso no solo;
- corroso em sais fundidos
Mecanismos Qumicos:
Segundo Gentil (2007), no mecanismo qumico, h reaes qumicas diretas
entre o material metlico, ou no metlico, e o meio corrosivo, no havendo gerao
de corrente eltrica, ao contrrio do mecanismo anterior.
- corroso de material metlico, em temperaturas elevadas, por gases ou
vapores e em ausncia de umidade, chamada de corroso seca;
- corroso em solventes orgnicos isento de gua;
- corroso de materiais no metlicos
Os dois mecanismos atendem conceituao apresentada para a corroso
no sentido de que ocorre uma ao qumica ou eletroqumica do meio ambiente
sobre o material metlico ou no- metlico.
14
a quase totalidade das ocorrncias de corroso envolve reaes
eletroqumicas CBCA (2008). A seguir, ser detalhado o mecanismo desse tipo
particular de reao.
Os fenmenos de corroso de metais envolvem uma grande variedade de
mecanismos que, no entanto, podem ser reunidos em quatro grupos, a saber:
Corroso em meios aquosos (90%);
Oxidao e corroso quente (8%);
Corroso em meios orgnicos (1,8%);
Corroso por metais lquidos (0,2%);
Entre os parnteses est indicada, de forma estimada, a incidncia de cada
um dos tipos de corroso. Nota-se que, de longe, a corroso em meios aquosos a
mais comum, e isto esperado, uma vez que, a maioria dos fenmenos de corroso
ocorre no meio ambiente, no qual a gua o principal solvente. A prpria corroso
atmosfrica, que a de maior incidncia, ocorre atravs da condensao da
umidade na superfcie do metal.
Atualmente, aceita-se que os dois primeiros grupos so caracterizados por
processos essencialmente eletroqumicos. J a natureza dos processos que ocorrem
nos dois ltimos grupos no podem ser precisada, uma vez que os seus
mecanismos ainda no foram devidamente estabelecidos.
Para caracterizao e melhor compreenso da localizao das reas andicas
e catdicas no processo de corroso ocasionada por correntes de fuga, o fenmeno
pode ser visto no modelo abaixo conforme figura 1.
15
Figura 1 Mecanismo eletroqumico de corroso
Fonte:http://cbca-ibs.org.br
dois eletrodos de materiais diferentes so imersos em um eletrlito e so
eletricamente ligados entre si. Nestas condies, as reaes sero:
No ctodo: O
2
+4e
-
+2H
2
O4OH
-
No nodo: 2Fe2Fe
++
+4e
-
Assim sendo, no nodo ocorre uma reao de oxidao (corroso do
material) e no ctodo, uma reao de reduo.
Para que a clula galvnica ocorra, necessrio que os materiais do anodo e
catodo sejam diferentes, ou melhor, apresentem potenciais de oxidao (tenso
gerada por cada em relao a um eletrodo neutro de referncia) diferentes. A tabela
abaixo d os valores prticos de potenciais de vrios metais, em solos e gua,
medidos em relao a um eletrodo de referencia. Quanto mais negativo o potencial,
mais andico ser a sua condio, ou seja, mais sujeito corroso GENTIL (2007).
16
Tabela 1 - Valores Prticos de Potenciais de Vrios Materiais
Fonte : htp//www.biomania.com.br
Segundo Gentil (2007) na prtica, a corroso acontece devido s diferenas
de materiais existentes como soldas, conexes ou simplesmente diferenas
superficiais no mesmo metal. O eletrlito pode ser gua contida no solo ou em
contato direto.
Algumas construes prticas podem agravar o problema da corroso.
Exemplo: Se uma tubulao subterrnea de cobre assentada junto a uma
de ao e se houver, de alguma forma, um contato eltrico entre ambas, haver a
formao de uma extensa clula galvnica que aumentar bastante a corroso no
ao.
Na regio onde a corrente eltrica abandona a estrutura ou entra no eletrlito,
tem-se rea andica e a reao para um metal M qualquer :
M M
n+
+ne
Material Pot (volts)
Magnsio comercialmente puro - 1,75
Liga de Mg (6% Al, 3% Zn, 0,15% Mn) - 1,60
Zinco - 1,10
Liga de alumnio (5% Zn) - 1,05
Alumnio comercialmente puro - 0,80
Ao estrutural (limpo e brilhante) - 0,50 / - 0,80
Ao estrutural (enferrujado) - 0,40 / - 0,55
Ferro fundido branco, chumbo - 0,50
Ao estrutural no concreto - 0,20
Cobre, lato, bronze - 0,20
17
2.3 Meios corrosivos
Atmosfera.
A ao corrosiva da atmosfera depende fundamentalmente dos fatores:
Umidade relativa;
Substncias poluentes (particulados e gases);
Tempo de permanncia do filme de eletrlito na superfcie metlica;
Temperatura;
Alem destes fatores devem ser considerados os fatores climticos, como:
intensidade e direo dos ventos, variaes climticas de temperatura e umidade,
chuvas e insolao (radiao ultravioletas).
Shreir, classifica a corroso atmosfrica, em funo do grau de umidade na
superfcie metlica, em seca, mida e molhada.
A corroso atmosfrica seca ocorre em atmosfera isenta de umidade, sem
qualquer presena de filme de eletrlito na superfcie metlica. Tem-se uma lenta
oxidao do metal com formao do produto de corroso, podendo o mecanismo ser
considerado puramente qumico.
A corroso atmosfrica mida ocorre em atmosferas com umidade relativa
menor que 100%. Tem-se um fino filme de eletrlito, depositado na superfcie
metlica, e a velocidade do processo corrosivo depende da umidade relativa,
poluentes atmosfricos e higroscopicidade dos produtos de corroso.
Na corroso atmosfrica molhada, a umidade relativa est perto de 100% e
ocorre condensao na superfcie metlica, observando-se que a superfcie fica
molhada com eletrlito (GENTIL, 2007).
Umidade relativa.
A influncia da umidade na ao corrosiva da atmosfera acentuada, pois
sabe-se que o ferro em atmosfera de baixa umidade relativa praticamente no sofre
corroso: em umidade relativa em torno de 60% o processo corrosivo lento, mais
acima de 70% ele acelerado. A umidade relativa pode ser expressa pela relao
entre o teor de vapor dgua encontrado no ar e o teor mximo que pode existir no
18
mesmo, nas condies consideradas, ou ento pela relao entre presso parcial de
vapor dgua no ar e a presso de vapor dgua saturado, na mesma temperatura;
ele expressa em porcentagem (GENTIL, 2007).
Substncias poluentes.
As partculas slidas, sob a forma de poeiras, existem na atmosfera e a
tornam mais corrosiva, porque pode-se verificar:
Deposio de material no-metlico como slica, SiO
2
, que, embora no
atacando diretamente o material metlico, cria condies de aerao diferencial,
ocorrendo corroso localizada embaixo do depsito (as partes sujeitas poeira so
as atacadas em peas estocadas sem nenhuma proteo);
Deposio de substncias que retm umidade, isto , so higroscpicas ou
deliqescentes,
acelerando o processo corrosivo, pois aumentam o tempo de permanncia da gua
na superfcie metlica.
Deposio de material metlico se o material metlico depositado for de
natureza qumica diferente daquele da superfcie em que estiver depositado, poder
ocorrer formao de pilhas de eletrodos metlicos diferentes, com a conseqente
corroso galvnica do material mais ativo;
Deposio de partculas slidas que, embora inertes para o material metlico,
pode reter sobre a superfcie metlica gases corrosivos existentes na atmosfera,
caso de partculas de carvo que, devido ao seu grande poder de adsoro, retiram
gases de atmosferas industriais, os quais, com a umidade, formam substncias
corrosivas (GENTIL 2007).
Alm dos gases constituintes da atmosfera, principalmente oxignio e
nitrognio, so freqentemente encontrados monxidos de carbono, CO; dixido de
carbono, CO
2
; oznio, O
3
; dixido de enxofre, SO
2
; trixido de enxofre, SO
3
;
monxido de nitrognio, NO; dixido de nitrognio, NO
2
; e, em reas mais
localizadas, gs sulfdrico, H
2
S; amnia, NH
3
; cloreto de hidrognio, H
2
F
2
; e
cloro,Cl
2
.
O gs carbnico, ou dixido de carbono, juntamente com o monxido de
carbono, so normalmente originados da queima de combustveis, como os
hidrocarbonetos (gasolina, leo) e carvo. Em temperaturas normalmente
19
encontradas em atmosferas ambientais, eles no costumam ser corrosivos para os
matrias metlicos, embora o gs carbnico forme com gua o cido carbnico,
H
2
CO
3
, que um cido fraco.
O dixido de enxofre, SO
2
, e trioxido de enxofre, SO
3
, so os mais freqentes
contituintes corrosivos de atmosferas industriais, em razo de as industrias usarem
leos combustveis contendo geralmente 3 a 4% de enxofre. Esses gases formam,
com a umidade presente no ar, respectivamente, cido sulfuroso e cido sulfrico.
Esses gases podem ser originados tambm da queima de gasolina, de gases
residuais de refinarias e de carvo contendo enxofre.
Os dixidos de nitrognio, NO e NO
2
, cuja a principal origem a exausto de
veculos automotivos, podem ainda resultar da combinao de nitrognio e oxignio
atmosfricos, por meio de descargas eltricas.
O gs sulfdrico, H
2
S, nas atmosferas prximas s refinarias de petrleo,
mangues e pntanos, o gs responsvel pelo escurecimento do cobre, ou de suas
ligas, pois h formao de sulfeto de cobre preto, CuS; aparecimento de colorao
amarela, em materiais com revestimento de cdmio, devido formao de sulfeto de
cdmio, CdS; decomposio de revestimentos com tintas base de zarco, oxido de
chumbo, Pb
3
O
4
, que ficam pretas devido formao de sulfetos de chumbo, PbS
(GENTIL, 2007).
O tempo de permanncia do filme de eletrlito na superfcie metlica, quanto
menor o tempo, menor a ao corrosiva da atmosfera.
A temperatura se for elevada, ir diminuir a possibilidade de condensao de
vapor dgua na superfcie metlica e a adsoro de gases, minimizando a
possibilidade de corroso;
Os ventos podem arrastar, para as superfcies metlicas agentes poluentes e
nevoa salina, aumentando a possibilidade de corroso.
O solo como meio corrosivo deve ser considerado de grande importncia,
levando-se em considerao as grandes extenses de estruturas enterradas como:
gasodutos, adutoras, tanques enterrados armazenando combustveis e etc.
A velocidade de corroso no solo no muito influenciada por pequenas
variaes na composio ou estrutura do material metlico, sendo mais influente a
natureza do solo. Essa natureza pode ser influenciada por diversas variveis como:
20
Presena de gua, presena de sais solveis, presena de gases, acidez, pH,
resistividade eltrica e etc (GENTIL, 2007).
2.4 Definies de corroso
A corroso pode ser definida de diversas formas, seja como a deteriorao
de um material por ao qumica ou eletroqumica do meio ambiente, aliada ou no
a tenses, ou ainda como sendo um processo natural resultante da inerente
tendncia dos metais se reverterem para sua forma mais estvel. A corroso um
processo espontneo, pois est constantemente transformando os materiais
metlicos, fazendo com que os mesmos voltem ao seu estado inicial decompostos,
ou mais exatamente, em xidos e sulfetos metlicos (GENTIL, 2007).
Podemos chegar a ponto de considerar a corroso como o inverso do
processo metalrgico que possibilitou a obteno do metal da natureza, j que a
extrao do metal a partir de seus minrios ou de outros compostos faz o caminho
inverso ao da corroso, que tende a oxidar o metal tornando-o bem parecido ao
momento de sua obteno sem tratamento da natureza (GENTIL 2007).
Figura.2 Comportamento corrosivo processo metalrgico.
Fonte: GENTIL, 2003
2.5 Formas de corroso
A corroso apresenta-se de diversas maneiras com caractersticas fsicas e
qumicas diferentes. A corroso pode ocorrer sob diferentes formas, e o
conhecimento das mesmas muito importante no estudo de um processo corrosivo.
A caracterizao da forma de corroso auxilia bastante no esclarecimento do
mecanismo e na aplicao das medidas adequadas de proteo, da serem
21
apresentadas a seguir as caractersticas fundamentais das diferentes formas de
corroso:
A corroso pode ocorrer das seguintes formas:
uniforme;
por placas;
alveolar;
puntiformes ou por pites;
intergranular (ou intercristalina);
intragranular (ou transgranular ou transcristalina);
filiforme;
por esfoliao;
graftica;
dezincificao;
empolamento pelo hidrognio;
em torno do cordo de solda;
corroso em frestas;
corroso sob tenso;
corroso galvnica;
22
2.5.1 Corroso uniforme
A corroso se processa em toda a extenso da superfcie, ocorrendo perda
uniforme de espessura. chamada, por alguns, de corroso generalizada conforme
figura 3.
Figura 3 - Corroso uniforme em uma chapa metlica.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 5 CD)
2.5.2 Corroso por placas
A corroso se localiza em regies da superfcie metlica e no em toda sua
extenso, formando placas com escavaes conforme figura 4.
Figura 4 - Trecho de chapa com corroso em placas.
Fonte: GENTIL (2003: 43)
23
2.5.3 Corroso puntiforme (por pite)
A corroso se processa em pontos ou em pequenas reas localizadas na
superfcie metlica produzindo pites, que so cavidades que apresentam o fundo em
forma angulosa e profundidade geralmente menor que o seu dimetro conforme
figuras 5 e 6.
Figura 6: Tubo de ao inoxidvel AISI 304 com corroso por pite.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 28)
Figura.5: Corroso por Pite nas Proximidades do Cordo de Solda.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 28)
24
2.5.4 Corroso filiforme
Ocorre em superfcies pintadas com um delgado filme de tinta orgnica de
aproximadamente 0,1 mm de espessura. Constituda de finos filamentos no
profundos e com direo variada. O interessante que os filamentos no se cruzam,
j que se acredita que o produto de corroso, em estado coloidal, apresente carga
positiva justificando a repulso. Na figura 7 pode ser vista a aparncia desse tipo de
corroso numa superfcie com uma pelcula de tinta orgnica. Notam-se filamentos
entre os riscos que aparecem com ferrugem.
Figura 7: Corroso filiforme em superfcie com pelcula de tinta.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 28)
25
2.5.5 Corroso Por Esfoliao
A corroso se processa de forma paralela superfcie metlica, ocorrendo,
assim, a desintegrao do material em forma de placas paralelas. Na figura 8
apresentada a corroso por esfoliao em uma liga de alumnio.
Figura 8: Esfoliao em liga de alumnio.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 28)
26
2.5.6 Corroso graftica
Neste tipo de corroso o ferro oxida-se e expe o carbono, que pode ser
determinado com um papel branco que fica manchado devido presena de grafite.
Na figura 9 apresentado um tubo de ferro fundido cinzento, que apresenta a grafite
sobre a superfcie no local mais escuro.
Figura 9: Corroso graftica em tubo de ferro fundido cinzento.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 28)
27
2.5.7 Corroso por dezincificao
Ocorre em ligas de Cu-Zn (lates). uma espcie de corroso seletiva, j que
ocorre o ataque preferencial de zinco e ferro respectivamente, produzindo, por sua
vez, o aparecimento de manchas avermelhadas devido exposio do cobre. Na
figura 10 apresentado esse tipo de corroso em um trecho de tubo de lato (70 %
de cobre e 30 % de zinco) com dezincificao: as reas mais escuras so as
dezincificadas.
Figura 10 : Parte interna da vlvula de lato
apresentando corroso por dezincificao.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 28)
28
2.5.8 Corroso por empolamento pelo hidrognio
Ocorre a invaso de hidrognio atmico no material metlico e como tem
pequeno volume atmico difundi-se rapidamente e, em regies com
descontinuidades, como incluses e vazios ele ir se combinar com outro tomo de
hidrognio produzindo hidrognio molecular H
2
, que por possuir maior volume, ir
causar o empolamento do material.
Na figura 11 pode ser vista uma placa metlica com bolhas, provocadas pelo
empolamento por hidrognio, onde, com a utilizao de uma rgua tem-se a real
dimenso deste tipo de corroso.
Figura 11: Placa com empolamento por hidrognio.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 15 CD)
29
2.5.9 Corroso em torno do cordo de solda
Aps a solda de algum material, tem-se a formao de corroso em torno da
solda e no propriamente sobre ela. Isto se deve ao fato do surgimento de regies
onde h eltrons que ficaram sob uma certa tenso devido solda. Ocorre a poucos
milmetros do local onde foi aplicada a solda e mais comum em aos inox no
estabilizados ou com teores de carbono inferiores a 0,03 %. O processo se d
intergranularmente. Nas figuras 12 e 13 so apresentados dois casos deste tipo de
corroso. Na primeira, a corroso em torno do cordo de solda em um tubo de
ao.
Figura 12: Corroso em tubulao
em rea prxima solda.
Fonte:GENTIL (2003: Captulo 28)
Figura 13: Corroso em componentes tubulares
nas proximidades de solda.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 28)
30
2.5.10 Corroso intercristalina
A corroso se processa entre os gros da rede cristalina do material metlico,
o qual perde suas propriedades mecnicas e pode fraturar quando solicitado por
esforos mecnicos, tendo-se ento a corroso sob tenso fraturante (CTF).
Na figura 14, abaixo, uma chapa de ao inoxidvel austentico, vista ao
microscpio apresenta corroso intercristalina ou intergranular.
Figura 14: Corroso intergranular ou intercristalina.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 5 CD)
31
2.5.11 Corroso galvnica
Quando dois materiais metlicos, com diferentes potenciais, esto em contato
em presena de um eletrlito, ocorre uma diferena de potencial e a conseqente
transferncia de eltrons. Tem-se ento o tipo de corroso chamado corroso
galvnica.
O combate dessa reao se obtm pelo uso de materiais isolantes como a
borracha, pela aplicao de camadas protetoras (tintas, plsticos, etc.). No caso dos
instrumentais cirrgicos, recomenda-se o uso de papel de grau cirrgico ou campo
de tecido de algodo cru duplo. Outro sistema de medidas consiste na remoo do
eletrlito, sobretudo quando de natureza incidental (gua de chuva ou de
condensao, acmulos de agentes corrosivos, como por exemplo, os bactericidas e
detergentes utilizados na esterilizao).
Na figura 15, tem-se o exemplo de corroso galvnica resultante da fixao
de partes de ao inoxidvel AISI 304 com fixadores de ao-carbono, que funcionam
como anodo neste sistema.
Figura 15: Corroso galvnica em ao inoxidvel AISI 304.
Fonte: GENTIL (2003: Captulo 9 CD)
32
2.5.12 Corroso em frestas
A corroso em frestas uma forma de corroso localizada usualmente
associada s condies de estagnao de eletrlitos em micro-ambientes. Estes
ambientes restritos, onde h impedimento ou dificuldade difuso de espcies
qumicas, podem ocorrer em parafusos, porcas e arruelas, materiais de isolao,
depsitos superficiais, pelculas de tinta descoladas, rebites, etc. A corroso por
frestas acontece devido s alteraes da qumica localizada dentro da fresta
exemplo figura 16.
Figura 16: Corroso por fresta em rosca
Fonte: GENTIL (2003: Pgina 42)
33
2.5.13 Corroso transcristalina
A corroso se processa nos gros da rede cristalina do material metlico, o
qual, perdendo suas propriedades mecnicas, podendo fraturar menor solicitao
mecnica conforme figura 17.
Figura 17: Corroso transcristalina
Fonte: GENTIL (2003: Pgina 42)
34
2.5.14 Corroso alveolar
A corroso se processa na superfcie metlica produzindo sulcos ou
escavaes semelhantes a alvolos apresentando fundo arredondado e
profundidade geralmente menor que seu dimetro conforme figura 18 abaixo.
Figura 18: Corroso alveolar
Fonte: GENTIL (2003: Pgina 42)
2.6 CORROSO SOB TENSO
A corroso sob tenso caracterizada pela a solicitao de esforos em um
material na presena de um meio corrosivo, sendo que, nestas condies de
trabalho, as solicitaes de esforos so menores em relao aos ensaios normais,
para que haja a fratura do material.
Uma caracterstica importante da corroso sob tenso que no se observa
praticamente perda de massa do material at sua fratura e o tempo de corroso do
material depende dos seguintes fatores:
Tenso
Concentrao ou natureza do meio corrosivo
35
Temperatura
Estrutura da composio do material.
2.6.1 Mecanismos de Propagao da Corroso Sob Tenso
So criados mecanismos para se estudar e observar melhor as trincas e as
fraturas decorrentes dos ensaios de tenso em meios corrosivos. GALVELE citado
por GENTIL (2003) desenvolveu um mecanismo para explicar a corroso sob tenso
fraturante, onde envolve a etapa de nucleao e propagao de trinca; a nucleao
da trinca caracteriza-se pela formao de pites e discordncias na camada protetora
do metal, isto , na superfcie do metal; enquanto que a propagao da trinca pode
ser intergranular e intragranular.
2.6.2 Fratura intergranular
A corroso ocorre geralmente nos contornos dos gros, devido ao acmulo de
discordncias e tomos de impurezas. A velocidade de penetrao em trincas
intergranular, sob a ao de tenses, maior em diversas reas de grandeza do que
a penetrao por ao puramente qumica.
2.6.3 Fratura intragranular
Apresenta como caracterstica o fato de, em presena de tenses, haver uma
modificao qualitativa do processo de corroso, isto , resulta no aparecimento de
fratura que envolve um mecanismo de corroso que no ocorre na ausncia de
tenses. Esta caracterstica observada em ligas. Metais puros so aparentemente
imunes e, na grande maioria dos casos, a estrutura cristalina dos materiais
suscetveis cbica de face centrada (c.f.c.), como lato, aos inoxidveis
austenticos e ligas de alumnio.
As variveis do processo de propagao das tenses dependem do agente
corrosivo ou do nvel de tenso aplicada no material, e de acordo com o tipo de
fratura, esta poder ser inter ou intragranular.
36
2.6.4 Sistema: Material Metlico - Meio Corrosivo na Corroso Sob Tenso
De acordo com GENTIL (2003) os sistemas mais comuns observados em
processos de corroso sob tenso so os listados a seguir:
a) Aos-carbono: A fratura , preponderantemente, intercristalina, em presena
de lcalis ou nitratos, produtos de destilao do carvo e amnia anidra. O
mecanismo de fratura inclui processos eletroqumicos, e a proteo catdica
muitas vezes indicada como recurso para evitar a fratura.
b) Aos de alta resistncia mecnica: So sujeitos a fraturas em uma variedade
de ambientes, principalmente aqueles contendo cloreto. Em determinadas
circunstancias, o ar mido suficiente para fraturar o metal. Fragilizao por
hidrognio provavelmente o mecanismo preponderante. Camadas
protetoras diversas tm sido usadas com bom resultado.
c) Ligas de cobre em presena de amnia: Solues amoniacais so os agentes
clssicos para a ruptura de ligas de cobre, principalmente lates. Outros
agentes so conhecidos, como citratos, fosfatos, nitritos, etc. A fratura em
geral intercristalina, porm freqentemente casos de trincas transcristalinas
foram observados.
d) Ligas de nquel: Solues concentradas de hidrxido de sdio ou de potssio
em temperaturas elevadas (~300C) e essses hidrxidos, NaOH ou de KOH
fundidos, atacam nquel ou suas ligas.
e) Ligas de alumnio: A corroso formada preferencialmente nos contornos dos
gros, a fratura se d de forma intercristalina, e devido forma de
precipitados formados durante o processo de endurecimento. Cuidados
especiais no tratamento trmico e escolha da estrutura cristalina adequada
diminuiria o risco da fratura.
f) Ligas de magnsio e titnio: Sofrem corroso sob tenso numa variedade de
meios corrosivos, preponderando os que contm cloretos, mas podendo
aparecer tambm apenas em ar mido. A corroso do tipo intercristalina.
g) Aos inoxidveis: Deve-se distinguir os aos ferrticos e martensticos dos
austenticos. Pois os austenticos apresentam fratura transgranular em meios
clordricos, enquanto nos primeiros a fratura intercristalina e em muitos
37
casos relacionada com os primitivos contornos de gro de austenitas, e outra
causa importante a fragilizao do hidrognio em ambos os aos.
3 AOS ESTRUTURAIS
3.1 Introduo
Entre os materiais de construo, como de conhecimento geral, o ao tem
uma posio de relevo: combina resistncia mecnica, trabalhabilidade,
disponibilidade e baixo custo. Assim sendo, fcil compreender a importncia e a
extenso da aplicao dos aos em todos os campos da engenharia, nas estruturas,
quer as fixas, como edifcios, pontes e etc., quer as mveis, na indstria ferroviria,
automobilstica, naval, aeronutica etc.
Para a maioria das aplicaes consideradas, a importncia da resistncia
macnica , de certo modo, relativamente pequena, do mesmo modo que o fator
peso no primordial. Assim sendo os aos carbono comuns, simplesmente
laminados, sem quais quer tratamentos trmicos, so plenamente satisfatrio e
constituem porcentagem considervel dentro do grupo de aos estruturais.
Em outras aplicaes, entretanto, exige-se uma relao resistncia/peso mais
satisfatria. o caso da indstria de transporte onde o equipamento rodovirio
utilizado - caminhes, nibus, avies, equipamentos ferrovirio, equipamento
rodovirio, navios, etc. devido s condies prprias do servio, deve caracterizar-
se por peso relativamente baixo e alta resistncia, por estar sujeito a esforos
severos e choques repentinos, alm de resistncia corroso adequada, visto que
nas seces mais leves, aperda de resistncia por ao corrosiva, poderia ser fatal.
Nestas aplicaes, os aos indicados so os de baixo teor em liga, conhecidos
tambm como de alta resistncia e baixo teor de liga (CHIAVERINI 2002).
38
3.2 Classificao
O ao um composto que consiste quase totalmente de ferro (98%), com
pequenas quantidades de carbono, silcio, enxofre, fsforo, mangans etc. O
carbono o material que exerce o maior efeito nas propriedades do ao. Suas
propriedades so bem definidas. Entre elas, podemos citar: a alta resistncia
mecnica (comparada com qualquer material disponvel) e a dutibilidade
(capacidade que o ao tem de se deformar antes da ruptura). Os aos utilizados em
estruturas so divididos em dois grupos: aos carbono e aos de baixa liga
(BELLEI 2000).
3.3 Ao carbono
Os aos-carbono so os tipos mais usuais, nos quais o aumento de
resistncia em relao ao ferro puro produzido pelo carbono e, em menor escala,
pela adio de mangans. Em estruturas usuais de ao, utilizam-se aos com um
teor de carbono equivalente mximo de 0,45%, para se permitir uma boa
soldabilidade. O aumento do teor de carbono eleva a resistncia e a dureza
(reduo da dutibilidade); porm, o ao resulta mais quebradio e sua soldabilidade
diminui consideravelmente. Entre os aos-carbono mais usados em estruturas,
podemos citar: o ASTM A36 e A570, e os ABNT NBR 7007, 6648, 6649, 6650, DIN
St37 (BELLEI 2000).
3.4 Aos de baixa liga
Os aos de baixa liga so os aos carbono acrescido de elementos de liga em
pequena quantidade, tais como: nibio, cobre, mangans, silcio, etc. Os elementos
de liga provocam um aumento de resistncia do ao, atravs da modificao da
microestrutura para gros finos. Graas a este fato, pode-se obter resistncia
elevada com um teor de carbono da ordem de 0,20%, permitindo, ainda assim, uma
39
boa soldabilidade. Entre estes, podemos citar como mais usuais: o ASTM A572,
A441, os ABNT NBR 7007, 5000, 5004; DIN St52 etc.
Segundo BELLEI (2000) Com uma pequena variao na composio qumica
e com adio de alguns componentes, tais como vandio, cromo, cobre, nquel,
alumnio, esses aos podem ter aumentada sua resistncia corroso atmosfrica
de duas a quatro vezes. So chamados aos de baixa liga e alta resistncia
mecnica e resistncia corroso atmosfrica, sendo conhecidos tambm como
aos patinveis. Entre eles podemos citar: o ASTM A588, os ABNT NBR 5920, 5921,
5008. As usinas nacionais produzem estes aos com os seguintes nomes
comerciais:
COR 420, produzido pela CSN
SAC, produzido pela Usiminas
COS-AR-COR, produzido pela Cosipa
Segundo CHIAVERINI (2002) a tendncia moderna no sentido de utilizar
estruturas cada vez maiores, tem levado os engenheiros, projetistas e construtores a
considerar o emprego de aos cada vez mais resistentes, para evitar o uso de
estruturas cada vez mais pesadas. Tais consideraes no se aplicam somente ao
caso de estruturas fixas, como edifcios ou pontes, mas igualmente e principalmente
em estruturas mveis, no setor de transportes, onde o maior interesse se concentra
na reduo do peso-morto da estrutura. Em resumo, tais aos so de grande
utilidade toda vez que se deseja:
1. Aumentar a resistncia mecnica, permitindo um acrscimo da carga
unitria da estrutura ou tornando possvel uma diminuio proporcional da
seo, ou seja, o emprego de sees mais leves;
2. Melhorar a resistncia a corroso atmosfrica. Este um fator importante
a considerar, porque a utilizao de sees mais finas pode significar vida
mais curta da estrutura, ano ser que a reduo da seo seja
acompanhada por um aumento correspondente da resistncia corroso
do material;
3. Melhora a resistncia ao choque e o limite de fadiga;
4. Eleva a relao do limite de escoamento para o limite de resistncia
trao, sem perda aprecivel da ductilidade
40
Os requisitos acima enumerados- maior resistncia mecnica, melhor
resistncia a corroso atmosfrica, mais elevada relao de resistncia trao
para limites de escoamento com adequadas trabalhabilidade e soldabilidade, so
obtidos nos chamados aos de alta resistncia e baixo teor em liga.
Alm do carbono, esses aos podem apresentar os seguintes elementos
de liga:
Si, at 0,90%
Mn, at 1,60%
Cu, at 1,25%
Cr, at 1,80%
Ni, at 5,25%
Mo, at 0,65%
Zr, at 0,12%
Al, at 0,20%
S, at 0,03%
Ti, at 0,05%
B, at 0,005%
Nb, at 0,10%
41
Tabela 2 Propriedades mecnicas, caractersticas especiais e empregos
de alguns aos ASTM de alta resistncia e baixo teor em liga
Fonte: Chiaverivi (1987: pag. 202)
Especi-
ficao
ASTM
Classe
ou
Tipo
Limite de
resistncia
trao
kgf/mm
2
Limite de
Escoamentok
gf/mm
2
Alongamen-
to em
50mm(%)
Caractersticos
Especiais
Empregos Usuais
A242 2 44, a 49,0 29,4 a 35,0 21 Resistncia a
corroso
atmosfrica
quatro vezes
Superior dos
aos-C.
Membros
estruturais em
elementos
construtivos
soldados,
aparafusados ou
rebitados.
A572 45 42,0 31,5 22
-
Estruturas
soldadas,apar-
afusadas ou re-
bitadas,
principalmente de
pontes e edi-
fcios.
A572 55 49,0 38,5 20 - Idem
A588 A a J 44,1 a 49,0 29,4 a 35,0 21 Idntico do
A242-2
Idem
A607 50 45,5 35,0 20 a 22 Resistnte
corroso
atmosfrica
duas vezes
sup. dos
aos-C, mas
s quando h
cobre.
Fins estruturais e
miscelneos,
quando reduo
de peso ou maior
durabilidade so
importantes.
A607 70 59,5 49,0 14 Idem Idem
A633 C 45,5 a 63,0 32,2 a 35,0 23 Resistnte ao
choque
melhorada.
Estruturas
soldadas,
aparafusadas ou
rebitadas, para
servio em
temperaturas
baixas, at-45C
42
3.5 Fatores que afetam as propriedades mecnicas do ao
Os principais fatores que afetam os valores medidos das propriedades
mecnicas so a composio qumica, o histrico termomecnico do material, a
geometria, temperatura, estado de tenses e velocidade de deformao da
estrutura.
3.5.1 Influencia da composio qumica nas propriedades dos aos
Segundo CHIAVERINI (2002) a composio qumica determina muito das
caractersticas dos aos, importantes para aplicaes estruturais. Alguns dos
elementos qumicos presentes nos aos comerciais so conseqncia dos mtodos
de obteno. Outros so adicionados deliberadamente, para atingir objetivos
especficos. A composio qumica de cada tipo de ao fornecida pelas normas
correspondentes, em duas situaes: composio do ao na panela e composio
do produto acabado (lingotado); geralmente, a composio varia um pouco de uma
situao para outra.
A influncia de cada de cada um dos elementos qumicos, encontrados mais
comumente nos aos, descrita resumidamente a seguir. Deve-se levar em conta,
entretanto, que os efeitos de dois ou mais elementos, usados simultaneamente,
podem diferir dos efeitos correspondentes a cada elemento isolado.
Carbono o principal responsvel pelo aumento da resistncia mecnica e
pela queda da ductilidade, trabalhabilidade, resistncia ao choque e soldabilidade.
Pelos seus efeitos negativos, mantido baixo.
Mangans Atua como o carbono, embora em escala menor. Elemento
fortalecedor da ferrita, porque nela se dissolve e ainda contribui para aumentar a
endurecibilidade, em aos endurecveis. Geralmente, nos aos-liga de alta
resistncia para estruturas, o mangans aparece em teores mais elevados do que
nos aos-carbono estruturais, devido justamente ao fato de ter seu efeito sobre a
resistncia mecnica menos acentuado do que o carbono e tambm porque, nos
aos estruturais com baixo teor em elementos de liga, o carbono preferivelmente
mantido baixo. Quando, nesses aos, o mangans introduzido em teores acima de
43
1%, no h necessidade de adicionar outros elementos de liga com o objetivo de
melhorar a resistncia mecnica. O Mn por si s possibilita essa melhora, ficando
ento os outros elementos de liga, quando tambm introduzidos, geralmente com a
finalidade de controlar o tamanho de gro do ao.
Fsforo Aumenta a resistncia mecnica, mas prejudica a ductibilidade do
ao, produzindo a chamada fragilidade a frio sobre tudo quando o carbono alto.
Como nos aos estruturais o carbono mantido preferivelmente abaixo, o perigo da
fragilidade muito acentuado e, nessas condies, o fsforo em quantidades acima
do teor considerado normal, isto , at 0,12%, beneficia o ao no que diz respeito a
sua resistncia mecnica, alem de contribuir para melhorar a sua resistncia a
corroso atmosfrica, sobre tudo quando o cobre tambm est presente em
pequenas quantidades. Do mesmo modo que o carbono e o mangans, o fsforo
tambm melhora o limite de fadiga dos aos, aproximadamente na mesma
proporo que o aumento da resistncia.
Silicio Aumenta a resistncia mecnica e a resistncia a oxidao a
temperaturas elevadas. Nos aos em considerao, entretanto, geralmente
mantido abaixo, adicionado nas quantidades suficientes para acalmar os aos.
Cobre Seu principal efeito melhorar a resistncia a corroso atmosfrica
da ao; a presena de 0,25% de cobre j suficiente para aumentar a resistncia a
corroso atmosfrica duas vezes em relao ao ao-carbono sem cobre. Tal efeito
mais acentuado pelo aumento simultneo do teor de fsforo. O cobre exerce ainda
considervel influncia na resistncia mecnica do ao, aumentando-a
apreciavelmente, com somente ligeiro decrscimo da ductilidade. Para isso
preciso, contudo, que seu teor supere 0,60%. Nesses aos com cobre relativamente
alto, acima de 1,0% e mais acentuadamente na faixa entre 1,20% e 1,50%, e baixo
carbono, ocorre o fenmeno de endurecimento por precipitao.
De fato, aos ao cobre, cerca de 0,30% de cobre podem se dissolver na
ferrita temperatura ambiente, formando uma soluo slida, desde que haja
ocorrido resfriamento lento; o excesso de cobre, por sua vez, pode ser precipitado
da soluo. Assim, se um ao com teor de cobre superior a 0,70%, depois de
resfriado lentamente, reaquecido a temperaturas variando de 510C a 605C
durante uma a quatro horas e em seguida resfriado, precipitam-se diminutas
partculas de cobre de cobre, as quais em bor moles, tendem a evitar deslisamento
44
dos cristais, dificultando a deformao plstica e, em conseqncia, elevando os
limites de escoamento e resistncia trao.
Um caracterstico importante dos aos com cerca de 1,0% de cobre consiste
no fato da solubilidade desse metal ser garantida com a velocidade de resfriamento
to baixa que mesmo com seces pesadas, como por exemplo com 15 cm de
espessura, o centro esta to apto quanto a superfcie a adquirir resistncia pelo
reaquecimento. Nessas condies, pode-se aumentar a resistncia de peas de
considerveis dimenses, uniformemente da superfcie ao centro, de ate 15
Kgf/mm
2
.
Convm lembrar, entretanto, que qualquer reaquecimento posterior, como o
provocado pela soldagem, anula o efeito dessa precipitao na zona de
aquecimento, de modo que esse fato deve ser sempre lembrado no emprego dos
aos estruturais com o cobre.
Cromo Em teores baixos aumenta a resistncia, o limite elstico, a
tenacidade e resistncia ao choque do ao. Em teores mais elevados, aumenta a
resistncia ao desgaste, por formar carbetos duros. Geralmente associado ao
nquel e ao cobre, quando tambm melhora a resistncia corroso atmosfrica.
Nquel A introduo do nquel beneficia o ao no sentido de melhora das
suas propriedades mecnicas, da resistncia a corroso, alm de refinar a
granulao. Sob o ponto de vista de resistncia corroso atmosfrica, o nquel
quase to benfico quanto o cobre, sem os inconvenientes deste que tende a
concentrar-se na superfcie do ao, de baixo da casca de xido que se forma
durante o seu aquecimento em atmosfera oxidante.
De fato, quando o ao est sendo aquecido para a laminao, a uma
temperatura que geralmente superior de fuso do cobre, se este metal estiver
presente e concentrado na superfcie do ao, pode fundir e penetrar nos seus
contornos de gro, causando fissuras por ocasio do trabalho mecnico. Tal
fenmeno limita as adies de cobre a 0,40% a 0,50%, a no ser que se tomem
cuidados especiais no aquecimento, e que um teor de cobre mais elevado seja
acompanhado pela introduo de nquel, em quantidade de pelo menos um tero da
do cobre. O nquel liga-se ao cobre e a liga formada de ponto de fuso mais alto,
mantendo-se solida durante o aquecimento do ao para a laminao, evitando-se
assim sua penetrao por entre os contornos dos gros.
45
Zircnio - eventualmente adicionado para desoxidar, atuando igualmente no
sentido de garantir granulao fina.
Alumnio Utilizado para desoxidar e refinar o gro. De todos os elementos
de liga, considerado o mais eficiente para controlar o crescimento de gro.
Vandio Aumenta a resistncia dos aos considerados, porque atua em
dois sentidos: Fortalece a ferrita por endurecimento por precipitao e refina a sua
granulao. O endurecimento mencionado deve-se precipitao de carboneto e de
nitreto de vandio na ferrita.
Nitrognio At cerca de 0,2% atua, de modo econmico, para melhorar a
resistncia mecnica. J unto com o vandio promove o endurecimento por
precipitao, acima mencionado.
Nibio Pequenos teores de nibio elevam o limite de escoamento do ao e,
em menor proporo, o limite de resistncia trao. Com 0,02% de nibio, esse
incremento do limite de escoamento pode ser de ordem de 7 a 10,5 kgf/mm
2
Enxofre Que entra no processo de obteno, pode causar retrao a
quente, como resultado de incluses de sulfito de ferro, as quais se enfraquecem e
podem romper quando aquecidas. As incluses podem tambm conduzir ruptura
frgil, pois funciona como pontos de concentrao de tenses, a partir dos quais a
ruptura pode comear. Teores elevados de enxofre podem causar porosidade e
fissurao a quente durante a soldagem. Normalmente, desejvel manter o teor de
enxofre abaixo de 0,05%
Hidrognio Que pode ser absorvido durante as operaes de refino, fragiliza
o ao, devendo ser eliminado por difuso, atravs de resfriamento lento aps a
laminao, e estocado a temperaturas normais de interiores.
Oxignio Assim como o nitrognio, pode causar envelhecimento. Reduz a
ductilidade e a tenacidade
Molibidnio Aumenta o limite de escoamento, a resistncia a abraso e a
resistncia corroso atmosfrica. Melhora a soldabilidade. Tem efeito adverso na
tenacidade e na temperatura de transio . Assim como o cromo, melhora o
comportamento a temperaturas elevadas e aumenta a resistncia deformao
lenta.
Titnio Aumenta o limite de resistncia, a resistncia abraso e a
resistncia deformao lenta. muito importante quando se deseja evitar o
46
envelhecimento. Algumas vezes usado como desoxidante e inibidor de
crescimento do gro.
Tungstnio Aumenta o limite de resistncia, a resistncia abraso e a
resistncia deformao lenta. usado em ao para trabalho a temperatura
elevadas.
3.5.2 Histrico Termomecnico
O histrico termomecnico do ao inclui a carga de deformao no laminador
(que leva reduo da seo), velocidade de resfriamento e da temperatura de
acabamento do processo de laminao a quente. Estas variveis influenciam
profundamente as propriedades mecnicas do ao.
47
4 AOS PATINVEIS
Os aos patinveis foram assim denominados devido tonalidade castanha
dos seus produtos de corroso desenvolvidos principalmente em ambientes
industriais, a ptina.
A origem da palavra ptina proveniente do sculo XVll e em sua forma
italiana primitiva patena aplicava-se pelcula de tonalidade amarelo escuro que se
observa sobre quadros clssicos e tambm pelcula de colorao caracterstica
que recobre os objetos e esculturas de bronze expostas ao ambiental (GIONGO
1993).
Segundo PANNONI E WOLINEC (1989) Todos os aos contem pequenas
quantidades de elementos de liga, tais como carbono, mangans, silcio, fsforo e
enxofre, seja porque estes integravam as matrias-primas (minrios e coque) com
que foram fabricados, seja porque lhes foram deliberadamente adicionados, para
lhes conferirem determinadas propriedades. De modo geral, as adies so
pequenas, de no mximo 0,5 a 0,7% da massa total do metal, proporo em que tais
elementos no tem qualquer efeito aprecivel sobre a resistncia deste corroso
atmosfrica. As pequenas variaes de composio que inevitavelmente ocorrem
durante o processo de fabricao do metal tampouco afetam significativamente suas
caractersticas.
Entretanto, existem excees. Sabe-se h mais de 80 anos, por exemplo, que a
adio de pequenas quantidades de cobre, fsforo e outros elementos tem um efeito
benfico sobre os aos, reduzindo a velocidade em que so corrodos, quando
expostos ao ar.
No ao carbono comum No ao patinvel
Teor de cobre <0,01 % 0,2 a 0,5 %
Tabela 3 Teor de cobre entre ao comum e ao patinvel
Fonte: O autor
48
Mas o grande estmulo ao emprego de aos enriquecidos com esses
elementos chamados aos de baixa liga- foi dada pela companhia norte
americana United States Steel Corporation que, no inicio da dcada de 1930,
desenvolveu um ao cujo nome comercial era Cor-Ten.
O ao Cor-Ten foi desenvolvido originalmente para indstria ferroviria, e sua
grande virtude aparente era permitir a construo de vages mais leves. A
propriedade de resistir corroso foi alcanada por casualidade, embora desde o
fim do sculo XlX j se conhecessem as influencias benficas do cobre e do fsforo.
Em 1958, o arquiteto norte americano Eero Saarinen utilizou-o na construo
do edifcio administrativo da Deere & Compani, em Moline, no estado de Ilinois. O
ao foi deixado aparente nessa obra, tendo o arquiteto considerado que a ferrugem
que sobre ele se formava constitua por si mesma um revestimento no s aceitvel,
como atraente. Apartir da, os aos patinveis foram utilizados com sucesso em
inmeras obras de arquitetura. Os engenheiros seguiram os passos dos arquitetos e
as aplicaes dos aos de alta resistncia e baixa liga resistentes corroso
atmosfrica foram se expandindo.
Desde o lanamento do Cor-Ten ate os nossos dias, desenvolveram-se
outros aos com comportamentos semelhantes, que constituem a famlia dos aos
conhecidos como patinveis. Enquadrados em diversas normas, dentre as quais as
norte-americanas ASTM A242, A-588, A606 e A-709, que especificam limites de
composio qumica e propriedades mecnicas, estes aos tem sido utilizados no
mundo todo na construo de edifcios de mltiplos andares, pontes, viadutos,
passarelas, torres de transmisso, edifcios industriais, telhas, etc.
Sua grande vantagem, alm de dispensarem a pintura em certos ambientes, e
possurem uma resistncia mecnica maior que a dos aos estruturais comuns. Em
ambientes extremamente agressivos, como regies que apresentam grande poluio
por dixido de enxofre ou aquelas prximas da orla martima, a pintura lhes confere
uma proteo superior aquela conferida os aos comuns.
No Brasil, aos desse tipo encontram tambm grande aceitao entre os
arquitetos. Alem de inmeras pontes e viadutos espalhados por todo o pas.
49
4.1 Marcas comerciais e especificaes
Marcas comerciais mais conhecidas no Brasil: COR-TEN (US Steel), COS AR
COR 400 ou 500 (COSIPA), USI-SAC 41 ou 50 (USIMINAS), NIO-COR ou CSN-
COR 420 (CSN).
Origem da marcas:
NIO-COR da CSN tem o nome devido ao teor de 0,02% a 0,03% de nibio,
alm de pequenas quantidades de cromo e do cobre. {NIObio, ao resistente
CORroso}
COS AR COR da COSIPA {COSIPA, ao de Alta Resistncia CORroso}
USI-SAC da USIMINAS {USIMINAS }ao Soldvel AntiCorrosivo
(FONTE CBCA)
50
Designao
COMPOSIO QUMICA
C
Mx.
Br
mx
P
mx
S
mx
Si
mx
Cu Ni Outros
COS-AR-COR
0,16
1,20
0,030
0,015
0,50
0,20-0,50
0,40-0,70
Nb, V, Ti =<0,15
(isolado ou
combinado)
COS-AR-COR
Laminado a
quente
0,16
1,20
0,030
0,015
0,50
0,20-0,50
0,40-0,70
Nb, V, Ti =<0,15
(isolado ou
combinado)
COS-AR-COR
Laminado frio
0,14
1,20
0,030
0,015
0,20
0,20-0,50
0,40-0,70
Nb, V, Ti =<0,15
(isolado ou
combinado)
USI SAC 41
Chapa grossa
0,18
1,30
0,030
0,030
0,35
0,20-0,50
------------
Cr =0,40-0,65
USI SAC 50
Chapa grossa
0,18
1,40
0,030
0,030
0,15
0,20-0,50
------------
Cr =0,40-0,65
Ti =<0,150
USI SAC 60
Chapa grossa
0,19
1,40
0,035
0,035
0,15
0,20-0,50
------------
Cr =0,40-0,65
Ti =<0,150
V =<0,100
Nb =<0,060
USI SAC 41
Laminado a
quente
0,18
1,30
0,030
0,030
0,35
0,20-0,50
------------
Cr =0,40 0,65
USI SAC 50
Laminado a
quente
0,18
1,40
0,030
0,030
0,15-
0,50
0,20-0,50
------------
Cr =0,40-0,65
Ti =<0,150
USI SAC 60
Laminado a
quente
0,19
1,40
0,035
0,035
0,15-
0,65
0,20-0,50
------------
Cr =0,40-0,65
Ti =<0,150
V =<0,010
Nb =<0,60
USI SAC 41
Laminado a frio
0,18
1,20
0,035
0,035
0,035
0,20-0,50
------------
Cr =0,40-0,65
USI SAC 50
0,18
1,40
0,030
0,030
0,15-
0,55
0,20-0,50
------------
Cr =0,40-0,65
Ti =<0,150
TABELA 4 Composio Qumica de Alguns dos Aos Patinveis Comercializados no Brasil.
Fonte CBCA
51
Os aos carbono e aos patinveis diferem pela morfologia dos seus produtos
de corroso. Os aos carbono em contato com o ambiente produz uma camada de
ferrugem porosa, onde as partculas de oxido soltam-se facilmente do substrato, o
que facilita o ingresso de oxignio e gua, perpetuando o processo corrosivo. No
ao patinvel a ferrugem desenvolve-se em duas camadas: uma externa semelhante
do ao carbono e uma interna que densa e compacta, conferindo ao metal maior
resistncia ao corrosiva do meio exposto.
Com o decorrer do tempo de exposio, os produtos solveis ou no
aderentes da camada de oxidao do ao patinvel so eliminados por precipitaes
atmosfricas posteriores. A velocidade de corroso diminui a medida que a barreira
se consolida at atingir um valor estacionrio, caracterizado pela presena de uma
camada de xidos compacta, j que cada um dos consecutivos perodos de
umidificao conduz a uma diminuio da quantidade dos produtos de corroso
pouco aderentes. A estabilizao da taxa de corroso conseguida em
aproximadamente 3 anos (GIONGO 1993).
Os aos aclimveis so aos com pequenas adies de elementos de liga,
quais sejam: cobre, cromo, nquel, fsforo, silcio e mangans. Alguns destes
elementos podem estar presentes no ao como impurezas. Estes elementos de liga
modificam as propriedades tanto mecnicas como as de resistncia corroso
atmosfrica.
Em condies de molhamento contnuo ou imerso total o efeito benfico da
adio dos elementos de liga no se faz sentir de modo que no se justifica a
utilizao de aos patinveis nestas condies, quando o nico requisito para esta
escolha a resistncia corroso.
4.2 Efeito dos elementos de liga sob o ponto de vista de resistncia a corroso
A seguir apresentado, suscintamente, o efeito de cada um dos elementos
de liga sob o ponto de vista de resistncia a corroso:
COBRE
A adio de quantidades variando normalmente entre 0,2% e 0,5% de cobre
tem como conseqncia o aumento significativo da resistncia corroso
atmosfrica, especialmente quando o ao tem enxofre como impureza.
52
A adio de 0,01% a 0,04% de cobre pode determinar uma diminuio de at
70% da taxa de corroso quando comparada ao ao carbono. O efeito de adio de
quantidades maiores (entre 0,2% e 0,5%) ainda sentida porm com menor
intensidade ( veja grfico 1). Vrias teorias so apresentadas na literatura na
tentativa de elucidar os mecanismos da ao do cobre. De acordo com uma das
teorias os ons de cobre dissolvidos pela ao da atmosfera so capazes de reagir
com ons sulfeto originados tanto pelas incluses de sulfetos presentes no ao como
daqueles provenientes de atmosferas contaminadas com gs sulfdrico, eliminando o
seu efeito prejudicial. Outra teoria afirma que o efeito benfico do cobre devido
formao de um revestimento de cobre sobre o ao, conseqente da redeposio
dos ons de cobre dissolvidos, o que determina o aumento do potencial de corroso
do sistema ao/meio acarretando a passivao do metal. Acredita-se ainda que o
cobre forma sulfatos bsicos de baixa solubilidade que selam poros da camada de
ferrugem formada sobre o ao tornando-a uma barreira protetora mais efetiva.
Teoria apresentada por Misawa e colaboradores afirma que na presena do cobre a
camada protetora formada sobre o ao mais compacta e aderente e portanto mais
protetora.
Grfico 1 Efeito de pequenas adies de cobre na taxa de corroso do ao carbono, exposto
durante 15,5 anos em atmosfera marinha, industrial.
Fonte: IPT (1991)
53
FSFORO
A adio de fsforo aos aos ligados ao cobre tem influncia sensvel na
resistncia corroso destas ligas, causando uma diminuio significativa na sua
taxa de corroso. A adio de 0,01% a 0,10% resulta numa diminuio de taxa de
corroso em 20% a 30%. O grfico 2 apresenta o efeito da adio de fsforo na taxa
de corroso de aos ligados ao cobre em duas localidades diferentes.
Grfico 2 Efeito da adio de fsforo na taxa de corroso de aos ligados ao cobre. Ensaios de 15,5
anos realizados em Kearney, Nova J ersey, U.S.A.
Fonte: IPT (1991)
54
O efeito benfico do fsforo tambm verificado quando da adio de cromo
e/ou nquel aos aos ligados ao cobre.
Segundo algumas teorias, o fsforo aumenta a resistncia corroso dos
aos ao cobre devido formao de fosfatos insolveis capaz de selar os poros da
camada de ferrugem, semelhana do que ocorre co os sulfatos bsicos de cobre.
Outra teoria afirma que a presena de fsforo, em combinao com o cobre,
acarreta a formao de uma camada de ferrugem com caractersticas protetoras
mais efetivas do que aquela formada sobre os aos sem a adio destes elementos
de liga.
NQUEL
A adio de nquel ao ao carbono tem efeito semelhante ao do cobre no que
diz respeito no aumento resistncia corroso atmosfrica. No entanto,
necessria a adio de maiores quantidades de nquel para a obteno do mesmo
efeito que o cobre. Assim, por exemplo, verifica-se que para se conseguir o mesmo
efeito da adio de 0,5% de cobre deve-se adicionar 1% de nquel.
Quanto maior o teor de nquel maior ser o seu efeito benfico,
principalmente em condies de longa exposio conforme ilustrado na figura 3.
No entanto, a adio de altos teores aos aos aclimveis no desejvel sob ponto
de vista econmico, de modo que este elemento utilizado concomitantemente ao
cobre com adio de at 0,7%, visto que esta prtica causa diminuio sensvel da
taxa de corroso dos aos ligados ao cobre, conforme ilustrado na figura 4. Alm
disso, a adio de nquel a aos ligados ao cobre que contm outros elementos tais
como silcio, fsforo e cromo tambm ocasiona uma diminuio sensvel na
resistncia corroso atmosfrica dos mesmos (grfico 3).
A ao do nquel na resistncia corroso dos aos aclimveis parece estar
relacionada com a selagem dos poros da camada de ferrugem, pois este elemento
forma sulfatos bsicos insolveis que so incorporados nesta camada tornando-o
menos poroso e por tanto mais efetivo.
55
Grfico 3 Efeito da adio do nquel na resistncia corroso dos aos ligados ao cobre. Ensaios
realizados em Kure Beach, Norte da Califrnia, U.S.A. , 244m do oceano. Tempo de exposio
anos15 anos.
Fonte: IPT (1991)
56
Grfico 4 Efeito da adio de 1% de nquel na resistncia corroso dos aos ligados ao cobre
sem e com adio de fsforo e cromo. Ensaio realizado em atmosfera industrial
de Kearney, New J ersey, U.S.A.
Fonte: IPT (1991)
Quando se adiciona cromo aos aos carbono, j se verifica uma melhora
sensvel na resistncia corroso deste metal. No entanto este efeito muito mais
significativo se o ao contm no mnimo 0,1% de cobre, conforme mostrado no
grfico 5. Nos aos aclimveis a adio de cromo em teores de at 1,25% determina
uma melhora sensvel na sua resistncia corroso. Para adies de teores mais
elevados este efeito mais pronunciado, no entanto, esta prtica no adotada nos
aos aclimveis por questes econmicas.
57
Quando o ao contm teores muito baixos de cobre (<0,06%), a presena de
cromo em teores variando entre 0,6% a 1,3% prejudicial conforme pode ser
verificado no grfico 5.
A adio concomitante de fsforo e cromo aos aos ligados ao cobre
apresenta efeito significativo, ou seja, a taxa de corroso do ao na presena
conjunta destes dois elementos menor do que aquelas apresentadas quando se
adiciona os mesmos teores destes elementos separadamente, conforme pode ser
verificado no grfico 5.
Em atmosferas marinhas, a adio de cromo aos aos ligados ao cobre com
alto teor de fsforo tem influncia muito benfica. Foi verificada que a adio de
1,2% de cromo aos aos com 0,4% de cobre com alto teor de fsforo reduziu a taxa
de corroso em 60% em exposies de 15,5 anos em Kure Beach, Norte da
Califrnia, U.S.A., a 244m do oceano.
O efeito do cromo na resistncia a corroso dos aos aclimveis devido ao
seu enriquecimento na camada interna de produtos de corroso. J untamente com o
cobre e o fsforo, este elemento promove formao de uma camada de produtos
de corroso mais compacta e aderente e portanto mais protetora.
58
Grfico 5 Efeito da adio de cromo e/ou fsforo na taxa de corroso de aos ligados
ao cobre. Ensaios de 15,5 anos de durao realizados em atmosfera industrial
em Kearny, Nova J ersey, U.S.A.
Fonte: IPT (1991)
MANGANS
Este elemento est normalmente presente nos aos. Para algumas ligas,
principalmente aquelas que contm enxofre, a presena de mangans tem efeito
benfico, sendo este efeito maior nas atmosferas marinhas do que nas industriais. O
grfico 6 mostra o efeito do mangans na taxa de corroso dos aos ligados ao
cobre expostos durante 15,5 anos em Kure Beach, Norte da Califrnia a 244m do
oceano. Pode-se verificar que a adio de 0,5% de mangans causa uma reduo
na taxa de corroso de um ao aclimvel (0,3% de cobre e baixo fsforo) de
59
aproximadamente 25% e a adio de 1% causa uma reduo de aproximadamente
35%.
A quantidade de enxofre presente no ao, em relao ao mangans, afeta
significativamente o efeito benfico do mangans. Se a razo entre o teor de
mangans e o de enxofre maior que 4, os sulfetos no ao esto presentes na
forma de MnS que so menos prejudiciais do que o FeS. Se o teor de mangans
insuficiente para combinar com o enxofre, forma tambm o FeS que sendo um bom
condutor constitui um excelente catodo, promovendo a corroso localizada do ao.
Grfico 6 Efeito da adio do mangans na taxa de corroso de um ao com 0,3%
de cobre com baixo teor de fsforo. Ensaios realizados em Kure Beach,
Norte da Califrnia, U.S.A., a 244m do oceano.
Fonte: IPT (1991)
60
SILCIO
Este elemento tambm normalmente est presente nos aos como impureza.
A presena de silcio em teores iguais ou superiores a 0,5% tem efeito benfico na
resistncia corroso atmosfrica dos aos aclimveis, porm este efeito pouco
pronunciado. O efeito da adio do Silcio est mostrado no grfico 7. Pode-se
verificar que o seu efeito em comparao com os demais elementos de liga discutido
menos significativo.
Quando o silcio est presente juntamente com fsforo o seu efeito benfico
torna-se mais significativo, conforme mostrado no grfico 7. Assim quando se
adiciona conjuntamente silcio e fsforo aos aos aclimveis, consegue-se uma
melhora sensvel na sua resistncia corroso. Por exemplo, com a adio de 0,5%
de silcio e 0,10% de fsforo a um ao contendo 0,10% de cobre consegue-se uma
reduo da taxa de penetrao de at 50% aps exposies de 15,5 anos. Se
comparado ao ao carbono esta reduo de 80%. Na presena de cromo (ou
nquel) em ao ao cobre contendo fsforo, o efeito do silcio ainda mais
significativo (veja grficos 4, 5 e 7).
61
Grfico 7 Efeito da adio do silcio aos aos ligados ao cobre com e sem a adio
de fsforo e cromo. Ensaios de 15,5 anos realizados em atmosfera industrial
em Kearney, Nova J ersey, U.S.A.
Fonte: IPT (1991)
5 FATORES PARA FORMAO DA PTINA
SegundoPannoni a formao da ptina funo de trs tipos de fatores. Os
primeiros a destacar esto ligados composio qumica do prprio ao. Os
principais elementos de liga que contribuem para aumentar-lhe a resistncia frente
corroso atmosfrica, os principais elementos de liga que contribuem para
aumentar-lhe a resistncia frente corroso atmosfrica, favorecendo a formao da
ptina, so o cobre e o fsforo. O cromo, o nquel e o silcio tambm exercem efeitos
secundrios [Pannoni e Marcondes(1991)]. Cabe observar, no entanto, que o fsforo
62
deve ser mantido em baixos teores (menores que 0,1%), sob pena de prejudicar
certas propriedades macnicas do ao e sua soldabilidade.
Influncia das condies climticas na corroso atmosfrica dos aos
patinveis
Em segundo lugar vm os fatores ambientais, entre os quais sobresaem a
presena de dixido de enxofre e de cloreto de sdio na atmosfera, a temperatura, a
fora (direo, velocidade e freqncia) dos ventos, os ciclos de umedecimento e
secagem, etc. Assim, enquanto a presena de dixido de enxofre, at certos limites,
favorece o desenvolvimento da patina, o cloreto de sdio em suspenso nas
atmosferas martimas prejudica suas propriedades protetoras. algumas condies
climticas especificas so necessrias para formao da camada protetora mostrada
no grfico 8 sobre a superfcie dos aos patinveis.
Condies de molhamento e secagem intermitente so favorveis, se no
necessrias, para o inicio da formao dessa camada. Segundo Missawa e
colaboradores, nos perodos de molhamento a quantidade de oxignio capaz de se
difundir atravs da camada de gua presente sobre o metal insuficiente para a
oxidao dos compostos intermedirios de Fe
++
para -FeOOH amorfo na interface
metal/produto de corroso. Nestas ocasies ocorre preferencialmente a formao de
outros compostos (, , ou , -FeOOH ou e Fe
3
O
4
).
Nos perodos de secagem, facilitado o acesso de oxignio, de modo que
nestas ocasies ocorre a formao de -FeOOH imediatamente acima da superfcie
metlica. Com o prosseguimento do processo corrosivo ocorre um enriquecimento
de cobre e fsforo na camada interna de ferrugem. Estes elementos, juntamente
com os ciclos de molhamento e secagem, promovem a formao da camada interna
compacta e aderente de -FeOOH, responsvel pela alta resistncia corroso dos
aos patinveis. Pelo exposto possvel entender a razo do ao patinvel ser
comparvel ao ao carbono em termos de resistncia corroso, em condies de
longos perodos de molhamento ou imerso continua (imerso em gua ou solo).
Conforme j mencionado, nestas condies no se justifica a utilizao de aos
aclimveis em substituio ao ao carbono.
63
A influncia do SO
2
tambm bastante significativa na formao da camada
protetora. Durante o inicio de exposio dos aos patinveis, a presena de SO
2
na
atmosfera promove rpido ataque ao metal com formao de grandes quantidades
de Fe
++
. Isto acompanhado pele dissoluo rpida de cobre e do fsforo presentes
nestas ligas. Como conseqncia, a ao cataltica de Cu
++
e PO
4
---
para a
transformao dos compostos intermedirios de Fe
++
para FeOOH amorfo se faz
sentir mais rapidamente quando se expe os aos patinveis atmosferas, como as
urbanas, 3 a 4 anos j so suficientes para a formao desta camada protetora. Em
atmosferas rurais tempos muito maiores so necessrios para a formao desta
camada devido baixa contaminao da atmosfera com SO
2
.
No se recomenda a utilizao de aos patinveis no protegidos em
ambientes industriais onde a concentrao de dixido de enxofre atmosfrico seja
superior a 250g/m
3
[couros (2001)] a camada de ferrugem formada sobre os aos
patinveis no tem caractersticas protetoras suficientes, no se recomenda a sua
utilizao sem proteo adicional. Deve-se lembrar, que mesmo nestas condies
(alta contaminao de SO
2
) as taxas de corroso dos aos patinveis so
consideravelmente inferiores s do ao carbono, podendo ser observado reduo de
at 10 vezes. Apesar disto, ainda, em termos de valores absolutos, os valores
destas taxas so elevadas
Os grficos 8 e 9, retirados de CETESB (2001), mostram os valores mdios
anuais mdios de dixido de enxofre atmosfrico na cidade de So Paulo em
algumas localidades do interior do estado. Pode-se observar que os valores
encontrados esto bem abaixo do limite 250g/m
3
.
64
Grfico 8 mdia aritmtica anual (2001) de [SO
2
] atmosfrico na cidade de So Paulo
Fonte: CETESB (2001)
Grfico 9 Mdia aritmtica anual (2001) de [SO
2
] atmosfrico no interior
do Estado de So Paulo.
Fonte: CETESB (2001)
65
Grfico 10 Resistncia a corroso de um ao patinvel (ASTM A242) e de um ao carbono
comum (ASTM A36) expostas s atmosferas indstrias (Cubato, S.P.), marinha (Bertioga, S.P.),
urbana (Santo Andre, S.P.) e rural (Itarar, S.P.) [Panonni ET al.(1991)]. A medida feita em termos
da perda de massa metlica em funo do tempo de exposio em meses(CBCA, 2008)..
Fonte: CETESB (2001)
66
Ambiente Ao carbono (m/ano) Ao patinvel (m/ano)
Rural 6,2 6,2
Urbana 11,4 2,2
Industrial 632,0 41,6
Tabela 5 Taxa de corroso instantnea (t=3 anos) do ao carbono e do ao patinvel em trs
ambientes diferentes: Rural Urbano e Industrial.
Fonte:CBCA (2008)
Os grficos 11, 12 e 13 mostram a perda de espessura do ao patinvel em
trs tipos de atmosferas: rural, urbana e industrial. A tabela 5 apresenta as taxas de
corroso instantneas destes aos aps 3 anos de exposio (tangente curva dos
grficos 11, 12 e 13 para 3 anos de exposio). Observando os resultados
apresentados nos trs grficos e na tabela 5, pode-se verificar que:
I. Na atmosfera rural, durante os trs anos anos de exposio, os dois aos
apresentaram comportamento semelhantes. Neste caso, para se fazer sentir
a superioridade do ao patinvel seriam necessrios maiores tempos de
exposio;
II. Na atmosfera urbana j ntida a superiorioridade do ao patinvel em
relao ao ao carbono. A taxa de corroso do ao patinvel bastante
baixa, sendo inclusive menor do que as taxas dos dois aos no ambiente
rural;
III. Na atmosfera industrial, o ao patinvel apresenta um desempenho muito
superior ao ao carbono. A superioridade do ao patinvel muito mais
significativa neste ambiente do que aquela observada no ambiente urbano.
67
Grfico 11 Perda de espessura dos aos carbono e do ao painvel em funo
do tempo de exposio em ambiente rural (zona rural de Sorocaba So Paulo).
Fonte: IPT (1991)
68
Grfico 12 Perda de espessura do ao carbono e do ao patinvel em funo
do tempo de exposio em ambiente urbano (centro da cidade de So Paulo).
Fonte: IPT (1991).
69
Grfico 13 Perda de espessura do ao em funo do tempo de exposio em ambiente
industrial (Cubato).
Fonte: IPT (1991)
Em atmosferas marinhas altamente contaminadas com cloreto de sdio,
especialmente em regies muito prximas ao mar e/ou cobertas (nas quais no se
faz sentir o efeito de lavagem de chuva com conseqente acumulao de cloretos),
a camada de ferrugem formada sobre o ao patinvel no tem caractersticas
protetoras muito efetivas. Nestas condies, as taxas de corroso do ao patinvel
ao mito elevadas. No entanto, experincias realizadas na Sucia mostraram que
para regies distantes do mar (acima de 1 Km) a superioridade do ao patinvel j
bastante sensvel. O grfico 14 apresenta resultados de ensaios de corroso
atmosfrica realizadas num local distante 1 Km do mar. Pode-se verificar uma
diminuio sensvel da taxa de corroso do ao patinvel em relao ao ao
carbono. No entanto, a taxa de corroso absoluta encontrada, aps 3 anos de
exposio. (tangente a curva para t=3 anos) foi de 25 m/ano, que ainda bastante
elevada.
70
Grfico 14 Perda de espessura do ao carbono e do ao patinvel em funo do tempo de
exposio em ambiente marinho (Praia Grande distante 1Km do mar).
Fonte: IPT (1991)
Um outro poluente que influncia a eficincia da camada protetora formada
sobre os aos patinveis o material particulado. A poeira impregnada na superfcie
do metal faz com que esta camada seja menos compacta e mais porosa e portanto
menos eficiente como barreira protetora.
Convm ainda considerar a influencia do gs sulfdrico. Este poluente
bastante agressivo ao ao carbono, causando aumento sensvel na sua taxa de
corroso. Para o ao patinvel a influncia deste poluente parece ser menos
significativa. Aparentemente o gs sulfdrico reage co o cobre formando CuS, menos
solvel e menos prejudicial do que o FeS formado sobre o ao.
Um fator importante que podemos citar para formao da ptina est ligado a
geometria da pea, que explicam porque diferentes estruturas do mesmo ao
dispostas lado a lado podem ser atacadas de maneira distinta. Esse fenmeno
atribudo influncia de sees abertas/fechadas, drenagem correta das guas de
chuva e outros fatores que atuam diretamente sobre os ciclos de umedecimento e
secagem insatisfatria, a formao da ptina fica gravemente prejudica. Em muitas
destas situaes, a velocidade de corroso do ao patinvel semelhante quela
71
encontrada para os aos carbono comuns. Exemplos incluem aos patinveis
imersos em gua, enterrados no solo ou recobertos por vegetao.
Regies particulares tais como juntas de expanso, articulaes superpostas
tem comportamento crtico quanto corroso, tal como ocorre com os aos carbono
tradicionais.
Os elementos de ligao (chapas, parafusos, porcas, arruelas, rebites, etc.)
devem apresentar no s resistncia mecnica compatvel com o ao patinvel, mas
tambm compatibilidade de composio qumica, para evita a formao de clulas
galvnicas. Os cordes de solda produzidos na soldagem dos aos patinveis
devem possuir composio qumica semelhante dos aos patinveis, evitando a
formao de pares galvnicos.
6 MECANISMOS
A composio e a estrutura cristalogrfica das camadas de produtos de
corroso formadas sobre o ao carbono e o ao aclimvel expostos s mesmas
condies atmosfricas so similares. Sobre ambos os metais os principais
compostos presentes so: -FeOOH (goetita), -FeOOH (akaganeita), -FeOOH
(lepidocroceta), -FeOOH (amorfo) e Fe
3
O
4
. A diferena que existe entre as duas
camadas a compactao e o nvel de porosidade resultante do arranjo dos
compostos ai presentes. Segundo Misawa e colaboradores, no caso do ao carbono,
a ferrugem constituda por uma camada desordenada da -FeOOH amorfo com
ilhas espaas de -FeOOH, -FeOOH e/ou -FeOOH e Fe
3
O
4.
No caso de aos
aclimveis a ferrugem formada aps longos tempos de exposio tem as seguintes
caractersticas:
1) Ela constituda por duas camadas, uma interna (aderente e compacta) e
uma externa (menos aderente e menos compacta). A camada interna
constituda principalmente por -FeOOH amorfo de granulao fina e
compacta. A camada externa constituda por de -FeOOH, -FeOOH e/ou
-FeOOH com pequenas ilhas de Fe
3
O
4
. A figura 8 ilustra esquematicamente
a estrutura da ferrugem formada sobre um ao aclimvel e sobre um ao
carbono aps longos tempos de exposio;
72
2) Na camada interna h um enriquecimento de cobre, fsforo e cromo.
Os mecanismos responsveis para a formao dos compostos presentes na
superfcie tanto do ao carbono como do ao aclimvel so similares. As
reaes responsveis pela formao dos produtos de corroso tanto do ao
carbono como do ao aclimvel expostos s atmosferas naturais tambm so
similares. No entanto, segundo Misawa e colaboradores, a oxidao pelo
oxignio dissolvido dos compostos intermedirios de Fe
++
(Fe(OH)
2
e
ferrugem verde) para -FeOOH amorfo catalizada pela presena de
ons Cu
++
e PO
4
---
. Estes ons esto presentes na camada de ferrugem dos
aos aclimveis devido ao ataque do cobre e do fsforo presentes como
elementos de liga. O -FeOOH formado nestas condies tem granulao
mais fina mais compacta e mais aderente. Como conseqncia tem a
formao da camada interna mostrada na tabela 6, que constitui em uma
efetiva barreira protetora.
73
Tabela 6 Produtos de corroso formados durante a exposio corroso atmosfrica
Fonte: ABRACO (2008)
Conforme j mencionado anteriormente quando se discutiu os efeitos dos
elementos de liga, alm da estrutura da camada de produtos de corroso,
aparentemente outros fatores contribuem para a alta resistncia corroso
atmosfrica dos aos aclimveis.
Algumas teorias afirmam que sulfatos bsicos de cobre e/ou de nquel e/ou
fosfatos insolveis so formados durante a corroso atmosfrica destes aos. Tais
produtos selam os poros da camada de ferrugem formada sobre os aos aclimveis
tornando-a uma barreira mais efetiva. Alm disso, foi citado tambm o fato de que
Produto Ao carbono Ao patinvel
-FeOOH Ilhas esparsas em toda a camada Camada externa porosa no
protetora
-FeOOH Formada em ambiente marinho
presena de cloretos)
Formada em ambiente
marinho (presena de cloretos)
-FeOOH Formada em ambientes industriais
(presena de SO
2
)
Formada em ambientes
industriais (presena de SO
2
)
-FeOOH Distribuida ao a caso, porosa e no
protetora
Camada interna aderente,
compacta, de granulao fina,
protetora
Fe
3
O
4
Pequenas ilhas esparsas em toda a
camada
Pequenas ilhas distribudas ao
acaso, na camada externa
74
em caso de atmosferas contaminadas com gs sulfdrico, forma-se sulfeto de cobre
que menos prejudicial que o sulfeto de ferro.
6.1 Mecanismo macroscpico da corroso atmosfrica dos aos patinveis
A etapa seguinte formao das pelculas finas, isto , o seu crescimento e
transformao em camadas macroscpicas no tem sido um campo estudado,
talvez em funo das inmeras dificuldades experimentais encontradas.
Alguns autores julgam que as pelculas formadas sejam catdicas em relao
ao metal-base. Desse modo, uma trinca na pelcula iniciaria o processo
eletroqumico da corroso.
Outra possibilidade seria a existncia de regies catdicas superficiais, tais
como certas incluses ou partculas carbonceas, que provocariam a dissoluo
andica do metal.
Embora haja grande falta de informao sobre a transio microscpico-
macroscpico, a formulao de mecanismos que pudessem explicar
satisfatoriamente os fatos observados na corroso atmosfrica de aos no um
fato recente. J no incio do sculo, BUCK (1913) anunciava o efeito do cobre
adicionado aos aos e, em um seu trabalho posterior, BUCK (1919) atribuiu ao cobre
a funo de combinar-se com o enxofre do ao, tornando-o incuo.
Basicamente a ferrugem constituda por cinco diferentes compostos de
ferro: -FeOOH (goetita), -FeOOH (akaganeita), -FeOOH (lepidocroceta), -
FeOOH (amorfo) e Fe
3
O
4
(magnetita).
Segundo vrios autores, -FeOOH o principal constituinte da pelcula
interna, que se forma ao longo de exposies prolongadas do material atmosfera.
O mecanismo de corroso dos aos patinveis ainda objeto de intensas
pesquisas no mundo todo e tambm no Brasil. Uma teoria proposta por um
pesquisador brasileiro, bem aceita sobre esse processo, que encontrou grande
receptividade [Miranda (1974)] admite que, quando o ao patinvel exposto a uma
atmosfera sulfurosa, a ciclos de umedecimento/secagem e temperaturas
relativamente baixas (aproximadamente 20C), a camada de ferrugem constituda
essencialmente de lepidocrocita. A exposio a temperaturas mais elevadas (35
75
60C) favorece a formao, sob a camada de lepidocrocita, de uma camada interna
isotrpica, constituda essenciamente de -FeOOH amorfo. Quando submetido a
essas temperaturas, os elementos de liga (notadamente o cobre) comeam a se
dissolver no interior das clulas de corroso. Esses elementos inibem a formao da
magnetita, que no protetora, ao mesmo tempo em que catalizam a formao do
xido amorfo, protetor, na interface metal-ferrugem. Essa camada, muito pouco
porosa, isola o metal dos constituintes agressivos existentes na atmosfera, como
gua, o oxignio e ons exgenos.
Portanto, quando os elementos de liga no podem penetrar na ferrugem (isto
, sob temperaturas baixas), ou quando o ao no os contm caso do ao carbono
comum ocorre a formao da magnetita, e no do -FeOOH protetor, e a corroso
prossegue.
Outros fatores contribuem para alta resistncia corroso atmosfrica dos
aos patinveis.
Algumas teorias a afirmam que sulfatos bsicos de cobre e/ou de nquel e/ou
fosfatos insolveis so formados durante a corroso atmosfrica destes aos. Tais
produtos selam os poros da camada de ferrugem formada sobre os aos patinveis
tornando-a uma barreira mais efetiva.
7 PINTURA DOS AOS PATINVEIS
O desempenho de um sistema de pintura aplicado sobre o ao patinvel
costuma ser superior ao mesmo sistema aplicado sobre os aos carbonos
estruturais tradicionais, desde que o ambiente promova a formao da ptina. A
durabilidade desse sistema costuma ser superior soma das durabilidades
propiciadas isoladamente pela proteo do revestimento e pela natureza do material,
isto , h sinergia dos mecanismos. Uma eventual falha no revestimento levar
formao de produtos de corroso bem menos volumosos do que aqueles formados
sobre os aos comuns, o que diminui em muito o problema do destacamento da
pelcula de pintura, aumentando a durabilidade do revestimento.
A figura abaixo mostra dois espcies de ao laminados a quente, um ASTM
A36 e um ASTM A242 expostos por 48 meses em atmosfera industrial de Cubato,
S.P. Estes aos foram jateados com granalha de ao (padro As 3) e pintados com
76
duas demos de tinta epximastic (300m de espessura); aps a secagem, foi feito
o entalhe na tinta e subseqente exposio atmosfrica.
Podemos observar que o ao carbono comum produziu um grande volume de
produtos de corroso e danificou a pintura. J ao patinvel, no mesmo perodo,
produziu menor volume. A tinta est integra e continua a oferecer proteo contra a
corroso. O ao protegido pela tinta e, mesmo quando alcanado pelo oxignio e
gua atmosfrica (por difuso), acaba por produzir um volume de xidos
consideravelmente menor do que o gerado sobre o ao carbono, e que no chega a
destruir a pelcula. Por esse motivo, mesmo formando xidos, a durabilidade da
proteo maior do que no caso do ao carbono. A corroso no ao patinvel ficou
circunscrito regio dos cortes (CBCA, 2008).
Figura 19 Produo de produtos de corroso formados durante a exposio
em atmosfra industrial.
Fonte: CBCA (2008)
77
A camada de xido, compacto e aderente, do ao patinvel , o protege contra
a corroso, de maneira mais eficiente que o ao carbono comum.
O uso de pintura depende do local onde a estrutura vai ser posta e da esttica
desejada.
No caso da necessidade de longa durabilidade da estrutura ou equipamento, a
pintura entra como auxlio, podendo at quadruplicar a vida da estrutura ou
equipamento. No caso de ambientes industrial e martimo recomenda-se o uso de
pintura.
Para se pintar o ao patinvel recomenda-se os mesmos cuidados que se
deve ter com o ao comum.
Deve-se escolher tintas de alto desempenho.
78
8 CONSIDERAES FINAIS
So grandes os desafios a enfrentar pelos metalurgistas e engenheiros de
modo geral. A busca pelo conhecimento de forma incessante. No estudo realizado
buscou-se contribuir com uma busca no campo da corroso em um comparativo
simples, porm de extrema importncia para aplicaes industriais entre o ao
carbono comum e o ao patinvel. Neste sentido de modo geral conclui-se que, o
ao patinvel tem maior resistncia a corroso do que o ao carbono comum, nos
diversos meios aqui estudados.
Esta maior resistncia a corroso do ao patinvel se deve principalmente
pela formao de uma camada densa e aderente formada em sua superfcie, criando
desta maneira, uma camada passivadora interrompendo a ao de corroso, fato
este que no ocorre no ao carbono comum.
79
REFERNCIAS
Entendendo Corroso. Disponvel em: <http://www.engefec.com.br>. Acessado em
14 de setembro de 2008.
CORROSIVENESS of various atmosferic test sites as measured by specimens of
steel and zinc. In: SYMPOSIUM ON METAL CORROSION IN THE ATMOSPHERE,
1967, Boston. Philadelphia: ASTM, 1968. P. 360 391 (ASTM Special Technical
Publication 435).
Comportamento dos Aos Patinveis. Disponvel em: <http://www.cbca.com.br>.
Acessado em: 10 de junho de 2008.
Tipos de Corroso. Disponvel em: <http://www.abraco.com.br>. Acessado em: 10
de junho de 2008.
Aos e Ligas. Disponvel em: <http://www.biomania.com.br>Acessado em: 2 de
junho de 2008.
Aos Patinveis. Disponvel em: <http://www.chuman.com.br>Acessado em: 2 de
junho de 2008.
GENTIL, V. Corroso. Rio de J aneiro, Editora LTC, 2003.
GENTIL, V. Corroso. Rio de J aneiro, Editora LTC, 2007.
CHIAVERINI, V. Aos e Ferros Fundidos. So Paulo, ABM, 2002.
CHIAVERINI, V. Aos e Ferros Fundidos. So Paulo, ABM, 1987.
BELLEI, I. Edifcios Industriais em Ao. So Paulo, Editora Pini, 2000.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS. Corroso e proteo Contra a
Corroso no Sistema Eltrico .IPT, 1991.
GIONGO, V. Corroso dos Aos Carbono e Patinvel em Ambiente Marinho,
Dissertao de mestrado, Unicamp, 1993.
MISAWA, T.; SUETAKA, W.; SHIMODAIRA, S. The mechanism of atmospheric
rusting and the effect of Cu and P on the rusting formation of low alloy steel.
Corrosion Science, Oxford v. 11, n. 1, p. 35 48, jan. 1971.
GULLMAM, J . apud KUCERA, V.; MATTSON, E. atmospheric corrosion. In:
CORROSION mechanisms. New York: Marcel Dekker, 1987. P. 211 284.
(Chemical Industries, 28).
KAJ IMOTO, Z.P; ALMEIDA, N.L.;Siqueira, F.J .S. Corroso atmosfrica de metais
no estado de So Paulo. So Paulo IPT, 1991. 86 p. (IPT Publicao 1826).
80
LARRABEE, C.P.; COBRUN, S.K. The atmospheric corrosion of steels as
influenced. By changes in chemical composition. In: INTENATIONAL
CONGRESS ON METALLIC COROSION, 1., London, 1961. London: Butterworths,
1962. P. 276-285.
BUCK, D.M.. Copper in Steel The influence on corrosion. Anual Meeting of the
American chemical society, Milwaukee, (1913).
CETESB. Relatrio de qualidade do ar no estado de So Paulo 2001.
Companhia de tecnologia de saneamento ambiental (2002).
CORUS, Construction centre. Weathering steel bridges. Publicao Corus
(2001).
MIRANDA, L.R. Cebelcor. Rt 221, v.125 (1974).
PANNONI, F.D e WOLINEC, S.. A ferrugem que protege. Cincia hoje. Revista de
divulgao cientfica da sociedade brasileira para o progresso da cincia SBPC,
vol. 10, no. 57, (1989) p. 54-59
Você também pode gostar
- 1 Quando Os Dentes FalamDocumento79 páginas1 Quando Os Dentes FalamClaudio BrittoAinda não há avaliações
- Tabelas Codigo IbamaDocumento242 páginasTabelas Codigo IbamaAndreEngAmbientalAinda não há avaliações
- Easy Game Volume I Traduzido PortuguesDocumento50 páginasEasy Game Volume I Traduzido PortuguesLeandro jaques100% (18)
- Manual de AcoDocumento106 páginasManual de AcoJosé Da Costa CostaAinda não há avaliações
- Apostila - Estruturas MetálicasDocumento157 páginasApostila - Estruturas MetálicasAmadeus de Novaes100% (1)
- Apostila Camara 2009 CompletaDocumento136 páginasApostila Camara 2009 CompletaAndré Provensi100% (2)
- NBR14718 - Guarda CorpoDocumento33 páginasNBR14718 - Guarda CorpoClaudionor Barbosa67% (6)
- Projeto Galpão - Final Mateus e EduardoDocumento50 páginasProjeto Galpão - Final Mateus e EduardoMATEUS BRESCIANIAinda não há avaliações
- Metais de BaseDocumento79 páginasMetais de BaseCarlos Eugenio Fortes Teixeira100% (1)
- CEP - Controle Estatístico de ProcessoDocumento6 páginasCEP - Controle Estatístico de ProcessoAndré ProvensiAinda não há avaliações
- Apostila TTLigas Ferrosas 2013Documento100 páginasApostila TTLigas Ferrosas 2013Paulo Rogerio100% (1)
- Alvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020No EverandAlvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020Ainda não há avaliações
- REFRATARIOSDocumento69 páginasREFRATARIOSSandro AzevedoAinda não há avaliações
- Mecânica - Materiais Metalicos e Não-Metalicos - SENAIDocumento44 páginasMecânica - Materiais Metalicos e Não-Metalicos - SENAIMarco Paulo Vilela RochaAinda não há avaliações
- Apostila de Tecnologia Da SoldagemDocumento110 páginasApostila de Tecnologia Da Soldagemstudient10Ainda não há avaliações
- TESTESP1Documento6 páginasTESTESP1mylle_mestra100% (1)
- Transformações de fases em materiais metálicosNo EverandTransformações de fases em materiais metálicosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Relatório Técnico - Perfil de FerroligasDocumento112 páginasRelatório Técnico - Perfil de FerroligasluizhmoAinda não há avaliações
- Pórtico Móvel - Elementos de MáquinasDocumento42 páginasPórtico Móvel - Elementos de MáquinasEmerson RenneAinda não há avaliações
- Felipe Willian Bernachi Menezes RodriguesDocumento31 páginasFelipe Willian Bernachi Menezes Rodriguesfelipe willianAinda não há avaliações
- Comparação Entre Soldagem Robotizada Com Arame Sólido e Metal Cored A Ocorrência Do FingerDocumento91 páginasComparação Entre Soldagem Robotizada Com Arame Sólido e Metal Cored A Ocorrência Do FingerTAESPEAinda não há avaliações
- Comparação Entre Aparelhos de Medição Do Potencial de CarbonoDocumento56 páginasComparação Entre Aparelhos de Medição Do Potencial de Carbonoebezinha brookeAinda não há avaliações
- Disserta o de Mestrado Final15032012Documento114 páginasDisserta o de Mestrado Final15032012viickpereira2006Ainda não há avaliações
- Catalogo de Aços GerdalDocumento106 páginasCatalogo de Aços GerdalWashington SouzaAinda não há avaliações
- Análise Da Influência Do Boro Na Temperabilidade de Aços CarbonoDocumento58 páginasAnálise Da Influência Do Boro Na Temperabilidade de Aços CarbonoVictor FontanaAinda não há avaliações
- 803 MDocumento183 páginas803 MLincoln Cristiano DelfinoAinda não há avaliações
- FA - TecMec - MI - Processos Fund LigacaoDocumento149 páginasFA - TecMec - MI - Processos Fund LigacaoSílvia KAinda não há avaliações
- Estudo Da Solubilização Do NBDocumento147 páginasEstudo Da Solubilização Do NBAntonio Teodoro Dutra JúniorAinda não há avaliações
- Propriedades Do LatãoDocumento69 páginasPropriedades Do Latãopaulo fialho FialhoAinda não há avaliações
- Estudo de Diferentes Soluções de Muro de Solo Estabilizado Mecanicamente (Mse) para A Construção de Um Viaduto Na Cidade de Goiânia.Documento100 páginasEstudo de Diferentes Soluções de Muro de Solo Estabilizado Mecanicamente (Mse) para A Construção de Um Viaduto Na Cidade de Goiânia.Andressa LimaAinda não há avaliações
- Historia Do InconelDocumento69 páginasHistoria Do InconelPatricia AlmeidaAinda não há avaliações
- Tecnologia Dos Metais - FinalDocumento27 páginasTecnologia Dos Metais - FinalGuilherme Ebenezer NhanaleAinda não há avaliações
- Dissertacao Thiago Fontourade AndradeDocumento85 páginasDissertacao Thiago Fontourade AndraderenatobevAinda não há avaliações
- TCC Otavio Cao - Monografia de Exemplo 2Documento60 páginasTCC Otavio Cao - Monografia de Exemplo 2Diego MoraesAinda não há avaliações
- TCC Robson Rodrigues Mundial SADocumento70 páginasTCC Robson Rodrigues Mundial SALuisa CarvalhoAinda não há avaliações
- Relatório Tratamento Térmico Pronto - REVISADO LORENADocumento26 páginasRelatório Tratamento Térmico Pronto - REVISADO LORENALorena MeloAinda não há avaliações
- Aco Ao BoroDocumento79 páginasAco Ao BoroEng Rafael AyresAinda não há avaliações
- TCC - Aço CA-70Documento104 páginasTCC - Aço CA-70ricardomoraisAinda não há avaliações
- Corrosão Aço Baixa LigaDocumento71 páginasCorrosão Aço Baixa LigaGilson Furtado SouzaAinda não há avaliações
- Aplicação e Análise Do Tratamento Térmico Q&P em ComparaçãoDocumento84 páginasAplicação e Análise Do Tratamento Térmico Q&P em ComparaçãomfurrierAinda não há avaliações
- Dimensionamento Do Reforco Estrutural A Flexao para Viga Biapoiada de Concreto ArmadoDocumento78 páginasDimensionamento Do Reforco Estrutural A Flexao para Viga Biapoiada de Concreto ArmadoJean Henrique CrestaniAinda não há avaliações
- Principais Mecanismos de Desgaste e Avaliacao de Diferentes Ligas para Corpos Moedores PDFDocumento59 páginasPrincipais Mecanismos de Desgaste e Avaliacao de Diferentes Ligas para Corpos Moedores PDFOver WayAinda não há avaliações
- Estudo Do Dano Por Fadiga em TubulaçõesDocumento80 páginasEstudo Do Dano Por Fadiga em TubulaçõessucolottiAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Econômico Local Da Zona Oeste Do Rio de Janeiro e de Seu EntornoDocumento511 páginasDesenvolvimento Econômico Local Da Zona Oeste Do Rio de Janeiro e de Seu EntornoFórum de Desenvolvimento do RioAinda não há avaliações
- Steyer (2006)Documento63 páginasSteyer (2006)romulomedeiroscaruaruAinda não há avaliações
- Grupo 6-Oxidaã Ã O-Corrosã o CorrigidoDocumento24 páginasGrupo 6-Oxidaã Ã O-Corrosã o CorrigidoMárcio ÁvilaAinda não há avaliações
- Propriedades Estruturais e Eletrônicas Nitreto de Boro Hexagonal e GrafenoDocumento71 páginasPropriedades Estruturais e Eletrônicas Nitreto de Boro Hexagonal e GrafenoRenata NegriniAinda não há avaliações
- TCC Débora Viégas MachadoDocumento96 páginasTCC Débora Viégas MachadoDebora ViegasAinda não há avaliações
- Apostila de Estrutura Metálica PDFDocumento71 páginasApostila de Estrutura Metálica PDFDayane GomesAinda não há avaliações
- Apostila de CTMDocumento125 páginasApostila de CTMLucas AbrahãoAinda não há avaliações
- Apostila CTM Parte 1Documento75 páginasApostila CTM Parte 1raultorresrtAinda não há avaliações
- Apostila Materiais Cap1a5Documento126 páginasApostila Materiais Cap1a5pedrocrispim020Ainda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO InfluênciaParâmetrosProcessoDocumento76 páginasDISSERTAÇÃO InfluênciaParâmetrosProcessoCunha Projetos de Cilindros HidráulicosAinda não há avaliações
- Análise Da Transformação de Fase e Encruamento Do Aço Inoxidável 201 Durante A Conformação A Frio Por TrefilaçãoDocumento53 páginasAnálise Da Transformação de Fase e Encruamento Do Aço Inoxidável 201 Durante A Conformação A Frio Por TrefilaçãoLiandra CardosoAinda não há avaliações
- Lvaro Jos Do Carmo ResendeDocumento67 páginasLvaro Jos Do Carmo ResendeBiancaAinda não há avaliações
- TCC - Reforço e Recuperação Estrutural - 20151006Documento75 páginasTCC - Reforço e Recuperação Estrutural - 20151006Mariana AquinoAinda não há avaliações
- R - e - Guilherme de BorbaDocumento43 páginasR - e - Guilherme de BorbanorthoncristyanAinda não há avaliações
- Caracterização Mecânica Por Ensaio de Tração de Alumínio Utilizados em Chassis de MotocicletasDocumento46 páginasCaracterização Mecânica Por Ensaio de Tração de Alumínio Utilizados em Chassis de MotocicletasThiago Cruz Da SilvaAinda não há avaliações
- Análise Do Rendimento de Ferroligas em Estação de Rinsagem Utilizando o Simulador de Refino Secundário Do Steel UniversityDocumento49 páginasAnálise Do Rendimento de Ferroligas em Estação de Rinsagem Utilizando o Simulador de Refino Secundário Do Steel UniversityWallace CrisólogoAinda não há avaliações
- Qualificação TSC Versão FinalDocumento61 páginasQualificação TSC Versão FinalTamires CordeiroAinda não há avaliações
- Princípios e Métodos de Reabilitação de Estruturas de Concreto ArmadoDocumento73 páginasPrincípios e Métodos de Reabilitação de Estruturas de Concreto ArmadorodrigorodriguesAinda não há avaliações
- EFEITO DA BASICIDADE E TEOR DE ALUMINA SOBRE O COMPORTAMENTO DE AMOLECIMENTO E FUSÃO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO - Final - RevisadoDocumento90 páginasEFEITO DA BASICIDADE E TEOR DE ALUMINA SOBRE O COMPORTAMENTO DE AMOLECIMENTO E FUSÃO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO - Final - RevisadoFabioAinda não há avaliações
- Everaldo Ant Nio CaldeiraDocumento98 páginasEveraldo Ant Nio CaldeiraJonathan ViníciusAinda não há avaliações
- Efeito de Vento em Torres de TelecomunicaesDocumento78 páginasEfeito de Vento em Torres de TelecomunicaesFlávio Henrique Cavalcanti de Araújo LuzAinda não há avaliações
- Estudo Do Sistema Construtivo Light Steel FrameDocumento88 páginasEstudo Do Sistema Construtivo Light Steel FramecarlosAinda não há avaliações
- Projeto de Ponte EstaiadaDocumento89 páginasProjeto de Ponte EstaiadaRanderson RezierAinda não há avaliações
- Relatório De Estágio Supervisionado Obrigatório: Engorda Do Camarão Marinho Penaeus Vannamei, Realizado Em Limoeiro Do Norte Na Empresa Aquinova, Aquicultura Morada Nova Ltda.No EverandRelatório De Estágio Supervisionado Obrigatório: Engorda Do Camarão Marinho Penaeus Vannamei, Realizado Em Limoeiro Do Norte Na Empresa Aquinova, Aquicultura Morada Nova Ltda.Ainda não há avaliações
- Relatório Jorge Lacerda CorreçãoDocumento12 páginasRelatório Jorge Lacerda CorreçãoAndré ProvensiAinda não há avaliações
- Apresentação Ferramentas de Corte PDFDocumento39 páginasApresentação Ferramentas de Corte PDFAndré ProvensiAinda não há avaliações
- Efeito Peltier PDFDocumento18 páginasEfeito Peltier PDFAndré ProvensiAinda não há avaliações
- Processos de Soldagem Por DeformaçãoDocumento12 páginasProcessos de Soldagem Por DeformaçãoSylvio AugustoAinda não há avaliações
- Sumitomo - M - Ferramentas de Diamante PolicristalinoDocumento34 páginasSumitomo - M - Ferramentas de Diamante PolicristalinoJulio LeonAinda não há avaliações
- Especificação Aços SaeDocumento5 páginasEspecificação Aços SaelelegilAinda não há avaliações
- SinterizaçãoDocumento57 páginasSinterizaçãozmariogomesAinda não há avaliações
- Aula 5.2 Definição de Aço e Ferro FundidoDocumento52 páginasAula 5.2 Definição de Aço e Ferro FundidoGabriel De Andrade Janene GoniniAinda não há avaliações
- Aula 02 - Soldagem de Manutenção - Materiais de BaseDocumento49 páginasAula 02 - Soldagem de Manutenção - Materiais de BaseLucas GiovanettiAinda não há avaliações
- CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO A FUMOS METÁLICOS DE CHUMBO EM SOLDAS NAS MPEs DO VALE DA ELETRÔNICA - João Paulo de Oliveira Neto - PublicaçãoDocumento60 páginasCONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO A FUMOS METÁLICOS DE CHUMBO EM SOLDAS NAS MPEs DO VALE DA ELETRÔNICA - João Paulo de Oliveira Neto - PublicaçãoJoão Paulo De Oliveira NetoAinda não há avaliações
- Texto Brinell Vickers Rockwell ShoreDocumento13 páginasTexto Brinell Vickers Rockwell ShorelucianospardaAinda não há avaliações
- Forno VIMDocumento221 páginasForno VIMAlex VianaAinda não há avaliações
- 932-Parametros de Controle para Caixas Box Destinadas A Arquivos Vesao Intener PDFDocumento130 páginas932-Parametros de Controle para Caixas Box Destinadas A Arquivos Vesao Intener PDFMaycon WilliamsAinda não há avaliações
- Preparação de Corpo de Prova para MetalografiaDocumento5 páginasPreparação de Corpo de Prova para MetalografiaTamilim TolentinoAinda não há avaliações
- Relatório de EstágioDocumento49 páginasRelatório de EstágioPaulo EduardoAinda não há avaliações
- NBR 08800 - 1986 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço em Edificações PDFDocumento108 páginasNBR 08800 - 1986 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço em Edificações PDFXarbreAinda não há avaliações
- B.introdução Metal2Documento26 páginasB.introdução Metal2eduardo_umAinda não há avaliações
- Catalogo Tecnico ArcelorDocumento12 páginasCatalogo Tecnico ArcelorCarlos SantosAinda não há avaliações
- NBR 13284Documento4 páginasNBR 13284Isa Lima50% (2)
- Tabela de Grau de Risco Por CnaeDocumento21 páginasTabela de Grau de Risco Por CnaeKatia Sousa SousaAinda não há avaliações
- Ligas Com Efeito Memória de FormaDocumento7 páginasLigas Com Efeito Memória de FormaPaula FantiniAinda não há avaliações
- Quimica TransformacoesDocumento40 páginasQuimica TransformacoesMarcos ViniciusAinda não há avaliações
- Aula 3-Meios Corrosivos e Oxidação em Altas TemperaturasDocumento41 páginasAula 3-Meios Corrosivos e Oxidação em Altas TemperaturasMatheus Alves100% (2)
- Banco de Dados - AV1 Princípios Da Ciência E Tecnologia Dos MateriaisDocumento10 páginasBanco de Dados - AV1 Princípios Da Ciência E Tecnologia Dos MateriaisRosiane Marins Da Silva MarinsAinda não há avaliações
- Seer 17477Documento6 páginasSeer 17477N AbreuAinda não há avaliações