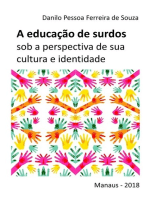Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ensinofundamental Surdez 120520220118 Phpapp02 PDF
Ensinofundamental Surdez 120520220118 Phpapp02 PDF
Enviado por
Ariany Ribeiro AmorimTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ensinofundamental Surdez 120520220118 Phpapp02 PDF
Ensinofundamental Surdez 120520220118 Phpapp02 PDF
Enviado por
Ariany Ribeiro AmorimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Presidente da Repblica
Luiz Incio Lula da Silva
Ministro da Educao
Fernando Haddad
Secretrio Executivo
J os Henrique Paim Fernandes
Secretria de Educao Especial
Claudia Pereira Dutra
MINISTRIO DA EDUCAO
Secretaria de Educao Especial
Braslia 2006
Saberes e prticas
da incluso
Desenvolvendo competncias
para o atendimento s necessidades
educacionais especiais de alunos surdos
FICHA TCNICA
Coordenao Geral
SEESP/MEC
Consultoria
Maria Salete Fbio Aranha
Reviso Tcnica
Francisca Roseneide Furtado do Monte
Denise de Oliveira Alves
Reviso de Texto
Maria de Ftima Cardoso Telles
Saberes e prticas da incluso : desenvolvendo competncias para o atendimento s
necessidades educacionais especiais de alunos surdos. [2. ed.] / coordenao geral
SEESP/MEC. - Braslia : MEC, Secretaria de Educao Especial, 2006.
116 p. (Srie : Saberes e prticas da incluso)
1. Compet nci a pedaggi ca. 2. Educao dos surdos. 3. Necessi dades
Educacionais. 4. Educao dos surdos. I. Brasil. Secretaria de Educao Especial.
CDU: 376.014.53
CDU 376.33
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Srie: SABERES E PRTICAS DA INCLUSO
Caderno do Coordenador e do Formador de Grupo
Recomendaes para a Construo de Escolas Inclusivas
Desenvolvendo Competncias para o Atendimento s Necessidades
Educacionais Especiais de Alunos Surdos
Desenvolvendo Competncias para o Atendimento s Necessidades
Educacionais Especiais de Alunos com Defcincia Fsica/neuro-motora
Desenvolvendo Competncias para o Atendimento s Necessidades
Educacionais Especiais de Alunos com Altas Habilidades/Superdotao
Desenvolvendo Competncias para o Atendimento s Necessidades
Educacionais Especiais de Alunos Cegos e de Alunos com Baixa Viso
Avaliao para Identifcao das Necessidades Educacionais Especiais
Prezado (a) Professor (a),
A Educao Especial, como uma modalidade de educao escolar que perpassa
todas as etapas e nveis de ensino, est defnida nas Diretrizes Nacionais para
a Educao Especial na Educao Bsica que regulamenta a garantia do direito
de acesso e permanncia dos alunos com necessidade educacionais especiais e
orienta para a incluso em classes comuns do sistema regular de ensino.
Considerando a importncia da formao de professores e a necessidade de
organizao de sistemas educacionais inclusivos para a concretizao dos direitos
dos alunos com necessidade educacionais especiais a Secretaria de Educao
Especial do MEC est entregando a coleo Saberes e Prticas da Incluso,
que aborda as seguintes temticas:
. Caderno do coordenador e do formador de grupo.
. Recomendaes para a construo de escolas inclusivas.
. Desenvolvendo competncias para o atendimento s necessidades
educacionais especiais de alunos surdos.
. Desenvolvendo competncias para o atendimento s necessidades
educacionais especiais de alunos com deficincia fsica/neuro-
motora.
. Desenvolvendo competncias para o atendimento s necessidades
educaci onai s especi ai s de al unos com al tas habi l i dades/
superdotao.
. Desenvolvendo competncias para o atendimento s necessidades
educacionais especiais de alunos cegos e com baixa viso.
. Avaliao para identifcao das necessidades educacionais especiais.
Desejamos sucesso em seu trabalho.
Secretaria de Educao Especial
Apresentao
SECRETARIA DE EDUCAO ESPECIAL
O quadro a seguir ilustra como se deve entender e ofertar os servios de
educao especial, como parte integrante do sistema educacional brasileiro,
em todos os nveis de educao e ensino.
(Parecer CNE/CEB N2/2001)
Sumrio
Introduo
Conhecendo a Surdez: anatomia e funciona-
mento do sistema auditivo, conceitos e classifi-
caes
Conhecendo os Dispositivos de Amplificao
Sonora: A.A.S.I., implante coclear e sistema
F.M.
Conhecendo Concepes e Paradigmas do Trato
Surdez e discutindo Processos e Propostas
de Ensino (Educao Monolnge e Educao
Bilnge)
Sensibilizando o Professor para a Experincia
com a Surdez
A Singularidade dos Alunos Surdos Expressa
na Leitura e na Produo de Textos: ensino e
avaliao
Da Identificao de Necessidades Educacionais
Especiais s Alternativas de Ensino
Desenvolvendo Interaes Sociais e Construindo
Relaes Sociais Estveis, no Contexto da Sala
Inclusiva
1
21
31
4
5
6
7
11
39
41
59
63
3
2
7
7
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Introduo
FINALIDADE
Favorecer condies para que professores e especialistas em educao possam
identifcar e atender s necessidades educacionais especiais de alunos surdos,
presentes na escola comum do ensino regular na educao de jovens e adultos
no que se refere ao ensino e ao uso da Lngua Portuguesa e ao uso da Lngua de
Sinais.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
Ao fnal deste mdulo, o professor dever ser capaz de:
1. Identifcar as caractersticas bsicas que constituem o quadro da surdez.
2. Dissertar sobre as possveis implicaes da surdez para o processo de ensino
e aprendizagem.
3. Dissertar sobre o valor da reabilitao oral, o uso dos dispositivos de
amplifcao sonora (A.A.S.I., implante coclear e sistema de freqncia
modulada F.M.) e as condies bsicas de seu funcionamento, cuidados,
manuteno, problemas e providncias.
4. Dissertar criticamente sobre as diferentes concepes e paradigmas que
atualmente coexistem no trato da aprendizagem das lnguas pelo surdo e das
formas de comunicao (monolingismo e bilingismo).
5. Dissertar sobre os processos e propostas de ensino a serem adotados nas
diferentes reas
8
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
do conhecimento, em funo das peculiaridades que caracterizam o aluno surdo
(educao monolnge e educao bilnge).
6. Dissertar sobre a singularidade dos alunos surdos, expressa nas atividades
de leitura e de produo de textos.
7. Avaliar criticamente a leitura e a produo de textos do aluno surdo.
8. Fazer a anlise do processo de ensino e aprendizagem para identifcar seus
pontos crticos, bem como as necessidades educacionais especiais mais
comumente manifestadas pelo aluno surdo e pelo hipoacsico.
9. Perante casos apresentados, elaborar propostas de trabalho para o ensino
da leitura e da produo de textos, incluindo exemplos sobre as adaptaes
curriculares necessrias.
10. Planejar e implementar ajustes de pequeno porte: organizacionais, de
objetivos, de contedos, de mtodos e de procedimentos, de temporalidade e
de avaliao, observando as especifcidades de cada rea do conhecimento.
11. Identifcar implicaes da surdez para o estabelecimento de relaes sociais
estveis.
12. Identifcar estratgias de ao voltadas para o desenvolvimento de interaes
sociais e de relaes sociais estveis no contexto da sala inclusiva.
CONTEDO
1. Conhecendo a surdez: (expectativas 1 e 2)
rgos do sistema auditivo e seu funcionamento.
Conceitos e classifcao dos diferentes graus de surdez.
Caracterizao dos educandos de acordo com o grau da perda e as
implicaes para o seu desenvolvimento.
2. Dispositivos de amplifcao sonora: (expectativa 3)
Aparelho de amplifcao sonora individual (A.A.S.I.)
Sistema de freqncia modulada - F.M.
Implante coclear
3. Concepes e paradigmas sobre a surdez: tendncias e controvrsias entre
monolingismo e bilingismo (expectativa 4)
4. Processos e propostas de ensino: educao monolnge (Lngua Portuguesa)
9
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
e bilnge (Lngua Portuguesa e Lngua de Sinais) (expectativa 5)
5. Anlise das peculiaridades no processo de ensino e de aprendizagem de alunos
surdos (expectativas 6, 7, 8 e 9)
6. Anlise da produo de texto do aluno surdo, formas de interveno e de
avaliao compreensiva (expectativa 8)
7. Ajustes de pequeno porte: organizacionais, de objetivos, de contedos, de
mtodos e procedimentos, de temporalidade e de avaliao, observando as
especifcidades de cada rea do conhecimento (expectativa 10)
8. Implicaes da surdez para o desenvolvimento de relaes sociais estveis do
aluno surdo em ambiente inclusivo (expectativa 11)
9. Estratgias de ao voltadas para o desenvolvimento de interaes sociais e de
relaes sociais estveis no contexto da sala inclusiva (expectativa 12).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Brasil (1997). Programa de Capacitao de Recursos Humanos do Ensino
Fundamental Deficincia Auditiva, volume I. Srie Atualidades
Pedaggicas 04. Braslia: MEC/ SEESP.
Brasil (1997). Programa de Capacitao de Recursos Humanos do Ensino
Fundamental - A Educao dos Surdos, volume II. Srie Atualidades
Pedaggicas 04. Braslia: MEC/SEESP.
Brasil (1997). Programa de Capacitao de Recursos Humanos do Ensino
Fundamental - Lngua Brasileira de Sinais, volume III. Srie Atualidades
Pedaggicas 04. Braslia: MEC/SEESP.
Brasil (1999). Adaptaes Curriculares Estratgias para a Educao
de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Braslia: MEC /
SEESP.
11
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
I ENCONTRO
1. CONHECENDO A SURDEZ:
ANATOMIA E FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA AUDITIVO, CONCEITOS
E CLASSIFICAES
TEMPO PREVISTO
04 horas
FINALIDADE DO ENCONTRO
Favorecer condies para que cada participante se familiarize com a constituio
e o funcionamento do sistema auditivo humano, com os diferentes conceitos e
classifcaes de surdez.
MATERIAL
1. Gomes, C.A.V. (2000). A audio e a surdez. Marlia: Ncleo de Estudos
e Pesquisas Sobre a Ateno Pessoa com Defcincia. Programa de Ps-
Graduao em Educao, UNESP-Marlia.
2. Um tronco de rvore, de aproximadamente 1m x 0,60m, desenhado em
cartolina branca e pintado de marrom.
3. Folhas de rvore, feitas em cartolina verde, em nmero correspondente ao
nmero de participantes.
4. Fita crepe, para pregar as folhas no tronco.
5. Cartolina, papel colorido, pincel atmico de vrias cores, durex, papel para
transparncia.
6. Retroprojetor.
10. Caixa craniana desmontvel que permita a visualizao das estruturas que
compem o sistema auditivo.
11. Um desenho do ouvido humano em tamanho ampliado.
SEQNCIA DE ATIVIDADES
Este encontro dever se caracterizar por diferentes momentos de interao,
objetivando a construo de conhecimento sobre a surdez, sua caracterizao e
conseqncias.
12
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
1. Apresentao dos participantes (1 h)
Para iniciar, o formador dever propor aos participantes que se apresentem,
dizendo nome, qualifcao profssional, histrico profssional, posio e
funo profssional que exercem atualmente.
Recomenda-se que o formador utilize alguma dinmica de
grupo para descontrair e alegrar o grupo. Uma estratgia
que tem dado bons resultados a de fxar um grande tronco
de rvore (feito em cartolina e pintado de marrom) numa
das paredes da sala, distribuindo aos participantes folhas de
rvore (feitas em cartolina verde). Nestas, cada participante
deve escrever uma palavra que represente o que est
sentindo nesse incio de programa. Em seguida, cada um
dever ir at a frente da sala, apresentar-se e apresentar a
palavra que escreveu, explicando porque a escolheu.
2. Estudo dirigido (30 min.)
Em seguida, o formador dever dividir o grupo de participantes em subgrupos
de at quatro pessoas, para leitura e discusso sobre o texto da pgina
seguinte:
13
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
A AUDIO E A SURDEZ
Cludia Ap. Valderramas Gomes
1
Prezado professor:
Voc j deve ter ouvido falar na surdez ou na defcincia auditiva como uma
diminuio na capacidade de ouvir de um indivduo.
Pois bem, para compreendermos melhor as conseqncias decorrentes da surdez
importante sabermos mais sobre o processamento normal da audio, que
inclui o conhecimento das estruturas anatmicas do ouvido humano e de seu
funcionamento.
atravs da audio que aprendemos a identifcar e reconhecer os diferentes
sons do ambiente. As informaes trazidas pela audio, alm de funcionarem
como sinais de alerta, auxiliam o desenvolvimento da linguagem, possibilitando
a comunicao oral com nossos semelhantes.
O SOM E O OUVIDO HUMANO
O som um fenmeno resultante da movimentao das partculas do ar. Qualquer
evento capaz de causar ondas de presso no ar considerado uma fonte sonora.
A fala, por exemplo, o resultado do movimento dos rgos fono-articulatrios,
que por sua vez provoca movimentao das partculas de ar, produzindo ento
o som.
Perceber, reconhecer, interpretar e, fnalmente, compreender os diferentes sons
do ambiente s possvel graas existncia de trs estruturas que funcionam
de forma ajustada e harmoniosa, constituindo o sistema auditivo humano.
O ouvido humano composto por trs partes: uma, externa; as outras duas
(internas) esto localizadas dentro da caixa craniana.
1
Gomes, C.A.V. (2000). A audio e a surdez. Ncleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Ateno Pessoa
com Defcincia. Programa de Ps-Graduao em Educao UNESP Marlia.
14
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
A parte externa, tambm chamada de ouvido externo, compreende o pavilho
auricular (orelha), o conduto auditivo e a membrana timpnica. Essa estrutura
tem por funo receber as ondas sonoras, captadas pela orelha e transport-las
at a membrana timpnica ou tmpano, fazendo-a vibrar com a presso das ondas
sonoras. A membrana timpnica separa o ouvido externo do ouvido mdio.
No ouvido mdio esto localizados trs ossos muito pequenos (martelo, bigorna
e estribo). Esses ossculos so presos por msculos, tendo por funo mover-se
para frente e para trs, colaborando no transporte das ondas sonoras at a parte
interna do ouvido. Ainda no ouvido mdio est localizada a tuba auditiva, que
liga o ouvido garganta.
A poro interna do ouvido, tambm denominado ouvido interno, muito
especial. Nela esto situados: a cclea (estrutura que tem o tamanho de um gro
de feijo e o formato de um caracol), os canais semicirculares (responsveis pelo
equilbrio) e o nervo auditivo. nessa poro do ouvido que ocorre a percepo
do som.
A cclea composta por clulas ciliadas que so estruturas com terminaes
nervosas capazes de converter as vibraes mecnicas (ondas sonoras) em
impulsos eltricos, os quais so enviados ao nervo auditivo e deste para os centros
auditivos do crebro.
O processo de decodifcao de um estmulo auditivo tem incio na cclea e
termina nos centros auditivos do crebro, possibilitando a compreenso da
mensagem recebida.
Qualquer alterao ou distrbio no processamento normal da audio, seja
qual for a causa, tipo ou grau de severidade, constitui uma alterao auditiva,
determinando, para o indivduo, uma diminuio da sua capacidade de ouvir e
perceber os sons.
15
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
CARACTERIZANDO A SURDEZ
O conhecimento sobre as caractersticas da surdez permite queles que se
relacionam ou que pretendem desenvolver algum tipo de trabalho pedaggico com
pessoas surdas, a compreenso desse fenmeno, aumentando sua possibilidade
de atender s necessidades especiais constatadas.
Quanto ao perodo de aquisio, a surdez pode ser dividida em dois grandes
grupos:
Congnitas, quando o indivduo j nasceu surdo. Nesse caso a surdez
pr-lingual, ou seja, ocorreu antes da aquisio da linguagem.
Adquiridas, quando o indivduo perde a audio no decorrer da sua vida.
Nesse caso a surdez poder ser pr ou ps-lingual, dependendo da sua
ocorrncia ter se dado antes ou depois da aquisio da linguagem.
Quanto etiologia (causas da surdez), elas se dividem em:
Pr-natais surdez provocada por fatores genticos e hereditrios,
doenas adquiridas pela me na poca da gestao (rubola, toxoplasmose,
citomegalovrus), e exposio da me a drogas ototxicas (medicamentos que
podem afetar a audio).
Peri-natais: surdez provocada mais freqentemente por parto prematuro,
anxia cerebral (falta de oxigenao no crebro logo aps o nascimento) e
trauma de parto (uso inadequado de frceps, parto excessivamente rpido,
parto demorado).
16
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Ps-natais: surdez provocada por doenas adquiridas pelo indivduo ao longo
da vida, como: meningite, caxumba, sarampo. Alm do uso de medicamentos
ototxicos, outros fatores tambm tm relao com a surdez, como avano
da idade e acidentes.
Com relao localizao (tipo de perda auditiva) da leso, a alterao
auditiva pode ser:
Condutiva: quando est localizada no ouvido externo e/ou ouvido
mdio; as principais causas deste tipo so as otites, rolha de cera, acmulo
de secreo que vai da tuba auditiva para o interior do ouvido mdio,
prejudicando a vibrao dos ossculos (geralmente aparece em crianas
freqentemente resfriadas). Na maioria dos casos, essas perdas so reversveis
aps tratamento.
Neurossensorial: quando a alterao est localizada no ouvido interno
(cclea ou em fbras do nervo auditivo). Esse tipo de leso irreversvel; a
causa mais comum a meningite e a rubola materna.
Mista: quando a alterao auditiva est localizada no ouvido externo e/ou
mdio e ouvido interno. Geralmente ocorre devido a fatores genticos,
determinantes de m formao.
Central: A alterao pode se localizar desde o tronco cerebral at s
regies subcorticais e crtex cerebral.
O audimetro um instrumento utilizado para medir a sensibilidade auditiva
de um indivduo. O nvel de intensidade sonora medido em decibel (dB).
Por meio desse instrumento faz-se possvel a realizao de alguns testes, obtendo-
se uma classifcao da surdez quanto ao grau de comprometimento (grau
e/ou intensidade da perda auditiva), a qual est classifcada em nveis, de acordo
com a sensibilidade auditiva do indivduo:
Audio normal - de 0 15 dB
Surdez leve de 16 a 40 dB. Nesse caso a pessoa pode apresentar
dificuldade para ouvir o som do tic-tac do relgio, ou mesmo uma
conversao silenciosa (cochicho).
Surdez moderada de 41 a 55 dB. Com esse grau de perda auditiva a
pessoa pode apresentar alguma difculdade para ouvir uma voz fraca ou o
canto de um pssaro.
Surdez acentuada de 56 a 70 dB. Com esse grau de perda auditiva
a pessoa poder ter alguma dificuldade para ouvir uma conversao
normal.
17
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Surdez severa de 71 a 90 dB. Nesse caso a pessoa poder ter
difculdades para ouvir o telefone tocando ou rudos das mquinas de
escrever num escritrio.
Surdez profunda acima de 91 dB. Nesse caso a pessoa poder ter
difculdade para ouvir o rudo de caminho, de discoteca, de uma mquina
de serrar madeira ou, ainda, o rudo de um avio decolando.
A surdez pode ser, ainda, classifcada como unilateral, quando se apresenta em
apenas um ouvido e bilateral, quando acomete ambos ouvidos.
A RELAO ENTRE O GRAU DA SURDEZ
E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Sendo a surdez uma privao sensorial que interfere diretamente na
comunicao, alterando a qualidade da relao que o indivduo estabelece com
o meio, ela pode ter srias implicaes para o desenvolvimento de uma criana,
conforme o grau da perda auditiva que as mesmas apresentem:
Surdez leve: a criana capaz de perceber os sons da fala; adquire e
desenvolve a linguagem oral espontaneamente; o problema geralmente
tardiamente descoberto; difcilmente se coloca o aparelho de amplifcao
porque a audio muito prxima do normal.
Surdez moderada: a criana pode demorar um pouco para desenvolver a
fala e linguagem; apresenta alteraes articulatrias (trocas na fala) por no
perceber todos os sons com clareza; tem difculdade em perceber a fala em
ambientes ruidosos; so crianas desatentas e com difculdade no aprendizado
da leitura e escrita.
Surdez severa: a criana ter difculdades em adquirir a fala e linguagem
espontaneamente; poder adquirir vocabulrio do contexto familiar; existe
a necessidade do uso de aparelho de amplificao e acompanhamento
especializado.
Surdez profunda: a criana difcilmente desenvolver a linguagem oral
espontaneamente; s responde auditivamente a sons muito intensos como:
bombas, trovo, motor de carro e avio; freqentemente utiliza a leitura oro-
facial; necessita fazer uso de aparelho de amplifcao e/ou implante coclear,
bem como de acompanhamento especializado.
18
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
O TRABALHO DO PROFESSOR
(extrado da cartilha A defcincia auditiva na
idade escolar - Programa Sade Auditiva HRAC/USP)
O professor precisa observar:
Se a criana apresenta difculdade na pronncia das palavras,
Se a criana aparenta preguia ou desnimo,
Se a criana atende aos chamados,
Se a criana inclina a cabea, procurando ouvir melhor,
Se a criana usa palavras inadequadas e erradas, quando comparadas s
palavras utilizadas por outras crianas da mesma idade,
Se a criana no se interessa pelas atividades ou jogos em grupo,
Se a criana vergonhosa, retrada e desconfada,
Se fala muito alto ou muito baixo,
Se a criana pede repetio freqentemente.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Bevilacqa, M. C. (1998). Conceitos bsicos sobre a audio e a defcincia
auditiva. Cadernos de audiologia. Bauru: H.P.R.L.L.P / USP.
Brasil - A Defcincia Auditiva na Idade Escolar Cartilha. Programa de
Sade auditiva. Bauru: H.P.R.L.L.P. USP, FUNCRAF, Secretaria de Sade
do Estado de So Paulo.
Fernandes, J. C. (1995). Noes de Acstica. Apostila elaborada para o Curso
de Formao: Metodologia Verbotonal na Defcincia Auditiva. Bauru:
H.P.R.L.L.P. USP.
Katz, J. E.D (1989). Tratado de audiologia clnica. So Paulo: Editora
Manole.
19
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Leituras Complementares Sugeridas
Brasil (1997). Os rgos do aparelho auditivo e seu funcionamento. Programa de
Capacitao de Recursos Humanos do Ensino Fundamental Defcincia
Auditiva, volume I. Srie Atualidades Pedaggicas 04 Braslia: MEC/ SEESP
(pp. 2330).
____. (1997). Conceito e Classifcao da Defcincia Auditiva. Programa de
Capacitao de Recursos Humanos do Ensino Fundamental Defcincia
Auditiva, volume I. Srie Atualidades Pedaggicas 04, Braslia: MEC /
SEESP (pp. 31-32).
____. (1997). Caracterizao dos tipos de educandos portadores de defcincia
auditiva. Programa de Capacitao de Recursos Humanos do Ensino
Fundamental Deficincia Auditiva, volume I. Srie Atualidades
Pedaggicas 04, Braslia: MEC / SEESP (pp. 53-55).
3. Atividade (45 min.)
Dando continuidade atividade, o formador dever explorar o contedo
abordado no texto, utilizando materiais diferentes, que permitam visualizar
a anatomia do ouvido humano. O formador poder, dessa forma, demonstrar
concretamente como se d o processamento normal da audio, bem como
quais so as principais intercorrncias que podem levar surdez.
4. Intervalo (15 min.)
5. Estudo dirigido (45 min.)
Em seguida, o formador dever solicitar aos participantes que se dividam em
trs grupos, disponibilizando caixas de material de trabalho: caixa craniana
desmontvel que permita a visualizao do sistema auditivo, atlas do corpo
humano, desenho ampliado do ouvido humano, sino ou qualquer objeto que
produza som marcante, cartolina, papel colorido, pincel atmico de vrias
cores, fta adesiva, fta crepe, folhas de transparncia, retroprojetor, sucata,
etc..
Com base nesses materiais cada grupo dever receber uma das seguintes
tarefas, tendo para isto um tempo de 45 min.
Grupo 1: Elaborar, para apresentao em plenria, uma representao
(grfca, teatral, ou de qualquer outro tipo preferido do grupo), sobre a
constituio e o funcionamento do aparelho auditivo
20
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Grupo 2: Elaborar, para apresentao em plenria, uma representao
(idem ao anterior) sobre os problemas que podem afetar a produo da
audio
Grupo 3: Discutir e preparar uma apresentao sobre os principais
conceitos e classifcaes da surdez
6. Plenria (45 min.)
Cada grupo dever apresentar seu trabalho para o conjunto de participantes,
estimulando a participao de todos na discusso sobre os contedos
abordados at 15 min para cada grupo.
21
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
2 ENCONTRO
2. CONHECENDO OS DISPOSITIVOS DE
AMPLIFICAO SONORA:
A.A.S.I., IMPLANTE COCLEAR E
SISTEMA F.M.
TEMPO PREVISTO
03 horas
FINALIDADE DESTE ENCONTRO
Favorecer condies para que cada professor conhea os dispositivos de
amplificao sonora existentes, seu funcionamento, cuidados necessrios,
problemas mais comuns e providncias emergenciais. (ref. expectativa 03)
MATERIAL
1. Texto bsico: Noronha-Souza, A.E.L. Reabilitao Oral e os Dispositivos
de Amplifcao Sonora. Bauru: Universidade do Sagrado Corao - USC/
Bauru, 2000.
2. Diferentes modelos de A.A.S.I. (Aparelho de Amplifcao Sonora Individual),
disponibilizados para manuseio e experimentao dos participantes.
3. Moldes de ouvido, feitos de silicone ou acrlico.
4. Algumas baterias (pilhas) para verifcao do funcionamento do A.A.S.I. e de
como fazer sua substituio.
5. Um modelo de implante coclear para manuseio e observao do
funcionamento.
SEQNCIA DE ATIVIDADES
1. Estudo dirigido (1 h)
Para iniciar, o formador dever propor aos participantes que se dividam
em grupos de at cinco pessoas, para leitura e identifcao dos aspectos
relevantes do texto a seguir:
22
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
REABILITAO ORAL E OS DISPOSITIVOS DE
AMPLIFICAO SONORA
Ana Elisa Lara de Noronha-Souza
Professora Assistente do Curso de Fonoaudiologia da
Universidade do Sagrado Corao Bauru/SP
INTRODUO
O desenvolvimento auditivo o processo pelo qual a criana aprende a reconhecer
e compreender os sinais auditivos existentes no ambiente. Sendo assim, a criana
ouvinte desenvolve espontaneamente a sua comunicao, propiciando uma
interao automtica com o meio em que est inserida. Por outro lado, a criana
surda tornar-se- prejudicada no seu desenvolvimento comunicativo por no ter
acesso s informaes auditivas que so importantes para a aquisio da fala e da
linguagem. Desta forma, se faz necessrio o uso de uma amplifcao adequada,
to logo o problema auditivo seja detectado.
Os programas de (re) habilitao oral para crianas com defcincia auditiva
promovem o melhor uso da audio residual por meio da modalidade auditiva
para a aquisio, desenvolvimento e manuteno da linguagem oral.
As metas principais para o uso da audio residual requerem os seguintes
critrios:
Identifcao precoce da perda auditiva;
Uso adequado e efetivo de dispositivos eletrnicos para a surdez;
Participao da famlia no processo teraputico;
Terapeuta habilitado na (re) habilitao auditiva;
Programa educacional adequado que propicie o desenvolvimento das
habilidades auditivas.
O primeiro recurso utilizado no processo de (re) habilitao auditiva o uso
adequado do Aparelho de Amplifcao Sonora Individual (A.A.S.I.). Para que a
criana faa uso de sua audio residual, fundamental que este dispositivo seja
incorporado s atividades do seu cotidiano.
Seguem abaixo informaes gerais sobre os dispositivos de amplificao
sonora:
23
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Existem vrios tipos de dispositivos eletrnicos para a surdez, sendo destacados
os Aparelhos de Amplifcao Sonora Individual (A.A.S.I.), o Implante Coclear e
o uso de Sistemas de Freqncia Modulada (FM), que sero descritos a seguir.
Aparelho de Amplifcao Sonora Individual A.A.S.I.
Existem atualmente, no mercado, vrios tipos e modelos de A.A.S.I., sendo que
os mais indicados para as crianas so o retroauricular e o convencional.
O A.A.S.I. retroauricular fca localizado atrs do pavilho auricular (orelha) e
ligado ao molde auricular por meio de um tubo plstico conectado ao gancho do
aparelho. Oferece grande versatilidade quanto aos recursos disponveis podendo
ser adaptado a todos os graus de perda auditiva (leve a profunda). Outra vantagem
que esteticamente so mais aceitveis.
Foto 1: A.A.S.I. retroauricular e A.A.S.I. mini-retroauricular
Tambm indicada, com menor freqncia, o A.A.S.I. convencional, conhecido
como aparelho auditivo de bolso ou de caixinha, que se assemelha a um walkman.
Este dispositivo tem o mesmo desempenho do A.A.S.I. retroauricular, porm
so indicados para os casos em que h comprometimento motor acentuado,
ou m formao do ouvido externo, o que impossibilita o uso de A.A.S.I.
retroauricular.
24
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Foto 2: A.A.S.I. convencional
Existem ainda, no mercado, os A.A.S.I. intra-auriculares (ocupam a concha
auditiva e o conduto auditivo externo), os A.A.S.I. intra-canais (ocupam a parte
cartilaginosa do conduto auditivo externo) e os A.A.S.I. microcanais (ocupam
o conduto auditivo externo, porm sua insero mais profunda, prximo
membrana timpnica). Estes dispositivos so confeccionados a partir do molde
auricular de cada indivduo, ou seja, o molde do usurio utilizado como invlucro
(estojo) para o aparelho auditivo, uma vez que o circuito montado dentro do
molde.
Estes trs ltimos tipos de aparelhos auditivos so poucos freqentes na indicao
para crianas em fase de crescimento, uma vez que o molde auricular tem que
ser refeito a cada 3, 6 e 12 meses, dependendo da idade da criana.
Como funciona o A.A.S.I. ?
O AASI um dispositivo eletroacstico que converte o
sinal sonoro, como o som de fala, em um sinal eltrico. O
circuito do aparelho manipula o sinal eltrico e o converte
novamente em um sinal acstico, encaminhando o som
amplifcado, atravs do molde auricular, para o conduto
auditivo externo do defciente auditivo.
25
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Bateria (pilha)
Para que este circuito entre em funcionamento fundamental o uso de uma fonte
de energia: a pilha.
Existem vrios tipos e tamanhos de pilhas que devem ser usadas de acordo com
o tipo e modelo do A.A.S.I. Estas pilhas no so recarregveis e duram em mdia
uma semana.
Molde auricular
O molde auricular parte fundamental no processo de adaptao do A.A.S.I.,
pois tem a importante funo de fxar o aparelho orelha da criana e conduzir
o som para dentro do conduto auditivo externo.
Existem vrios tipos de molde auricular, sendo que a escolha do mesmo feita
de acordo com o grau de perda auditiva, o tipo e o modelo de A.A.S.I. indicado.
Em virtude do crescimento da criana os moldes devem ser refeitos sempre que
necessrio. Para crianas menores de 3 anos de idade devem ser trocados a cada
3 meses, enquanto que para crianas maiores, 2 vezes por ano ou quando o molde
sofrer algum dano.
O molde pode ser confeccionado em material rgido (acrlico) e fexvel (silicone),
ambos so igualmente bons.
Verifcando o funcionamento do A.A.S.I.
A famlia responsvel pela colocao e manuteno do A.A.S.I. de cada criana.
Caber, entretanto, ao professor, auxiliar na manuteno de condies favorveis
de uso.
Uma das condies favorveis para que o aluno deficiente auditivo tenha
um bom aproveitamento em sala de aula que o A.A.S.I. esteja funcionando
adequadamente.
O professor dever verifcar o funcionamento do A.A.S.I.
todos os dias
26
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
A.A.S.I. retroauricular:
Colocar a mo em forma de concha e aproxim-la do aparelho como se fosse
peg-lo. Se este apitar com forte intensidade, isto indicativo de que a pilha
encontra-se em boas condies de uso. Caso contrrio, se no apitar ou apitar
fracamente, isto indicar que a pilha deve ser trocada. Caso o problema persista,
deve-se orientar a famlia a procurar assistncia tcnica especializada.
A.A.S.I. convencional:
Neste caso, recomenda-se que se aproxime o receptor ao microfone do A.A.S.I. O
professor dever, ento, observar as mesmas condies anteriormente indicadas
com relao ao apito. Outra maneira de se testar seu funcionamento colocar o
receptor prximo ao ouvido, observando a qualidade da amplifcao.
Observaes importantes:
Se o A.A.S.I. no estiver funcionando, o professor dever verifcar:
A conexo do compartimento de pilha;
A posio da chave liga-desliga;
Se a pilha est gasta;
Se h inverso dos polos da pilha;
Se o tubo plstico encontra-se torcido ou rachado;
Se o molde encontra-se entupido com cera;
Se h sujeira no contato da pilha (poeira ou leo)
Se a pilha encontra-se oxidada;
Se o controle de volume encontra-se em posio reduzida;
Se o fo est quebrado ou rachado (A.A.S.I. convencional);
Se h desajuste do contato molde-receptor (A.A.S.I. convencional).
Se o A.A.S.I. estiver apitando, o professor dever verifcar:
O ajuste do molde orelha da criana;
A presena de cera ou gua no tubo plstico;
Se o molde pequeno;
Se o controle de volume est alto;
Se o gancho encontra-se trincado.
Caso o professor esteja diante de um problema que no possa ser resolvido em
sala de aula, ele dever comunicar o fato famlia, imediatamente, para que a
mesma tome as providncias necessrias para soluo do problema.
27
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Sistema de Freqncia Modulada (F.M.)
Para solucionar os problemas como rudo, reverberao (eco) e distncia entre o
aluno e o professor na sala de aula, existem alguns dispositivos eletrnicos que
vm auxiliando a criana defciente auditiva no processo de aprendizagem. So
os chamados Sistemas de Freqncia Modulada (FM).
Este dispositivo consiste de transmissor e microfone que so utilizados pelo
professor, e de um receptor que utilizado pelo aluno com defcincia auditiva. O
transmissor envia a mensagem por meio de ondas de FM, as quais so recebidas
pelo aluno atravs de seu receptor e amplifcadas para um nvel de audio
confortvel para a criana.
Este dispositivo permite que a fala do professor seja mais intensa que o rudo da
sala de aula, favorecendo uma melhor qualidade de som para a criana. Outra
vantagem que a fala do professor mantida estvel, pois este usa o microfone
a uma distncia aproximada de 15 cm de sua boca. Isto assegura que a distncia
entre o aluno e o professor seja mantida, mesmo que o professor se movimente
em sala de aula.
As observaes e os cuidados para com o Sistema FM so semelhantes aos do
A.A.S.I.
Foto 3: Sistema de Freqncia Modulada (FM) com microfone/transmissor (professor) e receptor (aluno).
28
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Implante Coclear
O Implante coclear uma prtese auditiva composta de componentes internos
e externos que substituem as clulas sensoriais do rgo de Corti, ativando
diretamente as terminaes nervosas do nervo auditivo.
Os componentes externos so formados pelo microfone, pelo processador de fala
e pela antena externa, tendo como funes captar e converter o sinal acstico
(como os sons de fala) em sinal eltrico.
O componente interno o implante coclear, formado por um magneto, receptor-
estimulador que colocado sob a pele, alm de um feixe de eletrodos que se
estende do receptor-estimulador at a parte interna da cclea. Nesta etapa, o
receptor-estimulador processa a informao eltrica e estimula os vrios eletrodos
inseridos na cclea, ativando o nervo auditivo, que transmite a informao ao
crebro, promovendo a sensao auditiva.
Os implantes cocleares so indicados para indivduos com perda auditiva
profunda e que no se benefciam do uso do A.A.S.I.
Existem no mercado implantes cocleares monocanal e multicanais, sendo que
estes ltimos tm sido mais recomendados por estarem apresentando resultados
mais satisfatrios.
Os critrios de indicao do implante coclear recomendados pelo Centro de
Pesquisas Audiolgicas do Hospital de Reabilitao de Anomalias Craniofaciais
da Universidade de So Paulo Campus Bauru, para crianas so:
Crianas e jovens de at 17 anos de idade com defcincia auditiva profunda
bilateral;
Deficincia auditiva ps-lingual at 6 anos de surdez. Em deficincias
progressivas no h limite de tempo;
Defcincia auditiva pr-lingual;
Crianas de 2 a 4 anos de idade;
Adaptao prvia do AASI e habilitao auditiva durante 6 meses;
Incapacidade de reconhecimento de palavras em conjunto fechado;
Famlia adequada e motivada para o uso do implante coclear;
Reabilitao auditiva na cidade de origem.
29
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Figura 1:
Implante coclear multicanal. Dispositivos internos e
externos posicionados (Nucleus 24).
1. Antena interna colocada abaixo da pele 5. Eletrodo colocado abaixo do msculo
2. Receptor transmissor colocado abaixo da pele temporal (ground)
3. Cabo de eletrodos 6. Microfone
4. Eletrodos inseridos na rampa timpnica da 7. Processador de fala retro-auricualar
espira basal da cclea 8. Antena externa
Fonte: Costa, A. O. (1998). Implantes cocleares multicanais no tratamento da surdez em adultos. Tese de
Livre-docncia Bauru: Faculdade de Odontologia de Bauru USP.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Almeida, K. & Irio, MCM - Prteses Auditivas: Fundamentos Tericos &
Aplicaes Clnicas. Editora Lovise, So Paulo, 1996.
Bevilacqua, MC & Formigoni, GMP Audiologia Educacional: uma opo
teraputica para a criana defciente auditiva - Carapicuiba, Pr-Fono,
1996.
Bevilacqua, MC Implante Coclear multicanal Bauru, 1998 [Tese de Livre-
Docncia Faculdade de Odontologia de Bauru USP].
Brasil Deficincia auditiva Secretaria de Educao Especial Srie
Atualidades Pedaggicas, Braslia: MEC/SEESP, 1997.
Mesquita, ST; Faria, MEB; Bevilacqua, MC O Centro de Pesquisas
Audiolgicas e o Programa de Implante Coclear: uma histria de avanos
na (re)habilitao do defciente auditivo no HRAC/USP. Rev. Soc. Bras.
Fonoaud. n 6. So Paulo, 2000.
30
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
2. Intervalo (15 min.)
3. Estudo dirigido (45 min.)
Reiniciando as atividades, o formador dever sugerir aos participantes
que formem um crculo grande, facilitando, assim, a visualizao, pelos
participantes, dos diferentes tipos e modelos de dispositivos de amplifcao
a serem apresentados. Dando seqncia atividade, o formador dever fazer
a apresentao dos dispositivos de amplifcao previamente selecionados
para o trabalho, cuidando para que os mesmos sejam diferentes, permitindo
aos professores o contato com material diversifcado quanto ao modelo e
outras caractersticas.
Sugere-se ao formador que esteja atento s caractersticas
especfcas de cada um desses dispositivos, seguindo
atentamente s especifcaes do texto lido, exemplifcando
os modos de utilizao, as particularidades de
cada aparelho, o tipo de perda a que se destina, o
funcionamento, os controles externos, compartimento
de pilha, cuidados em sala de aula, etc...
4. Atividade fnal (1 h)
Finalmente o formador poder sugerir a diviso dos participantes em
pequenos grupos, incentivando o manuseio dos dispositivos e procurando
resgatar, de maneira prtica, as informaes previamente apresentadas e
discutidas no texto.
Sugere-se que esse exerccio inclua o contato fsico
com os dispositivos, proporcionando aos professores
oportunidades de experimentao, para que possam ter
a experincia da sensao auditiva; de aprendizado sobre
o uso e manuseio de cada dispositivo (aprender a ligar,
desligar e adequar o volume); de realizao de testes
para verifcao e troca de pilhas, bem como de manuseio
e encaixe do molde no ouvido e outras providncias
necessrias para o ajuste e funcionamento adequado
desses dispositivos.
31
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
3 ENCONTRO
3. CONHECENDO CONCEPES E PARADIGMAS
DO TRATO SURDEZ E DISCUTINDO
PROCESSOS E PROPOSTAS
DE ENSINO (EDUCAO MONOLNGE
E EDUCAO BILNGE)
TEMPO PREVISTO
08 horas
FINALIDADE DESTE ENCONTRO
Favorecer condies para que cada professor conhea as concepes e paradigmas
que determinam o trabalho educacional com o surdo, refetindo sobre os processos
e propostas de ensino a serem adotados nas diferentes reas do conhecimento
(educao monolnge e bilnge). (ref. expectativa 4)
MATERIAL
1. Brasil (1997). A linguagem e a surdez. Educao Especial A Educao dos
Surdos, volume II. Srie Atualidades Pedaggicas 04, Braslia: MEC/SEESP
(pp. 279 282).
2. Fernandes, S. (2000). Introduo. Conhecendo a Surdez, Paran, Curitiba:
SEDUC / DEE. (pp. 69-87) Anexo 01.
SEQNCIA DE ATIVIDADES
Este encontro dever se caracterizar por diferentes momentos de interao
refexiva.
PERODO DA MANH
TEMPO PREVISTO
04 horas
32
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
1. Leitura e estudo de textos
Para iniciar, o formador dever propor aos participantes que se dividam
em grupos de at cinco pessoas, para leitura e discusso sobre os seguintes
textos:
a) Brasil (1997). A linguagem e a surdez. Educao Especial A Educao
dos Surdos, Srie Atualidades Pedaggicas 04, volume II, pp. 279 - 282.
Braslia: MEC/SEESP, texto apresentado abaixo.
b) Fernandes, S. (2000). Introduo. Conhecendo a Surdez, Paran,
Curitiba: SEDUC / DEE. (pp. 69 a 74).
A LINGUAGEM E A SURDEZ
2
A linguagem permite ao homem estruturar seu pensamento, traduzir o que
sente, registrar o que conhece e comunicar-se com outros homens. Ela marca o
ingresso do homem na cultura, construindo-o como sujeito capaz de produzir
transformaes nunca antes imaginadas.
Apesar da evidente importncia do raciocnio lgico-matemtico e dos sistemas
de smbolos, a linguagem, tanto na forma verbal como em outras maneiras de
comunicao, permanece como meio ideal para transmitir conceitos e sentimentos,
alm de fornecer elementos para expandir o conhecimento.
A linguagem, prova clara da inteligncia do homem, tem sido objeto de pesquisa
e de discusses. Ela tem sido um campo frtil para estudos referentes aptido
lingstica, tendo em vista a discusso sobre falhas decorrentes de danos cerebrais
ou de distrbios sensoriais, como a surdez.
Com os estudos do lingista Chomsky (1994), obteve-se um melhor entendimento
acerca da linguagem e de seu funcionamento. Suas consideraes partem do fato
de que muito difcil explicar como a linguagem pode ser adquirida de forma
to rpida e to precisa, apesar das impurezas nas amostras de fala que a criana
ouve. Chomsky, junto com outros estudiosos, admite, ainda, que as crianas
no seriam capazes de aprender a linguagem, caso no fzessem determinadas
suposies iniciais sobre como o cdigo deve ou no operar. E acrescenta que tais
suposies estariam embutidas no prprio sistema nervoso humano.
2
Brasil (1997). A linguagem e a surdez. Educao Especial A Educao dos Surdos, Srie Atualidades
Pedaggicas 04, volume II, pp. 279 - 282. Braslia: MEC/SEESP.
33
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
A palavra tem uma importncia excepcional, no sentido de dar forma atividade
mental e fator fundamental de formao da conscincia. Ela capaz de assegurar
o processo de abstrao e de generalizao, alm de ser veculo de transmisso
do saber.
Os indivduos que ouvem parecem utilizar, em sua linguagem, os dois processos:
o verbal e o no verbal. A surdez congnita e pr-verbal pode bloquear o
desenvolvimento da linguagem verbal, mas no impede o desenvolvimento dos
processos no-verbais.
A fase de zero a cinco anos decisiva para a formao psquica do ser humano,
uma vez que nesse perodo ocorre a ativao das estruturas inatas gentico-
constitucionais da personalidade. A falta do intercmbio auditivo-verbal traz
para o surdo, prejuzos ao seu desenvolvimento.
A teoria sobre a base biolgica da linguagem admite a existncia de um substrato
neuro-anatmico no crebro para o sistema da linguagem. Portanto, todos os
indivduos nascem com predisposio para a aquisio da fala. Nesse caso, o
que se deduz a existncia de uma estrutura lingstica latente responsvel
pelos traos gerais da gramtica universal (universais lingsticos). A exposio
a um ambiente lingstico necessria para ativar a estrutura latente e para
que a pessoa possa sintetizar e recriar os mecanismos lingsticos. As crianas
so capazes de deduzir as regras gerais e regularizar os mecanismos de uma
conjugao verbal, por exemplo. Dessa forma, utilizam as formas eu fazi, eu
di, enquadrando-os nas desinncias dos verbos regulares - eu corri, eu comi.
As crianas ditas normais e tambm um grande nmero de crianas com
necessidades especiais aprendem a lngua de uma forma semelhante e num mesmo
espao de tempo. No entanto, no se pode esquecer das diferenas individuais.
Essas so encontradas nos tipos de palavras que as crianas pronunciam primeiro.
Algumas emitem nomes de coisas, enquanto outras, evitando substantivos,
preferem exclamaes. Outras, ainda, expressam automaticamente os elementos
emitidos pelos mais velhos.
H crianas, no entanto, que apresentam difculdades na aquisio da linguagem.
s vezes, a difculdade aparece, principalmente, no que se refere percepo e
discriminao auditiva, o que traz transtornos compreenso da linguagem.
Outras vezes, a difculdade relativa articulao e emisso da voz, o que produz
transtornos na emisso da linguagem. Tudo isso pode ou no ter relao com a
surdez, visto que muitas crianas que apresentam difculdades lingsticas no
tm audio prejudicada. Por exemplo: a capacidade de processar rapidamente
mensagens lingsticas - um pr-requisito para o entendimento da fala - parece
34
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
depender do lbulo temporal esquerdo do crebro. Danos a essa zona neural
ou seu desenvolvimento anormal geralmente so sufcientes para produzir
problemas de linguagem.
Segundo Luria (1986), os processos de desenvolvimento do pensamento e da
linguagem incluem o conjunto de interaes entre a criana e o ambiente, podendo
os fatores externos afetar esses processos, positiva ou negativamente. Torna-
se, pois, necessrio desenvolver alternativas que possibilitem s crianas com
necessidades especiais, meios de comunicao que as habilitem a desenvolver o
seu potencial lingstico. Pessoas surdas podem adquirir linguagem, comprovando
assim seu potencial lingstico.
J est comprovado cientifcamente que o ser humano possui dois sistemas para
a produo e reconhecimento da linguagem: o sistema sensorial, que faz uso da
anatomia visual/auditiva e vocal (lnguas orais) e o sistema motor, que faz uso
da anatomia visual e da anatomia da mo e do brao (lngua de sinais). Essa
considerada a lngua natural dos surdos, emitida atravs de gestos e com estrutura
sinttica prpria. Na aquisio da linguagem, as pessoas surdas utilizam o segundo
sistema porque apresentam o primeiro sistema seriamente prejudicado. Vrias
pesquisas j comprovaram que crianas surdas procuram criar e desenvolver
alguma forma de linguagem, mesmo no sendo expostas lngua de sinais. Essas
crianas desenvolvem espontaneamente um sistema de gesticulao manual que
tem semelhana com outros sistemas desenvolvidos por outros surdos que nunca
tiveram contato entre si e com as lnguas de sinais j conhecidas. Existem estudos
que demonstram as caractersticas morfolgicas desses sistemas.
A capacidade de comunicao lingstica apresenta-se como um dos principais
responsveis pelo processo de desenvolvimento da criana surda em toda a
sua potencialidade, para que possa desempenhar seu papel social e integrar-se
verdadeiramente na sociedade.
Entre os grandes desafos para pesquisadores e professores de surdos situa-se
o de explicar e superar as muitas difculdades que esses alunos apresentam no
aprendizado e no uso de lnguas orais, como o caso da lngua portuguesa. Sabe-
se que, quanto mais cedo tenha sido privado de audio e quanto mais profundo
for o comprometimento, maiores sero as difculdades. No que se refere lngua
portuguesa, segundo Fernandes (1990), a grande maioria das pessoas surdas, j
escolarizadas, continua demonstrando difculdades tanto nos nveis fonolgico
e morfossinttico como nos nveis semntico e pragmtico.
35
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
de fundamental importncia que os efeitos da lngua oral portuguesa sobre a
cognio no sejam supervalorizados em relao ao desempenho do aluno com
surdez, difcultando sua aprendizagem e diminuindo suas chances de integrao
plena. Faz-se necessria, por conseguinte, a utilizao de alternativas de
comunicao que possam propiciar um melhor intercmbio, em todas as reas,
entre surdos e ouvintes. Essas alternativas devem basear-se na substituio da
audio por outros canais, destacando-se a viso, o tato e movimento alm do
aproveitamento dos restos auditivos existentes.
Face ao exposto, pode-se concluir que o aluno com surdez tem as mesmas
possibilidades de desenvolvimento que a pessoa ouvinte, precisando, somente,
que tenha suas necessidades especiais supridas, visto que o natural do homem
a linguagem.
2. Plenria (45 min.)
Em seguida, o formador dever sugerir a retomada da organizao dos
participantes em dois grandes grupos, dando incio ao processo de interao
refexiva, momento em que ambos os grupos devero expor suas idias sobre os
textos lidos, sendo que:
Ao primeiro grupo caber assumir a defesa da abordagem Monolnge.
Ao segundo grupo caber assumir a defesa da abordagem Bilnge.
Sugere-se que o formador pea aos participantes, divididos nos dois grandes
grupos, que expressem suas opinies e discutam sobre cada uma das abordagens,
apontando seus limites e perspectivas, tendo como parmetro a prtica pedaggica
em sala inclusiva.
O formador dever constantemente estimular a maior exposio possvel do
pensar de cada um e de todos os membros do grupo, por meio da apresentao
de perguntas sucessivas, que encaminhem a ampliao do contedo abordado.
Sugere-se que o formador anote as palavras que sintetizam o contedo relevante
das manifestaes dos professores, as quais devero ser usadas como norteadoras
de posterior discusso e refexo.
Como sugesto, para facilitar a visualizao do contedo
das manifestaes de um e do outro grupo, recomenda-
36
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
se que o quadro seja dividido em duas colunas largas,
cada uma destinada ao registro do contedo central das
manifestaes dos dois grupos, a partir do debate de idias
sobre as concepes que orientam o trabalho educacional
com os surdos. Este material dever ser guardado para ser
utilizado em momento posterior.
3. Intervalo (15 min.)
4. Produo de Texto (1 h.)
Terminada esta atividade, os professores devero organizar-se novamente em
grupos de at cinco pessoas para produo de uma sntese sobre as refexes
referentes aos contedos discutidos. Nesta sntese, os professores devero
ser auxiliados a ampliar uma compreenso crtica sobre:
De que forma a concepo adotada pelo professor acerca da surdez pode
determinar o fazer pedaggico e por conseqncia o processo de ensino
e aprendizagem?
5. Plenria (30 min.)
Ao fnal, os participantes devero apresentar, para a plenria, o texto-sntese
que cada grupo produziu.
PERODO DA TARDE
TEMPO PREVISTO
04 horas
1. Leitura e estudo de texto (1h 45 min.)
Para iniciar o formador dever propor aos participantes que se dividam em
grupos de at cinco pessoas para leitura e discusso sobre o seguinte texto:
Fernandes, S. (2000). A lngua de sinais e outras formas de comunicao
visual. Conhecendo a Surdez, Paran: Curitiba, SEDUC/ DEE. (pp. 74-81).
Texto apresentado no Anexo 01. Aps o trmino da leitura e discusso sobre
o texto, recomenda-se que se faa um intervalo.
2. Intervalo (15 min.)
37
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
3. Estudo dirigido (1 h)
Em seguida, o formador dever sugerir que os participantes se organizem
em dois grandes grupos, a eles delegando as seguintes tarefas:
Grupo 1:
Apresentao de uma sntese referente proposta monolnge, apontando
os recursos e as formas de comunicao que constituem essa abordagem.
Identifcao de exemplos provenientes de sua prtica cotidiana de ensino,
que ilustrem essa situao.
Grupo 2:
Apresentao de uma sntese, com base na proposta de educao bilnge,
apontando os recursos e as formas de comunicao que constituem essa
abordagem.
Identifcao de exemplos provenientes de sua prtica cotidiana de ensino,
que ilustrem essa situao.
4. Plenria e Fechamento (1 h)
Ambos os grupos devero apresentar a sntese produzida, para os participantes
em plenria. To logo tenham se apresentado, o formador dever dar incio
a nova discusso, levando os participantes a refetirem sobre os processos e
propostas de educao empregados em cada abordagem, sinalizando:
Os limites e as possibilidades de cada abordagem.
As difculdades enfrentadas pelo aluno surdo em algumas situaes de
aprendizagem.
As possibilidades de acesso e de apropriao do conhecimento pelo aluno
surdo, bem como quais seriam as condies facilitadoras desse processo,
a serem adotadas por aquele que ensina.
A necessidade de utilizao, pelo aluno surdo, de diferentes recursos
simblicos empregados no processo de construo do conhecimento.
39
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
4 ENCONTRO
4. SENSIBILIZANDO O PROFESSOR
PARA A EXPERINCIA COM A SURDEZ
TEMPO PREVISTO
02 horas e 45 min.
FINALIDADE DESTE ENCONTRO
Favorecer condies para que cada professor vivencie a simulao da surdez,
atravs do impedimento da percepo auditiva.
MATERIAL
Uma televiso
Um aparelho de vdeo cassete
Uma fta de vdeo contendo uma notcia de telejornal, com durao mxima
de cinco minutos.
SEQNCIA DE ATIVIDADES
Este encontro dever se caracterizar por diferentes momentos de interao
refexiva.
1. Vdeo (05 min.)
Para iniciar, o formador dever apresentar uma fta de vdeo contendo uma
notcia de algum telejornal, cuidando para que a mesma seja apresentada
sem som, utilizando-se apenas da imagem visual, com durao mxima de
cinco minutos.
Recomenda-se ao formador que, antes da apresentao do
vdeo, oriente os participantes a observarem, atentamente,
as principais sensaes experimentadas enquanto assistem
ao vdeo,
40
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
procurando identificar as dificuldades enfrentadas e
os recursos utilizados por cada um na compreenso da
mensagem veiculada.
2. Interao refexiva (1 h)
Em seguida, o formador dever dar incio ao processo de discusso, sugerindo
a cada participante que relate suas reaes sobre as difculdades vivenciadas
ao assistir o vdeo e os recursos empregados na tentativa de compreender a
notcia. Nesse primeiro momento, os participantes devem evitar focalizar o
contedo da notcia, mas sim privilegiar a experincia da compreenso sem
o recurso da audio.
Palavras que sintetizem o contedo relevante das respostas devem ir sendo
anotadas no quadro negro, para uso posterior e norteador na discusso e
refexo.
3. Intervalo (15 min.)
4. Produo individual (20 min.)
Reiniciando os trabalhos, o formador dever solicitar aos participantes que
elaborem, individualmente, uma sntese sobre a compreenso que tiveram
acerca do contedo abordado no vdeo, utilizando-se de diferentes recursos
simblicos, com exceo da linguagem oral.
Em seguida, o formador dever sugerir aos participantes que se organizem
em um crculo grande, possibilitando, a cada um, a apresentao da sntese
pessoal aos demais integrantes do grupo.
5. Reapresentao do vdeo (05 min.)
Para fnalizar, o vdeo dever ser reapresentado aos participantes, s que
desta vez de forma audvel, possibilitando aos professores que comparem
sua primeira e segunda percepo da notcia.
6. Debate fnal (1 h)
Em seguida, sugere-se que os participantes, em organizao de plenria,
analisem e discutam sobre as difculdades enfrentadas pelo aluno surdo na
compreenso de situaes cotidianas, com ateno especial s adaptaes
curriculares que podem se fazer necessrias para o ensino e avaliao desses
alunos.
41
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
5 ENCONTRO
5. A SINGULARIDADE DOS ALUNOS SURDOS
EXPRESSA NA LEITURA E NA PRODUO
DE TEXTOS: O ENSINO E A AVALIAO
TEMPO PREVISTO
08 horas
FINALIDADE DESTE ENCONTRO
Favorecer condies para que cada professor compreenda a singularidade
dos alunos surdos, expressa atravs da leitura e da produo de textos (ref. s
expectativas 05 e 06)
MATERIAL
1. Brasil (1997). A Avaliao da Aprendizagem. A Educao dos Surdos, vol. II.
Srie Atualidades Pedaggicas 04, Braslia: MEC/SEESP, pp. 308-310, texto
apresentado no Anexo 02.
2. Brasil (1997). Adaptaes Curriculares para os alunos surdos. A Educao
dos Surdos, vol. II. Srie Atualidades Pedaggicas 04, Braslia: MEC/SEESP,
pp. 335-337, texto apresentado no Anexo 03.
3. Fernandes, S. (2000). A Lngua Portuguesa. Conhecendo a surdez, Paran:
Curitiba, SEDUC / DEE, pp. 81-87. Anexo 01.
SEQNCIA DE ATIVIDADES
Este encontro dever se caracterizar por diferentes momentos de interao
refexiva.
PERODO DA MANH
TEMPO PREVISTO
04 horas
1. Leitura e estudo de texto (1 h)
Dando incio aos trabalhos do primeiro perodo, o formador dever propor
a leitura e a identifcao dos aspectos relevantes do texto:
42
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Fernandes, S. (2000). A Lngua Portuguesa. Conhecendo a surdez, Paran:
Curitiba, SEDUC / DEE (pp. 81-87). Anexo 01.
Para tanto, dever dividir os participantes em subgrupos de at cinco
pessoas.
2. Interao refexiva (1 h)
Em seguida, o formador dever dar incio ao processo de exposio de idias
geradas nos subgrupos, e sua discusso em plenria, pelos participantes, com
o objetivo de tornar claro e possvel ao grupo, como um todo, a identifcao
dos principais aspectos apreendidos pelos professores durante sua leitura e
discusso.
Sugere-se que, nessa atividade de anlise e discusso do texto, sejam
pontuados, pelo formador, durante a interao refexiva, o seguinte ponto:
A sistematizao da Lngua Portuguesa na modalidade escrita e sua
infuncia na produo escrita e oral do aluno surdo: como a escola deve
lidar com isso?
3. Intervalo (15 min.)
4. Estudo em plenria (1h e 45 min.)
Aps o intervalo o formador dever sugerir aos participantes que se acomodem
num grande crculo, para que possam acompanhar a apresentao de um
conjunto de estratgias, divididas em atividades de leitura e produo
escrita.
Esta atividade dever se caracterizar pela discusso simultnea, entre
participantes e formador, sobre alguns modelos de adaptaes sugeridas,
incentivando, nos professores o exerccio de refexo sobre alternativas de
trabalho com o aluno surdo.
O formador dever apresentar um conjunto de estratgias voltadas para o
exerccio da leitura e para a produo escrita (texto abaixo), discutindo com os
professores sobre a atitude de explorao que eles devem assumir na relao
com seus alunos na dinmica da sala de aula:
Favorecendo o acesso do aluno leitura atravs do contato com diferentes
materiais escritos;
Incentivando o aluno a identifcar o livro como instrumento que favorece
a expanso de seus conhecimentos, alm de constituir-se em fonte de
entretenimento;
43
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Estimulando os alunos a desenvolverem a imaginao diante do
desconhecido;
Promovendo situaes que incentivem a troca de idias diante de fatos
conhecidos e desconhecidos pelos alunos, nos momentos de leitura;
Incentivando a liberdade de escolha do aluno sobre o tipo de leitura que
pretende realizar;
Proporcionando momentos em que o aluno tenha a oportunidade de
narrar aos colegas o que compreendeu do texto que escolheu para ler,
incentivando-os a resumirem as principais idias do autor;
Sugere-se que cada participante faa a leitura de um fragmento, seguida da
refexo e discusso do grupo.
EXPLORANDO ATIVIDADES DE LEITURA
3
1
sugesto:
A criana poder escolher uma histria da sua preferncia e realizar a leitura
individual;
Posteriormente poder narrar o que compreendeu do texto aos colegas;
O professor poder verifcar quais conhecimentos a criana obteve em relao
leitura que fez, observando alguns aspectos, tais como: ttulo, coleo, autor,
editora, ilustrao e outros.
2
sugesto:
O professor poder selecionar um livro para apresentar s crianas;
Em seguida, com base na leitura do ttulo, incentiv-las a realizarem
uma predio a respeito do que ser abordado pelo autor no decorrer da
histria;
Posteriormente, o professor poder fazer a leitura para os alunos, interpretando
os fatos com bastante dramaticidade e entusiasmo, buscando, assim, manter
a ateno de todos para aquilo que est sendo narrado. Neste momento, ele
poder certifcar-se de que as crianas esto ou no acompanhando a evoluo
dos fatos, fazendo-lhes perguntas sobre o texto;
O professor poder propor ao grupo a leitura do texto, explorando os seguintes
aspectos:
Adequao do ttulo
3
Texto organizado por Cludia Valderramas Gomes e Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins, a partir de:
Kozlowski, L. (1997). A leitura e a escrita do defciente auditivo. Texto apostilado. Curitiba: CEAL.
Exemplos de atividades organizadas por Deyse Maria Collet, Myriam Raquel Pinto, Margot L0tt Marinho,
Sandra Patrcia de Faria e Marlene de Oliveira Gotti - Texto apostilado - Braslia: SEESP/MEC (2000).
44
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Personagens
Sugesto de outro ttulo
Identifcao de aspectos mais especfcos com relao ao lugar em que se
passa a histria, fatos principais, ordem dos acontecimentos (incio, meio
e fnal da histria), moral da histria.
3
sugesto:
Essa atividade dever realizar-se a partir de um nico material escrito, que
poder ser uma histria escolhida pelo professor ou pela criana;
O professor poder fazer a leitura e interpretao da histria;
Prope uma dinmica de apresentao aos colegas sobre a compreenso da
seqncia dos fatos, enfocando a ordem dos acontecimentos: incio, meio e
fm da histria;
Prope a elaborao de dilogos, pelo grupo, com objetivo de montar um
script para dramatizao da histria;
Esse script poder partir das idias das crianas (texto coletivo) tendo o
professor o papel de escriba do grupo;
O professor poder coordenar a montagem do cenrio que ir compor
a histria, sugerindo a escolha dos personagens e a definio das suas
caractersticas e fgurino;
Realiza-se a dramatizao, tendo como apoio o script, para ensaiar as falas
dos personagens.
Sugesto de materiais escritos a serem trabalhados
1. Textos jornalsticos: jornais e revistas;
2. Descries contextualizadas sobre objetos, figuras, animais, pessoas e
outros;
3. Narrativas:
Fbulas;
Histrias infantis;
Fatos ocorridos no dia-a-dia;
Contos de literatura infantil;
4. Entretenimento: textos poticos, revistas em quadrinho, provrbios, parlendas,
trava-lngua, letras de msicas, anedotas.
EXPLORANDO A LEITURA DE UM JORNAL
A criana dever manusear o jornal, identifcando suas diferentes partes;
O professor poder chamar a ateno sobre o que contm cada uma das
partes que compem o jornal: economia, cultura, esportes, classifcados,
coluna social e outros, destacando, tambm a data, local de publicao, nome
do jornal, caractersticas dos jornais de cidades diferentes.
45
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
O professor poder incentivar s crianas a interpretarem as manchetes,
fazendo uma predio sobre a notcia;
Posteriormente, poder lev-las a interpretaes mais complexas, com base
na leitura do texto jornalstico propriamente dito, identifcando o assunto, o
lugar, pessoas envolvidas, etc...
Poder lev-las a identifcar estilos de textos diferentes: analisar se fazem
parte do setor de economia, cultura, esportes, etc...
O professor poder incentivar o reconhecimento de propagandas, a partir da
interpretao dos anncios. Estes podero ser agrupados conforme a categoria
semntica a que pertencem: vesturio, alimentao, automveis, etc...
O professor dever explorar a seo de classifcados, favorecendo s crianas a
observao dos seguintes elementos: o que as pessoas encontram nesta parte
do jornal, o que pode ser anunciado, como deve ser o texto de um anncio,
endereo para contato.
EXPLORANDO O TRABALHO COM RECEITAS CULINRIAS
O professor poder explorar textos de receitas culinrias, apresentando-as
para as crianas como um roteiro para a execuo de algumas tarefas que
podero resultar numa atividade sugestiva e prazerosa;
Inicialmente as crianas devero ler, identifcar e reconhecer os ingredientes
a serem utilizados;
Em seguida devero, com base na leitura, compreender o modo de fazer;
Finalmente devero, juntamente com o professor, ir para a cozinha executar
a receita de maneira prtica.
ESTRUTURANDO UM SETOR DE CURIOSIDADES
NA SALA DE AULA
Esse setor poder funcionar, na sala de aula, como um espao para
fxao, pelo professor e/ou pelos alunos, de textos propagandsticos,
notcias trazidas de casa pelas crianas, letras de msicas, receitas
culinrias, poesias, anedotas ou qualquer outro texto que possa ser
de interesse do grupo.
O formador dever estar constantemente estimulando, entre os participantes,
a refexo sobre outros exemplos de estratgias de leitura a serem empregadas
no trabalho com o aluno surdo no contexto da sala inclusiva.
46
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
MODELOS DE LEITURA
Modelo de processamento descendente:
Parte-se de uma percepo global do texto; leitura incidental;
Utiliza-se de memria visual; leitura ideogrfca;
Direciona-se de cima para baixo: do todo s partes;
Consideram-se importantes os esquemas prvios e hipteses do leitor;
A compreenso mais facilmente obtida num contexto mais amplo, com
textos signifcativos para o aluno;
A compreenso impulsionada pelo leitor. Comea quando ele seleciona seus
conhecimentos prvios acerca do assunto, sobre o tema do texto; verifca se
tais conhecimentos esto confrmados ou no no texto; levanta expectativas
e hipteses;
Procura pistas sobre o assunto do texto, observando o ttulo, o autor, a forma,
o gnero literrio;
Identifica ilustraes, esquemas, grficos, mapas como auxlio
compreenso;
Identifca palavras-chaves para realizar a leitura, buscando uma viso global
do texto;
Toma notas; classifca o sentido; realiza a traduo lngua de sinais /
lngua portuguesa no contexto;
Elabora uma sntese do texto.
Modelo de processamento ascendente
De baixo para cima: das partes ao todo;
Primeiro ocorre o acesso ao cdigo fonolgico, depois s palavras, frases e
sentenas;
Leitura alfabtica;
Anlise das caractersticas das letras quanto sonoridade, posio, combinao
entre duas ou mais letras, etc...
Dando continuidade apresentao das estratgias o coordenador dever explorar,
juntamente com os participantes, atividades dirigidas produo escrita.
47
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
EXPLORANDO ATIVIDADES DE PRODUO ESCRITA
O professor poder:
Incentivar os alunos a produzirem diferentes modelos de textos: dissertativos,
descritivos, narrativos, poticos, propagandsticos e outros;
Proporcionar aos alunos momentos de escrita, que envolvam a elaborao de
cartas, bilhetes, cartes, convites, etc...
Propor atividades de modifcaes para o fnal de uma fbula conhecida;
Propor a escrita como continuidade a algum texto anteriormente explorado
pelo grupo;
Sugerir a transformao de uma histria narrativa em uma histria em
quadrinhos;
Estimular a reproduo escrita de uma histria que tenha sido explorada pelo
grupo, confeccionando um livro;
Incentivar a produo escrita de textos jornalsticos, registrando fatos e
acontecimentos do cotidiano escolar e/ou pessoal (comentando uma festa,
um passeio, um fato ocorrido na cidade, etc...)
Propor que os alunos redijam textos propagandsticos com base nos modelos
analisados.
O coordenador dever apresentar alguns exemplos de atividades de leitura e
produo escrita, discutindo com os participantes as adaptaes necessrias ao
trabalho com o aluno surdo no contexto de uma sala inclusiva.
1 Exemplo:
O professor de uma turma de 4 srie do ensino fundamental utiliza a lngua de
sinais e, alternadamente, a lngua portuguesa oral, enquanto registra a lngua
portuguesa escrita (resumo no quadro de giz) para explicar os contedos expressos
na histria do Descobrimento do Brasil.
O professor entrega turma o texto-base da 4 srie e textos das sries anteriores,
todos tratando do mesmo assunto, Descobrimento do Brasil, para que os alunos
possam realizar algumas atividades, tais como:
a) Leitura/interpretao de um texto de sries anteriores que trate do mesmo
assunto, porm mais adequado ao nvel lingstico dos alunos;
b) Discusso sobre os principais conceitos e informaes presentes no texto,
registradas por meio de montagem de frases, jogos, procura pela signifcao
das palavras nesse contexto e no dicionrio;
c) Elaborao de uma sntese do texto;
d) Retorno ao texto-base da 4 srie para leitura e interpretao pelos alunos.
48
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
2 exemplo:
Produo de um trabalho de artes plsticas (recorte e colagem, desenho do
aluno, pintura, etc) sobre determinado tema;
Levantamento do vocabulrio, inclusive de expresses idiomticas, no quadro
de giz, provenientes da produo plstica;
Estmulo para produo e elaborao de texto pelo aluno, com base na sua
prpria produo plstica.
3 exemplo:
Apresentao de textos de naturezas diferentes (dissertativos, narrativos,
informativos e outros), propondo as seguintes atividades:
1 passo: O texto inicial contado em lngua portuguesa oral e em lngua de
sinais, pelo professor ou pelo aluno;
2 passo: Todos os alunos, individualmente, recontam a histria usando
a criatividade (ex: maquetes com cenrio mvel, jogos de palitos, bonecos,
miniaturas);
3 passo: Os alunos passam para a produo individual ou coletiva do texto.
preciso ter cuidado para no interferir, neste momento, no texto do aluno, seja na
estrutura, seja no vocabulrio. (Pode haver escrita do portugus com a estrutura
da lngua de sinais).
4 passo: Processo de reelaborao do texto de um aluno para o portugus
formal.
Escolhe-se um texto produzido pelo aluno para reescrita. Este texto ser
repassado para um cartaz. Paralelamente, o professor proceder comparao
das duas lnguas, apresentando para o surdo a escrita formal do portugus
atravs de: palavras novas, carto confito, palavras cruzadas, uma palavra puxa
outra isso lembra aquilo..., caa palavras, jogos ldicos, dicionrios ilustrados,
dicionrios temticos (ex: datas comemorativas uma palavra para cada letra
do alfabeto); construo frasal, etc.
4 Exemplo:
Utilizao de gibis e/ou histrias em quadrinhos de jornais como texto e/ou
vice-versa;
49
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Com base nesse material realiza-se a leitura, discusso, anlise e interpretao
da histria;
Sugere-se aos alunos a reproduo da histria atravs da escrita, como
exerccio de reestruturao e contextualizao do texto;
O professor poder direcionar a escolha de alguma histria em quadrinhos,
em que um dos personagens esteja utilizando expresses incorretas para que
ambos, professor e aluno, reelaborem o texto, proporcionando ao aluno surdo
a oportunidade de identifcar as inadequaes, tendo como base o padro
formal da lngua portuguesa escrita.
O professor tambm poder sugerir a transformao de um texto narrativo
e/ou dissertativo j trabalhado, em quadrinhos ilustrados, estimulando a
construo de dilogos entre os personagens da histria.
5 Exemplo:
Escolhe-se uma pea literria qualquer, que tenha um flme que nela se
baseou;
Apresenta-se o flme da respectiva obra para o grupo de alunos e para o aluno
surdo, com traduo simultnea em lngua de sinais;
Discute-se amplamente o flme com o grupo;
Sugere-se, aos alunos, que escrevam a histria da maneira como entenderam,
observando a ordem dos fatos e principais acontecimentos;
O professor analisa e discute, em conjunto com o aluno surdo, a produo
escrita, propondo a reelaborao do texto;
Ambos realizam a leitura e comparao entre o texto inicial e fnal.
6 Exemplo
Tornar um texto mais acessvel, utilizando algumas estratgias como as
apresentadas nos itens 1 e 2:
50
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
O RATO E O LEO DOURADO
(Gil Kipper Produes)
Nas savanas africanas, o sol nem bem desponta e a vida animal desperta para
um novo e longo dia. As manadas de diversas espcies se misturam, para juntos
saborearem a gua cristalina do rio. Um pouco mais isolados dos outros animais,
fcam os lees, que esto de barriga cheia, porque passaram a noite caando
e comendo. O calor do sol da manh um convite para os lees dormirem
preguiosamente.
Enquanto o rei dos animais dormia profundamente, um desastroso ratinho
tropeou e caiu entre as jubas do grande felino, que acordou muito furioso.
O leo dourado pegou o ratinho pelo rabo, ergueu para o alto e abriu a grande
mandbula para engoli-lo.
- Perdo, grande rei gritou o ratinho Deixe-me ir e prometo no incomod-lo
mais. Talvez um dia eu possa retribuir o seu gesto de bondade!
- O leo deu uma risada que ecoou nas montanhas.
- V embora, pequeno roedor, cresa e engorde para que eu possa com-lo.
tudo o que voc pode fazer por mim.
Tempos depois, o leo dourado caiu em uma rede, deixada por caadores de
animais selvagens. O leo pressentiu o perigo e comeou a chamar por socorro.
Anoiteceu, e ningum apareceu para ajud-lo. Somente as hienas observavam
distncia...
Foi quando, de repente, surgiu o pequeno ratinho. Todo prosa, o ratinho falou:
Eu no disse que um dia eu poderia ajud-lo?!
E comeou a roer as cordas da rede, soltando o leo.
Muito gratifcado, o rei dos animais convidou o ratinho para viver entre os
lees, com muita proteo e comida.
1. Defnir palavras com um vocabulrio mais acessvel:
- Desponta surge.
- Desperta acorda.
- Manadas rebanhos.
51
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
- Saborearem provarem, beberem.
- Cristalina limpa, fresca.
- Isolados distantes.
- Barriga cheia alimentados.
- Desastroso desajeitado, distrado.
- Furioso nervoso, bravo, irritado.
- Grande mandbula boca.
- Engoli-lo com-lo.
- Incomod-lo perturb-lo.
- Retribuir recompensar.
- Ecoou repetiu-se, reproduziu.
2. Defnir expresses atravs do uso de sinnimos:
Nativos selvagens - vida animal
Mais um inusitado e aventuresco dia, um dia cheio de novidades e
aventuras mais um novo e longo dia.
Permanecerem em total desmazel o, indol ncia - Dormirem
preguiosamente
Estava em sono pesado - Dormia profundamente
Rei dos animais, um grande gato selvagem, o mais nobre, o distinto, o
poderoso, o majestoso, o suntuoso - Grande felino
Grandiosidade, generosidade, polidez, honradez, distino - gesto de
bondade
Prendeu-se em uma armadilha - Caiu em uma rede
Convencido - Todo prosa
7 Exemplo
Estratgias com o livro texto e com o vdeo;
Escolhe-se um livro e o flme correspondente;
Faz-se a apresentao do vdeo;
Em seguida efetua-se a traduo para lngua de sinais - LIBRAS;
Prope-se a seleo de palavras-chaves, mostrando a escrita no livro e o
sinal concomitante, dando pausa no vdeo e associando com as gravuras do
livro;
O aluno dever ser incentivado a elaborar a mensagem que captou, produzindo
seu prprio texto escrito;
Em seguida professor e aluno trabalham juntos na reelaborao do texto.
52
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
PERODO DA TARDE
TEMPO PREVISTO
04 horas
1. Leitura e estudo dos textos (1 h)
Dando incio aos trabalhos do segundo perodo, o formador dever propor a
leitura e a identifcao dos aspectos relevantes dos seguintes textos:
a) Brasil (1997). A Avaliao da Aprendizagem. A Educao dos Surdos,
vol. II. Srie Atualidades Pedaggicas 04, Braslia: MEC/SEESP (pp. 308 a
310 e 335 a 337). Anexo 03.
b) Fernandes, S. (2000). Avaliao. Conhecendo a surdez, Paran: Curitiba,
SEDUC/DEE, pp. 87 a 97. Anexo 01.
Para tanto, dever propor a diviso dos participantes em subgrupos de at
cinco pessoas.
2. Interao refexiva (1 h)
Em seguida, o formador dever dar incio ao processo de exposio de idias
e discusso em plenria, pelos participantes, com o objetivo de tornar claro
e possvel ao grupo, como um todo, a identifcao dos principais aspectos
apreendidos pelos professores durante a leitura e a discusso do texto,
observando os seguintes aspectos:
Avaliao dialgica do processo de ensino e aprendizagem.
Interferncias da Lngua de Sinais na produo escrita de alunos
surdos.
3. Intervalo (20 min.)
4. Exerccio prtico (1h e 40 min.)
Aps o intervalo, dever ser proposto aos participantes o desenvolvimento de
um exerccio prtico de avaliao da produo escrita de alunos surdos.
Recomenda-se que esta atividade seja planejada da seguinte maneira:
Os professores devero estar organizados em grupos de at cinco
pessoas;
O formador dever ler, com os participantes, a proposta de avaliao e
interveno abaixo apresentada;
53
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Em seguida, o formador dever fazer a distribuio de alguns textos
produzidos por alunos surdos, destinando um texto para cada grupo de
professores.
Estes devero fazer a anlise e avaliao compreensiva desses textos,
recomendando os procedimentos de interveno que entendam
interessantes.
MODELOS DE TEXTOS DE ALUNOS SURDOS.
PROPOSTA DE INTERVENO E DE AVALIAO
Texto 1
Os amigos est convite. Vamos Formosa Clube semana e o seu ele v
carnaval pessoas para banco como houve falou amigos pedir acabou,
j noite as pessoas amigos para outra vamos j e embora ele passear
para vamos ele cansado banho dormiu.
(J.S.R. supletivo Fase III Nvel II)
SUGESTES PARA ATIVIDADES
1. Interpretao dialgica (professor junto com o aluno) sobre o texto produzido,
para anlise do contedo;
2. Anlise da seqncia lgica das idias;
3. Reelaborao / reescrita do texto.
Os amigos fzeram-lhe um convite:
- Vamos ao Formosa Clube nesta semana?
Eles foram ao clube e viram pessoas pulando carnaval.
Ele foi ao banco e falou com os amigos:
- Vou pedir dinheiro. O meu acabou.
Eles disseram:
- Vamos j embora.
noite, ele saiu com os amigos para passear.
- Vamos. Estou cansado. Vou tomar banho e dormir.
54
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
AVALIAO
Anlise de contedo
Esta uma histria com incio, meio e fm. O aluno conseguiu transmitir sua
mensagem.
Na avaliao primeiramente devem ser observados os aspectos semnticos
(contedo). Em seguida a seqncia lgica das idias e, fnalmente, estruturao
frasal mnima para se ter a compreenso do texto.
No processo de reelaborao devem ser trabalhados e cobrados tambm os
aspectos formais (morfologia e sintaxe).
Os aspectos formais (gramaticais) devem ser cobrados medida que forem sendo
estudados. Num determinado texto cobram-se os verbos de ligao ausentes;
num outro, as concordncias e assim por diante.
ASPECTOS RELEVANTES NA AVALIAO DA PRODUO ESCRITA
DOS SURDOS
- Primordialmente aspectos semnticos: contedo e seqncia lgica.
- Gradativamente e isoladamente: estruturao frasal, ortografa e a gramtica
propriamente dita (artigos, elementos coesivos: preposies, conjunes
e pronomes, verbos de ligao, concordncias, ordem sinttica (SVO),
ortografa)
Texto 2
O mdico procurar o algodo escondido.
O mdico est achando o algodo muito espertos.
(C.R. - 2 srie)
Texto reestruturado
O mdico procurou o algodo.
O algodo estava escondido.
O mdico achou o algodo.
Como o mdico esperto!
55
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
TEXTOS DE ALUNOS SURDOS PARA SEREM
ANALISADOS PELOS PROFESSORES
Reproduo escrita de uma anedota
Era um 2 irmo e a menina o gato quer falar MIAU.
Ele disse:
- Ou voc est puxando meu gato.
Eu vou segurando que puxando e ele.
L.A.Q.F. 3 srie (E.F.)
Elaborao de um cartaz de aviso:
Cuidado com a dengue e o mosquito e pica e doe febre doena e muito
perigoso; fca doente, bolinha vermelha, doeu olho e todo mundo e a
gente ento cidade, como chama Aedes Aegypti
Na cidade e gente muito doente
Obrigado
C.A.M.A. 3 srie (E.F.)
Produo escrita aps um passeio realizado
Ns foi no pic-nic
(nome do lugar)
Ns chegamos no pic-nic
As gente entrou na sala as crianas sentado no cho vai comear o
teatro
Despois comendo o cachorro-quente e bebendo o guaran despois
brincar no parque parou jogar o futebol e jogar no quema vamos
ver e procurar o macaco na foresta o macaco fugiu agora vamos
embora. Volta a escola levar as mos para cozinha.
R.A.C.M. 2 srie
Produo de texto espontneo sobre histrias assombradas
Eu irmo e a tia vou morreu medo do escuro meu pai morreu eu foi
l viu saiu eu irmo e a tia vou embora.
A.P.S.S. 1 srie (E.F.)
56
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Histria assombrada
Quando eu estava dormindo eu sonhei muito com medo bom eu vou
falar agora:
Eu estava nadando e o jacar tambm estava no rio ai, o jacar ele
estava com fome
Ai o jacar quase me mordeu
Depois eu acordei eu falei para minha me
Me voc deixa eu dormir com voc porque eu estou com muito medo
do o jacar.
Ai minha me e no deixo porque tinha dormir sozinho porque
gostoso dormir bem sozinho.
Minha me falou:
- Vai pro seu quarto agora.
J.P.S. 3
srie (E.F.)
Produo de texto relativo ao tema Olimpadas
Ol fraze que nosso, vamos futebol voc vai que, depois.
- Voc como vai l Olimpadas, lembra voc corre muito rpido.
Oi voc vai futebol olimpadas voc tudo muito tem, nossa rpido
como voc vai l futebol tem, eu gosto tudo.
O basquete, boxe, handebol, vlei, futebol, etc...
Ol Brasil vai jogar no sei vai bola no campo.
Uma frase l no campo joga futebol.
Nossa vamos, l campo basquete vai joga chime U.S.A.
vai l trabalho vamos, voc vai que loja tem roupa.
Este simbo das Olimpadas nossa tem tudo l loja eu vou l no sei
vai ve shoppins nome l Australia.
Eu vou l Austrlia no sei, vai sim tudo frase l.
R.A.S.M. 3
srie (E.F.)
Produo escrita relatando o fnal de semana
Sbado
Eu foi casa da vov e depois carro papai acora eu voi dentista homem
fala nome Rafael depois vai casa vov joga *videogame acora brinca
carrinho depois eu video fme amoar eu foi casa minha brinca
migo.
57
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Domingo
Eu fui casa minha comer po depois casa vov acora joga video-game
acora amoa vai brinca carrinho fraze tabuada 2 e 9 casa minha depois
vai telifato.
R.A.S.M. 3
srie (E. F.)
Em seguida, os professores, passaro anlise dos textos, tendo como
referncia as orientaes do texto estudado neste encontro.
Com base nesse referencial, os professores devero elaborar propostas e
critrios para a avaliao, observando:
a. O nvel da escrita;
b. A anlise do contedo do texto;
c. A anlise da seqncia lgica das idias;
d. Os erros que evidenciam a condio de aquisio da escrita em uma
segunda lngua;
e. A comparao entre a lngua escrita e a lngua de sinais.
59
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
6 ENCONTRO
6. DA IDENTIFICAO DE NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS S
ALTERNATIVAS DE ENSINO
TEMPO PREVISTO
08 horas
FINALIDADE DESTE ENCONTRO
Identificar as necessidades educacionais especiais mais comumente
relacionadas a surdez (ref. expectativa 2).
Identificar e propor adaptaes curriculares que possam atender s
necessidades educacionais especiais, nas diferentes categorias (organizativas,
de objetivos e contedos, de procedimento pedaggico, de avaliao, tanto
no mbito de ao do professor - pequeno porte, como no mbito tcnico-
administrativo grande porte) ref. s expectativas 8, 9 e 10.
MATERIAL
1. Fernandes, S. (2000). Polticas educacionais: Educao para todos e a
proposta pedaggica. Conhecendo a surdez, Paran: Curitiba, SEDUC/DEE,
p.p. 97 a 100. Anexo 01.
SEQNCIA DE ATIVIDADES
Este encontro dever se caracterizar por diferentes momentos de interao
refexiva.
PERODO DA MANH
TEMPO PREVISTO
04 horas
1. Leitura e estudo de texto
Propor aos participantes a leitura do texto previsto sobre Polticas Educacionais
Anexo 01.
60
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
2. Estudo dirigido (1 h e 45 min.)
Ao iniciar-se este encontro, o formador dever solicitar aos participantes
que se renam, em grupos de no mximo 04 (quatro) pessoas, obedecendo
ao critrio de srie na qual ministra aulas (grupo de professores de 1
srie,
grupo de professores de 2
srie, e assim por diante). Recomenda-se esta
organizao grupal, porque as atividades a serem desenvolvidas exigiro que
cada um possa se manifestar e ter, da parte do grupo, a ateno necessria
para o cumprimento de sua tarefa.
Ser solicitado aos participantes que desenvolvam a seguinte atividade:
Que cada membro do grupo, pensando em sua realidade de sala de aula,
selecione um caso de aluno que apresente algum grau de perda auditiva,
representando para o professor um problema de ensino (n crtico no
processo de ensino e aprendizagem).
Cada membro dever apresentar o caso que escolheu, o qual dever ser
estudado e analisado, em conjunto, pelos quatro participantes do grupo.
Considerando a possibilidade de algum (ns) professor (es) no ter (em)
ainda tido a experincia de ensino a aluno surdo, o coordenador dever
se manter atento para garantir que cada grupo tenha pelo menos um
professor que possa apresentar um caso.
A anlise de cada caso dever compreender a caracterizao das difculdades
presentes no processo de ensino e aprendizagem, a discusso sobre seus
possveis determinantes, a identifcao das necessidades educacionais
especiais do aluno e fnalmente, a identifcao das adaptaes curriculares
de pequeno porte (pequenos ajustes) e as de grande porte (ajustes que
envolvem estrutura tcnico-administrativa do sistema educacional)
nas diferentes categorias: organizativas, de objetivos e contedos, de
procedimentos pedaggicos e avaliativos.
3. Intervalo (15 min.)
4. Debate (2 h.)
Reiniciando as atividades, sugere-se que seja discutido, pelo grupo, um caso
de cada vez, preenchendo-se, ento, o Formulrio Anlise e Planejamento da
Administrao de Problemas no Processo de Ensino e Aprendizagem (Anexo
04), luz das Adequaes Curriculares apresentadas no Anexo 05.
Aps o trmino da anlise e da discusso sobre o primeiro caso, cada grupo
deve dar a palavra para o participante que vai apresentar o caso seguinte, de
forma que sucessivamente todos possam apresentar seus casos, analis-los
e discuti-los no grupo.
61
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
PERODO DA TARDE
TEMPO PREVISTO
04 horas
Plenria (4 h.)
Retornando s atividades, sugere-se que se volte organizao de plenria, e
cada grupo apresente os quatro casos com os quais trabalhou.
No mbito da plenria, estimula-se que se favorea a participao de todos
do encontro na refexo sobre cada caso, na identifcao das necessidades
educacionais presentes e na elaborao de propostas de adaptaes que podem
ser promovidas no intuito de se garantir o sucesso do processo de ensino e
aprendizagem.
OBS: Sugere-se a realizao de um intervalo de 15min. no meio do perodo, em
momento acordado, pelo grupo, como sendo de melhor convenincia.
63
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
7 ENCONTRO
7. DESENVOLVENDO INTERAES
SOCIAIS E CONSTRUINDO RELAES
SOCIAIS ESTVEIS, NO CONTEXTO
DA SALA INCLUSIVA
TEMPO PREVISTO
04 horas
FINALIDADE DO ENCONTRO
Favorecer condies para que cada professor refita sobre as interaes sociais
vivenciadas pelo aluno surdo, empregando estratgias de aes que visem
construo de relaes sociais estveis no contexto da sala inclusiva.
MATERIAL
1. Fernandes, S. (2000). Interao Social. Conhecendo a Surdez, Paran:
Curitiba, SEDUC/DEE (pp. 100-101). Anexo 01.
2. Filme: Filhos do Silncio (legendado, 115 minutos)
3. Uma televiso
4. Um aparelho de vdeo cassete
SEQNCIA DE ATIVIDADES
Esse encontro dever se caracterizar por diferentes momentos de interao
refexiva.
1. Leitura do texto indicado (20 min.)
O formador dever sugerir aos participantes que se dividam em subgrupos
de at cinco pessoas para leitura do texto indicado, para que identifquem,
durante a leitura, os aspectos mais relevantes.
Fernandes, S. (2000). Interao Social. Conhecendo a Surdez, Paran:
Curitiba, SEDUC / DEE (pp. 100-101). Anexo 01.
64
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
2. Vdeo (1 h 15 min.)
Dando seqncia s atividades, o formador dever propor a apresentao do
vdeo: Filhos do Silncio, sugerindo aos participantes que, durante o flme,
procurem identifcar como se caracterizam as situaes interativas entre os
personagens.
Esse flme conta a histria de um professor ouvinte que vai dar aula numa
escola. L conhece uma moa surda, bastante problemtica. A partir de ento
passa a manifestar seu interesse em ajud-la. (legendado, 115 minutos)
3. Intervalo (15 min.)
4. Refexo crtica (30 min.)
Retornando s atividades, o formador dever sugerir aos participantes que
continuem divididos em subgrupos de at cinco pessoas, para discusso dos
aspectos mais relevantes observados no flme e na leitura dos textos.
Sugere-se ao formador que procure abordar, durante a discusso, alguns
aspectos, observados no flme, referentes interao social, levando os
professores a refetirem sobre:
Papel da comunicao na interao entre surdos e entre surdos e
ouvintes.
Os confitos vivenciados por surdos e ouvintes no estabelecimento de
relaes sociais estveis.
Posicionamento assumido por alunos e professores, frente s situaes-
confito apresentadas no flme.
5. Dinmica / Dramatizao (50 min.)
Aps terem realizado esse momento de refexo crtica, identifcando os
confitos que se interpem s interaes sociais entre surdos e ouvintes,
interferindo no estabelecimento de relaes sociais estveis, os participantes
devero ser incentivados a realizar um exerccio de dramatizao.
Esse exerccio dever se caracterizar por uma situao dinmica, na qual
os participantes, divididos em subgrupos de at cinco pessoas, devero
dramatizar situaes que representem a participao social de uma pessoa
surda, em diferentes contextos.
65
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
O formador dever sugerir que as situaes a serem dramatizadas
pelos integrantes dos subgrupos, devero se constituir, tomando como
parmetros:
Um aluno surdo cursando a 3
srie da escola regular (criana) ou da
Educao de Jovens e Adultos.
Recentemente matriculado numa escola, freqentando uma sala de aula
inclusiva.
Filho mais velho de uma famlia de ouvintes, com algum conhecimento
de lngua de sinais.
Nvel scio-econmico mdio.
Portador de surdez profunda e bilateral, adquirida antes do desenvolvimento
da linguagem (pr-lingual).
Apresenta difculdades com a comunicao oral / fala
Com timo desempenho em leitura oro-facial.
Com algum conhecimento de lngua de sinais.
Relaciona-se com outras pessoas surdas que freqentam a igreja da sua
comunidade.
Cada subgrupo dever planejar sua prpria dinmica de apresentao e
dramatizao, estruturando o roteiro, o cenrio e a seqncia de fatos a serem
apresentados, tendo para isso o tempo de 50 minutos.
6. Plenria (50 min.)
Finalmente, aps a montagem das situaes pelos subgrupos, os mesmos
devero dramatiz-las, apresentando-as aos demais participantes, dentro de
um tempo estipulado em 10 min.
67
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
ANEXO 1
CONHECENDO A SURDEZ
4
INTRODUO
Professor, voc tem diante de si um aluno surdo. Certamente, j deve ter se
perguntado o que signifca ser surdo?. Ser pouco inteligente? Ser mudo? Ter
problemas de comunicao? Usar as mos para se comunicar? O que existe, de
fato, na realidade relativa surdez?
Na verdade, os pontos de vista sobre a surdez variam de acordo com as diferentes
pocas e os grupos sociais no qual so produzidos. Estas representaes daro
origem a diferentes prticas sociais, que limitaro ou ampliaro o universo de
possibilidades de exerccio de cidadania das pessoas surdas.
A histria da educao de surdos uma histria repleta de controvrsias
e descontinuidades. Como qualquer outro grupo minoritrio, os surdos
constituram-se objeto de discriminao em relao maioria ouvinte.
Antes do sc. XIX, os surdos ocupavam papis signifcativos. Sua educao
realizava-se por meio da lngua de sinais e a maioria dos seus professores eram
surdos. No entanto, estudiosos, surdos e professores ouvintes, poca, divergiam
quanto ao mtodo mais indicado para ser adotado no ensino de surdos. Uns
acreditavam que deveriam priorizar a lngua falada, outros a lngua de sinais
e outros, ainda, o mtodo combinado. Em 1880, no Congresso Mundial de
Professores de Surdos (Milo-Itlia) chegou-se concluso de que os surdos
deveriam ser ensinados pelo mtodo oral puro, sendo proibida a utilizao
da lngua de sinais. A partir da, a opresso de mais de um sculo a que os
surdos foram submetidos, sendo proibidos de utilizar sua lngua e obrigados a
comportarem-se como os ouvintes, trouxe uma srie de conseqncias sociais e
educacionais negativas.
Os estudos sobre a surdez e suas conseqncias lingsticas e cognitivas
continuaram a provocar controvrsias e, ainda hoje, esse tema de grande
4
Sueli Fernandes Secretaria de Estado da Educao do Paran Professora do Ensino Superior Centro
Universitrio Campos de Andrade - UNIANDRADE, com base na Dissertao de Mestrado Surdez e linguagens:
possvel o dilogo entre as diferenas? UFPR.
68
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
interesse para todos os profssionais que buscam uma melhor qualidade na
educao do aluno surdo.
As mudanas de concepo dependem da forma de pensar e narrar a surdez e so
elas mltiplas e variadas. Entretanto, podemos sistematiz-las em dois grandes
modelos, os quais passaremos a expor. At hoje, em algumas escolas, a surdez
vista apenas na concepo clnico-teraputica.
Pode-se resumir tal concepo da seguinte forma:
A SURDEZ NA CONCEPO CLNICO-TERAPUTICA
A surdez uma diminuio da capacidade de percepo normal
dos sons, que traz ao indivduo uma srie de conseqncias ao seu
desenvolvimento, principalmente no que diz respeito linguagem
oral.
Considera-se surdo o indivduo cuja audio no funcional na
vida comum e, parcialmente surdo, aquele cuja audio, ainda que
defciente, funcional com ou sem prtese auditiva. A competncia
auditiva classifcada como: normal, perda leve, moderada, severa e
profunda. A surdez severa e profunda impedem que o aluno adquira,
naturalmente, a linguagem oral.
Por decorrncia dessa dificuldade em desenvolver normalmente
a linguagem oral, os indivduos surdos podem apresentar um
atraso intelectual de dois a cinco anos, difculdades de abstrao,
generalizao, raciocnio lgico, simbolizao, entre outros.
Essa incapacidade de se comunicar, da mesma forma que as demais
pessoas, atua de modo signifcativo em sua personalidade, fazendo com
que manifeste tendncias de introspeco, imaturidade emocional,
rigidez de juzos e opinies, prejudicando o desenvolvimento do sujeito
em sua globalidade.
A fm de que estes problemas sejam evitados aconselhvel que a
criana surda seja encaminhada o mais cedo possvel a uma escola
especializada, para que possa receber estimulao auditiva e oral
69
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
adequada, adquirindo um desenvolvimento prximo aos padres de
normalidade.
O domnio da linguagem oral ir permitir sua plena integrao na
sociedade, uma vez que essa a forma usual de comunicao entre as
pessoas.
O desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem est subordinado
ao aprendizado da linguagem oral.
Esta concepo de surdez foi e ainda dominante e trouxe a prevalncia de um
modelo de educao que visava a cura ou a reabilitao do surdo, impondo-lhe a
obrigao de falar, mesmo que tal processo negligenciasse a carga horria prevista
para o desenvolvimento do currculo. Supunha-se que ao oralizar o surdo, sua
alfabetizao (leitura e escrita) ocorreria de forma mais natural e prxima ao
modelo apresentado pelas demais pessoas, favorecendo sua integrao social.
Sob esse ponto de vista, toda a Educao Especial esteve voltada reabilitao de
audio e da fala esta ltima tomada como sinnimo de linguagem. Os objetivos
da educao dos surdos reduziam-se prticas corretivas e de estimulao oral-
auditiva, em um encaminhamento metodolgico que se convencionou chamar
de oralismo.
A principal falha desse modelo foi desconsiderar os resultados negativos que
apontavam que tal processo poderia ser efcaz, do ponto de vista da possibilidade
do desenvolvimento da linguagem oral, em determinadas circunstncias:
incio na educao infantil antes dos cinco anos;
pais envolvidos no processo educacional;
profssionais de sade e educao bem preparados e com atuao constante
com o aluno;
protetizao e manuteno adequadas, nos casos de crianas com resduos
auditivos.
Entretanto, para grande maioria dos surdos brasileiros, tais circunstncias no
se apresentam. Signifca dizer que esse processo no tem relao direta com as
ditas limitaes naturais da surdez, mas est diretamente relacionada s falhas
nas estruturas do sistema pblico de sade e educao.
70
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Mais de um sculo desse modelo, como prtica hegemnica na educao de
surdos, acarretou no seguinte resultado: uma parcela mnima de surdos conseguiu
desenvolver uma forma de comunicao sistematizada, seja oral, escrita ou
sinalizada, e a maioria foi excluda do processo educacional ou perpetuou-se
em escolas ou classes especiais, baseadas no modelo clnico-teraputico. Isso
provocou o surgimento de uma gerao de pessoas que no apenas fracassou em
seu processo de domnio da lngua oral, como tambm, generalizadamente, em
seu desenvolvimento lingstico, emocional, acadmico e social.
importante afrmar que esta situao refete o panorama dos surdos no mundo
todo, conforme pesquisas de organismos representativos, governamentais e
no-governamentais. Essa constatao nos aponta para a necessidade urgente
de reviso nos paradigmas e prticas at ento realizadas.
Por outro lado, prticas e representaes sociais e novas concepes de surdez
passaram a ser edifcadas, no mais pautadas em padres de normalidade e
respaldadas por avanos cientfcos nos estudos lingsticos, socio-antropolgicos,
psicolgicos, entre outros. A valorizao da pluralidade cultural no convvio social,
fez surgir a necessidade de reconhecer o potencial de cada ser humano, a fm de
que possamos ter relaes sociais mais justas e humanitrias.
Dessa forma, no se nega que a surdez seja uma limitao auditiva, mas com
essa nova concepo valorizam-se as potencialidades dos surdos, traduzidas por
construes artsticas, lingsticas e culturais, representativas dessa comunidade,
que compartilha a possibilidade de conhecer e aprender, tanto mais por meio da
experincia visual do que pela possvel percepo acstica.
Em outras palavras, em Educao no se pretende falar de ausncias e de
limitaes, mas de novas possibilidades de construo; no se trata apenas do
que ns pensamos sobre os surdos, mas se trata, sobretudo, do que os surdos
pensam sobre si. Nesse universo de representaes, a surdez vista como uma
experincia visual, que pode ser assim resumida:
71
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
A SURDEZ NA PERSPECTIVA PEDAGGICA E SOCIAL
A surdez uma experincia visual que traz aos surdos a possibilidade
de constituir sua subjetividade por meio de experincias cognitivo-
lingsticas diversas, mediadas por formas alternativas de comunicao
simblica, que encontram na lngua de sinais, seu principal meio de
concretizao.
A surdez uma realidade heterognea e multifacetada e cada sujeito
surdo nico, pois sua identidade se constituir a depender das
experincias socioculturais que compartilhou ao longo de sua vida.
Os surdos tm direito a uma educao bilnge, que priorize a lngua
de sinais como sua lngua natural e primeira lngua, bem como o
aprendizado da lngua portuguesa, como segunda lngua.
O desenvolvimento de uma educao bilnge de qualidade
fundamental ao exerccio de sua cidadania, na qual o acesso aos
contedos curriculares, leitura e escrita no dependam do domnio
da oralidade.
A lngua portuguesa precisa ser viabilizada:
enquanto linguagem dialgica/ funcional/ instrumental e
enquanto rea do conhecimento (disciplina curricular).
A presena de educadores surdos, imprescindvel no processo
educacional, atuando como modelos de identifcao lingstico-
cultural e exercendo funes e papis signifcativos.
Essa compreenso diferenciada da surdez, que no estabelece limites para o
sujeito que aprende, mas, sim, possibilidades de construo diferenciadas,
relativamente nova para ns professores. Parece incrvel que apenas no terceiro
milnio as propostas educacionais estejam voltadas ao reconhecimento poltico
das diferenas relativas aos surdos e levem-nas em conta no momento de
organizar a prtica pedaggica.
So muitas as pesquisas a demonstrar que crianas surdas, flhas de pais surdos,
que desde o nascimento estiveram expostas lngua de sinais, (cumprindo,
plenamente, as funes de comunicao e simbolizao), obtiveram um
desenvolvimento lingstico, cognitivo, afetivo e social adequados. Alm disso,
estas crianas demonstraram melhores resultados acadmicos, em relao quelas
que no tiveram acesso lngua de sinais.
72
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Durante anos, o mito de que a lngua de sinais impediria a aquisio da lngua
oral pelas crianas surdas, impediu a sua utilizao no processo educacional. A
lngua de sinais no era considerada uma lngua, mas um conjunto de gestos
icnicos, sem estrutura interna e com a funo de comunicar apenas contedos
concretos.
Atualmente, a Lingstica da Lngua de Sinais uma disciplina em expanso
no mundo todo e suas pesquisas demonstram a importncia dessa lngua na
constituio do sujeito surdo. Os estudos, j desenvolvidos, afrmam que as
etapas de aquisio da lngua de sinais so semelhantes quelas apresentadas por
crianas ouvintes com a lngua oral, demonstrando as limitaes generalizadas
decorrentes do processo de desenvolvimento das crianas surdas, privadas dessa
forma de linguagem.
Diante disso, impossvel pensar em um projeto educacional de qualidade que
no mantenha como premissas bsicas a importncia da lngua de sinais e a
atuao de surdos adultos, competentes lingisticamente, como interlocutores no
processo de aquisio dessa lngua, contribuindo, signifcativamente, na formao
da personalidade e no processo educacional das crianas surdas.
A LNGUA DE SINAIS E OUTRAS FORMAS DE
COMUNICAO VISUAL
Ao pensar na educao de surdos importante refetir sobre a postura do
professor na sala de aula. inquestionvel que a maioria dos professores, na
quase totalidade das instituies educacionais, emprega como mtodo de ensino
a exposio oral e utiliza como recurso privilegiado o quadro de giz. Ao organizar
subsdios para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos
surdos que, da mesma forma que para os demais alunos, estas so prticas
insufcientes e inadequadas.
preciso ter cuidado para no tirar concluses apressadas e infundadas, no
cotidiano escolar, atribuindo apenas ao aluno a culpa por seu fracasso escolar.
muito comum afrmar-se que os surdos no apresentam forma alguma de
comunicao ou linguagem desenvolvida; que seu pensamento concreto ou
primitivo, porque no se expressam por meio da linguagem oral. Geralmente,
atribuem-se sua condio de defciente, todos os comportamentos que destoam
daquilo que considerado normal pela sociedade.
Se o aluno surdo no apresenta um desenvolvimento cognitivo compatvel com
aquele considerado prprio de seus colegas da mesma idade, isto no se deve a
73
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
sua defcincia auditiva, mas sim, defcincia cultural de seu grupo social que
foi incapaz de propiciar-lhe o acesso, no momento devido, a uma lngua natural
a lngua de sinais - que edifcasse as bases para um desenvolvimento lingstico
e, conseqentemente, cognitivo normais.
As pessoas surdas, por limitao sensorial, que as impede de adquirir
naturalmente a lngua oral, lanam mo de formas alternativas de apropriao
da linguagem fazendo uso de processos cognitivos e simblicos visuais. Deve-
se ter claro que a linguagem e o pensamento so processos interdependentes e
desenvolvem-se mutuamente, alimentando um ao outro. A principal funo da
linguagem a de intercmbio social; no entanto constituir sistema simblico,
que nos permite o pensamento generalizante, ordenando e categorizando dados
da realidade, conceitualmente, que a torna base do pensamento.
Se tomarmos apenas a linguagem oral como requisito para o desenvolvimento
do pensamento, veremos que muitos surdos apresentaro, generalizadamente,
problemas de comunicao, conceituao, abstrao, memria e raciocnio
lgico. Somente atravs do acesso precoce lngua de sinais que os surdos
podero desenvolver a linguagem nos mesmos moldes e padres das crianas
ouvintes, sem prejuzos ao seu processo de aquisio.
comum nos depararmos com situaes de interao entre professores e alunos,
mediadas apenas pela lngua oral, desconsiderando-se as difculdades e o pouco
ou nenhum conhecimento dos surdos em relao a esta forma de comunicao.
Muitas vezes, o professor prope ordens ou a resoluo de problemas que no
so compreendidos pelo aluno, que ignora ou no atinge os objetivos propostos
pela tarefa, simplesmente por no entender o contedo da mensagem veiculada.
Como conseqncia, teremos, fatalmente, juzos de valores e opinies equivocadas
sobre a real capacidade cognitiva desses sujeitos, pela simples difculdade de o
professor compreender como seu pensamento se processa ou de que forma poder
penetrar em seu funcionamento intelectual.
nesse sentido que afrmamos ser fundamental em qualquer ato de observao e
anlise de como se processa a aprendizagem de seu aluno surdo, que o professor
d ateno especial comunicao visual (lngua de sinais, gestos naturais,
dramatizao, mmica, desenho, escrita, etc.) como forma privilegiada na
interao, a fm de evitar julgamentos precipitados e baseados apenas em sua
prpria experincia de aprendizagem.
As situaes criadas pelo professor, em sala de aula, devem ser sempre
agradveis e signifcativas, no se perdendo de vista a objetividade e a clareza
ao promoverem-se atividades de linguagem escrita, de leitura ou de qualquer
outra forma utilizada.
74
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
No se deve tomar a palavra isoladamente, mas sempre em contextos signifcativos,
possibilitando ao aluno tecer relaes e comentrios, incitando-o comunicao,
de modo que o professor seja capaz de reunir subsdios para uma anlise mais
aprofundada do desenvolvimento lingstico.
Com base no exposto, o professor deve estar atento a todas as formas de
manifestao, lingsticas ou no, expressas pelo aluno surdo e lembrar-se
sempre de que, em alguns casos, sozinho, ele ser incapaz de poder solucionar
tarefas ou situaes propostas; entretanto, com ajuda, ele chegar, rapidamente,
soluo.
O professor de alunos surdos que conhecer a lngua de sinais certamente ter
ampliada a capacidade de interao verbal com seus alunos, em todas as situaes
de aprendizagem. H inmeras estratgias para que essa seja, de fato, uma lngua
compartilhada entre surdos e ouvintes e temos conhecimento de experincias
signifcativas, nesse sentido, em vrias unidades escolares do pas.
O fato de ter havido uma mobilizao nacional em relao ofcializao da lngua
de sinais, no Brasil, como lngua natural das comunidades surdas, desencadeou
uma srie de aes, em diferentes nveis institucionais, no sentido de formar e
contratar instrutores surdos, disseminadores da lngua de sinais por todo o pas,
sistematizando seu aprendizado, por meio de cursos. A Federao Nacional de
Educao e Integrao dos Surdos - FENEIS, juntamente com algumas Secretarias
Estaduais e Municipais de Educao, escolas especiais e movimentos religiosos,
tem se constitudo em pontos de referncia para as pessoas que buscam conhecer
a Lngua Brasileira de Sinais - Libras
5
. Recentemente, foi lanado, em nvel
nacional, o primeiro dicionrio ilustrado trilinge da Lngua de Sinais Brasileira o
que, certamente, contribuir para a divulgao da lngua de sinais e concretizao
da educao bilnge no Brasil.
6
Alm da lngua de sinais, meio privilegiado de interao simblica, diferentes
formas de comunicao que utilizam outros cdigos visuais devero estar
presentes na sala de aula, benefciando a relao entre professor/alunos surdos
e demais alunos:
5
Alguns lingstas e representantes da comunidade surda vm empregando, tambm, a sigla LSB - Lngua
de Sinais Brasileira, o que, para eles, seria mais adequado em relao aos critrios de denominao adotados
pela comunidade cientfca internacional.
6
Dicionrio Enciclopdico Ilustrado Trilnge da Lngua de Sinais. So Paulo, SP: Edusp (1620 pginas
Capovilla, F. C. & Raphael, W. D. (2001).
75
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
alfabeto manual - um recurso utilizado pelos surdos para soletrar nomes
prprios ou palavras do portugus para as quais no h equivalente em lngua
de sinais. Vale lembrar que de nada adiantar a soletrao pelo professor se o
signifcado da palavra for desconhecido para o aluno.
mmica/dramatizao so recursos possveis na comunicao, que podero
acompanhar ou enriquecer os contedos discutidos em sala de aula e que,
embora no exeram a funo simblica de uma lngua, do conta de constituir
signifcados mais relacionados ao aqui e agora.
desenhos/ilustraes/fotografas - podero ser aliados importantes, pois
trazem, concretamente, a referncia ao tema que se apresenta. Toda a pista visual
pictogrfca enriquece o contedo e estimula o hemisfrio cerebral no-lingstico,
tornando-se um recurso precioso de memorizao para todos os alunos.
recursos tecnolgicos (vdeo/TV, retroprojetor, computador, slides,
entre outros) constituem instrumentos ricos e atuais para se trabalhar com
novos cdigos e linguagens em sala de aula. A preferncia deve ser por flmes
legendados, pois isto facilita o acompanhamento pelos surdos. No entanto,
sempre bom estar discutindo, previamente, a temtica a ser desenvolvida, o
enredo, os personagens envolvidos, pois caso a legenda no seja totalmente
compreendida, por conta do desconhecimento de algumas palavras pelos alunos
surdos, no haver prejuzo quanto interiorizao do contedo tratado.
lngua portuguesa escrita - apresenta-se como uma possibilidade visual de
estar representando as informaes veiculadas em sala de aula. O professor poder
estar organizando um roteiro do contedo a ser abordado, com palavras-chave,
no quadro ou no retroprojetor, recorrendo, sempre, a seus apontamentos como
forma de organizar sua explanao. Mais uma vez, bom lembrar que palavras
desconhecidas devem ter seu contedo clarifcado para os alunos, sob o risco de
tornarem-se um indicador sem efeito. H inmeras experincias que demonstram
que, mesmo o aluno falante nativo do portugus, benefcia-se das explicaes ou
sinnimos oferecidos aos surdos para a compreenso dos enunciados.
lngua portuguesa oral / leitura labial a lngua oral desenvolvida com
os surdos at hoje baseada, fundamentalmente, no treino fonoarticulatrio/
estimulao auditiva. Como conseqncia apenas uma pequena parcela de
alunos surdos (no mais que 20%, segundo as pesquisas) puderam apresentar
realmente a possibilidade de comunicao oral. A leitura labial possibilitada pela
visualizao da expresso fsionmica e dos gestos da pessoa que fala. Geralmente,
o professor costuma acreditar que sentar o aluno na primeira carteira, falar de
frente e pausadamente basta para que ele compreenda sua mensagem. Entretanto,
76
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
mesmo entre os surdos treinados para o domnio desta tcnica, h estudos
demonstrando ser a leitura labial um meio inefcaz para a compreenso plena,
entre os interlocutores, uma vez que, na melhor das hipteses, 50% da mensagem
estar comprometida pela difculdade de leitura de fonemas no visveis para os
surdos e pela rapidez do fuxo da fala, o que difculta o entendimento do contedo
que acaba sendo deduzido pelo contexto, o que nem sempre confvel.
Mesmo sendo a presena de intrpretes de lngua de sinais o ideal, nos casos em
que houver alunos surdos estudando nas classes comuns, h uma srie de variveis
que ainda difcultam essa realidade, dentre elas o fato de nem todos os alunos
serem usurios da Libras e a demanda de intrpretes ser mnima, geralmente,
apenas nos grandes centros urbanos.
Diante disso, o professor deve lanar mo de todos os recursos e estratgias
visuais que acompanhem a oralidade, pois, ao contrrio, seu aluno surdo em
nada se benefciar das aulas.
CONHECENDO A LNGUA DE SINAIS
Por longo perodo no se supunha que a comunicao dos surdos, a mmica,
como era anteriormente denominada, fosse uma verdadeira linguagem. At pouco
tempo se dizia que os surdos, que se comunicavam por sinais, assemelhavam-se
aos macacos. Isto se dizia por ignorncia e por preconceito. Todavia h, pelas
mesmas razes, quem ainda continue a dizer coisas parecidas.
J em 1960, William Stokoe, nos Estados Unidos, demonstrou que a lngua
de sinais uma lngua natural, igual s demais lnguas orais. A partir dessa
descoberta, no h razo para no respeitar a lngua de sinais e as pessoas surdas
que dela se utilizam.
As lnguas de sinais devem ter o mesmo status das lnguas orais, uma vez que se
prestam s mesmas funes: podem expressar os pensamentos mais complexos,
as idias mais abstratas e as emoes mais profundas, sendo adequadas para
transmitir informaes e para ensinar. So to completas quanto as lnguas
orais e esto sendo estudadas cientifcamente em todo o mundo. Coexistem
com as lnguas orais, mas so independentes e possuem estrutura gramatical
prpria e complexa, com regras fonolgicas, morfolgicas, semnticas, sintticas
e pragmticas.
A lngua de sinais, como uma construo histrico-social da comunidade
dos surdos, demonstra plenamente a capacidade alternativa de alimentar os
77
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
processos mentais, mesmo sendo uma lngua vista e no ouvida. Ela substitui,
adequadamente, as funes exercidas pela lngua oral para as pessoas ouvintes,
propiciando s pessoas surdas o desenvolvimento pleno da linguagem.
Por ser uma lngua viva, produto da interao de um grupo de pessoas que
se identificam pela comunicao visual, a lngua de sinais, oferecendo as
possibilidades de constituio de signifcado, cumpre um papel fundamental
no desenvolvimento lingstico, cognitivo e emocional dos alunos surdos, no
podendo ser ignorada pelo professor em qualquer ato de interao com eles.
Os alunos ouvintes adquirem espontaneamente lnguas orais, porque a informao
lhes chega pela via auditiva. Por sua vez, para os surdos, as informaes chegam
pela via visual. Eles aprendem espontaneamente a lngua de sinais e, quando em
contato com outros surdos, desenvolvem naturalmente a linguagem. Assim podem
inteirar-se, plenamente, da dimenso humana da comunicao e enriquecer, sem
restrio, seu mundo conceitual.
Por ser uma construo histrica e social, as lnguas de sinais no constituem
um sistema lingstico universal. Cada pas tem a sua prpria lngua, produto
das condies culturais de cada comunidade. No Brasil, a lngua de sinais dos
surdos dos centros urbanos denominada Lngua de Sinais Brasileira e vem
sendo estudada por vrios lingistas e pesquisadores. Por ser uma lngua de
modalidade visuo-espacial, que produzida/codifcada a partir de recursos
espaciais e percebida/decodifcada por meio da viso, faz uso de mecanismos
simultneos ao contrrio do que ocorre nas lnguas orais cujos mecanismos so
seqenciais.
Uma das caractersticas das lnguas de sinais, no mundo todo, sua iconicidade,
isto , alguns sinais tendem a reproduzir caractersticas parciais ou totais do dado
da realidade representado, o que faz com que as pessoas creiam ser esta uma
lngua que apenas reproduz conceitos concretos. Vejamos alguns exemplos:
PEGAR BEBER CAF VOTAR
78
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Na verdade, h uma srie de sinais que possuem, de fato, motivao icnica,
entretanto, a maioria dos sinais so convencionados pelos seus usurios.
Isto facilmente percebido nos exemplos, abaixo, que demonstram a
arbitrariedade em relao aos sinais representados:
A aquisio depender, to somente, do contato com usurios da lngua de sinais
que, ao fazer uso das palavras em contextos signifcativos, estaro oportunizando
a apreenso do sentido, em cada situao.
por conta disso que nem todos os surdos conhecem ou utilizam a lngua de sinais,
principalmente aqueles que, por inmeras razes, foram proibidos de comunicar-
se gestualmente e educados sob a perspectiva oralista. Da mesma forma, h
um sem nmero de localidades nas quais, por no haver uma comunidade
representativa de surdos, no h a disseminao da lngua de sinais e acaba-se
por desenvolver um conjunto de gestos prprios que viabilizam a comunicao
contextual com a famlia e o crculo social mais imediato.
Uma criana surda, flha de pais ouvintes, no pode aprender, naturalmente,
espontaneamente, a lngua portuguesa que seus pais falam, por impedimento
auditivo. Igualmente, no seio de uma famlia de ouvintes, to pouco se tem
facilidade para aprender a lngua de sinais. Esta situao crtica. Para super-la
necessita-se que os pais ouvintes aprendam, o quanto antes e da melhor maneira
possvel, a lngua de sinais, que lhes permitir comunicar-se com seu flho e,
sobretudo, trar a oportunidade criana de estar em um ambiente onde possa
aprender espontaneamente a lngua de sinais.
A situao das crianas surdas, flhas de pais surdos, completamente distinta,
porque ambos utilizam a lngua de sinais como a primeira lngua. Essas crianas,
em geral, esto em contato desde muito cedo com a lngua falada de sua
TER VERDE PODER
ONTEM ANO SBADO
79
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
comunidade - a lngua de sinais - sua lngua natural. por esta razo que as
crianas surdas, flhas de pais surdos, mostram um desempenho muito superior
em todos os aspectos do desenvolvimento em comparao s crianas surdas,
flhas de pais ouvintes.
A est a importncia de o professor conhecer a histria de vida de seus alunos,
compreendendo seu completo desenvolvimento, a fm de tomar as decises
educacionais mais adequadas em relao s suas necessidades. Cabe ressaltar que
privaes lingsticas signifcativas na infncia podem ser a causa de problemas e
difculdades na aprendizagem. Dessa forma, o processo de aquisio da lngua de
sinais deve iniciar-se na educao infantil, aps manifestada a opo dos pais.
A LNGUA PORTUGUESA
O aluno surdo assim como qualquer pessoa compartilha uma srie de experincias
lingsticas, mais ou menos signifcativas, a depender das interaes verbais a
que se submeteu na famlia e da opo metodolgica, desenvolvida no contexto
de educao a que teve acesso.
Considerando o impedimento biolgico para aquisio da lngua portuguesa,
de forma natural, necessrio que sua aprendizagem seja realizada de forma
sistematizada. Este aprendizado , na maioria das vezes, de responsabilidade
da escola, que dispe de professores especializados para este fm. No entanto,
nem sempre as metodologias utilizadas pelos professores possibilitam ao surdo
o acesso a experincias signifcativas, no meio acadmico.
Pelo contrrio, comum nos depararmos com propostas de ensino de Lngua
Portuguesa para estudantes surdos que a separam de seu contedo vivencial,
desconsiderando seu contexto de produo e reduzindo-a a um sistema abstrato de
regras, que deve ser incorporado atravs do treino e da repetio. De maneira geral,
elege-se como objeto de trabalho palavras ou enunciados isolados, delimitados
por uma progresso fontica
7
preestabelecida, organizada a partir de critrios do
nvel de complexidade de sua produo fonoarticulatria e de sua percepo visual
7
Em sua maioria, os encaminhamentos metodolgicos que se propem a desenvolver o treinamento fono-
articulatrio pressupem uma seqncia fontica que inicia com os fonemas de mais fcil visualizao para
leitura labial, como os bilabiais e dentais /p, b, t, d.../, at os velares /k, g/ que so imperceptveis. Como
conseqncia, as palavras selecionadas para o treinamento obedecem a esse critrio e teremos, por exemplo,
as seguintes sugestes para o trabalho de alfabetizao: p, pia, p, pua, pai, epa, Pepe, etc.
80
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
pelo surdo. Mesmo quando o enunciado eleito um pouco mais complexo, em
sua organizao sinttica, o objetivo no a lngua viva, mas a preocupao em
apresentar sua estruturao gramatical, garantindo a fxao da ordem correta
das palavras.
Enfm, como resultado fnal, temos um grupo de alunos com difculdades de
aprender a lngua portuguesa por insufcincia de um processo psicolingstico
consistente. So estes os alunos que seguem marginalizados por um fracasso que
no deles, mas de seu grupo social, incapaz de possibilitar-lhes o aprendizado
signifcativo da lngua ofcial de seu pas.
Neste ponto, faz-se necessria uma reflexo fundamental do processo de
aprendizado da lngua portuguesa, uma vez que se constitui em realidades
diferentes para alunos surdos e ouvintes. Para os alunos ouvintes - falantes
nativos da lngua, o professor estar desenvolvendo aes que permitam a
atividade refexiva do aluno em relao aquisio da escrita. Alm disso, as aes
metalingsticas permitiro a anlise da linguagem, por meio da refexo e do uso
de conceitos, classifcaes, nomenclaturas, oposies, analogias e associaes.
J para os surdos, para os quais o portugus uma segunda lngua (inexistindo
referncias lingsticas naturais ou auditivas), todo cuidado ser necessrio
para que seu aprendizado no se transforme apenas em prtica de memorizao
de regras, classifcaes e nomenclaturas, ou seja, uma atividade meramente
metalingstica. Como para estes, aprender a escrita da lngua portuguesa signifca
aprender a lngua, sem que haja, muitas vezes, uma lngua-base (lngua de sinais)
para discutir tais relaes na lngua-alvo (lngua portuguesa), fundamental
proporcionar o acesso experincias signifcativas que permitam a apropriao
da linguagem no apenas como rea do conhecimento, mas como atividade
dialgica, constituinte de mltiplos sentidos.
Eis a contradio: do ponto de vista psicolingstico, no h uma base lingstica
consolidada por uma lngua natural primeira lngua - e o aprendizado da
segunda lngua ocorre (ocorre?) neste vcuo lingstico. Isso se d por no termos,
em primeiro lugar, professores bilnges, com funcia em lngua de sinais, e, em
segundo lugar, pela ausncia de metodologias de ensino de portugus para surdos
que levem em considerao as peculiaridades desse processo.
No Brasil, comum os surdos serem monolnges, seja porque s falem o
portugus, seja porque s utilizem a lngua de sinais. Isso conseqncia de
vrios fatores:
81
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
a criana surda, na maioria das vezes, flha de pais ouvintes. Nesse caso, os
pais comunicam-se com ela por meio da lngua portuguesa oral. Como ela no
adquire naturalmente esta lngua a comunicao entre ambos no efciente
ou at mesmo no se realiza;
preconceito tambm um fator que contribui para o surdo ser monolnge. Os
pais e professores tm medo de que o surdo no aprenda a falar e, assim, no
s no permitem que ele utilize a lngua de sinais, como no aceitam aprend-
la, nem utiliz-la. Por outro lado, h surdos que no tiveram a oportunidade
de aprender a lngua portuguesa ou mesmo a rejeitam;
a falta de uma estrutura adequada no sistema pblico de sade e educao
(ausncia de convnios e interfaces entre os dois setores, por exemplo);
as falhas curriculares na formao dos especialistas na educao dos surdos,
excluindo contedos relacionados ao ensino de lnguas (tanto da lngua
portuguesa, quanto da lngua de sinais);
a opo pela utilizao, apenas, da lngua de sinais, por ser esta a forma
natural de comunicao dos surdos.
No entanto, a potencialidade das pessoas surdas nos sinaliza que o sistema
educacional deve oferecer condies para que elas possam ser bilnges, ativas
(pessoas que entendem e usam duas ou mais lnguas) ou receptivas (pessoas que
entendem duas ou mais lnguas, mas no as utilizam plenamente). Entende-se
assim, como ideal, que deva haver, no processo educacional, a oferta e o uso da
lngua de sinais brasileira, da lngua portuguesa e de outra lngua estrangeira
moderna.
A modalidade oral da lngua portuguesa, sem ser impositiva, nem mecanicista,
pode ser ofertada, principalmente, durante a educao infantil, em perodo
contrrio ao da escolarizao e realizada por profssionais adequados, em interface
entre a Sade e a Educao. Nesse caso, respeita-se o seu direito de manifestar-se
tambm oralmente, se esta for sua opo e de sua famlia.
A modalidade escrita da lngua portuguesa deve ser ofertada desde a educao
infantil, seguida do aprendizado da lngua de sinais, confgurando a educao
bilnge
8
, em escolas comuns ou especiais (desde que esta seja a opo dos
pais).
Na educao dos surdos, a adequao do ensino da lngua portuguesa ocorre
por meio de:
8
Metodologicamente, h inmeras possibilidades de bilingismo, que podero envolver a lngua de sinais e a
lngua portuguesa em suas modalidades oral e escrita.
82
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
prticas metodolgicas de ensino de segundas lnguas;
uti l i zao da escri ta na i nterao si mul tnea professor/al uno
(conversao);
escolha prvia de textos de acordo com a competncia lingstica dos
educandos;
apresentao de referncias relevantes (contexto histrico, enredo,
personagens, localizao geogrfca, biografa do autor, etc.) sobre o texto,
em lngua de sinais ou utilizando outros recursos, antes de sua leitura;
explorao do vocabulrio e da estrutura do texto (decodifcao de vocbulos
desconhecidos, por meio do emprego de associaes e analogias);
apresentao do texto por escrito;
nfase aos aspectos semnticos e estruturais do texto;
estmulo formao de opinio e do pensamento crtico;
interpretao de textos por meio de material plstico (desenho, pintura e
murais) ou cnico (dramatizao e mmica);
adequao de contedos e objetivos;
avaliao diferenciada, considerando-se a interferncia de aspectos estruturais
da lngua de sinais.
Todos os contedos, que tm como pr-requisito a oralidade ou a percepo
auditiva para sua perfeita compreenso, devem ser repensados em termos de
estratgias para sua aprendizagem, pois a perda auditiva impede a realizao de
associaes e anlises da mesma forma que as pessoas ouvintes. Como j dito
anteriormente, recursos visuais alternativos devem ser utilizados, para que no
haja prejuzo em relao aos contedos desenvolvidos. Entre as situaes mais
comuns, que devem ser repensadas encontram-se os seguintes casos:
acentuao tnica;
pontuao;
ditados ortogrfcos;
discriminao dos fonemas;
estudos comparativos entre as letras e os fonemas: x com som de z, s, ks,...
A sistematizao do processo de ensino-aprendizagem da lngua portuguesa deve
iniciar-se na educao infantil para viabilizar, com pleno xito, as atividades de
alfabetizao de alunos surdos.
Quando, por algum motivo, o aluno no foi benefciado pelas atividades da
educao infantil e, principalmente, estiver com defasagem idade/srie no
perodo de alfabetizao, deve-se priorizar o uso da lngua de sinais e da lngua
portuguesa escrita.
83
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Para a adequao do ensino da lngua portuguesa, despontam-se alguns recursos
e estratgias:
planejar atividades amplas, que tenham diferentes graus de difculdade e que
permitam diferentes possibilidades de execuo e expresso;
propor vrias atividades para trabalhar um mesmo contedo;
utilizar metodologias que incluam atividades de diferentes tipos, como
pesquisas, projetos, ofcinas, visitas, etc.;
combinar diferentes tipos de agrupamento, tanto no que se refere ao tamanho
dos grupos quanto aos critrios de homogeneidade ou heterogeneidade, que
permitam proporcionar respostas diferenciadas em funo dos objetivos
propostos, a natureza dos contedos a serem abordados, necessidades,
caractersticas e interesses dos alunos;
organizar o tempo das atividades propostas, levando-se em conta que
atividades exclusivamente verbais tomaro mais tempo de alunos surdos;
realizar um processo de refexo sobre a estrutura dos enunciados propostos
em exerccios e avaliaes, pois quanto mais complexas forem sua estrutura,
mais difcil ser a compreenso por parte dos alunos (observar o uso exagerado
de processos de subordinao, da preferncia voz ativa que passiva);
alterar objetivos que exijam percepo auditiva;
utilizar diferentes procedimentos de avaliao que se adaptem aos diferentes
estilos e possibilidades de expresso dos alunos.
REAS DE CONHECIMENTO: PORTUGUS,
MATEMTICA, GEOGRAFIA, HISTRIA...
O processo de apropriao do conhecimento, pelo aluno, embasa-se nos
conhecimentos prvios, caracterizados pela aquisio de conceitos cotidianos.
Quando entra na escola, traz consigo a formao de conceitos espontneos,
fragmentados, ligados vida diria. Estes conceitos, mediados pelo professor,
sero ampliados com a introduo dos conhecimentos formais.
Toda aprendizagem mediada pela linguagem e ser muito melhor sucedida se a
lngua utilizada for compartilhada inteiramente em seus usos e funes sociais.
No caso de crianas surdas, o acesso ao conhecimento estar intimamente ligado
ao uso comum de um cdigo lingstico prioritariamente visual, uma vez que,
de outra forma, ela poder apenas ter acesso s caractersticas fsicas do objeto
e no as conceituais.
84
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
No qualquer proposta ou qualquer interao que desencadeia a aprendizagem.
Toda atividade que se oferea ao aluno na sala de aula precisa ter uma inteno
clara, do professor para o aluno. O trabalho pedaggico deve ter, como ponto
de partida, os conhecimentos que a criana j possui. Esta seria a base para a
ampliao e aquisio de novos conhecimentos.
A lngua portuguesa, alm de se constituir disciplina do currculo que exige
uma refexo pormenorizada de sua aprendizagem pelos surdos, o elemento
organizador e mediador no desenvolvimento das demais reas do conhecimento
curricular. Veiculada atravs de material grfco (livros, apostilas, revistas, jornais)
o meio privilegiado de acesso informao em sala de aula, sistematizando a
memria cultural da humanidade e, portanto, o acesso ao conhecimento.
Com relao s demais reas de conhecimento, desde que seja assegurada a
adequao do cdigo lingstico, os problemas sero minimizados em relao
apropriao dos contedos pelos alunos surdos. No entanto, algumas reas,
dada a sua organizao curricular, podero gerar algumas difculdades para os
surdos, necessitando a realizao de adaptaes curriculares, a fm de garantir
o respeito diferena lingstica presente.
necessrio destacar que seja qual for a rea de conhecimento a ser desenvolvida,
um texto estar sempre presente, uma vez que ele confgura a maior unidade
de sentido da lngua e qualquer atividade de interao verbal pressupe sua
existncia, podendo se materializar de forma oral, escrita ou sinalizada. A conversa
inicial, a ordem para a tarefa, os enunciados dos problemas matemticos, a piada,
a experincia no laboratrio, o livro didtico, entre outras situaes cotidianas
em sala de aula, constituem-se textos signifcativos estruturados em lngua
portuguesa. Para os alunos surdos, poder haver difculdades de compreenso
desses textos, fato que indica a necessidade de se utilizar a lngua de sinais e
outros cdigos visuais citados no texto que trata da Lngua de sinais e outras
formas de comunicao visual. A no utilizao de cdigos visuais poder lev-
los a comportamentos inadequados: a indiferena, o isolamento, a agressividade
e o erro.
provvel que muitos dos objetivos e contedos sejam os mesmos para
alunos surdos e ouvintes, desde que asseguradas as formas alternativas de
organizao, metodologia e avaliao, que pressuponham os seguintes princpios
metodolgicos:
favorecer a atividade prpria dos alunos, estimulando suas experincias
diretas, como ponto de partida da aprendizagem;
85
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
organizar as atividades de aprendizagem em pequenos grupos, para estimular
a cooperao e comunicao entre os alunos;
utilizar, constantemente recursos visuais de comunicao que sirvam de apoio
informao transmitida oralmente (desenho, leitura, vdeo, cartaz, etc.);
avaliar o conhecimento do aluno em todas as reas, levando em considerao
as caractersticas da interferncia da lngua de sinais em suas produes
escritas, conforme exemplo abaixo:
P: O que uma ilha?
R: Terra gua lado.
O aluno tem conhecimento do elemento geogrfco. O que ele no conseguiu
foi expressar esse conhecimento nos padres lingsticos formais da lngua
portuguesa.
AVALIAO
Objeto de constantes pesquisas, estudos e discusses, muito j se tem comentado
a respeito do modelo de avaliao vigente em grande parte das escolas: autoritria,
usada como instrumento disciplinador de condutas sociais, classifcatria e
excludente, praticada atravs de testes mal elaborados, com leitura inadequada
de resultados, pelos quais, muitas vezes, o aluno avaliado unicamente para ser
promovido de srie em srie, em detrimento da efetivao de seu processo de
aprendizagem.
Numa concepo pedaggica progressista, preocupada com a transformao
social, a avaliao deve ser vista como a ferramenta que auxilia na aprendizagem
do aluno, possibilitando-lhe apropriar-se de conhecimentos e de habilidades
necessrias ao seu crescimento. Busca-se uma avaliao que seja, para o professor,
um instrumento no s para constatar o que o aluno j sabe, mas que lhe permita
rever, criticamente seu trabalho, e reorientar sua atuao.
O que deve ser lembrado que a avaliao no dever se dar num momento nico,
mas se inserir nas diferentes situaes que envolvem o processo de aprendizagem
do aluno.
Procurar investigar como a criana aprende, de que forma se realiza o ato de
conhecer ou adquirir conhecimentos um desafo ao professor, pois sua funo
ser a de criar situaes diversas que promovam a aprendizagem signifcativa e,
por conseqncia, o desenvolvimento cognitivo do aluno. Isto no uma tarefa
fcil, pois todo o desenvolvimento estar apoiado em seu desenvolvimento
86
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
lingstico; linguagem e pensamento so processos intimamente ligados, desde
a sua origem, e seguem inter-relacionados ao longo da vida da pessoa. Se as
atividades propostas no forem mediadas por um sistema simblico, acessvel
aos surdos, todo o processo de aprendizagem estar comprometido.
Alguns surdos desenvolvem a lngua escrita com xito, conseguindo se fazer
entender muito bem. O que acontece que esse nmero to insignifcante que
no podemos generaliz-lo e, na imensa maioria das vezes, ao investigarmos os
motivos de seu sucesso nos deparamos com o respaldo e apoio de uma famlia bem
estruturada, oferecendo ao aluno, desde sempre, experincias signifcativas com
a linguagem e desenvolvendo uma pedagogia prpria, paralela quela da escola,
que extrapola as frases artifciais e descontextualizadas. Mesmo sabedores dessa
possibilidade de xito por parte de alguns estudantes surdos, buscamos neste
texto uma anlise que d conta da regra e no da exceo, o que no descarta a
possibilidade de um aprendizado possvel, desde que a pedagogia empregada
seja apropriada e signifcativa.
Nesse sentido, afrmamos que, de modo semelhante oralidade para os ouvintes,
a lngua de sinais organiza de forma lgica as idias dos surdos e acaba tendo
sua estrutura gramatical refetida nas suas atividades escritas, consideradas,
equivocadamente, como sendo errada.
Os erros que estudantes surdos cometem ao escrever o portugus devem ser
encarados como decorrentes da aprendizagem de uma segunda lngua, ou
seja, o resultado da interferncia da sua primeira lngua (a lngua de sinais) e a
sobreposio das regras da lngua que est aprendendo (a lngua portuguesa).
Como conseqncia, teremos produes textuais distantes daquelas tidas como
padro, muitas vezes encaradas como dados patolgicos de linguagem, que
justifcam a marginalizao dos surdos no contexto escolar, traduzida por prticas
avaliativas extremamente excludentes; ou faltam critrios diferenciados, ou
sobram critrios arbitrrios para avaliao desses textos.
Tais consideraes so bsicas para compreendermos alguns aspectos da produo
escrita de surdos, com vistas a elegermos critrios de avaliao diferenciados em
relao lngua portuguesa e demais reas do conhecimento que dela se utilizam
(Histria, Biologia, Geografa, etc.), no generalizveis, mas que possam constituir
subsdios para a anlise de suas construes singulares em comparao escrita
de ouvintes.
Estes so alguns textos de alunos surdos que serviro para observao do que
ocorre no ato da produo de texto:
87
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
A morte de Sena
Eu quero gosta muito mais... Chora de Senna.
O Senna formosa frmula 1 e melhor e o mundo Brasileiro.
No triste domingo, um Imola, Senna estava nervoso quando entrou
na pista bateu e morte.
O Brasil chora muito e a frmula I perdeu o homem bom.
EU TE AMOR SENNA!
V.Q.R. 7 srie
Bilhete
Eunice,
Favor assinar no ponto.
Me Desculpe, esperar vou fazer de folha com escolas p/ CEP. Falta
tem pouco. Vou fazer em casa. Se j pronto depois dar p/ voc.
OK!
No se preocupa! Calma!
No esquecer
Um Abrao do Seu Amigo.
Deus te Abenoo.
C. A Ensino Mdio
Preliminarmente, constata-se o padro de escrita telegrfica, com erros
estruturais, incompatveis com a norma padro do portugus. Entretanto,
aps uma observao mais aguada sobre o que ocorre nestes textos, pode-se
sistematizar algumas das principais caractersticas da escrita, tomando como
principal a hiptese de que a estruturao de sentenas escritas, pelos surdos,
est determinada, por um lado, pela sintaxe e morfologia da lngua de sinais (por
isso apresenta-se distanciada dos padres de normalidade, exigidos para um
falante nativo da lngua portuguesa) e, por outro lado, pelas evidncias de uma
inter-relao com as experincias no signifcativas com a lngua portuguesa, as
quais se desenvolveram por meio dos mtodos utilizados no processo educacional
dos surdos.
Estrangeiros que esto aprendendo uma segunda lngua, cuja estruturao
gramatical difere de sua lngua materna, apresentam difculdades semelhantes
s dos surdos em relao ao uso de preposies, tempos verbais, sufxao,
prefixao, concordncia nominal e verbal, enfim, no que se refere aos
88
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
componentes estruturais de sua organizao. Este fato ocorre independente de
essas pessoas estarem expostas, continuamente, atravs do canal auditivo, s
realizaes lingsticas que as cercam, do mesmo modo que um falante nativo.
Isso demonstra que no apenas o fato de o surdo no receber informaes
auditivas que interfere nas suas prticas lingstico-discursivas em portugus,
mas tambm, o fato de a lngua de sinais estar participando ativamente no
processo de elaborao discursiva. Ela, portanto, no pode ser desconsiderada
ao elaborarmos qualquer juzo de valor em suas produes escritas.
Ao iniciarmos o estudo de uma lngua estrangeira, a primeira sensao que
nos acomete a de um no saber absoluto. O sentimento de impotncia que
experimentamos se deve, em grande parte, s inmeras diferenas com as quais
nos defrontamos de ordem fontica, sinttica, semntica; ou seja, ao conjunto
estrutural que caracteriza essa lngua. O bloqueio inevitvel na medida em que
a produo de signifcaes s nos parece possvel, se fzermos comparaes com
nossa prpria lngua.
Na lngua estrangeira, salvo os casos de imerso natural, o aprendiz se v num
trabalho de elaborao constante e intencional, para a adequao daquilo que
quer dizer. Esse trabalho vai sendo atenuado proporo que sua identifcao
com a cultura da comunidade que o acolhe se consolida.
Fato semelhante ocorre em diferentes nveis da escolarizao do surdo. Sua
produo escrita estar sujeita a diferenciaes: nas etapas iniciais ela estar
muito mais marcada pelas caractersticas da lngua de sinais, nas etapas fnais
deste processo, mesmo com peculiaridades, ela estar mais prxima do portugus.
Esta construo que caracteriza uma interlngua - percurso de aquisio de uma
segunda lngua - no pode ser desqualifcada, pelo professor, em seu processo
de avaliao.
Vejamos quais seriam as principais caractersticas da interferncia da lngua de
sinais na produo de textos, por alunos surdos
9
.
Ortografa: geralmente, a escrita dos surdos apresenta boa incorporao das
regras ortogrfcas, facilitada por sua excelente capacidade visual e a no confuso
com sons diferenciados que determinadas letras adquirem nas palavras. Na
9
O smbolo # refere-se ausncia do elemento em questo.
89
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
questo da acentuao, por estar diretamente vinculada oralidade (slaba tona
ou tnica), os alunos tm maior difculdade. Por memorizar as palavras em sua
globalidade e no a partir de sua estrutura fontica, podem acontecer trocas nas
posies das letras, tais como:
Parna
froi (frio) Barisl (Brasil)
frime (frme) perto (preto)
A pontuao no constitui difculdade, quando esclarecida sua funo por meio
da lngua de sinais. Caso contrrio, apresentar difculdades devido aos aspectos
vinculados a entonao e ao ritmo.
Artigos: so omitidos ou utilizados inadequadamente, uma vez que no existem
em lngua de sinais. Como a utilizao do artigo pressupe o conhecimento de
gnero (masculino/feminino), por parte do falante, muitas vezes ele utilizado
de forma inadequada pelos surdos, tendo em vista no haver diferenciao, em
lngua de sinais, entre substantivos, adjetivos e alguns verbos derivados da mesma
raiz: tristeza, triste, entristecer. Alm disso, comum, nas prticas tradicionais de
ensino, os professores apresentarem os substantivos sempre acompanhados do
artigo defnido (o bolo, a faca, o menino etc.), o que leva os surdos a realizarem
generalizaes imprprias:
A avio viajar o frana Brasil
Eu vi o televiso.
O chamar o nibus ligerinho.
O aglomerao da distribuio do fuxo fnanceiro que vem do
sul(...)
Antigamente # Brasil sempre fazia plantaes s para portugueses
e brasileiros e mais tarde eles comearam a vender para # mundo
inteiro.
Elementos de ligao: (preposies, conjunes, pronomes relativos, entre
outros): o uso inadequado ou a ausncia de conectivos como as conjunes e
preposies so comuns nas produes dos surdos, por serem pouco freqentes
ou no haver correspondncia exata em lngua de sinais:
90
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Eu gosta no # homossexual, s gosta tem # mulher fala tenho eu
camisinha vai transar depois esperma camisinha joga de lixo.
Eu precisa # camisinha mulher precisa # camisinha # mochila.
A Gabriela chorar # fugir cachorro.
Eu no fumo, nunca esprimenta porque faz mal # pulmes fcar
preto como carvo, eu estou fazendo natao faz tempo at agora se
eu fumo no nado muito bem por causa falta no ar eu quase sempre
jantar fora eu peo # o garom preferir de mesa sem fumo.
O argumento do cigarro que no se incomoda algum e alguns
sim.
A cidade de So Paulo que proibido fumar no bares e restaurantes
lugar s fechado.
Gnero (masculino/feminino) e Nmero (singular/plural): a ausncia
de desinncia para gnero e nmero em lngua de sinais um dos aspectos
evidentes da interferncia dessa lngua na escrita, pois a concordncia nominal
inadequada uma constante nas construes analisadas.
Eu boa HIV limpo exame de sangue, exame de fezes, exame
de urina.
Eu viu o televiso muito pessoa tem AIDS.
A minha mame faz uma bolo chocolate bom.
(...) a companhia de cigarros que mostram o aviso simples e o outro
propaganda que mostram que vende o cigarro.
Por isso qualquer pessoa que tem nesta doena pode trabalhar em
qualquer lugar mas as pessoas doentes fcam a cada vez mais
fracos e perdendo muitos pesos por isso fcam sem emprego ou
ento os pessoas fca com medo de pegar nesta coisa e os mandam
ir embora.
Verbos: confguram uma situao interessante, pois, uma vez que se apresentam
sem fexo de tempo e modo, na lngua de sinais, causam interferncia signifcativa
na escrita. Por decorrncia, h uma tendncia de os surdos apresentarem os verbos
numa forma no adequada como o uso do infnitivo nos exemplos abaixo:
91
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Ns pego muito AIDS, precisar exame de sangue.
O Brasil ganhar um bola.
O ano do Penta ganhar camiseta do Brasil.
Voc precisar ter camisinha.
Eu sempre sair minha namorada, na cinema, lanchonete para
tomar milk-shake, bater para novidade, tambm viajar junto.
(...) eu quase sempre jantar fora eu peo o garon preferir de
mesa sem fumo.
(...)no sul tem muita coisa pagar por isso eles esprestou, agora no
tem pagar para norde s pagar s juro (...) porque eles esprestou
precisar para ajuda no povos.
Flexo de tempo: na lngua de sinais, o tempo expresso atravs de relaes
espaciais: passado = sinalizaes realizadas no espao entre a cabea e a parte de
trs do corpo; futuro = sinalizaes apontando para frente; e presente = espao
apontado imediatamente frente do corpo do locutor. Como tais noes so
representadas por sinais isolados (ANTES, AGORA, HOJE, AMANH, QUINTA-
FEIRA, DOMINGO PRXIMO, ANO PASSADO); ou, mais genericamente, no
FUTURO, PASSADO, DEPOIS, podem manifestar-se na escrita, basicamente,
em duas situaes:
a) atravs de locativos temporrios que expressam essas noes exatamente
como na lngua de sinais:
Eu j mais 1 ano sempre (vagina dr) passado porque no sei
vontade.
Eu namorado com depois quero de limpo marido. saude precisa
sempre mdico bom.
Como HIV? E HIV normal o futuro acoceteu dilatao nome
AIDS.
O mdico sabe tudo quem tem dentro de HIV, mas a mulher j sexo
outro homem mais um o homem porque sim pega mais HIV e depois
vai futuro comear aumenta de aids.
(...) no mundo no tem terra no caf foi antigo antes escravos
eles descobrir.
Em hoje, diminui a porcentagem de paciente que no morrem.
92
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
b) atravs de enunciados, sem a fexo correta da forma verbal, ocasionando
estruturas inadequadas ou construdas de modo aleatrio:
Eu gosto bom ele Jardim botnico.
Eu foi vi ele bom rosa muito Jardim botnico.
Eu comei um coca-cola de pissa.
Eu viu muito rio.
Eu ver televiso um homem ensina Aids ajuda nosso pessoa
aprender precisa camisinha muito cuidado Aids.
Deus ver di problema muitos so povos Aids.
Eu gosta no Homossexual, s gosta tem mulher fala tenho eu
camisinha vai transar depois esperma camisinha joga de lixo.
Eu viu o televiso.
Verbos de ligao: a omisso freqente dos verbos de ligao (SER, ESTAR,
FICAR, etc.) deve-se prevalncia da estrutura da lngua de sinais, na qual tal
verbo tem seu uso restrito, fazendo com que ocorram em portugus construes
atpicas, geralmente interpretadas como enunciados telegrfcos, tais como:
Eu # casado p no calor
Voc # bonito # bom Alessandra.
O papai # doente AIDS
Organizao sinttica: em relao organizao sinttica, os enunciados so
geralmente curtos, com poucas oraes subordinadas ou coordenadas. A estrutura
aplicada depender do contexto, alterando a ordem comum, a fm de garantir a
nfase necessria quilo que se quer destacar. Isto se d porque enquanto a lngua
portuguesa uma lngua cuja base estrutural sujeito-predicado, (Sujeito /Verbo/
Objeto), a lngua de sinais contm estruturas do tipo tpico-comentrio que, a
depender das relaes de sentido a serem estabelecidas, podem materializar-se
nas seguintes formas: Objeto/Sujeito/Verbo e Objeto /Verbo/Sujeito.
O S V
Curitiba boa passear # vi
O menino # vi televiso
Rua XV de Novembro, # andar
93
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
O V S
O futebol joga Barisl
bonito Jardim Botnico.
S V O
Eu ganhei sinhazinha na festa junina ano 1983.
Eu viu muito rio.
O Andr viu Jardim Botnico.
9 - Ronaldinho torcer o Brasil.
Negao: outro aspecto referente ordem das palavras extremamente peculiar
lngua de sinais diz respeito negao, que em algumas situaes, ocorre aps
a forma verbal. Esta particularidade se v refetida em alguns textos, conforme
exemplifcado abaixo:
Eu quero no gosto sexo
Eu sabe namorado conversar precisa sengue mdico conhece no aids.
Ns amigos tem no aids.
Flvio no aids.
Ruim no Quatro Barras anos 1992.
Inmeros seriam os exemplos ainda por serem destacados, muito embora o
levantamento realizado seja sufciente para a constatao de que h um sujeito
extremamente ativo em seu processo de apropriao da escrita, circunstanciado
por diferentes interaes, diferentes mediaes, que acabam por interferir em
sua construo.
Com essa anlise, ao se deparar com um texto elaborado por uma pessoa
surda, o professor dever manter uma atitude diferenciada que no parta das
aparentes limitaes iniciais, e sim das possibilidades que as especifcidades
dessa construo contemplam; que no busque o desvio da normalidade, mas as
marcas implcitas e explcitas da diferena lingstica subjacente.
Muitas so as iniciativas no cenrio mundial para considerar, de forma
diferenciada, a avaliao de pessoas surdas, principalmente com relao lngua
ofcial, em todos os nveis escolares.
O prprio Ministrio da Educao, por meio do Aviso Circular 277/96 e da
Portaria 1679/99, sugere uma srie de medidas que objetivam garantir o ingresso
94
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
e a permanncia do portador de defcincia nas instituies de ensino superior
e estabelece, entre outras aes, critrios para avaliao diferenciada de alunos
surdos, ressaltando a necessidade de se dar nfase ao contedo em detrimento
da forma.
Por ser esta uma orientao muito genrica, pode levar a atos extremos de
arbitrariedade. Assim, sugerem-se alguns critrios mais especfcos com relao
avaliao da produo de texto em lngua portuguesa por alunos surdos, baseados
nas constataes sobre a interferncia da lngua de sinais. uma tentativa de
respeitar as especifcidades de uma construo essencialmente visual refetida
na escrita.
Em relao forma ou estrutura do texto, o professor dever estar
atento aos seguintes aspectos morfossintticos, por estarem diretamente
relacionados organizao da lngua de sinais:
a organizao sinttica da frase, que poder apresentar a ordem OSV,
OVS; SVO;
estruturas tpicas relacionadas flexo de modo, tempo -
inexistentes em lngua de sinais - e pessoas verbais;
ausncia de verbos de ligao;
utilizao inadequada ou aleatria do artigo, devido sua inexistncia
em lngua de sinais;
ausncia ou utilizao inadequada de elementos que constroem
a coeso textual, como o caso das conjunes, preposies,
pronomes, entre outros;
apresentao de forma peculiar da concordncia verbal e nominal
pela ausncia de desinncia para gnero e nmero, bem como da fexo
verbal e tempo em lngua de sinais;
apresentao peculiar das questes de gnero e nmero por no
serem sempre empregados em lngua de sinais.
J em relao ao aspecto semntico ou de contedo do texto, so
caractersticas prprias nos textos dos surdos:
limitao ou inadequao lexical em decorrncia das experincias
limitadoras em relao lngua portuguesa;
utilizao de recursos coesivos diticos
10
relacionados organizao
espacial da lngua de sinais (anaforismo, sistema pronominal...)
10
Os elementos diticos permitem a designao por meio da demonstrao, da apontao e no da
95
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Assim sendo, o professor deve observar se a mensagem tem coerncia lgica,
apresentando um enredo com princpio, meio e fm.
Deve observar tambm que por apresentar um vocabulrio mais restrito, tanto
em relao ao nmero de palavras diferentes, como em relao ao nmero total
de palavras (ocorrncias), o texto passa a expressar uma faixa mais limitada de
relaes semnticas (nomes de objetos, sua localizao, a quem pertencem),
apresentando uma freqncia de substantivos signifcativos e de verbos, no
presente.
Alm de tudo o que foi exposto, as falhas curriculares na formao dos professores
acerca do ensino da lngua portuguesa prejudicam os alunos, tornando sua
produo menos complexa; com menor nmero de verbos por enunciado; com
menor nmero de oraes e encadeamento de frases; com poucos adjetivos,
advrbios e pronomes e apresentando uma taxa maior de substantivos.
O objetivo principal dessas orientaes buscar aspectos comuns e recorrentes,
no conjunto de textos analisados, procurando identifc-los como especifcidades
discursivas que caracterizam, lingisticamente, as produes escritas de pessoas
surdas.
O fato de chamar-se a ateno para a considerao desses aspectos diferenciados
nas produes escritas dos surdos no exime o professor de proceder a reescrita
dos textos, demonstrando a norma padro da lngua, ao utilizar atividades
lingsticas que permitam ao aluno reconhecer as diferenas entre a estrutura
da lngua de sinais e do portugus escrito. A avaliao deve ser parte de uma
metodologia, cujo critrio respeite a construo individual, considerando-se as
diferentes etapas do processo de aprendizado da escrita.
POLTICAS EDUCACIONAIS: EDUCAO PARA TODOS E
A PROPOSTA PEDAGGICA
A incluso de alunos surdos no contexto regular de ensino, impe-nos um grande
desafo uma vez que, dada a diferena lingstica que lhes peculiar, muito difcil
seu acesso aos contedos de ensino, de forma igualitria, em relao aos demais
alunos, tendo em vista que, neste contexto, a forma usual de comunicao a
lngua oral, para a qual essa parcela de educandos encontra maior difculdade,
devido ao impedimento auditivo.
Alm disso, a surdez no uma realidade homognea, mas multicultural, a
depender do histrico de vida de cada aluno e das relaes sociais que estabeleceu,
desde o nascimento. A escola poder se deparar com diferentes identidades
surdas: surdos que tm conscincia de sua diferena e reivindicam recursos
96
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
essencialmente visuais nas suas interaes; surdos que nasceram ouvintes e,
portanto, conheceram a experincia auditiva e o portugus como primeira lngua;
surdos que passaram por experincias educacionais oralistas e desconhecem
a lngua de sinais; surdos que viveram isolados de toda e qualquer referncia
identifcatria e desconhecem sua situao de diferena, entre outros.
Embora tenhamos hoje, nos grandes centros urbanos, o atendimento a alunos
surdos em escolas especiais esta no , defnitivamente, a realidade da grande
maioria dos municpios e localidades, nos quais a nica possibilidade de o aluno
ter acesso s experincias de aprendizagem e, por conseqncia, ao avano e
a terminalidade acadmica estando inserido no contexto regular de ensino.
Entretanto, este processo implica em muitas variveis e impe a necessidade de
a proposta pedaggica da escola levar em considerao a presena dos alunos
surdos e oferecer respostas adequadas s suas necessidades educacionais.
Dito de outra forma, a presena de alunos surdos em uma escola pensada, a
priori, para ouvintes, no depende nica e exclusivamente deste ou daquele
professor, isoladamente, e de sua boa vontade em receber o aluno, signifca um
redimensionamento do projeto da escola, na totalidade.
Desde sempre, variveis como o favorecimento da identidade pessoal, a interao
social e a comunicao do aluno surdo, facilitada por recursos visuais, com nfase
lngua de sinais, devem estar presentes na planifcao de objetivos que iro
constituir este projeto, em diferentes nveis de atuao:
na delimitao de objetivos educacionais gerais;
na organizao da escola;
na programao das atividades;
na troca de informaes entre os professores;
na forma de comunicao entre comunidade escolar/alunos surdos;
na presena de professores/profssionais de apoio;
no desenvolvimento da proposta curricular;
na metodologia utilizada em sala de aula;
nos critrios de avaliao dos alunos.
Nesse sentido, importante que os sistemas educacionais estejam preparados
para lidar com as diferentes demandas socioculturais presentes nas escolas,
planejando-se e implementando propostas pedaggicas que estejam, desde a
sua concepo, comprometidas com a diversifcao e fexibilizao curricular,
a fm de que o convvio entre as diferenas possa ser, de fato, um exerccio
cotidiano, no qual ritmos e estilos de aprendizagem sejam respeitados e a prtica
da avaliao seja concebida numa perspectiva dialgica. Isso signifca envolver a
co-participao de aluno e professor, em relao ao conhecimento que se deseja
incorporar.
97
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
A partir de uma concepo fexibilizada de currculo que se defne no movimento
e dinmica da escola e no no conjunto fechado de possibilidades, decididas
previamente, entendemos que teremos que pensar, para a rea da surdez,
adaptaes curriculares em trs nveis:
1. no nvel da proposta pedaggica - orientaes e decises que sero
adotadas no projeto da escola como um todo e nas suas interfaces com
outros rgos da comunidade (previso de servios de apoio, parcerias com
associaes de surdos para oferta de cursos de lnguas de sinais, atendimentos
na rea da sade...);
2. no nvel de sala de aula - decises que dizem respeito diretamente ao
docente, relacionadas aos componentes curriculares que se concretizam no
cotidiano das relaes entre professor/alunos, envolvendo metodologias,
objetivos, contedos e avaliao;
3. em nvel individual - modifcaes pensadas a partir das necessidades
especfcas do(s) aluno(s) surdo(s), em questo, uma vez que a surdez uma
realidade heterognea e plural e cada sujeito constitui sua subjetividade, a
depender de seu histrico de vida. Isso signifca dizer que suas necessidades
socioculturais que se constituiro ponto de partida para as decises a serem
tomadas pela escola.
A seguir, apresentaremos algumas das especifcidades que envolvem a prtica
pedaggica com alunos surdos, tentando subsidiar o professor com um conjunto
de indicadores e pressupostos que serviro de suporte para sua prtica.
Como afrmamos, anteriormente, para que cada professor possa desencadear
sua ao docente, de forma responsvel e competente, necessrio que haja
uma ampla discusso pela comunidade escolar das decises a serem adotadas
pela escola que contar com estudantes surdos em seu grupo de alunos. Deve-se
refetir para alm dos objetivos educacionais gerais, propostos para todos os
alunos da escola, considerando-se os objetivos pensados, especifcamente, para
os alunos surdos, e outros, para os alunos ouvintes que convivem com pessoas
surdas. Genericamente, sugerimos que a comunidade escolar priorize os seguintes
aspectos, em suas decises:
informar a comunidade escolar sobre a diferena relativa surdez, suas
especifcidades e a lngua de sinais;
refletir sobre a necessidade de utilizar a lngua de sinais no processo
educacional e buscar formas para sua aquisio e desenvolvimento pelas
crianas surdas, demais alunos e profssionais da escola, a partir de suas
relaes com associaes de surdos ou outras referncias comunitrias;
98
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
oportunizar a presena de adultos surdos na escola, colaborando no processo
educacional do aluno surdo, estabelecendo relaes, formais ou informais,
entre a escola e a comunidade surda adulta;
promover a reestruturao do currculo escolar e dos sistemas de apoio, de
forma a confgurar uma educao bilnge;
refetir sobre a questo do aprendizado, do uso e do estudo da lngua portuguesa
pelos alunos surdos, organizando as condies para a sua oferta.
decidir sobre o tipo de apoio ao aluno surdo: professores-intrpretes, sala de
recursos, professor fxo de apoio, entre outros;
realizar, regularmente, uma anlise crtica das atividades e objetivos propostos
a todos os alunos, considerando a presena de alunos surdos na escola;
prever a possibilidade de realizao de adaptaes curriculares, em diferentes
nveis, como forma de garantir o acesso pleno ao conhecimento veiculado pela
escola e sua apropriao pelo aluno surdo, signifcativamente;
promover uma interface com outros rgos da comunidade que podero ofertar
atendimentos complementares como forma de garantir um desenvolvimento
global ao aluno surdo (parcerias com a sade/associaes/creches/conselhos/
igrejas etc.);
refetir sobre as implicaes da incluso escolar de alunos surdos no sistema
educacional e as formas para superao dos desafos que se propem;
oportunizar a formao continuada dos professores e demais elementos da
comunidade escolar, para atuar com alunos surdos.
INTERAO SOCIAL
A socializao fator indispensvel ao processo de desenvolvimento do ser
humano, pois atravs dela que o indivduo apropria-se dos comportamentos
produzidos pela sociedade na qual est inserido e, consequentemente, amplia suas
possibilidades de interao. Pressupe a aquisio de valores, normas, costumes
e condutas que a sociedade transmite e exige.
A famlia representa papel principal e decisivo no processo de socializao,
entretanto, no tem poder absoluto e indefnido sobre a criana. Muitos outros
fatores iro infuir neste desenvolvimento.
A partir do momento em que a criana passa a freqentar a escola, esta transforma-
se em um outro importante contexto de socializao que ser determinante para o
seu desenvolvimento e curso posterior de sua vida, pois vai interagir com pessoas
de diferentes meios familiares, concepes de vida, graus de conhecimento,
etnias, religies, etc.
99
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Por isso, se a escola optar por uma proposta de educao que valorize a lngua
de sinais e o contato com os pares surdos, a identidade da criana ser mais
fortalecida. atravs desses modelos que se oportunizaro futuras representaes
sociais e a interiorizaro de signifcados da cultura, que sero compartilhados
socialmente em todos os momentos de sua vida.
Tambm, em sala de aula, a interao dever estar estruturada de modo a
estimular o intercmbio e a valorizao das idias, o respeito por pontos de vista
contraditrios e a valorizao da pluralidade e da diferena. A aprendizagem
escolar ser muito mais signifcativa se pautada em aes de conhecer e no na
mera transmisso onipotente de conhecimentos. Um ambiente desafador, que
estimule a troca de opinies e a construo do conhecimento entre os alunos,
favorece a funo do professor mediador e o desenvolvimento de objetivos de
auto-estima positiva, segurana, confana e bem-estar pessoal.
A potencializao de atividades, que permitam esse exerccio dialgico cotidiano,
estabelecer o respeito mtuo e o reconhecimento de diferenas individuais.
Muitas vezes, aulas tradicionais, frontais, nas quais s o professor demonstra
o seu conhecimento e os alunos so receptores passivos desse saber, tornam
difcil a interao, de modo geral, e estigmatizam, ainda mais, as difculdades
de relacionamento dos alunos surdos por impedir um trabalho cooperativo com
seus colegas, levando-os ao isolamento.
Formas de organizao de trabalhos que enfatizem a utilizao de recursos
comunicativos visuais, manuais ou simblicos, a experincia direta, a observao,
a explorao e a descoberta, facilitam um trabalho cooperativo e o contato entre
os membros do grupo.
Alm disso, necessrio pensar, sempre que possvel, nas possibilidades de
identifcao com outros pares surdos, o que facilitado quando h grupos de
alunos surdos numa mesma turma. Essa uma estratgia facilitadora que nem
sempre levada a cabo, pois a tendncia espalhar os alunos surdos pelas
diversas turmas das escola. Lembrem-se, no caso de alunos surdos, o convvio com
seus pares permite a identifcao positiva, a possibilidade de trocas lingsticas,
desfazendo-se, para eles, a sensao de isolamento social e cultural.
Outro aspecto a ser lembrado, que, sempre que possvel, deve ser estimulada
a presena de surdos adultos na escola, que auxiliem as crianas na construo
de sua identidade, trazendo-lhes estabilidade afetiva e emocional, favorecendo
sua comunicao e participao no grupo social.
100
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
SERVIOS DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS
A escola poder contar com servios de apoio pedaggico especializado, seja
sob a forma de salas de recursos, seja de professores intrpretes ou de apoio fxo
nas turmas que mantiverem alunos surdos, entre outras, conforme prevem
as Diretrizes Nacionais para a Educao Especial (Res. CNE n. 02/2001).
Geralmente, o apoio especializado consiste em um trabalho de complementao
curricular, que visa ao enriquecimento das atividades j desenvolvidas em sala de
aula, para as quais o aluno surdo apresente maiores difculdades e necessidade
de um trabalho mais aprofundado.
Esse trabalho est relacionado aquisio de novos conceitos e expanso lexical,
pelo aluno, por meio de leitura e interpretao de textos que tragam tona a
discusso de novas informaes que possam auxiliar a compreenso dos temas
desenvolvidos nas aulas. importante saber dosar a distribuio do tempo entre
a aula comum e o apoio, para que o aluno no fque saturado de atividades e
no encontre tempo disponvel para outras atividades cotidianas que lhe traro
benefcios nas demais reas do desenvolvimento.
H alguns casos em que se pode dispor de um professor de apoio, fxo em sala
de aula, que poder ser o mesmo da sala de recursos, desde que tenha previsto
em seu cronograma momentos de atendimento no coletivo das turmas em que
os alunos surdos estiverem includos. Com este profssional, pressupe-se um
atendimento mais individualizado, mediando, com orientaes, materiais e
linguagens mais adequadas, as diferentes situaes de aprendizagem.
importante lembrar que nem todos os alunos surdos apresentaro necessidade,
obrigatria, de um servio de apoio especializado. Do mesmo modo que os
demais alunos, comum que alguns possam necessitar de apoio complementar
temporrio, em momentos especfcos de seu processo de aprendizagem.
Enumeramos alguns dos apoios que podero benefciar alunos surdos em sua
escolarizao formal, previstos pela Resoluo CNE 02/01 (Diretrizes Nacionais
para a Educao Especial na Educao Bsica) lembrando sempre, que a deciso
pelo servio mais adequado depender das possibilidades de oferta, nos diferentes
municpios e localidades.
TIPOS DE APOIO
professor de apoio fixo profissional especializado, que presta
atendimento integral s turmas do ensino comum em que estiverem
101
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
matriculados alunos surdos. Pode estar vinculado sala de recursos,
dispondo, em seu cronograma, de horrios para este atendimento.
professor itinerante profissional especializado que presta apoio
s escolas, periodicamente, realizando orientaes sobre as adequaes
curriculares necessrias aos alunos surdos (metodologia, recursos e
estratgias, avaliao...);
professores intrpretes profssional bilnge (lngua de sinais e lngua
portuguesa) que atua na interpretao/traduo dos contedos curriculares
e atividades acadmicas, envolvidas na escola. Sua funo principal a de
permitir o acesso s informaes veiculadas, principalmente, em sala de aula,
no mesmo nvel e complexidade que as recebem os demais alunos;
salas de recursos classes que funcionam em perodo contrrio ao do ensino
comum, organizadas com recursos e materiais adequados complementao
da escolarizao dos alunos, com professor especializado e bilnge;
equipes multidisciplinares (psiclogos, pedagogos, fonoaudilogos,
orientadores educacionais entre outros) que prestam atendimento
complementar ao atendimento educacional, ofertado pelos Centros de
Atendimento Especializado, pblicos e privados, ou escolas especiais;
escolas especiais do mesmo modo, ofertam servios especializados de
natureza teraputica e assistencial, em perodo contrrio ao ensino comum.
Em alguns casos, as escolas especiais podero ofertar escolarizao formal, desde
que assegurada proposta de educao bilnge e as demais exigncias previstas
para criao e autorizao de funcionamento de escolas comuns.
O INTRPRETE DE LNGUA BRASILEIRA DE SINAIS /
LNGUA PORTUGUESA
O avano nas pesquisas lingsticas acerca da lngua de sinais trouxe como
conseqncia seu reconhecimento cientfco e social. Com relao ao seu status de
lngua natural, surge uma nova fgura: o intrprete, o mediador na comunicao
entre surdos e ouvintes, nas diferentes situaes de interao social.
Esse profssional tem como funo traduzir e interpretar a lngua de sinais para
a lngua portuguesa e vice-versa em qualquer modalidade em que se apresentar
(oral ou escrita).
102
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Entretanto, a passagem de uma lngua a outra (lngua de sinais/lngua portuguesa),
implica uma srie de variveis que englobam diferenas estruturais, nos planos
cultural, ideolgico e lingstico das lnguas em questo.
O fato de a modalidade da lngua portuguesa ser auditiva-oral e a lngua de
sinais ser de modalidade visual-espacial determina especifcidades no modo de
organizao do sistema lingstico, determinando modos diversos de signifcao
e leitura da realidade.
Deste modo, no basta ao intrprete de lngua de sinais conhecer apenas a
estrutura gramatical da lngua de sinais, mas penetrar nos valores culturais da
comunidade surda, seus costumes e idiossincrasias, a fm de que no esteja apenas
garantida a decodifcao de aspectos estruturais das lnguas em questo, mas,
sobretudo seu aspecto discursivo, a constituio de sentidos instituda na relao
entre os falantes.
A escola comum um dos espaos de atuao desse profssional, geralmente,
como elo na interao verbal constituda entre os alunos surdos e os demais atores
da comunidade escolar. No entanto o intrprete no pode substituir a fgura do
professor em relao funo central na mediao do processo de aprendizagem,
no apenas em relao ao aspecto acadmico, mas, sobretudo, em relao ao
vnculo afetivo preconizada na interao entre professor/aluno. Sua atuao ser
a de mais um elemento na cadeia de interao verbal, constituda em sala de aula
e nas outras esferas sociais.
H inmeros estudos cientfcos sendo desenvolvidos, que realizam uma refexo
sobre a atuao desse profssional com vistas a uma melhor compreenso de
sua funo social. Salvaguardadas as semelhanas j verifcadas no processo
de traduo simultnea entre lnguas orais, h outras diferenas que tornam a
traduo/interpretao da lngua de sinais um processo singular, que merece
ateno especial, tendo em vista sua natureza visual-espacial.
103
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
PONTO DE VISTA
Orceni, instrutor de lngua de sinais em uma escola de surdos de Foz do Iguau,
no Paran. Juntamente com outros quatro colegas surdos est cursando o 1
ano do Magistrio em uma escola pblica regular. Conhea sua opinio sobre
a experincia de estar dividindo uma sala de aula com alunos ouvintes e sua
luta pela contratao de um intrprete de lngua de sinais/Lngua Portuguesa
para acompanhar as aulas.
1. COMO ERA O AMBIENTE DE SALA DE AULA, ANTES DA PRESENA DO
INTRPRETE?
Era muito difcil de acompanhar as aulas, as explicaes do professor, todas
em lngua oral no tinham sentido e quando eles utilizavam a escrita para nos
fazer entender fcava pior, pois no conhecamos o signifcado das palavras. A
fala era sem sentido e a escrita mais ainda. Eu tentava clarear um pouco mais
as idias perguntando aos amigos, porque o professor quando entra na sala
tem um horrio de 55 minutos para cumprir o contedo e no tem tempo a
perder dando explicaes para os surdos. Tem que ter muita pacincia e ser
persistente porque muito difcil.
2. VOC SEMPRE ESTUDOU EM ESCOLA REGULAR?
No, at os 12, 13 anos estudei em escola especial, fz at a 3 srie no ensino
regular e depois quando precisei de certifcado fui fazer o supletivo. No
supletivo, os contedos eram mais fceis, no magistrio muito diferente, as
disciplinas envolvem muitos conhecimentos novos e palavras desconhecidas,
como Sociologia, Histria da Educao, Psicologia, e outras.
3. COMO ERA O RELACIONAMENTO DE VOCS EM SALA DE AULA, ANTES
DA PRESENA DO INTRPRETE?
O grupo estava segregado dos demais alunos, fazamos trabalhos em equipe,
sempre juntos, e no momento da apresentao os ouvintes no prestavam
ateno, achando nosso trabalho pobre. No ramos discriminados
apenas pelos alunos, mas pelos professores que no acreditavam em nosso
potencial.
Quando as aulas comearam, a diretora explicou a realidade para todos ns,
mostrando como seria difcil para que acompanhssemos a turma de ouvintes
por causa da comunicao, que seria mais fcil se tivssemos uma sala s para
os surdos, mas mesmo assim preferimos fcar.
No incio, fcamos muito ansiosos, nunca expressvamos nossa opinio no
grupo. Quando as provas eram escritas, buscvamos nos misturarmos com
os ouvintes pois eles escreviam certo.
104
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
4. OS ALUNOS OUVINTES PROCURARAM CONHECER A LNGUA DE
SINAIS?
Sim, quatro alunas queriam aprender sinais, mas s uma foi fazer um curso
de lngua de sinais. J os professores, perguntavam sobre os sinais, mas
apenas um deles disse que quando houver um curso em um horrio acessvel
ele far.
5. COMO SURGIU A IDIA DO INTRPRETE?
No 1 bimestre at que no foi difcil acompanhar, pois havia reviso de alguns
contedos que j conhecamos, mas o 2 foi uma tragdia, pois exigia muito
conhecimento do portugus e ns tivemos notas baixssimas. Ento decidimos
lutar pela presena de um intrprete na sala de aula. Buscamos auxlio com a
diretora da escola regular e da escola especial. Elas encaminharam o pedido
Secretaria de Educao e foi permitido que a professora Amlia atuasse como
intrprete em nossa turma.
6. QUE MUDOU COM A PRESENA DA INTRPRETE EM SALA DE AULA?
Primeiro, que tudo passou a ser mais claro para ns. Agora sabemos a
todo momento sobre o que a professora e os alunos esto falando. Com
isso, passamos a dar nossa opinio e sermos reconhecidos pelos outros. Os
professores mudaram a sua maneira de ensinar, usando mais ilustraes, que
facilitam a nossa compreenso. claro que continuamos a ter difculdades,
mas agora percebemos que as nossas dificuldades so muito parecidas
com as dos colegas ouvintes. Os professores comearam a perceber que os
surdos tem difculdades de comunicao oral, mas que por meio da lngua
de sinais, demonstramos um conhecimento que antes eles no podiam ver
nem entender.
Em segundo lugar, o relacionamento mudou, pois agora procuramos estar,
sempre que possvel, inseridos em grupos de ouvintes e darmos nossa
contribuio com a ajuda da intrprete.
7. VOC ACHA QUE POSSVEL ENTO QUE OS SURDOS ESTEJAM
ESTUDANDO JUNTOS COM OUVINTES?
Eu acho que os surdos primeiro tem que ter um bom desenvolvimento
lingstico em lngua de sinais, para poder conhecer o mundo, assim como
os ouvintes. Ento a escola especial importante at os 12, 13 anos. Depois
ele pode estar estudando com ouvintes, desde que ele tenha a ajuda de um
intrprete e outros surdos na turma para poder trocar idias.
105
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
8. POR QUE VOC ESCOLHEU O MAGISTRIO?
Resolvi fazer o Magistrio, porque gosto de trabalhar com crianas surdas,
ajud-las a descobrir conhecimentos. muito mais fcil quando surdos
ensinam surdos, pois no h problemas de comunicao o contedo sempre
compreendido. H muitos surdos que desejam fazer o Magistrio, mas esto
preocupados. Eu os incentivo e digo que lutem pelos estudos, independente
da idade que tenham. O intrprete a possibilidade de terminar os estudos.
Eu sei que eu sou um modelo para aqueles que viro depois de mim, por
isso quero chegar at o fm, sei de minha responsabilidade diante dos outros
surdos que querem ser professores.
9. E VOC AMLIA, QUAL O DEPOIMENTO QUE PODE NOS DAR EM
RELAO A ESTA EXPERINCIA?
Eu acredito que est sendo uma tima experincia, pois at ento, os surdos
estavam sofrendo muito e no estavam tendo aproveitamento nas aulas. O
rendimento mudou, o relacionamento com os demais alunos mudou, a auto-
estima dos surdos melhorou, os professores mudaram a metodologia de ensino
ao reconhecer a importncia da lngua de sinais no processo educacional de
pessoas surdas.
Ainda h muitas difculdades, como por exemplo o fato de eu ser a nica
intrprete e fcar o perodo todo interpretando, sem alternar com outra
profssional, contraproducente e cansativo, pois o ideal seria que houvesse
mais uma. Alm disso, h a questo das reas de conhecimento, muito
diferentes e complexas entre si, que exigem uma formao muito abrangente,
o que no o caso dos profssionais intrpretes que geralmente se especializam
por reas afns. Mesmo tendo acesso aos contedos com antecedncia, h
uma srie de conceitos e termos que no encontram similares em lngua de
sinais, o que toma um certo tempo na explicao mais detalhada, acabando por
difcultar o acompanhamento do ritmo da aula pelos surdos, no mesmo tempo
que os demais. Porm, sem sombra de dvida esta uma experincia que deve
ser ampliada para outras realidades e assegurada pelo poder pblico, uma vez
que em temos de reconhecimento das diferenas necessrio transformar a
escola para receber, com qualidade, aqueles que nela ingressam.
INCLUSO NA UNIVERSIDADE
Eu sou surda profunda, conclu no ano passado o curso de Pedagogia Superviso
Escolar em uma Universidade de Curitiba.
106
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Como eu falo razoavelmente bem de forma compreensvel aos outros e tenho
boa leitura labial, os especialistas da rea de surdez comentam que estou bem
includa na Universidade.
Na verdade a realidade bem diferente do que eles pensam. A palavra correta
no incluso, e sim uma forada adaptao com a situao do dia-a-dia dentro
da sala de aula e na maior parte de tempo eu me sinto excluda pois no capto
100% a leitura labial dos professores que tem diversos tipos de articulaes, tais
como lbios fnos, grossos, tortos, como espesso bigode, ou falam rapidamente
de boca fechada ou muito aberta, sem expresso facial, etc. alm disto, os meus
olhos cansam de ler os movimentos dos lbios e uns 10 minutos depois j nem
tenho nimo de prestar ateno. Muitas vezes me sinto frustada porque a maior
parte das aulas do curso superior feita de debates e trocas de experincias ou
informaes entre colegas e professores, o que impossibilita a leitura labial e no
existe o contedo debatido nos livros para que eu possa acompanhar.
Se eu conseguir ir frente nesta difcil jornada porque foi graas a muitas
referncias bibliogrfcas (embora limitada) em que possa consultar, estudar e
fazer trabalhos, e tambm da ajuda de meia-interpretao de uma colega que
me apoiou e ajudou a superar as minhas barreiras de comunicao, difculdades
e das discriminaes dentro da Universidade.
Para concluir o meu depoimento, queria destacar que a minha trajetria no curso
superior seria mais fcil se a prpria Instituio, em primeiro lugar aceitasse
ajudar sem preconceitos e procurasse adequar as situaes repletas de difculdades
cedendo um intrprete profssional de lngua de sinais durante as aulas. Queria
ressaltar que isto, alm de importante, tambm depende da individualidade de
cada indivduo surdo, se o surdo tem identidade surda e bom domnio de lngua
de sinais estar preparado para receber com plena satisfao um intrprete de
lngua de sinais na sala de aula.
(Depoimento de Karin Lilian Strobel pedagoga, professora especialista e
membro da equipe pedaggica do Departamento de Educao Especial da
SEED/PR)
Obs.: As respostas dos surdos foram reelaboradas com seus professores para
viabilizar melhor a compeenso do texto.
107
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
ANEXO 2
AVALIAO DA APRENDIZAGEM
11
11
Texto extrado de: Brasil (1997). A Educao dos Surdos. Programa de Capacitao de Recursos Humanos
do Ensino Fundamental. Volume II. Srie Atualidades Pedaggicas, pp. 308-310.
A avaliao parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. A avaliao
requer preparo tcnico e grande capacidade de observao por parte dos
profssionais envolvidos.
A principal funo da avaliao a diagnstica, por permitir detectar, diariamente,
os pontos de confito, geradores do fracasso escolar. Esses prontos detectados
devem ser utilizados pelo professor como referenciais para as mudanas nas aes
pedaggicas, objetivando um melhor desempenho do aluno.
A avaliao tem tambm a funo classifcatria, que visa promoo escolar
do aluno ou ao levantamento de indicadores quanto ao status quo do indivduo,
num determinado momento, quando ele submetido a testes, provas e exames
de carter especfco ou multidisciplinar (pedaggico, mdico, fonoaudiolgico,
psicossocial, etc).
Na avaliao da aprendizagem, o professor no deve permitir que os resultados das
provas peridicas, geralmente de carter classifcatrio, sejam supervalorizados
em detrimento de suas observaes dirias, de carter diagnstico. O professor
que trabalha numa dinmica interativa tem noo, ao longo de todo o ano, da
participao e da produtividade de cada aluno. preciso deixar claro que a prova
somente uma formalidade do sistema escolar.
Como, em geral, a avaliao formal datada e obrigatria, deve-se tomar
inmeros cuidados em sua elaborao e aplicao. Todo o contedo da prova
deve estar adequado ao que foi trabalhado durante as aulas de portugus
108
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
escrito, sem dar margem a dvidas. As questes devem, preferencialmente, estar
relacionadas umas s outras, delineando um contexto lgico em toda a prova.
Na avaliao da aprendizagem do aluno surdo, no se pode permitir que
o desempenho lingstico interfira de maneira castradora no desempenho
acadmico, visto que esse aluno, em razo de sua perda auditiva, j tem
uma defasagem lingstica no que se refere lngua portuguesa (falada e/ou
escrita).
Muitas vezes, a imperfeio no desempenho do aluno surdo fca evidenciada em
todos os nveis da lngua portuguesa: fonolgico, semntico, morfossinttico e
pragmtico.
Uma vez que as instituies de ensino regular no tm como objetivo avaliar o
desempenho lingstico do aluno surdo no nvel fonolgico, e considerando-se
que o nvel pragmtico melhor aferido pelas observaes do dia-a-dia, fca sob
a responsabilidade do professor a avaliao dos nveis do contedo (semntico)
e da forma (morfossinttico).
No momento de se atriburem conceitos ou se estabelecer grau de valor para
os materiais lingsticos produzidos pelo aluno surdo, o professor dever estar
ciente de que:
A difculdade do surdo em redigir em portugus est relacionada difculdade
de compreenso dos textos lidos (contedo semntico) e que essas difculdades
impedem a organizao ao nvel conceitual. O aluno pode ter confundido
o signifcado das palavras. Muitas vezes, s compreende o signifcado das
palavras de uso dirio, o que interfere no resultado fnal do trabalho com
qualquer texto, mesmo o mais simples.
As dificuldades que a leitura acarreta ao surdo impedem a expanso
do vocabulrio, com isso provocando a falta de hbito de ler. O refexo
desse crculo vicioso pobreza de vocabulrio e a falta de domnio das
estruturas (forma) mais simples da lngua portuguesa. No nvel estrutural
(morfossinttico), observa-se que, mais constantemente, os alunos surdos
no conhecem os processos de formao das palavras, utilizando substantivo
no lugar de adjetivo e vice-versa, omitem verbos, usam inadequadamente as
desinncias nominais e verbais, desconhecem as irregularidades verbais, no
utilizam preposies e conjunes ou o fazem inadequadamente. Alm disso,
tudo leva a crer que, por desconhecerem a estrutura da lngua portuguesa,
utilizem, freqentemente, estruturas da lngua brasileira de sinais (LIBRAS)
para expressarem por escrito suas idias.
109
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Ao avaliar a produo escrita dos alunos surdos em lngua portuguesa, os
professores devero ser orientados para que:
O aluno tenha acesso ao dicionrio e, se possvel, ao intrprete, no momento
do exame;
Na avaliao do conhecimento, utilizem critrios compatveis com as
caractersticas inerentes a esses educandos;
A maior relevncia seja dada ao contedo (nvel semntico), ao aspecto
cognitivo de sua linguagem, coerncia e seqncia lgica das idias;
A forma da linguagem (nvel morfossinttico) seja avaliada com mais
fexibilidade, dando-se maior valor ao uso de termos da orao, como termos
essenciais, termos complementares e, por ltimo, os termos acessrios e no
sendo por demais exigente em relao ao elemento coesivo.
Assim, ao avaliar o conhecimento do aluno surdo, o professor no deve
supervalorizar os erros da estrutura formal da lngua portuguesa em detrimento
do contedo. No se trata de aceitar os erros, permitindo que o aluno neles
permanea, mas sim de anot-los, para que sejam objeto de anlise e de estudo,
junto ao educando, a fm de que se possa super-los. Alm disso, seria injusto
duvidar de que a aprendizagem efetivamente tenha ocorrido, tendo-se por base
unicamente o desempenho lingstico do aluno surdo, ponto em que se situam
suas principais necessidades especiais.
A avaliao da aprendizagem do aluno surdo ponto merecedor de profunda
reflexo. Todos os profissionais envolvidos nesse processo devero estar
conscientes de que o mais importante que os alunos consigam aplicar os
conhecimentos adquiridos em seu dia-a-dia, de forma que esses conhecimentos
possibilitem uma existncia de qualidade e o pleno exerccio da cidadania.
111
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
ANEXO 3
12
AVALIAO DE TEXTO
ELABORADO POR ALUNO SURDO
Avaliar o conhecimento de um aluno surdo somente pela escrita pode ser injusto,
considerando-se que, mesmo o aluno ouvinte que possui excelente domnio de
lngua portuguesa falada, antes mesmo de iniciar sua escolarizao, ao passar
para a lngua escrita comete erros lingsticos, como falhas na concordncia, na
pontuao, etc.
O texto a seguir foi elaborado por uma aluna, portadora de surdez profunda,
quando estava na 4
a
srie de uma classe comum do ensino regular. Essa aluna
tinha dificuldades de aprendizagem, provavelmente porque no conseguia
comunicar-se bem, nem por meio da LIBRAS, nem por meio do portugus.
Sou um peixinho
1. Eu sou peixes pequeno Eu sou um peixe pequeno
2. Eu vi peixe o grande Eu vi o peixe grande
3. Eu vi pedra o muito Eu vi muita pedra
4. Eu peixe caiu a cachoeira Eu ca na cachoeira
5. Eu peixe pedra a bateu doente Eu bati na pedra e fquei doente
6. Eu peixe chora o doente Eu chorei, porque fquei doente
(ou porque doeu)
A avaliao da redao da aluna foi dividida em duas partes:
1. avaliao do aspecto semntico
2. avaliao do aspecto estrutural (morfossinttico)
Quanto ao aspecto semntico, percebe-se que a mensagem tem coerncia lgica,
com um enredo que apresenta princpio, meio e fm. Comparando o texto com
os dos poetas modernistas, verifca-se que possui uma beleza suave, infantil e
que emociona.
12
Texto extrado de:
Brasil (1997). A Educao dos Surdos. Programa de Capacitao de Recursos Humanos do Ensino
Fundamental. Volume II. Srie Atualidades Pedaggicas, pp. 335-337.
112
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Quanto ao aspecto estrutural (morfossinttico), percebe-se que:
na primeira linha, a frase contm os termos essenciais de uma orao (sujeito
+ verbo de ligao + predicativo), com apenas uma omisso de artigo e fexo
de nmero indevida;
na segunda linha, a estrutura frasal tambm contm os termos essenciais e
complementares de uma orao (sujeito + verbo + complemento) e s houve
uma inadequao do artigo;
na terceira linha, a estruturao frasal contm os termos essenciais e
complementares de uma orao, mas o uso do artigo e do pronome indefnido
est inadequado;
nas quarta, quinta e sexta linhas, as construes sintticas fcaram inadequadas,
visto que a aluna, ao formular o sujeito da orao (confundindo o pronome
com o nome) cometeu erro de concordncia verbal. Alm disso, h falhas de
regncia verbal e, especifcamente na 5
a
. e 6
a
. linhas, h omisso de conjunes
e verbos de ligao.
Alm dessas falhas, em todo o texto, h uma repetio desnecessria do pronome
pessoal, enquanto sujeito das oraes.
Nesses casos, sugere-se que, ao avaliar o texto de um aluno surdo, o professor:
1. D nfase ao aspecto semntico da mensagem em detrimento do aspecto
estrutural;
2. Verifque a presena, ou no, dos termos essenciais e complementares das
oraes;
3. estabelea, com o aluno, a comparao entre a sintaxe da LIBRAS e da lngua
portuguesa.
Assim, a avaliao do texto de um aluno surdo dever ter dois conceitos: um para
a mensagem que veicula (contedo) e outro, para a forma como ele estrutura essa
mensagem (forma). O professor pode acompanhar a evoluo do processo de
aprendizagem da lngua escrita, lembrando-se de que o parmetro para avaliar
o educando so suas prprias redaes, elaboradas no decorrer do ano, e no a
de outro aluno (mesmo surdo).
113
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
ANEXO 4
MODELO DE FORMULRIO ANLISE E
PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAO
DE PROBLEMAS NO PROCESO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM
Aluno Necessidades Adequaes Curriculares
Educacionais Categoria Pequeno Grande
Especiais Porte porte
1
2
3
115
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
ANEXO 5
ADEQUAES CURRICULARES
CATEGORIA
Organizativas
Objetivos e
contedos
Procedimentos
didtico-
pedaggicos
PEQUENO PORTE
Organizao de agrupamento
de alunos
Organizao didtica
Organizao do espao
Priorizao de objetivos
Priorizao de reas ou
unidades de contedos
Priorizao de tipos de
contedos
Seqenciao de
contedos
Eliminao de contedos
secundrios
Modifcao de
procedimentos
Introduo de atividades
alternativas s previstas
GRANDE PORTE
Professor bilngue/
Intrprete de LIBRAS
Sala de recursos
Substiuio de objetivos
que exijam a audio e fala
Introduo de novos
objetivos, especfcos,
complementares e/ou
alternativos: L1 e L2
Introduo de
contedos especfcos,
complementares e/ou
alternativos
Substituio de
contedos do currculo
que exijam audio e fala
Introduo
de Mtodos e
Procedimentos
Complementares e/ou
alternativos
Introduo de
recursos especfcos
de acesso ao currculo
(adaptao de espao
fsico, diminuio de
nmero de alunos em
sala, etc..)
116
DESENVOLVENDO COMPETNCIAS PARA O ATENDIMENTO S NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DE ALUNOS SURDOS
Avaliativas
Temporalidade
Introduo de atividades
complementares s
previstas
Modifcao do nvel de
complexidade das
atividades
Eliminao de componentes
da tarefa
Seqenciao da tarefa
Reelaborao do plano de
ensino
Adaptao de materiais
Modifcao da seleo de
materiais previstos
Adequao de Tcnicas e
Instrumentos
Modifcao de Tcnicas e
Instrumentos
Modifcao da
temporalidade para
determinados objetivos e
contedos
Introduo do Ensino de
Lngua Portuguesa como 2
lngua para surdos
Introduo do Ensino de
LIBRAS
Introduo de critrios
especfcos de
avaliao
Substituio de
Critrios Gerais de
Avaliao
Adequao de critrios
regulares de avaliao
Modifcao dos
critrios de promoo
do aluno
Você também pode gostar
- TCC Oficial - UNIP (Corrigido)Documento5 páginasTCC Oficial - UNIP (Corrigido)Carlos Roberto Freitas Teixeira Junior100% (1)
- 2 Sem Educacao InclusivaDocumento6 páginas2 Sem Educacao Inclusivavictor alves dos santosAinda não há avaliações
- TCC Oficial UnipDocumento5 páginasTCC Oficial UnipCarlos Roberto Freitas Teixeira JuniorAinda não há avaliações
- Relatório Do Projeto de Pesquisa - ApresentaçãoDocumento4 páginasRelatório Do Projeto de Pesquisa - ApresentaçãoCarlos Roberto Freitas Teixeira JuniorAinda não há avaliações
- Aluno Ssur DosDocumento118 páginasAluno Ssur DosRosana SoaresAinda não há avaliações
- LIVRO Saberes e Práticas Da Inclusão AHSDDocumento146 páginasLIVRO Saberes e Práticas Da Inclusão AHSDedilmaAinda não há avaliações
- Leitura - Saberes e Práticas Da InclusãoDocumento149 páginasLeitura - Saberes e Práticas Da InclusãoluissergiodesouzaferreiraAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Educação Inclusiva - EMENTADocumento8 páginasFundamentos Da Educação Inclusiva - EMENTARodrigo Martins BersiAinda não há avaliações
- Alunos Com Baixa VisãoDocumento210 páginasAlunos Com Baixa VisãoSabrina DantasAinda não há avaliações
- PTD Anual CneeDocumento12 páginasPTD Anual CneeNuvem Rosa RecreaçãoAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Educação Especial e Libras - UNIVESPDocumento2 páginasPlano de Ensino - Educação Especial e Libras - UNIVESPVictor H. B. GomesAinda não há avaliações
- Plano Sepcursos Neuropsicopedagogia Sabado Ts Ta.Documento4 páginasPlano Sepcursos Neuropsicopedagogia Sabado Ts Ta.deacortelazziAinda não há avaliações
- altashabilidadesMEC PDFDocumento146 páginasaltashabilidadesMEC PDFAna Cristina BrunoAinda não há avaliações
- TCC-POSTAGEM 1 00 (2) Cópia OficialDocumento5 páginasTCC-POSTAGEM 1 00 (2) Cópia OficialCarlos Roberto Freitas Teixeira JuniorAinda não há avaliações
- Mistura Que IncluiDocumento10 páginasMistura Que IncluiArnaldo AmorimAinda não há avaliações
- Educação InclusivaDocumento5 páginasEducação InclusivaMaria Rosa Lopes100% (1)
- Funeduinc g01076 Fev 2024 Grad EadDocumento124 páginasFuneduinc g01076 Fev 2024 Grad Eaddudaenessa11Ainda não há avaliações
- Educação Especial - Concurso Seduc SP 2023Documento5 páginasEducação Especial - Concurso Seduc SP 2023ariane candidoAinda não há avaliações
- Saberes e Práticas Da Inclusão PDFDocumento60 páginasSaberes e Práticas Da Inclusão PDFLouize MarguttiAinda não há avaliações
- FunEduInc U3Documento33 páginasFunEduInc U3NiandraAinda não há avaliações
- Atendimento Educacional Especializado: Área: EducaçãoDocumento6 páginasAtendimento Educacional Especializado: Área: EducaçãoGabriella FernandesAinda não há avaliações
- Plano Da Disciplina Educação Inclusiva - 2023 - 1Documento2 páginasPlano Da Disciplina Educação Inclusiva - 2023 - 1estevaomilenarAinda não há avaliações
- Tcc-Postagem 1 00Documento5 páginasTcc-Postagem 1 00Carlos Roberto Freitas Teixeira JuniorAinda não há avaliações
- Aula 1 - Educação EspecialDocumento73 páginasAula 1 - Educação EspecialGenivaldo RodriguesAinda não há avaliações
- TCC Oficial - Unip (Falta Formatação)Documento5 páginasTCC Oficial - Unip (Falta Formatação)Carlos Roberto Freitas Teixeira JuniorAinda não há avaliações
- TEXTO 07 Ensaiospedagogicos2006Documento8 páginasTEXTO 07 Ensaiospedagogicos2006larrosierAinda não há avaliações
- Zwick Lidiane Barreto AlvesDocumento24 páginasZwick Lidiane Barreto AlvesAntonio RamiresAinda não há avaliações
- A Educação De Surdos Sob A Perspectiva De Sua Cultura E IdentidadeNo EverandA Educação De Surdos Sob A Perspectiva De Sua Cultura E IdentidadeAinda não há avaliações
- Educação Inclusiva Da Pessoa Com Necessidades Educacionais Especiais - Set 23Documento105 páginasEducação Inclusiva Da Pessoa Com Necessidades Educacionais Especiais - Set 23elisantos21Ainda não há avaliações
- Plano de Ensino LibrasDocumento5 páginasPlano de Ensino LibrasThiago CherpinskiAinda não há avaliações
- Slides Apresentação PeeiDocumento14 páginasSlides Apresentação Peeiricardo.barbosaAinda não há avaliações
- Palestra DiogoDocumento60 páginasPalestra DiogoKévia AlvesAinda não há avaliações
- Tendências e Desafios Educaçâo EspecialDocumento266 páginasTendências e Desafios Educaçâo EspecialWashington Soares100% (1)
- Livro - Mec - Surdez / LibrasDocumento94 páginasLivro - Mec - Surdez / Librasjandarluz100% (1)
- Resumo AP1 Educação EspecialDocumento6 páginasResumo AP1 Educação EspecialMarcio LuizAinda não há avaliações
- Plano de Desenvolvimento IndividualDocumento7 páginasPlano de Desenvolvimento Individualerica cristina OliveiraAinda não há avaliações
- Texto Facul PDFDocumento8 páginasTexto Facul PDFProf Sara SaritaAinda não há avaliações
- Transtornos Funcionais Específicos - Conhecer para IntervirDocumento18 páginasTranstornos Funcionais Específicos - Conhecer para IntervirRenata Alves BarbosaAinda não há avaliações
- A Importancia Dos Recursos DidatiCosDocumento4 páginasA Importancia Dos Recursos DidatiCosAndressa StrugalaAinda não há avaliações
- Formulário Padrão para Envio Da Atividade Final Do Learning by DoingDocumento4 páginasFormulário Padrão para Envio Da Atividade Final Do Learning by DoingBrunno Andrade GéssicaAinda não há avaliações
- Declaração de SalamancaDocumento4 páginasDeclaração de SalamancaCleicy CunhaAinda não há avaliações
- Educação Escolar Inclusiva para Pessoas Com SurdezDocumento4 páginasEducação Escolar Inclusiva para Pessoas Com SurdezScheilla AbbudAinda não há avaliações
- Plano de Ensino + Cronograma Ed. Incl. 2023-02Documento5 páginasPlano de Ensino + Cronograma Ed. Incl. 2023-02Nicolau CostaAinda não há avaliações
- Dislexia Estudo de CasoDocumento61 páginasDislexia Estudo de CasoRonhely PereiraAinda não há avaliações
- Aula 16Documento12 páginasAula 16kissiahellenAinda não há avaliações
- Educação Especial e Inclusiva CP PDFDocumento284 páginasEducação Especial e Inclusiva CP PDFOzeas Paulo S. Silva100% (1)
- Apostila - Educação EspecialDocumento63 páginasApostila - Educação EspecialAndré MachadoAinda não há avaliações
- 2012 Apresentac3a7c3a3o Ed Especial L 2012 3Documento36 páginas2012 Apresentac3a7c3a3o Ed Especial L 2012 3thekthiago2Ainda não há avaliações
- solicitacao-EDUCAÇÃO INCLUSIVADocumento2 páginassolicitacao-EDUCAÇÃO INCLUSIVAGiovana de VasconcellosAinda não há avaliações
- Formação ProfessoresDocumento12 páginasFormação ProfessoresMirian tiziamAinda não há avaliações
- Sala de Recursos MultifuncionaisDocumento7 páginasSala de Recursos Multifuncionaisciuka.santosAinda não há avaliações
- 2014 Uel Edespecial Artigo Joicy Alves QuintellaDocumento38 páginas2014 Uel Edespecial Artigo Joicy Alves QuintellaRenanDiasAinda não há avaliações
- Ensino De Surdos Na Educação De Jovens E AdultosNo EverandEnsino De Surdos Na Educação De Jovens E AdultosAinda não há avaliações
- Afeto e cognição na escolha docente pela Educação Especial: a metamorfose do professor especialistaNo EverandAfeto e cognição na escolha docente pela Educação Especial: a metamorfose do professor especialistaAinda não há avaliações
- Inclusão de estudantes com deficiência no contexto da formação docente: reflexão à luz da Teoria Crítica da Sociedade da formação do professor para inclusão educacionalNo EverandInclusão de estudantes com deficiência no contexto da formação docente: reflexão à luz da Teoria Crítica da Sociedade da formação do professor para inclusão educacionalAinda não há avaliações
- Surdos: Processo Ensino Aprendizagem na Distorção Idade-Série dos Alunos Surdos do Ensino Fundamental e MédioNo EverandSurdos: Processo Ensino Aprendizagem na Distorção Idade-Série dos Alunos Surdos do Ensino Fundamental e MédioAinda não há avaliações
- A estratégia pedagógica do multiletramento na formação do leitor proficiente: estudo realizado em uma escola pública no Estado do Amazonas, BrasilNo EverandA estratégia pedagógica do multiletramento na formação do leitor proficiente: estudo realizado em uma escola pública no Estado do Amazonas, BrasilAinda não há avaliações
- O atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência visual em escolas públicas e centros especializados: O processo de ensino aprendizagemNo EverandO atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência visual em escolas públicas e centros especializados: O processo de ensino aprendizagemAinda não há avaliações
- Saberes Pedagógicos E Prática Docente No Ensino De Jovens E AdultosNo EverandSaberes Pedagógicos E Prática Docente No Ensino De Jovens E AdultosAinda não há avaliações