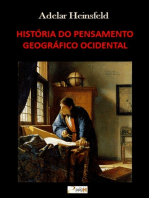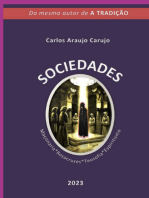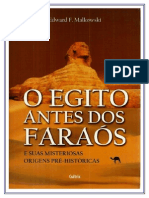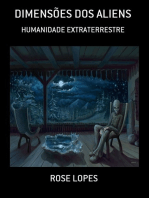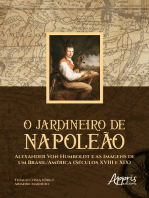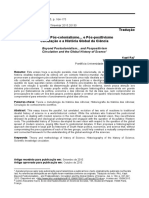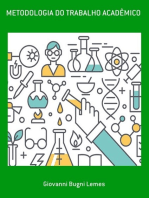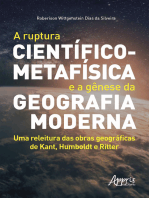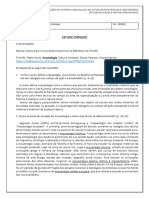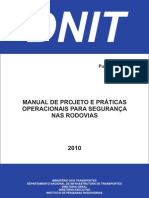Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
GALLAY1
GALLAY1
Enviado por
Luciano FerreiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GALLAY1
GALLAY1
Enviado por
Luciano FerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ALAIN GALLAY
A ARQUEOLOGIA
AMANH
Traduo:
Emlio Fogaa
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
ALLAY, ALAIN. LARCHOLOGIE DEMAIN. Paris, Pierre Belfont
d., 1986. 324 p. ISBN 27144-1883-X. Publicado com o apoio do Centre
National de Lettres.
SUMRIO
INTRODUO
PRIMEIRA PARTE
UTOPIAS E REALIDADE
I. A MEMRIA DOS POVOS
Cinco milhes de anos de histria humana
Conscincia histrica e civilizao
Os caadores
Os agricultores
Das chefias s sociedades urbanas
Por que a arqueologia ?
II. AS ARMADILHAS DA ARQUEOLOGIA
As origens
O panorama das cincias humanas
O panorama das cincias da natureza e da sociedade
A herana do sculo XIX
A arqueologia descritiva ou a irredutibilidade dos fatos humanos
As posies tericas
Os limites da arqueologia descritiva
4. A arqueologia dos eventos, difusionismo e arqueologia dos povos
As posies tericas
Os limites da arqueologia dos eventos
5. A arqueologia antropolgica, processo e neoevolucionismo
As posies tericas
Os limites da arqueologia antropolgica
6. A arqueologia dos contextos. Smbolos e estruturas
As posies tericas
Os limites da arqueologia dos contextos
7. Concluses
III. UMA FALSA ALTERNATIVA ? HISTRIA OU CINCIA
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
1. A situao nas disciplinas biolgicas
Da biologia experimental biologia da evoluo. Leis da gentica e teoria da
evoluo
Da paleontologia biologia da evoluo. A reconstituio das rvores filticas.
Uma disciplina articuladora: a biologia da evoluo
2. Teoria da evoluo cultural e histria das sociedades na antropologia
Cenrios e regularidades
Predio e retrodio
IV. DA VIDA AOS VESTGIOS
A sociedade viva (P0)
Os vestgios materiais conservados (P1)
O objeto sem contexto
As estratgias de descarte
A conservao dos vestgios
O palimpsesto do tempo
Os vestgios materiais observados
Os vestgios materiais estudados
Os princpios da incerteza
SEGUNDA PARTE
ESTRATGIAS PARA UM CONHECIMENTO
V. AS IMPOSIES DA INTERPRETAO
Os mecanismos da interpretao
O enriquecimento das referncias: a etnoarqueologia
Legitimidade do projeto de uma antropologia global
Regras transculturais
Os limites da interpretao
A vida material e a tecnologia
A vida econmica e as trocas
A vida social
A vida religiosa e o pensamento simblico
A construo de um saber: arqueologia e inteligncia artificial
Analisar a argumentao dos arquelogos
Inteligncia artificial e sistemas inteligentes
VI. A BUSCA DE UMA ORDEM
Balano provisrio
As bases da ordenao
As classificaes fundadas apenas nas caractersticas intrnsecas
A busca de uma ordem temporal
Pertinncia das ordenaes cronolgicas: evento ou anedota ?
A busca de uma ordem espacial
Pertinncia das ordenaes definidas no espao: ordem ou desordem
As ordenaes espao-tempo
A busca de uma ordem em relao funo
VII. AS OBSERVAES E O ESTABELECIMENTO DOS FATOS
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
Esgotamento da coleta ?
O stio
A escavao e a leitura dos fatos
Viso vertical e viso horizontal
Tticas de escavao
O entorno do stio
A prospeo regional
Uma abordagem extensiva
O mapa de uma poca
A dinmica de povoamento de uma regio
CONCLUSES
ANEXO
Como tornar explcito o escrito dos arquelogos
A arquitetura clssica: a pirmide
A arquitetura nova: o leque
GLOSSRIO
BIBLIOGRAFIA
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
INTRODUO
As grandes descobertas da arqueologia sempre fascinaram o homem. Pensemos na
cratera de Vix e no diadema de ouro da princesa inumada nas proximidades de
Chtillon-sur-Seine. Pensemos na imagem de Lucy surgida dos desertos de Afar, na
Etipia, considerada pelos paleontlogos como o nosso mais longnquo ancestral. Alm
da exagerada publicidade na mdia que acompanha essas descobertas, ser que temos
conscincia de que elas no falam por si ss, que necessrio constituir um
conhecimento, uma matriz para interpretar esses vestgios e reposicion-los no curso de
nossa histria? Ns gostaramos aqui de nos interrogarmos sobre o significado desse
conhecimento, pois aparentemente reina uma grande confuso nesse domnio.
Encontramo-nos, com efeito, diante de uma contradio:
1. Os livros, as revistas especializadas ou no , todo o discurso de nossa poca
do a impresso que a arqueologia uma cincia na mesma medida que a fsica ou a
geologia.
Para a coleta de fatos, os arquelogos, sobretudo os pr-historiadores,
desenvolveram mtodos que gostamos de chamar de minuciosos ou exaustivos. Em
campo, o arquelogo uma pessoa que, munida de uma pacincia ilimitada, evidencia,
servindo-se de uma escova de dente ou de um pincel, centenas de minsculas esquilhas
sseas ou cacos cermicos nfimos, numera e classifica-os em variadas caixinhas.
Vrios pesquisadores insistem, eles mesmos, sobre os numerosos objetos assim
descobertos, sobre a preciso dos dados coletados em relao ao contexto geolgico em
que estavam depositados. Cada escavao que se denomina moderna produz dessa
maneira grandes quantidades de plantas, nas quais so plotados os menores fragmentos
que testemunham as antigas atividades do homem, e documentos de campo cada vez
mais numerosos. Quando se trata de classificar esses objetos ou informaes, exalta-se
ento as possibilidades de clculo quase ilimitadas dos computadores, o emprego dos
mais sofisticados e complexos mtodos matemticos.
Quando chega o momento de interpretar as descobertas e compreender o seu
significado, as ambies se tornam s vezes desmedidas. A anlise dos dolmens e dos
grandes monumentos (como Stonehenge) permite restituir a organizao poltica
hierarquizada do sul da Inglaterra no fim do terceiro milnio. No Oriente Prximo, as
presses exercidas por tal fenmeno originaram a inveno das tcnicas agrcolas. As
sociedades antigas ressurgem ento com toda a sua complexidade, com todas as suas
cores, tal como poderia descobrir o viajante munido de uma utpica mquina do tempo,
graas caneta do pr-historiador.
A restituio de antigas paisagens pelas cincias naturais, os mltiplos mtodos de
datao que utilizam as propriedades fsicas da matria como a datao por carbono
14 vm sustentar esse panorama, oferecendo o aval cientfico dos mtodos
considerados exatos. Essa freqentemente a viso do pblico, mas s vezes tambm
aquela que os prprios arquelogos, voluntariamente ou no, fornecem a respeito de
seus prprios trabalhos.
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
2. No entanto, essa construo apresenta falhas e o cientista no pode deixar de ter
conscincia dos limites desse discurso. Quando se trata de observar, de coletar uma
observao, de coletar um objeto, sabemos que mincia e procedimento exaustivo
(observar tudo, registrar tudo) so expresses vs. S vemos aquilo para o qual nos
preparamos para ver, um objeto coletado sem planejamento de pesquisa permanecer
inutilizvel e inutilizado. As centenas de minsculas esquilhas dormiro no interior de
suas caixinhas. No saberemos o que dizer a seu respeito e sua enorme quantidade vai
desencorajar at mesmo o mais obstinado dos pesquisadores. Para coletar uma
informao necessrio a elaborao de uma teoria prvia que permita escolher aquilo
que coletado e sobretudo aquilo que rejeitado.
Jamais o emprego do computador foi o fundamento da construo de algum
conhecimento, ele apenas facilita a sua aplicao. Isso verdade no apenas quando
solicitamos que a mquina classifique machados de bronze, mas tambm quando
recorremos a sistemas inteligentes, tal como feito na medicina para identificar uma
doena e provavelmente como ser em breve o caso na arqueologia para interpretar o
sentido de uma cena pintada num vaso grego.
No campo da interpretao, ns apenas podemos admirar as performances dos
especialistas da geologia, da botnica ou da paleontologia animal, cujos trabalhos so
indispensveis para a restituio do passado.
Essas disciplinas, em pleno desenvolvimento, so cincias realmente constitudas.
As dificuldades de interpretao subsistem, mas possvel imaginar vias experimentais
para resolve-las. Quando se trata de abordar o prprio homem, e sua cultura, ns
sentimos o pr-historiador despreparado, de posse apenas do seu bom senso para
apreender o significado dos vestgios. E ns sabemos quanto o bom senso enganador.
Quando a explicao se torna mais ambiciosa, cabe duvidar das reconstituies
histricas propostas. Sobre um mesmo assunto seja ele a origem da agricultura ou o
mistrio da decadncia e desaparecimento das cidades Maias de Yucatn as
explicaes se multiplicam, todas diferentes, mas nenhuma consegue se impor sobre as
demais. Assim sendo, elas no podem constituir a base de um conhecimento que se
enriquea e cresa com o tempo.
Longe de ser uma constatao frvola e pessimista da situao da arqueologia, essas
poucas reflexes sobre o status atual da arqueologia devem servir como fundamentao
para uma busca pelos meios para orientar a nossa disciplina em direo a uma prtica
mais coerente e eficaz. Mas para tanto, ns no pretendemos nem conclamar
revoluo nem rejeitar as incontestveis conquistas da arqueologia atual.
Resumidamente, nossa tese se atem a trs pontos:
1. Ns pensamos que til, e possvel, nos referirmos ordem da Cincia. Essa
escolha implica numa disciplina e suas conseqncias: os conhecimentos
acumulados devem engendrar um saber cumulativo (sendo
esse saber
suficientemente slido para no ser colocado em questo. Os conhecimentos atuais
se tornam os fundamentos dos conhecimentos futuros) e esse ltimo deve
possibilitar controlar os fatos (o saber permite propor prognsticos* que podem ser
verificados por novas observaes).
2. A maior parte do nosso passado s acessvel por intermdio da arqueologia. Esta
deve ser, ao mesmo tempo, uma etnologia e uma histria. Enquanto etnologia, ela
deve ser capaz de conhecer as regularidades prprias s diversas culturas que se
sucederam em nosso planeta. Um machado chins est prximo, sob certos aspectos,
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
de um machado utilizado por agricultores neolticos da Europa, todos os dois
servem para cortar madeira. Enquanto histria, ela deve ser capaz de nos fazer
conhecer os cenrios particulares que refletem o porvir dos povos na conquista por
novos espaos tais como os primeiros Amerndios que atravessaram o estreito de
Bering e descobriram as terras virgens do Alasca ou na conquista de novos
equilbrios tais como os caadores do dcimo milnio no Oriente Prximo, quando
podemos observar uma lenta mutao desde uma economia de coleta de cereais
selvagens at uma verdadeira economia agrcola.
3. O solo nos devolve apenas vestgios materiais parciais, lminas polidas de machado
sem os cabos, fundaes de cabanas, rejeitos das aes humanas mais ou menos
dispersos pela ao do tempo. O aspecto truncado dessa realidade impe limites a
nossas ambies. No podemos fazer com que os vestgios revelem tudo o que
quisermos. Um depsito de grandes lminas de slex esquecido por um longnquo
viajante nos informara sobre as tcnicas de lascamento dessa preciosa matria
prima; ele assinalar a presena de vastas redes de troca e de uma certa
especializao do trabalho na Europa ocidental, no fim do Neoltico. O depsito
nada nos dir sobre a identidade tnica e a pertena social do viajante, sobre a
natureza dos negcios que ele almejava realizar, sobre suas supersties, sobre a
lngua que ele falava.
Se desejarmos agora fixar certos limites para o nosso livro, ns devemos nos
posicionar em relao a duas opinies aparentemente contraditrias. Certos arquelogos
consideram que no existe uma arqueologia, mas vrias arqueologias; consideram que
no poderamos abordar da mesma maneira a escavao de uma igreja paleocrist e o
estudo de um acampamento do Paleoltico superior. Essa atitude parece sensata se
estivermos conscientes de que as questes colocadas dependem em grande parte dos
conhecimentos preestabelecidos, freqentemente bastante especficos.
Outros, ao contrrio, menos numerosos, insistem sobre a monotonia e a
repetitividade dos procedimentos arqueolgicos, e conclamam a uma reflexo terica
geral. Essas duas atitudes no nos parecem contraditrias, mas complementares. A
primeira mais amplamente conhecida e aceita, por isso ns defenderemos a Segunda
pois a arqueologia sente falta de reflexes gerais sobre seu status.
Nossos exemplos estaro limitados apenas s populaes que no conhecem a
escrita, sem memria documentada por escrito. A apario de referncias histricas
escritas introduziro efetivamente uma dimenso suplementar que modifica
consideravelmente o conhecimento que pode ser mobilizado.
Nossa arqueologia ser ento uma arqueologia pr-histrica e proto-histrica.
Enquanto arqueologia pr-histrica, ela cobrir o perodo que vai dos primeiros
instrumentos lascados descobertos na frica oriental (2,5 milhes de anos) s primeiras
concentraes agrcolas e proto-urbanas que utilizavam sistemas de irrigao, cuja
antigidade varia de uma a outra regio do nosso planeta, e que conheciam por vezes
rudimentos de uma escrita recm criada:
Oriente Mdio ....................... 3000 a.C. (Jemdet Nasr)
Vale do Indo .......................... 2400 a.C. (Harappa)
China ..................................... 1850 a.C. (Shang)
Amrica Central .................... 1000 a.C. (Santa Maria)
Peru ....................................... 1000 a.C. (Chavn)
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
Enquanto arqueologia proto-histrica, ela englobar todas as sociedades sem escrita,
parcialmente conhecidas por textos estrangeiros contemporneos. Mencionemos
rapidamente os Celtas, conhecidos por textos latinos, os imprios do Sahel africano,
pelos textos rabes medievais, os Iroqueses, pelos textos dos primeiros colonos
canadenses e dos primeiros etnlogos, como L.H. Morgan. Distinguimos claramente,
por um lado, as consideraes tericas que propomos como as mais gerais possveis; por
outro lado, uma certa quantidade de exemplos especficos, escolhidos dentre os casos
mais representativos num amplo leque geogrfico e cronolgico.
Diante de uma histria humana que se desenvolve ao longo de 5 milhes de anos, a
memria coletiva conserva s uma nfima parte. Na maioria dos casos, apenas a
arqueologia pode restitu-la (captulo I: A memria dos povos).
O exame das orientaes segundo as quais as diversas arqueologias atuais tentam
apreender esse passado revela uma srie de impasses que esse livro almeja delimitar e
definir. Entre as lacunas constatadas, mencionaremos particularmente a ambio
desmedida dos objetivos propostos, a confuso entre a realidade observada e o discurso
elaborado a seu respeito, a dificuldade em constituir variveis que possam ser testadas e
o desequilbrio entre uma atitude descritiva dominante resultante do papel
predominante dado ao empirismo e insuficincia da teoria (captulo II: As armadilhas
da arqueologia).
Com vistas a delimitar melhor o status desejvel para a arqueologia pode ser til
compar-la com uma disciplina como a biologia que comporta ao mesmo tempo uma
abordagem descritiva (classificao das espcies) e uma abordagem histrica
(paleontologia). Em ambos os casos, a abordagem histrica apoia-se na identificao de
certas constantes. Existe dessa forma uma relao dialtica entre cincia e histria que
tange a constituio de um vocabulrio e as classificaes. Essa constatao possibilita
a constituio de um saber arqueolgico articulado (captulo III: Uma falsa alternativa?
Histria ou cincia).
necessrio logo de incio nos indagarmos se os vestgios sobre os quais o
arquelogo trabalha so representativos da realidade passada. Constata-se assim que
nem todos os setores da cultura e nem todos domnios da histria so igualmente
acessveis e que a interpretao dos vestgios freqentemente ambgua. Para dominar
essa lgica do plausvel conveniente insistir (provisoriamente) numa abordagem que
restabelea a importncia da teoria, mas sem negar a parte fundamental que cabe ao
empirismo. Esse ponto de vista o nico que permite reduzir o campo de observao e,
assim, aumentar as chances de controla-lo localmente.
A necessidade de consolidar a teoria implica em considerar sua abordagem no
sentido inverso ao de uma apresentao tradicional, comeando pelos problemas ligados
interpretao e terminando pelas estratgias de observao (captulo IV: Da vida aos
vestgios).
Constatamos ento que conhecimentos externos sempre condicionam e orientam a
interpretao dos fatos materiais. O arquelogo se encontra assim diante da obrigao
de construir para si um saber articulado nesse terreno.
Somente a etnoarqueologia (ou seja, a anlise arqueolgica da realidade viva),
combinada com uma melhor compreenso da estrutura das construes lgicas atuais da
arqueologia, permite constituir esse saber (captulo V: As imposies da interpretao).
Gallay, Alain. Larchologie demain. Traduo: E. Fogaa, 2002.
A interpretao do passado est baseada na confrontao efetuada entre os dados
coletados e aquele saber de referncia externo. Essa confrontao depende de uma certa
organizao dos conhecimentos, de uma certa ordem. Essa ordem construda sempre
com base em materiais situados de maneira mais ou menos precisa no tempo e no
espao (captulo VI: A busca de uma ordem).
A construo dessas ordenaes assenta-se finalmente no terreno propriamente
arqueolgico, na escavao e na prospeo. Segundo uma tal perspectiva, existem
tantas estratgias de interveno quantas forem as questes que queremos nos colocar, e
quantas forem as hipteses interpretativas a serem propostas. A abordagem proposta
deveria permitir uma melhor seleo das observaes a serem coletadas e uma maior
eficcia para a arqueologia de amanh (As observaes e o estabelecimento dos fatos).
Você também pode gostar
- Tornar-Se Pessoa LivroDocumento208 páginasTornar-Se Pessoa Livrocharnels88% (8)
- Juan Garcia Atienza Os Sobreviventes DaDocumento137 páginasJuan Garcia Atienza Os Sobreviventes Daadriano_corrêa_68100% (2)
- A História Secreta Da Raça Humana - Michael Cremo e Richard ThompsonDocumento334 páginasA História Secreta Da Raça Humana - Michael Cremo e Richard ThompsonVagner Marques100% (2)
- Livro - A Atlântida e o Reino Dos Gigantes - OkDocumento83 páginasLivro - A Atlântida e o Reino Dos Gigantes - OkAustrum100% (9)
- A ilha do conhecimento: Os limites da ciência e a busca por sentidoNo EverandA ilha do conhecimento: Os limites da ciência e a busca por sentidoAinda não há avaliações
- RAVLTDocumento2 páginasRAVLTPriscila Klein100% (1)
- Apostila Fluxo de ProsperidadeDocumento12 páginasApostila Fluxo de ProsperidadeAlda BBarbosa100% (1)
- Diferentes Povos Diferentes Ceus e SaberDocumento170 páginasDiferentes Povos Diferentes Ceus e SaberJorgeguezAinda não há avaliações
- Edward F Malkowski - O Egito Antes Dos Faraos e Suas Misteriosas OrigensDocumento463 páginasEdward F Malkowski - O Egito Antes Dos Faraos e Suas Misteriosas OrigensRogerio Silveira100% (1)
- Modelo de Texto para Cerimonial de DebutanteDocumento6 páginasModelo de Texto para Cerimonial de DebutanteRosieli Cabral100% (2)
- BP Kallistos Ware - Igreja OrtodoxaDocumento109 páginasBP Kallistos Ware - Igreja OrtodoxaRicardo RibeiroAinda não há avaliações
- O Paradigma NewtonianoDocumento5 páginasO Paradigma NewtonianoGabriel DiasAinda não há avaliações
- Sob os tempos do equinócio: Oito mil anos de história na Amazônia centralNo EverandSob os tempos do equinócio: Oito mil anos de história na Amazônia centralNota: 3 de 5 estrelas3/5 (1)
- Cartas A Um Jovem Cientista Edward ODocumento119 páginasCartas A Um Jovem Cientista Edward OvajimaAinda não há avaliações
- O Egito Antes Dos Faraós e Suas Misteriosas Origens Pré-Históricas - Edward F. MalkowskiDocumento514 páginasO Egito Antes Dos Faraós e Suas Misteriosas Origens Pré-Históricas - Edward F. MalkowskiEdirce Melo100% (3)
- As Firmes Resoluções de Jonathan EdwardsDocumento4 páginasAs Firmes Resoluções de Jonathan EdwardsDionizio Neto JJAinda não há avaliações
- História Das Ciências Uma História de Historiadores Ausentes - Precondições para o Aparecimentodos Sciences Studies (Carlos Alvarez Maia)Documento358 páginasHistória Das Ciências Uma História de Historiadores Ausentes - Precondições para o Aparecimentodos Sciences Studies (Carlos Alvarez Maia)WANDERSON RAMONN PIMENTEL DANTASAinda não há avaliações
- Pré-História Do Nordeste Do Brasil. MARTIN, G. (2005) .Documento431 páginasPré-História Do Nordeste Do Brasil. MARTIN, G. (2005) .Zé Costa100% (4)
- Carl Sagan - A Biblioteca de AlexandriaDocumento4 páginasCarl Sagan - A Biblioteca de Alexandriaricardo_eletronicaAinda não há avaliações
- Aritmética Elementar PDFDocumento40 páginasAritmética Elementar PDFnelson de oliveira50% (4)
- O Jardineiro de Napoleão: Alexander Von Humboldt e as Imagens de um Brasil/América (Séculos XVIII e XIX)No EverandO Jardineiro de Napoleão: Alexander Von Humboldt e as Imagens de um Brasil/América (Séculos XVIII e XIX)Ainda não há avaliações
- Manual Karuna ReikiDocumento18 páginasManual Karuna ReikiCatarina Rod100% (5)
- Formação de PalavrasDocumento4 páginasFormação de PalavrasCláudia RibeiroAinda não há avaliações
- Alem Do Pos-Colonialismo... Kapil RAJDocumento12 páginasAlem Do Pos-Colonialismo... Kapil RAJBianca FrancaAinda não há avaliações
- Gordon Child Introducao A Arqueologia PDF OkDocumento157 páginasGordon Child Introducao A Arqueologia PDF OkRebeca ProuxAinda não há avaliações
- Leon Denis - Depois Da Morte PDFDocumento203 páginasLeon Denis - Depois Da Morte PDFAlexander Zimmer100% (2)
- DeíticosDocumento1 páginaDeíticosRaquel FernandesAinda não há avaliações
- O Auto Dos MísticosDocumento452 páginasO Auto Dos MísticosceudekarnakAinda não há avaliações
- A Epistemologia e o Espírito Do ColecionismoDocumento9 páginasA Epistemologia e o Espírito Do ColecionismoLucyAinda não há avaliações
- ArqueologiaDocumento53 páginasArqueologialohannelolo21Ainda não há avaliações
- Eduardo - Neves.Amazonia IncipienciaDocumento24 páginasEduardo - Neves.Amazonia IncipienciaCorradalmoAinda não há avaliações
- História Da Hominização Às Primeiras Civilizações1Documento27 páginasHistória Da Hominização Às Primeiras Civilizações1Tatiane Oliveira De CarvalhoAinda não há avaliações
- Arqueologia ConceitosDocumento6 páginasArqueologia ConceitosJuliana CamiloAinda não há avaliações
- Nao e A Questao - Bruno Latour PDFDocumento5 páginasNao e A Questao - Bruno Latour PDFLes Yeux OuvertsAinda não há avaliações
- Aula 10 5 2022 PortuguêsDocumento50 páginasAula 10 5 2022 PortuguêsMaria Eugênia ZulaufAinda não há avaliações
- Introdução á archeologia da peninsula IbericaNo EverandIntrodução á archeologia da peninsula IbericaAinda não há avaliações
- Laplantine 2Documento6 páginasLaplantine 2Daniela AguiarAinda não há avaliações
- Ruinas e Mitos, Brasil ImperialDocumento240 páginasRuinas e Mitos, Brasil ImperialRodrigo SollatoAinda não há avaliações
- Arqueologia e Maçonaria Ir.. Roberto TrindadeDocumento7 páginasArqueologia e Maçonaria Ir.. Roberto TrindadeLeandro HeckoAinda não há avaliações
- Lineau e Buffon - TeoriasDocumento25 páginasLineau e Buffon - TeoriastorresgalinsAinda não há avaliações
- A Natureza Brasílica, Entre A Visão Emblemática e A Revolução CientíficaDocumento419 páginasA Natureza Brasílica, Entre A Visão Emblemática e A Revolução CientíficaAugusto José QuerinoAinda não há avaliações
- História AntigaDocumento5 páginasHistória AntigaBruno Cézar M. SAinda não há avaliações
- A Ruptura Científico-Metafísica e a Gênese da Geografia Moderna: Uma Releitura das Obras Geográficas de Kant, Humboldt e RitterNo EverandA Ruptura Científico-Metafísica e a Gênese da Geografia Moderna: Uma Releitura das Obras Geográficas de Kant, Humboldt e RitterAinda não há avaliações
- As Fundações Historiográficas Da TurismologiaDocumento22 páginasAs Fundações Historiográficas Da TurismologiaVongoltzAinda não há avaliações
- Resenhas, Lucas Cunha SantosDocumento17 páginasResenhas, Lucas Cunha SantosSantos LuccaAinda não há avaliações
- 5 - A Arqueologia Descritiva e A Irredutibilidade Dos FatosDocumento59 páginas5 - A Arqueologia Descritiva e A Irredutibilidade Dos FatosAndré RicardoAinda não há avaliações
- A Construção de Um Patrimônio Científico - Marcio RangelDocumento19 páginasA Construção de Um Patrimônio Científico - Marcio RangelLara PinheiroAinda não há avaliações
- História Antiga Oriental MesopotamiaDocumento11 páginasHistória Antiga Oriental MesopotamiaElâine NunesAinda não há avaliações
- Anais de História de Além-Mar XI (2010)Documento440 páginasAnais de História de Além-Mar XI (2010)pax_romana870Ainda não há avaliações
- Resenha CriticaDocumento6 páginasResenha CriticaMarlúcia Pereira SantanaAinda não há avaliações
- Kneller (1980 (1978) ) A Ciência Como Atividade Humana. Cap. 1Documento29 páginasKneller (1980 (1978) ) A Ciência Como Atividade Humana. Cap. 1LilianAinda não há avaliações
- História O Método Experimental e o Progresso Do Conhecimento Do Homem e Da NaturezaDocumento13 páginasHistória O Método Experimental e o Progresso Do Conhecimento Do Homem e Da NaturezaMaria Francisca SantosAinda não há avaliações
- 540-Texto Do Artigo-2000-2-10-20170118Documento8 páginas540-Texto Do Artigo-2000-2-10-20170118Lucas MatinadaAinda não há avaliações
- Riqueza e A Pobreza Das Nacoes - Capítulo 14 - LandesDocumento16 páginasRiqueza e A Pobreza Das Nacoes - Capítulo 14 - LandesLucas Marcondes CarnevaleAinda não há avaliações
- Resenha ComaroffDocumento5 páginasResenha Comarofflmendes88Ainda não há avaliações
- Fichamento 7Documento4 páginasFichamento 7Marcia BarnabeAinda não há avaliações
- Trabalho de Teoria de Historia Amós BapoloDocumento18 páginasTrabalho de Teoria de Historia Amós BapoloamosbapolojAinda não há avaliações
- Cultura Material e Patrimônio de C&TDocumento21 páginasCultura Material e Patrimônio de C&TjanalacerdaAinda não há avaliações
- Livro Arqueologia - Estudo Dirigido 5 H-2-1 - FabioDocumento5 páginasLivro Arqueologia - Estudo Dirigido 5 H-2-1 - Fabiofabiovinicius.geoAinda não há avaliações
- As terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonNo EverandAs terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonAinda não há avaliações
- Aula 2Documento4 páginasAula 2Adminsala417Ainda não há avaliações
- A Importancia Do Espaco Fisico Escolar No Ensino e Na AprendizagemDocumento14 páginasA Importancia Do Espaco Fisico Escolar No Ensino e Na AprendizagemMahandjane TembeAinda não há avaliações
- Oliveira Erivam Pioneiro Fotografia BrasilDocumento18 páginasOliveira Erivam Pioneiro Fotografia BrasilHenrique LuizAinda não há avaliações
- Construção Da Escala SnellenDocumento10 páginasConstrução Da Escala SnellenFrancisco XavierAinda não há avaliações
- EBD - A Disciplina Na IgrejaDocumento2 páginasEBD - A Disciplina Na IgrejaWanderson SilvaAinda não há avaliações
- Regulamento-Academico Actualizado UpDocumento50 páginasRegulamento-Academico Actualizado Upmecanicoscribd80% (10)
- O Amor Não É Um Jogo de Criança - Parte 1Documento3 páginasO Amor Não É Um Jogo de Criança - Parte 1api-26410707100% (1)
- Anota Aí Eu Sou Ninguém - Peter Pál PelbartDocumento2 páginasAnota Aí Eu Sou Ninguém - Peter Pál PelbartÉlida LimaAinda não há avaliações
- A Confusão A Respeito Do MilênioDocumento3 páginasA Confusão A Respeito Do MilênioOlerioBarbosaAinda não há avaliações
- Manual Projeto Praticas Operacionais Publ Ipr 741Documento282 páginasManual Projeto Praticas Operacionais Publ Ipr 741Everton GomesAinda não há avaliações
- Trabalho Final História Da Filosofia Contemporanea UFMG 2022 - Heiddeger Ser e TempoDocumento5 páginasTrabalho Final História Da Filosofia Contemporanea UFMG 2022 - Heiddeger Ser e TempoErick EtieneAinda não há avaliações
- A Humildade Da Sabedoria Celestial - Lição - Original Com Textos - 842014Documento9 páginasA Humildade Da Sabedoria Celestial - Lição - Original Com Textos - 842014Gerson G. RamosAinda não há avaliações
- Packet ToreadorDocumento73 páginasPacket ToreadorDiogoOliveiraAinda não há avaliações
- Trabalho CerâmicaDocumento22 páginasTrabalho Cerâmicanuno_dias_54Ainda não há avaliações
- Murilo Mendes Poemas SelecionadosDocumento6 páginasMurilo Mendes Poemas SelecionadosPhillip FelixAinda não há avaliações
- Quadro Conceitual para Gestão de Estoques: Enfoque Nos ItensDocumento12 páginasQuadro Conceitual para Gestão de Estoques: Enfoque Nos ItensDiogo DiasAinda não há avaliações
- TMEPM VitorBarbosaDocumento187 páginasTMEPM VitorBarbosaDaniel Borges100% (1)
- 4 - A Questão Da Intervenção DivinaDocumento3 páginas4 - A Questão Da Intervenção DivinadelihehAinda não há avaliações
- 35 Livros para Uma Biblioteca Erótica - Um Guia de Literatura Erótica em Edições NacionaisDocumento4 páginas35 Livros para Uma Biblioteca Erótica - Um Guia de Literatura Erótica em Edições NacionaisCaetano DableAinda não há avaliações