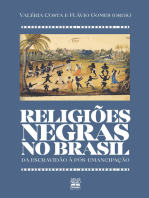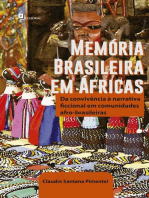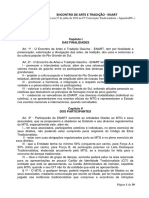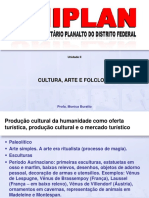Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Avelar Cascudo Cachaca Historia Bebidas Brasil
Avelar Cascudo Cachaca Historia Bebidas Brasil
Enviado por
Bruno VideiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Avelar Cascudo Cachaca Historia Bebidas Brasil
Avelar Cascudo Cachaca Historia Bebidas Brasil
Enviado por
Bruno VideiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
________________________________________________________________www.neip.
info
Cascudo, cachaa e a histria das bebidas no Brasil 1
Cachaa com cor, cheiro e gosto de cachaa
Marcelo Cmara, Cachaa: prazer brasileiro
Objeto de estudo recentemente inserido no campo de preocupaes dos
historiadores brasileiros, a histria do lcool tema de vasta bibliografia em diversos
mbitos das cincias humanas no Ocidente 2. Neste artigo realizamos de incio um
pequeno apanhado bibliogrfico apresentando a produo recente sobre a temtica
histria da cachaa e insistimos na defesa de um ponto de vista amadurecido que
aproveite o objeto para compreender novos aspectos da sociedade colonial lusoamericana. No limite, trata-se de pensar nas formas brasileiras de beber considerando
sua historicidade, isto , seu carter mutvel.
*
Em 1967, publicado em Natal o Preldio da Cachaa, redigido pelo renomado
folclorista brasileiro Luis da Cmara Cascudo. Primeiro dos cinco livros publicados
pelo Instituto do Acar e do lcool (IAA), na Coleo Canavieira 3. Neste texto,
Cascudo faz uma compilao de fontes que deram notcias acerca das bebidas alcolicas
utilizadas no Brasil a partir dos descobrimentos, desde a sinonmia do termo, oriundo
da expresso portuguesa quinhentista cachassa, at seus usos corriqueiros entre os
sertanejos, passando por formas de preparo e funes sociais, econmicas e polticas
atribudas aguardente. Para a composio de sua monografia, o autor vasculha fontes
de naturezas diversas: escritos de viajantes, estudos naturalistas e antropolgicos, tratados de
alimentao e sade, dicionrios especficos, relatrios comerciais, textos literrios em
prosa e verso, dizeres, contos, poesias, autos e msicas populares. Deste vasto material,
incorpora uma srie de usos e significados referentes ao mundo aucareiro e aos
engenhos de rapadura e de aguardente. Informaes de variadas procedncias so
fornecidas, portanto, na inteno de narrar com realismo o cotidiano da ingesto de
aguardente de cana pelos agentes pobres da sociedade brasileira. De forma geral, o que
vemos de fato so descries de um conjunto fragmentado de dados, que no compem
Com algumas modificaes, este artigo o primeiro captulo de minha dissertao de Mestrado
intitulada: A moderao em excesso: estudo sobre a histria das bebidas na sociedade colonial. Programa
de Ps-Graduao em Histria Social da FFLCH-USP. Orientador: Henrique Carneiro. So Paulo, 2010.
2
Para uma caracterizao mais geral do objeto e suas possibilidades de articulao, ver: Ulpiano T.
Bezerra de Meneses e Henrique Carneiro. A Histria da alimentao: balizas historiogrficas. In: Anais
do Museu Paulista, Histria e Cultura Material, vol.5, jan-dez., 1997. Sobre o tema do lcool em especial,
destacamos apenas: Mary Douglas. Construtive drinking: Perspectives on drink from Antropology.
Cambridge: Cambridge University Press, 1991; Sonia Corcuera de Mancera El frayle, el ndio y el
pulque. Evangelizacion y embriaguez em la Nueva Espaa (1523-1548). Mxico: FCE, 1991e William B.
Taylor. Embriaguez, homicdio y rebelion en las poblaciones coloniales mexicanas. Mxico: FCE, 1987.
3
Os outros foram pela ordem: Acar, de Gilberto Freyre; Cachaa, de Mario Souto Maior; Acar e
lcool, de Hamilton Fernandes e Sociologia do Acar, tambm de Cmara Cascudo. O IAA tambm
mantinha a revista Brasil Aucareiro, que aparecia como linha editorial que dava espao para os
intelectuais folcloristas brasileiros. Aluizio Lins de Oliveira. Doce engenho: consideraes a respeito do
livro Sociologia do Acar: pesquisa e deduo de Luis da Cmara Cascudo. III Seminrio de Histria
do Acar, FFLCH-USP, 2009.
________________________________________________________________www.neip.info
uma narrativa coesa capaz de contribuir para o entendimento da vida social que o autor
se prope a examinar.
Alm disso, a obra contm elementos de oralidade, percebidos ao se observar as
associaes feitas de algumas bebidas com costumes, tradies e festividades populares,
com hbitos e etiquetas cultivadas por elites sociais. Conforme atesta, nascida sem
pobreza [...], podendo atender ao apetite dos fregueses humildes, escravos, mestios,
trabalhadores de eito a jornal, todo um povo de reduzida pecnia 4, a cachaa vai
alcanando o estatuto de bebida nacional, significando tambm, predileo, uso fiel,
costume, norma, vcio, hbito, mania 5. Malgrado certo ar de colcha de retalhos,
Cascudo efetua a primeira monografia sobre a aguardente de cana no Brasil. Esta seria
mais uma de suas contribuies para a constituio do movimento folclorista
brasileiro, iniciado na dcada de 30 junto com Arthur Ramos e Mrio de Andrade. Na
esteira desses estudiosos foi criado em 1946 a Comisso Nacional do Folclore, reunindo
a nata dos especialistas e interessados no assunto e encabeada por dison Carneiro,
Joaquim Ribeiro e Ceclia Meirelles, alm de Cascudo 6. Na tentativa de se
institucionalizar os estudos de folclore no Brasil, os integrantes desta Comisso
procuraram estabelecer algumas diretrizes para o modo de estudar o assunto. Uma delas
foi a definio do objeto como sendo o fato folclrico: coletivo, annimo e
essencialmente popular, incluindo ocorrncias espirituais (canes, trovas, ditados,
etc) e cristalizaes na cultura material 7. O povo, sujeito onisciente da cultura autntica,
fora entronizado e tornado imune s ingerncias de escolas, igrejas, academias at
ao deletria perpetrada pela indstria cultural nascente.
Para defender a hiptese de que o termo cachaa significando aguardente de
cana seria trao caracterstico da sociedade brasileira 8, no nosso texto em questo
Cascudo recupera as circunstncias em que a bebida aparecera a fim de justificar seu
consumo pelos pobres e elev-la condio de bebida tipicamente nacional 9. Nesse
sentido, a aguardente, dentre outras funes, permitiria a fuga ao cotidiano opressor,
decepcionante e montono a que os escravos eram submetidos. E sua popularizao terse-ia realizado das classes subalternas para as mais abastadas, do Brasil para a frica e
Cmara Cascudo. Preldio da cachaa: etnografia, histria e sociologia da aguardente no Brasil.
Natal: Coleo Canavieira, 1962. p. 32.
5
Idem, p.243.
6
Muito embora j fosse considerado o maior folclorista brasileiro quando a Comisso foi fundada,
Cascudo nunca quis deixar sua terra natal para participar de perto das decises da instituio sediada no
Rio de Janeiro. Sendo um provinciano incurvel, na expresso citada por Vilhena, sua colaborao para
a constituio de uma cincia do povo teria partido sempre do Rio Grande do Norte, de onde,em 1941,
fundou a Sociedade Brasileira do Folclore. Luis Rodolfo Vilhena. Projeto e Misso: o movimento
folclrico brasileiro (1947-1964). Rio de Janeiro: Funarte: FGV, 1997, p. 158-172.
7
A expresso de inspirao durkheimiana visava integrar o folclore s cincias antropolgicas e
culturais. Srgio Miceli. Disciplina de amor. Artigo publicado no Jornal de Resenhas, n 36, 1998.
8
Em suas palavras: Dizendo CACHAA, valendo bebida-aguardente, creio brasileirismo. Luis da
Cmara Cascudo. Op. Cit., p. 17.
9 Tal proposta de recuperar as razes nacionais da aguardente de cana, elegendo-a como sujeito do
processo histrico, tambm encontrada em: Luciano Figueiredo e Mary Del Priore (orgs.). Cachaa,
alquimia brasileira. Rio de Janeiro: 19 Design, 2005; Alessandra Garcia Trindade. Cachaa: um amor
brasileiro. So Paulo: Melhoramentos, 2006; Erwin Weimann. Cachaa, a bebida brasileira. So Paulo:
Ed. Terceiro Nome, 2006; Jairo Martins da Silva. Cachaa, o mais brasileiro dos prazeres. So Paulo:
Editora Anhembi Morumbi, 2006 e Marcelo Cmara. Cachaa: prazer brasileiro. Rio de Janeiro: Mauad,
2004. A seguir, teceremos algumas consideraes a respeito desses textos, por acreditarmos que eles
sintetizam uma tendncia hegemnica de abordagem do tema histria da cachaa.
________________________________________________________________www.neip.info
depois para as outras partes do mundo, ou melhor, a propaganda da cachaa partiu de
baixo para cima e de dentro para fora 10. Nessa perspectiva, ela aparece como
a bebida-do-povo, spera, rebelada, insubmissa aos ditames do amvel paladar, bebida de
1817, da Independncia, atrevendo-se enfrentar o vinho portugus soberano, o lquido
saudador da Confederao do Equador em 1824, dos liberais da Praia em 1848, a
PATRCIA, a PATRIOTA, a GLORIOSA, cachaa dos negros do Zumbi no quilombo dos
Palmares, do desembargador Nunes Machado e de Pedro Ivo, dos Cabanos, cachaa com
plvora dos cartuchos rasgados no dente, na Cisplatina e no Paraguai, tropeias dos QuebraQuilos, do Club do Cupim, conspirador abolicionista, gritador republicano, a
BRASILEIRA 11
Deparamo-nos com esta reunio de informaes que demonstram uma erudio vazia
por no se ocupar das relaes sociais e sim com as relaes da aguardente. Isto torna a
narrativa uma exposio de caracteres isolados, sem laos articulados com outros
aspectos sociais e histricos, o que faz perder toda a significao e a possibilidade de se
tornarem fatores de compreenso da vida social. No trecho acima, a aguardente parece
interferir nas aes humanas e definir os rumos da historia brasileira. O que no quer
dizer que no texto no haja dados e afirmaes sobre o desenvolvimento histrico da
aguardente, todavia, apresentados como evidentes e inquestionveis. Em suma,
aparecem alegaes que se querem verdadeiras, a mais explcita, sem dvida, a de que
a cachaa fora um instrumento identitrio. E de fato o foi, mas no porque o povo
insistiu em ingeri-la para se impor diante do estrangeiro e suas bebidas. No porque
expressa autonomia do homem sertanejo que se orgulha das coisas tpicas do seu
cotidiano. A aguardente compe a identidade nacional porque mediou um conjunto de
acontecimentos histricos diferentes que variaram em cada regio e tempo. Faz parte da
identidade nacional no como agente histrico, mas como elemento que intermediou
relaes entre sujeitos e forneceu inteligibilidade interao entre eles.
Alm do mais, nossa unidade nacional com passado de colnia formou-se a partir
de um padro baseado na imposio cultural de cima para baixo. Por isso, h perdas das
heranas culturais dos de baixo, pois elas no podem ser harmonizadas s condies em
que os estratos dominantes tendem a realizar a integrao, baseada em seus interesses de
dominao. Na esteira de Roger Bastide, o fato da sociedade brasileira ter propiciado a
mistura de elementos culturais de provenincias tnicas distintas no tem qualquer
significao, ao contrrio do que defendia o mito da democracia racial. Importa a
natureza da relao entre os elementos e a forma pela qual eles se articulam e se
expressam socialmente, documentando uma sociedade colonizada 12. No Preldio, as
diferentes formas de beber dos grupos que formaram o Brasil aparecem integradas e
desprovidas de conflitos, como se houvesse uma comunho de espaos de convivncia
dos usos medicinais, religiosos, polticos e econmicos dos brancos, ndios e negros.
Seguindo Bastide, poderamos afirmar que este ponto de vista expresso de um
folclore artificial, que apresenta as manifestaes mestiadas como o resultado de
10
Ibidem, p. 37.
Ibidem, p.54.
12
poca da produo deste texto era latente a tenso entre os folcloristas e os cientistas sociais
universitrios, que perceberam o embarao analtico dos primeiros por privilegiarem em demasia o
enfoque culturalista. Esta perspectiva influenciada pela antropologia norte-americana situava a sociedade
como uma parte da cultura, ao invs de tom-la como seu plo [...] num conjunto dialtico, deixando o
folclore flutuar no ar, quando, na verdade, ele s existe encarnado numa sociedade. Srgio Miceli. Op
cit., p. 04.
11
________________________________________________________________www.neip.info
recursos utilizados pela cultura dominante para incorporar ideologicamente ndios e
negros sociedade colonial, escondendo assim, que as formas folclricas surgem,
desaparecem e se modificam sempre de acordo com mudanas que se operam na
estrutura social em que elas ocorrem. Esta talvez a marca mais forte do tempo
histrico no texto de Cascudo: ele descreve as aparncias da cultura popular de ingesto
de bebidas, alegando fazer uma cincia do povo, resultando na narrao desarticulada
e empobrecida da experincia etlica dos agentes histricos da sociedade brasileira,
reduzindo-a a mero anedotrio. Uma descrio nesses termos colabora com a fixao da
imagem de que o beber algo banal, sem forcas sociais atuantes. Em suas palavras: a
cachaa s pode contar anedotas de embriaguez banal, nauseada e sem vo 13. Uma
descrio como esta colabora com a noo de que a cachaa bebida do conjunto de
cidados do Brasil - como se a cidadania plena fosse ponto pacfico entre ns -,
contribui para a constituio de uma interpretao pardica da cultura popular brasileira,
para a naturalizao da dominao e imposio sofridas pelos modos de beber na
histria da sociedade colonial e para a legitimao da embriaguez regulada, moderada,
moral e crist requisitada no passado de colnia.
Convm afirmar tambm que o texto de Cascudo pretende transmitir uma viso
realista das aplicaes e usos da cachaa pelo povo brasileiro. Acreditando descrever a
verdade como ela , o autor minimiza as contradies sociais inerentes ao que envolve o
beber, contribuindo pouco para o entendimento das relaes entre os agentes que tm a
bebida de cana como elo de ligao 14. Ao lado disso, lana pequenas teses com vistas a
legitimar as estruturas sociais brasileiras, em destaque, a espontaneidade da ingesto de
cachaa pelos sertanejos do Brasil 15. Os diferentes usos do lcool implicam em
confrontos entre foras sociais envolvidas, interaes, concesses, etc. Em Cascudo,
isto desaparece. Em outros termos, o folclorista desistoriciza o tema. Apesar destas
insuficincias, a obra de Cascudo um belo esforo de demonstrao da importncia da
aguardente de cana para a sociedade brasileira nas mais diversas esferas sociais e em
diferentes tempos, inclusive por ser o primeiro trabalho com essa preocupao. Alm do
mais, alguns trabalhos redigidos recentemente sobre o tema herdaram a mesma
perspectiva daquele autor, a saber, a elevao da bebida categoria de sujeito do
processo histrico. Nele, a personificao aparece da seguinte maneira:
a cachaa, nascida possivelmente no sculo XV, sem nobreza, acesso palaciano,
intimidade com gnios literrios e musicais, teve seu ingresso vedado pela etiqueta s
residncias de espavento e bares de Grande Hotel, recomendado ao turismo 16
Nesse mesmo diapaso, a cachaa, fio condutor da trama, aparece no livro do qumico
Erwin Weimann 17. O autor reconstitui a histria da bebida como se quisesse agregar
valor ao produto, com se pretendesse promover seu consumo atual. Para isso,
13
Luis da Cmara Cascudo. O. cit., p. 87.
No seu dizer, cachaa coisa de cabra e ponto. Considerando-se que cabra diz respeito ao caboclo
do serto nordestino. Luis da Cmara Cascudo. Po. Cit.,p. 80.
15
Com base nos comentrios de Miceli, afirmaramos que isto deriva da incapacidade de Cascudo de
incorporar as transformaes desencadeadas pela expanso da indstria cultural, tornando-o, assim como
seus pares, em defensores da arte popular tradicional, cultuando a aura de um passado arcaico a que
estariam associados o espontanesmo e a pureza da criao coletiva e annima de cultura. Srgio
Miceli. Op. Cit., p. 05.
16
Luis da Cmara Cascudo. Op. Cit., p.86.
17
Erwin Weimann. Op. cit.
14
________________________________________________________________www.neip.info
apontada a distribuio da aguardente pelos escravos como forma de aliviar a fome e o
cansao; citada a lei subsdio literrio, cobrada sobre a bebida para sustentar os
professores rgios que vinham lecionar na Amrica Portuguesa, a fim de indicar que
estes antecedentes ajudaram a fazer da cachaa um smbolo de resistncia dominao
da metrpole. Brindar com cachaa representava uma atitude poltica de luta contra a
opresso portuguesa 18. Modo de dizer que opera a iconizao tambm aparece em
Cachaa, um amor brasileiro, de Alessandra Garcia Trindade. Referindo-se cachaa,
ficamos sabendo que ela sempre esteve presente na construo do nosso pas,
afirmando seu sabor e sua autenticidade 19. Em trecho bastante claro desse vis,
encontramos:
a cachaa testemunhou os movimentos de organizao operria no incio do Novecentos,
caminhou na Coluna Prestes (1924-6), foi cone na Semana de Arte Moderna de 1922,
ilustrou as histrias da Velha Repblica, foi, novamente, tomada com plvora na
Revoluo Constitucionalista de 1932, acompanha os prceres e os opositores do Estado
Novo 20.
Ora, os objetos materiais s dispem de propriedades imanentes de natureza fsicoqumica: matria-prima, peso, densidade, textura, sabor, opacidade, forma geomtrica,
etc. Todos os demais atributos so aplicados s coisas, isto , os sentidos e os valores
no advm delas, mas da sociedade que os produz, armazena, faz circular e consumir,
mobilizando tal ou qual atributo fsico 21. Este deslocamento da derivao dos atributos
fica mais claro quando Marcelo Cmara enuncia: a bebida sustenta a escravaria, o
brao trabalhador, alegra os achados de veios e minas, nas rochas e aluvies,
movimenta as festas, esquenta os corpos, diminui o sofrimento 22.
Uma histria da aguardente s tem sentido, quando ela participa do processo
histrico e dos regimes sociais enquanto produto da atividade humana por meio do qual
as mais diversas relaes de afinidade e/ou de conflito se estabeleceram entre diferentes
agentes sociais. Mas no assim que apresenta nosso objeto uma parte da literatura
contempornea dedicada a esta histria. O que se observa, todavia, a mobilizao de
uma estratgia discursiva que personifica o objeto, na qual o termo cachaa funciona
como uma espcie de blindagem que impede sua insero nas condies histricosociais que determinam sua significao. Desse modo, a substncia faria seu percurso
secular, nos dizeres de Cascudo, sem sofrer mutaes em seus atributos que, desde a
origem, a identifica com a classe popular e com nossa histria. Portanto, nesta lgica, a
bebida percorre os quinhentos anos de nosso passado caminhando junto com os pobres e
mantendo suas caractersticas sensoriais e valorativas, o que a torna smbolo da nao
tupiniquim 23. E para funcionar esta blindagem autores como Marcelo Cmara lanam
mo de um tipo de falcia reconhecida como tautologia, que consiste em um erro
lgico que apresenta como significativa uma proposio cujo predicado no diz nada a
mais do que o sujeito. A tautologia uma forma da petio de princpio, que a
18
Erwin Weimann, Op. ct., p. 24.
Alessandra Garcia Trindade. Op. cit., p. 19.
20
Marcelo Cmara. Op.cit., p. 23.
21
Ulpiano T. Bezerra de Meneses e Henrique S. Carneiro. Op. cit.
22
Idem, p. 21.
23
H uma srie de publicaes sobre a cachaa que adotam este posicionamento. Uma pequena lista
desses textos pode ser encontrada no site http://www.ocachacier.com/mm/?p=53. Para uma lista mais
extensa sobre o tema, com textos inclusive que destoam desta postura, ver o estudo bibliogrfico
empreendido por Lcia Gaspar, Nadja Tenrio e Sebastio Vila Nova, intitulado Cachaa, uma
bibliografia, disponvel no site da Fundao Joaquim Nabuco.
19
________________________________________________________________www.neip.info
falcia que se comete quando se adota como premissa a prpria concluso que se
tenciona provar 24. como se se dissesse: a cachaa cachaa. Ou, como diz a
epgrafe extrada de livro do prprio autor: cachaa com cor, cheiro e gosto de
cachaa. Desse modo, os prprios atributos fsico-qumicos funcionam como esta
blindagem, o que autoriza afirmaes do tipo: ela [a cachaa] sempre esteve presente
na construo do nosso pas, afirmando seu sabor e sua autenticidade 25. Estas
construes organizam a economia interna dos textos sobre o tema a ponto de no se
escapar da narrativa fetichizada do objeto cachaa, o que d a impresso de que a
bebida quem atravessa a histria com suas prprias pernas. Ademais, este tipo de
caracterizao pouco contribui para o conhecimento, uma vez que o objeto do
historiador deve ser a sociedade, sua organizao, funcionamento e transformao.
O resultado mais patente deste procedimento a transformao da aguardente de
cana em objeto de consumo, e por isso autonomizado, como sentido no interior de um
cdigo de significaes hierarquizadas. Ao contrrio, questo de reconstruir a lgica
social em que aparece o uso da substncia, desnaturalizando seus processos de troca e
significao 26. Por aqui encontramos as marcas temporais destes trabalhos
contemporneos: so livros para formar consumidores exigentes, consumidores
distintos, tal como ocorre com os provadores de vinho. Esta a diferena histrica: em
Cascudo, a histria da cachaa foi narrada do ponto de vista da cultura popular
sertaneja; nos textos atuais, a historia da bebida contada para formar o consumidor
interessado em se distinguir socialmente como um especialista em cachaa um novo
tipo de connoisseur, em sntese. Os livros pretendem versar o leitor no destilado
brasileiro de cana, ensinando-lhe os processos de fabricao, as diferenas em relao a
outros destilados e fermentados, as regies produtoras, a situao do produto na
economia nacional, as receitas possveis e, o que aparece em todos, o modo de
reconhecer uma cachaa de qualidade que, claramente, pretende estabelecer padres
organolpticos para definir o valor da nova commodity.
Ressalva deve ser feita ao Cachaa, alquimia brasileira 27 que, muito embora
tambm incorra na iconizao, contm dois artigos que fornecem de diferentes pontos
de vista uma reconstituio bem documentada com base em fontes histricas e
bibliografia especializada que informam sobre a historicidade das circunstncias da
ingesto da aguardente de cana na histria brasileira. No primeiro deles 28, destaque para
a descrio das disputas provocadas pelas investidas dos agentes da colonizao sobre a
produo, distribuio, troca e consumo da bebida pelos escravos e pobres livres bem
como para o apontamento do marco representado pelo caf no XIX, nova bebida sbria
que concorreu para substituir aquela embriagante nos hbitos cotidianos das classes
baixas. Desta forma, Luciano Figueiredo contribui para se problematizar o passado
colonial da aguardente, assim como o texto de Mary Del Priore 29 na mesma obra. Esta
historiadora se vale de tratados mdicos para oferecer a viso de algumas ocasies de
uso da aguardente no Brasil ao longo de sua histria: usos teraputicos, componente de
mezinhas e rituais de magia amorosa. Nele, encontramos a descrio dos lugares em que
24
LALANDE, A. Vocabulrio tcnico e crtico de filosofia. So Paulo, M. Fontes, 1993.
Marcelo Cmara. Op. cti., p. 23.
26
Jean Baudrillard. Para uma crtica da economia poltica do signo. Lisboa: Edies 70, 1995.
27
Luciano Figueiredo e Mary Del Priore (orgs.). Op. cit.
28
Luciano Figueiredo e Renato P Venncio. guas ardentes: o nascimento da cachaa. In: Luciano
Figueiredo e Mary Del Priore. Op. Cit., p. 12-57.
29
Mary Del Priore. Do copo ao corpo e do corpo alma: cachaa, cultura e festa. In: Luciano
Figueiredo e Mary Del Priore. Op. Cit., p. 60-92.
25
________________________________________________________________www.neip.info
a cachaa estava presente, como casamentos, enterros, festas, danas e bares, alm da
identificao das categorias sociais que a apreciavam. O livro completado com
entrevistas a Paulinho da Viola e Cida Zurlo alm de artigo do agrnomo Fernando
Valadares Novaes, justamente a respeito do modo contemporneo de produo da
substncia 30.
Seja como for, interessa-nos tratar as bebidas alcolicas como um instrumento de
negociao e metfora que articula os diversos agentes e d inteligibilidade interao
entre eles. Inverter o objeto recortado para anlise, deixando de lado a aguardente para
direcionar a ateno aos indivduos que dela fizeram uso. Como o fez Julita Scarano,
que ao se debruar sobre o cotidiano dos forros, pretos e mulatos da capitania de Minas
Gerais no sculo XVIII, chama a ateno dos estudiosos que analisam o consumo
alcolico na sociedade luso-americana dos primeiros sculos para que eles fiquem
atentos ambigidade de costumes, leis e de pareceres ligados questo:
de um lado se considerava o lcool bom, curativo, lucrativo, valioso presente para pagar
favores ou trabalhos recebidos, e de outro, viam-se apenas os malefcios produzidos. Esses
malefcios entretanto, no diziam respeito aos males trazidos para o indivduo em si, ou
seja, sua sade, mas para a sociedade constituda e sobretudo para a vida poltica. Nesse
sentido, o lcool era considerado um produto que, pela sua produo e distribuio,
escapava do controle de Lisboa, sendo muitas vezes trabalho de marginais, de quilombolas
e de clandestinos. Por outro lado, fazendo com que as pessoas agissem fora das normas
estabelecidas e das relaes colnia/metrpole, abria cunhas para escapes de vrias ordens,
uma vez que a primeira existia e deveria trabalhar em prol da segunda e o lcool cortava o
fio que deveria manter pessoas e coisas em lugares determinados pela Coroa 31.
Ocorreria ento um paradoxo no comportamento dos senhores de escravos mineiros: ao
mesmo tempo em que forneciam a bebida a seus escravos nos momentos de trabalho,
condenavam seu consumo em situaes de festas e comemoraes. Esta ambigidade se
explica, de um lado, pelo interesse dos senhores no melhor desempenho possvel de
seus trabalhadores e, de outro, pelo medo de revoltas que pudessem surgir das arruaas
nos momentos de descontrao e exacerbao das gentes de cor, dos quais a cachaa era
componente essencial. Endossamos esta perspectiva de Scarano que privilegia o estudo
das relaes sociais mediadas pelo lcool enquanto gabarito de inteligibilidade para se
explicar aspectos do modo de funcionamento da sociedade luso-americana 32.
30
Fernando Valadares Novaes. Arte e ofcio da cachaa moderna. In: Luciano Figueiredo e Mary Del
Priore. Op. Cit., p. 96-105.
31
Julita Scarano. Bebida alcolica e sociedade colonial, em Festa: Cultura e Sociabilidade na Amrica
Portuguesa. Istvn Jancs e Irs Kantor (orgs). So Paulo: Hucitec: EdUSP: Fapesp: Imprensa Oficial,
2001, p. 467-483, p.480.
32
Outro autor que realiza esta leitura dos usos das bebidas alcolicas na Amrica Portuguesa Carlos
Magno Guimares. Em artigo sobre o consumo de aguardente nos quilombos mineiros setecentistas, ele
sugere que o consumo de cachaa entre os escravos atuava como um amortecedor do potencial de
rebeldia, mas tambm era uma das estratgias de resistncia no violenta dos cativos. Neste mesmo
artigo, o autor formula com clareza a perspectiva da qual pretendemos escapar: guisa de concluso,
queremos insistir no fato de que no nosso objetivo fetichizar a aguardente, colocando-a na condio de
sujeito histrico sob o qual ficam camuflados os verdadeiros agentes do processo, quais sejam,
quilombolas, escravos, forros, taberneiros, senhores, agentes de represso, autoridades, etc. Na dinmica
social e no processo histrico tratados, a aguardente participou apenas como produto da atividade humana
por meio do qual as mais diversas relaes de afinidade e/ou de conflito se estabeleceram entre diferentes
agentes e categorias sociais. A histria da aguardente s tem sentido quando assim considerada. Carlos
Magno Guimares. Os quilombos, a noite e a aguardente nas Minas coloniais, em lcool e Drogas na
________________________________________________________________www.neip.info
Entretanto, para apreendermos com maior preciso o que esse ponto de vista pode
nos deixar entrever, acreditamos que seja necessrio entender estas prticas ambguas
no interior do processo de colonizao do Brasil. Tal ambigidade seria momento da
domesticao da experincia etlica dos habitantes da sociedade colonial, cuja inteno
era fornecer recursos metrpole. Portanto, talvez seja o caso de caracterizar o que
aparecia ali como normalidade possvel diante das questes relativas ao consumo de
lcool. E contar a histria de como esta normalidade ou ambigidade foi constituda,
com a inteno de nosso trabalho indicar a historicidade das prticas em torno do
lcool, os embates, o campo de foras que envolveram seus usos e as representaes que
foram constitudas. No limite, seria questo de desnaturalizar os significados
socialmente impostos sobre dos usos do lcool na sociedade brasileira.
Em linhas gerais, pretendemos fazer uma reflexo histrica em busca da
constituio de um ponto de vista de historiador perifrico para o estudo da sociedade
colonial luso-americana, tendo a histria do lcool como terreno de observao. Para
tanto, algumas questes que norteiam nossa proposta podem ser formuladas nos
seguintes termos: no Brasil, por que os homens bebem? Qual a fora regulatria do
valor moderao e, no geral, quais as formas de controle da experincia etlica que
ganharam corpo ao longo de nossa histria?
Longe de esgotar o debate bibliogrfico e a resposta a estas questes, acima de
tudo, interessa-nos refletir sobre as mltiplas determinaes que conformaram as
prticas sociais mediadas pelas bebidas alcolicas na sociedade brasileira, restituindo a
tenso em torno das questes relativas ao lcool. Para isso, entendemos que esta histria
s ganha sentido se articulada com os objetos tradicionais da historiografia, como as
dimenses polticas, econmicas, religiosas e culturais.
Articular o estudo do objeto histria das bebidas com estas outras esferas a fim
de restituir sua tenso interna, a fim de levar as questes para o terreno poltico,
sobretudo, retirando-a do territrio da sade. Para o que, acreditamos que seja
importante investigar se existe relao entre o fato de a Ambev bater recordes de lucros
e nas estatsticas de sade pblica o alcoolismo ser causa recorde de mortes. Que o
Estado brasileiro tutela juridicamente as rendas desta empresa, fica claro se
observarmos as medidas antialcolicas promulgadas nos ltimos anos. Em nenhuma
delas se exige o compromisso das indstrias de bebidas alcolicas para com seus
consumidores abusivos. Um sintoma talvez esteja no slogan Beba com moderao,
que aparece no final das propagandas de cerveja. Ora, o que requer esta expresso seno
legitimar a irresponsabilidade das indstrias cervejeiras em relao queles que abusam
de lcool? Irresponsabilidade com completa anuncia estatal. Talvez seja um pouco
grosseiro afirmar que como se se dissesse: beba, beba e beba que voc se dar bem,
mas se voc se dar mal isto problema seu!
Ou melhor, isto hoje se tornou problema da medicina. Ao deixar de tratar o
alcoolismo como crime passando a consider-lo como doena, o controle sobre os que
sofrem do problema apenas aumentou. Com imperativos ancorados apenas em
referentes pr-discursivos (procura-se at identificar o gene do alcoolismo),
legitima-se a interveno mdica sobre os alcoolistas ao longo de toda a vida. E se
esconde as causas sociais subjacentes ao comportamento abusivo. Portanto, seria o caso
de suspender o quase monoplio das cincias clnicas do mental (medicina,
psicologia, psiquiatria, etc) sobre a verdade das pessoas com problemas relativos
Histria do Brasil. Renato P. Venncio e Henrique S. Carneiro (org.). So Paulo: Alameda Casa
Editorial, 2005, p. 120.
________________________________________________________________www.neip.info
ingesto de lcool. Levar a questo para a sade pblica representou uma regulao
mais profunda sobre o alcoolista.
Outra expresso do refinamento da administrao da ingesto do lcool foi o
surgimento do aparelho que mede a alcoolemia dos condutores brasileiros, o famigerado
bafmetro. Emergem os termos da gramtica atual: ningum questiona a vitria do
fordismo muito menos a alta lucratividade da indstria cervejeira garantida tambm
pela eficcia de sua publicidade -, mas ficamos assustados diante do grande nmero de
acidentes de trnsito com motoristas embriagados. Para tratar da questo sem tocar no
lucro, medicalizamos os alcoolistas ou avanamos na imposio de ferramentas de
segurana Ou ainda, temos mo as campanhas de conscientizao, patrocinadas
geralmente pela prpria Ambev. Infelizmente, estamos diante de diferentes maneiras de
no progredirmos na reflexo crtica sobre o tema.
Uma coisa parece certa: o argumento de que a nica forma de fazer o indivduo
no dirigir se beber seria ameaando-o de punio prevista em lei, refora o carter
repressor de nossas sociedades. Amedrontar para fazer seguir a lei parece alternativa
apressada, no assentada em reflexo histrica demorada sobre as bases de nossos
modos de beber e se embriagar bem como de suas conseqncias. Parece-nos
importante compreender historicamente a estrutura social em que o uso de lcool
ocorre. Com isso, talvez possamos fortalecer a luta pela atribuio de sentido ingesto
de bebidas, oferecendo uma reflexo histrica que escape da significao
amedrontadora e repressora do discurso do poder, e insista numa educao tolerante e
permissiva que seja capaz de criar novas normas e novos comportamentos alcolicos.
Bibliografia
BAUDRILLARD, Jean. Para uma crtica da economia poltica do signo. Lisboa:
Edies 70, 1995.
CMARA, Marcelo. Cachaa: prazer brasileiro. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.
CASCUDO, Cmara. Preldio da cachaa: etnografia, histria e sociologia da
aguardente no Brasil. Natal: Coleo Canavieira, 1962.
DOUGLAS, Mary. Construtive drinking: Perspectives on drink from Antropology.
Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
FIGUEIREDO, Luciano; PRIORE, Mary Del (orgs.). Cachaa, alquimia brasileira. Rio
de Janeiro: 19 Design, 2005.
LALANDE, Andr. Vocabulrio tcnico e crtico de filosofia. So Paulo, M. Fontes,
1993.
MANCERA, Sonia Corcuera de. El frayle, el ndio y el pulque. Evangelizacion y
embriaguez em la Nueva Espaa (1523-1548). Mxico: FCE, 1991.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de, CARNEIRO, Henrique. A Histria da alimentao:
balizas historiogrficas. In: Anais do Museu Paulista, Histria e Cultura Material, vol.5,
jan-dez., 1997.
SCARANO, Julita. Bebida alcolica e sociedade colonial, em Festa: Cultura e
Sociabilidade na Amrica Portuguesa. Istvn Jancs e Irs Kantor (orgs). So Paulo:
Hucitec: EdUSP: Fapesp: Imprensa Oficial, 2001, p. 467-483, p.480.
SILVA, Jairo Martins da. Cachaa, o mais brasileiro dos prazeres. So Paulo: Editora
Anhembi Morumbi, 2006.
TAYLOR, William B.. Embriaguez, homicdio y rebelion en las poblaciones coloniales
mexicanas. Mxico: FCE, 1987.
________________________________________________________________www.neip.info
TRINDADE, Alessandra Garcia. Cachaa: um amor brasileiro. So Paulo:
Melhoramentos, 2006.
VILHENA, Luis Rodolfo. Projeto e Misso: o movimento folclrico brasileiro (19471964). Rio de Janeiro: Funarte: FGV, 1997.
WEIMANN, Erwin. Cachaa, a bebida brasileira. So Paulo: Ed. Terceiro Nome,
2006.
Você também pode gostar
- Religiões negras no Brasil: Da escravidão à pós-emancipaçãoNo EverandReligiões negras no Brasil: Da escravidão à pós-emancipaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- ABUD Katia Maria - O Sangue Intimorato e As Nobilíssimas Tradições - A Construção de Um Síbolo Paulista - o BandeiranteDocumento244 páginasABUD Katia Maria - O Sangue Intimorato e As Nobilíssimas Tradições - A Construção de Um Síbolo Paulista - o BandeiranteDanielAinda não há avaliações
- CUNHA, Manuela Carneira Da - "Cultura" e Cultura: Conhecimentos Tradicionais e Direitos IntelectuaisDocumento63 páginasCUNHA, Manuela Carneira Da - "Cultura" e Cultura: Conhecimentos Tradicionais e Direitos Intelectuaispru.afc83% (12)
- Edison Carneiro Religioes Negras No Brasil PDFDocumento206 páginasEdison Carneiro Religioes Negras No Brasil PDFJúnior Alves100% (5)
- BASTOS, Elide. Gilberto Freyre Casa-Grande & SenzalaDocumento19 páginasBASTOS, Elide. Gilberto Freyre Casa-Grande & SenzalaDeborah RibeiroAinda não há avaliações
- Alexandre Almeida Barbalho - Políticas Culturais Conjunturas e TerritorialidadesDocumento164 páginasAlexandre Almeida Barbalho - Políticas Culturais Conjunturas e TerritorialidadesCristiê MoreiraAinda não há avaliações
- W W Matta e Silva Umbanda e o Poder Da MediunidadeDocumento170 páginasW W Matta e Silva Umbanda e o Poder Da MediunidadeNatan Ferreira100% (1)
- Cultura PopularDocumento232 páginasCultura PopularRicardo SalvadorAinda não há avaliações
- Historia Da Alimentacao No Brasil - REsenhaDocumento4 páginasHistoria Da Alimentacao No Brasil - REsenhaamanda_teixeira_1Ainda não há avaliações
- Mulheres Tupinamba Saberes Da Fermentação Na AmazoniaDocumento16 páginasMulheres Tupinamba Saberes Da Fermentação Na AmazoniatecnomecatronicaAinda não há avaliações
- Pensamento Social - AB2Documento6 páginasPensamento Social - AB2Walisson VieiraAinda não há avaliações
- MOSTRA FolclóricaDocumento19 páginasMOSTRA FolclóricaAna Maria100% (1)
- TCC AndersonDocumento16 páginasTCC AndersonAnderson DE Carvalho TeixeiraAinda não há avaliações
- Gilberto Vasconcellos. O Pensamento Dialético de CascudoDocumento21 páginasGilberto Vasconcellos. O Pensamento Dialético de CascudoConrado CastroAinda não há avaliações
- Cascudo - A Fome e o PaladarDocumento16 páginasCascudo - A Fome e o PaladarMelina DemattêAinda não há avaliações
- Edicao Completa PDFDocumento140 páginasEdicao Completa PDFClaudio Corso Da Silva CorsoAinda não há avaliações
- Cascudoefolclore PDFDocumento11 páginasCascudoefolclore PDFgraciele tulesAinda não há avaliações
- As Aguas de OsalaDocumento10 páginasAs Aguas de OsalaThiago MonacoAinda não há avaliações
- "Quinhentos Anos de Contato": Por Uma Teoria Etnográfica Da (Contra) MestiçagemDocumento19 páginas"Quinhentos Anos de Contato": Por Uma Teoria Etnográfica Da (Contra) MestiçagemKauã VasconcelosAinda não há avaliações
- GOLDMAN Quinhentos Anos de Contato Por Uma Teoria Etnográfica Da Contra MestiçagemDocumento19 páginasGOLDMAN Quinhentos Anos de Contato Por Uma Teoria Etnográfica Da Contra MestiçagemfernandamvribeiroAinda não há avaliações
- Padaria Espiritual: Cultura Popular, Memória e "Uns Pilintras" em Fortaleza No Final Do Século XixDocumento52 páginasPadaria Espiritual: Cultura Popular, Memória e "Uns Pilintras" em Fortaleza No Final Do Século XixMessias Douglas100% (1)
- Susana Matos Viegas - Publicações 2006Documento38 páginasSusana Matos Viegas - Publicações 2006Tatá MéuriAinda não há avaliações
- 30304-Texto Do Artigo-86918-2-10-20171122Documento24 páginas30304-Texto Do Artigo-86918-2-10-20171122Aline CruzAinda não há avaliações
- Edicao CompletaDocumento140 páginasEdicao CompletaFernanda Pinheiro AragãoAinda não há avaliações
- Artigo - Daniel Sampaio - Formação Sociais AtlanticasDocumento17 páginasArtigo - Daniel Sampaio - Formação Sociais AtlanticasDaniel OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha Artigo Entre A Beleza Do Morto e Os Excessos Dos Vivos Folclore e Tradicionalismo No Brasil MeridionalDocumento4 páginasResenha Artigo Entre A Beleza Do Morto e Os Excessos Dos Vivos Folclore e Tradicionalismo No Brasil MeridionalLarissa Maia BarbosaAinda não há avaliações
- Um Estudo de Caso Sobre Três Biografias Goliardas Hugo de Orléans, Archipoeta de Colônia e Pedro Abelardo (Séc. Xii - XV)Documento37 páginasUm Estudo de Caso Sobre Três Biografias Goliardas Hugo de Orléans, Archipoeta de Colônia e Pedro Abelardo (Séc. Xii - XV)Daianny SouzaAinda não há avaliações
- AVELAR, Lucas Endrigo Brunozi. Aspectos Da Cultura de Consumo de Álcool Dos Grupos Escravizados.Documento1 páginaAVELAR, Lucas Endrigo Brunozi. Aspectos Da Cultura de Consumo de Álcool Dos Grupos Escravizados.Camila OliveiraAinda não há avaliações
- CPDOC - RevistaDocumento16 páginasCPDOC - RevistaMonike BrazAinda não há avaliações
- Povos Lugares e Dinamicas SociaisDocumento182 páginasPovos Lugares e Dinamicas SociaisDiniz is my religionAinda não há avaliações
- A Fome e o Paladar - A Antropologia Nativa de Luis Da Câmara CascudoDocumento17 páginasA Fome e o Paladar - A Antropologia Nativa de Luis Da Câmara Cascudoapi-3842271100% (1)
- Compor e DecomporDocumento9 páginasCompor e DecomporTamara LopesAinda não há avaliações
- Pensamento Social - AB2Documento8 páginasPensamento Social - AB2Walisson VieiraAinda não há avaliações
- 45-Texto Do Artigo-59-1-10-20120329Documento18 páginas45-Texto Do Artigo-59-1-10-20120329WilliamAinda não há avaliações
- "Me Bote Uma Dose No Copo, Acenda Uma Vela e Me Faça Oraça O" Os Pontos Cantados Na Umbanda e Seus EnsinamentosDocumento22 páginas"Me Bote Uma Dose No Copo, Acenda Uma Vela e Me Faça Oraça O" Os Pontos Cantados Na Umbanda e Seus EnsinamentosJúnior Alves0% (1)
- O Incorreto No Guia Politicamente Incorr PDFDocumento31 páginasO Incorreto No Guia Politicamente Incorr PDFKátia Maia CordeiroAinda não há avaliações
- A Cobra Grande Uma Introducao A Cosmologia Dos PovDocumento6 páginasA Cobra Grande Uma Introducao A Cosmologia Dos PovRayane MaiaAinda não há avaliações
- Águas, Flores & Perfumes: Resistência Negra, Atabaques e Justiça na República (Salvador - BA, 1890-1939)No EverandÁguas, Flores & Perfumes: Resistência Negra, Atabaques e Justiça na República (Salvador - BA, 1890-1939)Ainda não há avaliações
- Domínio SenhorialDocumento25 páginasDomínio SenhorialJuliana LimaAinda não há avaliações
- Vera Lucia Cardim de Cerqueira - Missão FolcoricaDocumento232 páginasVera Lucia Cardim de Cerqueira - Missão FolcoricaPeter Lorenzo100% (1)
- NA TRAVESSIA DA MODERNIDADE Bruno SimõesDocumento221 páginasNA TRAVESSIA DA MODERNIDADE Bruno Simõesdanielyramos.psiAinda não há avaliações
- Apresentação Oral - DefesaDocumento8 páginasApresentação Oral - DefesaFrancisco VieiraAinda não há avaliações
- CHARTIER Roger Cultura Popular Revisitando Um Conceito HistóriográficoDocumento14 páginasCHARTIER Roger Cultura Popular Revisitando Um Conceito HistóriográficoWilson Dos Santos Souza0% (1)
- Espuma-Divina Joao Azevedo PDFDocumento129 páginasEspuma-Divina Joao Azevedo PDFKalina Vanderlei SilvaAinda não há avaliações
- Cordel e História: "O Azar e A Feiticeira" Ou o Brasil e A Religião No Início Século Xx.Documento10 páginasCordel e História: "O Azar e A Feiticeira" Ou o Brasil e A Religião No Início Século Xx.PauloGracinoAinda não há avaliações
- RaquelsoihetDocumento15 páginasRaquelsoihetGuilherme VarguesAinda não há avaliações
- Curso Cultura Brasileira 22 1 ProgramaDocumento5 páginasCurso Cultura Brasileira 22 1 ProgramaJoice SantanaAinda não há avaliações
- LEITÃO, Débora e MACHADO, Rosana Pinheiro - O Luxo Do Povo e o Povo Do Luxo Consumo em Diferentes Esferas Sociais No BrasilDocumento3 páginasLEITÃO, Débora e MACHADO, Rosana Pinheiro - O Luxo Do Povo e o Povo Do Luxo Consumo em Diferentes Esferas Sociais No Brasilja_santanaAinda não há avaliações
- Lux Vidal - A Cobra GrandeDocumento5 páginasLux Vidal - A Cobra GrandeMara LoboAinda não há avaliações
- 13narrativaspolifonicas 95 112Documento18 páginas13narrativaspolifonicas 95 112zumbidomalAinda não há avaliações
- LAPA, José Roberto Do Amaral (Org) - Livro Da Visitação Do Santo Ofício Da Inquisição Ao Estado Do Grão-Pará (1763-1769)Documento146 páginasLAPA, José Roberto Do Amaral (Org) - Livro Da Visitação Do Santo Ofício Da Inquisição Ao Estado Do Grão-Pará (1763-1769)Thamires GabrieleAinda não há avaliações
- RenoDocumento16 páginasRenoOscar RobayoAinda não há avaliações
- FRY, Peter. Feijoada e ''Soul Food''Documento8 páginasFRY, Peter. Feijoada e ''Soul Food''André AiresAinda não há avaliações
- Cultura BrasileiraDocumento5 páginasCultura BrasileiraThiago FrancoAinda não há avaliações
- A Mecanização Da Cafeicultura - Evolução, Trajetória, Problemas - Carmo Do Paranaíba - Diomásio Júnior CaetanoDocumento34 páginasA Mecanização Da Cafeicultura - Evolução, Trajetória, Problemas - Carmo Do Paranaíba - Diomásio Júnior Caetanoedmarciogomess3965100% (1)
- 2015 PaulaAlbieroMarconiDeLima VOrig PDFDocumento160 páginas2015 PaulaAlbieroMarconiDeLima VOrig PDFerika meloAinda não há avaliações
- Literatura de cordel: Conceitos, pesquisas, abordagensNo EverandLiteratura de cordel: Conceitos, pesquisas, abordagensAinda não há avaliações
- Os Índios e a Colonização na Antiga Capitania de Porto Seguro: Políticas Indigenistas e Políticas Indígenas no Tempo do Diretório PombalinoNo EverandOs Índios e a Colonização na Antiga Capitania de Porto Seguro: Políticas Indigenistas e Políticas Indígenas no Tempo do Diretório PombalinoAinda não há avaliações
- Memória brasileira em Áfricas: Da convivência à narrativa ficcional em comunidades Afro-BrasileirasNo EverandMemória brasileira em Áfricas: Da convivência à narrativa ficcional em comunidades Afro-BrasileirasAinda não há avaliações
- Fichamento Da Tese Memória e Tradição Da Ciência Da Jurema em AlhandraDocumento5 páginasFichamento Da Tese Memória e Tradição Da Ciência Da Jurema em AlhandraJúnior AlvesAinda não há avaliações
- Fichamento Da Tese Memória e Tradição Da Ciência Da Jurema em AlhandraDocumento5 páginasFichamento Da Tese Memória e Tradição Da Ciência Da Jurema em AlhandraJúnior AlvesAinda não há avaliações
- O Guru e o IniciadorDocumento26 páginasO Guru e o IniciadorprofparahAinda não há avaliações
- Fichamento RIZOMA Guatarri e DeleuzeDocumento9 páginasFichamento RIZOMA Guatarri e DeleuzeJúnior AlvesAinda não há avaliações
- Moda No BrazilDocumento373 páginasModa No BrazilJúnior AlvesAinda não há avaliações
- VELHO, Gilberto. Nobres e Anjos (Livro Completo) PDFDocumento113 páginasVELHO, Gilberto. Nobres e Anjos (Livro Completo) PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- "Me Bote Uma Dose No Copo, Acenda Uma Vela e Me Faça Oraça O" Os Pontos Cantados Na Umbanda e Seus EnsinamentosDocumento22 páginas"Me Bote Uma Dose No Copo, Acenda Uma Vela e Me Faça Oraça O" Os Pontos Cantados Na Umbanda e Seus EnsinamentosJúnior Alves0% (1)
- Carvalho História Política Criminalização Drogas BrasilDocumento17 páginasCarvalho História Política Criminalização Drogas BrasilJúnior AlvesAinda não há avaliações
- Conceito de Estrutura para Radcliffe Brown e EDocumento3 páginasConceito de Estrutura para Radcliffe Brown e EJúnior AlvesAinda não há avaliações
- Origami & Folclore1Documento27 páginasOrigami & Folclore1Alessandra Yukida100% (1)
- Sociologia - Perguntas Cultura 2FDDocumento2 páginasSociologia - Perguntas Cultura 2FDLídia Maronezi100% (1)
- Monografia Jeremias !!!!Documento75 páginasMonografia Jeremias !!!!Maria Cláudia S. LopesAinda não há avaliações
- Fichamento HM2 - AvelinoDocumento3 páginasFichamento HM2 - AvelinoVenâncio SeabraAinda não há avaliações
- Cascudoefolclore PDFDocumento11 páginasCascudoefolclore PDFgraciele tulesAinda não há avaliações
- Exu Na UmbandaDocumento24 páginasExu Na UmbandaAdonai LimaAinda não há avaliações
- 2º ANO - Tancredo NevesDocumento24 páginas2º ANO - Tancredo NevesClaudia Pereira BritoAinda não há avaliações
- Beiradão Das Visagens CompletoDocumento267 páginasBeiradão Das Visagens CompletoGilvandro O. da Silva100% (1)
- BALADI ESSENCIAL Apostila GeralDocumento23 páginasBALADI ESSENCIAL Apostila GeralclaumoscardiAinda não há avaliações
- Maria Isabel Amphilo Rodrigues de Souza PDFDocumento337 páginasMaria Isabel Amphilo Rodrigues de Souza PDFMarcos AraújoAinda não há avaliações
- Projeto Festa JuninaDocumento3 páginasProjeto Festa JuninaFran bassoAinda não há avaliações
- Regulamento ENART 2019Documento30 páginasRegulamento ENART 2019Gilmar gonçalvesAinda não há avaliações
- Folclore NacionalDocumento4 páginasFolclore NacionalKeniaeRodrigoOliveiraAinda não há avaliações
- Megahistoria Da FilosofiaDocumento336 páginasMegahistoria Da FilosofiaJP AgnusAinda não há avaliações
- Projeto FolcloreDocumento3 páginasProjeto FolcloreGIOVANA VIANAAinda não há avaliações
- A Rabeca Chuleira, Etnografias, Contextos e TocadoresDocumento179 páginasA Rabeca Chuleira, Etnografias, Contextos e TocadoresFilipe TavaresAinda não há avaliações
- Cancioneiro Umbundu (Abílio Lupenha) Prod by Belson HossiDocumento53 páginasCancioneiro Umbundu (Abílio Lupenha) Prod by Belson HossiAlessandro DornelosAinda não há avaliações
- SLD 2Documento57 páginasSLD 2Paty1580Ainda não há avaliações
- Literatura e Autoritarismo - Testemunhos (Revista UFSM) - Ler 41-57Documento127 páginasLiteratura e Autoritarismo - Testemunhos (Revista UFSM) - Ler 41-57Bruna Aparecida Morais Andrade100% (1)
- Ficha Da HutaoDocumento2 páginasFicha Da HutaoVanNytAinda não há avaliações
- Corpo RevDocumento274 páginasCorpo RevCarlos0% (1)
- Alice Mashanda Antropo 2Documento12 páginasAlice Mashanda Antropo 2Silde tomasAinda não há avaliações
- Representações Folclóricas Mato-Grossenses Na Obra de João Sebastião Da CostaDocumento13 páginasRepresentações Folclóricas Mato-Grossenses Na Obra de João Sebastião Da CostaLarissa LarissaAinda não há avaliações
- Currículo de Estudos Dos Graus Da Aurora Dourada (Pan Veritrax) (Por)Documento4 páginasCurrículo de Estudos Dos Graus Da Aurora Dourada (Pan Veritrax) (Por)Pan VeritraxAinda não há avaliações
- A Arte em GoiásDocumento10 páginasA Arte em GoiásFabio PaivaAinda não há avaliações
- A Festa e A Máquina Mitológica - Furio Jesi PDFDocumento33 páginasA Festa e A Máquina Mitológica - Furio Jesi PDFDedFigueiredoAinda não há avaliações
- Cultura Negra 2 PDFDocumento357 páginasCultura Negra 2 PDFtalyta marjorie lira sousaAinda não há avaliações
- Projeto FolcloreDocumento17 páginasProjeto FolcloreCOORDENADOR WILSONAinda não há avaliações
- BINGO Do Folclore 2Documento6 páginasBINGO Do Folclore 2Neuza AzevedoAinda não há avaliações
- A Imagem Da Dança No Turismo BrasilDocumento22 páginasA Imagem Da Dança No Turismo BrasilAlexandre Lara100% (1)