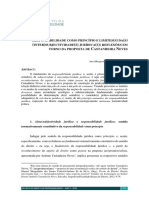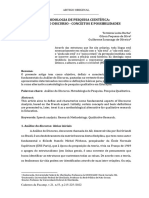Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Análise Automática Do Discurso PDF
Análise Automática Do Discurso PDF
Enviado por
IdentidadeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Análise Automática Do Discurso PDF
Análise Automática Do Discurso PDF
Enviado por
IdentidadeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
A PROPSITO DA ANLISE AUTOMTICA DO DISCURSO: ATUALIZAO E
PERSPECTIVAS (1975)
Marilei Resmini GRANTHAM
Fundao Universidade Federal do Rio Grande
Nesta brevssima exposio, procuramos abordar alguns pontos explorados por
Pcheux e Fuchs, no texto A propsito da Anlise Automtica do Discurso: atualizao e
perspectivas (1975), estabelecendo tambm algumas relaes com outros textos.
No texto em questo, Pcheux faz uma auto-crtica ao texto Anlise Automtica do
Discurso (AAD-69). O texto, no entanto, no se constitui em um recuo na teoria, mas,
segundo o prprio Pcheux, em uma tentativa de eliminar certos erros, certas
ambigidades que a anlise automtica do discurso (AAD) produziu, tanto no nvel
terico quanto no das aplicaes experimentais.
Pcheux sente a necessidade de indicar as bases para uma nova formulao da
questo, luz da reflexo sobre a relao entre Lingstica e teoria do discurso. Da a
presena de um lingista Fuchs no estudo.
A AAD de 69 havia instaurado uma srie de deslocamentos em relao ao discurso
objeto de estudo, unidade de anlise, sujeito, sentido, enunciao gerando a
necessidade de um quadro epistemolgico capaz de dar sustentao terica e
metodolgica a tais mudanas. isso que leva Pcheux a reformular e discutir, por
exemplo, a questo da leitura e do efeito-leitor como constitutivo da subjetividade, bem
como a reformar aspectos ultrapassados da teoria.
O que Pcheux quer ento, com este texto, preparar as condies para uma
mudana radical, com vistas a superar o atraso no tratamento dos textos e a reduzir a
distncia entre a anlise do discurso e a teoria do discurso.
importante lembrar que, antes da Anlise do Discurso, existiram outros estudos
que tinham como interesse a lngua funcionando para a produo de sentido. Assim,
temos, por exemplo, os estudos de Michel Bral, que, em 1897, publica seu Ensaio de
Semntica. Citamos tambm Bakhtin (1992), autor que, afirmando que a comunicao s
existe na reciprocidade do dilogo, constri a teoria do dialogismo e traz para o interior
dos estudos lingsticos a questo da intersubjetividade.
Todos esses trabalhos distanciam-se dos estudos tradicionais de linguagem e da
anlise de contedo, segundo a qual o que importa responder questo o que este
texto quer dizer?. A Anlise do Discurso, no entanto, ultrapassa ainda mais essas
concepes e passa a trabalhar o texto a fim de descobrir como ele significa.
isto que leva Pcheux a apresentar o quadro epistemolgico da Anlise do
discurso.
Deste modo, quando surge, nos anos 60, a AD se constitui no espao das
questes criadas pela relao entre trs domnios disciplinares: o Marxismo, a Lingstica
e a Psicanlise.
A Anlise do Discurso pressupe ento o legado do Materialismo Histrico, como nos
lembra Orlandi:
...h um real da histria de tal forma que o homem faz histria
mas esta tambm no lhe transparente. Da, conjugando a
lngua com a histria na produo de sentidos, esses estudos
do discurso trabalham o que vai-se chamar a forma material (
no abstrata como a da Lingstica) que a forma encarnada
na histria para produzir sentidos: esta forma portanto
lingstico-histrica. (ORLANDI, 1999, p.19).
A Lingstica que tem como objeto prprio a lngua, com uma ordem prpria
tambm importante para a AD, que procura mostrar que a relao entre linguagem,
pensamento e mundo no direta, nem se faz termo-a-termo.
Por outro lado, a contribuio da Psicanlise para a AD o deslocamento da noo
de indivduo para a de sujeito, sujeito que se constitui na relao com o simblico, com a
histria.
Citamos novamente Orlandi:
Se a Anlise do Discurso herdeira de trs regies do
conhecimento Psicanlise, Lingstica, Marxismo no o de
modo servil e trabalha uma noo a de discurso que no se
reduz ao objeto da Lingstica, nem se deixa absorver pela
Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a
Psicanlise. Interroga a Lingstica pela historicidade que ela
deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo
simblico e se demarca da Psicanlise pelo modo como,
considerando a historicidade, trabalha a ideologia como
materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida
por ele (ORLANDI, 1999, p.20).
A Anlise do Discurso, assim, trabalha a confluncia desses campos de
conhecimento e constitui um novo objeto: o discurso. Ao eleger o discurso como seu
objeto, a AD procura compreender a lngua fazendo sentido, como trabalho simblico, e
parte do trabalho social geral, que constitutivo do homem e da sua histria.
Lembramos Pcheux (1969, p.82), quando o autor afirma que discurso no
sinnimo de transmisso de informao, mas pressupe funcionamento da linguagem e
pe em relao sujeitos afetados pela lngua e pela histria, em um complexo processo
de constituio desses sujeitos e de produo dos sentidos.
Neste texto de 75, Pcheux e Fuchs, examinando a relao entre discurso e lngua,
voltam a trabalhar a noo de funcionamento e afirmam: Estando os processos
discursivos na fonte da produo dos efeitos de sentido, a lngua constitui o lugar material
onde se realizam estes efeitos de sentido (PCHEUX e FUCHS, 1975, p.172). atravs
de tal concepo que Pcheux vai reconhecer que a AAD passa pela questo do papel da
Semntica na anlise lingstica.
O discurso, nesta perspectiva, pe em relao sujeitos afetados pela lngua e pela
histria, em um complexo processo de constituio de sentidos.
Orlandi reconhece essa relao, em que o discursivo pressupe o lingstico, e
ressalta que a AD trata dos processos de constituio do fenmeno lingstico, enquanto
a Lingstica visa o produto dessa constituio (ORLANDI, 1986, p.114). Em um
discurso, deste modo, no s se representam os interlocutores, mas tambm a relao
que eles mantm com a formao ideolgica. E isto est marcado no e pelo
funcionamento discursivo.
Assim, do ponto de vista da anlise do discurso, o que importa destacar o modo
de funcionamento da linguagem, sem esquecer que esse funcionamento no
integralmente lingstico, j que dele fazem parte as condies de produo, que
representam o mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do discurso.
Da ser possvel afirmar, juntamente com Pcheux (1969), que o discurso , antes de
tudo, efeito de sentido entre os interlocutores, os quais representam lugares
determinados na estrutura da formao social.
Todas essas noes nos permitem considerar, sob a perspectiva da Anlise do
Discurso, um sujeito diferente, no-emprico e no-coincidente consigo mesmo, mas um
sujeito materialmente dividido desde sua constituio. Um sujeito que sujeito lngua e
histria, pois afetado por elas e que produz sentidos sob tais condies.
Temos ento um sujeito que uma posio, um lugar. O modo como o sujeito
ocupa esse lugar no lhe acessvel, da mesma forma que a lngua no transparente
nem o mundo diretamente apreensvel. Na verdade, tudo constitudo pela ideologia, que,
podemos dizer ento, a condio para a constituio do sujeito e dos sentidos. Quer
dizer: o indivduo interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer.
A noo de interpelao do sujeito formulada inicialmente por Althusser, para
quem s h ideologia pelo sujeito e para o sujeito (ALTHUSSER, 1992, p.93). . Para
Althusser, o indivduo interpelado como sujeito (livre) para livremente submeter-se s
ordens do sujeito, para aceitar, portanto (livremente), sua submisso (ALTHUSSER, 1992,
p.104).
essa concepo que leva Pcheux a afirmar que a AD constitui o esboo de uma
anlise no-subjetiva dos efeitos de sentido que atravessa a iluso do efeito-sujeito, e a
dizer que o que faltava, no texto de 69, era uma teoria no-subjetiva da constituio do
sujeito em sua situao concreta de enunciador.
Em Pcheux (1988), vemos que o autor, buscando esclarecer os fundamentos de
uma teoria materialista do discurso, vai dizer que a funo principal da ideologia a de
produzir uma idia de evidncia subjetiva, entendendo-se subjetiva como evidncias nas
quais se constitui o sujeito. Ou seja: a ideologia dissimula sua existncia no interior de seu
prprio funcionamento.
Considerar a interpelao do indivduo em sujeito pela ideologia conduz Pcheux
noo de iluso do sujeito. Assim, o sujeito tem a iluso no s de estar na fonte do
sentido (iluso-esquecimento n 1), como tambm de ser dono de sua enunciao, capaz
de dominar as estratgias discursivas para dizer o que quer (iluso-esquecimento n 2).
Iluso porque, na verdade, os sentidos que produzimos no nascem em ns, ns apenas
os retomamos do interdiscurso.
Desta forma, a evidncia do sentido , na verdade, um efeito ideolgico que no nos
deixa perceber a historicidade de sua construo. Ela nos faz perceber como transparente
aquilo que, de fato, consiste em uma remisso a um conjunto de formaes discursivas.
Quer dizer: as palavras recebem seus sentidos de formaes discursivas postas em
relaes. Como sabemos, isto o que constitui o efeito do interdiscurso (da memria ).
Por outro lado, a evidncia do sujeito apaga o fato de que ela resulta de uma
identificao, em que o indivduo interpelado em sujeito pela ideologia. Considerada
desse modo, a ideologia no ocultao, mas funo necessria entre linguagem e
mundo.
Indursky, abordando essa questo, lembra que assim que o sujeito se constitui em
sujeito do discurso: interpelado, mas acredita-se livre; dotado de inconsciente, mas
percebe-se plenamente consciente (INDURSKY,1997, p. 24).
E assim, condicionado
aos dois esquecimentos, que o sujeito produz seu discurso.
a partir da noo de esquecimento que surge a distino, proposta por Pcheux e
Fuchs,
entre
base
lingstica
(esquecimento
1)
processo
discursivo
(esquecimento n 2). O que caracteriza o processo discursivo o fato de ser a FD quem
determina o que pode e deve ser dito, o que, por sua vez, quer dizer que o sentido de
uma seqncia s materialmente concebvel na medida em que se concebe esta
seqncia como pertencente necessariamente a esta ou quela formao discursiva
(PCHEUX & FUCHS,1975, p.169).
Em Semntica e Discurso (1988), Pcheux retoma a discusso sobre base
lingstica, processo discursivo e FD, relacionando-as com a questo do sentido e do
sujeito do discurso. Para Pcheux, o sentido de uma palavra, expresso ou proposio
no existe em si mesmo, mas determinado pelas posies ideolgicas que esto em
jogo no processo scio-histrico no qual as palavras, expresses e proposies so
produzidas.
Assim, as palavras, expresses, proposies, etc., mudam de sentido
segundo as posies sustentadas por aqueles que as empregam (PCHEUX, 1988, p.
160). Isso significa que elas adquirem seu sentido com referncia a essas posies, isto
, com referncia s formaes ideolgicas nas quais essas posies se inscrevem.
Desse modo, se uma mesma palavra ou expresso pode receber sentidos
diferentes, conforme se refira a esta ou quela FD, porque no tem um sentido que lhe
seja prprio, ou seja, um sentido literal. Ao contrrio, o sentido se constitui em cada FD,
nas relaes que tais palavras ou expresses mantm com outras palavras e expresses
da mesma FD.
A partir da, a expresso processo discursivo passa a designar o sistema de
relaes de substituio, parfrases, sinonmias, etc., que funcionam entre elementos
lingsticos em uma dada FD.
As afirmaes de Pcheux nos permitem pensar em uma concepo de leitura que
descarta a possibilidade da decodificao do sentido, de sentidos construdos de
antemo, de sentido nico para um texto.
A partir de pressupostos tericos como os de Pcheux que Orlandi vai dizer que a
leitura o momento crtico da constituio do texto, pois o momento privilegiado do
processo da interao verbal: aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como
interlocutores, desencadeiam o processo da significao (ORLANDI, 1987, p.193). Em
outras palavras, isso significa que, para Orlandi, a leitura produzida.
Nesta perspectiva, a legibilidade de um texto est, e ao mesmo tempo no est, no
texto. Ela
tem pouco de objetiva e no uma conseqncia direta da escrita. Isto
relativiza a idia de qualidade do prprio texto e desloca o problema para a relao que
se estabelece entre o texto e quem o l. E isso que exclui a possibilidade de considerar
a leitura como decodificao, como apreenso de uma informao ou de um sentido que
j est dado.
Todas essas reflexes, que tiveram como ponto de partida o texto de Pcheux e
Fuchs, nos permitem dizer que a Anlise do Discurso pretende-se uma teoria crtica que
trata da determinao histrica dos processos de significao. Trabalha no com os
produtos, mas com os processos e as condies de produo da linguagem, ou seja, leva
em conta a exterioridade, e, ao considerar que a exterioridade constitutiva, parte da
historicidade inscrita no texto, para atingir o modo de sua relao com a exterioridade,
atestada no prprio texto, em sua materialidade.
A AD, ento, pode ser vista como um dispositivo que coloca em relao o campo da
lngua, suscetvel de ser estudado pela lingstica, e o campo da sociedade apreendida
pela histria, em termos de relaes de fora e de dominao.
_________________
BIBLIOGRAFIA:
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideolgicos de Estado. 6. Ed. Rio de Janeiro: Graal,
1992.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6 ed. So Paulo: Editora Hucitec,
1992.
INDURSKY, Freda. A fala dos quartis e as outras vozes: uma anlise do discurso
presidencial da terceira repblica brasileira. Campinas, SP: Editora da UNICAMP,
1997.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alem. Campinas: Pontes, 1988.
ORLANDI, Eni. A Anlise do Discurso: algumas observaes. In: D.E.L.T.A., vol.2, n 1,
1986, p.105-126.
PCHEUX, Michel (1969). Anlise Automtica do Discurso (AAD-69). In: GADET & HAK
(org). Por uma anlise automtica do discurso. Campinas: Ed. Unicamp, 1990, p.61162.
PCHEUX & FUCHS (1975). A propsito da Anlise Automtica do Discurso. In : GADET
& HAK (org). Por uma anlise automtica do discurso. Campinas: Ed. Unicamp,
1990, p.163-252.
__________. Semntica e Discurso: uma crtica afirmao do bvio. Campinas: Ed.
Unicamp, 1988.
Você também pode gostar
- MOSCHETA, M. A Pós-Modernidade e o Contexto para A Emergência Do Discurso Construcionista SocialDocumento25 páginasMOSCHETA, M. A Pós-Modernidade e o Contexto para A Emergência Do Discurso Construcionista SocialAna PaulaAinda não há avaliações
- O Macaco, A Banana e o Preconceito RacialDocumento102 páginasO Macaco, A Banana e o Preconceito RacialAegonbAinda não há avaliações
- ALVARENGA, Clarisse. O Caminho Do RetornoDocumento16 páginasALVARENGA, Clarisse. O Caminho Do RetornoAlisson SantanaAinda não há avaliações
- Antropologia e Literatura, Luís QuintaisDocumento2 páginasAntropologia e Literatura, Luís QuintaisGabrielle CavalcanteAinda não há avaliações
- 41A Revolucao Tecnologica Da GramatizacaoDocumento5 páginas41A Revolucao Tecnologica Da GramatizacaoJildonei LazzarettiAinda não há avaliações
- FLS 6359 - Instituições Políticas e Desigualdade - Teorias e Explicações Marta Arretche PDFDocumento5 páginasFLS 6359 - Instituições Políticas e Desigualdade - Teorias e Explicações Marta Arretche PDFJorge AntonioAinda não há avaliações
- LER O TEATRO CONTEMPORÂNEO de Jean-Pierre RyngaertDocumento6 páginasLER O TEATRO CONTEMPORÂNEO de Jean-Pierre RyngaertvictorfontouraAinda não há avaliações
- Resumo Livro Analise de Discurso de Ene OrlandiDocumento2 páginasResumo Livro Analise de Discurso de Ene OrlandiFlávia Armond100% (1)
- Sausurre EstruturalismoDocumento18 páginasSausurre EstruturalismoDanielle GonçalvesAinda não há avaliações
- História Da Educação Brasileira Novas Abordagens de Velhos Objetos. Teoria &Documento21 páginasHistória Da Educação Brasileira Novas Abordagens de Velhos Objetos. Teoria &Edimar SartoroAinda não há avaliações
- A Materialidade Do Gesto de Interpretação e o Discurso EletrônicoDocumento18 páginasA Materialidade Do Gesto de Interpretação e o Discurso EletrônicoLinneker BelinniAinda não há avaliações
- Esponsabilidade Como Princípio E Limites S DA S Inter Subjectividade S Jurídica S Reflexões em Torno Da Proposta de Astanheira EvesDocumento20 páginasEsponsabilidade Como Princípio E Limites S DA S Inter Subjectividade S Jurídica S Reflexões em Torno Da Proposta de Astanheira EvesFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Signo Repr&Repr MentalDocumento26 páginasSigno Repr&Repr MentalLuis Henrique Gonçalves100% (1)
- Butler e BeauvoirDocumento30 páginasButler e BeauvoirLeticia GyllenhaalAinda não há avaliações
- Descola A Ontologia Dos OutrosDocumento26 páginasDescola A Ontologia Dos OutrosricherAinda não há avaliações
- Teoria Da ResidualidadeDocumento10 páginasTeoria Da ResidualidadeElysmeire da Silva Oliveira PessôaAinda não há avaliações
- Kövecses - Metaphor Language and Culture - 2010Documento19 páginasKövecses - Metaphor Language and Culture - 2010Kassio SmavitchAinda não há avaliações
- Semiotica e Ciencias Sociais - GENEROS - GREIMASDocumento3 páginasSemiotica e Ciencias Sociais - GENEROS - GREIMASCintia Alves da SilvaAinda não há avaliações
- Lindes Teóricas Da Teoria Da ResidualidadeDocumento10 páginasLindes Teóricas Da Teoria Da ResidualidadeTitoBL100% (3)
- Jiri Levy Literarische Übersetzung Theorie Einer KunstgattungDocumento39 páginasJiri Levy Literarische Übersetzung Theorie Einer KunstgattungKatarina Keti VasićAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento20 páginas1 PBEsdras OliveiraAinda não há avaliações
- Corpus Victorinum - Bibliographia GeneralisDocumento17 páginasCorpus Victorinum - Bibliographia GeneralisPedro ZornovAinda não há avaliações
- DOM SP 22.01.2022 PG - 0001Documento1 páginaDOM SP 22.01.2022 PG - 0001Adylles Oliveira100% (1)
- Das Recht Der Freiheit, de Honneth, Axel PDFDocumento9 páginasDas Recht Der Freiheit, de Honneth, Axel PDFMathew UsfAinda não há avaliações
- Marx, o Marxismo e o Sujeito HistóricoDocumento14 páginasMarx, o Marxismo e o Sujeito HistóricoMarcelo MartinsAinda não há avaliações
- A Atividade Infinita Ou Da Impossibilidade Da Filosofia em NovalisDocumento12 páginasA Atividade Infinita Ou Da Impossibilidade Da Filosofia em NovalisLuiz Carlos de Oliveira e SilvaAinda não há avaliações
- Resumo Estudos de Traducao 5Documento14 páginasResumo Estudos de Traducao 5jpll1996Ainda não há avaliações
- Mario Avelar Poesia e Artes Visuais ConfDocumento4 páginasMario Avelar Poesia e Artes Visuais ConfJoaquim FontesAinda não há avaliações
- A Criacao Do Folhetim de Imprensa No Brasil Os Textos deDocumento14 páginasA Criacao Do Folhetim de Imprensa No Brasil Os Textos deRaul BaggiaAinda não há avaliações
- São Paulo, Cidade Global Fundamentos Financeiros de Uma MiragemDocumento4 páginasSão Paulo, Cidade Global Fundamentos Financeiros de Uma MiragemFacundo CuadroAinda não há avaliações
- Iser e Os Efeitos Da Leitura IIDocumento15 páginasIser e Os Efeitos Da Leitura IIFranciele Libardi100% (1)
- Teoria Da Literatura - FichamentoDocumento2 páginasTeoria Da Literatura - FichamentoTirza FrançaAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDocumento2 páginasDaniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Fichamento Cleudemar FernandesDocumento12 páginasFichamento Cleudemar FernandesanacachinhoAinda não há avaliações
- Trabalho e Produção Do Cuidado em Saúde - Túlio e MerhyDocumento307 páginasTrabalho e Produção Do Cuidado em Saúde - Túlio e MerhyMarcello Accetta100% (1)
- Tema3 - A Tradução Como Comunicação Intercultural - NotasDocumento12 páginasTema3 - A Tradução Como Comunicação Intercultural - Notasjpll1996Ainda não há avaliações
- Pierre Levy - A Emergência Do Ciberespaço e As Mutações CulturaisDocumento4 páginasPierre Levy - A Emergência Do Ciberespaço e As Mutações CulturaisRodrigo ReisAinda não há avaliações
- A Metáfora em PaulDocumento10 páginasA Metáfora em PaulWilliam VieiraAinda não há avaliações
- Estados Primitivos Da Mente - MestrinerDocumento24 páginasEstados Primitivos Da Mente - MestrinerLetícia de Oliveira Silva100% (1)
- O ESTRUTURALISMO: Fundamentos, Contribuições e AbordagensDocumento4 páginasO ESTRUTURALISMO: Fundamentos, Contribuições e AbordagensfelipeAinda não há avaliações
- FEHÉR, F. O Romance Está MorrendoDocumento12 páginasFEHÉR, F. O Romance Está MorrendoNicole Dias0% (1)
- Resenha FL AurouxDocumento5 páginasResenha FL Aurouxbonod0100% (1)
- Saussure-Introdução À Leitura deDocumento4 páginasSaussure-Introdução À Leitura dePaulo FinkelAinda não há avaliações
- UntitledDocumento6 páginasUntitledBruno SantosAinda não há avaliações
- A MetáforaDocumento21 páginasA MetáforaTamara HarrisAinda não há avaliações
- ECO, Umberto. O Texto Estético Como Exemplo de InvençãoDocumento12 páginasECO, Umberto. O Texto Estético Como Exemplo de InvençãoDarcio RundvaltAinda não há avaliações
- PALIMPSESTODocumento87 páginasPALIMPSESTOBoi PretoAinda não há avaliações
- AGAMBEN Giorgio - EstanciasDocumento14 páginasAGAMBEN Giorgio - Estanciaspilinpez100% (1)
- Imagens Do Pensamento - FoucaultDocumento111 páginasImagens Do Pensamento - Foucaultcarolinebonilha100% (1)
- MEMÓRIAS DA DITADURA CHILENA EM LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA de NONA FERNÁNDEZDocumento31 páginasMEMÓRIAS DA DITADURA CHILENA EM LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA de NONA FERNÁNDEZThays AlbuquerqueAinda não há avaliações
- ORATURADocumento4 páginasORATURARaquelitarsAinda não há avaliações
- Gosto KantDocumento12 páginasGosto Kantadilson shivaAinda não há avaliações
- Cópia Traduzida de 60. TERRITORIO Y PSICOLOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA, TRAYECTORIAS - IMPLICACIONES POLÍTICAS Y EPISTEMOLÓGICASDocumento11 páginasCópia Traduzida de 60. TERRITORIO Y PSICOLOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA, TRAYECTORIAS - IMPLICACIONES POLÍTICAS Y EPISTEMOLÓGICASTaina Costa100% (1)
- Metaficção HistoriográficaDocumento8 páginasMetaficção HistoriográficaAndrew YanAinda não há avaliações
- Critical Theory and Science Fiction (Book) TRADUÇÃODocumento233 páginasCritical Theory and Science Fiction (Book) TRADUÇÃOFernanda FariaAinda não há avaliações
- História Das Mentalidades e História Cultural - Fernando NicolazziDocumento13 páginasHistória Das Mentalidades e História Cultural - Fernando Nicolazziandre luiz demes100% (1)
- Língua, Discurso, Ideologia, Sujeito, SentidoDocumento5 páginasLíngua, Discurso, Ideologia, Sujeito, SentidoRafael Rangel WinchAinda não há avaliações
- ARTIGO CORCUNDA Versão FinalDocumento26 páginasARTIGO CORCUNDA Versão FinalLuciana Cristina Ferreira Dias Di RaimoAinda não há avaliações
- 2913-Texto Do Artigo-10983-1-10-20230214Documento12 páginas2913-Texto Do Artigo-10983-1-10-20230214Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Repensando Os Distúrbios de Aprendizagem A Partir PHCDocumento10 páginasRepensando Os Distúrbios de Aprendizagem A Partir PHCEdimar SartoroAinda não há avaliações
- Concepções de Educação Infantil e Suas PossíveisDocumento11 páginasConcepções de Educação Infantil e Suas PossíveisEdimar SartoroAinda não há avaliações
- A Ideologia Da Sociedade Do Conhecimento e Suas Implicações para A Educação1Documento16 páginasA Ideologia Da Sociedade Do Conhecimento e Suas Implicações para A Educação1Edimar SartoroAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso Francesa Revisitação Epistemológica e Questões CentraisDocumento11 páginasAnálise Do Discurso Francesa Revisitação Epistemológica e Questões CentraisEdimar SartoroAinda não há avaliações
- O Currículo Entre o Relativismo e o UniversalismoDocumento24 páginasO Currículo Entre o Relativismo e o UniversalismoEdimar SartoroAinda não há avaliações
- Dis Bicicle TicoDocumento2 páginasDis Bicicle TicoEdimar SartoroAinda não há avaliações
- Procura Da PoesiaDocumento4 páginasProcura Da PoesiaEdimar SartoroAinda não há avaliações
- Psiscologia Escolar e EducacionalDocumento11 páginasPsiscologia Escolar e EducacionalEdimar SartoroAinda não há avaliações