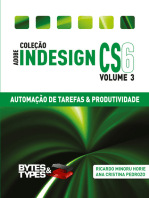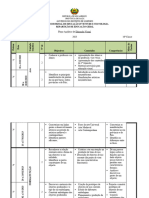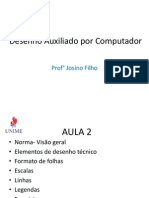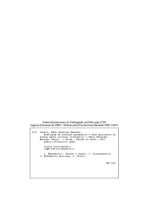Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
003 EVT Programa
003 EVT Programa
Enviado por
Licinio BorgesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
003 EVT Programa
003 EVT Programa
Enviado por
Licinio BorgesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
ENSINO BSICO 2. CICLO
EDUCAO VISUAL E TECNOLGICA
PLANO DE ORGANIZAO DO ENSINO-APRENDIZAGEM VOLUME II
SUMRIO
INTRODUO PLANO DE ORGANIZAO DO ENSINO - APRENDIZAGEM SUGESTES BIBLIOGRFICAS
Programas aprovados pelo Despacho n. 124/ME/91, de 31 de Julho, publicado no Dirio da Repblica, 2. srie, n. 188, de 17 de Agosto.
INTRODUO
O programa da disciplina do Educao Visual e Tecnolgica para o 2. ciclo do ensino bsico foi publicado no volume I - Organizao Curricular e Programas. A se renem as suas componentes fundamentais, nomeadamente finalidades e objectivos, enunciado de contedos, linha metodolgica geral e critrios de avaliao. Trata-se dos princpios bsicos do programa e, pela sua natureza prescritiva, devem pautar obrigatoriamente o trabalho do professor. O presente volume, constitudo pelo Plano de organizao do ensinoaprendizagem e por um conjunto de sugestes bibliogrficas, tem uma natureza e uma funo diferentes. Dado o carcter de relativa abertura do programa, considerou-se til complementlo com um conjunto de propostas de trabalho, que, embora sem funo normativa, esclarecessem o professor sobre a articulao das vrias componentes curriculares e lhe facilitassem as tarefas de planificao, quer a longo, quer a mdio, quer mesmo a curto prazos. Tal no significa, obviamente, que se coarcte a liberdade do professor, a quem fica aberto, no que se refere seleco das aprendizagens, um largo campo de deciso, em interaco com os alunos e de acordo com as situaes pedaggicas concretas. O professor entender o Plano de organizao do ensino-aprendizagem como um conjunto de sugestes de trabalho e utiliz-lo- com a necessria flexibilidade, respeitando embora as suas linhas gerais, na medida em que nestas se concretizam muitas das intenes bsicas do programa. Na especificidade destas novas disciplinas h a salientar: 1. O seu carcter integrador, dado que foi concebida corno ponte entre as exploraes plsticas e tcnicas difusas atravs das experincias globalizantes do 1. ciclo, e uma Educao Visual com preocupaes marcadamente estticas, ou uma Educao Tecnolgica com preocupaes marcadamente cientficas e tcnicas no 3. ciclo. , portanto, a explorao integrada de problemas estticos, cientficos e tcnicos com vista ao desenvolvimento de competncias para a fruio, a criao e a interveno nos aspectos visuais e tecnolgicos do envolvimento. 2. O seu carcter eminentemente prtico, no devendo entender-se esta prtica limitada ao desenvolvimento de manualidades, mas centrada na integrao do trabalho manual e do trabalho intelectual, em que o exerccio pensamento/ aco aplicado aos problemas visuais e tcnicos do envolvimento conduza construo de uma atitude simultaneamente tecnolgica e esttica.
PLANO DE ORGANIZAO DO ENSINO - APRENDIZAGEM
GESTO DO PROGRAMA
A natureza eminentemente prtica da disciplina aconselharia a organizao dos cinco tempos semanais em duas sesses, uma de dois tempos e outra de trs tempos. No entanto, considerando o nvel etrio dos alunos do 2. ciclo, tomou-se aceitvel uma organizao em duas sesses de dois tempos e uma sesso de um tempo. Como ficou dito na Orientao Metodolgica (volume I), seria pedadogicamente incorrecto, alm de irrelevante, fazer uma separao entre reas de explorao e contedos para o 5. e 6. anos. Esta orientao, nica coerente com a natureza da disciplina, reforada pela natureza do currculo e pelo prprio sistema de avaliao estabelecido, por cicio. Em termos de gesto do programa, portanto, qualquer das reas de explorao ou dos contedos referidos pode ser abordado ao longo do 2. ciclo, tendo em conta as recomendaes feitas e os nveis a que o diferente desenvolvimento dos, alunos permitir tais abordagens. Quanto listagem feita no mapa de contedos, trata-se, como se disse, de uma previso dos aspectos mais provavelmente evidenciados no desenvolvimento das unidades de trabalho, no estando de modo algum em causa o tratamento de todos eles. Os resultados pretendidos que so propostos, definem apenas o que se tem em vista para cada contedo abordado, sem que isso implique a obrigatoriedade dessa abordagem. Mais uma vez se acentua que o importante a diversificao das experincias dos alunos e a integrao das aprendizagens na vida vivida por eles. O controlo dessas experincias e aprendizagens, necessrio para evitar sobreposies inteis ou lacunas prejudiciais entre os 5. e 6. anos, ser feito atravs de fichas estruturadas a partir do mapa de contedos. Sugerem-se dois tipos de ficha: uma geral, por turma, para registo de todas as abordagens feitas ao longo do ano, e outra, por aluno e por unidade de trabalho, para registo dos aspectos focados e das aprendizagens feitas no desenvolvimento dessa unidade. A primeira ser includa no dossier de turma; as segundas, a preencher por cada aluno como apoio auto-avaliao inserida no processo de avaliao contnua, constituiro dossier prprio, organizado semelhana da caderneta de turma. Estas fichas proporcionaro ao professor, no 6. ano, uma viso do percurso efectuado pelos alunos no ano anterior, permitindo-lhe definir os desenvolvimentos a fazer com vista obteno de um perfil de sada real to completo quanto possvel. Uma terceira ficha, idntica segunda mas por turma, poder auxiliar o professor na planificao de cada unidade trabalho.
EDUCAO VISUAL E TECNOLGICA PROFESSOR Campos
CONTEDOS BSICOS
ANO
TURMA
19
Ambiente
COMUNICAO
Comunidade
Equipamento
MOVIMENTO
ESTRUTURA
GEOMETRIA
REAS DE ESPLORAO
ALIMENTAO
ANIMAO
CONSTRUES
DESENHO
FOTOGRAFIA
HORTO-FLORICULTURA
IMPRESSO
MODELAO MOLDAGEM
PINTURA
RECUP./MANUT. DE EQUIPAMENTOS TECELAGENS E TAPEARIAS
VESTURIO
TRABALHO
MATERIAL
LUZ / COR
ENERGIA
ESPAO
MEDIDA
FORMA
ALUNO
N.
ANO
TURMA
19
U.T.
INICIADA
/ TERMINADA
CAMPOS
AMBIENTE
COMUNIDADE
EQUIPAMENTO
REAS DE EXPLORAO
CONTEDOS
OBJECTIVOS
EDUCAO VISUAL E TECNOLGICA PLANIFICAO DA UNIDADE DE TRABALHO
ANO
TURMA
19
INICIO PREVISTO TERMO PREVISTO
/ /
/ /
CAMPOS
AMBIENTE
COMUNIDADE
EQUIPAMENTO
REAS DE EXPLORAO
CONTEDOS
OBJECTIVOS
10
ORGANIZAO DO ENSINO-APRENDIZAGEM A natureza da disciplina e dos caminhos pelos quais se fazem as aprendizagens que ela prope, conduziram a uma organizao no sequencial dos CONTEDOS nem das REAS DE EXPLORAO ou dos assuntos tratados nas unidades de trabalho. Joga-se, sobretudo, com conhecimentos que, tal como as capacidades, se vo alargando e aprofundando pela sua prpria aplicao. Por isso se no definiu uma sequncia de ensino-aprendizagem, com o que simultaneamente se reforou a capacidade de participao da Educao Visual e Tecnolgica com as outras disciplinas, em trabalhos e situaes interdisciplinares, sem constrangimentos de temas ou de contedos. A disciplina de Educao Visual e Tecnolgica dever ser desenvolvida na maior colaborao possvel com as outras disciplinas, envolvendo-se com elas em projectos comuns. Isto torna muito importante que cada professor conhea os programas das outras disciplinas e que os conselhos de turma se ocupem metodicamente da planificao desses projectos.. A pretendida estruturao do saber num todo coerente s poder ser alcanada atravs dessa articulao. Articulao, alis, tambm proposta pela rea-Escola, mas em termos que visam mais o enriquecimento da experincia dos alunos do que a estruturao sistemtica de saberes, que ter de ser procurada no quadro das disciplinas curriculares. O que ser, SEMPRE, indispensvel a articulao das diversas aprendizagens num saber concebido como um todo, em que o raciocinar sobre os fenmenos observados ou as operaes executadas indissocivel dessa observao e dessa aco. Observao e aco em que se tomar sistematicamente como referencial o repertrio do aluno - conjunto de conhecimentos, atitudes e valores -, cuja estrutura dever integrar as novas aprendizagens, enriquecendo-se com elas, ou ser posta em causa por elas, num processo de construo de novos nveis de equilbrio cognitivo, afectivo ou psicomotor. As unidades de trabalho desenvolvem-se, normalmente, em torno da resoluo de problemas. So conhecidos vrios esquemas com que se procura visualizar os modelos de desenvolvimento do processo resolver problemas. Por exemplo:
11
AVALIAO SITUAO
testagem/avaliao da soluo
REALIZAO
realizao planificao da realizao desenvolvimento da ideia escolhida
PROBLEMA
recolha de dados
PROJECTO
redefinio de ideias para a soluo escolha entre alternativas
gerao de ideias para a soluo
INVESTIGAO
Certa ansiedade pela simplificao dos processos tem levado, com demasiada frequncia, a uma rigidez esquemtica, que seria particularmente perigosa ao nvel do 2. cicio:
SITUAO
PROBLEMA
INVESTIGAO
PROJECTO
REALIZAO
AVALIAO /TESTAGEM
Um esquema deste tipo atrai pela sua clareza, mas uma interpretao artificial. Na prtica, h dificuldade em encontrar nele, aquilo que os alunos fazem quando se envolvem num projecto. Aplicado incorrectamente, no s se torna artificial como, mesmo, inibidor para os alunos, ao exigir comportamentos previstos em momentos determinados. A preocupao do professor dever centrar-se, no no percorrer obrigatrio das fases de um processo, mas na criao condies que permitam que o aluno construa e consciencialize progressivamente o seu mtodo de trabalho pessoal. Isto no obsta a que o professor, numa perspectiva metodolgica, fornea aos alunos as etapas a que a resoluo de problemas obedece.
SITUAO Deteco de problemas atravs da anlise de uma situao identificada na prospeco do envolvimento (bairro, escola, sala de aula, as pessoas, o trabalho, etc.).
12
ENUNCIADO Os alunos devero enunciar claramente os problemas que detectaram e que pensam poder resolver ou estudar em ordem proposta de solues. Exemplo: organizar a sala de convvio da escola, criar jogos para a creche vizinha, valorizar a estao de caminho-de-ferro local, etc.
INVESTIGAO Orientada para a autonomia dos alunos e a criao de hbitos de pesquisa. Pretende-se a mxima liberdade, tanto relativamente aos interesses dos alunos como s formas de registo, de explorao das respostas e de apresentao das ideias, no sentido de permitir o mximo desenvolvimento da criatividade. Ao professor caber essencialmente estimular a procura do maior nmero possvel de respostas, animar a recolha de dados, promover a reflexo sobre as tcnicas e os meios adequados, sua inventariao e explorao, apoiar, quando necessrio, o regresso ao comeo para tentar novo percurso mais ajustado, prever e organizar contactos dentro e fora da escola. tambm a fase de arrumao de ideias para escolher a resposta mais adequada, ou combinar partes de diferentes respostas numa sntese ou, ainda, seleccionar vrias respostas possveis, tendo em vista a funo, os materiais, a execuo, o aspecto esttico, o tempo de execuo, o custo, etc.
PROJECTO(S) Desenvolvimento da ou das solues escolhidas. Em termos de comunicao, a apresentao poder ser particularmente importante nos casos em que no for vivel passar imediatamente fase seguinte, como sucede, por exemplo, com trabalhos que transitam de um ano para o outro.
REALIZAO a fase de execuo, de construo daquilo que se projectou. No se trata de um trabalho meramente manual pois, por exemplo, a mudana de escala ou o trabalho colectivo criam novas oportunidades de interveno, e a utilizao de novos materiais condiciona as formas de expresso ou exige novas reflexes e aprendizagens.
AVALIAO/TESTAGEM A avaliao entendida como processo a desenvolver continuadamente ao longo de toda a unidade de trabalho, proporciona a introduo de rectificaes, aprofundamentos, ou mesmo o abandono de uma via que se reconhea inadequada, sem que isto signifique aceitao do diletantismo, desistncia perante as dificuldades ou irresponsabilidade quanto aos prazos.
13
O mais importante , em cada momento, a escolha das hipteses a desenvolver. No final da unidade, professores e alunos devero criticar todo o trabalho feito, para testar em que medida e com que qualidade o produto final responde ao(s) problema(s) enunciado(s). Os trs grandes campos referidos no volume I (Ambiente, Comunidade, Equipamento), tal como as reas de explorao e os contedos, servem, no s, como enquadramento para uma planificao que pretende ser o mais aberta possvel, mas tambm para promover a diversificao da experincia do mundo vivido pelos alunos. Especificam-se agora esses campos, no para que sejam tomados como contedos obrigatrios, mas como apoio ao professor: AMBIENTE Natureza - Rios, mar, animais, plantas, matrias-primas, estaes do ano, etc. Poluio e defesa do ambiente - Problemas criados pela interveno do homem (indstrias, estradas, turismo, recreio, etc.). Parques e jardins - Conservao e organizao. Arquitectura - Habitaes, escola, oficinas, edifcios agrcolas, museus, pontes, etc. Urbanismo - Problemas locais referidos a necessidades colectivas (actividades ldicas em centros urbanos, sinalizao, etc.). Patrimnio artstico - Edifcios e monumentos locais: artes populares. Recursos energticos - Alternativas de aproveitamento de energias naturais (solar, elica, hidrulica, da biomassa, geotrmica, dos combustveis naturais).
COMUNIDADE Trabalho - Actividades artesanais e industriais, tecnologias tradicionais e novas, comrcio, servios (domsticos e outros). Sade - Higiene e segurana (individual e colectiva), hospitais, etc. Alimentao - O que se come, de onde vem, como se faz, o que se deve comer, novos mtodos de produo de alimentos em pequenas unidades agrcolas. Circulao - Transportes colectivos e individuais, do passado e para as necessidades que sentimos; segurana, economia; benefcios e problemas criados pelos automveis. Circulao e sinalizao para deficientes e 3. Idade. Cultura e recreio - Feiras, teatro, bandas de msica, festividades locais e comemoraes relevantes (Natal, 25 de Abril, etc.). Publicidade - Defesa do consumidor, publicidade para a educao cvica e a sade.
EQUIPAMENTO Pessoal - Vesturio, utenslios, mveis, equipamento domstico, proteco, moda, brinquedos, etc. Escolar - Para o estudo (criao de material didctico: instrumentos musicais, montagem de experincias cientficas, modelos matemticos, etc.), a
14
manuteno e o recreio; de apoio s escolas primrias e infantis da zona (alfabetizao, jogos, brinquedos, etc.). Urbano - Parques e recintos desportivos, de recreio e de cultura, miradouros, abrigos, quiosques, coretos, fontes. As estratgias a utilizar compreendero visitas de estudo, recolha de dados, consulta de documentos, experimentao e explorao, debates, utilizao de diapositivos, vdeos, experincia tcnica, etc. Como complemento desta Organizao do Ensino-Aprendizagem, seguem-se dois conjuntos de fichas: um, para tratamento dos contedos (mbito de abordagem, desmontagem e indicao dos resultados pretendidos); outro, para apoio metodolgico abordagem das reas de explorao.
15
COMUNICAO INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS O que deve caracterizar um regime essencialmente, a abertura aos outros. de comunicao democrtico ,
A expresso mais elevada da capacidade de comunicao reside, talvez, em ser capaz de construir consensos (o meu senso com o teu senso). O que est em causa nesta ficha no tanto a utilizao das redes e meios audiovisuais como o prprio fenmeno da comunicao em si. CONTEDOS Problemtica do sentido RESULTADOS PRETENDIDOS Construir o hbito de escuta do outro, para tomar em conta as suas razes quando justificadas. Utilizar expressivamente os diversos elementos visuais (cor, representao do movimento, relaes de grandeza das figuras, desenho das letras, etc.).
Codificaes
Utilizar diversos cdigos visuais (esboo e vistas do objecto projectado, mapas, esquemas, cores simblicas, etc.). Reconhecer a importncia da qualidade de expresso plstica (e at do rigor de execuo) para que a comunicao se estabelea. Tomar conscincia de que a imagem um produto fabricado em ordem a determinadas intenes e no um equivalente do real. Tomar conscincia dos mecanismos de manipulao da opinio pblica atravs dos meios de comunicao de massa. Verificar que o esteretipo, na mesma medida em que facilita a comunicao, empobrece-a porque empobrece a percepo, a expresso e a criao.
Imagem na comunicao
16
ENERGIA INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS Pretende-se que o aluno esteja atento a diversos fenmenos relacionados com a energia que ocorrem sua volta, tomando conscincia da sua importncia e dos seus efeitos. No se prope um estudo terico sobre a energia, mas sim um recolocar constante dos seus problemas nos trabalhos desenvolvidos.
CONTEDOS Fontes de energia recursos energticos
RESULTADOS PRETENDIDOS Comportar-se conscientemente relativamente necessidade da economia dos recursos energticos. Utilizar algumas fontes de energia renovveis. Conhecer as principais fontes de energia e o seu contributo para o desenvolvimento das actividades humanas. Ter em conta fenmenos de transformao energtica: mecnica - do movimento (cintica) e da posio (potencial) -, luminosa, electroqumica, electromagntica, etc.). Identificar desperdcios de energia no envolvimento.
Formas de energia
Transformao de energia
Compreender que a energia existe em tudo o que nos rodeia e em ns mesmos (sol, vento, desnveis de gua, combustveis, etc.). Compreender diversos fenmenos relacionados com a energia.
17
ESPAO INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS A partir da observao directa do envolvimento, o aluno procurar exprimir, verbal e graficamente, as relaes que vai estabelecendo entre os elementos num dado espao. Particularmente neste contedo, dever ter-se em ateno o estdio de desenvolvimento do aluno, no forando formas de representao para as quais ele no est ainda preparado. CONTEDOS Relatividade da posio dos objectos no espao: Objecto isolado: - vertical; - horizontal; - oblquo. Objectos referidos observador - acima/abaixo; - perto/longe. Objectos referidos outros objectos: - maior/menor; - dentro/fora. Organizao do espao Organizar, quanto a funcionalidade e equilbrio visual, espaos bi e tridimensionais: pgina de monografia, arrumao da sala, etc. Ter conscincia da interaco dos diversos factores que afectam a leitura do espao (espao aberto, espao fechado, etc.). Ter exigncias de funcionalidade e de equilbrio visual, quer na criao quer na apreciao de espaos bi e tridimensionais. Representao do espao Exprimir as relaes entre os elementos integrados num dado espao, tanto grfica como verbalmente. Utilizar conscientemente, na representao do espao, a dimenso, a transparncia/opacidade, a luz/cor. a ao Exprimir graficamente a relatividade das posies dos objectos e do seu prprio corpo. Conhecer a origem dos materiais com que trabalha. RESULTADOS PRETENDIDOS Utilizar correctamente, tanto na linguagem verbal como na linguagem grfica, os conceitos: vertical, horizontal, oblquo.
18
ESTRUTURA INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS Pretende-se que os alunos entendam como as estruturas esto organizadas e verifiquem as relaes das partes com o todo, quer atravs da observao e do registo da estrutura de elementos naturais ou criados pelo homem, quer atravs da explorao dos materiais. O trabalho conjunto com as restantes disciplinas ajudar a ampliar o conceito de estrutura. CONTEDOS Estrutura das formas RESULTADOS PRETENDIDOS Compreender que a estrutura pode ser encarada como suporte ou como organizao dos elementos de uma forma natural ou criada pelo homem. Registar graficamente as formas que observa, partindo do entendimento das suas estruturas. Entender o mdulo como elemento gerador de uma estrutura (padro). Compreender que a estrutura de um material, de um objecto ou de um ser vivo, est intimamente ligada sua forma e ao seu modo de existir. Compreender princpios fsicos do funcionamento das estruturas. Relacionar a estrutura dos materiais com o seu comportamento (resistncia, flexibilidade, condutibilidade, absoro, etc.). Constituir formas tridimensionais, tendo em conta a sua estrutura.
Estrutura dos materiais
19
FORMA INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS
Pretende-se que o aluno desenvolva um trabalho de pesquisa, quer atravs da observao e do registo das formas no envolvimento, quer atravs da criao de formas, de maneira a apreciar o seu valor esttico e as suas relaes com o envolvimento, com os materiais e com as funes que vo desempenhar.
CONTEDOS Elementos da forma
RESULTADOS PRETENDIDOS Identificar os elementos que definem ou caracterizam uma forma: luz/cor, linha, superfcie, volume, textura, estrutura. Relacionar as partes com o todo e entre si (propores). Considerar a influncia da luz na percepo da forma e dos seus elementos (ex.: diferena de percepo da mesma textura, ou do mesmo volume, com luz rasante e em contra-luz). Compreender que a forma aparente dos objectos pode variar com o ponto de vista. Compreender a relao entre a forma e as suas funes. Compreender a relao entre a forma das coisas e os materiais e tcnicas utilizados na sua produo. Compreender que a forma, o peso, o material, das coisas que cria ou escolhe para o servir, deve adequar-se medida e forma do corpo e maneira de as utilizar. Apreciara qualidade das formas que o rodeiam, isoladamente ou nas relaes entre elas, tendo em conta os factores que as condicionam. Ser capaz de intervir para a melhoria da qualidade do envolvimento, criando formas, modificando-as ou estabelecendo entre elas novas relaes.
Relao entre as formas e os factores que as condicionam.
Valor esttico da forma
20
GEOMETRIA INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS
A geometria, entendida como organizao da forma, est sempre presente no envolvimento. O aluno encontrar os mesmos princpios de economia nas formas naturais e nos fabricos normalizados. O professor dever estar atento oportunidade de aprendizagem dos traados geomtricos para a resoluo de problemas concretos, habituando os alunos a servirem-se, ento e s ento, dos instrumentos adequados. Importante ser, tambm, a verficao da constncia de certas operaes (ex.: determinao de um ponto equidistante de outros dois) na resoluo de diferentes problemas geomtricos.
CONTEDOS Formas e estruturas geomtricas no envolvimento Formas e relaes geomtricas puras
RESULTADOS PRETENDIDOS Entender geometria como organizao da forma.
Entender a geometria como princpio de economia que se traduz, por exemplo, na normalizao de fabricos.
Operaes constantes na resoluo de diferentes problemas:
traado
Identificar formas geomtricas natural ou criado pelo homem.
no
envolvimento
de paralelas e perpendiculares; construo de rectngulos; diviso do segmento de recta em partes iguais; diviso da circunferncia em 2, 3, 4 e 6 partes iguais.
Utilizar traados geomtricos simples na resoluo de problemas prticos. Compreender a utilizao de instrumentos na execuo de desenhos tcnicos. Utilizar o material de desenho geomtrico com preocupao de rigor.
21
LUZ / COR INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS
No se prope no 2. ciclo um estudo terico da cor, mas sim a sua observao no envolvimento, com vista sensibilizao da sua importncia na apreciao e valorizao da qualidade visual do ambiente. No se pretende, por exemplo, uma sistematizao de tons ou cores (crculo cromtico, cubo de Itten, etc.), mas uma sensibilizao sua variedade: o aluno constatar que expresses como pintado de verde no dizem nada, porque h centenas de verdes diferentes.
CONTEDOS Natureza da cor
RESULTADOS PRETENDIDOS Reconhecer a influncia da luz, da textura ou da dimenso, na percepo da cor. Utilizar conscientemente a mistura de certas cores para obteno de outras cores e tonalidades. Discriminar diversos tons de uma mesma cor. Exprimir-se livremente atravs da cor. Organizar os conhecimentos adquiridos sobre a cor. Fazer registos cromticos. Tomar conscincia da influncia da cor na percepo da forma e do espao. Considerar a influncia de uma cor na percepo das cores contguas (ex.: relao figura/fundo). Conhecer a influncia da cor no comportamento das pessoas. Compreender o poder expressivo da cor (a cor individualizando uma casa, caracterizando um cartaz, etc.). Conhecer valores simblicos da cor (sinais de trnsito, normas industriais, etc.). Considerar a cor na construo do sentido das mensagens. e experincias
A cor no envolvimento
Simbologia da cor
22
MATERIAL INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS As unidades de trabalho envolvem realizaes em que o aluno ter forosamente de escolher, entre a enorme variedade de materiais existentes (argilas, madeiras, papis, plsticos, fios txteis, metais, etc.), os mais apropriados para a resoluo do problema. O conhecimento das suas caractersticas fundamental, no s nesse sentido como tambm para poder trabalhar com eles e compreender o desenvolvimento das tcnicas. O aluno ter de reconhecer as suas propriedades, quer atravs da sua manipulao e experimentao, quer atravs da observao e avaliao dos seus comportamentos fsicos e mecnicos. CONTEDOS Origem e propriedades RESULTADOS PRETENDIDOS Conhecer propriedades dos materiais. Caracterizar os materiais a partir da percepo das suas propriedades fsicas (cor, brilho, cheiro, textura, etc.). Utilizar processos de medio relacionados com a natureza dos materiais e objectos a medir. Utilizar formas expeditas de meditao (passo, p, palmo, bitola). Efectuar ensaios para determinar propriedades mecnicas como a dureza, maleabilidade, etc. Conhecer modificaes das propriedades materiais sob o efeito de alguns agentes. dos
Transformao de matrias-primas Impacte ambiental
Relacionar as propriedades dos materiais com as suas utilizaes. Conhecer formas de transformao de matriasprimas em materiais. Considerar, na sua utilizao, o custo dos materiais. Considerar as caractersticas e propriedades dos materiais para o seu armazenamento. Conhecer as formas de apresentao dos materiais no mercado (normalizao). Reconhecer a importncia do impacto ambiental provocado pela extraco de matrias-primas. Aproveitar e reciclar materiais.
23
MEDIDA
INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS
Pretende-se que o aluno se v familiarizando com vrios mtodos e instrumentos de mediao, com vista tomada de conscincia da sua importncia, quer na recolha das informaes mais variadas, quer no controlo de qualidade e aperfeioamento dos objectos produzidos no decorrer das unidades de trabalho.
CONTEDOS Mtodos de medio
RESULTADOS PRETENDIDOS Utilizar instrumentos de medio (metro, transferidor, balana, dinammetro, relgio, pirmetro). Utilizar formas expeditas de meditao (passo, p, palmo, bitola).
Unidades de medida
Utilizar instrumentos de medio (metro, transferidor, balana, dinammetro, relgio, pirmetro),
Instrumentos de medio
Escolher os instrumentos de medio em funo das grandezas que pretende determinar. Reconhecer a convenincia das medies rigorosas, quer na recolha de informaes, quer na execuo dos trabalhos. Compreender as relaes entre qualidade e medida.
24
MOVIMENTO
INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS No decorrer das unidades de trabalho o aluno alargar a compreenso e a capacidade de representao do movimento nas suas diversas naturezas, formas e utilizaes: pela anlise das variaes da relao entre o objecto observado e os referenciais; pela leitura ou execuo de representaes de movimentos (signos cinticos, representaes icnicas); pela observao e realizao de diversos mecanismos. CONTEDOS Tipos de movimento: RESULTADOS PRETENDIDOS Compreender o movimento como mudana de posio no espao.
Quanto variao espao (trajectria): - rectilneos; - curvilneos.
no Compreender que conceitos como subir/descer, avanar/recuar, depressa/devagar, mvel/imvel, implicam sempre a relao com qualquer coisa (referencial). Compreender que o movimento, tal como imobilidade, resultam de um jogo de foras. a
Quanto variao tempo (ritmo): - peridicos; - uniformes; - acelerados. Produo de movimento: - fontes de energia; - mecanismos.
no
Compreender que os diversos tipos de movimento se podem transformar uns nos outros (o movimento peridico do pndulo de um relgio transforma-se no movimento contnuo dos ponteiros; o movimento rectilneo da corda transforma-se no movimento curvilneo, pendular, do sino). Escolher e utilizar foras naturais de forma adequada aos movimentos que pretende produzir (gravidade, vento, gua em movimento, etc.). Revelar criatividade na resoluo dos problemas de transmisso/ conservao do movimento (inventar mecanismos). Utilizar conscientemente a representao do movimento como elemento valorizador da expresso, quer na recepo quer na produo de mensagens visuais. Exemplo: modificao dos objectos por aco do movimento (cabelos, roupas, plantas); signos cinticos.
Representao do movimento: - movimento implcito; - movimento explcito.
25
TRABALHO
INDICAES METODOLGICAS ESPECFICAS
Pretende-se que o aluno se v familiarizando com o mundo do trabalho, quer atravs do contacto com as vrias actividades econmicas regionais - artesanais e industriais -, quer atravs das experincias vividas na prpria aula.
CONTEDOS Relao tcnicas/materiais
RESULTADOS PRETENDIDOS Considerar a relao entre as caractersticas dos materiais e as tcnicas para sua transformao. Relacionar as necessidades do homem com a descoberta das tcnicas. Considerar as alternativas para a economia de esforos e recursos. Distinguir actividade artesanal e actividade industrial. Colaborar na planificao das diversas fases de estruturao de um trabalho. Preparar as condies necessrias ao trabalho a realizar (ferramentas e utenslios adequados, materiais, local de trabalho). Executar operaes concertadas tendo em vista a obteno do produto final. Reduzir o perigo de acidentes (correcta utilizao de mquinas e ferramentas, manuteno do local de trabalho limpo e arrumado, etc.). Posicionar correctamente o corpo na execuo das operaes tcnicas.
Produo e organizao
Higiene e segurana.
26
ALMENTAO Alimento tudo o que, aps o processo digestivo, sustenta um ser vivo. Como tema importante para a sociedade exige o seu tratamento nos aspectos histrico (tradies, receitas, equipamentos, moda), geogrfico (recursos e seu valor alimentar, peso econmico dos alimentos importados e possibilidades de substituio) e tcnico (relao valor alimentar/custo, tratamento dos solos, diferenas entre os alimentos crus, cozidos, grelhados, estufados). Unidades de trabalho que impliquem actividades relacionadas com a alimentao podero ser oportunidades especiais para preparar alimentos e conhecer e por em prtica tradies da culinria e da doaria regionais. A colaborao com a cantina da escola para o estudo de ementas dieteticamente equilibradas, a produo de alimentos em pequenos hortos, estufas ou tanques experimentais e eventual comercializao so fontes preciosas de experincia nos campos cientfico e da administrao. Em conjunto com outras disciplinas, conhecimentos de higiene, sade e economia. sero mobilizados ou adquiridos
O levantamento dos recursos locais, a escolha e conservao dos alimentos (ex.: preparao para congelao, salga, etc.) e a defesa do consumidor (prazos de validade, custo/peso, embalagem), podero ser outros tantos assuntos a explorar. Visitas a fbricas de po (artesanais ou industriais), lagares, mercados, fbricas de produtos alimentares e locais de produo agro-pecuria e pisccola, constituiro importantes fontes de informao.
ANIMAO Entende-se, aqui, por animao todas as formas de dar movimento s representaes de pessoas, animais ou objectos. Inclui a animao de desenhos, as sombras projectadas, os fantoches, as marionetas, etc. H unidades de trabalho em que o contedo Movimento assume relevo especial. Para alm da construo de motores simples, dispositivos para aproveitamento das foras do vento, da gua em movimento e da gravidade (ver Movimento e Mecanismos), muitas vezes til recorrer a formas de animao. H maneiras muito simples de animar sequncias de imagens fixas, por exemplo, usando um bloco de papel, tipo cavalinho, onde se desenham, na parte inferior de cada folha, as sucessivas posies de um corpo em movimento. Passando rapidamente as folhas, tem-se a iluso pretendida do movimento. Pode tambm usar-se mecanismos simples, feitos pelos alunos, para imprimir movimento a sequncias de imagens que sero vistas, sucessivamente, a uma velocidade adequada.
27
O Teatro de Fantoches e de Marionetas uma actividade rica em aprendizagens e que pode envolver vrios aspectos como a elaborao dos bonecos, a confeco do vesturio, mecanismos para lhes dar movimento, o texto, a msica, os cenrios.
CONSTRUES Entende-se aqui por construir dar estrutura, formar e dispor com certas regras. Assim, esta rea de explorao abrange um conjunto variado de tcnicas elementares especficas dos diversos materiais, tcnicas em que os alunos se vo confrontar com factores que influenciam a construo de objectos. No desenvolvimento das unidades de trabalho so inmeras as oportunidades que o aluno tem de construir: maquetas para o estudo de espaos; adereos, acessrios e equipamentos para a interveno na comunidade escolar; brinquedos, embalagens, instrumentos para colaborao com instituies da comunidade; etc. Na resoluo de problemas deste tipo, o aluno vai envolver-se em trabalhos com papis, cartes, madeiras, fios, plsticos, que exigem a aplicao de processos de medio e unio, e de tcnicas de corte, desbaste, dobragem e acabamento. Estes trabalhos exigiro a recolha de informaes, planeamento, organizao do trabalho e cuidados de higiene e segurana.
DESENHO Considera-se, aqui, desenhar sinnimo de traar, representar atravs de traos. So raras as actividades numa unidade de trabalho que no envolvem a utilizao do desenho como meio de registar representar, organizar, expressar, decorar, etc. Podemos considerar ainda duas vertentes: o desenho livre, feito com qualquer meio riscador sobre variadas superfcies ou suportes, e o desenho tcnico que exige rigor, quer na utilizao dos instrumentos e suportes, quer nos traados, dimenses e legendas. No desenho livre desejvel que os alunos experimentem diferentes tipos de riscadores - grafite, lpis de cor, carvo, giz, cera, feltros, esferogrficas, canetas de aparo - sobre suportes que variam na sua textura, formato, gramagem e cor, de forma a verificar, por exemplo, a maior ou menor aderncia dos materiais riscadores ao suporte escolhido e as razes dessa diferena, ou os efeitos produzidos para que saibam o que ho-de utilizar. E importante valorizar o trao espontneo e que os alunos se apercebam de que o prprio exerccio lhes ir permitir dominar progressivamente mo. A tendncia de muitos alunos a utilizar instrumentos de desenho geomtrico para melhorar o desenho expressivo dever ser desencorajada, no de forma repressiva mas, tentando fazer compreender a diferena entre duas maneiras de representao distintas: a expressiva livre e o desenho tcnico rigoroso.
28
O conhecimento de normalizaes e algumas convenes de representao (escalas, plantas, alados) surgiro tambm, com as tolerncias devidas ao desenvolvimento dos alunos, como facilitadores na resoluo de problemas concretos.
FOTOGRAFIA Em sentido lato, tanto fotografia um retrato no bilhete de identidade, como a cpia heliogrfica dos desenhos de um projecto, ou a mancha que o quadro dependurado na parede deixa nesta ao fim de uns anos. Se foto = luz e grafia = representao, ento fotografia = representao por aco da luz. frequente recorrer-se fotografia no decurso de uma unidade de trabalho, como apoio recolha de informaes ou ao registo das diversas fases de um projecto. Ela constitui, porm, uma rea de explorao riqussima. O objectivo que os alunos, atravs da experincia, se apercebam de princpios bsicos da fotografia. Experincias heliogrficas podem evidenciar os efeitos da aco, mais ou menos prolongada, da luz sobre papel sensvel, e o aparecimento da imagem na revelao. Idntico resultado se obter com fotogramas, dispondo de cmara escura. A explorao de aspectos de organizao formal pode fazer-se tanto em heliogramas como em fotogramas, utilizando materiais de opacidade varivel. A utilizao de cmaras muito simples, inclusivamente fabricadas pelos alunos, permite compreender o essencial do funcionamento das mquinas fotogrficas (focagem, aco conjugada obturador/diafragma).
HORTOFLORICULTURA A hortofloricultura ocupa-se do cultivo de hortas (terrenos onde se criam legumes) ou de jardins (lugares onde se criam plantas de adorno, aromticas e medicinais). Sensibilizar os alunos s questes ambientais exige uma interveno directa no espao que os rodeia. O importante envolv-los, no desenvolvimento de unidades de trabalho, em actividades que os levem a conhecer e dominar processos de preparao de terras; de transplantao e envasamento; estudo, inveno e realizao de sistemas de rega, de construo de estufas o de viveiros; uso de fertilizantes; registo peridico de observaes; aproveitamento energtico dos resduos vegetais; etc. O desenvolvimento do trabalho em interdisciplinaridade com as Cincias da Natureza permitir enriquecer a interpretao cientfica dos fenmenos observados.
29
IMPRESSO A impresso resolve problemas de repetio de um mesmo motivo com o mnimo de trabalho. excepo da monotipia, quando se fala de impresso pensa-se numa matriz (bloco de madeira, cortia, chapa de linleo, esferovite, cartolina, etc.) onde se gravam os elementos que se pretende reproduzir. O material da matriz dever permitir que a tinta a ele adira sem que seja absorvida, e ter a resistncia adequada ao nmero de provas pretendidas. A tinta dever ser adequada ao tipo e funo do suporte que a ir receber e ter a consistncia apropriada para aderir matriz e ao suporte. A superfcie do suporte dever ser ligeiramente porosa para que a tinta a ele adira bem. No desenrolar das unidades de trabalho preciso, por vezes, decorar um determinado espao - uma folha de papel para embrulhar um objecto, um tecido para o fato de um fantoche, etc.-, utilizando um ou mais elementos repetidos. Um carimbo, feito, por exemplo, de batata ou cortia, resolve facilmente o problema. Outras vezes queremos reproduzir imagens para integrar numa monografia ou num cartaz, por exemplo, recorrendo-se, ento, linogravura, tcnica que, por exigir cuidados de segurana especiais, no se aconselha para os alunos mais novos. A reproduo de textos e ou imagens para divulgar os resultados de um trabalho de grupo, informaes recolhidas, etc., poder ser feita de uma maneira simples, recorrendo ao tabuleiro hectogrfico, que poder facilmente ser preparado pelos alunos. Ser aconselhvel, como complemento de conhecimentos - sobretudo tecnolgicos, a visita a locais com processos de impresso mais sofisticados (litografia, off-set, etc.).
MECANISMOS Esta rea de explorao trata de sistemas destinados a produzir movimento para obter determinados resultados. As actividades dos alunos envolvem frequentemente o recurso a mquinas simples (tesoura, berbequim manual, etc.). A observao e reflexo sobre estas, e outras mquinas identificveis no envolvimento, em equipamento corrente ou em obras de arte cintica (engrenagens da bicicleta, guinchos e roldanas, mquinas de costura, moinhos de papel, etc.) levaro aquisio de conceitos novos ou ao alargamento dos j adquiridos, relativos ao movimento, energia, peso, atrito, espao, etc.
30
Neste mbito importa proporcionar aos alunos oportunidades para desenvolver as mais diversas formas de imaginao. a partir do funcionamento das engenhocas que produzem, aparelhos onde h mais intuio que conhecimento causal, que os alunos abordaro os princpios de fsica subjacentes, fortemente ligados prtica e no atravs de aulas expositivas.
tambm no decorrer das unidades de trabalho que surgiro problemas tcnicos especficos de medio, corte e unio, e a necessidade de relacionar as caractersticas especficas dos materiais de que as mquinas so feitas com as funes que iro desempenhar.
MODELAO / MOLDAGEM Entenda-se aqui por modelao a criao de formas atravs da manipulao de materiais plsticos, utilizando processos e tcnicas simples. A moldagem trata da reproduo de modelos por meio de moldes, possibilitando, pela repetio de processos fabrico de sries de objectos. No desenvolvimento das unidades de trabalho podero surgir actividades tais como: realizao de bonecos ou cabeas de fantoches (modelao em pleno vulto), placas em baixo relevo, mscaras moldadas (ex.: pasta de papel ou de madeira sobre molde de argila ou balo), objectos utilitrios (tcnicas do rolo e da lastra), bolos (moldados) e biscoitos (modelados), etc. A oportunidade destas actividades, tal como a abordagem das tcnicas de olaria para o levantamento de peas, sua pintura e cozedura, poder levar articulao da unidade de trabalho com o artesanato local e regional: um pouco por todo o pas se trabalha em barro fazem-se bonecos, azulejos, cermicas, usando diversas tcnicas. Tambm em vrias zonas se moldam os pes ou os biscoitos com formas e intenes especiais. Visitas aos locais de trabalho de um ceramista, um oleiro, um doceiro, ou uma fbrica de massas, alm de constiturem preciosas fontes de informao podem promover a valorizao de ofcios existentes e a promoo das suas formas originais de produo.
PINTURA Pintar revestir, total ou parcialmente, uma superfcie, com tinta. Esta pode alterar a cor ou a textura (ou ambas) do material em que aplicada. A pintura pode ser utilizada de um ponto de vista tecnolgico (preparao, proteco) e ou esttico e artstico (comunicao, decorao, etc.).
31
Quer para a eficincia da expresso plstica, quer para a correcta proteco de mquinas e mecanismos ou o acabamento de objectos fabricados, os alunos devero adquirir conhecimentos e experincias na rea da pintura. Numa primeira fase, importante experimentar e descobrir as possibilidades expressivas de vrios materiais (guachos, aguarelas, ceras, esmaltes, vernizes, etc.) e suportes (diferentemente texturados, secos ou hmidos, disponveis no mercado ou fabricados na aula). Atravs da experincia, os alunos verificaro a importncia da escolha dos materiais e instrumentos em funo da natureza do trabalho a executar (trinchas ou pincis grossos para cobrir grandes superfcies, canetas de feltro ou pincis finos para preencher superfcies reduzidas, etc.). A explorao das tcnicas ir sendo feita em funo das necessidades surgidas no desenvolvimento das unidades de trabalho. A variedade de tintas no mercado, para se adequarem a diferentes suportes e funes, e a observao do seu comportamento (variedade de tempos de secagem, forma de aplicao, limpeza de mos e de instrumentos), exigem algum conhecimento da sua composio (pigmentos, aglutinantes, secantes e colas) e, sobretudo, dos respectivos diluentes. Em relao a estes, os alunos tero de conhecer os que so txicos ou inflamveis e, ainda, os cuidados a ter com os utenslios (oxidao, limpeza dos pincis, etc.).
RECUPERAAO E MANUTENAO DE EQUIPAMENTOS Trata-se aqui da restituio dos equipamentos a um estado que permita o seu normal funcionamento e da aplicao de cuidados tendentes a evitar ou retardar a sua degradao. O aluno confrontado, no seu dia a dia, com a necessidade de fazer pequenos arranjos para recuperar equipamentos (a perna de um banco, a vlvula de uma torneira, etc.), o que exige conhecimento do comportamento dos materiais, do funcionamento de certos mecanismos e de termos especficos. Nessas tarefas ele utiliza outros instrumentos e equipamentos que, por sua vez, exigem cuidados especiais de manuteno (afiamento, lubrificao, substituio de peas, inventariao, etc.). No seu conjunto, so tarefas cuja realizao ir pr em jogo saberes diversos mas, principalmente, ir desenvolver a conscincia de que o equipamento um valor a preservar e a noo da responsabilidade e da capacidade individual de o fazer. A manuteno comea pelo controlo e organizao do equipamento e instrumentos da sala de aula, seu uso correcto e, cuidados especficos a ter.
32
TECELAGENS E TAPEARIAS Esta rea explora tcnicas bsicas de entrelaar fios para produzir tecidos adaptveis a inmeras formas e funes - tecelagem. Ocupa-se, tambm, da obteno de peas predominantemente decorativas, que podero ser bordadas ou tecidas, a partir (ou no) de um desenho base (carto) tapearia. Tomando como base o nosso artesanato, surgir, no desenvolvimento das unidades de trabalho, uma grande variedade de tcnicas para a abordagem das quais ser necessrio atender ao grau de desenvolvimento psicomotor dos alunos. O importante que estes se apercebam da linguagem prpria da expresso txtil e no se limitem a reproduzir formas estereotipadas. Em cada regio encontrar-se-o exemplos de trabalhos txteis (colchas, tapetes, aventais, etc.) que importa recolher, estudar e, eventualmente, recuperar. Ser interessante que os alunos investiguem tambm a evoluo dos teares e urdideiras atravs dos tempos, para conhecerem solues bsicas que lhes permitam conceber e executar os seus prprios engenhos para tecer.
VESTURIO Esta rea de explorao trata das variadssimas solues que o homem encontrou para resolver o problema de manter o corpo com a humidade e temperatura convenientes ao conforto nas mais variadas condies climatricas. Em muitas unidades de trabalho pode surgir a necessidade de confeccionar roupas (marionetas, teatro, festas de Carnaval, etc.). Pretende-se, sobretudo, que os alunos deste ciclo tenham a oportunidade de compreender o que fazem e por que o fazem. Os tecidos, conforme a sua natureza, espessura, estrutura, textura e cor, tm funes diversificadas (aquecer, proteger, exprimir um estado de esprito, integrar-se ou destacar-se do ambiente, etc.). O seu comportamento diferente quando sujeitos a determinados agentes ou esforos (humidade, calor, frico, traco, etc.). importante que os alunos aprendam a ler os cdigos de utilizao nas etiquetas que acompanham muitos tecidos e roupas confeccionadas. A forma das diversas partes que constituem uma pea de vesturio no surge por acaso. Os alunos podero, com folhas de jornal colocadas sobre o corpo, marcar as curvas e folgas necessrias para os movimentos. O molde, compreendido como processo de economizar material, surgir como algo vivo e no como um sistema rgido de medidas e propores.
33
Da mesma forma, depois das peas unidas ( mo ou mquina), haver que resolver o problema dos acabamentos. No se trata agora de aprender as tcnicas de cascar, pregar colchetes ou fazer bainhas e chuleios, mas sim de resolver os problemas de se poder vestir ou despir mais facilmente, ou no deixar desfiar o tecido nos cortes.
34
SUGESTES BIBLIOGRFICAS
35
PARA ALUNOS E PROFESSORES ANQUETIL, Jacques, Le Tissage, Encyclopdie Contemporaine des Mtiers d'Art, ed. Dessain et Tolra/Chnne. BEZERRA, Arnaldo Moura, Aplicaes Prticas da Energia Solar, Nobel. DIAS, Antunes, Pequena Horta Familiar. LOT, Fernand, Como Funciona? (300 aparelhos e mquinas), Livraria Bertrand. Coleco Energia, Editorial Verbo (gtia/Petrleo/Gs/Carvo/Nuclear/Energias do Futuro). Coleco Fazer para Aprender, Editorial Caminho (Do man ao motor elctrico/Os segredos do voo/Observemos o Universo/O que contam as estrelas/A luz que tira retratos/O jogo das foras/A cincia feita em casa/Descubramos a electricidade/A gua uma desconhecida/Brinquemos com o fogo). Coleco Le Jeu Qui Cre, H. Dessain et Tolra, Editeurs (1 - le papier, 2 - le bois, 3 - la cramique, 4 - fils et tissus, 5 - couleurs el tissus, 6 - le carton ondul, 7 - le mtal). Coleco Natureza em Perigo - Edinter (Direito dos aniniais/Habitats em extino/Poluio e vida selvagem/Salv a balcia/Matar por luxo/Jardins zoolgicos/Espcies em extino/O mar est a morrer). Ed. Terra Livre - Direco-Geral de Comunicao Social (Artes e tradies de: Barcelos/vora e Portalegre/Viseu/Viana do Castelo/Abrantes/Regio de Aveiro/Bragana/Vila Real/Regio do Porto). Enciclopdia Cambridge da Cincia, Ed. Verbo (Espao exterior e espao interior/Linguagem e comunicao/Viso, luz e cor/Foras e recursos energticos/Mquinas, energia e transportes/Medidas e computadores/A Terra, o mar e o cu/Formas de vida na Terra). Manual do Jardineiro, Livraria Popular Francisco Franco. Novo Manual da UNESCO para o Ensino das Cincias (2 vols.). Editorial Estampa.
PARA PROFESSORES ADAMS, Eileen & Ward, Colin, Art and The Built Etnvironment, Longman for the Schools Council. BARRETT, Maurice, Educao em Arte, Coleco Dimenses, Editorial Presena.
36
CLEMENT, Robert, The Art Theachers Handbook, Ed. Hutchinson. DE BONO, E., Children SoIve Problems, Ed. Penguin. DUMAS, Matirice, As Grandes Etapas do Progresso Tcnico, Coleco Saber N. 171, Publicaes Europa-Amrica. GREEN, Peter, Design Education, Ed. Batsford, London, 1974. ITTEN, Johannes, Art de La Couleur, Dessain et Tolra, Paris. JAMATI, Vivianne Lambert, Cultura Tcnica e Crtica Social na Escola Elementar, Livros Horizonte. KPPERS, Harald, La Couleur, Office du Livre. MUNARI, Bruno, Das Coisas Nascem Coisas - Design e Comunicao Visual, Edies 70. Artista e Designer - Fantasia, Inveno, Criatividade e Imaginao, Coleco Dimenses, Editorial Presena.
TELMO, Isabel Maria Cottinelli, A Criana e a Representao de Espao, Livros Horizonte.
37
Composto e impresso nas Oficinas Grficas da IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, E. P. Julho de 1991 ________________________________________ Depsito Legal n. 49194/91
Você também pode gostar
- Apresentação Regras Na Sala de Aula A EVDocumento2 páginasApresentação Regras Na Sala de Aula A EVAgostinho Neves da Silva91% (11)
- Caderno Cursista Disciplinar PDFDocumento10 páginasCaderno Cursista Disciplinar PDFAnonymous 95DlTUszAinda não há avaliações
- Coleção Adobe InDesign CS6 - Automação de Tarefas & ProdutividadeNo EverandColeção Adobe InDesign CS6 - Automação de Tarefas & ProdutividadeAinda não há avaliações
- 177 Design Grafico PDFDocumento34 páginas177 Design Grafico PDFAnderson AntunesAinda não há avaliações
- Ficha Avaliação Diagnóstica 6º AnoDocumento4 páginasFicha Avaliação Diagnóstica 6º AnoAgostinho Neves da Silva100% (1)
- Desenho Arquitetonico Estilo Livre - HumanizaçãoDocumento71 páginasDesenho Arquitetonico Estilo Livre - HumanizaçãoDaniela FiuzaAinda não há avaliações
- Design Instrucional Na PráticaDocumento192 páginasDesign Instrucional Na Práticaadinformatica2024Ainda não há avaliações
- O Pai Devorador - Murray SteinDocumento8 páginasO Pai Devorador - Murray Steinendrio100% (1)
- 5 - Estratégias de Projetos - O Partido ArquitetônicoDocumento20 páginas5 - Estratégias de Projetos - O Partido ArquitetônicoRosiAraujo2403Ainda não há avaliações
- Aula 3 - Normas e Conceitos Básicos para o Desenho TécnicoDocumento57 páginasAula 3 - Normas e Conceitos Básicos para o Desenho TécnicoPedro de SousaAinda não há avaliações
- ANA MAFALDA LEITE - Literaturas Africanas e Formulações PDFDocumento16 páginasANA MAFALDA LEITE - Literaturas Africanas e Formulações PDFCarlos Fradique Mendes50% (2)
- 1 - Desenho ArquitetonicoDocumento18 páginas1 - Desenho ArquitetonicoCasacasa Casacasa100% (1)
- Correção Do Teste de Ed - Visual - 2º PeríodoDocumento2 páginasCorreção Do Teste de Ed - Visual - 2º PeríodoAgostinho Neves da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 02-02 - Desenho de ObservaçãoDocumento31 páginasAula 02-02 - Desenho de ObservaçãoAndré Gonzaga100% (2)
- 02 - Texto e Atividades - Variações Linguísticas 9º Ano - FolhetoDocumento3 páginas02 - Texto e Atividades - Variações Linguísticas 9º Ano - FolhetoSam100% (1)
- Apostila Fund Projeto Arquitetonico Unidade 01Documento22 páginasApostila Fund Projeto Arquitetonico Unidade 01RosiAraujo2403Ainda não há avaliações
- Desenho Tecnico EtecDocumento43 páginasDesenho Tecnico EtecDouglas Oliveira Joaquim100% (1)
- Existe Ogan RaspadoDocumento2 páginasExiste Ogan Raspadoologuny100% (1)
- Croquis de Concepção No Processo de Projeto em ArquiteturaDocumento13 páginasCroquis de Concepção No Processo de Projeto em ArquiteturaGiovani TeixeiraAinda não há avaliações
- Prova de Educação VisualDocumento7 páginasProva de Educação VisualAgostinho Neves da Silva100% (2)
- Apresentação Pa de EvDocumento1 páginaApresentação Pa de EvAgostinho Neves da Silva50% (2)
- Ficha de EV 6ºanoDocumento2 páginasFicha de EV 6ºanoAgostinho Neves da Silva100% (3)
- 3 - Construção Do Repertório - Parte IIDocumento24 páginas3 - Construção Do Repertório - Parte IIRosiAraujo2403Ainda não há avaliações
- Ficha Teoria Da CorDocumento1 páginaFicha Teoria Da CorAgostinho Neves da Silva100% (2)
- Perguntas Sobre Progressão Na Carreira PDFDocumento11 páginasPerguntas Sobre Progressão Na Carreira PDFAgostinho Neves da Silva100% (1)
- Aula 01 - DTDocumento43 páginasAula 01 - DTGrazieli Suszek de LimaAinda não há avaliações
- FICHA TESTE Educação Visual 1º PeríodoDocumento1 páginaFICHA TESTE Educação Visual 1º PeríodoAgostinho Neves da Silva100% (1)
- Resolução - (032 98482-3236) - Atividade Prática - Criação de LayoutsDocumento3 páginasResolução - (032 98482-3236) - Atividade Prática - Criação de Layoutsassistenciatrabalhos1Ainda não há avaliações
- Ficha de Estudo - Letra - 5ºanoDocumento4 páginasFicha de Estudo - Letra - 5ºanoAgostinho Neves da Silva100% (3)
- Livro 2 DesignerDocumento52 páginasLivro 2 DesignerThalita Mayara Silva MartinsAinda não há avaliações
- Conceitos de Missão-Visão e ValoresDocumento13 páginasConceitos de Missão-Visão e ValoresShirley AfonsoAinda não há avaliações
- Ficha Estudo Sobre EstruturasDocumento2 páginasFicha Estudo Sobre EstruturasAgostinho Neves da Silva100% (3)
- Acessibilidade e ErgonomiaDocumento15 páginasAcessibilidade e Ergonomiadaniel AlvesAinda não há avaliações
- Ficha de Estudo Da CorDocumento2 páginasFicha de Estudo Da CorAgostinho Neves da Silva92% (12)
- Ficha Avaliação de Ed. Visual - 2º PeriodoDocumento4 páginasFicha Avaliação de Ed. Visual - 2º PeriodoAgostinho Neves da Silva100% (1)
- Ficha de EV 6ºano 2ºP - CorreçãoDocumento2 páginasFicha de EV 6ºano 2ºP - CorreçãoAgostinho Neves da Silva100% (6)
- Teoria Da LiteraturaDocumento56 páginasTeoria Da LiteraturaRonie JohnAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho e Estudo.2017Documento2 páginasFicha de Trabalho e Estudo.2017Agostinho Neves da Silva100% (2)
- Aula 6 Exercício 4Documento46 páginasAula 6 Exercício 4Bibi PoliAinda não há avaliações
- Os Novos Movimentos ReligiososDocumento26 páginasOs Novos Movimentos ReligiososVictor Breno Farias BarrozoAinda não há avaliações
- Ciência Maker - Plano Ensino Fundamental - Fábrica de NerdesDocumento10 páginasCiência Maker - Plano Ensino Fundamental - Fábrica de NerdesFábrica de Nerdes100% (1)
- Educalção Visual - Ficha de Avaliação. 2º P.Documento5 páginasEducalção Visual - Ficha de Avaliação. 2º P.Agostinho Neves da Silva100% (10)
- GRELHA CORREÇÃO Da Ficha Diagnóstico de EV - 2017.18Documento3 páginasGRELHA CORREÇÃO Da Ficha Diagnóstico de EV - 2017.18Agostinho Neves da Silva100% (1)
- Ficha de Estudo Sobre o CartazDocumento1 páginaFicha de Estudo Sobre o CartazAgostinho Neves da Silva80% (5)
- Modernismo ExercíciosDocumento1 páginaModernismo ExercíciosSonyellen FerreiraAinda não há avaliações
- Ficha Estudo - PontoDocumento2 páginasFicha Estudo - PontoAgostinho Neves da Silva100% (7)
- Ficha de Estudo EspaçoDocumento2 páginasFicha de Estudo EspaçoAgostinho Neves da Silva100% (8)
- Ficha Autoavaliação - 5º Ano de Educação VisualDocumento3 páginasFicha Autoavaliação - 5º Ano de Educação VisualAgostinho Neves da Silva40% (5)
- Pisetta, Maria Angélica A.M (2017) - Escuta de Professores de Autistas Na Educação Infantil. in ANAIS UP5 - Atualizado 14-11-2019Documento322 páginasPisetta, Maria Angélica A.M (2017) - Escuta de Professores de Autistas Na Educação Infantil. in ANAIS UP5 - Atualizado 14-11-2019Angélica100% (1)
- Teorias Sociais e AntropológicasDocumento3 páginasTeorias Sociais e AntropológicasMarinaAinda não há avaliações
- Desenho Arquitetonico I ALTERADO 1 AnoDocumento3 páginasDesenho Arquitetonico I ALTERADO 1 AnoRérisson Máximo100% (1)
- DesenhoDocumento87 páginasDesenhoMay Duarte100% (1)
- A Importância Do DesenhoDocumento2 páginasA Importância Do DesenhoBruno FernandesAinda não há avaliações
- Desenho Tecnico 3Documento10 páginasDesenho Tecnico 3JorgitoAinda não há avaliações
- O Desenho Tecnico Liliane AraujoDocumento14 páginasO Desenho Tecnico Liliane AraujoAna Rita Valverde PerobaAinda não há avaliações
- P.A. 10a Classe Ed. Visual 2023Documento10 páginasP.A. 10a Classe Ed. Visual 2023Ambrósio leonardo Leonardo100% (1)
- Desenho TécnicoDocumento3 páginasDesenho TécnicoAllan Carvalho100% (1)
- Exercicios Desenho Tecnico PDFDocumento2 páginasExercicios Desenho Tecnico PDFMatthewAinda não há avaliações
- Monografia DesignDocumento38 páginasMonografia DesignRoberto PedrosaAinda não há avaliações
- Livro Cadernos de Desenho CicloviasDocumento110 páginasLivro Cadernos de Desenho CicloviasIvilla Barros Meirelles100% (1)
- Trabalho Desenho TecnicoDocumento8 páginasTrabalho Desenho TecnicoSuimaAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa A Importancia Do DesenhoDocumento9 páginasProjeto de Pesquisa A Importancia Do DesenhoRobertoAntoniodeOliveira0% (1)
- 11 DesenhoDocumento29 páginas11 DesenhoVictor DiasAinda não há avaliações
- Pesuisa em TCCDocumento20 páginasPesuisa em TCCClaudiony AzevêdoAinda não há avaliações
- 5 - As Teorias Pós 2 Guerra MundialDocumento20 páginas5 - As Teorias Pós 2 Guerra MundialRosiAraujo2403Ainda não há avaliações
- Comunicação Visua Trabalho FeitoDocumento11 páginasComunicação Visua Trabalho FeitoMoço da PiedadeAinda não há avaliações
- AULA 2 Elementos Do Desenho Tecnico PDFDocumento70 páginasAULA 2 Elementos Do Desenho Tecnico PDFAlberto O. de JesusAinda não há avaliações
- 1 - Informática Aplicada À Arquitetura e Urbanismo - 1) APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINADocumento6 páginas1 - Informática Aplicada À Arquitetura e Urbanismo - 1) APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINAmarkonniiAinda não há avaliações
- Caderno SEG - Desenho Técnico (2.ed. - 2019 ETEPAC)Documento51 páginasCaderno SEG - Desenho Técnico (2.ed. - 2019 ETEPAC)Silvania FreitasAinda não há avaliações
- Legenda Desenho TécnicoDocumento1 páginaLegenda Desenho TécnicoLarissa Nascimento LimaAinda não há avaliações
- Desenho Perspectiva e OrtogonalDocumento26 páginasDesenho Perspectiva e OrtogonalGabriel Senna Silva100% (1)
- EnsinodesenhoDocumento68 páginasEnsinodesenhocass84Ainda não há avaliações
- Desenho Tecnico Aula 2Documento22 páginasDesenho Tecnico Aula 2Messias De Oliveira SantosAinda não há avaliações
- Gabarito Atividades Arq. UniasselviDocumento13 páginasGabarito Atividades Arq. UniasselviThiago ChristopherAinda não há avaliações
- A Importância Do Desenho Técnico Na EngenhariaDocumento5 páginasA Importância Do Desenho Técnico Na EngenhariaWillderson GeraldoAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa - AspectosDocumento18 páginasProjeto de Pesquisa - AspectosLubliana EinsteinAinda não há avaliações
- Heverson Takashiro DoutoradoDocumento183 páginasHeverson Takashiro DoutoradoBru LimaAinda não há avaliações
- Plano de Aula - 6º AnoDocumento3 páginasPlano de Aula - 6º AnoRuth NogueiraAinda não há avaliações
- Perspectiva IsometricaDocumento10 páginasPerspectiva IsometricaThiago AndradeAinda não há avaliações
- IlustraçãoDocumento38 páginasIlustraçãomaridolAinda não há avaliações
- Ficha de Assistência Às Aulas 27 de Janeiro de 2022Documento2 páginasFicha de Assistência Às Aulas 27 de Janeiro de 2022Germano Fela100% (1)
- Mec0354 Desenho Tecnico MecanicoDocumento2 páginasMec0354 Desenho Tecnico MecanicoGuilherme CamposAinda não há avaliações
- Altimetria e PlanimetriaDocumento41 páginasAltimetria e PlanimetriaPedro Paulo100% (1)
- Aula - 1 - INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO PDFDocumento24 páginasAula - 1 - INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO PDFhugo mario vargasAinda não há avaliações
- Apresentação Do Plano de Pormenor Da Abrunheira NorteDocumento35 páginasApresentação Do Plano de Pormenor Da Abrunheira NorteTudo sobre SintraAinda não há avaliações
- A Influência Da Autoestima No Processo Ensino-Aprendizagem de Crianças Nos Anos Iniciais Do Ensino Básico Das Escolas Municipais de Teresina - Piauí.Documento16 páginasA Influência Da Autoestima No Processo Ensino-Aprendizagem de Crianças Nos Anos Iniciais Do Ensino Básico Das Escolas Municipais de Teresina - Piauí.Liliana Corrêa RêgoAinda não há avaliações
- Docs PcaDocumento9 páginasDocs PcaJunia Helena100% (1)
- Geometria Desc A 10 11 CT Homol Nova VerDocumento46 páginasGeometria Desc A 10 11 CT Homol Nova Verana.morais.costa2519100% (1)
- Geom Desc A 10 11Documento47 páginasGeom Desc A 10 11sergio paulino bandeiraAinda não há avaliações
- Apostila Orientacao PDFDocumento71 páginasApostila Orientacao PDFgwsantosAinda não há avaliações
- Modelagem Em Educação Matemática E Suas Aplicações No Ensino MédioNo EverandModelagem Em Educação Matemática E Suas Aplicações No Ensino MédioAinda não há avaliações
- CORES HARMONIOSAS (Complementares e Adjacentes)Documento1 páginaCORES HARMONIOSAS (Complementares e Adjacentes)Agostinho Neves da Silva100% (4)
- Circulo Cromático Editavel No PaintDocumento8 páginasCirculo Cromático Editavel No PaintAgostinho Neves da Silva100% (2)
- Manuais Escolares Plataforma Mega Cronograma 21 22Documento1 páginaManuais Escolares Plataforma Mega Cronograma 21 22Agostinho Neves da Silva100% (1)
- Sensação Das Cores 1Documento1 páginaSensação Das Cores 1Agostinho Neves da Silva100% (1)
- Ficha Estudo Comunicação - 2018.Documento2 páginasFicha Estudo Comunicação - 2018.Agostinho Neves da Silva100% (1)
- Critérios de Avaliação de Educação VisualDocumento1 páginaCritérios de Avaliação de Educação VisualAgostinho Neves da SilvaAinda não há avaliações
- Vencimentos 2018 Carreira Docente PDFDocumento9 páginasVencimentos 2018 Carreira Docente PDFlígia_arruda_1Ainda não há avaliações
- Correção Do Teste Materias e Instrumentos e Suportes 5º EVDocumento2 páginasCorreção Do Teste Materias e Instrumentos e Suportes 5º EVAgostinho Neves da Silva100% (2)
- Ficha de Estudo Materiais/Meios de ExpressãoDocumento2 páginasFicha de Estudo Materiais/Meios de ExpressãoAgostinho Neves da Silva100% (3)
- A Cigarra e A Formiga PDFDocumento11 páginasA Cigarra e A Formiga PDFThais RabeloAinda não há avaliações
- O Direito Nas Sociedades Primitivas AlguDocumento40 páginasO Direito Nas Sociedades Primitivas AlguIgor NevesAinda não há avaliações
- Relatório Do Filme:: "Karaté Kid (2010) "Documento4 páginasRelatório Do Filme:: "Karaté Kid (2010) "pedro fernandesAinda não há avaliações
- Tawantinsuyu - O Império IncaDocumento25 páginasTawantinsuyu - O Império IncaRac A BruxaAinda não há avaliações
- TRABALHO - Hannah Arendt Condição HumanaDocumento23 páginasTRABALHO - Hannah Arendt Condição HumanaAntonio Domingos DiasAinda não há avaliações
- Anotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetoDocumento9 páginasAnotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetofabiomojicaAinda não há avaliações
- Belo Horizonte - História AntigaDocumento432 páginasBelo Horizonte - História AntigaJosé Renato TeixeiraAinda não há avaliações
- Conceito Da Antropologia de CulturaDocumento7 páginasConceito Da Antropologia de CulturaRafael Manuel NhanombeAinda não há avaliações
- Literatura BrasileiraDocumento16 páginasLiteratura BrasileiraCynara Oliveira Dos SantosAinda não há avaliações
- SCHEIBE (2014) - O Projeto de Profissionalização Docente No Contexto Da Reforma Educacional Iniciada Nos Anos 1990Documento17 páginasSCHEIBE (2014) - O Projeto de Profissionalização Docente No Contexto Da Reforma Educacional Iniciada Nos Anos 1990Fernanda PintoAinda não há avaliações
- Análise Rei Da Vela PDFDocumento7 páginasAnálise Rei Da Vela PDFIgor FerreiraAinda não há avaliações
- Cultura OrganizacionalDocumento11 páginasCultura OrganizacionalGuilherme GomesAinda não há avaliações
- CiencReligiao - BungueiaSJ - 1 Fe Como Um Desafio em MocambiqueDocumento115 páginasCiencReligiao - BungueiaSJ - 1 Fe Como Um Desafio em MocambiqueBraimoAinda não há avaliações
- Simelp2019 Programacao Comunicacao Oral Sem Autores 03 07Documento56 páginasSimelp2019 Programacao Comunicacao Oral Sem Autores 03 07Luiz Carlos MartinsAinda não há avaliações
- Livro PSICOLOGIA e DireitoDocumento35 páginasLivro PSICOLOGIA e DireitoLucas RibeiroAinda não há avaliações
- Brandalise - Avaliação Institucional Da EscolaDocumento17 páginasBrandalise - Avaliação Institucional Da EscolaLeandro Do Carmo QuintãoAinda não há avaliações
- Racionalismo Cartesiano - Problema Mente-CorpoDocumento27 páginasRacionalismo Cartesiano - Problema Mente-Corpoanon_308969871Ainda não há avaliações
- Paulo Lobo - RepersonalizaçãoDocumento18 páginasPaulo Lobo - RepersonalizaçãoMarina Alice de SouzaAinda não há avaliações
- Apostila - Fundamentos de Metodologia - Análise de Sistemas e RHDocumento74 páginasApostila - Fundamentos de Metodologia - Análise de Sistemas e RHWillian Junio de AndradeAinda não há avaliações
- MR - ARte - Por Toda ParteDocumento20 páginasMR - ARte - Por Toda ParteFrancisco Roque Magalhães Neto33% (3)