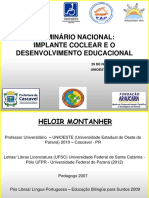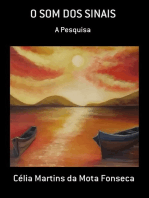Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Jogo Educativo para Ensino Libras
Jogo Educativo para Ensino Libras
Enviado por
serafina2011Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Jogo Educativo para Ensino Libras
Jogo Educativo para Ensino Libras
Enviado por
serafina2011Direitos autorais:
Formatos disponíveis
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
JOGO EDUCATIVO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM DE LIBRAS: UMA ABORDAGEM DO DESIGN SOCIAL
PEIXE, Rita Ins Petrykowski; Msc; Universidade da Regio de Joinville UNIVILLE; ritapeixe@hotmail.com ANSELMO, Juliana Silveira; Msc; Universidade da Regio de Joinville UNIVILLE; juliana.anselmo@univille.net MEDEIROS, Ivan Luiz de; Especialista; Universidade da Regio de Joinville UNIVILLE; ivan.medeiros@univille.br OLIVEIRA, Snia Teresinha Serpa de; Especialista; Universidade da Regio de Joinville UNIVILLE; ed_especial@hotmail.com Resumo O presente artigo parte de uma pesquisa experimental que prope estudos e inferncias com vistas ao desenvolvimento de material ldico-educativo, cujo intuito ser contribuir para a promoo do ensino e aprendizagem da linguagem de Libras. Tais materiais tm como foco de interesse propiciar a interao mais efetiva de crianas surdas e ouvintes em ambientes de aprendizagem, sendo de extrema importncia para o desenvolvimento da identidade cultural e processos inclusivos, em especial daquelas em fase escolar que apresentam deficincia auditiva. Aliada proposio de unir tcnicas de design a processos de ensino e aprendizagem atravs de contedos ldicos, o projeto de pesquisa tem como meta a construo de um Jogo de Tabuleiro que incentiva o dilogo e a interao entre crianas surdas e ouvintes em situaes diversas, ao mesmo tempo em que aborda alguns assuntos que podem ser explorados em disciplinas escolares antes e aps a brincadeira. Verificou-se, a partir das informaes apreendidas durante a pesquisa, que existem outras inmeras possibilidades de criao de jogos ou materiais ldico-educativos, principalmente no que tange investigao e sua aplicao no estmulo ao desenvolvimento da cultura visual do surdo. Palavras-chave: Design Social, Desenvolvimento de Produto, Linguagem de Libras.
EDUCATIONAL GAME TO LEARNING TEACH AND SIGN LANGUAGE: AN APPROACH TO SOCIAL DESIGN
Abstract This article is part of an experimental research which proposes studies and interferences with the goal of the development of educational material to learning teach and sign language. Such materials have focused interest on providing a more effective interaction of deaf and hearing children in learning environments. Such materials focus on allowing more effective interaction between normal children and those with hearing disabilities in learning environments, being extremely important to cultural identity development and inclusive processes, specially to those that show that kind of disability during school period. Merging design techniques with teaching and learning processes, this research have as an objective the creation of a board game that stimulate dialogue and interaction between normal children and those with hearing disabilities in several
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
situations,, at the same time exploring subjects that may be approached on school classes, before and after the playing. It was observed that, using information collected during rthis research, that there are several game or ludic and educational material creation possibilities, specially regarding investigation and application on stimulating visual culture development on people with hearing disabilities. Keywords: Social Design, Product Development, Sign Language. INTRODUO O Brasil recebeu grande influncia de tendncias pedaggicas estrangeiras durante o processo de desenvolvimento da educao dos surdos. Estas, por sua vez, seguiam os moldes da educao de ouvintes, ou seja, a imposio da oralidade, deixando de lado a identidade cultural dos alunos surdos. Porm, todos precisam interagir em seu meio, tomar conhecimento de sua cultura, sua histria e, atravs do convvio e interao com o outro, formar sua identidade (CAPORALI e DIZEU, 2005). Para a pessoa com deficincia auditiva, as relaes com o meio so de igual importncia, para que ela possa construir sua identidade e sua viso do mundo. A grande mediadora dessas interaes e significaes a linguagem, apresentando-se assim a importncia de sua aquisio, uma vez que, para os ouvintes, a Lngua Portuguesa e, para o surdo, a Lngua Brasileira de Sinais Libras (GESUELI, 2004; QUADROS, 2006). Visto que, surdos e ouvintes no compartilham da mesma linguagem, utilizando idiomas diferentes, surgem inmeras dificuldades para que ocorra o necessrio dilogo entre as partes. comum que em uma sala de aula, as crianas surdas tenham dificuldade na escrita e leitura em portugus, e as ouvintes desconheam a linguagem de Libras, no desconsiderando que alguns surdos tambm no possuem o domnio da linguagem de Libras. Uma das alternativas para promover a comunicao e expresso em sala de aula, pode ser a utilizao de atividades com contedos ldicos. Por meio de jogos possvel abrir uma porta para o mundo social e para a cultura infantil, encontrando, desta maneira, uma rica possibilidade de incentivar o seu desenvolvimento, trazendo mais prazer e novas perspectivas vida das crianas (FRIEDMANN, 1996). Entende-se que no contexto escolar que o surdo encontra a possibilidade de construir seu espao, atravs do convvio com outros surdos e professores especializados, j que grande parte surdos so filhos de pais ouvintes (PAULA, 2005). Conforme a Poltica de Educao de Surdos de Santa Catarina (2004) as questes da construo da identidade do surdo envolvem o reconhecimento do modo de vida, viso de mundo e situaes sociolingsticas especficas vividas por esta comunidade. Trabalhar com tais diferenas significa compreender o surdo como uma pessoa que possui um idioma diferente, uma lngua materna que no a linguagem corrente; significa conhecer a sua forma de comunicao, us-la e oportunizar a ele, surdo, a aquisio de conhecimentos nas duas lnguas (primeiro na sua de sinais - e depois na lngua portuguesa) de forma sistemtica, continuada, dialgica, para que, verdadeiramente, ele possa construir sua identidade e exercer o direito da cidadania. Neste contexto e sob tal foco de importncia, foi proposto em 2010 o Projeto de Pesquisa DLIBRA, que partiu de estudos e inferncias, com o intuito inicial de propor o desenvolvimento de materiais ldico-educativos para ensino e aprendizagem da
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
linguagem de Libras, promovendo, assim, a interao em ambiente escolar entre crianas surdas e ouvintes. O projeto teve como apoiador, em seu primeiro ano de atividades, a Escola de Ensino Fundamental Rui Barbosa, Instituio plo no ensino bilnge na regio de Joinville, constando que, no total, so trs escolas da Rede Pblica Estadual de educao bilnge em todo o Estado de Santa Catarina. REVISO DE LITERATURA Interao entre surdos e ouvintes Quando a sociedade ouvinte marginaliza a pessoa com deficincia auditiva e a desrespeita como cidado com deveres e direitos diante do espao social, cria-se um estigma de incapacidade que no leva o ser humano a se desenvolver plenamente. Revertendo esta situao, permitindo que o surdo possa ter contato com seus pares, conhecer sua cultura, usar a lngua que prpria da sua condio a Libras, ele ter conscincia do significado de sua cultura e percepo de si prprio (DIZEU E CAPORALI, 2005). De acordo com Souza (1998), a partir do momento em que os surdos passaram a se reunir em escolas, associaes e a se constiturem em grupo por meio de uma lngua, passaram a ter a possibilidade de refletir sobre um universo de discursos acerca deles prprios e com isso conquistaram um espao favorvel para o desenvolvimento ideolgico da prpria identidade. H, com isso, uma significativa mudana no modo de vida dessas comunidades surdas, considerando a sua proposta de comunicao. Segundo Lodi (2005), no caso dos surdos, apenas a lngua de sinais pode possibilitar tal mudana. , portanto, por seu intermdio, que os surdos podem ter acesso linguagem escrita por meio de prticas sociais nas quais os sinais grficos so utilizados em sua dimenso discursiva, propiciando relaes dialgicas. Atravs dessa comunicao, os surdos podem dialogar com a escrita, fazer suas prprias leituras, construir seus sentidos, falar sobre os materiais escritos, ao mesmo tempo em que so falados por eles. Tornam-se interlocutores a partir de suas prprias histrias (de mundo e como leitores). Para promover a interao dos surdos com os ouvintes dentro da escola ou at mesmo no ambiente familiar prope-se atividades ldicas para tal finalidade. O brincar requer envolvimento emocional, contato social, aes fsicas, alm de relaes cognitivas na expresso e apreenso das regras da brincadeira (LIMA, 1989). Em grande parte, nas sociedades contemporneas, a infncia marcada pelo brincar, que se processa atravs de prticas culturais tpicas, mesmo que esteja muito reduzida face demanda do trabalho infantil que ainda se insere no cotidiano dos segmentos sociais de baixa renda. A brincadeira permite criana vivenciar o ldico e descobrir-se a si mesma, apreender a realidade, tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo (SIAULYS, 2005). Valsiner (1988) destaca que a criana como ser ativo no processo de viver a brincadeira, vai alm da cultura de seus pais e professores, uma vez que reconstri as experincias adquiridas nos espaos familiares, escolares e comunitrios. Ela cria, para suas brincadeiras, funes e cenrios novos, tendo como referente as sugestes sociais, oferecidas por seu grupo. Portanto, externaliza sua subjetividade sobre os eventos sociais e, ao mesmo tempo, reconstri o significado social da brincadeira. Segundo Queiroz (2006), a brincadeira oferece s crianas uma ampla estrutura bsica para mudanas das necessidades e tomada de conscincia: aes na esfera
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
imaginativa, criao das intenes voluntrias, formao de planos da vida real, motivaes intrnsecas e oportunidade de interao com o outro, que, sem dvida contribuiro para o seu desenvolvimento. Os estudos de Brougre (2004) relatam que o jogo educativo surge como um complemento e um prolongamento da atividade escolar, possibilitando um reforo do ensino. Porm, o que caracteriza se esses jogos sejam considerados educativos no tanto a motivao ldica e sim os temas abordados por intermdios desses princpios. A possibilidade de trazer o jogo para dentro da escola a oportunidade de pensar a educao numa perspectiva criadora, autnoma e consciente. Por meio de jogos possvel abrir uma porta para o mundo social e para a cultura infantil, encontrando, desta maneira, uma rica possibilidade de incentivar o seu desenvolvimento, trazendo assim, mais prazer e ludicidade vida das crianas (FRIEDMANN, 1996). Colaborando para tal ao, o design social vem com a proposta de atender a carncia de materiais ldico-educativos presente no mercado. Ao apontar a natureza e o significado do jogo como fenmeno cultural, Huizinga (2008, p. 04) nos orienta que ele transcende a necessidade imediata da vida e confere um sentido ao [uma vez que tal sentido] implica a presena de um elemento no material em sua essncia. Quadros (1997) conclui que a criana surda precisa criar sua prpria teoria de mundo atravs de experincias dirias, interagindo de forma efetiva com indivduos do seu meio. Isso significa que a escola deve ir alm de seu trabalho profissional didtico, promovendo programas que possibilitem essa inter-relao de crianas surdas e indivduos ouvintes e compreendendo que os aspectos da visualidade so de grande importncia quando se trata de alunos surdos. O Design Social Com o intuito de dar continuidade pesquisa desenvolvida em 2010 e permitir uma ampliao de materiais ldico-educativos que sirvam de subsdios para uma interao entre ouvintes e surdos, se faz necessrio compreender melhor o contexto de projeto do design social. Fornasier (2005) explica que design social a materializao de uma idia por meio de anlise, planejamento, execuo e avaliao que resultam num conceito e na difuso de um conhecimento para influenciar o comportamento voluntrio do pblico-alvo (beneficirios), promovendo mudanas sociais. Em 1972 Vitor Papanek, desenhista industrial e diretor de Design do Instituto de Artes da Califrnia, publicou um livro que serviria como agenda para o design social, Design for the real world. Com a publicao deste livro, Papanek abriu um novo nicho de mercado para designers, transformando o design no s em uma ferramenta para novidades no mercado, mas tambm procurando desenvolver programas de design para necessidades sociais, desde as necessidades de pases em desenvolvimento at as necessidades especficas de idosos, pobres e portadores de deficincia (PADULA, 2003). Segundo Amariliam (2000) no seria correto separar um modelo de mercado de um modelo social como se fossem distintos, mas sim como estudos paralelos. Vrios produtos desenvolvidos para o mercado terminam por atender tambm a necessidades sociais, mas fato que o mercado ainda no consegue abranger todas essas necessidades. Segundo Resende (2004) o designer no projeta simplesmente bens ou servios para empresas, ele pratica uma profisso que implica em aes determinadas pela tica e moral, com a tarefa de gerar a forma de um produto, considerando todas as condicionantes. Isto significa que o trabalho do designer no se encerra ao finalizar um
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
produto, nem na entrega de um projeto, mas em um acompanhamento de toda a sua implantao no mercado e at mesmo de seu descarte. O design social uma forma diferenciada de pensar em design, que, em detrimento do foco em consumismo, auxilia no desenvolvimento de produtos que possam atender as mais diversas necessidades humanas. A abrangncia dessa proposta pode ser melhor compreendida atravs da definio elaborada pelo FIDS (2009, p. 01),
[...] o Design Social entendido como uma ferramenta de inovao e de comunicao, capaz de transformar necessidades e desejos humanos em produtos e sistemas de modo criativo e eficaz, adequados no somente do ponto de vista econmico, mas tambm, sociais, culturais e ecologicamente responsveis.
Essa ferramenta de desenvolvimento se embasa na relao entre o usurio e o produto, observada atravs de relatrios e pesquisa com fundamento em seus anseios e necessidades primrias. Ao discutir sobre um Modelo Social de design, Margolin e Margolin (2004) afirmam que a observao participante um mtodo que possibilita o ingresso de designers em ambientes sociais, tanto como parte de um grupo multidisciplinar ou individualmente, para observar e documentar as necessidades sociais que podem ser atendidas com a interveno do design. Estudos culturais e cultura visual Para a referida pesquisa, verificou-se a necessidade de explorar os conceitos da cultura visual, visto sua ampla abordagem e atuao nos meios de interao. O universo do visual , na atualidade, como sempre foi, mediador de valores culturais (HERNNDEZ, 2000, p. 23) e em torno e a partir dele que se constroem as identidades culturais, no sentido de um melhor conhecimento de si mesmo e do mundo. Da Antropologia Cultural, cujo conceito encontra-se no centro dos estudos culturais, parte o reconhecimento de que:
(...) todos os seres humanos vivem num mundo criado por eles mesmos, e onde encontram significado. A cultura comea no ponto em que os humanos superam o que quer que seja dado em sua herana natural. O cultivo do mundo natural, na agricultura e na horticultura, ento um elemento fundamental de uma cultura. Desta forma, os dois elementos mais importantes ou gerais da cultura podem ser a habilidade dos seres humanos para construir e a habilidade para usar a linguagem (compreendida mais amplamente, para englobar todas as formas de sistema de signos) (EDGAR & SEDGWICK, 2003, p. 75).
Como um legado comum da humanidade (SANTOS, 1988, p. 86), a cultura, e no seu mbito das produes artsticas, registra e responde s tendncias histricas e suas transformaes no seio da sociedade. Assim, mais sentidos podem ser compartilhados a partir dessa acepo, compreendendo cultura como sendo:
(...) a dimenso da sociedade que inclui todo o conhecimento num sentido ampliado e todas as maneiras como este conhecimento expresso. uma dimenso dinmica, criadora, ela mesma em processo, uma dimenso fundamental das sociedades contemporneas (SANTOS, 1988, p. 50).
Geertz (1980) observa que sem o guia das imagens exteriorizadas, dos sentimentos falados no ritual, os mitos e a arte, no se teriam, de fato, como sentir. Tal como o prprio crebro anterior desenvolvido, as idias e as emoes so artefatos
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
culturais do homem. Da dizer que tanto as imagens quanto a escrita, enquanto heranas culturais, nos possibilitam uma aproximao com o tempo e espao histricos, que protagonizam as experincias vividas ou imaginadas pelos seus atores sociais, expressas das mais diferentes maneiras, ao longo do tempo. Conforme apontado e ainda segundo o posicionamento de outros autores, ao designar a cultura como um conjunto de significados construdos e partilhados pelos homens para explicar o mundo, Pesavento (2008, p. 15) a define ainda como
(...) uma forma de expresso e traduo da realidade, que se faz de forma simblica, ou seja, admite-se que os sentidos conferidos s palavras, s coisas, s aes e aos atores sociais se apresentam de forma cifrada, portanto j um significado e uma apreciao valorativa.
Num breve panorama das correntes historiogrficas sobre Histria Cultural vigentes no Brasil e no mundo que, a partir da dcada de 1980 passaram a ser questionadas e revisadas, a pesquisadora Sandra Pesavento (2008) introduz seu compndio Histria & Histria Cultural e apresenta argumentos importantes em torno das mudanas epistemolgicas que perpassam esse novo olhar para a Histria. Conceitos como representao e Imaginrio to caros historiografia cultural e que reorientam a postura do historiador, so fundamentados pela autora, que discute ainda questes ligadas imagem enquanto valor documental, de poca, no tomado no seu sentido mimtico. Para Pesavento (2008, p.88):
O que importa ver como os homens se representavam, a si prprios e ao mundo, e quais os valores e conceitos que experimentavam e que queriam passar, de maneira direta ou subliminar, com o que se atinge a dimenso simblica da representao.
Isto pode ser mediado pela produo e recepo das imagens sejam elas pictricas, fotogrficas, televisivas, entre outras que esto amplamente imbricadas na vida social humana e das quais fazem parte os estudos da cultura visual, aqui entendida como um universo mltiplo de significados, cujos objetos levam a refletir sobre as formas de pensamento da cultura na qual se produzem (HERNNDEZ, 2000, p. 53). METODOLOGIA Ao considerar a abrangncia desta proposta de pesquisa e os objetivos delineados para sua execuo, a pesquisa foi submetida ao Comit de tica da Universidade. As observaes e coleta de dados foram realizadas junto s turmas de 1 a 5 srie do Ensino Fundamental bilnge da Escola Rui Barbosa de Joinville/SC, que conta com cerca de 120 alunos ouvintes e 58 alunos surdos, alm dos professores de cada disciplina e intrpretes. Os encontros foram planejados e agendados com antecedncia para no interferir nas atividades da escola. RESULTADOS E DISCUSSO De maneira breve, os principais aspectos levantados durante os processos de observao realizados em 2010 esto descritos no presente relato, bem como a descrio do primeiro jogo desenvolvido. Foi constatado que, no intervalo, as crianas aproveitam o ptio do colgio para brincarem de pega-pega, corrida, pular corda e tnis de mesa. As brincadeiras so as mesmas, tanto para alunos surdos como para alunos ouvintes, porm, as crianas
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
brincam separadamente. Percebeu-se que os alunos surdos se comunicam com outros colegas surdos de sries diversas, mas dificilmente se relacionam com colegas ouvintes da prpria sala. A 1 srie, neste caso, freqentada apenas por alunos surdos, onde acontece a apresentao e o primeiro contato formal em situao de ensino e aprendizagem, com a linguagem de Libras, visto que a maioria das crianas tm acesso ao idioma apenas quando entra na escola. A professora da turma bilngue e utiliza imagens para tornar possvel um dilogo inicial com seus alunos e promover o ensino do alfabeto datilolgico (alfabeto em Libras) e sinais bsicos. Com esse mtodo, atrai o olhar do aluno e concentra sua ateno. Os alunos so bastante curiosos e uma das atividades em que mais demonstram interesse a de colorir. Apresentam dificuldade na apreenso dos temas mais abstratos, como, por exemplo, em matemtica, quando se trata de quantidades e, em portugus, ao identificarem o nome dos objetos e animais, em decorrncia de no conhecerem toda a gama de sinais em Libras. Com a 5 srie, a aula transcorre de maneira um pouco diferente. Surdos e ouvintes compartilham o mesmo espao, a mesma sala de aula e a professora vem acompanhada por uma intrprete. A docente explana o assunto e a intrprete traduz as informaes para os alunos surdos, atravs da linguagem de Libras. Nos dias em que foram realizadas as observaes, a professora no utilizou recurso visual como material de apoio. A diviso em sala muito tangvel: surdos ocupam uma metade da sala e alunos ouvintes, a outra, o que representa limitar a interao entre eles. Um pequeno nmero de alunos ouvintes conhece superficialmente a linguagem de Libras, e ainda alguns alunos surdos conseguem utilizar a escrita em portugus, possibilitando-lhes um dilogo, mesmo que superficial. Realizou-se, alm disso, uma pesquisa mais pontual com os alunos de 5 srie, no sentido de identificar os desenhos animados ou personagens com os quais tm maior proximidade, com o objetivo de verificar qual seria o enredo e os elementos ou pictogramas que mais atraem visualmente o pblico-alvo do jogo. Os desenhos com formas e histrias cujo contedo mais complexo ou requer maior esforo auditivo foram os que menos agradaram, sendo que as opes ficaram concentradas naqueles que refletiam expresses faciais e corporais mais significativas, presentes na visualidade. Os desenhos, tanto caricaturados e estilizados quanto aqueles com personagens humanos, que conseguem ser compreendidos com mais facilidade e sem a utilizao dos aspectos sonoros, foram os que mais se destacaram. A partir dos resultados obtidos com as observaes na Escola Rui Barbosa, verificou-se que a interao entre alunos surdos e ouvintes acontece de forma muito restrita, considerando que ambos no falam o mesmo idioma e isso acaba gerando limitaes na comunicao, tanto entre os alunos, quanto da parte do professor com os alunos. Em algumas situaes, os docentes tm dificuldades para compreenderem questionamentos dos alunos surdos, por no terem o domnio da linguagem de Libras, o que acaba interferindo tambm na apreenso da disciplina por parte do aluno. Alm dos aspectos das observaes na escola, j mencionados, realizou-se, ainda, um encontro com duas professoras que atuam na Gerncia da Educao de Joinville junto a programas de incluso, bem como uma professora intrprete. Dentre as consideraes levantadas, as profissionais confirmaram o que a literatura e as pesquisas realizadas para o desenvolvimento do presente projeto j haviam sinalizado: que imprescindvel a aquisio e o domnio da linguagem de Libras pelo surdo para a interao social, visando construo da sua prpria identidade. O indivduo surdo possui seu campo visual muito aguado, razo pela qual o ensino de Artes a disciplina
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
curricular preferida por eles, pois o momento em que os surdos tm a oportunidade de trabalhar com atividades ligadas aos aspectos visuais, uma vez que apresentam maior facilidade para o desenho. imprescindvel, ainda, considerar que o jogo a ser projetado necessita proporcionar alguns requisitos, principalmente o de instigar a curiosidade, ou seja, contedos temticos, suscitando vrios resultados, possibilidades, desafios, autonomia, conhecimento de si prprio e do mundo. Temas ligados a atividades rotineiras e prazerosas como ir praia, visitar um zoolgico, aspectos da cultura visual ou relacionado escola. Quanto mais associados ao seu cotidiano, mais passveis de despertarem o interesse das crianas, por isso a importncia do emprego de elementos visuais como cores e texturas. Levantou-se, tambm, que os alunos sentem maior segurana ao desenvolverem suas atividades em grupo, considerando que ali h aspectos interativos e de grande significao para que haja a dialogicidade. Segundo as especialistas, dos professores que ministram aulas para as crianas surdas, muitos no conhecem Libras, principalmente por acomodao, o que gera falta de interesse e acomodao, j que nas salas dos surdos h sempre um intrprete. Percebe-se, com isto, que o desenvolvimento de materiais ldico-educativos que trabalhem a identidade, a visualidade, a autonomia, a criatividade e a ateno, tornam-se peas chave e instrumentos de grande valia, podendo ser utilizados pelo professor como ferramentas de comunicao, expresso, aprendizado e interao nas mais diversas sries e, ainda, pelos pais de alunos, que em sua grande maioria tm um dilogo restrito com os filhos, embora menos formal. Assim, com base na problematizao levantada com as observaes e relatos dos profissionais que trabalham com crianas surdas, foi desenvolvido em 2010 um Jogo de Tabuleiro cuja descrio segue: O Jogo de Tabuleiro, ainda sem marca/nome definido, possui dois temas: zoolgico e praia, ou seja, o material tem duas faces, promovendo em um mesmo material, mais possibilidades de ao, visualizao, manuseio, barateamento para aquisio e, ao mesmo tempo, aborda temas (animais, portugus, libras, matemtica, artes, natureza em geral, entre outros) que podem ser explorados em diversas disciplinas curriculares antes e aps a brincadeira. formado por nove peas de 21 x 21 cm de poliestireno, para facilitar a limpeza e aumentar a durabilidade, onde esto desenhadas partes do caminho a ser percorrido durante o jogo. Os jogadores podem distribuir as pequenas prachas na ordem que desejarem, pois todos os caminhos se encaixam, o que proporciona, j no incio da atividade, uma discusso e possveis acordos sobre como montar de forma estratgica o tabuleiro. Assim, cada vez que jogado, o caminho poder ser diferentemente organizado, no deixando o jogo previsvel e montono. O nmero de jogadores pode ser de dois a seis, com idade mnima de 11 anos e, de preferncia, para estimular a comunicao entre surdos e ouvintes, ser jogado por duplas mistas. No tema zoolgico o objetivo do jogo a alimentao para os animais. Estes estaro dispostos dentro de jaulas que no sero desenhadas, mas sim feitas em poliestireno e encaixadas no tabuleiro, para maior interao e atrao visual. Cada um ter um personagem que poder ser pintado antes de iniciar o jogo. Aspectos de interveno como a pintura e identidade prpria de cada personagem foram pensados, pois verificou-se que os surdos se interessam muito por atividades artsticas e manuais. No incio no jogo, cada dupla ou equipe escolhe uma cor diferente e seis pacotinhos de comida, os quais devero ser usados para alimentar os seis animaizinhos. Ganha quem alimentar o maior nmero de animais primeiro. Para obterem os alimentos, os jogadores devero responder a pergunta que estiver correspondendo casa em que se encontra no tabuleiro, avanando, recuando ou esperando, conforme a situao. Exemplificando: O personagem caiu em uma casa onde est escrito o nmero 3. Portanto, dever responder
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
pergunta que est na carta marcada com o nmero 3. Respondendo corretamente, a equipe ganhar trs pontos. Acumulando seis pontos, ser possvel comprar uma comidinha. Note-se que a quantidade de pontos ganhos corresponde ao nmero escrito na parte de trs da carta. Ou seja, se a equipe responder pergunta com o nmero 1, ganhar 1 ponto. Haver uma roleta para definir o nmero de casas que o jogador dever andar. Quem far a pergunta ser algum de outra equipe. As perguntas estaro em libras, com desenhos e instrues e tambm em portugus. Deste modo, os ouvintes sero estimulados a prender a linguagem de libras, assim como os prprios surdos, que tero seu vocabulrio ampliado, tanto na linguagem de libras quanto no portugus. As cartas sero encaixadas em uma base, para que as mos no fiquem ocupadas no momento de executar as aes gestos - com os sinais. Se a equipe errar a pergunta, no ganhar nem perder pontos. Haver mais de 15 personagens para serem escolhidos, pintados e montados pela equipe. A Figura 1 ilustra o jogo de tabuleiro desenvolvido:
Figura 1 - Jogo de tabuleiro tema zoolgico.
O projeto encontra-se em fase de refinamento, ou seja, aps a testagem do jogo com duas turmas de 5 srie professores, intrprete e alunos foram levantados alguns aspectos que iro requerer novos olhares, distintas abordagens e outros posicionamentos. Esses momentos de testagem e experimentao podem ser entendidos, na rea do design, como essenciais para o sucesso do produto. Ainda ser necessrio planejar para o produto, uma embalagem, visando facilitar seu manuseio e transporte. A partir dos primeiros contatos da equipe pesquisadora com o tema deficincia auditiva e, aps muitos estudos, processos de interao e discusses acerca das questes ligadas comunicao e linguagem de Libras, a opo pela proposta de elaborao de um material ldico pode se concretizar unindo experincias e demandas, tendo como
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
possibilidade outras abordagens, no que diz respeito a novos materiais com a utilizao de meios digitais, visando adequaes mais rpidas e efetivas. Salienta-se que a participao e o envolvimento de professores do Ensino Fundamental da Escola Rui Barbosa se deu de maneira colaborativa, sendo de grande valia cada um dos momentos vivenciados, onde cerca de seis professores e duas intrpretes que ministram contedos em salas de aula com crianas surdas e ouvintes, se propuseram a receber a equipe pesquisadora e ofereceram muitas sugestes e informaes relevantes pesquisa. Verificou-se, por meio de entrevistas e questionrios com estes profissionais, a existncia de uma significativa demanda no mercado pelo desenvolvimento de novos materiais ldico-educativos para o ensino da linguagem de Libras. Isso, sem contar que, por muitas vezes, o prprio professor em sala precisa criar jogos ou materiais para ilustrar a aula. Mencionamos, ainda, a partir de levantamentos realizados, que aqueles materiais destinados aos surdos existentes no mercado so em nmero limitado, alm de apresentarem baixa qualidade, serem pouco durveis e apresentarem temas pouco atraentes aos alunos. CONCLUSO A despeito das experincias obtidas, muitos aspectos do jogo desenvolvido ainda esto por serem ajustados. H algumas questes operacionais, que envolvem processos visuais e da linguagem de libras que necessitam ser solucionadas e, ainda, uma nova experincia junto aos grupos, como testagem e possibilidade de melhoria a partir da experimentao. Embora se tenha constatado que a interao entre surdos e ouvintes ocorra de forma limitada pelo fato de no se comunicarem no mesmo idioma, o material de contedo ldico acaba sendo um fomentador de outras formas de interao, o que vem a contribuir na compreenso, tanto da linguagem de sinais como da linguagem oral. Trabalhar com uma proposta de material ldico-educativo que busque desenvolver a identidade, a autonomia, a criatividade e a ateno, faz-se de grande valia, podendo ser utilizado pelo professor como ferramenta de comunicao, expresso, aprendizado e interao. Ainda, h uma nova proposta onde se vislumbra a reedio do projeto com investigaes que perpassam a materialidade do jogo que se encontra em fase de desenvolvimento, o que implicaria em estudos de linguagens virtuais e sua proposio como processo de interao entre crianas surdas e ouvintes. REFERNCIAS
BROUGRE, Gilles. Brinquedos e companhia. So Paulo: Cortez; 2004. CAPORALI, S.A; DIZEU, L.C.T. A lngua de sinais constituindo o surdo como sujeito. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 583-597, Maio/Ago. 2005. Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em jun. de 2010. EDGAR, Andrew; SEDGWICK, Peter. Teoria cultural de A a Z: conceitos-chave para entender o mundo contemporneo. So Paulo: Contexto, 2003. FIDS Frum Internacional de Design Social. Conceito Geral. Disponvel em: <http://www.institutodamanha.com.br/forum/forum.htm>. Acesso em: 01 dez. 2009. FRIEDMANN, Adriana. Brincar: crescer e aprender - o resgate do jogo infantil. So Paulo: Moderna, 1996. GEERTZ, Clifford. Transio para a humanidade. In. ENGELS, Friedrich et al. O papel da cultura nas cincias sociais. Porto Alegre: Editorial Villa Martha Ltda, 1980.
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educao
____________________________________________________________________________________________________
GESUELI, Z.M. Linguagem e identidade: a surdez em questo. Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 94, p. 277-292, jan./abr. 2006. Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em jun. de 2010. HERNNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudana educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: Artes Mdicas Sul, 2000. HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. So Paulo: Perspectiva, 2008. LIMA, Mayumi. A cidade e a criana. So Paulo: Nobel, 1989. LODI, Ana Claudia Balieiro. Plurilingismo e surdez: uma leitura bakhtiniana da histria da educao dos surdos. Educ. Pesqui. [online]. 2005, vol.31, n.3, pp. 409-424. MARGOLIN, Victor; MARGOLIN, Sylvia. Um Modelo Social de Design: questes de prtica e pesquisa. In: Revista Design em Foco, v.1, n.1, jul/dez 2004. Salvador: EDUNEB, 2004, p. 43-48. PAULA, L.S.B de. Cultura escola, cultura surda e construo de identidades na escola. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 565-582, Maio/Ago. 2005. Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em jun. de 2010. PESAVENTO, Sandra Jatahy. Histria & Histria Cultural. Belo Horizonte: Autntica, 2008. QUADROS, Ronice Muller de. Educao de surdos: a aquisio da linguagem. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997. QUEIROZ, Norma Lcia Neris de, Et al. Brincadeira e desenvolvimento infantil: um olhar sociocultural construtivista. Paidia, 2006, 16(34), 169-179. SANTOS, Jos Luiz dos. O que cultura. So Paulo: Editora Brasiliense, 1988. SOUZA, R.G. Que palavra que te falta? Lingstica e educao: consideraes epistemolgicas a partir da surdez. So Paulo: Martins Fontes,1998. VALSINER, J. (1988). Ontogeny of co-construcion of culture within socially organized environmental settings. In J. Valsiner (Ed.), Child development within culturally structured environments, 2, 283 297. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
V. 8 N 3, dezembro, 2010______________________________________________________________
Você também pode gostar
- Psicologia Da AprendizagemDocumento82 páginasPsicologia Da AprendizagemTamires Dias100% (2)
- O Significado Das VelasDocumento104 páginasO Significado Das VelasMarisa Lima OliveiraAinda não há avaliações
- Miguel: o aluno surdo em processo de aquisição de linguagemNo EverandMiguel: o aluno surdo em processo de aquisição de linguagemAinda não há avaliações
- Musicoterapia e Psicodrama - Rela ºoes e Semilaridades PDFDocumento15 páginasMusicoterapia e Psicodrama - Rela ºoes e Semilaridades PDFJoãoPauloBattistideAbreuAinda não há avaliações
- Projeto Educação Física A Prática Da Dança Na Educação Física EscolarDocumento16 páginasProjeto Educação Física A Prática Da Dança Na Educação Física EscolarMarcia Tolvay100% (1)
- História de Surdos No Mundo 2016Documento70 páginasHistória de Surdos No Mundo 2016Montagner MontanherAinda não há avaliações
- Guia De Apoio E Orientação A Sala De Recursos Multinacional Com Alunos SurdosNo EverandGuia De Apoio E Orientação A Sala De Recursos Multinacional Com Alunos SurdosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Poligrafo Libras - Prof. GasparDocumento67 páginasPoligrafo Libras - Prof. GasparGicele Lazzari100% (1)
- 90 Prova REL E ARTE SacraDocumento4 páginas90 Prova REL E ARTE SacraJoseane FeitosaAinda não há avaliações
- Resenha CriticaDocumento11 páginasResenha CriticaprmoisesbarretoAinda não há avaliações
- Cultura SurdaDocumento44 páginasCultura SurdaBernardo JacobsenAinda não há avaliações
- Sinlalário LibrasDocumento67 páginasSinlalário LibrasThaís FernandesAinda não há avaliações
- 2116 LibrasDocumento127 páginas2116 LibrasVerônica MatosAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino Superior PDFDocumento65 páginasMetodologia Do Ensino Superior PDFAlexandre VelosoAinda não há avaliações
- Unidade 5 LibrasDocumento47 páginasUnidade 5 LibrasJoão Minatti100% (2)
- Modelo Folheto RG Nao Fin FAMILIADocumento92 páginasModelo Folheto RG Nao Fin FAMILIAsoniapmarquesAinda não há avaliações
- Apresentacao Aula de LIBRAS Iconicidade e ArbitrariedadeDocumento10 páginasApresentacao Aula de LIBRAS Iconicidade e ArbitrariedadeRosa OliveiraAinda não há avaliações
- Discursos sobre a surdez do sujeito patológico ao sujeito de cultura: um paradoxo da inclusão?No EverandDiscursos sobre a surdez do sujeito patológico ao sujeito de cultura: um paradoxo da inclusão?Ainda não há avaliações
- Cultura e Identidade Surda - Karine Frois e Camila FroisDocumento6 páginasCultura e Identidade Surda - Karine Frois e Camila FroisKarine FroisAinda não há avaliações
- ARTIGO (Resumo + Exercício)Documento1 páginaARTIGO (Resumo + Exercício)CamillaAinda não há avaliações
- Escrita de Sinais Uab - Apostila.completa.Documento103 páginasEscrita de Sinais Uab - Apostila.completa.Diêgo Stéfano Araujo SouzaAinda não há avaliações
- Educação a distância para surdos: acessibilidade de plataformas virtuais de aprendizagemNo EverandEducação a distância para surdos: acessibilidade de plataformas virtuais de aprendizagemAinda não há avaliações
- Anais Do II Congresso Internacional Mundos Indígenas 2018Documento897 páginasAnais Do II Congresso Internacional Mundos Indígenas 2018Leandro DurazzoAinda não há avaliações
- Controladoria MescldosDocumento98 páginasControladoria MescldosIsa Cristina100% (1)
- Libras PDFDocumento73 páginasLibras PDFHerica Ramos100% (1)
- Curriculo LIBRASDocumento135 páginasCurriculo LIBRASJuliana Coutinho OliveiraAinda não há avaliações
- LIBRAS Livro1 Aluno MIOLO Rev Ok Parte1Documento33 páginasLIBRAS Livro1 Aluno MIOLO Rev Ok Parte1SkinnerscullyAinda não há avaliações
- Novo Conteúdo Programático - LibrasDocumento3 páginasNovo Conteúdo Programático - Librasclebertrabalho100% (1)
- LIBRAS - Esquema Cronológico Do TextoDocumento2 páginasLIBRAS - Esquema Cronológico Do TextoAmandaD.AntunesAinda não há avaliações
- Revista FeneisDocumento32 páginasRevista FeneisManú FrancoAinda não há avaliações
- Professores Surdos Na Casa Dos Surdos deDocumento515 páginasProfessores Surdos Na Casa Dos Surdos deDaniel RochaAinda não há avaliações
- Ana Rocha Lingua Brasileira de Sinais AulaDocumento29 páginasAna Rocha Lingua Brasileira de Sinais AulaRayssa Brasileiro RomeiroAinda não há avaliações
- A Escrita de SinaisDocumento18 páginasA Escrita de SinaisAlesdelfAinda não há avaliações
- Literatura Surda Texto-Base PDFDocumento40 páginasLiteratura Surda Texto-Base PDFliteragoncalvesAinda não há avaliações
- Jogo para SurdosDocumento41 páginasJogo para SurdosdanielaprometiAinda não há avaliações
- Libras LivroDocumento112 páginasLibras LivroVoltaire François MarieAinda não há avaliações
- Libras ApostilaDocumento42 páginasLibras ApostilaJardel Luh TorresAinda não há avaliações
- Tutora - Libras 1 - Dia 17 de Maio - Power PointDocumento21 páginasTutora - Libras 1 - Dia 17 de Maio - Power PointMontagner Montanher100% (1)
- Curso de LibrasDocumento5 páginasCurso de LibrasPablo FabriccioAinda não há avaliações
- Resumo de LIBRASDocumento2 páginasResumo de LIBRAShumor78100% (1)
- Teorias Da Educação de SurdosDocumento44 páginasTeorias Da Educação de SurdosBenita Alves de MeloAinda não há avaliações
- Apostila Lingua Brasileira de Sinais Libras 20Documento43 páginasApostila Lingua Brasileira de Sinais Libras 20Lika RamosAinda não há avaliações
- Curso Compreensão Básica LIBRASDocumento10 páginasCurso Compreensão Básica LIBRASfabiotfloridoAinda não há avaliações
- Lingua Brasileira Sinais - MecDocumento80 páginasLingua Brasileira Sinais - MecDebora Machado100% (2)
- FIC Libras IntermediárioDocumento8 páginasFIC Libras IntermediárioJoao VictorAinda não há avaliações
- Apostila Libras Curso Online Seduc PGDocumento47 páginasApostila Libras Curso Online Seduc PGHuguinho Paiva100% (1)
- 1 - LibrasDocumento32 páginas1 - LibrasWictor JobsonAinda não há avaliações
- A Importância Do Interprete de LibrasDocumento37 páginasA Importância Do Interprete de LibrasAna Júllia RibeiroAinda não há avaliações
- Libras 1Documento44 páginasLibras 1paulssantosAinda não há avaliações
- AS - Libras UnifranDocumento6 páginasAS - Libras UnifranPolly PeçanhaAinda não há avaliações
- LibrasDocumento62 páginasLibrasAntônioAinda não há avaliações
- LibrasDocumento12 páginasLibrasTravis SmithAinda não há avaliações
- História Dos SurdosDocumento10 páginasHistória Dos SurdosSuzy AnyAinda não há avaliações
- Aula 02 Libras - Marcos Histoticos PDFDocumento13 páginasAula 02 Libras - Marcos Histoticos PDFjulianoaraujoxAinda não há avaliações
- Curso Intermediário de LibrasDocumento26 páginasCurso Intermediário de LibrasDenise CostaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Conceitos e Mitos - Augusto SoaresDocumento14 páginasAula 1 - Conceitos e Mitos - Augusto SoaresAlesdelfAinda não há avaliações
- LIBRAS e A SubjetividadeDocumento4 páginasLIBRAS e A SubjetividadeIgor Dutra dos SantosAinda não há avaliações
- 1 ETAPA Jogos Com LibrasDocumento3 páginas1 ETAPA Jogos Com LibrasJunior EspinolaAinda não há avaliações
- Libras e PolegadasDocumento103 páginasLibras e PolegadasJoaquim Barbosa AguardemAinda não há avaliações
- 1.1 Cronograma de História de SurdosDocumento43 páginas1.1 Cronograma de História de SurdosLuanynha Viana75% (4)
- LIBRAS - TextosDocumento9 páginasLIBRAS - TextosCarlos SilvanaAinda não há avaliações
- E-Book em Libras - A Lenda e As Histórias de Ana JansenDocumento178 páginasE-Book em Libras - A Lenda e As Histórias de Ana JansenLuiz Fernando Conrado100% (1)
- Glossário Letras LibrasDocumento3 páginasGlossário Letras LibrasAnaJúliaLoboFeijóAinda não há avaliações
- Sinais Dependencias Da Escola Jogo Da MemoriaDocumento31 páginasSinais Dependencias Da Escola Jogo Da MemoriaMarinélia SoaresAinda não há avaliações
- Verbos em Libras1Documento2 páginasVerbos em Libras1Pollyana BritoAinda não há avaliações
- Alfabeto Manual e Numeral em LibrasDocumento3 páginasAlfabeto Manual e Numeral em LibrasIago14 Nr ssjAinda não há avaliações
- Por amor a um filho surdo: Buscas e soluçõesNo EverandPor amor a um filho surdo: Buscas e soluçõesAinda não há avaliações
- BullyingDocumento10 páginasBullyingMichael HudsonAinda não há avaliações
- Breve Leitura de - Parque Central - , de Walter Benjamin - ERMELINDA FERREIRADocumento6 páginasBreve Leitura de - Parque Central - , de Walter Benjamin - ERMELINDA FERREIRAFip Nanook FipAinda não há avaliações
- A Cultura Do CancelamentoDocumento2 páginasA Cultura Do Cancelamentomariafernandasantosmoura980Ainda não há avaliações
- Primeiras CivilizacoesDocumento5 páginasPrimeiras CivilizacoesDiego Garcia100% (1)
- 33.simulado Henry WallonDocumento4 páginas33.simulado Henry WallonDesafios MatemáticosAinda não há avaliações
- Exercício Desenv. Parágrafo 1Documento9 páginasExercício Desenv. Parágrafo 1Jinn SartiAinda não há avaliações
- Hist Experiencias Nacionais Temas TransversaisDocumento328 páginasHist Experiencias Nacionais Temas TransversaisCandido VolmarAinda não há avaliações
- CHAUI, Marilena. Resumo Indicativo. O Que É Ideologia.Documento2 páginasCHAUI, Marilena. Resumo Indicativo. O Que É Ideologia.Bruno Vendramini50% (6)
- 4º Bimestre 4º AnoDocumento5 páginas4º Bimestre 4º AnoRubia MikaellyAinda não há avaliações
- V4 Praticas Inclusivas Completo-CompactadoDocumento188 páginasV4 Praticas Inclusivas Completo-CompactadoCláudia Motta da Rocha NavesAinda não há avaliações
- Trabalho de Antropologia MendesDocumento15 páginasTrabalho de Antropologia Mendesrogerio fernandoAinda não há avaliações
- GADOTTI, Moacir. Projeto Político-Pedagógico Da Escola - Fundamentos para A Sua RealizaçãoDocumento10 páginasGADOTTI, Moacir. Projeto Político-Pedagógico Da Escola - Fundamentos para A Sua Realizaçãosolange waltre50% (2)
- Livro - A Adoção Do Partido Na Arquitetura - UFBA 1989Documento105 páginasLivro - A Adoção Do Partido Na Arquitetura - UFBA 1989Sidnei Sérgio EspósitoAinda não há avaliações
- Capítulo IDocumento1 páginaCapítulo Ijose suniAinda não há avaliações
- C-9ilha 08 Romarias PDFDocumento72 páginasC-9ilha 08 Romarias PDFAlberto VieiraAinda não há avaliações
- Cosmovisão Reformada Na Família PDFDocumento4 páginasCosmovisão Reformada Na Família PDFLuiz Carlos Eduardo SantosAinda não há avaliações
- História Da Ciência Na Idade MédiaDocumento17 páginasHistória Da Ciência Na Idade MédiaMário CruzAinda não há avaliações
- Rüseno Desenvolvimento Da Competencia Narrativa Na Aprendizagem HistóricaDocumento11 páginasRüseno Desenvolvimento Da Competencia Narrativa Na Aprendizagem HistóricaRoberto UlissesAinda não há avaliações
- Goldman Como Funciona A Democracia Uma Teoria Etnografica Da PoliticaDocumento360 páginasGoldman Como Funciona A Democracia Uma Teoria Etnografica Da PoliticaGabriela CuervoAinda não há avaliações
- Através Do BrasilDocumento280 páginasAtravés Do BrasilDaniel PogianelaAinda não há avaliações