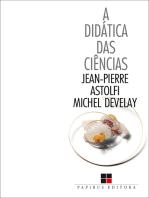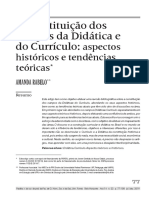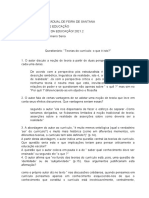Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Análise Do Discurso Pedagógico No "Conto de Escola" de Machado de Assis - Encontro Entre Literatura, Estética e Educação
Enviado por
Evando Costa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
141 visualizações19 páginasEste artigo analisa o discurso pedagógico presente no conto "Conto de Escola" de Machado de Assis. Primeiramente, discute o significado de discurso pedagógico e como ele engloba diferentes perspectivas sobre educação. Em seguida, analisa a literatura como linguagem para decodificar o discurso pedagógico no conto. Por fim, examina o contexto educacional do século XIX retratado no conto e identifica elementos do discurso pedagógico nele presentes.
Descrição original:
Título original
Análise Do Discurso Pedagógico No “Conto de Escola” de Machado de Assis_encontro Entre Literatura, Estética e Educação
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste artigo analisa o discurso pedagógico presente no conto "Conto de Escola" de Machado de Assis. Primeiramente, discute o significado de discurso pedagógico e como ele engloba diferentes perspectivas sobre educação. Em seguida, analisa a literatura como linguagem para decodificar o discurso pedagógico no conto. Por fim, examina o contexto educacional do século XIX retratado no conto e identifica elementos do discurso pedagógico nele presentes.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
141 visualizações19 páginasAnálise Do Discurso Pedagógico No "Conto de Escola" de Machado de Assis - Encontro Entre Literatura, Estética e Educação
Enviado por
Evando CostaEste artigo analisa o discurso pedagógico presente no conto "Conto de Escola" de Machado de Assis. Primeiramente, discute o significado de discurso pedagógico e como ele engloba diferentes perspectivas sobre educação. Em seguida, analisa a literatura como linguagem para decodificar o discurso pedagógico no conto. Por fim, examina o contexto educacional do século XIX retratado no conto e identifica elementos do discurso pedagógico nele presentes.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 19
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
46
ANLISE DO DISCURSO PEDAGGICO NO CONTO DE ESCOLA DE
MACHADO DE ASSIS: ENCONTRO ENTRE LITERATURA, ESTTICA E
EDUCAO
Sidnei Ferreira de Vares
1
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o discurso pedaggico no Conto de
Escola do escritor brasileiro Machado de Assis. Primeiramente, procura problematizar o
significado de discurso pedaggico, onde se conclui que todo discurso tem por objetivo
provocar ou aumentar a adeso dos espritos s teses que se apresentam a seu assentimento,
e que o discurso pedaggico, em especial, trata-se de uma compilao de sub-discursos no
campo pedaggico, em decorrncia das diferentes maneiras de se conceber a educao. No
segundo momento, procura-se entender a arte como linguagem, em especial a literatura, a fim
de se estabelecer um modo de decodificao do discurso pedaggico constatado em diferentes
manifestaes literrias, passando por uma anlise da literatura em geral para posteriormente
ocupar-se da prosa literria, mais especificamente do conto, objeto deste trabalho. Em
seguida, remontamos ao contexto educacional do sculo XIX, auxiliar composio do
universo espao-temporal do conto machadiano. Enfim, analisado o conto de Machado,
procurando dar nfase ao discurso pedaggico a ele subjacente.
Palavras-chave: conto, discurso pedaggico, literatura, Machado de Assis.
Introduo
O presente artigo tem como objetivo analisar o discurso pedaggico no Conto de
Escola do escritor brasileiro Machado de Assis. Parte-se, portanto, do pressuposto de que a
referida obra, da qual nos ocuparemos, contm elementos discursivo-pedaggicos e que estes
podem ser analisados sem prejuzo de outros aspectos inerentes ao universo machadiano.
Nesse sentido, nos propomos a apreender tais elementos presentes no texto e compreend-los
em sua estrutura, sem desconsiderar o contexto espao-temporal no qual a obra foi produzida,
pois disso depende o xito de nossa anlise. Como alerta Israel Scheffler (1974), uma anlise
dessa natureza no pode prescindir do contexto em que o discurso analisado surgiu.
1
Graduado em Histria pelo Centro Universitrio Assuno (UNIFAI); Mestre em Educao, eixo temtico
Filosofia da Educao, pela Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo (FEUSP); Professor da
disciplina de Esttica, no curso de Filosofia do UNIFAI. E-mail: vares@usp.br
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
47
Com o fito de facilitar nosso trajeto, dividimos o texto em algumas partes, a saber: No
primeiro momento, falaremos a respeito do discurso, procurando chegar a uma definio
plausvel. Haja vista que o objetivo precpuo deste artigo constitui compreender os elementos
discursivos presentes no Conto de Escola, cumpre, antes de darmos o primeiro passo nesse
sentido, entender a estrutura, o funcionamento e as caractersticas que determinam o discurso
pedaggico. Para tanto, nos ancoramos na literatura especializada acerca do tema. No
segundo momento, enfatizaremos a arte enquanto linguagem, principalmente a literatura.
Dentro do campo literrio, porm, destacaremos o conto na tentativa de compreender melhor
suas caractersticas e estrutura. No terceiro momento, versaremos um pouco sobre o contexto
histrico-social retratado e refletido pelo texto machadiano, objetivando entender as
dificuldades da educao brasileira naquela poca. E no quarto e ltimo momento deste
trabalho, analisaremos o discurso ou discursos pedaggicos contidos no referido conto de
Machado, procurando no perder de vista a esttica do conto.
1. O problema do discurso pedaggico
de certo modo comum que os autores da rea da educao se esforcem em definir o
campo denominado pedaggico. Essa prtica bastante usual e at certo ponto compreensvel
corresponde necessidade de assegurar, como ponto de partida, a delimitao exata daquilo
que ser investigado e discutido. Podemos assim afirmar que o procedimento descrito
corresponde a certa etapa inicial sem a qual no seria possvel ao terico abordar os
problemas pedaggicos e educacionais. Mas ainda que essa prtica seja usual caberia
perguntar em que medida ela correta, posto que tentativas de definir a educao resultam
numa pluralidade de definies, por vezes divergentes, que mais contribuem para confundir
do que elucidar. Essa particularidade o que torna essas tentativas de definir a educao to
importantes quanto suspeitas. Existe um grande nmero de trabalhos que poderiam ser aqui
mencionados, pois partem de uma definio de educao antes de analisarem os problemas
inerentes ao campo educativo. Comumente, essas tentativas de definio partem da etimologia
do termo (o verbo latino educare), ressaltando as relaes entre educao e sociedade, bem
como o papel fundamental exercido pela educao para a sobrevivncia da vida social. Mas
ser que podemos confiar nessas definies, tendo em vista seu carter plural? Podem ser
essas definies consideradas seguras?
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
48
Ao abordar a linguagem da educao, Israel Scheffler (1974) prope uma anlise sobre
a estrutura e o funcionamento das chamadas definies gerais. Visando se desvencilhar das
anlises de cunho sociolgico, o autor procura avaliar a fora desse tipo de definio,
principalmente quando toma a forma de argumentos no-cientficos. Segundo Scheffler
(1974, p. 22), existem pelo menos trs tipos de definies gerais, a saber: (a) as definies
estipulativas; (b) as definies descritivas; (c) e as definies programticas. Todas elas tm
em comum o fato de serem definies gerais e no-cientficas. Todavia, se distinguem quanto
ao seu funcionamento. As definies estipulativas tm por objetivo comunicar, sempre com
vistas em facilitar a compreenso dos termos a serem definidos. Essa modalidade se
caracteriza tanto pela estipulao arbitrria de um termo, a exemplo das estipulaes
inventivas, quanto pela ressignificao de um termo existente, como, por exemplo, no caso
das definies estipulativas no-inventivas. Trata-se, portanto, de etiquetas abreviatrias
que procuram facilitar a compreenso de complexas definies. Por sua vez, as definies
discursivas tm carter elucidativo e tendem, por isso mesmo, a oferecer uma regra
explicativa a respeito do funcionamento prvio do termo e no estipul-lo como no caso das
definies estipulativas. Nesse sentido, as definies descritivas no so arbitrrias e
pretendem explicar os princpios que norteiam um determinado termo. J as definies
programticas, a ltima das definies gerais enumeradas pelo autor, se caracterizam pelo
contedo moral que carregam, pois sempre expressam um dado programa de ao que
interpela o sujeito, reclamando uma deciso deste quanto adeso ou no de seu contedo.
Conforme afirma Scheffler, essas definies gerais podem, em virtude de sua
flexibilidade, se sobreporem umas as outras em circunstncias especiais, apesar das diferenas
existentes, acima mencionadas. O motivo pelo qual Scheffler apresenta essas definies gerais
o de criticar os autores que pretendem impor certa viso especial a respeito das significaes
dos termos e a partir destas deduzir asseres. O risco, nesse caso, apresentar o termo como
uma verdade autntica sem considerar a variao possvel do mesmo. Com efeito, esse risco
ganha ainda mais projeo quando observamos o papel dos slogans. Diferentemente das
definies gerais, os slogans tm carter assistemtico e proporcionam smbolos unificadores
de idias, sendo encarados como doutrinas. Esses slogans podem disseminar determinada
perspectiva errnea, pois tendem a caricaturar e/ou omitir aspectos relevantes do universo
abordado, seja este poltico, religioso, educacional, etc., tendo em vista serem mais
estimuladores do que definidores. Como o autor parece sugerir, existem diversos tipos de
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
49
discursos, sendo que no campo da educao, o chamado discurso pedaggico tenta se
estabelecer de maneira totalizante e unvoca.
Ao investigar a relao entre o discurso pedaggico e as chamadas cincias
humanas, enfatizando as formas de transmisso do conhecimento cientfico, Pricles
Trevisan (1976) aponta a ausncia, no campo do pensamento pedaggico, de uma reflexo
mais acurada a respeito da transmisso do conhecimento cientfico, haja vista que a maior
parte das definies pedaggicas se limita a explicar a transmisso do conhecimento geral,
sem discutir o problema da transmisso do conhecimento cientfico e de seu ensino,
configurando o que o autor denomina de vazio terico no campo pedaggico. Apreendendo
produes de diferentes reas cientficas em seus resultados, o discurso pedaggico, como
sugere o autor, negligente em relao aos processos de constituio do conhecimento das
vrias reas cientficas, emprestando somente os resultados destas para fornecer uma
roupagem cientfica ao campo da educao. Por discurso pedaggico, o autor define uma
prtica terica determinada, cujos efeitos so a produo de formas para a transmisso do
conhecimento cientfico (TREVISAN, 1976, p. 50). Essas formas, a que se refere o autor,
so apresentadas sem preocupaes maiores com a especificidade de cada cincia e a maneira
como estas elaboram seu conhecimento. Alis, como o autor faz questo de ressaltar, o
discurso pedaggico apresenta-se com uma imagem extrada do real e, embora
dependente das inmeras cincias que tramitam em seu espao, capaz de resguardar-se das
crticas empreendidas por essas cincias, haja vista reduzi-las a meras disciplinas tributrias
ou auxiliares do campo educativo, ocultando assim sua dependncia em relao s essas
mesmas cincias. Partindo das observaes expostas por Pricles Trevisan, avistamos as
dificuldades acerca de uma definio de educao ou mesmo de uma Cincia da Educao,
principalmente ao consideramos, de um lado, a apropriao que o discurso pedaggico faz
dessas cincias para compor seu campo de atuao e, de outro, a ausncia de um objeto de
pesquisa definido, capaz de delimitar o campo de investigao dessa suposta cincia
educacional. Por esses motivos, uma definio de cincia da educao torna-se to
complicada.
Se no bastassem as dificuldades acima mencionadas, no podemos nos esquecer que
o discurso pedaggico deve ser analisado enquanto discurso. Sendo assim, como qualquer
outro tipo de prtica discursiva, o discurso pedaggico procura a adeso de um pblico
determinado. Ora, como demonstra Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1996), para
que uma argumentao obtenha xito quanto adeso do pblico, faz-se mister que se realize
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
50
uma comunidade efetiva dos espritos. Em outras palavras, necessrio que o pblico
demonstre algum tipo de simpatia pela argumentao inerente ao discurso. O xito da prtica
discursiva est submetido a uma relao entre aquele que fala e o que escuta. Essa
comunidade intelectiva entre as partes envolvidas do discurso [locutor e interlocutor],
depende de uma linguagem comum, condio mnima para o estabelecimento de um contato,
condio essa imprescindvel para o locutor dirigir-se ao interlocutor e conseguir o
consentimento e participao mental deste. O interesse do interlocutor pela argumentao
um passo decisivo para a argumentao, que no depende no tanto da racionalidade, como
do desenvolvimento de certa empatia com o pblico. Essa empatia muitas vezes s pode ser
construda em detrimento de alguma flexibilidade do locutor, no sentido de se adaptar-se s
necessidades dos que lhe escutam. Posto isto, podemos inferir que o discurso pedaggico
constitui uma forma de argumentao e que, nesse sentido, procura sempre convencer algum,
ou melhor, como afirmam Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 50), provocar ou aumentar
a adeso dos espritos s teses que se apresentam a seu assentimento. Ademais, quando
falamos num discurso pedaggico, temos que considerar o fato de que tal discurso no
coeso. Alis, talvez seja um risco falarmos num discurso se por isso entendermos um corpo
de argumentos unvocos. Evidentemente este tipo de discurso no existe no campo
pedaggico. A maior prova disso so as diferentes tendncias pedaggicas, cada qual com sua
argumentao e com sua explicao sobre os fatos educativos. Alguns autores, como
Misukami (1986), falam em abordagens
1
, de tal modo que podemos inferir que o discurso
pedaggico trata-se na verdade de uma compilao de sub-discursos, cada um destes com
suas prprias caractersticas e leituras sobre a realidade pedaggica.
2. A linguagem artstica e a linguagem literria
O discurso pedaggico pode ser encontrado nas mais variadas linguagens, inclusive
naquelas que compem o campo da arte. Portanto, a presena do discurso pedaggico na
literatura, poesia, cinema, teatro, etc. comum. Mas isto no constitui um problema, apenas
uma constatao. O grande desafio identificar e principalmente decodificar o discurso
pedaggico nas diversas linguagens acima mencionadas. Entretanto, conforme anunciamos,
no nos ocuparemos de todas as linguagens. Nossa preocupao dirige-se especificamente
1
Todavia Misukami na introduo de seu trabalho argumenta que essas abordagens exploradas no podem ser
encaradas como estanques, pois muitas vezes aparecem misturadas. Os recortes feitos pela autora teriam,
portanto, muito mais um carter didtico, no sentido de facilitar a compreenso das diferentes abordagens.
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
51
literatura. Mas o que a literatura? As dificuldades acerca de uma definio desse tipo so
inmeras, tendo em vista que esta abarca desde poemas lricos, romances at as grandes
tragdias. Como afirmam Lamarque e Olsen (2008, p. 266), poder-se-ia pensar que os
prazeres proporcionados pela literatura so eles prprios demasiado diferentes para produzir
generalizaes substanciais relacionadas a todos os tipos e instncias literrios.
Mas ainda que essas dificuldades sejam reais, a linguagem literria apresenta algumas
caractersticas que podem contribuir no sentido de uma definio. Segundo Luiz Costa Lima,
[...] o discurso literrio e ficcional em geral se distingue dos demais
porque, no sendo guiado por uma rede conceitual orientadora de sua
decodificao, nem por meta pragmtica que subordina os enunciados em
uma certa meta, exige do leitor sua entrada ativa, atravs da interpretao
que suplementa o esquema trazido pela obra (LIMA, 1983, p. 266) [grifos do
autor].
Conforme Mrio Ferreira Santos (1961, p. 85), a palavra literatura tem se origina no
termo latino littera, que significa letra. A tradio oral, predominante entre as comunidades
antigas, preparou caminho para o advento da literatura e as artes literrias tm incio quando
os homens comeam a gravar, por meio de ideogramas ou inscries, determinados fatos de
suas vidas ou mesmo idias, dando vazo a seus sentimentos, temores, etc. Na nsia de
expressar, no mundo social, suas opinies, precipitou o surgimento dos signos verbais como
uma maneira de descrever esses fatos. Posio muito prxima desta a de Hnio Tavares (Cf.
1981, p. 27), para quem a literatura diz respeito a um conjunto estruturado de frases portador
de um conjunto estruturado de significados. Segundo o autor, as artes literrias tm em
comum o fato de lidarem com uma mesma matria-prima, a saber: a palavra. Mas se a
literatura a arte da palavra, cumpre precisar o que denominamos palavra. Conforme Rogel
Samuel (1997, p. 26), toda palavra um signo lingstico composto de uma unidade mnima
(fonema) que tem validade relativa quando aplicado isoladamente, mas que em relao com
outras unidades sintticas adquire um sentido mais amplo. Como prope Tavares (1981),
possamos dividir historicamente a conceituao das artes literrias em clssica e moderna
a primeira correspondente da poca dos sofistas at o sculo XVIII, e a segunda do sculo
XVIII at nossos dias , a questo da linguagem escrita central para aquilo que se
convencionou chamar de literatura
2
. Entretanto, cumpre alertar para o fato de que no s a
2
Ainda h uma grande confuso quanto definio das artes literrias. Tendo em vista que a literatura em seus
primrdios carregava uma dimenso potica, ainda que tambm trouxesse a linguagem prosaica, a irrupo da
poesia no campo literrio, fez com que alguns pensadores ligados Esttica alem utilizem o termo poesia
para designar todas as artes literrias, apresentando as artes literrias como poesia.
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
52
literatura se utiliza como arte da linguagem. Existem outros tipos de conhecimento e at
mesmo de manifestaes artsticas que tm como caracterstica a linguagem escrita. Como
enfatiza Salvatore DOnofrio:
Pelo uso da linguagem, a literatura se diferencia das outras artes, que usam
um diferente meio de expresso: a imagem fixa (pintura), a imagem mvel
(cinema), mrmore, gesso ou madeira (escultura) etc. Mas essa linguagem
tem que ser artisticamente elaborada, para que se diferencie de outras
atividades que, com a poesia, tambm faz uso da linguagem humana:
historiografia, jornalismo etc. (DONOFRIO, 1997, p. 10)
Mas o que ento diferencia a linguagem escrita da literatura daquela utilizada por
outras artes ou at da cincia e da filosofia? Cremos que a imaginao presente na sua
produo e em decorrncia certa fico (que no significa falseamento). Em outras palavras, a
literatura carrega certa dose de fantasia, ainda que se mantenha ligada e retrate a realidade. A
linguagem literria se inscreve assim entre o fictcio e o real (DONOFRIO, 1997).
O termo literatura, alm de simples designao da bibliografia ou texto
escrito, denomina tambm, um certo tipo de obras que teriam algo em
comum com as plenamente aceitas como literrias, de carter estritamente
esttico e ficcional. Por outro lado, a indstria cultural publica uma enorme
quantidade de obras onde o ficcional predomina e que, no entanto, no so
consideradas literrias (SAMUEL, 1997, p. 35).
O certo que a fronteira entre o literrio e o no literrio, tal como nos ensina Antoine
Compagnon (2006, p. 32), varia segundo o tempo e a cultura. O que os antigos ocidentais
entendiam por literatura, difere da maneira como os modernos, principalmente aps o sculo
XIX, quando os gneros literrios postos por Aristteles caem em desuso, passaram a
entend-la. Se a literatura para os antigos estava ligada ao verso, para os modernos ela se
aproxima mais da prosa, ainda que no abandone o verso por inteiro. Portanto, utilizaremos o
termo literatura para englobar as artes da linguagem escrita
3
, sendo que estas podem ser
divididas em dois gneros, a saber: a poesia e a prosa. Ainda que a poesia seja uma expresso
importante do que chamamos comumente de artes da linguagem, nesse artigo enfatizaremos,
visando delimitar nosso objeto, a prosa literria. Entretanto, ao falarmos em prosa literria,
devemos considerar uma srie de pequenas variaes como o tempo, o espao, as
personagens, o ponto de vista e o enredo, das quais despontam os chamados gneros literrios.
3
Isso no significa que a literatura se restrinja ao texto escrito, haja vista a problemtica da literatura oral
(SAMUEL, 1997, p. 33)
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
53
Como demonstra Anglica Soares (1993, p. 07), a caracterizao dos gneros pode tomar
feies, por vezes, normativas, noutras descritivas, apresentando-se como regras inflexveis
ou um conjunto de traos, os quais a obra pode apresentar em sua totalidade ou
predominncia. Quanto ao nmero de gneros existentes, algumas obras, por no
apresentarem elementos preexistentes na teoria literria, acabam criando um grande impasse
sobre a questo do surgimento de novos gneros ou a ramificao dos gneros existentes. Por
tudo isso impossvel debatermos os gneros literrios, tendo em vista que isso exigiria um
mapeamento histrico de seu desenvolvimento
4
, o que escaparia aos objetivos precpuos deste
trabalho. Basta-nos saber que a prosa literria tem caractersticas importantes e dotada de
qualidades formais, a saber: a verbal, estrutural, estilstica ou retrica. Essas qualidades, como
afirmam Lamarque e Olsen (2008), distinguem a prosa literria de outros tipos de linguagem.
Todavia, o que entendemos por prosa literria, ainda apresenta nuances cuja
compreenso se faz necessria. Nesse sentido, cumpre analisar as diferenas existentes entre a
novela, o romance e o conto, haja vista que disso depende nosso sucesso. Ainda que a
narrativa seja comum aos referidos gneros, existem diferenas, ainda que pequenas, entre
eles. Conforme Suassuna (2008, p. 338-339), a novela mais incidental e de ao dos
personagens. J o romance tem um carter muito mais psicolgico e introspectivo, explorando
os personagens em seus dilemas e conflitos pessoais. Por sua vez, o conto se concentra em um
incidente s, ainda que algumas variaes psicolgicas dos personagens possam ocorrer. Na
mesma direo de Suassuna, ngela Soares (1993, p. 54-55) afirma que o conto no se
diferencia da novela e do romance apenas pela menor extenso, mas por caractersticas
estruturais prprias, enfatizando no a totalidade da vida dos personagens, mas apenas uma
amostragem, por meio de um episdio singular e representativo. Ainda que possua os
4
Sobre a questo dos gneros literrios, Anglica Soares (1993) afirma que esta surge com Plato que, no livro
III da sua Repblica, teria demonstrado que a comdia e a tragdia resultam da mmesis, os ditirambos das
exposies dos poetas e a epopia da combinao dos dois processos. Pouco depois, Aristteles, em oposio
filosofia platnica, estabelece na sua A Potica, uma distino do processo narrativo entre o poema pico e o
processo dramtico, tpico da comdia e da tragdia. Esses dois filsofos teriam influenciado toda a antiguidade.
Somente no sculo I a. C., Horcio se preocuparia com a questo dos gneros literrios, atribuindo um carter
moral e didtico literatura. No perodo medievo, marcado pela poesia trovadoresca, tem em Dante Alighieri, na
sua Divina Comdia uma teoria dos gneros literrios, no qual a epopia e a tragdia so consideradas estilos
literrios nobres, a comdia mediana, e a elegia humilde. Na medida em que o renascimento exumou
caractersticas do perodo clssico, temos na renascena um retorno A Potica de Aristteles, tendo, talvez, como
a nica inovao, a insero de um terceiro gnero: a poesia lrica. Por volta do sculo XVIII, o movimento pr-
romntico, valorizando a individualidade de cada obra, condena a classificao literria, sob a gide da liberdade
de criao. Pouco depois, os romnticos, mesmo defendendo a liberdade de criao, aceitam a existncia dos
gneros, introduzindo certo hibridismo e variao dos gneros literrios, num ato de rebeldia contra os antigos.
No sculo XIX, influenciado pelo avano das cincias naturais e do evolucionismo spenceriano e darwiniano,
Brunetire vai defender a evoluo dos gneros literrios, posio esta que seria enfaticamente rebatida pelo
esteta Benedito Croce, que negava a substancialidade dos gneros, embora admitisse sua instrumentalidade
didtica.
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
54
mesmo ingredientes do romance, o conto elimina as anlises minuciosas e as complicaes no
enredo, delimitando fortemente o tempo e o espao, como num flash do narrador. Como
expe Jos Oiticica (Cf. 1960, p. 247-276), na anlise sobre o conto realizada por Araripe
Jnior, o conto sinttico e monocrnico, desenvolvendo-se no esprito como um fato
pretrito e adotando uma direo linear, exigindo um s ambiente para um nico desfecho.
Com afirma Oiticica,
O conto perfeito aquele que ...valoriza esse relato com a beleza
gramatical, isto , a correo; com a beleza esttica, diga-se, estilo; com
beleza filosfica ou o pensamento simbolizado no desfecho; com a beleza
tcnica, ou seja, a segurana no traar e encadear as cenas no mover e
aviventar as personagens, no desenvolver os episdios, na gradao do
desenlace at o clmax (OITICICA, 1960, p. 276)
Com efeito, conforme enunciado na introduo analisar-se- o Conto de Escola, do
escritor brasileiro Machado de Assis, cujo principal questo a educao, com o fito de
decodificar o contedo pedaggico inserido no texto, ainda que sob o risco de reduzir a beleza
literria da obra, pois, como afirmam os crticos literrios, a anlise filosfica de uma obra
literria pode resultar na sua falncia. Ainda que esse risco exista, concordamos com Luigi
Pareyson (2001, p. 48), para quem a filosofia e a arte literria no se excluem, mas se
complementam. Diante da grandiosidade literria de Machado de Assis e das possibilidades
de anlise que s textos ricos como este podem propiciar, assumimos esse grande desafio,
que, por um lado, nos pede respeito, mas, por outro, nos estimula. Passamos agora a falar um
pouco sobre o conto em questo para ulteriormente analis-lo em seu contedo discursivo.
3. Machado de Assis e seu tempo
O Conto de Escola constitui uma importante obra de nossa literatura, cujo fulcro
temtico o sistema de ensino, mas especificamente a sala aula, onde se desenvolve a maior
parte do conto. Nele, Machado expe sua concepo de educao explorando as contradies
existentes entre a realidade da escola e o mundo fora dela. Embora o conto no traduza
fielmente a trajetria do autor, pois no se trata de um texto biogrfico, fornece informaes
at certo ponto precisas sobre a educao durante o perodo monrquico. Com efeito, o texto
tem entre tantos mritos o de oferecer ao leitor uma viso bastante prxima da realidade social
da poca, principalmente no que concerne ao ensino. Cumpre lembrar que ao longo do sculo
XIX, a educao brasileira passou por grandes transformaes. A vinda da Corte Portuguesa
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
55
para o Brasil em 1808 iniciou esse ciclo de mudanas. Como demonstra Paulo Ghiraldelli
Jnior (2006, p. 28), aps o estabelecimento da famlia real no Rio de Janeiro e
principalmente aps a independncia em 1822, o ensino brasileiro seria reestruturado em trs
nveis, a saber: o primrio, o secundrio e o superior. Segundo Maria Lcia de Arruda Aranha
(2006, p. 222), havia uma grande dificuldade em sistematizar os dois primeiros nveis. O
Brasil era um pas eminentemente agrrio e as elites tinham pouco ou nenhum interesse em
mudar tal condio. Grande parte dos homens bons da poca acreditava que esse era o
destino do pas e, portanto, alterar nossa histria correspondia atentar contra nossa essncia
agrria. Nesse contexto, a educao estava longe de ser uma prioridade e a prpria hierarquia
social, tpica dos regimes monrquicos, dificultava sua difuso. Ainda assim, aps a
independncia, alguns deputados, durante a Assemblia Constituinte de 1823, influenciados
pelos ideais da Revoluo Francesa
5
, aspiraram um sistema nacional de instruo pblica que
resultou numa lei que nunca foi cumprida (Cf. ARANHA, 2006, p. 222), mesmo que a
primeira carta constitucional brasileira de 1824 reforasse os princpios de liberdade de
ensino, objetivando estabelecer instruo pblica primria gratuita para todos os cidados.
Poucos anos depois, em 1827, foi instituda uma lei que determinava a criao de escolas de
primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos, alm de escolas de meninas nas cidades
e vilas mais populosas. Todavia, essa lei nunca vingou. Conforme Fernando de Azevedo
(1963, p. 564), o fracasso dessa lei deveu-se, sobretudo, a fatores tcnicos, polticos e
econmicos. O ideal universalista de ensino, tal como pleiteado pelos deputados constituintes,
vai sendo substitudo por uma meta mais modesta. Conforme Maria Elizabete S. P. Xavier:
A necessidade e a urgncia da criao de um sistema de instruo pblica
foram, durante todos os debates, diretamente associados ao carter do regime
poltico nacional e liberal: educar homens livres capazes de sustentar o novo
sistema representativo [...] O problema da instruo popular deveria
esperar o tempo necessrio para ser resolvido satisfatoriamente, muito
embora fosse inconcebvel, na sua ausncia, o funcionamento do novo
regime constitucional. E, muito discutido e enredado, o primeiro projeto
apresentado pela comisso de instruo foi engavetado e esquecido antes de
ser aprovado (XAVIER, 1992, p. 59-61).
Embora a constituio de 1824 fizesse referncia a um sistema nacional de educao,
em 1827 ainda no tinha vingado. As elites continuavam a educar seus filhos em casa com
5
Como demonstra Luiz Antnio Cunha, a idia de escola pblica, universal e gratuita remonta ao liberalismo
burgus. A Revoluo Francesa (1789) teria forte influncia na difuso desse ideal que atribui educao um
papel importante na construo individual e social.
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
56
preceptores. Algumas famlias se reuniam para contratar professores particulares que
lecionavam para pequenas turmas, sem qualquer vnculo com o Estado. Os demais segmentos
sociais restringiam-se s poucas escolas de instruo elementar existentes. Procurando atender
as demandas, foi institudo, nesse mesmo ano, o mtodo de ensino mtuo. Como demonstra
Ghiraldelli (2006), por esse mtodo, alunos mais adiantados ajudavam os demais colegas,
supervisionados por uma espcie de inspetor que muitas vezes no tinha qualquer experincia
pedaggica. Adotado por decreto, o mtodo lancasteriano, como ficou conhecido, arrastou-se
sem muito sucesso at o ano de 1854. O fracasso do sistema mtuo deveu-se a vrios fatores,
tais como:
A necessidade de salas bem amplas para abrigar grande nmero de alunos
certamente no foi contemplada, porque os prdios usados, sempre de
improviso, no eram apropriados. Faltava material adequado tais como
bancos, quadros, fichas, sinetas, compndios etc. Apesar de terem sido
criadas escolas normais em vrios estados para a instruo do mtodo
mtuo, os professores, alm de descontentes com a remunerao, nem
sempre estavam bem preparados (ARANHA, 2006, p. 223)
A ausncia de estrutura adequada e o despreparo dos mestres complicavam as
pretenses do sistema lancasteriano, acarretando em resultados medocres.
Em 1834, durante o perodo regencial, uma reforma nos sistema educacional tem
incio. Seus efeitos, segundo Aranha (2006, p. 224), foram perniciosos para a educao
brasileira. O Ato Adicional de 1834 foi responsvel pela descentralizao do sistema ensino.
O ensino elementar e secundrio passou a ser responsabilidade das provncias, enquanto o
superior ficou sob a tutela do governo central, reforando seu carter elitista. No que concerne
ao ensino elementar, as mltiplas orientaes provincianas fracionaram o ensino bsico.
Durante todo o perodo regencial, as escolas elementares foram em nmero reduzido,
incapazes de atender as necessidades da populao mais carente. Salas de aula eram
inauguradas em casas sem infra-estrutura adequada que de uma hora para outra se convertiam
em espaos de instruo. Os mestres, formados pelas escolas normais espalhadas pelas
provncias, tinham parcas noes de leitura e escrita, mas com boa vontade ensinavam a ler, a
escrever, a contar e a rezar.
4. O Conto de Escola: h lies e h lies
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
57
nesse campo que devemos nos mover para compreender o Conto de Escola. A
narrativa machadiana se desenvolve durante o perodo regencial que, como ficou
demonstrado, apresenta srios problemas estruturais. A escola retratada por Machado na
verdade uma discreta sala de aula como tantas outras que foram abertas naquele perodo.
Consistia, portanto, num espao adaptado para a instruo bsica. Logo no primeiro
pargrafo, o protagonista Pilar descreve a escola como um sobradinho de grade de pau.
Trata-se de uma sala modesta, um simples espao destinado instruo, o que demonstra a
precariedade do ensino na poca. nessa sala de aula que Machado, por meio do personagem
Pilar, expe suas impresses acerca do ensino da poca.
O fio condutor do conto o hiato entre a natureza infantil e o mundo adulto, cujos
interesses nem sempre coincidem. A dvida que paira na cabea infantil de Pilar naquela
manh de maio de 1840, demonstra que suas preocupaes imediatas no se aproximavam da
escola. Brincar no campo de SantAnna ou no morro de So Diogo? Campo ou morro? Eis a
questo que atormentava o menino e que em nada se relacionava com os estudos. Pouco
depois, porm, o personagem tomado por uma lembrana arrebatadora: a sova de vara de
marmelo que levara do pai dias antes. A infeliz recordao desperta uma espcie de punio
purificadora. Era melhor deixar a brincadeira de lado e rumar para a escola, afinal, como faz
questo de ressaltar, as sovas de meu pai doam por muito tempo. O pai, velho empregado
do arsenal de guerra, descrito como homem rspido. Desejava que Pilar conclusse os
estudos, pois sonha que ocupasse uma grande posio comercial, e tinha nsia de me ver
com os elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me meter de caixeiro. Citava-me
nomes de capitalistas que tinham comeado ao balco (ASSIS, 1996, p. 69). Mas para tanto,
era necessrio freqentar a escola. Nota-se claramente o papel atribudo educao. O
domnio de certas operaes bsicas como ler, escrever e contar torna-se prioritrio aos que
vislumbram ascender socialmente.
Mas qual o motivo da sova que o pai lhe aplicara? Pilar ento, num exerccio de
memria, reconstri o fato. Uma semana antes, conta o menino, tinha feito dous suetos e
sendo descoberto recebeu o castigo do pai. A chegada de Pilar escola, marcada por certa
cautela, demonstra o respeito temeroso deste em relao ao mestre que, por sorte, chega
pouco depois. Policarpo, como se chamava o mestre, tinha mais ou menos 50 anos de idade.
Ao entrar na sala Policarpo encontrou os alunos de p, como de costume o recebiam.
Subi a escada com cautela, para no ser ouvido do mestre, e cheguei a
tempo; ele entrou na sala trs ou quatro minutos depois. Entrou com o andar
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
58
manso do costume, em chinelas de cordovo, com a jaqueta de brim lavada e
desbotada, cala branca e tesa e grande colarinho cado. [...] Os meninos,
que se conservavam de p durante a entrada dele, tornavam a sentar-se. Tudo
estava em ordem; comearam os trabalhos (ASSIS, 1997, p. 70) [grifo
meu].
Esse ritualismo traduz certa ordem necessria ao bom funcionamento da escola, mas,
correlatamente, desvela certa viso pedaggica, onde o professor aparece como centro do
saber, exercendo certa ascenso natural sobre os alunos. Trata-se, portanto, de uma submisso
consentida e legitimada pela distncia de conhecimento e pela posio que separa o mestre de
seus alunos. A escola configura-se como um espao de relaes de poder, onde a autoridade
do professor contrasta com a passividade dos alunos. A palmatria pendurada, como
observa Pilar, o smbolo da autoridade do mestre. As punies morais e fsicas so
comumente utilizadas como meios de correo dos desvios. O medo do erro e da conseqente
punio o que mantm a disciplina. A escola possui uma dinmica prpria com seus
horrios, normas e rituais e cumpre ao aluno adequar-se. Essa regularidade institucional,
baseada na autoridade e na disciplina, responsvel, de um lado, em formatar o aluno s
exigncias escolares e, de outro, manter a prpria ordem interna. Mas a passividade dos
alunos nunca completa, pois estes resistem da forma que podem, tal como demonstra o
texto.
Pouco depois de ter-se acomodado, Pilar surpreendido pelo aluno Raimundo, filho
do mestre, que pede para falar-lhe. Conforme a descrio de Pilar, tratava-se de um menino
cuja capacidade intelectual no era das mais aguadas, j que gastava duas horas em reter
aquilo que outros levavam apenas trinta ou cinqenta minutos; vencia com o tempo o que no
podia fazer com o crebro. Raimundo era um aluno marcado por uma grande dificuldade de
compreenso e o fato de ser filho do mestre aumentava a cobrana sobre seu desempenho. O
medo de ser punido pelo pai fazia de Raimundo um aluno inseguro. Sarcasticamente Machado
atribui ao filho do mestre as maiores dificuldades, negando assim o velho ditado de que filho
de peixe, peixinho . Raimundo era uma criana fina, plida, cara doente; raramente estava
alegre e o mestre, at mesmo por ser seu pai, era mais severo com ele do que conosco, o
que contribua para castrar ainda mais o menino. E foi exatamente essa dificuldade que o
impulsionou na direo de Pilar naquela manh. Este, por sua vez, a personificao do aluno
esperto. Reconhece no ser um aluno brilhante. Ainda assim, conseguia dar conta das tarefas
com alguma desenvoltura. Era uma criana de boas cores e msculos de ferro, cujo
rendimento era satisfatrio ainda que no fosse o melhor. Geralmente terminava a lio antes
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
59
da maioria e se entretinha desenhando no papel ou na tbua para passar o tempo, uma
ocupao sem nobreza nem espiritualidade, mas certamente menos entediante do que a
escola.
Como se pode notar, Machado explora, por meio de Raimundo e Pilar, dois tipos de
alunos bastante diferentes. O primeiro um aluno que carrega imensas dificuldades de
compreenso, alm do medo das punies que o pai-mestre pode lhe aplicar. O segundo, por
sua vez, um aluno regular, cuja astcia lhe possibilita levar os assuntos da escola.
Ironicamente o filho do mestre, Raimundo, que recorre a Pilar, aluno to pouco interessado
pelos estudos.
Enquanto Raimundo titubeava para falar o que de fato desejava, Pilar, que j havia
terminado a lio, imaginava o que estariam fazendo seus amigos na rua. As vidraas da
escola apareciam como uma espcie de obstculo para o pequeno, que certamente parecia
mais feliz com a idia de estar do lado de fora da escola. Essa relao entre a rua e a escola
bastante interessante, principalmente se nos atentarmos a sua atualidade. O cu azul e claro,
como descreve Machado, repletos de papagaios, se ope ao cenrio escolar, certamente
enfadonho para a mente infantil de Pilar, que afirma:
Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso,
ardia por andar l fora, e recapitulava o campo e o morro, pensava nos
outros meninos vadios, o Chico Telha, o Amrico, o Carlos das Escadinhas,
a fina flor do bairro e do gnero humano. Para cmulo de desespero, vi
atravs das vidraas da escola, no claro azul do cu, por cima do morro do
Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa,
que bojava no ar, uma cousa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas,
com o livro de leitura e a gramtica nos joelhos (ASSIS, 1996, p. 71) [grifo
meu].
Mas o que desejava com tanto fervor o menino Raimundo? Qual o motivo de sua
inquietao? Tratava-se de uma proposta Pilar. Proposta essa que no foi feita
imediatamente, devido ao medo que Raimundo tinha do pai ou de algum escutasse, o que por
si j demonstra no se tratar de algo valoroso.
O leitor nesse momento remetido a uma espera. A proposta no se revela sem antes
Raimundo se precaver que ningum estava espreita, pois, o que tinha a propor a Pilar no
era uma questo simples e o medo de ser punido era um empecilho. Era exatamente o medo
da punio que retardava o pedido de Raimundo, e que deixara ainda mais ansioso o pobre
Pilar que, a essa altura, morto de curiosidade, forava aquele a contar o que tinha em mente. A
curiosidade de Pilar aumentava a cada instante. Que me quereria Raimundo? Continuei inquieto,
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
60
remexendo-me muito, falando-lhe baixo, com instncia, que me dissesse o que era, que ningum
cuidava dele nem de mim. Ou ento, de tarde (ASSIS, 1996, p. 72).
Machado oferece uma excelente descrio dos castigos fsicos e morais dentro da
escola durante o perodo monrquico. O mundo dos adultos se impe de maneira colonizadora
sobre o mundo da criana e qualquer desvio de comportamento punido com rigor, haja vista
infligir moral do mundo adulto. Como afirma Machado, por meio do personagem Pilar, ao
se referir ao mestre: O pior que ele podia ter, para ns, era a palmatria. E essa l estava,
pendurada do portal da janela, direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era s levantar a
mo, despendur-la e brandi-la, com a fora do costume, que no era pouca (ASSIS, 1996, p.
73).
Esperando a distrao do pai, Raimundo ento prepara Pilar, no sem uma dose de
seduo, tal como segue o trecho abaixo (ASSIS, 1996, p. 73):
Raimundo - Sabe o que tenho aqui?
Pilar - No.
Raimundo - Uma pratinha que mame me deu.
Pilar - Hoje?
Raimundo - No, no outro dia, quando fiz anos...
Pilar - Pratinha de verdade?
Raimundo - De verdade.
Era uma moeda que Raimundo tinha ganhado da me e que mostrou vagarosamente a
Pilar. Uma moeda do tempo do rei, que fez pular o sangue no corao de Pilar. Mas o que
desejava o pequeno Raimundo com Pilar e o que a moeda tinha a ver com isso? Raimundo
confessa o propsito da moeda: daria a pratinha Pilar se este lhe ensinasse a lio de sintaxe,
haja vista ter dificuldade para faz-la.
Os olhos de Pilar brilhavam ante a possibilidade de ter a pratinha nas mos. Ainda que
confessasse que, mesmo sem a tal moeda, ensinaria de bom grado a lio ao amigo, como
tantas outras vezes o fez. Mas dessa vez, a proposta de Raimundo parecia-lhe como uma
tentativa de evitar qualquer tipo de m-vontade de sua parte no ensino da lio. O pagamento
certificaria a suposta eficcia do processo. Ainda assim, o senso moral de Pilar o faz titubear
em relao ao negcio proposto. Como afirma o prprio personagem quanto moeda
oferecida: no queria receb-lo, e custava-me recus-la. Porm, entendia os reais motivos
do colega ao procur-lo e a fazer tal oferta: Compreende-se que o ponto da lio era difcil, e
que o Raimundo, no o tendo aprendido, recorria a um meio que lhe pareceu til para escapar
ao castigo do pai (ASSIS, 1996, p. 74).
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
61
Todavia, outro colega, Curvelo, menino pouco mais velho e levado, parecia estar de
escuta na conversa. Embora o mestre no percebesse a movimentao de ambos, o colega
Curvelo parecia atento ao trato dos dois garotos. Ainda assim, Raimundo passa a pratinha
Pilar, que a guardou na algibeira das calas. O acordo estava feito.
Restava prestar o servio, ensinar a lio, e no me demorei em faz-lo, nem
o fiz mal, ao menos conscientemente; passava-lhe a explicao em um
retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de ateno. Sentia-se
que despendia um esforo cinco ou seis vezes maior para aprender um nada;
mas contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem (ASSIS, 1996, p.
75).
O medo de que o plano pudesse dar errado tomou conta de Pilar, que torcia para que a
aula terminasse, principalmente ao perceber em Curvelo um riso atpico, como se quisesse
estragar o que parecia certo. Ainda assim, Pilar sonhava e fazia planos com a moedinha,
apalpando esporadicamente para matar a vontade de espi-la. Agora, de posse da moeda, a rua
o atraia ainda mais.
E l fora, no cu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio,
guinando a um lado e outro, como se me chamasse a ir ter com ele.
Imaginei-me, ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira, e a pratinha
no bolso das calas, que eu no daria a ningum, nem que me serrassem;
guard-la-ia em casa, dizendo a mame eu a tinha achado na rua (ASSIS,
1996, p. 76)
Mas em meio aos devaneios uma voz rspida e forte irrompeu o silncio da sala
chamando o seu nome: PILAR! Era o mestre Policarpo. Ter o nome chamado pelo mestre a
essa altura no lhe era agradvel, ainda mais ao perceber que ao p da mesa daquele estava
Curvelo. As coisas comeam a se encaixar: Curvelo havia delatado o negcio. O mestre
chama Pilar, o encarando com olhos pontudos e depois chama o filho Raimundo. A essa
altura a sala toda os observava, tornando a situao ainda mais vexatria. Foi quando o mestre
indagou ao Pilar: Ento o senhor recebe dinheiro para ensinar lies aos outros?, e antes
que o garoto tivesse tempo de respond-lo continuou, De c a moeda que este seu colega lhe
deu!. Pilar no teve outra sada a no ser devolver a moeda, que foi atirada com raiva pelo
mestre Policarpo para fora da janela. Pilar pediu perdo em vo, pois Policarpo era irredutvel.
Raimundo e Pilar tiveram que escutar um grande sermo do mestre e todo tipo de
objees morais. Mas o pior ainda estava por vir. Cada um recebeu doze bolos de
palmatria, que os deixaram de mos vermelhas e inchadas. Por ltimo, foram chamados dos
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
62
piores nomes e tudo isso na frente dos demais colegas que olhavam mudos o desfecho daquele
acordo que quase deu certo. Nesse ponto do texto, Machado enfatiza as punies fsicas e
morais que recaiam sobre os alunos mal comportados.
O causador do infortnio, Curvelo, calou-se, desviando o olhar e sustentando na face
um suposto arrependimento. Mas o dio de Pilar no o pouparia do lado de fora da escola
depois de a aula terminar. Porm, terminada a aula, com medo, Pilar no conseguiu encontrar
Curvelo, que desapareceu. Mais tarde, em casa, Pilar disse me que tinha as mos inchadas
por no saber a lio.
No outro dia, Pilar acordara cedo. Pretendia ser o primeiro a chegar escola e apanhar
a pratinha que o professor havia lanado pela janela. O dia estava magnfico. Mas um
batalho marchava pela rua o desviou desse caminho. O tambor rufando fez Pilar se render e
seguir o batalho em sua marcha. Ainda que no tivesse a pratinha no bolso, terminou a
manh sem ir escola e sem ressentimentos no corao. Daquele triste episdio, confessa
Pilar no desfecho do texto, aprendeu duas lies com Raimundo e Curvelo: a primeira da
corrupo e a segunda da delao. E o diabo do tambor, que Pilar seduzido acompanhara, era
na verdade um bendito tambor, para no dizer um louvado tambor, capaz de dirimir todas
as frustraes de sua alma infantil e diverti-lo onde sempre quis estar: fora da escola.
5. Consideraes Finais
Como se pde ver, o conto machadiano traz consigo uma carga discursiva bastante
significativa. Ao desenvolver em um nico texto uma esttica aprimorada, que rene de
aspectos psicolgicos e afetivos a leituras sociais, como a autoridade escolar, a fora da
tradio, as relaes paterno-filiais, a percepo do valor mercantil e no pblico do ensino
desde a preparao para a ocupao futura e at no contrato entre colegas firmado perante
paga; tudo remete complexidade do texto que consubstancial ao complexo arranjo da
realidade escolar, ponto de encontro de inmeras realidades paralelas e modeladora de
sujeitos vencedores conforme tipificao pr-definida.
A crtica ao modelo educacional daquele momento narrada quando do clmax: as
inquietaes mais vvidas da infncia, materializadas na pequena moeda de prata, so jogadas
pela janela e, pelo desfecho do conto, nunca mais foram encontradas, seno fora da escola,
onde o tambor e a marcha dos fuzileiros provocam comicho nos ps.
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
63
Nesse sentido, Machado, tomando a liberdade de analis-lo sob a ptica de um
discurso, coloca o antagonismo entre os interesses infantil e adulto, bem como relativiza a
eficcia da autoridade cega, que pode tanto ter efeito pontual, como no caso de Pilar, que ao
cabo do conto aprende duas valorosas lies, como ter efeitos mais nocivos, como no caso de
Raimundo, j desfigurado pela severidade do pai e fadado ao fracasso conforme os olhares
sociais e os mtodos escolares. Em todo caso, a realidade infantil se faz mais viva do que
qualquer sobradinho de grade de pau pode encerrar.
O Conto da Escola suscita inmeras reflexes acerca do processo educativo. Nele,
Machado de Assis, de uma maneira bem humorada e irnica, provoca o leitor a refletir acerca
do papel da escola. Apesar do tempo que nos separa da obra, tendo em vista ter sido escrita no
sculo XIX, podemos t-la como uma obra atual, talvez porque a prpria escola e o ser
humano tenham se alterado pouco nesse tempo. Pilar, Raimundo e Curvelo tipificam as
relaes paralelas que se travam no contexto escolar, relaes essas muitas vezes complexas e
contraditrias, que passam pela afetividade, pelo companheirismo e as muitas vezes at pela
inimizade e inveja. Essas relaes entre os alunos se travam paralelamente aos ditames
escolares e apresentam-se como resistncia ao formalismo institucional. O mestre Policarpo
personifica a normatividade e a disciplina. De certo modo, ele se confunde com a figura do
Pai, cujo esprito punitivo e o senso moral recaem sobre a imaturidade dos jovens com o
intuito de torn-los futuros homens adaptados aos valores sociais. A violncia fsica e a
simblica tornam-se os mecanismos mais usuais para esse fim. Entretanto, como o conto
demonstra, essa colonizao do mundo infantil pelo mundo adulto desconsidera a natureza
infantil e suas necessidades.
Referncias
ARANHA, Maria Lcia de Arruda. Histria da Educao e da Pedagogia: Geral e do Brasil.
3. ed. So Paulo: Moderna, 2006.
ASSIS, Machado de. Conto de Escola. In: Contos. So Paulo: Paz e terra, 1996.
AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira: introduo ao estudo da cultura do Brasil. 4
ed. Braslia: UNB, 1963.
COMPAGNON, Antoine. O demnio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte:
UFMG, 2006.
CUNHA, Luiz Antnio. Educao e desenvolvimento social no Brasil. 8 ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1980.
DONOFRIO, Salvatore. Literatura Ocidental: Autores e obras fundamentais. 2. ed. So
Paulo: tica, 1997.
Revista Sul-americana de Filosofia e Educao RESAFE_________________________
Nmero 10: maio/2008-outubro/2008
64
GIRALDELLI JNIOR. Paulo. Histria da Educao Brasileira. 2. Ed. So Paulo: Cortez,
2006.
HAIDT, Regina Clia Cazaux. Curso de Didtica Geral. 7 ed. So Paulo: tica, 2003.
LAMARQUE, Peter; OLSEN, Stein Haugom. Filosofia da Literatura: Prazer Restabelecido.
In.: KIVY, Peter (Org.). Esttica: Fundamentos e questes da filosofia da arte. So Paulo:
Paulus, 2008.
LIMA, Luiz Costa. A questo dos gneros. In.: ________. Teoria da literatura e suas fontes.
2. Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983.
MISUKAMI, Maria da Graa Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. So Paulo: EPU,
1986.
OITICICA, Jos. O que o conto. In.: ________. Curso de Literatura. Rio de Janeiro:
Bertrand, 1960.
PAREYSON, Luigi. Os problemas da esttica. Traduzido por Maria Helena Nery Garcez.
So Paulo: Martins Fontes, 2001.
PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentao: a nova
retrica. Traduzido por Maria Ermantina Galvo G. Pereira. So Paulo Martins Fontes, 1996.
ROMANELLI, Otaza de Oliveira. Histria da Educao no Brasil. 31. ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2007.
SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de Teoria Literria. 9 ed. Petrpolis: Vozes, 1997.
SANTOS, Mrio Ferreira. Convite Esttica. 2. ed. So Paulo: Logos, 1961.
SCHEFFLER, Israel. A Linguagem da Educao. Traduo de Balthazar Barbosa Filho. So
Paulo: Saraiva, 1974.
SOARES, Anglica. Gneros Literrios. 3 ed. So Paulo: tica, 1993.
TAVARES, Hnio. Teoria Literria. 7 ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981.
TREVISAN, Pricles. Discurso Pedaggico e Modelo de Cientificidade. In.: NAGLE, Jorge
(Org.) Educao e Linguagem: para um estudo do discurso pedaggico. So Paulo: Edart,
1976.
XAVIER, Maria Elizabete S. P. Poder Poltico e educao de elite. 3. ed. So Paulo: Cortez,
1992.
Você também pode gostar
- Cifras Dos CDS Do Diante Do TronoDocumento98 páginasCifras Dos CDS Do Diante Do Tronogide1989100% (4)
- Proposta Comercial - FENIX - PRICEDocumento4 páginasProposta Comercial - FENIX - PRICEErik MugrabiAinda não há avaliações
- Ebook Introdução À Harmonia Funcional 2.0Documento30 páginasEbook Introdução À Harmonia Funcional 2.0Claudio AzevedoAinda não há avaliações
- Culto Familiar Por Dr. Joel BeekeDocumento29 páginasCulto Familiar Por Dr. Joel BeekeEricson Luan Soares LimaAinda não há avaliações
- De Repente Nas Profundezas Do BosqueDocumento27 páginasDe Repente Nas Profundezas Do BosqueELIZA0109Ainda não há avaliações
- Caderno - Ditados - 7 A 9 AnosDocumento32 páginasCaderno - Ditados - 7 A 9 Anoselisimcar100% (1)
- Como Gerenciar Meu Tempo (Ryan M. McG... (Z-Library)Documento33 páginasComo Gerenciar Meu Tempo (Ryan M. McG... (Z-Library)bleyAinda não há avaliações
- MACHADO, E.R. - Fundamentos Da Pedagogia Social (Revisado) 01Documento42 páginasMACHADO, E.R. - Fundamentos Da Pedagogia Social (Revisado) 01Hélder miguelAinda não há avaliações
- A Literatura e MalDocumento5 páginasA Literatura e MalBruno ArenaAinda não há avaliações
- Infraestrutura de Redes de ComputadoresDocumento220 páginasInfraestrutura de Redes de ComputadoresThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Machado Lousada Abreu-Tardelli - ResumoDocumento13 páginasMachado Lousada Abreu-Tardelli - ResumoCarla Bertuleza100% (1)
- Maingueneau, D.Documento10 páginasMaingueneau, D.Ehidee Gomez La Rotta100% (1)
- Artigo Orlandi DiscursoDocumento7 páginasArtigo Orlandi Discursocibele dal corsoAinda não há avaliações
- Artigo Traducao Orgulho Preconceito BrasilDocumento22 páginasArtigo Traducao Orgulho Preconceito BrasilAna Carolina Konecsni BruniAinda não há avaliações
- Resenha3 - Explicando Uma Explicação NoturnoDocumento1 páginaResenha3 - Explicando Uma Explicação NoturnoandrefseAinda não há avaliações
- Tema 1a O Discurso e o Sujeito Discursivo - Ideologia, Efeito de Sentido, Polifonia, Heterogeneidade e IdentidadeDocumento40 páginasTema 1a O Discurso e o Sujeito Discursivo - Ideologia, Efeito de Sentido, Polifonia, Heterogeneidade e Identidadeallan.meloAinda não há avaliações
- Aula Sobre Modalização LinguísticaDocumento21 páginasAula Sobre Modalização LinguísticaLenise Grasiele de Oliveira TavaresAinda não há avaliações
- BARROS Teorias Linguisticas e Teoria SemióticaDocumento4 páginasBARROS Teorias Linguisticas e Teoria SemióticaAmanda LiraAinda não há avaliações
- As Metaforas Educacionais PDFDocumento55 páginasAs Metaforas Educacionais PDFflasiAinda não há avaliações
- Curriculo Poder e Construção Do SujeitoDocumento16 páginasCurriculo Poder e Construção Do SujeitoZé M N NetoAinda não há avaliações
- NETO, José Francisco de Melo. Dialética, Uma IntroduçãoDocumento36 páginasNETO, José Francisco de Melo. Dialética, Uma Introduçãopierre_costa_1100% (1)
- NETO, José Francisco de Melo. Dialética, Uma Introdução - Dialética, Uma Visão MarxistaDocumento67 páginasNETO, José Francisco de Melo. Dialética, Uma Introdução - Dialética, Uma Visão MarxistaFelipe Borges CunhaAinda não há avaliações
- Artigo de RevisãoDocumento18 páginasArtigo de Revisãoisantoslira78Ainda não há avaliações
- Fundamentos Teórico-Filosóficos e Suas Determinações Nas Teorias Pedagógicas Da Educação Escolar.Documento20 páginasFundamentos Teórico-Filosóficos e Suas Determinações Nas Teorias Pedagógicas Da Educação Escolar.Ana Carolina GalvãoAinda não há avaliações
- Um Discurso Sobre Gênero Nos Currículos de CiênciasDocumento14 páginasUm Discurso Sobre Gênero Nos Currículos de CiênciasJéssica Maiza NogueiraAinda não há avaliações
- Roteiro Aprendizagem emDocumento7 páginasRoteiro Aprendizagem emLeia SantosAinda não há avaliações
- Aula 1Documento22 páginasAula 1Eliege PereiraAinda não há avaliações
- Patrick C - Um Modelo Sócio-Comunicacional Do Discurso - Entre Situação de Comunicação e Estratégias de IndividualizaçãoDocumento11 páginasPatrick C - Um Modelo Sócio-Comunicacional Do Discurso - Entre Situação de Comunicação e Estratégias de IndividualizaçãoJanaína PazzaAinda não há avaliações
- Interdisciplinaridade - Deivide OliveiraDocumento11 páginasInterdisciplinaridade - Deivide OliveiraAlexsandra RosaAinda não há avaliações
- 8329-Texto Do Artigo-24271-1-10-20201214Documento32 páginas8329-Texto Do Artigo-24271-1-10-20201214DOUGLAS MARIS ANTUNES COELHOAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - ResenhaDocumento4 páginasAnálise Do Discurso - ResenhaVerinalda FreitasAinda não há avaliações
- 2024.atividade de Análise de Documentos OficiaisDocumento7 páginas2024.atividade de Análise de Documentos OficiaisEfigenialimasantosAinda não há avaliações
- Para Escrever É Preciso PensarDocumento25 páginasPara Escrever É Preciso PensarWerner BessaAinda não há avaliações
- Velhas e Novas ProfissionalidadesDocumento26 páginasVelhas e Novas ProfissionalidadesNair PiresAinda não há avaliações
- Revisitando o Conceito de ResumosDocumento16 páginasRevisitando o Conceito de ResumosWalter WaltonAinda não há avaliações
- O Debate Regrado Como ObjetoDocumento16 páginasO Debate Regrado Como ObjetoRenata Laíze Lins Renata LaízeAinda não há avaliações
- Revista Linguagem e Ensino - Um Olhar Discursivo Sobre A "Sala de Professores" Na Revista Nova EscolaDocumento19 páginasRevista Linguagem e Ensino - Um Olhar Discursivo Sobre A "Sala de Professores" Na Revista Nova EscolaLucas CarboniAinda não há avaliações
- O Presente Trabalho de Campo É Referente A Disciplina Teoria e Análise Do Discurso Do 3ºDocumento4 páginasO Presente Trabalho de Campo É Referente A Disciplina Teoria e Análise Do Discurso Do 3ºEdmilsonAinda não há avaliações
- 71620-Texto Do Artigo-297115-1-10-20170302Documento39 páginas71620-Texto Do Artigo-297115-1-10-20170302Stephanie DantasAinda não há avaliações
- 1196-Texto Do Artigo-3356-1-10-20120928Documento31 páginas1196-Texto Do Artigo-3356-1-10-20120928Luisa AlvesAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento4 páginasResenhaIzabella LucianaAinda não há avaliações
- 00 - O Ensino de Recreação - Repensando Algumas PráticasDocumento18 páginas00 - O Ensino de Recreação - Repensando Algumas PráticasWalk LoureiroAinda não há avaliações
- Analise Do DiscursoDocumento21 páginasAnalise Do DiscursoAngélica Lima (Angel)Ainda não há avaliações
- Personalidade Do ProfessorDocumento17 páginasPersonalidade Do ProfessorDaukaAinda não há avaliações
- André Luiz Gaspari Madureira - TextoDocumento182 páginasAndré Luiz Gaspari Madureira - TextoLaura Dela SáviaAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso E Semântica Enunciativa: Uma Proposta No Enlace TeóricoDocumento10 páginasAnálise Do Discurso E Semântica Enunciativa: Uma Proposta No Enlace TeóricoDeyvillaAinda não há avaliações
- Dialética - Uma IntroduçãoDocumento37 páginasDialética - Uma IntroduçãoCarla MirandaAinda não há avaliações
- Epistemologia e Teorias Da Educação No Brasil SAVIANI PDFDocumento13 páginasEpistemologia e Teorias Da Educação No Brasil SAVIANI PDFGeisa CândidaAinda não há avaliações
- Lógica Plano de AulaDocumento17 páginasLógica Plano de AulaEmanuel TorquatoAinda não há avaliações
- Filosofia Da Educação e Imagens de Docência - O Professor Viajante Ou Alquimista.Documento24 páginasFilosofia Da Educação e Imagens de Docência - O Professor Viajante Ou Alquimista.GustavoPiraAinda não há avaliações
- Azanha, J.M.P.Documento8 páginasAzanha, J.M.P.Rimda SantosAinda não há avaliações
- Artigo - O ISD - Anna Rachel MachadoDocumento12 páginasArtigo - O ISD - Anna Rachel MachadoJairo CarvalhaisAinda não há avaliações
- Fatores Da TextualidadeDocumento7 páginasFatores Da TextualidadedadofortalAinda não há avaliações
- Rev.5.01 o Pensamento Pedagogico de Paulo Freire A Luz Da Filosofia Da Educacao Rev DeniseDocumento12 páginasRev.5.01 o Pensamento Pedagogico de Paulo Freire A Luz Da Filosofia Da Educacao Rev DeniseCelcioAinda não há avaliações
- 2018.10.29 - MACHADO, Anna Rachel. Revisitando o Conceito de ResumosDocumento13 páginas2018.10.29 - MACHADO, Anna Rachel. Revisitando o Conceito de ResumosMenina_Emilia100% (1)
- AULA01Documento18 páginasAULA01DeniseAinda não há avaliações
- 1295 3479 1 SMDocumento10 páginas1295 3479 1 SMWillian GonçalvesAinda não há avaliações
- FERNANDES, C. A. Análise Do Discurso. E-Book, 2008 - Domínio - Público - FINAL. 2Documento51 páginasFERNANDES, C. A. Análise Do Discurso. E-Book, 2008 - Domínio - Público - FINAL. 2AlguémAinda não há avaliações
- Resenha Critica de 2 TextosDocumento3 páginasResenha Critica de 2 TextosÉrica SanchesAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Educação Um Mosaico de SaberesDocumento4 páginasFundamentos Da Educação Um Mosaico de Saberesmarcia_laerce3404Ainda não há avaliações
- A Polissemia Da Palavra Da ExperimentaçãoDocumento14 páginasA Polissemia Da Palavra Da ExperimentaçãoRUBIA RODRIGUESAinda não há avaliações
- Atividade - Teorias Do CurrículoDocumento2 páginasAtividade - Teorias Do CurrículoBismarck SenaAinda não há avaliações
- A Atuacao Do Psicologo Como Expressao DoDocumento35 páginasA Atuacao Do Psicologo Como Expressao Dodrika potatoAinda não há avaliações
- 11 Relações de Sentido Entre PalavrasDocumento21 páginas11 Relações de Sentido Entre PalavrasEmiliano Souza SouzaAinda não há avaliações
- 9 - 13.06.2022 Analise Dialógica Do Discurso de Professoras Da Educação de Jovens e Adultos Sobre Leitura e EscritaDocumento10 páginas9 - 13.06.2022 Analise Dialógica Do Discurso de Professoras Da Educação de Jovens e Adultos Sobre Leitura e EscritaVictor Hugo Lima NazárioAinda não há avaliações
- Desterritorialização no Ensino de Filosofia: uma experiência rizomática no primeiro ano do Ensino MédioNo EverandDesterritorialização no Ensino de Filosofia: uma experiência rizomática no primeiro ano do Ensino MédioAinda não há avaliações
- Manual Cubo MágicoDocumento13 páginasManual Cubo MágicoEvando CostaAinda não há avaliações
- Quesrões - Abordagem Neoclássica e Comportamental Da AdministraçãoDocumento4 páginasQuesrões - Abordagem Neoclássica e Comportamental Da AdministraçãoEvando CostaAinda não há avaliações
- Cartilha - Empregadores Com Parcelamento FGTSDocumento4 páginasCartilha - Empregadores Com Parcelamento FGTSEvando CostaAinda não há avaliações
- Caderno de CifrasDocumento165 páginasCaderno de CifrasEvando CostaAinda não há avaliações
- ARTIGO - O Conselho Federal de Educação Nos Bastidores Da Reforma Universitária de 1968Documento11 páginasARTIGO - O Conselho Federal de Educação Nos Bastidores Da Reforma Universitária de 1968Evando CostaAinda não há avaliações
- A Observação Participante Enquanto Técnica de InvestigaçãoDocumento7 páginasA Observação Participante Enquanto Técnica de Investigação156_76Ainda não há avaliações
- Conteudo Da Apostila de Regras Básicas Da Língua PortuguesaDocumento37 páginasConteudo Da Apostila de Regras Básicas Da Língua PortuguesaDébora BiancoAinda não há avaliações
- Ldia12 Gramatica Coesao TextualDocumento3 páginasLdia12 Gramatica Coesao TextualLara NovaAinda não há avaliações
- Deus ProveráDocumento4 páginasDeus ProveráFernandes SalesAinda não há avaliações
- NandemonayaDocumento6 páginasNandemonayaLuciane CarbonaraAinda não há avaliações
- Resumo para Prova Final - OHD - AndréDocumento27 páginasResumo para Prova Final - OHD - AndréSacerdote Eguimar Matias Dos SantosAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa 27.07Documento2 páginasLíngua Portuguesa 27.07Fernandes OlintoAinda não há avaliações
- A Crítica Textual - O Erro Da Supremacia Do Critério Cronológico - Ícaro Alencar de OliveiraDocumento3 páginasA Crítica Textual - O Erro Da Supremacia Do Critério Cronológico - Ícaro Alencar de OliveiraÍcaro Alencar de Oliveira100% (1)
- Evangelismo Kids PDFDocumento3 páginasEvangelismo Kids PDFPriscila silvaAinda não há avaliações
- Raul BoppDocumento4 páginasRaul BoppVinicius FernandesAinda não há avaliações
- Avaliação de Língua PortuguesaDocumento4 páginasAvaliação de Língua PortuguesaSibele SantosAinda não há avaliações
- 05 - Restauração Dos SonhosDocumento2 páginas05 - Restauração Dos SonhoswebskyeversonAinda não há avaliações
- LIÇÃO 13 - RESISTINDO ÀS SUTILEZAS DE SATANÁS - 3º TRIMESTRE 2022 (TG 4.4-10)Documento2 páginasLIÇÃO 13 - RESISTINDO ÀS SUTILEZAS DE SATANÁS - 3º TRIMESTRE 2022 (TG 4.4-10)FS motherboardsAinda não há avaliações
- 7LINGUAPORTUGUESADocumento72 páginas7LINGUAPORTUGUESAJosue Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- ARTIGO (Resumo + Exercício)Documento1 páginaARTIGO (Resumo + Exercício)CamillaAinda não há avaliações
- Uma Carta Aberta Ao Meu Futuro AmorDocumento1 páginaUma Carta Aberta Ao Meu Futuro AmoryasfssfreitasAinda não há avaliações
- Aula 04 - Pronouns and PrepositionsDocumento167 páginasAula 04 - Pronouns and PrepositionsMike NunesAinda não há avaliações
- Palavras Hebraicas e Hebraísmos No Português PDFDocumento27 páginasPalavras Hebraicas e Hebraísmos No Português PDFFabrício BarbosaAinda não há avaliações
- Apostila Recenseador IBGEDocumento150 páginasApostila Recenseador IBGEmarkAinda não há avaliações
- A Verdade Sobre Os Signos Do ZodíacoDocumento5 páginasA Verdade Sobre Os Signos Do ZodíacoJose BonezziAinda não há avaliações
- Exercito - InconformadoDocumento1 páginaExercito - Inconformadojoannyanny72Ainda não há avaliações
- Ernani Reichmann PDFDocumento6 páginasErnani Reichmann PDFNasserHammadAinda não há avaliações