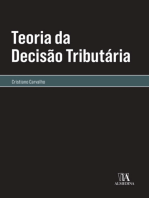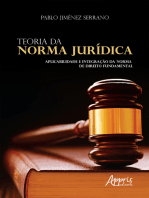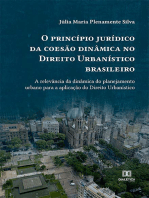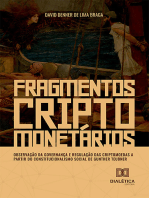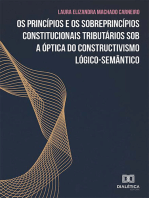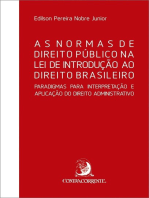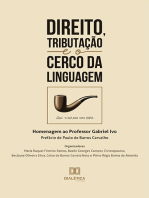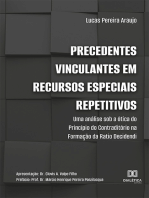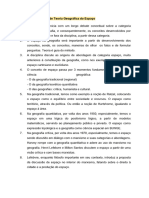Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teoria Geral Do Direito - Constructivismo Lógico-Semantico
Enviado por
Fábio AraújoDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Teoria Geral Do Direito - Constructivismo Lógico-Semantico
Enviado por
Fábio AraújoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
AURORA TOMAZINI DE CARVALHO
TEORIA GERAL DO DIREITO
(o Constructivismo Lgico-Semntico)
DOUTORADO EM DIREITO
PUC/SP
2009
2
AURORA TOMAZINI DE CARVALHO
TEORIA GERAL DO DIREITO
(o Constructivismo Lgico-Semntico)
DOUTORADO EM FILOSOFIA DO DIREITO
Tese apresentada Banca Examinadora da Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo, como exigncia para
obteno do grau de Doutor em Filosofia do Direito, sob a
orientao do Professor Doutor Paulo de Barros Carvalho.
PUC/SP
2009
3
BANCA EXAMINADORA
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
4
RESUMO
A proposta desta tese aplicar os pressupostos da Teoria do Constructivismo
Lgico-Semntico na construo de uma Teoria Geral do Direito.
Sob forte inspirao filosfica, tendo como instrumento o Giro-Lingstico, a
Semitica, a Teoria dos Valores, uma postura analtica e, principalmente, os ensinamentos de PAULO
DE BARROS CARVALHO, os conceitos fundantes, que se repetem em todos os segmentos do direito,
so pensados e estruturados, neste trabalho, para edificao de uma Teoria que os explique sob estes
fundamentos.
As categorias gerais so observadas tendo-se em conta trs recortes para delimitao
do direito, bem delimitados na obra de PAULO DE BARROS CARVALHO: (i) constituir-se este num
conjunto de normas jurdicas vlidas; (ii) que se materializa em linguagem prescritiva; (iii) impregnada
de valor.
Com viso crtica s construes realizadas pela doutrina tradicional, depois de
fixados os pressupostos do Constructivismo Lgico-Semntico, num convite reflexo filosfica do
direito, o trabalho apresenta: (i) uma Teoria da Norma Jurdica, que se volta anlise da estrutura e
contedo das unidades do direito positivo; (ii) uma Teoria da Incidncia, que estuda a aplicao das
normas jurdicas e os efeitos dela decorrentes na ordem jurdica; e (iii) uma Teoria do Ordenamento
Jurdico, que explica como se estabelecem as relaes entre as normas jurdicas na conformao do
sistema do direito posto, como elas surgem, passam a integrar tal sistema, a produzir efeitos dentro
dele e como elas deixam de a ele pertencer.
Com a juno destas trs teorias, imersas nas idias do Constructivismo Lgico-
Semntico o trabalho oferece uma Teoria Geral do Direito, um ponto de vista sobre as categorias
constantes em todas as fraes metodologicamente recortadas do saber jurdico, que se amolda a tal
concepo filosfica.
5
ABSTRACT
The purpose of this thesis is to apply the presuppositions of Logical-Semantic-
Constructivist Theory to the development of a General Theory of Law.
Philosophically inspired and using as instruments the Linguistic Turn, Semiotics, the
Theory of Value, an analytic approach and, mainly, the teachings of PAULO DE BARROS
CARVALHO, the founding concepts which recur throughout every segment of Law, are thought out
and structured in this work for the edification of a Theory that explains then in light of these
fundaments.
The general categories are observed, taking into account the three sectional cuts for
the delimitation of Law, well delineated in the work of PAULO DE BARROS CARVALHO: (i) a set
of valid juridical norms; (ii) materialized in prescriptive language; and (iii) impregnated with value.
With a critical view toward constructions produced by traditional legal doctrine, once
the basis of Logical-Semantic-Constructivism has been set, the work presents in an invitation to
philosophical reflection: (i) a Theory of the Juridical Norm, that analyzes the structure and content of
the units of positive law; (ii) a Theory of Incidence, that studies the application of juridical norms and
the resulting effects caused to the juridical system; and (iii) a Theory of the Juridical System, that
explains how relationships are formed between juridical norms in the conformation of a positive law
system, how they arise, how they come to integrate such system, how they produce effects and how
they cease to pertain to the system.
With the conjunction of these three theories, immersed in Logical-Semantic-
Constructivist thought, the work offers up a General Theory of Law, a perspective on the categories
existing in all the methodologically sectioned parts of legal knowledge, which can be molded into such
a philosophical concept.
6
Dedico este trabalho
Aos meus pais Alcides Vitor de Carvalho e Marcolina Tomazini de Carvalho
Ao Prof. Paulo de Barros Carvalho
E aos meus alunos
7
AGRADECIMENTOS
Aprendi, com a metodologia do IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributrios, que
ningum muda sozinho, ns mudamos nos encontros. Este trabalho resultado de vrios encontros com
diferentes pessoas, que fizeram parte da minha vida durante os quatro anos que passei no Doutorado em
Direito da Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, s quais eu tenho muito a agradecer:
Serei sempre grata ao Prof. Paulo de Barros Carvalho, meu orientador, por quem nutro
admirao inestimvel, por ter me aceito na sua escola e me introduzido no mundo da reflexo sobre o direito e
por todas as oportunidades que me concedeu ao longo destes anos.
Ao CNPQ que viabilizou financeiramente a realizao desta tese.
Aos meus alunos que, com suas dvidas e colocaes, me ajudaram a conceber, reforar e
testar muitas das idias presentes neste trabalho.
Aos amigos professores do COGEAE, em especial ao Charles McNaughton, pela leitura do
texto e traduo do resumo.
A toda equipe do IBET, qual tenho a satisfao de integrar como professora e
pesquisadora, em particular ao querido amigo Eurico Marcos Diniz de Santi, cuja capacidade de trabalho me
impressiona a cada dia.
Aos colegas do grupo de estudos e ao pessoal do escritrio, especialmente ao Tcio Lacerda
Gama e ao Robson Maia Lins, que mais proximamente acompanharam o desenvolvimento deste trabalho.
A toda minha famlia, em especial minha me Marcolina que, com seu carinho e
inabalvel disposio, muito me incentivou, minha irmzinha Helena, ao Anderson e, mais que especialmente,
ao meu pai Alcides, que muito me ajudou com seu imensurvel conhecimento, pacincia e longas tardes de
discusses sobre grande parte dos pensamentos manifestos nesta tese, bem como, pelas leituras e reviso do
texto.
Obrigada, obrigada, obrigada!
8
"No se pode ensinar alguma coisa a algum, pode-se apenas auxiliar
a descobrir por si mesmo."
Galileu Galilei
9
SUMRIO
INTRODUO.................................................................................................................................... 16
LIVRO I - PRESSUPOSTOS DO CONSTUCTIVISMO LGICO-SEMNTICO
CAPTULO I - PROPOSIES PROPEDUTICAS
1. FUNDAMENTOS DE UMA TEORIA............................................................................................. 19
2. PRESSUPOSTOS DO CONHECIMENTO....................................................................................... 21
2.1. Conhecimento em sentido amplo e em sentido estrito................................................................ 23
2.2. Giro-lingstico ........................................................................................................................... 26
2.3. Linguagem e realidade ................................................................................................................ 28
2.4. Lngua e realidade ....................................................................................................................... 30
2.5. Sistema de referncia .................................................................................................................. 32
2.6. Consideraes sobre a verdade ................................................................................................... 35
2.7. Auto-referncia da linguagem..................................................................................................... 38
2.8. Teoria dos jogos de linguagem.................................................................................................... 40
3. CONHECIMENTO CIENTFICO..................................................................................................... 42
3.1. Linguagem cientfica e Neopositivismo Lgico ......................................................................... 42
3.2. Pressupostos de uma teoria ......................................................................................................... 44
3.2.1. Delimitao do objeto .......................................................................................................... 45
3.2.2. Mtodo ................................................................................................................................. 49
4. TEORIA GERAL DO DIREITO....................................................................................................... 53
CAPTULO II - O DIREITO COMO OBJETO DE ESTUDO
1. SOBRE O CONCEITO DE DIREITO........................................................................................... 55
2. SOBRE A DEFINIO DO CONCEITO DE DIREITO.............................................................. 57
3. PROBLEMAS DA PALAVRA DIREITO..................................................................................... 60
3.1. Ambigidade ............................................................................................................................... 61
3.2. Vaguidade.................................................................................................................................... 63
3.3. Carga emotiva ............................................................................................................................. 65
4. TEORIAS SOBRE O DIREITO........................................................................................................ 67
4.1. Jusnaturalismo............................................................................................................................. 67
4.2. Escola da Exegese ....................................................................................................................... 68
4.3. Historicismo ................................................................................................................................ 69
4.4. Realismo jurdico ........................................................................................................................ 70
4.5. Positivismo.................................................................................................................................. 71
4.6. Culturalismo Jurdico .................................................................................................................. 73
4.7. Ps-Positivismo........................................................................................................................... 74
5. O DIREITO COMO NOSSO OBJETO DE ESTUDOS.................................................................... 75
6. CONSEQNCIAS METODOLGICAS DESTE RECORTE ...................................................... 76
7. MTODO HERMENEUTICO-ANALTICO................................................................................... 78
CAPTULO III - DIREITO POSITIVO, CINCIA DO DIREITO E REALIDADE SOCIAL
1. DIREITO POSITIVO E CINCIA DO DIREITO............................................................................ 81
2. CRITRIOS DIFERENCIADORES DAS LINGUAGENS DO DIREITO POSITIVO E DA
CINCIA DO DIREITO........................................................................................................................ 83
2.1. Quanto funo .......................................................................................................................... 83
2.2. Quanto ao objeto ......................................................................................................................... 88
10
2.3. Quanto ao nvel de linguagem..................................................................................................... 90
2.4. Quanto ao tipo ou grau de elaborao......................................................................................... 91
2.5. Quanto estrutura ....................................................................................................................... 94
2.6. Quanto aos valores ...................................................................................................................... 96
2.7. Quanto coerncia...................................................................................................................... 97
2.8. Sntese ....................................................................................................................................... 100
CAPTULO IV - TEORIA DOS SISTEMAS
1. SOBRE OS SISTEMAS................................................................................................................... 102
1.2. Noo de sistema....................................................................................................................... 103
1.2. Classificao dos sistemas ........................................................................................................ 105
2. DIREITO POSITIVO, CINCIA DO DIREITO E REALIDADE SOCIAL.................................. 109
2.1. Intransitividade entre os sistemas.............................................................................................. 111
2.2. Direito positivo e Cincia do Direito como subsistemas sociais .............................................. 113
2.3. Teoria dos sistemas ................................................................................................................... 115
2.3.1. Cdigo, programas e funo............................................................................................... 115
2.3.2. Acoplamento estrutural, abertura cognitiva e fechamento operativo................................. 117
3. DVIDAS QUANTO AO DIREITO POSITIVO SER UM SISTEMA......................................... 119
4. SOBRE O SISTEMA DA CINCIA DO DIREITO....................................................................... 122
5. FALSA AUTONOMIA DOS RAMOS DO DIREITO.................................................................... 123
6. DIREITO POSITIVO E OUTROS SISTEMAS NORMATIVOS .................................................. 125
CAPTULO V- SEMITICA E TEORIA COMUNICACIONAL DO DIREITO
1. LNGUA, LINGUAGEM E FALA ................................................................................................. 129
1.1. O signo ...................................................................................................................................... 130
1.2. Suporte fsico, significado e significao do direito positivo e da Cincia do Direito ............. 132
2. SEMITICA E DIREITO................................................................................................................ 134
3. TEORIA COMUNICACIONAL DO DIREITO POSITIVO.......................................................... 135
4. O DIREITO COMO TEXTO........................................................................................................... 139
4.1. Texto e contedo ....................................................................................................................... 140
4.2. Dialogismo - contexto e intertextualidade ................................................................................ 142
CAPTULO VI - O DIREITO E A LGICA
1. LGICA E LINGUAGEM.............................................................................................................. 144
1.1. Enunciado e proposio ............................................................................................................ 145
1.2. Formalizao da linguagem ...................................................................................................... 147
1.3. Frmulas lgicas ....................................................................................................................... 149
1.4. Operaes lgicas...................................................................................................................... 152
2. A LGICA COMO INSTUMENTO PARA O ESTUDO DO DIREITO....................................... 153
3. OS MUNDOS DO SER E DO DEVER-SER........................................................................... 155
3.1. Causalidade e nexos lgicos...................................................................................................... 155
3.2. Causalidade fsica ou natural e causalidade jurdica................................................................. 157
3.3. Leis da natureza e leis do direito............................................................................................... 160
4. MODAIS ALTICOS E DENTICOS........................................................................................... 161
5. O CARATER RELACIONAL DO DEVER SER........................................................................ 167
6. DIREITO E SUA REDUO LGICA MODAIS DENTICOS E VALORAO DA
HIPTESE NORMATIVA.................................................................................................................. 169
CAPTULO VII - HERMENUTICA JURDICA E TEORIA DOS VALORES
1. TEORIAS SOBRE A INTERPRETAO..................................................................................... 172
11
2. COMPREENSO E INTERPRETAO....................................................................................... 174
3. INTERPRETAO E TRADUO.............................................................................................. 178
4. INTERPRETAO DOS TEXTOS JURDICOS.......................................................................... 179
5. SOBRE O PLANO DE CONTEDO DO DIREITO...................................................................... 182
6. PERCURSO DA CONSTRUO DO SENTIDO DOS TEXTOS JURDICOS........................... 185
6.1. S1 o sistema dos enunciados prescritivos plano de expresso do direito positivo.............. 187
6.2. S2 o sistema dos contedos significativos dos enunciados prescritivos ................................ 191
6.3. S3 o sistema das significaes normativas proposies denticamente estruturadas......... 193
6.4. S4 o plano das significaes normativas sistematicamente organizadas ............................... 196
6.5. Integrao entre os subdomnios S1, S2, S3 e S4 ..................................................................... 198
7. INTERPRETAO AUTNTICA................................................................................................. 199
8. SOBRE OS MTODOS DE ANLISE DO DIREITO.................................................................. 203
9. TEORIA DOS VALORES............................................................................................................... 207
9.1. Sobre os valores ........................................................................................................................ 208
9.2. Os valores e o direito................................................................................................................. 210
LIVRO II - TEORIA DA NORMA JURDICA
CAPTULO VIII - A ESTRUTURA NORMATIVA
1. POR QUE UMA TEORIA DA NORMA JURDICA? ................................................................... 212
2. QUE NORMA JURDICA? ......................................................................................................... 213
3. NORMA JURDICA EM SENTIDO ESTRITO............................................................................. 215
4. HOMOGENEIDADE SINTTICA E HETEROGENEIDADE SEMNTICA E PRAGMTICA
DAS NORMAS JURDICAS .............................................................................................................. 219
5. ESTRUTURA DA NORMA JURDICA ........................................................................................ 222
5.1. Antecedente normativo ............................................................................................................. 224
5.2. O operador dentico.................................................................................................................. 227
5.3. O conseqente normativo.......................................................................................................... 228
5.4. A implicao como forma sinttica normativa ......................................................................... 231
6. NORMA JURDICA COMPLETA................................................................................................. 234
6.1. Norma primria e secundria na doutrina jurdica.................................................................... 234
6.2. Fundamentos da norma secundria ........................................................................................... 236
6.3. Estrutura completa da norma jurdica ....................................................................................... 237
6.4. Normas secundrias................................................................................................................... 238
6.5. Sobre o conectivo das normas primaria e secundria ............................................................... 239
7. O CONCEITO DE SANO NO DIREITO.................................................................................. 241
CAPTULO IX - CONTEDO NORMATIVO E CLASSIFICAO DAS NORMAS
1. CONTEDO NORMATIVO E TEORIA DAS CLASSES ............................................................ 244
1.1. Sobre a teoria das classes .......................................................................................................... 245
1.2. Aplicao das noes de classe para explicao do contedo normativo................................. 248
2. TIPOS DE NORMAS JURDICAS................................................................................................. 253
2.1. Sobre o ato de classificar........................................................................................................... 253
2.2. Classificao das normas jurdicas............................................................................................ 256
2.2.1. Tipos de enunciados prescritivos S1 ............................................................................... 257
2.2.2. Tipos de proposies isoladas S2.................................................................................... 259
2.2.3. Tipos de normas jurdicas (stricto sensu) S3 .................................................................. 265
2.2.3.1. Normas de conduta e normas de estrutura ...................................................................... 265
2.2.3.1.1. Normas de estrutura e suas respectivas normas secundrias........................................ 267
2.2.3.2. Normas abstratas e concretas, gerais e individuais ......................................................... 268
12
2.2.3.3. Tipos de normas jurdicas segundo as relaes estabelecidas em S4 ............................. 272
2.2.3.3.1. Normas dispositivas e derivadas, punitivas e no-punitivas ........................................ 272
2.2.3.1.1.1. Conectivos lgicos das normas dispositivas derivadas e punitivas e no punitivas . 277
2.2.4. Tipos de normas jurdicas em sentido amplo..................................................................... 278
2.2.4.1. Diferenciao quanto ao ncleo semntico (matria) ..................................................... 278
2.2.5.2. Diferenciao quanto ao veculo introdutor .................................................................... 279
CAPTULO X - A REGRA-MATRIZ
1. QUE REGRA-MATRIZ? ............................................................................................................. 281
1.1. Normas de incidncia e normas produzidas como resultado da incidncia .............................. 282
1.2. A regra-matriz de incidncia..................................................................................................... 284
1.3. Ambigidade da expresso regra-matriz de incidncia......................................................... 286
2. OS CRITRIOS DA HIPTESE .................................................................................................... 288
2.1. Critrio material ........................................................................................................................ 289
2.2. Critrio espacial......................................................................................................................... 293
2.3. Critrio Temporal ...................................................................................................................... 298
3. CRITRIOS DO CONSEQENTE ................................................................................................ 302
3.1. Critrio pessoal sujeitos ativo e passivo................................................................................. 303
3.2. Critrio prestacional .................................................................................................................. 308
4. A FUNO OPERATIVA DO ESQUEMA LGICO DA REGRA-MATRIZ............................. 311
4.1. Teoria na prtica........................................................................................................................ 314
LIVRO III TEORIA DA INCIDNCIA
CAPTULO XI - INCIDNCIA E APLICAO DA NORMA JURDICA
1. TEORIAS SOBRE A INCIDNCIA DA NORMA JURDICA..................................................... 317
1.1. Teoria tradicional ...................................................................................................................... 317
1.2. Teoria de PAULO DE BARROS CARVALHO....................................................................... 319
1.3. Consideraes sobre as teorias.................................................................................................. 322
2. INCIDNCIA E APLICAO DO DIREITO ............................................................................... 324
3. A FENOMENOLOGIA DA INCIDNCIA.................................................................................... 326
4. EFEITOS DA APLICAO - TEORIAS DECLARATRIA E CONSTITUTIVA..................... 330
5. SOBRE O CICLO DE POSITIVAO DO DIREITO.................................................................. 333
6. APLICAO E REGRAS DE ESTRUTURA................................................................................ 335
7. APLICAO: NORMA, PROCEDIMENTO E PRODUTO......................................................... 339
7.1. Teoria da ao: ato, norma e procedimento .............................................................................. 339
7.2. Aplicao como ato, norma e procedimento............................................................................. 341
8. ANLISE SEMITICA DA INCIDNCIA................................................................................... 344
8.1. Plano lgico: subsuno e imputao........................................................................................ 345
8.2. Plano semntico: denotao dos contedos normativos ........................................................... 348
8.3. Plano pragmtico: interpretao e produo da norma individual e concreta........................... 350
9. DO DEVER SER AO SER DA CONDUTA............................................................................ 351
CAPTULO XII - APLICAO - INTERPRETAO E TEORIA DA DECISO
1. INTERPRETAO E PRODUO DA NORMA INDIVIDUAL E CONCRETA..................... 354
1.1. Interpretao da linguagem do fato........................................................................................... 354
1.2. Interpretao do direito ............................................................................................................. 360
1.2.1. O problema das lacunas...................................................................................................... 362
1.2.1.1. As lacunas na doutrina .................................................................................................... 363
1.2.1.2. Completude sistmica ..................................................................................................... 365
13
1.2.1.3. Integrao de lacunas................................................................................................... 367
1.2.1.3.1. Analogia ....................................................................................................................... 368
1.2.1.3.2. Costumes ...................................................................................................................... 369
1.2.1.3.3. Princpios gerais do direito........................................................................................... 371
1.2.1.3.3.1. Princpio como enunciado, proposio ou norma jurdica........................................ 372
1.2.1.3.3.2. Princpio como valor e como limite objetivo............................................................ 374
1.2.1.3.3.3. Aplicao: entre regras e princpios .......................................................................... 376
1.2.2. O problema das antinomias................................................................................................ 378
1.2.2.1. Critrio hierrquico ......................................................................................................... 381
1.2.2.2. Critrio cronolgico ........................................................................................................ 382
1.2.2.3. Critrio da especialidade ................................................................................................. 383
1.3. Constituio da linguagem competente e teoria da deciso jurdica......................................... 384
CAPTULO XIII - TEORIA DO FATO JURDICO
1. EVENTO, FATO E FATO JURDICO........................................................................................... 388
2. AMBIGIDADE DA EXPRESSO FATO JURDICO ............................................................ 392
3. INTERSUBJETIVIDADE DO FATO JURDICO.......................................................................... 395
4. CATEGORIAS DA SEMITICA OBJETO DINMICO E OBJETO IMEDITO................... 399
5. FATO JURDICO E CATEGORIAS DA SEMITICA................................................................. 402
6. TEORIA DAS PROVAS NA CONSTITUIO DO FATO JURDICO....................................... 406
7. TEORIA DA LEGITIMAO PELO PROCEDIMENTO E A RELAO ENTRE VERDADE E
FATO JURDICO................................................................................................................................ 412
8. TEMPO E LOCAL DO FATO X TEMPO E LOCAL NO FATO.................................................. 416
9. ERRO DE FATO E ERRO DE DIREITO....................................................................................... 418
10. A FALSA INTERDISCIPLINARIEDADE DO FATO JURDICO............................................. 421
11. FATOS JURDICOS LCITOS E ILCITOS ................................................................................ 424
CAPTULO XIV - TEORIA DA RELAO JURDICA
1. RELAO JURDICA NO CONTEXTO DO DIRIETO............................................................... 428
2. FALCIA DA RELAO JURDICA EFECTUAL.................................................................. 431
3. TEORIA DAS RELAES............................................................................................................. 435
4. RELAO JURDICA COMO ENUNCIADO FACTUAL........................................................... 439
4.1. Determinao do enunciado relacional ..................................................................................... 441
4.2 Aplicao das categorias da semitica....................................................................................... 443
5. ELEMENTOS DO FATO RELACIONAL ..................................................................................... 445
5.1. Sujeitos...................................................................................................................................... 446
5.2. Objeto - Prestao ..................................................................................................................... 447
5.3. Direito subjetivo e dever jurdico.............................................................................................. 449
6. CARACTERSTICAS LGICO-SEMNTICAS DA RELAO JURDICA............................. 450
7. CLASSIFICAO DAS RELAES JURDICAS ...................................................................... 453
8. EFICCIA DAS RELAES JURDICAS ................................................................................... 456
9. EFEITOS DAS RELAES JURDICAS NO TEMPO ................................................................ 458
10. MODIFICAO E EXTINO DAS RELAES JURDICAS............................................... 460
LIVRO IV - TEORIA DO ORDENAMENTO JURDICO
CAPTULO XV - TEORIA DO ORDENAMENTO
1. ORGANIZAO DO DIREITO POSITIVO.................................................................................. 463
1.1. Relaes de subordinao entre normas.................................................................................... 463
1.2. Relaes de coordenao entre normas..................................................................................... 467
14
1.3. Sistemas jurdicos federal, estaduais e municipais.................................................................... 468
1.4. Esttica e dinmica do ordenamento......................................................................................... 468
2. ORDENAMENTO E SISTEMA ..................................................................................................... 470
2.1. Teorias sobre o ordenamento .................................................................................................... 470
2.1.1. Ordenamento como texto bruto.......................................................................................... 470
2.1.2. Ordenamento como seqncia de sistemas normativos ..................................................... 474
2.2. Axiomas do ordenamento jurdico ............................................................................................ 476
CAPTULO XVI - FONTES DO DIREITO
1. SOBRE O TEMA DAS FONTES DO DIREITO............................................................................ 478
1.1. Fontes do direito na doutrina jurdica ....................................................................................... 478
2. SOBRE O CONCEITO DE FONTES DO DIREITO .................................................................. 481
3. ENUNCIAO COMO FONTE DO DIREITO............................................................................. 484
4. DICOTOMIA DAS FONTES FORMAIS E FONTES MATERIAIS............................................. 488
5. A LEI, O COSTUME, A JURISPRUDNCIA E A DOUTRINA SO FONTES DO DIREITO? 491
6. DOCUMENTO NORMATIVO, PONTO DE PARTIDA PARA O ESTUDO DAS FONTES ..... 493
6.1. Enunciao-enunciada............................................................................................................... 494
6.1.1. Utilidade da enunciao-enunciada.................................................................................... 495
6.1.2. Enunciao-enunciada fonte do direito? ......................................................................... 496
6.1.3. Sobre a exposio de motivos ............................................................................................ 497
6.2. Enunciado-enunciado................................................................................................................ 498
7. ENUNCIAO COMO ACONTECIMENTO SOCIAL E COMO FATO JURDICO NA
ENUNCIAO-ENUNCIADA.......................................................................................................... 499
8. QUE VECULO INTRODUTOR DE NORMAS? ...................................................................... 500
9. SNTESE EXPLICATIVA .............................................................................................................. 502
10. CLASSIFICAO DOS VECULOS INTRODUTORES........................................................... 503
11. A HIERARQUIA DOS VECULOS INTRODUTORES.............................................................. 507
11.1. Hierarquia das Leis Complementares ..................................................................................... 508
CAPTULO XVI - VALIDADE E FUNDAMENTO DE VALIDADE DAS NORMAS
1. A VALIDADE E O DIREITO......................................................................................................... 510
2. QUE VALIDADE? ................................................................................................................... 512
3. TEORIAS SOBRE A VALIDADE.................................................................................................. 514
3.1. Atos inexistentes, nulos e anulveis.......................................................................................... 515
3.2. Validade como relao de pertencialidade da norma jurdica ao sistema do direito positivo .. 518
3.3. Validade do ponto de vista do observador e do ponto de vista do participante ........................ 519
3.4. Validade como sinnimo de eficcia social ou justia.............................................................. 520
4. VALIDADE E A EXPRESSO NORMA JURDICA ............................................................... 522
5. CRITRIOS DE VALIDADE......................................................................................................... 523
6. PRESUNO DE VALIDADE...................................................................................................... 526
7. MARCO TEMPORAL DA VALIDADE JURDICA..................................................................... 529
8. VALIDADE E FUNDAMENTO DE VALIDADE......................................................................... 532
9. FUNDAMENTO JURDICO DO TEXTO ORIGINRIO DE UMA ORDEM............................. 535
9.1. Fundamento jurdico ltimo na ordem anterior ou no prprio texto originrio........................ 536
9.2. A norma hipottica fundamental de KELSEN.......................................................................... 538
10. ADEQUAO S NORMAS DE PRODUO COMO CRITRIO DE PERMANNCIA DA
NORMA JURDICA NO SISTEMA................................................................................................... 539
CAPTULO XVIII - VIGNCIA, EFICCIA E REVOGAO DAS NORMAS JURDICAS
1. VIGNCIA DAS NORMAS JURDICAS...................................................................................... 543
15
1.1. Vigncia plena e vigncia parcial.............................................................................................. 545
1.2. Vigncia das normas gerais e abstratas e das normas individuais e concretas ......................... 546
1.3. Vigncia das regras introdutoras e das regras introduzidas ...................................................... 548
2. VIGNCIA NO TEMPO E NO ESPAO....................................................................................... 550
2.1. Vigncia no tempo .................................................................................................................... 550
2.2. Vigncia no espao.................................................................................................................... 552
3. VIGNCIA E APLICAO........................................................................................................... 553
4. EFICCIA DAS NORMAS JURDICAS....................................................................................... 553
4.1 Eficcia tcnica .......................................................................................................................... 554
4.1.1. Ineficcia tcnica sob os enfoques sinttico, semntico e pragmtico............................... 555
4.2. Eficcia jurdica......................................................................................................................... 557
4.3. Eficcia social ........................................................................................................................... 559
5. VALIDADE, VIGNCIA E EFICCIA......................................................................................... 560
6. REVOGAO DAS NORMAS JURDICAS ................................................................................ 562
6.1. Sobre a revogao das normas jurdicas ................................................................................... 562
6.2. Efeitos da revogao no direito................................................................................................. 565
CONCLUSES .................................................................................................................................. 567
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS............................................................................................. 617
16
INTRODUO
O presente trabalho um convite ao ingresso no pensamento de PAULO DE
BARROS CARVALHO, no qual os pressupostos e categorias do Constructivismo Lgico-Semntico
sero aplicados para construo de uma Teoria Geral do Direito sob tal referencial. Para isso,
dividimos o mesmo em quatro grandes partes: Livro I - Proposies Propeduticas, que se estende do
captulo I ao VII, onde fixaremos as premissas em que se fundam o Constructivismo Lgico-
Semntico e os pressupostos de uma Teoria Geral do Direito sob este referencial; Livro II - Teoria da
Norma Jurdica, do captulo VIII ao X, onde estudaremos a estrutura e contedo das unidades do
sistema do direito positivo; Livro III - Teoria da Incidncia, do captulo XI ao XIV, nos quais
analisaremos a aplicao das normas jurdicas e a produo de seus efeitos na ordem jurdica; e Livro
IV - Teoria do Ordenamento, do captulo XV ao XVI, no qual nos dedicaremos s relaes que se
estabelecem entre as normas jurdicas na conformao do sistema e origem, validade, vigncia e
eficcia dessas normas.
No Livro I Proposies Propeduticas, comearemos nossas investigaes
percorrendo o caminho do conhecimento cientfico, mesmo porque, nossa proposta conhecer
cientificamente as categorias gerais do direito e isto, primeiramente, pressupe compreendermos o que
seja conhecer e conhecer cientificamente o direito. No primeiro captulo, fixaremos nossas
premissas, explicando alguns pressupostos da filosofia da linguagem e traando as caractersticas do
discurso cientfico. No segundo captulo, delimitaremos o conceito de direito, tecendo algumas crticas
s principais escolas que o tomam como objeto. O terceiro captulo ser dedicado diferenciao das
linguagens do direito positivo e da Cincia do Direito. O quarto, teoria dos sistemas, onde, alm de
fixarmos as propriedades de tal teoria, analisaremos os pontos que separam e aproximam os sistemas
do direito positivo, da Cincia do Direito e da realidade social. No captulo quinto, faremos uma
incurso na Semitica e na Teoria Comunicacional, explicando a relevncia de ambas no estudo do
direito. No sexto, ingressaremos no universo das frmulas lgicas, elencando as diferenas entre os
mundos do ser e do dever ser, da causalidade natural e jurdica, das leis do direito e da natureza. O
stimo e ltimo captulo deste livro dedicado hermenutica jurdica e teoria dos valores, onde
discorreremos sobre a construo de sentido dos textos jurdicos, fazendo uma crtica aos mtodos
tradicionais e relacionando direito e valores.
17
No livro II Teoria da Norma Jurdica, analisaremos as normas jurdicas, unidades
do direito positivo, principalmente sob seus aspectos sintticos e semnticos. No captulo oitavo,
depois de refletirmos sobre a importncia de uma teoria da norma jurdica, voltaremos nossa ateno
sua estrutura, observando detalhadamente cada uma das partes que a compem. No captulo nono,
apresentaremos uma proposta de classificao das normas jurdicas (em sentido amplo e estrito), mas
antes disso, adentraremos na teoria das classes e estudaremos o ato de classificar. E no captulo
dcimo, analisaremos a regra-matriz de incidncia, propondo um esquema lgico que pode ser
aplicado na construo de qualquer norma jurdica.
No livro III Teoria da Incidncia, nossa ateno se voltar aplicao das normas
jurdicas e produo de seus efeitos no mundo do direito. A anlise estar direcionada,
principalmente, ao aspecto pragmtico das unidades do sistema. No captulo dcimo primeiro,
estudaremos a incidncia e aplicao das normas jurdicas, estabelecendo as diferenas entre as teorias
declaratria e constitutiva e tecendo criticas concepo tradicional. Proporemos um estudo semitico
da incidncia, passando, rapidamente, pela teoria da ao para explicar a aplicao como ato, norma e
procedimento. O captulo dcimo segundo ser dedicado hermenutica e teoria da deciso
vinculadas ao aspecto pragmtico da aplicao. Nele discorreremos sobre os problemas das lacunas e
antinomias do sistema. No captulo dcimo terceiro, realizaremos um estudo do fato jurdico,
trabalhando os conceitos de evento, fato e fato jurdico, a importncia da teoria das provas e da
legitimao pelo procedimento para o direito, alm de estabelecer critrios para diferenciao do erro
de fato e de direito, do fato lcito e do fato ilcito e explicar a falsa idia da interdisciplinariedade do
fato jurdico. E, no captulo dcimo quarto, ltimo captulo deste livro (III), nossa anlise recair sobre
a relao jurdica. Faremos uma breve incurso na lgica dos predicados polidicos, para observarmos
detalhadamente cada um dos elementos da relao jurdica e suas caractersticas, discorreremos sobre
as classificaes das relaes jurdicas, seus efeitos e teceremos crticas teoria da tripla eficcia.
No livro IV Teoria do Ordenamento Jurdico, ampliaremos nosso foco de anlise
para, alm das normas jurdicas, estudar as relaes que se estabelecem entre tais unidades, na
conformao do sistema jurdico. No captulo dcimo quinto, delimitaremos o conceito de
ordenamento jurdico e identificaremos os vnculos que o compem, posicionando-nos criticamente
em relao s doutrinas que distinguem ordenamento e sistema. O captulo dcimo sexto ser dedicado
ao estudo das fontes do direito. Analisaremos nele, a origem das normas jurdicas, trabalhando os
termos enunciao, enunciao-enunciada e enunciado-enunciado e tecendo crticas teoria tradicional
que considera doutrina, lei, jurisprudncia e costume fontes do direito. No captulo dcimo stimo,
18
nosso foco volta-se questo da validade e do fundamento de validade das normas jurdicas. Faremos
uma reflexo sobre o conceito de validade e os critrios utilizados para sua demarcao, bem como,
sobre a norma hipottica fundamental e sua funo axiomtica na delimitao do sistema jurdico. E,
no captulo dcimo oitavo, o ltimo da tese, nossa anlise recair sobre os conceitos de vigncia,
eficcia e revogao das normas jurdicas.
Abordando todos estes temas, sempre com base nas lies de PAULO DE BARROS
CARVALHO, esperamos construir uma Teoria Geral do Direito sob o enfoque do Constructivismo
Lgico-Semntico, que explique as categorias que se repetem de maneira uniforme em todos os
segmentos do direito.
19
CAPTULO I
PROPOSIES PROPEDUTICAS
SUMRIO: 1. Fundamentos de uma teoria; 2. Pressupostos do conhecimento;
2.1. Conhecimento em sentido amplo e em sentido estrito; 2.2. Giro-lingstico;
2.3. Linguagem e realidade; 2.4. Lngua e realidade; 2.5. Sistema de referncia;
2.6. Consideraes sobre a verdade; 2.7. Auto-referncia da linguagem; 2.8.
Teoria dos jogos de linguagem; 3. Conhecimento cientfico; 3.1. Linguagem
cientfica; 3.2. Pressupostos de uma teoria; 3.2.1. Delimitao do objeto; 3.2.2.
Mtodo; 4. Teoria geral do direito.
1. FUNDAMENTOS DE UMA TEORIA
Toda teoria existe para conhecer um objeto. Quando pensamos numa teoria, o que
nos vem mente um conjunto de informaes que possibilitam identificar e compreender certa
realidade. Podemos, assim, definir o termo como um sistema de proposies descritivas acerca de
determinado objeto, que nos capacita a compreend-lo e a oper-lo com maior eficincia nas situaes
em que nos envolvemos com ele. E, aqui logo aparece a sugestiva distino entre teoria e prtica.
Classicamente distingue-se teoria da prtica tendo-se aquela como um conjunto de
informaes que tem por objetivo explicar determinada realidade e esta como a realidade explicada tal
qual ela se apresenta. Neste contexto, explica RICARDO GUIBOURG: uma boa teoria serve para
melhor interpretar a realidade e para guiar com maior eficcia a prtica at os objetivos que esta tenha
fixado. E, uma boa prtica capaz de examinar os resultados para promover a reviso da teoria, de tal
sorte que, ambos os plos do conhecimento se auxiliam reciprocamente para o avano conjunto
1
.
Em sntese: a teoria explica a prtica e a prtica confirma ou infirma a teoria. Mas,
no podemos esquecer que ambas so apenas fatores diferentes de um mesmo objeto, cujo
conhecimento pressupe tanto a teoria quanto a prtica. , neste sentido que PAULO DE BARROS
CARVALHO relembra a lio de PONTES DE MIRANDA segundo a qual no h diferena entre
teoria e prtica, mas aquilo que existe o conhecimento do objeto: ou se conhece o objeto ou no se
conhece o objeto
2
.
1
El fenmeno normativo, p. 28.
2
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 5-6.
20
No existe prtica sem teoria e nem teoria sem prtica. Nenhum caso concreto
conhecido ou resolvido sem um conjunto de proposies que o explique e nenhum conjunto de
proposies explicativas construdo sem uma concretude que o reclame. O homem no foi lua por
acaso, no descobriu o sarampo, a rubola, a paralisia infantil e nem as vacinas destas doenas do
nada, no desenvolveu tcnicas cirrgicas acidentalmente e nem casualmente inventou computadores,
avies, telefones e toda a tecnologia de que dispomos hoje. Se assim o fez, foi porque construiu uma
teoria, porque parou, pensou e emitiu proposies sobre. E, se construiu uma teoria foi porque se
deparou com alguma concretude que precisava ser explicada ou resolvida.
Entre os planos terico e prtico, entretanto, existe outro que os conecta: a
linguagem da experincia, que torna efetivamente possvel o conhecimento do objeto. Muitas vezes
sabemos a teoria e nos deparamos com inmeros casos prticos que compem nosso dia a dia, mas no
temos a linguagem da experincia, sem a qual no somos capazes de realizar a integrao entre
linguagem terica e linguagem prtica, nico meio de, concretamente, conhecermos o objeto.
De nada serve sabermos uma teoria se no conseguimos aplic-la para explicar a
concretude experimentada. Do mesmo modo, de nada adianta experimentarmos uma concretude se no
temos uma teoria para compreend-la, em nenhum dos casos conheceremos o objeto. Como ilustrao,
podemos citar o exemplo de um mdico que reconhece teoricamente os aspectos das formaes
cancerosas de pele (porque estudou na faculdade ou residncia), mas ao deparar-se com o caso
concreto de uma alterao cutnea, no a identifica como cancerosa (dando-lhe outro diagnstico). Na
verdade, independente daquilo que se denomina teoria ou prtica, o mdico no sabe o que cncer de
pele, justamente porque lhe falta a linguagem da experincia.
Transportando tais consideraes para o mbito jurdico, uma Teoria do Direito
existe para conhecer o direito. Consiste ela num conjunto de enunciados descritivos, precisos e
coesamente ordenados, que nos diz o que o direito, permitindo-nos identificar e compreender aquilo
que denominamos realidade jurdica. Em ltima anlise a finalidade de quem constri uma teoria sobre
o direito fornecer informaes que possibilitem seu conhecimento queles que com ele operam.
Muito embora o objetivo deste trabalho seja a construo de uma Teoria Geral do
Direito, antes de direcionarmos nossa anlise ao direito, objeto central deste estudo, entendemos ser
importante darmos um passo atrs e voltarmos nossa ateno, ainda que rapidamente, questo do
21
conhecimento, pois, como toda teoria visa conhecer seu objeto, o modo como concebemos ser
processado tal conhecimento influencia diretamente toda e qualquer construo terica.
2. PRESSUPOSTOS DO CONHECIMENTO
Caracteriza-se, o conhecimento (na sua reduo mais simples), como a forma da
conscincia humana por meio da qual o homem atribui significado ao mundo (isto , o representa
intelectualmente). Neste sentido, conhecer algo ter conscincia sobre este algo, de modo que, se
perde a conscincia o ser humano nada mais conhece
3
.
A conscincia, funo pela qual o homem trava contato com suas vivncias interiores
e exteriores, sempre de algo, o que caracteriza sua direcionalidade. A apreenso deste algo se faz
mediante certa forma, que produzida por determinado ato. Nestes termos, seguindo os ensinamentos
de EDMUND HUSSERL
4
diferenciam-se: (i) o ato de conscincia (ex: perceber, lembrar, imaginar,
sonhar, pensar, refletir, almejar, etc.); (ii) o resultado deste ato, que a forma (percepo, lembrana,
imaginao, sonho, pensamento, reflexo, etc.); e (iii) seu contedo, que o objeto captado pela
conscincia e articulvel em nosso intelecto (o percebido, o lembrado, o imaginado, o sonhado, o
pensado, o refletido, etc.).
Devemos separar, assim: (i) conhecer, enquanto ato especfico e histrico da
conscincia; (ii) conhecimento, como resultado desse ato, enquanto forma de conscincia; e (iii) aquilo
que se conhece, contedo da conscincia, ou seja, o objeto do conhecimento
5
. So trs faces diferentes
do conhecimento humano: uma coisa o ato de conhecer; outra a forma, o conhecimento por ele
gerado; e outra ainda o contedo conhecido (objeto).
O ato de conhecer fundamenta-se na tentativa do esprito humano de estabelecer uma
ordem para o mundo (exterior ou interior) para que este, como contedo de uma conscincia, se torne
inteligvel, ou seja, possa ser articulado intelectualmente (constituindo aquilo que a filosofia chama de
racionalidade).
Todo contedo requer uma forma, que o meio mediante o qual ele aparece, de
modo que, no h objeto articulvel intelectualmente sem uma forma de conscincia que o apreenda. O
3
Trabalharemos, neste tpico, com alguns pressupostos da filosofia da conscincia instaurada por KANT, apesar de tal
vertente no se constituir como paradigma filosfico desta tese.
4
Investigaes Lgicas
5
In Investigaes lgicas, p. 54.
22
conhecimento uma forma da conscincia, que se d com a produo de outras formas de conscincia
como a percepo, o pensamento, a lembrana, a memria, a intuio, e que vai se consolidando na
medida em que utilizamo-nos de mais de uma delas (ex: percepo visual + lembrana + imaginao).
Por esta razo, podemos dizer que existem vrias etapas de conhecimento e que este gradativo, isto ,
se sedimenta aos poucos. Conforme seu contedo (o objeto) vai aparecendo sob diferentes formas de
conscincia, ele vai se firmando em nosso intelecto.
Neste sentido, a palavra conhecimento apresenta o vcio da ambigidade
procedimento/ato, forma/contedo. Conhecer um processo da conscincia humana, que se sedimenta
num ato, que tem uma forma e um contedo.
LEONIDAS HEGENBERG, em elaborado estudo, identifica trs etapas do
conhecimento: (i) saber de; (ii) saber como; e (iii) saber que
6
.
Segundo o autor, o saber de d-se mediante a habitualidade, com o acmulo de
sensaes (adquiridas por nossos sentidos: viso, tato, olfato, audio e paladar) que nos permite
identificar certos objetos sempre que eles se repetem. Consiste numa interpretao rudimentar, com a
qual cada um de ns se ajusta ao seu mundo e nele pode sobreviver. O saber como uma espcie mais
elaborada de conhecimento, que nos permite executar aes de crescente complexidade e aparece
quando somos capazes de desenvolver esquemas estabelecendo associaes de causa e efeito. E o
saber que alcanado em funo de inferncias, que defluem do uso da razo acoplado s aes,
mediante ele atribumos uma lgica ao mundo.
Para exemplificar, com o saber de conhecemos a existncia de certos objetos: garfo,
faca, abridor; com o saber como apreendemos a utilizar tais objetos para realizar certas aes: comer,
cortar carne, abrir garrafa; e com o saber que conhecemos que se no formos cuidadosos com a faca
ela pode nos ferir, ou que para cortar a carne ela deve estar afiada. Primeiro o ser humano sabe de,
depois sabe como e por fim sabe que as coisas so. Nos dizeres do autor, medida que entramos em
contato com novos objetos (antes ignorados) aumentamos o saber de. Nosso contato com as coisas se
orienta em funo de alguma ao a executar, com isso, ganha realce o saber como. E, usando a
capacidade de que fomos dotados, na condio de humanos, estamos aptos a pensar, raciocinar, inferir,
6
Saber de e saber que: alicerces da racionalidade, p. 24-30
23
atingimos, assim, com o auxlio da lgica, o saber que, o conhecimento, que nos conduzir, enfim,
sabedoria
7
.
2.1. Conhecimento em sentido amplo e em sentido estrito
Com objetivo de simplificar nossos estudos, reduzimos as complexidades
diferenciando conhecimento em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, toda forma de
conscincia que aprisiona um objeto intelectualmente como seu contedo conhecimento. Alcana
esta concepo estrita, no entanto, a partir do momento em que seu contedo aparece na forma de juzo
(uma das modalidades do pensamento) quando, ento, pode ser submetido a critrios de confirmao
ou infirmao.
O pensamento (forma da conscincia mediante a qual so processados os juzos),
aperfeioa-se em trs estgios, isto , com a conjuntura de trs outras formas: (i) primeiro os objetos
so apreendidos na forma de idias (representadas linguisticamente por termos ex: homem); (ii)
com a associao das idias surgem os juzos (representados pelas proposies ex: homem
mamfero); e (iii) da relao entre juzos so construdos os raciocnios (representados pelos
argumentos ex: homem mamfero, mamfero animal, ento homem animal). Nos dizeres de
PAULO DE BARROS CARVALHO, A apreenso nos leva idia, noo ou conceito, o julgamento
produz o juzo e a conjuno de juzos, com vista a obteno de um terceiro, manifesta-se como
raciocnio
8
.
Mediante as idias temos um conhecimento rudimentar do mundo (conhecimento
aqui empregado em acepo ampla), com o qual somos capazes de identificar certos objetos no meio
do caos de sensaes. Com os juzos atribumos caractersticas a estes objetos e passamos a conhecer
suas propriedades definitrias, alcanamos, ento, o conhecimento em sentido estrito. Mediante os
raciocnios justificamos os juzos estabelecidos e alcanamos um conhecimento mais refinado
(racionalizado).
Todo conhecimento, considerando-se o termo em acepo estrita, nasce da intuio.
Antes mesmo de sermos capazes de identificar certos objetos por meio das idias, os intumos, ou seja,
temos uma sensao direcionada, mas incerta de sua existncia e esta sensao que dirige todos os
outros atos da conscincia humana voltados formao e justificao das proposies. Primeiro
7
Idem, p. 29-30.
8
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 92
24
intumos, depois racionalizamos para que nossa conscincia aceite o objeto conhecido como tal. Por
meio da racionalizao o intelecto justifica e legitima as proposies construdas (e, em ltima
instncia, a intuio) tornando-as verdadeiras para o sujeito cognoscente. Neste sentido, os raciocnios
so adaptveis intuio e, portanto, no so puros, ainda que indispensveis ao conhecimento, uma
vez que o legitimam.
Pouco se sabe sobre a intuio, marco inicial do conhecimento, que determina sua
construo e condiciona sua fundamentao. Ao contrrio, a racionalizao, processo mediante o qual
o conhecimento legitimado (aceito como verdadeiro), objeto de variada gama de estudos.
Em termos resumidos, podemos dizer que os raciocnios so constitudos por meio de
inferncias, processo mediante o qual se obtm uma proposio (conclusiva) a partir de outra(s)
(premissas).
As inferncias so classificadas como: (i) imediatas ou (ii) mediatas.
(i) Inferncias imediatas so constitudas tomando-se por base apenas uma
proposio (premissa). Podem se dar: (i.a) por oposio; ou (i.b) por converso.
Na oposio, a proposio-concluso obtida com a alterao da quantidade ou
qualidade da proposio-premissa, mantendo-se os mesmos termos como sujeito e como predicado
(ex: todos os homens so racionais, logo, nenhum homem no-racional). J na converso a
proposio-concluso construda a partir da transposio da proposio-premissa (ex: todos
advogados so juristas, logo, alguns juristas so advogados).
(ii) Inferncias mediatas caracterizam-se pelo trnsito de um juzo (premissa 1) para
outro (concluso) mediante um terceiro (premissa 2). As cinco formas mais comuns so: (ii.a)
analogia; (ii.b) induo; (ii.c) deduo; (ii.d) dialtica; (ii.e) abduo.
Faz-se analogia por meio de comparaes, a partir de semelhanas entre dois juzos
diferentes, obtm-se uma semelhana entre eles (ex: considerando as semelhanas dos sintomas
apresentados entre Joo e Pedro, conclui-se que Pedro tem a mesma doena de Joo). Com a induo
desenvolve-se do particular para o geral, a partir da observao de certo nmero de casos
(antecedentes) se infere uma explicao aplicvel a todos os casos da mesma espcie (ex: considerando
que o ferro dilata com o calor, a prata dilata com o calor, o cobre dilata com o calor e que o ferro, a
25
prata e o cobre so metais, conclui-se: os metais dilatam com o calor). Com a deduo constri-se uma
proposio que concluso lgica de duas ou mais premissas (ex: considerando que todo nmero
divisvel por dois par e que 280 divisvel por dois, conclui-se que o nmero 280 par). Com a
dialtica (tambm denominada de raciocnio crtico), constri-se uma concluso (sntese) resultante da
contraposio de juzos conflitantes denominados tese e anttese (ex: gua uma necessidade do
organismo, mas causa afogamento, logo deve ser ingerida com moderao). E, com a abduo a partir
de uma proposio geral, supem-se hipteses explicativas que, passo a passo, so superadas na
construo de uma concluso (ex: contos policiais).
Existem vrias outras formas de racionalizao, um estudo mais aprofundado,
entretanto, foge ao foco de nossa proposta. A ttulo de exemplo, estas so suficientes para
compreendermos como intelectualmente se processa a legitimao das proposies produzidas.
O que queremos chamar ateno, no entanto, que diante de todas as consideraes
feitas acima, observa-se um ponto comum sobre o conhecimento: em momento algum deixamos o
campo das proposies. Isto nos autoriza dizer que todo conhecimento proposicional. D-se com a
construo e relao de juzos. Nestes termos, no h conhecimento sem linguagem.
Conhece, aquele que capaz de emitir proposies sobre e mais, de relacionar tais
proposies de modo coerente, na forma de raciocnios. Vejamos o exemplo da mitocndria: a
pessoa que no sabe o que mitocndria, no consegue emitir qualquer proposio sobre ela; aquele
que tem um conhecimento leigo capaz de emitir algumas proposies, mas no muitas; j um bilogo
pode passar horas construindo e relacionando proposies sobre a mitocndria. Esta sua capacidade
demonstra maior conhecimento sobre o objeto. neste sentido que LUDWIG WITTGENSTEIN
doutrina: os limites da minha linguagem significam o limite do meu mundo
9
ou em outras palavras,
o conhecimento est limitado capacidade de formular proposies sobre mais se conhece um objeto
na medida em que mais se consegue falar sobre ele.
A questo, contudo, de ser a linguagem pressuposto do conhecimento, ou apenas
instrumento para sua fixao e comunicao foi tema de muitas discusses que acabaram por resultar
numa mudana de paradigma na Filosofia do Conhecimento.
9
Tractatus Lgico-Philosophicus, p. 111.
26
2.2. Giro-lingstico
Desde o Crtilo de PLATO, escrito presumivelmente no ano de 388 a.C., a
Filosofia baseava-se na idia de que o ato de conhecer constitua-se da relao entre sujeito e objeto e
que a linguagem servia como instrumento, cuja funo era expressar a ordem objetiva das coisas
10
.
Acreditava-se que por meio da linguagem o sujeito se conectava ao objeto, porque esta expressava sua
essncia.
Existia, nesta concepo, uma correspondncia entre as idias e as coisas que eram
descritas pela linguagem, de modo que, o sujeito mantinha uma relao com o mundo anterior a
qualquer formao lingstica. O conhecimento era concebido como a reproduo intelectual do real,
sendo a verdade resultado da correspondncia entre tal reproduo e o objeto referido. Uma proposio
era considerada verdadeira quando demonstrava a essncia de algo, j que a linguagem no passava de
um reflexo, uma cpia do mundo.
O estudo do conhecimento, neste contexto, durante o decurso dos sculos, foi feito a
partir do sujeito (gnosiologia), do objeto (ontologia), ou da relao entre ambos (fenomenologia) e a
linguagem foi sempre considerada como instrumento secundrio do conhecimento.
Segundo esta tradio filosfica, existia um mundo em si refletido pelas palavras
(filosofia do ser) ou conhecido mediante atos de conscincia e depois fixado e comunicado aos outros
por meio da linguagem (filosofia da conscincia)
11
. A linguagem, portanto, no era condio do
conhecimento, mas um instrumento de representao da realidade tal qual ela se apresentava e era
conhecida pelo sujeito cognoscente.
Em meados do sculo passado, houve uma mudana na concepo filosfica do
conhecimento, denominada de giro-lingstico, cujo termo inicial marcado pela obra de LUDWIG
WITTGENSTEIN (Tractatus lgico-philosophicus). Foi quando a ento chamada filosofia da
conscincia deu lugar filosofia da linguagem.
De acordo com este novo paradigma, a linguagem deixa de ser apenas instrumento
de comunicao de um conhecimento j realizado e passa a ser condio de possibilidade para
10
MANFREDO ARAUJO DE OLIVEIRA, Reviravolta lingstico-pragmtica na filosofia contempornea, p. 17-114.
11
KANT o marco da filosofia da conscincia que se fundamenta no estudo de como a conscincia se comporta no mundo
em que era posto. Sua obra para a filosofia do conhecimento considerada como um X, pois todos os filsofos ou se
encontram ou partem de KANT. Cronologicamente temos a filosofia do ser, depois de KANT instaura-se a filosofia da
conscincia e com WITTGENSTEIN a filosofia da linguagem.
27
constituio do prprio conhecimento enquanto tal. Este no mais visto como uma relao entre
sujeito e objeto, mas sim entre linguagens. Nos dizeres de DARDO SCAVINO, a linguagem deixa de
ser um meio, algo que estaria entre o sujeito e a realidade, para se converter num lxico capaz de criar
tanto o sujeito como a realidade
12
.
No existe mais um mundo em si, independente da linguagem, que seja copiado
por ela, nem uma essncia nas coisas para ser descoberta. S temos o mundo e as coisas na linguagem;
nunca em si. Assim, no h uma correspondncia entre a linguagem e o objeto, pois este criado por
ela. A linguagem, nesta concepo, passa a ser o pressuposto por excelncia do conhecimento.
O ser humano s conhece o mundo quando o constitui linguisticamente em seu
intelecto, por isso, HUMBERTO MATURANA e FRANCISCO VARELA afirmam que todo ato de
conhecimento produz um mundo
13
. Conhecer no significa mais a simples apreenso mental de uma
dada realidade, mas a sua construo intelectual, o que s possvel mediante linguagem. O
conhecimento deixa de ser a reproduo mental do real e passa a ser a sua constituio para o sujeito
cognoscente.
Deste modo, a verdade, como resultado da correspondncia entre formulao mental
e essncia do objeto significado linguisticamente, perde o fundamento, porque no existem mais
essncias a serem descobertas, j que os objetos so criados linguisticamente. A verdade das
proposies conhecidas apresenta-se vinculada ao contexto em que o conhecimento se opera,
dependendo do meio social, do tempo histrico e das vivncias do sujeito cognoscente.
J no h mais verdades absolutas. Sabemos das coisas porque conhecemos a
significao das palavras tal como elas existem numa lngua, ou seja, porque fazemos parte de uma
cultura. Na verdade, o que conhecemos so construes lingsticas (interpretaes) que se reportam a
outras construes lingsticas (interpretaes), todas elas condicionadas ao contexto scio-cultural
constitudo por uma lngua. Neste sentido, o objeto do conhecimento no so as coisas em si, mas as
proposies que as descrevem, porque delas decorre a prpria existncia dos objetos.
O homem utiliza-se de signos convencionados lingisticamente para dar sentido aos
dados sensoriais que lhes so perceptveis. A relao entre tais smbolos e o que eles representam
constituda artificialmente por uma comunidade lingstica. As coisas do mundo no tm um sentido
12
La filosifia actual: pensar sin certezas, p. 12.
13
A rvore do conhecimento, p. 68
28
ontolgico. o homem quem d significado s coisas quando constri a relao entre uma palavra e
aquilo que ela representa, associando-a a outras palavras que, juntas, formam sua definio.
O conhecimento nos d acesso s definies. No conhecemos as coisas em si, mas o
significado das palavras dentro do contexto de uma lngua e o significado j no depende da relao
com a coisa, mas do vnculo com outras palavras. Exemplo disso pode ser observado quando
buscamos o sentido de um termo no dicionrio, no encontramos a coisa em si (referente), mas outras
palavras. Deste modo, podemos afirmar que a correspondncia no se d entre um termo e a coisa, mas
entre um termo e outros, ou seja, entre linguagem. A essncia ou a natureza das coisas, idealizada pela
filosofia da conscincia, algo intangvel.
De acordo com esta nova perspectiva filosfica, nunca conhecemos os objetos tal
como eles se apresentam fisicamente, fora dos discursos que falam acerca deles e que os constituem
14
.
Conhecemos sempre uma interpretao. Por isso, a afirmao segundo qual o mundo exterior no
existe para o sujeito cognoscente sem uma linguagem que o constitua. Isto que chamamos de mundo
nada mais do que uma construo (interpretao), condicionada culturalmente e, por isso, incapaz de
refletir a coisa tal qual ela livre de qualquer influncia ideolgica.
2.3. Linguagem e realidade
Desde o incio da filosofia, no sc. VI a.C., os pensadores tm se questionado se
captamos a realidade pelos sentidos ou se, ao contrrio, tudo no passa de uma iluso? O ponto central
deste questionamento est fundado no que se entende por realidade e a resposta a tal indagao
primordial para determinar o conceito de conhecimento.
Temos para ns que a realidade no passa de uma interpretao, ou seja, de um
sentido atribudo aos dados brutos que nos so sensorialmente perceptveis. No captamos a realidade,
tal qual ela , por meio da experincia sensorial (viso, tato, audio, paladar e olfato), mas a
construmos atribuindo significado aos elementos sensoriais que se nos apresentam. O real , assim,
uma construo de sentido e como toda e qualquer construo de sentido d-se num universo
lingstico. neste contexto que trabalhamos com a afirmao segundo a qual a linguagem cria ou
constri a realidade.
14
DARDO SCAVINO, La filosifia actual: pensar sin certezas, p. 38.
29
Uma vez vislumbrado o carter transcendental da linguagem, com o giro lingstico,
cai por terra a teoria objetivista (instrumentalista, designativa), segundo a qual a linguagem seria um
instrumento secundrio de comunicao do conhecimento humano. Assume esta a condio de
possibilidade para a sua constituio, pois no h conscincia sem linguagem.
As coisas no precedem linguagem, pois s se tornam reais para o homem depois
de terem sido, por ele, interpretadas. Algo s tem significado, isto , s se torna inteligvel, a partir do
momento em que lhe atribudo um nome. A palavra torna o dado experimental articulvel
intelectualmente permitindo que ele aparea como realidade para o ser humano. Em termos mais
precisos LENIO LUIZ STRECK assevera: estamos mergulhados num mundo que somente aparece
(como mundo) na e pela linguagem. Algo s algo se podemos dizer que algo
15
.
A experincia sensorial (captada pelos sentidos) nos fornece sensaes, que se
distinguem das palavras qualitativamente. As sensaes so dados inarticulados por nossa conscincia,
so imediatos e para serem computados precisam ser transformados em vocbulos. Observando isso
VILM FLUSSER compara o intelecto a uma tecelagem, que usa palavras como fios, mas que tem
uma ante sala na qual funciona uma fiao que transforma algodo bruto (dados sensoriais) em fios
(palavras)
16
. Os dados inarticulados dispersam-se, apenas aqueles transformados em palavras tornam-
se por ns conhecidos. por isso que, como ensina MARTIN HEIDEGGER, nosso ser-no-mundo
sempre linguisticamente mediado. Nas palavras do autor, a linguagem a morada do ser, o lugar onde
o sentido do ser se mostra. por meio dela que ocorre a manifestao dos entes a ns, de modo que, s
onde existe linguagem o ente pode revelar-se como ente
17
. No utilizamos a linguagem para
manipular o real, mas antes, ela nos determina e nela se d a criao daquilo que chamamos de
realidade.
Dizer, todavia, que a realidade constituda pela linguagem, no significa afirmar a
inexistncia de dados fsicos independentes da linguagem. Frisamos apenas que somente pela
linguagem podemos conhec-los, identific-los e transform-los numa realidade objetiva para nosso
intelecto. Um exemplo ajuda-nos a esclarecer tal idia: imaginemos um sujeito que esteja andando por
um caminho e no seu decorrer tropece em algo, ele experimenta, por meio de seus sentidos, uma
alterao fsica no ambiente que o rodeia, mas s capaz de identificar e conhecer tal alterao a partir
do momento em que lhe atribui um nome isto uma pedra, neste instante, aquele algo constitui-se
15
Hermenutica jurdica e(m) crise: uma explorao hermenutica da construo do direito, p. 178.
16
Lngua e realidade, p. 38.
17
A caminho da linguagem, p. 170.
30
como uma realidade para ele e torna-se articulvel em seu intelecto. Sob este paradigma, linguagem e
realidade esto de tal forma entrelaadas que qualquer acesso a uma realidade no-interpretada
negado aos homens, porque ininteligvel.
2.4. Lngua e realidade
FERDINAND DE SAUSSURE, ao tomar a linguagem como objeto de seus estudos,
observou que duas partes a compem: (i) uma social (essencial), que a lngua; (ii) outra individual
(acessria), que a fala. Lngua um sistema de signos artificialmente constitudo por uma
comunidade de discurso e fala um ato de seleo e atualizao da lngua, dependente da vontade do
homem e diz respeito s combinaes pelas quais ele realiza o cdigo da lngua com propsito de
constituir seu pensamento
18
. No fundo, a lngua influencia a fala, pois o modo como o indivduo lida e
estrutura os signos condiciona-se ao seu uso pela sociedade e a fala influi na lngua na medida em que
os usos reiterados determinam as convenes sociais.
Cada lngua tem uma personalidade prpria, proporcionando ao sujeito cognoscente
que nela habita um clima especfico de realidade. Ns, moradores dos trpicos, por exemplo, olhamos
para algo branco que cai do cu e enxergamos uma realidade (a neve), os esquims da Groelndia, por
habitarem uma lngua diferente da nossa, se deparam com o mesmo dado fsico e enxergam mais de
vinte realidades distintas. Por uma questo de sobrevivncia eles identificam vrios tipos de neve (ex:
a que serve para construir iglus, a que serve para beber, para cavar e pescar, a que afunda, etc.),
atribuindo nomes diferentes e as constituindo, assim, como realidades distintas daquela que ns
conhecemos. Onde para ns existe uma realidade, para os esquims h mais de vinte. Isto acontece
porque a lngua que habitamos determina nossa viso do mundo.
Outro exemplo, trazido por DARDO SCARVINO, a separao que os yamanas
fazem daquilo que ns chamamos de morte, para eles as pessoas se pierden e os animais se
rompen. Condicionados pela lngua que habitam a realidade morte para os yamanas no existe, ou
ao menos no significa o mesmo que para ns.
Compartilhamos do entendimento de que a lngua no uma estrutura por meio da
qual compreendemos o mundo, ela uma atividade mental estruturante do mundo. Assim, cada lngua
cria uma realidade. Para ilustrar tal afirmao, VILM FLUSSER compara a vivncia de vrias
18
Curso de lingstica geral, p. 15-32
31
lnguas a uma coleo de culos que dispe o intelecto para observar os dados brutos a ele inatingveis.
Toda a vez que o intelecto troca de culos (lngua) a realidade se modifica
19
.
Isto acontece porque, como sublinha JRGEN HABERMAS, quando o homem
habita uma lngua ela projeta um horizonte categorial de significao em que se articulam uma forma
de vida cultural e a pr-compreenso do mundo
20
. Determinantes, lxico e sintaxe de uma lngua
formam um conjunto de categorias e modos de pensar que s seu, no qual se articula uma viso do
mundo e do qual s possvel sair quando se passa a habitar outra lngua. assim com os dialetos, a
fala, a escrita, a matemtica, a fsica, a biologia, a informtica, o direito
21
, etc. Cada lngua cria um
mundo e para vivenciarmos outros mundos faz-se necessrio mudar de lngua, ou seja, temos que
trocar os culos de nosso intelecto.
Ao passar de uma lngua a outra nossa conscincia vive a dissoluo de uma
realidade e a construo de outra. Atravessa, como ensina VILM FLUSSER, o abismo do nada, que
cria para o intelecto uma sensao de irrealidade
22
, pois as coisas s tm sentido para o homem dentro
de uma lngua. Cada pessoa, entretanto, realiza tal passagem de sua maneira, o que justifica as
diferentes formas de traduo.
Ao conjunto de categorias e modos de pensar incorporados pela vivncia de uma ou
vrias lnguas atribumos o nome de cultura. E, neste sentido, dizemos que os horizontes culturais do
intrprete condicionam seu conhecimento, ou seja, sua realidade.
Aquilo que chamamos de realidade , assim, algo social antes de ser individual.
UMBERTO ECO ilustra com clareza tal afirmao trazendo o exemplo do caador que interpreta
pegadas da caa. O caador s conhece as pegadas porque vivencia a lngua da caada. Nos dizeres do
autor, os fenmenos naturais s falam ao homem na medida em que toda uma tradio lingstica o
ensinou a l-los. O homem vive num mundo de signos no porque vive na natureza, mas porque,
mesmo quando est sozinho, vive na sociedade: aquela sociedade lingstica que no teria se
constitudo e no teria podido sobreviver se no tivesse elaborado os prprios cdigos, os prprios
sistemas de interpretao dos dados materiais (que por isso mesmo se tornam dados culturais)
23
.
19
Lngua e realidade, p. 52.
20
Verdade e justificao: ensaios filosficos, p. 33.
21
Tudo que acontece com uma lngua se aplica s Cincias, que se constituem como lnguas particulares.
22
Lngua e realidade, p. 59.
23
O signo, p. 12.
32
Os objetos, embora construdos como contedo de atos de conscincia do ser
cognoscente (subjetivo, pessoal), encontram-se condicionados pelas vivncias do sujeito, sendo estas
determinadas pelas categorias de uma lngua (coletivo, social). isso que faz com que o mundo
parea uno para todos que vivem na mesma comunidade lingstica e que torna possvel sua
compreenso. Quando, por exemplo, um mdico l no exame de um paciente carcinoma basocelular
esclerodermiforme os termos carcinoma, basocelular e esclerodermiforme representam, cada um
deles, significados convencionados, inteligveis para quem habita a lngua da medicina. Se assim no
fosse, a proposio no teria sentido para o mdico. Para o paciente, entretanto, que no vivencia tal
lngua, o exame nada significa objetivamente.
O homem, desde seu nascimento, encontra-se situado num mundo determinado como
hermenutico e a realidade das coisas desse mundo qual ele tem acesso nada mais do que uma
interpretao, condicionada por uma tradio lingstica. Compreendemos as coisas do mundo, como
ensina MANFREDO ARAJO DE OLIVEIRA, a partir das expectativas de sentido que nos dirigem
e provm de nossa tradio especfica, onde quer que compreendamos algo, ns o fazemos a partir do
horizonte de uma tradio de sentido, que nos marca e precisamente torna essa compreenso
possvel
24
. A realidade, entendida aqui como o conjunto de proposies mediante o qual
transformamos o caos em algo inteligvel, , desde sempre, integrada a um horizonte de significao.
2.5. Sistema de referncia
No h conhecimento sem sistema de referncia, pois o ato de conhecer se estabelece
por meio de relaes associativas, condicionadas pelo horizonte cultural do sujeito cognoscente e
determinadas pelas coordenadas de tempo e espao em que so processadas.
Conhecemos um objeto porque o identificamos em relao a outros elementos,
estabelecendo vnculos capazes de delimitar seu significado. Assim, todo nosso conhecimento do
mundo encontra-se determinado pelos referencias destas associaes que, por sua vez, so marcadas
por nossas vivncias.
Chamamos de sistema de referncia as condies que informam o conhecimento
sobre algo. Uma criana que nasce numa colnia de pescadores, por exemplo, olha para o mar e sabe
distinguir os diversos tipos de mars, o que dificilmente acontece com uma criana que nasce na
cidade grande. Isso se d porque o referencial de uma diferente do da outra. Para primeira criana o
24
Reviravolta lingstico-pragmtica na filosofia contempornea, p. 228.
33
mar tem um sentido mais complexo, significa muita coisa, porque grande parte das vivncias que
formam seu contexto lingstico esto relacionadas a ele, o que j no se verifica com a segunda
criana. Temos, assim, distintas interpretaes, que se reportam ao mesmo dado experimental,
constituindo duas realidades prprias, cada qual condizente com os referenciais dentro dos quais so
processadas.
Alm do referencial cultural, constitudo pela vivncia numa lngua, toda
compreenso do mundo pressupe um modelo, um ponto de partida, que o fundamenta e atribui
credibilidade o contedo conhecido. Este modelo consiste num conjunto de premissas que acaba por
determinar aquilo que se conhece. Observamos, por exemplo, uma mesa de madeira a certa distncia e
afirmamos tratar-se de uma superfcie lisa, olhando mais de perto, percebemos algumas fissuras e lhe
atribumos o qualificativo de rugosa, depois, observando-a com uma lupa, enxergamos vrias
rachaduras e conclumos tratar-se de uma superfcie estriada. Mas, afinal, o que podemos afirmar sobre
a superfcie da mesa de madeira? Ela lisa, rugosa ou estriada? A melhor resposta : depende.
Primeiro temos que saber qual o modelo adotado na construo da proposio. De longe a mesa lisa,
de perto ela rugosa e com lente de aumento estriada. Se no adotarmos um referencial, nada
poderemos dizer sobre a superfcie da mesa de madeira. por isso que GOFFREDO TELLES
JNIOR enuncia: sem sistema de referncia, o conhecimento desconhecimento
25
.
Para ilustrar tal afirmao o autor serve-se do clssico exemplo, imaginado por
EINSTEIN (citado por PAULO DE BARROS CARVALHO
26
), de um trem muito comprido
(5.400.000 km) caminhando numa velocidade constante, em movimento retilneo e uniforme (240.000
km/s), que tivesse uma lmpada bem no centro e duas portas, uma dianteira e outra traseira e que se
abririam, automaticamente, assim que os raios de luz emitidos pela lmpada as atingissem. Com
operaes aritmticas simples EINSTEN demonstrou que um viajante deste trem, veria as portas se
abrirem simultaneamente, nove minutos depois de ver a lmpada acender-se e que um lavrador, parado
fora do trem, ainda que observasse a lmpada se acender no mesmo instante que o viajante, veria a
porta traseira abrir-se cinco segundos aps e a porta dianteira somente quarenta e cinco segundos
depois.
O evento observado pelo viajante e pelo lavrador seria exatamente o mesmo, mas
como o lavrador no estaria dentro do trem e, portanto, seu sistema de referncia no seria o mesmo do
25
O direito quntico, p. 289.
26
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 2-3.
34
viajante, para ele, o fato das portas se abrirem seria sucessivo, enquanto que para o viajante seria
simultneo. Mas, qual destes fatos o verdadeiro? O que se poderia dizer sobre a abertura das portas
do trem? simultnea ou sucessiva? A resposta, novamente, : depende. Primeiro temos que saber
qual o sistema de referncia adotado na formulao do fato, pois conforme o referencial a resposta
diferente. Neste sentido, sublinha PAULO DE BARROS CARVALHO, quando se afirma algo como
verdadeiro, faz-se mister que indiquemos o modelo dentro do qual a proposio se aloja, visto que ser
diferente a resposta dada, em funo das premissas que desencadeiam o raciocnio
27
.
Cada pessoa dispe de uma forma particular de conhecimento em conformidade com
um sistema de referncias adotado e condicionado por seus horizontes culturais. Em razo disso, no
h que se falar em verdades absolutas, prprias de um objeto, porque o mesmo dado experimental
comporta inmeras interpretaes. A verdade uma caracterstica da linguagem, determinada de
acordo com o modelo adotado, pelas condies de espao-tempo e tambm, pela vivncia scio-
cultural de uma lngua. , portanto, sempre relativa.
Tudo pode ser alterado em razo da mudana de referencial (cultural ou
propedutico). At aquilo que experimentamos empiricamente e parece-nos inquestionvel (que temos
como verdade absoluta), pode ser transformado. O por do sol, por exemplo, h algo que nos parece
mais verdadeiro, do que observar o sol baixar-se no horizonte e afirmar que ele se pe quando no
mais o enxergamos? Considerando, no entanto, que a luz do sol demora oito minutos para chegar at
ns (na terra), quando deixamos de enxerg-lo estamos atrasados, ele j transps a linha horizonte
(oito minutos atrs). E ento, em que momento o sol se pe? A melhor resposta novamente ser
depende do referencial adotado
28
.
At a experincia sensorial, que nos parece to certa e precisa, uma interpretao.
Vejamos o caso do som, por exemplo: tudo que escutamos, no passa, fisicamente, de ondas
interpretadas por nosso sistema auditivo. O som (como algo construdo mentalmente) no est no
mundo, que silencioso, ele est dentro de ns, o sentido que atribumos s modificaes fsicas,
percebidas por nossos ouvidos, decorrentes da propagao de uma onda. O mesmo acontece com a
viso, por meio da qual interpretamos as ondas de luz, com o paladar, o olfato e tato. E, nestes termos,
tudo relativo.
27
Idem, p. 3.
28
JAKOBSON explica que os russos quiseram acabar com a idia de por do sol, porque afinal (no modelo heliocntrico),
no o caso do sol se por, mas da terra girar em torno do sol. interessante, ento, que, mesmo em termos cientficos, no
h sentido dizer o sol se pe, mas a expresso to forte que enxergamos assim a realidade (CHARLES WILLIAM
MACNAUGHTON, passim)
35
Dizer que a verdade relativa, contudo, no significa negar a existncia de
afirmaes verdadeiras (ceticismo), porque todo discurso descritivo construdo em nome da verdade.
Tambm no significa considerar a verdade como subjetiva (relativismo), admitindo que algo seja
verdadeiro para um sujeito e falso para outro dentro do mesmo modelo-referencial
29
. Significa apenas
que, de acordo com os referenciais adotados, no trabalhamos com a existncia de verdades absolutas,
inquestionveis, ou universais alis, frisamos a expresso de acordo com os referenciais adotados,
pois sob esta perspectiva, a prpria afirmao segundo a qual no existem verdades absolutas
relativa, depende do referencial adotado pelo sujeito cognoscente.
O problema que nossa cultura tem a expectativa da verdade de ltimo reduto,
influenciada pela tradio filosfica anterior ao giro-lingstico, principalmente em relao ao discurso
cientfico e tende a repudiar, ingenuamente, a idia de que uma proposio tomada como verdadeira
num modelo possa ser falsa se construda noutro.
2.6. Consideraes sobre a verdade
A definio clssica de conhecimento originada em PLATO, diz que ele consiste
de crenas e verdades justificadas. As crenas so afirmaes sobre as quais se tem certo grau de
certeza, so proposies consideradas como verdadeiras. A certeza de uma crena fundamentada na
justificao, que se aperfeioa mediante aquilo que denominamos de provas ou premissas. Tanto as
provas como as premissas, no entanto, nada mais so do que outras crenas. Assim, uma proposio
verdadeira quando cremos na sua veracidade e podemos comprov-la, justificando-a por meio de
outras crenas. Neste sentido, a realidade (como ela ) a verdade em que se cr, ou seja, a
totalidade das afirmaes sobre a qual se tem certo grau de certeza.
Adotamos a concepo segundo a qual a verdade o valor atribudo a uma
proposio quando ela se encontra em consonncia a certo modelo. Seguindo a linha das consideraes
feitas acima, aquilo que chamamos de modelo no passa de um conjunto estruturado de formulaes
lingsticas. Por esta razo, podemos dizer que a verdade se d pela relao entre linguagens. pelo
vnculo estabelecido entre uma proposio e as linguagens de determinado sistema que podemos aferir
sua veracidade ou falsidade. Considera-se verdadeira a proposio condizente com o sentido comum,
institudo dentro de um modelo. Destaca-se, assim, a importncia da noo de sistema de referncia
para atribuio do valor verdade a qualquer afirmao.
29
Nota-se, aqui, a ambigidade do termo relativo.
36
Tradicionalmente, nos termos da filosofia da conscincia, a verdade era tida como
uma relao entre sentena e coisa. Este conceito, entretanto, no se encaixa na concepo filosfica
por ns adotada, segundo a qual a linguagem cria os objetos e, sendo assim, no existe qualquer
relao entre sentena e coisa, apenas entre sentena e outras sentenas. A verdade no se descobre,
pois no h essncias a serem descobertas, ela se inventa, se constri linguisticamente dentro de um
sistema referencial, juntamente com a coisa. Por isso, a verdade de ontem j no a verdade de hoje. O
mundo de antigamente, por exemplo, era plano, atualmente redondo; o sol girava em torno da terra,
agora a terra gira ao redor dele; at pouco tempo Pluto era um planeta, hoje no mais. Tudo isso
porque, o valor de veracidade atribudo a uma proposio pode ser alterado em razo do referencial
adotado.
Enxergamos as coisas dentro de uma cultura particular, prpria de nossa comunidade
lingstica, de modo que, a constituio individual do objeto deve justificar-se numa interpretao
estabelecida, aceita dentro desta comunidade. Todo sistema de referncia, no entanto, mutvel,
podendo sofrer alteraes a qualquer momento. O ndio que sai de sua aldeia para estudar na cidade
grande, por exemplo, deixa de ver o boitat, na forma azulada que sai de noite dos corpos de animais
mortos, para enxergar ali o gs metano exalado no processo de putrefao. A verdade boitat altera-
se para a verdade gs metano devido mudana de referencial. Neste sentido, toda proposio
tomada como verdadeira falvel, podendo ser sempre revista em conformidade com novos referencias
adotados.
A pergunta que verdade? aflige a humanidade desde seus primrdios
filosficos
30
. Vrias correntes do pensamento voltam-se soluo de tal questo, dentre as quais
podemos citar: (i) verdade por correspondncia
31
; (ii) verdade por coerncia
32
; (iii) verdade por
30
Consta, inclusive, dos relatos bblicos que esta pergunta foi feita a Jesus Cristo, quando interrogado por Pncio Pilatos, e
que este, justamente, por estar convicto da inexistncia de verdades absolutas, nem esperou resposta para lavar suas mos e
entregar Jesus para a crucificao. Pilatos perguntou: Ento, tu s rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei! Para
isto nasci. Para isto vim ao mundo: para dar testemunho da verdade. Todo aquele que da verdade escuta minha voz.
Pilatos, por fim lhe perguntou: Mas que a verdade?. Dito isto saiu de novo ao encontro dos judeus e comunicou-lhes:
No acho nenhuma culpa nele. (Joo18,37-38)
31
Sustenta a teoria da verdade por correspondncia que esta se define pela adequao entre determinado enunciado e a
realidade referida. Um enunciado verdadeiro quando condizente com a realidade por ele descrita e falso quando no
condizente. Tal posicionamento filosfico no compatvel com as premissas firmadas neste trabalho, segundo as quais as
coisas s tm existncia para o ser humano quando articulveis em seu intelecto, ou seja, quando constitudas em
linguagem. Assim, no h como verificar a compatibilidade de um enunciado com o objeto ao qual ele se refere, mas
somente com outro enunciado. Ademais, nenhuma sentena capaz de captar o a totalidade do objeto, pois nossa
percepo do mundo sempre parcial e neste sentido, no h possibilidade de correspondncia entre qualquer enunciado e
o objeto-em-si, ao qual ele se refere.
32
A teoria da verdade por coerncia parte do pressuposto que a realidade um todo coerente. Uma proposio verdadeira
quando deduzida de outras proposies e no-contraditria com as demais de um mesmo sistema. Tais critrios definem a
verdade interna de um certo sistema e preservam a ausncia de contradio entre seus termos.
37
consenso
33
; e (iv) verdade pragmtica
34
. Mas, a que melhor se enquadra no modelo adotado neste
trabalho a verdade como valor em nome do qual se fala, caracterstica lgica necessria de qualquer
discurso descritivo (verdade lgica).
Sempre que informamos algo o fazemos em nome de uma verdade. Sem esta
aspirao a descrio no tem sentido. Isto porque, quando emitimos uma mensagem descritiva, nossa
pretenso de que seu receptor a aceite, ou seja, a tome como verdadeira, pois s deste modo ela ter o
condo de inform-lo. Falamos, assim, em nome de uma verdade, at quando mentimos. Atribumos
este valor s proposies descritivas por ns formuladas almejando que outras pessoas nelas creiam. E,
tais pessoas lhes atribuem este mesmo valor ao aceit-las. neste sentido que dizemos ser a verdade
caracterstica lgica necessria dos discursos informativos.
Como valor, a verdade um conceito metafsico. Os conceitos metafsicos so
aqueles que transcendem a fsica, isto , que ultrapassam o campo do emprico e, por isso, no so
susceptveis de apreciao pela experincia. Como bem explica FABIANA DEL PADRE TOM em
brilhante estudo sobre a prova no direito tributrio, todos falam em nome da verdade, mas no h
como saber mediante procedimentos experimentais, quem est realmente dizendo a verdade
35
. Dizer,
no entanto, que a verdade um conceito insusceptvel de experincia, no significa afirmar ser ele
ininteligvel. Como sublinha a autora, o fato de ser inexperimentvel no se confunde com a
incognoscibilidade: o metafsico passvel de conhecimento, ainda que no emprico.
Atribumos o valor verdade a uma proposio quando identificamos a presena de
certos critrios, estes sim susceptveis de apreciao pela experincia. A eleio de tais critrios, no
entanto, tambm est condicionada pelo sistema (lngua) habitado por cada intrprete. E, logo que
fixados, j possvel identificar concretamente quais proposies so verdadeiras e quais so falsas.
Nos termos das premissas pontuadas neste trabalho, adotamos o critrio da
consonncia da proposio com certo sistema de referncia. Uma proposio verdadeira quando est
de acordo com uma interpretao aceita, instituda nos moldes dos referencias, dentro dos quais
processada. Nos dizeres de DARDO SCARVINO, um enunciado verdadeiro, em princpio, quando
33
Segundo a teoria da verdade por consenso, a verdade decorre do acordo comum entre indivduos de uma mesma
comunidade lingstica. Uma proposio verdadeira quando aceita como tal por um grupo social. Este posicionamento
compatvel com as premissas adotadas neste trabalho se considerarmos que os critrios de aceitao so determinados pelo
prprio sistema lingstico em que a proposio processada.
34
Para a teoria da verdade pragmtica um enunciado verdadeiro quando tem efeitos prticos, ou seja, quando til.
Verdade se confunde com utilidade.
35
A prova no direito tributrio, p. 11.
38
resulta conforme com uma interpretao estabelecida, aceita, instituda dentro de uma comunidade de
pertinncia
36
.
O autor ainda chama ateno para o fato de que os enunciados tidos como
verdadeiros no dizem o que uma coisa , seno o que pressupomos que seja dentro de uma cultura
particular, sendo este pressuposto, um conjunto de enunciados acerca de outro pressuposto. O prprio
sistema referencial, dentro do qual so processadas e verificadas as informaes tidas por verdadeiras,
um conjunto de crenas, ou seja, de outras proposies tomadas como verdadeiras. Acolhemos certas
crenas e as utilizamos como ponto de partida para o desenvolvimento de novas proposies que, por
consonncia com aquelas so tomadas como verdadeiras. Uma crena, assim, se sustenta sempre em
outra, caracterizando-se as proposies verdadeiras como interpretaes que coincidem com outras
interpretaes prvias.
2.7. Auto-referncia da linguagem
A linguagem se auto-refere e se auto-sustenta. Isto significa que ela no tem outro
fundamento alm de si prpria, no havendo elementos externos linguagem (fatos, objetos, coisas,
relaes) que possam garantir sua conscincia e legitim-la
37
. Assim dispe o princpio da auto-
referncia do discurso, alicerce das teorias retricas
38
.
Na concepo do giro-lingustico no h relao entre palavras e objetos, pois a
linguagem que os constitui. Toda linguagem fundamenta-se noutra linguagem e nada mais existe alm
dela. Sempre que procuramos o significado de uma palavra ou a justificativa para uma sentena no
encontramos a coisa-em-si, nos deparamos com outras palavras ou outras sentenas. neste sentido
que dizemos ser o discurso auto-referente. Por mais que diga, uma linguagem no se reporta a outra
coisa seno a outra linguagem.
Uma pessoa, por exemplo, diante do enunciado: as nuvens so brancas, pergunta:
que nuvem? e depara-se com a sentena: nuvem o conjunto visvel de partculas de gua ou gelo
em suspenso na atmosfera. Em seguida questiona-se: e que branco?, obtendo a resposta mediante
outra sentena: branco a presena de todas as cores. Ao indagar, ainda, por que as nuvens so
brancas?, depara-se com outro enunciado: as nuvens so brancas porque refletem todas as cores. E,
36
La filosofia actual: pensar sin certezas, p. 48.
37
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 5.
38
Nos termos das teorias retricas toda linguagem fundamenta-se em outra linguagem. Tal posicionamento contrape-se a
linha das teorias ontolgicas, segundo as quais a linguagem se constitui num meio de expressar a realidade objetiva e,
portanto, o fundamento de toda linguagem encontra-se nesta realidade objetiva.
39
intrigada por saber que so cores?, tambm se v diante de mais palavras: cores so sensaes que a
onda de luz provoca no rgo de viso humana e que depende, primordialmente, do cumprimento das
radiaes. Nota-se que, em momento algum a pessoa deixa o mundo dos vocbulos, o que
denominamos de o cerco inapelvel da linguagem. Isto acontece porque as proposies se auto-
referem, sendo as coisas-em-si intangveis ao intelecto humano.
Tanto a palavra quanto o significado que ela representa (objeto) esto no mesmo
plano: o lingstico. No precisamos observar dados fsicos para entender o significado de um termo,
para da em diante empreg-lo corretamente. Conforme ensina LENIDAS HEGENBERG, a palavra
torna-se inteligvel graas a outras palavras
39
.
Alm de auto-referente, o discurso se auto-sustenta. A linguagem cria e destri
objetos, coisas, fatos e relaes, independentemente deles serem verificados empiricamente. Como
bem ilustra FABIANA DEL PADRE TOM, comum referirmo-nos a coisas que no percebemos
diretamente e de que s temos notcias por meio de testemunhos alheios. Falamos de lugares que no
visitamos, pessoas que no vimos e no veremos (como nossos antepassados e os vultos da Histria),
de estrelas invisveis a olho nu, de sons humanamente inaudveis (como os que s os ces percebem), e
muitas outras situaes que no foram e talvez jamais sero observadas por ns. Referimo-nos, at
mesmo, a coisas que no existem concretamente
40
. Isto porque a linguagem no precisa de
referenciais empricos, ela prpria se matm, construindo e desconstruindo suas realidades.
Devido auto-sustentao pela linguagem, possvel que mesmo no existindo
determinada coisa ou no tendo ocorrido certo acontecimento estes venham a ser reconhecidos pela
linguagem. o que se verifica, por exemplo, quando contamos uma mentira. O enunciado que a
veicula prevalece at que outro o desconstitua.
No h notcias de acontecimentos ou objetos (numa concepo pr-giro-lingistico)
que se voltaram contra a linguagem que os descreve para desconstitu-la, demonstrando sua
inadequao a eles, simplesmente porque os eventos e os objetos no falam. Somente um enunciado
tem o poder de refutar outro. A terra, por exemplo, nunca se rebelou contra a teoria que a descrevia
como plana. Foi com a produo de novos enunciados, sustentados por outras proposies, que ela
deixou de ser plana e passou a ser redonda.
39
Saber de e saber que, p. 80.
40
A prova no direito tributrio, p. 18.
40
Da mesma forma, no h notcias de acontecimentos ou objeto que atestem a
linguagem que os descreve, demonstrando sua adequao a eles. Cabe aqui, a lio de DARDO
SCAVINO de que um feito nada prova, simplesmente porque os feitos no falam, se obstinam a um
silncio absoluto do qual uma interpretao sempre deve resgat-lo. Somos ns quem provamos, que
nos valemos da interpretao de um feito para demonstrar uma teoria. Somente uma proposio tem o
poder de atestar outra.
Em suma, queremos deixar claro que: uma linguagem se mantm e se desconstitui
sempre mediante outras linguagens, nunca em razo dos acontecimentos ou dos objetos por ela
descritos.
2.8. Teoria dos jogos de linguagem
A teoria dos jogos de linguagem, apresentada por WITTGENSTEIN
41
, pretende
acentuar que, nos diferentes contextos, existem diferentes regras, podendo-se, a partir delas determinar
o sentido das expresses lingsticas. O autor no define o que jogo de linguagem (mesmo porque,
na segunda fase do seu pensamento, isto impossvel), mas mostra, mediante a teoria dos jogos, como
a linguagem funciona.
Segundo suas explicaes, as formaes lingsticas tm sentido porque h regras
especficas de manej-las que so intersubjetivamente vlidas e que determinam sua significao. O
significado das palavras estabelecido pelo seu uso na linguagem, sendo este determinado por certos
hbitos lingsticos, de modo que, apreender uma lngua significa ter certo adestramento, ou seja,
capacitar-se a dominar uma tcnica de cumprimento de suas regras.
De acordo com a teoria dos jogos, todo jogo composto por um conjunto de regras
prprias, que o determina e o diferencia dos demais. mediante o cumprimento destas regras que se
joga o jogo e por meio delas que sabemos qual o jogo jogado. Assim, para jogarmos um jogo temos
que, primeiramente, aceitar suas regras e realizar cada jogada dentro do modelo estabelecido, caso
contrrio, ela no aceita como uma jogada daquele jogo.
Transpondo tais afirmaes, a teoria dos jogos de linguagem postula ser toda
linguagem composta por um conjunto de regras prprias, que a determina e a diferencia das demais.
Sabemos que uma linguagem cientfica, por exemplo, quando observamos que sua elaborao est de
41
Tractatus logico-philosophicus, passim.
41
acordo com as regras do jogo cientfico; conhecemos uma linguagem jurdica e a diferenciamos das
demais, por ter sido ela produzida nos moldes do direito; da mesma forma, dizemos estar diante de
uma linguagem poltica, se constatamos ter sido ela constituda em cumprimento das regras da
linguagem poltica e assim por diante. mediante o cumprimento de regras prprias que se constitui
cada linguagem e por meio delas que sabemos qual a linguagem constituda.
Para produzirmos um enunciado (ex: cientfico, jurdico, poltico, econmico,
religioso, etc.) preciso, primeiramente, aceitar as regras do jogo de linguagem que se pretende jogar
(ex: Cincia, direito, poltica, economia, religio, etc.). As regras do jogo estabelecem o procedimento
e este determina e legitima o produto. Se quisermos, por exemplo, produzir uma poesia temos que
obedecer as regras poticas, caso contrrio, no criamos poesia, mas outra linguagem. Da mesma
forma, para produzirmos uma linguagem cientfica temos que obedecer as regras do discurso
cientfico, caso contrrio, no criamos Cincia. Isto acontece tambm com o direito e com qualquer
outro tipo de linguagem que se pretenda constituir. por seguir um procedimento, determinado por
regras prprias que o enunciado legitimado como pertencente a um determinado jogo (ex: potico,
cientfico, jurdico, poltico, econmico, religioso, etc.), mas s temos acesso a ele (jogo) mediante o
prprio enunciado, ou seja, aps ser ele produzido.
Cada jogo, no entanto, apenas pode legitimar as jogadas nele efetuadas, isto ,
produzidas de acordo com suas regras. As regras do jogo cientfico, por exemplo, legitimam a
produo da linguagem cientfica e apenas ela; ao mesmo passo, as regras do jogo poltico legitimam a
produo da linguagem poltica e somente ela, as do direto apenas a jurdica e assim por diante.
Por legitimar apenas as jogadas nele efetuadas, uma proposio s tem valor dentro
do jogo de linguagem jogado. Um enunciado potico, por exemplo, no tem o condo de comprovar
ou refutar uma teoria, somente um enunciado cientfico pode faz-lo; do mesmo modo, enunciados
cientficos no legitimam nem desconstituem enunciados jurdicos, porque ambos pertencem a jogos
de linguagem diferentes e somente proposies do mesmo jogo so capazes de refutar ou justificar
outras proposies daquele jogo.
Em suma, a teoria dos jogos aplicada ao estudo da linguagem enuncia que cada
lngua um jogo. As regras do jogo alm de atriburem identificao aos seus elementos (significado
das palavras) e estabelecerem como ser realizada cada jogada (utilizao das palavras para formao
42
de enunciados e destes para formao do discurso), determinam o prprio jogo (qual a linguagem
produzida). Nestes termos, para habitarmos uma lngua temos que jogar seu jogo.
3. CONHECIMENTO CIENTFICO
Postulamos, nas primeiras linhas deste trabalho, que toda teoria existe para conhecer
seu objeto, mas no apenas conhec-lo ordinariamente e sim cientificamente. Conhecer algo
cientificamente significa jogar o jogo da linguagem cientfica, observando, a cada jogada, as regras
que lhe so prprias.
Desde os primeiros meses de vida nosso intelecto volta-se para a construo do
mundo em que vivemos. Vagamente vamos experimentando sensaes, at que em algum momento
conseguimos isolar proposicionalmente as coisas e as associ-las a outras, da para frente este processo
torna-se comum em toda nossa existncia. assim que se d o conhecimento ordinrio, constitudo
pela linguagem natural (comum ou ordinria), instrumento por excelncia da comunicao entre os
indivduos, desenvolvida espontaneamente no curso de nossas vivncias. Este processo livre. No
temos um comprometimento rigoroso com as proposies por ns formuladas, nem nos submetemos a
regras de delimitao e aproximao do objeto. Mas, basta visualizarmos uma teoria para percebermos
no ser este o tipo de linguagem que a constitui. As teorias existem para conhecer rigorosamente seus
objetos (e somente eles), mediante regas prprias de aproximao, que atribuem rigor e credibilidade
s proposies formuladas. Exigem, assim, a produo de uma linguagem mais sofisticada: a
cientfica, um discurso purificado, produzido a partir da linguagem natural.
3.1. Linguagem cientfica e Neopositivismo Lgico
Antes de adquirir a roupagem com a qual trabalhamos nesta tese, a filosofia da
linguagem passou por vrios momentos. Na segunda dcada do sculo passado, adquiriu corpo e
expressividade uma corrente do pensamento humano voltada natureza do conhecimento cientfico,
denominada de Neopositivismo Lgico tambm conhecida como Filosofia Analtica ou Empirismo
Lgico. Tal corrente estruturou-se com a formao do Crculo de Viena, um grupo heterogneo de
filsofos e cientistas de diferentes reas (fsicos, socilogos, matemticos, psiclogos, lgicos, juristas,
etc.), profundamente motivados e interessados em seus respectivos campos de especulaes, que se
encontravam, sistematicamente, em Viena, para discutir e trocar experincias sobre os fundamentos de
suas cincias. Esta intensa troca de idias possibilitou uma srie de concluses tidas como vlidas para
43
os diversos setores do conhecimento cientfico e contriburam para formao uma Teoria Geral do
Conhecimento Cientfico (Epistemologia).
Os neopositivistas lgicos reduziram o estudo do conhecimento Epistemologia e
esta anlise das condies para se produzirem proposies cientficas. Para esta corrente o discurso
cientfico caracterizava-se por proporcionar uma viso rigorosa e sistemtica do mundo. E, neste
sentido, a preocupao da Epistemologia dirigia-se identificao dos pressupostos para a construo
de uma linguagem rgida e precisa, isto , uma linguagem ideal para as Cincias.
A linguagem era tomada como instrumento e controle do saber cientfico na busca de
modelos artificiais que permitissem a purificao do conhecimento comum. Imaginava-se a
possibilidade de abstrao de todos os valores e a reduo de todas as Cincias a um modelo lgico.
Focados na linguagem, os neopositivistas lgicos contriburam ao apontar as regras
do jogo da linguagem cientfica. Como alguns de seus pressupostos temos que: (i) as proposies
cientficas devem ser passveis de comprovao emprica, ou legitimadas pelos termos que as
compem, quando nada afirmam sobre a realidade (no caso das tautologias); (ii) devem convergir para
um mesmo campo temtico permitindo a demarcao do objeto, o que lhe garante foros de unidade;
(iii) a organizao sinttica da linguagem cientfica deve ser rgida submetendo-se s regras da lgica e
aos princpios da identidade, terceiro excludo (verdade/falsidade) e no-contradio; (iv) suas
significaes devem ser, na medida do possvel, unvocas e, quando no possvel, elucidadas.
Afastando-se as incompatibilidades
42
, trabalhamos com os pressupostos do
neopositivismo lgico para caracterizao e elaborao do discurso cientfico, que dentro da
concepo hermenutica, afastada a verdade por correspondncia, funcionam como instrumentos de
legitimao e fundamentao, atributivos de credibilidade ao discurso.
Uma das caractersticas da linguagem cientfica ser precisa, isto significa que seu
plano semntico cuidadosamente elaborado. O cientista, no esforo de afastar confuses
significativas, trabalha com a depurao da linguagem ordinria (aquela mediante a qual se constitui o
conhecimento comum), substituindo os termos de acepes imprecisas por locues, na mediada do
possvel, unvocas.
42
Manifesta no Teorema de Gdel que demonstra sempre existir contradies num conjunto, pois por mais formalizado que
seja no h um sistema que no traga um mnimo de incerteza, decorrentes da impossibilidade de neutralidade de qualquer
objeto.
44
Outra caracterstica o rigor sinttico, que atribui coerncia ao discurso. A
linguagem cientfica apresenta-se de forma coesa, no se admitindo construes contraditrias (do
tipo: s p e s no p). A rigidez de seus planos semntico e sinttico, no entanto, diminuem as
possibilidades de manobras de que dispem os usurios na sua elaborao e utilizao, o que importa o
enfraquecimento de seu campo pragmtico.
Devido sua funo descritiva, outra caracterstica da linguagem cientfica ter o
domnio informativo de seu objeto. Neste sentido, o cientista deve esforar-se para, em primeiro lugar,
manter suas proposies dirigidas a um ponto comum, o que atribui unidade ao discurso e, em
segundo, afastar ao mximo inclinaes ideolgicas, manifestaes emotivas e recursos retricos,
fazendo de seu discurso o mais neutro possvel. A neutralidade absoluta, no entanto, uma utopia, nos
termos da filosofia da linguagem adotada neste trabalho, pois todo conhecimento importa uma
valorao (interpretao) condicionada aos horizontes culturais e ideolgicos do intrprete.
3.2. Pressupostos de uma teoria
De acordo com PAULO DE BARROS CARVALHO, o discurso cientfico est
caracterizado pela existncia de um feixe de proposies lingsticas, relacionadas entre si por leis
lgicas, e unitariamente consideradas, em funo de convergirem para um nico objetivo, o que d aos
enunciados um critrio de significao objetiva
43
. Este critrio de significao objetiva alcanado
com a delimitao de um objeto e a presena de um mtodo. Assim, a cada teoria corresponde um e
somente um objeto e um e somente um mtodo.
A delimitao do objeto indica os limites da experincia, evitando sua propagao ao
infinito. E, o mtodo determina a forma de aproximao do objeto, atribuindo sincretismo s
proposies formuladas. Ambos tambm exercem a funo de controle dos enunciados construdos,
que, para pertencerem a uma teoria, no podem extrapolar os limites de seu objeto nem serem
produzidas em desacordo com as regras fixadas para sua aproximao.
No h como fazer cincia abrindo mo da uniformidade na apreciao do objeto (o
que alcanado com a utilizao de um nico mtodo) e da rigorosa demarcao do campo sobre o
qual haver de se voltar a ateno cognoscitiva.
43
PAULO DE BARROS CARVALHO, Apostila de Lgica Jurdica, p. 8.
45
PAULO DE BARROS CARVALHO tem insistido neste ponto, especialmente no
que tange doutrina jurdica. Convicto da impossibilidade do discurso cientfico no penetrado por
preocupaes metodolgicas, enuncia: O descaso pelo mtodo e a irrelevncia que se atribui ao modo
de surpreender o objeto, quase sempre, acompanhados da nsia de oferecer farta cpia de informaes,
num estranho amor ptria e na tentativa v de dissoci-la das formulaes teorticas, impedindo o
conhecimento. E, o resultado desastroso: notcias recolhidas desordenadamente aparecem justapostas
ou sobrepostas, na expectativa de nova e at mais penosa sistematizao. Os dados da experincia,
jogados ao lu, perdem arranjo, reclamam organizao. E, o esforo despendido se perde, distando de
proporcionar uma descrio mais ampla e abrangente do fenmeno central
44
. Neste sentido, sem
organizao metodolgica e precisa delimitao do objeto, o conhecimento cientfico (ou aquilo que se
prope como tal) torna-se completo desconhecimento.
Dizer que as teorias so conjuntos de proposies com pretenses e finalidades
veritativas significa afirmar, dentro da concepo que adotamos, que elas so constitudas em nome de
uma verdade, fundamentada e legitimada pelo prprio discurso.
Conhecer cientificamente um objeto significa reduzir suas complexidades, mediante
a depurao da linguagem natural que o constitui ordinariamente. Contudo, devemos lembrar que
nenhuma teoria capaz de esgotar tais complexidades, pois h sempre algo mais a ser dito, ou por ela
mesma, ou por outras teorias.
Como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, o real irrepetvel e a
experincia infinita e inesgotvel
45
. O dado-fsico impossvel de reproduo por qualquer
atividade cognoscitiva, porque o conhecimento sempre proposicional. Podemos passar horas, meses,
anos, descrevendo o mesmo objeto e nunca chegaremos ao exaurimento de suas possibilidades
descritivas. O que se verifica o esgotamento da nossa capacidade de interpret-lo, ou seja, de
produzir linguagem sobre ele.
3.2.1. Delimitao do objeto
Primeiro passo para o conhecimento cientfico a delimitao daquilo que se
pretende conhecer.
44
Apostila do Curso de Teoria Geral do Direito, p. 2-3.
45
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 87.
46
A realidade complexa: infinita e no demarcada, requer cortes que indicam os
limites da atividade cognoscitiva, delimitando a experincia. Os cortes so realizados mediante um
processo denominado de abstrao, pelo qual o sujeito cognoscente renuncia partes do todo,
canalizando sua ateno a um ponto especfico e, embora importem perda da totalidade, aduzem
especificidade ao conhecimento.
Tal processo necessrio sempre e desde o incio. Para conhecermos, por exemplo,
um copo de gua posicionado sobre a mesa, estabelecemos recortes que o separam da mesa, das
partculas de ar que o envolvem e da gua que se encontra dentro dele. Realizamos, assim, uma
abstrao de tudo a sua volta e direcionamos nossa ateno unicamente para a materialidade, qual
atribumos o nome de copo. Sem este recurso no h conhecimento possvel.
As incises so epistemolgicas: no modificam, nem condicionam o dado fsico,
apenas delimitam o campo de experincia do sujeito cognoscente, constituindo seu objeto. Prova disso
que infinitos recortes podem ser feitos sobre a mesma base emprica e esta permanece sempre a
mesma. Sentados numa praia, abstramos, para fins cognoscitivos, o mar, as pedras e os coqueiros da
areia, as nuvens do cu, as ondas do mar, as folhas, o caule, a raiz e o coco do coqueiro, mas tudo
continua intacto, de modo que, se outra pessoa ali sentar pode fazer outra abstrao. Esta mais uma
prova de que o isolamento cognoscitivo sempre proposicional.
De acordo com o posicionamento adotado neste trabalho, o objeto do conhecimento
no se encontra no plano fsico, perceptvel pela experincia sensorial. Ele construdo
proposicionalmente como contedo de nossa conscincia. Segundo as lies de LOURIVAL
VILANOVA, do contnuo-heterogneo que o real, o sujeito constri um descontnuo-homogneo que
o objeto
46
. As delimitaes constituidoras do objeto, no entanto, no se operam sobre o dado-
emprico, mas sobre nossa percepo do mundo. Tudo que podemos saber sobre a realidade resume-se
a sua significao. Neste sentido, no abstramos, nem classificamos, nem compreendemos o dado-
fsico, mas sim a linguagem que o torna inteligvel para ns e que independe da existncia externa das
coisas. O objeto do conhecimento no a coisa concreta, experimentada fisicamente, sempre algo
construdo mentalmente, que se apresenta sob alguma forma de conscincia.
46
Analtica do dever ser, p. 8.
47
HEIDEGGER ensina que o sujeito vai ao objeto conhecer aquilo que, previamente,
j sabe
47
. Esta afirmao se justifica porque s conseguimos abstrair aquilo que somos capazes de
perceber como algo. E, se somos capazes de perceber algo dentre as sensaes que nos cerca, porque
j temos um mnimo de conhecimento sobre este algo (ainda que apenas intuitivo), isto , porque este
algo j se constitui como contedo de nossa conscincia. Ningum se prope a conhecer aquilo que
desconhece por completo. O sujeito s vai ao objeto se, em algum momento, o capta como tal, ou seja,
o fixa como contedo de alguma forma de conscincia (percepo, intuio sensvel, emocional,
intelectual).
Temos para ns que o objeto do conhecimento sempre interior, apresenta-se,
invariavelmente, sob determinada forma de conscincia e constitui-se linguisticamente. Esta uma
viso antropocntrica dos objetos. Como explica PAULO DE BARROS CARVALHO, os filsofos
separam de maneira clara duas situaes: (i) objeto em sentido amplo, a coisa-em-si, perceptvel aos
nossos sentidos (experimentada); e (ii) objeto em sentido estrito, epistmico, contedo de uma forma
de conscincia; por ser comum a confuso entre o objeto fsico, concretamente existente e o que est
em nossa conscincia
48
.
O mundo no cabe dentro de ns, o objeto, como algo existente materialmente
(objeto em sentido amplo) transformado, para ser conhecido, em contedo de uma forma de
conscincia (objeto em sentido estrito). Que temos para ns, por exemplo, o copo em sentido estrito,
pois o copo em sentido amplo tem muito mais caractersticas do que capta nossa conscincia e jamais
ser alcanado completamente. Conhecemos apenas o copo em sentido estrito, que se resume na
representao de uma lasca do copo (em sentido amplo), articulvel por nosso intelecto.
Neste sentido, justifica-se a distino que os tericos fazem entre objeto-formal e
objeto-material das Cincias. De acordo com esta separao, as proposies produzidas pelo cientista
criam o denominado objeto-formal (prprio de cada teoria), caracterizando-se, com relao a este,
como construtivistas ou constitutivas. Mas, ao mesmo tempo, tm a funo de informar sobre algo, o
objeto-material (realidade experimentada), caracterizando-se, quanto a este, como descritivas ou
informativas. Neste contexto, um nico objeto-material d margem construo de infinitos objetos-
formais, pois diversas teorias podem descrev-lo cada uma a seu modo.
47
Conferncias e escritos filosficos, passim.
48
Direito tributrio linguagem e mtodo, p. 14.
48
MIGUEL REALE correlaciona o exemplo elucidativo do direito tomado como
objeto-material de as vrias cincias (ex: Sociologia Jurdica, Economia Jurdica, Histria do Direito),
cada uma delas constituidoras de diferentes vises do direito enquanto objeto formal. E, esclarece:
no o objeto-material que distingue uma Cincia das outras. O que diversifica um ramo do saber
seu objeto-formal, ou seja, a especial maneira com que a matria apreciada, vista, considerada. O
objeto-formal de uma Cincia, portanto, liga-se no ngulo especial de apreciao de um objeto-
material
49
. por isso que se diz ser cada teoria um ponto de vista sobre seu objeto (material).
Numa viso reducionista, porm, trabalhando com as premissas do giro-lingstico,
todo objeto do conhecimento formal. No temos acesso aos dados fsicos, somente s interpretaes
que os constituem como realidade inteligvel ao nosso intelecto. O prprio objeto-material, ao ser
percebido ou sentido, o como contedo de alguma forma de conscincia, articulvel intelectualmente
como construo lingstica, no isenta das interferncias scio-culturais que condicionam qualquer
interpretao.
Da heterogeneidade contnua do real, somente alguns dados so captadas por nossa
conscincia e processados linguisticamente pelo intelecto para a formao da idia (objeto em sentido
estrito). Nos dizeres de LOURIVAL VILANOVA, o conceito (idia) vale como um esquema em
cujos limites o real pensado. Somente aquilo que do real cai dentro da rbita desse esquema ,
rigorosamente, objeto. As restantes determinaes no fixadas conceptualmente pertencem ao real,
existem, mas no so objeto. O objeto o composto delineado pelo conceito. o aspecto do real
trabalhado pelo pensamento
50
. Sobre este conceito, tido por ns como objeto-material (mas que no
passa de uma significao), o cientista vai realizando recortes e produzindo proposies sobre,
constituindo, assim, seu objeto-formal.
A delimitao do conceito do objeto marca os limites da experincia cognoscitiva. O
cientista encontra-se preso s suas demarcaes sob pena de no compreender aquilo que pretende,
pois como enuncia KELSEN, uma teoria pura quer nica e exclusivamente conhecer seu prprio
objeto e nada mais alm dele
51
. O problema, muitas vezes, identificar precisamente aquilo que se
pretende conhecer, dizer, por exemplo, onde termina a poltica e comea o direito, onde comea o
direito e termina a sociologia, onde termina a sociologia e comea a histria, etc. Uma das maiores
dificuldades daqueles que se propem a fazer Cincia especificar estes limites e se manter neles,
49
Filosofia do direito, p. 76.
50
Escritos jurdicos filosficos Sobre o conceito de direito, vol. 1, p. 10.
51
Teoria Pura do Direito, p. 11.
49
restringindo seu campo de anlise apenas ao seu objeto, justamente porque isto , na verdade, uma
construo.
3.2.2. Mtodo
A palavra mtodo derivada do grego mthodos que significa caminho para se
chegar a um fim. Neste trabalho, adotamos a concepo de mtodo cientfico como sendo a forma
lgico-comportamental investigatria na qual se baseia o intelecto do pesquisador para buscar os
resultados que pretende (construir suas proposies cientficas ou seja, o objeto formal).
Constituem-se, os mtodos, em instrumentos regentes da produo da linguagem
cientfica. importante que o cientista siga as mesmas regras, desde o incio at o final de sua
atividade cognoscitiva, para que suas proposies tenham sentido e coerncia, caso contrrio pe em
risco a ordenao lgico-semntica de suas idias e a prpria construo de seu objeto. , por isso que
no existe conhecimento cientfico sem mtodo e que este influi diretamente na construo do objeto.
O mtodo, no entanto, pode consubstanciar-se em diferentes tcnicas. O signo
tcnica aqui entendido como o conjunto diferenciado de informaes reunidas e associadas
instrumentalmente para realizar operaes intelectuais. Ao aproximar-se do objeto, o cientista vale-se
de outras teorias e de seu conhecimento em diversos setores, aplicando tais informaes para construir
formalmente seu objeto e testar suas proposies, tudo isso dentro de uma forma lgico-
comportamental prpria. Assim, mtodo e tcnica no se confundem. Uma teoria pode ter um mtodo
prprio, mas valer-se de diferentes tcnicas para reduzir as complexidades de seu objeto
52
.
CARLOS COSSIO, ao desenvolver sua doutrina egolgica do direito, retomou a
teoria husserliana sobre os objetos, identificando o ato gnoseolgico e o mtodo por meio do qual
aproximamo-nos de cada uma das quatro regies nticas
53
.
De acordo com a estruturao do autor, sintetizada na obra de MARIA HELENA
DINIZ, os objetos classificam-se em: (i) naturais (ex: plantas, animais, rochas, mineirais, etc.); (ii)
ideais (ex: formas geomtricas, equaes matemticas, frmulas lgicas, etc.); (iii) culturais,
52
O direito positivo, por exemplo, tomado como corpo de linguagem prescritiva, tem como mtodo prprio, de acordo com
as premissas filosficas fixadas neste trabalho, o hermenutico-analtico. Mas, dentro desta forma lgico-comportamental,
podemos nos valer de vrias tcnicas para estud-lo, como a Semitica, a Lgica, a Axiologia, etc.
53
La Valoracin Jurdica y La Ciencia Del Derecho.
50
construdos pelo homem tendo em vista certa finalidade (ex: martelo, casa, cadeira, mesa, livro, etc.); e
(iv) metafsicos (ex: milagres, unicrnios, fadas, deuses, anjos, etc.)
54
.
Os objetos naturais so reais, tm existncia no tempo e no espao, esto na
experincia e so neutros de valor, a explicao o ato gnosiolgico utilizado para sua aproximao
cientfica e o mtodo o emprico-indutivo. Os objetos ideais so irreais, no tm existncia no espao
e no tempo, no esto na experincia e so neutros de valor, a inteleco (intuio intelectual) o ato
gnosiolgico utilizado para sua aproximao cientfica e o mtodo o racional-dedutivo. Os objetos
culturais
55
so reais, tm existncia no tempo e no espao, esto na experincia e so valiosos (positiva
ou negativamente), o ato gnosiolgico de aproximao cientfica a compreenso e o mtodo o
emprico-dialtico. Os objetos metafsicos so reais, tm existncia no tempo e no espao, no esto na
experincia e so valiosos (positiva ou negativamente), porm, no apresentam possibilidade de serem
estudados cientificamente.
Apesar de considerarmos tal classificao elucidativa no que tange variao do
domnio dos objetos (quando entendidos em sentido amplo), a acolhemos com certa ressalva, pois
adotamos a premissa de que nada existe fora da linguagem. De acordo com a concepo a qual nos
filiamos, as coisas (objeto do conhecimento em sentido estrito), sejam elas naturais, ideais, culturais
e metafsicas, so constitudas proposicionalmente pelo homem como contedo de um ato de
conscincia, por meio de abstraes na continuidade-heterognea de sensaes ou intuies por ele
experimentadas.
No temos acesso ao emprico (fsico), apenas linguagem que o constitui, ou seja, a
sua significao. Construmos e conhecemos os objetos mediante atribuio de sentido aos contedos
que nos so perceptveis e tal atribuio condicionada por nossos referenciais culturais
(conhecimentos anteriores). Nestes termos, a forma de aproximao, por excelncia, de qualquer
objeto a interpretao (considerado por ns como mtodo em sentido amplo).
Conforme j frisamos, em diversas passagens deste trabalho, tudo que sabemos do
mundo resume-se a sua interpretao. Nesta perspectiva GADAMER assevera: a forma de realizao
da compreenso a interpretao, todo compreender interpretar e toda interpretao se desenvolve
54
Compndio de introduo Cincia do Direito, p. 124.
55
Cossio divide os objetos culturais em: (i) mundanais, cujo suporte fsico constitui-se de dados materiais (ex. carro,
canteta, telefone, etc.); (ii) egolgicos, cujo suporte fsico constitui-se numa conduta humana (ex. compra e venda de um
bem, casamento, atropelamento, etc.).
51
em meio a uma linguagem que pretende deixar falar o objeto e ao mesmo tempo a linguagem prpria
de seu intrprete
56
. Conhecemos algo quando lhe atribumos algum sentido, isto , quando o
interpretamos. Nestes termos, conhecer interpretar e, como toda interpretao condicionada pelas
vivncias do intrprete que, enquanto ser humano, encontra-se num mundo cultural encravado de
valores, nenhum objeto livre de valorao.
Sob estes pressupostos, no trabalhamos com a distino, formulada por autores
como DILTHEY, MAX WEBER e SPRANGER entre compreender e explicar, como ato
gnosciolgico prprios para apreenso dos objetos culturais e naturais (respectivamente), pois, para
ns, todo explicar pressupe um compreender. Quando o cientista estuda um fenmeno natural, no
descobre sua realidade, nem o reproduz, atribui-lhe um sentido. Por mais aperfeioado que se
encontrem os processos de raciocnio e os instrumentos de aproximao, sublinha MIGUEL REALE,
permanece sempre um resduo na pesquisa cientfica, que se subordina ao coeficiente pessoal do
observador, que no parte jamais de fatos brutos, mas sim de fatos sobre os quais j incidiram
interpretaes e teorias. Mesmo nas Cincias chamadas exatas existe a presena do homem de cincia,
em virtude de uma perspectiva e no de outra, de uma forma ou no de outra na observao do fato
57
.
claro que, em algumas circunstncias, de acordo com a materialidade do objeto, a
valorao mostra-se mais presente na forma comportamental de sua aproximao, com a necessidade
da implementao de preferncias ideolgicas e axiolgicas. o que acontece, por exemplo, quando
da compreenso de uma obra de arte, de uma poesia, ou de um livro (objetos culturais tomados em
sentido estrito: construdos pelo homem para alcanar cartas finalidades). Em outros casos, no entanto,
tais preferncias se mostram irrelevantes, quando no, at atrapalham. o que ocorre, por exemplo, na
compreenso dos fenmenos naturais, como a composio da gua, a decantao de resduos, a
mistura de gases, ou dos objetos ideais como as frmulas lgicas, as figuras geomtricas, etc. Mas, de
acordo com a proposta filosfica por ns adotada, fazemos este parnteses para salientar que o
interpretar desde o incio e a valorao encontra-se sempre presente.
O mtodo, bem como as tcnicas utilizadas, est intimamente ligado s escolhas
epistemolgicas do cientista e influi diretamente na construo de seu objeto, demarcando o caminho
percorrido para justificao de suas asseres. nesse sentido que MIGUEL REALE afirma ser o
problema do mtodo correlato ao problema do objeto
58
.
56
Verdade e mtodo, p. 467.
57
Filosofia do direito, p. 246.
58
Idem, p. 77.
52
O fato de trabalharmos com os pressupostos do Neopositivismo Lgico de que o
discurso cientfico construdo mediante a depurao da linguagem natural, alcanada atravs do
denominado mtodo analtico, o qual se consubstancia na decomposio (significativa) do discurso
ordinrio, no nos distancia em momento algum do modelo hermenutico.
Analiticamente, o comportamento cientfico exigido na aproximao do objeto a
reduo da linguagem ordinria que o constitui, numa linguagem mais elaborada conceitualmente,
denominada cientfica. Quanto mais decomposta significativamente (analisada), mais precisa a
linguagem se torna. O mtodo analtico, assim, reduz-se na traduo da linguagem natural para uma
linguagem cada vez mais precisa.
Seguindo as lies de VILM FLUSSER (aludidas nos itens acima), a traduo
ocorre mediante o aniquilamento intelectual da lngua traduzida e a construo de novas categorias
significativas na lngua tradutora. Pressupe, portanto, um processo interpretativo, atravs do qual um
novo sentido atribudo. Nestes termos, toda anlise supe uma interpretao e toda nova linguagem
uma construo (cria uma nova realidade) o que s fortalece ser (dentro dos pressupostos filosficos
aos quais nos filiamos) este o modo de aproximao, por excelncia, de qualquer objeto.
Nestes termos, insistimos neste tpico que a base para qualquer conhecimento, seja
ele ordinrio, tcnico, cientfico, filosfico, lgico ou artstico, a interpretao. Esta viso
reducionista, no entanto, no afasta outras formas comportamentais, que podem ser utilizadas pelo
intrprete para estrutur-las (as quais denominamos de mtodo no sentido estrito da palavra), como
por exemplo: a analtica (decomposio do sentido), a induo (onde parte-se de sentidos especficos
para se chegar a sentidos gerais), a deduo (onde parte-se de dois sentido para se chegar a um terceiro
como concluso dos dois), a dialtica (contraposio de sentidos), a dogmtica (fixao de dogmas
para construo do sentido), a hermenutica (valorao como forma de fundamentao/legitimao do
sentido), etc.
Tais formas comportamentais consubstanciam-se em modelos de aproximao
especficos (mtodos em sentido estrito), implantados por decises unilaterais do sujeito cognoscente
que determinam as regras do jogo a serem jogadas na produo da linguagem cientfica, ou seja, ditam
o caminho e o processo a ser seguido pelo cientista na construo de seu objeto-formal. Mas, em todo
momento o interpretar est presente.
53
4. TEORIA GERAL DO DIREITO
Uma Teoria do Direito existe para explicar cientificamente o direito, reduzindo as
complexidades de sua linguagem para que seus utentes possam oper-la com maior facilidade.
Seguindo a linha de raciocnio por ns adotada, como toda realidade constituda
linguisticamente, toda e qualquer teoria tem como objeto outra linguagem e, portanto, caracteriza-se
como linguagem de sobre-nvel (mais precisa e cuidadosamente estruturada) em relao linguagem
objeto, a qual ela descreve.
No caso da Cincia do Direito tal constatao mais fcil de ser notada, pois seu
objeto materializado na forma de linguagem escrita (textos das leis, da Constituio, das sentenas,
dos atos administrativos, portarias, decretos, contratos, boletins de ocorrncia, inquritos policiais,
autos de infrao, etc.). Dizemos, ento, que a Teoria do Direito uma metalinguagem em relao ao
direito, ou seja, uma linguagem (cientfica) que fala sobre a linguagem jurdica.
Toda metalinguagem redutora da linguagem que lhe objeto. Isto no diferente
na Cincia do Direito. As redues podem ter carter geral ou especfico, dependendo dos recortes
metodolgicos realizados pelo cientista.
Dado sua complexidade, para melhor conhec-la, o cientista pode retalhar a
linguagem jurdica em diversos segmentos tendo em conta um fator comum, aprofundando sua anlise
em cada um deles. Deste modo, formam-se os denominados ramos da Cincia do Direito (ex: Direito
Constitucional, Trabalhista, Administrativo, Tributrio, Penal, Civil, Processual, Ambiental, etc.),
como ocorre na Medicina (ex: Cardiologia, Urologia, Dermatologia, Pediatria, etc.), na Fsica (ex:
Mecnica, Termologia, Ondulatria, Atmica, etc.) na Biologia (Bioqumica, Fisiologia, Ontogenia,
etc.) e em todas as demais Cincias. Cada um destes ramos consubstancia-se num recorte
metodolgico sobre a linguagem jurdica, efetuado com o objetivo de reduzir suas complexidades, para
aumentar a especificidade cognoscitiva sobre o direito como um todo. Temos, assim, a formao das
Cincias Especficas do Direito.
De outro lado, tambm com o objetivo de reduzir sua complexidade, o cientista pode
abstrair da linguagem jurdica um ncleo de conceitos que permanecem lineares e atravessam
universalmente todos os subdomnios do objeto, adquirindo, em cada um deles, apenas um quantum de
especificidade. So os denominados, segundo as lies de LOURIVAL VILANOVA, conceitos
54
fundamentais
59
, responsveis pela uniformidade da linguagem-objeto. Com a eleio destes pontos de
interseco que se repetem nos vrios ramos da Cincia do Direito, formado pelas Teorias Especficas,
temos a generalizao e, com ela, a formao de uma Teoria Geral do Direito.
Ressalva-se, porm, que embora a Teoria Geral do Direito trabalhe com conceitos
que se repetem em cada um dos segmentos especficos das Cincias do Direito, ela no se caracteriza
como metalinguagem em relao quelas (a exemplo da Epistemologia Jurdica). Apresenta-se no
mesmo nvel lingstico das Teorias Especficas: metalinguagem do direito.
As redues cientficas do direito, tanto de carter geral quanto especfico, incidem
sobre a linguagem jurdica, ou seja, sobre aquilo que o cientista entende ser a realidade jurdica. Mas,
esta permanece una e indecomponvel. Os recortes, por serem metodolgicos, s aprecem no campo
das Cincias, ou seja, da linguagem cientfica, no tem o condo de modificar sua linguagem-objeto,
pois tanto uma quanto outra pertencem a jogos diferentes.
Nunca demasiado lembrar, tambm, que as redues metodolgicas e, com elas, a
constituio do objeto (formal), so influenciadas pelas escolhas epistemolgicas do cientista. Muitos
so os sistemas de referncia por intermdio do qual a realidade jurdica pode ser examinada e
concebida. Existem inmeras formas de compreender o direito, de modo que, no h uma Teoria
absoluta que o explique. Cada uma o projeta sob sua forma, de acordo com um dado modelo
referencial e na conformidade de seu mtodo. A nossa forma (a ser apresentada neste trabalho)
apenas mais um ponto de vista, como tantos outros. Um ponto de vista que se amolda s premissas
acima fixadas.
59
Causalidade e relao no direito, p. 28.
55
CAPTULO II
O DIREITO COMO OBJETO DE ESTUDO
SUMRIO: 1. Sobre o conceito de direito; 2. Sobre a definio do conceito de
direito; 3. Problemas semnticos da palavra direito; 3.1. Ambigidade; 3.2.
Vagidade; 3.3. Carga valorativa; 4. Teorias sobre o direito; 4.1. Jusnaturalismo;
4.2. Escola da Exegese; 4.3. Historicismo; 4.4. Realismo Jurdico; 4.5.
Positivismo; 4.6. Culturalismo Jurdico; 4.7. Pos-positivismo; 4.8. Sntese; 5. O
direito como nosso objeto de estudos; 6. Conseqncias metodolgicas deste
recorte; 7. Mtodo analtico-hermenutico.
1. SOBRE O CONCEITO DE DIREITO
Antes de perguntarmo-nos: que direito?, devemos ter em mente que direito
uma palavra.
Com a mudana de paradigma do giro-lingstico, torna-se inevitvel abordar
qualquer assunto sem pensar na linguagem, pois no h essncias nas coisas para serem descobertas,
nem verdades a serem reveladas. Vivemos num mundo de linguagem, de modo que, sob este
paradigma, aquilo que temos das coisas so idias, construes lingsticas existentes em funo dos
nomes. Nestes termos, nada aprendemos sobre as coisas, mas sim sobre o costume lingstico de um
grupo de pessoas.
No conceituamos dados da experincia, conceituamos termos. A relao da palavra
com aquilo que ela significa parece-nos natural, o que acarreta o erro de misturar a realidade fsica
com a lingstica. Mas, os vocbulos so smbolos, arbitrariamente convencionados, para serem
associados a outros smbolos. No se relacionam ontologicamente com os dados fsicos que eles
representam. Neste sentido, vale a pena registrar a afirmao de MARTIN HEIDEGGER segundo o
qual, fazemos das palavras apenas sinais de designao das coisas com as quais podemos dizer tudo,
porque no fundo, elas no dizem nada
60
.
60
Was Heit denken?, p. 58, apud Manfredo Arajo de Oliveira, Reviravolta lingstico-pragmtica na filosofia
contempornea, p. 204.
56
Entende-se por conceito a idia do termo, sua significao, que permite a
identificao de uma forma de uso da palavra dentro de um contexto comunicacional.
A nica coisa qual temos acesso, na formao da idia de um vocbulo, seu modo
de estruturao dentro de certas formaes discursivas. Tendo em vista uma determinada forma de
utilizao da palavra, nossa conscincia a associa a um significado, ou seja, a outros signos (ex:
imagens, smbolos, etc.), com esta atitude mental, construmos um juzo significativo (significao) em
relao ao termo, este juzo conota, para ns, aquilo a que o termo faz referncia, ou seja, o(s)
objeto(s) que o denota(m). , por isso, que temos o conceito como um critrio de classificao e
diferenciao dos objetos. Algo nominado de x porque enquadra-se no conceito de x, isto ,
porque tambm associa-se idia (imagem, palavra, rudo) vinculada ao termo.
Neste sentido, o conceito conotativo, ele cria uma classe de uso da palavra (x) e
com ela a classe do seu no-uso (-x), denominada de contra-conceito. Juntamente com a conotao,
forma-se a denotao, composta por todos os objetos (significaes) que se incluem na idia da palavra
e podem, por ela serem nominados.
Todo conceito tem funo seletiva. A realidade intuda, percebida, experimentada
infinitamente mais complexa do que o conceito que a constitui como objeto intelectualmente
articulvel e este, sempre mais pobre que os dados-fsicos. Isto se justifica pelo fato da linguagem no
reproduzir o emprico, que implicaria uma duplicao do domnio real, impossvel quando trabalhamos
no plano das idias (contedos de conscincia).
Seguindo o paradigma do giro-lingstico, as palavras no tm um nico conceito,
este varia em razo da sua forma de uso. O termo casa, por exemplo, pode ser vinculado, na lngua
portuguesa, ao signo moradia ou expresso buraco de boto, dependendo de como empregado
na composio da frase ou do discurso. A idia de casa modifica-se, assim, conforme seu uso na
linguagem.
certo que, s possumos o conceito de uma palavra por vivenciarmos uma lngua,
ou seja, por habitarmos um dado contexto cultural. isto que aproxima e distancia os conceitos e torna
possvel a comunicao. No h um mnimo de significado comum preso s palavras, as associaes
so livres. As idias se aproximam porque formuladas por pessoas que habitam a mesma cultura, ou
seja, que vivenciam uma tradio lingstica e, em decorrncia disso, acabam por realizar associaes
57
significativas prximas. No entanto, apesar de prximos, os conceitos se distanciam por serem as
vivncias culturais prprias de um indivduo.
Trazendo tais consideraes para nosso campo de anlise, um dos grandes problemas
enfrentado pelos juristas a utpica busca do conceito de direito, procurando sua natureza, como se
fosse possvel extra-lo experimentalmente. TREK MOYSS MOUSSALLEM, ao abordar tal
problema, enuncia: a busca pelo mago do signo direito insolvel, se o interlocutor almeja
desvendar a relao entre a palavra e a realidade. At mesmo porque o signo direito da espcie
smbolo e, como tal, o seu uso convencionado pelos utentes da linguagem
61
O conceito de direito formado em nosso intelecto, em razo das formas de uso da
palavra no discurso, tendo em vista os referenciais culturais do intrprete. Assim, no h um conceito
absoluto de direito. Cada pessoa tem sua idia em relao a dado contexto.
Com a associao do termo direito a outros signos, realizada de acordo com certa
tradio lingstica, construmos a conotao do que ele denota e, assim, temos acesso realidade que,
para ns, denomina-se direito. Nestes termos, em momento algum encontramos resposta para
pergunta que direito?. Nossos esforos voltam-se para soluo das indagaes direito em que
sentido? ou direito sob qual referencial?.
2. SOBRE A DEFINIO DO CONCEITO DE DIREITO
Traamos, desde logo, uma distino: uma coisa o conceito de direito, outra sua
definio. JOHN HOSPER destaca que uma pessoa pode possuir o conceito de uma palavra, saber
utiliz-la em diversos contextos todos os dias, sem ser capaz de lhe dar uma definio
62
. Isto porque,
definir por em palavras o conceito.
Muitas vezes temos a idia do termo, ou seja, das suas possibilidades de uso num
discurso, mas no somos capazes de apontar, por meio de outras palavras, as caractersticas que fazem
com que algo seja nominado por aquele termo, isto , que fazem com que possa ele ser utilizado em
certos contextos. Para ser fixada, a idia do termo precisa ser demarcada linguisticamente, ou melhor,
constituda em linguagem, pois, como pressupomos, s assim ela se torna articulvel intelectualmente.
61
Fontes do direito tributrio, p. 52.
62
Introduccin al analsis filosfico, p. 142
58
por meio da definio que realizamos tal demarcao. Definir, assim, explicar o conceito, p-lo em
palavras, identificar a forma de uso do termo.
No demasiado reforar que o conceito de um vocbulo no depende da relao
com a coisa, mas do vnculo que mantm com outros vocbulos. Nestas condies, definir no fixar a
essncia de algo, mas sim eleger critrios que apontem determinada forma de uso da palavra, a fim de
introduzi-la ou identific-la num contexto comunicacional. No definimos coisas, definimos termos.
Os objetos so batizados por ns com certos nomes em razo de habitarmos uma comunidade
lingstica, ao definirmos estes nomes restringimos suas vrias possibilidades de uso, na tentativa de
afastar os problemas de ordem semntica inerentes ao discurso. Por isso que, quanto mais detalhada a
definio, menores as possibilidades de utilizao da palavra.
Toda definio composta de duas partes: (i) definiendum, termo a definir; e (ii)
definiens, enunciao do significado do termo.
Para a constituio do definiens utilizamo-nos de certos critrios, escolhidos de
acordo com nossa tradio lingstica, os quais so responsveis pela indicao da forma de uso da
palavra. Ao eleger tais critrios separamos dois tipos de caractersticas: (i) definidoras; e (ii)
concomitantes. As primeiras (definidoras) so utilizadas para demarcao do conceito no qual o objeto
pensado. Estando elas presentes em todos os objetos nominados pelo termo (definiendum), so
responsveis por atribuirmos a tais objetos o mesmo nome. J as segundas (concomitantes) so as
infinitas outras, percebidas ou no, que no levamos em conta na delimitao do conceito do termo.
Como j fixado, o conceito de uma palavra pode ser visto sob dois fatores: (i)
conotao, formada pela classe de seu uso (x) excluda a de seu no-uso (-x); e (ii) denotao, formada
pelos elementos que se subsomem tal classe, ou seja, aquelas significaes que podem ser nomeadas
de x. Atento a tais fatores RICARDO GUIBOURG diferencia: (i) definies conotativas e (ii)
definies denotativas
63
. As primeiras delimitam o uso da palavra, apontando, mediante outros
vocbulos, os critrios (caractersticas) que nos fazem chamar certos objetos por aquele nome, de
forma que, mesmo no enumerando tais objetos h possibilidade de identific-los. J as segundas no
indicam as caractersticas comuns que nos possibilitam agrupar certos objetos sob a denominao do
termo definido, mas enumeram os objetos por ele nomeados, permitindo, assim, a identificao de seu
conceito.
63
Introduccin al conocimiento cientfico, p. 58.
59
Para elucidar esta diferenciao o autor utiliza como exemplo a palavra planeta.
Enunciar: Mercrio, Vnus, Terra, Marte, Jpiter, Saturno, Urano, Netuno definir denotativamente
o termo, ao passo que enunciar: corpo celeste, opaco, que brilha pela luz reflexa do Sol, arredor do
qual descreve uma rbita com movimento prprio e peridico defin-lo conotativamente. Nota-se
que as denominadas definies denotativas so abertas, no determinam o conceito, elas o induzem e,
por isso, clamam por uma definio conotativa. esta ltima que nos autoriza usar a palavra planeta
numa frase, que aponta seu conceito, determinando porque algo nominado planeta.
Nestes termos, no mbito cientfico, as definies tidas como denotativas devem ser
afastadas ou explicadas gradativamente por definies conotativas, porque, na verdade, elas nada
definem. Tal recomendao parece desnecessria, mas basta um percurso despreocupado pela doutrina
jurdica para percebermos que diversos autores no se do conta deste tipo de impropriedade, fazendo
uso de definies denotativas como se conotativas fossem. Um exemplo disso verificado na questo
dos ramos do Direito. No so poucos os que, ao explicarem tal expresso, limitam-se a indicar
significaes que a denotam: Direito Constitucional, Administrativo, Tributrio, Civil, Penal, etc.,
sem determinar a conotao de ramos do Direito. Isto para os destinatrios da Teoria soa como uma
morbidade cognoscitiva: aprendemos apontar os diversos ramos do Direito, mas no sabemos o
porqu deles serem ramos do Direito, ou seja, no temos delimitado seu conceito.
Alm da diferenciao entre definies denotativas e conotativas RICARDO
GUIBOURG trabalha com a distino entre definies: (i) verbais; e (ii) ostensivas
64
. De acordo com
seus critrios classificatrios, as primeiras identificam as caractersticas definitrias de uma palavra
por meio de outras palavras, enquanto as segundas apontam para o objeto portador de tais
caractersticas (so sempre denotativas). Um professor universitrio, por exemplo, pode definir o
conceito de direito apontando para um compndio de legislao e dizendo: Isto direito. Trata-se
de definio ostensiva.
Ainda segundo os critrios classificatrios do autor, as definies podem ser: (i)
informativas, quando descrevem o costume lingstico de certa comunidade a respeito do uso da
palavra (ex: as presentes no dicionrio de uma lngua); e (ii) estipulativas quando identificam a forma
de uso da palavra por uma pessoa em seu discurso
65
. este tipo de definio que permite a introduo
64
Idem, p. 55.
65
Idem, p. 60.
60
de novos termos, requeridos pelo discurso cientfico e a preciso daqueles ordinariamente j
conhecidos.
Ao definir direito delimitamos a realidade tomada como objeto de nossos estudos e
ao explicar as categorias gerais desta realidade construmos nossa Teoria Geral do Direito. Por isso, a
importncia de uma definio precisa. Ora, como apreender se no se sabe o que estudar? Muitas vezes
a falta de determinao do conceito de direito que acarreta enorme confuso na sua compreenso, o
que poderia facilmente ser solucionado com uma simples definio.
A questo que definir direito no assim to simples. As possibilidades de suas
formas de uso e estruturao frsica so muitas. Seu conceito amplo, os vrios modos de recort-lo
demonstram a infinidade de definies possveis e, em cada uma, a constituio de diferentes
realidades jurdicas. Como escolher entre uma delas? O fato que temos de escolher, caso contrrio, a
experincia com a realidade direito resta prejudicada.
3. PROBLEMAS DA PALAVRA DIREITO
Com a definio de direito tentamos afastar as imprecises lingstica do termo,
evitando, assim, certos problemas, de que so dotadas quase a totalidade das palavras por ns
conhecidas, que atrapalham a formao de seu conceito e conseqentemente, seu uso na linguagem.
Dentre os inmeros problemas inerentes linguagem TRCIO SAMPAIO FERRAZ
JR. chama ateno para as imprecises sintticas, semnticas e pragmticas do termo direito. Explica
o autor que, em seu uso comum, o termo sintaticamente impreciso, pois pode ser conectado com
verbos (ex: meus direitos no valem nada), substantivos (ex: direito uma cincia), adjetivos (ex: este
direito injusto), podendo ele prprio ser usado como substantivo (ex: o direito brasileiro prev...),
advrbio (ex: fulano no agiu direito) e adjetivo (ex: no um homem direito). Semanticamente
um termo denotativamente e conotativamente impreciso. Denotativamente ele vago porque tem
muitos significados e conotativamente ele ambguo, porque, no uso comum, impossvel enunciar
uniformemente as propriedades que devem estar presentes em todos os casos em que se usa a palavra.
E pragmaticamente uma palavra que tem grande carga emotiva
66
, o que acaba por influenciar
substancialmente sua conotao e denotao.
66
Introduo ao estudo do direito, p. 38.
61
Em suma, podemos dizer, apoiados tambm nas lies de CARLOS SANTIAGO
NINO
67
, que trs problemas prejudicam o conhecimento da palavra direito e, por conseguinte, da
realidade jurdica, j que esta delimitada com a definio do termo, so eles: (i) ambigidadde; (ii)
vaguidade; e (iii) carga emotiva.
Tais problemas so imperfeies muito comuns na linguagem ordinria, no s
inerentes ao termo direito, mas a quase todos outros, que devem ser afastadas na construo do
discurso cientfico, embora tal tarefa no seja de todo possvel, dado que as palavras no guardam
relao natural com as coisas.
Neste sentido, com muita preciso explica TREK MOYSS MOUSSALEM, que
no possvel expurg-los definitivamente. Nos dizeres do autor, funciona da seguinte forma: j que
no conseguimos vencer nosso inimigo (ambigidade, vaguidade e carga emotiva), procuramos
conviver com ele pacificamente, caso contrrio, viver (em um mundo lingstico), habitar uma
linguagem, tornar-se-ia, insuportvel
68
.
Os problemas ambigidade, vaguidade e carga emotiva no anulam a utilidade do
idioma, prova disso que a comunicao se estabelece mesmo com eles e muitas vezes nem os
percebemos, contudo, eles contaminam o conhecimento do direito, assim como de muitas outras
realidades e, por isso, devemos procurar afast-los no mbito das Cincias.
Mas, vejamos cada um destes vcios separadamente.
3.1. Ambigidade
Ambigidade caracterstica dos termos que comportam mais de um significado,
isto , que podem ser utilizados em dois ou mais sentidos.
A ttulo de exemplo: a palavra cadeira, pode ser empregada na acepo de
assento com costas para uma pessoa ou de disciplina, matria de um curso. A palavra casa,
pode ser utilizada no sentido de moradia ou de buraco por onde passa o boto. Sempre que o
mesmo vocbulo apresenta duas ou mais acepes deparamo-nos com o vcio da ambigidade.
67
Introduccin al anlisis del derecho, passim
68
Fontes do direito tributrio, p. 53.
62
Tal problema surge, justamente porque no existe significado ontolgico ao termo,
pois estes no tocam a realidade. O vnculo que se estabelece entre a palavra (suporte fsico) e seu
significado artificialmente construdo por uma comunidade de discurso e nada impede que a um
mesmo suporte fsico seja relacionado mais de um significado. Alis, este um recurso constante na
linguagem.
Uma soluo para o problema da ambigidade o que CARNAP denominou
processo de elucidao, por meio do qual o utente da lngua vai apontando o sentido dado ao termo,
conforme sua utilizao. Isto afasta imprecises quando h dualidade, ou multiplicidade, significativa,
pois a explicao de sua forma de uso acompanha o termo. Este processo funciona desde que realizado
toda vez que a palavra utilizada em sentido diferente do anteriormente elucidado.
A palavra direito multiplamente ambgua. Alm disso, apresenta a pior espcie
de ambigidade, como observa TREK MOYSS MOUSSALLEM, aquela constituda por vrios
significados estritamente relacionados entre si
69
. Diferente, por exemplo, da ambigidade da palavra
casa, cujos significados (morada x buraco do boto) no esto vinculados semanticamente, os
diversos conceitos de direito se entrelaam.
Para corroborar a ambigidade mltipla do termo direito, basta abrirmos qualquer
dicionrio da lngua portuguesa, que l estaro diversos sentidos para o vocbulo. Encontramos pelo
menos treze acepes, quase todas extremamente relacionadas, vejamos:
(i) complexo de leis ou normas que regem as relaes entre os homens (ex: o
direito brasileiro);
(ii) cincia ou disciplina jurdica que estuda as normas (ex: livro de direito);
(iii) faculdade de praticar um ato, de possuir, usar, exigir, ou dispor de alguma
coisa (ex: ela tem direito de vender o imvel);
(iv) legitimidade (ex: dele por direito);
(v) que segue a lei e os bons costumes, justo, correto, honesto (ex: comerciante
direito no rouba no preo);
(vi) de conduta impecvel, irrepreensvel (ex: moa direita);
(vii) sem erros; certo, correto (ex: seu clculo est direito);
(viii) vertical, aprumado, empertigado (ex: no fique curvo, fique direito);
69
Fontes do direito tributrio, p. 54.
63
(ix) lado oposto ao corao (ex: brao direito);
(x) justia (ex: dele por direito);
(xi) jurisprudncia, deciso (ex: o direito dos tribunais);
(xii) conjunto de cursos e disciplinas constituintes do curso de nvel superior que
forma profissionais da lei (ex: ele cursa o 3 ano de direito);
(xiii) educadamente, bem, atenciosamente (ex: trate direito as visitas)
70
.
Atentos ambigidade da palavra, definir o significado de direito pressupe, uma
tomada de deciso quanto sua forma de uso. Dentre todas estas acepes, no h uma certa ou errada,
mas sim aquela que se enquadra, ou no, situao estrutural de sua utilizao. Nota-se, com os
exemplos dados acima, que o sentido do termo determinado pela sua contextualizao com outros
termos, na compositura da frase. Como leciona FERDINAND DE SAUSSURE, seu contedo s
verdadeiramente determinado pelo concurso do que existe fora dele
71
, isto , em razo da relao
com as outras palavras.
Mas, para qual destes sentidos voltam-se as preocupaes cognoscitivas da Cincia
do Direito? Para responder isso, devemos levar em conta o contexto em que o termo empregado
quando tomado como objeto da Cincia. Percebe-se que, dependendo do sentido adotado, o enfoque
temtico modifica-se.
3.2. Vaguidade
Entende-se por vaguidade a falta de preciso no significado de uma palavra, vcio
assinalado pela incapacidade de se determinar, exatamente, quais objetos so abrangidos por seu
conceito, o que torna duvidosa sua utilizao.
A ttulo de exemplo: dizemos que uma pessoa jovem quando tem menos de 30
anos e que velha se maior de 60. E a pessoa que tem 40 jovem ou velha? Nota-se que, h aqui,
incerteza quanto aplicabilidade das palavras jovem e velho, o que GERNARO CARRI
denomina zona de penumbra
72
, responsvel pelo problema da vaguidade dos termos. Tal zona de
penumbra constituda pela carncia de designao precisa, caracterstica inerente a todos os
vocbulos.
70
Dicionrio eletrnico Houaiss da Lngua Portuguesa
71
Curso de lingstica geral, p. 134.
72
Notas sobre el derecho y lenguaje, p. 34.
64
Como adverte RICARDO GUIBOURG, todas as palavras so vagas e muitas so
ambguas (todas ao menos potencialmente ambguas)
73
. Isto acontece porque a linguagem
construda na medida de nossas necessidades. A linguagem comum, por exemplo, por meio da qual se
materializa o conhecimento ordinrio, s no mais precisa porque nossas necessidades cognoscitivas
no requerem maior preciso. J a linguagem cientfica requer maior preciso lingstica, pois o
conhecimento cientfico mais apurado em relao ao ordinrio, de modo que, a designao das
palavras aparece com maior rigor.
O remdio para a vaguidade est na definio. Tudo uma questo de delimitao
do conceito da palavra. Ao elegermos critrios conotativos do uso de um termo estamos restringindo
suas possveis denotaes e assim tornando-o mais preciso. Nos dizeres de LEONIDAS
HEGENBERG nas sucessivas dicotomias, diminui-se a extenso da classe considerada e aumenta a
compreenso. As divises prosseguiro at que a classe tenha elementos melhor caracterizados, em
funo de objetivos propostos
74
. Neste sentido, aumentamos a preciso de um termo diminuindo a
extenso da sua conotao, ou seja, definindo seu conceito mais detalhadamente.
Ressalvamos, porm, que as definies funcionam apenas como remdio para falta
de preciso das palavras, no eliminam o vcio da vaguidade, isto porque, definimos um termo
utilizando-nos de outros termos, que tambm so vagos. De acordo com as premissas fixadas neste
trabalho, como as palavras no tocam a realidade, nenhuma definio, por mais precisa que seja, tem o
condo de reproduzi-la.
Apesar dos cortes definitrios atriburem preciso designativa aos termos
(definiendum), os critrios que os constituem, por serem formados de outras palavras so imprecisos,
necessitam de outros cortes para serem pontualmente determinados. Este fluxo vai ao infinito e, por
isso, a vaguidade permanente. No entanto, nada impede que v sendo amenizada. O vcio conluie
todas as palavras, mas conforme as definimos, gradativamente, vamos diminuindo suas imprecises
significativas e tornando nosso habitar na linguagem possvel e mais agradvel.
No caso do direito no diferente. O termo impreciso. Por mais elaborada que
seja sua definio, restar sempre um quantum de vaguidade (zona de penumbra) a ser solucionada
por outras definies. Isto tudo porque os termos utilizados na demarcao de seu conceito
73
Introduccin al conocimiento cientfico, p. 51.
74
Saber de e saber que, p. 133.
65
pressupem outros para serem explicados, e estes outros, numa circularidade infinita, justificada na
auto-referibilidade da linguagem.
3.3. Carga emotiva
Ademais de serem vagas e ambguas, algumas palavras incitam elevada carga
emotiva quando interpretadas.
Em todos termos verificamos a presena de valores, isto porque a atribuio de
sentido uma construo humana (cultural), decorrente do processo de interpretao. FERDINAND
DE SAUSSURE assinala a dificuldade de se separar os valores da significao de um termo, nos
dizeres do autor, o valor, tomado em seu aspecto conceitual, constitui, sem dvida, um elemento da
significao e dificlimo saber como esta se distingue dele, apesar de estar sob sua dependncia
75
.
Existem termos, no entanto, geralmente empregados para exprimir sentimentos,
ideologias e os prprios valores (ex: amor, comunismo, justia), cuja compreenso comporta graus
valorativos mais acentuados e afloram as emoes do sujeito interpretante, que acabam por interferir
significamente na formao de seu conceito.
O direito uma destas palavras. Espera-se que o conceito de direito incite um
sentimento de justia, caracterstico de sua utilizao na linguagem comum, influenciado pela cultura
etimolgica do termo, que se explica desde os primrdios tempos de seu uso. A associao ao valor
justia, etimologicamente, faz-se presente no adjetivo jurdico empregado para nomear aquilo que
de direito, e acaba por influenciar o conceito deste.
A palavra jurdico derivada do latim juris, jus, que significa eqidade, justia
divina, direito (do verbo jubre ordenar, mandar, dar ordem). J a palavra direito vem do latim
directum, (do latim clssico directus em linha reta, alinhado, direito). Directus o particpio passado
de dirigere, endireitar, alinhar, dirigir, de regere, dirigir, conduzir, reger, governar, de mesma
origem que rex, regis, rei, e regula, regra. Enquanto o termo jus liga-se a idia de justia divina,
direito ditado pelos deuses, o sentido do termo directum no vincula seus ordenamentos em
imperativos religiosos e morais. Do latim directum derivou o portugus direito (1152), o espanhol
derecho (1010), o italiano dirito (sc. XII), o francs droit (sc. XII), que no formaram adjetivos.
Para suprimir essa lacuna, apesar de ter permanecido ntida a diferena entre jus e directum, lanou-se
75
Curso de lingstica geral, p. 133.
66
mo do latim juridicus, relativo aos tribunais, justia, ao direito (derivado de jus e de dictio ao
de dizer), em portugus e espanhol jurdico (sc. XVI e 1515), em italiano giuridico (sc. XV - XVI),
em francs juridique (1410), em ingls juridic, juridical (sc. XVI), donde respectivamente, o
substantivo portugus juridicidade e demais vernaculizaes, todas de formao recente.
Nota-se que etimologicamente, o conceito de direito associa-se ao de justia.
Este , sem dvida, um dos vcios que envolve a construo do sentido de direito e,
consequentemente, sua definio. Juristas e todos aqueles que, de certa forma, lidam com a realidade
jurdica, influenciados pela cultura etimolgica da palavra e pelo seu uso na linguagem comum,
inclinam-se a definies satisfativas de suas convices ideolgicas
76
.
O problema no est na valorao do termo direito, pois todo termo valorativo,
dado que o homem (sujeito que o interpreta) um ser cultural, impregnado de valores. A imperfeio
se mostra na carga emotiva empregada na definio de seu conceito. HANS KELSEN, buscando
ignorar os ideais polticos e morais como objeto da Cincia Jurdica, j expunha a dificuldade de
libertar do conceito de direito a idia de justia, porque ambos esto confundidos no pensamento
poltico
77
.
No mbito cientfico as definies tendentes a satisfaes ideolgicas devem ser
afastadas, pois as Cincias prezam pela neutralidade do discurso. A neutralidade cientfica, no entanto,
no implica iseno de valores, pois eles esto presentes inerentemente a toda compreenso que se
faa do mundo, mas importa evitar a expresso de emoes na definio do uso dos termos.
No caso do direito este afastamento emotivo complicado, pois a expectativa dos
destinatrios das proposies cientficas e seus prprios emitentes clamam por esta carga emotiva no
conhecimento da realidade jurdica, por influncias histricas determinantes do uso do termo na
linguagem.
76
A justia um valor atribudo s normas jurdicas ou s condutas por elas reguladas. Um exemplo disso sempre
lembrado por PAULO DE BARROS CARVALHO: o advogado de uma das partes elabora sua petio inicial e ao final
faz o pedido em nome da justia, a parte contrria contesta e ao final tambm faz o pedido em nome da justia, o juiz julga
e profere a sentena em nome da justia e o tribunal modifica a sentena tambm em nome da justia, e onde est a
justia? Certamente no est no direito positivo. O direito positivo o conjunto de normas jurdicas vlidas num dado pas
e a justia um valor que o homem atribui ao ordenamento, uma expectativa que temos, mas que nem sempre se realiza
no mundo jurdico. Apesar de se ajustar perfeitamente ao discurso retrico do advogado, o que justo ou injusto no cabe
no discurso da dogmtica jurdica, que, ressalvamos novamente, presa pela neutralidade de suas proposies e tem como
objeto unicamente as normas jurdicas e as relaes que se estabelecem entre elas.
77
Teoria geral do direito e do estado, p. 8.
67
4. TEORIAS SOBRE O DIREITO
Dentre a diversidade de acepes em que a palavra direito pode ser empregada,
nossa preocupao volta-se para aquela que designa a realidade jurdica, objeto da Cincia do Direito.
Mas, antes de definirmos o conceito de direito com o qual trabalhamos e fixarmos
o objeto da nossa Cincia do Direito, interessante examinarmos rapidamente o tratamento que dado
a tal realidade por algumas das mais conhecidas teorias que a tomaram como objeto. A diversidade
conceitual verificada em cada uma delas, s corrobora a afirmao de que as Cincias Jurdicas no
descrevem verdades absolutas, apenas pontos de vistas, determinados em razo de certos referenciais
tericos, sendo cada uma delas responsvel pela construo de um objeto prprio.
At o final do sculo passado vrias teorias voltaram-se realidade jurdica,
explicando-a sob diferentes enfoques, os quais acabam por influenciar substancialmente as concepes
mais modernas. Dentre elas, citamos sete como algumas das mais influentes: (i) jusnaturalismo; (ii)
escola da exegese; (iii) historicismo; (iv) realismo jurdico; (v) positivismo (sociolgico e normativo);
(vi) culturalismo jurdico e (vii) pos-positivismo. Passemos a analisar, resumidamente, as propostas de
cada uma delas.
4.1. Jusnaturalismo
O jusnaturalismo a Escola mais antiga
78
. Na sua concepo, o direito uma ordem
de princpios eternos absolutos e imutveis cuja existncia imanente prpria natureza humana. H
um direito natural anterior ao conjunto de leis postas e aprovadas pelo Estado.
Segundo tal corrente, desde que o homem se v em sociedade sabe comportar-se
nela em razo da existncia de um conjunto de ordens tidas como naturais, que regem suas relaes
inter-subjetivas. Muito antes do Estado produzir as leis, os homens j eram sujeitos de relaes
regulada por esta ordem natural baseada no senso de justia: plantavam, trocavam produtos
constituam famlia, tinham escravos, transferiam seus bens de ascendente para descendente. Para a
corrente jusnaturalista, este conjunto de ordens naturais constitui-se no direito. As intervenes
estatais, feitas por uma ordem legal, limitam-se apenas a tornar estveis as relaes jurdicas j
existentes. Por isso a definio do conceito de direito no se limita apenas ordem posta pelo
Estado, mas a algo maior: uma ordem natural. Neste contexto, as leis jurdicas pertencem natureza e,
78
Vide: MIGUEL REALE. Direito Natural/Direito Positivo, Saraiva, So Paulo, 1984.
68
embora algumas sejam consolidadas pelo poder estatal na forma de direito posto, o objeto das
Cincias Jurdicas esta ordem natural, materializada nas leis do Estado.
O conceito de ordem natural, alterou-se substancialmente, acompanhando as
modificaes filosficas do transcorrer histrico, de modo que podemos identificar trs fases do
Jusnaturalismo: (i) clssico; (ii) medieval; (iii) moderno.
O Jusnaturalismo clssico marcado pelo pensamento grego pr-socrtico e tem
fundamento na existncia de uma lei natural. A ordem natural inerente essncia das coisas,
permanente e imutvel. Deste modo, da mesma forma que h uma ordem intrnseca na natureza para
os movimentos dos corpos, para transformao da matria, existe uma ordem jurdica para o convvio
em sociedade: o direito. Seus principais representantes so SCRATES, PLATO e ARISTTELES.
No jusnaturalismo medieval, a ordem natural deixa de ser o modo prprio das
coisas para ser a vontade divina. Misturam-se o conceito de direito com o de justia divina. O
direito passa a ser visto como uma ordem ontolgica que expressa o justo, de modo que, a positivao
das leis pelo Estado est subordinada s exigncias de uma ordem normativa superior, a justia divina.
Seus principais representantes so SANTO TOMS DE AQUINO e SANTO AGOSTINHO.
E, no jusnaturalismo moderno a ordem natural no se encontra na essncia do
convvio social ou na vontade divina. o homem que ordena as coisas por meio da razo e assim o faz
com a sociedade. O direito passa a ser visto como uma ordem racional, ou seja, o que a razo humana
entende como justo. Seus principais representantes so ROUSSEAU, HOBBES e LOCKE.
Em suma, na concepo jusnaturalista, direito uma ordem natural e a funo do
Estado, mediante a produo e aprovao de leis, nada mais do que positivar normas j existentes,
como meio de se alcanar a justia social. H duas formas, no entanto, de conceber a ordem
positivada: (i) a monista, que elimina qualquer outro direito que no o natural, considerando que este
uma mera exteriorizao daquele; e (ii) a dualista, que difere direito natural e direito positivado,
mas declara a supremacia daquele em relao a este.
4.2. Escola da Exegese
A Escola da Exegese surgiu na Frana, no incio do sculo XIX, no decorrer da
Revoluo Francesa, com a codificao do direito civil francs e unificao das leis na promulgao
69
do Cdigo de Napoleo. Segundo esta concepo, no h direito fora do texto legal. Este
consubstancia-se num sistema normativo emanado do poder estatal, prescritor de todas as relaes e
conflitos humanos e incapaz de sofrer modificaes ou influncias da dinmica social na qual se
encontra inserido. O fundamento da Escola da Exegese est na lei escrita. Ela a nica expresso do
direito que se encontra todo codificado.
Por idolatrar a lei, seus adeptos se atm interpretao literal, alguns mais radicais
pregam, inclusive, a desnecessidade da interpretao. O texto se revela na sua gramaticalidade, suas
palavras so e dizem tudo, dispensando, assim, outro entendimento que no o positivado pelo
legislador. Neste sentido, como a lei contm todo direito e este certo e completo, o processo de
aplicao passa a ser mero silogismo. O trabalho do julgador, resume-se apenas em aplicar as leis e o
do jurista em revel-las. Ambos atm-se com rigor absoluto ao texto legal, exercendo funo
meramente mecnica.
Em suma, o que vale para a Escola da Exegese o texto codificado. O conceito de
direito est relacionado idia de lei que, de acordo com o posicionamento desta escola,
absoluta, completa e clara. A lei compreendida e aplicada a partir de esquemas da lgica dedutiva,
criados para revelar o sentido literal dos textos, nada acrescentando nem retirando da regra
positivada
79
.
4.3. Historicismo
A Escola Histrica do Direito surgiu na Alemanha, na primeira metade do sculo
XIX, como reao poltica aos ideais burgueses e ao racionalismo de todas as formas, que marcaram a
concepo da Escola da Exegese.
Solidificada no pensamento de SAVIGNY, essa corrente contrape-se ao
jusnaturalismo e ao empirismo exegtico, concebendo o direito como produto da histria social, que
se fundamenta nos costumes de cada povo e no na racionalizao do legislador. A idia basilar a
oposio codificao do direito, pois este tido como expresso ou manifestao da livre
conscincia social. O legislador no cria direito, apenas traduz em normas escritas o direito vivo,
latente no esprito popular que se forma atravs da histria desse povo, como resultado de suas
aspiraes e necessidades
80
.
79
Vide MARIA HELENA DINIZ, Compndio de introduo cincia do direito, p. 50-57
80
Idem, Idem, p. 98.
70
O Historicismo Jurdico substitui a lei pela convico popular, manifestada sob a
forma de costume, direcionando o estudo do fenmeno jurdico ao ambiente social em que
produzido. O direito, para esta corrente, longe de ser criao da vontade estatal, produto do
esprito popular, constitudo pelos costumes sociais. A anlise jurdica, neste sentido, volta-se aos
estudos dos costumes, determinados pela histria da sociedade.
Em suma, para historicismo jurdico o conceito de direito est atrelado revoluo
histrica da sociedade. As normas jurdicas aplicadas, no so as leis codificadas, mas o uso e o
costume de um povo.
4.4. Realismo jurdico
A Escola do Realismo Jurdico desenvolveu-se na primeira metade do sculo
passado XX, principalmente na Escandinvia e nos Estados Unidos da Amrica, como vertente do
sociologismo jurdico (positivismo sociolgico), atribuindo um enfoque social ao direito, tambm
voltado para sua efetividade. Na concepo desta escola o direito resultado de foras sociais e
instrumento de controle social, no existe, portanto, separado do fato social, contudo, a preocupao
central volta-se para a verificao da conduta de aplicao do direito, o que s possvel, nos
termos dessa corrente, com a anlise emprica.
As duas difuses mais importantes da Escola so: (i) realismo jurdico norte-
americano; e (ii) realismo jurdico escandinavo.
De acordo com a primeira corrente, desenvolvida no sistema da common law, onde
os juzes possuem um importante papel no plano da produo normativa, o direito tem natureza
emprica, constituindo-se num conjunto das decises tomadas pelos tribunais em relao a casos
concretos. Embora seus adeptos relacionem o conceito de direito a origens sociais (numa viso
sociolgica), consideram que este se manifesta com a atividade do Poder Judicirio. Neste contexto,
sua existncia vincula-se vontade do julgador. O direito fruto da deciso poltica do juiz e no de
uma norma de hierarquia superior, pois ningum pode conhecer o direito (real e efetivo) relativo a
certa situao at que haja uma deciso especfica a respeito. Resumindo, na concepo do realismo
norte-americano, o direito aquilo que os tribunais concretizam, produto das decises judiciais,
fundado em precedentes jurisprudenciais.
71
J o realismo jurdico escandinavo, preocupa-se com a questo hermenutica,
buscando a descoberta de princpios gerais, resultantes da experincia concreta da sociedade, para
implement-la. Tal corrente, interpreta o direito em razo da efetividade social das normas jurdicas,
mediante observaes empricas de cunho psicolgico ou sociolgico, buscando certa correspondncia
entre seu contedo ideal e os fenmenos sociais. Influenciada pela filosofia da linguagem a Escola
concebe o direito como meio de comunicao entre os seres humanos, mas atribui-lhe um enfoque
sociolgico, considerando-o uma forma de controle do comportamento inter-humano (, por isso,
tambm denominada de realismo lingstico), determinado pela finalidade social. A Cincia do Direto
concebida como Cincia Social emprica (de observao experimental), dado que as decises
judiciais no se encontram apenas motivadas por normas jurdicas, mas tambm por fins sociais e
pelas relaes sociais relevantes para concretizao destes fins.
Sob a rubrica de realismo jurdico alguns autores, como MIGUEL REALE,
renem todas as teorias que consideram o direito sob o prisma predominantemente (quando no
exclusivo) social
81
, o que inclui o positivismo sociolgico, o historicismo jurdico e algumas
tendncias da escola da livre investigao do direito. Ns restringimos o termo para designar o
pensamento das Escolas escandinava e norte-americana que atribuem um enfoque emprico-social ao
direito, mas voltado para sua efetivao.
4.5. Positivismo
O termo positivismo utilizado para designar duas tendncias epistemolgicas,
que tem como ponto comum o afastamento do direito natural e o reconhecimento do direito
positivo como aquele vigente e eficaz em determinada sociedade, mas que muito se distanciam na
delimitao do conceito de direito. So as Escolas: (i) do positivismo sociolgico, ou sociologismo;
e (ii) do positivismo jurdico.
O positivismo sociolgico adveio da teoria de AUGUSTO COMTE, traduz-se num
exagero da Sociologia Jurdica, que concebe o direito como fenmeno social, objeto das Cincias
Sociais. A Cincia do Direito vista, neste contexto, como um segmento da Sociologia (Sociologia
Jurdica). O direito como fato social deve ser estudado e compreendido pelo mtodo sociolgico. As
idias do positivismo sociolgico so manifestas no direito brasileiro na obra de PONTES DE
MIRANDA, que chegou a afirmar que: a Cincia Positiva do Direito a sistematizao dos
conhecimentos positivos das relaes sociais, como funo do desenvolvimento geral das
81
Filosofia do direito, p. 434
72
investigaes cientficas em todos os ramos do saber. Nas portas das escolas de direito deveria estar
escrito: aqui no entrar quem no for socilogo
82
. Como principais representantes desta tendncia
temos: DURKHEIN, DUGUIT, GURVITCH e no Brasil, TOBIAS BARRETO, ALBERTO SALES,
CLVIS BEVILQUA, dentre outros.
O Positivismo Normativo ou Jurdico marcado pela tentativa de fundamentao
autnoma da Cincia do Direito, sugerida na Teoria Pura de HANS KELSEN. Surgiu como reao
falta de domnio cientfico da Cincia Jurdica que, reduzida Sociologia, submetia o direito a
diversas metodologias empricas (psicologia, deduo silogstica, histrica, sociolgica, etc.), tomando
emprestados mtodos prprios de outras Cincias para seu estudo. Com isso, no havia autonomia
cientfica. O cientista do direito estava autorizado a ingressar em todos os domnios empricos sob o
fundamento de um estudo jurdico. Como reao a tal situao, KELSEN props a purificao
metodolgica da Cincia Jurdica, ou seja, a investigao do direito mediante processos prprios
que o afastassem da Sociologia, da Poltica e da Moral. E, assim o fez submetendo-a a uma dupla
depurao:
(i) primeiro, procurou afasta-la de qualquer influncia sociolgica, libertando a
vinculao da concepo de direito anlise de aspectos fcticos. Ao jurista no interessa
explicaes causais das normas jurdicas. O objeto de uma Cincia do Direito Pura so as normas
jurdicas, o jurista j as recebe prontas e acabadas, de modo que, no lhe interessa saber o que veio
antes ou depois, nem o que motivou sua produo.
(ii) segundo, retirou do campo de apreciao da Cincia do Direito a ideologia
poltica e os aspectos valorativos do direito, relegando-as a Cincia Poltica e a tica, a Filosofia
Jurdica e a Religio. No interessa, para o jurista, analisar os critrios polticos que motivaram o
legislador na produo das normas jurdicas, pois estes so anteriores a elas, nem os aspectos
valorativos a ele atribudos, vez que toda valorao supe a aceitao de uma ideologia.
Com esta depurao, KELSEN delimitou as normas jurdicas como nico objeto da
Cincia do Direito, que as deve expor de forma ordenada e coerente. O problema do jurista resume-se
em saber como as normas jurdicas se articulam entre si, qual seu fundamento de validade e qual
critrio a ser adotado para definir-lhes unidade sistmica.
82
Introduo poltica cientfica e fundamentos da cincia positiva do direito, p. 19, apud MARIA HELENA DINIZ,
Compndio de introduo cincia do direito, p. 108.
73
Em suma, a Escola do Positivismo Normativo concebe o direito como conjunto de
normas jurdicas, afastando do campo de estudos da Cincia do Direito tudo aquilo que extravasa os
limites das normas postas. O direito natural, bem como o fato social, os costumes e os valores de
justia so excludos da categoria do direito, que passa a ser compreendido apenas como o direito
posto.
4.6. Culturalismo Jurdico
O Culturalismo Jurdico surgiu como reao ao Positivismo, que nos seus termos,
contentava-se apenas com as conexes estruturais do direito sem cuidar dos valores ou significados
destas estruturas. A Escola concebe o direito como fator cultural, dotado de sentido, constitudo de
valores, sendo estes determinados historicamente. Nesta estreita, a Cincia Jurdica aparece como
Cincia Cultural, de base concreta, mas que repousa seu domnio no campo dos valores, determinados
sob o influxo de contedos ideolgicos em diferentes pocas e conforme a problemtica social de
cada tempo e lugar
83
.
Foi na Escola de BADEN, a que se filiaram LASK e RADBRUCH, que o
culturalismo jurdico fincou suas bases filosficas. Com a percepo do conceito de valor como
elemento-chave para a compreenso do mundo, no corte feito por KANT entre ser e dever ser, a
Escola imps entre realidade e valor, um elemento conectivo: a cultura, ou seja, um complexo de
realidades valiosas (referidas a valores)
84
. Constituiu-se, assim, uma Filosofia da Cultura, em torno da
qual se desenvolveram as diversas espcies de culturalismo jurdico.
O direito, na concepo culturalista tido como bem cultural. Os bens culturais
so constitudos pelo homem, para alcanar certas finalidades especficas, isto , certos valores.
Pressupem sempre um suporte natural, ou real, ao qual atribudo um significado prprio, em virtude
dos valores a que se refere, vividos como tais atravs dos tempos. Neste sentido, o direito constitui-
se num conjunto de significaes, analisado como objeto da compreenso humana, impregnado de
valores e condicionado culturalmente.
Forte defensor do Culturalismo Jurdico no Brasil, MIGUEL REALE explica que a
descrio essencial de um fenmeno cultural qualquer, resolve-se na necessria indagao que
83
MARIA HELENA DINIZ, Compndio de introduo cincia do direito, p. 131.
84
MIGUEL REALE, Teoria tridimensional do direito, p. 70
74
qualificamos de histrico-axiolgica, ou crtico-histrica, inerente subjetividade transcendental
85
.
Nos termos desta corrente e de acordo com a dialtica que envolve sujeito-objeto e valor-realidade, o
fenmeno jurdico, caracterizado como cultural, pode ser estudado segundo dois pontos de vista: (i)
sob sua objetividade (descrio fenomenolgica); (ii) sob sua subjetividade (como se manifesta
histrica e axiologicamente no sujeito cognoscente).
4.7. Ps-Positivismo
O Ps-positivismo um movimento recente que mistura tendncias normativistas e
culturalistas, surgindo como uma crtica dogmtica jurdica tradicional (positivismo), objetividade
do direito e neutralidade do intrprete. Suas idias ultrapassam o legalismo estrito do positivismo
sem, no entanto, recorrer s categorias da razo subjetiva do jusnaturalismo.
Como uma de suas vertentes podemos citar a escola do Constitucionalismo Moderno,
difundida no Brasil por LUIS ROBERTO BARROSO
86
, cujos traos caractersticos so a ascenso dos
valores, o reconhecimento da normatividade dos princpios e a essencialidade dos direitos
fundamentais. Tal escola traz a discusso tica para o direito, exaltando os princpios constitucionais
como sntese dos valores abrangidos no ordenamento jurdico que do unidade e harmonia ao sistema.
O direito visto como uma mistura de regras e princpios
87
, cada qual desempenhando papis
diferentes na compositura da ordem jurdica. Os princpios, alm de atriburem unidade ao conjunto
normativo, servem como guia para o intrprete, que deve pautar-se neles para chegar s formulaes
das regras.
Como outra vertente deste movimento, fundada nas lies de LOURIVAL
VILANOVA, enquadra-se a escola a qual nos filiamos: o Constructivismo Lgico-Semntico, que tem
no movimento do Giro-lingstico, na Semitica, na Teoria dos Valores e numa postura analtica suas
ferramentas bsicas. Apesar de no trabalhar com os mesmos postulados da escola do
Constitucionalismo Moderno, tal corrente mistura tendncias normativistas e culturalistas, por isso,
enquadra-se como uma das vertentes deste movimento. Seus pressupostos, no entanto, sero
observados com maior detalhamento no decorrer deste trabalho.
85
Filosofia do Direito, p. 368.
86
Fundamentos tericos e filosficos do novo direito constitucional brasileiro (ps-modernidade, teoria crtica e ps-
positivismo).
87
O que se deve sistematizao de RONALD DWORIKIN, Taking rights seriously.
75
5. O DIREITO COMO NOSSO OBJETO DE ESTUDOS
Inspirados na teoria kelseniana, adotamos uma posio normativista do direito,
considerando-o como o complexo de normas jurdicas vlidas num dado pas
88
. Este o primeiro
corte metodolgico para demarcao do nosso objeto de estudos: h direito onde houver normas
jurdicas.
Seguindo, contudo, a concepo filosfica por ns adotada, no podemos deixar de
considerar as normas jurdicas como uma manifestao lingstica, sendo este nosso segundo corte
metodolgico: onde houver normas jurdicas haver sempre uma linguagem (no caso do direito
brasileiro, uma linguagem idiomtica, manifesta na forma escrita).
Enquanto linguagem, o direito produzido pelo homem para obter determinado fim:
disciplinar condutas sociais. Isto implica reconhec-lo como produto cultural, e aqui fixamos nosso
terceiro corte metodolgico: o direito um instrumento, constitudo pelo homem com a finalidade de
regular condutas intersubjetivas, canalizando-as em direo a certos valores que a sociedade deseja ver
realizados. Encontra-se, segundo a classificao de HUSSERL (especificada no captulo anterior), na
regio ntica dos objetos culturais e, portanto, impregnados de valores.
Estes recortes encontram-se bem delimitados na obra de PAULO DE BARROS
CARVALHO, que pontualmente enuncia: Trato o direito positivo adotando um sistema de referncia,
e esse sistema de referncia o seguinte: Primeiro, um corte metodolgico, eu diria de inspirao
kelseniana onde houver direito haver normas jurdicas, necessariamente. Segundo corte se onde
houver direito h, necessariamente, normas jurdicas, ns poderamos dizer: onde houver normas
jurdicas h, necessariamente, uma linguagem em que estas normas se manifestam. Terceiro corte o
direito produzido pelo ser humano para disciplinar os comportamentos sociais; vamos tom-lo como
um produto cultural, entendendo objeto cultural como todo aquele produzido pelo homem para obter
um determinado fim
89
.
Com estes trs cortes metodolgicos fixamos o direito positivo como objeto de
nossos estudos.
88
PAULO DE BARROS CARVALHO, Curso de direito tributrio, p. 2
89
Apostila do Curso de Teoria Geral do Direito, p. 141.
76
6. CONSEQNCIAS METODOLGICAS DESTE RECORTE
Voltando aos nossos estudos sobre a natureza classificatria das definies, podemos
observar serem trs os critrios separatrios que fundamentam a definio do conceito de direito
com o qual trabalhamos (direito positivo): (i) ser norma; (ii) ser jurdica; e (iii) ser vlida. Com o
primeiro critrio, dividimos a classe das normas (linguagem prescritiva), da classe das no-normas
(outras linguagens: descritiva, interrogativa, potica, etc.). Com o segundo critrio, separamos a classe
das normas entre jurdicas (postas perante ato de vontade de autoridade competente), das no-jurdicas
(morais, religiosas, ticas, etc.). E, por fim, com o terceiro critrio isolamos a classe das normas
jurdicas em vlidas (presentes existentes) e no-vlidas (futuras e passadas no existentes).
Constitumos, assim, a classe do direito positivo, nosso objeto de estudo.
Com este primeiro recorte, fixamos uma viso normativista do direito, determinamos
o que o jurdico pela presena de normas jurdicas e, assim, delimitamos o objeto da Cincia do
Direito.
Dizer que h direito onde houver normas jurdicas vlidas importa, desde logo,
afastar do campo de interesse da Dogmtica Jurdica o direito passado (normas jurdicas no mais
vlidas) e o direito futuro (normas jurdicas ainda no vlidas). Tambm no interessa Cincia
Jurdica as razes (polticas, econmicas ou sociais) que lhe precedem, as conseqncias (polticas
econmicas ou sociais) por ele desencadeadas, nem os conceitos ticos ou morais que lhe permeiam,
pois seu objeto resume-se s normas jurdicas vlidas.
Esta primeira tomada de posio implica desprezar tudo que no se configura norma
jurdica da abrangncia do conceito de direito positivo. Como j vimos, cada Cincia existe para
conhecer seu objeto e nada mais. Neste sentido, Cincia do Direito compete o estudo do direito
posto, nada alm, nem antes e nem depois dele. E, considerando-se que este consubstancia-se em
normas jurdicas, o objeto de estudos da Cincia do Direito so as normas jurdicas e s elas. Nada
alm, nem antes e nem depois delas.
Um estudo da evoluo histrica das normas jurdicas, por exemplo, compete
Histria do Direito. A anlise do fato social por elas regulado realizada pela Sociologia do Direito. A
relao das normas jurdicas com os homens (sociedade) foco de uma Teoria Antropolgica do
Direito. O estudo da situao poltica em que foram produzidas, compete Cincia Poltica do Direito.
Isto tudo porque, aquilo que interessa ao jurista o complexo de normas jurdicas vlidas num dado
77
pas e s. Este o objeto da Cincia do Direito, o que no significa, porm, desconsiderarmos a
importncia de todos os demais enfoques, cada qual prprio de uma Cincia especfica, que no a
Jurdica.
O jurista, por exemplo, que se prope a uma anlise jurdica e parte da apreciao do
fato social, no se restringe s normas jurdicas vlidas, vai alm dos recortes daquilo que delimitamos
de direito positivo (objeto da Cincia do Direito) e, apesar de construir suas proposies em nome de
uma anlise jurdica, realiza um estudo sociolgico, dado que o fato social objeto de uma Cincia
prpria: a Sociologia. No mesmo erro insurgem todos aqueles que escapam suas investigaes s
normas jurdicas. Acabam por ultrapassar os limites do jurdico.
Esta uma das conseqncias do recorte metodolgico de se tomar o direito (objeto
de estudos da Cincia Jurdica) como um complexo de normas jurdicas vlidas. claro que, tais
restries podem no se aplicar se as incises na delimitao do objeto forem outras. Mas, seguindo
este caminho e adotado tal posicionamento, a anlise do jurista volta-se exclusivamente norma
jurdica, especificamente ao seu contedo, sua estrutura e s relaes que mantm com outras normas
jurdicas na conformao do sistema. Falamos, assim: (i) numa anlise esttica, voltada para o
contedo normativo e sua estrutura; e (ii) numa anlise dinmica, direcionada criao, aplicao e
revogao de tais normas.
A expresso direito positivo, a princpio, parece redundante, pois para todos
aqueles que adotam uma posio kelseniana no existe outro direito, seno o posto. No entanto, o
pleonasmo se justifica pela ambigidade do termo, para diferenciar sua forma de uso como objeto da
Cincia do Direito de todas as demais acepes que possui. O qualificativo positivo significa
produzido por um ato de vontade de autoridade e, agregado ao termo direito, aumenta sua preciso
terminolgica.
Nosso segundo recorte diz respeito materialidade do direito. Tom-lo como corpo
de linguagem importa um posicionamento muito particular, a ser implementado com recursos das
Cincias da Linguagem. Dizer que onde h direito, existe uma linguagem, na qual ele se materializa,
implica, em ltima instncia, afirmar que o objeto de anlise do jurista a linguagem positivada.
Estudar o direito, assim, estudar uma linguagem.
78
O trato do direito como linguagem demanda reconhecer o homem como pressuposto
de sua existncia. Nestes termos, o direito no algo divino, ou dado pela natureza (como prope o
jusnaturalismo). algo construdo pelo homem para alcanar certas finalidades.
Em conseqncia disso, aparece nosso terceiro e ltimo recorte, que imerge o jurista
no universo dos valores. Tratar o direito como objeto cultural (constitudo pelo homem para alcanar
determinada finalidade) importa compreender sua realidade submersa num processo histrico-
axiolgico (cultural). Como ensina MIGUEL REALE, cada norma ou conjunto de normas jurdicas
representa, em dado momento e em funo de determinadas circunstncias, a incidncia de certos
valores
90
. O cientista, ao lidar com o direito, trabalha a todo momento com valores, seja na construo
do contedo normativo ou na compreenso dos fatos e das condutas valoradas pelo legislador na
produo da norma jurdica.
Com este terceiro corte fixamos uma viso culturalista do direito. Este se
consubstancia no conjunto de normas jurdicas vlidas num dado pas, que se materializam por meio
de uma linguagem, mas que s tm existncia e sentido porque imersas num universo cultural
(valorativo), que as determinam.
7. MTODO HERMENEUTICO-ANALTICO
Ensina MIGUEL REALE que cada mtodo deve adaptar-se a seu objeto
91
. Em razo
disso, afastam-se, pela prpria ontologia objetal do direito, as vias racional-dedutiva (adequada ao
plano dos objetos ideais) e emprico-indutiva (apropriada ao plano dos objetos naturais). O direito,
tomado como objeto cultural, uma construo do ser humano que, como explica PAULO DE
BARROS CARVALHO, est longe de ser um dado simplesmente ideal, no lhe sendo aplicvel,
tambm, as tcnicas de investigao do mundo natural
92
. O ato congnoscente que o apreende a
compreenso e o caminho a ser percorrido a via emprico-dialtica.
Nosso trato com o direito revela uma tomada de posio analtico-hermenutica,
fundada nas proposies filosficas fixadas no incio deste trabalho (captulo I), bem como na
delimitao de nosso objeto (pontuada neste captulo).
90
Teoria tridimensional do direito, p. 75.
91
Filosofia do direito, p. 148.
92
Apostila do curso de Teoria Geral do Direito, p. 95.
79
Tomamos o direito como um corpo de linguagem e, neste sentido, o mtodo analtico
mostra-se eficiente para o seu conhecimento. Com ele, e amparados nas Cincias da Linguagem e com
auxlio da Lgica, realizamos a decomposio do discurso jurdico, para estud-lo minuciosamente em
seus mbitos sinttico (estrutural), semntico (significativo) e pragmtico (prtico de aplicao) para
construirmos a unicidade do objeto por meio de seu detalhamento.
Mas, por outro lado, quando lidamos com os valores imersos na linguagem jurdica,
ou seja, com os fins que a permeiam, pressupomos a hermenutica. Com ela entramos em contato com
o sentido dos textos positivados e com os referenciais culturais que os informam. Quem se prope a
conhecer o direito, ressalta PAULO DE BARROS CARVALHO, no pode aproximar-se dele na
condio de sujeito puro, despojado de atitudes ideolgicas, como se estivesse perante um fenmeno
da natureza. A neutralidade axiolgica impede, desde o incio, a compreenso das normas, tolhendo a
investigao
93
.
Neste sentido, analtica e hermenutica se completam, consubstanciando-se no
mtodo prprio da Cincia Jurdica a qual nos propomos. A construo analtico-hermenutica, no
entanto, ocorre dentro de um processo dialtico, de contraposio de sentidos, prprio ao plano dos
objetos culturais.
No podemos deixar de ressalvar, tambm, que o modelo dogmtico permeia toda
nossa construo. TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. explica que h duas possibilidades de proceder
investigao de um problema: acentuando o aspecto pergunta, ou o aspecto resposta. No primeiro
caso, temos um enfoque zettico, no segundo, um enfoque dogmtico. O enfoque dogmtico revela o
ato de opinar e ressalva algumas opinies. O zettico, ao contrrio, desintegra, dissolve as opinies,
pondo-as em dvidas
94
.
93
Idem, p. 95.
94
Segue o autor: se o aspecto pergunta acentuado, os conceitos bsicos, as premissas, os princpios ficam abertos
dvida. Isto , aqueles elementos que constituem a base para organizao de um sistema de enunciados que, como teoria,
explica um fenmeno, conservam seu carter hipottico e problemtico, no perdem sua qualidade de tentativa,
permanecendo abertos critica. No segundo aspecto, ao contrrio, determinados elementos so, de antemo, subtrados
dvida, predominado o lado resposta. Isto , postos fora de questionamento, mantidos como solues no acatveis, eles
so, pelo menos temporariamente, assumidos como insubstituveis, como postos de modo absoluto. Elas dominam, assim,
as demais respostas, de tal modo que estas, mesmo quando postas em dvida em relao aos problemas, no pem em
perigo as premissas de que partem; ao contrrio, devem ser ajeitadas a elas de maneira aceitvel (Introduo ao estudo do
direito, p. 40-41)
80
A base do Constructivismo Lgico-Semntico, como o prprio nome enseja, no a
desintegrao de uma opinio, mas a construo de uma posio, fundada em premissas solidificadas
num referencial filosfico, onde o modelo dogmtico mostra-se presente do comeo ao fim
95
.
Condizentes com a proposio adotada de que o conhecimento jurdico-cientfico
construtivo de seu objeto em razo do sistema de referncia indicado pelo cientista e dos recortes
efetuados, em algum momento necessrio que este estabelea um corte restritivo, ponto de partida
para elaborao descritiva, fundamentado no conjunto de premissas, as quais espera-se que se
mantenha fiel do comeo ao fim de suas investigaes. As proposies delineadoras deste recorte so
tomadas como dogmas e delas partem todas as outras ponderaes. No questionamos tais
proposies, as aceitamos como verdadeiras e com base nelas vamos amarrando todas as outras para,
em nome de uma descrio, construir nosso objeto (formal). E, neste sentido, o mtodo dogmtico
encontra-se sempre aparente.
95
Para corroborar tal posicionamento, citamos uma passagem de PAULO DE BARROS CARVALHO: nutro uma
convico que me parece acertada: a expanso dos horizontes do saber do exegeta do direito positivo s ser possvel por
meio de um mtodo dogmtico, restritivo do contedo da realidade semntica difusa, fundando este corte metodolgico em
premissas slidas (Apostila do curso de teoria geral do direito, aula 9).
81
CAPTULO III
DIREITO POSITIVO, CINCIA DO DIREITO E REALIDADE SOCIAL
SUMRIO: 1. Direito positivo e Cincia do Direito; 2. Critrios diferenciadores
das linguagens do direito positivo e da Cincia do Direito; 2.1. Quanto funo;
2.2. Quanto ao objeto; 2.3. Quanto ao nvel de linguagem; 2.4. Quanto ao tipo ou
grau de elaborao; 2.5. Quanto estrutura; 2.6. Quanto aos valores; 2.7. Quanto
coerncia; 2.8. Sntese.
1. DIREITO POSITIVO E CINCIA DO DIREITO
Dentre as inmeras referncias denotativas do termo direito encontramos duas
realidades distintas: o direito positivo e a Cincia do Direito, dois mundos muito diferentes, que no se
confundem, mas que, por serem representados linguisticamente pela mesma palavra e por serem
ambos tomados como objeto do saber jurdico, acabam no sendo percebidos separadamente por todos.
Quando entramos na Faculdade de Direito, somos apresentados a dois tipos de
textos: os professores nos recomendam uma srie de livros para leitura, alguns contendo textos de lei
(ex: os Cdigos, a Constituio, os compndios de legislao), produzidos por autoridade competente e
outros contendo descries destas leis, produzidos pelos mais renomados juristas, os quais
denominamos de doutrina. Logo notamos que estes ltimos referem-se aos primeiros. Ambos so
textos jurdicos e diante deles a distino nos salta aos olhos. Sem maiores problemas podemos
reconhecer a existncia de duas realidades: uma envolvendo os textos da doutrina e outra formada
pelos textos legislativos: Cincia do Direito ali e direito positivo aqui. Com este exemplo, fica fcil
compreender que o estudo do direito comporta dois campos de observao e, por isso, se instaura a
confuso, que reforada pela ambigidade do termo direito, empregado para denotar tanto uma
quanto outra realidade.
Conforme alerta PAULO DE BARROS CARVALHO, os autores, de um modo
geral, no tm dado a devida importncia s dessemelhanas que separam estes dois campos do saber
jurdico criando uma enorme confuso de conceitos ao utilizarem-se de propriedades de uma das
82
realidades para definio da outra
96
. O autor traz um bom exemplo em que tal confuso pode
atrapalhar o aprendizado, demonstrando a importncia de se ter bem demarcada tal distino quando
da definio do conceito de direito tributrio. O ilustre professor enfatiza a importncia de se
considerar, em primeiro lugar, sob qual ngulo a definio ir se pautar: sob o campo do direito
tributrio positivo, ou sob o campo do Direito Tributrio enquanto Cincia e destaca que se esta
separao no for feita, perde-se o rigor descritivo, instaurando-se certa instabilidade semntica que
compromete a compreenso do objeto, dado que as caractersticas de tais campos no se misturam
97
.
Assim, de fundamental importncia destacar as diferenas que afastam estas duas
regies, para no misturarmos os conceitos atinentes Cincia do Direito ao nos referirmos realidade
do direito positivo, ou vice e versa.
HANS KELSEN j frisava esta distino utilizando-se da expresso proposio
jurdica para referir-se s formulaes da Cincia Jurdica e da elocuo norma jurdica para aludir-
se aos elementos do direito positivo
98
e advertia que as manifestaes por meio das quais a Cincia
Jurdica descreve o direito, no devem ser confundidas com as normas criadas pelas autoridades
legislativas, dado que estas so prescritivas, enquanto aquelas so descritivas
99
. Embora naquela poca
ainda no se trabalhasse com o emprego de recursos da lingstica no estudo do direito, o autor j se
preocupava com a distino entre estes dois planos do conhecimento jurdico. O emprego da
lingstica s veio a reforar substancialmente as diferenas entre Cincia do Direito e direito positivo,
j demarcadas por KELSEN, pois, ao pensarmos nos dois planos enquanto corpos de linguagem,
podemos diferenci-los por meio de critrios lingsticos.
Antes de voltarmo-nos a tais critrios, contudo, fazemos aqui um parntese para
advertir sobre o uso do termo proposio jurdica, utilizado por KELSEN para referir-se s
manifestaes cientficas, quando se contrape realidade do direito positivo, formado por normas
jurdicas. Trabalhamos com o termo proposio na acepo de significao, isto , aquilo que
construmos em nossa mente como resultado de um processo hermenutico. Logo, nesta acepo e
partindo da premissa que tanto o direito positivo e a Cincia do Direito so textos, formados com a
sistematizao de enunciados, a expresso proposio jurdica pode ser empregada para referir-se
tanto significao dos enunciados da Cincia do Direito, quanto dos enunciados do direito positivo.
96
Curso de direito tributrio, p. 1.
97
Curso de direito tributrio, p. 13.
98
Teoria pura do direito, p. 80.
99
HANS KELSEN, Teoria Geral do Direito e do Estado, p. 63
83
Por esta razo, embora compartilhemos com as diferenas delimitadas por KELSEN ao separar direito
positivo e Cincia do Direito, no adotamos a terminologia por ele utilizada para identificar o discurso
do cientista, em nvel de metalinguagem. Preferimos utilizar proposies descritivas ou cientficas
para referirmo-nos significao dos enunciados da Cincia do Direito e proposies normativas ou
prescritivas quando tratarmos do sentido dos textos do direito positivo. Mas, independentemente da
nomenclatura utilizada, necessrio que fixemos a existncia das diferenas entre estas duas
realidades jurdicas, de modo que possamos separ-las e identific-las.
Uma coisa o direito positivo enquanto conjunto de normas jurdicas vlidas num
dado pas, outra coisa a Cincia do Direito enquanto conjunto de enunciados descritivos destas
normas jurdicas. So dois planos de linguagem distintos, cujas diferenas devem estar bem definidas
em nossa mente para no incidirmos no erro de confundi-los.
2. CRITRIOS DIFERENCIADORES DAS LINGUAGENS DO DIREITO POSITIVO E DA
CINCIA DO DIREITO
Dentro das premissas com as quais trabalhamos, atenta-se para um ponto comum:
tanto o direito positivo como a Cincia do Direito constituem-se como linguagens, ambos so
produtos de um processo comunicacional e, portanto, materializam-se como textos, cada qual, porm,
com caractersticas e funo prprias. Nesse sentido, diferenar direito positivo de Cincia do Direito
importa eleger critrios de identificao que separem dois textos ou, no dizer de PAULO DE
BARROS CARVALHO, duas linguagens.
Passemos, ento, anlise das diferenas que separam estas duas linguagens.
2.1. Quanto funo
A funo de uma linguagem refere-se a sua forma de uso, isto , o modo com que
seu emissor dela utiliza-se para alcanar as finalidades que almeja. determinada pelo animus que
move seu emitente e estabelecida de acordo com as necessidades finalsticas de sua produo.
Para implementar as relaes comunicacionais que permeiam o campo social,
utilizamo-nos de diferentes funes lingsticas, em conformidade com a finalidade que desejamos
alcanar em relao aos receptores das mensagens. Cada situao requer uma linguagem apropriada:
quando, por exemplo, nossa vontade relatar, indicar ou informar acerca de situaes objetivas ou
subjetivas que ocorrem no mundo existencial produzimos uma linguagem com funo descritiva; para
84
expressar sentimentos emitimos uma linguagem com funo expressiva de situaes subjetivas;
quando estamos diante de uma situao que desconhecemos, produzimos uma linguagem com funo
interrogativa; e para direcionar condutas emitimos uma linguagem prescritiva.
Condizente com esta distino PAULO DE BARROS CARVALHO, indo alm da
classificao proposta por ROMAN JAKOBSON
100
, identifica dez funes lingsticas: (i) descritiva;
(ii) expressiva de situaes objetivas; (iii) prescritiva; (iv) interrogativa; (v) operativa; (vi) fctica;
(vii) persuasiva; (viii) afsica; (ix) fabuladora; e (x) metalingstica
101
. Analisemos cada uma delas:
(i) Linguagem descritiva (informativa, declarativa, indicativa, denotativa ou
referencial) o veculo adequado para transmisso de informaes, tendo por finalidade relatar ao
receptor acontecimentos do mundo circundante (ex. o cu azul, as nuvens so brancas e os pssaros
voam). a linguagem prpria para a constituio e transmisso do conhecimento (vulgar ou
cientfico). Apresenta-se como um conjunto de proposies que remetem seu destinatrio s situaes
por ela indicadas. Submetem-se aos valores de verdade e falsidade, podendo ser afirmadas ou negadas
por outras proposies de mesma ordem.
(ii) Linguagem expressiva de situaes subjetivas constituda para exprimir
sentimentos (ex. ai!; viva!; te adoro!; vai saudades e diz a ela, diz pra ela aparecer...). a linguagem
prpria para manifestao de emoes vividas pelo remetente que tende a provocar em seu receptor o
mesmo sentimento. Pode apresentar-se como interjeies (ex. oh!) ou como um conjunto de
proposies (ex. poesias). No se submete aos valores de verdade ou falsidade.
(iii) Linguagem prescritiva de condutas (normativa) utilizada para a expedio de
ordens e comandos (ex. proibido fumar). Prpria para a regulao de comportamentos
(intersubjetivos e intrasubjetivos), projetando-se sobre a regio material da conduta humana com a
finalidade de modific-la. Submetem-se aos valores de validade e no-validade, no podendo ser
afirmadas ou negadas, mas sim observadas ou no.
(iv) Linguagem interrogativa (das perguntas ou dos pedidos) produzida pelo ser
humano diante de situaes que desconhece, quando se pretende obter uma resposta de seu semelhante
(ex. direito uma Cincia?). Reflete as inseguranas do emissor e provoca uma tomada de posio do
100
Lingstica e comunicao, p. 123.
101
Lngua e linguagem signos lingsticos funes, formas e tipos de linguagem hierarquia de linguagens. Apostila de
Lgica Jurdica do Curso de Ps-Graduao da PUC-SP, p. 17-30 e Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 37-52.
85
destinatrio, que tem a opo de respond-la ou no. As perguntas, assim como as ordens, no so
verdadeiras ou falsas, so pertinentes ou impertinentes (adequadas ou inadequadas; prprias ou
imprprias).
(v) Linguagem operativa (performativa) aquela utilizada para concretizar certas
aes (ex. eu vos declaro marido e mulher). Atribuem concretude factual aos eventos que exigem
linguagem para sua concretizao (ex. casar, desculpar, batizar, parabenizar, prometer, etc.). uma
linguagem constitutiva de determinadas situaes.
(vi) Linguagem fctica produzida com o intuito de instaurar a comunicao ou
para manter e cortar o contato comunicacional j estabelecido (ex. al; como vai?; um momento, por
favor; at logo). Exerce papel puramente introdutrio, mantenedor ou terminativo da comunicao. As
oraes interrogativas que a integram, ressalva PAULO DE BARROS CARVALHO, no visam a
obteno de respostas, a no ser graduaes nfimas
102
.
(vii) Linguagem persuasiva constituda com a finalidade imediata de convencer,
persuadir, induzir (ex. se eu fosse voc, no emprestava o material). Dizemos finalidade imediata
porque as linguagens produzidas com outra funo sempre tm um quantum de persuasivas neste
sentido que PAULO DE BARROS CARVALHO prefere a expresso propriamente persuasivas. As
oraes persuasivas so identificadas quando o intuito de induzir o receptor a aceitar a argumentao
posta pelo emissor estabelecendo-se, assim, um acordo de opinies mostra-se presente
prioritariamente.
(viii) Linguagem afsica produzida com o animus de perturbar a comunicao,
visando obscurecer ou confundir uma mensagem expedida por outrem perante terceiros (ex.
linguagem produzida por advogado de uma das partes para tumultuar o andamento regular do
processo). Pode ser utilizada na forma negativa ou positiva, quando a perturbao acaba por preencher
o discurso ao qual se dirige (ex. interpretao equitativa)
(ix) Linguagem fabuladora utilizada na criao de fices e textos fantasiosos ou
fictcios. a linguagem das novelas, das fbulas, dos contos infantis, dos filmes, das anedotas, das
peas de teatro. Seus enunciados podem at ser susceptveis (em algumas circunstncias) de
102
Exemplifica o autor: Quando nos encontramos com pessoa de nossas relaes e emitimos a pergunta como vai?, o
objetivo no travarmos conhecimento com o estado de sade fsica ou psquica do destinatrio, mas simplesmente saud-
lo. Apostila do Curso de Extenso em Teoria Geral do Direito, p. 55.
86
apreciao segundo critrios de verdade/falsidade, mas tal verificao, diferente do que ocorre com os
enunciados descritivos, no importa para fins da mensagem, que se prope a construo de um mundo
diferente do real.
(x) Linguagem com funo metalingstica o veculo utilizado pelo emissor para
rever suas colocaes dentro do seu prprio discurso. Nela ele se antecipa ao destinatrio, procurando
explicar empregos que lhe parecem vagos, imprecisos ou duvidosos. Com o desempenho da funo
metalingstica o emissor fala da sua linguagem dentro dela prpria, o que denunciado pelas
expresses isto , ou seja, dito de outra forma.
A linguagem do direito positivo caracteriza-se por ter funo prescritiva, isto porque,
a vontade daquele que a produz regular o comportamento de outrem a fim de implementar certos
valores. Diferentemente, a Cincia do Direito aparece como linguagem de funo descritiva, porque o
animus daquele que a emite de relatar, informar ao receptor da mensagem como o direito positivo.
Traamos, ento, a separao de dois planos lingsticos que dizem respeito natureza do objeto de
que nos ocupamos: os textos do direito positivo compem uma camada de linguagem prescritiva ao
passo que os textos da Cincia do Direito formam um plano de linguagem descritiva.
A linguagem prescritiva prpria dos sistemas normativos. Como leciona
LOURIVAL VILANOVA, todas as organizaes normativas operam com esta linguagem para
incidir no proceder humano canalizando as condutas no sentido de implementar valores
103
. J a
linguagem descritiva prpria das Cincias, porque informativa. Aquele que a produz tem por
objetivo descrever a algum o objeto observado que, no caso da Cincia do Direito, o direito posto.
certo que vrios enunciados do direito positivo nos do a impresso de que, por
vezes, a funo empregada a descritiva, principalmente porque algumas palavras que o legislador
escolhe para compor seu discurso encontram-se estruturadas na forma declarativa, como por exemplo:
A Republica Federativa do Brasil, formada pela unio indissolvel dos Estados e Municpios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrtico de Direito (art. 1 da CF). Isto, porm, no
desqualifica a funo prescritiva da linguagem do direito positivo, que nada descreve nem nada
informa, dirigindo-se regio das condutas intersubjetivas com o intuito de regul-las. Por este
motivo, ainda que a estruturao frsica dos enunciados nos tende a uma construo de sentido
103
As estruturas lgicas e sistema do direito positivo, p. 18.
87
descritiva, so enunciados com funo prescritiva, constitudos no intuito de disciplinar
comportamentos e assim devem ser interpretados.
No so poucos os autores que incidem neste erro, sustentando ser o direito positivo
composto tambm de enunciados descritivos principalmente quando diante da delimitao, pelo
legislador, de institutos jurdicos, como por exemplo o art. 3 do Cdigo Tributrio Nacional, que
dispe sobre o conceito de tributo. Para no ocorrer neste equvoco, devemos ter em mente que,
mesmo quando o legislador dispe sobre conceitos jurdicos (ex. o que propriedade, empresrio,
bem imvel, tributo, etc.), no est descrevendo uma realidade e sim prescrevendo como tal realidade
deve ser considerada juridicamente. O art. 3 nada informa, prescreve o que deve ser entendido como
tributo no discurso do direito positivo. Basta considerarmos o contexto comunicacional em que tais
enunciados encontram-se inseridos e logo observamos tratar-se de enunciados prescritivos, vez que o
animus do legislador volta-se a disciplinar e no a informar.
Foroso lembrar aqui a advertncia de IRVING M. COPI, segundo a qual, as
manifestaes lingsticas no so espcies quimicamente puras, ou seja, no apresentam
invariavelmente uma nica funo
104
. Por isso, para determinao da funo lingstica, adota-se a
vontade dominante do emissor da mensagem produzida, ainda que sobre ela outras funes se
agreguem. O carter dominante da linguagem do direito positivo o prescritivo, a vontade do
legislador dirige-se regio das condutas intersubjetivas com intuito de disciplin-las. Esta sua
finalidade primordial, ainda que ele se utilize de outras funes elas aparecero apenas como
instrumento para implementao das prescries.
A mesma advertncia fazemos linguagem da Cincia do Direito, sua funo
primordial a descritiva, mesmo que alguns de seus enunciados reportem nossa percepo a outras
funes, como por exemplo, retrica. Alis, no demasiado sublinhar que todos os discursos
descritivos apresentam recursos persuasivos, essenciais para o convencimento do que se relata, mas a
funo predominante da linguagem cientfica continua sendo a descritiva. A funo retrica utilizada
apenas como instrumento para se atribuir autoridade informao que se deseja passar.
Fazemos estas ressalvas para enfatizar que, nos discursos do direito positivo e da
Cincia do Direito, conquanto possamos identificar outras funes, so predominantemente dois os
animus que motivam o emissor da mensagem: (i) no direito positivo, o prescritivo; e (ii) na Cincia
104
Introduo lgica, p. 54.
88
do Direito, o descritivo. O legislador, aqui entendido na sua acepo ampla de emissor da mensagem
jurdica, visando o direcionamanto do comportamento de outrem, produz um texto cuja funo
predominante a prescritiva, ao passo que o jurista, visando informar a outrem acerca do direito
positivo, produz um texto cuja funo predominante a descritiva.
O direito positivo prescreve, a Cincia do Direito descreve. So dois planos
lingsticos que no se confundem, o primeiro disciplina condutas e o segundo informa sobre o
primeiro. Por mais que o legislador conceitue institutos jurdicos, o faz no primeiro plano
105
. Da
mesma forma, por mais que o cientista fale sobre o direito, no tem o condo de modific-lo nem de
prescrever novas condutas.
Devemos advertir, tambm, que a funo independe da forma da linguagem.
Indicam os autores seis formas mediante as quais as linguagens podem apresentar-se: (i) declarativa;
(ii) interrogativa; (iii) exclamativa; (iv) imperativa; (v) optativa; (vi) imprecativa
106
. A forma, contudo,
no est relacionada funo. Como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, as funes de que
se utiliza a linguagem no se prendem a formas determinadas, de modo que o emissor poder escolher
esta ou aquela, a que melhor lhe aprouver, para transmitir seu comunicado
107
. Neste sentido, a forma
empregada na construo da linguagem no um critrio seguro para determinar sua funo. Isto
justifica o fato do legislador, por exemplo, utilizar-se da forma declarativa para produzir enunciados
prescritivos, sem que isso interfira na sua funo.
2.2. Quanto ao objeto
O objeto, como critrio de distino entre direito positivo e Cincia do Direito, diz
respeito regio ntica para qual cada uma das linguagens se volta. Todo discurso dirigido
determinada realidade. Quando indagamos produzimos uma linguagem interrogativa voltada
105
O direito positivo tambm nada estuda. O estudo compete Cincia do Direito. Falamos isto porque no so poucos os
autores que fazem esta confuso ao conceituarem alguns segmentos didticos como ramos do direito positivo, cuja
finalidade o estudo de certa especificidade (administrativo, constitucional, penal, civil, tributrio etc.). Sem adentrarmos
aqui na impropriedade de diviso do direito positivo, chamamos ateno para a desordem de conceitos: se o ramo do
direito positivo ele nada estuda, apenas prescreve. O estudo, lembramos, de qualquer segmento jurdico, compete Cincia
do Direito. Com isso, ressalvamos mais uma vez a importncia de se identificar o direito positivo como linguagem
prescritiva e a Cincia do Direito como linguagem descritiva.
106
PAULO DE BARROS CARVALHO reduz estas espcies em apenas quatro, fundamentando que as frases optativas
(utilizadas para manifestar desejos) e as imprecativas (utilizadas para manifestar execraes) inserem-se na classe das
exclamativas Apostila do Curso de Extenso em Teoria Geral do Direito, p. 65.
107
O autor traz alguns exemplos que elucidam tal afirmao: a) Palmares cidade do Estado de Pernambuco forma
declarativa e funo declarativa; b) Estou com muita sede forma declarativa e funo interrogativa (imagina-se um
meio de pedir gua); c) O som elevado da televiso est atrapalhando meu trabalho forma declarativa e funo
prescritiva (manifesta uma ordem para abaixar o volume); d) Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Esprito Santo
forma declarativa e funo operativa, etc. (Idem, p. 66).
89
linguagem do direito positivo
linguagem da Cincia do Direito
prescreve
descreve
especificamente materialidade sobre a qual queremos informaes, isto porque sempre indagamos
sobre algo. Quando queremos convencer algum tambm o persuadimos sobre algo. Quando
descrevemos, prescrevemos ou produzimos qualquer outro texto, sempre o fazemos em razo de algo.
E assim o , porque nenhuma linguagem existe sem referencialidade, em outros termos, toda
linguagem pressupe um objeto.
J somos capazes de separar direito positivo e Cincia do Direito como duas
linguagens autnomas, dado a diferena de funes que as caracterizam: uma prescritiva, outra
descritiva. Agora, basta uma anlise de ambos os discursos para percebemos que enquanto a primeira
dirige-se materialidade das condutas intersubjetivas a fim de disciplin-las, a segunda volta-se
linguagem do direito positivo, com a finalidade de compreend-la e relat-la. Em outros termos temos
que: o objeto do direito positivo so as condutas intersubjetivas que ele regula (linguagem social), ao
passo que o objeto da Cincia do Direito a linguagem do direito positivo que ela descreve.
O exemplo grfico abaixo, ajuda visualizar o que queremos dizer:
Explicando: a linguagem do direito positivo (representada pela figura do meio -
texto constitucional e de leis) refere-se realidade social (linguagem social - representada pela
figura de baixo - dois sujeitos em interao), mas especificamente s condutas entre sujeitos,
condutas
intersubjetivas
(linguagem social)
90
prescrevendo-as, enquanto a Cincia do Direito (representada pela gravura de cima livro) refere-se
ao direito positivo, descrevendo-o. Linguagem objeto (Lo) ali e linguagem de sobrenvel aqui (Lm).
Assim, identificamos outro critrio caracterizador das diferenas entre direito
positivo e Cincia do Direito: o nvel de suas linguagens.
2.3. Quanto ao nvel de linguagem
Ao voltarmos nossa ateno ao objeto para qual cada uma das linguagens se dirige,
as estruturamos, estabelecendo uma relao de dependncia entre elas. Na base, figura a linguagem
que chamamos de objeto (Lo), a qual a outra linguagem (de sobre nvel) se refere. Esta segunda
constitui-se como sobrelinguagem ou metalinguagem (Lm), em relao primeira, isto , uma
linguagem que tem por objeto outra linguagem. Ela, porm, tambm pode ser tomada como objeto de
uma terceira linguagem (Lm), que se constitui como meta-metalinguagem em relao primeira, ou
metalinguagem em relao segunda e assim, por conseguinte, at o infinito, porque h sempre a
possibilidade de se produzir uma nova linguagem que a tome como objeto.
Considerando-se as linguagens do direito positivo e da Cincia do Direito, esta
caracteriza-se como metalinguagem (Lm) daquela, que se apresenta como linguagem objeto (Lo). Isso
porque a Cincia do Direito toma o direito positivo como objeto, ela o descreve, isto , fala sobre ele.
Ressalva-se, porm, que o direito positivo tomado como linguagem objeto em
relao Cincia do Direito, mas figura como metalinguagem em relao linguagem social sobre a
qual incide. Sob o ponto de vista do giro-lingstico, a realidade construda pela linguagem e, neste
sentido, todos os objetos, tomados como referncia material, so lingsticos. A linguagem se auto-
refere, de modo que, todo discurso tem como objeto outro discurso.
A realidade social, dentro desta concepo, constituda pela linguagem, o que faz
ter o direito positivo, assim como a Cincia que o descreve, um objeto lingstico: a linguagem social.
Enquanto a Cincia sobre ele incide descrevendo-o, ele incide sobre a linguagem social, prescrevendo-
a. Por isso, tomado como linguagem objeto em relao Cincia do Direito e metalinguagem em
relao linguagem social.
O grfico abaixo representa tal relao entre as linguagens do direito positivo, da
Cincia do Direito e da realidade social:
91
direito positivo
(Lm = metalinguagem)
Cincia do Direito
(Lm = metalinguagem)
prescreve
direito positivo
(Lo = linguagem objeto)
descreve
Explicando: o direito positivo (representado pela figura do meio texto
constitucional e de leis) apresenta-se como linguagem objeto (Lo) em relao Cincia do Direito
(representada pela figura de cima livro) que o descreve e esta como metalinguagem (Lm) em
relao a ele. Em relao linguagem da realidade social (representada pela figura de baixo dois
sujeitos em interao) o direito positivo, por prescrev-la, caracteriza-se como metalinguagem (Lm)
da qual ela se constitui como linguagem objeto (Lo).
O legislador, ao produzir a linguagem do direito positivo, toma a linguagem social
como objeto e a ela atribui os valores de obrigatoriedade (O), permisso (P) e proibio (V),
sombreando quais das suas pores so lcitas e quais so ilcitas. Igualmente faz o jurista, ele dirige-
se linguagem prescritiva do direito positivo, tomando-a como objeto para a ela atribuir sua
interpretao e construir a linguagem descritiva da Cincia do Direito.
Importante salientar que o direito positivo e a Cincia do Direito, enquanto
metalinguagens, no modificam suas linguagens objeto (para isso preciso que pertenam ao mesmo
jogo), eles apenas se valem delas para construir suas proposies (prescritivas ou descritivas).
2.4. Quanto ao tipo ou grau de elaborao
Outro critrio de distino entre direito positivo e Cincia do Direito o tipo de
linguagem na qual se materializam. PAULO DE BARROS CARVALHO, em referncia ao
neopositivismo lgico, identifica seis tipos de linguagem: (i) natural ou ordinria; (ii) tcnica; (iii)
linguagem social
(Lo = linguagem objeto)
92
cientfica; (iv) filosfica; (v) formalizada; e (vi) artstica. Vejamos as caractersticas de cada uma
delas:
(i) Linguagem natural ou ordinria o instrumento por excelncia da comunicao
humana, prpria do cotidiano das pessoas. No encontra fortes limitaes, descomprometida com
aspectos demarcatrios e espontaneamente construda. Lida com significaes muitas vezes
imprecisas e no se prende a esquemas rgidos de estruturao, de modo que seus planos sinttico e
semntico so restritos. Em compensao, possui uma vasta e evoluda dimenso pragmtica.
(ii) Linguagem tcnica assenta-se no discurso natural, mas utiliza-se de recursos e
expresses especficas, prprias da comunicao cientfica. Muito embora no tenha o rigor e a
preciso de uma produo cientifica apresenta maior grau de elaborao em relao linguagem
ordinria, vez que se utiliza de termos prprios. a linguagem, por exemplo, dos manuais, das bulas
de remdio, que tem certo rigor e preciso, mas firma-se na linguagem comum.
(iii) Linguagem cientfica alcanada com a depurao da linguagem natural, o que
a caracteriza como artificialmente constituda. comprometida com aspectos demarcatrios, suas
significaes so precisas e rigidamente estruturadas, de modo que seus termos apresentam-se de
forma unvoca e suficientemente apta para indicar com exatido as situaes que descreve. Suas
proposies so na medida do possvel isentas de inclinaes ideolgicas (valorativas). Seus planos
sintticos e semnticos so cuidadosamente elaborados, o que importa uma reduo no seu aspecto
pragmtico.
(iv) Linguagem filosfica o instrumento das reflexes e meditaes humanas.
Nela o sujeito questiona sua trajetria existencial, seu papel no mundo, seus anseios, e apelos.
saturada de valores e pode voltar-se tanto linguagem natural (conhecimento ordinrio doxa),
quanto linguagem cientfica (conhecimento cientfico episteme).
(v) Linguagem formalizada ou lgica assenta-se na forma estrutural, tendo seu
fundamento na necessidade de abandono dos contedos significativos das linguagens idiomticas para
o estudo da relao de seus elementos (campo sinttico). Nela so revelados os laos estruturais
disfarados pelos contedos significativos. composta por smbolos artificialmente constitudos
denominados variveis e constantes, que substituem as significaes e os vnculos estruturais.
Sintaticamente rgida e bem organizada, sua dimenso semntica apresenta uma e somente uma
significao e seu plano pragmtico bem restrito, mas existente.
93
(vi) Linguagem artstica produzidas para revelar valores estticos, orientando
nossa sensibilidade em direo ao belo. Desperta em nosso esprito, como primeira reao, o
sentimento de admirao, seja pela organizao de seus elementos ou pela organizao simtrica de
seus contedos significativos.
Aplicando tais categorias ao estudo das linguagens do direito positivo e da Cincia
do Direito, temos aquela como linguagem do tipo tcnica e esta como linguagem do tipo cientfica.
O direito positivo produzido por legisladores (aqui entendidos em acepo ampla,
como todos aqueles capazes de produzir normas jurdicas ex: membros das Casas Legislativas,
juzes, funcionrios do Poder Executivo e particulares). Tais pessoas no so, necessariamente,
portadores de formao especializada daquilo que legislam, mesmo porque, como o direito positivo
permeia todos os segmentos do social, isto seria impossvel. At os juzes, que possuem formao
jurdica, necessitam entrar em outros campos do conhecimento para exararem suas sentenas. Por esta
razo, no podemos esperar que a linguagem do direito positivo tenha um grau elevado de elaborao
prprio dos discursos produzidos por pessoas de formao especializada, como o caso da linguagem
da Cincia do Direito, elaborada por um especialista: o jurista.
Por outro lado, a linguagem do direito positivo no se iguala ao discurso natural,
aquele utilizado pelas pessoas para se comunicarem cotidianamente, ela mais depurada, apresenta
certo grau de especificidade, ao utilizar-se de termos peculiares, mesmo no mantendo uma preciso
linear, prpria da linguagem cientfica. Com estas caractersticas ela se apresenta como uma
linguagem do tipo tcnica.
J a Cincia do Direito rigorosamente construda, por meio de um mtodo prprio.
Seus enunciados so coerentemente estruturados e significativamente precisos. O cientista trabalha
com a depurao da linguagem tcnica do direito, substituindo os termos ambguos por locues na
medida do possvel unvocas ou, ento, quando no possvel a estipulao de palavras unvocas,
utiliza-se do processo de elucidao, explicando o sentido em que o termo utilizado. Com estas
caractersticas ela se apresenta como uma linguagem do tipo cientfica.
Considerando-se as diferenas que as separam, a linguagem cientfica, na qual se
materializa a Cincia do Direito, um discurso bem mais trabalhado, preparado com mais cuidado e
rigor e com maior grau de elaborao em relao linguagem tcnica do direito positivo, que lhe
objeto.
94
2.5. Quanto estrutura
Toda linguagem apresenta-se sob uma forma de estruturao lgica na qual se
sustentam suas significaes. Para termos acesso a esta estruturao temos que passar por um processo
denominado de formalizao, ou abstrao lgica, mediante o qual os conceitos so desembaraados
da estrutura da linguagem. Tal desembarao alcanado pela substituio das significaes por
variveis e por constantes com funo operatria invarivel, de modo que, possvel observar as
relaes que se repetem entre elas
108
.
O processo de formalizao encerra-se na produo de outra linguagem, denominada
de linguagem formalizada ou lgica, representativa da estrutura da linguagem submetida
formalizao (tomada como objeto Lo) e que se constitui como metalinguagem (Lm) em relao
quela. Como toda linguagem tem uma forma estrutural, isto , um campo sinttico que se organiza de
algum modo, podemos dizer que toda linguagem tem uma lgica que lhe prpria
109
.
Submetendo as linguagens do direito positivo e da Cincia do Direito ao processo de
formalizao, observa-se que as relaes estruturais que as compem so bem diferentes e que, por
isso, a cada qual corresponde uma lgica especfica.
O direito positivo, por manifestar-se como um corpo de linguagem prescritiva,
opera com o modal dentico (dever-ser). Isto quer dizer que suas proposies se relacionam na forma
implicacional: Se H, deve ser C" em linguagem totalmente formalizada H C, onde H e C
so variveis e constante. Em todas as unidades do direito positivo encontramos esta estrutura:
a descrio de um fato, representado pela varivel H que implica () uma consequncia
representada por C.
A relao entre as variveis, representada pela constante implicacional , indica
aquilo que LOURIVAL VILANOVA denomina de causalidade jurdica
110
e imutvel. J as
significaes que preenchem as variveis H e C so mutveis conforme as referncias conceptuais
que o legislador trouxer para o mundo jurdico. Nestes termos, PAULO DE BARROS CARVALHO
108
Sobre a formalizao vide LOURIVAL VILANOVA, Estruturas lgicas e sistema do direito positivo, cap. I. O
processo ser melhor estudado num captulo prprio (sobre o Direito e a Lgica)
109
PAULO DE BARROS CARVALHO frisa que quando algum reclama no existir uma lgica que tome determinada
linguagem como objeto porque apenas nada se falou sobre o seu plano sinttico, ou porque ningum, at agora, conseguiu
estrutur-lo. Isto no significa dizer que ele no exista, nem que no haja a possibilidade se falar sobre ele, ou seja,
construir uma lgica prpria daquela linguagem. (passim)
110
Causalidade e relao no direito, p. 31.
95
trabalha com as premissas da homogeneidade sinttica das unidades do direito positivo e da
heterogeneidade semntica dos contedos significativos das unidades normativas
111
.
Toda linguagem prescritiva apresenta-se sobre esta mesma forma, sendo estruturada
pela Lgica Dentica (do dever ser ou das normas)
112
, da qual a lgica jurdica espcie. E, assim o
porque todo comando que se pretenda passar tem, necessariamente, a forma hipottico-condicional (H
C). Nestes termos, o direito positivo, enquanto linguagem prescritiva que , apresenta-se
estruturado pela Lgica Dentica.
Em razo do universo do comportamento humano regulado, as estruturas denticas
operam com trs modalizadores: obrigatrio (O), permitido (P) e proibido (V), que representam os
valores inerentes s condutas disciplinadas pela linguagem prescritiva
113
Se H deve ser obrigatrio
/ permitido / proibido C. No h uma quarta possibilidade na regulao de condutas. Neste sentido,
quanto aos modalizadores estruturais do direito positivo aplica-se o princpio do quarto excludo.
Diferentemente, a linguagem da Cincia do Direito opera com o modal altico (ser).
Suas proposies relacionam-se na forma S P em linguagem formalizada S(P). Esta a
estrutura prpria das linguagens descritivas. Na Cincia do Direito, todas as unidades significativas
constituem-se sob a mesma forma: S P onde S e P so variveis representativas das
proposies sujeito e predicado, mutveis conforme as referencias conceptuais construdos pelo
cientista; e a constante, identificadora da relao entre os contedos significativos das variveis S
e P.
A sintaxe da linguagem descritiva, da qual a Cincia do Direito espcie,
estruturada pela Lgica Altica (apofntica, das cincias ou clssica). Em razo da funo descritiva,
as estruturas alticas S P operam com dois modalizadores: necessrio (N) e possvel (M), que
representam os valores inerentes s realidades observadas pela linguagem descritiva: S
necessariamente / possivelmente P. No h uma terceira possibilidade, motivo pelo qual opera-se a
lei do terceiro excludo.
111
Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 7.
112
Desenvolvida por VON WRIGHT (1976)
113
A relao intersubjetiva entre sujeitos da ao ou omisso divide-se exaustivamente nessas trs possibilidades.
Uma lei ontolgica de quarta possibilidade excluda diz: a conduta obrigatria, permitida ou proibida, sem mais outra
possibilidade. Assim, a varivel relacional dentica tem trs e somente trs valores, justamente as constantes operativas
obrigatrio, permitido e proibido. (LOURIVAL VILANOVA, Norma jurdica, p. 124-125).
96
2.6. Quanto aos valores
Entre outras caractersticas que separam as linguagens do direito positivo da Cincia
do Direito pode ser destacado o fato de a ambas serem compatveis valncias diferentes, o que decorre
da circunstncia de cada uma apresentar-se sob estruturas lgicas distintas.
A linguagem descritiva submete-se aos valores de verdade e falsidade
correspondente Lgica Altica, isto porque, seus enunciados relatam certas realidades, de tal sorte
que possvel determinar se esto de acordo com os referenciais constituintes desta realidade. Na
linguagem prescritiva isso no se verifica, suas proposies estipulam formas normativas conduta e
no se condicionam conformao ontolgica destas condutas. Independentemente do
comportamento prescrito ser cumprido ou no, as prescries continuam normatizando condutas. Isto
acontece porque a linguagem prescritiva submete-se a valores de validade e no-validade,
correspondente Lgica Dentica. Uma ordem existe ou no existe, vlida ou invlida, no se
aplicando a ela as valncias de verdade/falsidade.
As proposies normativas so vlidas ou no-vlidas, nunca verdadeiras ou falsas.
Tal afirmao se mantm mesmo ao analisarmos a poro descritiva das normas. Como j
salientamos, toda norma estruturada na forma condicional (H C), onde uma proposio descritora
de um fato (antecedente ou hiptese H), implica outra prescritora da conduta a ser cumprida caso
tal fato se verifique (conseqente C). Embora a poro antecedente (H) seja descritiva, sua no
ocorrncia em nada interfere na existncia da norma, no estando esta, assim, sujeita a contestao de
veracidade ou falsidade
114
.
Temos para ns que a validade um valor, atribudo para caracterizar a existncia de
algo
115
. Dizemos que as coisas so vlidas enquanto elas existem como tal. No direito as normas
jurdicas so vlidas porque existem enquanto elementos do sistema direito positivo. E, sua existncia
independe da concretizao do fato descrito em sua hiptese e do cumprimento da conduta prescrita
em seu conseqente.
114
Vale aqui transcrever a lio de LOURIVAL VILANOVA segundo a qual: Apesar da descritividade da hiptese ou
pressuposto de um enunciado normativo, a hiptese como tal carece de valor veritativo. No verdadeira se o fato descrito
lhe corresponde, nem falsa se o fato descrito (delineado, esquematizado nela) no corresponde ao fato tal como se d na
realidade.... As hiptese fcticas valem porque foram constitudas por normas do sistema jurdico positivo, e valem porque
so pressupostos de conseqncias. (Analtica do dever-ser, p. 18-19).
115
Estudaremos melhor o conceito de validade das normas jurdicas e os critrios utilizados para sua atribuio em captulo
prprio (sobre a validade e fundamento jurdico de validade das normas jurdicas).
97
Diferentemente, os valores atribuveis s proposies da Cincia do Direito so os de
verdade e falsidade. Como vimos no incio deste trabalho (cap. I), tratamos a verdade como
caracterstica lgica necessria do discurso descritivo. Toda Cincia fala em nome de uma verdade,
mas h vrios critrios que determinam sua atribuio. De acordo com as premissas adotadas,
trabalhamos com o critrio da correspondncia a certo modelo referencial, uma proposio
verdadeira quando se enquadra ao sistema de referncia adotado pelo cientista e falsa quando no se
enquadra. A verdade aferida em decorrncia da relao entre linguagens, j que no existe uma
realidade (independente da linguagem) qual o enunciado descritivo possa ser correspondente
embora toda proposio descritiva seja produzida em nome desta correspondncia (enunciado x
realidade). As proposies descritivas da Cincia do Direito so verdadeiras quando tidas como
correspondentes realidade jurdica.
Sem adentrarmos nas discusses calorosas que envolvem os conceitos de validade e
verdade, queremos registrar, neste tpico, que as valncias das linguagens do direito positivo e da
Cincia do Direito no se confundem. Aos enunciados do direito positivo so compatveis os valores
de validade/invalidade, alusivos sua existncia e Cincia do Direito as valncias de
verdade/falsidade, indicativas da referencialidade a certo modelo. A linguagem do legislador vlida
ou no-vlida, ao passo que a do jurista verdadeira ou falsa. Em ambas no h uma terceira
possibilidade: no existem normas mais ou menos vlidas (no caso do direito positivo), nem
proposies descritivas mais ou menos verdadeiras (no caso da Cincia do Direito), do mesmo modo
no h uma significao indefinida. Impera aqui a lei lgica do terceiro excludo: as proposies
cientficas so verdadeiras ou falsas e as normativas so vlidas ou invlidas.
2.7. Quanto coerncia
Como j tivemos oportunidade de verificar (no item 2.4 deste captulo), a linguagem
da Cincia do Direito mais trabalhada do que a do direito positivo. Isto porque o jurista tem mais
cuidado na formao de seu discurso, preocupando-se em levar ao receptor da mensagem um relato
preciso acerca do objeto ao qual se refere. J o legislador no tem esta preocupao com a depurao
da linguagem. Para ele, basta que ela seja compreendida, de modo que a finalidade para qual foi criada
possa ser alcanada. Ademais o cientista do direito tem uma formao especifica e direcionada, ao
passo que muitos dos habilitados a inserirem normas no sistema, no possuem aprofundamento do
saber jurdico. Isto tudo justifica a presena de enunciados contraditrios no plano do direito positivo e
a ausncia deles no campo das Cincias Jurdicas.
98
Empregamos o termo contradio na acepo de incoerncia. Existe contradio
quando, dentro do mesmo discurso, uma proposio nega a outra em termos formais (p . p).
Como quando, por exemplo, se diz: vai chover e no vai chover; o lpis caiu e o lpis no caiu.
Ela , nos dizeres de LORIVAL VILANOVA, um contra-sentido lgico, pois tomando-se a primeira
(p) como verdadeira, a segunda ( p) falsa.
As linguagens do conhecimento, dentre as quais a Cincia do Direito espcie,
operam com a lei da no-contradio que em termos lgicos representada pela frmula (p . p).
Isto porque, dentro do discurso descritivo, as contradies constituem-se como obstculos coerncia
da linguagem. Havendo proposies contraditrias, certo que uma delas falsa, pois, segundo a lei
da no-contradio: uma coisa no pode ser (p) e no ser (p) ao mesmo tempo. A presena de um
enunciado falso acaba com a harmonia necessria realizao do critrio de verdade do discurso.
J as linguagens prescritivas convivem com antinomias, podendo abrigar normas
cujos contedos significativos so contraditrios, isto , semanticamente incompatveis entre si.
possvel existir uma proposio normativa que obrigue determinada conduta e outra que no obrigue o
mesmo comportamento, sendo ambas vlidas. Isto ocorre, porque o direito positivo no trabalha com
critrios de verdade, seus valores so o da validade e no-validade, admitindo, assim, a existncia de
antinomias.
Seguindo as lies de LOURIVAL VILANOVA, h contradies no plano das
significaes do direito positivo sempre que a um modo dentico se oponha o mesmo modo afetado
pela sua negao
116
. Neste sentido se contradizem as proposies normativas que: (i) probem e no
probem a mesma conduta (Vp . -Vp); (ii) obrigam e no obrigam a mesma conduta (Op . -Op); (iii)
permitem e no permitem a mesma conduta (Pp . -Pp); (iv) probem a omisso de uma conduta, mas
no probem a sua omisso (V-p . -V-p); (v) obrigam a omisso de um conduta e ao mesmo tempo no
obrigam a sua omisso (O-p .-O-p); e (vi) aquelas que no permitem a omisso de uma conduta ao
mesmo tempo que a permitem (-P-p . P-p)
117
.
116
LOURIVAL VILANOVA, As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 299.
117
Considerando o quadro de oposies denicas, contradizem-se as proposies: (i) que obrigam certa conduta com
aquelas que permitem sua no realizao (Op . P-p); e (ii) que probem determinada conduta com aquelas que a permitem
(Vp . Pp). Mas, elas nada mais demonstram do que a interdefinibilidade das contradies aqui enunciadas. (Vide: DELIA
TERESA ENCHAVE, MARA EUGENIA URQUIJO e RICARDO A. GUIBOURG, Lgica, proposicin y norma, p.
127).
99
Tambm configuram incoerncias no plano semntico do direito positivo as
proposies contrrias, que valoram com o mesmo modal uma conduta e sua omisso: (i) que obrigam
fazer e obrigam no fazer (Op . O-p); (ii) que probem fazer e probem no fazer (Vp . V-p); e (iii) que
no permitem no fazer e no permitem fazer (-P-p . -Pp). As proposies que permitem uma conduta
e sua omisso (Pp . P-p), embora sejam sintaticamente contrrias, definem o facultativo (Fp Pp . P-
p) sendo simultaneamente aplicveis, por isso, semanticamente, no operam como antinomias. A
contradio se estabelece em relao ao facultativo, quando ele negado, isto , quando existem
proposies que facultam e no facultam uma mesma conduta (Fp . -Fp)
118
.
Proposies contraditrias ou contrrias do direito positivo no se excluem. Elas
convivem juridicamente, constituindo incoerncias no sistema. Tais incoerncias, contudo, no
sobrevivem instncia da aplicao, dado que no so possveis de serem implementadas
conjuntamente no campo das condutas intersubjetivas. No mbito da incidncia o homem vai
dirimindo os conflitos presentes no sistema do direito positivo ao escolher quais proposies aplicar,
de modo que, o contra-sentido do cumprimento conjunto no interfere na simultnea validade de
normas contraditrias.
As contradies presentes no direito positivo, no entanto, no transitam para a
metalinguagem da Cincia do Direito, que no admite incoerncia de seus termos. No mbito da
linguagem descritiva, uma proposio exclui a outra, quando ambas se contradizem. Isto se verifica
claramente quando tomamos o exemplo dos resultado de exames de sangue (proposies produzidas
pelas Cincias Biolgicas): se um resultado for positivo para determinada substncia e outro for
negativo para a mesma substncia, faz-se outro exame, pois havendo contradio as proposies se
anulam e nada dizem sobre a presena da substncia. A Cincia do Direito, enquanto linguagem
descritiva, tem funo de informar seu receptor acerca do direito positivo. A presena de proposies
contraditrias em seu discurso a impede de cumprir o papel cognositivo ao qual se prope,
desencadeando confuso ao invs de informao.
Trabalharmos com a existncia de contradies no campo direito positivo no nos
vincula admitir a presena de antinomias no plano da Cincia do Direito. Isto porque a no-
contradio dessa linguagem independe da no-contradio daquela, que lhe objeto. Neste sentido,
LOURIVAL VILANOVA faz uma crtica KELSEN. Segundo o autor austraco inexistiria
118
Lembramos que o functor (F) no se caracteriza como um quarto modal dentico, pois conjuno lgica do modal
permissivo (Pp . P-p) - VERNENGO, Curso de Teora General del Derecho, p. 76-101.
100
contradio no direito positivo, porque se assim no o fosse, seria impossvel Cincia do Direito
construir um sistema coerente de proposies normativas livre de enunciados do tipo A deve-ser
e A no-deve ser. Ocorre que, segundo as premissas com as quais trabalhamos, a Cincia descreve,
no reproduz a linguagem do direito positivo e, ao informar a existncia de dois enunciados
contraditrios, ela no se contradiz. Reproduzindo as palavras do autor pernambucano: as
proposies jurdicas no se contradizem por descreverem a existncia de normas contraditrias
119
.
Ao observarmos os textos do direito positivo logo verificamos estar ele repleto de
enunciados que se contradizem, o que no interfere na sua existncia enquanto sistema. A linguagem
do direito positivo no precisa ser totalmente coerente, vez que as contradies existentes tm a
chance de serem sanadas no plano da sua aplicao. J a Cincia do Direito no. Sua linguagem, pelas
caractersticas do rigor e da preciso prprias das linguagens descritivas, presa pela coerncia de seus
enunciados.
2.8. Sntese
Sintetizando as caractersticas vistas acima, temos:
(i) O direito positivo um corpo de linguagem com funo prescritiva, que se dirige
ao campo das condutas intersubjetivas com a finalidade de alter-las. Configura-se como linguagem
objeto em relao Cincia do Direito e como metalinguagem em relao linguagem social.
materializado numa linguagem do tipo tcnica, que se assenta no discurso natural, mas utiliza-se de
termos prprios do discurso cientfico. operado pela Lgica Dentica, o que significa dizer que suas
proposies estruturam-se sob frmula H C, onde a conseqncia prescrita C aparece
modalizada com os valores obrigatrio (O), proibido (V) e permitido (P). Suas valncias so validade
e no-validade, o que no impede a existncia de contradies entre seus termos.
(ii) A Cincia do Direito um corpo de linguagem com funo descritiva, que tem
como objeto o direito positivo, caracterizando-se como metalinguagem em relao a ele. objetivada
num discurso cientfico, onde os termos so precisamente colocados. Sintaticamente operada pela
Lgica Altica, o que significa dizer que suas proposies manifestam-se sob a forma S P, onde o
predicado P aparece modalizado com os valores necessrio (N) e possvel (M). Suas valncias so
verdade e falsidade e seu discurso no admite a existncia de contradies entre os termos.
119
LOURIVAL VILANOVA, Estruturas lgicas e sistema do direito positivo, p. 303-306.
101
O quadro abaixo resume tais diferenas:
Com estes critrios separamos a linguagem do direito positivo da linguagem da
Cincia do Direito. Tais diferenas devem estar bem presentes em nossa mente para que possamos
delimitar e no confundir estes dois campos do saber jurdico. Assim, quando algum nos indagar, ou
algo nos informar sobre o direito podermos identificar se a pergunta ou a informao dirige-se ao
conjunto de disposies prescritivas de condutas intersubjetivas ou ao conjunto de disposies que
descrevem tais prescries.
critrios lingsticos direito positivo Cincia do Direito
funo
Prescritiva
Descritiva
objeto
condutas intersubjetivas
direito positivo
Nvel
linguagem objeto
metalinguagem
tipo
tcnica
cientfica
Lgica
Dentica
(dever-ser)
Altica / Clssica
(ser)
Modais
obrigatrio (O), proibido (V)
ou permitido (P)
possvel (M)
ou necessrio(N)
valncias
vlidas ou no-vlidas
falsas ou verdadeiras
coerncia
admite contradies
no admite contradies
102
Conjunto de textos
prescritivos jurdicos
Conjunto de textos
descritivos do direito
positivo
CAPTULO IV
TEORIA DOS SISTEMAS
SUMRIO: 1. Sobre os sistemas; 1.2. Noo de sistema; 1.2. Classificao dos
sistemas; 2. Direito positivo, cincia do direito e realidade social; 2.1.
Intransitividade entre os sistemas; 2.2. Direito positivo e cincia do direito como
subsistemas sociais; 2.3. Teoria dos sistemas; 2.3.1. Cdigo, programas e
funo; 2.3.1. Acoplamento estrutural, abertura cognitiva e fechamento
operativo; 3. Dvidas quanto ao direito positivo ser um sistema; 4. Sobre o
sistema da cincia do direito; 5. Falsa autonomia dos ramos do direito; 6. Direito
positivo e outros sistemas normativos
1. SOBRE OS SISTEMAS
Quando pensamos no estudo do direito e atentamos para a diferena entre a
linguagem do direito positivo, da Cincia do Direito, somos capazes de separar, segundo um
denominador comum, de um lado os textos prescritivos do direito posto e de outro os textos
descritivos da dogmtica jurdica e de orden-los, estabelecendo vnculos de subordinao e
coordenao, de modo que eles apaream para ns como duas realidades distintas. Estamos, pois,
diante de dois sistemas: o direito positivo e a Cincia do Direito.
Mas, porque o direito positivo e a Cincia do Direito so tratados como sistema? E,
antes disso, que um sistema? Tais indagaes autorizam-nos adentrar no campo da Teoria dos
Sistemas e utiliz-la para melhor conhecer estes dois planos do saber jurdico.
S
direito positivo
S
Cincia do Direito
103
1.2. Noo de sistema
Sistema uma palavra que, como a maioria das outras, apresenta o vcio da
ambigidade. H vrias acepes em que o termo pode ser empregado e nossa funo, ao definir seu
conceito, enunciar a forma de uso com a qual trabalhamos. Diversos autores tratam do tema, uns
utilizam-na num sentido mais amplo, de modo que, direito positivo e Cincia do Direito enquadram-se
em seu conceito, outros empregam-na de forma mais restrita, limitando seu campo denotativo apenas
Cincia do Direito. Ns trabalhamos com uma acepo moderada.
Na sua significao mais extensa, o conceito de sistema alude idia de uma
totalidade construda, composta de vrias partes um conglomerado. A esta concepo conjugamos o
sentido de organizao, de ordem interna, para entendermos como sistema o conjunto de elementos
que se relacionam entre si e se aglutinam perante um referencial comum. Assim, onde houver a
possibilidade de reunirmos, de forma estruturada, elementos que se conectam sob um princpio
unificador, est presente a noo de sistema.
Nestes termos, o conceito de sistema apresenta denotao um pouco mais estrita do
que a idia de conjunto ou de classe. Sob o aspecto lgico, todo sistema se reduz a uma classe. As
classes so entidades ideais, resultantes da aglutinao de elementos em razo de critrios comuns. O
elemento p pertence classe K se e somente se satisfizer os critrios de existncia de K.
Transpondo tais consideraes idia de sistema: o elemento x pertencer ao sistema S se e
somente se satisfizer seus critrios de existncia, de modo que, a relao que se estabelece entre o
elemento x e o sistema S de pertinencialidade (x S) se o elemento x no se adequar ao
critrio de existncia do sistema, a ele no pertence. Os sistemas, no entanto, so mais do que classes
de objetos. So conjuntos de objetos que se relacionam entre si e no apenas que apresentam
caractersticas comuns. So classes, mas com estruturao interna, onde os elementos se encontram
vinculados uns aos outros mediante relaes de coordenao e subordinao.
O conceito de sistema, nestes termos, mais complexo do que as aglutinaes de
elementos que se combinam em razo de conotaes comuns, como por exemplo, a classe dos
mamferos, dos rios, dos rgos digestivos, dos planetas, etc. Para termos um sistema preciso que os
elementos de uma classe apresentem-se sobre certa estrutura, que se relacionem entre si em razo de
um referencial comum. o caso, por exemplo, do sistema ferrovirio de um pas, que diferente do
conjunto de suas ferrovias. A idia de sistema implica uma estrutura, onde todas as ferrovias se
interligam. O mesmo podemos dizer do sistema reprodutor ou digestivo, que no se confunde com o
104
conjunto dos rgos reprodutores ou digestivos. Na forma de sistema tais rgos encontram-se
relacionados sobre um vetor comum e no apenas agrupados.
Falamos assim, em sistema, quando elementos e relaes se encontrem sob uma
referncia comum
120
. TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. chama de estrutura o complexo de relaes
que se estabelecem dentro de um sistema e, de repertrio, ao conjunto de elementos que o formam
121
.
Utilizando-nos da sua terminologia, h sistema quando repertrio e estrutura encontram-se sob um
denominador comum.
Devemos ressalvar, contudo, que seguindo as premissas por ns fixadas, no h
sistema fora do homem e, conseqentemente, no h sistema sem linguagem. O ser humano vai
sistematizando a realidade que o cerca, porque sob a forma de sistema ela lhe compreensvel. Os
sistemas no esto no mundo existencial, esperando para serem descobertos so construdos pelo
homem por meio de associaes lingsticas, so resultado de arranjos estruturais e, portanto,
pressupem necessariamente, a linguagem.
Em termos lgicos, o sistema a forma mais aprimorada das associaes
lingsticas. No h outra estruturao que o transponha. Nada impede, porm, que sob vetores
comuns sejam eles agrupados e estruturados na forma de outro sistema, no qual apaream como sub-
sistemas.
Ainda com relao ao conceito de sistema, alguns autores trabalham com o critrio
da coerncia interna dos elementos. Nesta linha de raciocnio, s existiria sistema se os elementos
conectados e estruturados em razo de um princpio comum fossem absolutamente harmnicos entre
si, isto , caso no se contradissessem. Sob esta ptica, somente a Cincia do Direito se caracterizaria
como sistema.
No comungamos de tal opinio. Os sistemas existem independentemente de seus
elementos se contradizerem ou no. claro que toda forma estrutural pressupe um mnimo de
harmonia que torna possvel a relao entre seus termos, mas tal harmonia, no nosso entender, no
precisa ser absoluta, de modo a no se admitir a presena de conflitos. Mesmo porque, para que duas
proposies sejam consideradas contraditrias preciso que entre elas se estabelea uma e que tenham
como base um referencial comum, isto , que pertenam ao mesmo sistema, caso contrrio, no h
120
LOURIVAL VILANOVA, As estruturas lgicas do direito positivo, p. 173.
121
Introduo ao estudo do direito, p. 165.
105
contradio. Como ensina TAREK MOYSS MOUSSALLEM, falar em conflito ou incoerncia s
tem sentido se for no interior de um mesmo sistema, conflitos inter-sistmicos so extra-lgicos
122
.
Nestes termos, existem sistemas que comportam contradies e aqueles que no as
admitem porque trabalham com referncias de verdade e falsidade, de modo que, a coerncia, ou
compatibilidade dos elementos, no tomada como nota essencial na definio de seu conceito
123
.
1.2. Classificao dos sistemas
As classificaes so operaes lgicas que existem para auxiliar-nos no
conhecimento dos objetos, mediante a separao de elementos que se aglutinam sob critrios comuns
(em classes). Numa classificao, determinada classe tomada como gnero e, por meio de diferenas
especficas associadas ao conceito desta classe, vo se formando suas espcies e sub-espcies. A
operao ocorre nos seguintes moldes: atribui-se uma diferena especfica (De) classe-gnero (G) e
chega-se a classe-espcie (E); atribui-se uma diferena especfica (De) classe-espcie (E) e chega-se
a classe sub-espcie (E); isto ocorre sucessivamente at onde alcanar a linguagem do classificador.
Tem-se, nestes termos, que a classe-espcie a classe-gnero com um plus a mais: a que STUART
MILL denomina de diferena especfica
124
(E = G + De), o que vale tambm para as sub-espcies
(E = E + De).
Um exemplo melhor esclarece tal assertiva: classe dos animais, tomada como
gnero (G), atribui-se a diferena especfica ter glndulas mamrias (De) e encontramo-nos diante da
espcie mamferos (E). Ser mamfero, assim, ter todas as caractersticas que conotam a classe dos
animais + a diferena especfica ter glndulas mamrias (E = G + De).
Cada classe-gnero, quando da associao a uma diferena especfica, divide-se em
duas outras (espcies): as que comportam a diferena especfica e as que no a comportam. Isto
porque, a formao de toda classe x conceitual, criando, assim, sua contra-classe x (ex.
mamferos e no-mamferos).
Vale lembrar que os critrios classificatrios, responsveis pela conotao (conceito)
das classes so determinados por atos de escolha do classificador, de modo que, as classificaes no
122
Fontes do direito tributrio, p. 65.
123
MARCELO NEVES, Teoria da inconstitucionalidade das leis, p. 2.
124
Nas palavras do autor: a diferena especfica aquilo que deve ser adicionado conotao do gnero para completar a
conotao da espcie(O sistema da lgica, p. 34).
106
existem prontas no mundo, so construdas pelos homens, de acordo com suas finalidades
cognoscitivas. Por este motivo, no existem classificaes certas ou erradas, mas sim teis e no teis.
H aquelas que se prestam a descrever certos objetos sob determinadas premissas e aquelas que no se
prestam.
Dizemos isso porque partimos da classificao de sistemas sugerida por MARCELO
NEVES
125
, porm, a adotamos com certas ressalvas.
Segundo o autor os sistemas se dividem em: (i) reais (empricos), constitudos por
dados do mundo fsico e social; e (ii) proposicionais, constitudos por proposies, pressupondo,
portanto, linguagem. Estes ltimos dividem-se em: (ii.a) nomolgicos, formados por proposio sem
denotao emprica, que partem de axiomas e desenvolvem-se mediante operaes formais de
deduo, como as frmulas lgicas e entidades ideais da matemtica; e (ii.b) nomoempricos, formados
por proposies com referncia emprica, que se sub-dividem em: (b.1) descritivos, constitudos de
proposies informativas; e (b.2) prescritivos, formado por proposies que se dirigem ao campo das
condutas humanas com a finalidade de regul-las.
Sinopticamente:
O critrio que separa as duas primeiras espcies (reais e proposicionais) o
lingstico. Por sistemas reais entende-se aqueles compostos por elementos extralingsticos, dados ou
construes do mundo natural, perceptveis pelo homem, aglutinados e relacionados em funo de um
ordenador comum. Em tal classe se enquadrariam sistemas como: o nervoso, respiratrio, de sade,
educao, hidrovirios, rodovirios, etc. Segundo esta concepo, a reunio de elementos presentes no
mundo emprico comporia a classe dos sistemas reais e o relato em linguagem destes conjuntos
formaria outro sistema, da categoria dos proposicionais (nomoempricos descritivos).
Tais consideraes, no entanto, no se enquadram no modelo filosfico adotado
neste trabalho. E aqui fazemos nossa primeira ressalva. Explica PAULO DE BARROS CARVALHO,
que o fenmeno da tomada de conscincia da reunio de elementos do mundo exterior, pelos
125
Teoria da inconstitucionalidade das leis, p. 4.
Sistemas
Proposicionais
Reais
Nomolgicos
Nomoempricos
Descritivos
Prescritivos
107
sentidos, j se pressupe a manipulao de um conjunto de signos. medida que pensamos um evento
qualquer, empregamos automaticamente uma linguagem que o vai revestindo, de tal sorte que a
situao pensada apresenta-se invariavelmente vestida de um fragmento lingstico
126
. Neste sentido,
todos os sistemas so proposicionais. Para organizarmos objetos em torno de um princpio unificador
precisamos, primeiramente, conhec-los como objeto e se partimos da premissa de que estes no
existem sem linguagem, todos os sistemas, invariavelmente, so proposicionais. Por este motivo o
citado autor afasta a primeira diviso desta classificao, enunciando: preciso acentuar que a
subespcie dos sistemas reais no pode ser aceita no mbito do modelo que venho desenvolvendo,
exatamente porque pressupe objetos da experincia que extrapolam os limites da linguagem
127
.
Dentro deste modelo, a constituio lingstica no configura uma diferena
especfica a ser eleita como critrio classificatrio dos sistemas, pois todos eles pressupem
linguagem. No entanto, podemos separar aqueles cujos elementos (linguagem) inserem-se num
contexto comunicacional, ou seja, so resultam da troca de mensagens entre duas ou mais pessoas (ex.
religiosos, econmicos, polticos, educacionais, cientficos, etc.) e aqueles cujos elementos, embora
percebidos e estruturados por nossa mente sob alguma forma lingstica, no resultam de um processo
de trocas de mensagens realizado entre duas ou mais pessoas (ex. sistemas eltricos, hidrulicos,
ferrovirio, psquicos, biolgicos, etc.). Chamamos, assim, os primeiros de sistemas comunicionais e
os segundos de sistemas no-comunicacionais, utilizando-nos, para tanto, do termo comunicao
para designar um processo de intercmbio de mensagem entre um emissor e um receptor, num
conceito relacional (social).
Outra ressalva a ser feita que, dentre a espcie de sistemas nomoempricos, no
encontramos apenas os descritivos e prescritivos. Considerando-se a funo da linguagem, existem
outras possibilidades de aglutinao e estruturao de elementos lingsticos que no apenas aqueles
destinados a informar ou prescrever condutas a exemplo, temos os sistemas inquisitivos, conjuntos
de perguntas estruturadas e direcionadas por vetores comuns como: testar conhecimentos (i.e.
vestibulares, as provas, exames de qualificao), definir estatsticas (i.e. senso populacional, agrcola);
os sistemas ficcionados, cujos elementos agrupados e estruturados criam realidades fictcias (i.e.
romances, novelas, jogos eletrnicos); os sistemas operacionais, que se destinam a realizao de certas
atividades (i.e. previdencirio, judicirio, poltico); etc. Neste sentido, tal diviso, apesar de
elucidativa, no resiste a uma anlise mais apurada.
126
Fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 43.
127
Idem, Idem, p. 44.
108
Nomoempricos
Desta forma, preferimos separar os sistemas nomoempricos em: (i) descritivos; e (ii)
no-descritivos, tomando-se como critrio serem seus elementos proposies informativas, neste caso
os sistemas prescritivos e no-prescritivos figuram como sub-espcies destes ltimos (ii.a e ii.b
respectivamente). Assim, resolvemos o problema dos sistemas inquisitivos, fabuladores e de todos os
demais que no se enquadram na espcie dos descritivos, nem dos prescritivos. Em quadro sinptico:
Indo um pouco mais alm, ao voltarmos nossa ateno Cincia do Direito, ela
aparece como espcie dos sistemas descritivos: apresenta-se como conjunto de proposies de
materialidade textual idiomtica, de referncia emprica, que tem como funo descrever certa
realidade: o direito positivo.
Os sistemas cientficos, no mbito da classificao proposta, configuram-se como
espcies dos sistemas descritivos, que se materializarem numa linguagem mais depurada. Nem todos
os sistemas descritivos so cientficos. O ser cientfico um plus a mais (diferena especfica) dos
sistemas descritivos, que comportam tambm aqueles constitudos numa linguagem no to rigorosa.
Especificamente, a Cincia do Direito, alm de ser um sistema descritivo e cientfico, tem outro plus: o
ser jurdico, por suas descries direcionarem-se ao campo emprico do direito positivo.
Existem ainda outras peculiaridades que podem ser tomadas como diferena
especfica na classificao dos sistemas cientficos. Enquanto as Cincias tidas por naturais (ex.
Biologia, Fsica, Qumica) se preocupam com a descrio de fenmenos cujos dados brutos
perceptveis aos nossos sentidos no apresentam materializao lingstica (ex. plantas, animais, luz,
calor, som, gua), a Cincia do Direito volta-se a um conjunto de elementos materializados na forma
de textos, inseridos num processo comunicacional (social) o direito positivo. Com base nesta
diferena especfica podemos ainda separar os sistemas cientficos em duas espcies: sociais, aqueles
cujo objeto so mensagens escritas, faladas ou gesticuladas, integrantes de um processo
comunicacional; e no-sociais, aqueles que tomam como objeto fenmenos naturais, no integrantes de
um processo comunicacional ainda que, como tais, s sejam conhecidos linguisticamente.
Descritivos
No-descritivos
Nomolgicos
Sistemas Prescritivos
No-prescritivos
Comunicacionais
No-comunicaionais
109
No-prescritivos
Com relao ao direito positivo, pensando-o dentro desta classificao, ele se
caracteriza como sistema prescritivo, um conjunto de proposies voltadas a disciplinar condutas
intersubjetivas. No entanto, de se ressalvar, que ele no o nico pertencente categoria dos
prescritivos, ao lado dele figuram sistemas como os religiosos, morais, ticos, etc. (tambm voltados
regular condutas). A diferena especfica que suas prescries gozam de coercitividade estatal, ou
seja, dispem do aparato do Estado para serem adimplidas.
Vejamos tais especificaes em quadro sinptico:
Elaborada a classificao dos sistemas, observa-se, mais uma vez, que as realidades
direito positivo e Cincia do Direito no se misturam, nem se confundem. Embora a ambos seja
atribudo o qualificativo de jurdicos, a Cincia do Direito pertence categoria dos sistemas
descritivos que toma como objeto o direito positivo, enquanto este a dos sistemas prescritivos (no-
descritivos) que toma como objeto a realidade social.
2. DIREITO POSITIVO, CINCIA DO DIREITO E REALIDADE SOCIAL
No captulo anterior, atentamo-nos detalhadamente diferenciao entre a linguagem
do direito positivo e da Cincia do Direito (os dois sistemas que analisamos linhas acima), mas de
igual importncia a separao que se mantm entre estes dois corpos de linguagem e o plano da
realidade social, onde se materializam as relaes intersubjetivas prescritas pelo direito.
De acordo com a concepo que adotamos, a realidade social tambm um corpo de
linguagem, cuja constituio interage duas ou mais pessoas que antes se mantinham na
Descritivos
No-descritivos
Prescritivos
Cientficos
No-cientficos
Jurdicos
(Cincia do Direito)
No-Jurdicos
Jurdicos (direito positivo)
No-Jurdicos
Sociais
No-sociais
Nomoempricos
(comunicacionais)
110
individualidade. Ela caracteriza-se, nica e exclusivamente, pela funo comunicacional
128
. Sem
adentrarmos, no entanto, nas nuanas desta linguagem (como fizemos com a Cincia do Direito e o
direito positivo no captulo anterior), queremos registrar apenas que devemos ter em mente no s a
separao dos sistemas do direito positivo e da Cincia do Direito, mas destes trs planos lingsticos:
(i) a realidade social; (ii) o direito positivo; e (iii) a Cincia do Direito
129
. Todos corpos estruturados,
de linguagem distintas, que no se misturam, embora relacionem-se semntica e pragmaticamente.
O desenho abaixo deixa claro tal separao e as relaes existentes entre eles:
Explicando: o legislador (representado pela figura dos trs homens no canto superior
esquerdo do desenho), no intuito de disciplinar condutas intersubjetivas, pensa a norma jurdica e
produz um conjunto de textos (linguagem prescritiva representado pelo desenho da constituio e
leis). Este corpo de linguagem, ao qual atribumos o nome de direito positivo, dirige-se ao campo da
realidade social a fim de estabelecer outras relaes entre sujeitos (representada pela figura dos dois
homens no canto inferior esquerdo do desenho). Surge ento um jurista (representado pela figura do
homem do lado direito do desenho Paulo de Barros Carvalho), interpreta a linguagem do direito
positivo construindo, em sua mente, as respectivas normas jurdicas e, ao descrever suas construes,
128
Existem corpos de linguagens no comunicacionais (sociais), como por exemplo, o sentimento, o pensamento. Tanto os
pensamentos quanto os sentimentos so constitudos na mente de um indivduo como corpos de linguagem, pois nada nos
inteligvel se no for constitudo em linguagem. So, contudo, linguagens no comunicacionais, isto , no imersas num
contexto relacional entre duas pessoas. A prova disso que para serem transmitidos preciso a produo de uma
linguagem social, diferente daquela que os constitui.
129
Esta diferenciao imprescindvel para entender a teoria de PAULO DE BARROS CARVALHO, permeando todas
suas obras.
111
produz outro conjunto de textos (linguagem descritiva representada pela figura do livro). A este
corpo de linguagem produzido pelo jurista atribumos o nome de Cincia do Direito. Ele dirige-se
linguagem do direito positivo com a finalidade de descrev-la.
Temos, assim, trs planos de linguagem: (i) Cincia do Direito; (ii) direito positivo;
(iii) linguagem social. Eles interagem entre si, mas constituem-se separadamente como unidades
distintas, de modo que podemos dizer serem trs sistemas diferentes.
2.1. Intransitividade entre os sistemas
O fato da realidade social, do direito positivo e da Cincia do Direito interagirem-se
entre si, no significa que um interfere diretamente no outro, pois, enquanto sistemas, os elementos
lingsticos que os compem so diferentes e no se misturam. Esta uma das conseqncias de
trabalh-los como corpos de linguagem.
Para que um acontecimento da realidade social (plano do ser) ingresse no plano do
direito positivo (mundo do dever ser) preciso que ele seja enunciado na linguagem prpria do direito:
na linguagem jurdica. Caso isso no ocorra, ele continuar a pertencer ao plano da realidade social.
Nos mesmos termos, a modificao efetiva de determinada conduta no se d com
aplicao da norma e conseqente produo de uma linguagem jurdica (norma individual e concreta),
mas com a constituio de uma nova linguagem social orientada pela linguagem jurdica.
Na fenomenologia de atuao do direito, reportando-nos aos dizeres de PAULO DE
BARROS CARVALHO, da projeo da linguagem jurdica sobre o plano da realidade social, surge o
domnio da facticidade jurdica. Em smbolos formais [(Ldp Lrs) Lfj]
130
onde se l: a
linguagem do direito positivo (Ldp) incidindo ( - smbolo da interseco de classes) sobre a
linguagem da realidade social (Lrs) produz ( smbolo da implicao) a linguagem da facticidade
jurdica (Lft). Continuando o raciocnio, o domnio da facticidade jurdica implica a produo de
efeitos na ordem jurdica e estes efeitos se projetam sobre a linguagem da realidade social com a
finalidade de modific-la. Em smbolos formais [(Lft Lrj) Lrs] onde se l: a linguagem da
facticidade jurdica (Lfj) implica () a produo de efeitos jurdicos (Lrj), que se projetam () sobre a
linguagem da realidade social (Lrs), com a finalidade de modific-la.
130
Fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 12.
112
Nota-se: para que uma articulao lingstica do plano social faa parte do mundo
jurdico, ela deve ser rearticulada na estrutura prpria do direito, o que se d com a produo da
linguagem da facticidade jurdica. Da mesma forma, para que uma relao posta juridicamente projete-
se no campo das condutas intersubjetivas e alcance os domnios do ser, necessrio a produo de
uma nova linguagem social, caso contrrio, ela no transpassa os domnios do dever ser. Neste sentido,
LOURIVAL VILANOVA explica resumidamente: a abertura por onde entram os fatos so as
hipteses fcticas; e as conseqncias em fatos se transformam pela realizao dos efeitos
131
.
Neste sentido, o interagir entre os dois mundos no significa dizer que direito
positivo e realidade social se confundam, pois uma coisa ser linguagem pertencente ao sistema do
direito positivo e outra pertencente ao sistema da realidade social. Para que a linguagem social ingresse
no sistema do direito positivo, preciso que ela apresente certos critrios de pertencialidade
determinados pelo prprio sistema. preciso que ela passe pelo filtro da facticidade jurdica, para que
deixe de ser linguagem social e passa, ento, a ser linguagem jurdica. Aplicando a teoria dos jogos de
linguagem, preciso que se produza uma jogada dentro do jogo do direito. O mesmo se aplica na
ordem inversa: s se altera a realidade social com a produo de outra linguagem social, ou seja, para
alterar o jogo social preciso efetuar uma jogada do jogo social.
Diante destas colocaes, surge uma dvida: se a linguagem jurdica no toca a
realidade social, como o direito positivo cumpre sua funo de disciplinar condutas intersubjetivas?
Devemos entender o termo disciplinar no no sentido de modificar, mas sim como uma forte
influncia a ser imposta mentalmente ao receptor da mensagem prescritiva para que este aja
socialmente de uma forma determinada.
Sob o ponto de vista da Cincia do Direito temos o mesmo raciocnio: da mesma
forma que a linguagem do direito positivo, por si s, no tem o condo de modificar a realidade social
e vice-versa, a linguagem da Cincia do Direito no pode alterar o direito positivo. Por mais que um
jurista fale sobre o direito positivo, no consegue modific-lo. Na ordem inversa, por mais que haja
transformaes no direito, se no for a enunciao de um jurista, com a produo de uma linguagem
descritiva, a Cincia do Direito em nada se modifica. Isto suficiente para que os entendamos como
corpos de linguagem autnomos.
131
Causalidade e relao no direito, p. 55.
113
2.2. Direito positivo e Cincia do Direito como subsistemas sociais
Tanto o direito positivo como a Cincia do Direito pertencem categoria dos
sistemas sociais, apresentando-se com dois de seus vrios subsistemas.
A sociedade o sistema comunicacional por excelncia. O ser do social reside no
fato relacional, isto , na circunstncia de duas ou mais pessoas conectarem-se, o que s possvel
mediante um ato de comunicao. Neste sentido, a comunicao faz-se presente sempre que existir
contato entre indivduos, de modo que nenhuma sociedade e nenhuma relao intersubjetiva existem
sem que haja, entre os sujeitos, a capacidade de se comunicarem por meio de signos. Retira-se esta
aptido e o ser humano se isola. Da a afirmao segundo a qual a sociedade o sistema
comunicacional por excelncia: sua unidade a comunicao.
Conceituar a sociedade como um sistema composto de comunicaes equivale dizer
que os elementos que o compem so fatos cujo sentido comunicar. Ela , utilizando-nos das
palavras de GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE, um grande sistema que compreende todas as formas
possveis de comunicao
132
.
Afastando-se as ambigidades
133
, o termo comunicao, aqui, empregado na sua
acepo mais geral, para designar o intercmbio de mensagem entre um emissor e um receptor
134
.
Qualquer aproximao entre sujeitos pressupe um contexto comunicativo, onde uma mensagem
transmitida. Assim, para se inter-relacionarem, os homens produzem comunicao, que interage com
outras comunicaes anteriormente estabelecidas, formando um conjunto estruturado de
comunicaes, um sistema, ao qual atribumos o nome de sociedade
135
.
Os fatos comunicacionais (relacionais), elementos do sistema social, efetivam-se
com a produo de uma linguagem. Esta linguagem, no entanto, no aparece necessariamente no modo
idiomtico, mas sob alguma forma significativa (de signo) como, por exemplo, um olhar, um gesto,
132
Coisa julgada em matria tributria, p. 40.
133
PAULO DE BARROS CARVALHO alerta sobre os diversos sentidos do termo comunicao ao tratar da teoria
comunicacional do direito (Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 165-170).
134
GRARD DUROZOI e ANDR ROUSSEL, Dicionrio de filosofia, p. 95.
135
Explica CELSO FERNANDES CAMPILONGO, ao reportar-se teoria de LUHMANN, que: o conjunto ou o processo
de sucessivas comunicaes formam uma rede recursiva que define a unidade do sistema social. Os sistemas sociais usam a
comunicao como seu ato de reproduo. Tudo o que no comunicao por exemplo, a vida orgnica ou a conscincia
pode ser observado pelo sistema social e transformado em tema da comunicao (Poltica, sistema jurdico e deciso
judicial, p. 69).
114
S
uma roupa, um quadro. At mesmo o silncio ou a omisso (falta de palavras) caracteriza-se como
comunicao quando carregada de significado, isto , na medida em que possam ser interpretados.
Tomada como um grande sistema, a sociedade formada por uma rede estruturada
de comunicaes de vrios tipos, dentre os quais identificamos inmeros subsistemas compostos por
comunicaes diferenciadas entre si, como o caso do direito positivo, da poltica, da economia e da
dogmtica jurdica (Cincia do Direito).
Tanto o direito positivo, quanto a Cincia do Direito, apresentam-se como conjuntos
de comunicaes peculiares, com funo especfica, caracterstica esta que lhes confere unidade e
autonomia em relao s demais comunicaes que compem o sistema social, do qual aparecem
como subespcies. O direito positivo formado pelo conjunto estruturado de comunicaes do tipo
jurdico-normativas (linguagem prescritiva) e a Cincia do Direito, pelo conjunto estruturado de
comunicaes do tipo jurdico-descritivas (linguagem descritiva). Apesar, no entanto, de constiturem-
se como sistemas autnomos, eles mantm estrita relao com o sistema social, isto , com o conjunto
de todas as outras comunicaes que formam seu ambiente
136
.
O grfico abaixo bem representa esta idia.
Explicando: Tanto o direito positivo (S) como a Cincia do Direito (S) configuram-
se como sistemas autnomos (linearmente demarcados), na medida em que seus elementos so
comunicaes (linguagem) diferenciadas. No entanto, constituem-se como subsistemas de um sistema
maior: a realidade social (composto por todas as demais comunicaes relaes intersubjetivas - S) e
com ele se relacionam. O direito positivo incide sobre a realidade social com a finalidade de regul-la,
de modo que todas as demais comunicaes integrantes de seu ambiente (sistema social) o informam
136
O termo ambiente aqui utilizado na acepo de: tudo aquilo que est fora do sistema e no se configura como seu
elemento.
S
S
115
cognitivamente. J a Cincia do Direito incide sobre o direito positivo com a finalidade de descrev-lo
e, assim, fazendo, presta-se a informar cognitivamente todas as demais comunicaes integrantes de
seu ambiente (o sistema social).
2.3. Teoria dos sistemas
Trabalhar o direito positivo como um subsistema social, autoriza-nos utilizar
algumas categorias da teoria dos sistemas sociais de NIKLAS LUHMANN para estud-lo
137
. O ponto
de partida desta teoria, como ensina CELSO FERNANDES CAMPILONGO, reside na diferena entre
sistema e ambiente
138
. O conceito de ambiente se explica pela noo de realidade ou de mundo
circundante, que engloba tudo. algo pensado sem fronteiras, que se resume na totalidade das coisas,
onde nada existe e acontece fora dele. O ser ambiente, assim, algo extremamente complexo e a
formao dos sistemas vem reduzir tais complexidades, estabelecendo limites, demarcados por
conceitos diferenciais, que acabam por constituir uma determinao (unidade). O sistema se constitui
nesta determinao (unidade), formada pela diferena com o seu ambiente. Aquilo que no pertence ao
sistema, que no se constitui como seu elemento (em razo da diferena), compe seu ambiente.
Aplicando esta diferenciao temos a sociedade como um sistema constitudo por
comunicao e seu ambiente por tudo aquilo que no comunicao (ex: atos psquicos, fenmenos
naturais). A sociedade vale-se cognitivamente destas no-comunicaes, bem como de suas prprias
comunicaes, para produzir outras comunicaes (novos elementos).
Tal diferenciao, no entanto, no se aplica apenas para separar a sociedade dos
sistemas no-comunicativos, mas se reproduz no interior do prprio sistema social, em relao a cada
um de seus subsistemas. O direito, por exemplo, aparece como um sistema comunicativo,
funcionalmente diferenciado, formado por comunicaes jurdicas cujo ambiente constitudo por
todas as demais comunicaes (no-jurdicas).
2.3.1. Cdigo, programas e funo
Conforme anota GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE, ao explicar a teoria de
NIKLAS LUHMANN, os sistemas integrantes do macrossistema social (ex: poltico, jurdico,
econmico, cientfico, etc.) possuem cdigos de comunicao prprios, que lhes conferem um
137
Isto no significa que adotamos uma posio luhmanniana com relao ao direito positivo e Cincia do Direito
(evidenciada na sua obra O direito da sociedade), apenas que podemos utilizar algumas de suas categorias para explicar o
modo como enxergamos o direito positivo e a Cincia do Direito (naquilo em que as teorias se aproximam).
138
Poltica, sistema jurdico e deciso judicial, p. 66.
116
fechamento operativo e tambm uma especfica forma de abertura cognitiva ao ambiente
139
. Todo
sistema apresenta uma funo e uma estrutura, que garante o cumprimento desta funo, determinada
por um cdigo e um programa especfico, que viabilizam a diferenciao e interao com seu
ambiente.
FABIANA DEL PADRE TOM, num aprofundado estudo, explica com clareza as
categorias luhmannianas
140
. Por funo entende-se toda ao ou atividade que o sistema desenvolve,
visando atingir seus objetivos. O cumprimento desta funo s possvel mediante determinaes
estruturais denominadas de cdigo e programa. O cdigo um esquema binrio invarivel,
produzido no implemento da funo, que fundamenta a identificabilidade do sistema, permitindo
separ-lo de seu ambiente. por meio dele que os elementos de fora so processados para dentro do
sistema. Para que os cdigos cumpram seu papel na produo de elementos internos ao sistema, no
entanto, impe-se a existncia de programas que os complementem, conferindo-lhes contedo. A
programao de um sistema determina em que circunstncias os elementos externos so qualificados
pelo seu cdigo e passam a existir internamente.
Transpondo tais categorias ao estudo do sistema jurdico, temos que sua funo
consiste na estabilizao das expectativas normativas. O direito positivo diferencia-se funcionalmente
dos demais sistemas sociais por ter a finalidade de garantir a manuteno de expectativas normativas,
ainda que estas no venham a ser implementadas socialmente. Para executar sua funo o sistema
utiliza-se de um cdigo binrio prprio: lcito/ilcito, segundo o qual as expectativas normativas
cumprem-se ou frustram-se. O cdigo atua sobre as mensagens vindas do ambiente, reproduzindo-as
de forma lcita ou ilcita para dentro do sistema, o que lhe atribui identidade. por meio do cdigo que
o direito diferencia-se dos demais sistemas sociais, seus elementos so comunicaes codificadas sob
os valores da licitude e da ilicitude. Determinando a maneira como o cdigo implementado o direito
utiliza-se de programas normativos (compostos por leis, regulamentos, precedentes jurisprudenciais,
contratos, etc.) que estabelecem em que hipteses as comunicaes externas so qualificadas como
lcitas ou ilcitas. A programao do direito, assim, estabelecida por normas jurdicas, ela determina
o contedo codificado, sendo constantemente alterada como respostas s demandas advindas do
sistema social. Cabe a ela acompanhar a evoluo da sociedade, indicando ao sistema as novas
situaes que necessitam de tratamento jurdico.
139
Coisa julgada em matria tributria, p. 40.
140
A prova no direito tributrio, p. 41-53.
117
A previso normativa determina quais e como as informaes da sociedade so
processadas em linguagem jurdica. O que no estiver previsto nas normas do sistema, permanecer
como comunicao meramente social, passvel de processamento por outro subsistema, porm
irrelevante para o direito
141
. A linguagem social s passa a ser linguagem jurdica quando o prprio
sistema a seleciona e lhe confere tratamento jurdico por meio de suas estruturas (cdigo e programa).
Neste sentido, a programao assegura uma abertura cognitiva ao sistema em relao a seu ambiente,
pois ela que colhe as informaes que so processadas no cdigo lcito e ilcito, para dentro do
sistema. Ao mesmo tempo, juntamente com o cdigo binrio, a programao assegura o fechamento
operativo do direito, organizando a produo de sua comunicao, pois todas as informaes de seu
ambiente s nele ingressam quando colhidas por normas jurdicas e qualificadas no cdigo que lhe
prprio (como lcitas ou ilcitas).
2.3.2. Acoplamento estrutural, abertura cognitiva e fechamento operativo
A dualidade programao/cdigo faz com que os sistemas sociais constituam-se ao
mesmo tempo, como sistemas abertos e fechados. So abertos porque sua programao permite que
neles ingressem informaes de seu ambiente e fechados porque possuem um cdigo de comunicao
prprio. Cada sistema, assim, utilizando-se desta dualidade, dispe de um critrio (programa) e uma
forma (cdigo) de processar informaes do seu ambiente. O sistema jurdico, por exemplo, vai buscar
fora dele (no seu ambiente sociedade) a comunicao que deseja disciplinar e a traz para dentro dele
como comunicao jurdica atribuindo-lhe tratamento normativo ao qualific-la na forma lcita ou
ilcita. Neste sentido, aberto cognitivamente, pois seu programa permite o ingresso de informaes
de seu ambiente e fechado operacionalmente, porque tal ingresso s possvel com a traduo das
informaes externas no cdigo que lhe prprio (lcito/ilcito).
Para que uma comunicao qualquer (linguagem social) torne-se jurdica, ela tem,
necessariamente, que passar pelo filtro da juridicidade, ou melhor dizendo, tem que ser vertida em
linguagem jurdica. Mas, quando isso ocorre, ela deixa de ser qualquer comunicao e torna-se
comunicao jurdica. Nestes termos, o direito s opera com um tipo de linguagem (as qualificadas
pelo cdigo lcito/ilcito) e, por isso, estruturalmente fechado em relao ao seu ambiente. Esta
clausura operacional assegura a autonomia do sistema. Isto no significa, no entanto, que ele seja
isolado. Apesar de estruturalmente fechado, o sistema permite que dados externos nele ingressem por
141
GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE, Coisa julgada em matria tributria, p. 68.
118
meio das hipteses normativas e que suas comunicaes se externem por meio das relaes jurdicas, o
que lhe atribui uma abertura de contedo e de uso/aplicao em relao ao seu ambiente
142
.
nesta concepo, mas trabalhando com pressupostos da Semitica, que PAULO
DE BARROS CARVALHO diz ser o direito positivo fechado sintaticamente e aberto semntica e
pragmaticamente. fechado sintaticamente porque sua dinmica operacional reduz-se na estrutura (H
lcito/ilcito C proibido, permitido e obrigatrio). E, aberto semntica e pragmaticamente
porque colhe informaes e incide sobre a linguagem social.
Com relao Cincia do Direito, verifica-se tambm um fechamento operacional e
uma abertura cognitiva
143
. A dogmtica jurdica recolhe informaes do sistema jurdico (e somente
dele) e as processa na forma descritiva, para seu interior, com a produo de enunciados jurdico-
cientficos, que acabam por influir no contedo de outras comunicaes (sociais).
Analisando sob o enfoque da Semitica, podemos dizer que a Cincia do Direito
um sistema operacionalmente fechado, pois trabalha com uma linguagem jurdico-descritiva
coerentemente estruturada; semanticamente aberto porque recolhe informaes de outro sistema, mas
apenas em relao ao direito positivo (dado que a dogmtica jurdica no est autorizada a colher
informaes de outros sistemas sociais ex: econmico, poltico, religioso sob pena de
descaracterizar-se como Cincia do Direito); e pragmaticamente aberta, visto que sua linguagem
informa vrios outros sistemas sociais quando da produo de seus elementos.
A esta interao entre sistemas a teoria luhmanniana atribui-se o nome de
acoplamento estrutural. Por meio dele os sistemas realizam distines para selecionar, no ambiente, as
informaes relevantes para suas operaes internas
144
. Funcionalmente, os acoplamentos produzem o
que LUHMANN chama de irritaes, percebidas e registradas pelas estruturas do sistema. Ele reage
a tais irritaes processando as informaes externas e transformando-as em elementos no seu interior.
Tais irritaes, no entanto, ao serem percebidas e registradas pelo sistema consubstanciam-se em
construes internas (auto-irritaes)
145
. Neste sentido, o sistema, em resposta as suas auto-irritaes,
142
Direito Tributrio, linguagem e mtodo, 212.
143
Embora trabalhemos, neste item, como categorias da teoria luhmanniana, LUHMANN no concebe a Cincia do Direito
como um sistema operacionalmente fechado em relao ao direito positivo, mas como uma reflexo deste. Faltaria a ela um
cdigo binrio prprio e programas especficos. Para ns, no entanto, este fechamento operacional se mostra claro, pois o
direito positivo constitudo por linguagem prescritiva do tipo tcnica e a Cincia do Direito por linguagem descritiva do
tipo cientfica.
144
GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE, Coisa julgada em matria tributria, p. 51.
145
NIKLAS LUHMANN, Introduccin a la teora del sistemas, p. 100.
119
cria novos elementos, num ciclo auto-reprodutivo onde comunicao jurdica gera nova comunicao
jurdica.
assim que, na teoria de LUHMANN, o direito positivo visto como um sistema
autopoitico
146
. Tal caracterstica assenta-se no pressuposto de que todos os elementos e estruturas do
sistema so construdos por operaes e processos prprios do sistema e no pela influncia direta de
seu ambiente. Isto significa que o direito se organiza e se reproduz por auto-referncias
147
. Aceitamos
tal assertiva no no sentido de que o direito se auto-reproduz, mas de que toda criao de comunicao
jurdica regulada pelo prprio sistema. O direito prescreve sua forma de produo e nestes termos
que trabalhamos com sua auto-referncia. No podemos esquecer que, embora nosso corte
metodolgico isole, entre uma comunicao e outra existe um ato de vontade humano, de modo que,
sem ele o direito no se reproduz.
3. DVIDAS QUANTO AO DIREITO POSITIVO SER UM SISTEMA
H autores que no aceitam o direito positivo como sistema por entenderem faltar-
lhe harmonia interna. Para estes autores, o fato de existir contradies no direito positivo o impede de
ter natureza sistmica, pois geralmente, mesmo que no de forma explcita, eles adotam a no-
contradio como uma das caractersticas definidora do conceito de sistema
148
. No compartilhamos
do mesmo posicionamento, pois quando definimos nosso conceito de sistema deixamos fora de seu
definiens a caracterstica da coerncia de seus elementos. Isto demonstra que, para ns, a no-
contradio dos termos de um conjunto estruturado no pressuposto para que ele seja considerado
um sistema.
No meio de um caos no somos capazes de enxergar sistemas, justamente porque no
h possibilidade de se identificar elementos e muito menos as relaes que os unem. Mas, logicamente
no h que se falar de duas proposies que se contradizem se elas ocupam conjuntos diferentes. Se
somos capazes de perceber as antinomias porque reconhecemos os termos e as relaes existentes
entre eles, porque visualizamos (na nossa concepo) o sistema.
146
A teoria da autopoise foi desenvolvida, inicialmente, por HUMBERTO MATURANA e FRANCISCO VARELLA, para
explicar os sistemas biolgicos e, dada sua operatividade, passou a ser aplicada ao estudo dos sistemas sociais por NIKLAS
LUHMANN.
147
GUNTHER TEUBNER, O direito como sistema autopoitico, p. 31.
148
GREGRIO ROBLES DE MORCHON um destes autores. Para ele o direito s assume feio de sistema quando
harmoniosamente organizado pela Cincia do Direito.
120
Dentro desta linha de raciocnio, o direito positivo apresenta-se como um sistema que
comporta antinomias, alguns de seus termos se contradizem, mas somos capazes de identific-los e de
enxergar as relaes que se estabelecem entre eles. Mesmo se pensarmos apenas nos textos, enquanto
plano de expresso abstrados de seus contedos significativos, observamos certa ordem estrutural
suficiente para visualizarmos um sistema.
certo que ao entrarmos em contato com os textos brutos (ainda no
interpretados) do direito positivo logo comeamos, em nossa mente, um processo gerador de sentido,
visando decodificar a mensagem legislada, que se apresenta para ns mediante um sistema de palavras
dispostas sobre um papel. Nesse processo, vamos atribuindo significaes aos enunciados e tecendo as
relaes estruturais que se estabelecem entre eles. Visualizamos, ento, o direito no mais como um
sistema de textos brutos (palavras sobre um papel), mas como um sistema de contedos
significativos.
Desta forma, no podemos confundir a significao atribuda aos textos do direito
positivo, que prescritiva, com a descrio destas significaes realizada pela Cincia do Direito.
Certamente que para descrever o direito, o cientista passa por este processo de construo de sentido,
mas a Dogmtica Jurdica est a um passo alm, ela descreve as significaes prescritivas construdas
neste processo, resultado de outro ato de fala que se consubstancia noutro tipo de linguagem (com
funo descritiva). Assim, tanto o conjunto de textos brutos no qual ela se materializa, quanto as
proposies (significaes) deles construdas, formam outro sistema, no mais prescritivo e sim
descritivo.
A representao abaixo demonstra bem esta posio:
121
Explicando: S representa o sistema do direito positivo (corpo de linguagem
prescritiva). S representa o sistema da Cincia do Direito (corpo de linguagem descritiva). O homem
(PAULO DE BARROS CARVALHO) entra em contato com a linguagem do direito positivo (tal como
ela se materializa textos brutos) a interpreta e constri na sua mente seu sentido (que prescritivo),
depois o descreve produzindo outra linguagem: a Cincia do Direito
149
.
Sob este enfoque, diferentemente do que pensou KELSEN, o sistema do direito
positivo, existe independentemente da Cincia do Direito, pois, como ensina PAULO DE BARROS
CARVALHO, o material bruto dos comandos legislados, mesmo antes de receber o tratamento
hermenutico do cientista dogmtico, j se afirma como expresso lingstica de um ato de fala,
inserido no contexto comunicacional que se instaura entre enunciador e enunciatrio
150
.
A Cincia do Direito descreve, de forma rigidamente organizada e mediante um
mtodo prprio, aquilo que o jurista apreende de sua experincia com o direito positivo. E, aquilo que
ele apreende o sentido atribudo aos textos que, por sua vez, foram elaborados pelo legislador. Nestes
termos, a Cincia do Direito, enquanto sistema descritivo que , no constri o sistema do direito
positivo (no sentido de elabor-lo tal funo compete ao legislador ou ao intrprete), ela o descreve.
Podemos at aceitar a afirmao de que o cientista constri o direito, sob o
fundamento de que todas as Cincias so constructivistas na medida em que criam seus objetos. Mas
149
Esta postura ficar melhor evidenciada no prximo captulo, quando estudaremos o direito como um fenmeno
comunicacional, utilizando-nos da Semitica como instrumento de anlise.
150
Direito tributrio linguagem e mtodo, p. 215.
122
direito, aqui entendido enquanto objeto de uma Cincia; o que no significa dizer que o direito
positivo, enquanto conjunto de normas jurdicas de um dado pas, pressupe uma Cincia para existir
como sistema.
4. SOBRE O SISTEMA DA CINCIA DO DIREITO
A Cincia do Direito um sistema descritivo que, como j frisamos em anteriores
passagens, tem como objeto nica e exclusivamente o direito positivo e nada mais alm dele. Este
um cuidado ao qual o jurista deve atentar-se em todas as etapas de sua trajetria, o que no algo
extremamente fcil, pois a linguagem jurdica atravessa todos os outros campos do relacionamento
social. A sociedade utiliza-se do direito para implementar suas relaes familiares, polticas,
trabalhistas, econmicas, comerciais, etc. e isso nos faz sentir autorizados a analis-lo sob estes
enfoques, sem nos darmos conta de que abandonamos o plano jurdico
151
.
As anlises se distanciam do objeto jurdico quando h um descompasso entre o
objeto construdo pelo cientista e os limites do sistema jurdico positivo.
Vejamos a ilustrao grfica abaixo:
Explicando: Delimitamos direito positivo (S) como o conjunto de normas jurdicas
validadas num dado pas, que se materializa numa linguagem prescritiva utilizada como instrumento
para implementar certos valores almejados pela sociedade. Quando a anlise do cientista extrapola os
limites do sistema, incide no mais sobre o direito, constituindo como seu objeto algo no-jurdico (S)
151
Um exemplo clssico dessa confuso se d quando passamos a analisar o cumprimento das normas e as
sensaes/modificaes que elas causam na sociedade, se elas so justas ou injustas.
123
conforme aponta a figura 2. Na figura 1, ao contrrio, a anlise do cientista dirige-se ao interior do
sistema, caracterizando-se como uma anlise jurdica.
O mesmo fato social pode ser observado por vrios ngulos, mas s um deles
jurdico: aquele que toma como objeto o conjunto de normas jurdicas. PAULO DE BARROS
CARVALHO utiliza-se de um exemplo que bem demonstra tal afirmao: o fato do professor estar na
sala de aula ministrando uma aula. Este simples fato pode ser observado sob vrios aspectos: jurdico
o contrato do professor com a instituio; econmico o custo da aula para a faculdade; psicolgico
o que se passa na cabea do professor quando est expondo a matria; social o relacionamento do
professor com a turma; etc. Todas as anlises falam sobre o mesmo acontecimento, descrevem o
mesmo fato, s que sob enfoques diferentes. O ser jurdico apenas um dos aspectos do fato, uma
entre todas as formas sob as quais podemos analis-lo.
5. FALSA AUTONOMIA DOS RAMOS DO DIREITO
O direito positivo um sistema muito complexo. Imaginemos todas as normas
jurdicas existentes hoje no Brasil, reunidas num grande conjunto e logo constatamos a impossibilidade
de conhec-las sem que separadas em partes. assim que surgem os chamados ramos do direito, que
nada mais so do que recortes epistemolgicos realizados para reduzir a complexidade do objeto.
Como a Medicina recorta epistemologicamente o corpo humano para melhor conhec-lo, criando
diferentes especificidades cientificas (ex: Cardiologia, Urologia, Neurologia, Dermatologia, etc.), a
Cincia do Direito recorta epistemologicamente o direito positivo, criando diferentes especificidades
jurdicas (ex: Civil, Penal, Tributrio, Administrativo, Constitucional, Trabalhista, etc), para melhor
conhec-lo.
Os ramos (cortes realizados no direito positivo), por serem epistemolgicos, no
interferem na composio do sistema, apenas criam uma especialidade para a Cincia, no tendo o
condo de cri-la juridicamente, pois o direito positivo um sistema uno e indecomponvel. Todas as
normas jurdicas encontram-se relacionadas entre si, de forma que, tentar isolar regras jurdicas, como
se prescindissem da totalidade do conjunto, seria ignorar o direito enquanto sistema.
Pensar o contrrio, por exemplo, seria o mesmo que admitir que o corte
metodolgico da Cardiologia tem o condo de isolar o corao da unidade do corpo humano e
entend-lo como autnomo. Nota-se que a separao apenas didtica, o corte feito para que se
124
possa melhor conhecer o corao, mas este uma parte do corpo humano, que se relaciona com todas
as demais unidades e assim deve ser entendido.
Neste sentido, ALFREDO AUGUSTO BECKER firma seu posicionamento de que a
separao dos diversos ramos do Direito apenas didtica: Pela simples razo de no poder existir
regra jurdica independente da totalidade do sistema jurdico, a autonomia (no sentido de
independncia) de qualquer ramo do direito positivo sempre e unicamente didtica
152
.
O grfico representa tal concepo:
Explicando: A Cincia do Direito (sistema representado pelo crculo superior), ao
tomar o direito positivo como objeto (sistema representado pelo circulo inferior), faz diversos recortes
para melhor conhec-lo. Estes recortes, porm, so apenas didticos, incidem sobre o direito positivo,
mas este permanece um todo unitrio.
As divises responsveis pelos diversos ramos do direito no ultrapassam os
limites da Cincia. Apenas temos uma dificuldade maior de perceber isso (em relao s Cincias
Mdicas, por exemplo) porque o prprio legislador atribui especificidade aos textos jurdicos ao
separ-los em Cdigo Civil, Cdigo Penal, Cdigo Tributrio Nacional, Consolidao das Leis
trabalhistas (CLT), etc., dando-nos a falsa impresso de que cada um destes textos existe
isoladamente.
Dizemos falsa impresso porque o estudo de um ramo especfico do Direito no
engloba apenas as normas veiculadas pelo Cdigo daquela especificidade e sim, vrias outras que com
elas se relacionam. Nesse sentido que no existe autonomia entre os ramos do Direito, qualquer
especialidade que se pretenda delimitar didaticamente no pura.
152
Teoria geral do direito tributrio, p. 31.
125
Para reforar tal afirmao PAULO DE BARROS CARVALHO utiliza-se do
exemplo do IPTU (imposto predial territorial urbano), objeto do Direito Tributrio, que obriga o
proprietrio, aquele que tem a posse, ou domnio til de bem imvel situado no permetro urbano de
determinado municpio no dia 1 de janeiro de cada ano, a pagar 1% sobre o valor venal do imvel
prefeitura municipal. Ao analisar tal imposto estamos na esfera do Direito Tributrio, mas para
sabermos o que proprietrio, posse, domnio til e bem imvel temos que nos socorrer do
Direito Civil, para conhecermos o permetro urbano temos que nos valer do Direito Administrativo e
para entendermos o que municpio voltarmo-nos ao Direito Constitucional. Com isso conclumos a
anlise do IPTU sem estudar Direito Tributrio. Mas, o IPTU no uma figura do Direito Tributrio?
Sim, os impostos so objetos da Cincia do Direito Tributrio, no entanto, servimo-nos de vrios
outros ramos do Direito para estud-los, o que demonstra no haver autonomia entre os ramos do
Direito
153
.
A separao didtica sempre construda artificialmente de acordo com o recorte
realizado pelo cientista. Recortar certas normas com fins analticos pode constituir, para uma teoria,
certo ramo do Direito e para outra, que as toma com relao a outras normas como um sub-ramo de
outra disciplina. Sob este ponto de vista, algumas discusses (do tipo se o Direito Tributrio um
ramo autnomo do Direito, ou se um sub-ramo do Direito Administrativo ou Financeiro, se o Direito
Penal Tributrio pertence ao ramo do Direito Penal, do Direito Tributrio, ou se um ramo autnomo),
perdem o sentido, pois tudo depender dos recortes efetuados pelo cientista na constituio de seu
objeto. O Direito Tributrio pode ser tomado como um sub-ramo do Direito Administrativo se os
estudos se voltarem s normas administrativas e pode, perfeitamente, ser tomado como um ramo
principal do Direito, se o estudo recair sobre as normas tributrias, neste caso, o Direito Administrativo
aparecer como um sub-ramo do Direito Tributrio. Tudo isso porque, no existe uma regra para as
delimitaes metodolgicas.
6. DIREITO POSITIVO E OUTROS SISTEMAS NORMATIVOS
A linguagem prescritiva, na qual o direito se materializa, uma particularidade dos
sistemas normativos. Toda vez que algum deseja transmitir uma ordem para outra pessoa, o faz
mediante a produo de uma linguagem prescritiva. Neste sentido, todos os sistemas de ordens so
prescritivos. Mas o que faz o direito positivo ser diferente destes demais sistemas? Para alguns autores
153
Aula inaugural no curso de especializao em Direito Tributrio na ps-graduao da PUC-SP (15/08/2005).
126
a resposta est na juridicidade das normas, mas que a juridicidade? Ou melhor, o que atribui esta
caracterstica ao sistema?
Pensemos nas ordens de alguns sistemas prescritivos como a moral, religio,
etiqueta, educao (de pai para filho), trabalhista (de patro para empregado) para entendermos o que
elas tm de diferente em relao s ordens jurdicas.
(i) Uma das ordens morais do casamento dispe: se for casado (a), deve ser, que
no permitido trair o cnjuge. Mas vamos supor que um dos cnjuges traia, o que pode acontecer
com ele alm de sua conscincia ficar pesada? Mesmo que o outro descubra, o que pode acontecer a
ele? O outro pode ficar chateado, perder a confiana, mas nenhuma conseqncia pelo no
cumprimento da ordem passar do campo do psicolgico, pois nele que o sistema moral atua. Sua
coero mental.
(ii) Uma das ordens religiosas contida nos sete pecados capitais a inveja. E se
algum o comete? Digamos que o padre, como penitncia, mande rezar duzentas Ave-Marias. O que
vai acontecer se a pessoa no rezar? Provavelmente vai sentir-se culpada temendo o julgamento aps
sua morte. A coero, assim, no passa do plano metafsico. Somente aquele que acredita na existncia
divina se sente coagido a cumprir a norma.
(iii) O caso do filho que pega emprestado um brinquedo do coleguinha e no quer
devolver. O pai emite uma ordem para que ele devolva o brinquedo. O filho pode devolver por medo e
respeito autoridade paterna, ou se negar a obedecer ordem dada pelo pai. Como castigo o pai lhe
ameaa com uma palmada. Se ainda assim o filho continuar com o brinquedo na mo, o pai pode
tom-lo a fora e devolver para o coleguinha. A coero existe em razo da autoridade paterna e no
caso foi fisicamente exercida, se o filho cresce no reconhece no pai uma autoridade, deixa de cumprir
suas ordens.
No direito, a coercitividade, entendida como a fora de que dotado o sistema para
fazer valer suas ordens, judicial. A coao psicolgica, isto , o medo de sofrer as penalidades
prescritas pelo descumprimento das normas, faz com que muitos de seus utentes as cumpram. No
entanto, como h aqueles que no temem as penalidades, existe a figura do judicirio capaz de
forosamente fazer com que as ordens jurdicas sejam executadas.
127
Digamos que uma pessoa, por exemplo, no cumpra uma ordem jurdica que
prescreve o dever de pagar determinada quantia em dinheiro a outrem. A pessoa lesada pode dirigir-se
ao Poder Judicirio para que este, utilizando-se do aparato coercitivo Estatal, execute o devedor. Se o
devedor no adimplir a dvida por sua livre vontade o juiz ordenar que se proceda a penhora dos bens
e depois que eles sejam leiloados, para que a pessoa lesada receba o valor devido.
O mesmo ocorre, por exemplo, com o ru condenado criminalmente ao cumprimento
de uma pena de recluso em favor do Estado. De livre e espontnea vontade ele no se dirige
penitenciria e ali permanece para cumprir sua pena, ento o Estado se vale do juiz de execues
penais, que emite um mandado, isto , uma ordem de priso aos policiais e estes privam a pessoa de
sua liberdade de locomoo.
Toda coercitividade do direito viabilizada pela via judicial e isso que atribui
juridicidade as suas ordens. Todos os direitos e deveres prescritos por normas jurdicas so amparados
pela possibilidade de ingresso no judicirio para que sejam adimplidos. Por isso, a expresso: a todo
direito corresponde uma ao. A coercitividade jurdica viabilizada com o direito de ao daquele
sujeito prejudicado pelo seu descumprimento.
Diferentemente de qualquer outro sistema prescritivo, a coero do direito positivo
exercida pelo Poder Estatal, que pode se utilizar, dentro dos limites estabelecidos pelo prprio direito,
de toda sua mquina para fazer valer as prescries inadimplidas. Todos os sistemas prescritivos so
coercitivos, pelo menos apresentam um mnimo de coercitividade, ou seja, alguma fora que faa com
que suas regras sejam cumpridas. No direito positivo esta fora exercida pelo Estado e viabilizada
pelo judicirio. Neste sentido, o que diferencia, pois, uma norma jurdica de outra norma a sua
coercitividade, isto , o fato de sua execuo ser reforada e garantida pelo Estado.
O direito, no entanto, no interfere fisicamente no plano social, sua coero
normativa. O mximo que o juiz pode fazer expedir outra ordem, a uma terceira pessoa (ex. policial,
oficial de justia), para que ela promova a execuo da prescrio descumprida. Esta terceira pessoa
pode cumprir ou no a ordem judicial, tudo depende de um ato de vontade. claro que este ato de
vontade sofre vrias influncias, inclusive do prprio direito, a pessoa pensar na sua responsabilidade
profissional, no sustento de sua famlia, nas penalidades jurdicas que poder sofrer caso descumpra a
ordem judicial e, se sentindo coagida, decide realizar os atos que, reunidos com outros, culminaro na
execuo da ordem no cumprida por outrem.
128
Outra caracterstica do direito, que o diferencia dos demais sistemas prescritivos,
que sua regulao volta-se ao campo das condutas intersubjetivas. Ao direito positivo no interessa
disciplinar condutas intra-subjetivas, isto , aquelas do homem para consigo mesmo. Outros sistemas
prescritivos no tm esta peculiaridade. moral e religio, por exemplo, interessa a integridade do
sujeito perante os outros e tambm a integralidade de seus prprios pensamentos. J para o direito no,
em pensamento uma pessoa pode matar, roubar, fraudar, sonegar, que juridicamente nenhuma
relevncia haver.
Como ilustrao citamos o exemplo do suicdio: o direito no probe o suicdio, mas
imputa uma pena a sua instigao. Isto porque suicidar-se uma conduta intra-subjetiva, isto , do
sujeito para com ele mesmo, ao passo que, quando algum instiga outrem a cometer suicdio estamos
diante de uma conduta social. Diferentemente, a religio probe o suicdio porque um sistema
prescritivo que regula no s condutas intersubjetivas, como tambm intra-subjetivias.
129
CAPTULO V
SEMITICA E TEORIA COMUNICACIONAL DO DIREITO
SUMRIO: 1. Lngua, linguagem e fala; 1.1. O signo; 1.2. Suporte fsico,
significado e significao do direito positivo e da Cincia do Direito; 2.
Semitica e direito; 3. Teoria comunicacional do direito; 4. O direito como texto;
4.1. Texto e contedo; 4.2. Dialogismo - contexto e intertextualidade.
1. LNGUA, LINGUAGEM E FALA
Os conceitos de lngua, linguagem e fala, tornam-se indispensveis Teoria
do Direito quando tomamos seu objeto como um corpo de linguagem produzido dentro de um contexto
comunicacional.
Sem a pretenso de uma anlise mais rigorosa, mesmo porque esta no a finalidade
deste trabalho, dentre outras vrias acepes, consideramos a lngua como um sistema de signos em
vigor em determinada comunidade, isto , o cdigo aceito e utilizado numa sociedade como
instrumento de comunicao entre seus membros. Este cdigo pode ser idiomtico (ex: o portugus, o
francs, o ingls, o alemo, etc.) ou no-idiomtico (ex: expresso corporal, vesturio, mobilirio,
arquitetura, pintura, msica, etc.), desde que se preste comunicao entre sujeitos
154
.
Enquanto sistema convencional de signos, a lngua uma instituio social, isto
significa que atos individuais isolados no tm o condo de modific-la, sua alterao pressupe uma
evoluo histrica
155
. Apesar de ser social, a lngua um depsito que est dentro de ns, imerso no
inconsciente humano como um sistema de signos e de regras de utilizao destes signos.
A diferena entre lngua e fala aparece na obra de FERDINAND DE SAUSSURE.
Segundo o lingista, consiste a fala num ato individual de seleo e atualizao da lngua
156
. Seleo
154
Para o estudo do direito interessa-nos a lngua idiomtica.
155
Diferente da lngua a sua gramtica (da lngua idiomtica), consistente nas regras que a convencionam. A gramtica de
uma lngua pode ser alterada de um dia para outro, no a lngua.
156
Curso de lingstica geral, p. 18.
130
porque por meio dela o homem escolhe, dentre a infinidade de signos e regras contidos em seu
inconsciente (lngua), as palavras e as relaes a serem estabelecidas entre elas, de forma que lhe
parece mais apropriada. E atualizao porque ao utilizar-se deste ou daquele signo, bem como desta ou
daquela estruturao, os mantm presentes, como elementos de uma lngua.
Enquanto a lngua caracteriza-se como uma instituio social, depositada no nosso
inconsciente dentro de um processo histrico-evolutivo, a fala tem carter pessoal, ela traz consigo a
individualidade manifesta nas escolhas daquele que se utiliza da lngua. A lngua algo esttico que
se movimenta (transforma) por meio da fala. J a fala algo dinmico, ela a lngua em movimento.
com a prtica da fala que a lngua vai sendo depositada dentro de ns e que ela se
mantm viva no seio de uma sociedade. Enquanto a lngua com suas regras e signos determina a fala,
as selees da fala vo consolidando e modificando as convenes sgnicas da lngua, de modo que
impossvel compreend-las dissociadamente.
A linguagem o produto da fala, o resultado da utilizao da lngua por um sujeito.
De modo mais abrangente podemos dizer que ela a capacidade do ser humano para comunicar-se
por intermdio de signos, cujo conjunto sistematizado a lngua
157
. Neste sentido, lngua, fala e
linguagem so conceitos conexos, to interligados que por vezes utilizamos o termo linguagem para
referirmo-nos tanto lngua, quanto fala. Mas, por apreo diferenciao, em termos mais simples,
sintetiza-se que a lngua a linguagem sem a fala e a fala a linguagem sem a lngua.
1.1. O signo
Falar em lngua, linguagem e fala remete-nos a outro termo: o signo. Num conceito
mais genrico, o signo tudo que representa algo para algum, um objeto, um desenho, um dado
fsico, um gesto, uma expresso facial, etc. Num conceito mais especfico, adotando-se as
terminologias de EDMUND HUSSERL, o signo uma relao tridica entre: (i) um suporte fsico; (ii)
um significado; e (iii) uma significao
158
.
157
Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 32.
158
H um grande descompasso entre os autores a respeito das denominaes atribudas aos termos (elementos) do signo e
ao fato de ser tal relao tridia ou bilateral. CARNAP utiliza-se da terminologia indicador e indicado; SAUSSURE
significante e significado; UBERTO ECO significante, referente e significado; PIRCE signo, objeto e interpretante;
MORIS veculo sgnico, denotatum e designatum (PAULO DE BARROS CARVALHO, Apostila de Lgica Jurdica do
Curso de Ps-Graduao da PUC-SP, p. 12-13).
131
significao
O suporte fsico a parte material do signo, apreendida pelos nossos sentidos, aquilo
com o qual temos contato fisicamente (ex: os gestos da mmica; as ondas sonoras da fala, as marcas de
tinta no papel da escrita, as roupas do vesturio, etc.). Ele refere-se a algo que est no mundo
(concreto, imaginrio, subjetivo, emprico, atual, passado ou futuro), denominado de seu significado,
entendido como a representao individualizada do suporte fsico. E, suscita na mente de quem o
interpreta uma noo, idia ou conceito, que sua significao
159
.
A palavra gato, por exemplo, um signo: As marcas de tinta G A T O gravadas
no papel o seu suporte fsico. Este suporte fsico refere-se a uma realidade individualizada, por ns
conhecida como um mamfero, domesticado, da espcie dos felinos seu significado. E, suscita na
mente de quem o l e o interpreta um conceito (idia), varivel de pessoa para pessoa, de acordo com
os valores inerentes a cada um, que a sua significao.
A ilustrao abaixo ajuda-nos a visualizar melhor esta noo de signo:
Explicando: A palavra GATO que est no papel o suporte fsico; o gato animal
() seu significado; e o gato que aparece na nossa cabea quando lemos a palavra sua
significao. O signo, nesta concepo, um suporte fsico que se associa a um significado e que
suscita uma significao, compondo o que se denomina de tringulo semitico, uma relao entre
esses trs elementos.
Trabalhando com os pressupostos do giro-lingstico (fixados no captulo I deste
trabalho) a idia de significao e significado se misturam, pois a realidade a que se refere qualquer
suporte fsico construda pelo intrprete e, portanto, sempre condicionada as suas vivncias
160
. Da
mesma forma, tanto o significado, quanto a significao, materializam-se noutros suportes fsicos, j
159
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio linguagem e mtodo, p. 33-34
160
O significado de fazenda, por exemplo, depende da minha significao de fazenda, pois sem ela, a fazenda (objeto
representado pelo signo) no existe para mim.
GATO
suporte fsico
significado
Signo
132
que nenhuma realidade existe seno pela linguagem. Mas, justamente, por ser o signo uma relao
todos estes conceitos esto intimamente ligados, de modo que um influi diretamente na existncia do
outro
161
. Todo suporte fsico suscita uma interpretao (significao), que constitui uma realidade
como seu significado, esta realidade, por sua vez, tambm uma linguagem, materializa-se num
suporte fsico, que suscita outra interpretao (significao), numa semiose sem fim
162
.
Os signos podem ser de vrias espcies. Muitos so os autores e inmeras so as
classificaes empregadas para diferenci-los. Dentre elas, destaca-se a proposta de CHARLES S.
PEIRCE, que separa os signos em trs tipos de acordo com a relao estabelecida entre o suporte
fsico e seu significado: (i) ndice; (ii) cone; e (iii) smbolo
163
. O ndice mantm vnculo fsico
(natural) com o objeto que indica (ex: fumaa ndice de fogo; febre ndice de infeco). O cone
tenta reproduzir o objeto que representa (ex: foto; caricatura; filme; pintura). E, o smbolo um signo
arbitrariamente construdo, a relao que seu suporte fsico mantm com o objeto que representa
imposta de forma convencional pelos membros de uma sociedade (ex: placas de trnsito; palavras;
sinais luminosos; bandeiras; brases de famlia). Para ns, interessa os signos desta ltima espcie (os
smbolos), pois so eles, na forma idiomtica escrita (palavras
164
), que constituem nosso objeto de
estudo, o direito positivo.
Mas, o que nos interessa fixar neste tpico a premissa de que toda linguagem
compe-se, invariavelmente, por estes trs elementos: suporte fsico, significado e significao,
inerentes aos signos que a constitui. Imersos na concepo do giro-lingstico de que vivemos num
mundo de linguagem, sendo o signo uma relao (entre um suporte fsico, um significado e uma
significao) e a linguagem um conjunto estruturado de signos, em ltima instncia, podemos afirmar
que vivemos num mundo de relaes, relaes entre significados, significaes e suporte fsico.
1.2. Suporte fsico, significado e significao do direito positivo e da Cincia do Direito
Sendo constitudos por linguagem, tanto o direito positivo, quanto Cincia do
Direito consubstanciam-se num conjunto estruturado de signos. Os signos do direito positivo, no
161
, por isso, que alguns autores preferem explicar o signo como uma relao didica (na terminologia de SAUSSURE,
significante no lugar de suporte fsico; e significado). Outros se utilizam da diferenciao entre significado
denotativo e significado conotativo. O primeiro, desprovido de valor; e o segundo articulando s vivncias do intrprete
(ROLAND BARTHES A retrica da imagem, p.41). O pr-do-sol (suporte fsico), por exemplo, denota o fim de mais um
dia, mas pode conotar saudade, serenidade, solido, dependendo de quem o interpreta. Preferimos no trabalhar com tal
diferenciao, pois utilizamos denotao e conotao em outro sentido.
162
Semiose aqui entendida como o processo de um signo gerar outro.
163
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 35.
164
CHARLES SANDES PIRCE ensina: todas as palavras, sentenas, livros e outros signos convencionais so smbolos.
(Semitica e filosofia, p. 126).
133
norma
jurdica
(significao)
proposio
descritiva
(significao)
entanto, diferenciam-se dos signos da Cincia do Direito e estas diferenas se reforam quando
examinamos os elementos do tringulo semitico de cada uma destas linguagens.
O direito positivo, enquanto corpo de linguagem voltado regio das condutas
intersubjetivas, com a finalidade de implementar certos valores almejados pela sociedade, tem como
suporte fsico os enunciados prescritivos que o compem materialmente (ex: artigos, incisos e
pargrafos de uma lei). Tais enunciados reportam-se conduta humana, mais especificamente s
relaes intersubjetivas, que seu significado. E, suscitam na mente daqueles que os interpretam a
construo de normas jurdicas, que se constituem na sua significao.
Diferentemente, a Cincia do Direito, enquanto corpo de linguagem voltado ao
direito positivo com finalidades cognitivas, tem como suporte fsico os enunciados descritivos que a
compem materialmente (ex: linhas e pargrafos de um livro de doutrina). Tais enunciados reportam-
se ao direito positivo, que seu significado. E, suscitam na mente de quem os interpreta uma srie de
proposies descritivas (ex: juzos do tipo S P construdos na mente de um aluno de direito quando
da leitura de um livro de doutrina a regra do art. 121 do Cdigo Penal prescreve que se matar
algum deve ser a pena de recluso). A ilustrao abaixo permite uma melhor comparao:
Explicando: A figura triangular 1 representa o direito positivo enquanto signo, seu
suporte fsico so os enunciados prescritivos (), que tm como objeto (significado) as condutas
enunciados
prescritivos
(suporte fsico)
condutas
intersubjetivas
(significado)
HC
direito
positivo
enunciados
descritivos
(suporte fsico)
S P
Cincia
do
Direito
direito positivo
(significado)
enuncia
1
2
134
intersubjetivas () e sua significao so as normas jurdicas construdas na mente daqueles que
os interpreta (HC). Quando quem interpreta enuncia na forma descritiva as significaes construdas
de modo sistemtico e mediante um mtodo prprio (operao identificada no grfico pela seta
pontilhada superior), produz outro signo, a Cincia do Direito, (representado pela figura triangular 2).
Seu suporte fsico materializa-se na forma de enunciados descritivos (), que tem como objeto
(significado) o direito positivo (como indica a seta pontilhada inferior, em direo ao tringulo
semitico 1) e sua significao so as proposies descritivas construdas na mente daqueles que os
interpreta (S P). Logo temos: (i) no signo direito positivo, os textos de lei como suporte fsico; as
condutas intersubjetivas por ele reguladas como significado; e as normas jurdicas como significao;
e (ii) no signo Cincia do Direito, os livros doutrinrios, as ondas sonoras produzidas numa
conferncia como suporte fsico; o direito positivo como significado; e as proposies descritivas
como significao.
A afirmao feita linhas acima, de que significao e significado se misturam, dado
que a realidade (significado) a que se refere qualquer suporte fsico acaba sendo aquela construda pelo
intrprete (significao), reforada no exemplo desta ilustrao. Nota-se que, a significao do
direito acaba por determinar o seu significado, ou seja, o modo como as relaes intersubjetivas so
disciplinadas. A realidade jurdica qual o enunciado prescritivo faz referncia, acaba sendo aquela
construda pelo intrprete. Da mesma forma, a interpretao da doutrina pelo aluno (significao)
influi no modo como a realidade direito positivo para ele se apresenta. So todos conceitos
interligados e, por isso, to fceis de serem misturados.
2. SEMITICA E DIREITO
Semitica a Teoria Geral dos Signos, a Cincia que se presta ao estudo das
unidades representativas do discurso. Sendo constituda por linguagem, cuja unidade elementar o
signo, a Semitica aparece como uma das tcnicas mediante a qual o direito positivo pode ser
investigado.
Conforme leciona PAULO DE BARROS CARVALHO, PIRCE e outro americano
CHARLES MORRIS distinguem trs planos na investigao dos sistemas sgnicos: (i) sinttico; (ii)
semntico; (iii) pragmtico
165
. No plano sinttico estudam-se as relaes dos signos entre si, ou seja, os
vnculos que se estabelecem entre eles quando estruturados num discurso. No plano semntico, so
165
Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 36.
135
examinadas as relaes do signo com a realidade que ele exprime (suporte fsico e significado). E, no
plano pragmtico, a ateno se volta s relaes dos signos com seus utentes de linguagem, isto , ao
modo como os emissores e os destinatrios lidam com o signo no contexto comunicacional.
A sintaxe da lngua portuguesa, por exemplo, analisa as relaes das palavras na
frase e das frases no discurso. A semntica preocupa-se com o significado destas palavras e frases. E, a
pragmtica examina o modo pelo qual as pessoas se utilizam destas palavras e frases na realizao para
se comunicarem.
Aplicando esta tcnica ao direito positivo, o estudo de seu plano sinttico, que tem a
Lgica como forte instrumento, permite conhecer as relaes estruturais do sistema e de sua unidade, a
norma jurdica. O ingresso no seu plano semntico possibilita a anlise dos contedos significativos
atribudos aos smbolos positivados. nele que lidamos com os problemas de vaguidade, ambigidade
e carga valorativa das palavras e que estabelecemos a ponte que liga a linguagem normativa conduta
intersubjetiva que ela regula. E, as investidas de ordem pragmtica permitem observar o modo como
os sujeitos utilizam-se da linguagem jurdica para implantar certos valores almejados socialmente.
nele que se investiga o manuseio dos textos pelos tribunais, bem como questes de criao e aplicao
de normas jurdicas
166
.
Em suma, o ngulo sinttico conduz a uma anlise estrutural, o semntico a uma
anlise conceitual (de contedo) e o plano pragmtico a uma anlise do uso da linguagem jurdica.
Cada um destes planos caracteriza-se como um ponto de vista sobre o direito, de modo que para
conhec-lo devemos percorrer todos eles.
O uso da Semitica como tcnica metodolgica favorece o estudo analtico. No
podemos esquecer, no entanto, que esta perspectiva est sempre envolta por critrios ideolgicos
delimitados pelas vivncias do intrprete, principalmente no que diz respeito aos planos semnticos e
pragmticos, o que s refora nossas convices a respeito da propriedade do mtodo hermenutico-
analtico empregado no estudo do direito positivo.
3. TEORIA COMUNICACIONAL DO DIREITO POSITIVO
At agora tratamos do direito positivo como um corpo de linguagem prescritiva, no
podemos esquecer, no entanto, que esta linguagem encontra-se inserida num contexto comunicacional,
166
Curso de Direito Tributrio, p. 98.
136
apresentando-se, assim, como um fenmeno de comunicao. O direito, sob este ponto de vista, um
sistema de mensagens, insertas num processo comunicacional, produzidas pelo homem e por ele
utilizadas com a finalidade de canalizar o comportamento inter-humano em direo a valores que a
sociedade almeja realizar. Mas, o que nos interessa, agora, saber por que o direito positivo se
manifesta lingisticamente. Por que o direcionamento de condutas intersubjetivas se d no plano
comunicacional? E, o que implica esta tomada de posio.
Como j vimos (no captulo II deste trabalho) o direito um objeto cultural, que se
materializa na forma idiomtica escrita. O que, por vezes, bloqueia-nos de v-lo assim o fato dele ser
um instrumento de interveno social e no de interveno no mundo fsico. Esta dificuldade tambm
se revela porque muitos no se atentam para a separao entre os sistemas do direito positivo e da
realidade social, no o enxergando como uma linguagem prescritiva que toma como objeto a
linguagem social, a fim de manipul-la. Sem esta separao o direito positivo visto como um objeto
natural, que nasce e se modifica conforme surgem e se transformam as diversas relaes humanas, ou
ento, como objeto ideal, uma espcie de vetor agregado ao homem que o direciona ao justo.
Tendo em conta ser o sistema social constitudo por atos de comunicao, sabemos
que as pessoas s se relacionam entre si quando esto em disposio de se entenderem, quando entre
elas existe um sistema de signos que assegure a interao. Sob este referencial, logo percebemos que
no h outra maneira a ser utilizada pela sociedade, para direcionar relaes inter-humanas, que no
seja por atos de comunicao. Impor formas normativas ao comportamento social s possvel, neste
sentido, mediante um processo comunicacional, com a produo de uma linguagem prpria, que a
linguagem das normas. Ganha fora, aqui, a observao de LOURIVAL VILANOVA sempre
lembrada por PAULO DE BARROS CARVALHO: Altera-se o mundo fsico mediante o trabalho e a
tecnologia, que o potencia em resultados. E altera-se o mundo social mediante a linguagem das
normas, uma classe da qual a linguagem do direito
167
. Neste sentido, que entendemos o direito
como fenmeno comunicacional (sub-sistema do sistema social).
Especificando o conceito geral que fixamos quando tratamos da teoria dos sistemas,
de acordo com ROMAM JAKOBSON, a comunicao a transmisso, por um agente emissor, de
uma mensagem, veiculada por um canal, para um agente receptor, segundo cdigo comum e dentro de
um contexto
168
. O autor identifica seis elementos do processo comunicacional: (i) remetente, que
167
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 34.
168
Lingstica e comunicao, p. 123
137
envia a mensagem; (ii) destinatrio, que a recebe; (iii) a mensagem; (iv) um contexto que a envolve,
comum ao remetente e ao destinatrio; (v) um cdigo, tambm comum ao remetente e ao destinatrio,
no qual ela se verbalize (vi) um contato, canal fsico que conecte o receptor ao destinatrio. Na falta de
um deles a comunicao no se instaura, de modo que no h sociedade e nem direito.
A ilustrao abaixo representa o processo comunicativo e seus elementos
169
:
Explicando: Um sujeito emissor, por meio de um canal fsico (ex: papel, ondas
sonoras, mos), mediante um cdigo devidamente estruturado (ex: lngua portuguesa) emite uma
mensagem (a ser decodificada) a outro sujeito (destinatrio), inserido no seu contexto histrico-
cultural. A mensagem possvel de ser decodificada e compreendida pelo destinatrio por ser o
cdigo comum e por ele o emissor vivenciarem o mesmo contexto. Conforme representa a figura, a
mensagem (forma oval) est imersa no cdigo (forma retangular pontiaguda mais escura,
direcionada ao destinatrio) e este imerso (gravado) no contato ou canal (forma retangular
pontiaguda mais clara, direcionada ao destinatrio) e todos eles, bem como emissor e destinatrio
inserem-se no contexto (forma retangular que envolve toda a representao.
Aplicando estes conceitos ao direito positivo temos: o agente competente como
emissor; os sujeitos das prescries como destinatrios; a norma jurdica como a mensagem; as
circunstncias histrico-culturais que envolvem emissor e receptor como contexto; a lngua
portuguesa como cdigo comum; e o dirio oficial, enquanto suporte fsico, onde se encontram
gravadas as palavras na forma de marcas de tintas no papel, como o canal que estabelece a conexo
entre emissor e destinatrio.
Logo percebemos que sem um destes elementos o direito no existe. Retira-se o
agente competente (emissor) e a mensagem nem produzida (no h codificao). Retira-se o
destinatrio e a mensagem perde a sua funo, pois no haver transmisso. Sem o canal no h
169
ULISSES INFANTE, Do texto ao texto, p. 214.
Contexto
emissor destinatrio
canal
cdigo
mensagem
138
contato entre emissor e destinatrio e a mensagem tambm no transmitida (no h suporte fsico
para que ela se materialize). Sem um contexto duas pessoas no se conectam, se h conexo porque
esta se deu em alguma circunstncia histrica. Se o cdigo no comum torna-se impossvel a
decodificao e a mensagem no aparece. Nestes termos o direito comunicao e por este motivo
que GREGORIO ROBLES DE MORCHON prope uma Teoria Comunicacional para o estudo do
direito
170
.
Ao observarmos o direito como um fenmeno comunicacional fica fcil de
identificarmos e compreendermos os diversos enfoques que podem ser dados ao seu estudo. Se
tomarmos como objeto a emisso da mensagem, teremos uma Teoria das Fontes do Direito, ou uma
Teoria Poltica do Direito. Se nosso enfoque recair sobre o contexto, provavelmente produziremos
uma Teoria Histrica do Direito. Se a analise tiver como objeto a conduta dos destinatrios, a
contribuio cientifica ser uma Teoria Sociolgica do Direito e assim por diante. Mas, como j vimos
(no captulo II) o estudo do direito positivo pressupe a decodificao do cdigo no qual ele se
materializa e atm-se mensagem legislada, pois nela que se encontra o direcionamento dos
comportamentos intersubjetivos.
Trabalhar o direito como conjunto de normas jurdicas, enquanto mensagem
transmitida dentro de um processo comunicacional, tambm facilita compreendermos a dificuldade de
sua concretizao, dado os vrios fatores que influem na codificao, transmisso e decodificao da
mensagem e os obstculos susceptveis a cada etapa do processo comunicacional. Em primeiro lugar,
a existncia de uma mensagem jurdica pressupe um emissor prprio, eleito pelo sistema como apto a
produzir normas jurdicas. preciso tambm que este emissor tenha capacidade para lidar com o
cdigo, ou seja, para estruturar-lhe de modo que seja compreendido pelo destinatrio. A transmisso
da mensagem pressupe boa qualidade do canal. Se, por exemplo, as marcas de tinta estiverem
borradas ou apagadas nada se transmite. No caso da mensagem jurdica ainda h uma especialidade,
pois o direito prescreve o canal apropriado para veicul-la. Outro obstculo o cdigo, alm da
necessidade de ser comum ao emissor e receptor, ele deve estar bem estruturado. Alm de tudo isso, a
mensagem modifica-se de acordo com o contexto em que decodificada e em razo de fatores
vivenciais de seu destinatrio. Uma teoria comunicacional do direito permite-nos esta visualizao.
170
in Teoria del Derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho).
139
4. O DIREITO COMO TEXTO
Do processo comunicacional, o que temos acesso o substrato lingstico, seu
produto, base emprica para que o destinatrio construa a mensagem emitida. A mensagem no vem
pronta, como muitos pressupem, ela o sentido do cdigo estruturado pelo emissor e s aparece na
mente do destinatrio, com sua decodificao. At a ilustrao reproduzida acima d-nos a impresso
de que o destinatrio recebe a mensagem, como se ela viesse pronta, no entanto, o que acontece em
qualquer processo comunicacional no isso. O destinatrio tem acesso apenas ao suporte fisco (canal
ou contato), nele ele reconhece o cdigo e mediante a existncia de um contexto constri a mensagem
na forma de significao.
Com o direito positivo no diferente. Tudo a que se tem acesso so palavras, um
conjunto de signos devidamente estruturados na forma de textos e todo o esforo do destinatrio volta-
se para a construo do sentido destas palavras, para a decodificao do cdigo e compreenso da
mensagem legislada.
Ao conjunto estruturado de signos pelo qual se viabiliza a comunicao, d-se o
nome de linguagem (lngua + fala). Da a afirmao segundo a qual o direito positivo se manifesta em
linguagem. Fisicamente ele se apresenta na forma idiomtica escrita, composto por signos
arbitrariamente construdos e aceitos por convenes lingsticas (smbolos). Este o seu dado
emprico, por isso, qualquer estudo jurdico que se pretenda tem como ponto de partida e de retorno a
linguagem.
Para sabermos, por exemplo, que regras jurdicas disciplinam as relaes familiares,
a compra e venda de bens, a constituio de uma sociedade, a contratao de funcionrios, etc., temos
que nos dirigir aos Cdigos Civil, Comercial e Consolidao de Leis Trabalhistas. E o que
encontramos nos Cdigos, e nas Leis seno um aglomerado de palavras gravadas num papel? Tudo a
que temos acesso, na nossa experincia sensorial com o direito positivo, so palavras estruturadas em
frases e sistematizadas na forma de textos. Assim sendo, o trato com o direito positivo sempre nos
conduz ao manejo de textos
171
.
No h outra sada para o jurista, o aplicador, o advogado, o estudante de direito
seno o manejo de textos. Quando o Poder Constituinte promulga a Constituio Federal, produz um
texto, quando o legislador edita uma Lei produz um texto, quando a administrao edita atos
171
GREGORIO ROBLES MORCHON, Teoria del Derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), p. 69.
140
administrativos o faz mediante a produo de textos, quando o juiz sentencia, produz um texto, o
advogado, ao peticionar, produz um texto, os particulares ao contratarem, tambm produzem um texto.
A Constituio Federal, os Cdigos, as Leis, os Decretos, as resolues, portarias, atos
administrativos, sentenas, acrdos, contratos, regulamentos, etc., apresentam-se invariavelmente
como textos. Logo, no h outro modo de lidar com o direito que no seja o trato com textos. neste
sentido que GREGORIO ROBLES MORCHON sustenta ser o direito um grande texto composto de
mltiplos textos parciais
172
.
No direito brasileiro estes textos so necessariamente escritos. Pensemos em
qualquer manifestao jurdica e logo percebemos que ela se encontra reduzida a termo. Desde as
manifestaes mais complexas como a Constituio Federal e os compndios legislativos at as mais
simples como as resolues e portarias se apresentam na forma de texto escrito, cuja funo
pragmtica direcionar comportamentos intersubjetivos.
4.1. Texto e contedo
Toda linguagem s assim o porque tem um sentido. Se voltarmos nossa ateno ao
texto, enquanto conjunto estruturado de smbolos, logo percebemos que ele comporta trs ngulos de
anlise atinentes ontologia relacional dos signos que o integram. Como j tivemos a oportunidade de
estudar, ainda neste captulo, os signos compem-se de um substrato material, que tem natureza fsica
e lhes serve de suporte (suporte fsico); de uma dimenso ideal construda na mente daquele que o
interpreta (significao); e de um campo de referencial, isto , alusivo aos objetos por ele referidos
com os quais mantm relao semntica (significado). Ao compreendermos o texto como um conjunto
de signos ordenados com o intuito comunicacional, facilmente podemos visualizar estes trs ngulos
de observao.
Dos trs planos que compem as relaes sgnicas de um texto, aquele a que temos
acesso o seu suporte fsico, que a base para construo das significaes e o dado referencial dos
significados. nele que as manifestaes subjetivas do emissor da mensagem ganham objetividade e
tornam-se intersubjetivas, vale dizer, se materializam e podem ser conhecidas (interpretadas) por
outros.
O suporte fsico de um texto o seu dado material emprico. Na linguagem escrita
so as marcas de tinta gravadas sobre um papel. unicamente a estas marcas de tinta que temos
172
Idem, Idem, p. 70.
141
acesso quando lidamos com os textos escritos e a partir delas, por meio de um processo
interpretativo, que construmos seu sentido. Aquele que no sabe manusear tais marcas e que no
consegue associ-las a um significado, no capaz de construir sentido algum, olha para aquele
aglomerado de smbolos e s v marcas de tinta sobre o papel. Isto nos prova duas coisas: (i) primeiro
que o sentido no est no suporte fsico, ele construdo na mente daquele que o interpreta; e (ii)
segundo, que no existe texto sem sentido. No existe um suporte fsico ao qual no possamos atribuir
uma significao. Se no houver a possibilidade de interpret-lo, ou seja, de se construir um sentido, o
suporte fsico perde sua funo e no podemos mais falar na existncia de signos.
Atentando para esta unicidade PAULO DE BARROS CARVALHO faz uma
distino quanto ao uso do termo texto. Por muitas vezes a palavra utilizada para denotar o suporte
fsico, dado material ao qual temos acesso na construo do sentido, por outras vezes, a mesma
palavra utilizada para referir ao suporte fsico e seu sentido. Verifica-se aqui, mais uma vez, o
problema da ambigidade que impregna o uso das palavras. Por exemplo, quando se diz: vamos
interpretar o texto utiliza-se o termo texto na acepo de suporte fsico, diferentemente, quando se
diz: o texto sobre direito positivo, utiliza-se o mesmo termo na acepo de suporte fsico mais sua
significao.
Para resolver este problema o autor prope uma simples, mas precisa, distino entre
texto em sentido estrito e texto em acepo ampla
173
. Stricto sensu o texto restringe-se apenas ao
suporte fsico, dado material tomado como base emprica para construo de significaes (refere-se
ao primeiro exemplo) aquilo que GREGORIO ROBLES denomina de texto bruto
174
. J em sentido
amplo de texto abrange sua implicitude, seu sentido (refere-se ao segundo exemplo).
Transportando estas consideraes genricas para a especificidade dos textos do
direito positivo, percebemos estes dois planos: (i) do texto em sentido estrito, suporte fsico, dado
emprico do direito positivo; e (ii) do contedo normativo, composto pelas significaes construdas
na mente daquele que interpreta seus enunciados prescritivos.
A norma jurdica encontra-se no plano das significaes, do contedo dos textos do
direito positivo. Ela existe na mente humana como resultado da interpretao dos enunciados que
173
Fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 16.
174
Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), cap. 5. Conforme estudamos no cap. III, item 6
deste trabalho.
142
compem seu plano de expresso. Nos dizeres de PAULO DE BARROS CARVALHO ela
exatamente o juzo (ou pensamento) que a leitura do texto provoca em nosso esprito
175
.
4.2. Dialogismo - contexto e intertextualidade
Todo texto (aqui utilizado na sua acepo ampla) envolvido por um contexto, isto
, encontra-se inserido num processo histrico-social onde atuam determinadas formaes ideolgicas.
Neste sentido, podemos dizer que no h texto sem contexto.
O contexto formado por todos os enunciados com os quais um texto se relaciona.
Nenhum texto individual, todo discurso, inserto num processo comunicacional, independente de sua
dimenso, mantm relao com outros discursos
176
, pois, segundo os pressupostos com os quais
trabalhamos, nenhum enunciado se volta para a realidade em si, seno para outros enunciados que os
circundam. Neste sentido, todo texto (em acepo ampla) atravessado, ocupado por textos alheios, de
modo que para apreendermos seu sentido, no basta identificarmos o significado das unidades que o
compem (signos), preciso perceber as relaes que ele mantm com outros textos
177
.
As relaes de sentido que se estabelecem entre dois textos so denominadas de
dialogismo
178
. Como todo texto dialgico, isto , mantm relaes com outros textos, o dialogismo
acaba sendo, nas palavras de JOS LUIZ FIORIN, o princpio construtivo dos textos. Construmos um
enunciado a partir de outros enunciados e ele compreendido porque mantm relao dialgica com
outros enunciados.
Qualquer relao dialgica denominada intertextualidade. O direito positivo como
texto, relaciona-se cognoscitivamente com outros sistemas (social, econmico, poltico, histrico, etc),
que tambm so lingsticos. H, neste sentido, uma intertextualidade externa (contexto no-jurdico)
muito importante, pois, apesar do foco da anlise jurdica no recair sobre seu contexto histrico-
social, esta relao dialgica que molda as valoraes do intrprete. Como sistema, as unidades do
direito positivo tambm se relacionam entre si. H, neste sentido, uma intertextualidade interna
(contexto jurdico), na qual se justificam e fundamentam todas as construes significativas da anlise
jurdica.
175
Curso de direito tributrio, p. 8.
176
Na Semitica o termo texto empregado para denotar o plano de expresso, enquanto o termo discurso utilizado
para denotar o plano de contedo (Dilogos com Barkhin ed. UFPR p. 32).
177
JOS LUIZ FIORIN, Introduo ao pensamento de Barkhin, p. 23.
178
Podemos diferenar dois tipos de dialogismo: (i) o que se estabelece ente o texto produzido pelo emissor da mensagem e
o construdo pelo intrprete; (ii) o que se estabelece entre o texto e todos os outros que informam seu contedo.
143
Atento separao entre texto e contexto, PAULO DE BARROS CARVALHO
chama a ateno para a possibilidade de termos dois pontos de vista sobre o texto: (i) um interno; e (ii)
outro externo. Fala-se numa anlise interna, recaindo sobre os procedimentos e mecanismos que
armam a estrutura do texto, e numa anlise externa, envolvendo a circunstncia histrica e sociolgica
em que o texto foi produzido
179
. A primeira anlise tem como foco o texto como produto do processo
comunicacional e a segunda recai sobre o texto enquanto instrumento de comunicao entre dois
sujeitos, abarcando as manifestaes lingsticas e extralingsticas que o envolvem.
Transpondo tais consideraes para o direito positivo temos que: (i) uma anlise
interna leva em conta seu contexto jurdico; e (ii) uma anlise externa seu contexto no jurdico. Nossa
proposta uma anlise interna do texto jurdico. O contexto histrico-social em que se encontra
envolvida sua produo exerce total influncia na construo das significaes jurdicas, mas no ele
que nos serve como base para construo destas significaes. Nossa forma de estudar o direito,
conforme j propunha KELSEN
180
, isola as manifestaes normativas e as desassocia de qualquer
outra espcie de manifestao que no seja jurdica. , portanto, uma anlise interna aos textos
jurdicos. No entanto, tal anlise no foge noo externa. Para concebermos o direito como ele
(numa viso culturalista), no podemos ignorar a existncia de seu contexto, mesmo que a anlise
sobre ele no recaia. Sem a contextualizao, no h como dizer qual o direito, porque para o
compreendermos atribumos valores ao seu suporte fsico, e os valores so imprescindveis de
historicidade.
179
Fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 16.
180
Teoria pura do direito, p. 1.
144
CAPTULO VI
O DIREITO E A LGICA
SUMRIO: 1. Lgica e linguagem; 1.1. Enunciado e proposio 1.2.
Formalizao da linguagem; 1.3. Frmulas lgicas; 1.4. Operaes lgicas; 2. A
lgica como instrumento para o estudo do direito; 3. Os mundos do ser e do
dever-ser; 3.1. Causalidade e nexos lgicos; 3.2. Causalidade fsica ou natural
e causalidade jurdica; 3.3. Leis da natureza e leis do direito; 4. Modais alticos e
denticos; 5. O carter relacional do dever ser; 6. O direito e sua reduo mais
simples modais denticos e valorao da hiptese normativa.
1. LGICA E LINGUAGEM
O termo lgica (do grego logik) pode ser utilizado em, pelo menos, duas
acepes: (i) Cincia; e (ii) sistema lingstico. Enquanto cincia, a Lgica estuda a estruturao e
mtodos do raciocnio humano. Raciocinar, como j vimos (no captulo I), consiste em manipular a
informao disponvel aquilo que sabemos, ou supomos ser verdadeiro e construir conseqncias
disso, obtendo informao nova
181
. A lgica cuida deste processo, mas a ela no cabe dizer como se
d o raciocnio, o que compete Psicologia, ela cuida das estruturas formais do pensamento
182
.
Enquanto linguagem (lngua), a lgica um sistema de significao dotado de regras sintticas rgidas,
cujos signos apresentam um e somente um sentido, que tem por funo reproduzir as relaes
estabelecidas entre os termos, proposies e argumentos de outra linguagem, a qual denominamos de
linguagem-objeto. Neste sentido, a lgica sempre metalinguagem.
Sabendo-se que o pensamento humano encontra-se indissociavelmente atrelado
linguagem, mais acertado dizer que a Lgica (enquanto cincia) cuida das estruturas formais de
outra linguagem. Como bem ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, no h lgica na floresta,
no fundo dos oceanos ou no cu estrelado: torna-se impossvel investigarmos entes lgicos em
181
CEZAR A. MORTARI, Introduo lgica, p. 4.
182
O objetivo inicial da Lgica, criada por Aristteles (384-322 a. C.), era a anlise de argumentos, produzidos pelo
processo de inferncia, com o uso por Frege (1848 1925) de linguagens artificiais a lgica contempornea ampliou seu
mbito de atuao e passou a ter outros usos como, por exemplo, a representao formal das significaes de uma
linguagem, passando a ser denominada como lgica simblica.
145
qualquer outra poro da existncia real que no seja um fragmento de linguagem
183
. Neste sentido, a
lgica (enquanto cincia ou linguagem) pressupe sempre uma linguagem que seu ponto de partida
(objeto) epistemolgico.
As frmulas lgicas (elementos da linguagem lgica), representativas da estrutura de
certa linguagem (objeto), segundo as categorias de EDMUND HUSSERL, enquadram-se na regio
ntica dos objetos ideais. No tm existncia concreta, real; no esto na experincia e so
axiologicamente neutras.
Apesar de s serem percebidas onde houver manifestao lingstica, no nos
deparamos com as frmulas lgicas no contado mediato com o dado fsico de uma linguagem. Elas
so construdas, mentalmente, mediante um processo que denominamos de formalizao. Para
entendermos, no entanto, tal processo preciso, primeiramente, estabelecermos a diferena entre
enunciado e proposio.
1.1. Enunciado e proposio
Enunciado a expresso lingstica, produto da atividade pscicofsica de
enunciao, so sentenas (frases) formadas pelo conjunto de fonemas e grafemas devidamente
estruturados que tem por finalidade transmitir um contedo completo, num contexto comunicacional.
Em outros termos, enunciado uma forma fsica que, por exemplo, na linguagem escrita, manifesta-se
numa seqncia de palavras (smbolos) gramaticalmente estruturadas, com o pretexto de serem
significativas de um contedo completo (ex: o dia est ensolarado; a indenizao mede-se pela
extenso do dano art. 944 CC).
As palavras podem ser combinadas para formar diversas expresses lingsticas,
enunciados e textos, mas nem toda seqncia de vocbulos um enunciado. O que determina quais
seqncias de palavras de uma lngua constituem enunciados a sua gramtica conjunto de regras
que prescrevem a forma como se pode combinar os termos de uma lngua. Assim, por exemplo, o
seguinte conjunto de palavras pela mede-se indenizao a dano do extenso, no constitui um
enunciado, isto porque, no obedecendo as regras gramaticais nenhuma seqncia de palavras capaz
de transmitir um contedo completo dentro de um contexto comunicacional.
183
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 10.
146
Embora intimamente relacionados, muito diferente do enunciado a proposio,
tomada como contedo do enunciado, o sentido que lhe atribudo, ou seja, aquilo que construmos
em nossa mente quando o interpretamos. Como suporte fsico, o enunciado refere-se a algo do
mundo exterior, de existncia concreta ou imaginria, atual ou passada, que o seu significado; e
suscita em nossa mente uma noo, idia ou conceito, que chamamos de significao
184
. Apesar de
ambos estarem totalmente vinculados, pois no h contedo sem suporte fsico, diferentemente dos
enunciados que so dados materiais, presentes no mundo experimentvel, as proposies so objetos
conceptuais, que esto em nossa mente e, assim sendo, no tm natureza fsica.
Tomando a proposio como a significao que construmos a partir da leitura de um
enunciado, temos que, de uma mesma seqncia de palavras podemos construir inmeras proposies
diferentes, dependendo dos valores atribudos a cada um de seus termos. Por exemplo, do enunciado
proibido usar trajes de banho podemos construir a significao de que deve-se usar uma roupa
mais composta, ou de que no se deve usar roupa alguma. Da mesma forma, duas seqncias de
palavras diferentes, tambm podem dar ensejo mesma proposio como por exemplo os enunciados
ligue o ar condicionado e o ar condicionado est ligado?. Assim, no h relao entre o nmero de
enunciados com o nmero de proposies. Porm, a cada enunciado corresponde ao menos uma
proposio, caso contrrio, no se trata de enunciado, pois estes s se caracterizam como tal por
estimularem intelectualmente a construo de um sentido completo.
H de se ressaltar que a proposio, uma significao mais complexa do que
aquela referente a um termo isolado. Os termos, ou palavras, so expresses fsicas de idias, noes,
ou conceitos, que, por sua vez, se constituem como significaes, por serem construes da mente
humana que tm como base certo suporte fsico. A significao de um termo isolado consubstancia-se
numa idia, ou melhor dizendo, no conceito de tal termo. A significao de um enunciado, por sua
vez, consubstancia-se um juzo, o qual denominamos de proposio. O juzo (proposio) aparece em
nossa mente, quando associamos idias e somos capazes de julgar afirmativa ou negativamente tal
associao.
A Lgica est voltada s estruturas proposicionais, para o modo como as idias se
relacionam na composio dos juzos e como estes se vinculam na constituio dos raciocnios e no
para a forma dos enunciados, cuja anlise estrutural compete Gramtica, no Lgica. Por analogia,
184
PAULO DE BARROS CARVALHO, Lngua e linguagem (Apostila de Lgica Jurdica), p. 4
147
podemos ento dizer que a Lgica est para a proposio assim como a Gramtica de uma lngua est
para o enunciado.
1.2. Formalizao da linguagem
Chegamos s estruturas lgicas por meio da formalizao da linguagem objeto,
processo mediante o qual os contedos significativos especficos das palavras so substitudos por
signos convencionalmente estabelecidos, que no denotam um ou outro objeto especfico, mas um
conceito abstrato, no a vinculando a qualquer significado (objeto). Num primeiro momento o lgico
se depara com os enunciados componentes do plano de expresso da linguagem objeto. A partir destes
enunciados constri proposies e depois, abstrai o contedo proposicional, substituindo os signos
idiomticos por smbolos arbitrariamente escolhidos, cujo nico requisito repousa na univocidade.
Assim, chega-se estrutura da linguagem, que at ento se encontrava encoberta pelas palavras e seus
contedos significativos.
O processo de formalizao, mediante o qual chegamos estrutura de uma
linguagem, no se confunde com a generalizao, atividade por meio da qual se constri uma
concluso sobre todos os fatos de uma dada matria. Na generalizao, o observador manipula
contedos significativos, constantes e uniformes: no abandona, em momento algum, o domnio do
objeto, no se desprende da irradiao semntica das palavras, permanecendo no campo dos contedos
materiais. Se o objeto delimitado, por exemplo, for o direito positivo, sai o sujeito cognoscente
pesquisando, de especificidade em especificidade, conceitos que se repetem, at identificar os traos
gerais integrantes do todo, sem jamais ultrapassar os limites materiais do direito positivo. O intuito
criar um enunciado conclusivo explicativo dos fenmenos examinados e vlidos para explicar aqueles
ainda no submetidos experincia. Formalizar, entretanto, algo bem diferente. Neste processo
deixa-se de lado os contedos significativos das palavras e d-se um salto para o territrio da estrutura
da linguagem, composta por frmulas lgicas, o sujeito cognoscente abandona o campo de irradiao
semntica das palavras, para lidar com o campo sinttico das relaes entre as idias e proposies do
discurso.
Tambm no se confunde a formalizao com o processo de abstrao isoladora
utilizada para conhecer, admirar e identificar qualquer objeto. Neste ltimo, a mente humana provoca
um corte metodolgico, separando cognoscitivamente a inseparvel heterogeneidade do mundo que o
cerca. Ao observar um problema na coluna de um paciente, por exemplo, o mdico faz uma abstrao
conceitual, isolando-a de todos os demais rgos do corpo humano, dos objetos a ele agregados, como
148
roupas e acessrios e de todos os demais que lhe so perceptveis naquela circunstncia, recolhe
somente a coluna, a separando de todo o resto, como se isso fosse possvel. A abstrao conceitual se
estabelece no nvel proposicional (de contedo), o isolamento de propriedades que delimitam o
objeto, diferente da formalizao, ou tambm denominada de abstrao lgica, onde o sujeito
cognoscitivo, ao substituir os contedos significativos de uma linguagem por constantes e variveis,
ingressa em outro plano, o das frmulas lgicas, responsveis pela estruturao da linguagem.
O percurso da formalizao consubstancia-se, assim, na substituio dos termos ou
enunciados da linguagem tomada como objeto, por smbolos de significao unvoca denominados
variveis e constantes.
Nos termos da Lgica Altica, as variveis so smbolos, representativos dos
contedos significativos da linguagem tomada como objeto, substituveis por diversos valores de
qualquer campo do conhecimento (fsico, social, musical, inclusive jurdico)
185
e as constantes
exercem funes operatrias fixas, so conectivos que atuam sobre as variveis, representativo das
relaes entre significaes na formao das proposies e entre proposies na formao do
raciocnio, sendo insubstituveis por smbolos denotativos de objetos. As constantes, conhecidas
tambm como conectivos lgicos, operadores ou functores podem ser mondicas, quando
afetam s uma forma, ou didicas, quando atuam sobre duas formas conjuntamente, estabelecendo
relao entre elas na formao de estruturas mais complexas. Alm das variveis e constantes, na
formalizao de uma linguagem, utiliza-se como smbolos auxiliares parnteses ( ), colchetes [ ],
chaves { } e barras , exatamente nesta seqncia, para esclarecer os conectivos dominantes e
evitar ambigidade quando dos agrupamentos simblicos.
Um exemplo melhor esclarece como se d a formalizao de uma linguagem.
Partindo do enunciado: todos os cisnes so brancos, constri-se o contedo proposicional e,
arbitrariamente, confere-se o smbolo S ao termo cisnes e o smbolo P ao termo brancos.
Tem-se, ento, o enunciado: todo S P, onde S e P so variveis de sujeito e predicado
(respectivamente) susceptveis de serem preenchidas por qualquer contedo (ex: todos os homens so
mortais; todos os astros so estrelas; todos os nmeros pares so divisveis por dois; todos os carros
so automotores, etc.). Seguindo o mesmo processo, elimina-se o resduo de linguagem natural
185
A conveno mais difundida para os smbolos de variveis aquela representada por consoantes minsculas do final do
alfabeto: p, q, r, s, t, u, v, w, y, z, acrescentando-lhes aspas simples, segundo as necessidades de variao simblica. Assim,
p e p, q e q, r e r, lemos: p e p-linha, q e q-linha, r e r-linha. (PAULO DE BARROS CARVALHO, Apostila
de lgica jurdica, p. 63).
149
persistente nas palavras todos e , substituindo-as pela constante, tambm arbitrria ,
representativa do vnculo implicacional entre os termos. A linguagem, ento, aparece totalmente
formalizada no enunciado lgico: x(S)x(P), onde se l: se x S (cisne), ento x P (branco), ou
em outros termos S(P), que significa: S tem a propriedade P.
Por sua vez, num processo mais elaborado, a proposio todos os cisnes so
brancos, na sua integralidade, pode ser substituda por uma varivel p e relacionada com outra
proposio q (construda, por exemplo, do enunciado todos os cisnes vivem em gua doce), para a
identificao de estruturas mais complexas como, por exemplo, a sentena: todos os cisnes so
brancos e vivem em gua doce (p . q), onde p e q so variveis proposicionais. No primeiro caso,
a formalizao ocupa-se da compostura interna da proposio e a Lgica dos predicados, ou Lgica
dos termos. No segundo caso, a formalizao demonstra a relao entre proposies, estamos, ento,
no campo da Lgica Proposicional.
As variaes da Lgica Proposicional esto ligadas finalidade empregada
linguagem, determinada pela sua funo. As alteraes de funo determinam modificaes
importantes nos nexos lgicos, sendo, portanto, imprescindvel para identificar o tipo de lgica com a
qual devemos trabalhar. A cada funo lingustica, compete uma lgica diferente. Assim temos: a
Lgica Apofntica (Altica ou Clssica), para linguagem utilizada em funo descritiva, cujos valores
so a verdade e a falsidade; a Lgica Dentica, para linguagem utilizada na funo prescritiva, cujos
valores so a validade e a no-validade; a Lgica Erottica, para linguagem utilizada na funo
interrogativa, cujos valores so a pertinncia e a impertinncia; a Lgica da linguagem persuasiva,
cujos valores so o convincente e o no-convincente; e assim se segue. De acordo com a funo
empregada, alteram-se a estrutura da linguagem e, portanto, a lgica que a representa formalmente.
1.3. Frmulas lgicas
Caracteriza-se a frmula lgica pela estrutura de uma proposio ou de um
argumento, representada logicamente por uma varivel ou pela juno delas por meio de constantes.
As frmulas lgicas podem ser atmicas ou moleculares. Atmica a frmula constituda,
exclusivamente, por uma varivel proposicional, no modificada por operador algum (ex: p, q, r, etc.).
As frmulas que aparecem com um operado mondico (ex: -p, -q, -r, etc.) e aquelas que resultam da
combinao de frmulas atmicas unidas por conectivos didicos (ex: p . q, r v s, z w, etc.)
so chamadas de frmulas moleculares.
150
Voltando nossas atenes Lgica Altica, neste primeiro momento, podemos
apontar seis tipos de conectivos lgicos (constantes): (i) negador (-); (ii) conjuntor (.); (iii) disjuntor
(iii.a) includente (v) e (iii.b) excludente (); (v) condicional (); e (vi) bicondicional (). O primeiro,
negador, o nico operador mondico da lgica proposicional, atuando exclusivamente sobre a
frmula (atmica ou molecular) que se encontra a sua direita. Os demais so didicos, porquanto,
unem duas frmulas (atmicas ou moleculares), exercendo sobre ambas, funo sinttica. Vejamos
cada um deles de modo mais detalhado:
(i) O negador (-) no faz liame entre frmulas como os outros conectivos, mas tem a
funo de inverter o valor de verdade da frmula qual se aplica. Cada estrutura lgica tem um valor
lgico, que uma funo do valor das frmulas atmicas que a compem, tomando-se como
referncia o conectivo que as une ou a qual se agrega. Uma frmula verdadeira negada falsa e uma
frmula falsa negada verdadeira, por isso, sua funo de inverter o valor de verdade da proposio
qual se junta. A frmula p negada, remanesce -p (no-p), saturando-a com um contedo qualquer,
teramos a seguinte diferena: choveu hoje (p); no choveu hoje (-p). Quando o negador aplicado a
frmulas moleculares, modifica-as por inteiro. Por exemplo, na frmula p v q onde se l
verdadeiro que p ou q, com a aplicao do negador (p v q), passamos a ler: falso que p ou q.
Aqui percebe-se, a importncia dos smbolos auxiliares (como o parenteses, por exemplo). Em
linguagem formalizada, a articulao (p v q) completamente diferente da frmula -p v q, onde
o negador aprece agregado frmula atmica. Nesta o negador atinge apenas a frmula atmica p,
onde lemos: verdadeiro que no-p ou q, naquela inverte-se o valor da frmula molecular em sua
totalidade ( falso que p ou q).
(ii) O conjuntor, representado pelo smbolo ., aplica-se na formalizao de
qualquer enunciado que conjugue duas proposies, como por exemplo: chove e faz frio, te liguei,
mas o telefone estava ocupado, obrigatrio preencher o formulrio e pagar a taxa, todo homem
capaz de direitos e obrigaes na ordem civil, etc. A frmula conjuntiva (p . q) dada pela
constante e, devendo ser lida: p e q e s verdadeira se seus dois termos assim o forem, em todos
os demais casos ela falsa.
(iii) A conjuno disjuntiva representada pelo termo ou na linguagem natural,
pode ser entendida como uma coisa ou outra, ou ambas simultaneamente, como tambm uma coisa
ou outra, mas no ambas. Para dissolver tal ambigidade, a linguagem lgica utiliza-se de dois tipos
de disjuno: (iii.a) disjuntor includente, representado pelo signo v; e (iii.b) disjuntor excludente,
151
identificado pelo signo . O ou-inclusivo utilizado na formalizao do primeiro caso da linguagem
natural, admite a verdade de apenas uma das proposies ou de ambas em conjunto. A relao
proposicional representada pela frmula lgica p v q, onde se l: p ou q, ou p e q e pode ser
utilizada, por exemplo, na formalizao do enunciado: para participar do concurso, tem de ser
brasileiro nato ou residir no Brasil a mais de 5 anos o sujeito que for brasileiro nato e residir no
Brasil a mais de 5 anos; que for s brasileiro nato, mas no residir no Brasil a 5 anos; e o que residir a
mais de 5 anos, mas no ser brasileiro nato estar apto a participar do concurso, enquanto aquele que
no possui pelo menos uma das caractersticas acima, encontra-se impedido de participar do concurso.
J o ou-excludente s admite a verdade de uma das proposies, no de ambas, por isso utilizado na
formalizao do segundo caso da linguagem natural. A relao proposicional representada pela
frmula lgica p q, onde se l: p ou q, mas no ambos e verdadeira quando uma de suas
variveis for verdadeira e outra falsa. Como exemplo podemos citar o enunciado: faz frio ou faz
calor ou faz frio ou faz calor, nunca os dois. Ambas as disjunes tm algo em comum: so falsas
quando seus componentes forem falsos.
(v) O condicional assim simbolizado: p q, onde se l: se p ento q.
Utilizamos tal constante para formalizar proposies do tipo: se tomar chuva, ento ficar molhado.
Diferente das relaes comutativas, expressas pela conjuno e disjunes, onde p . q tem o mesmo
valor de verdade que q . p, no importando a ordem das variveis, na frmula condicional
importante distinguir a ordem em que aparecem seus componentes, pois dela depende o valor de
verdade da frmula. A varivel esquerda do condicional denominada de antecedente e a que se
encontra direita de conseqente. O condicional ser sempre verdadeiro, exceto no caso de o
antecedente ser verdadeiro e o conseqente falso. No exemplo dado, o condicional ser falso se
algum tomar chuva, mas no ficar molhado. Para o estudo das frmulas lgicas do direito (Lgica
Jurdica) este o conectivo que mais nos interessa, pois nele se funda toda a estrutura da linguagem
jurdica.
(vi) Por ltimo, temos o bicondicional, simbolizado por: p q, onde se l: p se, e
somente se q, frmula que pode ser interpretada como gosto de peixe, se e somente se estiver sem
espinho. Se o peixe est sem espinho, me agrada e ao mesmo tempo, mas de forma inversa, se me
agrada porque est sem espinho. O bicondicional um condicional comutativo, em que cada termo
, ao mesmo tempo, antecedente e conseqente do outro, como se fossem dois condicionais cruzados.
Tal relao resulta verdadeira se, e somente se, os dois termos tm o mesmo valor de verdade (se
152
ambos so verdadeiros ou se ambos so falsos), assim sendo, o bicondicional equivale negao da
disjuno excludente, cuja verdade pressupe que uma proposio seja verdadeira e a outra falsa.
1.4. Operaes lgicas
Ressalvando a advertncia de TREK MOYSS MOUSSALEM, a Lgica no se
contenta apenas em alcanar a forma de um discurso. Uma vez obtida, procede a operaes de clculo
e de dedues em linguagem puramente formalizada para a construo de teoremas, tudo com base em
regras de formao e transformao pertencentes ao prprio sistema
186
. Na Lgica Altica, como
vimos, as frmulas lgicas e as operaes de clculo nos permitem a verificao da verdade ou
falsidade dos enunciados proposicionais antes da constatao do contedo proposicional.
Por clculo proposicional entende-se o conjunto das relaes possveis entre as
unidades de uma frmula, isto , entre os elementos de um sistema lgico. Quanto maior a frmula,
mais complexo o clculo. Encontramos o nmero de relaes possveis de uma frmula da lgica
bivalente (submetida a dois valores) elevando 2 potncia n, onde n o nmero de variveis da
frmula. Dado, por exemplo, a frmula p . q, temos quatro possveis relaes (2
2
=2x2=4): (i) p
verdadeiro e q verdadeiro; (ii) p verdadeiro e q falso; (iii) p falso e q verdadeiro, e (iv)
p falso e q falso. Sem qualquer verificao de contedo das variveis constatamos que somente na
primeira opo o enunciado proposicional ser verdadeiro (porque a conjuno s verdadeira se os
dois termos assim o forem).
A elaborao e principalmente as operaes entre frmulas lgicas submetem-se a
alguns princpios elementares, so eles: (i) identidade, (ii) no-contradio; e (iii) terceiro excludo
187
.
De acordo com o princpio da identidade, toda proposio implica em si mesma (p p), que resulta
na sua equivalncia (p p), dizer: se a mesa quadrada, a mesa quadrada, se o sol redondo,
o sol redondo. O princpio da no-contradio enuncia que nenhuma proposio descritiva pode ser
verdadeira e falsa ao mesmo tempo (p . p), o que significa dizer que uma proposio
verdadeira, ou falsa (p v p), exatamente o que estabelece o princpio do terceiro excludo: toda
proposio verdadeira, ou falsa, no existe uma terceira possibilidade.
186
Revogao em matria tributria, p. 40.
187
Tais princpios so leis lgicas postas em status de relevncia em razo do uso freqente. As leis lgicas enunciam uma
tautologia: sua verdade formal se mantm para todos os casos, isto quer dizer que, substituindo suas variveis, o resultado
ser sempre uma proposio verdadeira. (DELIA TERESA ECHAVE, MARA EUGENIA URQUIJO e RICARDO A.
GUIBOURG, Lgica, proposicin y norma, p. 81-82).
153
Os sistemas lgicos so construdos por conceitos primitivos, elaborados por regras
de construo (como as vistas acima) e por conceitos derivados, obtidos dos primeiros por deduo. O
procedimento de deduo condicionado por trs regas, as quais denominamos regras de inferncia,
que exprimem a transitividade de uma frmula outra, isto , a possibilidade de movimento e
modificao das estruturas, sem sair do sistema. So elas: (i) substituio simples; (ii) intercmbio; e
(iii) modus ponens. A substituio simples autoriza que se alterem todas as aparies de uma varivel
por qualquer outra frmula (atmica ou molecular) sem que se altere o valor lgico da estrutura. Pelo
intercmbio troca-se qualquer frmula por outra equivalente. E, no modus ponens, admitindo-se um
condicional como verdadeiro (p q) e a verdade de seu antecedente p, necessariamente deve-se
reconhecer a verdade de seu conseqente [(p q) . p] q.
Muito ainda teramos a dizer sobre a Lgica Proposicional, mas, por hora, estas
colocaes so suficientes para o estudo ao qual nos propomos, no sendo necessrio o ingresso mais
profundo nos domnios da linguagem formal.
No entanto, antes de finalizarmos nossas consideraes introdutrias, importante
salientar que, por se apresentar como linguagem formalizada, a lgica requer uma outra linguagem,
para explic-la, isto , uma metalinguagem que a toma como linguagem objeto. O enunciado lgico
dir: p q e o da Metalgica explicar: esta frmula molecular exprime o conectivo condicional,
de maneira que, sendo verdadeira a proposio p, como antecedente, a conseqente q tambm o
ser
188
. na metalinguagem da lgica que so emitidas as regras sintticas, para a formao de
estruturas pertencentes linguagem formalizada. Existe nela um aspecto formal, dado que lida com
variveis e constantes, mas existe tambm uma parcela de linguagem natural explicativa da relao
inter-proposicional.
2. A LGICA COMO INSTUMENTO PARA O ESTUDO DO DIREITO
A Lgica de que falamos a denominada Lgica Formal, que tem por objetivo o
estudo das formas do pensamento, abstraindo-se seus contedos significativos. Dirige-se estrutura do
conhecimento, independentemente do objeto ao qual ele se reporta, por isso, suas leis tm carter
universal, aplicando-se a qualquer campo de observao. Quando, porm, o homem se utiliza da
Lgica Formal para conhecer determinado segmento lingstico, surge a Lgica Aplicada, ou Lgica
Material, que significa a aplicao da Lgica a uma especfica regio do saber.
188
PAULO DE BARROS CARVALHO, Apostila de lgica jurdica, p. 45.
154
A Lgica aplicada um forte e seguro instrumento para a anlise sinttica de
qualquer linguagem. Ela nos permite ingressar nos domnios da sua estrutura para compreendermos a
forma e as relaes que se estabelecem entre suas unidades, proporcionando preciso lingstica ao
cientista e controle do conhecimento por ele produzidos, to exaltado pelos neopositivistas lgicos.
Aplicada ao direito, a Lgica permite conhecer sua estrutura, a forma e as relaes
que se estabelecem entre suas unidades e, por isso, muito nos diz sobre linguagem jurdica, sendo um
preciso e importante instrumento para o conhecimento de seu plano sinttico, o que justifica
dedicarmos um captulo inteiro ao tema. No entanto, o estudo proporcionado com emprego da Lgica
no completo, pois dirige-se apenas a um aspecto da linguagem, ficando os outros planos (semntico
e pragmtico) prejudicados. Abstraindo seus campos semntico e pragmtico, a Lgica apenas um
ponto de vista sobre o conhecimento, que no contempla o direito na sua totalidade. No compete
Lgica dizer qual o contedo jurdico, nem to pouco lhe cabe indicar que proposio normativa
aplicada a determinado fato. O que est ao alcance da Lgica a verificao da estrutura da linguagem
jurdica.
Ideal a qualquer estudo normativo a passagem pelos trs ngulos semiticos, cada
qual igualmente importante. comum, no entanto, verificarmos na doutrina alguns autores que tendem
a uma anlise mais lgica, outros que preferem o estudo semntico, outros que propendem a um
enfoque mais pragmtico. Todas estas escolhas so questes de preferncias metodolgicas
perfeitamente cabveis na abstrao isoladora das Cincias, ainda que para alcanarmos a totalidade do
objeto o ingresso nos trs planos se faa necessrio.
A lgica tambm, como instrumento metodolgico, nos possibilita um estudo
analtico, realizado pela via dedutiva, muito critico da linguagem jurdica. No podemos esquecer,
porm, que ao estudarmos o direito estamos longe de um dado ideal, mas diante de um objeto cultural,
construdo pelo homem e impregnado de valores. A via racional dedutiva, alcanada com o emprego
da Lgica, propriamente utilizada para o conhecimento dos objetos idias, que no tm existncia
espao-temporal e no se encontram na experincia, como o caso da estrutura de uma linguagem. Tal
mtodo, isoladamente, no convm investigao dos objetos culturais, sempre valorativos, cujo ato
de aproximao outro: a compreenso. Por isso, destacamos a importncia das categorias lgicas
como um instrumento muito rico ao estudo da linguagem jurdica, mas que deve ser utilizado com
cautela, com o conhecimento de que ele nos possibilita apenas um ponto de vista sobre o direito, no
alcanando a integridade de sua amplitude emprica, apenas suas caractersticas formais.
155
3. OS MUNDOS DO SER E DO DEVER-SER
Muito antes da sistematizao da Lgica Dentica, por VON WRIGT, credenciada
para revelar a estrutura da linguagem jurdica, KANT j diferenciava as leis da natureza, submetidas
ao princpio da causalidade fsica (ser), das leis jurdicas, estruturadas pela imputabilidade dentica
(dever-ser). KELSEN tambm assim o fez, ainda que indutivamente (sem o emprego de uma lgica
prpria), distinguindo as relaes articuladoras das proposies de cada sistema: num, a sntese do
ser (if A is, B is se A , B ) e noutro, a do dever-ser (if A is, B ought to be se A , B deve
ser), ambas relaes de ndole lgica, vnculos implicacionais que atrelam um fato-causa a um fato-
efeito e constituem causalidades, ainda que muito distintas. Por isso, antes de direcionarmos nossos
estudos Lgica Dentica, entendemos por bem tecermos algumas consideraes a respeito dos
mundos do ser e do dever ser, sobre as causalidades fsica e jurdica e as relaes lgicas que se
estabelecem entre as proposies de ambas as linguagens.
3.1. Causalidade e nexos lgicos
Como j vimos acima, os nexos lgicos so construes ideais (manifestados
linguisticamente por smbolos unvocos) perceptveis a partir da experincia com uma linguagem
objeto. As relaes de implicao entre um fato-causa e um fato-efeito, no entanto, instaura-se entre
variveis proposicionais e, s chegamos aos domnios de tal relao, mediante um processo de
abstrao, tendo como ponto de apoio o dado lingstico. Evidentemente que, para explicar a realidade
que o envolve, o homem transporta, para o domnio emprico, relaes de ndole lgica, mas, como
observa PAULO DE BARROS CARVALHO, isto mera transposio que o falar comum
insistentemente registra, mas que no se sustenta numa anlise rigorosa
189
, mesmo porque todo
conhecimento se d num universo de linguagem sendo, portanto, conceitual e sujeito formalizao.
Com o emprego da linguagem o homem conhece o mundo que habita e transmite tal
experincia a seus semelhantes. Observando as constantes dos acontecimentos que o cercam, ele vai
realizando associaes que lhe permitem compreender a dinmica existencial da realidade em que
vive. Tais associaes no pertencem ao campo da experincia, se do num plano abstrato, cuja
existncia s possvel dentro de um universo de linguagem. Pela experincia emprica, constatando
repetidamente o evento da transformao da gua de seu estado slido para lquido e gasoso, o homem,
de forma indutiva, produz um enunciado descritivo: a gua se torna slida (congela) temperatura de
0 C e entra em ebulio (evapora) temperatura de 100 C. Ao conhecer que a gua evapora a 100
189
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 78.
156
C, o sujeito cognoscente estabelece em sua mente uma relao lgica no manifesta: o vnculo entre
duas variveis S e P, onde S o aquecimento da gua a temperatura de 100 C e P a ebulio
da gua. A individualizao das variveis, que se d com a definio das classes, causa (S) e efeito
(P)
190
, no um dado imediato percepo humana exterior, uma construo conceitual que s
existe onde houver linguagem.
Como ensina LOURIVAL VILANOVA, o simples enunciado que protocoliza o fato
este S causa de P, envolve operaes que ultrapassam o limite da experincia, os dados imediatos
da percepo do mundo exterior. O conhecimento causal parte da experincia e a ela regressa, mas
nele co-participam o emprico e o conceptual, os fatos e as operaes lgicas
191
. Por isso, a
causalidade natural no est presente no mundo dos acontecimentos fsicos, embora isso nos parea
pela transposio das relaes lgicas. Ela aparece apenas no momento em que tais acontecimentos
so pensados (ou seja, constitudos em linguagem). E, relao de implicao, como nexo lgico,
estruturador da causalidade, s temos acesso quando surge a possibilidade de representar tais
acontecimentos por meio da semiologia lgica, em uma linguagem de sobre-nvel
192
, mas nica e
exclusivamente porque foram transcritos em termos verbais como adverte PAULO DE BARROS
CARVALHO
193
.
Tais afirmaes ficam mais fceis de serem compreendidas quando trazemos tona a
questo das relaes factuais. Como explicar, por exemplo, que o evento p implica o
acontecimento q? Nossa experincia com o mundo externo nos permite perceber a relao de
anterioridade ou posterioridade do acontecimento p ao evento q na cronologia do tempo, algo
inteiramente estranho ao campo da lgica, mas o vnculo implicacional s instaura-se em mbito
proposicional, ou seja, quando o homem organiza linguisticamente os dados brutos que lhe so
experimentados estabelecendo relaes entre os acontecimentos que se manifestam no plano das
ocorrncias tangveis. No h implicao entre acontecimentos, tal relao se instaura em nvel
proposicional, medida em que os eventos so vertidos em linguagem (constitudos em fatos), mas ela
mesma (relao como nexo lgico) no se encontra na linguagem que relata tais acontecimentos,
frmula lgica, que no tm existncia concreta.
190
No caso do enunciado o aquecimento da gua a temperatura de 100 C (p) causa a sua transformao de estado liquido
para gasoso (q), p o nico membro da classe e q tambm, o que faz o enunciado ser fortemente geral.
191
Causalidade e relao no direito, p. 30.
192
As relaes lgicas do-se na regio ntica dos objetos ideais, com a produo de uma linguagem de sobre-nvel, a
partir da experincia com uma linguagem objeto, por isso, nela (linguagem objeto) tambm no se encontram.
193
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 78.
157
Nestes termos, a causalidade uma relao de causa e efeito que se estabelece entre
duas proposies. Assim, no existe causalidade onde no houver linguagem.
3.2. Causalidade fsica ou natural e causalidade jurdica
Por causalidade fsica entende-se a natural, ou seja, as relaes implicacionais que se
do na realidade fsica constituda pela linguagem descritiva, representadas pela sntese do ser. J a
causalidade jurdica, espcie de causalidade normativa, aquela prpria dos sistemas prescritivos, do
qual o direito positivo espcie, que compreende as relaes que devem se dar entre sujeitos,
representadas pela sntese do dever-ser.
Quando nos referimos ao mundo do ser e do dever-ser, estamos tratando de dois
corpos de linguagem, separados em razo do vnculo que se estabelece entre suas proposies. A
distino, nesta proporo, possvel justamente porque ambos so sistemas proposicionais. Num,
opera-se a causalidade fsica, ou natural, noutro, a causalidade jurdica.
Quanto causalidade jurdica, temos maior facilidade de enxerg-la a nvel
proposicional, visto que o dado fsico do direito a linguagem idiomtica escrita, passvel de ser
manuseada (cdigos, leis, sentenas, atos administrativos, contratos, documentos probatrios, etc). J
quanto causalidade fsica ou natural, em alguns pontos, notamos certa dificuldade de aceit-la como
relao inter-proposicional. Mas, tal bloqueio desaparece quando consideramos que o homem habita
um universo de discurso, onde todo e qualquer conhecimento se d a nvel proposicional. A
causalidade fsica no se encontra nas coisas ou nos fenmenos do mundo, constituda pela
linguagem juntamente com as coisas ou os fatos que a integram.
Nas duas causalidades (jurdica e natural) temos a implicao, o conectivo
condicional, atrelando uma proposio causa (antecedente) a uma proposio efeito (conseqente).
Aquela, na posio sinttica de antecedente, condio suficiente desta, alojada no lugar sinttico de
conseqente; que, por sua vez, condio necessria daquela. Dizemos, em termos lgicos, devido
regra de inferncia do modus ponens, que a proposio antecedente condio suficiente da
proposio conseqente porque se aquela for verdadeira, esta tambm ser; na proporo inversa,
dizemos que a proposio conseqente condio necessria da proposio antecedente, porque se
158
aquela for falsa esta tambm ser (lei lgica do modus tollens)
194
. Estas constantes so observadas
tanto nas leis fsicas (da natureza), como nas leis do direito.
Como exemplo, retomemos o enunciado sobre a ebulio da gua. Para conhecer o
fenmeno observado na natureza o cientista constri o seguinte: a gua ferve a 100 C. Ao assim
fazer, estabelece uma relao de implicao entre o aquecimento da gua a 100 C e sua ebulio
(causalidade fsica), de modo que a constatao do aquecimento da gua a 100C, por si s, basta para
afirmarmos que a gua entrou em estado de ebulio (condio suficiente); e a verificao da sua no-
ebulio, por si s, basta para sabermos que ela no foi aquecida a 100 C (condio necessria). Da
mesma forma, o legislador, para prescrever condutas intersubjetivas, observa a realidade social que o
cerca e elege um fato como causa de um efeito jurdico. Por exemplo, ao enunciar: os menores de 16
anos so absolutamente incapazes de exercerem pessoalmente atos da vida civil (art. 3, I, do CC), o
legislador impe uma relao de implicao entre o fato de ser menor que 16 anos e a capacidade para
exercer pessoalmente atos da vida civil (causalidade jurdica), de modo que, a verificao da
menoridade, por si s, basta para afirmarmos que a pessoa est incapacitada (condio suficiente); e
pela constatao da ausncia de incapacidade (capacidade) sabemos que ela maior de 16 anos
(condio necessria).
O nexo causal o mesmo. Tanto na causalidade fsica, como na jurdica, temos a
implicao de dois termos ou de duas proposies. Mas, ento, o que separa estes dois mundos to
diferentes?
PAULO DE BARROS CARVALHO, seguindo os ensinamentos de LOURIVAL
VILANOVA e com base na teoria do uso e meno de W.V.O QUINE, ensina que o conectivo
condicional, quando mencionado, denota um domnio ntico (ser) que se contrape ao mundo do
dever ser, onde as proposies implicantes e implicadas so postas por um ato de autoridade
195
. A
diferena, ento, se estabelece entre o uso e a meno da implicao.
No plano do ser a implicao mencionada. Para conhecer e explicar o mundo que
o cerca, o homem estabelece em sua mente, associaes implicativas entre termos e proposies, mas
transporta tais relaes para o domnio emprico ao descrev-las como vnculos existentes na realidade
observada, porque, efetivamente, sua compreenso se d de forma associativa. As proposies
194
A condio necessria no se afere pela verdade do conseqente, pois, sendo este verdadeiro, nada podemos dizer sobre
a proposio antecedente, j que o condicional falso se o antecedente for verdadeiro e o conseqente falso.
195
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 81-82.
159
produzidas so descritivas, o vnculo descrito, porque pressuposto como integrante da realidade
tomada como objeto da experincia, por isso, dizemos ser mencionado. As partculas constantes da
linguagem, em que se manifesta o mundo do ser, enunciam predicados de sujeitos, conotando ou
incluindo termos, proposies ou conjunto de proposies como subconjunto dentro de outro conjunto
(extensionalidade). Ao formalizar a linguagem em que se constitui a realidade fsica, deparamo-nos
com a seguinte frmula: S P, o que explica a sntese do ser () na causalidade fsica. Nas leis da
natureza, os enunciados dizem como as coisas so e o modo como os fenmenos se do, a relao de
causa e efeito estabelecida pelo homem com a funo de descrever, medida que vai conhecendo e
fazendo associaes entre objetos, para explicar o mundo que habita.
No mudo do dever-ser a implicao utilizada. As proposies, implicante e
implicada, so atreladas, no por um ato de conhecimento, mas por um ato de autoridade. O legislador,
com a finalidade de direcionar condutas intersubjetivas, emprega o vnculo implicacional, associando
um fato a uma conseqncia, para alcanar tal finalidade. Por isso, dizermos ser ele utilizado e no
mencionado. A relao entre as proposies da linguagem em que se manifesta o direito no se
estabelece na forma S P, como na linguagem da realidade fsica, pois so prescritivas do mundo
circundante. Ela aparece na frmula S deve ser P que, em termos totalmente formais, se representa:
D (SP) (deve ser que S implique Q). A causalidade estatuda. por um ato de vontade da
autoridade que legisla, de prescrever condutas, que o termo-hiptese se encontra ligado ao termo-tese e
no por um ato de conhecimento. As leis do direito no dizem como as coisas do mundo so, ou como
os fenmenos se do, elas prescrevem condutas intersubjetivas.
No caso, por exemplo, do enunciado citado da menoridade civil, o legislador, diante
da realidade social que o cerca, elege o fato ser menor de 16 anos e a ele atribui o efeito da
incapacidade absoluta, ao tom-lo como termo-hiptese deste termo-conseqente. E por que no
elegeu o fato ser menor de 18 anos? E por que no lhe atribuiu a conseqncia da incapacidade
relativa? Porque os vnculos jurdicos se estabelecem exclusivamente por meio de atos de vontade do
legislador. O mesmo fato pode ser atrelado a inmeras conseqncias (ex: o fato de um acidente de
carro com vtimas atrela-se juridicamente ao recebimento do seguro, indenizao civil, ao
criminal, etc), assim como, a mesma conseqncia pode decorrer de vrios fatos (ex: a conseqncia
da incapacidade absoluta pode decorrer juridicamente do fato da deficincia mental e da
impossibilidade de manifestao de vontade), isto acontece porque, as relaes entre fato-causa e fato-
efeito, constantes da linguagem do direito, so postas pelo legislador. A causalidade que o sistema
160
jurdico estabelece uma relao deonticamente firmada, como diz LOURIVAL VILANOVA, o
efeito no segue sempre o fato, mas, dado o fato jurdico, deve ser o seu efeito.
196
A origem das relaes causais-naturais est na experincia com os objetos, na
explicao dos fenmenos fsicos, ao passo que a das relaes causais-normativas est na vontade da
autoridade que as institui. O nexo causal natural ou fsico provm da experincia de finitos casos e tem
seu fundamento na constncia da observao. A causalidade jurdica tem semelhana porque advm da
experincia, mas preposta, preestabelecida, prefigurada, ante os fatos. A causalidade natural
descritiva do acontecer fsico. A causalidade jurdica prescritiva. No registra como se d a relao
constante entre fatos, mas estatui como deve ser
197
.
Enquanto, na causalidade natural, a relao entre o fato-causa e o fato-efeito
necessria ou ao menos possvel fisicamente (ex: uma ma, ao soltar-se do galho, necessariamente
cair; um homem que subir na rvore, provavelmente cair), na causalidade jurdica ela posta por
um ato de autoridade (ex: se matar algum deve ser o cumprimento da pena de x a y anos). O fato de
matar algum gera vrios efeitos no mundo fsico e social, como a decomposio do corpo, o
sepultamento, a revolta familiar, mas s implica o cumprimento de uma pena, porque o legislador
instituiu tal vinculao. V-se aqui a diferena: a linguagem jurdica utiliza-se do vnculo
implicacional para prescrever condutas intersubjetivas. Na causalidade jurdica as relaes no so,
mas devem ser em razo de uma fora autoritria. O legislador livremente constri o vnculo entre o
fato jurdico (causa) e sua eficcia (efeito), no reproduz, gnosiologicamente, a causalidade do fato que
conhece.
3.3. Leis da natureza e leis do direito
Enquanto as leis da natureza, submetidas ao princpio da causalidade fsica, so
refutveis pela experincia, as leis jurdicas, articuladas pela imputabilidade dentica, no. Isto porque,
aquelas se submetem a valores de verdade e falsidade, ao passo que estas, a valores de validade e no-
validade. Basta, por exemplo, que se verifique um cisne preto o enunciado todos os cisnes so
brancos passar de verdadeiro para falso. J no direito, o fato de um sujeito menor de 16 anos realizar
atos da vida civil, no invalida a norma da incapacidade, embora o negcio realizado possa ser
desfeito. Diferentemente do que acontece com a frase todos os cisnes so brancos, o enunciado que
prescreve serem os menores de 16 anos incapazes de praticar atos da vida civil no adquire outro valor
196
Causalidade e relao no direito, p. 61.
197
Idem, p. 81.
161
pela verificao de conduta contrria. Ele continua vlido e prescrevendo a incapacidade dos menores
de 16 anos, porque as leis jurdicas s adquirem e deixam de ter status de validade por um ato de
autoridade.
As leis da natureza tm funo descritiva, elas nos informam sobre as coisas. As leis
do direito tm funo prescritiva, nada informam sobre as coisas, dirigem-se ao plano das condutas
intersubjetivas com a finalidade de alter-las. Certamente que, dependendo do contexto, a linguagem
descritiva tambm tem o condo de modificar condutas. Imaginemos, por exemplo, a situao em que
vrias pessoas estejam assistindo a uma pea de teatro quando algum grita da platia: o teatro est
pegando fogo! mais que depressa, alguns se levantaro e sairo correndo. A linguagem, embora
empregada na funo descritiva, capaz de motivar a modificao de condutas devido o contexto em
que se encontra inserida. No entanto, mesmo nestas circunstncias em nada se identifica com a
linguagem prescritiva empregada no no intuito de informar sobre determinado acontecimento, mas de
direcionar condutas.
As leis do direito nada informam, no dizem como as coisas so, mas como devem
ser, ao passo que as leis naturais enunciam como as coisas so. A conhecida proposio de Coprnico:
a terra gira em torno do sol descreve um fenmeno da natureza indicando como ele . J o art. 121
do Cdigo Penal ao prescrever matar algum: pena de recluso de x a y anos, nada informa sobre as
coisas do mundo, estabelece uma ordem, associando um fato a uma conseqncia: se matar algum,
deve ser o cumprimento da pena de x a y anos. Por isso, linguagem descritiva ali e prescritiva aqui.
J vimos que, conforme se altera a funo da linguagem, modifica-se sua estrutura. A
linguagem descritiva, prpria das leis da natureza, formalizada pela Lgica Altica e submetida a
valores de verdade e falsidade. A linguagem prescritiva, na qual se materializa o direito, submete-se
aos valores de validade e no-validade e formalizada pela Lgica Dentica. A estrutura de ambas
diferente. As leis da natureza so estruturadas para explicar o mundo em que vivemos, ao passo que as
leis do direito, para regular condutas entre humanos. Numa, impera a sntese do ser, noutra, a do dever
ser, por isso, to importante o estudo das estruturas lgicas da linguagem para compreendermos a
separao e a forma operacional destes dois mundos.
4. MODAIS ALTICOS E DENTICOS
Onde houver linguagem, haver a possibilidade de formaliz-la e assim, estudar sua
estrutura. A Lgica Apofntica, de que tratamos no primeiro item deste captulo, est credenciada a
162
revelar somente a estrutura da linguagem empregada na funo descritiva, na qual se manifestam as
leis da natureza e os fatos da realidade social, no servindo para a linguagem prescritiva do direito, na
qual so empregadas outras categorias de formao, sistematizadas pela Lgica Dentica,
desenvolvida por VON WRIGHT, a partir da transposio, com as devidas adaptaes, dos
conhecimentos da Lgica Modal Altica linguagem do direito positivo.
Como visto, uma proposio descritiva construda a partir do enunciado hoje vai
chover pode ser verdadeira ou falsa e seu valor lgico pode ser alterado com o uso do conetivo
negador (-). ARISTTELES, no entanto, registrou a possibilidade de um enunciado funcionar como
sujeito de outro enunciado maior, predicando a proposio descritiva, ao observar que os enunciados
descritivos no so sempre simplesmente verdadeiros e que, em algumas ocasies, se apresentam
como possivelmente verdadeiros e em outras, necessariamente verdadeiros. Por exemplo, possvel se
predicar o enunciado hoje vai chover, simbolizado por p e criar dois outros enunciados
incompatveis entre si: possivelmente hoje vai chover, em termos formais Mp e necessariamente
hoje vai chover representado por Np. Nota-se que, em ambos os casos, temos a descrio de um
estado de coisas (representado por p) e uma predio daquela descrio (representada por M e
N), isto , algo que se diz de p, o que os lgicos denominam de predicado de segundo nvel, ou
modal altico. Tanto a possibilidade (M), como a necessidade (N) so predicaes capazes de
modificar o sentido de uma proposio. So, portanto, modais ou operadores alticos, intimamente
relacionados de tal maneira que um pode ser definido a partir do outro
198
. Para expressar as relaes
entre as modalidades de predicados de segundo nvel que podem afetar uma proposio descritiva,
existe a denominada Lgica Modal Altica.
Ciente de que os operadores alticos no servem para qualificar proposies
prescritivas de condutas intersubjetivas, mas apenas aquelas descritivas de estados de coisas, VON
WRIGTH, estabeleceu a seguinte analogia entre os predicados possvel e permitido: M
(possvel) / P (permitido); -M (impossvel) / -P (no-permitido = proibido); -M- (necessrio) /
-P- (no-permitido no fazer = obrigatrio), adaptando as categorias da Lgica Modal Altica ao
estudo do direito. Tal analogia o possibilitou formalizar a linguagem normativa, surgindo, assim, a
198
Se no possvel que uma proposio no seja verdadeira, ela necessariamente verdadeira (-M-p Np); se no
possvel que uma proposio seja verdadeira, ela necessariamente no ser verdadeira (-Mp N-p); se possvel que uma
proposio no seja verdadeira, ela no ser necessariamente verdadeira (M-p -Np); se possvel que uma proposio
seja verdadeira, ela no necessariamente ser no verdadeira (Mp -N-p). DELIA TERESA ENCHAVE, MARA
EUGENIA URQUIJO e RICARDO A. GUIBOURG, Lgica, proposicin y norma, p 111.
163
Lgica Dentica, com seus trs, e somente trs, modais: (i) permitido (P); (ii) proibido (V); e (iii)
obrigatrio (O).
Os modais denticos aparecem como predicados de segundo nvel, atuando sobre as
variveis representativas das condutas intersubjetivas que a linguagem normativa pretende disciplinar
(p ex: matar, pagar, fumar, votar, vender, etc.). Temos ento: Pp, Op e Vp, onde, saturando
os contedos das frmulas, l-se: permitido vender, obrigatrio pagar e proibido fumar. Os
operadores denticos qualificam as condutas, possibilitando, assim, que elas sejam reguladas.
Como na Lgica Altica, os modais denticos podem ser definidos uns pelos outros,
devido sua interdefinibilidade, segundo a qual se estabelecem as seguintes equivalncias: (i) Pp -O-
p -Vp dizer que uma conduta est permitida, o mesmo que afirmar a no obrigatoriedade de no
realiz-la e a no proibio de sua realizao, utilizando-nos do exemplo acima permitido vender
cigarro equivale a no obrigatoriedade de no vender e a no proibio de vender tal produto; (ii) -
Pp O-p Vp quando uma conduta no est permitida significa que obrigatrio no realiz-la e
que est proibido sua realizao, em termos no formalizados a no permisso de fumar equivale
obrigao de no fumar e proibio de fumar; (iii) P-p -Op -V-p afirmar que permitida a
no realizao de uma conduta equivale dizer que no est obrigada a sua realizao e no proibido
no realiz-la, saturando os contedos temos que, a permisso para no votar equivale a no
obrigao de votar e a no proibio de no votar; e (iv) -P-p Op V-p dizer que no
permitido a no realizao de uma conduta o mesmo que afirmar sua obrigatoriedade e a proibio
de sua no realizao, voltando-nos ao exemplo, temos a no permisso de no pagar equivale
obrigao de pagar e proibio de no pagar.
Pela interdefinibilidade dos modais denticos os operadores O (obrigatrio) e V
(proibido) podem ser definidos mediante o operador P (permitido) com a ajuda do negador (-) e, da
mesma forma, o conceito da permisso pode ser definido mediante os operadores O (obrigatrio) e V
(proibido), mais o emprego da negao (-)
199
. Isto possibilita serem eles substitudos a qualquer
momento por sua equivalncia. Se obrigatrio, por exemplo, efetuar o pagamento de um tributo,
entregar a mercadoria comprada, dividir os dividendos entre os scios, certo que tais condutas no
esto proibidas e no est permitido deixar de realiz-las. Se proibido aplicar pena de morte, torturar,
fazer discriminao entre raas, sabemos que tais condutas no esto permitidas e que a no realizao
199
DELIA TERESA ENCHAVE, MARA EUGENIA URQUIJO e RICARDO A. GUIBOURG, Lgica, proposicin y
norma, p 123.
164
delas obrigatria. Devido interdefinibilidade dos modais, sem sabermos o contedo das normas,
podemos tomar um modal como primitivo, isto , indefinvel e, com base nele, definir os demais.
Chamamos ateno para o modal facultativo. Quando se afirma que uma conduta
est permitida (Pp), somente se diz que est permitido cumpri-la, ou seja, que no est proibida e no
obrigatria a sua no realizao, mas nada se diz sobre a sua omisso (-p), o que chamamos de
permisso unilateral. Isto porque, se a sua realizao e omisso esto conjuntamente permitidas temos
a permisso bilateral, ou seja, a facultatividade da conduta (Fp). Uma conduta facultativa quando
permitido realiz-la (Pp) e tambm permitido no realiz-la (P-p), em termos formais: F (Pp . P-
p).
A facultatividade expressa a liberdade de realizar uma conduta, permitindo tanto seu
cumprimento como sua omisso. No casamento, por exemplo, h permisso para contrair matrimnio
e tambm h a permisso para no contrair matrimnio, dizemos, assim que o casamento facultativo
no sistema jurdico brasileiro, pois o destinatrio da prescrio pode escolher entre casar-se ou no.
Poderia o facultativo ser considerado um quarto modal, pois predicativo de uma conduta
intersubjetiva, mas ele nada mais do que uma construo do modal permitido (P), ou se preferirmos,
aplicando as categorias da interdefinibilidade, do modal obrigatrio (O): F (-O-p . -Op), ou do
modal proibido (V): F (-Vp . -V-p). Neste sentido, quanto aos modalizadores da linguagem
normativa, continua-se aplicando o princpio do quarto excludo. As possibilidades de valorao
jurdica das condutas so somente trs: obrigatrio (O), proibido (V) e permitido (P) e o facultativo
(F) aparece como uma relao entre dois modalizadores (Pp . P-p).
A Lgica Altica registra, mediante a oposio das proposies modalizadas as
relaes de: (i) contrariedade; (ii) contradio; (iii) sub-contrariedade; e (iv) subalternao.
(i) So contrrias entre si duas proposies quando possvel que ambas sejam
falsas, mas no possvel que ambas sejam verdadeiras, por exemplo, se necessrio que a parede
seja branca, no pode ser necessrio que ela no seja branca e vice-versa, mas tambm pode ser falsa a
necessidade da parede ser branca e a necessidade dela no ser branca.
(ii) So contraditrias entre si duas proposies quando uma verdadeira e a outra
falsa. Assim, se verdade que uma fruta seja necessariamente vermelha falso que seja possvel ela
no ser vermelha.
165
(iii) A sub-contrariedade se afere quando possvel que ambas as proposies sejam
verdadeiras, mas no falsas. Por exemplo, pode ser verdade que possvel o avio cair e que
possvel ele no cair, mas no h de ocorrer que ambas as possibilidades sejam falsas.
(iv) Por fim, na relao de subalternao, onde as proposies so postas na posio
de subalternantes e subalternas, da verdade da subalternante se infere a verdade da subalterna e da
falsidade da subalterna se infere a falsidade da subalternante, vejamos, se necessrio que o cachorro
lata, possvel que ele lata; e se a possibilidade dele latir no existe, ser falsa a necessidade dele latir.
Adaptando tais categorias, na Lgica Dentica encontramos as mesmas relaes
entre os operadores, das quais se inferem as seguintes tautologias, denominadas leis denticas: (i)
princpio da subcontrariedade dentica; (ii) lei da contrariedade dentica; (iii) leis da subalternao
dentica; e (iv) leis de contradio dentica.
Tomado como axioma, do qual so derivadas as demais leis, o princpio da
subcontrariedade dentica enuncia que dada uma conduta determinada (p), est permitido realiz-la
e/ou est permitido omiti-la (Pp v P-p). O sistema permite realizar uma conduta ou omiti-la e
tambm permite a possibilidade da faculdade entre ambas. As duas primeiras situaes se justificam
porque quando uma conduta obrigatria, o legislador deve permitir sua realizao e quando ela
proibida, sua omisso deve ser permitida, por isso, permitido fazer (Pp), ou permitido no fazer
(P-p), j que as condutas no podem ser obrigatrias e proibidas ao mesmo tempo. Tal princpio
tambm fundamenta a existncia de condutas facultativas dentro do sistema jurdico, ao prever a
possibilidade de que tanto uma conduta, como sua omisso, estejam igualmente permitidas (Pp . P-
p).
Do princpio da subcontrariedade dentica deduz-se as leis da contrariedade dentica
e da subalternao dentica. De acordo com a primeira, uma mesma conduta no pode ser obrigatria
e proibida (Op . Vp)
200
. Se uma norma, por exemplo, obriga a restituio de tributos pagos
indevidamente e outra probe tal conduta, h uma contrariedade no sistema. J nos termos das leis da
200
Esta frmula deduzida do princpio da sub-contrariedade dentica (Pp v P-p) nos seguintes termos: Com a
comutatividade da disjuno (p v q) (q v p), modificamos a frmula para (P-p v Pp), a lei de Morgan permite converter
uma disjuno em conjuno: (p v q) ( p . q), aplicada frmula obtemos: - (-P-p . Pp). Pela interdefinibilidade dos
operadores denticos substitumos P-p por Op e Pp por Vp. Assim temos, como teorema, a lei da contrariedade dentica
-(Op . Vp). (DELIA TERESA ENCHAVE, MARA EUGENIA URQUIJO e RICARDO A. GUIBOURG, Lgica,
proposicin y norma, p 130)
166
subalternao, toda conduta obrigatria est permitida (Op Pp)
201
e toda conduta proibida est
permitida sua omisso (Vp P-p)
202
. Se estamos obrigados ao pagamento do imposto sobre a
renda, por exemplo, a legislao deve permitir a realizao deste pagamento, este inclusive o
fundamento da ao de consignao do pagamento, proposta quando o credor se recusa a aceit-lo.
Neste mesmo sentido, se proibida a comercializao de animais silvestres, a omisso desta conduta
deve ser permitida, caso contrrio, estaramos diante de uma contradio normativa. E, por ltimo, as
leis da contradio dentica enunciam que uma conduta no pode ser obrigatria quando se permite
sua omisso (Op . P-p) nem tampouco podem ser proibidas quando permitidas (Vp . Pp).
Assim, no podemos dizer que obrigatrio pagar imposto sobre a renda quando a lei permite o no
pagamento, da mesma forma que no est proibida a venda de animais silvestres nos casos em que a
lei a permite.
importante destacar que na linguagem normativa, os operadores permitido (P),
obrigatrio (O) e proibido (V), alm de afetarem uma proposio isoladamente (Pp, Op e Vp), podem
predicar condutas mais complexas, como uma relao interproposicional, ou cada membro da relao.
Por exemplo, na sentena obrigatrio cumprir o contrato ou indenizar os danos provocados pelo seu
descumprimento o modal obrigatrio afeta uma relao interproposicional O(p q), assim como no
enunciado proibido dirigir e falar no celular ao mesmo tempo V(p . q), j no caso em que a
obrigao de declarar rendimentos implica a obrigao de no omiti-los, o modal obrigatrio afeta
cada membro da relao (Op Oq). A Lgica Dentica tambm se preocupa com os vnculos que se
estabelecem entre estas frmulas mais complexas, fixando uma srie de leis que as explicam, mas
cremos que as colocaes feitas at aqui j so suficientes para o estudo da estrutura da linguagem
jurdica, ao qual nos propomos.
Vale ressaltar, porm, antes de finalizar nossas consideraes, que os valores da
Lgica Dentica no so os de validade e falsidade, mas sim os de validade e no-validade. O fato de
existir no sistema uma norma que obrigue determinada conduta e outra que a proba (Op . Vp) ou
permita a sua omisso (Op . P-p), no acarreta empecilhos para que ambas sejam vlidas e assim
201
A frmula deduzida do princpio da sub-contrariedade dentica (Pp v P-p) pelos seguintes passos. Com a
comutatividade da disjuno (p v q) (q v p), modificamos a frmula para (P-p v Pp), a lei de definio do condicional nos
permite converter a disjuno (p v q) (-p q), aplicada frmula, obtemos: (-P-p Pp) e pela interdefinibilidade dos
operadores denticos substitumos P-p por Op e chegamos frmula (Op Pp). (DELIA TERESA ENCHAVE, MARA
EUGENIA URQUIJO e RICARDO A. GUIBOURG, Lgica, proposicin y norma, p 131)
202
A frmula deduzida do princpio da sub-contrariedade dentica (Pp v P-p) pelos seguintes passos. Transformada a
frmula em condicional com a aplicao da lei de definio do condicional: (-Pp P-p) e pela interdefinibilidade dos
operadores denticos substitumos Pp por Vp e chegamos frmula (Vp P-p). (DELIA TERESA ENCHAVE, MARA
EUGENIA URQUIJO e RICARDO A. GUIBOURG, Lgica, proposicin y norma, p 131-132)
167
permaneam no sistema normativo. A constatao de contrariedades e contradies no plano formal
no exclui a validade simultnea das normas, apenas demonstra a incompatibilidade de serem
aplicadas conjuntamente, pois, ao se cumprir a primeira, necessariamente se descumpre a segunda. O
sistema jurdico abriga proposies contraditrias que so juridicamente vlidas. Isto porque, a
validade das normas questo que ultrapassa os limites da lgica (extra-lgica). Uma proposio
normativa vlida, ou no-vlida de acordo com critrios que o sistema jurdico estabelece.
Como ensina BULYGIN, a lgica das normas estabelece critrios para a
consistncia, mas nada diz sobre a existncia (validade) das normas
203
. Num sistema de proposies
descritivas a contradio lhe d inconsistncia, o que afasta a verdade emprica, pois, a verdade formal
pressuposto da verdade material, mas num sistema de proposies prescritivas as contradies em
nada influem na validade das normas. A Lgica Dentica um importante instrumento para
detectarmos as contradies do ordenamento jurdico, mas, sozinha, no as resolve, porque toda
aproximao do direito valorativa e, por isso, s um ato de valorao pode dizer qual das normas
aplicar, j que ambas existem no mesmo sistema.
5. O CARATER RELACIONAL DO DEVER SER
Ao formalizarmos a linguagem do direito, reduzindo-a do ponto de vista gramatical a
sua estrutura lgica, encontramos o esquema da norma jurdica D(H C). A norma de direito enuncia
que se ocorrer um fato deve seguir-se uma relao jurdica entre sujeitos, cuja conduta regulada
encontra-se modalizada como obrigatria (O), proibida (V) e permitida (P). Internamente, na estrutura
normativa, h uma implicao ligando a hiptese ao conseqente e o modal que estatui tal ligao o
dentico, porque posto por um ato de autoridade. A hiptese no implica o conseqente possivelmente
ou necessariamente, como ensina LOURIVAL VILANOVA, a implicao no , mas deve ser, ainda
que na realidade os correspondentes semnticos dessa estrutura sinttica no se verifiquem
204
.
Vimos linhas acima que nas leis da natureza a relao entre hiptese e conseqente
descritiva, podendo ser esquematizada nos seguintes termos: assim que se H, ento C, a qual
modalizada l-se: possvel, necessrio, impossvel ou no necessrio que se H, ento C. Isto
se d, porque as leis da causalidade natural procuram reconstruir conceptualmente aquilo que ocorre
no mundo perceptvel, sendo verdadeiras quando confirmadas e falsas quando infirmadas dentro dos
referenciais do intrprete. At alguns anos atrs necessariamente se a gua fosse submetida
203
Lgica dentica, p. 136.
204
Causalidade e relao no direito, p. 103.
168
temperatura superior a 0 C, ento ela se transformaria do estado slido para lquido, hoje em dia,
com a descoberta dos nanocubos de carbono, possvel manter a gua slida at 27 C, o que torna a
proposio no mais adequada para explicar o fenmeno.
J nas leis do direito a causalidade estabelece uma relao que deve ser entre a
hiptese e o conseqente. As normas jurdicas se estruturam na forma: deve ser que se H ento C,
onde as proposies implicante (H) e implicada (C) so postas por um ato de autoridade em termos
formais D (HC). A hiptese H simboliza uma situao concerta e o conseqente C a relao
entre dois ou mais sujeitos, postos na posio de ativo e passivo. O vnculo implicativo interno,
participa da estrutura da frmula da norma jurdica, estabelecendo a ligao que dever ser entre a
proposio hiptese e a proposio conseqente. O dever ser aqui aparece como um operador
interproposicional, ponente da relao implicacional entre hiptese e conseqente.
No entanto, formalizando o conseqente normativo, temos que um sujeito qualquer
S mantm uma relao qualquer R, em face de outro sujeito S, nos deparamos, portanto, com outra
estrutura relacional S R S, ou R (S . S). R uma varivel relacional, no pode ser substituda por
nomes de objetos, condutas, ou indivduos, nem por qualquer proposio, ela indicativa de uma
ligao que deve ser entre dois sujeitos. Distinguimos, assim: (i) o functor dentico D, modal
genrico, que afeta todo complexo proposicional normativo D (HC); e (ii) o modal dentico
relacional R, interno proposio conseqente S R S. Em termos formais temos: D [HC (S R
S)]. O dever ser interno ao conseqente normativo um operador dentico intraproposicional que
aproxima dois termos de sujeitos. Este dever ser intraproposicional, como ensina PAULO DE
BARROS CARVALHO, triparte-se nos modais obrigatrio (O), permitido (P) e proibido (V),
diferente do primeiro, responsvel pela implicao, que nunca se modaliza
205
. O dever ser inter-
poposicional, que liga as proposies H e C neutro, no recebendo qualquer modalizao.
Por exercer o papel de um conceito funcional, estabelecendo relaes entre
proposies (hiptese e conseqente) e termos de sujeitos (sujeito ativo e sujeito passivo), destaca-se o
carter relacional do dever ser.
Especialmente na estrutura normativa do direito positivo, o dever ser, embora
relacional, no ingressa na categoria dos operadores relacionais reflexivos, ou seja, aqueles que
satisfazem a frmula x R x, isto porque, o direito no disciplina condutas intra-subjetivas
205
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 82.
169
(reflexivas), de um sujeito para com ele mesmo, apenas intersubjetivas. Como enfatiza LOURIVAL
VILANOVA, inexiste possibilidade lgica e ontolgica de algum juridicamente proibir-se a si
mesmo, obrigar-se a si mesmo
206
. Um sujeito no devedor de si prprio, nem contratante de si
mesmo, nem comodatrio em relao a sua pessoa. Todo relacional dentico do direito positivo
entre sujeitos diferentes, est ligado a condutas inter-humanas.
O dever ser constitutivo da estrutura da proposio normativa. o operador
especfico da linguagem das normas que, em falta, desfaz sua prescritividade. Por isso, dizemos ser ele
o operador por excelncia da linguagem normativa, da qual a linguagem do direito positivo espcie.
O operador altico (ser) no ingressa no interior da estrutura normativa, ainda que a proposio
hiptese seja descritiva de um acontecimento.
Lembramos mais uma vez, que no plano fsico da linguagem jurdica (escrita ou
falada) no deparamo-nos com o deve ser, que uma partcula operativa presente na frmula das
proposies normativas. S com a formalizao da linguagem do direito positivo obtemos o conceito
do dever ser que compe sua estrutura.
6. DIREITO E SUA REDUO LGICA MODAIS DENTICOS E VALORAO DA
HIPTESE NORMATIVA
O direito positivo, como corpo de linguagem prescritiva, est sujeito formalizao
pela Lgica Dentica. Reduzindo-o a sua expresso significativa mais simples chegamos norma
jurdica como uma proposio estruturada na forma hipottico-condicional D (HC), deve ser que se
ocorrer o fato x ento ser a conseqncia y. A hiptese descreve um fato, valorado pelo legislador
com o sinal positivo da licitude ou negativo da ilicitude e o conseqente prescreve uma relao
valorada como obrigatria (O) permitida (P), ou proibida (V). No h uma terceira possibilidade
valorativa no conseqente, onde impera a lei do quarto excludo e nem uma segunda possibilidade na
hiptese, que repousa na lei do terceiro excludo. Esta ser sempre lcita (+) ou ilcita (-) e aquele
sempre obrigatrio, permitido, ou proibido. No h um fato meio licito ou meio ilcito, assim como,
no h condutas meio obrigatrias, meio permitidas ou meio proibidas.
Licitude e ilicitude so predicaes do fato, que o legislador recorda da realidade
social e transporta para o mundo do direito positivo atribuindo-lhe sinal positivo ou negativo, para que
possam produzir efeitos jurdicos. A obrigao, permisso ou proibio so predicaes da relao
206
As estruturas lgicas do direito positivo, p. 78.
170
jurdica, que se transportam para o plano da realidade social, na disciplinao de condutas
intersubjetivas.
A ilicitude de um fato, posto na condio de hiptese normativa, constitui-se pela
negao de uma conduta j valorada, no conseqente de outra norma jurdica, pressupe, portanto,
uma modalizao anterior. O contedo de qualquer fato ilcito a negativa da realizao de condutas
valoradas pelo modal obrigatrio (Op e O-p) ou a positiva realizao de condutas valoradas pelo
modal proibido (Vp e V-p). Se no realizamos uma conduta prescrita como obrigatria (Op), negamos
a conduta valorada juridicamente (-p) e, atribuindo esta valorao negativa que o direito constitui o
conceito de ilicitude do fato. Da mesma forma, na realizao de uma conduta (p), cuja omisso seja
obrigatria (O-p), nega-se a conduta valorada juridicamente e atribuindo esta valorao negativa o
direito delimita a ilicitude do fato.
A licitude, em contra partida, atribuda valorando-se positivamente a realizao de
condutas modalizadas juridicamente pela obrigao (Op e O-p) ou negativamente quando modalizadas
pela proibio (Vp e V-p). Se realizarmos uma conduta prescrita como obrigatria (Op), confirmamos
a conduta valorada juridicamente (p) e atribuindo esta valorao positiva que o direito constitui o
conceito de licitude do fato. Da mesma forma, na omisso de uma conduta (p), cuja no realizao seja
obrigatria (O-p), confirma-se a conduta valorada juridicamente e assim se delimita a licitude do fato.
Um fato pode ser descrito como lcito quando o direito no probe sua realizao, ou
quando probe sua omisso. E, titulado como ilcito quando h uma proibio para sua realizao.
Em outros termos podemos dizer que o mesmo fato lcito quando sua realizao obrigatria ou
quando se perfaz na realizao de uma conduta, cuja omisso no obrigatria e ilcito quando existe
uma obrigao de no realiz-lo. Em resumo, a realizao de um fato s pode ser tipificada como
ilcita quando contrria ao disposto pelo direito. No caso de condutas proibidas a sua realizao ser
contrria (Vp . p) i Se proibido p, a realizao de p implica a ilicitude; (V-p . p) i - Se
proibida a omisso de p, a omisso de p implica ilicitude. No caso de condutas obrigatrias a sua
negao ser contrria ao direito (Op . p) i Se obrigatrio p, a no-realizao de p (-p) implica
ilicitude; (O-p . p) i Se obrigatria a omisso de p (-p), a realizao de p implica ilicitude. No
caso das condutas permitidas nada podemos dizer sobre a ilicitude, apenas sobre a licitude, se a
permisso for positiva (Pp) a realizao da conduta lcita (Pp . p) l; se a permisso for negativa
(P-p) a no-realizao constitui-se como fato lcito (P-p . -p) l. Na valorao da licitude e ilicitude
dos fatos, o legislador s livre para atuar dentro destas possibilidades.
171
Em anlise tabela de interdefinibilidade dos modais denticos, fica mais claro
estabelecermos as relaes entre os modalizadores denticos e as possibilidades valorativas da
hiptese normativa:
Pp -O-p -Vp (a realizao de p lcita e nada se pode dizer sobre a ilicitude)
-Pp O-p Vp (a realizao de p ilcita e a omisso de p lcita)
P-p -Op -V-p (a omisso de p lcita e nada se pode dizer sobre a ilicitude)
-P-p Op V-p (a omisso de p ilcita e a realizao de p lcita)
Determinada pela valorao positiva ou negativa do legislador da realizao ou
omisso de condutas modalizadas pelo prprio sistema, a hiptese normativa indica os fatos lcitos,
valorados positivamente e os ilcitos aos quais atribudo o sinal negativo. Por sua vez, o conseqente
normativo, diante da licitude ou ilicitude da hiptese, valora condutas intersubjetivas, em termos
relacionais, como obrigatrias (O), permitidas (P) e proibidas (V). Temos assim, a reduo do direito a
dois valores factuais (licito e ilcito), presentes na hiptese normativa, e trs valores relacionais
(obrigatrio, permitido, proibido), situados na posio sinttica de conseqente. com emprego destes
cinco valores e com as relaes que se estabelecem entre eles que o direito cumpre seu papel, como
objeto cultural, de disciplinar condutas intersubjetivas.
A princpio todas estas informaes que trabalhamos at agora pode no parecer ter
muito sentido, mas ao longo do trabalho, com o avano de nossas investigaes, vamos percebendo a
importncia destas noes introdutrias sobre a lgica (especialmente a dentica) para compreenso da
estrutura do sistema jurdico e de suas unidades.
172
CAPTULO VII
HERMENUTICA JURDICA E TEORIA DOS VALORES
SUMRIO: 1. Teorias sobre a interpretao; 2. Compreenso e interpretao; 3.
Interpretao e traduo; 4. Interpretao dos textos jurdicos; 5. Sobre o plano
de contedo do direito; 6. Percurso gerador do sentido dos textos jurdicos; 6.1.
S1 o sistema dos enunciados prescritivos plano de expresso do direito
positivo; 6.2. S2 o sistema dos contedos de significao dos enunciados
prescritivos; 6.3. S3 o sistema das significaes normativas proposies
denticamente estruturadas; 6.4. S4 plano das significaes normativas
sistemicamente organizadas; 6.5. Interseco dos planos interpretativos. 7.
Interpretao autntica; 8. Sobre os mtodos hermenuticos tradicionais; 9.
Teoria dos valores; 9.1. Sobre os valores; 9.2. Os valores e o direito.
1. TEORIAS SOBRE A INTERPRETAO
Hermenutica Jurdica a Cincia que tem por objeto o estudo e a sistematizao dos
processos aplicveis para construo e justificao do sentido dos textos do direito positivo. , nos
dizeres de CARLOS MAXIMILIANO, a teoria da arte de interpretar
207
.
Durante muitos anos a tradio hermenutica associou o termo interpretao
idia de revelao do contedo contido no texto. Interpretar era mostrar o verdadeiro sentido de uma
expresso, extrair da frase ou sentena tudo que ela contivesse
208
. Tal idia justificava-se na tradio
filosfica anterior ao giro-lingstico, de que as coisas tinham um significado ontolgico e que as
palavras denotavam tal significado, de modo que, existia um contedo prprio a cada termo. Assim, o
trabalho do intrprete resumia-se em encontrar a significao pr-existente no texto, extraindo o
sentido que ali existia.
Sob esta perspectiva, o sentido era algo dado, contido no texto, mas escondido na sua
implicitude, sendo a funo do intrprete exterioriz-lo.
207
Hermenutica e aplicao do direito, p. 1.
208
O supracitado autor CARLOS MAXIMILIANO, expressa bem esta tendncia, segundo ele: interpretar explicar,
esclarecer; dar significado de vocbulo, atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado;
mostrar o sentido verdadeiro de uma expresso; extrair, de frase, sentena ou norma, tudo o que na mesma se contm
(Idem, p. 9).
173
Com a mudana de paradigma da filosofia do conhecimento, as palavras deixam de
ter um significado ontolgico (atrelado s coisas), vez que a prpria linguagem que cria o objeto. Sob
esta nova perspectiva, o contedo dos textos deixa de ser algo dado, pr-existente, para ser algo
construdo e vinculado aos referenciais do intrprete.
O sentido no est mais escondido no texto (aqui considerado em acepo estrita),
como algo a ser descoberto ou extrado pelo intrprete. No h um sentido prprio (verdadeiro) para
cada palavra, expresso ou frase. Ele construdo por meio de um ato de valorao do intrprete.
Sobre este ponto, PAULO DE BARROS CARVALHO esclarece: Segundo os padres da moderna
Cincia da Interpretao, o sujeito do conhecimento no extrai ou descobre o sentido que se achava
oculto no texto. Ele o constri em funo de sua ideologia e, principalmente, dentro dos limites de seu
mundo, vale dizer, do seu universo de linguagem
209
.
Nestes termos, e seguindo as premissas adotadas neste trabalho, interpretar no
extrair da frase ou sentena tudo que ela contm, mesmo porque ela nada contm. A significao no
est atrelada ao signo (suporte fsico) como algo inerente a sua natureza, ela atribuda pelo intrprete
e condicionada as suas tradies culturais. Uma prova disso est na divergncia de sentidos
interpretados do mesmo texto. Se cada palavra (enquanto marca de tinta presente num papel, ou onda
sonora) contivesse uma significao prpria e o trabalho do intrprete se restringisse em encontrar tal
significao, todos os sentidos seriam unvocos, ou pelo menos tenderiam unicidade. Isto no ocorre
justamente porque o sentido no est no texto, est no interprete e, desta forma condiciona-se aos seus
referenciais lingsticos.
O intrprete constri o contedo textual. O texto (em sentido estrito) significativo,
mas no contm, em si mesmo, significaes (seu contedo). Ele serve como estmulos para a
produo do sentido. As significaes so construdas na mente daquele que interpreta o suporte fsico,
por este motivo, requerem, indispensavelmente, a presena do homem. Assim sendo, podemos dizer
que no existe texto sem contedo, mas tambm no existe contedo sem o ser humano. O contedo
est no homem, apenas atribudo ao texto.
Transportando estas consideraes para a especificidade dos textos jurdicos, vale a
crtica de PAULO DE BARROS CARVALHO sobre a afirmao segundo a qual: dos textos do
209
Direito tributrio linguagem e mtodo, p. 192.
174
direito positivo extramos normas jurdicas
210
. Tal assertiva pressupe ser possvel retirar, de
entidades meramente fsicas, contedos significativos, da mesma forma que se extrai gua de um pano
molhado, ou mel de uma colmia, como se as significaes estivessem impregnadas no suporte fsico e
todo o esforo do intrprete se voltasse para arranc-las de dentro dos enunciados.
O plano de contedo do direito positivo (normas jurdicas) no extrado do
substrato material do texto, como se nele estivesse imerso, esperando por algum que o encontre. Ele
construdo como juzo, na forma de significao, na mente daquele que se prope a interpretar seu
substrato material. O suporte fsico do direito posto apenas o ponto de partida para a construo das
significaes normativas, que no existem seno na mente humana.
Nesta concepo, o homem se torna indispensvel existncia do direito em dois
momentos: para instaurar o processo comunicacional e emitir a mensagem jurdica (emissor
legislador) e depois, para interpretar o texto produzido e construir os juzos normativos (destinatrio
intrprete). Ciente desta dualidade, GABRIEL IVO enfatiza que no universo do direito o prprio
objeto de estudo ele mesmo construdo pelo homem. Assim a presena humana encontrada no s
no plano da cincia, mas tambm, na constituio do objeto. As normas jurdicas no esto a
independentes do homem. O homem as constri. E constri em dois momentos. Quando faz ingressar
por meio dos instrumentos introdutores, os enunciados e, depois, quando, a partir dos enunciados
postos pelo legislador, constri sua significao, a norma jurdica
211
.
Para termos acesso s prescries jurdicas, partimos do texto (em sentido estrito) e,
mediante um processo hermenutico, construmos seu sentido. A mensagem legislativa, assim, s
conhecida, se interpretada. Podemos at fazer uma anlise do plano de expresso, da forma como o
direito se manifesta materialmente: verificar a tinta utilizada, o papel, a fonte das letras, a formatao,
etc. Mas, o conhecimento do contedo jurdico s se atinge mediante um ato de valorao do
intrprete.
2. COMPREENSO E INTERPRETAO
Sendo o direito um objeto cultural, o ato cognoscitivo prprio para seu conhecimento
a compreenso. O compreender um ato satisfativo da conscincia humana, por meio do qual um
sentido fixado intelectualmente como prprio de dado suporte fsico. Tal ato alcanado com a
210
Fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 17.
211
A incidncia da norma jurdica tributria, p. 1.
175
interpretao, processo mediante o qual o contedo de um texto construdo. A hermenutica, assim,
parte da triologia: (i) leitura; (ii) interpretao; e (iii) compreenso. Primeiro o intrprete l, depois
interpreta aquilo que l e compreende aquilo que interpreta. por isso que o mtodo o emprico
dialtico: com a leitura do texto (base emprica) o intrprete constri contedos e os confronta, num
processo inesgotvel, at alcanar a compreeno.
LOURIVAL VILANOVA ensina que interpretar atribuir valores aos smbolos,
isto , adjudicar-lhes significaes e, por meio dessas, referncias a objetos
212
. Sem interpretao o
smbolo fica desprovido de valor e nada diz, o que s corrobora nosso entendimento de que o sentido
no est preso ao suporte fsico, de modo a ser descoberto ou extrado, ele construdo e encontra-se
limitado aos horizontes culturais do intrprete.
Que todo texto tem um plano de contedo e que, segundo os pressupostos adotados
neste trabalho, este construdo pelo intrprete, no h dvidas, a questo saber como ingressamos
neste plano? Como se d a construo de sentido de um texto, ou seja, como passamos do plano de
expresso para o plano do contedo?
Imaginemos que fosse possvel visualizar o trajeto realizado na mente humana para
construo do sentido de um texto qualquer (TGS trajeto gerador de sentido): Ele seria representado
por uma infinita reta em espiral que toma como base o suporte fsico (TE texto em sentido estrito) e
vai seguindo verticalmente limitada aos horizontes culturais do intrprete (H1 e H2). Conforme vo
sendo atribudos valores aos smbolos presentes no campo fsico, estgios de compreenso vo sendo
alcanados (representados pelas espirais C1, C2, C3, C4...) e, assim, o contedo textual vai sendo
construdo (PC plano do contedo), conjugando a formao do texto na sua concepo ampla (TA
texto em sentido amplo: plano da expresso + plano da implicitude ou do contedo).
O grfico
213
abaixo representa tal trajetria:
212
O universo das frmulas lgicas e o direito, p. 15.
213
Grfico construdo por PAULO DE BARROS CARVALHO e apresentado por DANIELA DE ANDRADE
BRAGHETTA em Tributao do comrcio eletrnico.
176
Explicando: do texto em sentido estrito (TE) o interprete inicia sua trajetria
geradora de sentido (representado pela linha reta em espiral no centro da figura), durante este percurso
vai alcanando nveis de compreenso (C1, C2, C3 e C4 representados pelas espirais da reta) e
construindo o contedo do texto (PC). Todo este processo encontra-se limitado por seus horizontes
culturais (representados pelas linhas pontilhadas H1 e H2) e o plano de expresso somado ao plano do
contedo constitui aquilo que denominamos de texto em sentido amplo (TA).
A flecha, no topo da reta em espiral, representa ser a interpretao infinita. O
intrprete vai percorrendo sua trajetria hermenutica e alcanando certos nveis de compreenso (C1,
C2, C3, C4...) at que em algum momento sente-se satisfeito e pra de interpretar, depois retoma o
mesmo processo para alcanar outros nveis de compreenso (C5, C6, C7, C8...), at que se sinta
satisfeito novamente. Aqui visualizamos a assertiva feita acima de ser a compreenso uma forma da
conscincia humana (e o compreender um ato) por meio do qual um sentido fixado como prprio a
dado suporte fsico e a interpretao como processo mediante o qual a compreenso alcanada.
Chamamos ateno, no entanto, para ambigidade do termo interpretao causada
pela dualidade processo/produto. Interpretao e compreenso enquanto produto (contedo
apreendido por uma forma de conscincia) equiparam-se semanticamente, denotando a significao
produzida. Enquanto processo e ato permanece a diferena.
A interpretao (processo) inesgotvel. Este, como explica PAULO DE BARROS
CARVALHO, um de seus axiomas. H sempre a possibilidade de atribuir novos valores aos
smbolos e cada uma dessas possibilidades uma interpretao diferente. Da a idia de
inesgotabilidade: todo texto pode ser reinterpretado, infinitamente. Outro axioma da interpretao,
177
como bem pontua o autor a intertextualidade, caracterizada pelo dilogo que os textos mantm entre
si e que determina todo processo gerador de sentido
214
. Como j vimos (no captulo sobre a teoria
comuniacional do direito), temos uma contextualizao interna ao texto, relativa formao e
estruturao de seus enunciados e uma contextualizao externa, referente s relaes do texto com
outros pr-existentes ou que ainda esto por existir. Ambos influem diretamente na construo de
sentido vez que, nos moldes da filosofia da linguagem, este no se encontra atrelado aos vocbulos,
apontado em razo das formas de uso das palavras e dos referenciais do intrprete que, por sua vez, so
determinados pelo contexto, isto , pelas relaes intra e intertextuais que o sujeito interpretante
estabelece.
No grfico, as duas linhas pontilhadas paralelas reta do trajeto gerador de sentido
(H1 e H2) representam os horizontes culturais do intrprete. Isto porque, sendo o sentido uma
construo do sujeito, no h como dissoci-lo da sua historicidade (cultura). As significaes
construdas no processo interpretativo encontram-se condicionadas aos pr-conceitos e pr-
compreenses do intrprete, no so obras da sua subjetividade isolada, separada da histria, mas s
explicveis a partir de uma tradio, que co-determina sua existncia no mundo
215
. neste sentido que
VILEM FLUSSER afirma: cada palavra, cada forma gramatical uma mensagem que nos chega do
fundo do poo da histria, e por meio de cada palavra e de cada forma gramatical a histria conversa
conosco
216
.
Tal influncia que a histria exerce sobre os contedos significativos produzidos no
processo de interpretao, independe da conscincia que os intrpretes possuem de sua historicidade.
Mesmo sem saber identificar ao certo quais os pr-conceitos e pr-compreenses que informam o
sentido construdo eles esto presentes em toda trajetria hermenutica.
O fato que qualquer pessoa que deseja conhecer uma realidade textual percorre
necessariamente o percurso aqui descrito. E, para ns, que trabalhamos com a concepo do giro-
lingstico, tal caminho se mostra mais do que presente, indispensvel, pois, considerando que toda
realidade linguagem (textual), todo conhecimento pressupe este trajeto.
214
Nas palavras do autor: Dois pontos suportam o trabalho interpretativo como axiomas da interpretao: intertextualidade
e inegotabilidade. A intertextualidade formada pelo intenso dilogo que os textos mantm entre si, sejam eles passados
presentes ou futuros, pouco importando as relaes de dependncia estabelecidas entre eles. (...) A inesgotabilidade, por sua
vez, a idia de que toda a interpretao infinita, nunca restrita a determinado campo semntico. Da a inferncia de que
todo texto poder ser reinterpretado. Eis as duas regras que aprisionam o ato de interpretao do sujeito cognoscente
(Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 193).
215
MANFREDO ARAJJO, Reviravolta lingstico-pragmtica na filosofia contempornea, p. 227.
216
Lngua e realidade, p. 215
178
3. INTERPRETAO E TRADUO
Toda interpretao cria uma nova realidade. Quando atribumos valores, adjudicando
significaes a suportes fsicos, saltamos do plano de expresso para o plano dos contedos,
proporcionando ao intelecto um clima de realidade diferente a cada percurso.
Seguindo as premissas fixadas neste trabalho, as palavras no se relacionam com as
coisas em si, seno com outros termos, de modo que, os sentidos no so unos nem prprios, eles so
atribudos em razo das formas de uso determinadas pelo contexto e esto condicionados pelos
horizontes culturais de cada intrprete. Assim, um mesmo suporte fsico (texto em sentido estrito)
possibilita a construo de infinitos planos de contedos, dando origem a diferentes textos (em sentido
amplo). E, cada texto (em sentido amplo), consubstancia-se numa realidade prpria para o sujeito que
o interpretou. Neste sentido, explica MANFREDO ARAUJO, o mesmo texto (em sentido estrito),
quando compreendido de maneira diferente, se nos apresenta sempre de outro modo
217
.
A leitura do plano de expresso serve como estmulo para a produo de
significaes, sendo estas responsveis pela constituio de diferentes mundos, produzidos em
conformidade com os contextos estabelecidos e os referenciais culturais de cada intrprete. Diante, por
exemplo, da placa: proibido o uso de biquni, podemos construir duas significaes: (i) deve-se
usar roupa mais composta; (ii) deve-se tirar o mai. So duas realidades distintas e contrrias,
ambas constitudas do mesmo suporte fsico.
Mas, como identificar a significao prpria de um texto em sentido estrito?
possvel estabelecer esta relao de propriedade? Em primeiro lugar devemos lembrar que no h
vnculo ontolgico entre suporte fsico e significao e que tudo no passa de uma construo. Os
sentidos so prximos em razo do contexto que os determina e por seus intrpretes vivenciarem a
mesma lngua, isto , terem tradies comuns.
No exemplo acima, considerando-se o contexto, o sentido atribudo placa tenderia
primeira opo (i deve-se usar roupa mais composta) se ela estivesse fixada na porta de uma igreja; e
segunda (ii deve-se tirar o mai), caso fixada na entrada de uma praia de nudismo. Isolando-se o
contexto, diante da placa, uma freira, provavelmente, ficaria com a primeira opo e uma jovem mais
moderninha, com a segunda.
217
Reviravolta lingstico-pragmtica na filosofia contempornea, p. 134.
179
Trabalhando com os pressupostos da teoria comunicacional o que aproxima os
sentidos e conseqentemente as realidades significativas construdas (textos em sentido amplo) o
contexto comum e o fato dos intrpretes vivenciarem culturas prximas. Muda-se o contexto,
modifica-se a significao. Muda-se o intrprete ou seus referenciais culturais e modifica-se a
significao.
Neste sentido, a compreenso no est vinculada ao que o emissor quis dizer.
Embora seja construda em nome dessa prerrogativa, est relacionada aos vnculos que se estabelecem
entre os textos (contexto) e aos referenciais histrico-culturais de cada intrprete. Entre o contedo
pensado pelo emissor e o construdo pelo receptor h um completo aniquilamento de realidades,
transposto pela presena do texto em sentido estrito, onde se objetivam as realidades do emissor e dos
receptores. por isso que, como bem explica TATIANE DOS SANTOS PISCITELLI, a vontade do
legislador de todo inatingvel
218
. O fato de algum realmente compreender o que uma frase
significa, compreender seu sentido, no depende absolutamente de que seu emissor tenha querido
significar isso. A compreenso depende da situao histrica em que a frase usada e no do ato
intencional de querer significar
219
.
4. INTERPRETAO DOS TEXTOS JURDICOS
frente do cientista do direito, tudo que existe como objeto de sua experincia, so
textos (em sentido estrito): um aglomerado de smbolos estruturados em frases que se relacionam entre
si, formando um sistema de signos. Logo, qualquer pessoa que pretenda conhec-lo, no intuito de
compreender a mensagem pretendida pelo legislador, s tem uma alternativa, interpret-lo. por isso
que PAULO DE BARROS CARVALHO, com a preciso que lhe peculiar, enuncia: conhecer o
direito em ltima anlise compreend-lo, interpret-lo, construindo o contedo, sentido e alcance da
mensagem legislada
220
.
Em seu plano de expresso o direito positivo constitudo pela linguagem idiomtica
na sua forma escrita. Este seu suporte material, dado objetivo ao qual todos que lidam com a
realidade jurdica tm acesso. O plano de expresso, no entanto, isoladamente nada diz, preciso
ingressar no plano de contedo para ter acesso mensagem legislada. Isto se torna claro, por exemplo,
quando entregamos a Constituio da Repblica a uma pessoa incapacitada de interpretar os signos ali
218
Os limites interpretao das normas tributrias, p. 35.
219
MANFREDO ARAJO, Reviravolta lingstico-pragmtica na filosofia contempornea, p. 135.
220
Linguagem e mtodo. Texto indito (Cap. 3 item 3.3.1)
180
contidos (analfabeto). Tal indivduo entra em contato com o suporte fsico do direito, percebe as
formas da escrita, capaz de dizer qual a textura do papel, qual o tipo de caligrafia utilizado, a fonte
das letras, a cor da tinta, mas nada pode dizer sobre o contedo legislado.
Mas como ter acesso ao contedo legislado, isto , como so produzidos os sentidos
dos textos jurdicos? E a resposta : como de qualquer outro texto.
O intrprete, limitado por seus horizontes culturais (determinados por suas vivncias
lingsticas), entra em contato com o plano de expresso do direito positivo e, por meio da leitura, vai
atribuindo valores aos smbolos nele contidos e adjudicando-lhes significaes, neste processo
(denominado de interpretao) vai alcanando vrios nveis de compreenso at que se sinta satisfeito,
fixando um contedo significativo como prprio do texto. Por esta trajetria passam invariavelmente
todos aqueles que se propem a uma experincia cognitiva com o direito positivo.
H uma dificuldade, prpria das mudanas de paradigmas, em conceber a norma
jurdica (e conseqentemente o direito) como uma construo do intrprete (significao), justamente
pela subjetividade que lhe atribuda por esta viso. Mas, dentro da concepo filosfica qual nos
filiamos, no conseguimos compreender de outro modo, mesmo porque, a pragmtica jurdica s vem
corroborar com nosso posicionamento. Se o direito (conjunto de normas jurdicas) fosse algo certo e
determinado (significao unvoca) contido nos textos positivados (dado material), no haveria
divergncias doutrinrias, nem jurisprudenciais. O juiz simplesmente extrairia o contedo do texto e o
aplicaria ao caso concreto, numa operao mecnica.
Mas, basta entrarmos em contato com o direito para percebermos como uma nica
frase capaz de dar ensejo a discrepantes construes de sentido, cada qual consoante a valorao que
o sujeito interpretante atribui aos termos empregados pelo legislador. Se a norma jurdica estivesse no
plano material dos textos positivados no haveria tantas discusses sobre o contedo normativo.
Esclarecemos, porm, que adotar a postura de serem as normas jurdicas construo
do intrprete, no importa situar o direito no plano das subjetividades (intra-sujeito) e nem limit-lo
vontade do intrprete. Adotamos uma posio culturalista perante o direito ao conceb-lo como
instrumento lingstico susceptvel de valorao e utilizado para implementar certos valores, mas ao
mesmo tempo, positivista ao considerar que tais valores objetivam-se no texto positivado e que todas
as valoraes do sujeito interpretante esto restritas a ele.
181
O texto em sentido estrito (dado material produzido pelo legislador) a base para as
construes do sentido normativo (contedo jurdico) e nele devem fundar-se todas as construes, sob
pena de no mais se caracterizarem como jurdicas. Fixando tal restrio, PAULO DE BARROS
CARVALHO explica: Em qualquer sistema de signos o esforo de decodificao tomar por base o
texto, e o desenvolvimento hermenutico fixar, nessa instncia material, todo o apoio de suas
construes
221
.
Podemos dizer que os limites construtivos da mensagem jurdica so: (i) o plano de
expresso dos textos jurdicos; (ii) os horizontes culturais do intrprete; e (iii) todo contexto que os
envolve. Isto causa um desconforto em muitos juristas, porque no h um padro significativo para a
construo normativa. Todas as palavras, expresses e frases presentes no texto produzido pelo
legislador podem dar ensejo a inmeras significaes. Mas, o fato que o direito assim.
No existe um limite objetivo para a interpretao, como pressupe a teoria
tradicional. A objetividade do direito est no seu suporte fsico, que aberto. A comunicao jurdica
(entre legislador e intrpretes) se estabelece por ambos vivenciarem a mesma lngua, a mesma cultura,
por estarem inseridos no mesmo contexto histrico. por isso que, para HEIDEGGER, a referncia
objetiva do dilogo, que guia o processo de entendimento mtuo, deve sempre se dar no solo de um
consenso prvio, produzido por tradies comuns
222
. As significaes jurdicas, assim, se aproximam
tendo em conta o mesmo contexto histrico-cultural, mas se afastam na medida em que se considera as
associaes valorativas ideolgicas que informam os horizontes culturais de cada intrprete
223
.
Outro critrio a ser levado em conta, quando da construo das significaes
jurdicas, a intertextualidade interna, ou seja, as relaes que o texto interpretado mantm com outros
textos jurdicos, seu contexto jurdico. O contexto jurdico exerce grande influncia na valorao
significativa, acabando por determinar o contedo produzido pelo intrprete. Mas, no fundo, o prprio
contexto no passa de uma construo interpretativa. Os vnculos intertextuais, bem como os
contedos dos textos com os quais o suporte fsico interpretado se relaciona, so significaes
construdas mediante atos de valorao do intrprete.
221
Fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 15.
222
JRGEN HABERMAS, Verdade e Justificao, p. 87
223
Tal abertura que possibilita sentenas tidas por muitos como absurdas, mas totalmente compatveis aos referencias do
juiz que as produziu.
182
GADAMER trabalha com a premissa de que o processo da interpretao s
possvel sobre o solo de um contexto tradicional comum. Segundo o autor, a pr-compreenso que
um intrprete leva para o texto j , quer ele queira ou no, impregnada e marcada pela histria dos
efeitos do prprio texto dentro de uma comunidade discursiva. Tal tradio, no entanto, dissimulada
por um processo metodolgico assegurador da verdade dos contedos interpretados
224
. Isto quer dizer
que, quando utilizamo-nos do contexto para justificar certo contedo interpretativo, valoramos e
construmos o nosso contexto quando digo qual o contexto porque interpretei o contexto. Ele,
ento, dissimulado, deixa de ser contexto (referencial tradies do intrprete) para ser justificao,
isto , uma forma de legitimao da significao produzida.
Sob esta perspectiva, no existem interpretaes jurdicas certas ou erradas, pois
certo/errado no passa de mais uma valorao e a quem competiria diz-lo? Podemos falar em
interpretaes mais aceitas, menos aceitas, justificadas, no justificadas, positivadas e no positivadas.
5. SOBRE O PLANO DE CONTEDO DO DIREITO
A preocupao da doutrina hermenutica tradicional do direito dedicou-se a
desenvolver um mtodo de uniformizao dos contedos significativos, que conferisse limites e
segurana interpretao, como se fosse possvel determinar um nico sentido prprio para cada
enunciado positivado, o que nos parece uma grande utopia.
Os enunciados prescritivos, constituintes do campo de expresso do direito, so a
base para construo de infinitos contedos significativos, dependentes da valorao que lhes
atribuda e condicionados aos horizontes culturais de cada intrprete. No existe apenas um contedo
significativo prprio, muito menos um esquema hermenutico que aponte qual o sentido correto do
enunciado, exatamente porque no existe um sentido correto.
difcil adotar um critrio que, objetivamente, aponte uma nica possibilidade
valorativa a ser atribuda aos textos produzidos pelo legislador. Pensemos em qualquer critrio
utilizado pela doutrina tradicional ou mesmo aqueles prescritos pelo prprio direito positivo e logo
percebe-se que todos eles pressupem uma valorao e que, no fundo no passam de critrios de
justificao ou legitimao. Analisemos alguns destes critrios:
224
JRGEN HABERMAS, Verdade e Justificao, p. 87
183
(i) vontade significativa do legislador: a hermenutica jurdica tradicional aconselha
interpretar o direito buscando-se a vontade do legislador, com se ela, de alguma forma estivesse
presente no texto (suporte fsico). Mas que a vontade do legislador seno a construo dela pelo
intrprete, condicionada aos referenciais histrico-culturais da lngua que habita? Nestes termos, a
vontade do legislador algo inalcanvel a qualquer intrprete.
(ii) contexto histrico ou jurdico: novamente, ao que temos acesso uma construo
do intrprete, condicionado aos seus horizontes culturais. Ele diz qual o contexto.
(iii) vontade da lei: a lei, enquanto suporte fsico, no tem vontade, o intrprete que
diz qual a vontade da lei, tudo no passa tambm de uma construo determinada por suas vivncias
anteriores. Algumas vezes o direito prescreve como devem ser construdos os contedos de
significao de seus enunciados, utilizando-se da forma metalingstica (sem desvirtuar sua funo
prescritiva) ao dispor que tais e quais termos, expresses ou sentenas devem ser entendidos desta e
daquela maneira o que chamamos de dirigismo hermenutico. Mas, mesmo nestes casos, temos que
interpretar, isto , construir o sentido e dizer que desta e daquela maneira.
O fato que todo o contedo jurdico depende de valorao e esta condiciona-se s
vivncias do intrprete. No existe um mtodo hermenutico que aponte objetivamente um nico
sentido (correto, verdadeiro, prprio) a ser atribudo aos enunciados do direito positivo, o que existe
so tcnicas de construo e justificao das valoraes atribudas. Prevalece a interpretao que
convence, por sua justificao, devido retrica do intrprete, pela identidade de referenciais,
proximidade de culturas, etc.
Um exemplo disso est no descompasso das interpretaes produzidas pela doutrina
jurdica (Cincia do Direito). Vrios autores podem falar sobre um mesmo texto jurdico, mas nenhum
deles o far exatamente do mesmo modo que o outro, pois a cada um competir uma valorao
diferente. Estudamos livros de autores ilustres que dizem uma coisa, depois nos deparamos com outros
autores, to ilustres quanto os primeiros, que dizem exatamente o contrrio e tendemos a aceitar uma
ou outra interpretao, em razo, tambm, dos referenciais que nos constituem como intrpretes.
Lidamos com a construo dos contedos normativos todos os dias, mas temos uma grande dificuldade
em aceit-la como algo condicionado as nossas vivncias, porque interpretamos o direito com a
expectativa da certeza e a segurana da existncia de uma nica significao correta.
184
Alguns autores propem a existncia de um sentido mnimo ao qual o intrprete
estaria limitado. Tal sentido mnimo seria o contedo significativo de base de cada palavra, aceito
arbitrariamente por todos que habitam a mesma comunidade de discurso. O problema a delimitao
deste contedo mnimo quando j sabido que todas as palavras so vagas e potencialmente ambguas.
O sentido de base , tambm, uma significao. As convenes lingsticas determinam as regras de
uso e estruturao dos termos num discurso, mas o conceito do vocbulo construdo,
invariavelmente, na mente do sujeito que o interpreta e o utiliza e, portanto, encontra-se condicionado
as suas vivncias e a seu sistema referencial.
Um exemplo elucida o que queremos dizer: quando a Constituio Federal prescreve
que todos os livros so imunes tributao ns (intrpretes) lemos tal enunciado e passamos a
adjudicar significaes aos seus termos. Todos ns sabemos que um livro, porque vivemos no
mesmo universo lingstico e conhecemos as regras de uso e estruturao da palavra o que seria seu
significado de base. Isto no significa, contudo que temos o mesmo conceito de livro. Quantas folhas
algo precisa ter para ser um livro? Quanto de escrita? Quanto de contedo? Podemos compreender que
a palavra livro refere-se a um conjunto de folhas impressas e reunidas num volume encadernado,
neste sentido, as revistas seriam alcanadas pela imunidade, mas algo no-impresso (i.e. eletrnico)
no. Por outro lado, podemos entender que o termo denota a idia de veculo de transmisso de
contedos culturais e, deste modo, os livros eletrnicos seriam imunes, ao passo que os cadernos no.
E as revistas masculinas, poderamos considerar que elas transmitem contedos culturais? Criaramos
outro problema, justamente porque delimitamos o sentido por meio de outras palavras. Nestes termos,
no h um sentido mnimo, seno aquele que ns construmos e consideramos como mnimo. Da
mesma forma, no h uma interpretao mais correta, seno aquela que ns entendemos que seja a
mais correta.
Neste sentido, no trabalhamos com a existncia de uma interpretao correta,
apenas com aquelas construdas a partir dos enunciados do direito positivo, s quais atribumos o nome
de jurdicas. No entanto, no deixamos de considerar a existncia de sentidos vlidos, aqueles
positivados pelos rgos aplicadores do direito, aquilo que KELSEN denomina de interpretao
autntica. Quando um juiz, ou tribunal, aplica uma norma, ele constri um sentido a partir de certos
enunciados jurdicos (gerais e abstratos) e o positiva para aquele caso em concreto. O sentido
construdo torna-se vlido na forma de novos enunciados jurdicos (individuais e concretos), isto no
significa, porm, que ele o mais correto ou mais justo, apenas que aquela valorao passou a integrar
o direito positivo.
185
Cada um de ns constri o direito (enquanto conjunto de significaes) que acha
mais conveniente, coerente, justo, adequado. Mas, o direito que prevalece num conflito de interesses,
aquele construdo (interpretado) pelo judicirio.
6. PERCURSO DA CONSTRUO DO SENTIDO DOS TEXTOS JURDICOS
Diante dos textos (em sentido estrito) do direito positivo o exegeta, a fim de
compreend-los, s tem uma alternativa: interpret-los. PAULO DE BARROS CARVALHO voltou-se
ao estudo do percurso gerador do sentido dos textos jurdicos, oferecendo-nos um modelo, seguido por
todos aqueles que ingressam nesta empreitada, que nos permite analisar a trajetria de construo do
sentido de qualquer sistema prescritivo (e, propriamente do direito) em quatro planos: S1 (plano dos
enunciados); S2 (plano das proposies); S3 (plano das normas jurdicas); S4 (plano da
sistematizao)
225
.
O ponto de partida para qualquer pessoa que deseja conhecer o direito positivo seu
dado fsico, um sistema de enunciados prescritivos (S1). Este sistema o primeiro plano com o qual o
intrprete, na busca da construo do sentido legislado, se depara, pois nele que o direito se
materializa.
Tendo em frente um conjunto de smbolos estruturados na forma de frases e estas
organizadas na forma de um texto, a atitude cognoscitiva do jurista para com o direito positivo se d,
num primeiro momento, com a leitura. Ao ler tais enunciados ele passa a interpret-los mediante um
processo de atribuio de valores aos smbolos ali presentes e, assim, vai construindo um conjunto de
proposies (significaes), que a princpio aparecem isoladamente.
A partir deste instante, ingressa-se noutro plano, no mais fsico, mas imaterial,
construdo na mente do intrprete e composto pelas significaes atribudas aos smbolos positivados
pelo legislador (S2). Tais significaes, no entanto, embora proposicionais, no so suficientes, em si,
para compreenso da mensagem legislada, isto , para construo do sentido dentico completo, por
meio do qual o direito regula condutas intersubjetivas. preciso estrutur-las na frmula hipottico-
condicional (HC), para que passem a ser proposies normativas e revelem o contedo prescritivo.
Nesta etapa, ingressasse outro plano (S3): o das proposies estruturadas na forma hipottica-
condicional, isto , o plano das normas jurdicas (em sentido estrito).
225
Curso de direito tributrio, p. 126-127 e Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 59-76.
186
Como a norma jurdica no existe isoladamente, depois de construda, resta ao
intrprete situ-la dentro do seu sistema de significaes, passando, ento, a estabelecer os vnculos de
subordinao e coordenao que ela mantm com as outras normas que construiu. Neste momento,
ingressa noutro plano: o da sistematizao (S4).
Ao percorrer todos estas etapas, podemos dizer que o intrprete construiu o sentido
dos textos jurdicos e compreendeu o contedo legislado.
Desmembrando tal processo, temos quatro planos de anlise: (i) S1 sistema dos
significantes, composto pelos enunciados prescritivos que constituem o dado jurdico material, plano
de expresso do direito positivo; (ii) S2 sistema das proposies, composto por significaes isoladas
atribudas ao campo de expresso do direito, mas ainda no deonticamente estruturadas; (iii) S3
sistema das significaes deonticamente estruturadas, plano das normas jurdicas; e (iv) S4
sistematizao das normas jurdicas, no qual so constitudas as relaes entre normas. Estes so os
quatro estgios hermenuticos do direito.
Vejamos a representao destas etapas no grfico abaixo:
Explicando: a compreenso dos textos jurdicos um trabalho construtivo, resultado
de um esforo intelectual. Num primeiro momento, o intrprete entra em contato com um dado
objetivo, a literalidade textual, um aglomerado de frases ordenadas que formam o chamado plano de
187
expresso (S1 representado na ilustrao pela figura da CF e das Leis). Partindo deste plano, com a
leitura dos enunciados prescritivos, o intrprete vai atribuindo valores aos smbolos que os compem e,
assim, construindo em sua mente significaes, que constituem o plano das proposies ainda no
denticamente estruturadas (S2 representado na ilustrao pelo primeiro balo de pensamento). Com
a estruturao destas proposies na forma implicacional (HC), o intrprete junta algumas das
significaes construdas na posio sinttica de hiptese e outras, no lugar de conseqente,
ingressando no plano das normas jurdicas (S3 representado na ilustrao pelo segundo balo de
pensamento). E, por fim, ordenar as significaes normativas, construdas no plano S3, de acordo com
critrios de subordinao e coordenao, compondo os vnculos que se estabelecem sistematicamente
entre as normas, para construir seu sistema normativo (S4 - representado na ilustrao pelo terceiro
balo de pensamento).
Mas, vejamos detalhadamente cada um destes planos:
6.1. S1 o sistema dos enunciados prescritivos plano de expresso do direito positivo
O primeiro contato do intrprete, no percurso de construo do sentido dos textos
jurdicos com o campo da literalidade textual, formado pelo conjunto dos enunciados prescritivos,
um conjunto estruturado de letras, palavras, frases, perodos e pargrafos graficamente manifestados
nos documentos produzidos pelos rgos de criao do direito
226
. seu plano de expresso, nico
dado que lhe objetivo, base material para a construo das significaes jurdicas.
O plano da literalidade representado pelo suporte fsico textual, no qual se
objetivam as prescries do legislador e dos quais parte o intrprete para construo do sentido
legislado. A palavra textual aqui empregada como conjunto de enunciados devidamente
estruturados e os enunciados so tomados como sinnimo de frases
227
. As frases so formas de
transmisso de um sentido completo num processo comunicacional. So formas porque se constituem
num suporte fsico, produzido pela manifestao de um de nossos sentidos (fala, escrita, gestos, etc.).
Tal forma invariavelmente representada por um cdigo comum estruturado convencionalmente para
que o receptor possa construir uma significao aproximada do pensado pelo emissor.
226
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 62.
227
A grande maioria dos autores de lingstica tratam frase e enunciado como sinnimos (JOAQUIM MATTOSO
CMARA JR, Dicionrio de Lingstica e Gramtica Referente Lngua Portuguesa; JEAN DUBOIS, MATHE
GIACOMO, LOUIS GUESPIN, CHRISTIANE MARCELLESI, , JEAN-BAPTISTE MARCELLESI, E JEAN-PIERRE
MEVEL, Dicionrio de Lingstica; ZLIO DOS SANTOS JOTA, Dicionrio de Lingstica, Presena, etc), JOHN
LYONS uma exceo, o autor diferencia enunciado de frase. A frase seria o esquema abstrato da lngua e o
enunciado a sua realizao no discurso. Introduo Lingstica Terica, trad. Rosa Virginia Mattos e Silva e Hlio
Pimentel, ed. Nacional, So Paulo, 1979.
188
Pressuposto das frases formao de um sentido completo, isso quer dizer que da
sua forma podemos construir uma proposio (s p). Quando tal construo no possvel, o suporte
fsico no se caracteriza como um enunciado. Este um dado relevante para o direito. Os artigos que
compem nossa legislao, quando constantes de incisos e alinhas, s viabilizam a construo de um
sentido completo quando interpretados conjuntamente com tais itens; isto significa dizer que sem eles
o enunciado prescritivo no se constitui como tal. J os pargrafos, considerados isoladamente,
configuram-se como enunciados prescritivos, pois suficientes para transmitir um juzo
independentemente do artigo que o pressupe.
Dentre todas as formas que as frases podem ter (escrita, sonora, gestual) a que nos
interessa a escrita, pois o meio pelo qual o direito se manifesta. No h situao juridicamente
conhecida que no seja reduzida forma escrita. A frase escrita aparece fisicamente como marcas de
tinta num papel (aqui considerado na acepo ampla abrangendo tambm os suportes virtuais) e pode
ser constituda de um, ou mais, vocbulos.
Se constituda de uma s palavra, necessrio que ela seja suficiente para construo
de uma proposio (ex: Concluso o processo est com o juiz. Indeferido o juiz no aceitou o
pedido da parte x). Nas frases compostas por mais de um vocbulo, encontramos uma estrutura mais
complexa, denominada sintagma
228
. Sintagma o resultado da combinao de um determinante e um
determinado numa unidade lingustica, podendo ser: (i) nominal, quando o ncleo da combinao for
um substantivo; e (ii) verbal, composto por um verbo.
As frases visualmente expressas so identificadas por marcas especiais de pontuao
aps seu ltimo termo e pelo uso de maiscula na inicial de seu primeiro termo. Os elementos das
frases escritas so as palavras. As palavras so signos (do tipo smbolo) que se constituem de unidades
mnimas significativas denominadas morfemas. Os morfemas so os menores segmentos fnicos
portadores de significado. Podem aparecer como: (i) morfema lexical, ou lexema, quando diz respeito
base gramatical da palavra (tributria - tribut); e (ii) morfema gramatical, ou gramema, determinante
das mutaes nas palavras de mesma base gramatical (tributria ria).
228
Alguns Autores conceituam frase como combinao de palavras ou de sintagmas (MANUEL DOS SANTOS ALVES,
Pronturio da Lngua Portuguesa; EMILE GENOUVRIER e JEAN PEYTARD, Lingstica e Ensino do Portugus, trad.
Rodolfo Ilari, Libraria Almeida; ZELIO DOS SANTOS JOTA, Dicionrio de Lingstica). Esta definio excluiria as
frases de um s vocbulo, como por exemplo: Indeferido.
189
Tais variaes da composio frsica podem ser melhor visualizadas no exemplo
abaixo (art. 113 do CTN):
A obrigao tributria principal ou acessria.
morfemas lexema/gramema
vocbulos
sintagmas
frase/enunciado
Sob este enfoque, reduzindo a sua expresso mais simples, podemos dizer que o
plano material do direito positivo (S1) composto pela associao de lexemas e gramemas. Assim,
para que o intrprete possa construir o sentido dos textos positivados sua primeira condio que
tenha conhecimento das regras de associao destas partculas morfolgicas e compreenda sua
aglomerao como um texto.
A organizao dos signos um ato individual do emissor, determinante para a
construo do sentido pelo intrprete. A construo do contedo normativo tem como pressuposto uma
boa organizao sinttica dos enunciados que compem o plano da literalidade textual do direito
positivo, de tal modo que a no observncia s regras de organizao gramaticais, por parte dos rgos
credenciados para a produo de textos jurdico-prescritivos, compromete o contedo normativo a ser
construdo pelo intrprete.
PAULO DE BARROS CARVALHO chama ateno para a acepo dbia do
vocbulo enunciado. Nos seus dizeres, a palavra enunciado quer aludir tanto forma
expressional, matria emprica gravada nos documentos dos fatos comunicacionais, como ao sentido a
ele atribudo
229
. Portadores desta dubiedade, os enunciados, tanto pertencem ao plano da literalidade
textual, base emprica para a construo das significaes, como participam, ao mesmo tempo, do
plano do contedo normativo com o sentido que, necessariamente, suscitam. nesta acepo que o
autor trabalha a existncia de enunciados implcitos. Exemplos de enunciados explcitos seriam as leis,
seus artigos e pargrafos, enquanto suportes fsicos e de enunciados implcitos os obtidos por
derivao lgica de outros enunciados explcitos, como o princpio da isonomia das pessoas polticas
de direito pblico interno (construdo a partir dos enunciados do art. 1 da CF e do art. 5 da CF).
229
Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 64.
190
Para no incidirmos nos equvocos gerados pela ambigidade do termo, distinguimos
(no captulo sobre lgica jurdica) enunciado e proposio: o primeiro entendido como parte
integrante do plano da literalidade textual, componente do dado material em que se expressa o direito
positivo; o segundo o sentido atribudo aos smbolos que compem o campo de expresso do
primeiro. O enunciado, na linguagem escrita, apresenta-se como um conjunto de morfemas que,
obedecendo a regras gramaticais de certo idioma, materializa a mensagem produzida pelo legislador, e
serve como base para a mensagem construda pelo intrprete, num contexto comunicacional. Neste
sentido, ele aparece sempre de forma objetiva, como dado fsico do direito positivo. J a proposio
no, ela um dado imaterial e apresenta-se como juzo construdo na mente daquele que interpreta o
suporte fsico no qual se materializa o direito positivo
230
.
O nmero de enunciados no , necessariamente, igual ao nmero de proposies
que os tomam como base, pois de um nico enunciado, diferentes proposies podem ser produzidas.
No entanto, no demasiado lembrar que de um enunciado construmos, pelo menos, uma
significao, pois uma das condies para que seja considerado como enunciado sua capacidade de
transmitir um sentido completo. Nota-se que, aqui no estamos falando de uma proposio normativa
(sentido dentico), que complexa, pressupe, essencialmente, uma proposio antecedente e outra
conseqente (HC) e por isto, muitas vezes, precisamos de vrios enunciados para comp-la.
Referimo-nos a um sentido, que todo enunciado tem que ter para ser entendido como tal.
Ao travar contato com o campo de expresso do direito, o que aparece na frente do
intrprete um conjunto de smbolos, de partculas morfolgicas que se entrelaam em relaes de
coordenao e subordinao na composio de palavras, frases, pargrafos, captulos e ttulos. Sua
percepo, de que todo este conjunto constitui um texto, marca o incio da investida exegtica. Basta
um contato cognoscitivo com tal suporte fsico para desencadear, no intrprete, um processo mental de
construo de sentido, o que nos permite metodologicamente isolar o plano da literalidade textual,
deixando suspenso o plano de contedo, para examinarmos especificamente as combinaes
morfolgicas empregadas pelo legislador na produo do discurso jurdico, as estruturaes sintticas
que ordenam os vocbulos nas formaes frsicas e as conexes entre enunciados na formao dos
230
Utilizando-nos desta separao no trabalhamos com a concepo de enunciados explcitos e implcitos. Embora o termo
enunciado remeta-nos idia de um campo explcito (das estruturas morfolgicas que o compem) e outro implcito (do
sentido a ele empregado), fizemos a opo metodolgica de empreg-lo apenas na sua acepo de suporte fsico, no
esquecendo, certamente, a condio de que este dado objetivo seja significativo. Para representar o sentido a ele atribudo,
utilizamo-nos do termo proposio. Logo, com base nesta opo, os enunciados implcitos so na verdade proposies,
juzos construdos mentalmente a partir de certos suportes fsicos (enunciados explcitos) e, assim sendo, no ocupam o
plano de expresso do direito (S1).
191
pargrafos e captulos. Neste mbito de anlise, o conjunto estruturado dos enunciados prescritivos
aparece-nos como um sistema (S1).
O sistema dos enunciados prescritivos, que se constitui na base emprica do direito
positivo, tem um campo de especulaes muito vasto e de grande importncia medida que nele so
introduzidas as modificaes almejadas pelo legislador que influem em alteraes de todos outros
planos hermenuticos. As mutaes de ordem pragmtica, que alteram o contedo significativo
atribudo aos smbolos positivados (planos S2, S3, S4), so incontrolveis, uma vez que dependem de
fatores externos relacionados cultura e historicidade do intrprete. J as modificaes introduzidas
no plano da literalidade textual representam uma deliberao consciente e querida pelas fontes
produtoras do direito.
6.2. S2 o sistema dos contedos significativos dos enunciados prescritivos
Isolada a base fsica dos textos que pretende compreender, com a leitura dos
enunciados prescritivos que os compem, o intrprete ingressa no plano dos contedos e assim o faz
na medida em que vai atribuindo valores aos smbolos constantes no plano da materialidade textual do
direito. Num primeiro momento, os enunciados so compreendidos isoladamente; depois, as
proposies construdas passam a ser associadas e o exegeta tem uma viso integrada do conjunto.
Nesta instncia estamos diante do sistema dos contedos de significao dos enunciados prescritivos
(S2).
O sujeito que ingressa no plano dos contedos dos textos do direito positivo, passa a
lidar com as significaes dos smbolos positivados e no mais com o seu plano de expresso (suporte
fsico). Mergulha no campo semntico, onde reside toda a problemtica que envolve o contexto
jurdico. Seu trabalho volta-se construo de sentidos prescritivos, que implementam diretivos
regulao de condutas intersubjetivas. Por certo que, em vrias passagens, os enunciados do direito se
apresentam na forma declarativa, como se o legislador descrevesse aspectos da vida social, ou
acontecimentos naturais a ela relacionados. Mas, na construo do sentido legislado o intrprete no
deve esquecer que lida com frases prescritivas.
J tratamos da questo da presena, no direito positivo, de enunciados empregados
na forma declarativa (quando falamos da funo da linguagem - Captulo III), mas relevante, neste
tpico, voltarmos ao assunto. Freqentemente o legislador, ao estruturar as palavras que escolhe para
compor seu discurso, o faz na forma declarativa (como, por exemplo, o art. 13 da CF: A lngua
192
portuguesa o idioma oficial da Repblica Federativa do Brasil). A confuso se instaura porque
com a mesma freqncia o legislador evidencia a funo prescritiva ao expressar, em seu discurso,
modalizadores denticos (como por exemplo, o art. 150, IV da CF: vedado Unio, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municpios utilizar tributo com efeito de confisco). Isto nos d a impresso
de que a funo empregada, quando a forma declarativa, a descritiva, o que desqualificaria o direito
como sistema prescritivo. Ocorre que, mesmo quando a estruturao frsica dos enunciados tende-nos
a uma construo de sentido descritiva, devemos entend-los como enunciados prescritivos e assim
interpret-los. Quando dizemos que os enunciados do direito so prescritivos no estamos nos
referindo a sua forma estrutural, mas a seu sentido, isto quer dizer que a significao dele construda
orientada para o setor dos comportamentos estabelecidos entre sujeitos, com o intuito de disciplin-los.
Contudo, neste plano (dos contedos significativos ainda no estruturados
deonticamente S2), embora o intrprete deva ter sempre em mente que lida com sentidos
prescritivos, as significaes so consideradas na forma em que se apresentam os enunciados a partir
dos quais so construdas, para que seja possvel, posteriormente (num prximo plano S3), a
formao do sentido dentico, que pressupe como antecedente estrutural (H hiptese) uma
proposio descritiva. Assim, nesta etapa, comum que o intrprete trabalhe com a Lgica Altica,
compondo suas proposies no modelo S P. Conforme explica PAULO DE BARROS
CARVALHO, neste intervalo, a tomada de conscincia sobre a prescritividade importante, mas o
exegeta no deve preocupar-se, ainda, com os cnones da Lgica Dentica-Jurdica, porque o
momento da pesquisa requer, to-somente, a compreenso isolada de enunciados e estes, quase
sempre, se oferecem em arranjos de forma altica
231
.
Nesta etapa, a preocupao do intrprete volta-se construo das significaes
isoladas dos enunciados. O sentido prescritivo pressupe uma estruturao lgica mais complexa, entre
duas proposies (HC). As significaes elaboradas neste plano tm por base sentenas soltas,
consideradas individualmente e so desprovidas de qualquer forma dentica de agrupamento. As
proposies construdas (em S2), quando estruturadas na forma implicacional passaro a fazer parte de
outro plano, o das significaes normativas (S3).
As significaes dos enunciados prescritivos so elaboradas na mente do intrprete
com a atribuio de valores aos smbolos grficos que os compem. Com tal afirmao queremos
231
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 68.
193
reforar que as proposies no so extradas do texto (suporte fsico), como se nele estivessem
infiltradas. So elas produzidas, pelo intrprete, ao longo do processo de interpretao.
As proposies so produto de um processo hermenutico condicionado pelos
horizontes culturais do intrprete e sofrem influncias permanentes de seu contexto social. Por isto,
ainda que no haja alteraes no plano da materialidade textual, as significaes imprimidas aos
smbolos positivados esto em constante modificao, devido s mutaes histrico-evolutivas da
cultura do intrprete. Este campo de alteraes incerto. Ningum pode prever seguramente qual ser
a direo atribuda s significaes de certos vocbulos num dado momento histrico, porque os
valores, devido s influncias culturais, esto em constante modificao. V-se, por exemplo, a palavra
cnjuge, antigamente conectada idia do casamento, nos ltimos tempos vem assumindo uma
transformao significativa que nos permite conferi-la a membros de unies no legalizadas.
As mutaes no plano dos contedos significativos so muito mais rpidas do que
aquelas realizadas no plano literal, manifestam a evoluo histrico-cultural dos utentes da linguagem
do direito e influenciam fortemente a modificao, por parte dos rgos credenciados, dos textos
jurdicos. Um exemplo disto a palavra comerciante, que por no mais se enquadrar no contexto
histrico-cultural atual, daqueles que manuseiam a linguagem jurdica, foi substituda, pelo legislador,
pelo vocbulo empresrio.
Seja como for, no plano S2, o interprete lida com o contedo dos enunciados de
forma isolada, atruindo sentido s palavras que os compem para a compreenso de cada um deles
antes de se preocupar com a construo da mensagem legislada.
6.3. S3 o sistema das significaes normativas proposies denticamente estruturadas
Construdos os contedos de significao de cada enunciado, no plano das
proposies isoladamente consideradas (S2), o intrprete ingressa em outro estgio: da construo da
mensagem jurdica, em que, associando as proposies elaboradas no estgio anterior, na forma
hipottico-condicional (HC), constri uma significao normativa (norma jurdica). As proposies
isoladamente consideradas no constituem um sentido normativo, preciso uma estruturao, por parte
do exegeta, dos contedos produzidos no curso do processo gerativo de sentido, para que estes se
apresentem como unidades completas de sentido dentico (prescritivo).
194
Para ilustrar a necessidade de contextualizao dos contedos obtidos no curso do
processo gerativo, mais especificamente no plano S2, para a construo do sentido dentico completo
PAULO DE BARROS CARVALHO, utiliza-se de um exemplo no mbito do direito tributrio
232
.
Seguindo o mesmo caminho e utilizando-nos da mesma tcnica, com as mesmas palavras do autor,
trazemos um exemplo no mbito do direito penal, que serve tambm para demonstrar que o
procedimento o mesmo para qualquer que seja o ramo do direito.
Tomemos a frase, constante na lei penal especial, que dispe: Pena recluso de 6
(seis) a 20 (vinte) anos. Aquele que conhece o significado das palavras pena e recluso no
encontrar muitos problemas para construir a significao deste enunciado prescritivo. No entanto, tal
significao no transmite uma mensagem diretiva de conduta, pois faltam-lhe certas informaes. Ao
perceber isto, o intrprete sai procura de outros enunciados com base nos quais possa construir
significaes que completem a unidade do sentido prescritivo. A primeira pergunta : mas o porqu
da pena? No demora muito e se depara com a frase Matar algum com base na qual elabora a
significao que ocupar o tpico de hiptese na estrutura normativa, ligando-se proposio
inicialmente produzida por fora da imputao dentica. Em poucos minutos, o intrprete constri o
sentido normativo: Se matar algum deve ser a pena de recluso de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. No
entanto, permanecem ainda, em sua mente, algumas dvidas que ho de ser esclarecidas mediante
novas incurses nos planos dos enunciados prescritivos e de suas significaes isoladas: em que
instante considera-se realizada a ao matar?; com a ao proferida ou com a morte do agente?; e,
em que lugar? no local da ao ou da morte?. Para sanar tais questes, por alguns instantes, o
intrprete deixa o campo dos enunciados penais especficos, indo buscar suas respostas no campo dos
enunciados penais gerais e de suas unidades significativas. Diante do contedo construdo, outras
dvidas lhe surgem: quem deve cumprir a pena?; para quem se deve cumprir?; como deve ser
feita a determinao do perodo a ser cumprido?. E, l se vai novamente o intrprete busca de outras
unidades de significao at construir um sentido dentico completo, que lhe permita compreender a
mensagem legislada.
Percebe-se, com este exemplo, que o processo de construo do sentido dos textos
jurdicos requer vrias idas e vindas do exegeta pelos planos de interpretao (S1, S2 e S3), Tornando-
se imprescindvel, para construo da norma jurdica, uma srie de incurses aos outros dois
subsistemas (S1 e S2).
232
Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 71.
195
Muita diferena h entre as normas jurdicas, unidades que compem o plano das
significaes normativas (S3), e os enunciados prescritivos. Estes constituem o plano de expresso do
direito positivo (S1), um sistema morfolgico e gramatical, composto por palavras estruturadas em
frases dotadas de sentido, mas que no constituem uma unidade completa de significao dentica (se
S deve ser P). So apenas suportes fsicos, estmulos para a construo de significaes.
A norma jurdica no se encontra no plano de expresso, no faz parte do sistema
morfolgico e gramatical do direito, por este motivo nunca explcita
233
. Est em outro plano: dos
contedos significativos deonticamente elaborados. Ela um juzo construdo pelo intrprete a partir
dos enunciados prescritivos, por isso, sempre implcita. Mas, no obstante seja um juzo, no uma
simples proposio, mas sim uma proposio estruturada na frmula hipottico-condicional (HC),
mnimo necessrio para que uma mensagem prescritiva seja conhecida
234
.
Neste sentido, tambm diferenciamos norma jurdica de proposio. A norma uma
proposio, enquanto juzo construdo a partir de enunciados prescritivos, mas uma proposio
estruturada na frmula hipottico-condicional (HC). As proposies (construdas no plano S2)
compem as variveis, hiptese e conseqente da norma jurdica, mas podem ser consideradas
separadamente. Neste sentido, toda norma uma proposio jurdica, mas o inverso no verdadeiro.
RICARDO GUASTINI explica que no h uma correspondncia biunvoca entre a
forma sinttica dos enunciados e a sua funo pragmtica de prescrever condutas intersubjetivas
235
.
Realmente, esta forma sinttica que corresponde funo pragmtica do direito, encontramos apenas
na norma jurdica (HC), e no nos enunciados prescritivos que constituem o campo de expresso do
direito (S1). Observando a base fsica da linguagem prescritiva, no percebemos a forma lgica
hipottico-condicional que s aparece com a formalizao, mediante o processo de abstrao dos
contedos significativos, substituindo-os por constantes e variveis. Os enunciados so estruturados de
acordo com regras gramaticais e, por isso, sua forma no condiz com a organizao normativa da
significao que lhes atribuda, muito embora ela os tenha como base material.
Em sntese, a norma jurdica resultado de um trabalho mental de construo e
estruturao de significaes. Primeiro, o intrprete entra em contacto com o dado fsico do direito
233
Fazemos esta ressalva, pois h autores que trabalham com a existncia de normas explcitas e implcitas
234
Neste sentido, LOURIVAL VILANOVA denomina a norma jurdica como: o mnimo irredutvel de manifestao
dentica. (Lgica Jurdica, p. 97).
235
Distiguindo, estdios de teora e meta-teora del derecho, p. 93.
196
(plano S1). Em seguida, mediante um processo hermenutico, comea a construir proposies isoladas,
correspondentes aos sentidos das frases que o compem, (plano S2). E, depois, as ordena na forma
implicacional, juntando algumas significaes na posio sinttica de hiptese e outras, no lugar do
conseqente (plano S3). Nesta concepo, a norma jurdica no se confunde com os enunciados
prescritivos que lhe servem como base emprica (elementos do plano S1), nem com as proposies que
a compem (pertencentes ao plano S2).
6.4. S4 o plano das significaes normativas sistematicamente organizadas
Com a norma jurdica, o intrprete chega ao pice da construo do contedo
normativo, pois ela tem o condo de exprimir a orientao da conduta social regulada pelo legislador.
Mas, a norma no pode ser compreendida como um ente isolado, pois ela porta traos de pertinncia a
certo conjunto normativo, passa ento, o intrprete, para uma nova etapa do percurso gerador do
sentido dos textos jurdicos, a fase da sistematizao, plano S4 de seu trajeto hemenutico, instncia
em que estabelecer os vnculos de subordinao e coordenao entre as normas por ele construdas.
Muito rico o campo especulativo que se abre investigao deste plano da
trajetria hermenutica, pois nele que o interessado estabelece as relaes horizontais e as
graduaes hierrquicas das significaes normativas construidas no plano S3, cotejando a
legitimidade das derivaes e fundamentaes produzidas.
Tomemos um exemplo: no percurso gerador de sentido da Lei n. 9.393/96,
transpondo os planos S1, S2 e S3, o intrprete constri a norma jurdica tributria do ITR (imposto
territorial rural), mas como ele sabe que tal norma no existe isoladamente, passa a relacion-la com
outras normas por ele construdas com base naquele ou outros suportes fsicos. Estabelece, assim,
vnculos de subordinao entre a norma constitucional de competncia tributria e a norma do ITR,
posicionando aquela num patamar hierrquico superior e entre a do ITR e a construda a partir do auto
de infrao lavrado pela autoridade administrativa, posicionando esta num patamar hierrquico
inferior. Estabelece tambm relaes de coordenao entre a norma tributria do ITR e outras tambm
construdas a partir da Lei n. 9.393/96, como as de multa pelo no pagamento do tributo, as que
instituem deveres instrumentais (i.e. entrega da DIAC documento de informao e atualizao
cadastral; e da DIAT documento de informao e apurao do ITR), as que fixam multas pelo no
cumprimento de tais deveres; e outras construdas a partir de enunciados veiculados por outros
documentos, como a que autoriza execuo fiscal, prescreve prazos decadenciais e prescricionais do
197
crdito tributrio, formas de suspenso da exigibilidade, etc. Neste esforo acaba por construir o
sistema jurdico da tributao territorial rural.
tambm neste plano que o intrprete, ao estabelecer relaes de subordinao,
verifica a fundamentao jurdica das normas, detectando vcios de constitucionalidade de legalidade.
Como o estabelecimento dos vnculos (de subordinao ou coordenao) entre
normas pressupe valorao, cada intrprete constitui seu prprio sistema, em razo de suas
preferencialidades e decises interpretativas. Isto explica, por exemplo, a divergncia doutrinria entre
as correntes dicotmica e tricotmica na interpretao do art. 146 da Constituio. Segundo a corrente
dicotmica, o princpio da autonomia dos entes federativos no permite que lei complementar federal,
em carter geral, disponha sobre matria tributria de competncia municipal e estadual, nestes termos
o inciso III do art. 146 deve ser interpretado unicamente para os casos dos incisos I (dispor sobre
conflito de competncia) e II (regular limitao ao poder de tributar). De acordo com a corrente
tricotmica, o inciso III do art. 146 no fere o princpio da autonomia, competindo lei complementar
federal estabelecer normas gerais em matria tributria sobre definio de tributos e suas espcies,
fatos geradores, base de clculo, contribuintes, obrigao, lanamento, crdito, prescrio e
decadncia. Esta diferena interpretativa ocorre, porque aqueles que trabalham com a corrente
dicotmica atribuem maior carga valorativa ao princpio da autonomia, colocando-o num patamar
hierarquicamente superior construo significativa do art. 146 da CF, numa relao de subordinao
entre normas. J os adeptos da corrente tricotmica interpretam conjugadamente tais dispositivos,
estabelecendo entre eles uma relao de coordenao.
Neste sentido, cada intrprete constri seu sistema jurdico. Com esta afirmao no
estamos dizendo que antes de interpretado o direito no se constitui como um sistema, conforme
pressupe GREGORIO ROBLES MORCHON
236
. Como estudaremos com maior profundidade (no
captulo sobre ordenamento jurdico), para o autor espanhol o direito positivo um ordenamento de
textos brutos que s adquire organizao sistmica quando interpretado. Para ns no, o direito, em sua
materialidade existencial, enquanto conjunto de enunciados prescritivos j um sistema, organizado de
acordo com o processo e a competncia enunciativa. Existem enunciados constitucionais, legais, infra-
legais, judiciais, administrativos, etc. Isto demonstra certa organizao, que independe da interpretao
que lhe dada. Ademais, as frases encontram-se estruturadas em relao de subordinao e
236
Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), Vol. 1, p. 111-127.
198
coordenao com outras frases, justamente para que possam ser compreendidas, o que, por si s j
atribui a caracterstica de sistema ao conjunto dos textos brutos do direito positivo.
A sistematizao das normas jurdicas toma como base critrios de organizao dos
enunciados prescritivos (ex. veculo introdutor; matria), mas no deixa de ser um ato de interpretao
informado pelos horizontes culturais do intrprete. Isto explica porque, s vezes, elevamos uma regra
constitucional em detrimento de outra tambm constitucional, de uma lei em detrimento de outra, etc.
6.5. Integrao entre os subdomnios S1, S2, S3 e S4
Os planos S1, S2, S3 e S4 no devem ser entendidos isoladamente, eles fazem parte
do processo gerador de sentido dos textos jurdicos. Neste processo o intrprete transita livremente por
estes planos, indo e vindo por vrias vezes em cada um deles, mas sem deles sair em qualquer
momento. Com tais cruzamentos, ratifica-se a unidade do sistema jurdico, que visto como um todo
trabalhado e construdo pelo intrprete.
As integraes entre os planos interpretativos ocorrem todo momento, desde o
comeo at o final da investida hermenutica. Ao construirmos normas jurdicas, socorremo-nos vrias
vezes ao plano dos enunciados (S1) e das proposies (S2) para sanar dvidas quanto aos critrios que
a compem, iniciando novamente todo um percurso gerador de sentido. Da mesma forma, quando
cotejamos a norma construda com enunciados constitucionais (plano S4), por exemplo, voltamos ao
plano S1 e retomamos todo o percurso mais uma vez. Dizer que, na construo de sentido dos textos
jurdicos, o intrprete passa necessariamente pelos planos S1, S2, S3 e S4, apressadamente pode nos
dar a idia de que ele ingressa em cada um destes planos uma nica vez, mas no isto. A construo
de sentido dos textos jurdicos requer vrias investidas nestes sub-domnios.
Interpretar o direito uma atividade que no tem fim. A construo e sistematizao
de uma norma leva-nos construo e sistematizao de outra, que nos leva construo de mais outra
e este processo infinito, s acaba quando o intrprete, mediante um ato de vontade, decide parar.
Mas, mesmo quando para, basta um novo contato com os textos para que esta trajetria se instaure
novamente.
O ponto de partida sempre a materialidade textual do direito positivo, plano de
expresso (S1). A partir da leitura dos enunciados, o intrprete constri significaes isoladas que
ainda no configuram um sentido dentico (plano S2), para isso faz diversas incurses no plano S1. Ao
199
estruturar as proposies construdas em antecedente e conseqente, ligadas por um vnculo
implicacional, ingressa no plano das normas jurdicas (plano S3). Tal estruturao requer novas
incurses nos planos S2 e S1 medida que so suscitadas questes envolvendo o contedo construdo.
Para ordenar as significaes normativas estabelecendo relaes de subordinao e coordenao entre
elas (plano S4), o exegeta faz novas incurses nos outros sub-domnios e assim vai transitando por eles
at sentir ter compreendido a mensagem legislada.
Depois de construda, se o intrprete for rgo credenciado pelo sistema, a norma
ser aplicada mediante sua formalizao em linguagem competente. Isto importa reconhecermos que
do plano S4 voltamos ao sub-domnio S1, com o surgimento de mais elementos jurdicos objetivados
(enunciados prescritivos). Se o intrprete no for pessoa competente, a materializao de sua
construo se dar em linguagem no-jurdica. Ingressamos tambm, no sub-sistema S1, mas desta vez
das Cincias Jurdicas ou de outro texto qualquer.
7. INTERPRETAO AUTNTICA
Independentemente da pessoa que realize a interpretao, a significao construda a
partir do suporte fsico produzido pelo legislador direito positivo. S passa a ser Cincia do Direito
quando emitido um enunciado cientfico (na forma S P).
Toda construo de sentido dos textos jurdicos (suporte fsico), repousa no campo
da significao destes. Considerando-se o signo como uma relao tridica entre um suporte fsico, sua
significao e seu significado, no possvel dizer que o suporte fsico existe independente de sua
significao, ou seja, que o suporte fsico direito positivo e sua significao Cincia Jurdica. Os
planos S2, S3, e S4 so componentes da significao do plano S1, so, portanto, partes do mesmo
objeto, separado apenas metodologicamente, para fins de anlise.
Um estudo mais detalhado do tringulo semitico, tendo o direito positivo como um
grande signo, esclarece melhor tal assertiva.
200
Explicando: O direito, enquanto signo, constitui-se numa relao entre suporte fsico,
significado e significao. Como j vimos (no captulo sobre a teoria da comunicao), o suporte fsico
seu dado material, formado pelo conjunto de enunciados prescritivos (representados pela figura da
CF e das Leis, a esquerda na ilustrao), seu significado so as condutas entre sujeitos por ele
prescritas (representado pela figura, a direita na ilustrao) e sua significao so as normas
jurdicas, construdas como juzos hipotticos-condicionais na mente daqueles que o interpreta
(representados pela figura de cima na ilustrao). Relacionando tais conceitos com os planos do
processo gerador de sentido, temos o S1 (plano de expresso composto pelos enunciados
prescritivos) como o suporte fsico do direito e todos os demais planos (S2, S3 e S4) como
significaes prprias de seu suporte fsico.
No caso da linguagem jurdica produzida pelo legislador (autoridade competente), o
suporte fsico prescritivo, logo, toda significao construda a partir dele tambm o , caso contrrio,
no seriam significaes prprias daquele suporte fsico. Nestes termos, no h como se construir uma
Significao
CF
B-------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
----------
LEI
A------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
----------
LEI
B-------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
-----------
1
S1 - Plano de Expresso
(enunciados prescritivos)
xxxxx, yyyyyy,
kkkkk, rrrrrrr
2
S2 - Plano Proposicional
(significaes isoladas)
H C
3
S3 - Plano Normativo
(significaes deonticamente estruturadas)
N1
N2 v N3
N4
4
S4 - Plano de Sistematizao
(normas jurdicas estruturadas em
relaes de coordenao e subordinao)
direito
Suporte fsico
Significado
201
proposio descritiva a partir da leitura dos enunciados do direito positivo sem o comprometimento da
mensagem legislada que de cunho prescritivo e no descritivo. A descrio vem numa etapa
posterior, primeiro o intrprete constri o sentido, que prescritivo, depois dele o descreve, na forma
de enunciado descritivo que, quando interpretado dar ensejo a uma significao descritiva.
Fazemos esta ressalva para explicar em que sentido utilizamos a expresso
interpretao autntica. HANS KELSEN distingue: (i) interpretao autntica; e (ii) interpretao
doutrinria. A primeira realizada por rgo competente na aplicao do direito e a segunda por entes
no credenciados pelo sistema. Segundo autor, a interpretao feita pelo rgo aplicador sempre
autntica, porque ela cria direito
237
. Sob este enfoque, o critrio de diferenciao o sujeito intrprete,
se a interpretao for feita por pessoa credenciada juridicamente autntica, se produzida por qualquer
outra no competente, doutrinria.
Para ns, independentemente da pessoa, as significaes construdas no processo
interpretativo, que tomam por base o suporte fsico positivado pelo legislador, so direito positivo. O
que caracteriza a interpretao como autntica, no o sentido, mas a linguagem na qual ele se
materializa. Quando um rgo aplica uma norma ele se pronuncia sobre o contedo do texto legislado,
fixando juridicamente o sentido deste, com a produo de uma nova linguagem jurdica. Ao contrrio,
em qualquer outra circunstncia, quando uma pessoa interpreta o direito, no produz um enunciado
jurdico e, com isso, o sentido construdo no passa a integrar o sistema. Nestes termos, o que
caracteriza a interpretao autntica no a situao do intrprete, a produo de uma linguagem
competente, no mais, ela igual a qualquer outra.
O grfico abaixo ilustra tal concepo:
237
Teoria pura do direito, p. 394.
202
Explicando: Da leitura () do plano de expresso do direito positivo (S1), o
intrprete constri em sua mente proposies isoladas (S2), depois as estrutura na forma (HC)
ingressando no plano das normas jurdicas (S3) que organiza, mediante relaes de coordenao e
subordinao, para formao de seu sistema normativo (S4). Percorrido este trajeto e construdo o
sentido do texto legislado, o intrprete pode aplic-lo () ou descrev-lo (). Se o aplica, produz
outra linguagem jurdica (direito positivo) e sua interpretao constitui-se como autntica, se apenas o
descreve, no produz novo direito positivo e sua interpretao constitui-se como no-autntica.
Temos, assim, por autntica a interpretao positivada, realizada no curso do
processo de aplicao, que se materializa com a produo e uma linguagem competente (i.e. a
construo do sentido normativo feita por um juiz, aplicado na sentena). O produto (no caso sentena)
jurisdiciza a interpretao (valorao do juiz) tornando-a jurdica e isso faz com que ela seja uma
interpretao autntica.
Qualquer outra atribuio de significaes aos textos do direito posto, que no resulte
na produo de enunciados jurdicos, tambm uma interpretao constitutiva de proposies jurdicas
203
(prescritivas). Diferentemente de KELSEN, no entanto, preferimos dizer que se trata de interpretaes
no-autnticas ao invs de interpretaes doutrinrias, para abranger no s aquelas produzidas de
forma rgida e precisa, mas tambm as elaboradas de forma desprendida, por aqueles que apenas
desejam saber qual conduta seguir juridicamente. Nestes termos, caracterizando a interpretao
autntica como aquela juridicizada pelo direito, todas as demais so no-autnticas.
Um juiz, mesmo, pode construir vrios juzos normativos durante o curso do
processo, cada um deles resultante de atos de interpretao diversos, no entanto, s ser autntica
aquela valorao da qual resultar o sentido positivado pela sentena.
Para ns a interpretao feita pelo sujeito competente para produzir normas e aplic-
las a mesma realizada por aquele que no goza de tal aptido. A diferena est na linguagem
(enunciado) em que ela materializada. Para algum dizer a norma x inconstitucional atravessa os
quatro planos da construo do sentido dos textos jurdicos (S1, S2, S3 e S4). O percurso realizado o
mesmo tanto para o sujeito competente (STF), quanto para aquele que no goza de tal capacidade.
Ambos constroem sentidos prescritivos, um para aplicar outro para descrever. A diferena que o
primeiro criar novo enunciado jurdico, positivando o sentido interpretado e o segundo no.
8. SOBRE OS MTODOS DE ANLISE DO DIREITO
A Hermenutica Jurdica tradicional aconselha alguns mtodos de interpretao, a
serem aplicados para a construo do sentido dos textos jurdicos. So eles: (i) literal, ou gramatical;
(ii) histrico, ou histrico-evolutivo; (iii) lgico; (iv) teleolgico; e (v) sistemtico. Faamos aqui
algumas crticas e consideraes a respeito de cada um deles.
(i) Mtodo literal, ou gramatical, seria aquele mediante o qual o intrprete preocupa-
se com a literalidade do texto, restringindo-se ao significado de base dos signos. Para doutrina
hermenutica tradicional a interpretao literal se limita ao texto (em sentido estrito), como se nele
estivesse contido algum contedo mnimo de significao, ou como se houvesse sentido na
literalidade. Para ns, que trabalhamos o sentido enquanto contedo de significao, construdo na
mente humana num processo hermenutico, no h sentido literal. Toda interpretao, at mesmo
aquela que se diz ser literal, pressupe um processo gerador de sentido, delimitado pelo contexto, onde
influem valoraes condicionadas s vivncias culturais do intrprete. Isto quer dizer que a
interpretao dita literal no se restringe unicamente s expresses gramaticais do texto, como se
nelas pudssemos encontrar e extrair significaes.
204
Tal mtodo de interpretao se enquadra perfeitamente na proposta da hermenutica
jurdica tradicional, em que os contedos de significao so procurados e encontrados, mas no
consoante ao nosso pensamento fundado nas propostas do giro-lingstico, em que os contedos
significativos so criados, produzidos e elaborados pelo intrprete com base nos critrios de uso das
palavras e seu contexto histrico-cultural.
Neste contexto, cabe-nos avaliar a crtica expresso in claris cessat interpretatio
(disposies claras no comportam interpretaes). CARLOS MAXIMILIANO refuta esta idia,
argumentando que uma lei clara quando o seu sentido expresso pela letra do texto, mas para saber
isto, preciso conhecer o sentido, o que s ocorre com a interpretao
238
. Embora o autor seja um dos
seguidores da hermenutica jurdica tradicional, sua crtica, s vem corroborar com nossa tese, pois
pressupe que este sentido depende da interpretao.
Nenhum sentido expresso, ele s existe na mente de quem, diante de um suporte
fsico, o interpreta. Por mais claro que nos parea, a significao de um enunciado no nos salta aos
olhos como se desabrochasse do suporte gramatical que a instiga. Ela construda na mente do
intrprete e nunca expressa na letra do texto.
Por mais clara que parea uma lei, seu sentido s existe como produto de um
processo interpretativo, mediante a atribuio de valores, pelo intrprete, aos smbolos que compem
seus enunciados. No h como escapar dessa trajetria hermenutica. A clareza de um enunciado
pressuposta quando o intrprete no encontra muita dificuldade na trajetria interpretativa, no porque
o processo de interpretao no existiu. Tanto que um mesmo enunciado pode ser claro para uma
pessoa e no to claro para outra.
A hermenutica tradicional trabalha a interpretao literal como aquela na qual o
intrprete, ao percorrer a trajetria geradora de sentido, se prende ao significado de base dos signos
positivados. Para ns, aquilo que se chama significado de base tambm uma valorao e depende
da intertextualidade (contexto) que o envolve e, por isso, deixa de ser literal. Nenhuma palavra ou
enunciado podem ser compreendidos isoladamente, pressupondo sempre uma contextualiao. Nos
dizeres de PAULO DE BARROS CARVALHO, o intrprete da formulao literal dificilmente
238
Hermenutica e aplicao do direito, p. 39.
205
alcanar a plenitude do comando legislado, exatamente porque se v tolhido de buscar a significao
contextual e no h texto sem contexto
239
.
Queremos registrar que, segundo a concepo por ns adotada, no existe
interpretao literal. Aquele que diz realizar uma interpretao literal parte da literalidade (plano de
expresso S1), atribui valores aos smbolos positivados e constri significaes que, por mais
simples que lhe paream, no se encontram no mbito da literalidade e sim das proposies (plano das
significaes S2, S3, S4).
Podemos falar, entretanto, na existncia de uma anlise jurdica literal, que nos
permite examinar o plano de expresso do direito, mas no mais que isso. uma anlise sinttica ou,
mais especificamente, gramatical, onde so observadas as relaes entre palavras, a estruturao
frsica utilizada pelo legislador, se os substantivos, adjetivos, verbos e conectivos encontram-se bem
arranjados na composio dos enunciados, cumprindo suas funes especficas, etc. Mas, no podemos
falar numa interpretao literal, pois quando interpretamos samos do plano da literalidade, que
fsico, e ingressamos no plano dos contedos de significaes, que valorativo.
(ii) O mtodo de interpretao histrico-evolutivo valoriza as tendncias e
circunstncias que envolvem a produo dos textos jurdicos. Para hermenutica tradicional, com este
mtodo, o sentido construdo traando-se a evoluo do contexto histrico que o envolve.
De acordo com as premissas fixadas neste trabalho, todo sentido determinado pelo
contexto que o envolve, sendo este, quando delimitado pelo intrprete, uma forma de justificao das
proposies construdas. Nestes termos, o modelo histrico-evolutivo uma forma de encarar
analiticamente as construes significativas do direito positivo. Volta-se, assim, ao seu plano
semntico e pragmtico, mas nada diz sobre seu plano sinttico, sua forma organizacional, a estrutura
normativa e as relaes entre normas, proporcionando-nos uma viso restrita da realidade jurdica. Mas
no deixa de ser um modelo relevante para aqueles que se dedicam especialmente aos estudos das
significaes e da aplicao das normas jurdicas.
(iii) O mtodo lgico de interpretao, segundo a doutrina hermenutica tradicional,
aquele mediante o qual os contedos de significao so construdos e amarrados com a aplicao de
239
Curso de direito tributrio, p. 106.
206
regras da lgica formal, a partir de dedues (processo pelo qual de duas ou mais proposies conclui-
se uma terceira).
Em toda e qualquer trajetria hermenutica, muitas vezes sem perceber, realizamos
operaes dedutivas, mas a lgica cuida da estruturao das significaes e no dos contedos
significativos e da aplicao destes, por isso, como mtodo de anlise do direito positivo insuficiente.
Trabalhamos com o mtodo lgico para estudar as relaes estruturais do sistema
jurdico. Como vimos no captulo anterior, chegamos s frmulas lgicas por meio de um processo
denominado de formalizao, mediante o qual, os contedos significativos so abstrados e
substitudos por constantes e variveis. As constantes so sincategoremas, articuladores da frmula
proposicional, invariveis e de significao incompleta, no bastantes para perfazerem um esquema
formal completo (ex: o conectivo da frmula normativa HC), e as variveis so categoremas,
termos completantes que se modificam medida que so preenchidas pelas diversas possibilidades
significativas construdas a partir do plano de expresso do direito (ex: os termos H e C da
frmula normativa HC). Com a abstrao dos contedos significativos, para o estudo das frmulas
estruturais do sistema, o mtodo lgico permite uma anlise bem detalhada do plano sinttico do
direito positivo, no entanto, empobrecida no mbito semntico e pragmtico. Assim, dizemos que ele
nos propicia apenas um ponto de vista sobre o direito: o ponto de vista sinttico, sendo indispensvel
para qualquer um que deseja examinar profundamente este plano, mas insuficiente para anlise do
sistema como um todo.
(iv) O mtodo teleolgico, segundo a hermenutica tradicional, valoriza a finalidade
da norma, buscando indicar a direo da prescrio jurdica posta pelo legislador. Sob este mtodo, o
intrprete, ao construir o sentido dos textos jurdicos deve buscar o fim para o qual a norma foi criada.
Esta finalidade, no entanto, no deixa de ser uma valorao do intrprete. Assim, o mtodo teleolgico,
como o histrico-evolutivo, uma forma de justificao e legitimao das significaes normativas
construdas no processo hermenutico e tambm um modo de encar-las analiticamente. voltado
para o estudo dos contedos normativos e paralelamente da aplicao da norma jurdica, ou seja, aos
planos semntico e pragmtico do direito, mas nada informa sobre seu plano sinttico, resultando uma
viso tambm restrita da realidade jurdica. Entretanto, no deixa de ser um mtodo importante para a
investigao dos contedos significativos do direito.
207
(v) O mtodo sistemtico de interpretao proporciona a compreenso do direito,
enquanto um conjunto de disposies normativas que se relacionam entre si, conduzindo o intrprete a
uma viso plena do direito positivo. Com ele, observa-se no s a norma isoladamente, mas tambm
suas relaes com todas as demais prescries que formam o sistema jurdico. Na anlise sistemtica
os enunciados, as proposies e as normas em sentido estrito (H C) s so compreendidas quando
examinadas tendo em conta o todo que as envolve.
A utilizao deste modelo permite a anlise de todos os planos da linguagem
jurdica, atravessando seus planos sinttico, semntico e pragmtico, por isso, ele eleito como o
mtodo por excelncia no estudo do direito. Conforme enfatiza PAULO DE BARROS CARVALHO
os mtodos literal e lgico esto no plano sinttico, enquanto o histrico e o teleolgico influem, tanto
no nvel semntico, quanto no pragmtico. O critrio sistemtico da interpretao envolve os trs
planos e , por isso mesmo, exaustivo da linguagem do direito. Isoladamente, s o ltimo (sistemtico)
tem condies de prevalecer, exatamente porque ante-supe os anteriores. , assim, considerado o
mtodo por excelncia
240
.
Dizer, no entanto, que o modelo sistemtico o mais completo, no significa
desmerecer os outros mtodos apontados acima, pois cada um tem uma finalidade especfica, o que
propicia a anlise direcionada, muito embora no sejam eficazes para o conhecimento do direito como
um todo.
9. TEORIA DOS VALORES
Tudo que dissemos acima faz sentido quando estudamos a Teoria dos Valores. Se o
plano do contedo normativo formado pelas significaes construdas a partir da interpretao do
suporte fsico do direito positivo e esta interpretao constitui-se num processo de atribuio de
valores aos smbolos positivados, conclumos que o plano dos contedos normativos valorativo e,
portanto, seu estudo, pressupe necessariamente o ingresso na Axiologia, ou Teoria dos Valores.
Alm disso, o direito um objeto cultural, produzido para alcanar certas finalidades,
ou seja, certos valores que a sociedade deseja implementar e, para isso, o legislador recorta do plano
social as condutas que deseja regular valorando-as com o sinal positivo da licitude e negativo da
240
Curso de direito tributrio, p. 100.
208
ilicitude ao qualificar-las como obrigatrias, permitidas ou proibidas. Nestes termos, o valor inerente
ao direito. Ele est presente em toda sua extenso (sinttica, semntica e pragmtica)
241
.
9.1. Sobre os valores
Preocupado com a relevncia do dado axiolgico na constituio do jurdico,
PAULO DE BARROS CARVALHO explica que os valores tomados isoladamente assumem a feio
de objetos metafsicos, cujo modo de ser o valer, em suas palavras, os valores no so, mas
valem
242
. De acordo com as lies do autor, o que nos d acesso aos valores a intuio emocional,
no a sensvel (captadora dos dados fsicos) ou a intelectual (associativa de significaes) e, assim que
entramos em contato com eles, nossa ideologia atua como um critrio que os avalia e os filtram. Mas, a
prpria ideologia, em si, constitui-se pela consolidao de valores, depositados paulatinamente pelas
experincias de vida de cada um e que funciona como esquema seletor de outros valores, de modo que
o valor s existe (vale) dentro de uma cultura. Seguindo essa linha e citando TRCIO SAMPAIO
FERRAZ JR., os valores so preferncias por ncleo de significaes
243
, cujo existir limita-se ao ato
psicolgico de valorar e que se manifestam pela no-indiferena de um sujeito perante um objeto.
MIGUEL REALE, em aprofundado estudo sobre os valores, seguindo a linha de
JOHANNES HASSEN, apontou certas caractersticas que identificam sua presena. So elas:
(i) bipolaridade: todo valor se contrape a um desvalor, ao bom se contrape o mau;
ao belo se contrape o feio; ao certo o errado; e o sentido de um exige o outro;
(ii) implicao recproca: nenhum valor se realiza sem influir, direta ou
indiretamente, na realizao dos demais, o certo implica o justo que implica a liberdade;
(iii) referibilidade: o valor importa sempre uma tomada de posio do homem
perante algo, atribumos valor s coisas, aos homens e a ns mesmos, constituindo referncias belo-
homem, justa-causa;
241
Assim ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, o dado valorativo est presente em toda configurao do jurdico,
desde seus aspectos formais (lgicos), como nos planos semntico e pragmtico (Direito Tributrio, linguagem e mtodo,
p. 174).
242
Idem, p. 176.
243
Introduo ao estudo do direito, p. 111.
209
(iv) preferibilidade: o valor demonstra uma orientao, uma tomada de posio que
aponta para uma direo dentre vrias direes, o valor que atribumos a um objeto aquele que
preferimos dentre todos os outros;
(v) incomensurabilidade: os valores no podem ser mesurados, no possvel se
estabelecer uma medida de valores;
(vi) graduao hierrquica: sempre que valores so considerados, nossa ideologia
constri uma escala hierrquica na qual tais entidades se alojam, dado o elemento intrnseco da
preferibilidade;
(vii) objetividade: os valores configuram-se como qualidades aderentes, que os seres
humanos predicam a objetos (reais ou ideais), pressupem, invariavelmente a presena desses objetos;
(viii) historicidade: os valores so frutos da trajetria existencial dos homens, no
caem do cu, nem aparecem do nada, na evoluo do processo histrico social que os valores vo
sendo constitudos;
(ix) inexauribilidade: o valor no se esgota. Atribui-se o valor justia a certa
deciso, e nem por isso faltar justia para predicarmos a outras condutas dos seres humanos
244
.
A estas caractersticas ainda podemos adicionar mais uma: a atributividade (x), pois
o valor pressupe necessariamente a presena humana e um ato de atribuio, que lhe vincule a um
objeto. Os valores no nascem atrelados s coisas, o homem que, mediante um ato de conscincia (
designado valorar), os atribui a objetos de sua experincia. Vejamos o exemplo do botoque
utilizado nas tribos indgenas para alargamento dos lbios inferiores. Os integrantes da tribo atribuem
ao ndio com botoque o valor de beleza e quanto maior o botoque, mais belo o consideram. J o
homem integrante de uma sociedade urbana diante do mesmo ndio lhe atribui o valor de feira. Nota-
se que o valor no est atrelado ao objeto, se assim o fosse, o ndio com botoque seria belo em
qualquer lugar do mundo. O valor atribudo ao objeto pelo homem e este ato condicionado pela
cultura em que ele se encontra inserido. Retirem-se os homens do mundo e os valores desaparecem
com eles. Esta caracterstica fundamental para compreendermos o direito.
244
PAULO DE BARROS CARVALHO, Curso de Direito Tributrio, p. 142-143.
210
Fazendo uma relao entre o direito (tomado aqui em seu plano de contedo
conjunto de normas jurdicas) e os traos que assinalam a presena de valores, encontramos todas estas
caractersticas. Vejamos cada uma delas: (i) bipolaridade: para cada sentido, construdo a partir dos
enunciados prescritivos, h um sentido contraposto, que permite o contraditrio entre as partes; (ii)
implicao recproca: a tomada de posio sobre um contedo de significao implica reciprocamente
a eleio de outros sentidos que dele derivam (ex: o direito a vida implica a sano pelo homicdio);
(iii) referibilidade: o sentido algo atribudo a um smbolo, de modo que os contedos normativos
fazem sempre referncia a enunciados prescritivos; (iv) preferibilidade: as significaes construdas no
processo interpretativo so aquelas preferidas dentre todas as outras possveis; (v)
incomensurabilidade: os contedos normativos no so mensurveis, no se pode, por exemplo
estabelecer uma media para o direito de liberdade; (vi) graduao hierrquica: construmos o plano de
contedo do direito estabelecendo uma escala hierrquica entre suas significaes (ex: a norma legal
tem fundamento na norma constitucional); (vii) objetividade: os contedos normativos se objetivam no
dado fsico do direito positivo: os enunciados prescritivos. As significaes construdas pressupem
invariavelmente a presena destes; (viii) historicidade: os contedos normativos so construdos nos
moldes dos horizontes culturais do intrprete, fruto de um processo histrico-cultural, que neles se
manifesta presente; (ix) inexauribilidade: os contedos normativos no se esgotam, pois a trajetria
hermenutica infinita, h sempre a possibilidade de uma nova atribuio de sentido; (x)
atributividade: o contedo normativo no se encontra atrelado aos enunciados prescritivos que lhe
servem de objeto, atribudo pelo homem, pressupe um processo de interpretao.
9.2. Os valores e o direito
Embora possa parecer, no h valores nos enunciados prescritivos. Os valores esto
no homem e so condicionados por suas experincias. Assim tambm o direito (considerado em seus
planos S2, S3 e S4). O sentido atribudo aos textos jurdicos so valores que assumem certa designao
dentro de uma cultura especfica, por isso que no h neutralidade jurdica. Nestes termos, vale a
mxima de MIGUEL REALE de que o direito valor
245
, no integralmente valor, mas inafastvel
sua dimenso axiolgica. E mais, alm de ser valor, o direito, como objeto cultural, existe para
concretizar valores, de modo que no h como o jurista fugir do dado axiolgico.
O legislador produz os enunciados prescritivos atribuindo valores a certos smbolos e
faz isto, visando a implementao de outros valores. O intrprete se depara com todo aquele conjunto
de enunciados prescritivos, desprovidos de qualquer valor, mas indicativos da existncia de uma
245
Lies preliminares de direito, passim.
211
valorao por parte do legislador, passa a interpret-los, adjudicando valores aos smbolos positivados
e, com isso, vai construindo seu sentido para concretizar certos valores, que segundo sua construo, o
legislador quis implementar. H valorao de todos os lados, para produzir o direito, para compreend-
lo e para aplic-lo.
Tudo isso acontece num mesmo contexto histrico-social. A cultura, que informa os
horizontes do legislador na produo dos enunciados prescritivos, tem a mesma fonte histrico-social
daquela que informa os horizontes culturais dos intrpretes quando da construo de seus contedos
normativos, com algumas pequenas, mas notveis, diferenas individuais, decorrentes do processo
histrico-evolutivo e do acmulo de vivncias de cada indivduo, e isto que torna possvel a
compreenso da mensagem legislada, pois s conseguimos compreender aquilo que est dentro de
nossa cultura.
Neste sentido, a nossa posio culturalista perante o direito. Trabalhando com os
pressupostos da filosofia da linguagem, partimos, num primeiro momento, de uma concepo analtica
(sob influncia do neopositivismo-lgico), mas esta se torna uma viso muito restrita quando passamos
a explorar o plano dos contedos normativos, condicionados aos horizontes culturais do intrprete.
Devido ao dado axiolgico inerente ao existir do homem no mundo, no h neutralidade na
experincia, sendo impossvel desagreg-la da ideologia e dos valores consolidados pelas vivncias do
intrprete.
212
CAPTULO VIII
A ESTRUTURA NORMATIVA
SUMRIO: 1. Por que uma teoria da norma jurdica?; 2. Que norma jurdica?
3. Norma jurdica em sentido estrito; 4. Homogeneidade sinttica e
heterogeneidade semntica e pragmtica das normas jurdicas; 5. Estrutura da
norma jurdica; 5.1. Antecedente normativo; 5.2. Operador dentico; 5.3.
Conseqente normativo; 5.4. A implicao como forma sinttica das normas
jurdicas; 6. Norma jurdica completa; 6.1. Norma primria e secundria na
doutrina; 6.2. Fundamentos da norma secundria; 6.3. Estrutura completa da
norma jurdica; 6.4. Normas secundrias; 6.5. Sobre o conectivo das normas
primria e secundria; 7. Conceito de sano no direito.
1. POR QUE UMA TEORIA DA NORMA JURDICA?
A primeira pergunta daquele que se dirige realidade jurdica com expectativas
cognoscitivas : que o direito?. Logo que superada tal indagao com a resposta: direito o
conjunto de normas jurdicas vlidas num dado pas, surge outra: e que so normas jurdicas?.
Justifica-se aqui, toda necessidade e importncia de uma teoria da norma jurdica para o estudo do
direito se tomamos o direito como conjunto de normas jurdicas vlidas, a nica forma de
compreend-lo conhecendo suas normas e para conhec-las, antes de mais nada, precisamos saber
que uma norma jurdica.
Nestes termos, uma teoria da norma jurdica indispensvel Cincia do Direito,
pois ela nos possibilita conhecer os elementos que, relacionados entre si, formam o sistema do direito
positivo. E, dizendo sobre seus elementos ela muito diz sobre o prprio sistema. por isso que
qualquer cincia, que tome como objeto o direito positivo, no foge a uma teoria da norma jurdica,
que explique suas unidades e nem a uma teoria do ordenamento jurdico que ilustre as relaes entre
tais unidades. Alis, esta a grande crtica de LOURIVAL VILANOVA PONTES DE
MIRANDA
246
: falta-lhe uma teoria da norma jurdica.
Os fatos sociais isoladamente no geram efeitos jurdicos, se assim o fazem porque
uma norma jurdica os toma como proposio antecedente implicando-lhes conseqncias. Sem a
246
A teoria do direito em Pontes de Miranda in Escritos jurdicos e filosficos, vol. 1, p. 399-412.
213
norma jurdica no h direitos e deveres, no h jurdico. Por isso, o estudo do direito volta-se s
normas e no aos fatos ou s relaes sociais deles decorrentes, que se estabelecem por influncia
(incidncia) da linguagem jurdica. A linguagem jurdica o objeto do jurista e onde h linguagem
jurdica, necessariamente, h normas jurdicas. Isto justifica todo cuidado de PAULO DE BARROS
CARVALHO em construir uma teoria da norma jurdica para explicar a incidncia tributria e toda
preocupao com o estudo normativo dentro de sua escola.
Sem um estudo dos seus elementos fica difcil delimitarmos o direito enquanto
objeto cientfico, pois sem sabermos ao certo a composio de suas unidades no conseguimos isol-lo
metodologicamente. Tambm resta prejudicada a identidade do objeto. Explicar o direito como um
conjunto de normas jurdicas vlidas sem precisar o que norma jurdica, nada explica sobre o direito.
J tivemos algumas breves noes sobre o tema nos tpicos anteriores, mas diante de
sua importncia dedicamos este e os trs captulos subseqentes a um estudo mais detalhado.
Utilizando-nos das categorias da Semitica (j que, tomando o direito como sistema
comunicacional, no qual as normas jurdicas aparecem como unidades lingsticas), a anlise ser
dividida em trs planos: (i) neste captulo trataremos da estrutura da norma jurdica, voltando nossa
ateno ao plano sinttico da linguagem do direito positivo; (ii) no prximo captulo nossa
preocupao volta-se ao contedo normativo, tendo como objeto o plano semntico da norma jurdica;
(iii) depois discorreremos sobre a regra-matriz de incidncia, no captulo subseqente, aproximando os
planos lgico e semntico do direito positivo, com a construo de um esquema de significao; e (iv)
por fim, trataremos da aplicao e incidncia, enfatizando o ngulo pragmtico das normas jurdicas.
2. QUE NORMA JURDICA?
Ponto crucial de qualquer teoria sobre a norma jurdica saber: que uma norma
jurdica?. E, o que podemos dizer que, antes de qualquer coisa norma jurdica, uma expresso
lingstica, que como tantas outras no escapa do vcio da ambigidade, podendo ser utilizada nas
mais diversas acepes.
A falta de definio precisa no discurso cientfico um dos grandes problemas
enfrentados pela dogmtica jurdica. At mesmo entre os autores que tratam o direito como algo que se
manifesta necessariamente em linguagem prescritiva, encontramos o uso da expresso normas
214
jurdicas em diferentes sentidos. Esta , alis, uma das principais causas de distanciamento entre tais
teorias.
GREGRIO ROBLES, por exemplo, utiliza-se da expresso fazendo referncia,
primordialmente, s significaes construdas pelo intrprete a partir dos textos do direito positivo,
mas em algumas passagens tambm designa, com a mesma expresso, enunciados jurdicos e a
mensagem deonticamente estruturada. O mesmo ocorre com RICARDO GUASTINI, que trabalha
norma jurdica como proposio no necessariamente estruturada na forma hipottico-condicional,
muito embora, tambm a empregue casualmente nas outras duas acepes.
Toda confuso se instaura porque utilizamo-nos da expresso norma jurdica para
designar as unidades do sistema do direito positivo, quando este, por manifestar-se em linguagem,
apresenta-se em quatro planos: (i) S1 plano fsico (enunciados prescritivos); (ii) S2 plano das
significaes isoladamente consideradas (proposies jurdicas); (iii) S3 plano das significaes
estruturadas (normas jurdicas); e (iv) S4 plano da contextualizao das significaes estruturadas
(sistema jurdico). Temos, assim, pelo menos, trs tipos de unidades ontologicamente distintas,
dependendo sob qual plano analisamos o sistema jurdico.
Se pensarmos no direito positivo, levando-se em conta seu plano de expresso (S1),
as unidades do sistema so enunciados prescritivos; se avaliarmos o plano das significaes
construdas a partir dos enunciados (S2), as unidades do sistema so proposies jurdicas; e se
tomarmos o direito como o conjunto de significaes deonticamente estruturadas (S3), que mantm
relaes de coordenao e subordinao entre si (S4), as unidades do sistema jurdico so aquilo que
denominamos de norma jurdica em sentido estrito. Neste sentido, considerando a expresso norma
jurdica, quando utilizada para apontar indiscriminadamente as unidades do sistema jurdico, pode
denotar: (i) enunciados do direito positivo; (ii) a significao deles construda; ou (iii) a significao
deonticamente estruturada, dependendo do plano em que o intrprete trabalha.
Para evitar tais confuses PAULO DE BARROS CARVALHO utiliza-se das
expresses: (i) normas jurdicas em sentido amplo para designar tanto as frases, enquanto suporte
fsico do direito posto, ou os textos de lei, quanto os contedos significativos isolados destas; e (ii)
normas jurdicas em sentido estrito para aludir composio articulada das significaes,
construdas a partir dos enunciados do direito positivo, na forma hipottico-condicional (H C), de
215
tal sorte que produza mensagens com sentido dentico-jurdico completo
247
. Nestes termos,
considerando o percurso gerador de sentido dos textos jurdicos, nos planos S1 e S2 lidamos com
normas jurdicas em sentido amplo e somente nos planos S3 e S4 deparamo-nos com normas jurdicas
em sentido estrito.
Nota-se que tal confuso no resiste a um estudo mais elaborado. Quando
aprofundamos a anlise, a ponto de separar metodologicamente os planos em que o sistema jurdico se
apresenta como objeto de nossa compreenso, as dvidas semnticas com relao expresso norma
jurdica vo desaparecendo, na medida em que nos utilizamos dos termos enunciado, texto de lei
e proposio, para denotar as unidades dos planos S1 e S2 e norma jurdica apenas quando
aludimos s significaes deonticamente estruturadas (presentes nos planos S3 e S4).
Quando dizemos que o direito positivo o conjunto de normas jurdicas vlidas num
dado pas, deixamos no ar a amplitude da expresso. Isto porque, isolar o plano das normas jurdicas
em sentido estrito (S3) separar (para fins analticos) o inseparvel experimentalmente. O direito
compreendido no s como significaes deonticamente estruturadas (normas jurdicas em sentido
estrito), mesmo porque a existncia destas depende de um suporte fsico, da integrao de enunciados
(textos de lei), da construo de significaes isoladas (proposies) e da estruturao dos sentidos
normativos. O sistema compreende tudo isso, suporte fsico, significao e estruturao, numa
trialidade existencial indecomponvel. Por isso, a menos que se utilize distines como esta entre
norma em sentido amplo e em sentido estrito, impera a ambigidade da expresso quando para denotar
as unidades do sistema jurdico.
Nestes termos, vale pena manter a separao entre normas jurdicas em sentido
amplo e normas jurdicas em sentido estrito, para aliviar as incongruncias semnticas do uso da
expresso norma jurdica. As primeiras denotam unidades do sistema do direito positivo, ainda que
no expressem uma mensagem dentica completa. As segundas denotam a mensagem dentica
completa, isto , so significaes construdas a partir dos enunciados postos pelo legislador,
estruturadas na forma hipottico-condicional.
3. NORMA JURDICA EM SENTIDO ESTRITO
Em termos gerais, quando nos referimos norma jurdica utilizamo-nos da
expresso em sentido estrito. Tendo-se em conta o percurso gerador de sentido dos textos jurdicos, a
247
PAULO DE BARROS CARVALHO, Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 80.
216
norma jurdica em sentido estrito aparece no terceiro plano (S3), como significao construda a partir
dos enunciados do direito positivo estruturada na forma hipottico-condicional D(H C).
A norma assim, algo imaterial, construdo intelectualmente pelo intrprete. Nos
dizeres de PAULO DE BARROS CARVALHO, ela exatamente o juzo que a leitura do texto
provoca em nosso esprito, a significao que obtemos a partir da leitura dos textos do direito
positivo. Trata-se de algo que se produz em nossa mente, como resultado da percepo do mundo
exterior
248
, mais especificamente, como resultado da compreenso dos textos legislados.
Ressalvamos, porm, que a norma jurdica no um simples juzo, como a
significao que construmos de um enunciado isolado. Ela um juzo estruturado na forma
hipottico-condicional, estrutura mnima necessria para se construir um sentido dentico. Um
exemplo esclarece tal ressalva: do enunciado a alquota 3%, construmos um juzo articulado na
frmula S P ou S(P) onde S representa a alquota e P 3%. Tal proposio, entretanto, no
manifesta um sentido prescritivo completo, pois diante dela no sabemos qual o comando emitido pelo
legislador. Qual a conduta prescrita? Qual a circunstncia ftica que a enseja? A resposta a tais
perguntas s aparecer quando saturarmos os campos significativos da estrutura H C se ocorrer
o fato h, ento deve ser a relao intersubjetiva c.
Uma significao, para expressar a completude da mensagem legislada, alm de ser
construda a partir dos textos do direito positivo, deve estar estruturada na forma hipottico-
condicional, pois esta a frmula lgica das ordens, assim que as linguagens prescritivas se
manifestam formalmente. Nestes termos, pontua PAULO DE BARROS CARVALHO: somente a
norma jurdica, tomada em sua integridade constitutiva ter o condo de expressar o sentido cabal dos
mandamentos da autoridade que legisla
249
.
Esta a razo de LOURIVAL VILANOVA considerar a norma jurdica como a
expresso mnima e irredutvel de manifestao do dentico. Como explica PAULO DE BARROS
CARVALHO, os comandos jurdicos, para serem compreendidos no contexto de uma comunicao
bem-sucedida, devem apresentar um quantum de estrutura formal. Certamente que ningum entenderia
uma ordem, em todo seu alcance, apenas com a indicao, por exemplo, da conduta desejada (ex:
pague a quantia de x reais). Adviriam desde logo algumas perguntas e, no segmento das respectivas
248
Curso de direito tributrio, p. 8.
249
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 19.
217
respostas, chegaramos frmula que tem o condo de oferecer o sentido completo da mensagem, isto
, a identificao da pessoa titular do direito, do sujeito obrigado e, ainda, como quando, onde e porque
deve faz-lo. Somente ento estaramos diante daquela unidade de sentido que as prescries jurdicas
necessitam para serem adequadamente cumpridas
250
. Dizer, assim, que a norma jurdica o mnimo
irredutvel de manifestao do dentico (ainda que o mnimo seja sempre irredutvel) significa
afirmar que ela manifesta a unidade significativa da mensagem legislada, o mnimo necessrio para
que a comunicao jurdica seja bem sucedida.
A norma jurdica revela-se nesta estrutura condicional que absolutamente constante
D(H C) se ocorrer o fato x, ento deve ser a relao intersubjetiva y. Todo discurso produzido
pelo legislador, objetivado nos enunciados prescritivos que compem o plano fsico do direito,
redutvel proposio normativa e esta frmula dual D(H C). Temos: (i) hiptese (H) ou
pressuposto, como parte da norma que tem por funo descrever situao de possvel ocorrncia; e (ii)
conseqente (C) ou tese, cuja funo prescrever relaes entre sujeitos modalizadas em obrigatrio,
permitido e proibido, ambos ligados por um vnculo implicacional () dentico (D), representativo do
ato de autoridade que a constitui. , por isso que se diz ser a norma jurdica uma significao
denticamente estruturada.
Chamamos ateno, no entanto, para o fato de que a estrutura em si D(H C),
considerada abstratamente, uma frmula lgica. A norma jurdica s se configura como tal, quando
as variveis desta frmula H e C estiverem saturadas por contedos significativos construdos a
partir dos enunciados do direito positivo. Antes de ser uma estrutura hipottico-condicional, a norma
uma significao, construda com base no suporte fsico produzido pelo legislador (veiculada por
documentos jurdicos, como: a Constituio Federal, leis, decretos, portarias, resolues, atos
administrativos, sentenas, etc.). Esta condio que lhe atribui o qualificativo de jurdica. Se o
intrprete toma como base outro suporte fsico (ex: a doutrina jurdica, matrias de jornais, a bblia,
etc.) pode at construir normas, no entanto, no-jurdicas.
A norma resultado de um trabalho mental, interpretativo, de construo e
estruturao de significaes. Nossa mente atribui tratamento formal s proposies elaboradas a partir
do plano de expresso do direito, agrupando-as na conformidade lgica da frmula implicacional para
que possamos compreender o mandamento legislado. neste instante que aparece a norma jurdica,
como significao deonticamente estruturada.
250
PAULO DE BARROS CARVALHO, Apostila do curso de teoria geral de direito, p. 125.
218
Ao tratarmos a norma como significao, pressupomos que o intrprete a constri. A
constri porque ela no se encontra no plano fsico do direito, escondida dentre as palavras que o
compem. Ela produzida na mente do intrprete e condicionada por seus referenciais culturais. Isto
explica a possibilidade de um nico texto originar diferentes normas jurdicas, consoantes aos diversos
valores empregados aos seus vocbulos. Seguindo esta linha de raciocnio, h, ento, duas formas de
se produzir normas: (i) uma direta e imediata, realizada pelo legislador, ao inserir novos enunciados
prescritivos na plataforma fsica do sistema; e (ii) outra indireta e mediata, alcanada pelo intrprete,
quando da construo do sentido dos textos jurdicos, sempre tomando como ponto de referncia a
plataforma fsica posta pelo legislador.
Como significao, as normas jurdicas esto sempre na implicitude dos textos, no
existe norma expressa (a no ser quando utilizada em acepo ampla). O que se apresenta de forma
expressa so os enunciados prescritivos componentes do plano material do direito positivo. Nestes
termos, seguindo a lio de PAULO DE BARROS CARVALHO, no cabe distinguir normas
implcitas e expressas, j que, pertencendo ao campo das significaes, todas elas so implcitas
251
.
Em contra partida, todos os enunciados, enquanto dado material do direito, produto
da atividade psicofsica de enunciao, so expressos. Se no expressos, no so mais enunciados e
sim de proposies. A partir do momento que samos do plano de expresso e entramos no campo dos
contedos significativos, passamos a trabalhar na implicitude dos textos jurdicos.
Ao trabalhar a norma jurdica na implicitude dos textos positivados, como
significao estruturada na forma hipottico-condicional D(H C), logo percebemos que o nmero
de normas no guarda identidade com o nmero de enunciados existentes no plano de expresso do
direito positivo. Por vezes o intrprete precisa interpretar vrios enunciados para compor o sentido da
mensagem legislada, outras vezes, a partir de um s enunciado constri mais de uma significao
normativa. Isto se justifica porque, como significao, a norma jurdica valorativa, por isso, a
impossibilidade de apontar segura e determinadamente qual norma construmos deste ou daqueles
enunciados. A nica certeza que temos que para compreenso dos textos do direito positivo
agrupamos suas significaes na forma hipottico-condicional e, com isso, construmos normas
jurdicas.
251
Curso de direito tributrio, p. 10.
219
4. HOMOGENEIDADE SINTTICA E HETEROGENEIDADE SEMNTICA E
PRAGMTICA DAS NORMAS JURDICAS
Seguindo o curso do processo gerador de sentido dos textos jurdicos, o intrprete s
alcana a compreenso do comando prescritivo quando estrutura suas significaes na forma
hipottico-condicional. Invariavelmente ele sempre se depara com a mesma forma: D(HC);
embora os contedos significativos construdos sejam dos mais diversos.
Nestes termos, considerando o plano das normas jurdicas strictu sensu, o direito
homogneno sintaticamente. Isto quer dizer que sua estrutura sempre a mesma, nunca varia.
Todas as regras do sistema tm idntica esquematizao formal: uma proposio-
hipotese H, descritora de um fato (f) que, se verificado no campo da realidade social, implicar
como proposio-conseqente C, uma relao jurdica entre dois sujeitos (S R S), modalizada
com um dos operadores denticos (O, P, V). Nenhuma norma foge a esta estrutura, seja civil,
comercial, penal, tributria, administrativa, constitucional, processual, porque sem ela a mensagem
prescritiva incompreensvel.
Todo comando jurdico apresenta-se sob a mesma forma. A variao encontra-se no
contedo que satura a frmula. As significaes que compem a posio sinttica de hiptese e
conseqente das normas jurdicas modificam-se, de acordo com a matria eleita pelo legislador e com
os valores que informam a interpretao dos textos jurdicos. Com o decurso do tempo, novos
enunciados surgem, outros so retirados do sistema, as interpretaes se modificam, os valores
implementados pela sociedade se transformam, mas a forma normativa no se altera. A estrutura do
direito, necessria para se transmitir um comando capaz de disciplinar relaes intersubjetivas,
invarivel, ao passo que seu contedo, pela diversidade de condutas a serem reguladas, nunca
constante.
Diante de tal constatao, PAULO DE BARROS CARVALHO, influenciado pelas
lies de LOURIVAL VILANOVA, opera com a premissa da homogeneidade lgica das unidades do
ordenamento jurdico, ao lado da heterogeneidade semntica de suas significaes. O contedo das
normas jurdicas varivel, sua frmula no, permanece constante por mais que se faam
modificaes no sistema. Neste sentido, estamos aptos a dizer que o direito positivo um sistema
sintaticamente homogneo e semanticamente heterogneo.
220
Com relao ao plano pragmtico, tambm opera a premissa da heterogeneidade,
devido s infinitas possibilidades de aplicao de uma norma para diferentes casos prticos. O uso das
normas jurdicas tanto pelos aplicadores, como pelos juristas muito diversificado. Determinada
norma, por exemplo, pode ser aplicada para resolver certo conflito por um juiz e no ser aplicada por
outro, pode acontecer tambm de ser aplicada e logo depois afastada pelo tribunal. Um jurista pode dar
seu parecer sobre a aplicao da norma x ao caso y e posteriormente modificar seu posicionamento. O
fato que os planos semntico e pragmtico das normas jurdicas andam muito prximos, exercendo
grande influncia um no outro. A heterogeneidade semntica das normas jurdicas e as diversas
possibilidades de interpretao dos acontecimentos sociais (eventos) acabam por acarretar a
heterogeneidade pragmtica do direito.
O princpio da homogeneidade sinttica das unidades do sistema, contudo, s tem
aplicabilidade, se considerarmos o direito positivo enquanto conjunto de normas jurdicas em sentido
estrito (S3). A dicotomia homogeneidade / heterogeneidade no se aplica organizao frsica dos
enunciados prescritivos. A formulao sinttica do plano de expresso do direito (S1), submete-se a
regras gramaticais que determinam o local dos sujeitos, verbos, complementos e preposies na frase.
No h uma nica forma de arranjo, vez que as possibilidades estruturais so inmeras. Do mesmo
modo, as proposies deles construdas, antes de amarradas na composio do sentido dentico (S2),
apresentam-se estruturadas em diferentes frmulas como S(P), no caso de proposies factuais e
(S R S), no caso de proposies relacionais.
Nestes termos, sob o ponto de vista dos enunciados prescritivos e das significaes
jurdicas isoladamente consideradas, o direito positivo no sintaticamente homogneo, ainda que
semntica e pragmaticamente heterogneo. A dualidade da homogeneidade sinttica e heterogeneidade
semntica e pragmtica no se aplica aos planos S1 e S2 do sistema jurdico, que so heterogneos sob
os trs ngulos semiticos. Assim, enfatiza PAULO DE BARROS CARVALHO: quando
proclamamos o cnone da homogeneidade sinttica das regras de direito, o campo de referncia
estar circunscrito s normas em sentido estrito, vale dizer, aquelas que oferecem a mensagem jurdica
com sentido completo (se ocorrer o fato F, instalar-se- a relao dentica R entre os sujeitos S e S),
mesmo que essa completude seja momentnea e relativa, querendo significar, apenas, que a unidade
dispe do mnimo indispensvel para transmitir uma comunicao de dever-ser
252
. A dicotomia
homogeneidade / heterogeneidade s se aproveita para explicar o sistema jurdico se o considerarmos
sob o plano S3.
252
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 80.
221
Vale pena ressalvar que empregamos tal dualidade para caracterizar campos
distintos de anlise da linguagem jurdica (sinttico, semntico e pragmtico), considerando a norma
em sentido estrito, pois a dicotomia tambm no se sustenta quando desconsiderada as quatro formas
de manifestao do direito. Alguns autores, inclusive dentre aqueles que partem de uma concepo
comunicacional, sustentam a heterogeneidade das formas do sistema, avaliando que suas unidades ora
aparecem na forma de enunciados, ora como proposies no deonticamente estruturadas e ora como
juzos hipottico-condicionais. Tendo por objeto a diversidade existencial em que o direito se
manifesta (enunciados, proposies isoladas, normas jurdicas e sistema), focando a diferena entre as
unidades percebidas pelo intrprete na sua trajetria hermenutica realmente fica difcil aceitar a
homogeneidade de suas formas. No entanto, quando falamos em forma referimo-nos quelas
alcanadas com o processo de formalizao da linguagem jurdica (frmulas lgicas).
Reportando-nos s lies de LOURIVAL VILANOVA, mediante o processo de
abstrao formalizadora, ao passarmos da variedade em que se exprime o direito positivo
(multiplicidade de idiomas, de estilos, de tcnicas de formulao lingstica), da gramaticalidade
expressional ou frsica, para a sua frmula lgica, encontramos a estrutura sinttica reduzida da norma
jurdica que enuncia: se verificado um fato F, seguir-se- uma relao jurdica de direito
253
. A
linguagem tcnica dos enunciados prescritivos encobre a estrutura em que o sistema se exprime.
O direito sintaticamente homogneo porque sua estrutura lgica invarivel. Este
um limite ontolgico-sinttico (formal) do ordenamento jurdico, que se soma a outro semntico
(material), sob o qual os contedos normativos devem estar factualmente no campo do possvel e do
no-necessrio.
Na construo do campo semntico da linguagem jurdica, o legislador livre para
selecionar fatos e relaes que deseja implementar socialmente. Como j vimos, questo fora da
lgica optar pelo fato F, F ou F e pela relao R, R, ou R, tudo depende de atos historicamente
situados e axiologicamente orientados. No entanto, posta a prescrio, instaura-se o vnculo
implicacional entre as proposies, entra-se no campo das relaes lgico-formais, que se apresentam
invariavelmente na forma D (HC) se verificada a hiptese segue-se a conseqncia e se no se
der a conseqncia, necessariamente no se deu a hiptese
254
.
253
Causalidade e relao no direito, p. 101
254
LOURIVAL VILANOVA, As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 97-98
222
Por ser a estrutura do direito sempre constante, apresentando-se invariavelmente na
mesma forma e os contedos significativos que a compem variveis, trabalhamos com as categorias
do fechamento estrutural e da abertura cognoscitiva no estudo do sistema jurdico (quando tratamos da
teoria dos sistemas - captulo IV). E, neste sentido, LOURIVAL VILANOVA pontua que a
idealidade do ser do direito reside na sua estrutura normativa
255
. Se o contedo variante, com
referncias a outros sistemas sociais e sua aplicao depende do caso concreto, na estrutura que
reside a identidade do ordenamento, nela que identificamos o direito positivo como sistema
prescritivo de condutas intersubjetivas.
5. ESTRUTURA DA NORMA JURDICA
Abstraindo os contedos significativos, atravs do processo de formalizao,
chegamos s frmulas lgicas do direito positivo. Mediante um incisivo corte metodolgico, deixamos
de lado a macro-anlise estrutural do sistema, por meio da qual verifica-se as relaes do ordenamento
como uma totalidade unitria, para dedicarmo-nos micro-anlise sinttica das normas jurdicas,
voltando-nos estrutura mnima necessria para se transmitir a uma mensagem prescritiva. A
abstrao isoladora das cincias e mtodo analtico empregados neste campo, permite-nos isolar as
unidades do sistema e decompor seus elementos estruturais para especularmos sobre cada um deles
separadamente. Lembrando-nos sempre que tais abstraes so apenas para fins cognoscitivos e que
em momento algum a norma jurdica deixa de ser considerada na sua unidade provida de contedo
significativo e o sistema jurdico na sua totalidade unitria.
Como bem ensina LOURIVAL VILANOVA, normar conduta humana importa em
articular suas partes na relao meio-fim. Essa a ontologia teleolgica da ao. A atuao humana
mediante a relao meio-fim: o meio a causa idnea que leva ao efeito, que o fim da ao
256
. A
autoridade legislativa, para disciplinar condutas intersubjetivas, no foge a tal articulao e ns, como
intrpretes do direito, para compreendermos o alcance dos comandos legislados, tambm no.
por isso que, como j vimos, a estrutura normativa composta por: (i) duas
proposies (i.a) hiptese, pressuposto, ou antecedente (H), cuja funo descrever uma situao de
possvel ocorrncia (f), que funciona como causa para o efeito jurdico almejado pelo legislador; e (i.b)
conseqente ou tese (C), cuja funo delimitar um vnculo relacional entre dois sujeitos (S R S),
que se consubstancia no efeito almejado; e (ii) um conectivo condicional (), tambm denominado de
255
Sobre o Conceito de Direito, p. 96
256
Causalidade e relao no direito, p. 12.
223
O
Dsm V
P
vnculo implicacional, cuja funo estabelecer o liame entre a causa e o efeito ao imputar a relao
prescrita no conseqente normativo, caso verificada a situao descrita na hiptese.
Em sntese e mais detalhadamente, toda e qualquer regra jurdica apresenta a
seguinte estrutura:
H (f)
Nj Dsn
C (S R S)
Explicando: as normas jurdicas (Nj) tm estrutura implicacional (p q), prpria da
causalidade (relao de causa efeito). Assim, sua construo formal a reduz a duas posies
sintticas (implicante e implicada), ligadas por um conectivo condicional (), que estabelece o
vnculo inter-proposicional, imposto por um ato de vontade do legislador, expresso por um dever ser
neutro (Dsn), no-modalizado. A posio sinttica implicante denominada de hiptese (H) ou
antecedente e descreve um acontecimento de possvel ocorrncia (f). A posio implicada
denominada de conseqente (C), ou tese e estabelece uma relao (R) entre dois sujeitos (S e S),
modalizada como obrigatria (O), proibida (V), ou permitida (P), que deve ser cumprida por um e
pode ser exigida por outro. O nexo relacional (), estabelecido intraproposicionalmente no
conseqente normativo, que institui o dever de cumprir e o direito de exigir, expressa-se por um dever
ser modalizado (Dsm), pois, diferentemente do primeiro, triparte-se em trs modais (obrigatrio,
proibido e permitido).
Esta a formula mnima de manifestao da mensagem legislada. nesta estrutura
que se conectam os dados significativos para compreenso do comando emitido pelo legislador, sem
ela as informaes ficam desconexas, sendo impossvel dizer o que e sob quais circunstncias o texto
Nj: norma jurdica;
H: hiptese;
(f): referencia a um acontecimento factual;
Dsn: dever ser neutro, que instala o nexo
inter-proposicional;
: conectivo implicacional;
C: conseqente;
S e S: termos de sujeitos;
R: varivel relacional;
Dsm: dever ser modalizado, que instala o nexo
intra-proposicional;
: nexo relacional;
O,V,P: modais do nexo relacional: obrigatrio(O),
proibido (V) e permitido (P).
224
do direito prescreve. Simplificadamente, no entanto, utilizamos a frmula: D [H R (S, S)]; ou
mais reduzida ainda: D (HC).
Na linguagem lgica, os smbolos H e C, que representam na estrutura
normativa as proposies de posies sintticas implicante e implicada (antecedente e conseqente),
so categoremas, termos completantes que se referem a entidades do mundo e se modificam de acordo
com as escolhas efetuadas pelo legislador, pelo intrprete e pelas diversas possibilidades significativas
do plano de expresso do direito. J o functor dever ser, que estabelece os vnculos
interproposicional (de carter neutro) e intraproposicional (de carter modalizado) tem categoria
sinttica de sincategorema, termo constante, articulador da estrutura normativa
257
. No lugar sinttico
da hiptese (H) encontram-se as situaes eleitas pelo legislador como propulsoras de obrigaes,
proibies e permisses no mundo jurdico e na posio sinttica de conseqente (C) a efetiva
prescrio da conduta. O vinculo que as une permanece constante em todas as tantas possveis
variaes de hipteses e conseqncias.
Em suma, a reconstruo estrutural da norma jurdica a reduz a dois termos
proposicionais, ligados por um vnculo implicacional, posto por um ato de autoridade D(H C). Os
termos proposicionais H e C (categoremas na linguagem da Lgica), tm como correspondentes
semnticos, respectivamente, os fatos eleitos pelo legislador como propulsores de efeitos na ordem
jurdica e os efeitos dele decorrentes. E, o vnculo implicacional (sincategorema na linguagem da
Lgica) corresponde semanticamente imposio do dever ser instituido por ato de vontade do
legislador.
Mas, para detalhar nossas investigaes sobre a estrutura normativa, vejamos
separadamente cada um de seus elementos.
5.1. Antecedente normativo
O lugar sinttico de antecedente da norma jurdica ocupado por uma proposio,
denominada de hiptese, pressuposto, ou antecedente, descritora de um evento de possvel ocorrncia
no campo da experincia social
258
. Sua funo delimitar um fato que, se verificado, ensejar efeitos
jurdicos (ex: se matar algum, se for proprietrio de bem imvel, se nascer com vida, etc.) e, no
257
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, 46.
258
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 24.
225
desempenho desta funo ela estabelece as notas que certos acontecimentos tm que ter para serem
considerados fatos jurdicos.
Sua ontologia assenta-se no modo das possibilidades, caracterstica lgica das
proposies descritivas, que nada prescrevem. Como explica LOURIVAL VILANOVA, para a
hiptese o que ocorreu, ocorre ou ocorrer tomado a ttulo de possibilidade, como possvel ponto de
referncia (axiologicamente relevante) para condicionar a vinculao de conseqncias para a conduta
humana. Mas a hiptese, em relao ao fato que a verifica (ex: morrer, atingir 21 anos de idade...), no
o regra, no o preceitua, dizendo que existe ou no existe porque deve existir ou deve no existir. Se
existe, se se d o fato F: assim diz a hiptese
259
.
A relao de cunho semntico que se estabelece entre o suposto normativo e a
linguagem da realidade social descritiva, mas no cognoscitiva. A hiptese, frisa LOURIVAL
VILANOVA, uma proposio descritiva de situaes objetivas possveis, com dados de fato
incidente sobre a realidade social e no coincidente com a realidade
260
. Ela nada informa
cognoscitivamente sobre o fato, sua dimenso denotativa. Ela seleciona ocorrncias como ponto de
referncia para propagao de efeitos jurdicos, tipificadora de um conjunto de eventos. Assim, ainda
que os fatos por ela selecionados nunca venham a se verificar no campo da experincia social, a
hiptese continua qualificando-os, pois, mesmo que descritivas, no se submetem aos valores de
verdade e falsidade. As hipteses (pressupostos ou antecedentes), como proposies jurdicas que so,
valem ou no valem.
Qualificar normativamente acontecimentos do mundo social, a serem tomados como
causas de efeitos jurdicos, importa um recorte conceptual na linguagem da realidade social. Como j
vimos, todo conceito seletor de propriedades e redutor de complexidades. O legislador, ao delimitar
as notas que um acontecimento deve ter para ser considerado fato jurdico, promove um recorte na
multiplicidade contnua do real, elegendo, dentre toda sua heterogeneidade, apenas algumas
propriedades para identificao de situaes capazes de ensejar efeitos jurdicos. Como leciona
PAULO DE BARROS CARVALHO, a valorao do legislador promove recortes no fato bruto
tomado como ponto de referncia para conseqncias normativas
261
, abreviando as mincias de sua
existencialidade. Esta seleo axiolgica, depende unicamente da valorao da autoridade legislativa
259
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 86.
260
Idem, p. 89
261
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 24
226
e redutora de complexidades medida que os acontecimentos do mundo emprico so infinitamente
mais ricos em detalhes do que a previso hipottica que os conotam normativamente.
A ttulo de ilustrao, para instaurao do efeito da personalidade jurdica, por
exemplo, o direito elege como hiptese normativa o fato do nascimento com vida. Tal escolha decorre
de um ato de valorao do legislador, que diante de inmeras possibilidades (ex: concepo, formao
cerebral do feto, etc.) escolheu o nascimento com vida, como suporte ftico de tal efeito. A ocorrncia
do nascimento com vida um evento extremamente complexo, envolve todo trabalho de retirada do
feto do tero, ruptura do cordo umbilical, limpeza, exames, etc. O legislador desconsidera toda essa
complexidade, reduzindo como fator relevante para o efeito jurdico da personalidade apenas o fato do
nascimento com vida. No interessa ao direito (para fins do efeito personalidade jurdica) como foi o
nascimento, quem foi o mdico, se o recm-nascido goza de boa sade, se vai sobreviver, se o parto foi
normal ou cesariana. Aquilo que importa juridicamente o nascimento com vida. Por isso, dizemos
que a hiptese normativa promove recortes e reduz as complexidades do fato social, tomado-o como
ponto referente para propagao de efeitos jurdicos.
Neste sentido, a afamada frase de LOURIVAL VILANOVA: o fato se torna
jurdico porque ingressa no universo do direito atravs da porta aberta da hiptese
262
. Os
acontecimentos relevantes juridicamente so unicamente aqueles descritos no antecedente normativo.
No somos livres para sair do ordenamento, coletando qualquer fato e a ele atribuindo efeitos
jurdicos, a menos que estejam previstos em hipteses normativas. Aqueles acontecimentos no
descritos como hiptese de normas jurdicas no so relevantes para o direito, podem ensejar outras
conseqncias (sociais, econmicas, polticas, morais), mas no esto capacitados para propagar
efeitos na ordem jurdica.
As prescries do direito se realizam porque valem-se das possibilidades factuais do
mundo social. No fossem as hipteses normativas no haveria causa para as conseqncias jurdicas.
Isto justifica o fato das descries eleitas pelo legislador estarem necessariamente dentro do campo das
possibilidades fticas.
Como j ressaltado, o antecedente da norma jurdica assenta-se no modo ontolgico
das possibilidades, pois se a hiptese descrever uma situao impossvel, a conseqncia nunca se
instaura, no havendo que se falar em efeitos no mundo jurdico. Se, por exemplo, o fato de
262
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 89.
227
transportar-se telepaticamente fosse tomado como hiptese normativa para pagamento de certa quantia
aos cofres pblicos a ttulo de tributo, nenhuma obrigao tributria seria constituda, pois no h
possibilidade ftica de algum se transportar telepaticamente. Ainda que pudssemos organizar
sintaticamente as significaes de tal comando, o legislador teria criado um sem-sentido dentico,
porque a aplicao e cumprimento da norma restariam comprometidos. Nestes termos, s so
susceptveis de desencadear efeitos jurdicos os fatos de possvel ocorrncia, pois o direito, embora
seja um sistema sintaticamente fechado (autnomo), mantm relao de ordem semntica e pragmtica
com o sistema da realidade social.
5.2. O operador dentico
O dever-ser exprime sempre conceitos funcionais, estabelecendo vnculos entre
proposies e termos de sujeitos, o que j destacamos quando tratamos do seu carter relacional. Mas,
apesar de j termos passado por uma investigao mais aprofundada (no captulo sobre o direito e a
lgica), cabe-nos aqui reforar algumas de suas caractersticas e funes na composio da frmula
normativa.
Na estrutura da norma jurdica temos: (i) o dever-ser como operador dentico
inter-proposicional, conectando hiptese e conseqente D (HC) deve ser que H implique C; e
(ii) como operador dentico intra-proposicional, inserto no conseqente da norma, impositivo da
relao entre dois sujeitos em torno de uma previso de conduta obrigatria (O), proibida (V) ou
permitida (P), que deve ser obedecida D [HC (SS)] S tem o dever de cumprir certa
conduta em relao a S, que tem o direito de exigi-la. No primeiro a relao entre proposies
(Hiptese e Conseqente), no segundo, a relao entre termos de sujeitos (Se S).
As proposies hiptese (H) e conseqente (C) e os termos de sujeitos (S e S)
encontram-se vinculados, nica e exclusivamente, devido vontade da autoridade legisladora. O
operador dentico interproposicional, ponente da relao entre hiptese e conseqente, nunca aparece
qualificado, por isso, tido como neutro. J o operador dentico intra-proposicional, presente no
conseqente normativo, que estabelece a relao entre sujeitos, aparece modalizado como obrigatrio
(O), proibido (V) ou permitido (V).
Os conectivos operatrios (partculas no referentes a objetos constantes na frmula),
so denominados pela Lgica de functores. O dever ser intraproposicional, presente no
conseqente normativo, um functor dentico, trata-se de uma partcula relacional que conecta dois
228
termos de sujeitos na frmula normativa. O dever-ser interproposicional tambm um functor
dentico, na medida em que une duas proposies (hiptese e conseqncia). No entanto, alm de
instaurar tal relao ele tambm ponente do functor intra-proposicional, por isso, na terminologia de
GEORGES KALINOWSKI
263
ele chamado functor-de-functor.
Como partcula relacional, o operador dentico carece de significao prpria, no
suficiente para sozinho expressar um sentido completo. O dever ser sempre de algo. Tanto
antecedente quanto conseqente so condies incontestveis de sua existncia. Por isso, PAULO DE
BARROS CARVALHO atenta-se para o fato de que, o que est ao nosso alcance a regra de uso
dessa expresso sinttica, movendo-se na articulao interna dos enunciados denticos e tambm no
interior do enunciado que cumpre a funo de apdose ou conseqente. Nossas investigaes sobre o
dever ser, enquanto operador dentico, restringem-se estrutura normativa, pois, como partcula
operatria, ela s tem razo de ser dentro da frmula da norma.
Cabe-nos atentar ainda, para o fato de que a expresso verbal dever ser nem
sempre denota uma relao de ordem dentica (posta por um ato de vontade), podendo tambm ser
empregada em linguagens no-normativas, para indicar a possibilidade (M) ou a necessidade (N) de
que algo acontea (ex: deve ser que amanh chova; no topo da montanha deve ser frio). Nestes casos, o
operador se assenta no modo altico, revelado em proposies descritivas, irredutveis aos modos
denticos. O uso do dever-ser na estrutura normativa, no entanto, no se confunde com esta
variao, ele, invariavelmente, denota uma relao de ordem dentica.
5.3. O conseqente normativo
O lugar sinttico do conseqente normativo ocupado por uma proposio
delimitadora da relao jurdica que se instaura entre dois ou mais sujeitos assim que verificado o fato
descrito na hiptese. Sua funo instituir um comando que deve ser cumprido por um sujeito em
relao a outro (ex: o contribuinte deve pagar ao fisco a quantia x ao fisco; o ru deve cumprir a
pena de recluso de x a y anos ao Estado). Nele encontramos a disciplina fundante do direito: a
efetiva prescrio da conduta que se pretende regular. Por isso, considerado, por muitos autores,
como a parte mais importante integrante da norma jurdica.
263
Lgica del discurso normativo, p. 26. (citado por PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio, fundamentos
jurdicos da incidncia, p. 26).
229
Assim como a hiptese seleciona as notas que os acontecimentos tm que ter para
serem considerados fatos jurdicos, o conseqente elege os critrios que a relao entre sujeitos tem
que ter para ser imputada como efeito daquele fato. Nestes termos, o conseqente que delimita os
efeitos a serem atribudos ao fato jurdico.
Diferente da hiptese, no entanto, a relao de cunho semntico que se estabelece
entre o conseqente normativo e a linguagem da realidade social prescritiva. O conseqente nada
descreve, nem informa, nem prev, ele prescreve uma conduta, estabelecendo um vnculo ente dois ou
mais sujeitos, onde um tem o dever de cumprir certa prestao e outro tem a faculdade de exigi-la.
Um mesmo fato social pode ensejar conseqncias jurdicas e no-jurdicas.
Inmeros efeitos podem relacionar-se a um mesmo acontecimento (de ordem psicolgica, fsica,
natural, poltica, econmica, religiosa), no entanto, apenas os identificados no conseqente de normas
jurdicas tero o qualificativo de jurdicos. Vejamos, por exemplo, um acontecimento qualquer, como
um acidente de carro: no campo da causalidade fsica ou social ele pode gerar inmeras conseqncias
(ex: distrbios psicolgicos, deficincia fsica, perda do carro, danos a terceiros, etc.), mas no campo
jurdico apenas aqueles prescritos em conseqentes normativos (ex: obrigao do pagamento de
indenizao, obrigao de cumprimento de pena por leso corporal). O conseqente normativo, assim,
tem esta funo: fornecer critrios necessrios para identificao do vinculo relacional que se
estabelece intersubjetivamente, assim que verificado o fato jurdico. Ele preceitua: deve ser a
conseqncia (o efeito jurdico) y.
O legislador, assim como faz na hiptese, seleciona os efeitos jurdicos presentes no
conseqente normativo, com base em critrios valorativos. Na mesma medida, esta seleo tambm
axiolgica, porque depende exclusivamente de um ato de vontade do agente legislativo e redutora de
complexidades, dado que diante de infinitos efeitos o legislador escolhe apenas alguns como
juridicamente relevantes. No entanto, a liberdade de escolha do legislador no assim to ampla, ela
est adstrita ao fato descrito no antecedente normativo.
Os critrios informativos do conseqente devem guardar estreita relao com o
acontecimento factual descrito na hiptese, justamente porque este causa daquele. Este um limite
lgico s escolhas do legislador: a proposio conseqente deve guardar relao semntica com a
proposio conseqente, de modo que o sujeito, sob o qual incide o mandamento, se vincule, de
alguma forma, ao fato que motivou a obrigao, proibio ou permisso e o objeto da prestao (ao
230
qual est obrigado, proibido ou permitido) faa, de algum modo, referncia ao acontecimento que deu
causa ao vnculo relacional juridicamente estabelecido entre os sujeitos.
Voltemos ao exemplo do acidente de carro: digamos que o sujeito A, seja
considerado juridicamente culpado e, por isso, obrigado a indenizar o sujeito B (vitima) no valor do
prejuzo causado. O sujeito A, sob o qual incide a obrigao jurdica de indenizar, guarda estrita
relao com o fato que motivou a indenizao: ele deu causa ao acidente. Do mesmo modo, o objeto
da obrigao, qual seja: o valor a ser indenizado, corresponde ao prejuzo causado pelo acidente e no
a um valor aleatrio que no guarda qualquer relao com o fato. Neste sentido, dizemos que o
legislador livre para selecionar, como bem entender, os fatos e os efeitos jurdicos que estes podem
ensejar, no entanto, escolhido o fato, as notas que denotam suas conseqncias jurdicas devem
guardar referencia com a ocorrncia descrita na hiptese normativa.
A finalidade do legislador ao criar normas jurdicas de regular comportamentos
entre sujeitos. Tal finalidade pressupe que o conseqente normativo, assim como a hiptese, guarde
estreita relao de cunho semntico com a linguagem da realidade social, pois os comandos jurdicos
nela se realizam. Nestes termos, a proposio-tese tambm se assenta no modo ontolgico das
possibilidades, devendo as escolhas do legislador recarem sobre condutas de possvel realizao.
Caracteriza-se como um sem-sentido dentico prescrever um comportamento como
obrigatrio, proibido ou permitido quando, por fora das circunstncias, o destinatrio estiver
impedido de realizar conduta diversa. Cabe aqui o exemplo sempre citado por PAULO DE BARROS
CARVALHO, careceria de sentido dentico obrigar algum a ficar na sala de aula, proibido de sair,
se a sala estivesse trancada, de modo que a sada fosse impossvel. Tambm cairia em solo estril
permitir, nessas condies, que a pessoa l permanecesse
264
. S h sentido em obrigar, proibir ou
permitir comportamentos quando houver duas ou mais condutas possveis.
J vimos, a forma utilizada pelo legislador, para regular condutas estabelecendo
relaes entre sujeitos, qualificadas como obrigatrias (O), proibidas (V) ou permitidas (P). Neste
sentido, o prescritor da norma , invariavelmente, uma proposio relacional. Diferente da hiptese,
que descritiva, a significao que ocupa o tpico de conseqente na estrutura normativa estabelece
um vnculo entre dois ou mais sujeitos de direito em torno de uma conduta, que deve ser cumprida por
um e pode ser exigida por outro. Os termos da relao so necessariamente pessoas diversas, j que o
264
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 30.
231
direito no regula condutas intra-subjetivas, de um sujeito para com ele mesmo. Assim, na frmula (S
R S que representa a proposio-conseqente na estrutura normativa) S denota uma pessoa
qualquer e S outra pessoa qualquer, desde que no S; e R expressa o relacional dentico, responsvel
pelo vnculo entre tais sujeitos, instaurado.
Pela hiptese, os fatos do mundo social ingressam no direito e pelo conseqente eles
se realizam na forma disciplinada pelo legislador, pois com a concretizao dos comandos, a
conseqncia normativa em fato social se transforma. A relao entre sujeitos, instituda como efeito
do fato jurdico, nada mais do que um fato relacional, um acontecimento delimitado no espao e no
tempo, constitudo em linguagem jurdica, envolvendo dois ou mais sujeitos, que se esgota na fixao
do direito e do dever correlato de cada um. Neste sentido, podemos dizer que, assim como a hiptese,
o conseqente normativo delimita um fato, um fato relacional. Mais para frente, no decorrer de nossas
investigaes, examinaremos este fato relacional, por hora, basta fixarmos que a funo do
conseqente na estrutura normativa a de efetivamente prescrever condutas intersubjetivas a serem
imputadas como efeito dos fatos juridicizados pelo direito.
5.4. A implicao como forma sinttica normativa
Recapitulando, a mensagem dentica de sentido completo pressupe uma
proposio-antecedente, descritiva de possvel ocorrncia social, na condio de hiptese normativa
implicando uma proposio-tese, de carter relacional, no tpico de conseqente, por fora de um ato
de vontade da autoridade que legisla. Da construmos a estrutura da norma jurdica: D (HC). A
frmula implicacional da regra representa a causalidade do direito, que estabelece ser o fato descrito na
hiptese causa do efeito prescrito no conseqente, o que muito nos diz.
Quando tratamos das frmulas lgicas (no captulo sobre o direito e a Lgica),
ressaltamos que, na frmula condicional, prpria das relaes implicacionais, importante distinguir a
ordem em que aparecem seus componentes, pois dela depende o valor de verdade da frmula.
Admitindo-se a existncia do condicional, sempre que se der o fato descrito na hiptese (proposio-
antecedente) dar-se- o efeito prescrito no conseqente e se no se der o efeito porque no se deu o
fato
265
. Isto devido regra de inferncia lgica do modus ponens e lei lgica do modus tollens, que
preceituam ser a proposio-antecedente condio suficiente da proposio-conseqente e esta
condio necessria daquela, na medida em que se o antecedente for verdadeiro o conseqente
265
Dentro do sistema de referncia que adotamos, devemos entender que o fato se d quando constitudo em linguagem
competente, sempre que constitudo o fato juridicamente dar-se- o efeito prescrito no conseqente, isto porque, partimos
do pressuposto que sem linguagem competente o fato, como tal, no existe para o direito.
232
tambm o ser e se o conseqente for falso, o antecedente tambm o ser. Um exemplo esclarece
tais afirmaes: a norma jurdica do direito personalidade dispe: (H) se nascer com vida, ()
deve ser, (C) capaz de direitos e obrigaes. De acordo com tais regras lgicas: (i) se verificado
juridicamente o fato do nascimento com vida, instaura-se, em razo da causalidade jurdica, o efeito da
capacidade de ser sujeito de direitos e obrigaes, porque a hiptese condio suficiente do
conseqente; e (ii) se no verificado o efeito jurdico de tal capacidade porque no houve
juridicamente o nascimento com vida, dado que o conseqente condio necessria da hiptese.
Contudo, por vrias vezes observamos no direito posto, que mesmo com a
verificao do fato, o efeito, atribudo a este por determinada regra jurdica, no se verifica em
decorrncia da incidncia de outra norma. o caso, por exemplo, da regra de incapacidade relativa:
(H) se maior de 16 anos e menor de 18, () deve ser, (C) a capacidade relativa para realizar atos
da vida civil (art. 4 do CC). Pode ser que determinada pessoa, de 17 anos, seja absolutamente
incapaz, porque portadora de deficincia mental (art. 3 do CC). Nesta situao, constata-se a ausncia
do efeito jurdico, mesmo com a ocorrncia do fato (ser maior de 16 anos e menor de 18), pois na sua
complexidade (ter 17 anos e ser deficiente mental) ele tomado como antecedente de outra norma. O
mesmo se d com a regra de homicdio, que dispes: (H) se matar algum, () deve ser, (C) o
cumprimento da pena de recluso de 6 a 20 anos (art. 121 do CP). Pode ser que uma pessoa mate
algum, mas no seja obrigada a cumprir pena, porque o fez em legtima defesa (art. 23 II do CP).
Nesta outra situao, constata-se novamente a ausncia do efeito jurdico (pena de recluso de 6 a 20
anos), mesmo com a verificao do fato (matar algum), devido existncia de prescrio diversa em
outra norma que toma como antecedente o fato de matar algum em legtima defesa.
primeira vista, tal constatao pode parecer uma afronta lei lgica do modus
tollens, segundo a qual, considerando a existncia de uma relao condicional entre duas proposies,
se o conseqente no se verificar porque a hiptese no se verificou, o que no persiste num olhar
mais apurado, quando hipteses e conseqncias so associadas na formao de estruturas mais
complexas.
comum encontrarmos, na linguagem do direito, pluralidade conjuntiva ou
disjuntiva de fatos para um s efeito, que, respectivamente, podem ser simbolizadas com as frmulas:
[H e H e H) C] e [(H ou H ou H) C]. Como explica LOURIVAL VILANOVA, no
primeiro caso, cada causa necessria, mas no-suficiente para provocar o conseqente C, no segundo,
233
cada causa suficiente, mas no-necessria
266
. Em outras palavras, na primeira situao, no basta que
apenas um dos fatos (descritos em H, H, ou H) se realize, necessrio a verificao de todos para a
propagao da conseqncia jurdica e na segunda situao, com a verificao de apenas um dos fatos
instaura-se o efeito prescrito no conseqente.
Nas circunstncias dadas como exemplo, da capacidade e do homicdio h
pluralidade conjuntiva de hipteses que se encontram unidas pela partcula operatria e, isto quer
dizer que, cada uma delas necessria, mas no suficiente para sozinha propagar os efeitos jurdicos
do conseqente. Para que algum seja capaz de exercer atos da vida civil (C), alm de ser maior de
dezoito anos (H), esta pessoa, deve ter necessrio discernimento da prtica de seus atos (H) e poder
exprimir sua vontade (H) art. 3, I, II, III do CC. Basta uma das hipteses no se verificar para o
sujeito, mesmo maior de dezoito anos, no adquirir juridicamente a capacidade civil de seus atos. Do
mesmo modo, para ser condenado pena de recluso por homicdio o sujeito, alm de matar algum
(H), no pode ter agido em legitima defesa, estado de necessidade ou cumprimento do dever legal
(H), deve ser maior de 18 anos (H), estar em posse das suas faculdades mentais (H). Basta uma
destas hipteses no se verificar para que o sujeito, mesmo tendo matado outro, no seja condenado
pena de recluso.
H pluralidade disjuntiva de hiptese quando estas encontram-se unidas pela
partcula operatria ou, o que significa dizer que apenas uma delas suficiente para sozinha
propagar os efeitos jurdicos do conseqente, mas no necessria. Um exemplo a norma prescritora
da faculdade de votar, que assim dispe: (H) ser analfabeto, ou (H) ser maior de sessenta anos,
ou (H) ser maior de dezesseis e menor de dezoito, () dever ser (C) a faculdade de votar (art.
14 1, II da CF). Basta a verificao de apenas uma das hiptese para que o sujeito no seja obrigado
a votar, mas facultado.
Tambm possvel uma s hiptese trazer vrios efeitos (C, C, C...), vinculados
entre si, conjuntiva (H C e C e C) ou disjuntivamente (H C ou C ou C). Por exemplo, o
fato de ser pai de algum (H) gera conseqncias familiais (C), alimentcias (C) e patrimoniais (C);
o fato de pagar previdncia privada durante x anos (H) gera como conseqncia o direito de receber
vencimentos mensais (C) ou de sacar o saldo acumulado (C).
266
Causalidade e relao no direito, p. 90.
234
O fato que o legislador, na produo dos textos jurdicos e o intrprete, na
construo do sentido destes, podem combinar: (i) uma s hiptese para uma s conseqncia
(HC); (ii) vrias hipteses para uma s conseqncia (H, H, H...C); (iii) uma s hiptese
para vrias conseqncias (HC, C, C...); ou (iv) vrias hipteses para vrias conseqncias (H,
H, H...C, C, C...); associando-as conjuntiva ou disjuntivamente. Mas, como sublinha
LOURIVAL VILANOVA, no pode arbitrariamente construir uma outra estrutura alm destas
267
.
6. NORMA JURDICA COMPLETA
At agora, vimos a estrutura da norma jurdica como uma entidade singular, onde
uma proposio-antecedente associada a uma proposio-conseqente, por um ato de vontade do
legislador, mediante a cpula do conectivo condicional D (HC). Este um recorte efetuado sob a
permisso metodolgica do discurso cientfico. A norma jurdica, entretanto, na sua completude, tem
feio dplice: (i) norma primria; e (ii) norma secundria.
Embora seus contedos significativos e suas amarraes intraproposicionais sejam
diversos, a estrutura interproposicional de cada qual a mesma D (HC), o que nos permite
produzir um nico estudo lgico para a anlise de ambas. A primeira, norma primria, vincula
deonticamente a ocorrncia de um fato prescrio de uma conduta. A segunda, norma secundria,
logicamente conectada primeira, prescreve uma providncia sancionatria (de cunho coercitivo),
aplicada pelo Estado-Juiz, caso seja verificado o fato descrito na primeira e no realizada a conduta
por ela prescrita. Ou, como melhor explica LOURIVAL VILANOVA, na primeira (norma primria),
realizada a hiptese ftica, sobrevm, a relao jurdica com sujeitos em posio ativa e passiva, com
pretenses e deveres; na segunda (norma secundria) o pressuposto o no-cumprimento, que
funciona como fato fundante de outra pretenso, a de exigir coativamente perante rgo estatal a
efetivao do dever constitudo na norma primria
268
.
6.1. Norma primria e secundria na doutrina jurdica
A diferenciao entre norma primria e secundria repousa na Teoria Pura do Direito
de HANS KELSEN, sob o fundamento de que a sano est contida na idia de norma jurdica e
desta inseparvel, tendo em vista ser o direito uma ordem coativa, distinguindo-se das demais pela
possibilidade de aplicao pela fora estatal.
267
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 91.
268
Causalidade e relao no direito, p. 188.
235
Na primeira concepo de KELSEN a ordem inversa da explicada acima. As
normas primrias so aquelas que estipulam sanes diante de uma possvel ilicitude e as secundrias
as que prescrevem a conduta a ser tomada como hiptese das normas primrias quando descumprida.
Isto se justifica porque o autor atribui uma carga valorativa muito elevada s normas sancionadas, ao
utilizar-se da coercitividade como fato de distino entre normas jurdicas e no jurdicas. Retomando
o assunto, no entanto, na sua obra pstuma Teoria Geral das Normas, KELSEN retifica a qualificao
proposta denominando norma primria a que estabelece a conduta e norma secundria a que
prescreve a sano
269
.
CARLOS COSSIO tambm trabalha com esta diferenciao, mas utilizando-se de
outra terminologia. Para ele, o modelo da norma jurdica completa o mesmo de uma clula, no
ncleo figura a endonorma, que prescreve uma conduta entre sujeitos (denominada por KELSEN de
primria) e, em sua volta, como uma membrana que a envolve, a perinorma, que estabelece uma
sano para o descumprimento da conduta prescrita na endonorma (denominada por KELSEN de
norma secundria)
270
.
NORBERTO BOBBIO outro autor que trabalha com a bimembridade da norma
jurdica completa, embora admita a existncia de normas sem sano. O autor, no entanto, prefere
indic-las como sendo de primeiro e de segundo grau, por entender que os termos primria e
secundria denotam tanto uma ordem cronolgica (precedncia no tempo) quanto uma ordem
axiolgica (preferncia valorativa).
A distino entre normas primrias e secundrias tambm marcante na teoria de
HART, que atribui um sentido diferente de KELSEN norma secundria. Segundo o autor, as normas
primrias caracterizam-se por prescreverem uma ao, ou constiturem uma obrigao (o que
corresponde idia de KELSEN), as normas secundrias, no entanto, no se limitam a estabelecer
sanes, so mais complexas, importando tambm a atribuio de poderes e legitimao de outras
normas. Dividem-se em: (i) normas de reconhecimento, que se equipara norma fundamental de
KELSEN, fundamento de validade de todas as demais normas; (ii) normas de modificao, que
regulam o processo de revogao das normas primrias; (iii) normas de julgamento, que disciplinam a
aplicao das normas primrias.
269
Teoria Geral das Normas, p. 67
270
CARLOS COSSIO, La teoria Egolgica del Derecho.
236
Particularmente, preferimos trabalhar com a terminologia empregada por KELSEN
em sua obra pstuma, adotada por LOURIVAL VILANOVA e PAULO DE BARROS CARVALHO
para diferenar, na estrutura normativa completa, a norma que prescreve uma relao entre dois
sujeitos e a que estabelece a respectiva sano de ordem estatal.
6.2. Fundamentos da norma secundria
A bimembriedade constitutiva da norma jurdica decorre do pressuposto de que, no
direito, inexiste regra sem a correspondente sano. Uma norma jurdica porque sujeita-se coero
estatal, presente na prescrio de outra norma, a qual chamamos de secundria, que a ela se agrega na
composio daquilo que entendemos por norma jurdica completa.
O direito positivo no o nico sistema prescritivo de condutas. H outros, cujas
unidades tambm so normas e que, no raramente, tm mais eficcia social do que as prprias regras
jurdicas, como por exemplo, os religiosos, morais, consuetudinrios, etc. Todos eles caracterizam-se
como prescritivos, pois manifestam-se na mesma funo lingstica do direito positivo. A diferena
que as normas do direito so jurdicas, e assim o so porque tm sano, ou seja, as condutas por elas
prescritas so asseguradas pela interveno estatal.
O ser jurdica da norma significa ter coercitividade
271
, que a previso, pelo sistema,
de mecanismos para exigir o cumprimento das condutas por ele prescritas. A sano, implementada
coercitivamente pelo Estado-Juiz, uma caracterstica prpria do direito, que est presente em todas as
normas do ordenamento
272
, diferenciando-o dos demais sistemas prescritivos. No fosse tal imposio
coercitiva as normas jurdicas se confundiriam com morais, ticas, religiosas.
Assim, a norma secundria atribui juridicidade primria, caracterizando-a como
jurdica. Nos dizeres de LOURIVAL VILANOVA, "norma primria e norma secundria compem a
bimembridade da norma jurdica: a primria sem a secundria desjuridiciza-se; a secundria sem a
primria reduz-se a instrumento-meio, sem fim material"
273
.
271
J ensinava HANS KELSEN que o direito, alm de se caracterizar como ordem de conduta humana, tem outra
caracterstica que a de ser ordem coativa. (Teoria Pura do Direito, p. 33). Para NORBERTO BOBBIO, tambm, a
norma jurdica aquela cuja execuo est garantida por uma sano externa e institucionalizada, apesar deste ltimo
autor entender que existem normas sem sano (Teoria general del derecho, p. 111).
272
TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR., assim como NORBERTO BOBBIO, tem posicionamento diverso. Segundo ele, a
coercibilidade tem a ver com a relao de autoridade institucionalizada. sucetibilidade de aplicao de coao.
Entretanto, no haver uma sano para cada norma. A sano jurdica elemento importante, mas nem sempre vem
prescrita nas normas. (Introduo ao estudo do direito, p. 112).
273
Causalidade e Relao no Direito, p. 190.
237
norma primria
c
s
Fixada a premissa de que toda norma jurdica tem coercitividade, levando-se em
conta que o direito um conjunto de normas e que a coercitividade est dentro do direito, esta no
poderia ser outra coisa seno tambm uma norma, que se agrega outra para tornar exigvel o
cumprimento da conduta por aquela prescrita. por isso que as duas normas juntas formam a norma
jurdica completa. Nas palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO, expressam a mensagem
dentica-jurdica na sua integridade constitutiva, significando a orientao da conduta, juntamente com
a providncia coercitiva que o ordenamento prev para seu cumprimento
274
.
6.3. Estrutura completa da norma jurdica
Numa sntese, apresentada em notao simblica, a norma jurdica completa aparece
da seguinte forma:
D { [ H C ] v [ H ( - c) S ] }
A norma primria estatui direitos e deveres correlatos a dois ou mais sujeitos como
conseqncia jurdica C, em decorrncia da verificao do acontecimento descrito em sua hiptese
H. A norma secundria estabelece a sano S, mediante o exerccio da coao estatal, no caso de
no observncia dos direitos e deveres institudos pela norma primria H (-c).
Ou, como prefere representar PAULO DE BARROS CARVALHO:
H f H f(-c)
Np Dsn v Ns Dsn
C R (S,S) C R (S, S)
Explicando: a norma primria (Np) descreve, em sua hiptese (H), um fato de
possvel ocorrncia (f) e em seu conseqente (C) estatui uma relao (R), entre dois sujeitos (S e S),
em torno do cumprimento da conduta (c). A norma secundria (Ns) toma como hiptese (H) o fato
do no-cumprimento da conduta prescrita pela norma primria (-c), estabelecendo como conseqncia
274
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 32.
norma secundria
238
(C) uma relao (R) entre um dos sujeitos da relao da norma primria (S) e o Estado-Juiz (S),
para exerccio da coao estatal.
A relao de coordenao que se estabelece entre norma primria e norma secundria
de ordem no-simtrica. Como ensina LORIVAL VILANOVA, a norma sancionadora pressupe,
previamente, a norma definidora da conduta exigida. H, assim, sucessividade temporal entre
ambas
275
. A primria prescreve uma conduta, a secundria toma como pressuposto a no observncia
desta conduta (prescrita no conseqente da primria) para instaurar uma relao jurdica em que o
Estado-Juiz assegure o seu cumprimento, mediante o exerccio da coatividade estatal.
6.4. Normas secundrias
Como dissemos linhas acima, a norma secundria atribui juridicidade s normas
primrias. Ela prescreve que no caso de descumprimento, inobservncia, inadimplncia, por parte do
sujeito passivo, do dever jurdico prescrito na regra primria, o outro sujeito da relao, titular do
direito subjetivo, pode exigir coativamente a prestao no-adimplida. Com isso, estabelece-se nova
relao jurdica, na qual intervm outro sujeito, o rgo judicial, aplicador da sano coacionada
276
.
A coao jurdica no auto-aplicvel. O poder coercitivo direito subjetivo
pblico, exercido pelo Estado-Juiz, pois nenhum indivduo tem legitimidade jurdica para usar da
prpria fora com a finalidade de assegurar deveres prescritos em normas jurdicas. Tal funo
compete exclusivamente ao Estado e s se concretiza por meio de uma atuao jurisdicional. A norma
secundria institui esta possibilidade coativa, prpria de todas as normas jurdicas, que o direito s
permite ser exercida pelo Estado-Juiz. Por isso, invariavelmente, num dos plos da relao prescrita
em seu conseqente h de estar presente a figura do Estado- Juiz.
Em razo de ser o Estado-juiz num dos sujeitos da prescrio, LOURIVAL
VILANOVA refere-se relao jurdica estatuda na norma secundria como de ndole formal
(processual) e a prescrita na norma primria como de cunho material
277
.
O vnculo de ordem processual tridico, porque se estabelece entre trs pessoas: (i)
autor, (ii) ru e (iii) juiz. Consta de duas relaes, cujo termo comum de interseco o Estado-Juiz:
(i) uma entre os sujeitos A e B (A sujeito processual ativo ou autor; e B rgo jurisdicional); e (ii)
275
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 111.
276
LOURIVAL VILANOVA, Causalidade e relao no direito, p. 102.
277
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 112.
239
outra entre os sujeitos B e C (B o mesmo rgo jurisdicional; e C sujeito processual passivo ou
ru).
O conseqente da norma secundria prescreve uma relao desta categoria,
atribuindo ao sujeito, cujo direito institudo pela norma primria foi desrespeitado, a pretenso de
instaurar tal relao, dirigindo-se, por meios prprios, ao rgo jurisdicional, para que este possa,
perante o sujeito inobservador, assegurar os direitos lesados. Para valer-se da coao, a prescrio da
norma secundria atribui ao sujeito cujo direito foi lesado a capacidade processual ativa, do mesmo
modo, investe o sujeito inobservador de capacidade processual passiva para se opor coao.
importante frisar, no entanto, que nem toda norma processual norma secundria.
O que caracteriza a norma secundria a prescrio da coercitividade estatal em seu conseqente e
nem toda norma processual prescreve esta possibilidade. Algumas estabelecem prazos, instituem a
perda do direito de ao, atribuem procedimentos s partes e, assim sendo, no se enquadram no
conceito de secundrias, ainda que guardem relao de sucessividade com outras normas de direito
material.
A existncia da norma secundria na estrutura da norma jurdica completa se
fundamenta no postulado de que: a todo direito corresponde uma ao e a toda leso de direito
subjetivo ficar aberta a via judiciria
278
. No mundo jurdico os direitos/deveres, prescritos por
normas jurdicas, esto garantidos pela possibilidade de acesso ao judicirio para emprego da coao,
que prpria do rgo jurisdicional. No h direitos, pertencente ao sistema jurdico, que no seja
assegurado coercitivamente pela via judiciria, caso contrrio no jurdico. Nestes termos, a estrutura
normativa ser sempre dual: norma primria que estatui direitos e deveres correlatos e norma
secundria, que estabelece a relao processual de cunho sancionatrio, mediante a qual exercida a
coao estatal. No h, juridicamente, norma primria sem a correspondente secundria.
6.5. Sobre o conectivo das normas primaria e secundria
As normas primarias e secundrias no esto simplesmente justapostas, unidas por
conectivos gramaticais sem relevncia lgica operativa. Se h sucessividade temporal o
relacionamento entre as normas primria e secundria de ordem lgica-formal.
278
LOURIVAL VILANOVA, Causalidade e relao no direito, p. 200.
240
Assim observando, LOURIVAL VILANOVA fez um detalhado estudo sobre o
conectivo que une tais proposies jurdicas, demonstrando sua preferncia pelo disjuntor includente
(v), que suscita o trilema: uma; ou outra; ou ambas; sob a justificativa de que as duas regras so
simultaneamente vlidas, mas que a aplicao de uma exclui a outra
279
.
O professor pernambucano inicia seu estudo experimentando os conectivos conjuntor
(.), disjuntores includente (v), excludente () e condicional () em suas funes lgicas.
De acordo com suas consideraes, na proposio normativa completa temos duas
normas vlidas no sistema jurdico, ambas se pressupem, de modo que a validade de uma no pode
existir sem a validade da outra. Se ambas so vlidas, tm valncia positiva e, por isso, nenhum
impedimento h em serem unidas pelo conectivo e (.), cuja conexo exige sejam ambas vlidas.
Nesta mesma linha de raciocnio, no h obste para o emprego do disjuntor
includente ou (v), j que sua regra de uso a de que uma, ou outra, ou ambas sejam vlidas,
prevalecendo o valor positivo do todo proposicional em sua bimembridade constitutiva. Tambm no
h obste para o emprego do conectivo se...ento (), j que a implicao vlida se vlidas foram
as proposies que a compem, s no seria vlida a norma completa, como estrutura implicacional, se
o antecedente fosse vlido e o conseqente invlido, o que no se verifica.
S invivel uni-las com o disjuntor excludente (), que se l: uma ou outra, porm
no ambas, porque as proposies primria e secundria so simultaneamente vlidas.
Em resumo, considerando-se a funo lgica do conectivo, dado o fato de que em
uma proposio normativa completa, tanto a norma primria como a secundria serem vlidas,
possvel relacion-las com os conectivos e, ou (includente) e se...ento, sendo indiferente a
escolha por qualquer um deles. Exclui-se, porm, o uso do ou excludente.
Por ser logicamente indiferente o emprego de qualquer um dos trs operadores,
LOURIVAL VILANOVA foi buscar no campo extralgico, elementos para a sua deciso. Verificou o
autor que, no plano ftico, s se ingressa na rbita da norma secundria se descumprida a primria. Se
h observncia da norma primria carece de sentido subsumir a conduta prescrita na norma secundria.
279
As estruturas lgicas do direito positivo, p. 117-140.
241
norma primria norma secundria
c
s
So possibilidades mutuamente excludentes e assim sendo, conexo entre uma e outra proposio se
d mediante o ou (excludente): ou se cumpre uma ou se cumpre outra, mas no ambas.
Com base nestes dois critrios, um de ordem lgica e outro extralgico, o autor
conclui ser o ou includente (v) o conectivo que melhor representa a relao entre as normas primaria
e secundria. Para representar a validade simultnea das normas primria e secundria o conectivo
ou usado na sua funo includente (ambas tm valncia positiva). Para representar que o
cumprimento de uma exclui o cumprimento da outra o operador ou usado na sua funo excludente
(se uma tem valncia positiva, a outra tem valncia negativa). H validade simultnea no plano
normativo e no plano da aplicao h excludncia.
Assim, temos as seguintes arrumaes lgicas:
D [ H R (Sa, Sp)] v [ H (-c) R (Sa, Sj)]
7. O CONCEITO DE SANO NO DIREITO
Analisando a norma jurdica em sua estrutura completa, j estamos aptos a responder
a pergunta: existe norma sem sano?
Dentro do modelo terico adotado, no. Nas palavras de PAULO DE BARROS
CARVALHO, aquilo que h, so enunciados prescritivos sem normas sancionadoras que lhe
correspondam, porque estas somente se associam a outras normas jurdicas prescritoras de deveres.
Imaginssemos uma prestao estabelecida em regra sem a respectiva sano jurdica e teramos
resvalado para o campo de outros sistemas de normas, como o dos preceitos morais religiosos, etc
280
.
Mas, a melhor resposta, como sempre, : depende. Depende do que se entende por
norma jurdica e sano.
Se considerarmos a expresso norma jurdica em sentido amplo (enunciados
prescritivos e suas significaes ainda no deonticamente estruturadas) a resposta sim, existe norma
jurdica sem sano, pois nem todos enunciados do direito prescrevem condutas a serem sancionadas
280
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 21.
242
caso descumpridas. Alguns deles apenas estabelecem informaes para a composio dos critrios
normativos, como por exemplo: em que momento e local se dar a ocorrncia do fato (ex: considera-se
ocorrido o crime no momento da ao, ainda que outro seja o do resultado), quais sujeitos ocuparo os
plos da relao (ex: o contribuinte o proprietrio do imvel), qual a ao ncleo do fato (ex: furtar
coisa alheia mvel), etc.
E, se considerarmos a expresso norma jurdica em sentido estrito, ainda temos
outro problema, que o conceito de sano.
Antes de mais nada, sano uma palavra que, como muitas j vistas, tem o
problema semntico da ambigidade. No h um consenso doutrinrio que aponte para uma nica
acepo do termo no discurso jurdico-cientfico, mas a idia conceitual que seja ela um castigo
imposto em detrimento ao no-cumprimento de um dever jurdico, isto , uma relao jurdica,
imposta em decorrncia de fato ilcito, dentro do modelo terico que seguimos.
Diante do carter no-unvoco do vocbulo, EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI,
tomando-a como relao jurdica, sublinha, ainda, trs significados possveis para o termo sano: (i)
relao jurdica consistente na conduta substitutiva reparadora, decorrente do descumprimento de um
pressuposto obrigacional; (ii) relao jurdica que habilita o sujeito ativo a exercitar seu direito
subjetivo de ao (processual) para exigir perante o Estado-juiz a efetivao do dever constitudo na
norma primaria; (iii) relao jurdica, conseqncia processual deste direito de ao preceituada na
sentena condenatria, decorrente de processo judicial
281
.
A primeira acepo denota a relao prescrita em norma primria e a segunda a
relao estatuda em norma secundria. Analiticamente, afastamos, desde logo, a ltima acepo, de
sano como resultado do processo judicial preceituado na sentena condenatria. A relao jurdica
que se constitui na sentena condenatria a positivao do conseqente de uma norma de direito
material, que pode ter como pressuposto tanto um fato lcito, quanto um fato ilcito. Se seu pressuposto
for um fato ilcito, camos na primeira acepo, se for licito, de sano no se trata. Em ambos os
casos, a relao positivada pode ainda ser inadimplida, no demonstrando qualquer imposio coativa
do Estado alm da aplicao de uma regra de direito material. Ficamos, ento, com as duas primeiras
acepes.
281
Lanamento tributrio, p. 38-39.
243
Se considerarmos sano na primeira acepo, como relao jurdica cujo objeto
uma conduta reparadora a ser exercida por aquele que descumpriu algum preceito normativo em favor
daquele que sofreu o nus do seu descumprimento, todas as normas que fixam multas, indenizaes,
perda e restries de direitos em decorrncia de atos ilcitos, seriam sancionadoras, mesmo no tendo
como sujeito integrante o Estado-juiz. Ao mesmo passo, nem toda norma estaria associada sano e a
resposta para nossa pergunta seria: sim, existe norma jurdica sem sano, como exemplo,
poderamos citar as regras que atribuem faculdade para legislar, as normas processuais e todas as
demais que no se associam a outras normas de carter reparador.
Considerando, no entanto, sano na segunda acepo como relao jurdica que
habilita o sujeito ativo a exercitar seu direito subjetivo de ao (processual) para exigir perante o
Estado-juiz a efetivao do dever constitudo na norma primaria, mediante o emprego da coao
estatal a resposta para nossa pergunta : no, porque, como j dissemos acima, no h um direito
pertencente ao sistema jurdico que no seja assegurado coercitivamente pela via judiciria.
A sano, nesse sentido, tem uma conotao mais estrita, no apenas de relao
jurdica punitiva, instaurada em decorrncia de fato ilcito, de cunho reparatrio, mas de um vinculo de
ordem processual, mediante a qual se postula o exerccio da coatividade jurdica (tambm punitiva e
decorrente de fato ilcito), para assegurar a garantia de um direito.
Sob este enfoque todas as normas jurdicas tm sano, sob pena dos direitos e
deveres por elas prescritos no se concretizarem juridicamente.
244
CAPTULO IX
CONTEDO NORMATIVO E CLASSIFICAO DAS NORMAS
SUMRIO: 1. Contedo normativo e teoria das classes; 1.1. Sobre a teoria das
classes; 1.2. Aplicao das noes de classe ao contedo normativo; 2. Tipos de
normas jurdicas, 2.1. Sobre o ato de classificar, 2.2. Classificao das normas
jurdicas, 2.2.1. Tipos dos enunciados prescritivos S1; 2.2.2. Tipos de
proposies isoladas S2; 2.2.3. Tipos de normas jurdicas (stricto sensu) S3;
2.2.3.1. Normas de conduta e normas de estrutura; 2.2.3.1.1. Normas de estrutura
e suas respectivas normas secundrias; 2.2.3.2. Normas abstratas e concretas,
gerais e individuais; 2.2.3.3. Tipos de normas jurdicas segundo as relaes de
coordenao estabelecidas em S4; 2.2.3.3.1. Normas dispositivas e derivadas,
punitivas e no-punitivas; 2.2.3.1.1.1. Sobre os conectivos lgicos das normas
dispositivas derivadas e punitivas e no punitivas; 2.2.4. Tipos de normas
jurdicas em sentido amplo; 2.2.4.1. Diferenciao quanto ao ncleo semntico;
2.2.4.2. Diferenciao quanto ao veculo introdutor.
1. CONTEDO NORMATIVO E TEORIA DAS CLASSES
Vimos, no incio do trabalho (quando tratamos do conceito de direito), que todo
nome geral ou individual cria uma classe. Quando atribumos nome a algo, formamos um conjunto, de
modo que todos os objetos pertencentes quele conjunto tero aquele nome. Para identificarmos os
objetos pertencentes ao conjunto criamos o conceito, delimitado por aquilo que denominamos
caractersticas definitrias, requisitos, atributos, ou critrios exigidos para incluirmos um objeto numa
classe.
Transpondo tais consideraes para o estudo da norma jurdica, temos que, o
legislador, ao selecionar os atributos que os fatos e as relaes precisam ter para pertencerem ao
mundo jurdico, delimita dois conceitos, dividindo a realidade dos fatos e das relaes relevantes
juridicamente, da realidade dos fatos e das relaes no relevantes juridicamente. Ao assim fazer, cria
duas classes: (i) a da hiptese, conotativa dos suportes fticos a serem juridicizados; e (ii) a do
conseqente, conotativa das relaes jurdicas a serem instauradas com a verificao daqueles fatos.
Os fatos que se enquadram ao conceito da hiptese so relevantes juridicamente, os
que no se enquadram no interessam para o direito. Da mesma forma, as relaes intersubjetivas a
245
serem constitudas juridicamente so aquelas que apresentam as propriedades definidas no
conseqente normativo, as que no tiverem tais atributos, nunca pertencero ao mbito jurdico.
Tais consideraes autorizam-nos a realizar um breve estudo sobre a teoria das
classes antes de ingressarmos propriamente na anlise do contedo normativo e na classificao das
normas jurdicas em razo deste.
1.1. Sobre a teoria das classes
Qualquer formao lingstica passa pela teoria dos conjuntos e pela teoria das
relaes. Como diz LEONIDAS HEGENBERG, desde o momento em que rene as coisas e as
classifica, o ser humano forma conjuntos e adquire as noes de pertencialidade e de subconjunto
282
.
A classe, ou conjunto, a extenso de um conceito, o seu campo de aplicabilidade ou, nos dizeres de
SUZANNE K. LANGER, a coleo de todos aqueles e somente aqueles termos aos quais certo
conceito seja aplicvel
283
. Ns no vemos nem percebemos fisicamente as classes, elas so
construes da nossa mente. Selecionamos alguns critrios e assim vamos agrupando e identificando
objetos.
O ser humano tem esta tendncia, de atribuir identidade s coisas que o cercam e,
assim o faz, criando termos e delimitando o campo de extenso dos elementos que lhe cabem. Posto
que todos os nomes so classes, a Lgica das Classes um segmento da Lgica dos Termos, a qual
compreende o estudo da composio interna das proposies simples, resultantes da cpula altica
entre sujeito e predicado S P, ou em termos formais S(P).
Toda classe, ou conjunto (como a chamamos na vida cotidiana), delimitada por
uma funo proposicional. Uma classe x tem por elementos todos os objetos que satisfaam sua funo
e somente eles f(x). Nestes termos, d-se o nome de funo proposicional aos parmetros que
definem a classe, ela determinada por: (i) uma varivel de sujeito (f), que permite a incluso de
indefinidos elementos; e (ii) uma predicao (x), que d nome e delimita o conceito da classe, fazendo
com que alguns elementos a ela pertenam, outros no.
Em linguagem formal, para representarmos simbolicamente as classes, utilizamo-nos
de consoantes maisculas como K, L, M, S, etc. Como j ressaltamos (no captulo II, quando tratamos
das definies), ao conjunto de requisitos que fazem com que alguns objetos pertenam a certa classe
282
Saber de e saber que, p. 110.
283
An introduction to symbolic logic, p. 116.
246
(K, L, M, S) atribumos o nome de conotao e a totalidade dos elementos que a ela pertencem,
denominamos de denotao
284
. Quanto maior a conotao, menor a denotao da classe.
Uma classe no se confunde com a totalidade dos elementos que ela denota, pois sua
extenso continua existindo, ainda que seus elementos desapaream. Uma coisa, por exemplo, a
classe dos mamferos, cuja conotao designa-se por ser animal com glndulas mamrias, outra
coisa so os animais membros desta classe homem, macaco, cachorro, baleia, etc., que constituem
sua denotao. A extino de um destes animais no afeta a classe nem sua conotao
285
. Assim,
apesar de tnue, difere-se: (i) a classe; (ii) de sua conotao; e (iii) de sua denotao.
A classe o mbito de aplicao de um conceito, sua conotao a totalidade dos
requisitos que delimitam este conceito e sua denotao so todos os objetos que cabem no mbito do
conceito. A classe dos nmeros pares (L), por exemplo, cuja funo proposicional : x nmero
divisvel por dois delimitada por dois requisitos: (i) ser nmero; e (ii) ser divisvel por 2, que
constituem a sua conotao. Os nmeros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ..., formam sua denotao. A classe
no se confunde com os nmeros que a ela pertencem, nem com os requisitos que a delimitam. O
problema, como adverte TREK MOYSES MOUSSALEM
286
, que muitas vezes utiliza-se a mesma
palavra tanto para denominar a classe (nmeros pares) como para referir-se aos seus elementos
(nmeros pares).
Podem existir: (i) classes comuns, cuja extenso comporta inmeros objetos (ex:
classe dos celenterados, dos nmeros mpares, das mulheres obesas); (ii) classes de um elemento s,
cuja extenso comporta apenas um objeto (ex: nomes prprios, que denotam um nico individuo; fatos
histricos, que apontam determinado marco no tempo e no espao); (iii) classes vazias ou nulas, que
gozam de extenso, mas no tm denotao, ou seja, no contm qualquer objeto (ex: o conjunto dos
fatos impossveis) convencionalmente representadas pelo smbolo ; (iv) classes universais, que
contm todos os objetos de um discurso como elementos, ou seja, a totalidade de todas as coisas de
certo tipo (ex: a classe dos nmeros na aritmtica, dos tributos no direito tributrio)
convencionalmente representada pelo smbolo V. A universalidade da classe depende sempre do
corte metodolgico pressuposto.
284
Tal nomenclatura, no entanto, pode variar entre alguns autores. LEONIDAS HEGENBERG, por exemplo, utiliza-se dos
termos inteno e extenso para se referir ao que chamamos de conotao e denotao respectivamente (Saber de
e saber que, p.77).
285
SUSAN L. STEMBBING deixa isso claro ao pontuar que a morte de um homem, elemento da classe dos homens, em
nada modifica a classe homem. Em suas palavras: ..quando un hombre muere, la extensin de hombre no se vea
afectada de modo alguno (Introduccin moderna a la lgica, p. 143).
286
Revogao em matria tributria, p. 41
247
Entre duas classes podem existir diversas relaes. A de primordial funo a
relao de pertinncia, representada pela expresso simblica x K (onde se l: x pertence classe
K). Todo objeto x que satisfaa os requisitos conotativos da classe K a ela pertence. A funo
proposicional define os parmetros da classe: x planeta, todos os elementos que se enquadram na
extenso do conceito de planeta pertencem classe K (ex: Mercrio, Marte, Terra, Vnus, Jpiter, etc.)
e ganham sua predicao so planetas. J os que no se enquadram (ex. Lua, Pluto, Andrmeda,
etc.), no recebem a predicao de planeta. Como bem explica TREK MOYSES MOUSSALEM,
preenchida a varivel (x) da funo proposicional (x planeta), pelos elementos que se enquadram
na sua extenso, ela se torna uma proposio (i.e. Mercrio um planeta), qual possvel atribuir
valorao positiva ou negativa (verdadeira/falsa)
287
.
Os objetos que no satisfazem os requisitos conotativos da classe K, isto , aqueles
que a ela no pertencem, formam a classe complementar, simbolizada por K. A classe complementar
de K (K) constituda por todos os elementos no pertencentes classe K (ex: Lua, Pluto,
Andrmeda, etc.). Assim, a toda classe, enquanto extenso de um conceito, corresponde uma classe
complementar, formada pelos elementos excludos de tal conceito.
Quando todos os elementos de uma classe (K) so, ao mesmo tempo, elementos de
outra classe (L), dizemos que a classe K uma subclasse da classe L, ou que est includa na classe L.
A relao de incluso se d entre classes (conceitos conotativos) e difere da relao de pertinncia que
se d entre os elementos (ou classes de um elemento s conceitos denotativos) e a classe.
Os lgicos diferenciam subclasse e subclasse prpria. Na relao de subclasse
(representada pela frmula K L), no se exclui a possibilidade de todos os elementos de L tambm
pertencerem classe K, ou seja, de existir identidade entre as classes (em termos formais K = L). Na
relao da subclasse prpria (simbolicamente representada por K L) todo elemento da classe K
um elemento da classe L, mas nem todo elemento da classe L um elemento da classe K. Este o tipo
de relao que se estabelece entre as espcies e o gnero. A classe das relaes jurdicas, por exemplo,
uma subclasse prpria da classe das relaes intersubjetivas toda relao jurdica intersubjetiva,
mas nem toda relao intersubjetiva jurdica.
Duas ou mais propriedades definidoras (conotaes) diferentes podem determinar
uma mesma extenso, se os membros da classe (denotao) so os mesmos. Neste caso, embora
287
Revogao em matria tributria, p. 41
248
intencionalmente distintas, as classes so equivalentes, porque todos os elementos pertencentes a uma
pertencem tambm outra (ex: classe dos nmeros mltiplos de 3 e classe dos nmeros divisveis por
3). H, assim, relao de identidade entre as classes.
As classes ainda podem se interseccionarem ou se exclurem. Segundo ALFRED
TARSKI
288
, h relao de interseco quando duas classes K e L tm pelo menos um elemento em
comum e, ao mesmo tempo, elementos no comuns. A interseco forma uma nova classe (J), a dos
elementos comuns entre K e L, simbolicamente representada por K L. A classe dos fatos jurdicos,
por exemplo, nasce da interseco entre a classe dos fatos sociais relevantes juridicamente (porque
descritos como hiptese de normas jurdicas) e a classe daqueles fatos que podem ser juridicamente
provados. Quando duas classes, desde que no sejam vazias, no tm elementos em comum, dizemos
que so mutuamente excludentes ou disjuntas. A relao de disjuno tambm forma uma nova classe,
mas vazia, formalmente representada por: K L = . Os fatos ilcitos e as condutas permitidas, por
exemplo, formam classes disjuntivas, na medida em que, se permitida uma conduta, ela no contrria
ao direito.
soma de dois conjuntos denominamos de unio entre classes, que formalmente
representada por: K L. De tal operao resulta um terceiro conjunto F, formado por todas as
coisas que pertencem pelo menos a uma das classes K ou L. A classe dos fatos ilcitos, por
exemplo, unida classe dos fatos lcitos, forma a classe dos fatos jurdicos, que universal, dado
binariedade do cdigo do sistema jurdico (licito/ilcito).
A teoria dos conjuntos dispe ainda de postulados que permitem demonstrar vrios
teoremas de interesse. No entanto, no desejando prolongar nossas consideraes, mesmo porque,
estas poucas noes sobre j so mais do que suficientes para compreendermos a funo das
proposies normativas, fica aqui o registro para aqueles que se interessam pelo tema.
1.2. Aplicao das noes de classe para explicao do contedo normativo
O legislador, na conformao da hiptese normativa, ao definir os atributos que os
acontecimentos precisam ter para serem capazes de propagar efeitos na ordem jurdica, delimita uma
classe: a dos acontecimentos relevantes juridicamente. Ao indicar os fatos que do ensejo ao
nascimento da relao jurdica, o agente legislativo seleciona, com base em critrios puramente
axiolgicos, as propriedades que julga importantes para caracteriz-lo. Tais propriedades funcionam
288
Introduccin a la lgica y la metodologia de las cincias deductivas, p. 102.
249
como critrios de identificao que permitem reconhecer tal fato toda vez que ele ocorra. Eles
delimitam o campo de extenso da hiptese que projetado pelo aplicador na linguagem da realidade
social para demarcar os fatos, capacitados pelo direito, a dar ensejo ao nascimento de relaes
jurdicas.
O mesmo acontece na conformao do conseqente normativo, o legislador, ao
definir os atributos que as relaes precisam ter para se instaurarem juridicamente, delimita uma
classe: a das possveis e futuras relaes a serem estabelecidas juridicamente. Tais propriedades
funcionam como critrios de identificao que permitem apontar, dentre a totalidade das possveis
relaes entre sujeitos, aquelas a serem constitudas juridicamente. Eles formam o campo de extenso
do conseqente, que tambm projetado pelo aplicador, na linguagem da realidade social, para
delimitar as possveis relaes a serem estabelecidas juridicamente.
Graficamente podemos representar a extenso da hiptese e do conseqente da
seguinte forma:
Explicando: o retngulo de cima representa, no plano do direito (dever ser), a
norma geral e abstrata (N.G.A), o de baixo simboliza o plano da realidade social (ser). Os dois
crculos inclusos na figura retangular de cima representam, respectivamente, a delimitao do conceito
da hiptese e do conseqente (classe H e classe C). As linhas verticais pontilhadas, que saem daqueles
PLANO DO DEVER SER
PLANO DO SER
Classe dos fatos sociais
relevantes juridicamente
(extenso do conceito da
hiptese)
Classe das relaes sociais possveis
de serem instauradas por fora
jurdica
(extenso do conceito do
conseqente)
(aplicador)
N.G.A.
Classe H Classe C
250
crculos em direo aos crculos pontilhados, simbolizam a extenso destes conceitos no plano da
realidade social, para a demarcao de infinitos fatos e relaes sociais relevantes juridicamente,
representados pelos crculos pontilhados inclusos no retngulo inferior. E as linhas pontilhadas que
saem dos retngulos em direo ao aplicador indicam que tudo isso acontece na sua mente, num
processo interpretativo das linguagens jurdica e social.
Nota-se que, nestes termos, a hiptese (H) e o conseqente (C) da norma geral e
abstrata (N.G.A) so duas classes, cuja extenso projetada pelo aplicador ao plano da realidade social
para identificao dos possveis fatos a serem juridicizados e as possveis relaes sociais a serem
elevadas categoria jurdicas.
Em conformidade com as premissas com as quais trabalhamos, o mundo do ser e
do dever ser se apresentam como dois planos distintos, constitudos de linguagens que no se
misturam. A linguagem do legislador, ao regrar condutas, selecionando fatos como pressupostos para
desencadear efeitos jurdicos, define dois conceitos ao apontar propriedades de acontecimentos
capazes de gerarem conseqncias jurdicas e de relaes entre sujeitos possveis de serem
estabelecidas em decorrncia de tais acontecimentos. Constitui, assim, duas classes, as quais
denominamos de hiptese e conseqente. A extenso dos conceitos da hiptese e do conseqente
normativo (no grfico as linhas circulares contnuas do plano do dever-ser) projetam-se sobre a
linguagem da realidade social, delimitando a classe dos eventos relevantes juridicamente e a das
possveis relaes entre sujeitos a serem estabelecidas demarcando, assim, o mbito de incidncia da
norma jurdica (os crculos pontilhados do grfico).
Com base nos critrios estabelecidos pelo legislador podemos identificar com
preciso os fatos aptos a desencadear efeitos jurdicos e as possveis relaes a serem estabelecidas
juridicamente em decorrncia da verificao de tais fatos. Os acontecimentos sociais que apresentam
as propriedades selecionadas pelo legislador na conformao da hiptese, isto , que satisfazem sua
funo proposicional, so relevantes para o direito (no grfico aqueles pertencentes ao conjunto
delimitado pela hiptese no plano do ser, representado pelo crculo pontilhado esquerda), os que
no se enquadram descrio hipottica formam uma classe complementar hiptese (H) e no
interessam juridicamente. Da mesma forma, as relaes a serem constitudas em virtude da verificao
de tais acontecimentos, como efeito jurdico destes, tm exatamente aqueles atributos delineados no
conseqente normativo (no grfico somente aquelas pertencentes ao conjunto delimitado pelo
conseqente no plano do ser, representado pelo crculo pontilhado direita).
251
A presena do homem indispensvel, ele que, com a interpretao dos enunciados
prescritivos, delimita e projeta a extenso do conceito trazido pelo legislador. Como j dito, as classes
s existem em nossa mente. A hiptese e o conseqente normativos no realizam qualquer demarcao
no mundo fsico-social, tal projeo de conceitos feita mentalmente por aquele que interpreta o
direito positivo.
Nada impede, porm, que tanto o antecedente como o conseqente normativo sejam
classes de um elemento s, o que se verifica nas normas jurdicas individuais e concretas, cujo suposto
aponta para um evento consumado, demarcado no tempo e espao, nico e irrepetvel (ex. Jos matou
Joo s 15:00h. de 27 de dezembro de 2002, na cidade de So Paulo) e a conseqncia para uma
relao jurdica inteiramente determinada (i.e. Jos est obrigado a cumprir pena de recluso de 12
anos).
O juiz, por exemplo, ao proferir uma sentena, produz uma norma individual e
concreta. Ao descrever a ocorrncia de um acontecimento que se enquadra no mbito de extenso de
uma hiptese normativa e ao imputar, devido esta ocorrncia, um dever jurdico a determinado sujeito
em relao a outro, delimita duas classes: a do fato jurdico e a do efeito jurdico a ele correspondente.
No suposto normativo, diferente do legislador, o juiz indica as caractersticas de um
evento concreto, com as quais construmos, em nossa mente, um conceito (uma classe). A extenso do
conceito delineado pelo antecedente, no entanto, no comporta infinitos acontecimento, mas sim um
nico evento, verificado em exatas coordenadas de tempo e espao no plano social. Da mesma forma
no conseqente normativo, diferente do legislador, o juiz aponta os elementos de uma relao
individualizada e objetivada, com os quais construmos, em nossa mente um conceito. A extenso do
conceito delineado pelo conseqente no comporta infinitas relaes, mas sim uma especfica.
A diferena entre as classes das normas gerais e abstratas e das individuais e
concretas, pode ser melhor verificada no grfico abaixo, que representa a extenso dos conceitos deste
ltimo tipo de norma (produzido com a aplicao da outra N.G.A.):
252
Explicando: o retngulo de cima representa, no plano do direito (dever ser), a
norma individual e concreta (N.I.C) produzida pelo aplicador, o de baixo simboliza o plano da
realidade social (ser). Os dois crculos contnuos, inclusos na figura retangular de cima, representam,
respectivamente, a delimitao do conceito do antecedente e do conseqente (classe A e classe C). As
linhas verticais pontilhadas, que saem daqueles crculos em direo aos crculos pontilhados,
simbolizam a extenso destes conceitos no plano da realidade social, para a demarcao de um nico
fato e uma nica relao social relevantes juridicamente, representados pelos crculos pontilhados
inclusos no retngulo inferior. E a linha pontilhada que sai do retngulo de baixo em direo ao
aplicador e a flecha tambm pontilhada que sai do aplicador em direo ao retngulo de cima,
representam, respectivamente, o processo de interpretao e produo da linguagem jurdica concreta
A linguagem do direito produzida pelo aplicador (N.I.C), ao atuar sobre casos
concretos indicando a verificao de um fato juridicamente relevante e a ele imputando uma
conseqncia jurdica, define dois conceitos, os quais denominamos de fato jurdico e relao
jurdica. A extenso dos conceitos definidos no antecedente e no conseqente normativo (no grfico
os crculos do plano do dever-ser) projetam-se sobre a linguagem da realidade social, delimitando
duas classes unitrias: a do fato social consumado nos moldes da descrio hipottica e a da relao
social estabelecida nos moldes jurdicos.
Fazemos tais consideraes para reforar que toda norma traz sempre a delimitao
de duas classes cuja extenso projetada no mundo do ser para identificao dos fatos e das relaes
relevantes juridicamente. O que encontramos tanto na proposio hiptese (antecedente) quanto na
PLANO DO DEVER SER
PLANO DO SER
1 fato juridicamente
relevante
(extenso do conceito
do antecedente)
1 relao social
imposta juridicamente
(extenso do conceito
do conseqente)
(aplicador)
N.I.C.
(Classe A) (Classe C)
253
proposio conseqente (tese) so conceitos, identificativos de acontecimentos e relaes entre
sujeitos, mas no propriamente os acontecimentos e as relaes.
Os conceitos delineados pelo antecedente e conseqente, no entanto, s no podem
ser classes vazias, pois a prpria ontologia do direito exige que a descrio hipottica normativa recaia
sobre fatos possveis e que a prescrio alcance condutas possveis e no-necessrias. Assim, sempre
haver pelo menos, um evento (futuro ou passado) que se enquadre nos contornos do antecedente e
uma relao intersubjetiva, como efeito jurdico, que se subsuma ao conceito do conseqente.
2. TIPOS DE NORMAS JURDICAS
Determinar os tipos de regras existentes no direito positivo um dos pontos mais
controversos da doutrina jurdica. Isto porque, a separao das normas um ato classificatrio e, como
tal, unicamente dependente da valorao do jurista. Os tipos normativos no vm determinados no
direito positivo, no o legislador quem atribui s normas o nome de primrias e secundrias, de
estrutura e de comportamento, punitivas e no-punitivas, muito menos delimita quais delas
pertencero a este tipo.
As classificaes so prprias da Cincia do Direito, o doutrinador que, ao observar
o direito positivado, separa e agrupa regras, atribuindo nome a estes grupos. Cada jurista se utiliza do
critrio que mais entende apropriado para descrever aquilo que v. Por isso, a enorme variedade de
tipos de normas trazidas pela doutrina. Algumas destas classificaes no resistem a uma anlise mais
crtica, outras at fogem do mbito jurdico. Por isso, para no incorremos em erro, recomendvel
que, antes de sairmos por a classificando normas, voltemos nossa ateno para o ato de classificar,
enquanto operao lgica, e suas regras.
2.1. Sobre o ato de classificar
Classificar consiste num ato humano, de distribuir objetos em classes (grupos ou
conjuntos) de acordo com semelhanas (e diferenas) que existam entre eles. reunir elementos sobre
um mesmo conceito. Nas palavras de GUIOBURG, CHIGLIANI e GUARINONI, agrupamos os
objetos individuais em conjunto e estabelecemos que um objeto pertencer classe determinada
quando renir tais e quais condies
289
, da surgem as classificaes, de modo totalmente arbitrrio.
289
Introduccin al conocimiento cientfico, p. 38-39
254
Como j observamos (quando tratamos da classificao dos sistemas, no captulo
IV), as classificaes no existem prontas na natureza, elas so feitas pelo homem, com a finalidade de
organizar e compreender o mundo que o cerca. So, portanto, manifestaes culturais.
Separando elementos consoante seus interesses e necessidades o homem vai criando
classes, subclasses, sub-subclasses e, com elas, fazendo cortes na realidade que o cerca, com o intuito
de orden-la. Mas, a classificao no toca a realidade e jamais alcana seu domnio total. Assim,
como atenta AGUSTN GORDILLO, no existem classificaes certas ou erradas (verdadeiras ou
falsas), e sim classificaes mais teis ou menos teis
290
, isto , aquelas que possuem maior
propriedade explicativa.
Ao ser cognoscitivo reservado o direito de criar as classes e os sub-domnios que
bem entender, utilizando-se de critrios diferenciadores de acordo com seus propsitos de
convenincia, numa atividade que no tem fim, denominada de liberdade de estipulao. Por isso,
aceitamos uma classificao, quando ela atende nossos propsitos cognoscitivos, quando no, temos a
liberdade de rejeit-la e inclusive de criar outra.
Recapitulando, as classificaes so formadas por classes denominadas de gneros
e outras denominadas de espcies que se relacionam entre si. As espcies so grupos contidos em
outros mais extensos, enquanto o gnero o conjunto mais extenso que contm as espcies. Todo
elemento da classe espcie um elemento da classe gnero, mas nem todo elemento da classe gnero
um elemento da classe espcie. O gnero compreende a espcie, o que significa dizer que sua extenso
abrange um nmero maior de objetos que a da espcie (tem maior denotao), embora sua conotao,
isto , o conjunto de critrios que delimitam o mbito de sua extenso, seja mais restrita. Olhando para
a espcie, sua extenso abrange um nmero menor de objetos que o gnero, pois sua conotao, alm
de contar com todos os atributos do gnero, apresenta um plus a mais, que STUART MILL denomina
de diferena especfica. Em suas palavras, a diferena especfica aquilo que deve ser adicionado
conotao do gnero para completar a conotao da espcie
291
ou como ensina PAULO DE BARROS
CARVALHO, o nome que se d ao conjunto de qualidades que se acrescentam ao gnero para a
determinao da espcie, de tal modo que, podemos conceituar a espcie como sendo o gnero mais a
diferena especfica (E = G + De)
292
, o que vale tambm para as subespcies (E = E + De).
290
Tratado de derecho administrativo, tomo I, p. 11.
291
STUART MILL, O sistema da lgica, p. 34.
292
IPI Comentrios sobre as regras de interpretao da tabela NBM/SH (TIP/TAB), p. 54.
255
Tomemos como exemplo o conjunto das cobras, as espcies naja, coral,
cascavel e jibia apresentam todos os atributos definitrios do gnero, mais as diferenas
peculiares a cada qual das espcies. Todas as najas, corais, cascavis e jibias so cobras, no entanto,
nem todas as cobras so destas espcies, justamente porque no apresentam as diferenas especficas
que lhe so prprias. No direito, por exemplo, todas as relaes estabelecidas entre sujeitos so
espcies de relao jurdica.
O ser gnero, no entanto, relativo. A classe que aparece como gnero em relao a
uma espcie, pode ser espcie em relao a outra classe, mais extensa (gnero superior). A classe das
cobras, por exemplo, uma espcie da classe dos rpteis.
Tudo depende do ponto de partida adotado na classificao. Como no h limites
atividade de classificar, toda classe susceptvel de ser dividida em outras classes enquanto existir
uma diferena, mesmo que pequena, para ensejar a separao. Assim, classes gneros, passam
qualidade de espcies e classes espcies qualidade de gneros, conforme os critrios selecionados e o
interesse cognoscitivo do agente classificador.
Embora no existam limites semnticos atividade de classificar, esta, enquanto
operao lgica que , deve submeter-se s regras que presidem o processo de diviso, o que garante
serem as espcies efetivamente sub-classes prprias dos gneros. Como ensina PAULO DE BARROS
CARVALHO, o processo que nos permite distinguir as espcies de um gnero dado a diviso, assim
entendido como o expediente lgico em virtude do qual a extenso do termo se distribui em classes,
com base em critrio tomado por fundamento da diviso
293
. Caso a classificao no observe as
regras do processo de diviso, corre-se o risco do gnero no abranger as espcies, o que desconfigura
a operao. Assim, para que uma classificao seja bem sucedida, deve observar os seguintes
requisitos: (i) a extenso do gnero deve ser igual soma das extenses das espcies, isto quer dizer
que, a unio das classes espcies deve resultar na classe gnero (E E = G), que se constitui como
classe universal; (ii) deve fundar-se num nico critrio; (iii) o gnero e as espcies devem excluir-se
mutuamente; e (iv) do gnero, deve-se fluir ininterruptamente s espcies, evitando saltos na diviso.
O ato de classificar, fundado no processo de diviso, no se confunde com o ato de
desintegrar, tambm utilizado com fins cognoscitivos, para organizao e aproximao da realidade
circundante. Na desintegrao, a classe segregada no abrange as classes partes, embora seus
293
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 88.
256
elementos componham sua unidade. PAULO DE BARROS CARVALHO nos d os exemplos do ano
que tem 12 meses e do livro que consta de dez captulos, explicando que os elementos
desintegrados do todo no conservam seus traos bsicos, no sendo possvel, neles, perceber o
contedo do conceito desintegrado. Um captulo do livro no o livro, assim como o ms no um
ano
294
. No processo classificatrio, as espcies conservam todos os atributos do gnero, agregando ao
conceito divisvel apenas a diferena especfica que lhes individualizam.
O sucesso das classificaes, entretanto, no depende apenas do ajuste ao processo
de diviso, mas sobretudo, de uma definio adequada da extenso das classes que a compem. A
definio demarca o campo de abrangncia da classe, nos dizeres de PAULO DE BARROS
CARVALHO, isola o campo de irradiao semntica de seu conceito. Uma definio mal formulada
compromete a extenso da classe e todo seu mbito de abrangncia, conseqentemente, nenhuma
classificao, elaborada sem este cuidado, resiste a uma anlise mais profunda. Alis, este um dos
principais motivos dos juristas no se entenderem sobre a diviso lgica das normas jurdicas, eles,
antes de tudo, no se entendem sobre uma definio de norma jurdica.
Feitas tais consideraes sobre o ato de classificar, j estamos habilitados a ingressar
no campo das classificaes das normas jurdicas.
2.2. Classificao das normas jurdicas
Primeiro cuidado a ser observado na classificao das normas jurdicas a definio
do sentido em que o termo norma jurdica empregado. Deparamo-nos, na doutrina do direito, com
os mais variados tipos de classificaes de normas: normas diretas, indiretas, primrias, secundrias,
procedimentais, potestativas, punitivas, gerais, individuais, abstratas, concretas, dispositivas,
derivadas, de ao, de conduta, de estrutura, de direito material, de direito processual, etc.; e ningum
chega a um consenso, o que s refora nossos dizeres sobre a liberdade de classificar. Mas, o bom de
tudo isso que, dentre todas as classificaes existentes, podemos selecionar, conforme nossos
interesses e necessidades, aquelas que mais nos agradam e seguirmos trabalhando com elas at que
outras nos paream mais teis.
294
Apostila do curso de teoria geral do direito, p. 87.
257
Os problemas classificatrios causados pela falta de uma precisa delimitao do
conceito de norma jurdica pela doutrina, so rapidamente superados quando temos em mente os
planos de manifestao do direito.
Como j observamos em diversas passagens deste trabalho, o sistema jurdico
positivo constitudo de quatro subsistemas: S1 plano dos enunciados prescritivos; S2 planos das
proposies isoladas; S3 plano das normas jurdicas em sentido estrito; S4 plano da sistematizao
das normas. O termo norma jurdica pode ser utilizado (em acepo ampla) para designar unidades
de qualquer um destes planos, mas em cada um deles diferem-se os elementos e, conseqentemente,
numa operao classificatria, a extenso da classe gnero. Se o jurista se assenta nos planos S1 e S2,
no classifica normas jurdicas em sentido estrito, mas sim enunciados e proposies isoladas. A
confuso se instaura quando, por falta de uma definio precisa, no sabemos ao certo identificar em
qual dos planos se opera a classificao. Por isso, sempre importante que fique claro o plano
hermenutico em que estamos trabalhando.
Para classificarmos normas jurdicas em sentido estrito, nossa ateno deve
necessariamente estar voltada ao plano S3, das significaes deonticamente estruturadas e somente a
ele, sob pena de criamos espcies que no se enquadram na extenso do gnero norma jurdica. Isto,
no entanto, no nos impede de, paralelamente, estudarmos a diviso dos enunciados prescritivos e das
proposies no deonticamente estruturadas. Ao contrrio, a anlise classificatria dos elementos
pertencentes aos planos S1 e S2 ressalta a no reduo do direito apenas ao plano S3 alm de
enriquecer, em muito, a compreenso das normas jurdicas em sentido estrito. Assim, sob o manto da
expresso norma jurdica (considerado na sua acepo ampla) podemos classificar: (i) enunciados,
(ii) proposies isoladas; e (iii) normas jurdicas em sentido estrito.
2.2.1. Tipos de enunciados prescritivos S1
S1 o plano material do direito, dado fsico, do qual parte o intrprete para
construo do contedo jurdico. Assim sendo, qualquer classificao, que se proponha neste campo,
deve ter o cuidado de no recair sobre o sentido do texto, pois, quando se ingressa no universo das
significaes no mais se classifica enunciados e sim proposies. Tendo em conta esta preocupao,
TREK MOYSS MOUSSALLEM prope a diviso dos enunciados prescritivos, de acordo com sua
258
estrutura sinttica em: (i) meramente prescritivos; (ii) qualificatrios; (iii) definitrios; (iv) regras
tcnicas
295
.
Segundo o autor, enunciados meramente prescritivos so aqueles que se dirigem
conduta humana, normalmente de forma imperativa, tais como: pagar imposto, proibido fumar,
permitido estacionar, etc. J os enunciados qualificatrios atribuem qualificaes a certas coisas,
pessoas ou aes, apresentam estrutura morfolgica ......, onde o funciona como verbo
predicativo. Como exemplo, podemos citar os enunciados: so Poderes da Unio, independentes e
harmnicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judicirio (art. 2 da Constituio Federal); a
lngua portuguesa o idioma oficial da Repblica Federativa (art. 13 caput da Constituio Federal);
so bens imveis... (art. 79 do Cdigo Civil), etc. Os enunciados definitrios apontam o sentido que
o legislador pretende outorgar a uma palavra e possuem, normalmente, a forma cannica das
definies (x) significa (y), considera-se (x) o (y), onde x representa a expresso que se pretende
definir (definiendum) e y as palavras que se usam para indicar o sentido a ser empregado na
expresso (definiens). Como exemplo, temos: o art. 966 do CC, que dispe: considera-se empresrio
quem exerce profissionalmente atividade econmica organizada para a produo ou a circulao de
bens ou de servios, o art. 3 do CTN tributo toda prestao pecuniria, compulsria, instituda em
lei, que no constitua sano de ato ilcito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente
vinculada. E, regras tcnicas so enunciados prescritivos que estipulam os meios para alcanar
determinado fim. Apresentam a estrutura sinttico-gramatical do condicional se... tem que... e, como
exemplo podemos citar o enunciado do art. 64 da Constituio Federal: A discusso e votao dos
projetos de lei de iniciativa do Presidente da Repblica, do Senado Federal, dos Tribunais Superiores
tero incio na Cmara dos Deputados.
Embora os enunciados possam ser caracterizados como meramente prescritivos,
qualificatrios, definitrios ou regras tcnicas, em razo da sua estrutura gramatical importante
sempre ter em mente sua natureza dentica e a funo prescritiva por eles exercida.
Uma coisa a forma, tomada como critrio para tal classificao, outra diferente a
funo. O verbo ser, utilizado na identificao dos enunciados apontados como qualificatrios, nada
descreve, como pode parecer primeira vista, sua funo prescritiva. Da mesma forma, os
enunciados caracterizados como definitrios, que a princpio podem parecer descritivos, tm funo
295
Revogao em matria tributria, p. 110.
259
prescritiva, estabelecendo conceitos jurdicos
296
. Neste sentido, ressalva TREK MOUSSALLEM,
cumpre esclarecer que tais enunciados, embora apaream na estrutura gramatical do indicativo, na
forma cannica de definio, ou ainda na forma de enunciados anakstico, so todos atos de fala
denticos implcitos, ou em termos de teoria das classes, so todos subclasse da classe dever ser
297
.
2.2.2. Tipos de proposies isoladas S2
Em S2, o plano das significaes isoladas do direito, as classificaes levam em
conta o contedo dos enunciados e no mais sua estrutura sinttico-gramatical. Neste campo, merece
destaque o estudo realizado por GREGORIO ROBLES em sua obra Teoria del derecho fundamentos
para una teoria comunicacional del derecho. Muito embora o jurista espanhol apresente uma
classificao de normas jurdicas, o conceito em que emprega expresso diferente daquele utilizado
neste trabalho
298
. Levando-se em conta a existncia dos quatro planos do direito, o autor trabalha no
campo das significaes no deonticamente estruturadas e, sob este referencial, no classifica, normas
jurdicas em sentido estrito, mas sim proposies jurdicas.
O autor divide as proposies jurdicas em: (i) diretas; e (ii) indiretas, de acordo com
sua conexo a uma ao. Segundo ele, a ao constitui um elemento essencial de todas as prescries
jurdicas, pois o sentido destas orientar ou dirigir a ao humana. Assim, a vinculao com a ao
justifica-se como critrio relevante para a separao das normas jurdicas. De acordo com sua diviso:
(i) diretas so as proposies que contemplam em si mesmas uma ao determinada; e (ii) indiretas as
que contemplam algum elemento prvio ou condicionante da ao, ou seja, que estabelecem
condies, requisitos ou pressupostos da ao
299
.
Como exemplos de proposies diretas, ROBLES cita: as que prescrevem um
comportamento determinado, como o dever do devedor de pagar uma dvida ao credor em prazo
convencionado; as que estabelecem procedimentos para realizao de um ato jurdico, ou seja, fixam
296
So constitutivos de uma realidade para o direito, ao definirem o conceito que deve ser empregado a um termo ou
expresso quando considerada juridicamente. DANIEL MENDONA classifica-os como regras conceituais
(Interpretacin y aplicacin del derecho, p. 46).
297
Revogao em matria tributria, p. 115.
298
Segundo o autor, norma jurdica una proposicin lingstica pertenciente a un sistema proposicional expressivo de
un ordenamiento jurdico, dirigida (por su sentido) directa o indirectamente a orientar o dirigir la accin humana, Teoria
del derecho fundamentos para una teoria comunicacional del derecho, p. 180.
299
Teoria del derecho fundamentos para una teoria comunicacional del derecho, p. 181-182. Para o autor, o conceito de
ao mais amplo do que o de conduta. Em seus dizeres: Toda conducta implica alguna accin, pero no toda accin es
una conducta. La conducta supone una accin o conjunto de acciones en cuanto que son contempladas desde el prisma de la
existencia de un deber: Solo cuando hay un deber por medio se estar en presencia de una conducta. Assim, nos moldes
adotados neste trabalho, a conduta s aparecer nas prescries contidas em normas jurdicas stricto sensu, que estabelecem
direitos e deveres correlatos.
260
as aes a serem realizadas para que o ato seja vlido; as dirigidas ao juiz para aplicao de sanes
como as multas pelo no pagamento de dvida; e as que estabelecem direitos subjetivos, como a
faculdade que tem o titular de uma marca. Como exemplo de proposies indiretas, o autor cita a que
estabelece a maioridade aos 18 anos, pois esta se limita apenas a estabelecer um requisito exigido, pelo
ordenamento, para realizao de certas aes, como participar de eleies, vender bens, etc.
ROBLES divide as proposies diretas em: (i.a) procedimentais cuja funo
consiste em estabelecer procedimentos para a realizao da ao; (i.b) potestativas aquelas que
declaram ser a ao licita ou ilcita; e (i.c) denticas (propriamente ditas)
300
as que exigem uma ao
como devida.
As proposies procedimentais prescrevem o que fazer para que certo feito tenha
existncia jurdica. Para a realizao de um contrato de compra e venda, por exemplo, um dos
contratantes tem que se obrigar a entregar uma coisa determinada e outro, a pagar por ela um preo
certo. Os enunciados que estabelecem a consistncia deste contrato determinam qual procedimento
deve ser celebrado para a existncia de uma ao qualificada juridicamente como compra e venda (art.
481 do Cdigo Civil Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o
domnio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preo em dinheiro). O contedo destes
enunciados , portanto, procedimental. Da mesma forma, as proposies construdas a partir dos
enunciados capituladores de crimes no direito penal. Sabemos, por exemplo, que para realizao de um
furto algum tem que subtrair para si ou para outrem coisa alheia mvel (art. 155 do Cdigo Penal), tal
proposio, construda a partir da leitura deste artigo , tambm, procedimental. Ela determina os
requisitos que uma ao tem que ter para ser considerada furto no direito brasileiro, sem um destes
requisitos no se produz a ao de furtar.
As proposies potestativas, segundo o autor, so aquelas que estabelecem as aes
lcitas dos diversos sujeitos jurdicos, como por exemplo, a construda do art. 499 do Cdigo Civil:
lcita a compra e venda entre cnjuges, com relao a bens excludos da comunho.
E, as proposies denticas so aquelas que estabelecem deveres, ou seja, as que
fixam o ncleo da conduta prescrita, objeto da relao jurdica, as quais ROBLES, levando em conta o
300
Utilizamos a expresso normas ou proposies denticas, apenas para no fugir dos termos da classificao proposta
por ROBLES, mas ressalvamos que esta no nos parece a melhor expresso para designar as proposies que estabelecem
deveres propriamente ditos, ou seja, o ncleo da conduta prescrita, pois todas as proposies, ainda que isoladamente
apresentem estrutura apofntica, por pertencerem ao sistema jurdico, so denticas.
261
destinatrio, divide em: (i.c.1) normas de conduta propriamente ditas, proposies que estabelecem
deveres a pessoas, destinatrios habituais como, por exemplo, as que obrigam o pagamento de uma
dvida, que probem certo tipo de conduta, etc.; (i.c.2) normas de deciso, proposies dirigidas aos
rgos de deciso, que impem o dever de decidir, como por exemplo, a que construmos do
enunciado do art. 60 do Cdigo Penal: Na fixao da pena de multa o juiz deve atender,
principalmente, situao econmica do ru; (i.c.3) normas de execuo, proposies dirigidas aos
rgos de execuo, que impem deveres para a execuo de normas j aplicadas.
Com relao s proposies indiretas ROBLES as divide em: (ii.a) espaciais, aquelas
que estabelecem os elementos espaciais da ao; (ii.b) temporais, as que determinam os elementos
temporais da ao; (ii.c) as que identificam os sujeitos destinatrios; (ii.d) as que fixam as capacidades
e competncias destes sujeitos. As proposies espaciais podem determinar o mbito de abrangncia
territorial das normas do ordenamento (vigncia espacial) como, por exemplo, a construda do art. 5
do Cdigo Penal Aplica-se a lei brasileira, sem prejuzo de convenes, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido no territrio nacional, que indica o local de atuao da lei penal
brasileira; ou destacar o marco espacial dentro do qual devem ser produzidas as aes, como aquelas
que fixam o local do cumprimento de uma obrigao, por exemplo: o formulrio x deve ser entregue
junto Secretaria da Fazenda do Estado.
s proposies temporais ROBLES deu uma ateno mais detalhada, separando-as
em: (ii.b.1) as disposies constitucionais que inauguram ou do incio ao ordenamento jurdico;
(ii.b.2) as que determinam o dia de entrada em vigor de uma lei; (ii.b.3) as que estabelecem o lapso
temporal que dever durar um ordenamento, uma lei ou uma disposio; (ii.b.4) as derrogatrias, cuja
funo suprimir outra norma do sistema, fixando o dia da sua extino; e (ii.b.5) as que estabelecem
prazos, de decadncia, prescrio, para pagamento de uma dvida ou realizao de uma ao.
Quanto s proposies que identificam os sujeitos da ao, o autor espanhol as divide
em: (ii.c.1) as que estabelecem quem so as pessoas jurdicas; (ii.c.2) as que determinam quem so os
cidados de um Estado e quem so os estrangeiros; (ii.c.3) as que instituem a organizao das pessoas
jurdicas como aquelas que estabelecem quais os rgos da Administrao do Estado, do Judicirio,
etc.
262
Em sntese, temos:
V-se que o professor espanhol realizou um detalhado estudo sobre as proposies
do direito positivo. A adoo desse esquema classificatrio atende ao padro de operacionalidade, na
descrio do ordenamento compreendido pelo autor, mas vai perdendo sua fora na medida em que so
percebidas as diferenas entre os planos hermenuticos do direito positivo.
O problema, no entanto, de classificar proposies ainda no deonticamente
estruturadas (contedos significativos isolados), considerando apenas o plano S2, que as
possibilidades significativas so infinitas e, por isso, muito difcil uma classificao, mesmo to
detalhada quanto a de ROBLES, dar-nos segurana para apontar todos os tipos de proposies
existentes.
Proposies
jurdicas
Diretas
Indiretas
Procedimentais
Potestativas
Denticas
De condutas
(propriamente ditas)
De deciso
De execuo
Espaciais
Temporais
De sujeitos
De capacidade
Inaugurais
De entrada em vigor
De vigncia
Derrogatrias
Decadncias e prescricionais
De pessoas jurdicas
Cidades do Estado
Instituidoras de organizaes
263
Sabendo disso, com base na investigao do prestigiado autor, para identificar as
unidades de S2, adotamos uma classificao das proposies tomando como critrio a posio que
cada uma ocupar na estrutura normativa, que nos parece proporcionar maior operacionalidade na
experincia com o sistema, dentro do modelo terico com o qual trabalhamos.
Considerando que o intrprete s alcana o sentido da mensagem legislada ao
agrupar as significaes que construiu a partir dos enunciados prescritivos, na estrutura hipottico-
condicional D (H C), grande parte do seu esforo hermenutico volta-se para a identificao do
lugar que cada uma destas proposies deve tomar na conformao da norma jurdica. Sabemos que a
hiptese normativa descreve um acontecimento determinado no espao e no tempo e que o
conseqente estabelece uma relao entre dois sujeitos distintos em torno de uma prestao. Assim,
para dar sentido mensagem legislada, o intrprete, ainda que imperceptivelmente, ao interpretar os
enunciados, vai agrupando as significaes construdas at alcanar o sentido dentico dos textos.
Para montar a hiptese, aproxima as proposies que: (i) dizem respeito
materialidade do fato, para conformar o ncleo do acontecimento responsvel pelo desencadeamento
de efeitos jurdicos; as que (ii) informam sobre o local de realizao deste acontecimento; e que (iii)
dispem sobre o tempo de realizao deste acontecimento. E, para construir o conseqente, associa as
proposies: (iv) referentes ao sujeito: (iv.a) ativo, que o informam e caracterizam o sujeito portador
do direito subjetivo prestao; e (iv.b) passivo, que identificam o sujeito devedor da prestao; e as
que (v) informam sobre o objeto da prestao, ncleo da conduta prescrita.
Sobre esta perspectiva, considerando a posio que cada proposio ocupar na
composio da estrutura normativa, as classificamos em: (i) nucleares do fato; (ii) espaciais; (iii)
temporais; (iv) de sujeitos (iv.a) ativo e (iv.b) passivo; e (v) nucleares da conduta prescrita.
Vejamos alguns exemplos do Cdigo Penal. A proposio tirar a vida de algum
(construda a partir do caput do art. 121), do tipo nuclear do fato, pois ela descreve uma ao que, na
conformao do sentido da mensagem legislada, o intrprete toma como pressuposto para o ensejo de
alguma conseqncia jurdica. De acordo com GREGORIO ROBLES esta uma proposio direta da
ao, mas da ao tomada como pressuposto para o desencadeamento de efeitos jurdicos (fato) e no
da ao prescrita como conseqncia jurdica, por isso, a qualificamos como nuclear do fato. So
tambm nucleares do fato todas as proposies que ajudam a delinear os contornos materiais do
acontecimento relevante juridicamente, como as construdas do art. 23, que dispem sobre as causas de
264
excluso da ilicitude (legitima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal), na
medida em que delimita pela negativa a ao tipificada
Como exemplo de proposio espacial, temos a construda a partir do art. 6
considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ao ou omisso, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, que dispe sobre o local onde
considerado, para o ordenamento jurdico brasileiro, realizada a ao criminosa. Tambm so espaciais
as proposies que fixam a vigncia territorial da lei penal, como as construdas do art. 5 Aplica-se a
lei brasileira, ao crime cometido no territrio nacional Para os efeitos penais, consideram-se como
extenso do territrio nacional as embarcaes e aeronaves brasileiras, porque delimitam o
mbito espacial dos efeitos normativos.
Como exemplo de proposio temporal, temos a construda a partir do art. 4
considera-se praticado o crime no momento da ao ainda que outro seja o momento do resultado,
que indica o tempo do fato relevante penalmente. So tambm temporais as proposies que fixam o
tempo de vigncia das leis penais, como aquelas que dispem sobre sua retroatividade em benefcio do
ru, construdas a partir dos art. 2 e 3.
Como exemplo de proposies de sujeitos, temos: a construda a partir do art. 29
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a este cominadas, na medida de
sua culpabilidade, que indica o sujeito passivo da relao penal (portador do dever jurdico de
cumprir a pena) como aquele que, de qualquer modo, concorreu para o crime; a construda a partir dos
art. 26 e 27, que excluem do plo passivo os doentes mentais e os menores de 18 anos; e todas as
outras que ajudam a identificar o sujeito da relao penal.
Como exemplo de proposio nuclear da conduta prescrita, temos aquelas que fixam
as penas (i.e. Pena - Recluso de seis a vinte anos art. 121), bem como aquelas que estabelecem as
caractersticas da ao a ser cumprida pelo sujeito passivo (i.e. a pena de recluso deve ser cumprida
em regime fechado, semi-aberto ou aberto art. 33). agrupando todas estas proposies que o
intrprete constri o sentido completo da mensagem penal.
Tal classificao parte da norma em sentido estrito, mas restringe-se ao plano S2, ao
separar as proposies isoladas consideradas em relao construo da mensagem legislada. Para
compreender o sentido dentico dos textos jurdicos, o intrprete vai associando as significaes
pertencentes ao plano S2 e, mesmo depois de construda a norma, j no plano S3, por vrias vezes, ele
265
retorna ao plano S2, com a finalidade de especificar ainda mais o contedo construdo, o que
demonstra a indissociabilidade dos planos hermenuticos. Sua busca, no entanto, no aleatria, pois,
em sua mente, j existe uma separao dos tipos de proposio. Se necessita de maior determinao do
sujeito passivo, sua ateno se volta s proposies de sujeitos, se a definio do momento do fato no
est clara, ou h dvidas quanto ao perodo de vigncia da lei, procura-se por mais proposies
temporais e, assim , at sentir-se que compreendeu inteiramente a mensagem legislada.
2.2.3. Tipos de normas jurdicas (stricto sensu) S3
Trabalhando no plano S3, classificamos as normas jurdicas em sentido estrito, ou
seja, as significaes jurdicas estruturadas na forma hipottico-condicional.
Como j vimos (no captulo anterior, quando tratamos da estrutura normativa), as
normas jurdicas (em sentido estrito) podem ser do tipo: (i) primrias e secundrias. So primrias as
normas que associam a dado fato certa conseqncia jurdica e secundrias as que prescrevem o direito
de exigir coercitivamente, perante rgo jurisdicional, a efetivao do dever constitudo na primria,
dado o seu no cumprimento. O critrio de diferenciao utilizado a presena do Estado-Juiz, na
relao prescrita no conseqente normativo, como rgo garantidor do dever jurdico prescrito por
outra norma, o que identifica a norma denominada de secundria.
Outras classificaes relevantes, consagradas pela doutrina jurdica, so as que
dividem: (ii) normas de comportamento e de estrutura; e (iii) regras abstratas e concretas e regras
gerais e individuais. Vejamo-as detalhadamente:
2.2.3.1. Normas de conduta e normas de estrutura
Clssica , na doutrina do direito, a diviso das regras jurdicas em dois grandes
grupos: (i) normas de comportamento (ou de conduta); e (ii) normas de estrutura (ou de
organizao)
301
. As primeiras diretamente voltadas para as condutas interpessoais; e as segundas
voltadas igualmente para as condutas das pessoas, porm, como objetivo final os comportamentos
relacionados produo de novas unidades jurdicas.
A princpio tal classificao, como proposta por NORBERTO BOBBIO, separava
regras de comportamento como aquelas disciplinadoras de condutas entre sujeitos e regras de
301
Autores de grande prestgio trabalham com esta distino, dentre eles podemos citar: H. HART, NORBERTO BOBBIO,
LOURIVAL VILANOVA e PAULO DE BARROS CARVALHO.
266
estrutura como aquelas dirigidas criao, modificao e extino de outras normas, dando a
impresso de que estas ltimas incidiam sobre outras normas e no sobre condutas intersubjetivas.
PAULO DE BARROS CARVALHO adota tal classificao, ressalvando, porm que
as regras de estrutura dirigem-se tambm condutas intersubjetivas, regulando o comportamento de
produo, modificao e extino de outras normas.
Toda e qualquer norma jurdica tem como objeto a disciplinao de condutas entre
sujeitos, o que torna redundante a expresso regras de conduta. Numa anlise mais detalhada, no
entanto, encontramos regras que aparecem como condio sinttica para a criao de outras normas.
Embora tais regras tambm tenham como objeto a disciplinao de relaes intersubjetivas, a conduta
por elas prescrita especfica, trata-se do comportamento de produzir novas unidades jurdicas. Este
o critrio diferenciador que deve informar a classificao das normas de comportamento e de estrutura.
Nestes termos, so de estrutura as regras que instituem condies, fixam limites e
prescrevem a conduta que servir de meio para a construo de outras regras. So de comportamento
as normas que prescrevem todas as outras relaes intersubjetivas, reguladas juridicamente, desde que
no referentes formao e transformao de unidades jurdicas.
Em sentido amplo, todas as normas jurdicas so de conduta, uma classe universal.
Algumas destas normas, no entanto, estatuem como criar outras normas, elas formam uma subclasse
prpria, qual denominamos normas de estrutura todas as demais normas, formam sua classe
complementar, a das normas de comportamento ou de conduta (em sentido estrito).
J repetimos, em diversas passagens, que o direito positivo regula sua prpria
criao. Pois bem, este papel exercido pelas normas de estrutura. Como bem compara PAULO DE
BARROS CARVALHO, tais regras representam para o sistema do direito positivo, o mesmo papel
que as regras da gramtica cumprem num idioma historicamente dado. Prescrevem estas ltimas a
forma de combinao dos vocbulos e das expresses para produzirmos orao, isto , construes
com sentido. sua semelhana, as regras de estrutura determinam os rgos do sistema e os
expedientes formais necessrios para que se editem normas jurdicas vlidas no ordenamento
302
.
So as normas de estrutura que possibilitam a dinmica modificao do sistema
jurdico, elas regulam a criao do direito, disciplinando o rgo competente, a matria e o
302
Curso de direito tributrio, p. 137-138.
267
procedimento prprio para produo de novos enunciados jurdicos. So normas que dispem sobre
outras normas, ou seja, sobre a conduta de criar outras normas.
Dizer, no entanto, que as regras de estrutura regulam o processo de produo do
direito e que as normas de conduta so as resultantes deste processo, no de todo correto. Certamente
que as regras de estrutura disciplinam como criar normas de conduta, mas temos de ter cuidado, pois,
nem toda regra jurdica, criada com a realizao do procedimento prescrito pelas denominadas normas
de estrutura, caracteriza-se como de conduta. Pode, ao contrario, ser tambm regra de estrutura.
Quanto s normas de conduta, tudo parece mais tranqilo, pois j estamos
familiarizados a elas, pelo uso continuo no curso deste trabalho. So deste tipo as normas que
instituem, por exemplo, a obrigao de pagar, dar, cumprir pena, alimentar, votar, prestar servio
militar, a proibio de fumar em lugares pblicos fechados, de estacionar em local proibido, a
permisso para dirigir, etc.
Para fixar a diferenciao, apresentamos dois exemplos: (i) de normas da conduta; e
(ii) de norma de estrutura.
(i) Norma de conduta: Antecedente ser proprietrio de imvel, no permetro urbano
do municpio de Londrina, no primeiro dia de cada ano. Conseqente o proprietrio do imvel
dever pagar Fazenda Municipal a importncia correspondente a 1% do valor do imvel.
(ii) Norma de estrutura: (a) Antecedente ser pessoa jurdica de direito pblico
municipal. Conseqente deve ser a faculdade (direito subjetivo) do legislativo legislar sobre IPTU e
o dever jurdico da Unio, Estados e Distrito Federal de absterem-se de qualquer investida legislativa
acerca de tal matria; (b) Antecedente se o Municpio exercer seu direito de legislar sobre IPTU.
Conseqente deve ser a obrigao (dever jurdico) de observar o procedimento estabelecido para a
criao de lei municipal e o direito subjetivo da comunidade de ver observada tal disposio.
2.2.3.1.1. Normas de estrutura e suas respectivas normas secundrias
Alguns doutrinadores questionam a vinculao das regras de estrutura a normas
secundrias, pois acreditam que o direito no prev meios de coero ao rgo competente a realizar o
procedimento de produo prprio, caso este no tenha sido observado, prescrevendo apenas formas
de invalidao do ato praticado em desconformidade s regras de estrutura.
268
Entendemos, no entanto, que esta uma forma de coero. Se o agente legislador no
competente, ou o procedimento realizado no o prprio, os membros da comunidade (que tm o
direito subjetivo, atribudo pelas normas de estrutura, de s serem obrigados por normas criadas por
agente competente e procedimento prprio) tm o direito subjetivo de se socorrerem ao Estado-Juiz
para que este suspenda a aplicao ou invalide as normas criadas com vcio de forma.
A norma secundria, que se agrega s normas de estrutura prescreve exatamente isto.
Tem como antecedente o no cumprimento da conduta prescrita no conseqente de normas de
estrutura, relativa criao de outras regras e como conseqente, a prescrio de uma relao,
mediante a qual o sujeito lesado tem o direito de se socorrer ao Estado-Juiz, para que este a invalide
ou no a aplique.
Certamente que a coercitividade imposta em razo do no-cumprimento de regras de
condutas diferente daquela exercida no descumprimento de regras de estrutura, mas a invalidao ou
no-aplicao da norma instituda com vcio de produo tambm uma forma de coero
observncia das regras de estrutura, j que, impede o agente legislativo de, por aquele ato, estabelecer
a prescrio desejada, forando-o a produzir outra norma, desta vez em observncia s regras de
estrutura, se quiser realmente estabelecer tal prescrio
303
.
2.2.3.2. Normas abstratas e concretas, gerais e individuais
Com grande freqncia encontramos na doutrina do direito a classificao das
normas jurdicas em: (i) gerais; (ii) individuais; (iii) abstratas; e (iv) concretas. Gerais aquelas cujos
sujeitos se mantm indeterminados quanto ao nmero. Individuais as que se voltam a certo indivduo
ou a um grupo determinado de pessoas. Abstratas aquelas que descrevem um fato futuro e incerto. E
concretas as que relatam um fato passado, propulsor de efeitos no mundo jurdico.
Conforme relembra MARIA RITA FERRAGUT
304
, a distino, ainda singela, foi
primeiramente observada por KELSEN que, embora sem definir o que seria geral, individual, abstrato,
concreto, percebeu que a norma geral que liga a um fato abstratamente determinado, uma
conseqncia igualmente abstrata, precisa, para poder ser aplicada, de individualizao. preciso
303
Com relao primeira norma (Antecedente ser pessoa jurdica de direito pblico municipal. Conseqente deve ser a
faculdade (direito subjetivo) do legislativo legislar sobre IPTU e o dever jurdico da Unio, Estados e Distrito Federal
absterem-se de qualquer investida legislativa acerca de tal matria), a norma secundria assegura que se o rgo
competente for impedido de legislar, ter direito de utilizar-se da coercitividade estatal para poder legislar)
304
Presunes no direito tributrio, p. 23-25
269
estabelecer se in concreto existe um ato que a norma geral determina in abstrato
305
. NORBERTO
BOBBIO, aprofundando-se nesta anlise, props o rompimento do entendimento de que sempre
necessrio o binmio geral e abstrata individual e concreta, verificando que estes conceitos so
independentes.
Numa anlise ainda mais aprofundada, levando-se em conta a estrutura normativa,
PAULO DE BARROS CARVALHO, ao atentar-se para o fato de que os qualificativos geral e
individual so definidos de acordo com estar ou no individualizado o sujeito cuja ao regulada,
enquanto que, os predicativos abstrato e concreto so definidos de acordo com o critrio da
realizao, no tempo e no espao do fato propulsor de efeitos jurdicos, logo concluiu que: o ser
individual ou geral so qualificativos do conseqente normativo, pois nele que se encontram os
sujeitos da relao, a quem se dirige a prescrio jurdica; j o ser abstrata ou concreta so
qualificativos do antecedente normativo, pois nele que se encontra a descrio do fato propulsor de
efeitos no mundo jurdico.
Assim, levando-se em conta a estrutura normativa (conforme se verifica no grfico),
temos que a regra :
(i) geral quando seu conseqente no individualiza os sujeitos da relao,
regulando o comportamento de uma classe indeterminada de pessoas (ex: a norma de indenizao por
dano, disposta no Cdigo Civil, que prescreve ter o sujeito que provocou o dano, dever de indenizar o
sujeito lesado, na proporo do dano causado as classes sujeito que provocou o dano e sujeito
lesado s sero determinveis quando verificado o dano).
(ii) individual quando o conseqente contm elementos que individualizam os
sujeitos ativo e passivo, estabelecendo uma relao entre pessoas determinadas (ex: a norma de
305
Teoria pura do direito, p. 248.
Hiptese
Conseqente
Geral (sujeitos indeterminados)
Abstrata (descrio futura - se ...)
Antecedente
Conseqente
Individual (sujeitos determinados) Concreta (descrio passada - dado...)
270
indenizao por dano veiculada na sentena de um juiz, que prescreve o dever de Marcos pagar R$
30.000,00 a Francisco, pelos danos que lhe causou).
(iii) abstrata quando seu antecedente descreve uma classe de acontecimentos de
possvel ocorrncia, ou seja, contm critrios de identificao de um evento futuro e incerto, no
determinado no espao e no tempo (ex: se causar dano a outrem).
(iv) concreta quando o fato descrito em seu antecedente j se realizou em tempo e
espao determinados, a descrio aponta para um acontecimento passado, de existncia concreta (ex:
as 10h 20min do dia 09/10/05, Luzia causou danos materiais a Maria, ao atear fogo em sua plantao
de trigo).
Devido norma concreta descrever um acontecimento passado, consumado no tempo
e no espao e a norma abstrata, um possvel acontecimento, futuro e incerto, PAULO DE BARROS
CARVALHO prefere o termo antecedente para referir-se ao suposto da norma concreta, ao invs de
hiptese, ainda que a utilizao deste termo no seja de todo desapropriada. Em suas palavras:
Ainda que possa parecer estranho, o juzo de relao continua hipottico. Poderamos, portanto,
continuar utilizando o termo hiptese para fazer referncia quer ao suposto da norma geral e abstrata,
quer ao da regra individual e concreta. No entanto, para facilitar a transmisso expositiva, vamos
empregar, daqui para frente, preponderantemente, o signo hiptese para aludir ao suposto da norma
geral e abstrata e antecedente, para mencionar o anteposto da regra individual e concreta
306
.
Sendo as qualificaes geral e individual atribudas ao conseqente e abstrata e
concreta ao antecedente, na juno estrutural das normas jurdicas encontramos as possveis
combinaes classificatrias: (i) normas gerais e abstratas de antecedente abstrato e conseqente
generalizado; (ii) normas gerais e concretas de antecedente concreto e conseqente generalizado; (iii)
normas individuais e abstratas de antecedente abstrato e conseqente individualizado; e (iv) normas
individuais e concretas de antecedente concreto e conseqente generalizado.
A representao abaixo ilustra tais combinaes:
306
Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 35. Sobre a possibilidade da utilizao do termo hiptese o
autor justifica: No caso das normas individuais e concretas, o juzo mantm-se condicional e tambm hipottico, a
despeito de o antecedente estar apontado para um acontecimento que j se consumara no tempo. Hipottico, aqui no quer
significar que o sucesso relatado no enunciado-descritor ainda no aconteceu, mantendo-se no campo do possvel, mas
comparece como modalidade de relao, correspondendo s categorias de causalidade e dependncia, para usar o lxico
kantiano. Por isso, guardam a estrutura de juzo hipottico tanto a norma geral e abstrata como a individual e concreta
(idem, p. 10)
271
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(i) Normas gerais e abstratas: tm como hiptese a descrio de um evento futuro e
incerto e seu conseqente estabelece uma relao entre sujeitos no determinados, como exemplo
podemos citar as regras que instituem tributos, tipificam crimes, geralmente aquelas institudas, por
leis (i.e. H se auferir renda C aquele que a auferir deve recolher aos cofres pblicos federais
certa quantia em dinheiro; H se subtrair para si ou para outrem coisa alheia mvel C aquele
que subtrair deve cumprir pena de recluso de x a y anos).
(ii) Normas gerais e concretas: tm como antecedente a descrio de um
acontecimento passado e seu conseqente estabelece relaes de carter geral, entre sujeitos no
especificamente determinados, como exemplo podemos citar as normas introdutoras (ex. A dado o
fato da realizao de processo legislativo, por autoridade competente C todos os membros da
comunidade devem considerar vlidas as normas produzidas).
(iii) Normas individuais e abstratas: descrevem, em suas hipteses, tambm eventos
futuros e incertos, mas prescrevem relaes entre pessoas determinadas. So exemplos deste tipo de
normas as regras que estabelecem condies (ex: H se ocorrer algum sinistro C a seguradora x
deve pagar a Joo o valor correspondente).
(iv) Normas individuais e concretas: descrevem, no antecedente, um fato consumado
no tempo e espao e, no conseqente, estabelecem relaes jurdicas entre sujeitos determinados;
como exemplo, temos as produzidas pelas sentenas, que alcanam os casos concretos (ex. A dado
o fato de Joo ter matado Jos C Joo deve cumprir pena de recluso de 8 anos; A dado o fato de
Maria ter auferido renda C Maria deve recolher aos cofres pblicos federais a importncia de R$
5.000,00).
H
C
Geral
Individual
Abstrata
Concreta
272
Nas relaes de subordinao, que se estabelecem entre normas jurdicas, as regras
individuais e concretas so sempre subordinadas s gerais e abstratas, que servem como fundamento
para a criao destas. Por isso, como observa PAULO DE BARROS CARVALHO, h uma forte
tendncia de que as normas gerais e abstratas se concentrem nos escales mais altos, surgindo as gerais
e concretas, individuais e abstratas e individuais e concretas mediada que o direito vai se
positivando
307
.
2.2.3.3. Tipos de normas jurdicas segundo as relaes estabelecidas em S4
Ainda trabalhando com a classificao dos contedos normativos no plano das
normas jurdicas strico sensu, mas levando em considerao as relaes entre normas estabelecidas no
plano da sistematizao do direito (S4), podemos classific-las em: (i) dispositivas e derivadas;
punitivas e no-punitivas, tendo em conta os vnculos de coordenao que se instauram entre elas; e
(ii) sobre-nvel e sub-nvel, tendo em conta os vnculos de subordinao existentes entre elas.
Vejamos mais detalhadamente as normas dispositivas e derivadas, punitivas e no
punitivas, pois as diferenas estabelecidas em razo dos vnculos de subordinao entre normas
estudaremos melhor quando tratarmos do processo de positivao do direito.
2.2.3.3.1. Normas dispositivas e derivadas, punitivas e no-punitivas
Como j vimos, a norma jurdica posta no sistema por ato de deciso do legislador
que elege, dentro do campo do possvel e do no-necessrio, os fatos configuradores das hipteses e as
condutas que deseja regular, como conseqncias impostas na forma de relaes intersubjetivas de tais
fatos.
Ocorre que, por inmeras vezes, a autoridade legislativa seleciona como hiptese o
cumprimento, ou no, de condutas prescritas por outras regras, estabelecendo, assim, uma relao de
coordenao entre normas, ao tomar uma como pressuposto da outra.
Com base neste critrio, chamamos de derivadas, as normas cuja hiptese
pressupem uma prescrio contida em outra norma e de dispositivas aquelas que prescrevem
condutas tomadas como pressuposto das normas derivadas
308
.
307
Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 33.
308
As normas derivadas no deixam de ser dispositivas, na medida em que dispem sobre condutas intersubjetivas, mas,
com relao a outras normas, podem ser derivadas, quando tomam como pressuposto o cumprimento ou no de condutas j
normatizadas.
273
O vnculo que se estabelece entre normas primrias e secundrias exatamente este.
Podemos dizer que a norma primria dispositiva em relao secundria e esta derivada em relao
quela, pois a pressupe previamente. A distino, no entanto, entre normas primrias e secundrias,
repousa na relao constituda em seus conseqentes, uma de ndole material e outra de ndole
processual viabilizadora do exerccio da coercitividade jurdica.
Importa identificar, todavia, que tal vnculo de coordenao pode tambm existir
entre normas primrias. Uma regra, por exemplo, que prescreva a obrigao de pagar certa quantia aos
cofres pblicos a ttulo de tributo (N1) dispositiva, em relao quela que institui um desconto de
10% aos contribuintes que efetuarem o pagamento at certo dia (N2) e em relao quela que
estabelece uma multa em decorrncia do no-pagamento (N3). Ambas N2 e N3 constituem-se como
suas derivadas. Nota-se que o cumprimento da prescrio da norma N1 (obrigao de pagar) foi
valorado positivamente quando tomado, pelo legislador, como pressuposto de N2 (ao atribuir o direito
do desconto) e negativamente quando eleito como hiptese de N3 (para aplicao da multa). Ambas as
normas N2 e N3 tomam como fato relevante a obrigao de pagar prescrita em N1, por isso,
configuram-se como derivadas em relao a esta (N1), que se constitui como dispositiva em relao
quelas.
O vnculo entre tais normas mostra-se evidente na medida em que observamos serem
os sujeitos das relaes por elas estabelecidas os mesmos ( o contribuinte obrigado a pagar o tributo
que ter direito ao desconto ou pagar a multa; e o fisco, que tem o direito de receber o tributo, que
disponibilizar o desconto ou receber a multa) e o objeto das prescries so interdependentes (tanto
o valor do desconto quanto o da multa so percentuais da quantia a ser paga).
As normas so dispositivas e derivadas em relao umas s outras. Nada impede,
assim, que uma norma N seja dispositiva em relao norma N, mas derivada em relao norma
N. Tais conexes so institudas pelo legislador, mas construdas pelo intrprete no curso do
processo gerador de sentido dos textos jurdicos, mais especificamente no plano S4.
Por vezes, a autoridade legislativa, na composio das normas jurdicas, entende
como relevante, para o direito, o adimplemento da conduta prescrita na norma dispositiva,
configurando como hiptese da norma derivada o fato do seu cumprimento, outras vezes, considera
proeminente o seu inadimplemento, caracterizando como hiptese da norma derivada o fato do seu
descumprimento, o que juridicamente se constitui como um fato ilcito.
274
As normas decorrentes de fatos ilcitos sero sempre derivadas, porque tm
pressuposto anti-jurdico, isto , caracterizam-se pela realizao de uma conduta prescrita como no-
permitida ou obrigatria por outra norma jurdica
309
. Sendo estabelecedoras de relaes de direito
material sero primrias derivadas, sendo impositivas de relao de ordem processual, mediante a qual
se exige coercitivamente perante rgo estatal a efetivao de uma conduta, sero normas secundrias.
Levando-se em considerao a valorao do legislador, quanto ilicitude do fato
eleito como hiptese normativa, as normas derivadas podem ser classificadas em: (i) punitivas e (ii)
no-punitivas
310
. Normas derivadas no-punitivas so aquelas que tm como hiptese a realizao de
uma conduta prescrita em outra norma (que lhe precedente) e como conseqncia a instaurao de
um benefcio (direito subjetivo) ao sujeito passivo. J as normas derivadas punitivas tm como
hiptese o descumprimento de conduta prescrita por outra norma (que lhe precedente) e como
conseqncia, a prescrio de um castigo (dever jurdico) para o sujeito passivo.
Podemos citar aqui os exemplos acima utilizados, da norma do desconto N2, como
norma derivada no-punitiva e da norma de multa N3, como norma derivada punitiva.
Tendo por base tais critrios, estabelecemos a seguinte classificao:
A norma secundria, segundo esta classificao, uma regra derivada punitiva, em
relao norma primria que lhe dispositiva. A diferena que o castigo por ela prescrito uma
providncia coercitiva a ser aplicada pelo Estado-Juiz e no um dever jurdico imposto ao mesmo
sujeito passivo da norma dispositiva, como verificamos nas normas primrias derivadas punitivas (ex.
aquelas que fixam penas e multas).
309
Como preceitua HECTOR VILLEGAS: Todo ilcito uma ao, que se caracteriza no descumprimento de uma
conduta prescrita pelo direito. (Direito penal tributrio, p. 147)
310
EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI diferencia norma primria dispositiva de norma primria sancionadora,
especificando que esta segunda tem como pressuposto o no-cumprimento de deveres ou obrigaes prescritas por aquela
e, como conseqente, uma relao de direito material, o que a diferencia das normas secundrias. (Lanamento Tributrio,
p. 43). Partimos da mesma diferenciao do autor para elaborar nossa classificao. S utilizamos outros termos, para
evitar confuses, pois norma sancionadora nos remete norma que fixa uma sano e trabalhamos o vocbulo sano
na acepo de relao de ndole coercitiva (A sano do direito estaria representada pela norma secundria).
dispositivas
derivadas
punitivas
no-punitivas
Normas jurdicas
275
Devemos levar em conta, quando tratamos da separao entre normas primrias e
secundrias, que o critrio diferenciador outro: numa temos uma prescrio de direito material,
noutra uma relao de cunho adjetivo, cujo o objeto a coercitividade jurdica.
Como o vnculo de coordenao entre disposies jurdicas no exclusivo entre
normas primrias e secundrias, podemos aplicar tal classificao tambm quanto s relaes que se
estabelecem entre as normas primrias
311
. Assim temos: (i) normas primrias dispositivas; (ii) normas
primrias derivadas no-punitivas; e (iii) normas primrias derivadas punitivas, conforme demonstra o
grfico abaixo:
No podemos confundir, aqui, as normas primrias derivadas punitivas com as
normas secundrias (que tambm se enquadram na espcie de normas derivadas punitivas em relao
primria porm no so primrias).
Apesar de ambas terem como hiptese o no-cumprimento de uma conduta exigida
em outra norma e a imposio um castigo, em razo deste no-cumprimento, denominados por
muitos de sano, na primria este castigo se consubstancia num dever jurdico, imposto ao sujeito
que no realizou a conduta esperada, na secundria ele se concretiza numa atuao estatal coercitiva,
asseguradora dos direitos e deveres desrespeitados pelo no-cumprimento da conduta prescrita.
So sanes diferentes, uma tem finalidade primordialmente punitiva, atribuindo
um nus ao sujeito que no observou a prescrio jurdica, outra tem a finalidade de conferir
juridicidade s condutas prescritas pelo direito, atribuindo a faculdade de se postular perante o Estado-
Juiz o exerccio da fora estatal.
311
Fazemos aqui um parntese para esclarecer que somente as primrias quando relacionadas entre si se submetem a tal
classificao (primarias dispositivas, primarias derivadas no-punitivas e primarias derivadas punitivas). As normas
secundrias so sempre somente normas secundrias, por mais que se relacionem com outras normas de cunho material,
estar sempre na condio de derivada punitiva, com a peculiaridade de ter como objeto a coero estatal, atribuidora de
juridicidade norma a qual est vinculada.
primrias
secundrias punitivas
no-punitivas
Normas
Jurdicas
dispositiva
derivadas
276
norma primria
dispositiva
norma primria derivada
punitiva
c c
Um exemplo esclarece melhor esta diferena. Pensemos na norma penal do
homicdio (Nh) que dispe: se matar algum deve cumprir pena de x a y anos (art. 121 CP). Ela se
relaciona coordenadamente com outras duas normas do sistema, a do bem jurdico tutelado (Nv) que
dispe: se algum nascer com vida, deve ser o dever de todos respeitar a vida desta pessoa (art. 5,
CF) e outra que lhe assegura cumprimento (Ns) preceituando: se o sujeito condenado no cumprir de
livre vontade a pena deve ser o direito do Estado exigir coativamente seu cumprimento (Lei de
execuo penal).
Com relao primeira norma (Nv), a regra do homicdio (Nh) primria derivada
punitiva, porque pressupe a primeira e prescreve um castigo para aquele que no respeitar o direito
vida de outrem. A segunda regra (Ns) a norma secundria, ela se conecta norma primria do
homicdio (Nh), assegurando coercitivamente o cumprimento da pena por esta imposta. Com relao a
ela, a regra do homicdio dispositiva.
Nota-se que a pena imposta pela norma penal (Nh) configura-se como um nus ao
sujeito que no obedeceu a conduta prescrita por Nv. J a sano contida na norma secundria (Ns)
garante o cumprimento da prescrio estabelecida na norma de homicdio. No fosse ela (Ns), a regra
do homicdio (Nh) no teria cunho jurdico, j que no haveria meios do Estado exigir o cumprimento
da pena, ficando a livre arbtrio do condenado cumpri-la ou no. A norma penal do homicdio (Nh), no
entanto, no garante o direito vida prescrito por Nv (que como norma primria, tambm se encontra
conectada a uma secundria que lhe assegure), apenas atribui uma pena ao sujeito que no o respeita.
Este o ponto limite que separa as normas primrias derivadas punitivas das secundrias.
Em linguagem formalizada, quando explicados os termos antecedentes e
conseqentes, identificamos a diferena entre ambas:
D [ H R (Sa, Sp)] v [ H (-c) R (Sa, Sp)
A norma primria derivada punitiva, denominada por muitos autores de
sancionadora, estabelece uma relao entre os mesmos sujeitos da norma que lhe dispositiva. A
sano se realiza sem a coero do rgo estatal, por isso de ndole material, mas sua coercitividade
est assegurada por uma norma secundaria, que somente se concretiza caso a relao punitiva seja
277
inadimplida. Assim, a norma primria derivada punitiva com a secundria no se confunde, pois ela
mesma reclama sua existncia para ter foros de juridicidade.
Como bem ensina MIGUEL REALE, todos os sistemas normativos tm normas
punitivas, o que as diferencia das sanes jurdicas que a aplicao destas se verifica segundo uma
proporo objetiva e transpessoal, que exercida pelo Estado no exerccio de seu monoplio
coativo
312
.
adotando este conceito de sano (em sentido estrito) que denominamos a norma
secundria de sancionadora. Para referirmo-nos s demais normas primrias, que estatuem deveres
em razo do no-cumprimento de condutas prescritas por outras regras, preferimos utilizar o termo
punitivas, fazendo, assim, a distino entre: (i) sano relao jurdica que assegura o
cumprimento da conduta prescrita, mediante exerccio da coero jurisdicional; e (ii) as relaes
jurdicas, de cunho material, instituidoras de condutas reparatrias, decorrentes do descumprimento de
pressupostos obrigacionais (sano em sentido amplo).
2.2.3.1.1.1. Conectivos lgicos das normas dispositivas derivadas e punitivas e no punitivas
Com relao aos vnculos que se estabelecem entre normas primrias, a concluso do
estudo realizado no captulo anterior quanto s normas primrias e secundrias se aplica na unio das
normas primrias dispositivas e primrias derivadas punitivas, pois como j salientamos, seguindo
a classificao das normas em dispositiva e derivada, a norma secundria uma norma derivada
punitiva em relao norma primria, que lhe dispositiva.
No entanto, com relao ao vnculo entre normas dispositivas e derivadas no-
punitivas no podemos dizer o mesmo. No campo normativo, ambas so necessariamente vlidas para
que a unio se estabelea, porm, no campo factual no so excludentes. O cumprimento da norma
dispositiva que implica a aplicao da norma derivada no-punitiva, factualmente so tambm
includentes. Por isso, acreditamos que o melhor conetivo para representar tal relao o conjuntor e,
logicamente representado por (.): ambas so simultaneamente vlidas e ambas se aplicam
conjuntamente apesar de sucessivamente.
Assim, temos as seguintes arrumaes lgicas:
312
Lies preliminares de direito, p. 70.
278
norma primria
(dispositiva)
norma secundria
(derivada punitiva)
c
c c
norma primria
dispositiva
norma primria derivada
no-punitiva
c
norma primria
dispositiva
norma primria sancionadora
(derivada punitiva)
1) D [ H R (Sa, Sp)] . [ H (c) R (Sa, Sp)]
2) D [ H R (Sa, Sp)] v [ H (-c) R (Sa, Sp)]
3) D [ H R (Sa, Sp)] v [ H (-c) R (Sa, Sj)]
2.2.4. Tipos de normas jurdicas em sentido amplo
Outras separaes existem levando-se em conta a acepo de norma jurdica em
sentido amplo, abrangendo os planos dos enunciados, das proposies no deonticamente estruturadas
e das normas jurdicas, ou pelo menos mais de um deles. Dividimo-las em dois grupos diferenciando-
as quanto: (i) ao contedo semntico (matria); (ii) ao veculo introdutor.
2.2.4.1. Diferenciao quanto ao ncleo semntico (matria)
Quanto ao ncleo semntico das normas jurdicas (lato sensu), diviso clssica da
doutrina (edificada ainda no Direito Romano, pelo jurisconsulto ULPIANO) a que as separa em
pblicas e privadas.
J explanamos que a ordem jurdica unitria, mas para estud-la so demarcados os
ramos, formados por conjuntos metodologicamente delineados de normas, agrupadas em razo da
matria que regulam. Os ramos so normalmente reunidos em dois grandes grupos, de acordo com o
interesse por elas tutelado: (i) direito pblico; e (ii) direito privado. So regras de direito pblico
aquelas que dispem sobre interesses do Estado (ex: administrativo, constitucional, tributrio, penal,
etc.); e so regras de direito privado as que dispem sobre interesses dos particulares (ex: civil,
trabalhista, comercial, etc).
279
Mais especificamente, as normas ainda podem ser separadas em razo da matria que
regulam em: (i) normas ambientais; (ii) normas urbansticas; (iii) normas culturais; (iv) normas
administrativas; (v) normas econmicas; (vi) normas bancrias; (vii) normas de seguros; (viii) normas
de valores imobilirios; (ix) normas eleitorais; (x) normas empresariais; (xi) normas penais; (xii)
normas previdencirias; (xiii) normas tributrias; (xiv) normas financeiras; (xv) normas trabalhistas;
(xvi) normas internacionais; (xvii) normas de propriedade intelectual; (xviii) normas civis; (xix)
normas de sucesso; (xx) normas do consumidor; (xxi) imobilirias; (xxii) normas comerciais; etc.
A separao quanto matria muito peculiar, depende dos recortes estabelecidos
pelo observador. Alguns autores, por exemplo, afirmam serem as normas tributrias espcie das
normas financeiras; outros, espcie de normas administrativas, outros ainda as classificam como
espcie autnoma. A verdade que o direito uno e a distino das normas pela matria prpria da
Cincia do Direito.
impossvel afirmar quantas espcies de normas o direito comporta em relao
matria, pois cada uma veicula um contedo diferente (heterogeneidade semntica). A resposta
depender sempre dos cortes estabelecidos pelo cientista, que respondem a interesses imediatos de sua
aproximao cognoscitiva.
Outra clssica classificao, quanto materialidade normativa a que divide: (i)
normas de direito material; e (ii) normas de direito processual; sob o critrio de serem instrumentais ou
no, que se aproxima muito da separao feita entre normas de estrutura e de comportamento. As
normas de direito processual servem de instrumento para realizao dos direitos e deveres prescritos
em normas de direito material. Como exemplo de normas processuais, citamos as construdas do
Cdigo de Processo Civil, em correlao com as construdas do Cdigo Civil, de direito material.
Assim, associando esta diviso com a separao especfica de matrias, temos: normas de direito
processual civil, e normas de direito material civil; normas de direito processual penal e normas de
direito material penal; normas de direito tributrio e normas de direito material tributrio; normas de
direito processual trabalhista e normas de direito material trabalhista, etc.
2.2.5.2. Diferenciao quanto ao veculo introdutor
Tendo em vista as relaes de subordinao e o veculo mediante o qual so inseridas
no sistema, podemos dividir as normas jurdicas (lato sensu) em: (i) constitucionais; e (ii) infra-
constitucionais. E esta ltima em: (ii.a) legais; e (ii.b) infra-legais.
280
Normas constitucionais so aquelas presentes na Constituio Federal. Levando-se
em conta que na escala de gradao hierrquica do sistema jurdico, nenhuma outra norma se sobrepe
Constituio, as demais, veiculadas por leis, decretos, medidas provisrias so infra-
constitucionais, isto , encontram-se abaixo da Constituio, porque nela fundamentam-se
juridicamente.
Sob o mesmo critrio, as normas infra-constitucionais podem ser divididas em: (ii.a)
legais; e (ii.b) infra-legais. So legais aquelas construdas a partir do veculo lei, ou que a ele se
equiparam (ex. medidas provisrias). E, so infra-legais as que se fundamentam juridicamente nas
primeiras (ex. as veiculadas por atos administrativos; resolues; instrues normativas; sentenas,
etc.).
Inmeras outras classificaes podem ser adotadas no estudo das normas jurdicas,
visto serem estas construes do intrprete. Ficamos, no entanto, com as expostas at aqui, por
atenderem nossas expectativas cognitivas.
281
CAPTULO X
A REGRA-MATRIZ
SUMRIO: 1. Que regra-matriz?; 1.1. Normas de incidncia e normas
produzidas como resultado da incidncia; 1.2. A regra-matriz de incidncia; 1.3.
Ambigidade da expresso regra-matriz; 2. Critrios da hiptese; 2.1. Critrio
material; 2.2. Critrio espacial; 2.3. Critrio temporal; 3. Critrios do
conseqente; 3.1. Critrio pessoal; 3.2. Critrio prestacional; 4. Funo operativa
e prtica do esquema lgico da regra-matriz; 4.1. Teoria na prtica.
1. QUE REGRA-MATRIZ?
PAULO DE BARROS CARVALHO, inspirado nas lies de ALFREDO
AUGUSTO BECKER e GERALDO ATALIBA, ao observar as propriedades eleitas pelo legislador
para delimitao de hipteses e conseqentes das regras instituidoras de tributos, percebeu a repetio
de alguns componentes e assim apresentou a regra-matriz de incidncia tributria
313
, estabelecendo
um esquema lgico-semntico, revelador do contedo normativo, que pode ser utilizado na construo
de qualquer norma jurdica (em sentido estrito).
O legislador, ao escolher os acontecimentos que lhe interessam como causa para o
desencadeamento de efeitos jurdicos e as relaes que se estabelecero juridicamente como tais
efeitos, seleciona propriedades do fato e da relao, constituindo conceitos, por ns denominado de
hiptese e conseqente. Todo conceito seletor de propriedades, isto quer dizer que, nenhum
enunciado capta o objeto referente na infinita riqueza de seus predicados, captura apenas algumas de
suas propriedades, aquelas eleitas pelo observador como relevantes para identific-lo.
Examinando vrias normas, em busca da construo de proposies descritivas
generalizadoras, verifica-se uma constante: que o legislador, na sua atividade de selecionar
propriedades dos fatos e das relaes jurdicas, acaba utilizando-se sempre dos mesmos critrios,
313
PAULO DE BARROS CARVALHO, apresentou inicialmente componentes da norma jurdica tributria, na sua tese de
doutoramento, editada no livro intitulado Teoria da norma tributria, (p. 122-178), numa singela demonstrao daquilo
que mais tarde denominaria de regra-matriz de incidncia tributria. Com a edio do livro Curso de direito tributrio, as
idias apareceram mais segmentadas, o nome regra matriz de incidncia tributria foi consolidado como sinnimo de
norma tributria em sentido estrito e um esquema formal foi desenhado (p. 236-238). Tal construo passou a utilizada em
mais de centenas de obras especializadas, representando um verdadeiro marco na Teoria Geral do Direito Tributrio.
282
percebidos quando, por meio da abstrao lgica, separamos as expresses genricas designativas do
fato e da relao presentes em todas e quaisquer normas jurdicas
314
.
Se considerarmos que toda classe delineada pela hiptese normativa aponta para um
acontecimento, que se caracteriza por ser um ponto no espao e no tempo. Logo, como conceito
identificativo, ela deve, necessariamente, fazer referncia a: (i) propriedades da ao nuclear deste
acontecimento; (ii) do local; e (iii) do momento em que ele ocorre; caso contrrio, impossvel
identific-lo precisamente.
Da mesma forma, como toda classe delineada pelo conseqente normativo indica
uma relao onde um sujeito fica obrigado, proibido ou permitido a fazer ou deixar de fazer algo em
virtude de outro sujeito, necessariamente nele vamos encontrar propriedades identificativas de: (i) dois
sujeitos, ativo e passivo; e (ii) do objeto da relao, isto , daquilo que um dos sujeitos est obrigado,
proibido ou permitido de fazer ou deixar de fazer ao outro.
A conjuno desses dados indicativos oferece-nos a possibilidade de exibir um
esquema padro, j que toda construo normativa, para ter sentido, pressupe, como contedo
mnimo, estes elementos significativos.
1.1. Normas de incidncia e normas produzidas como resultado da incidncia
Algumas normas so produzidas para incidir, outras nascem como resultado da
incidncia. Nas normas produzidas para incidir (do tipo gerais e abstratas), a classe dos fatos
(delimitada pela hiptese) e das relaes (delimitada pelo conseqente), compreendem inmeros
elementos, tanto quanto forem os acontecimentos concretos que nela se enquadrem, quanto s relaes
a se instaurarem juridicamente. Nas normas produzidas como resultado da incidncia de outras normas
(do tipo individuais e concretas), as classes do antecedente e do conseqente abarcam um nico
elemento, o fato jurdico e a relao jurdica objetivados. Estas ltimas normas geralmente so
314
Muitos autores utilizam-se deste recurso para estudar detalhadamente o contedo normativo. Os penalistas, por
exemplo, ao realizarem investigaes sobre os elementos do tipo, nada mais fazem do que decompor a hiptese penal, a fim
de analisar de modo particular cada um de seus componentes. Os elementos do tipo so, para ns, os componentes da
hiptese penal que, em termos gerais, apresenta a mesma composio sinttica. Depois do avano dos penalistas no estudo
do tipo penal, com emprego do mtodo analtico, os tributaristas aderiram forma e impeliram um grande avano no
estudo dos componentes da hiptese tributria. Estes estudos, no entanto, dirigiram-se apenas a uma das proposies
normativas: o antecedente (vide: ALFREDO AUGUSTO BECKER, Teoria geral do direito tributrio e GERALDO
ATALIBA, Hiptese de incidncia tributria). Foi PAULO DE BARROS CARVALHO que, atendendo estrutura dual
da norma jurdica, aplicou o mtodo decompositivo para o estudo, tambm, dos componentes do conseqente. E, assim
criou o esquema lgico-semntico da regra matriz, com o qual identificamos todos os componentes significativos de
qualquer norma jurdica.
283
produzidas com a incidncia das primeiras no caso concreto e, por isso, nelas se fundamentam
materialmente. O que uma prescreve abstratamente, a outra dispe de forma concreta e, assim sendo,
encontram-se mais prximas ao campo material das condutas objetivas, tendo mais condies de atuar
modificativamente.
Em todas as regras encontramos, tanto no suposto, quanto no conseqente,
referncias a critrios, aspectos, elementos ou dados identificativos de um evento e de uma relao
entre sujeitos. A diferena que, nas normas produzidas para incidir (do tipo gerais abstratas) estas
referncias delimitam um conceito conotativo, enquanto nas normas concretas elas demarcam um
conceito denotativo
315
.
Como j analisamos no captulo anterior, o descritor das normas do tipo geral e
abstratas, no traz a descrio de um acontecimento especificamente determinado, alude a uma classe
de eventos, na qual se encaixam infinitas ocorrncias concretas. Da mesma forma, o conseqente no
traz a prescrio de uma relao intersubjetiva especificadamente determinada e individualizada, alude
a uma classe de vnculos intersubjetivos, na qual se encaixam infinitas relaes entre sujeitos.
Haver, assim, para construo dos conceitos conotativos destas normas, no
antecedente: (i) um critrio material (delineador do comportamento/ao pessoal); (ii) um critrio
temporal (condicionador da ao no tempo); e (iii) um critrio espacial (identificador do espao da
ao). E, no conseqente: (iv) um critrio pessoal (delineador dos sujeitos ativo e passivo da relao);
e (v) um critrio prestacional (qualificador do objeto da prestao).
Certamente que outras informaes podem ser agregadas na construo do sentido
dentico que isola a incidncia dos textos jurdicos, mas estes so os componentes significativos
mnimos necessrios para compreenso da mensagem legislada. Nos dizeres de PAULO DE BARROS
CARVALHO, a conjuno desses dados indicativos nos oferece a possibilidade de exibir, na
plenitude, o ncleo lgico-estrutural da norma padro, preenchido com os requisitos significativos
necessrios e suficientes para o impacto jurdico da exao
316
.
Satisfazendo-se o requisito de pertencialidade aos critrios da hiptese e do
conseqente das normas gerais e abstratas, so produzidas as normas do tipo individuais e concretas.
315
Relembrando: os conceitos conotativos so constitudos de critrios relevantes que expressam certa abstrao (ex.
homem: animal, mamfero, racional, do sexo masculino), j os conceitos denotativos identificam os elementos que atendem
aos critrios delineadores do conceito conotativo (ex. homem: Joo, Artur, Fernando, Marcelo).
316
Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 81.
284
Nelas no encontramos diretrizes para identificao de uma classe de infinitos fatos e relaes, mas a
descrio de um acontecimento especfico e uma relao jurdica objetivada. H, no antecedente, ao
invs de critrios: (i) um elemento material (referente ao comportamento de uma pessoa); um elemento
temporal (referente ao tempo da ao); e (iii) um elemento espacial (referente ao local da ao). E, no
conseqente: (iv) um elemento pessoal (individualizador dos sujeitos ativo e passivo da relao
jurdica); e (v) um elemento prestacional (referente ao objeto da prestao).
1.2. A regra-matriz de incidncia
Chamamos de regra-matriz de incidncia as normas padres de incidncia
317
,
aquelas produzidas para serem aplicadas em casos concretos, que se inscrevem entre as regras gerais e
abstratas, podendo ser de ordem tributria, previdenciria, penal, administrativa, constitucional, civil,
trabalhista, comercial, etc., dependendo das situaes objetivas para as quais seu vetor semntico
aponta.
Na expresso regra-matriz de incidncia emprega-se o termo regra como
sinnimo de norma jurdica, porque trata-se de uma construo do intrprete, alcanada a partir do
contato com os textos legislados. O termo matriz utilizado para significar que tal construo serve
como modelo padro sinttico-semntico na produo da linguagem jurdica concreta
318
. E de
incidncia, porque se refere a normas produzidas para serem aplicadas.
Voltando-nos para o campo material do direito tributrio, PAULO DE BARROS
CARVALHO oferece-nos o exemplo da regra-matriz de incidncia do IPTU: Hiptese: (i) critrio
material ser proprietrio de bem imvel; (ii) critrio espacial no permetro urbano do Municpio de
So Paulo; iii) critrio temporal no 1 dia do ano civil. Conseqncia: (iv) critrio pessoal (iv.a)
sujeito ativo: a Fazenda Municipal, (iv.b) sujeito passivo: o proprietrio do imvel; (ii) critrio
317
Com a expresso regra padro de incidncia reportamo-nos s normas construdas para incidir em infinitos casos
concretos, como aquelas que tipificam crimes, instituem tributos, estabelecem sanes administrativas, dispem sobre
direito dos empregados, etc., isto , normas gerais e abstratas.
318
Para PAULO DE BARROS CARVALHO a regra-matriz de incidncia tributria aquela que marca o ncleo da
incidncia fiscal, ou seja, aquela que institui tributo (IR, IPTU, ISS, ICMS, CIDE combustvel, taxa de lixo, etc.)
identificada como norma tributria em sentido estrito. O termo matriz, neste caso, tem sentido duplo: alm de servir
como modelo para construo de normas concretas, a regra que institui um tributo marca o ncleo da atividade tributria,
define o cerne da matria tributria, por isso, tida como matriz. Este ltimo sentido est relacionado materialidade da
norma (ex: a norma que institui o crime de homicdio uma regra matriz de incidncia penal, porque marca o ncleo da
incidncia penal). Levando-se em conta esta acepo no podemos falar em regra-matriz de multa pelo no-pagamento de
tributo, regra-matriz de dever instrumental, porque regra-matriz de incidncia (em matria tributria) so somente as
normas que instituem tributo (normas tributrias em sentido estrito). Por este motivo, adotamos a primeira acepo, que
abrange todas as normas gerais e abstratas e trata a regra-matriz como uma norma padro de incidncia, sem a
especificidade de uma matria, mesmo porque nossa proposta, neste trabalho, a generalizao da teoria.
285
Critrio temporal
quantitativo a base de clculo o valor venal do bem imvel, sobre o qual se aplica a alquota de
1%.
O autor refere-se a um critrio quantitativo no conseqente porque, na esfera
tributria, o ncleo da conduta prescrita pelas normas instituidoras de tributos o dever de entregar aos
cofres pblicos certa quantia em dinheiro. No entanto, no so todas normas jurdicas que apresentam
o ncleo da conduta prescrita mensurvel (como por exemplo: votar, alistar-se no servio militar,
fumar, dirigir, parar no sinal vermelho, entregar declarao, escriturar livros, etc.). Por isso,
generalizando, nem sempre encontramos um critrio quantitativo no conseqente normativo, mas,
necessariamente, em todas as normas teremos um critrio prestacional, contendo as diretrizes para
identificao do objeto da prescrio.
Assim, estendendo os estudos sobre a regra matriz de incidncia tributria, de
PAULO DE BARROS CARVALHO, para todas as normas padres de incidncia dos diversos
ramos do direito, nota-se que elas apresentam a mesma composio sinttica, sendo os contedos
mnimos de significao da hiptese e dos conseqentes compostos, invariavelmente, pelos mesmos
critrios, o que, num esforo mental de suspenso de seus vetores semnticos objetivos, permite-nos
construir um esquema padro: a regra-matriz de incidncia:
O preenchimento deste esquema possibilita-nos construir com segurana qualquer
norma jurdica padro de incidncia.
A falta de um destes critrios demonstra impreciso da mensagem legislada e,
conseqentemente, certo comprometimento na regulao almejada pelo legislador.
RMI
(Regra Matriz
de Incidncia)
H
(Hiptese)
C
(Conseqncia)
Critrio material (verbo + complemento)
Critrio espacial
Critrio pessoal
Critrio prestacional (verbo + complemento)
Sujeito passivo
Sujeito ativo
286
Por outro lado, a frmula regra-matriz permite-nos aprofundar a anlise das
proposies normativas, vez que revela os componentes da hiptese e do conseqente das normas
jurdicas. Frisamos, no entanto, mais uma vez, que as normas, por desfrutarem de integridade
conceptual, so unidades desprovidas de sentido quando desmembradas. Assim, tal desagregao s
permitida para efeito de anlise.
1.3. Ambigidade da expresso regra-matriz de incidncia
No imune ao problema da ambigidade, a expresso regra-matriz pode ser
utilizada em duas acepes, significando realidades distintas: (i) estrutura lgica; e (ii) norma jurdica
em sentido estrito.
No processo gerador de sentido dos textos jurdicos, o intrprete, conhecendo a
regra-matriz (estrutura lgica), sai em busca dos contedos significativos do texto posto para
complet-la e assim constri a regra-matriz de incidncia (norma jurdica). A regra-matriz, considerada
como estrutura lgica, desprovida do contedo jurdico, trata-se de um esquema sinttico que auxilia
o intrprete no arranjo de suas significaes, na construo da norma jurdica. A regra-matriz,
enquanto norma jurdica, aparece quando todos os campos sintticos desta estrutura forem
semanticamente completados.
Vejamos a representao:
Se considerarmos s a estrutura (parte em negrito), temos a regra-matriz de
incidncia como um esquema lgico-semntico que auxilia o intrprete na construo do sentido dos
textos do direito positivo:
287
A expresso utilizada nesta acepo, por exemplo, quando um professor chega
sala de aula e diz: hoje vamos estudar a regra-matriz de incidncia. O que vai ser estudado o
esquema lgico-semntico, que servir de instrumento ao aluno para analisar o texto positivado e
construir inmeras normas jurdicas de acordo com as materialidades com as quais lida no seu dia-a-
dia.
Se, no entanto, considerarmos o contedo (parte em itlico), temos a regra-matriz de
incidncia tributria do IPTU. A expresso regra-matriz de inicdncia utilizada no sentido de
norma jurdica (stricto sensu) significao construda a partir dos textos do direito positivo,
estruturada na forma hipottico-condicional:
Quando, por exemplo, o mesmo professor chega na sala de aula e diz: hoje vamos
estudar a regra-matriz de incidncia tributria do IPTU, significa dizer que os alunos entraro em
contato com a norma jurdica que institui tal tributo.
Nota-se a diferena entre as duas acepes: (i) a primeira leva em conta a estrutura
abstrata; (ii) a segunda, seu contedo, ou seja, sua estrutura preenchida.
Neste captulo nossa ateno volta-se ao estudo da regra-matriz enquanto estrutura
lgico-semntica, que poder ser preenchida por tantos quantos contedos significativos comportar a
materialidade dos textos jurdicos.
Vejamos, ento, agora separadamente, cada um dos critrios que a compem.
288
2. OS CRITRIOS DA HIPTESE
Como j tivemos oportunidade de estudar, no enunciado da hiptese normativa, o
legislador seleciona as notas que os acontecimentos sociais tm que ter para serem considerados fatos
jurdicos
319
. Sua funo definir os critrios (conotao) de uma situao objetiva, que, se verificada,
exatamente por se encontrar descrita como hiptese normativa, ter relevncia para o mundo jurdico.
Neste sentido, o enunciado da hiptese da RMI elaborado com status de
indeterminao, ou seja, ele delimita um conceito abstrato, que comporta um nmero finito, mas no
determinado de denotaes. Isto refora a afirmao de que a hiptese no contm o evento, nem o
fato jurdico, ela descreve uma situao futura, estabelece critrios que identificam sua ocorrncia no
tempo e no espao.
No demais ressalvar que, tal descrio, por estar imersa na linguagem prescritiva
do direito, no est sujeita aos valores de verdade e falsidade, prprios dos enunciados descritivos
produzidos pela Cincia, ela vale ou no vale, assim como, a conseqncia a ela atrelada
320
.
Considerando que todo fato um acontecimento determinado por coordenadas de
tempo e espao e que a funo da hiptese oferecer os contornos que permitam reconhecer um
acontecimento toda vez que ele ocorra, a descrio produzida pelo legislador deve, necessariamente,
conter diretrizes de ao, de tempo e de lugar.
Observando isso, PAULO DE BARROS CARVALHO elegeu trs critrios
identificadores do fato, constantes na hiptese de incidncia: (i) critrio material; (ii) critrio espacial;
e (iii) critrio temporal.
Tais critrios configuram a informao mnima necessria para a identificao de um
fato jurdico. Nada impede, porm, que o intrprete, analisando os textos positivados, selecione mais
propriedades do evento, como por exemplo, no caso das normas penais da parte especial (tipificadoras
dos crimes), em que um critrio identificativo da vontade do agente (dolo/culpa) necessrio para a
identificao da conduta tpica.
319
LOURIVAL VILANOVA, As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 86.
320
Neste sentido, LOURIVAL VILANOVA pontual: Conquanto a hiptese seja formulada por um conceito descritivo,
est imersa na linguagem prescritiva do direito positivo. A no verificao de um fato que se subsome aos critrios de
identificao da hiptese, no tem o condo de anul-la, pois a hiptese no se submete aos valores de verdade ou
falsidade. O legislador prescreve aquele conceito para denotao do fato jurdico, mesmo que utilizando-se da descrio e
por isso, elas valem ou no valem. (Analtica do dever ser, p. 20)
289
Quanto maior o nmero de critrios percebidos pelo intrprete, maior a preciso
identificativa do conceito da hiptese. O esquema da regra-matriz de incidncia, aqui apresentado,
oferece-nos o contedo mnimo necessrio para a indentificao de um fato e de uma relao
intersubjetiva (em termos gerais), o que no restringe, de forma alguma, a construo significativa do
intrprete apenas a tais critrios.
Mas, vejamos cada um deles critrios de forma mais detalhada.
2.1. Critrio material
Critrio material a expresso, ou enunciado, da hiptese que delimita o ncleo do
acontecimento a ser promovido categoria de fato jurdico.
A hiptese descreve um proceder humano (dar, no-dar, fazer, no-fazer, ser ou no-
ser) condicionado no tempo e espao. Por abstrao, separamos a ao ou o estado nuclear desse
comportamento dos seus condicionantes de tempo e espao e chegamos ao critrio material, como um
dos componentes da hiptese. Grande parte dos autores se perde neste processo de decomposio e,
por isso, muito comum a indevida referncia ao critrio material como a descrio objetiva do fato
contida na hiptese
321
.
Para delimitar tal proceder humano, encontramos expresses genricas designativas
de aes ou estados que envolvem pessoas (ex: causar dano; subtrair coisa alheia mvel; demitir
empregado; ser proprietrio de bem imvel, etc). O instrumento gramatical utilizado para distinguir
uma ao ou estado o verbo. Assim, esse ncleo, por ns denominado de critrio material, ser,
invariavelmente, composto por: (i) um verbo, que representa a ao a ser realizada; (ii) seguido de seu
complemento, indicativo de peculiaridades desta ao.
321
Nas palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO: Tanto os nacionais como os estrangeiros tropeam, no se
livrando de apresent-lo engastado os demais aspectos ou elementos integradores do conceito, e acabam por desenhar,
como critrio material, todo o perfil da hiptese. Nesse vcio de raciocnio incorrem quantos se dispuseram, em trabalho de
flego, a mergulhar no exame aprofundado do suposto, impressionados com a impossibilidade fsica de separar o
inseparvel, confundiram o ncleo da hiptese normativa com a prpria hiptese, definindo a parte pelo todo, esquecidos
de que lidavam com entidades lgicas, dentro das quais admissvel abstrair em repetidas e elevadas gradaes. muito
comum, por isso, a indevida aluso ao critrio material, como a descrio objetiva do fato. Ora, a descrio objetiva do fato
o que se obtm da compositura integral da hiptese tributria, enquanto o critrio material um dos seus componentes
lgicos (Curso de direto tributrio, p. 251).
290
O verbo, considerado por alguns autores o elemento gramatical mais significativo da
hiptese
322
, sempre pessoal, pois pressupe que algum o realize; se apresenta no infinitivo, aludindo
realizao de uma atividade futura; e de predicao incompleta, o que importa a obrigatria presena
de um complemento.
Vejamos alguns exemplos: (i) o caput do art. 121 do Cdigo Penal enuncia o critrio
material da norma de homicdio simples (Matar algum). Nota-se que o verbo (matar) pessoal,
indicando que um sujeito ter que realizar a ao (algum ter que matar); apresenta-se no infinitivo,
apontando a realizao futura da ao; e contm um complemento, que indica uma peculiaridade da
ao (algum uma pessoa, no um animal ou uma planta); (ii) o inciso I do 1 do art. 14 da
Constituio Federal traz o critrio material da norma do sufrgio popular obrigatrio (Ser maior de 18
anos)
323
. O verbo pessoal, indicando que um sujeito ter de se encontrar naquele estado (algum ter
que ser); apresenta-se no infinitivo, apontando o estado futuro; e contm um complemento, que indica
uma peculiaridade do estado (maior de 18 anos no de 16 ou de 14); (iii) o artigo 1.233 do Cdigo
Civil enuncia como critrio material da norma de descoberta (achar coisa alheia perdida)
324
. O verbo
novamente pessoal, apontando que a ao deve ser realizada por algum (uma pessoa deve achar);
apresenta-se no infinitivo, indicando uma ao futura; e contm um complemento duplo, indicando
duas caractersticas da ao (a coisa achada ter que ser alheia e perdida).
importante ressalvar, contudo, que o legislador, para demarcar a materialidade do
fato, no se utiliza apenas de verbos que exprimem ao (ex: fumar, dirigir, achar, vender,
industrializar, incorporar, etc.), mas tambm de verbos que exprimem o estado de uma pessoa (ex: ser,
estar, permanecer, etc.). Em decorrncia disso, no correto afirmar que todo fato jurdico reporta-se a
uma ao humana, pois o legislador tambm toma como relevante, para o desencadeamento de efeitos
jurdicos, certos estados da pessoa.
A ao considerada uma atividade refletida. Para realiz-la o sujeito, ainda que
inconscientemente, pensa e emite estmulos do crebro no intuito de modificar a condio em que se
322
O penalista EUGNIO RAL ZAFFARONI, por exemplo, ao tratar dos elementos do tipo, assim enuncia: o tipo
predominantemente descritivo porque composto de elementos objetivos que so os mais importantes para distinguir uma
conduta qualquer. Entre esses elementos, o mais significativo o verbo, que precisamente a palavra que serve
gramaticalmente para distinguir uma ao (Manual de derecho penal: parte geral, p. 306.). Para ns, todos os componentes
so importantes, pois sem a presena de todos no se identifica o evento relevante juridicamente, mas sem dvida o
critrio material responsvel pela delimitao do ncleo do fato.
323
Norma do sufrgio popular obrigatrio: H - Ser maior de 18 anos na data das eleies C - obrigatrio ao brasileiro
votar.
324
Norma da descoberta: H - Achar coisa alheia perdida, a qualquer tempo, no territrio nacional C - obrigatrio a
restituio ao dono ou legtimo possuidor.
291
encontra. J o estado considerado uma atividade espontnea, porque o sujeito se encontra em certa
condio e no emite qualquer estmulo cerebral para modific-la. No entanto, todo estado pressupe
uma ao, a lei da causalidade fsica (causa efeito). Por exemplo, para ser proprietrio de bem
imvel (que um estado), o sujeito tem que comprar, receber em doao, ou herana o imvel, isto ,
algum tem que realizar uma ao. Da mesma forma, para ser maior de 18 anos (que um estado), o
sujeito tem que viver at os dezoito anos (que uma ao). Por isso, como bem enfatiza PAULO DE
BARROS CARVALHO, quando dizemos que o critrio material o enunciado da hiptese que
delimita o ncleo do comportamento humano, tomamos a expresso comportamento na plenitude de
sua fora significativa, ou seja, abrangendo as duas atividades: refletidas (expressas por verbos que
exprimem ao) e espontneas (verbos de estado)
325
.
O verbo, ncleo do critrio material, invariavelmente pessoal, isto porque os fatos
que interessam para o direito so necessariamente aqueles que envolvem pessoas. Acontecimentos
naturais isolados (ex: um fruto que cai na floresta tropical, um maremoto, um animal selvagem que
ataca outro para se defender, a morte de um pssaro) no tm importncia jurdica, porque o direito,
tendo a funo de disciplinar condutas intersubjetivas, s toma como relevante ocorrncias que
envolvem pessoas.
Para o ordenamento jurdico irrelevante os acontecimentos impessoais, dado sua
referibilidade semntica com o sistema social. O fruto que cai na floresta, no capaz de ensejar
qualquer relao jurdica, mas se este mesmo fruto cair no quintal do vizinho, vislumbra-se o
desencadeamento de uma srie de efeitos jurdicos. Da mesma forma, o fato isolado de um maremoto,
no relevante juridicamente, mas passa a ser se ele afundar um navio cargueiro. O direito tambm
no se preocupa com o fato de um animal atacar outro, mas considera relevante se um cachorro de
estimao atacar algum na rua, atribuindo a este fato efeitos jurdicos. Nenhum comportamento no-
pessoal capaz de propagar efeitos jurdicos, pela prpria ontologia finalstica do direito, por isso, o
verbo, ncleo do critrio material, sempre pessoal.
Os conceitos delineados na hiptese e no conseqente normativo guardam referncia
com a linguagem social e no com a linguagem individual. Portando, s interessam para o direito os
325
PAULO DE BARROS CARVALHO, Teoria da norma tributria, p 125 O Autor cita a lio de EDUARDO
CARLOS PEREIRA Segundo Ayer e outros distintos gramticos, exprimir ao carter fundamental do verbo. Outros,
porm, acham que este carter pertence a certos verbos chamados, por isso, ativos, como andar, amar, etc., ao passo que
outros verbos exprimem estados, como estar, ficar, ser, viver. Da definem o verbo como a palavra que exprime a ao ou o
estado, ou ainda, a qualidade, atribuda ao respectivo sujeito. Porm, nos prprios verbos de estado concebe-se algum grau
de atividade do sujeito. A diferena entre as duas atividades est em ser esta espontnea do sujeito, e aquela refletida
(Gramtica expositiva, curso superior, p. 117.)
292
fatos verificveis neste contexto. por esta razo que tambm no encontramos como ncleo material
da descrio hipottica de normas jurdicas verbos que exprimem aes intra-subjetivas (ex: pensar,
imaginar, crer, julgar, supor, etc.) nem complementos auto-referentes (ex: a si mesmo, dele prprio,
consigo mesmo, etc.).
O fato de o verbo ser pessoal dispensa a necessidade de um critrio pessoal no
enunciado da hiptese de incidncia, como sugerem alguns autores
326
. Como dissemos acima, dado a
referibilidade semntica do direito com a linguagem social, o sistema no admite, como propulsores de
efeitos jurdicos, atividades que no envolvam sujeitos. Por estar o verbo no infinitivo (ex: ameaar,
ser, fazer, causar, etc.), certamente sempre algum ter de realizar a ao ou encontrar-se no estado
descrito pela hiptese.
O direito, afastando algumas excees, no se preocupa em dizer quem deve realizar
a ao ou se encontrar em certa condio. Seu interesse volta-se para quem vai sofrer os efeitos
jurdicos desta ao ou condio. Por isso, o critrio pessoal um atributo prprio do conseqente
normativo.
Como j observamos, no entanto, nada impede que, para incrementar a compreenso
do sentido legislado, o intrprete agregue s notas da hiptese um critrio pessoal. Isto, porm, no
justifica a presena de um critrio pessoal na hiptese de incidncia, porque tais notas podem ser
tomadas como outra descrio hipottica.
Um exemplo esclarece melhor o que queremos dizer: nos crimes prprios (como o
caso do peculato art. 312 do Cdigo Penal
327
), cujo fato delituoso deve ser realizado por agente
administrativo, vislumbramos na hiptese normativa a descrio de dois fatos ligados
conjuntivamente: [(H1 cm: aproveitar-se de dinheiro pblico, em proveito prprio ou alheio, que
tenha posse em razo do cargo. H2 cm: ser funcionrio pblico; ct: no momento do
aproveitamento) C o cumprimento da pena de recluso de x a y anos em favor do Estado].
Outra soluo simplesmente ignorar a nota pessoal na construo da hiptese e utiliz-la apenas para
delimitao do critrio pessoal do conseqente, pois o tipo-penal j tem como complemento a
expresso em razo do cargo visto que a norma deve sempre ser considerada na sua integridade
326
GERALDO ATALIBA, Hiptese de incidncia tributria, p. 80. LUIZ CESAR SOUZA DE QUEIROZ, Regra matriz
de incidncia tributria in Curso de especializao em direito tributrio: estudos analticos em homenagem a Paulo de
Barros Carvalho, p. 242-245.
327
Art. 312. Aproveitar-se o funcionrio pblico de dinheiro, valor, ou qualquer bem mvel, pblico ou particular, de que
tenha a posse em razo do cargo, ou desvi-lo, em proveito prprio ou alheio: Pena recluso de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
293
conceitual: (qualquer pessoa pode realizar o fato descrito em H1, mas s o funcionrio pblico poder
figurar no plo passivo da relao penal como as demais pessoas no estaro sujeitas conseqncia
jurdica, no realizaro fato jurdico penal). Por esta razo, afastamos a necessidade de um critrio
pessoal compor a hiptese normativa, dado sua dispensabilidade, quando trabalhamos a RMI com o
contedo mnimo necessrio da mensagem prescritiva.
2.2. Critrio espacial
Critrio espacial a expresso, ou enunciado, da hiptese que delimita o local em
que o evento, a ser promovido categoria de fato jurdico, deve ocorrer.
Chegamos a ele isolando as proposies delineadoras do ncleo do acontecimento e
suas coordenadas de tempo, por meio do mesmo processo de abstrao pelo qual delineamos o critrio
material.
Em alguns casos identificamos as diretrizes de espao com grande facilidade, de
modo que elas nos parecem expressas nos textos. Noutros casos, no as encontramos de pronto, mas,
por sabermos que todo acontecimento pressupe uma coordenada espacial, construmos tal informao
a partir de indcios deixados pelo legislador, de modo que ela nos aparece como implcita nos textos
jurdicos.
O fato que, expressa ou implicitamente haver sempre, na linguagem jurdica, um
grupo de indicaes para assinalar o local preciso em que o direito considera acabada a ao (ou
estado) tomada como ncleo da hiptese normativa. Em alguns casos, o legislador a oferece de forma
aprimorada; noutros, j no demonstra tanto cuidado, dando maior liberdade ao intrprete na
construo do critrio espacial
328
.
PAULO DE BARROS CARVALHO, reportando-se definio do local do fato
tributrio, verificou nveis diferentes de elaborao das coordenadas de espao, que podem ser
consideradas tambm em termos gerais. Seguindo os ensinamentos do autor, podemos dividir o critrio
328
Nos dizeres de PAULO DE BARROS CARVALHO: H regras jurdicas que trazem expressos os locais em que o fato
deve ocorrer, a fim de que irradie os efeitos que lhe so caractersticos. Outras, porm, nada mencionam, carregando
implcitos os indcios que nos permitem saber onde nasceu o lao obrigacional. uma opo do legislador. Aquilo que de
real encontramos, no plano do direito positivo brasileiro, uma dose maior ou menor de esmero na composio dos
critrios espaciais, de tal modo que alguns so elaborados com mais cuidado que outros. Todavia, ainda que aparentemente,
pensamos ter o poltico se esquecido de mencion-lo, haver sempre um plexo de indicaes, mesmo que tcitas e latentes,
para assinalar o lugar preciso em que aconteceu aquela ao, tomada como ncleo do suposto normativo. (Curso de direito
tributrio, p. 255)
294
espacial em: (i) pontual quando faz meno a determinado local para a ocorrncia do fato; (ii)
regional quando alude a reas especficas, de tal sorte que o acontecimento apenas ocorrer se dentro
delas estiver geograficamente contido; (iii) territorial bem genrico, onde todo e qualquer fato, que
suceda sob o mato da vigncia territorial da lei, estar apto a desencadear seus efeitos peculiares
329
.
No primeiro caso, as informaes de espao contidas na hiptese normativa apontam
para locais especficos, de modo que o acontecimento apenas se produz em pontos predeterminados e
de nmero reduzido. Em matria tributria, o autor oferece-nos o exemplo do imposto de importao,
em que o acontecimento tributvel (importar mercadoria) se consuma nas reparties alfandegrias,
localidades habilitadas a receber os bens importados. Fora do mbito tributrio, podemos citar como
exemplo, as hipteses de: estacionar veculo em local proibido; de apresentar-se no aeroporto trinta
minutos antes do embarque; efetuar o depsito no banco X, etc. Todos estes fatos se do em pontos
determinados e de nmero reduzido, (levando-se em conta o espao e mbito territorial da lei), o que
nos reporta a critrios espaciais bem elaborados, que selecionam lugares exclusivos e no demarcaes
geogrficas.
Pode ser, no entanto, que o ente poltico, ao estabelecer as diretrizes do local de
ocorrncia do fato jurdico no indique um ponto especfico, mas aponte para certa regio ou intervalo
territorial, dentro do qual, em qualquer de seus pontos, pode efetivar-se o evento. Estamos, aqui, diante
do segundo caso em que o critrio espacial alude a reas especficas, de tal sorte que o acontecimento
apenas ocorrer se dentro delas estiver geograficamente contido. Os dados definidores deste tipo de
critrio espacial so menos minuciosos em relao queles que apontam para um local exclusivo, mas
ainda se nota certo grau de determinao no esforo elaborativo do legislador, no que tange ao fator
condicionante de espao.
Como exemplo, na seara do direito tributrio, PAULO DE BARROS CARVALHO
cita o IPTU (imposto sobre a propriedade territorial urbana), em que so alcanados pela incidncia da
norma apenas os bens imveis situados nos limites do permetro urbano municipal. Neste caso, no h
necessidade do imvel estar situado num determinado ponto (ex: na rua x ou na avenida y), pois o
critrio espacial no contempla tal singularidade. O que importa juridicamente no so pontos
isolados, mas se tais pontos encontram-se dentro da rea delimitada (se a rua x ou a avenida y
pertencem ao permetro urbano municipal). Saindo do campo do direito tributrio podemos citar como
329
Curso de direito tributrio, p. 255-256.
295
exemplo, as normas ambientais que tomam como hiptese a realizao de certas aes em reas de
preservao, para o ensejo de sanes.
H circunstncias, porm, que a definio das coordenadas de tempo do fato bem
ampla, abrangendo todo o mbito territorial de vigncia da norma. Temos, ento, o terceiro caso: um
critrio espacial bem genrico, onde todo e qualquer acontecimento, que suceda sob o manto da
vigncia territorial da lei estar apto a desencadear seus efeitos peculiares. As diretrizes deste tipo de
critrio espacial so mais abrangentes se comparado com as que apontam para uma regio especfica
(segundo tipo) ou com as que assinalam um local determinado (primeiro tipo), o que demonstra menor
participao elaborativa do legislador.
Considera-se campo territorial de vigncia, o permetro espacial dentro do qual as
regras esto aptas a propagarem efeitos jurdicos. As leis municipais, por exemplo, s produzem
efeitos dentro dos limites do Municpio que as criou, assim como as leis estaduais s tm vigncia
dentro do territrio de cada estado, as leis federais s produzem efeitos dentro do territrio nacional e
as normas internas de uma empresa s valem para aquela empresa, ou seja, s esto aptas a produzirem
efeitos dentro do seu espao geogrfico, que constitui o campo territorial de sua vigncia.
Neste caso (iii), o legislador faz com que o critrio espacial aponte para a mesma
demarcao territorial do campo de vigncia da norma. Importante ressaltar, no entanto, que uma coisa
a delimitao feita pelo critrio espacial, enquanto enunciado indicativo do local em que fato a ser
promovido categoria de fato jurdico deve ocorrer, outra coisa o mbito espacial de vigncia da
norma, como a delimitao territorial onde a regra est apta a produzir efeitos jurdicos.
Como exemplo, no mbito tributrio, PAULO DE BARROS CARVALHO cita o IPI
(imposto sobre produtos industrializados) e o ICMS (imposto sobre operaes de circulao de
mercadorias), cujas regras incidem, respectivamente, sobre os fatos de industrializar produtos em
qualquer lugar do territrio nacional e de realizar operao de circulao de mercadoria em qualquer
lugar do territrio estadual. Em ambos os casos a delimitao traada pelas diretrizes do critrio
espacial se confunde com o campo territorial de vigncia das normas. Fora do ncleo tributrio,
podemos citar como exemplo as regras que prescrevem as formalidades necessrias para abertura de
empresa no territrio nacional, as que dispem sobre direitos e garantias fundamentais, etc.
Quanto determinao do critrio espacial, alm dos trs tipos enumerados acima,
h circunstncias em que o legislador to abrangente que ultrapassa os limites territoriais de vigncia
296
da norma. Teramos, ento, uma quarta hiptese: (iv) o critrio espacial universal, que alude a qualquer
lugar, mesmo que fora do mbito territorial em que a regra est apta a produzir efeitos jurdicos.
Na esfera tributria, o caso, por exemplo, do IR, que alcana, no s os
acontecimentos verificados no territrio nacional, mas tambm eventos ocorridos alm de nossas
fronteiras. Se algum residente brasileiro auferir renda em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja na
China, estar sujeito ao pagamento do tributo no Brasil, a territorialidade, nestes casos, no ser
definida pelo critrio espacial (da hiptese normativa), mas pelo critrio pessoal (do conseqente
normativo), mais especificamente pelo sujeito passivo (o fato de auferir renda pode ocorrer em
qualquer lugar, mas s figurar no plo passivo da relao tributria o residente). o critrio espacial
universal que possibilita a aplicao da lei brasileira a fatos ocorridos no exterior, ou a lei de um
determinado estado ou municpio alcanar eventos verificados em outro.
A despeito disso, pode-se perceber, ainda mais claramente, que a delimitao do
local do fato contida na hiptese e o campo de vigncia da norma so entidades ontologicamente
distintas, apesar de freqentemente, por opo legislativa, encontrarmos o critrio espacial identificado
como o prprio plano de vigncia territorial da norma. Alis, este justamente o motivo, de muitos
autores terem dificuldade de vislumbrar um critrio espacial universal, eles acabam associando-o ao
mbito de vigncia das leis.
Mas, voltando a nossa classificao quanto aos diferentes graus de determinao das
diretrizes de espao contidas na hiptese normativa, o grfico abaixo nos d uma idia melhor:
297
Identificamos aqui, claramente, os quatro tipos de critrios espaciais: (i) pontual, que
indica um local determinado, exclusivo e de nmero limitado; (ii) regional, que assinala uma rea
especfica, ou uma regio; (iii) territorial, que identifica o prprio campo de vigncia da norma; (iv)
universal, que demarca uma rea mais abrangente do que o campo de vigncia da norma.
Se considerarmos as normas federais, temos um critrio espacial determinado (i),
quando ele nos remete a pontos exclusivos do territrio nacional (no grfico representado pelos pontos
pretos). No to determinado o ser quando assinalar uma rea especfica (ii), localizada dentro do
mbito de vigncia da lei (no grfico representado pela demarcao rosada). Menos determinado ainda
o critrio espacial identificado como o prprio plano de vigncia territorial da lei (iii), ou seja,
qualquer lugar do territrio nacional (no grfico representado pela demarcao azul). E nem um pouco
determinado, o que significa bem amplo, o critrio espacial universal (iv), que ultrapassa os limites
do territrio brasileiro, mbito espacial de vigncia de lei e alcana fatos ocorridos em qualquer
localidade do mundo (no grfico representado pela demarcao acinzentada).
Considerando normas estaduais: o critrio espacial determinado (i) nos remete a
pontos especficos dentro do Estado; o critrio espacial que assinala uma rea (ii), aponta para uma
regio determinada dentro do territrio estadual; o critrio espacial genrico (iii) coincide com o
mbito de vigncia territorial da norma, ou seja, os limites geogrficos do Estado; e o critrio espacial
universal (iv) nos remete a qualquer lugar, dentro ou fora da demarcao do territrio estadual. O
mesmo se observa com normas municipais: o critrio espacial determinado (i) nos remete a pontos
especficos dentro do Municpio; o critrio espacial que assinala uma rea (ii), aponta para uma regio
determinada dentro do territrio municipal; o critrio espacial genrico (iii) coincide com o mbito de
vigncia territorial da norma, ou seja, os limites geogrficos do Municpio; e o critrio espacial
universal (iv) nos remete a qualquer lugar, dentro ou fora da demarcao do territrio municipal
330
.
Tal classificao permite-nos estabelecer uma relao entre o campo de vigncia
territorial da norma e o local de ocorrncia do fato previsto em sua hiptese, o que demonstra, com
transparncia, serem o critrio espacial e o campo de vigncia da norma entidades diferentes.
330
Em matria tributria, h uma grande discusso sobre o critrio espacial do ISS, muitos autores sustentam a
inconstitucionalidade da cobrana do tributo pelo Municpio do local do estabelecimento comercial (LC 116/03), quando a
efetiva prestao do servio (fato jurdico tributrio) se d em outro municpio, sob o fundamento da extraterritorialidade da
lei municipal, que alcana e atribui efeitos a fatos ocorridos fora dos limites geogrficos do territrio municipal. Cremos ser
este um caso tpico de critrio espacial universal (assim como temos no IR) e de confuso doutrinria entre o critrio
espacial e o mbito de vigncia territorial da norma. No se configura, a nosso ver, extraterritorialidade da lei, mesmo que o
fato tributrio se d em outro municpio (devido o critrio espacial ser universal), o critrio pessoal garante a produo de
efeitos jurdicos apenas dentro do mbito municipal.
298
2.3. Critrio Temporal
Critrio temporal o feixe de informaes contidas na hiptese normativa que nos
permite identificar, com exatido, o momento de ocorrncia do evento a ser promovido categoria de
fato jurdico.
Assim como acontece com o critrio espacial, s vezes as diretrizes que informam o
critrio temporal parecem explcitas no texto normativo, quando de imediato as identificamos nos
enunciados prescritivos que compem o plano de expresso do direito, outras vezes parecem
implcitas, quando o trabalho interpretativo mais rduo. Mas, explcita ou implicitamente (guardando
aqui as ressalvas ao modelo terico adotado), haver sempre na linguagem jurdica, um grupo de
informaes que precise o momento em que se considera ocorrida a ao (ou estado), tomada como
ncleo da hiptese normativa, caso contrrio, impossvel a identificao do fato.
Para comprovar tal afirmao pensemos numa ao: andar, e logo vem a pergunta:
Em que preciso momento o homem realiza a ao de andar? No instante em que levanta um dos ps?
No timo em que seu p avana, no ar, em relao ao outro? No momento em que ele o encosta no
cho? Ou quando levanta o outro p em rumo a mais um passo? Para identificarmos o fato de um
homem ter andado precisamos saber em que instante considera-se realizada a ao de andar, sem esta
especificao temporal, no se pode dizer se ele a realizou ou no.
Toda ao, por mais simples que possa parecer, pressupe uma srie de atos, e por
isso, pode ser desmembrada cronologicamente em vrias outras aes ou, se preferirmos, em fatores de
uma ao mais complexa.
Em razo disso, o legislador, para demarcar na linha do tempo a realizao da ao
(ou estado), muitas vezes seleciona um marco temporal (ex. o ltimo dia de cada ano, trinta dias aps a
notificao, no vigsimo dia de cada ms); outras vezes, escolhe um dos fatores da ao, para
demarcar sua realizao no tempo.
Quando o legislador elege como critrio temporal um fator da ao, temos que tomar
cuidado para no confundi-lo com o critrio material, ou seja, equiparar a indicao do fator da ao
utilizado para demarcar sua realizao jurdica no tempo com a sinalizao da ao em si, que se
apresenta mais complexa e sucessiva no tempo.
299
Voltemo-nos, por exemplo, norma de homicdio: o critrio material, como j
vimos, sinaliza para a situao de matar algum, mas em que momento o direito considera praticado o
fato de matar? A resposta a esta pergunta e o contedo do critrio temporal da norma, encontramos no
art. 4 do Cdigo Penal considera-se praticado o crime no momento da ao ou omisso, ainda que
outro seja o momento do resultado. Nota-se que a legislao penal escolheu o instante do fator (ao)
contra a pessoa, como o marco temporal em que se considera realizado o fato criminoso, para fins de
aplicao da norma penal
331
. Este marco imposto pelo legislador e indispensvel para determinar
temporalmente quais normas incidem sobre o acontecimento. Porm, ele apenas um dos elementos
do fato, isto quer dizer que, mesmo quando verificado cronologicamente o fator tomado como critrio
temporal (ao contra a pessoa), o acontecimento s se aperfeioa quando todos os fatores da ao
(mais complexa) forem apurados, ou seja, quando tambm verificado o resultado (morte), pois s
assim todos os critrios da hiptese se encontraro devidamente denotados
332
.
A separao entre os critrios material e temporal, quando este fixa um fator da ao,
to sutil que at mesmo o legislador s vezes se confunde, definindo como hiptese normativa o que,
na verdade, estabelece como critrio temporal.
PAULO DE BARROS CARVALHO coleciona, na esfera tributria, uma srie de
exemplos deste equvoco
333
, demonstrando uma tendncia do legislador neste sentido. Reportemo-nos
a alguns deles:
Para definir a hiptese de incidncia dos impostos de importao (II), exportao
(IE), sobre produtos industrializados (IPI) o Cdigo Tributrio Nacional dispe: art. 19. O imposto, de
competncia da Unio, sobre importao de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada
destes no territrio nacional; art. 23. O imposto, de competncia da Unio, sobre a exportao,
para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a sada deste do
territrio nacional; art. 46. O imposto, de competncia da Unio, sobre produtos industrializados tem
como fato gerador: I seu desembarao aduaneiro, quando de procedncia estrangeira; II a sua
sada dos estabelecimentos a que se refere o pargrafo nico do art. 51; III a sua arrematao,
quando apreendido ou abandonado e levado a leilo (grifamos).
331
Segundo os criminalistas, existem trs teorias para determinao do momento do crime: a) da atividade: o momento em
que realizada a ao ou omisso; b) do resultado: o momento em que se deu o resultado; c) mista, tanto o momento da
ao, ou omisso, como o do resultado. A legislao brasileira escolhe a da atividade.
332
Com base nesta diferena, os criminalistas separam o momento da prtica do crime (para ns apontado pelo critrio
temporal da norma) com o momento de sua consumao (instante em que todos os critrios da hiptese so denotados
empiricamente).
333
Curso de direito tributrio, p. 260.
300
O que o legislador faz definir o critrio temporal como se estivesse delineando a
hiptese de incidncia de cada um destes tributos. Observando os enunciados, nota-se que os dados
sublinhados apontam para o momento em que o direito considera realizado o fato jurdico tributrio e
no para a ao ncleo do acontecimento (II importao de produtos estrangeiros; IE
exportao, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados; IPI industrializao
de produtos). Nas palavras do autor: A pretexto de mencionarem o fato, separam um instante, ainda
que o momento escolhido se contenha na prpria exteriorizao da ocorrncia. No passa, contudo, de
uma unidade de tempo, que se manifesta, ora pela entrada de produto estrangeiro no territrio nacional
(Imposto de Importao), ora pela sada (Imposto de Exportao); j pelo desembarao aduaneiro, j
por deixar o produto industrializado o estabelecimento industrial ou equiparado, ou pelo ato de
arrematao, tratando-se daqueles apreendidos ou abandonados e levados a leilo (IPI)
334
.
Importante ter em mente que o critrio temporal fixa o instante em que o direito
considera realizado o fato a ser promovido categoria de jurdico. Este momento, no precisa
necessariamente coincidir com aquele fixado por outros sistemas, podendo inclusive ser diferente
dentro do prprio sistema jurdico (de norma para norma), pois, como j vimos, o direito cria suas
prprias realidades.
Para elucidar tal afirmao, vejamos alguns exemplos: o fato de matar algum para o
sistema social ocorre com a morte da pessoa, para o sistema jurdico penal com a prtica da ao
contra a pessoa; o fato da importao de mercadoria que, para o direito tributrio ocorre com o
desembarao aduaneiro, para o direito comercial com a assinatura do contrato de importao e para o
direito martimo quando o navio transpe a fronteira brasileira. Nota-se que legislador seleciona a ao
(ou estado) qual deseja imputar efeitos jurdicos e escolhe o momento em que o sistema, ou seus sub-
sistemas a reconhecer como ocorrida, para poder, efetivamente, constituir tais efeitos.
At pouco tempo, acreditava-se que o critrio temporal demarcava o instante de
nascimento do vnculo jurdico
335
. Tal entendimento, no entanto, no se enquadra ao sistema de
referncia com o qual trabalhamos. O critrio temporal, assim como toda delimitao da hiptese,
aponta para a realidade social, com a funo de identificar o exato momento em que o sistema jurdico
considera ocorrido o fato a ser promovido categoria de jurdico, mas enquanto este fato no for
vertido na linguagem prpria do sistema, nenhum efeito de ordem jurdica gerado, apenas social.
334
PAULO DE BARROS CARVALHO, Curso de direito tributrio, p. 261.
335
Como prope EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI em Lanamento tributrio, p. 178, com base nas lies de
PONTES DE MIRANDA e LOURIVAL VILANOVA.
301
Neste sentido, o critrio temporal no aponta para o momento em que se instaura o liame jurdico, mas
para o instante em que se considera consumado o acontecimento a ser promovido categoria de fato
jurdico, afim de que se possa identificar a norma a ser aplicada.
Aproveitamos, aqui, a oportunidade para identificar as duas funes do critrio
temporal: (i) uma direta, que identificar, com exatido o preciso momento em que acontece o evento
relevante para o direito; (ii) outra indireta, que , a partir da identificao do momento de ocorrncia
do evento, determinar as regras vigentes a serem aplicadas.
Diferente do critrio espacial, que apresenta vrios nveis de determinao, o critrio
temporal indica sempre um ponto na linha cronolgica do tempo e no um perodo determinado, ou o
tempo de vigncia da norma. com base nesta constatao que PAULO DE BARROS CARVALHO
crtica a classificao dos fatos geradores tributrios em: (i) instantneos; (ii) continuados; e (iii)
complexivos
336
, que se diz fundada nas variaes imprimidas pelo legislador na construo do critrio
temporal das hipteses, mas que, na verdade, no passa de uma confuso de planos, onde se abandona
a frmula lingstica da hiptese para se analisar a contextura real do evento
337
.
Aplicada teoria geral do direito, esta classificao tambm logo seduz: (i)
instantneos seriam os fatos que se esgotam em determinada unidade de tempo (ex: nascer, morrer,
furtar, contratar, etc.); (ii) continuados configurariam situaes duradouras (ex: ser proprietrio de
imvel, ser brasileiro nato, estar casado, ser pai, ser maior de 60 anos, etc.); e (iii) complexivos seriam
aqueles cujo processo de formao tivesse implemento com o transcurso do tempo (ex: auferir renda;
fraudar credores, abrir empresa, etc.).
No entanto, como todo fato, enquanto enunciado lingstico, acontece em certa
condio de espao e em determinado instante, mais do que inadequado incoerente aceitar qualquer
outro fato que no seja instantneo.
Reportando-nos aos ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO: O
acontecimento s ganha proporo para gerar o efeito da prestao fiscal, mesmo que composto por
mil outros fatores que se devam conjugar, no instante em que todos estiverem concretizados e
relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso acontece num determinado momento, num
336
Proposta por AMLCAR DE ARAJO FALCO, baseado nas lies de A. D. GIANNINI, E. VANONI E WILHEM
MERK
337
Curso de direito tributrio, p. 262-267.
302
especial marco de tempo
338
. Mesmo que a ao pressuponha uma srie de fatores, ou se configure
num estado permanente, o critrio temporal, enquanto componente da hiptese, demarca o instante em
que esta srie se completa, ou em que se configura o estado permanente, por isso, independentemente
das caractersticas do evento, o fato necessariamente assinala um ponto preciso na linha cronolgica do
tempo.
3. CRITRIOS DO CONSEQENTE
Se, enquanto na hiptese, o legislador se esfora para enunciar os critrios que
identifiquem um fato, no conseqente ele seleciona as notas que devem ter as relaes intersubjetivas a
serem instauradas com a verificao do fato jurdico, indicando os elementos deste vnculo. Assim, a
funo do conseqente definir os critrios (conotao) do vnculo jurdico a ser interposto entre duas
ou mais pessoas, em razo da ocorrncia do fato jurdico.
Do mesmo modo que a hiptese, o enunciado do conseqente da regra matriz de
incidncia elaborado com status de indeterminao, ou seja, ele delimita um conceito abstrato, que
comporta um nmero finito, mas no determinado, de denotaes. Nestes termos, ele no contm a
relao jurdica, prescreve um comportamento relacional a ser instaurado quando da ocorrncia do
fato.
Por prescrever um comportamento relacional que vincula dois ou mais sujeitos em
torno de uma prestao (S R S), o conceito do conseqente da regra matriz de incidncia deve
identificar os elementos desta relao, quais sejam: sujeitos (ativo e passivo) e o objeto da prestao,
pois sob esta forma, instituindo vnculos relacionais entre sujeitos no qual emergem direitos e
deveres correlatos, que a linguagem do direito realiza sua funo disciplinadora de condutas
intersubjetivas.
Assim, falamos: (i) num critrio pessoal; e (ii) num critrio prestacional, como
componentes lgicos do conseqente da regra matriz de incidncia.
Tais critrios configuram a informao mnima necessria para a identificao do
vnculo jurdico a ser instaurado com a verificao do fato descrito na hiptese. Nada impede, porm,
que o legislador indique mais propriedades da relao, como por exemplo, o tempo e o local de sua
constituio ou cumprimento, e que o intrprete os utilize na conformao da proposio conseqente
338
Curso de direito tributrio, p. 265.
303
de sua regra. No entanto, j no estaremos mais falando do contedo mnimo necessrio para a
compreenso da mensagem dentica.
Alguns autores sustentem a necessidade de critrios temporal e espacial no
conseqente normativo, identificativos do momento e local em que a prescrio deve ser adimplida
339
,
o que para ns parece, alm de imprprio, desnecessrio.
O cumprir ou no-cumprir a prestao um acontecimento delimitado no tempo e
espao que o legislador toma como relevante ao atribuir-lhe certos efeitos jurdicos e que pressupe a
existncia de uma relao jurdica constituda. As coordenadas de tempo e espao que identificam este
fato, no se encontram no conseqente normativo que institui a relao, elas se posicionam
sintaticamente no antecedente de outra regra matriz de incidncia (por ns classificada de norma
derivada no captulo anterior), que prescreve uma relao jurdica em razo da observncia ou no de
uma conduta instituda em outra regra que a pressupe. Seria uma repetio, sem sentido, a
necessidade de tais coordenadas na proposio conseqente, quando j presentes em outra regra (se o
direito tomar como relevante o fato do cumprimento ou descumprimento da conduta prescrita). Sob
este argumento afastamos a presena de critrios espacial e temporal no conseqente normativo.
Feitas tais consideraes, voltamos nossa ateno aos dois critrios do conseqente
de forma mais detalhada.
3.1. Critrio pessoal sujeitos ativo e passivo
Critrio pessoal o feixe de informaes contidas no conseqente normativo que nos
permite identificar, com exatido, os sujeitos da relao jurdica a ser instaurada quando da
constituio do fato jurdico.
Como o nico meio de que dispe o sistema para prescrever condutas
estabelecendo relaes entre sujeitos em torno de um objeto, as informaes pessoais contidas no
conseqente so imprescindveis. Pensemos em qualquer comportamento que o direito regula e
imediatamente nos vem a pergunta: Quem deve realiz-lo? Em favor de quem? A funo do critrio
pessoal na regra matriz de incidncia , justamente, de apontar quem so os sujeitos do vnculo.
339
LUS CESAR SOUZA DE QUEIROZ, A regra-matriz de incidncia tributria, in Curso de especializao em direito
tributrio, p. 223.
304
As informaes, presentes no texto legislado, que identificam o indivduo a quem
conferido o direito de exigir o cumprimento da conduta prescrita (titular do direito subjetivo), aquele
em favor de quem se deve realizar a conduta, so utilizadas na composio da posio sinttica de
sujeito ativo do conseqente normativo. J as notas, que nos remetem ao individuo a quem conferido
o dever de realiz-la (portador do dever jurdico), so utilizadas na composio do sujeito passivo.
Em algumas ocasies verificamos um maior detalhamento por parte do legislador, ao
definir os sujeitos da relao, no s apontando para indivduos que realizam ou participam do evento,
como tambm exigindo que tais indivduos apresentem certas caractersticas.
Isto pode ser observado, por exemplo, na delimitao do critrio pessoal das normas
penais especiais (em termos gerais), onde o legislador elege, para configurar no plo passivo da
relao jurdica penal, quem de qualquer modo concorrer para a realizao do fato descrito na
hiptese art. 29 do Cdigo Penal, mas exige tambm que esta pessoa seja mentalmente capaz e
maior de 18 anos arts. 26 e 27 do mesmo diploma. Tais informaes, conotativas de caractersticas
do sujeito compem o critrio pessoal da norma, mais especificamente a posio sinttica de sujeito
passivo.
Aqui, percebemos a utilidade da classificao das proposies (exposta no captulo
anterior), pois, o intrprete deve estar atento em identificar todas as significaes referentes aos
sujeitos, para construir a delimitao do critrio pessoal com segurana.
Um dos requisitos na escolha das diretrizes pessoais das normas jurdicas gerais e
abstratas que as notas identificativas dos sujeitos ativo e passivo devem apontar para pessoas
diferentes, pois, como j frisamos em captulos anteriores, a linguagem jurdica no regula a conduta
de um indivduo para com ele mesmo.
Outro requisito que o legislador deve escolher, dentre uma infinidade de sujeitos,
pelo menos um, que participa ou guarda alguma relao com o acontecimento descrito na hiptese,
para implementar a causalidade entre o fato e a conseqncia jurdica a ele imposta.
Para colecionar alguns exemplos citamos: (i) a norma de indenizao, em que as
notas do critrio pessoal indicam como sujeito ativo (titular do direito subjetivo indenizao) aquele
que sofreu o dano e como sujeito passivo (detentor do dever jurdico de pagar a indenizao) aquele
que o causou; (ii) a norma do direito vida, em que as notas do critrio pessoal apontam como sujeito
305
ativo (titular do direito subjetivo vida) aquele que nasceu com vida e como sujeito passivo (detentor
do dever jurdico de respeitar a vida de outrem) todos os membros da comunidade; (iii) as normas
penais especiais, em que as notas do critrio pessoal apontam como sujeito passivo (possuidor do
dever de cumprir a pena) aquele que realizou ou concorreu para a realizao do fato-crime e como
sujeito ativo (portador do direito subjetivo ao cumprimento da pena) o Estado (representando todos os
membros da sociedade); etc.
Em todas as normas verificamos a implementao desta necessidade: pelo menos um
dos sujeitos da relao deve guardar algum vnculo com o fato que juridicamente lhe d causa. Isto no
significa, contudo, que a pessoa escolhida para figurar num dos plos da relao seja necessariamente
aquela que realiza o fato descrito na hiptese normativa.
Neste sentido, PAULO DE BARROS CARVALHO distingue, na esfera tributria, a
capacidade para realizar o fato jurdico da capacidade para ser sujeito passivo, que pressupe
personalidade jurdica. Nas palavras do autor, uma coisa a aptido para concretizar o xito
abstratamente descrito no texto normativo, outra integrar o liame que se instaura no preciso instante
em que se adquire propores concretas o fato previsto no suposto da regra
340
.
Tal distino perfeitamente aplicvel em termos genricos. Podemos observ-la
inclusive no exemplo dado acima, da norma penal, onde qualquer pessoa tem aptido para realizar os
fatos-crimes (roubar, matar, ameaar, lesionar, fraudar, etc.), mas nem todas tm aptido para ser
sujeito passivo da relao penal, apenas as mentalmente capazes e maiores de 18 anos. Isto mostra um
recorte especfico, efetuado pelo legislador na delimitao do critrio pessoal, que no engloba,
necessariamente, todas as pessoas que realizam o evento tipificado juridicamente.
Ainda com relao s diretrizes pessoais eleitas pelo legislador para identificao dos
sujeitos do vnculo jurdico, estas podem ser mais genricas ou mais especficas, de modo que
podemos classific-las, levando em conta seu grau de individualizao, em: (i) individuais, que
apontam para um nico sujeito no plo ativo ou no plo passivo (ex: Francisco e Marcos); (ii)
genricas, que delimitam um conjunto de pessoas a ocuparem a posio de sujeito ativo ou passivo da
relao (ex: o proprietrio de veculo auto-motor; o comprador de mercadoria; o ru revel; o
340
Curso de direito tributrio, p. 305 Segundo o autor: o sujeito capaz de realizar o fato jurdico tributrio, ou dele
participar, pode, perfeitamente, no ter personalidade jurdica de direito privado, contudo, o sujeito passivo da obrigao
tributria, haver de t-lo, impreterivelmente (p. 309).
306
trabalhador rural; etc.); (iii) coletivas, que assinalam para todos os membros de uma comunidade (ex:
todos) conforme podemos identificar no grfico abaixo.
A tendncia das notas genricas ou coletivas irem se individualizando, na medida
em que a linguagem do direito se aproxima da linguagem da realidade social, o que se verifica com a
aplicao.
Um exemplo esclarece tal afirmao: imaginemos a norma do direito integridade
fsica se algum nascer com vida, todos os membros da coletividade devem respeitar o direito
integridade fsica desta pessoa (aqui o plo passivo aponta para todos os membros da coletividade e o
ativo para uma pessoa especfica), com a aplicao da regra temos dado o fato de Maria ter nascido
com vida, todos devem respeitar seu direito integridade fsica (enunciado denotativo, o plo ativo
est individualizado, mas o passivo ainda aponta para todos os membros da coletividade trata-se de
norma geral e concreta). Se, no entanto, algum desrespeitar o direito integridade fsica de Maria,
esta pessoa deve cumprir uma pena. Temos, ento, uma total individualizao: dado o fato de
Alvira, que tinha o dever jurdico de respeitar a integridade fsica de Maria, t-la desrespeitado, ela
(Alvira) deve cumprir pena de x anos de priso em favor do Estado (aqui, tanto plo passivo como o
ativo aparecem individualizados dizemos que a norma individual e concreta). Isto se justifica pela
coercitividade do sistema, que s se concretiza individualmente.
Como a regra matriz uma norma padro de incidncia, ou seja, um modelo
aplicvel a casos concretos, dificilmente encontraremos em seus enunciados notas pessoais de carter
to genrico, que apontem para todos os membros da coletividade. Encontramos sim, uma demarcao
geral, delimitadora de uma classe, mas que concretamente assinala sujeitos especficos (ex: todos
aqueles que auferirem renda, todos aqueles que causarem danos, todos aqueles que foram lesados;
Sa Sp
...
...
...
...
307
todos os scios da empresa x, etc.), de modo que, se um sujeito se enquadrar no conceito da classe,
far parte da relao jurdica a ser instituda. (ex: Fernando, que auferiu renda; Artur que causou o
dano, Andr, que foi lesado; Fbio, que scio da empresa x; etc.).
Importante lembrar que o conceito pessoal do conseqente da regra-matriz
conotativo, ou seja, nele encontramos um feixe de informaes que delimita uma classe na qual se
enquadra inmeros indivduos, a serem identificados somente com a ocorrncia do fato descrito na
hiptese (ex: o proprietrio do imvel, o causador do dano, os scios da empresa, aquele que realizou
ou concorreu para a realizao do fato-crime, etc.). Isto porque, a regra-matriz, enquanto norma geral e
abstrata, construda como modelo para a produo de normas individuais e concretas, nestas sim os
sujeitos aparecem especificamente identificados (ex: Jos, Joo, Antnio e Joaquim, Felipe, etc.).
Em algumas ocasies, no entanto, podemos encontrar uma parte do critrio pessoal
(sujeito ativo ou passivo) j denotado na prpria regra-matriz, como o caso, por exemplo, do sujeito
ativo tributrio, que a prpria lei (em carter abstrato) prev como sendo a Unio, o Estado x, o
Distrito Federal, ou o Municpio y. Tal procedimento, quando adotado pelo legislador, no
compromete a generalidade da norma. O critrio pessoal continua apresentando-se como um conceito
conotativo, uma vez que o outro plo da relao no se encontra individualizado.
Quanto ao nmero de sujeitos, o legislador pode eleger mais de um indivduo para
compor um dos plos da relao, configurando o que chamamos de responsabilidade solidria
341
.
A solidariedade pode ser: (i) ativa; ou (ii) passiva. Na solidariedade ativa, cada um
dos credores solidrios tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestao por inteiro e o
cumprimento desta a um dos credores solidrios extingue a relao para com os demais. Na
solidariedade passiva cada um dos sujeitos (devedores) fica obrigado ao cumprimento integral da
prestao, podendo, o sujeito ativo (credor), exigi-la de qualquer um, de alguns ou de todos, mas o
cumprimento da prestao por um dos devedores solidrios aproveitado por todos os demais.
Para garantir o adimplemento das relaes jurdicas, ainda que o legislador
estabelea diretrizes para identificar os sujeitos ativos e passivos do vnculo jurdico a ser constitudo
com a verificao do fato, o direito pode prescrever outras regras, responsabilizando subsidiariamente
341
H solidariedade, sempre que na mesma relao jurdica concorrer mais de um sujeito ativo (credor), ou mais de um
sujeito passivo (devedor), cada um com direito ou obrigado totalidade da prestao (art. 264 do Cdigo Civil).
308
outras pessoas, no caso do sujeito passivo no cumprir a prestao a ele imposta, ou no caso do sujeito
ativo no poder receb-la, instituindo aquilo que chamamos de responsabilidade subsidiria.
Citamos aqui o caso do fiador, que responsvel pelo adimplemento da prestao se
o devedor (sujeito passivo) no a cumprir (art. 818 do Cdigo Civil); do pai, que responde pelas
obrigaes em que figura como sujeito passivo o filho menor; o herdeiro, que posto no plo ativo das
relaes em que seu pai era credor e passivo nas que era devedor quando este vem a falecer; etc.
Nestes casos, o responsvel assume o plo passivo ou ativo da relao em detrimento
de outra pessoa em razo de uma previso legal. H uma norma jurdica prescrevendo a sujeio que
s ocorre se verificado o fato que a supe. O fiador, por exemplo, se torna responsvel pelo pagamento
da dvida, se o devedor no a adimplir; o pai responde pelos atos do filho se este for menor de 18 anos;
o herdeiro assume os crditos ou dbitos do pai se este vier a falecer; etc.
Neste sentido, no se justifica a necessidade do sujeito, posto na posio ativa ou
passiva de determinada relao jurdica como responsvel, integrar (direta ou indiretamente) a
ocorrncia tpica que deu causa ao vnculo jurdico no qual figura como responsvel. H necessidade
sim, que guarde alguma relao com o fato que o colocou como responsvel. No caso, por exemplo,
em que o filho menor de 18 anos bate o carro e causa danos ao veculo de outrem, o sujeito passivo da
relao de indenizao seria o filho, mas como ele menor e no se subsome aos critrios eleitos pelo
legislador na configurao do sujeito passivo da relao jurdica de indenizao, o pai ser o
responsvel pelo pagamento em razo da incidncia da norma de responsabilidade. Nota-se que o pai
no participa do fato que gerou a relao de indenizao, mas participa do fato que o colocou como
responsvel
342
.
Seja como for, na conformao das informaes sobre sujeitos, para delinear os
contornos da incidncia, o intrprete deve estar atento a todas estas nuanas do legislador, para poder
apontar, com preciso, quem so as pessoas que ocuparo os plos ativo e passivo da relao jurdica.
3.2. Critrio prestacional
Assim como o critrio material define o ncleo da hiptese de incidncia, o critrio
prestacional demarca o ncleo do conseqente, apontando qual conduta deve ser cumprida pelo sujeito
passivo em favor do sujeito ativo. Considerando-se a forma relacional mediante a qual o direito
342
PAULO DE BARROS CARVALHO, ao tratar da responsabilidade tributria, adota o posicionamento de que as relaes
jurdicas integradas por sujeitos passivos alheios ao fato tributado apresentam a natureza de sanes administrativas. Curso
de direito tributrio, p. 317-318.
309
prescreve as condutas que deseja regular, o critrio prestacional um feixe de informaes que nos diz
qual o dever jurdico do sujeito passivo em relao ao sujeito ativo e qual o direito subjetivo que este
tem em relao quele.
Referimo-nos existncia de um critrio prestacional no conseqente, indicando a
presena de um grupo de informaes obtidas pelo intrprete com a leitura dos textos do direito posto,
que indicam o objeto da relao a ser estabelecida juridicamente com a verificao do fato descrito na
hiptese normativa.
Tal objeto pode ser quantificado ou no. No caso das normas tributrias, que
instituem tributos, por exemplo, o objeto da prestao pecunirio, o contribuinte, posto na posio
sinttica de sujeito passivo, tem o dever jurdico de entregar aos cofres pblicos certa quantia em
dinheiro, determinvel em razo da base de clculo e alquota eleitas pelo legislador. Por isso, que
PAULO DE BARROS CARVALHO refere-se a um critrio quantitativo no conseqente da regra
matriz de incidncia tributria
343
e no a um critrio prestacional.
Em termos gerais, no entanto, no podemos adotar como regra, a presena de um
critrio quantitativo no conseqente das regras matrizes de incidncia, pois nem sempre o objeto da
prestao quantificado pelo legislador. Assim, na generalizao (peculiar teoria geral do direito)
adotamos a presena de um critrio prestacional, responsvel pela indicao do objeto da relao
jurdica a ser instituda com a ocorrncia do acontecimento descrito na hiptese.
Chamamos as informaes que identificam o objeto dos vnculos entre sujeitos a
serem estabelecidos juridicamente de prestacional, no sentido de que tal objeto configura-se numa
conduta (prestao) a ser cumprida por algum (sujeito passivo) em favor de outrem ( sujeito ativo).
Toda conduta prescrita pelo direito demarcada linguisticamente por um verbo (ex:
pagar, privar, emitir, apresentar, tirar, construir) e um complemento (ex: x reais, da liberdade de ir e
vir, nota fiscal, livros contbeis, frias, o imvel x). Assim, igualando-se ao critrio material, o critrio
prestacional contm dois elementos: (i) um verbo, identificativo da conduta a ser realizada por um
sujeito em favor do outro (o fazer, ou no-fazer); e (ii) um complemento, identificativo do objeto desta
conduta (o algo). O verbo aponta para uma ao e o complemento para o objeto desta ao: pagar (v)
343
Curso de direito tributrio, p. 320-337.
310
indenizao (c); pagar (v) tributo (C); entregar (v) imvel (c); prestar (v) declarao (c); respeitar (v)
semforo (c); conceder (v) licena maternidade (c).
Em alguns casos, este complemento quantificado pelo legislador, noutros, apenas
qualificado.
Quando quantificado, alm das notas sobre a ao a ser realizada pelo sujeito passivo
em favor do sujeito ativo (verbo + complemento), encontramos, no texto legislado, diretrizes para
determinar quantitativamente o complemento (ex: 1% do valor do imvel; 10% do valor contratado; a
soma do custo + 40% de lucro; de 10 a 15 anos; etc.), s quais atribumos o nome de critrio
quantitativo.
Quando no quantificado podemos encontrar outras informaes materiais relevantes
para a precisa identificao do objeto da prestao (ex: os dados que caracterizam a declarao, na
norma que obriga sua entrega), s quais atribumos o nome de critrio qualitativo.
A presena de elementos quantitativos no critrio prestacional no indica,
necessariamente, a existncia de uma relao de ndole pecuniria, pois a quantificao pode ser tanto
econmica quanto temporal. Nas normas penais, por exemplo, que fixam penas de deteno ou
recluso, a quantificao temporal, no critrio prestacional desta regras-matrizes vamos encontrar
notas que identificam o tipo da pena qualitativas (restritiva de liberdade) e notas informam o
perodo de tempo a ser cumprido quantitativas (de x a y anos). J nas normas tributrias,
encontramos apenas critrios quantitativos (base de clculo e alquota).
Devido ao fato do direito no regular condutas impossveis e necessrias, as
diretrizes prestacionais, que indicam o ncleo da relao a ser estabelecida juridicamente, devem
apontar para comportamentos possveis e no-necessrios.
Outra imposio de ordem lgico-semntica a preocupao do legislador em
estabelecer uma relao entre o objeto da prestao e o acontecimento descrito na hiptese normativa,
para implementar a causalidade entre o fato e a conseqncia jurdica a ele imposta.
Neste sentido, PAULO DE BARROS CARVALHO, em matria tributria, chama
ateno para uma das funes da base de clculo (elemento do critrio quantitativo da regra-matriz de
incidncia tributria, que combinado com a alquota responsvel pela determinao do valor da
311
prestao): a de medir as propores reais do fato
344
. Segundo o autor, os fatos no so, enquanto tais,
mensurveis na sua integridade, no seu todo. Quando se fala em anunciar a grandeza efetiva do
acontecimento, significa a captao de aspectos inerentes conduta ou ao objeto da conduta que se
aloja no miolo da conjuntura do mundo fsico. E o legislador o faz apanhando as manifestaes
exteriores que pode observar e que, a seu juzo, servem de ndices avaliativos: o valor da operao, o
valor venal, o valor de pauta, o valor de mercado, o peso, a altura, a rea, o volume, enfim, todo e
qualquer padro dimensvel nsito ao ncleo da incidncia.
Nos outros ramos do direito tambm percebemos esta preocupao do legislador em
mensurar, no critrio prestacional, aspectos do fato: no direito penal, por exemplo, o juiz ao fixar a
pena, dentre outras situaes, deve ter em conta a culpabilidade do agente e as circunstncias do crime
(art. 59 do Cdigo Penal); no direito civil, a apurao da multa de mora tem como base a obrigao
no adimplida; no direito do trabalho, o clculo do salrio mensura o trabalho prestado. Assim o em
todos subsistemas jurdicos, de modo que podemos afirmar, em termos gerais, estar a delimitao do
critrio prestacional intimamente relacionado a aspectos do fato descrito na hiptese.
4. A FUNO OPERATIVA DO ESQUEMA LGICO DA REGRA-MATRIZ
Basicamente, duas so as funes operacionais do esquema lgico da regra-matriz:
(i) delimitar o mbito de incidncia normativa; e (ii) controlar a constitucionalidade e legalidade
normativa.
Preenchido o esquema lgico-semntico da regra matriz de incidncia com o
contedo dos textos positivados, o intrprete delimita o campo de extenso dos conceitos conotativos
da hiptese e do conseqente. Ao projetar tais delimitaes na linguagem da realidade social, demarca
a classe dos acontecimentos capacitados a dar ensejo ao nascimento de relaes jurdicas, bem como, o
contedo de tais relaes. O esquema, assim, possibilita ao intrprete determinar o mbito de
incidncia da norma jurdica e identificar com preciso a ocorrncia do fato hipoteticamente previsto e
a relao a ser instaurada juridicamente.
Voltando-nos ao grfico exposto no captulo anterior, podemos observar como o
preenchimento do esquema da regra-matriz (Cm, Ct, Ce, Cp e Cpr), auxilia o intrprete na delimitao
do mbito de incidncia normativa.
344
Cursos de direito tributrio, p. 325.
312
Explicando: saturados de contedo, os critrios material (Cm), temporal (Ct),
espacial (Ce), pessoal (Cp) e prestacional (Cpr) delimitam a classe da hiptese e do conseqente
normativo (no grfico representados pelos crculos contnuos inclusos na figura retangular posicionada
no plano superior dever ser que simboliza uma norma geral e abstrata qualquer N.G.A). Esta
delimitao projetada mentalmente pelo intrprete sobre a linguagem da realidade social (processo
representado no grfico pelas linhas verticais pontilhadas), para demarcao da classe dos
acontecimentos e das relaes sociais juridicamente relevantes (representadas no grfico pelos crculos
pontilhados inclusos na figura retangular posicionada no plano inferior ser). Tal demarcao
permite que o interprete identifique a ocorrncia de um evento nos moldes da hiptese normativa e o
vnculo social a ser instaurado por fora da imposio normativa.
Resumindo, o preenchimento da esquematizao da regra-matriz fornece-nos todas
as informaes para definir os conceitos da hiptese e do conseqente e identificar, com preciso, a
ocorrncia do fato e da relao a ser constituda juridicamente.
Outra funo operacional da regra-matriz, decorrente da primeira, o controle de
constitucionalidade e legalidade normativa. Delimitando o campo de incidncia, a construo da regra-
matriz serve de controle do ato de aplicao que a toma como fundamento jurdico ou do prprio ato
legislativo que a criou.
A norma individual e concreta, produzida pelo aplicador, deve guardar consonncia
com a regra-matriz de incidncia que lhe serve como fundamento. Caso isso no ocorra, o ato pode ser
impugnado. O esquema da regra-matriz funciona como instrumento para detalhamento da
313
fundamentao jurdica do ato de aplicao, possibilitando ao intrprete verificar o devido
enquadramento da norma individual e concreta produzida.
Na mesma medida o esquema til para se apurar a constitucionalidade da prpria
regra-matriz (enquanto norma jurdica). De elevado poder analtico, o preenchimento de sua estrutura
lgica permite esmiuar a linguagem do legislador para averiguar se ela se encontra em consonncia
com as regras jurdicas que a fundamentam.
A figura abaixo ajuda-nos a visualizar tal funo:
Explicando: no ciclo de positivao do direito, a Constituio serve como
fundamentao jurdica para produo das leis e estas como fundamentao jurdica para produo dos
atos administrativos, sentenas, portarias. O legislador interpreta a Constituio (representada pelo
primeiro texto esquerda) e com base nela, produz as leis (representada pelo texto do centro); os
agentes administrativos e os juzes interpretam a lei e com base nela, produzem os atos
administrativos, as sentenas, as portarias, instrues normativas, etc. (representados pelo texto da
direita), de modo que, estes ltimos devem ser produzidos em consonncia com as leis e estas em
consonncia com a Constituio Federal. O esquema da regra-matriz, devidamente preenchido
(construdo na mente do intrprete), com seu forte aparato analtico, serve de instrumento de controle
deste ciclo de positivao, para impugnao tanto da lei que no encontra fundamentao jurdica na
Constituio, quanto dos atos infra-legais que no encontram fundamentao jurdica em lei.
314
4.1. Teoria na prtica
Nada melhor, porm, para demonstrar a operacionalidade da regra-matriz do que
trabalharmos com exemplos de ordem prtica.
Tomemos a lei que institui um tributo qualquer:
O contato imediato do intrprete com o texto bruto, um conjunto de enunciados que
ele passa a ler atentamente para construo de seu sentido. Ao exercer a funo da leitura, o sujeito
cognoscente j tem uma noo de que se trata de um texto prescritivo e ao interpretar, logo comea
organizar suas significaes na forma hipottica-condicional (H C). Assim, no demora muito para
identificar 5 prescries e construir as respectivas normas: (i) uma que institui o tributo se prestar
servio de conservao de imveis, deve ser o pagamento do tributo; (ii) outra que institui o dever de
emitir nota fiscal se prestar servio de conservao de imveis, deve ser a emisso de nota fiscal;
(iii) outra que estabelece uma multa pelo no pagamento do tributo se no pagar o tributo, deve ser
o pagamento da multa; (iv) outra que prescreve uma multa pela no emisso da nota se no emitir
a nota, deve ser o pagamento da multa; e por fim (v) uma dirigida autoridade administrativa que
determina a lavratura do auto de infrao se o contribuinte no destacar a nota, deve ser a
lavratura do auto pelo fiscal.
Prefeitura Municipal de Caxias, Lei Municipal n 2.809, de 10/10/2002
Art. 1 Esta taxa de controle de obras tem como fato gerador a prestao de
servio de conservao de imveis, por empresa ou profissional autnomo, no
territrio municipal
Art. 2 A base de clculo dessa taxa o preo do servio prestado.
1 A alquota de 5%.
Art. 3 Contribuinte o prestador de servio.
Art. 4 D-se a incidncia dessa taxa no momento da concluso efetiva do
servio, devendo, desde logo, ser devidamente destacado o valor na
respectiva NOTA FISCAL DE SERVIOS pelo prestador de servio.
Art. 5 A importncia devida a ttulo de taxa deve ser recolhida at o
dcimo dia til do ms subseqente, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do tributo devido.
Art. 6 Diante do fato de servio prestado sem a emisso da respectiva
NOTA FISCAL DE SERVIOS, a autoridade fiscal competente fica obrigada a
lavrar Auto de Infrao e Imposio de Multa, em decorrncia da no-
observncia dessa obrigao, no valor de 50% do valor da operao efetuada.
315
Tendo em mente o esquema da regra-matriz, o intrprete vai buscando mais
informaes no texto legislado para detalhar os conceitos da hiptese e do conseqente de cada uma
destas normas para, assim, delimitar mais precisamente o mbito de incidncia de cada uma delas.
Temos, ento:
1. Regra matriz de incidncia tributria:
H cm: (v) prestar; (c) servio de conservao de imveis
ce: territrio municipal de Caxias
ct: momento da concluso efetiva do servio.
C cp: (sa) municpio de Caxias; (sp) prestador do servio;
cpr: (v) pagar; (c) tributo de (al 5%; bc do preo do servio prestado)
2. Regra matriz de dever instrumental:
H cm: (v) prestar (c) servio de conservao de imveis
ce: territrio municipal de Caxias
ct: momento da concluso efetiva do servio.
C cp: (sa) municpio de Caxias; (sp) prestador do servio
cpr: (v) destacar; (c) nota fiscal de servio
3. Regra matriz sancionadora do no-pagamento do tributo:
H cm: (v) no pagar (c) a importncia devida a ttulo de taxa
ce: no municpio de Caxias (no especificado pelo legislador no texto de lei)
ct: at o dcimo dia til do ms subseqente.
C cp: (sa) municpio de Caxias; (sp) prestador do servio
cpr: (v) pagar; (c) multa de (al 10%, bc do tributo devido)
4. Regra matriz sancionadora do dever instrumental:
H cm: (v) no destacar (c) a nota fiscal de servio
ce: territrio Municipal de Caxias (no especificado pelo legislador no texto de lei)
ct: no momento da concluso efetiva do servio.
C cp: (sa) municpio de Caxias; (sp) prestador do servio
cpr: (v) pagar; (c) multa de (al 50%; bc do valor da operao efetuada)
5. Regra matriz da lavratura do auto:
H cm: (v) no destacar (c) a nota fiscal de servio
ce: no territrio Municipal de Caxias
ct: no momento da concluso efetiva do servio
C cp: (sa) municpio de Caxias; (sp) autoridade administrativa competente
cpr: (v) lavrar; (c) o auto de infrao e imposio de multa.
Esta uma demonstrao simplificada. O esquema permite que o intrprete construa
significaes mais elaboradas, indo atrs de outros documentos normativos para precisar ainda mais as
informaes contidas em cada um dos critrios, como por exemplo, instrues normativas da Receita
Federal para saber qual a nota a ser entregue (cpr da 2 regra); leis municipais para saber quais os
limites territoriais do municpio de Caxias (ce de todas as normas); Cdigo Civil para saber o que
316
servio e o que imvel (cm da 1 e 2 regra); lei complementar para saber quando se concretiza
efetivamente o servio (ct); etc.
Mesmo simplificado, o exemplo j demonstra que o preenchimento do esquema
lgico da regra matriz, alm de ser um utilssimo instrumento para demarcao do campo de incidncia
normativa e para controle do ciclo de positivao do direito, extremamente eficaz para apontar as
falhas do legislador, na elaborao dos textos de lei, que acabam por comprometer a aplicao das
normas jurdicas. Imaginemos, por exemplo, que o artigo 3 no constasse do texto legislado. Com a
construo da regra matriz, o intrprete logo perceberia o problema criado pelo legislador (a falta de
identificao do sujeito passivo) e, com isso, a impossibilidade de se delimitar, com preciso, o campo
de incidncia normativo.
317
CAPTULO XI
INCIDNCIA E APLICAO DA NORMA JURDICA
SUMRIO: 1. Teorias sobre a incidncia da norma Jurdica; 1.1. Teoria
tradicional; 1.2. Teoria de Paulo de Barros Carvalho; 1.3. Consideraes sobre as
teorias; 2. Incidncia e aplicao do direito; 3. A fenomenologia da incidncia; 4.
Efeitos da aplicao: teorias declaratria e constitutiva; 5. Sobre o ciclo de
positivao do direito; 6. Aplicao e regras de estrutura; 7. Aplicao: norma,
procedimento e produto; 7.1. Teoria da ao: ato norma e procedimento; 7.2.
Aplicao como ato, norma e procedimento; 8. Anlise semitica da incidncia;
8.1. Plano lgico: subsuno e imputao; 8.2. Plano semntico: denotao dos
contedos normativos; 8.3. Plano pragmtico: interpretao e produo da norma
individual e concreta; 9. Do dever ser ao ser da conduta.
1. TEORIAS SOBRE A INCIDNCIA DA NORMA JURDICA
A palavra incidir, como definida no dicionrio tem o significado de cair sobre.
Levando-se em conta tal acepo, ao tratar da incidncia normativa, a idia que vem a nossa mente a
da norma jurdica caindo sobre o mbito das condutas intersubjetivas e modificando-as conforme sua
prescrio, com a produo dos efeitos que lhes so prprios. A descrio de tal processo, no entanto,
no to simples quanto parece e sua anlise est diretamente relacionada com o sistema referencial
dentro do qual processada.
Uma teoria sobre a incidncia estuda como se d a produo de efeitos da norma
jurdica. E, aqui j nos deparamos com um problema, pois podemos falar em efeitos sociais e efeitos
jurdicos. Nosso enfoque volta-se aos efeitos jurdicos, em respeito aos limites da Dogmtica Jurdica e
a surge outro problema, os limites em que o jurdico pensado.
Dentro deste contexto temos duas grandes correntes explicando a incidncia.
1.1. Teoria tradicional
A teoria jurdica tradicional, seguindo os ensinamentos de PONTES DE MIRANDA
e MIGUEL REALE, trabalha com a tese da incidncia automtica e infalvel no plano factual. Essa
idia se amolda muito bem aos sistemas tericos que no fazem distino entre os planos do direito
318
Incidncia
positivo (linguagem jurdica) e da realidade social (linguagem social), considerando-os como uma
unidade na existencialidade do fenmeno jurdico
345
.
Sob esta tica, a incidncia um fenmeno do mundo social. A norma projeta-se
sobre os acontecimentos sociais juridicizando-os. Ela incide sozinha e por conta prpria sobre os fatos,
assim que estes se concretizam, fazendo-os propagar conseqncias jurdicas. como se a norma fosse
uma nuvem que emitisse uma descarga eltrica fulminante, atingindo os acontecimentos nela descritos
e propagando efeitos jurdicos
346
. H, nesta linha de raciocnio, uma transitividade entre os sistemas
jurdico e social, de modo que direitos e deveres so constitudos no impretervel momento da
ocorrncia tomada como suposto por normas jurdicas.
O grfico abaixo ilustra tal ponto de vista sobre a incidncia:
Explicando: segundo tal corrente doutrinria, a norma recai como um raio sobre todo
e qualquer acontecimento verificado nos moldes da hiptese normativa, qualificando-o como jurdico e
instaurando, de forma imediata, os efeitos prescritos em seu conseqente. Sob esta perspectiva, os
direitos e deveres jurdicos correlatos, tidos como efeito normativo, nascem automaticamente, assim
que ocorridos os eventos descritos na hiptese.
345
Para PONTES DE MIRANDA o direito um processo de adaptao social que busca interferir na zona material das
condutas humanas, atravs da sua coercitividade. O sistema jurdico visto como um fenmeno social, produto da
atividade do homem de tornar controlvel as relaes em sociedade. tido como um fato social e como tal analisado e
estudado. Na doutrina de MIGUEL REALE, o direito compreendido em numa trialidade existencial de fato, valor e
norma. Tal concepo tambm leva em conta o fato social na explicao do fenmeno jurdico, na medida em que o toma
como um de seus elementos existenciais. Partindo destes referenciais tericos, o direito analisado como um dado social,
no havendo unidade formal dos sistemas da realidade social e jurdica, que se encontram e se misturam na incidncia
normativa.
346
Neste sentido a analogia feita por ALFREDO AUGUSTO BECKER: A juridicidade tem grande analogia com a
energia eletromagntica e a incidncia da regra jurdica projeta-se e atua com automatismo, instantaneidade e efeitos muito
semelhantes a uma descarga eletromagntica (Teoria geral do direito tributrio, p. 308).
PLANO DO DEVER SER
PLANO DO SER
Fato social
juridicizado
Relao intersubjetiva como
efeito da juridicizao do fato
NORMA
#
319
Seguindo este posicionamento, incidncia e aplicao so coisas distintas e ocorrem
em momentos diversos. Primeiro a norma incide, juridicizando o fato e fazendo nascer direitos e
deveres correlatos; depois, ela pode ou no, ser aplicada pelo homem. A aplicao caracteriza-se como
um ato mediante o qual a autoridade competente formaliza os direitos e deveres j constitudos com a
incidncia, possibilitando, assim, o uso coercitivo para execut-los. Desta forma, nada impede que o
fato ocorra, torne-se jurdico com a incidncia, mas que a norma no seja aplicada, porque esta
depende de um ato de vontade humano.
Um exemplo esclarece melhor tal posicionamento: a regra que impe multa ao
desrespeito sinalizao de trnsito (se desrespeitar a sinalizao de trnsito deve pagar multa) no
momento em que o sujeito atravessa o sinal vermelho a norma incide tornando o fato jurdico e
instaurando um liame obrigacional (o sujeito que desrespeitou o sinal passa a ter o dever jurdico de
pagar uma multa administrao pblica, que passa a ter o direito subjetivo de receb-la). Tal
obrigao, contudo, s poder ser exigida quando a norma for aplicada, isto , se a autoridade de
trnsito lavrar o auto de imposio de multa. Caso isto no ocorra, no haver aplicao, embora a
norma tenha incidido.
1.2. Teoria de PAULO DE BARROS CARVALHO
PAULO DE BARROS CARVALHO trabalha com diferente referencial terico (cujo
modelo o adotado neste trabalho). Para o autor, h normas jurdicas onde houver uma linguagem
prpria que as materialize. Sua teoria reconhece o sistema jurdico como integrante (subsistema) da
heterogeneidade social, porm abstrai, para fins cientficos, o direito como fato social, poltico ou
psicolgico, para estud-lo enquanto conjunto de normas jurdicas vlidas num dado pas. Diferencia,
assim, dois planos: (i) o do direito positivo, formado exclusivamente por normas jurdicas e
materializado em linguagem prescritiva; e (ii) o da realidade social, onde as relaes intersubjetivas se
concretizam no espao e no tempo.
O plano do direito positivo sintaticamente fechado, constitui-se numa linguagem
prpria (que no se confunde com a linguagem da realidade social), s permitindo o ingresso de
elementos a ele exteriores (fatos sociais) quando relatados no seu cdigo. Neste sentido, um fato do
mundo social, para ser jurdico, no basta ser verificado de acordo com o descrito na hiptese
normativa, tem que integrar no sistema do direito positivo, pois nele, e somente nele, que se instalam
conseqncias jurdicas.
320
No se confundem conseqncias jurdicas com conseqncias sociais. Antes da
ocorrncia, verificada nos termos da hiptese, ser relatada em linguagem competente e transformar-se
em fato jurdico, nada existe para o mundo do direito, nenhum efeito de ordem jurdica constatado.
Somente com a produo de uma linguagem prpria, que pressupe um ato de vontade humano,
instauram-se direitos e deveres correlatos desta natureza.
Tal posicionamento transparece na explicao de PAULO DE BARROS
CARVALHO: Ali onde houver direito, haver sempre normas jurdicas e onde houver normas
jurdicas haver certamente uma linguagem que lhe sirva de veculo de expresso. Para que haja o fato
jurdico e a relao entre sujeitos de direito, necessria se faz tambm a existncia de uma linguagem:
linguagem que relate o evento acontecido no mundo da experincia e linguagem que relate o vnculo
jurdico que se instaura entre duas pessoas. E o corolrio de admitirmos esses pressupostos de suma
gravidade, porquanto, se ocorrerem alteraes na circunstncia social, descritas no antecedente de
regra jurdica como ensejadoras de efeitos de direito, mas que por qualquer razo no vierem a
encontrar a forma prpria de linguagem, no sero consideradas fatos jurdicos e, por conseguinte, no
propagaro direitos e deveres correlatos
347
.
Seguindo tal premissa, a incidncia no automtica, nem infalvel ocorrncia do
evento, ela depende da produo de uma linguagem competente, que atribua juridicidade ao fato,
imputando-lhe efeitos na ordem jurdica.
O grfico abaixo ilustra tal ponto de vista sobre a incidncia:
347
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 10.
PLANO DO DEVER SER
PLANO DO SER
Fato social
Relao social
H C
#
FJ
Sa P Sp
Linguagem jurdica I
Linguagem
jurdica II
Linguagem
social
321
Na figura:
H C norma geral e abstrata a ser incidida/aplicada
FJ fato jurdico
Sa P Sp relao jurdica
# - fato social
- relao social
- aplicador
Explicando: Tendo em conta uma norma jurdica (linguagem jurdica I
representada no grfico pela figura retangular de cima H C plano do dever ser), para que um
evento (figura #), verificado no campo da realidade social (plano do ser representado pelo
retngulo inferior), que guarda identidade com a sua descrio hipottica (H), produza efeitos na
ordem jurdica, preciso que algum (agente competente figura do aplicador ) o conhea (ao
representada pela seta que sai do plano social em direo ao aplicador N) e, observando os
contornos da norma (ao representada pela seta que sai do plano jurdico geral e abstrato em direo
ao aplicador ), produza (ao representada pela seta que sai do aplicador em direo
linguagem jurdica II ) outra linguagem jurdica (representada no grfico pela figura retangular
do meio). Tal linguagem constitui o evento como fato jurdico (FJ) imputando-lhe o vnculo de direito
e deveres correlatos, que lhe prprio (relao jurdica SaPSp). E, com base neste vnculo, as
condutas intersubjetivas regradas juridicamente se concretizam no mbito social (). Assim
que se d a produo de efeitos jurdicos, aquilo que denominamos de incidncia normativa.
Vale a pena transcrever, aqui, as palavras de TCIO LACERDA GAMA ao explicar
tal teoria: criar, transformar ou extinguir direitos, que surgem na medida em que esto constitudos
em linguagem, requer produo de mais linguagem. Nada no direito acontece de forma automtica.
inslita a idia de normas sendo criadas ou se modificando por conta prpria, como entes de vida
prpria. Uma vez aceita a premissa de que o direito um conjunto de normas, que se manifestam em
linguagem, no se pode conceber que acontecimentos sociais, destitudos de uma linguagem
competente, promovam qualquer tipo de alterao a esse conjunto
348
.
Sob este enfoque, no prevalece a diferena entre incidncia e aplicao. Para incidir,
a norma tem que ser aplicada, de modo que incidncia e aplicao se confundem. A incidncia da
norma jurdica se d no momento em que o evento relatado em linguagem competente, o que ocorre
com o ato de aplicao. Antes disso, podemos falar em outros efeitos do fato (ex: sociais, morais,
polticos, econmicos, religiosos), mas no jurdicos.
348
Obrigao e crdito tributrio anotaes margem da teoria de Paulo de Barros Carvalho, p. 9.
322
Nestes termos, no h hiptese da norma incidir por conta prpria e no ser aplicada.
Sempre que ela incidir porque foi aplicada por algum.
1.3. Consideraes sobre as teorias
A famosa afirmao sobre ser a incidncia automtica e infalvel aceita em ambas
as teorias, s divergindo quanto aos momentos. Na teoria tradicional, a incidncia, enquanto produo
de efeitos jurdicos, automtica e infalvel com relao ao evento. Verificada a ocorrncia descrita na
hiptese normativa, instauram-se os efeitos jurdicos a ela correspondentes de forma automtica e
infalvel. Na teoria de PAULO DE BARROS CARVALHO, a incidncia automtica e infalvel com
relao ao fato jurdico. Relatado acontecimento em linguagem competente, instauram-se os efeitos
jurdicos a ele correspondentes de forma automtica e infalvel.
A linha terica da incidncia automtica e infalvel ocorrncia fsica do
acontecimento previsto na hiptese normativa aceita com muita facilidade, pois descreve a reao
que o fato, tomado pelo direito como propulsor de efeitos jurdicos, provoca em nossa mente.
Quando furamos um sinal vermelho, por exemplo, nossa conscincia tica religiosa
ou moral, ciente das diretrizes inerentes ao sistema do direito positivo, imediatamente constitui (em
nossa mente) o dever de pagarmos uma multa e o direito da administrao de cobrar-nos. Ficamos,
ento, esperando que, em alguns dias, chegue um auto de imposio de multa em nossa casa, mediante
o qual a administrao cobre seu direito, para ns, constitudo no momento em que atravessamos o
sinal vermelho. Mesmo que o auto nunca chegue, nossa conscincia sabe que, por termos atravessado
o sinal vermelho, devemos pagar uma multa, ou seja, em nosso esprito, a obrigao est constituda,
apenas a administrao no exerceu seu direito de cobr-la, quantificando o montante devido.
Devemos, no entanto, ter muito cuidado para no confundir efeitos de ordem moral,
tica ou religiosa, com os efeitos jurdicos, que se do em sistemas lingsticos distintos.
Partindo da premissa de que o direito positivo um sistema formado por normas
jurdicas que se manifestam numa linguagem prpria, no se nega os efeitos que os acontecimentos
possam desencadear na ordem social. Pressupe-se, no entanto, para que tais acontecimentos
propaguem efeitos na ordem jurdica, que eles sejam relatados na forma prevista pelo sistema do
direito (linguagem competente).
323
Voltando-nos ao exemplo dado acima: o furar o sinal vermelho um evento de
ordem social, tomado como suposto para o desencadeamento de conseqncias jurdicas. Sua
ocorrncia, no entanto, verificada no plano social (ser), no produz qualquer efeito no mundo
jurdico (dever ser). Isto no impede, porm, que sua percepo propague efeitos em outros sistemas,
como o moral, tico ou religioso. Juridicamente, no entanto, o dever de pagar a multa e o direito
subjetivo da administrao em receb-la s so constitudos quando o sistema do direito positivo toma
conhecimento do fato de algum ter furado o sinal vermelho, o que se d no momento em este
relatado no cdigo prprio do ordenamento.
O dever de pagar multa, institudo em nossa mente, quando da ocorrncia do
evento, em decorrncia da cincia de uma norma jurdica que contm tal prescrio, no jurdico.
de ordem tica, moral, religiosa. O dever jurdico, s aparece com a produo de uma linguagem
competente. A prova disso que se o auto de multa no for lavrado, nada pode ser exigido
juridicamente.
A pretensa funcionalidade do direito independentemente de linguagem competente,
como sustenta EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI, parece sedimentar-se (para ns) numa viso
jusnaturalista, segundo a qual o direito funcionaria como a natureza, como as nuvens carregadas de
hipteses e mandamentos que, consolidados no mundo ftico, incidiriam qual raios, fulminando seus
suportes. Ora, sem nuvens e numa perspectiva realista, necessrio se faz admitir: at que a autoridade
aplique o direito, quer dizer, juridicamente, nada h; nem fato nem obrigao
349
. O fato jurdico e os
direitos e deveres correlatos nascem concomitantemente, com o ato de aplicao da norma.
Apresentamos estes dois pontos de vista sobre a incidncia, no entanto, para destacar
a importncia dos referenciais tericos. A teoria da eficcia de PONTES DE MIRANDA, parte de um
referencial para explicar o fenmeno da incidncia e da aplicao do direito, enquanto a teoria do
constructivismo lgico-semntico de PAULO DE BARROS CARVALHO parte de outro. So
sistemas de referncia diversos, que no se confundem, embora muitos autores se utilizem das
proposies de um para criticar e tecer consideraes a respeito do outro
350
.
349
Decadncia e prescrio no direito tributrio, p. 57.
350
Este o equivoco cometido por ADRIANO DA COSTA SOARES, critico veemente da obra de PAULO DE BARROS
CARVALHO, que no se cansa de tecer oposies a sua teoria, utilizando-se, no entanto, do referencial terico de
PONTES DE MIRANDA, sem perceber, que se tratam de sistemas tericos distintos.
324
Trabalhando com a filosofia da linguagem e os referenciais filosficos at aqui
fixados, considerando o direito como um sistema comunicacional sintaticamente fechado, incoerente
aceitar que uma norma jurdica capaz de produzir efeitos jurdicos por si s, imediatamente
ocorrncia do evento (verificado em outro sistema comunicacional). Por isso, trabalhamos com a teoria
de PAULO DE BARROS CARVALHO, que dentro das premissas que adotamos, melhor explica a
incidncia normativa.
2. INCIDNCIA E APLICAO DO DIREITO
O direito no dispe de normas individuais e concretas para regular cada caso em
especfico. Dispe de um aparato de normas gerais e abstratas, que no atuam diretamente sobre as
condutas intersubjetivas, exatamente em decorrncia da sua generalidade e abstrao. O sistema
pressupe, por isso, que, a partir destas normas gerais e abstratas, sejam criadas outras regras
(individuais e concretas) diretamente voltadas aos comportamentos dos indivduos, para atuarem
especificamente em cada caso, o que s ocorre com a aplicao do direito.
Falar em aplicao o mesmo que falar em incidncia, porque a norma jurdica no
incide sozinha. Para produzir efeitos ela precisa ser aplicada
351
. Isso requer a presena de um homem,
mais especificamente de um ente competente, ou seja, uma pessoa que o prprio sistema elege como
apta para, de normas gerais e abstratas, produzir normas individuais e concretas, constituindo, assim,
efeitos na ordem jurdica.
Neste sentido, PAULO DE BARROS CARVALHO frisa a importante condio da
presena humana na incidncia/aplicao do direito. Em suas palavras: no se d a incidncia se no
houver um ser humano fazendo a subsuno e promovendo a implicao que o preceito normativo
determina. As normas no incidem por fora prpria. Numa viso antropocntrica, requerem o homem,
como elemento intercalar, movimentando as estruturas do direito, extraindo de normas gerais e
abstratas outras gerais e abstratas ou individuais e concretas
352
.
Dizer que, ocorrendo o fato, a norma automaticamente incide sobre ele sem qualquer
contato humano , como adverte EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI subsumir-se a uma
concepo terica que coloca o homem margem do fenmeno normativo, tal qual mero espectador,
que somente quando instado, declara o funcionamento autnomo do direito. Ora, o direito no
351
No direito, sujeito do verbo incidir, como observa GABRIEL IVO, no a norma, mas o homem, aquele que a aplica
Norma jurdica, produo e controle, passim.
352
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 9.
325
funciona sozinho, mas mediante a ao de homens, juzes, autoridades administrativas e legislativas:
para isso que alerta essa inovadora proposta
353
.
A norma no tem fora para sozinha atingir condutas intersubjetivas e modific-las.
Depende dos homens, dos aplicadores do direito. Isto porque, tomando o sistema como um corpo de
linguagem, qualquer modificao que lhe pretenda (como a criao de direitos e deveres correlatos)
pressupe a produo de uma nova linguagem, e esta, por sua vez, pressupe algum que a produza,
por isso, a inevitvel presena do homem na constituio de efeitos jurdicos.
Voltando-nos as palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO, no o texto
normativo que incide sobre o fato social, tornando-o jurdico. o ser humano que, buscando
fundamento de validade em norma jurdica geral e abstrata, constri a norma individual e concreta.
Instaura o fato e relata os seus efeitos prescritivos, consubstanciados no lao obrigacional que vai
atrelar os sujeitos da relao
354
.
O texto normativo sozinho, no capaz de juridicizar qualquer fato ou de produzir
qualquer efeito de ordem jurdica, pois no passa de um amontoado de smbolos dispostos no papel.
o homem que atribui sentido a estes smbolos ao interpret-los e o homem que constitui direitos e
deveres ao aplic-los, fazendo-os incidir em situaes concretas.
Neste contexto, norma alguma do direito positivo, tem o condo de irradiar efeitos
jurdicos sem que seja aplicada, porque elas no tm fora para incidirem por conta prpria. Se no
houver um homem, credenciado pelo prprio sistema, para relatar o evento (ocorrido nos moldes de
uma hiptese normativa) em linguagem competente e imputar-lhe os efeitos jurdicos que lhe so
prprios (prescritos no conseqente daquela norma), nada produzido juridicamente.
Tal posicionamento significa equiparar, em tudo e por tudo, a aplicao
incidncia, de tal modo que aplicar uma norma faz-la incidir na situao por ela juridicizada
355
.
353
Decadncia e prescrio no direito tributrio, p. 58.
354
PAULO DE BARROS CARVALHO, Isenes tributrias do IPI, em face do princpio da no-cumulatividade, p.
145.
355
Curso de Direito Tributrio, p. 88.
326
Fato Jurdico (A)
Relao jurdica (C)
Sa # Sp
Norma
individual
e concreta
(NIC)
interpretao
constituio
3. A FENOMENOLOGIA DA INCIDNCIA
Podemos descrever a incidncia, enquanto acontecimento delimitado no tempo e no
espao, dizendo que ela se opera da seguinte forma: o homem (aplicador), a partir dos critrios de
identificao da hiptese de uma norma geral e abstrata, construda com a interpretao dos textos
jurdicos, demarca imaginariamente (no plano do ser), a classe de fatos a serem juridicizados. Quando,
interpretando a linguagem da realidade social (a qual tem acesso por meio da linguagem das provas),
identifica um fato denotativo da classe da hiptese, realiza a subsuno e produz uma nova linguagem
jurdica, relatando tal fato no antecedente de uma norma individual e concreta e a ele imputando a
relao jurdica correspondente (como proposio conseqente desta norma) e, assim o faz, com a
denotao dos critrios de identificao do conseqente da norma geral e abstrata (incidida), a qual
ser representativa de um liame a ser estabelecido no campo social.
O grfico abaixo, d-nos uma melhor idia desta descrio:
Na figura
356
:
O retngulo de cima representa a norma geral e abstrata (NGA H C) a ser incidida (plano
do dever ser linguagem jurdica I do grfico anterior).
Os crculos de linha contnua inerentes ao retngulo de cima representam, respectivamente, as
classes da hiptese (H) e do conseqente (C) da norma geral e abstrata a ser incidida.
O retngulo de baixo representa a realidade social (PS plano do ser linguagem social do
grfico anterior)
356
Que uma complementao dos grficos apresentados no cap. IX, item 1.2, quando tratamos do contedo normativo e
do item 4 do cap. X, quando tratamos das funes da RMI.
PLANO DO DEVER SER
(PDS)
Critrios de
identificao do fato
jurdico
(H)
Critrios de
identificao da
relao jurdica
(C)
PLANO DO SER
(PS)
Delimitao
social de infinitos
acontecimentos
(DSA)
evento
(E)
Delimitao social
de infinitas relaes
(DSR)
relao
social
(RS)
(h)
Aplicao
=
Incidncia
Vnculo
implicacional
()
Norma geral e
abstrata (NGA)
interpretao
327
As linhas verticais pontilhadas que saem dos crculos (representativos da classe da hiptese e do
conseqente) em direo ao plano da realidade social, simbolizam a extenso do conceito destas
classes em tal plano.
Os crculos pontilhados inerentes ao retngulo de baixo (linguagem social), representam a
demarcao de infinitos acontecimentos sociais (DSA) e infinitas relaes jurdicas (DSR), feita
com a extenso do conceito da hiptese (H) e do conseqente (C) normativo.
Os pontos inclusos em tais crculos representam, respectivamente, um evento (E) e uma relao
social (RS simbolizada no grfico anterior pela figura ).
A projeo cubular da figura retangular de cima (formando outro retngulo), representa a
linguagem da norma individual e concreta (NIC).
As linhas pontilhadas que saem dos crculos (representativos da hiptese e do conseqente), e
que convergem para um ponto na linguagem da norma individual e concreta, simbolizam a
denotao dos critrios da norma geral e abstrata pelo aplicador.
O ponto para o qual convergem tais linhas representa o fato jurdico (FJ constitudo como
antecedente da norma individual e concreta A) e a relao jurdica (Sa P Sp -
constituda como conseqente da norma individual e concreta C).
A linha pontilhada que une os pontos da norma individual e concreta (FJ e RJ) com os pontos da
realidade social (E e RS) simbolizam a representatividade daqueles em relao a estes.
A figura do homem ( ) representa o aplicador do direito.
As duas setas que saem, respectivamente, da norma geral e abstrata e da linguagem da realidade
social em direo ao aplicador ( e N) simbolizam sua atividade de interpretao.
A seta que sai do aplicador em direo da norma individual e concreta (), simboliza sua
atividade de constituio desta linguagem.
Explicando: o aplicador ( ), interpretando () a linguagem jurdica (PDS), constri
uma norma geral e abstrata (NGA), cuja hiptese (H) contm critrios de identificao de um fato
jurdico e cujo conseqente (C) contm critrios de identificao de uma relao jurdica
(representados pelo crculo de linha contnua, incluso no retngulo de cima), ambos ligados por um
vnculo implicacional de dever ser () prprio da causalidade normativa. Observa tambm o plano
social (PS) e projeta sobre ele a construo normativa elaborada, delimitando, imaginariamente, uma
classe de infinitos acontecimentos (DSA) e uma classe de infinitas relaes (DSR representados
pelos crculos de linha pontilhada, imersos na figura retangular de baixo), que espelham a extenso do
conceito da hiptese (H) e do conseqente normativo (C), respectivamente. Ao verificar (N), por meio
da linguagem das provas, a ocorrncia de um evento (E), no plano do ser (PS), que se enquadra na
delimitao imaginria projetada pela hiptese normativa (DSA), o relata para o direito (mediante a
criao de uma nova linguagem jurdica ), como antecedente (A) de uma norma individual e
concreta (NIC). Assim, denotando o conceito da hiptese, constitui o fato jurdico (FJ) e a ele imputa
() a relao jurdica (Sa # Sp) correspondente, instituda, com base nos critrios do
conseqente da norma geral e abstrata (C) (como demonstram as linhas pontilhadas que saem do
conseqente e convergem para a relao jurdica), como proposio tese (C) da norma individual e
328
concreta (NIC). Esta relao jurdica se projeta no plano da realidade social (PS), para que nele uma
relao intersubjetiva (RS) se estabelea concretamente
357
.
Se o aplicador identifica a ocorrncia do evento (E), verificado no plano da realidade
social (PS) em conformidade com a extenso do conceito da hiptese (H) da norma geral e abstrata
(NGA), porm, no produz a linguagem competente (NIC), nenhum efeito se opera na realidade
jurdica (PDS.), pois, como podemos observar no grfico, temos dois planos distintos (PS e PDS), duas
linguagens diferentes que no se confundem. O mesmo se diz da transitividade do mundo jurdico para
o social. A relao constituda juridicamente (C) s se efetiva no campo do real-social (PS) mediante
um ato de vontade humano de cumpri-la ou no. A norma individual e concreta (NIC) funciona como
um estmulo direcionado, influenciando este ato de vontade, mas no atua, diretamente, modificando o
campo social, por se tratar de uma realidade distinta (PDS) que no se mistura com a linguagem
material das condutas humana (PS).
Pensemos num exemplo: a norma construda a partir do artigo 14 da Constituio
Federal, que prescreve o direito/dever de votar, geral e abstrata se for brasileiro, maior de 18 anos
deve ser o direito/dever de votar. Por no ser dirigida a um indivduo em especial, mas a todos os
membros da coletividade, para propagar efeitos ao caso concreto, ela tem que ser aplicada. O fato de
um brasileiro ter 18 anos no lhe d o direito/dever de dirigir-se a uma seo eleitoral qualquer e votar.
Se no houver uma linguagem competente, constituindo seu direito/dever de votar (ttulo de eleitor), a
ele no permitido depositar seu voto na urna. Isso demonstra que a simples ocorrncia do fato (nos
moldes da hiptese normativa), por si s, no capaz de produzir qualquer efeito jurdico. Para ter o
direito/dever de votar preciso que se produza uma linguagem competente, elaborada nos moldes
prescritos pelo sistema do direito (arts. 42 a 50 do Cdigo Eleitoral Lei n 4.737/65). No adianta se
dirigir seo eleitoral e apresentar outro documento, mesmo que este comprove a nacionalidade e a
maioridade, se o alistamento eleitoral no houver sido promovido, pois com ele que se produz a
linguagem individualizadora do direito de votar (ttulo de eleitor). Sem esta linguagem, no h direito
subjetivo ao voto, mesmo existindo uma norma constitucional prescrevendo tal direito, ele no se
encontra individualizado, porque a prescrio constitucional geral e, sem a individualizao
juridicamente impossvel exerc-lo. Isto comprova que a incidncia, ou seja, a constituio de direito e
357
A ordem pode no ser exatamente esta. O aplicador pode primeiro conhecer o fato e depois ir ao direito encontrar uma
norma qual ele subsuma, mas a ordem destes fatores no interfere na fenomenologia da incidncia aqui descrita.
329
deveres correlatos como efeito jurdico de uma norma geral e abstrata, s se opera com a produo de
uma linguagem competente, o que ocorre com a aplicao do direito
358
.
Reportando-nos aos ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO, a
incidncia no se d automtica e infalivelmente com o mero evento sem que se adquira expresso em
linguagem competente. A percusso da norma pressupe relato em linguagem prpria: a linguagem
do direito constituindo a realidade jurdica
Para produzir a norma individual e concreta (que constitui o direito/dever de votar), o
aplicador interpreta o texto normativo, constri a delimitao da regra geral e abstrata, identifica a
ocorrncia do evento descrito na hiptese pelas provas de direito apresentadas (o sujeito brasileiro,
maior de 18 anos) e produz a linguagem competente do ttulo de eleitor, instituindo juridicamente uma
relao entre o sujeito e o Estado, mediante a qual aquele tem o direito/dever de votar e este tem o
dever/direito de permitir e exigir que aquele vote. A norma individual e concreta, no entanto, no atua
diretamente sobre a conduta do sujeito ou do Estado para alter-las, atua indiretamente, como estmulo
do ato de deciso, que motiva a conduta de votar
359
.
Quando falamos em incidncia estamos pressupondo a linguagem do direito
projetando-se sobre o campo material das condutas intersubjetivas, para organiz-las deonticamente.
As normas gerais e abstratas demarcam uma classe de infinitos fatos, a serem juridicizados e uma
classe de infinitas relaes a serem impostas a cada juridicizao ftica. A norma individual e concreta
identifica um fato que se subsome hiptese da norma geral e abstrata e o constitui como fato jurdico,
estabelecendo uma relao entre sujeitos, nos moldes do conseqente daquela norma, que se projeta
sobre o plano social, para que nele seja concretizado o vnculo entre tais pessoas. assim que a
linguagem do direito incide sobre a linguagem da realidade social com o intuito de modific-la.
Para que este fenmeno ocorra, entretanto, necessrio que algum realize aquilo
que denominamos de aplicao
360
, isto , que interprete o texto normativo, identifique a ocorrncia do
acontecimento descrito na hiptese de uma norma abstrata, relate-o juridicamente, imputando-lhe o
358
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 9.
359
Nota-se que o vnculo relacional dentico () entre antecedente e conseqente s aparece no plano do direito positivo
(PDS) no no plano da realidade social (PS), justamente porque a causalidade entre fato e relao jurdica e no social.
360
Segundo os ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO, aplicar o direito dar curso ao processo de
positivao, extraindo de regras superiores o fundamento de validade para a edio de outras regras. o ato mediante o
qual algum interpreta a amplitude do preceito geral, fazendo-o incidir no caso particular e sacando, assim, a norma
individual (Curso de direito tributrio, p. 88).
330
vnculo relacional prescrito no conseqente normativo, o que se d com a constituio de uma
linguagem da norma individual e concreta.
Imaginemos qualquer exemplo e logo se verifica a indispensabilidade da constituio
de uma linguagem normativa para a propagao de efeitos jurdicos. Mas, no qualquer linguagem e
sim uma linguagem prpria, produzida em conformidade com as regras do sistema e expressa
invariavelmente na forma escrita.
O direito de propriedade, por exemplo, constitudo juridicamente com a lavratura
da escritura do imvel; o direito de dirigir nasce para o mundo jurdico com a expedio da carteira
nacional de habilitao; o dever de pagar tributo institudo com o lanamento; os direitos e deveres
inerentes paternidade, so constitudos para o direito com o registro da criana, e assim
sucessivamente, onde houver direitos e deveres haver sempre uma linguagem jurdica que lhes sirvam
de veculo de expresso, produzida com a aplicao de outra linguagem jurdica.
O processo aqui descrito o mesmo para todas as normas, independente de serem
elas constitucionais, civis, penais, administrativas, comerciais, processuais, tributrias, trabalhistas,
eleitorais, ambientais, etc. As regras, para propagarem efeitos jurdicos, pressupem algum que as
aplique, que promova a subsuno do fato a sua hiptese e constitua a relao jurdica prescrita em seu
conseqente. O fenmeno
361
da incidncia sempre o mesmo para todas as normas, o que muda so
as formas mediante as quais ele se materializa, pois, para cada tipo de regra, o direito prescreve a
realizao de um procedimento especfico de aplicao.
4. EFEITOS DA APLICAO - TEORIAS DECLARATRIA E CONSTITUTIVA
Dependendo da teoria que adotamos modificam-se os efeitos da aplicao no campo
do direito positivo. Considerando a incidncia automtica e infalvel em relao ao evento, o ato de
aplicao meramente declaratrio, ele relata a existncia de uma relao jurdica j constituda e do
fato (j juridicizado) que a instaurou, apresentando-se apenas como um pressuposto para exigncia
coercitiva de uma obrigao, proibio, ou permisso, j constituda com a incidncia da norma. Por
outro lado, considerando que o fato s se torna jurdico quando relatado em linguagem competente, o
ato de aplicao tem natureza constitutiva do fato jurdico e da relao jurdica, apresentando-se como
361
No de todo correto empregarmos a expresso fenomenologia da incidncia ao tratarmos das unidades do direito
positivo, pois a produo de efeitos jurdicos no se trata de um fenmeno natural, mas de um processo humano. neste
sentido que a expresso deve ser pensada e trabalhada quando associada incidncia das normas jurdicas.
331
meramente declaratrio apenas quanto ao evento. So dois pontos de vista sobre a aplicao, mais
conhecidos como: (i) teoria declaratria; e (ii) teoria constitutiva.
Para teoria declaratria, a norma jurdica incide, como um fenmeno fsico, sobre o
acontecimento descrito em sua hiptese to logo este se concretiza, tornando-o jurdico. Neste instante,
instaura-se o vnculo de direitos e deveres entre sujeitos, nasce a relao jurdica. Posteriormente, o
aplicador, diante da norma, verificando a existncia de um fato jurdico e de uma relao jurdica, os
declara formalmente, para que os direitos e deveres institudos possam ser exigidos coercitivamente.
Neste sentido, o ato de aplicao (enquanto linguagem produzida pelo aplicador) declaratrio do fato
jurdico e da relao jurdica, pois ele apenas relata aquilo que j existe, desde a incidncia normativa.
O grfico abaixo representa tal posicionamento:
Explicando: A norma incide naturalmente como um raio fulminante sobre o
acontecimento verificado nos moldes de sua hiptese, constituindo-a como jurdica. Nasce, assim, o
fato jurdico (FJ) e a relao jurdica (RJ) como seu efeito. O aplicador (), observando a norma, o
fato jurdico e os direitos e deveres a ele imputados, produz (7) um ato de formalizao que declara a
existncia do fato jurdico e do efeito que lhe prprio (relao jurdica) constitudo pela incidncia,
tornando-o exigvel.
Para teoria constitutiva, que melhor se enquadra nos pressupostos deste trabalho, um
fato s existe juridicamente quando relatado em linguagem competente e s a partir deste instante
que se instaura qualquer vnculo jurdico entre dois ou mais sujeitos. A mera ocorrncia do evento
verificado em conformidade com a hiptese normativa no gera qualquer conseqncia de ordem
jurdica. Para que isso ocorra necessrio que uma pessoa competente relate a ocorrncia deste
acontecimento, imputando-lhes os efeitos que lhe so prprios. Neste sentido, o ato de aplicao
(enquanto linguagem produzida pelo aplicador) constitutivo, ele no declara o fato jurdico e a
332
relao jurdica, mas sim os constitui, pois antes dele, nada existe juridicamente. Podemos falar em
fato social, evento, relao social, mas nada ainda no plano jurdico.
O grfico abaixo representa tal posicionamento:
Explicando: A norma no incide naturalmente, o aplicador () a interpreta, observa
(no plano da realidade social ser) a ocorrncia de um evento (#) nos termos de sua hiptese e
produz (7) uma nova linguagem jurdica (representada pela figura retangular superior da direita) que
constitui o fato e o vnculo intersubjetivo para o direito, tornando-os uma realidade jurdica. Tal
relao projeta-se para o campo da realidade social (representado pela figura retangular inferior)
influenciando a individualidade dos sujeitos para que eles se relacionem efetivamente nos moldes
estipulados pelo direito ($).
Diferentemente da figura anterior, luz desta teoria, a norma no incide
naturalmente como um fenmeno fsico. Ela s produz efeitos na ordem jurdica quando aplicada
pelo homem. S quando o evento relatado em linguagem competente que o fato passa a existir como
jurdico e que direitos e deveres so estabelecidos para o direito. por isso que a aplicao (ou
incidncia), nesta concepo, constitutiva do fato jurdico e da relao jurdica.
Trabalhando com esta teoria, no existe no direito, atos meramente declaratrios.
Todo ato, enquanto linguagem competente, constitutivo de uma realidade jurdica, de um fato
jurdico e dos direitos e deveres imputados em sua decorrncia (relao jurdica)
362
.
362
Seguindo esta linha de raciocnio, no h sentenas de natureza declaratria (como classifica a doutrina processual
civil). Todas as sentenas tm natureza constitutiva de uma situao jurdica (de direitos e deveres). Segundo a doutrina
processual civil as sentenas podem ser de natureza: (i) declaratria; (ii) condenatria; e (iii) constitutiva. As declaratrias
certificariam a existncia ou inexistncia de uma relao jurdica, as condenatrias alm de declarar o direito existente,
preparariam a execuo, atribuindo ao vencedor um ttulo executivo e as constitutivas gerariam uma modificao do
estado jurdico anterior. Mas, adotando a premissa de que o direito um corpo de linguagem, toda nova linguagem traz
uma modificao ao estado jurdico anterior, assim, todas as sentenas, como todos os outros atos veiculadores de normas
concretas, tm natureza constitutiva tanto em relao ao fato jurdico, quanto relao jurdica.
333
Procedimento prprio
+
Autoridade competente
Procedimento prprio
+
Autoridade competente
Procedimento prprio
+
Autoridade competente
No entanto, embora constitutivo do fato jurdico e da relao jurdica, o ato de
aplicao caracteriza-se como declaratrio em relao ao evento (acontecimento verificado nos moldes
da hiptese no plano da realidade social #), pois ele o descreve. Neste sentido, dizemos que, sob a
tica desta teoria, os efeitos do ato de aplicao so: (i) constitutivo em relao ao fato jurdico e
relao jurdica; e (ii) declaratrio em relao ao evento.
5. SOBRE O CICLO DE POSITIVAO DO DIREITO
Nos captulos anteriores, ao estudarmos a norma jurdica em seus mbitos sinttico e
semntico, analisamos o direito positivo de forma esttica, como se tivssemos tirado uma fotografia
do ordenamento. Estudar a aplicao do direito, no entanto, implica observarmos sua forma dinmica,
ou seja, como o sistema movimentado, criado e transformado pelo homem, para alcanar suas
finalidades.
Como j vimos, o direito, enquanto objeto cultural, produzido pelo homem e por
ele manipulado no intuito de direcionar condutas intersubjetivas. Mas o prprio direito que regula e
disciplina tal manipulao. o ordenamento jurdico que prescreve a criao, transformao e
extino de suas normas, determinando como suas estruturas devem ser movimentadas e os requisitos
a serem observados para a transformao de sua linguagem.
Neste sentido, temos um ciclo ininterrupto: uma linguagem jurdica produzida
mediante uma srie de procedimentos pr-estabelecidos e realizados pelo homem com base em outra
linguagem jurdica que, por sua vez, tambm foi produzida da mesma forma.
O grfico abaixo nos d uma idia deste ciclo:
Lei
Guia de pagamento
Ato administrativo
Constituio
Federal
334
Explicando: no mbito tributrio, por exemplo, a Constituio Federal (representada
no grfico pela figura _ __ _), prescreve as pessoas competentes para institurem tributos (agente
competente), dispe sobre a materialidade das regras a serem produzidas, vinculando sua criao a
alguma situao concreta (materialidade da norma), determina o procedimento a ser realizado (lei
princpio da legalidade) e dispe como deve ser realizado tal procedimento (processo legislativo). Os
rgos competentes (representado pela figura ), interpretando estes preceitos (ao representada
pela figura ), realizam tal procedimento no plano social (evento representado pela figura #):
proposto um projeto de lei, as duas casas (Cmara dos Deputados e Senado Federal) votam e o
aprovam, o Presidente da Repblica promulga e a lei publicada (ao representada pela figura ),
passando a existir como documento normativo (lei representada pela figura ). Comea, ento,
tudo de novo... Interpretando () a lei ( ) que institui o tributo, a autoridade administrativa ()
realiza um procedimento (#) tambm prescrito por lei e produz () o ato administrativo do lanamento
( ), constituindo uma obrigao tributria entre o fisco e contribuinte. Tendo em vista este documento
normativo (), o contribuinte () realiza um procedimento prprio (#) tambm previsto em lei, para
inserir () no ordenamento jurdico, outro documento normativo: a guia de recolhimento ( )
atestando a efetuao do pagamento. Se ao invs de pagar o contribuinte impugna o ato, produz uma
nova linguagem, realizando um procedimento nos moldes previstos pelo sistema, que vai servir de
fundamento para outra linguagem: a da deciso. Se o contribuinte no realiza o pagamento e no
impugna o ato, a administrao realiza outro procedimento, prescrito pelo direito para criar um ttulo
executivo extrajudicial (dvida ativa) e, com base nele, promover o processo de execuo fiscal at que
seja produzida a linguagem do pagamento...
E, assim, cronologicamente, o direito vai se movimentando, por meio de atos
humanos de aplicao que positivam normas, seguindo sempre o mesmo ciclo: linguagem jurdica,
procedimento humano realizado nos moldes prescritos pelo sistema, nova linguagem jurdica.
Sempre que se produz uma linguagem jurdica, algum esta aplicando uma norma,
mediante um processo que denominamos de positivao. Positivar, assim, passar da abstrao para a
concretude das normas jurdicas, o que se efetiva, necessariamente, por meio de um ato humano. Este
ato, bem como a pessoa credenciada para realiz-lo, so determinados pelo direito e por meio dele
que normas so inseridas no sistema, numa posio hierarquicamente inferior quelas que regulam sua
produo.
335
Nestes termos, se diz que entre um texto normativo e outro h sempre a realizao de
um fato social juridicamente prescrito (procedimento efetuado pela autoridade competente) e, neste
fato social h sempre um ato de vontade humano. Ainda que o recorte metodolgico do direito positivo
o afaste, quando estudamos a dinmica do sistema, invariavelmente encontramos o homem sacando de
normas gerais o fundamento para a criao de normas concretas, pois, seguindo este ciclo (i)
linguagem jurdica; (ii) ato de vontade + homem + procedimento de produo; e (iii) nova linguagem
jurdica por ns denominado de ciclo de positivao
363
, que o sistema se movimenta, que normas
jurdicas so aplicadas, situaes sociais so juridicizadas e efeitos so produzidos na ordem jurdica.
A positivao de cada norma se encerra com a produo de outra norma que a denota
semanticamente. neste sentido que GABRIEL IVO enuncia: o processo de positivao do direito
ocorre por meio de sua aplicao, toda aplicao do direito constitui, ao mesmo tempo, tambm um
produo. Aplicar uma norma significa criar uma outra norma
364
.
Voltando ao grfico acima: as normas constitucionais, que estabelecem as
competncias tributrias, so positivadas com a produo da lei, a norma instituidora do tributo
(veiculada pela lei) positivada com a produo do ato administrativo de lanamento e a norma do
pagamento (inserida no sistema pela guia de recolhimento) resultado da positivao da norma geral e
abstrata do pagamento prevista na lei. Esta ltima (norma do pagamento veiculada pela guia de
recolhimento) no resultado da positivao do ato administrativo de lanamento, embora no ciclo de
positivao do direito tributrio, ela seja sucessivamente posterior ao lanamento, sendo este atuante
motivador de sua produo.
6. APLICAO E REGRAS DE ESTRUTURA
Os procedimentos adequados para criao de novas normas jurdicas e as pessoas
credenciadas para realiz-los so aqueles, e somente aqueles, estabelecidos pelo direito. Somente um
ato de vontade humano no cria direito, nem aplica norma, para tanto necessrio que a pessoa,
363
RODRIGO DALLA PRIA, seguindo as lies de PAULO CESAR CONRADO, utiliza a expresso ciclo de
positivao da norma tributria para designar a srie de produo de linguagens jurdicas tributrias que se segue desde a
norma constitucional de competncia tributria e se exaure com o pagamento do tributo. Segundo o autor, Em caso de
no-pagamento espontneo do crdito pelo sujeito passivo, da obrigao tributria, uma srie de outros atos se sucedero,
prolongando a cadeia do processo de positivao, como v.j., a inscrio em dvida ativa, com a expedio de outro ato
administrativo, i.., a certido de dvida ativa CDA, espcie do gnero ttulo executivo extrajudicial que, como o
lanamento, configura norma jurdica, caracterizada pelos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Este ato-norma, por
sua vez, nada mais que um estgio mais avanado do processo de positivao da norma jurdica tributria. (O processo
de positivao da norma jurdica tributria e a fixao da tutela jurisdicional apta a dirimir os conflitos havidos entre
contribuinte e fisco, in Processo tributrio analtico, p. 53-54).
364
Norma jurdica: produo e controle, p. 3
336
capacitada juridicamente, realize o procedimento prescrito pelo ordenamento. Por mais que um
traficante, por exemplo, queira editar uma lei para tornar lcito seus negcios e se transformar em um
empresrio do trfico, ele no consegue inovar o sistema jurdico-positivo neste sentido, porque no
est apto juridicamente a produzir tal linguagem. Por mais que a populao almeje a diminuio da
maioridade penal para 16 anos, somente a realizao de um processo legislativo tem o condo de
promover tal mudana. Tudo isso porque, o direito s movimentado, transformado e aplicado
mediante a forma por ele prescrita.
Para cada tipo de norma que se pretenda produzir, o sistema estabelece um
procedimento prprio e determina quem so as pessoas capacitadas para realiz-lo. Tal capacidade
atribuda de acordo com a materialidade da regra que se pretende criar e pode ser efetivada tanto pelo
Estado-Poder (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios Executivo, Legislativo e Judicirio)
como por particulares.
Como j vimos (ao tratarmos da classificao das normas jurdicas), as regras que
dispem sobre a criao de outras regras so denominadas de normas de estrutura. Elas disciplinam
os rgos competentes, a matria e o procedimento prprio para produo de novos enunciados
jurdicos, possibilitando a dinmica do sistema.
Para se produzir uma linguagem jurdica, necessariamente se aplica uma regra de
estrutura, que estabelece o procedimento adequado para produzir tal linguagem e a pessoa apta a
realiz-lo. Uma prova disso que todo e qualquer documento normativo contm marcas, indicando a
srie de atos realizados para sua criao (procedimento) e quem os realizou (pessoa competente), ou
seja, a jurisdicizao do fato de sua produo pr-estabelecido por uma norma de estrutura. Pode ser
que, para a criao de uma linguagem jurdica, sejam aplicadas apenas normas de estrutura, o que
ocorre, por exemplo, na produo preceitos gerais e abstratos ou, ento, podem ser aplicadas normas
de estrutura e de comportamento, o que se verifica, por exemplo, quando so produzidas normas
individuais e concretas. Mas, em qualquer caso de produo de linguagem jurdica, necessariamente,
deparamo-nos com a aplicao das denominadas regras de estrutura.
Nem sempre as regras de estrutura (que regulam a aplicao) encontram-se no
mesmo suporte fsico normativo das regras de condutas a serem aplicadas. Da mesma forma, as
proposies que fixam o procedimento, a autoridade competente e estabelecem os requisitos para
criao de novos enunciados podem estar dispersas em diferentes documentos normativos. funo do
337
Procedimento prprio
+
Autoridade competente
aplicador (intrprete) reuni-las, compreend-las e, em cumprimento destas, realizar o devido
procedimento para que os enunciados produzidos sejam considerados como parte integrante do sistema
jurdico, assim como sua funo tambm construir as regras de conduta a serem aplicada a cada caso
concreto.
Na ilustrao acima, por exemplo, o ato administrativo de lanamento produzido
(materialmente) com base na lei que institui o tributo, o processo de sua produo, no entanto,
disciplinado por outra lei (que fixa os requisitos dos atos administrativos), mas nada impede que siga,
tambm, disposies positivadas por resolues, instrues administrativas, ou portarias. Neste
sentido, temos vrias regras (de estrutura e conduta), constantes em diferentes dispositivos,
fundamentando a produo da linguagem do ato administrativo de lanamento.
O grfico abaixo demonstra tal diversidade:
Explicando: Tanto a lei 1, a lei 2, quanto a resoluo, prescrevem como deve ser o
processo de produo do ato administrativo.
Um dos critrios para se estabelecer a hierarquia dos textos normativos, em nosso
ordenamento, a fundamentao jurdica. Considera-se hierarquicamente superior o diploma
normativo no qual se encontram as regras que regulam a produo (formal e material) de outras regras,
tidas como hierarquicamente inferiores quelas. Nestes termos, as normas incididas (ou aplicadas), so
sempre hierarquicamente superiores em relao s normas produzidas.
Lei 1
Ato administrativo
Lei 2
Resoluo
338
Procedimento prprio
+
Autoridade competente
Procedimento prprio
+
Autoridade competente
Procedimento prprio
+
Autoridade competente
No caso ilustrado com a figura do item anterior, por exemplo, apesar da linguagem
da guia de recolhimento decorrer, sucessivamente, da linguagem do ato administrativo de lanamento,
sendo este o instrumento motivador de sua produo, as normas que prescrevem a obrigao de pagar
e o procedimento para realizao do pagamento do tributo so dispostas em lei e no no ato
administrativo, que apenas individualiza tal obrigao. A lei, assim, tomada como fundamento
jurdico tanto do ato administrativo de lanamento, como da guia de recolhimento produzida pelo
contribuinte, o que os coloca em patamar de igualdade hierrquica. Isto justifica o fato da norma do
pagamento, inserida no sistema com a guia de recolhimento, ser capaz de extinguir a obrigao
tributria imposta pelo ato administrativo do lanamento
365
.
A figura abaixo demonstra melhor tal colocao:
Por ora, no entanto, no nos aprofundaremos nas questes de hierarquia e
fundamentao do sistema jurdico, (matria que ser especificamente analisada no captulo sobre
ordenamento e sistema). Interessa-nos agora, apenas fixar que toda norma jurdica produzida
mediante um procedimento de aplicao e que tal procedimento, bem como a autoridade prpria para
365
Falamos aqui em ato administrativo de lanamento sem esquecer que a produo da norma individual e concreta, que
constitui a obrigao tributria, no de exclusividade do fisco, podendo ser tambm instituda pelo particular, mediante
um ato de formalizao, produzido em cumprimento aos deveres instrumentais impostos pela administrao, nos casos dos
tributos sujeitos ao denominado lanamento por homologao.
Lei
Guia de
recolhimento
Ato administrativo
Constituio
Federal
339
realiz-lo determinado pelo prprio sistema. Como ensina TREK MOYSS MOUSSALLEM,
aplicar realizar uma jogada dentro do jogo do direito para criao de uma norma de hierarquia
inferior quela que regula sua produo
366
, ou seja, realizar uma sucesso de atos de acordo com as
regras estabelecidas, positivar normas jurdicas.
7. APLICAO: NORMA, PROCEDIMENTO E PRODUTO
Embora a aplicao, enquanto srie de aes humanas, praticadas no plano da
facticidade social, de acordo com preceitos jurdicos no seja alcanada pelo recorte metodolgico do
direito positivo, ns juristas, a tomamos como objeto de estudo. Isto porque, apesar de ser uma ao
humana, a aplicao, tem um aspecto normativo, uma vez que h um conjunto de regras de estruturas
disciplinando sua ocorrncia. Ademais, ela traduzida em fato jurdico com a produo do documento
normativo. Neste sentido, chamamos ateno para a ambigidade da palavra aplicao, como norma,
fato social, e fato jurdico, o que se explica quando refletimos sobre a dualidade processo/produto e
sobre a convergncia dos termos norma, procedimento e ato, tomados como aspectos do mesmo
objeto, problemas semnticos perspicazmente identificados por PAULO DE BARROS CARVALHO.
Nos dizeres do autor, se nos detivermos na concepo de que o ato sempre
resultado de um procedimento e que tanto ato quanto procedimento ho de estar, invariavelmente,
previstos em normas do direito posto, torna-se intuitivo concluir que norma, procedimento e ato so
momentos significativos de uma e somente uma realidade
367
. Os termos se confundem devido
ambigidade decorrente da trialidade significativa que atinge todas as aes.
Se perguntarmo-nos, em ltima anlise: que a aplicao? Nossa resposta ser:
uma ao humana (realizada nos moldes do direito para a produo de nova linguagem jurdica,
hierarquicamente inferior quela que regula sua produo). E, logo vem-nos mente outra pergunta:
e que ao?.
7.1. Teoria da ao: ato, norma e procedimento
Partindo de uma concepo comunicacional do direito, GREGRIO ROBLES DE
MORCHON explica que a ao concreta o significado de um conjunto de movimentos e no mais o
conjunto de movimentos que acompanham a ao, os quais se apresentam como suporte fsico das
mesmas, ou seja, a ao concreta o resultado de um processo interpretativo. Como exemplifica o
366
Revogao em matria tributria, p. 105.
367
Curso de direito tributrio, p. 399.
340
autor, sabemos que a testemunha, ao levantar a mo, est prestando juramento, e no saudando uma
pessoa do pblico, porque identificamos que esse movimento concreto nessa situao concreta
significa prestar juramento e no saudar um amigo. Temos em nossa mente a idia do que consiste
prestar juramento ante um tribunal, e tambm em que consiste saudar um amigo e sabemos diferenciar
ambas as aes genricas em virtude da situao concreta que vivemos
368
.
O autor denomina ao genrica o conhecimento dos movimentos necessrios para
atingir certa finalidade e ao concreta o significado transmitido com a efetiva realizao daqueles
movimentos. Em suas palavras, a qualificao de um movimento como uma ao concreta possvel
em virtude de dispormos de um modelo genrico de ao em que se encaixa o significado daquele
movimento. Esse modelo genrico de ao se expressa na forma de um procedimento tambm
genrico, que estabelece os requisitos da ao (previso abstrata). A ao concreta, que a atuao na
realidade da ao genrica, se materializa com a realizao deste procedimento (procedimento
concreto).
Segundo o autor espanhol, toda ao concreta pode ser observada sob duas
perspectivas: (i) uma esttica (em seu estar), que contempla a ao como algo j acabado, ou seja,
como produto (ato); (ii) outra dinmica (em seu fazer), que considera a ao como algo que est
acontecendo, ou seja, o curso do seu processamento (processo). Referimo-nos ao como produto
acabado, geralmente, por meio dos substantivos: a saudao, o juramento, o testamento, o contrato, a
declarao, a lei, o decreto, etc. Por outro lado, empregamos verbos para expressar a ao como
processo: saudar, jurar ou prestar juramento, testar, contratar, declarar, legislar, decretar, etc. A
acepo esttica da ao pressupe sua acepo dinmica, porque o produto acabado (ex: contrato)
decorre da realizao do processo concreto (ex: contratar), da mesma forma, o conceito dinmico
pressupe o conceito esttico, porque o processamento (ex: saudar) no existe como tal sem um
resultado concreto (ex: a saudao) o que pode existir sem o produto o procedimento geral
(previso abstrata). Assim, ambas as vises coexistem, sendo uma dependente da outra.
Todo procedimento expresso por meio de uma norma, que estabelece os requisitos
necessrios a serem observados pelo sujeito para realizar uma ao
369
. As receitas culinrias, so um
exemplo tpico de normas procedimentais, sempre lembrado por PAULO DE BARROS CARVALHO.
Segundo o autor a receita de um bolo, formulada por escrito ou passada de pessoa para pessoa pelos
368
Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), vol. 1., p. 231 (traduo nossa).
369
Idem, p. 234.
341
mltiplos canais por onde flui a cultura, so normas no positivadas pelo direito, que fixam um
conjunto de providncias, como a previso de quantidades de substncia, misturas segundo certas
proposies e maneiras especficas, e obedecendo uma ordem seqencial, tudo realizado em
determinadas condies de temperatura e presso, procedimento que h de ser percorrido para que,
encerrado o processo, aparea, como resultado, o produto final, no nosso exemplo, o bolo
370
.
Quando realizamos uma ao concreta agimos de acordo com um procedimento
genrico que vem disposto numa regra, que no outra coisa seno a expresso lingstica do
procedimento. Neste sentido, GREGORIO ROBLES DE MORCHON enfatiza: Toda ao expressa
em termos lingsticos, mediante uma regra que diz qual o procedimento em que consiste a ao
371
.
A norma de procedimento expressa verbalmente a ao genrica, no obriga concretiz-la,
determinando apenas em que consiste a ao. Assim, todos os homens so livres para eleger as aes
que desejam ou no realizar, mas, ao decidirem executar alguma, no tm liberdade quanto ao
procedimento, pois este determinante da ao.
As regras de procedimento estabelecem os requisitos a serem realizados para se
concretizar a ao. Sem o procedimento no h ao e sem regra no h procedimento. Nestes termos,
conclui o autor espanhol: Realizar uma ao seguir a norma de procedimento correspondente. Onde
h ao, h procedimento e tambm h norma. So trs conceitos que se co-implicam, que se seguem
acompanhados sempre. No possvel pensar em um sem relacion-lo, de imediato, com outro
372
.
seguindo esta linha de raciocnio que PAULO DE BARROS CARVALHO
trabalha norma, procedimento e ato como momentos significativos de uma e somente uma realidade.
7.2. Aplicao como ato, norma e procedimento
A palavra aplicao, bem como todas as demais terminologias utilizadas para
denotar aes de ordem jurdica (ex: compra e venda, transao, doao, adoo, compensao,
lanamento, revogao, publicao, votao, etc.), costumam ser empregada nestas trs acepes: (i)
indicando um conjunto de disposies jurdicas que regulam o desdobramento procedimental para a
criao de nova linguagem jurdica (normas); (ii) apontando o procedimento, entendido como a
sucesso de atos praticados pela autoridade competente, na forma da lei, com vistas produo de
370
Curso de direito tributrio, p.399.
371
Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), vol. 1, p. 236.
372
Idem, p. 238.
342
novos enunciados jurdicos (procedimento); (iii) significando o resultado da atividade desenvolvida no
curso daquele procedimento (ato).
A prevalncia de qualquer destas trs acepes depender do interesse de quem
examina o assunto. Uma coisa, no entanto, certa: no pode haver o ato de aplicao, sem que o
procedimento de aplicao tenha sido implementado e no haver procedimento (nem ato), sem que
uma regra de aplicao, pertencente ao direito positivo, prescreva os termos de sua realizao.
As normas de aplicao so proposies jurdicas que qualificam os sujeitos capazes
de produzir o ato e determinam toda atividade necessria para a produo deste ato. So denominadas
de regras de estrutura, as quais dividimos em: (i) normas de competncia, as que capacitam sujeitos; e
(ii) normas de procedimento (em sentido estrito), as que prescrevem a srie de movimentos necessrios
para se produzir o ato.
O procedimento de aplicao a concretizao real desta movimentao, ou seja,
uma atividade, que supe a pluralidade organizada de atos, praticados seqencialmente, com a
finalidade de atingir um resultado. Analiticamente, podemos decompor o procedimento para o estudo
especfico de cada ato que, por acaso, venha a interessar-nos. Quando, por exemplo, analisamos o
processo legislativo especfico de uma dada lei, podemos observar cada ato em separado: projeto,
iniciativa, votao na Cmara dos Deputados, votao no Senado, veto presidencial, publicao, etc.,
sem esquecer que cada um destes atos resultado de procedimento prprio. Assim, no curso de um
procedimento, podemos ter vrios outros procedimentos incidentais, basta s querermos desmembr-
los, para fins de anlise.
PAULO DE BARROS CARVALHO chama ateno para a importncia do elemento
tempo na compreenso da atividade procedimental. Segundo o autor, a cronologia faz parte integrante
da noo de procedimento, a tal ponto que, se no detectarmos a presena do fator temporal
intrometido entre os atos, estaremos diante de aes simultneas destitudas de sentido enquanto
categoria definida de atuosidade
373
. Cada ato realizado em condies precisas de espao e de tempo,
entretanto, o fluxo temporal se interpe na sucesso das aes praticadas. Sendo o procedimento uma
seqncia organizada de atos, h um tempo interno, inerente a cada ato isolado e um tempo externo,
referente durao da seqncia, que marca o incio e o trmino do procedimento, o qual se esgota
com o aparecimento do resultado previsto.
373
Curso de direito tributrio, p. 401.
343
O ato de aplicao, enquanto produto acabado, resultado do processo de aplicao,
nada mais do que um corpo de linguagem prescritiva, suporte fsico para construo de normas
jurdicas em sentido estrito. Partindo de uma teoria comunicacional do direito, no podemos aceitar a
existncia de atos jurdicos que no se apresentem em linguagem, e mais ainda, em linguagem escrita,
pois esta a forma pela qual o direito posto se manifesta. Pensemos em qualquer ato jurdico e to
logo nos depararemos com um texto (ex. contratos, atos administrativos, recibos de pagamento,
sentenas, certides, etc.).
No ato de aplicao invariavelmente encontramos a positivao de pelo menos duas
normas: (i) a regra de estrutura, que dispe sobre o procedimento e a autoridade competente para
realiz-lo; e (ii) a regra objeto da aplicao.
A primeira norma (i), do tipo geral e concreta, a qual denominamos de regra
introdutora, descreve em seu antecedente a ocorrncia do procedimento prprio, realizado pela
autoridade competente e prescreve em seu conseqente a obrigatoriedade de todos observarem os
preceitos produzidos por aquele procedimento. a norma resultado da positivao da regra de
aplicao, ou seja, das proposies gerais que disciplinam o procedimento e a autoridade competente
para realizao do ato. Ela nos permite dizer qual o ato, pois aponta o procedimento realizado para
sua criao, o que nos possibilita confront-lo com as regras gerais de aplicao, para controle de sua
legitimidade. Em suma, pelo ato, mais especificamente pela positivao da regra introdutora nele
contida, que identificamos o procedimento realizado e as normas que o fundamentam juridicamente. O
ato concretiza o procedimento e o procedimento resulta no ato, de modo que sem aquele, este no
existe e sem este aquele no produzido, por isso, a coexistncia entre ambos.
A segunda norma (ii) o objeto da aplicao, aquela que se pretende criar com a
produo do ato. Pode ser mais de uma, de todos os tipos, quantas forem possveis de serem
construdas a partir dos enunciados prescritivos produzidos, excluindo-se a regra introdutora.
Com relao a ambos os tipos de normas, estud-las-emos mais profundamente no
captulo reservado s fontes do direito. Por ora, fica a constatao de nelas concretamente residir os
aspectos dinmico e esttico do ato de aplicao.
Tratar a aplicao como norma, como procedimento ou como ato, passa a ser
apenas uma deciso de quem deseja examin-la. Examinar as normas disciplinadoras do modo de
produo da linguagem jurdica significa estudar a sintaxe da aplicao. Examinar o procedimento
344
realizado, significa estudar a pragmtica da aplicao e examinar o ato produzido significa estudar a
semntica da aplicao
374
.
8. ANLISE SEMITICA DA INCIDNCIA
De tudo que foi dito, afastando a trialidade existencial de procedimento, ato e norma
para considerar o fenmeno (acontecimento), pode-se dizer que incidncia e aplicao resumem se a
uma ocorrncia identificada no tempo e no espao, concernente dinmica do direito, ou seja, sua
positivao, que depende do homem, da sua capacidade de interpretao e produo de uma nova
mensagem. Partindo-se da premissa de que a linguagem constitui a realidade, todo e qualquer
acontecimento consistente no esforo humano canalizado para produo de uma mensagem jurdica
pressupe uma linguagem que o constitui como tal, tornando-o inteligvel ao nosso intelecto.
Neste sentido, a incidncia tomada como um fato, enunciado lingstico ou
linguagem responsvel pela interseco entre os mundos do direito (linguagem jurdica) e da realidade
social (linguagem social), assim como a linguagem da experincia, na qual teoria (linguagem
cientfica) e prtica (linguagem dos casos concretos) se encontram.
Sob esta perspectiva, podemos utilizar os recursos da semitica e estudar a incidncia
sob os enfoques: (i) sinttico, (ii) semntico e (iii) pragmtico. So trs pontos de vista sobre o mesmo
objeto, o que torna a anlise do fato-incidncia muito mais rica.
(i) sob o aspecto sinttico, a incidncia se perfaz em duas operaes lgicas: (i.a)
subsuno (incluso de classes) do fato e da relao; e (i.b) imputao ao fato dos efeitos jurdicos
(implicao).
(ii) sob a faceta semntica, a incidncia a determinao do contedo dos
enunciados normativos gerais e abstratos, caracteriza-se, portanto, como uma operao de denotao.
(iii) sob o ponto de vista pragmtico a incidncia tambm se completa em duas
operaes: (iii.a) interpretao (do fato e do direito); e (iii.b) constituio da nova linguagem jurdica.
374
Isto serve para qualquer ao jurdica. A adoo, por exemplo, sempre lembrada por PAULO DE BARROS
CARVALHO, podemos falar da adoo enquanto: i) conjunto de normas (A adoo est disposta nos artigos x a y do
Estatuto da Criana e do Adolescente); ii) procedimento (a adoo est sendo realizada na 1 vara); iii) ato (o juiz concedeu
a adoo), isto porque invariavelmente temos: as normas de adoo, o processo de adoo e o ato da adoo, como
resultado daquele processo. Outro exemplo: a deciso judicial, temos: i) as normas que regulam a deciso; ii) o
procedimento da deciso, ou seja, o fato do juiz reunir todos os elementos do processo, realizar juzos valorativos; e iii) a
deciso, enquanto ato, produto acabado de tal proceder.
345
O homem atribui sentido aos enunciados prescritivos gerais e abstratos, juntamente com aqueles que o
remetem ao evento (enunciados fticos linguagem das provas), e constitui o fato e a relao jurdica,
com a insero no sistema, da norma individual e concreta.
O isolamento da incidncia como atividade lingstica, no s possibilita sua
decomposio analtica, como deixa assentado que s o ser humano com seu aparato mental,
produzindo um ato de fala, que expressa seus valores e manifesta sua vontade, poder fazer com que a
norma incida.
Mas, vejamos separadamente a incidncia sob cada um destes aspectos.
8.1. Plano lgico: subsuno e imputao
Como j vimos (no captulo IX, sobre o contedo normativo), a hiptese e o
conseqente da norma geral e abstrata (a ser incidida), contm critrios de identificao de um fato a
ser promovido categoria de jurdico e de um vnculo intersubjetivo a ser instaurado juridicamente,
assim que verificado o fato. Tais proposies consubstanciam-se em conceitos conotativos, classes
delimitadoras de infinitas ocorrncias e de infinitas relaes no plano social.
O aplicador do direito, ao reconhecer que um acontecimento concreto, verificado
num determinado ponto do espao e numa especfica unidade de tempo, inclui-se na classe delimitada
pelos critrios da hiptese da norma geral e abstrata, realiza a subsuno do fato norma. Em razo da
causalidade normativa (implicao dentica), imputa a relao jurdica definida de acordo com os
critrios prescritos no conseqente da mesma norma geral e abstrata, realizando outro ato de
subsuno, agora com relao ao vnculo jurdico, que um fato relacional. E, com isso, produz a
norma individual e concreta, cujas proposies (antecedente e conseqente) so tambm classes, mas
de um elemento s.
A incidncia, sob este aspecto, se resume a duas operaes lgicas, uma de
subsuno entre os conceitos conotativos (norma geral e abstrata) e denotativos (norma individual e
concreta) e outra de implicao da relao jurdica ao fato jurdico.
A subsuno nada mais do que uma operao de incluso de classes. Dizemos que
h subsuno do fato norma quando este guarda absoluta identidade com o desenho da hiptese
(quando se enquadra dentro do campo de extenso de seu conceito). Da mesma forma, h subsuno
346
da relao jurdica norma por esta se encaixar exatamente ao modelo do conseqente. Trata-se de
uma operao lgica de encaixe entre dois conceitos: um conotativo (hiptese e conseqente da norma
geral e abstrata) e outro denotativo (fato jurdico e relao jurdica). O fato para ser jurdico deve
encaixar-se classe da hiptese e a relao jurdica a ser instaurada deve enquadrar-se classe do
conseqente.
Tecnicamente, a subsuno uma relao de incluso, que se d entre classes de
extenses diferentes: a classe denotativa (de um elemento s) do fato (ex: Joo matou Jos, Lima
auferiu renda, Artur causou dano Maria, etc.) encaixa-se na classe conotativa da hiptese (ex: matar
algum, auferir renda, causar dano, etc.); a classe denotativa (de um elemento s) da relao jurdica
(Joo deve cumprir pena de priso de 8 anos, Lima deve pagar ao fisco federal a importncia de R$
1.500,00, Artur deve pagar Maria o valor de R$ 50.000,00, etc.) encaixa-se na classe conotativa do
conseqente normativo (ex: aquele que matou dever cumprir pena de x a y anos, aquele que auferiu a
renda dever pagar 15% da renda auferida ao fisco federal, aquele que causou o dano deve indenizar o
valor do dano ao lesado, etc.).
A expresso incluso de classe faz referncia a esse processo de enquadramento do
fato hiptese normativa abstrata e da relao jurdica ao conseqente normativo geral. A subsuno
sempre do fato e da relao e no somente do fato.
Para que se d a subsuno, o encaixe deve ser completo, implementando aquilo que
denominamos de tipicidade. O fato social, a ser juridicizado com a produo da norma individual e
concreta, tem de satisfazer todos os critrios identificadores da hiptese da norma a ser incidida, assim
como, a relao jurdica a ser instaurada tem de satisfazer todos os critrios identificadores do
conseqente desta norma. Basta que apenas um no seja verificado para que a operao lgica fique
inteiramente comprometida. Se o fato no preencher todos os requisitos conotativos da hiptese, no se
enquadrar como elemento da classe, conseqentemente, a ele no ser imputado os efeitos jurdicos
prescritos no conseqente, restando prejudicada a subsuno.
Como operao lgica, a subsuno se verifica entre linguagens de nveis diferentes.
Para explicar tal separao PAULO DE BARROS CARVALHO utiliza-se do esquema das propores
aritmticas
375
. Conforme ensina o autor:
375
Curso de direito tributrio, p. 245-246.
347
=
H
C
=
Fj
Rj
Rj
Fj
=
C
H
(i)
A hiptese est para o fato jurdico assim como a conseqncia est para a relao
jurdica. Os antecedentes da proporo (H e C) figuram no mesmo plano o plano normativo geral e
abstrato; por outro lado, os conseqentes da proporo aritmtica (Fj e Rj) tambm se acham no
mesmo plano o plano da norma individual e concreta, que fala do mundo real social. Invertendo-se
os meios ou os extremos as propores no se alteram
376
, estando sempre presente a distino entre a
plataforma das prescries normativas gerais e abstratas (H e C) e daquela formada pelos enunciados
factuais (Fj e Rj).
Em seus escritos, PAULO DE BARROS CARVALHO atribui nfase anlise lgica
ao estudar o fenmeno da incidncia. Nos dizeres do autor, a chamada incidncia jurdica se reduz,
pelo prisma lgico, a duas operaes formais: a primeira, de subsuno ou de incluso de classes, em
que se reconhece que uma ocorrncia concreta, localizada num determinado ponto do espao social e
numa especfica unidade de tempo incluis-se na classe dos fatos previstos no suposto da norma geral e
abstrata; outra, a segunda, de implicao, porquanto a frmula normativa prescreve que o antecedente
implica a tese, vale dizer, o fato concreto, ocorrido hic et nunc, faz surgir uma relao jurdica tambm
determinada, entre dois sujeitos de direito
377
.
Embora possa parecer, inexiste simultaneidade entre o fato jurdico e a relao
jurdica. Um fato jurdico porque atrelado a efeitos jurdicos, sem a relao imposta normativamente
o fato perde a juridicidade, na ordem inversa, sem o fato jurdico no h relao jurdica. Neste
sentido, so esclarecedoras as palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO: Inexiste cronologia
entre a verificao emprica do fato e o surgimento da relao jurdica, como se poderia imaginar num
exame mais apressado. Instaura-se o vnculo abstrato, que une pessoas, exatamente no instante em que
aparece a linguagem competente que relata o evento descrito pelo legislador. Para o direito so
entidades simultneas, concomitantes
378
.
376
377
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 9.
378
Curso de direito tributrio, p. 245.
H
Fj
C
Rj
(invertendo-se os meios)
(invertendo-se os extremos)
348
O fato jurdico inexiste sem os efeitos normativos a ele imputados e os efeitos
jurdicos inexistem sem os fatos. Nestes termos, dizemos que a imputao automtica e infalvel ao
fato jurdico, porque, constitudo este, devido causalidade dentica, instantaneamente, instaura-se o
vnculo jurdico relacional entre sujeitos.
8.2. Plano semntico: denotao dos contedos normativos
No processo de positivao, os enunciados conotativos da norma geral e abstrata a
ser incidida funcionam como modelo para orientar o aplicador na construo dos enunciados
protocolares juridicizadores dos fatos e instauradores dos vnculos relacionais entre sujeitos. Os fatos e
as relaes jurdicas so constitudos por normas individuais e concretas produzidas de acordo com a
demarcao dos critrios da norma geral e abstrata, mediante o processo que denominamos de
aplicao, no qual a incidncia, enquanto atividade humana, opera-se.
Se restringirmos nossa anlise ao campo dos contedos normativos, tal atividade se
apresentar como uma operao de denotao das significaes gerais e abstratas da norma incidida,
mediante a qual o aplicador aponta os elementos que se subsomem amplitude do conceito legislado,
concretizando-os. Neste sentido, dizemos que a incidncia pode ser vista, sob o aspecto semntico,
como uma operao de denotao (ou concretizao) dos contedos normativos.
Tal enfoque leva em conta o trabalho do aplicador de transformar contedos
normativos gerais e abstratos em individuais e concretos. Certamente que este esforo se encontra
intrinsecamente ligado operao lgica de subsuno. Para subsumir necessrio denotar e para
denotar e necessrio subsumir.
A denotao a que nos referimos aqui, no entanto, difere-se da operao de encaixe
entre conceitos conotativos e denotativos (estudada no item acima, como subsuno). Trata-se da
atividade de criao de um conceito concreto a partir de um conceito genrico. A subsuno se
materializa com a denotao, nela (denotao) que identificamos a ocorrncia da operao entre
classes realizada mentalmente pelo aplicador. Assim sendo, analisar a incidncia como uma atividade
denotativa apenas outro ngulo de observao do mesmo objeto.
Voltando-nos para os contedos normativos (campo semntico), com a incidncia
temos a reduo das significaes gerais e abstratas da hiptese do conseqente s unidades
significativas da norma individual e concreta (fato jurdico e relao jurdica). Nestes termos, a
349
incidncia , no fundo, uma operao de identificao dos elementos de conceitos normativos gerais e
abstratos.
Um magistrado, por exemplo, ao prolatar uma sentena, sabendo que o direito
positivo brasileiro estabelece, em carter geral e abstrato, a obrigao de cumprir uma pena quele que
matar algum, reconhece que Aristeu matou Bernardo no dia 25 de abril de 2006, s 9 horas, na rua x
n. y, no Municpio de So Paulo-SP e, em razo disso, lhe impe o dever de cumprir a pena de 8 anos
de recluso. Da norma geral e abstrata do homicdio, o juiz constri a norma individual e concreta,
fazendo-a, assim, incidir naquele caso em concreto.
Como j vimos, os enunciados da norma geral e abstrata delimitam duas classes
(hiptese e conseqente), que comportam inmeros elementos representativos (ex: fato 1, fato 2, fato
3...; relao intersubjetiva 1, relao intersubjetiva 2, relao intersubjetiva 3... etc.). Denotar significa
apontar, identificar os elementos da classe. O aplicador, ao criar a norma individual e concreta,
determina os conceitos da norma geral e abstrata, identificando apenas um elemento para cada classe
(i.e. o fato jurdico x relatado em seu antecedente; e a relao jurdica y prescrita em seu
conseqente). Deste modo, dizemos que a incidncia, sob o prisma semntico, resume-se a uma
operao de denotao das significaes da norma geral e abstrata, porque o aplicador, ao produzir a
regra individual e concreta, identifica todos os critrios presentes naquela norma, determinando e
individualizando seus conceitos de acordo com a situao concreta.
A regra matriz de incidncia desempenha importante papel nesta operao. A
passagem da norma geral e abstrata para a individual e concreta, como ensina PAULO DE BARROS
CARVALHO, consiste na reduo unidade: de classes com notas que se aplicariam a infinitas
situaes abstratas, nos critrios da hiptese (e tambm da conseqncia), chegamos a classes com
notas que correspondem a um e somente um elemento de cada vez (o fato jurdico e a relao
jurdica)
379
. Os enunciados da norma individual e concreta so apurados com precisa determinao dos
critrios da hiptese e do conseqente da regra-matriz, de forma que a classe de infinitos
acontecimentos prevista na hiptese (de previso futura), transforma-se num conjunto de um nico
acontecimento concreto (de previso passada), devidamente identificado no tempo e no espao e a
classe de infinitas relaes prescrita no conseqente, converte-se num conjunto de uma nica relao,
instituda entre sujeitos individualizados e com objeto determinado.
379
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 121.
350
Com a incidncia, todos os critrios da regra-matriz so transformados pelo
aplicador, em elementos na norma individual e concreta. H, no antecedente: (i) um elemento material,
que se refere a uma ao ou estado concreto; (ii) um elemento espacial que alude a um local
especfico; e (ii) um elemento temporal, que se reporta a um momento no passado. E, h no
conseqente: (iv) um elemento pessoal, referente aos sujeitos da relao (ativo e passivo); e (v) um
elemento prestacional que se refere a um objeto determinado.
Para que haja incidncia, sob o ponto de vista semntico, todos os critrios da regra-
matriz devem estar reduzidos unidade de elementos na norma individual e concreta. Basta um dos
critrios no estar denotado, que a incidncia no se verifica.
O aplicador obtm o enunciado que constitui o fato como jurdico (antecedente da
norma individual e concreta) pela reduo unidade da classe de notas (conotao) da hiptese da
regra geral e abstrata incidida (RMI). Da mesma forma, obtm o enunciado que instaura o vnculo
jurdico entre sujeitos, pela reduo unidade da classe de notas (conotao) do conseqente da regra
geral e abstrata incidida (RMI). Trata-se, tal operao, da denotao dos contedos normativos,
atividade mediante a qual se passa da abstrao da regra matriz de incidncia para a concretude da
norma aplicada.
8.3. Plano pragmtico: interpretao e produo da norma individual e concreta
Sob o ponto de vista pragmtico a incidncia pode ser vista como duas operaes: (i)
uma de interpretao que se subdivide em: (i.a) interpretao dos enunciados probatrios que reportam
o aplicador ocorrncia do evento; e (i.b) interpretao do direito (construo da norma a ser
aplicada); e (ii) outra de produo da linguagem competente, que relata o fato (constituindo-o como
fato jurdico) e instaura o vnculo relacional (obrigatrio, proibido ou permitido) entre sujeitos.
Por envolver atos de interpretao e escolhas do aplicador, aprofundarmo-nos na
anlise pragmtica da incidncia requer o ingresso nas teorias da interpretao, deciso e
argumentao, estudo um tanto quanto extenso e complexo, da porque reservarmos o prximo
captulo para ele. Por ora, fica o registro de que a incidncia, observada pelo ngulo pragmtico,
resume-se tambm a duas operaes: interpretao e constituio de uma nova linguagem jurdica.
351
9. DO DEVER SER AO SER DA CONDUTA
Para o direito, alcanar sua finalidade de regular condutas no uma tarefa de todo
to fcil, pois alm de passar por todas as dificuldades da incidncia, a passagem da linguagem do
dever ser para a do ser pressupes um ato de vontade das pessoas integrantes da relao jurdica.
Com a produo da norma individual e concreta, veiculada pelo ato de aplicao, a
regulao jurdica se aproxima do campo material das condutas intersubjetivas, mas no tem o condo
de, por si s, alter-lo. Para isso, faz-se necessrio um ato de vontade humano direcionado ao
cumprimento daquilo que a regra prescreve. Tudo isso porque, como j repetimos em inmeras
passagens deste trabalho, no se transita livremente do mundo do dever ser para o do ser
380
, trata-se
de linguagens diferentes, institudas em cdigos distintos de forma que uma no interfere fisicamente
na outra.
O grfico abaixo demonstra melhor aquilo que queremos explicar.
Explicando: a linguagem jurdica vem seguindo seu ciclo de positivao passando da
previso constitucional, abstrao legal, concretizao com a produo da norma individual e
concreta (planos representados, respectivamente, no grfico pelos trs retngulos de cima). Todos estes
380
Idem, Direito tributrio fundamentos jurdicos da incidncia, p. 8.
PLANO DO
DEVER SER
PLANO DO
SER
Lei
Constituio
Sentena
Norma geral e abstrata
Norma individual e concreta
Linguagem social
Constituio
Norma da estrutura
Linguagem social modificada
352
dispositivos pertencem ao direito positivo (dever-ser) e disciplinam condutas intersubjetivas (),
porm, no tm o condo de alter-las (como mostra a penltima figura retangular que representa a
linguagem social). Para que tais condutas sejam modificadas preciso a produo de outra linguagem
social (representada pela figura retangular inferior, onde se nota o estabelecimento efetivo das relaes
entre sujeitos ), o que pressupe um ato de vontade neste sentido.
Entre cada plataforma de linguagem h sempre um ato de vontade humano. No
mundo do dever ser este ato dirigido prescrio de condutas intersubjetivas, no mundo do ser,
ao estabelecimento de relaes entre pessoas. A norma individual e concreta o mais perto que a
linguagem jurdica pode chegar para disciplinar condutas intersubjetivas. Mas, entre ela e a efetiva
modificao da conduta regrada existe um abismo, que a vontade humana de cumprir ou no a
prescrio jurdica. Uma sentena (norma individual e concreta), por exemplo, enquanto proposio
prescritiva, serve apenas como instrumento motivador desta vontade, porque fisicamente em nada pode
alterar a linguagem do ser.
Como bem assinala PAULO DE BARROS CARVALHO, legislar uma arte. Ao
produzir a regra o legislador dever mobilizar ao mximo as estimativas, crenas e sentimentos do
destinatrio, de tal modo que o faa inclinar-se ao cumprimento da conduta prescrita, pois nesse
empenho se resolver a eficcia social (cumprimento) da norma jurdica. aqui que ingressa a
sensibilidade de quem legisla, conhecendo a ideologia e os dados culturais daquele de quem se espera
os procedimentos desejados
381
. A sano (entendida em acepo ampla de penalidade e
coercitividade) exerce importante papel na deciso humana de respeitar os preceitos jurdico-
normativos. um instrumento fundamental utilizado pelo legislador para garantir a eficcia social das
regras por ele institudas. Mas, enquanto norma jurdica que , tambm no tem o condo de atuar
diretamente na instaurao de qualquer relao intersubjetiva, nada mais pode fazer seno agir,
indiretamente, no sentido de determinar a vontade humana para o cumprimento da conduta prescrita.
A incidncia normativa um processo de aproximao, da linguagem jurdica, ao
plano social, que o direito pretende modificar. A linguagem prescritiva do sistema jurdico, com seu
amparo coercitivo, representa apenas uma motivao para o direcionamento do comportamento social,
que s efetivamente alterado, mediante um ato de deciso, de cumprir, ou no, a norma, ato que
compete ao sujeito, isto , aquele a quem a norma se dirige. At mesmo a efetivao da coero,
instrumento objetivador da juridicidade, depende de um ato de vontade do agente de cumpri-la.
381
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 12-13.
353
Assim, se para a produo de efeitos jurdicos necessrio a criao de uma norma
individual e concreta (nova linguagem jurdica), para alterar comportamentos humanos necessrio a
realizao de uma nova conduta (nova linguagem social). Cada sistema tem um cdigo prprio que o
individualiza e, justamente por isso, no h possibilidade de fuso entre eles. A teoria tradicional da
incidncia no trabalha com tal separao, mas, ao se compreender o direito dentro de um contexto
comunicacional, impossvel conceber que qualquer norma jurdica atue diretamente no campo
material das condutas intersubjetivas, modificando-as, pois trata-se de sistemas diferentes, cada qual
com seu cdigo prprio.
354
CAPTULO XII
APLICAO - INTERPRETAO E TEORIA DA DECISO
SUMRIO: 1. Interpretao e produo da norma individual e concreta; 1.1.
Interpretao da linguagem do fato; 1.2. Interpretao do direito; 1.2.1. O
problema das lacunas; 1.2.1.1. As lacunas na doutrina; 1.2.1.2. Completude
sistmica; 1.2.1.3. Integrao de lacunas; 1.2.1.3.1. Analogia; 1.2.1.3.2.
Costumes; 1.2.1.3.3. Princpios gerais do direito; 1.2.1.3.3.1. Princpio como
enunciado, proposio ou norma jurdica; 1.2.1.3.3.2. Princpio como valor e
como limite objetivo; 1.2.1.3.3.3. Aplicao: entre regras e princpios; 1.2.2. O
problema das antinomias; 1.2.2.1. Critrio hierrquico; 1.2.2.2. Critrio
cronolgico; 1.2.2.3. Critrio da especialidade; 1.3. Constituio da linguagem
competente e teoria da deciso jurdica.
1. INTERPRETAO E PRODUO DA NORMA INDIVIDUAL E CONCRETA
Como vimos no captulo anterior, sob o ponto de vista pragmtico, a analise da
incidncia pode ser dividida em duas operaes: (i) uma de interpretao; (i.a) dos enunciados
probatrios que reportam o aplicador ocorrncia de um evento; e (i.b) do direito (construo da
norma a ser aplicada); e (ii) outra de produo da linguagem competente, que relata o fato
(constituindo-o como fato jurdico) e instaura o vnculo relacional (obrigatrio, proibido ou permitido)
entre sujeitos.
Vejamos detalhadamente cada uma destas etapas:
1.1. Interpretao da linguagem do fato
Aplicar o direito consiste em enquadrar um caso concreto norma jurdica adequada
e imputar-lhe os efeitos nela prescritos. Para fazer incidir uma norma, o aplicador, primeiro verifica a
ocorrncia de um acontecimento, interpretando os suportes factuais a que tem acesso, para depois
indagar-se a que tipo jurdico este se enquadra, realizando, assim, a subsuno do conceito do fato ao
conceito da hiptese normativa.
Como j dissemos em inmeras passagens deste trabalho, a realidade nada mais do
que um sistema articulado de smbolos num contexto existencial. O conceito do fato jurdico
construdo por meio da interpretao de uma linguagem, pois o aplicador no tem acesso ao
355
acontecimento que, enquanto ocorrncia material percebida no mundo da experincia, dissemina-se no
tempo e no espao. Nestes termos, o nico instrumento de que dispe para constatar a ocorrncia do
evento a linguagem que o relata e a nica forma que tem de conhec-lo interpretando-a.
As situaes, escolhidas pelo legislador como hipteses de normas abstratas
perceptveis por nossos sentidos, assim que se concretizam j passam a fazer parte do passado e a elas
s possvel fazer referncias, por meio de uma linguagem. Neste sentido, pondera MARIA RITA
FERRAGUT que aquilo que realmente sabemos sobre os eventos so suas verses, concretizadas por
meio da linguagem que os descrevem e os transformam em fatos
382
. As verses nada mais so do que
diferentes descries que fazem referncia ao mesmo acontecimento e o fato, enquanto enunciado
lingstico, apenas uma verso do evento, constituda com base em outras linguagens (as quais
designamos de probatrias).
Vejamos o exemplo de dois veculos que se chocam numa auto-estrada (evento). O
acontecimento do mundo fenomnico, ou seja, a ocorrncia do choque, perceptvel aos sentidos
humanos, esvai-se no tempo e no espao. Restam, no local do acidente, destroos dos carros, marcas
de pneu no asfalto, que se consubstanciam numa linguagem indiciria mediante a qual possvel
constituir factualmente a ocorrncia do evento. Testemunhas que presenciaram o acidente tambm so
capazes de relatar o ocorrido, mas nunca de reconstitu-lo, com toda a riqueza de seus detalhes, o que
apresentam apenas uma verso do acontecimento. Policiais chegam ao local da batida, medem as
distncias entre os destroos, registram e fotografam todas as evidncias, construindo nada mais do
que outra linguagem sobre o acidente. O perito, diante de todo o material coletado pelos policiais,
emite um laudo tcnico, produzindo a sua verso sobre o acidente, e assim se segue. Podemos ter
infinitas verses sobre a coliso, verses que ora se completam, ora se contradizem e ora se afirmam,
mas o evento em si, a sua essncia, nunca teremos acesso. Nem mesmo se uma foto tivesse sido tirada
no exato momento do choque entre os veculos, ou se um vdeo tivesse sido gravado, as imagens
seriam s mais uma linguagem sobre o evento, uma verso, que goza apenas de maior preciso
descritiva.
H um grande distanciamento entre a sensao emprica da ocorrncia e sua
constituio lingstica, o que leva-nos a admitir a possibilidade de depararmo-nos com verses que
no traduzem o acontecimento. Digamos que neste mesmo exemplo dado acima, antes dos policiais
chegarem ao local do acidente os vestgios tenham sido manipulados, as verses tanto do boletim de
382
Presunes no direito tributrio, p. 32.
356
ocorrncia, quanto do laudo pericial poderiam restar prejudicadas, mesmo assim, no deixariam de ser
verses sobre aquele acidente. Nestes termos, incompatibilidade entre o acontecimento real e suas
verses fticas inevitvel.
O aplicador do direito tem acesso apenas s verses, nunca ao acontecimento. Isto
porque, como pontua FABIANA DEL PADRE TOM, os eventos no ingressam nos autos
processuais, o que integra o processo so sempre fatos: enunciados que declaram ter ocorrido uma
alterao no plano fsico-social, constituindo a facticidade jurdica
383
. Se, por exemplo, a parte lesada
do acidente acima citado, pleitear juridicamente a aplicao da norma de indenizao, o juiz (investido
na figura de aplicador do direito) s ter conhecimento do ocorrido por meio das verses constantes do
processo. Tudo que ele ter sobre o evento ser um conjunto de textos (i.e. o relato do autor fato
alegado, o relato do ru fato contraditrio, testemunhos, documentos, laudos periciais, fotos, etc.) e
sua funo, como aplicador, de interpret-los, para construir a sua verso do evento: a verso
desencadeadora de efeitos jurdicos, aquela que se consubstancia no fato jurdico (enunciado
antecedente da regra individual e concreta, produzida com o ato de aplicao).
um longo e muitas vezes complicado caminho a seguir. Primeiro, porque no
qualquer verso que ingressa no mundo jurdico como apta a relatar acontecimentos sociais e servir
como base para a constituio de fatos jurdicos. Segundo, porque todo este trabalho envolve atos de
valorao e deciso do aplicador.
Como j vimos (no captulo anterior), para que um enunciado pertena a determinado
sistema necessrio que ele seja relatado no cdigo prprio deste sistema, de acordo com as regras por
ele prescritas e pelos instrumentos por ele credenciados para tanto. Reforando tal afirmao,
CHRISTINE MENDONA exemplifica: a escritura indicada como instrumento para dizer que
ocorreu o evento de uma venda de um imvel; a certido de nascimento indicada como instrumento
para dizer que ocorreu o nascimento de uma pessoa, a nota fiscal indicada como instrumento para
dizer que ocorreu o evento de uma venda de um produto. A escritura pblica, a certido de
nascimento e a nota fiscal jurisdicizam, respectivamente, a venda de um imvel, o nascimento de uma
pessoa e a venda de um produto, constituindo tais fatos como jurdicos. Isto porque so elas as
linguagens que o sistema prescreve como competentes para tanto. Tais linguagens, alm de
constitutivas de direitos e deveres, ainda servem como provas, quando apresentadas para a constituio
de outro fato jurdico, desde que oferecidas em momento oportuno.
383
A prova no direito tributrio, p. 35.
357
Ainda que os eventos possam ser expressos por diversas formas de linguagem, s
podem ser utilizadas, para a conformao do fato jurdico, as verses produzidas na forma imposta
pelo direito, ou seja, aquela linguagem que se sustenta nas provas admitidas juridicamente.
Uma prova, por exemplo, constituda por meio ilcito, por maior poder de
convencimento que tenha, no apta para relatar juridicamente o evento, no podendo ser utilizada
pelo aplicador na interpretao e conformao do fato jurdico, pois o sistema no lhe confere efeitos
probatrios. Falamos, ento: (i) numa linguagem das provas em sentido amplo, fazendo referncia a
qualquer conjunto de signos que nos reporte ao evento; e (ii) numa linguagem das provas em sentido
estrito, aludindo aos conjuntos de signos aos quais o direito confere efeitos probatrios
384
.
A linguagem das provas (em sentido estrito) o modo pelo qual os fatos (alegados)
do mundo social sustentam-se juridicamente, sendo passveis de serem juridicizados, para
constiturem-se numa realidade do sistema. Como explica com propriedade PAULO DE BARROS
CARVALHO, os fatos jurdicos sero aqueles enunciados que puderem sustentar-se em face das
provas em direito admitidas. O discurso do direito posto indica fato por fato, os instrumentos
credenciados para constitu-los, de tal sorte que os acontecimentos do mundo social que no puderem
ser relatados com tais ferramentas de linguagem no ingressam nos domnios do jurdico, por mais
evidentes que sejam
385
. Da a mxima: para o juiz, aquilo que no est nos autos no est no
mundo.
Mesmo que o aplicador tenha presenciado o ocorrido, a constituio do fato a
subsumir-se hiptese normativa est restrita interpretao das linguagens admitidas juridicamente
para esta finalidade. Podemos dizer, assim, que a aplicao da norma est sempre condicionada s
verses trazidas, ao aplicador, por meio de uma linguagem competente, juridicamente admitida
386
.
Como bem explica FABIANA DEL PADRE TOM, o sistema positivo brasileiro
no adota o critrio do livre convencimento para tomada de deciso do julgador, que confere liberdade
384
A estes signos de efeitos jurdicos probatrios FABIANA DEL PADRE TOM atribui a qualificao de fatos jurdicos
em sentido amplo, como veremos quando tratarmos do fato jurdico, no prximo captulo.
385
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 98.
386
vlido aqui transcrever a hiptese suscitada por PAULO DE BARROS CARVALHO: Admitamos uma hiptese
radical: o magistrado a quem cabe julgar um feito, por coincidncia, viu ocorrer o evento, formando seu juzo a respeito da
autoria de certo delito. Ao consultar os autos, porm, no encontra entre os argumentos e as provas juntadas pelas partes,
elementos hbeis para tipificar a ocorrncia segundo o juzo que formulara tempos atrs. Ser que caberia a esse juiz
decidir sem fundamentos que o sistema requer? E, ainda que o faa, no haveria uma forte tendncia de que a sentena viria
a ser reformada pelo rgo jurisdicional em instncias superiores? Pensamos que sim. (Direito tributrio: fundamentos
jurdicos da incidncia, p. 98.).
358
total a quem decide, permitindo, inclusive que julgue contra as provas apresentadas. O critrio eleito
o da persuaso racional, que no impe valores tarifados na apreciao das provas, conferindo certa
margem de liberdade para decidir, mas exige que esta se d em consonncia com o conjunto probatrio
constante no processo
387
.
mediante a interpretao da linguagem dos fatos (trazidos no processo de aplicao
e admitidos juridicamente como prprios para esta finalidade ex: fatos alegados na petio incial;
provas, fatos alegados na contestao) que se forma a convico do aplicador sobre o caso concreto.
Diante do conjunto de documentos que lhe apresentado sobre determinado acontecimento e das
verses trazidas pelo autor e pelo ru, o aplicador vai interpretando os textos, atribuindo valores aos
signos neles constantes e sobrepesando os relatos, at que, em algum momento decide e constri a sua
verso sobre o evento, aquela que servir de base para a incidncia normativa. Esta uma tarefa rdua,
que requer muita ateno. Em vrios casos mais difcil o trabalho do aplicador, de montar o fato
jurdico a partir das provas e dos fatos alegados, do que a construo e escolha da norma a ser
aplicada.
Os problemas encontrados pelo aplicador na interpretao do fato so denominados
por ALCHOURRN e BULYGIN como lacunas de ordem ftica que, segundo tais autores, podem
subdividir-se em: (i) lacuna de conhecimento, que seria falta de informaes sobre o fato; e (ii) lacuna
de reconhecimento, consistente na indeterminao semntica dos enunciados factuais
388
.
As lacunas de ordem ftica so justamente problemas que surgem na linguagem do
fato, responsvel por trazer o evento para o mundo do direito. No se trata da falta de fato jurdico,
pois sempre que provocado o aplicador produz uma norma, constituindo um fato como jurdico,
mesmo que seja relatar a no existncia do evento alegado.
A interpretao da linguagem dos fatos a que nos referimos, no requer apenas a
atribuio de sentido aos documentos constantes nos autos por parte do aplicador, mas um estudo
crtico de todo o conjunto probatrio e de atos de deciso isolados, mediante os quais o julgador elege
as provas essenciais e decisivas para constituio do fato jurdico. Os enunciados probatrios
colecionados nos autos no se encontram todos ligados. H provas que autenticam as alegaes de uma
das partes e h provas que confirmam a verso da parte adversa. Estabelecer as relaes de
387
Teoria da prova no direito tributrio, p. 239.
388
Introduccin a la metodologa de las ciencias jurdicas y sociales, p. 203.
359
coordenao entre elas tarefa do aplicador do direito, assim como escolher quais delas serviro como
elementos de sua convico.
Cronologicamente, o intrprete entra em contato com a linguagem dos fatos pela
percepo dos documentos apresentados, seu suporte fsico, plano de expresso (enunciados). Em
seguida passa a atribuir valores aos signos neles constantes, construindo o sentido de cada documento
isolado (significao). De posse de tais significaes, seu prximo passo examin-las em conjunto,
estabelecendo as relaes de coordenao entre os fatos-alegados e as provas apresentadas
(sistematizao). Concluda esta etapa, o intrprete passa a produzir inferncias, mediante raciocnio
acerca da veracidade ou falsidade dos fatos alegados pelas partes, para construo do fato jurdico.
Tais inferncias so impregnadas pelas mximas da experincia (conhecimento adquirido pelo
julgador ao longo de sua vivncia social e profissional) e dos valores condicionados a seus horizontes
culturais. Concludo este processo, compete ao aplicador exarar seu ltimo ato de deciso e prolatar
sua verso sobre o evento, aquela que sofrer a incidncia normativa.
Fazendo uma analogia com os planos de interpretao do direito, com os quais
trabalha PAULO DE BARROS CARVALHO (S1, S2, S3 e S4), podemos dizer que tambm so
quatro os subsistemas da construo de sentido da linguagem dos fatos: (i) S1 plano dos enunciados,
em que o intrprete se depara com o suporte fsico, textos em sentido estrito (petio inicial,
documentos, contestao, fotos, laudos periciais, etc.); (ii) S2 plano das significaes, em que o
intrprete constri a idia de cada documento isoladamente; (iii) S3 plano da sistematizao, em que
o intrprete estabelece as relaes entre os fatos alegados e as provas [(f1a . f1b. f1c) Fal1] e [(f2a .
f2b. f2c) Fal2], determinando quais provas levam veracidade do fato probando 1 e quais levam
veracidade do fato probando 2; e (iv) S4 plano da deciso (apreciao probatria), em que o
interprete compara o conjunto probatrio elegendo, dentre todos os fatos, aqueles que lhe parecem
convincentes e os que deve abandonar para a construo do fato jurdico [Fal2 . (f1a . f2a. f2c) Fj].
A rigor, a interpretao da linguagem do fato compreende no s a atribuio de
sentido aos textos probatrios (interpretao em sentido estrito), mas tambm a apreciao de tais
textos, o que FABIANA DEL PADRE TOM define como sendo a atividade intelectual que o
julgador realiza para determinar o poder de convencimento relativo de cada um dos enunciados
probatrios, em sua comparao com os demais, para chegar concluso acerca da fora do conjunto
probatrio como um todo
389
. Importante ressalvar a valorao realizada nesta atividade, que consiste
389
A prova no direito tributrio, p. 266.
360
em atos de deciso, mediante os quais o aplicador estabelece uma hierarquia entre os enunciados
probatrios, elegendo aqueles que lhe parecem suficientes para formao de sua convico.
pela presena desta valorao que se justifica um conjunto probatrio ser
convincente para um julgador, mas insuficiente para outro e que, diante das mesmas alegaes e dos
mesmos documentos probatrios, dois aplicadores (ex: juiz e tribunal) possam construir fatos jurdicos
diferentes.
Em suma, a interpretao da linguagem do fato e conseqente construo do fato
jurdico, um ato valorativo, mas no desregrado, porque de acordo com critrio da presuno
racional, adotado pelo ordenamento, vedado ao aplicador decidir com base em elementos diversos
dos constantes na linguagem das provas em direito admitidas. Nesta esteira, exige-se que sejam
expostos os motivos do ato decisrio, baseados nos elementos constantes do processo, o que se
objetiva na fundamentao do ato de aplicao.
1.2. Interpretao do direito
Constituda sua verso sobre o evento, compete ao aplicador, construir o sentido do
texto jurdico a ser aplicado. Seu objeto de interpretao agora outro, passa da linguagem dos fatos
(descritiva) para a linguagem do direito (prescritiva).
A aplicao do direito pressupe a construo de sentido dos textos jurdicos pelo
aplicador, pois, como j vimos (no captulo anterior, quando tratamos da operao de subsuno), no
o suporte fsico que se enquadra ao caso concreto e sim o conceito normativo que incide sobre os
conceitos do fato e da relao. A subsuno uma operao entre classes e as classes so extenses de
um conceito. Nestes termos, o que se aplica o sentido: a norma jurdica (stricto sensu), que nada
mais do que uma construo do intrprete.
Na operacionalidade do direito, o legislador insere no sistema o texto (plano de
expresso do direito S1), mas quem diz qual a norma jurdica (contedo legislado) a ser aplicada
ou seguida o aplicador do direito ou qualquer pessoa que se dispe a interpret-lo. Assim, aplicar
uma norma significa positivar uma das infinitas interpretaes possveis de serem atribudas aos textos
jurdicos.
361
Na leitura dos textos (suporte fsico), assim como podemos atribuir diversas
significaes aos smbolos neles constantes, podemos tambm conferir carga valorativa diferente a
seus termos. Temos, ento: (i) uma valorao inerente aos signos; e (ii) uma valorao inerente ao
sentido construdo, o que resulta numa infinidade de possibilidades interpretativas, todas construdas
com base nos textos jurdico-normativos e condicionadas a critrios ideolgicos e culturais do
intrprete. Por isso, no h que se falar em interpretaes certas ou erradas, mesmo porque quando se
aplica uma norma, produz-se um enunciado prescritivo (individual e concreto) que positiva o sentido
conferido ao texto jurdico pelo aplicador e os enunciados prescritivos, como j vimos, no esto
sujeitos aos valores de verdade e falsidade. As interpretaes so vlidas (autnticas) ou invlidas
(no-autnticas).
Fazendo novamente uma analogia entre interpretao e teoria das tradues,
reportamo-nos s lies de VILM FLUSSER sobre a existncia de um vazio (nada) entre uma
traduo e outra
390
, se considerarmos que a linguagem do aplicador que diz qual a norma jurdica a
ser aplicada, antes desta linguagem no h um sentido jurdico positivado, h o suporte fsico e a
infinidade de significaes possveis de lhe serem atribudas, no existe nada determinado. Assim,
entre a linguagem do direito e a linguagem do aplicador, o que se v um vazio. Ambas no se
equiparam, mas uma diz sobre a outra, recriando seu sentido. O aplicador traduz a linguagem do
direito, dizendo-a do seu modo. O sistema lhe atribui competncia para positivar o sentido construdo,
de modo que sua interpretao configura-se como autntica, at que outro sentido, produzido por
pessoa cujo sistema atribua grau de competncia maior, o substitua. por isso que, por mais absurda
que uma interpretao nos parea, se ela for positivada, s uma nova linguagem competente
suficiente para retir-la do ordenamento.
Realiza interpretao autntica todo e qualquer aplicador, desde que inove o sistema,
com a produo de uma linguagem jurdica competente. O cartorrio faz interpretao autntica ao
emitir uma certido de nascimento (positiva o sentido da regra da personalidade jurdica). A
administrao realiza interpretao autntica ao produzir um ato administrativo de lanamento
(positiva o sentido da norma tributria). E, o juiz faz interpretao autntica ao prolatar uma sentena.
No direito brasileiro, a comunicao jurdica se encerra com positivao da interpretao do Supremo
Tribunal Federal. Em ltima instncia, ele a autoridade competente para fixar o sentido de um texto
jurdico.
390
Lngua e realidade, p. 59.
362
Para manter-se no ordenamento, no entanto, a interpretao autntica deve ter como
base enunciados jurdico-positivos. Isto significa que o aplicador, ao objetivar suas escolhas, deve
relacionar os contedos significativos construdos a enunciados prescritivos do sistema, ou seja, deve
fundamentar sua deciso na ordem vigente. Este um limite objetivo da interpretao, aparente na
positivao. A deciso no fundamentada juridicamente carece de forma (vcio formal), embora seja
vlida enquanto no retirada do sistema.
Outro limite objetivo a justificao jurdica da deciso. Justificar uma deciso
mostrar as razes utilizadas para fundament-la, ou seja, indicar o contexto da fundamentao, os
motivos pelos quais se utilizou de uma fundamentao em detrimento de outras. A justificao serve
de base para reconstituio do caminho seguido pelo aplicador e tambm deve ser jurdica, isto , deve
apresentar-se com consonncia com outras significaes do sistema. A deciso no justificada
juridicamente apresenta vcio material, mas tambm vlida at que desconstituda por outra
interpretao autntica.
Tais limites, no entanto, no so demarcveis, pois as escolhas interpretativas so
condicionadas aos horizontes culturais do intrprete, s suas ideologias
391
, mas tambm no interferem
na validade (autenticidade) da deciso. A alegao de falta de fundamentao ou justificao jurdica
uma valorao quanto deciso, que se positivada (autntica) tem o condo de retir-la do sistema.
nestes termos que, para ns, uma teoria da argumentao jurdica repousa em critrios de retrica e
persuaso.
Quando da aplicao, como saber qual a norma adequada? Quem pode dizer qual a
norma adequada? E mais, existe uma norma adequada? Juridicamente, a norma que se enquadra ao
caso concreto aquela produzida por uma interpretao autntica (aplicada), at que outra
interpretao tambm autntica diga o contrrio. Cientificamente, socialmente, moralmente ou
politicamente ela pode no ser a significao mais adequada, mais justa, ou certa para resolver o caso
concreto, mas para o direito, ela a norma posta e, portanto, a que resolve o caso para o sistema.
1.2.1. O problema das lacunas
No processo de aplicao, em diversas circunstncias, o intrprete, por se perder na
abstrao de seus conceitos, ou na valorao destes, ou por no encontrar enunciados (suporte fsico)
que fundamentem suas escolhas, no consegue construir a norma aplicvel, isto , aquela que, na sua
391
PAULO DE BARROS CARVALHO, costuma citar como exemplo uma sentena, em que o juiz absolve o genro que
espancou a sogra, com respaldo na preservao da intimidade do casal.
363
viso, seria adequada ao caso. Surge, assim, o conceito tradicional de lacuna como a ausncia de
norma na ordem jurdica que regulamente determinado caso concreto.
1.2.1.1. As lacunas na doutrina
A problemtica da existncia ou inexistncia de lacunas est relacionada idia de
completude do sistema. A doutrina jurdica divide-se em duas principais correntes: (i) a que afirma a
inexistncia de lacunas e sustenta haver no ordenamento jurdico regulao para todos os
comportamentos humanos; e (ii) a que sustenta a existncia de lacunas no sistema, sob o argumento de
este no poder prever todas as situaes de fato que se concretizam no mbito social
392
.
Para primeira corrente, que tem KELSEN como um de seus adeptos, o sistema
normativo fechado e completo em relao a um conjunto de casos e condutas. Os comportamentos
que no esto juridicamente proibidos esto permitidos, de modo que o sistema sempre apresenta uma
resposta, possibilitando ao juiz aplic-la ao caso concreto
393
.
Para segunda corrente o juiz tambm no deixa de aplicar o direito ao caso concreto,
mas se v na dificuldade de decidir sobre certas hipteses por no encontrar, no sistema, os
instrumentos indispensveis para solucion-las. H ausncia de normas, porm o ordenamento
estabelece meios para integrar tal ausncia
394
.
Ao analisar estes dois pontos de vista, TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. conclui ser
a plenitude do sistema uma fico. No primeiro caso, uma fico prtica, que permite ao juiz criar
direito quando o ordenamento que, a princpio, completo, parece-lhe insatisfatrio e, no segundo
caso, uma fico doutrinria de ordem prtica, que permite ao jurista enfrentar os problemas de
decidibilidade com o mximo de segurana
395
.
Os autores que trabalham com a existncia de lacunas as classificam de vrias
formas.
392
MARIA HELENA DINIZ explica detalhadamente cada um destes dois pontos de vista, apontando seus principais
seguidores (As lacunas do direito, p. 20-109).
393
Em seus dizeres: uma ordem jurdica pode sempre ser aplicada por um tribunal a um caso concreto, mesmo na hiptese
de essa ordem jurdica, no entender do tribunal, no conter qualquer norma geral atravs da qual a conduta do demandado
ou acusado seja regulada de modo positivo (Teoria pura do direito, p. 273)
394
ALCHOURRN e BULYGIN reportam-se s lies de CARNELUTTI (Teora general del derecho, p. 107), de que
no se deve entender a plenitude do ordenamento como uma propriedade sua, no sentido de inexistir nele lacunas, mas no
sentido da exigncia de serem elas eliminadas (Introduccin a la metodologa de las ciencias jurdicas y sociales, p. 227).
395
Introduo ao estudo do direito, p. 214.
364
Para MARIA HELENA DINIZ, por exemplo, trs so os principais tipos de lacunas:
(i) normativa, quando existe ausncia de norma no sistema para determinado caso (ex: normas que
dispem sobre violaes virtuais); (ii) ontolgica, quando h norma, mas ela no se aplica aos casos
concretos devido a mutaes sociais que a levaram ao desuso (ex: crime de adultrio); e (iii)
axiolgica, na ausncia de norma justa - a regra existe, mas o aplicador a considera injusta (ex:
proibio de aborto para os casos de encefalia)
396
.
ALCHOURRN e BULYGIN trabalham tambm com trs espcies: (i) lacunas
normativas, como ausncia de prescrio jurdica para soluo de determinado caso concreto; (ii)
lacuna de conhecimento, como falta de informaes sobre o fato; (iii) lacuna de reconhecimento, como
indeterminaes de ordem semntica, devido vaguidade dos conceitos normativos
397
.
TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. fala em: (i) lacunas autnticas e no-autnticas,
reportando-se ZITELMANN, para referir-se ausncia de resposta na lei, no primeiro caso e falta
de soluo considerada desejvel (justa), no segundo caso; (ii) lacunas patentes e latentes, citando
CANARIS, as primeiras, resultantes da falta de norma e as segundas, do carter muito amplo da
norma; e (iii) lacunas originrias e posteriores, com base nas lies de ENGISCH, as primeiras
existentes desde o nascimento da lei e as segundas decorrentes de modificaes nas situaes de fato
ou valores pertinentes ordem jurdica
398
.
Para a hermenutica jurdica tradicional, que trabalha com a existncia de lacunas, a
interpretao do direito divide-se em dois estgios: (i) um declaratrio, onde se diz qual o sentido do
texto; e (ii) outro integrativo, no qual o intrprete soluciona as lacunas.
Em conformidade com a concepo que adotamos, o intrprete no declara o sentido
existente, mas o constri de acordo com suas vivncias lingsticas. E, aquilo que a teoria tradicional
denomina de integrao, para ns, est contida na complexidade do processo interpretativo. As
lacunas, neste contexto, so problemas hermenuticos enfrentados pelo intrprete quando da aplicao
do direito.
Um caso que tem soluo juridicamente positiva para uma pessoa, pode no ter para
outra. No existem buracos no direito no sentido de no haver uma interpretao aplicvel, ou seja, de
396
Lei de introduo ao cdigo civil brasileiro interpretada, p. 97.
397
Introduccin a la metodologa de las ciencias jurdicas y sociales, p. 203.
398
Introduo ao estudo do direito, p. 216.
365
no haver uma norma para determinado caso concreto, pois o sistema obriga o aplicador a construir
uma norma. Existem buracos no sistema de cada intrprete (S4), isto , existem interpretaes que
satisfazem ou no aquele que tem o dever de aplicar o direito. No caso, as lacunas so construes de
sentido que no satisfazem os ideais do aplicador.
1.2.1.2. Completude sistmica
Tradicionalmente o conceito de lacuna est relacionado idia de completude do
ordenamento jurdico. Mas, que se entende por completude sistmica? Novamente, de acordo com o
referencial, temos duas acepes possveis: (i) completude no sentido de que o sistema sempre oferece
uma soluo; e (ii) completude no sentido em que o sistema do direito positivo disciplina todas as
condutas intersubjetivas possveis.
Se considerarmos que o aplicador no se exime da obrigao de produzir uma norma
individual e concreta, disciplinando cada caso especfico, por maiores problemas que enfrente na
interpretao, o sistema sempre oferece uma soluo e por isso, completo. Se considerarmos, no
entanto, a ordem das normas gerais e abstratas, buscando a completude como a regulao de todas as
condutas possveis, o sistema nunca completo, pois s as normas individuais e concretas regulam
pontualmente cada caso especfico.
O conceito normativo a ser aplicado sempre abstrato, o aplicador que o enquadra
ao conceito do fato, concretizando-o. Neste contexto, nenhuma regra especfica, porque impossvel
de abranger todas as nuances da realidade regulada, o que existe so graus de abstrao maiores ou
menores com relao ao caso concreto.
Nestes termos, se nenhuma regra a ser aplicada especfica com relao aos casos
concretos, no h que se falar em lacuna como ausncia de norma especfica para determinado caso. A
completude, assim, a nosso ver, est relacionada possibilidade de interpretao. O sistema
completo porque sempre vai existir uma interpretao aplicvel
399
.
Analisemos alguns dos casos, considerados pela doutrina como de lacunas do direito,
para reforarmos nosso posicionamento:
399
Esta concepo nos parece evidente quando analisamos o art. 126 do Cdigo de Processo Civil, que assim dispe: o
juiz no se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe-
aplicar as normas legais; no as havendo, recorrer analogia, aos costumes e aos princpios gerais de direito.
366
(i) falta de disposio especfica sobre ilcitos virtuais (qualificada como lacuna
normativa autntica, ou seja, ausncia de norma): neste caso, no podemos dizer que no h norma
no sistema que discipline a matria, pois possvel construir uma significao, com base em
enunciados jurdicos, que se aplique ao caso concreto. Certamente, podemos dizer que no existe uma
norma especfica que regule determinada violao virtual, mas existe uma a ser aplicada
400
. Como j
ressalvamos acima, qual norma jurdica pontualmente especfica com relao ao caso concreto? Seria
o mesmo que dizer no haver regra, no sistema, que regule o furto de galinha e, por isso, se aplica a
norma do art. 155 do Cdigo Penal por analogia. Pensando desta forma, todas as normas seriam
aplicadas analogamente.
(ii) falta de norma permissiva para a companheira participar da sucesso, ser herdeira
ou reclamar alimentos, nos anos 90 antes da modificao legal introduzida pela Lei 8.971/94
(qualificada como lacuna ontolgica posterior): neste caso, para o juiz que decidia em favor da
companheira naquela poca, o termo cnjuge (prescrito no art. 1.603 III do antigo Cdigo Civil),
assim como o vocbulo mulher (do art. 224 do mesmo diploma), eram interpretados amplamente de
modo a abarcar no s a esposa, mas tambm a companheira; e o termo concubina (do art. 1.719 III
do antigo Cdigo) era interpretado de forma restrita. No podemos falar em ausncia de norma.
Segundo a valorao do juiz, existia uma norma a ser aplicada, pois a situao da companheira se
subsumia s regras prescritas pelos art. 1.603 III e 224 e no se subsumia regra do 1.719 III
401
.
(iii) ausncia de regra que afasta a aplicao da pena do aborto em caso de encefalia
(qualificada como lacuna axiolgica no-autntica): neste caso, no se trata de ausncia de norma
jurdica. O juiz, diante de critrios axiolgicos afasta a regra penal em detrimento de significaes
constitucionais que valorizam a integridade materna e o sofrimento humano. A norma que permite o
aborto para os casos de encefalia existe para o juiz que a aplica, ela construda a partir de preceitos
constitucionais e se sobrepe, na sua valorao, norma penal
402
.
400
AgRg na APn 442-DF, Rel. Ministro Fernando Gonalves (DJ 26/06/06). O acrdo tipifica a veiculao de entrevista
em sala de bate-papo como publicao ofensiva (art. 12 da Lei n. 5250/67)
401
REsp 196-RS, Rel. Ministro Slvio de Figueiredo Teixeira (18/09/89). O acrdo diferencia o termo companheira do
vocbulo concubina, levando-se em conta aspectos culturais. REsp 10.2819-RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro (DJ
12/04/99). O acrdo entende que o dever de prestar alimentos no decorre do casamento, mas da realidade do lao
familiar.
402
Em recente deciso (12/11/2007) o Min. Raphael de Barros Monteiro Filho deferiu pedido de interrupo de gravidez
por encefalocele occital do feto. Ele destacou o fato de haver comprovao da doena do feto e tambm da ameaa sade
da me. Em seus dizeres: O legislador ordinrio, ao tratar das causas de excluso de ilicitude, apenas tratou do aborto
necessrio nico meio de salvar a vida da gestante , e do aborto sentimental, em que a gravidez resultante de estupro.
Nota-se que nesses dois casos o legislador procurou proteger a sade fsica e psicolgica da me, em detrimento da vida
plenamente vivel e saudvel do feto fora do tero. Certamente, no houve, quela poca, a preocupao de proteger
juridicamente a interrupo de gravidez de feto que no ter sobrevivncia extra-uterina, por incapacidade cientfica de
367
As escolhas significativas fazem parte do processo hermenutico e esto
condicionadas pelos horizontes culturais do aplicador. Em suma, as normas jurdicas existem para
objetivar valores, uma vez percebido (pelo intrprete) que a significao construda no atende aos
critrios axiolgicos com os quais compreende o sistema jurdico, ou seja, que o sentido normativo
construdo no acata os valores que (segundo sua interpretao) o justificam, ele afasta aquela
significao, em nome daqueles valores, construindo novas regras, com base em diferentes enunciados
jurdicos, para objetiv-los. O prprio sistema admite esta possibilidade permitindo o aplicador
justificar suas escolhas com a analogia, ou fundament-las nos costumes e nos princpios gerais de
direito (art. 4 da Lei de Introduo ao Cdigo Civil e 126 do Cdigo de Processo Civil).
Nota-se, assim, que a questo das lacunas no est relacionada ausncia de normas
do direito positivo, mas a problemas de valorao, inerentes interpretao dos textos jurdico-
positivos. H lacunas quando o intrprete no encontra uma significao que satisfaa seus anseios
axiolgicos com relao ao caso concreto. A soluo, para isso, buscar nova interpretao e outras
fundamentaes jurdicas. Neste sentido, o ordenamento completo, to completo que prescreve como
solucionar os problemas de insatisfao interpretativa.
1.2.1.3. Integrao de lacunas
Dispe o artigo 4 da LICC que: quando a lei for omissa o juiz decidir o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princpios gerais de direito. Em primeiro lugar, para
compreendermos o alcance de tal dispositivo que, segundo a doutrina tradicional, regulamenta a
integrao sistmica, cabe-nos ratificar o que significa uma lei omissa.
Lei omissa sinnimo de lacuna, ou seja, segundo nosso posicionamento,
quando a interpretao feita pelo aplicador e tida por ele como prpria para aquele caso concreto no
satisfaz seus anseios axiolgicos relao ao caso. Omissa, a construo de sentido feita pelo
intrprete. Isto explica o fato da mesma lei, relacionada a certa situao ftica, ser insatisfatria
(omissa) para um aplicador e satisfatria (no-omissa) para outro. Tudo vai depender dos critrios que
condicionam a interpretao de cada um, o que importa dizer que as lacunas so relativas, dependem
da valorao de cada intrprete e, por isso, a dificuldade de estud-las.
identificao de patologias desta natureza, durante a gestao. O Min. ressaltou, ainda, que no se trata de eliminao de
feto indesejado pelos pais. Deixando de lado toda a discusso religiosa ou filosfica, e tambm opinies pessoais, a
questo toda gira em torno da inviabilidade de vida do feto fora do tero materno e de proteo sade fsica e psicolgica
da me, bem jurdico este, tambm tutelado pelo legislador constitucional e ordinrio, no prprio artigo 128, inciso I, do
Cdigo Penal, que no pode ser menosprezado pelo Poder Judicirio.
368
O artigo 4 da LICC, longe de integrar a ausncia de normas do sistema, apenas
permite ao aplicador fundamentar suas escolhas interpretativas em: (i) dispositivos que regulam
matria de forma anloga; (ii) costumes; e (iii) princpios gerais de direito; quando as construdas da
lei especfica no o satisfazem. Em suma, tal dispositivo, apresenta as fundamentaes jurdicas aptas
a justificar uma escolha do aplicador que no encontra fundamentao jurdica em outros preceitos.
Mas, vejamos separadamente cada uma destas possibilidades:
1.2.1.3.1. Analogia
Segundo a doutrina jurdica, analogia um procedimento lgico argumentativo, que
consiste em aplicar a um determinado caso, no contemplado de modo direto ou especfico por uma
norma jurdica, outra regra prevista para uma hiptese distinta, porm, semelhante ao caso no
contemplado.
Utilizando-se do recurso da analogia, o intrprete, em tese, amplia o conceito
normativo, incorporando-lhe uma situao nova, tendo como base um juzo de semelhana. O
aplicador subsome o conceito do fato, que de acordo com seu juzo de convencimento no
contemplado pela norma, significao normativa interpretada de forma extensiva, de modo que ela,
devido a tal valorao, passa a regul-lo
403
.
Uma anlise um pouco mais crtica, no entanto, demonstra que no h situao
fctica no-contemplada pelo direito, pois o fato se enquadra ao conceito da norma jurdica construda
mediante a interpretao extensiva. Aplica-se uma norma jurdica (aquela que se subsome, segundo
a construo do intrprete, ao caso concreto).
Um exemplo esclarece melhor o que queremos dizer: um juiz que julga procedente o
pedido de um oriental requerendo a concesso de vaga em universidade pblica em razo da
diferenciao racial, aplicando, por analogia, a norma que concede vagas para afro-descendentes,
interpreta extensivamente o conceito desta norma fazendo-a incidir no caso do oriental. Para este juiz,
a significao construda aplica-se ao caso concreto, ou seja, o direito regula a situao ftica do
oriental, porque de acordo com sua valorao do sistema esta regra existe. A analogia s uma forma
403
REsp 212951-RS, Rel. Ministra Maria Tereza de Assis Moura (DJ 25/06/07) Aplicao por analogia das Smulas 282
e 356 do STF, referentes ao recurso extraordinrio, ao recurso especial. RE 205575-DF, Rel. Ministro Ilmar Galvo (DJ
11/05/99) Aplicao por analogia do 3 art. 78 da Lei 8.112/90, referente ao servidor exonerado, ao servidor
aposentado.
369
de justificao para fundamentar sua deciso nos enunciados jurdicos que prescrevem a concesso de
vagas para afro-descendentes.
1.2.1.3.2. Costumes
O termo costume vem do latim clssico, consuetudine, nis, que significa hbito,
uso. So prticas reiteradas da sociedade, consideradas como obrigatrias que informam a cultura dos
seus membros. Como a construo do sentido dos textos jurdicos est condicionada aos horizontes
culturais do intrprete e estes so inteirados pelos hbitos e vivncias sociais, indiscutivelmente, a
interpretao normativa encontra-se motivada pelos costumes que informam o universo cultural do
intrprete.
De acordo com CARLOS MAXIMILIANO, o costume exerce duas funes no
direito brasileiro: (i) a de elemento de hermenutica, auxiliar da exegese; e (ii) a de direito subsidirio,
utilizado para completar o direito escrito e preencher-lhe as lacunas
404
. Sob tal perspectiva, podemos
diferenciar duas formas de utilizao dos costumes na aplicao do direito: (i) como regra; (ii) como
valor.
Como valor, o costume um elemento condicionante da cultura e como norma uma
significao construda pelo intrprete da realidade social ao verificar uma srie de prticas reiteradas
as quais, devido repetio, considera como obrigatrias. Toda construo de sentido dos textos
jurdicos est condicionada pela cultura do intrprete e, indiretamente, pelos costumes que a informam.
Desta forma, o costume, como valor, parte integrante do sistema, pois as normas jurdicas, unidades
do direito positivo, enquanto significaes, contm cargas consuetudinrias. Diferente, no entanto, o
costume como regra, aplicado nos casos das denominadas lacunas do direito.
A doutrina classifica a aplicao dos costumes no direito (como regra) em trs
espcies: (i) secundum legem, quando previsto por lei; (ii) praeter legem, quando supletivo da lei; e
(iii) contra legem, quando contrrio lei.
No primeiro caso, do costume secundum legem, a legislao especificamente reporta-
se aos hbitos e prticas sociais, autorizando a aplicao dos costumes. H a juridicizao do costume
pelo legislador e o que se aplica ao caso concreto uma norma jurdica, construda a partir dos textos
do direito posto e valorada de acordo com hbitos e prticas sociais, devido existncia de uma
404
Hermenutica e aplicao do direito, p.189.
370
prescrio legislativa sobre tal valorao. Como exemplo, citamos o art. 596 do Cdigo Civil, que
obriga o locatrio pagar o aluguel segundo o costume do lugar, caso o prazo das prestaes no tenha
sido ajustado
405
. O legislador, neste artigo, autoriza aplicar, para determinar o prazo das prestaes, as
regras produzidas de acordo com os hbitos locais, ele jurisdiciza o costume, atribuindo ao aplicador
apenas a competncia para dizer qual este costume. O aplicador interpreta a norma posta (do art.
596), com valorao na regra social (criada pelos hbitos e usos locais), mas aplica uma norma
jurdica, prescrita pelo sistema.
No segundo caso, do costume praeter legem, no h previso especfica para
aplicao de regras provenientes dos hbitos e usos da sociedade (costume), mas o aplicador, diante de
sua insatisfatoriedade interpretativa, utiliza-se destas regras, sob fundamento do art. 4 da LICC ou do
art. 126 do CPC. A situao a mesma do costume secundum legem, a diferena que no caso do
costume praeter lege a fundamentao para juridicizao da regra social no se encontra na legislao
especfica.
O aplicador, diante de sua insatisfatoriedade interpretativa (lacuna), ao optar pela
aplicao de uma regra identificada em razo da prtica reiterada de certos atos pela sociedade,
jurisdiciza tal regra, sob fundamento do art. 4 da LICC. O costume, com o ato de aplicao, deixa de
ser uma regra social para, naquele caso concreto, atuar como uma norma jurdica, porque o sistema
assim prescreve. No o caso de aplicao de uma norma no-jurdica (social), pois o direito trata o
costume, neste contexto, como uma norma jurdica, apenas atribui a competncia ao aplicador para
dizer qual esta norma. Um exemplo do documento eletrnico. No h legislao especfica
regulando os negcios on line, no entanto, devido a prticas reiteradas da sociedade vem se aceitando a
assinatura digital para validao do mesmo. O aplicador do direito, diante desta constatao social,
constri uma norma (costume) e a aplica, para solucionar um caso concreto que envolva documentao
eletrnica, com fundamento no art. 4 da LICC. Esta regra tem carter supletivo em relao lei, mas
no deixa de ser uma norma jurdica, porque o direito prescreve a competncia do aplicador positivar o
costume
406
.
No terceiro caso, do costume contra legem a significao construda pelo aplicador,
observando prticas sociais reiteradas e com fundamento no art. 4 da LICC, contradiz com a
405
Art. 569. O locatrio obrigado: II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste,
segundo o costume do lugar;
406
REsp 63.8698-RN, Rel. Ministro Francisco Peanha Martins O acrdo autoriza utilizao do costume local para
aferir o preo da propriedade e da cobertura florstica no-explorada.
371
significao por ele construda a partir dos enunciados jurdicos especficos. Neste caso, temos duas
opes: (i) ou o aplicador afasta a incidncia da norma jurdica em detrimento da norma consetudinria
por ele construda com fundamento no sistema e jurisdicizada no ato de aplicao caso em que o
costume aparece como regra; (ii) ou ento, ele deixa de aplicar a norma por entender que h ausncia
de subsuno, devido sua valorao consuetudinria dos termos que a compem caso em que o
costume aparece como valor. Como exemplo do primeiro caso, temos o crime de adultrio; e como
exemplo do segundo, o de seduo (art. 217 e 240 do Cdigo Penal
407
), ambos caram no desuso antes
de suas revogaes (pela Lei n. 11.106/05). No primeiro caso, ao longo dos anos, devido a prticas
reiteradas, criou-se uma cultura de que o adultrio no condizia com a punio imposta juridicamente e
esta deixou de ser aplicada em razo do costume (norma). No segundo caso, o que afastou a aplicao
da norma foi a ponderao de valores consuetudinrios na construo do contedo semntico de
mulher honesta.
A grande maioria dos autores rejeita a aplicao dos costumes contra legem por
entend-los como forma de revogao. Para ns tudo uma questo de valorao e no de revogao.
O aplicador o agente competente para dizer o direito do caso concreto. Aplicando o costume contra
legem ele apenas deixa de incidir uma regra em detrimento de outra (no caso, do extinto crime de
adultrio, por exemplo, no se aplicava a norma jurdica penal em detrimento de uma norma
consuetudinria desqualificadora da conduta) ou deixa de incidi-la por considerar que h ausncia de
subsuno em decorrncia da valorao (semntica) atribuda aos signos do enunciado normativo (no
caso do extinto art. 217 CP, por exemplo, considerava-se no haver subsuno devido ao sentido
atribudo palavra seduo em razo da mudana de seus critrios de uso pela sociedade). Em
nenhum dos casos h revogao, porque, dependendo da valorao atribuda por outro aplicador, a
regra deixada de lado pode ser aplicada (prova disso, nos exemplos dados, foi a necessidade de
produo da Lei n. 11.106/05 para revogao dos crimes de adultrio e seduo).
1.2.1.3.3. Princpios gerais do direito
Antes de tecermos nossas consideraes acerca dos princpios gerais do direito e de
como eles so utilizados na soluo das lacunas do sistema, faz-se necessrio abordar uma questo
propedutica: Que so princpios? Como identific-los no direito positivo?
407
Art. 217. Seduzir mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze) e ter com ela conjuno carnal,
aproveitando-se de sua inexperincia ou justificvel confiana. Pena Recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Art. 240.
Cometer adultrio. Pena Deteno, de quinze dias a seis meses.
372
1.2.1.3.3.1. Princpio como enunciado, proposio ou norma jurdica
Segundo os ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO os princpios do
ordenamento jurdico apresentam-se ora como valores, ora como limites objetivos. Reportando-nos as
suas palavras: existem preceitos fortemente carregados de valor e que, em funo do seu papel
sinttico no conjunto, acabam exercendo significativa influncia sobre grandes pores do
ordenamento, informando o vetor de compreenso de mltiplos segmentos. Em direito, utiliza-se o
termo princpio para denotar as regras de que falamos, mas tambm se emprega a palavra para
apontar normas que fixam importantes critrios objetivos, alm de ser usada, igualmente, para
significar o prprio valor, independentemente da estrutura a que est agregado e, do mesmo modo, o
limite objetivo sem a considerao da norma
408
.
Tendo os princpios ora como valores, ora como limites objetivos, o autor encontra
quatro definies para o termo: (i) norma jurdica de posio privilegiada e portadora de valor
expressivo; (ii) norma jurdica de posio privilegiada que estipula limites objetivos; (iii) valores
incertos em regras jurdicas de posio privilegiada, mas considerados independentemente das
estruturas normativas; (iv) limite objetivo estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porm, sem
levar em conta a estrutura da norma.
Nas duas primeiras temos princpio como norma jurdica (forma), que expressa um
valor ou um limite objetivo e nas outras duas, temos o princpio como valor e como limite objetivo
presente nestas respectivas regras (contedo). Mas, nota-se que, sempre temos uma norma jurdica.
Isto porque, se partimos da premissa de que o direito positivo o conjunto de normas jurdicas de um
dado pas e se temos os princpios como elementos do direito, estes no podem ser outra coisa seno
normas jurdicas
409
. O problema, no entanto, mais uma vez, gira em torno do sentido atribudo
expresso norma jurdica, que com relao manifestao dos princpios deve ser utilizada em
acepo ampla. Nestes termos, os princpios podem aparecer na forma de: (i) enunciados; (ii)
proposies; e/ou (iv) normas jurdicas em sentido estrito.
408
Curso de direito tributrio, p. 143.
409
Vale aqui registrar a lio de PAULO DE BARROS CARVALHO: O corolrio natural de tudo quanto se exps que o
direito positivo, formado unicamente por normas jurdicas, no comportaria a presena de outras entidades, como, por
exemplo, princpios. Estes no existem ao lado de normas, co-participando da integridade do ordenamento. No esto ao
lado das unidades normativas justapondo-se ou contrapondo-se a elas. Acaso estivessem, seriam formaes lingsticas
portadoras de uma estrutura sinttica. E qual esta configurao lgica? Ningum certamente, saber responder a tal
pergunta, porque princpios so normas jurdicas carregadas de forte conotao axiolgica. (Direito tributrio
linguagem e mtodo, pg. 252).
373
Alguns princpios manifestam-se expressamente, so prescritos pelo legislador
constitucional com tal clareza e determinao de modo que possvel identific-los num nico
enunciado, por exemplo: o princpio da igualdade expresso no art. 5 caput, da CF Todos so iguais
perante a lei, sem distino de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pas a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana e
propriedade; o princpio da legalidade, enunciado no art. 5, II da CF Ningum ser obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa seno em virtude de lei; o princpio da irretroatividade, prescrito no
art. 5 XXXVI da CF As leis no podem retroagir, alcanando o direito adquirido o ato jurdico
perfeito e a coisa julgada; o de propriedade, assegurado no art. 5 XXII e XXIV da CF garantido o
direito propriedade; o princpio da liberdade de trabalho, disposto no art. 5 XIII da CF livre o
exerccio de qualquer trabalho, ofcio ou profisso, atendidas as qualificaes profissionais que a lei
estabelecer, etc. Identificamos, assim, tais princpios na forma de enunciados jurdicos.
Em contrapartida, outros princpios, no encontram suporte em prescries jurdicas
pontuais, sendo construdos em nossa mente como proposies, mediante esforo indutivo de alguns
ou vrios dispositivos, de modo que no podemos identific-los como enunciados jurdicos. Por
exemplo: o princpio da justia; da segurana jurdica; da certeza do direito; da razoabilidade; da
supremacia e indisponibilidade do interesse pblico; da isonomia das pessoas polticas; etc. Trata-se
dos denominados princpios implcitos, que se apresentam na forma de proposies.
Tal distino entre princpios expressos e implcitos, no entanto, embora muito
utilizada pela doutrina jurdica, deve ser adotada com devida advertncia, j que todo enunciado assim
o porque comporta uma significao e toda significao implcita, por outro lado, toda significao
(implcita) se materializa na forma de enunciado (expressa). Nestes termos, chamamos de princpios
expressos aquelas significaes (proposies), construdas a partir dos textos do direito positivo que,
quando enunciadas, correspondem identicamente a algum enunciado jurdico e princpios implcitos
aquelas significaes que, quando enunciadas, no demonstram tal correspondncia, justamente por
serem construdas a partir de um conjunto de enunciados jurdicos.
Invariavelmente, todos os princpios apresentam-se na forma de proposies,
significaes construdas em nossa mente a partir da leitura dos textos do direito positivo, e se
materializam na forma de enunciados (leis, postulados). Tais proposies ou enunciados so valoradas,
pelo intrprete, com um grau de superioridade com relao a outras proposies jurdicas,
apresentando-se como linhas diretivas que exercem grande influncia na construo e aplicao das
374
demais normas jurdicas. E, por serem dotadas desta valorao elevada com relao s demais
proposies que so denominadas de princpios.
Algumas destas significaes podem apresentar estrutura hipottico-condicional,
caso em que o princpio aparece na forma de norma jurdica em sentido estrito. Por exemplo: o
princpio da legalidade (H se for a instituio de obrigaes ou proibies, deve ser, C
obrigatrio a veiculao por meio de lei); o princpio da anterioridade tributria (H se instituir ou
majorar tributos, deve ser, C proibida a cobrana no mesmo exerccio financeiro); o princpio da
liberdade de associao (H se for para fins lcitos e de carter no paralimitar deve ser, C
permitida a associao); etc.
Nem todo princpio chega a apresentar tal estrutura, da mesma forma tambm, nem
todos tm referibilidade a enunciados jurdicos pontuais, mas todos se configuram como proposies
jurdicas, ou seja, como significaes construdas a partir do texto do direito positivo, que ora podem
aparecer como antecedente, ora como conseqente de normas jurdicas, ou ainda, como linhas diretivas
que influem na construo, aplicao, fundamentao e justificao de regras jurdicas. O que
diferencia a proposio tida como princpio das demais proposies a graduao hierrquica que lhe
atribuda. neste sentido que PAULO DE BARROS CARVALHO enuncia: princpio o nome que
se d a regras do direito positivo que introduzem valores relevantes para o sistema, influindo
vigorosamente sobre a orientao de setores da ordem jurdica
410
.
No h no texto legislado uma indicao do legislador de quais proposies devem
ser consideradas como princpios. No h pontuaes, nem nada escrito de que este ou aquele
enunciado configura-se como princpio. o intrprete que, valorando o sistema, diz quais so os
princpios, ou seja, quais proposies considera to relevante a ponto de informar a construo e
estruturao de todas as outras
411
.
1.2.1.3.3.2. Princpio como valor e como limite objetivo
Como vimos linhas acima, o princpio pode expressar um valor ou um limite
objetivo. Estamos falando agora do fundo da forma, ou seja, do princpio-contedo (substncia) que
se encontra dentro do princpio-proposio (forma). Mas, o que se entende por princpio como valor
ou como limite objetivo?
410
Direito tributrio linguagem e mtodo, pg. 252
411
Isto justifica o fato dos princpios serem construdos com base em enunciados constitucionais.
375
Os valores, como j vimos (quando tratamos da teoria dos valores no captulo VII),
so centros significativos que expressam uma preferibilidade por certos contedos de expectativas, so
preferncias por ncleos de significaes. Eles esto presentes em todo o ordenamento jurdico.
Toda norma jurdica, enquanto significao prescritiva (voltada finalidade de
disciplinar condutas), traz um valor, devido fora com que o dado axiolgico est presente na
linguagem do direito. A diferena que chamamos de princpios aqueles valores que
hierarquicamente colocamos num patamar de superioridade, ao organizarmos o sistema, de tal modo
que eles acabam exercendo significativa influncia na construo, estruturao e aplicao das demais
significaes.
Na lio de MIGUEL REALE, o fim um valor tomado como a realizao de ser da
conduta
412
. Sempre que cumprimos determinada conduta, visando a certo fim, este fim o valor. E,
sempre que este fim, por ser comum (direta ou indiretamente) a inmeras regras, torna-se um fim do
ordenamento como um todo, estamos diante do princpio como valor.
No sistema jurdico brasileiro, temos como exemplo de princpios os valores:
justia, segurana jurdica, certeza do direito, igualdade, etc., todos eles como fins a serem perseguidos
pelas demais normas jurdicas e, por isso, categoricamente denominados de princpios.
A graduao hierrquica dos valores condicionada aos horizontes culturais do
intrprete. No raro, no entanto, encontrar autores afirmando ser este ou aquele princpio mais
importante do que outros, o que no passa de uma valorao, isto , de uma preferibilidade
estabelecida em razo de critrios que podem ser diferentes para outros intrpretes.
Levando-se em conta a graduao hierrquica, podemos dizer que existem princpios
e sobre-princpios, sob o critrio de que h valores (princpios), no contexto do direito positivo
brasileiro, que se implementam pela realizao de outros valores ou de limites objetivos. Como
exemplo, temos a segurana jurdica, que um valor, mas no s um valor, um valor de sobre-nvel,
pois realiza-se pela implementao de outros princpios, como o da igualdade, da coisa julgada, da
irretroatividade, da anterioridade, da capacidade contributiva, o que suficiente para atribuir-lhe a
condio de sobre-princpio.
412
Cinco temas do culturalismo, p. 36
376
Quanto aos limites objetivos, estes so instrumentos jurdicos utilizados pelo
legislador para atingir certos fins. No so valores se considerados em si mesmos, mas voltam-se para
implementao de valores. O valor parece no estar presente, mas est no fim a ser alcanado pela
tcnica prescrita, a qual denominamos de princpio (limite objetivo).
Como exemplo, podemos citar a no-cumulatividade que, conforme explica PAULO
DE BARROS CARVALHO, primeira vista parece um jogo de contas: o que o industrial adquire a
titulo de matria prima, produtos intermedirios, material de embalagem, ele registra e se credita do
valor correspondente e depois se debita pelo valor incidente na venda do produto final, no cmpito
destes valores temos a configurao do imposto no-cumulativo; no entanto, no existe tcnica
simplesmente pela tcnica, este jogo de contas vem ajustado para a obteno de determinados fins
como a justia tributria e a boa distribuio da carga tributria
413
. Quando pensamos no princpio da
no-cumulatividade o que nos vem a mente um instrumento jurdico utilizado para implementar
certos valores. Neste sentido, tal princpio configura-se como um limite objetivo. O mesmo se verifica
com os a anterioridade, legalidade, irretroatividade, ampla defesa, devido processo legal, etc., que se
apresentam como tcnicas para implementao de valores como a segurana jurdica, certeza do
direito, justia, isonomia, etc.
Observa PAULO DE BARROS CARVALHO que na pragmtica da comunicao
jurdica mais fcil perceber e comprovar os princpios como limites objetivos do que como
valores
414
. Na aplicao prtica do direito os limites objetivos aparecem com mais clareza, sendo de
verificao imediata e simples comprovao. Os princpios da anterioridade e da legalidade, por
exemplo, basta observarmos o diploma oficial que introduziu normas jurdicas no sistema para, de
imediato, saber se eles foram respeitados ou violados. J com o valor tal constatao bem mais
difcil, pois envolve critrios ideolgicos. Como verificar, por exemplo, se o princpio da justia foi
acatado ou transgredido se o que justo para uns pode ser injusto para outros?
1.2.1.3.3.3. Aplicao: entre regras e princpios
Com relao aplicao dos princpios como forma de implementao de lacunas do
direito. Parece-nos que, quando se aplica um princpio, no h que se falar em existncia de lacuna
(considerada aqui como ausncia de norma jurdica), pois h, no sistema, uma regra a ser aplicada. O
princpio uma proposio jurdica que pertence ao direito posto, pois construda a partir dos
413
III Congresso Nacional de Estudos Tributrios 13/12/06.
414
Curso de Direito Tributrio, p. 144
377
enunciados que compem seu plano de expresso. Aplicar um princpio, assim, aplicar uma norma
pertencente ao sistema.
Por princpios gerais de direito entende-se todos aqueles que encontram suporte na
Constituio Federal e regulam todos os campos do direito. No importa serem eles valores ou limites
objetivos.
A aplicao de limites objetivos, como j mencionamos, de mais fcil constatao e
aceitao. Um juiz, por exemplo, quando socorre-se ao princpio da legalidade geral (art. 5 CF), como
fundamentao, para afastar a incidncia de multa por descumprimento de um dever instrumental
tributrio institudo por instruo normativa, sob a justificativa de que tal fato no se subsome ao
princpio da legalidade tributria especfico (art. 150 CF), aplica uma regra jurdica que diz: ningum
ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo seno em virtude de lei.
A dificuldade surge com o princpio como valor, que geralmente utilizado como
justificao jurdica para a aplicao ou interpretao de outras regras. O mesmo juiz, por exemplo,
quando entende no ser necessria realizao de concurso pblico para contratao de um gari que j
prestava servios para determinada prefeitura, em razo do princpio da razoabilidade, aplica uma
regra jurdica, construda da sua valorao dos enunciados prescritivos do direito posto, tendo como
influncia o valor da razoabilidade (i.e. a norma que permite tal contratao sem a realizao de
concurso pblico)
415
. No afasta a aplicao de uma regra para se aplicar o princpio, apenas aplica
uma norma em detrimento de outra, que, segundo sua valorao, se sobrepe em razo do princpio
(valor).
Sob este enfoque o problema de se aplicar regras ou princpios torna-se utpico.
Sempre se aplica uma regra. E, querer discutir a sobreposio de regras ingressar no campo da
ideologia do intrprete. Cada sujeito constri o seu sistema jurdico (S4), estruturando e sobrepondo
normas de acordo com seus referenciais. E, assim, segundo a valorao de cada um, que as normas
jurdicas so aplicadas.
Encaixa-se aqui, a lio de HUMBERTO VILA de que: uma regra no aplicvel
somente porque as condies previstas em sua hiptese so satisfeitas. Uma regra aplicvel a um
415
HC 77.003 rel. Ministro Marco Aurlio (DJU 11/09/98). O acrdo afasta a aplicao da norma de penal, em razo de
entender desnecessria a realizao de concurso pblico para contratao de um gari, devido o emprego do princpio da
razoabilidade.
378
caso concreto se e somente se suas condies so satisfeitas e sua aplicao no excluda pela razo
motivadora da prpria regra ou pela existncia de um princpio que institua uma razo contrria
416
.
Mais contundente com a linha que seguimos, podemos dizer que uma regra no aplicvel apenas
porque se subsome ao caso concreto, mas porque preterida na valorao do aplicador a todas as demais
que poderiam ser aplicadas.
1.2.2. O problema das antinomias
Diferente do sistema da Cincia do Direito, o direito positivo, por manifestar-se
numa linguagem tcnica, admite contradies entre seus termos. Assim, no raro depararmo-nos, no
percurso gerador do sentindo dos textos jurdicos, com conflitos entre duas ou mais normas jurdicas.
Dizemos, ento, estar diante de uma antinomia entre normas, ou de normas antinmicas.
As antinomias configuram-se pela existncia de incompatibilidades (contradies ou
contrariedades) entre as condutas prescritas pelo legislador. Segundo as lies de HANS KELSEN,
existe um conflito entre duas normas, se o que uma fixa como devido incompatvel com aquilo que
a outra estabelece como devido e, portanto, o cumprimento ou aplicao de uma envolve,
necessariamente ou provavelmente, a violao de outra
417
. Mais precisamente, em termos lgicos,
TREK MOYSS MOUSSALLEM esclarece que isso ocorre quando duas normas vlidas (existentes
num mesmo sistema) tenham operadores denticos opostos, modalizando a mesma conduta. Em
termos simblicos, h incompatibilidade sempre que a frmula (Op . Op) for verdadeira, desde que
sejam vlidas, no sistema normativo, as respectivas normas Op e Op; ou ainda, sempre que a
frmula (Pp . Pp) for verdadeira, que significa a validade simultnea, no sistema normativo, das
normas Pp e Pp
418
.
A antinomia, assim como a lacuna, tambm um problema de interpretao.
Depende das valoraes atribudas pelo intrprete quando da construo do sentido dos textos
jurdicos. Normas que so incompatveis na interpretao de uns, podem no ser na interpretao de
outros. Um exemplo disso a Emenda Constitucional que veicula nova competncia tributria aos
municpios. Para alguns, tal prescrio incompatvel com os dispositivos constitucionais das
clusulas ptreas, pois seria uma garantia fundamental dos contribuintes s serem tributados nos
moldes da competncia delineada pelo poder constituinte originrio. Para outros, no entanto, no h
416
Teoria dos princpios: da definio aplicao dos princpios jurdicos, p. 97-98.
417
Teoria Geral das normas, p. 157.
418
Revogao em matria tributria, p. 191.
379
incompatibilidade entre a prescrio veiculada pela Emenda e os dispositivos constitucionais, dado que
tal garantia no se constitui numa clusula ptrea.
A doutrina jurdica classifica as antinomias entre normas em: (i) aparente e (ii) real.
A primeira surge quando o conflito pode ser solucionado por critrios estabelecidos pelo prprio
sistema: (i.a) hierarquia lex superior derogat legi inferiori; (i.b) cronologia lex posterior derogat
legi priori; e (i.c) especialidade lex specialis derogat legi generali. A segunda aparece quando tais
critrios no so suficientes para solucionar o conflito, devendo este ser resolvido por parmetros
ideolgicos do aplicador
419
.
Tal classificao estabelecida de acordo com a forma de soluo do conflito,
porque apesar de as antinomias se destacarem no plano pragmtico da comunicao jurdica, nenhuma
delas persiste, concretamente, ao ato de aplicao. Para que uma norma incida sobre determinado
suporte ftico, o agente competente tem que dizer qual o direito aplicvel e assim o faz, tomando uma
posio, ou seja, preterindo uma significao em razo de todas as demais. Se, na construo de
sentido dos textos jurdicos, o intrprete se depara com duas ou mais normas vlidas, que fixam
condutas incompatveis, ele tem que optar por qual delas aplicar, utilizando-se, para tanto, dos critrios
de hierarquia, cronologia, especialidade ou ideolgicos, para estruturar suas significaes. E, assim, os
conflitos so resolvidos concretamente.
muito comum encontrar na doutrina afirmaes do tipo a soluo de antinomias
d-se mediante a revogao de uma das normas conflitantes. Isto se justifica nos postulados da Lei
de Introduo ao Cdigo Civil que prescreve a utilizao dos princpios: lex superior derogat legi
inferiori, lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali, como diretrizes para
soluo de conflitos normativos. Tem-se estes casos como de revogao tcita da norma jurdica.
De acordo com os referenciais adotados neste trabalho, a soluo de antinomias no
se d com a revogao de uma das normas conflitantes (revogao aqui entendida no sentido de
expulso da norma do sistema). Ambas as disposies, mesmo que incompatveis, so vlidas
(existem) para o direito, at que o legislador produza uma terceira regra, com funo revogatria,
capaz de excluir uma delas do ordenamento. Neste sentido, ressalva TREK MOYSS
MOUSSALLEM: a revogao no funo de uma das normas conflitantes. Antes, pelo contrario,
419
MARIA HELENA DINIZ denomina este tipo de antinomia como uma lacuna de conflito (Conflito de normas, p. 26-27).
380
funo especfica da norma revogadora, ou melhor, do ato de fala dentico que tenha, por efeito
primeiro, a perda da aplicabilidade e, em momento posterior, a retirada da vigncia e da validade
420
.
Os princpios utilizados na soluo de conflito entre normas (i.e. lex superior derogat
legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali), nada mais so do
que regras que regulam a aplicao de outras regras (normas de estruturas). No tm eles o condo de
retirar a eficcia, vigncia e validade de uma das normas conflitantes, apenas estabelecem critrios
para que o agente competente estruture suas significaes em relaes de coordenao e subordinao
(no plano S4) e, assim, aplique uma norma em detrimento da outra.
Explica GABRIEL IVO, com a clareza que lhe peculiar, que a chamada revogao
tcita, por ocorrer no plano articulado das significaes normativas, no opera uma excluso de
enunciados prescritivos (plano de expresso). Diante dela o aplicador do direito, em face de um caso
concreto, est autorizado por meio das regras contidas no sistema jurdico a aplicar o princpio da
hierarquia, cronologia, ou especificidade, escolhendo para a soluo do caso a norma construda com
base no documento normativo superior, posterior ou especfico. Mas isso no revogao, porquanto o
conflito permanece e pode ter soluo diversa quando uma situao similar for apreciada por outro
aplicador do direito
421
.
No podemos esquecer que toda ordem jurdica constitui-se de um conjunto
escalonado de normas, que se associam mediante vnculos horizontais (de coordenao) e verticais
(subordinao), construdos mentalmente pelo intrprete a partir da leitura dos textos jurdico-
positivos. Tal estruturao um axioma do sistema, de modo que sem ela, ele no existe. A maneira
como cada direito positivo a realiza, todavia, que pode variar, pois ela estabelecida conforme
critrios adotados pelo legislador.
Explica PAULO DE BARROS CARVALHO que os critrios mais comuns so: (i)
lei superior prevalece sobre a inferior (hierarquia); (ii) lei posterior sobre a anterior (cronologia); (iii)
lei especial sobre a geral (especialidade). Tais orientaes so implantadas historicamente pelo
ordenamento, como instrumentos de consagrao do postulado da estruturao, pressuposto para
aplicao de qualquer norma jurdica
422
. assim que, a nosso ver, devem ser entendidos os princpios
420
Revogao em matria tributria, p. 192.
421
Norma jurdica: produo e controle, p.180.
422
Apostila do Curso de Teoria Geral do Direito, p. 146.
381
da lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi
generali.
Mas, vejamos cada um destes critrios separadamente:
1.2.2.1. Critrio hierrquico
baseado na superioridade de uma fonte de produo jurdica sobre a outra. Num
conflito entre normas de diferentes nveis, a de nvel superior deve prevalecer em relao de nvel
inferior. As disposies constitucionais, por exemplo, prevalecem sobre as infra-constitucionais (leis,
decretos, medidas provisrias, etc.) e as legais sobre as infra-legais (atos administrativos, sentenas,
instrues normativas, etc.), quando prescrevem condutas incompatveis.
A hierarquia, enquanto relao de subordinao, um postulado do ordenamento.
Sistematicamente, as normas jurdicas se conjugam de modo que as de menor hierarquia buscam seu
fundamento jurdico em outras de superior hierarquia, at chegarmos no patamar constitucional, ponto
de partida do processo derivativo e ponto de chegada do processo de fundamentao jurdica. Uma
norma sem fundamento jurdico em norma de superior hierarquia incompatvel com a estrutura do
ordenamento, encontra-se em desacordo com a organizao em que este deve apresentar-se.
Entretanto (como j mencionado em termos gerais), a simples incompatibilidade
entre uma prescrio de nvel inferior e outra de nvel superior, no tem o condo de retirar a norma
inferior do sistema. Ela permanece vlida, apenas deixa de incidir no caso concreto, em razo da
utilizao, pelo agente competente, do critrio da sobreposio hierrquica.
As disposies de nvel inferior contrrias s de nvel superior enquanto no tiverem
sua inconstitucionalidade ou ilegalidade constituda por linguagem prpria, continuam no sistema,
podendo, inclusive, serem aplicadas, em razo da sobreposio de outros critrios pelo aplicador. Isto
vale para todas as normas jurdicas. A incompatibilidade, em si, no ocasiona revogao da norma
jurdica de inferior hierarquia, ela apenas tomada como motivo para produo do ato revogador.
Como exemplo, podemos citar a Lei do Municpio de Barueri-SP, que previa
alquotas de 0,25% a 0,5% para o ISS (imposto sobre servios de qualquer natureza) e a Emenda
Constitucional 37/03, que prescreve seja a alquota mnima do ISS de 2%. A Emenda no teve o
382
condo de revogar a Lei do Municpio de Barueri, ambas permaneceram vlidas at o legislador
municipal editar novas alquotas em conformidade com a Emenda.
O critrio hierrquico serve como parmetro para ordenao do sistema e soluo de
conflitos entre as significaes construdas pelo intrprete, prevalecendo sobre qualquer outro em
razo da hierarquia ser um axioma do ordenamento. Mas, no podemos esquecer que a constituio
das relaes de subordinao entre normas est condicionada aos valores inerentes interpretao,
principalmente, quando tratamos da estruturao hierrquica vista sob enfoque semntico
423
. Uma
norma jurdica subordinante que, para uns, serve como fundamento jurdico da norma x, para outros
pode no servir. A prpria existncia de antinomias a serem resolvidas pelo postulado da
superioridade, depende da interpretao atribuda, pelo aplicador, aos signos do direito positivo.
1.2.2.2. Critrio cronolgico
Refere-se ao tempo de existncia da norma. Se houver contradio entre regras
produzidas pelo mesmo rgo, a editada por ltimo deve prevalecer sobre a editada anteriormente. O
postulado da lei posterior, considerado por ALF ROSS como um princpio fundamental
424
, leva em
considerao a cronologia da produo normativa. Fundamenta-se no fato de que, devido s mudanas
sociais verificadas no decurso histrico do tempo, a norma mais velha (anterior) sempre ultrapassada
em relao a mais nova (posterior).
Dispe o art. 2 1 da LICC que: A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja ela incompatvel ou quando regule inteiramente a matria que
tratava a lei anterior. Como j vimos, a presena de antinomias no suficiente para retirar uma
norma jurdica do sistema, para isso, preciso que seja emitido um ato de fala dentico com funo
especfica. O critrio cronolgico atua na soluo de conflitos entre normas existentes. Se a lei
posterior revogasse a anterior naquilo que fosse incompatvel, no haveria conflito, pois uma das
regras deixaria de pertencer ao sistema jurdico.
Considera-se a lei posterior aquela publicada por ltimo. Partindo-se de uma
premissa comunicacional do direito, as normas ingressam no sistema quando publicadas, pois neste
momento que se instaura a comunicao jurdica. Nestes termos, o marco temporal indicativo da
423
Sob o enfoque semntico a estruturao hierrquica pode dar-se: (i) no aspecto formal; ou (ii) no aspecto material. A
primeira, quando a norma superior prescreve os pressupostos procedimentais que a norma subordinada deve respeitar
quando de sua produo; a segunda, quando a regra subordinante prescreve os contedos de significao? da norma
inferior.
424
Sobre el derecho y la justicia, p. 126-127.
383
anterioridade ou posterioridade de uma regra jurdica a data de sua publicao, instante em que ela
ingressa no mundo jurdico. Digamos que existam duas normas (A e B) regulando a mesma conduta de
forma incompatvel, a norma A promulgada primeiro, mas publicada depois da norma B, promulgada
depois, mas publicada antes da norma A. Pelo princpio da lei posterior aplica-se a lei A.
1.2.2.3. Critrio da especialidade
Diz respeito matria regulada. De acordo com tal critrio, a norma especial
sobrepe-se, no ato de aplicao, quela que disciplina a mesma matria em termos gerais. O
problema, relativo a este critrio aparece na definio de especialidade.
O conceito de especialidade, assim como o de superioridade e de posterioridade,
relacional. Uma norma s especial em razo da existncia de uma geral. O termo especial pode ser
utilizado para apontar duas caractersticas: (i) especificidade preceitos normativos que tratam de
forma particular determinado tipo de conduta; e (ii) especialidade regras que possuem todos os
elementos tpicos de outras (consideradas gerais) e mais alguns de natureza objetiva.
No primeiro caso, o termo especial empregado no sentido de especificidade, ou
seja, de norma especfica. A regra especial quando direcionada a certas situaes, de modo que a
norma geral, por no regular tais situaes, afastada devido falta de subsuno. No h conflito
entre normas, pois a materialidade de uma diferente da outra. As disposies dirigem-se a
determinados casos especficos e as gerais a outros no-especficos. Como exemplo, podemos citar a
Lei de Execuo Fiscal, que regula a cobrana da dvida ativa da Fazenda Pblica (Lei n. 6.830/80),
com relao aos enunciados do Cdigo de Processo Civil que dispem sobre o processo de execuo
(arts. 566 a 888). Nos casos de execuo fiscal aplica-se a lei especfica e, subsidiariamente, a lei geral
naquilo em que a primeira for omissa. No existem divergncias, porque as prescries gerais no
tratam das situaes disciplinadas pelas disposies especiais. Aplica-se, assim, as regras especiais
para os casos especiais e as regras gerais para os casos gerais (no especiais)
425
, de modo que o
postulado da especialidade pode ser reformulado nos seguintes termos: a norma especial se sobrepe
geral nos casos especiais.
No segundo caso, o vocbulo especial empregado no sentido de especialidade em
relao ao gnero, ou seja, de espcie (gnero + diferena especfica). A norma especial contm todas
425
Isto explica a determinao do art. 2 2 da LICC: A lei nova, que estabelea disposies gerais ou especiais a par
das j existentes, no revoga nem modifica a lei anterior.
384
as disposies da norma geral e mais algumas prescries objetivas. O contedo especial est contido
no contedo geral, com algumas peculiaridades que lhe atribuem o carter de especialidade. A norma
geral gnero da qual a norma especial espcie, de modo que, as prescries especiais devem estar
de acordo com o disposto nas regras que lhes so gerais. E, aqui temos a possibilidade de antinomias.
Como exemplo, temos a Lei Complementar 116/03 que dispe, em carter geral, sobre o ISS (imposto
sobre servios de qualquer natureza) e as leis que instituem o imposto de cada Municpio. Havendo
incompatibilidade entre as disposies especiais (de cada Municpio) e as prescries gerais da Lei
Complementar, estamos diante de uma antinomia entre normas jurdicas. Cremos, porm, que o
postulado da especialidade no se aplica nestes casos, devendo ser utilizado outros critrios, pelo
aplicador, para soluo de antinomias deste tipo.
Os critrios para soluo de antinomias funcionam como justificativas para o
intrprete estruturar suas significaes, mas a utilizao deles est condicionada a sua ideologia e aos
seus dados culturais. Devemos ter sempre em mente que o direito positivo, enquanto conjunto de
textos (considerados no seu plano de expresso), uma porta fechada, que se abre, com a
interpretao, para uma infinidade de caminhos. E, uma das maiores dificuldades em compreend-lo
est em querer determinar formas para que todos optem pelo mesmo caminho.
1.3. Constituio da linguagem competente e teoria da deciso jurdica
Ao relatar o evento, por meio de uma linguagem competente, imputando-lhe efeitos
jurdicos em decorrncia da aplicao de uma regra, o aplicador insere, no ordenamento, uma regra
individual e concreta, inovando o sistema. A linguagem inovadora reflete suas decises, objetivando os
valores empregados no processo de interpretao do fato e do direito.
Considerando que as normas jurdicas so unidades de linguagem, a atividade que as
produz um ato de fala, realizado por autoridade competente, conforme procedimentos estabelecidos
por outras regras. A criao de atos de fala pressupe sempre uma tomada de deciso por parte de seu
emissor, sobre a produo do ato e sobre seu contedo. Neste sentido, dizemos que a criao do direito
e sua aplicao operam-se mediante decises jurdicas.
GREGORIO ROBLES, adepto desta teoria, a explica com clareza: Sempre que nos
deparamos com uma norma, haver uma deciso que a tenha gerado. A norma que chamamos de lei
(como, por exemplo, o Cdigo Civil) existe como tal porque o legislador decidiu promulg-la e
decidiu sobre seu contedo em detrimento de outros. A norma que chamamos de sentena forma parte
385
do ordenamento em razo de o juiz t-la gerado mediante sua deciso, se o juiz no tivesse decidido, a
sentena no existiria como tal sentena ou teria contedo diferente
426
. Neste sentido, podemos dizer
que toda norma jurdica resultado de um ato de deciso. No h regra sem ato decisrio que a
anteceda.
Nestes termos, a teoria da deciso jurdica se aplica quer no mbito das normas
abstratas ou concretas, quer no mbito das gerais ou individuais, porque diz respeito produo
normativa. Neste tpico, no entanto, interessa-nos sua aplicao no mbito das normas individuais e
concretas.
A deciso jurdica apresenta-se como algo extremamente complexo, pois exige atos
de valorao. Toda criao de uma nova linguagem jurdica, implica a eleio de uma entre vrias
possibilidades e, por isso, como explica FABIANA DEL PADRE TOM contingente. Quem decide
colocar no sistema do direito um novo enunciado escolhe uma opo possvel entre as existentes,
excluindo as demais alternativas. Pressupe, portanto valorao
427
.
A aplicao se completa com a produo de uma linguagem que constitui a verso do
evento elaborada pelo aplicador como fato jurdico e imputa-lhe os efeitos prescritos na norma por ele
eleita para regular aquele caso em concreto. Diante da infinidade de verses sobre o evento o aplicador
constitui apenas um fato como jurdico e, perante as vrias solues normativas que o sistema
apresenta, fixa apenas uma para incidir no caso concreto
428
.
Vislumbra-se, na linguagem da norma individual e concreta, resultante da incidncia,
a existncia de atos decisrios, em virtude dos valores positivados pelo aplicador. Tais valores indicam
que a certo ponto houve uma tomada de deciso, mas o foco motivador de tal deciso, a valorao em
sua subjetividade, no aparece. Temos acesso linguagem produzida enquanto resultado de um ato de
vontade e nela aspectos que nos remetem a tal ato de vontade, mas no temos acesso ao ato em si. E,
so estes aspectos da deciso, que se objetiva na linguagem produzida, que interessam (valem) para o
direito.
Diante de tal peculiaridade, FABIANA DEL PADRE TOM, observa dois aspectos
indissociveis da deciso jurdica: (i) o elemento decisrio, puramente volitivo noesis; e (ii) o
426
Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), vol. 1., p. 82.
427
A prova no direito tributrio, p. 263
428
Por isso, nosso posicionamento acima, no sentido de que se existem os problemas na interpretao (lacunas e
antinomias) eles se resolvem com a aplicao.
386
contedo do que foi decidido noema
429
. A primeira perspectiva toma como foco o valor em sua
subjetividade, a segunda, centra-se no valor positivado.
Quando o aplicador produz a norma individual e concreta, resultante da aplicao,
ele diz qual o fato e diz qual o direito. A linguagem produzida positiva suas escolhas, por meio dela
temos acesso deciso, o que possibilita o controle de sua valorao. Como j vimos, a tomada de
posio sobre o fato e sobre a norma a ser aplicada um ato valorativo, mas no desregrado. De
acordo com critrios estabelecidos pelo prprio sistema vedado ao aplicador constituir o fato jurdico
com base em elementos diversos dos constantes na linguagem das provas (em sentido estrito), assim
como tambm lhe vedado construir a norma a ser aplicada sem fundamentao jurdico-positiva. O
controle da deciso feita pela objetivao dos valores constantes no ato de aplicao, por isso, a
necessidade de sua fundamentao e justificao.
Como contedo dos atos de aplicao, encontramos as fundamentaes e
justificaes: (i) do fato; e (ii) do direito. A primeira indica os enunciados (probatrios) tomados como
relevante para constituio do fato jurdico e as razes da escolha daqueles fatos. A segunda, os
enunciados jurdico-positivos utilizados na composio da norma aplicada e as razes da escolha
daquela norma. Tomemos qualquer ato de aplicao, como por exemplo uma sentena, ou um ato
administrativo e, alm do dispositivo (que contm a norma individual e concreta), indispensavelmente
neles constaro: (i) a fundamentao do fato, consistente na indicao dos enunciados factuais,
constantes do processo que influenciaram a convico do aplicador para conformao do fato jurdico;
(ii) a justificao do fato jurdico, consistente nas razes que levaram o aplicador a utilizar aqueles
enunciados factuais e no outros, na conformao do fato jurdico; (iii) a fundamentao jurdica, onde
apontada a legislao tomada como base para construo da norma aplicada e a (iv) justificao
jurdica, consistente nas razes que levaram o aplicador a utilizar-se daquela legislao e no de outra.
Tanto a fundamentao e justificao do fato, como a fundamentao e justificao do direito
possibilita-nos reconstruir a valorao da deciso e, com isso, atacar o ato produzido.
A produo da linguagem competente marca o fim da atividade de aplicao e a
objetiva juridicamente. O produto juridiciza as interpretaes construdas pelo aplicador (do fato e da
norma), tornando-as autnticas. O sentido produzido passa a ser vinculante para aquele caso em
concreto, devido competncia do aplicador para construir uma linguagem que inove o sistema. Isto,
porm, no significa que outros sentidos no possam ser construdos, apenas garante que sua
429
A prova no direito tributrio, p. 263.
387
redefinio jurdica exija um novo ato de vontade e a produo de novos enunciados individuais e
concretos. o que verificamos com os acrdos que revogam sentenas, atribuindo mesma situao
ftica interpretao jurdica diversa.
No se pode dizer que um sujeito competente aplicou uma norma geral e abstrata
sem a produo de um ato (documento normativo), que insira no sistema norma individual e concreta.
Com ela a regulao aproxima-se do campo das condutas intersubjetivas. Em seu antecedente
encontramos o enunciado protocolar denotativo, que relata o evento e constitui o fato como jurdico. E,
em seu conseqente, o enunciado protocolar denotativo relacional, que instaura o vnculo jurdico
(obrigatrio, permitido ou proibido) entre dois sujeitos determinados. a norma individual e concreta,
enquanto linguagem competente, que constitui o fato jurdico e instaura a relao jurdica.
388
CAPTULO XIII
TEORIA DO FATO JURDICO
SUMRIO: 1. Evento, fato e fato jurdico; 2. Ambigidade da expresso fato
jurdico; 3. Intersubjetividade do fato jurdico; 4. Categorias da semitica
objeto dinmico e objeto imediato; 5. Fato jurdico e categorias da semitica; 6.
Teoria das provas e constituio do fato jurdico; 7. Teoria da legitimao pelo
procedimento e a relao entre verdade e fato jurdico; 8. Tempo e local do fato x
tempo e local no fato; 9. Erro de fato e erro de direito; 10. Falsa idia de
intradisciplinariedade do fato jurdico; 11. Fatos jurdicos lcitos e ilcitos
1. EVENTO, FATO E FATO JURDICO
O direito se dinamiza por meio de fatos. Toda produo de efeitos no mbito jurdico
pressupe a verificao (em linguagem competente) de um acontecimento, descrito como hiptese de
uma norma geral e abstrata. Para relatar tal acontecimento, no entanto, preciso conhec-lo, o que,
para ns, s possvel mediante linguagem. Percebemos os acontecimentos pela modificao de um
estado fsico, que se esvai no tempo e no espao. tal modificao s temos acesso cogniscitivo pela
linguagem que dela fala. Tem-se aqui a importncia da diferenciao entre evento, fato e fato jurdico
estabelecida por PAULO DE BARROS CARVALHO.
Chamamos de evento o acontecimento do mundo fenomnico despido de qualquer
formao lingstica. O fato, por sua vez, o relato do evento. Constitui-se num enunciado denotativo
de uma situao delimitada no tempo e no espao. E, por fato jurdico entende-se o relato do evento
em linguagem jurdica. Enunciado, tambm denotativo de uma situao delimitada no tempo e no
espao, constitudo em linguagem competente, que ocupa posio de antecedente de uma norma
jurdica individual e concreta. A diferena entre evento e fato repousa no dado lingstico e, entre fato
e fato jurdico, na competncia da linguagem. Evento uma situao de ordem natural, pertencente ao
mundo da experincia, fato a articulao lingstica desta situao de ordem natural e fato jurdico
a sua articulao em linguagem jurdica.
Os acontecimentos do mundo fenomnico se perdem. Mal percebemos as
modificaes que se operam no plano da experincia e elas j fazem parte do passado. No temos
como aprision-las no tempo e no espao e nem como repeti-las, pois cada ocorrncia nica. O que
389
podemos falar sobre elas. Assim, distingue-se: o fato, enunciado lingstico sobre as coisas, os
acontecimentos, as pessoas e suas manifestaes; do evento, objeto da experincia sobre o qual se
fala
430
. Observemos, por exemplo, o andar de uma pessoa: cada passo pode ser percebido
separadamente, por meio dos sentidos humanos, quando tomados como objeto de experincia. Todos
eles, no entanto, se perdem no instante e lugar de execuo da prpria ao (andar). Mas, se, em algum
momento, algum diz: Fulano deu um passo maior que o outro, temos um enunciado lingstico que
se refere aos passos dados por algum. Nota-se que, aos passos efetivamente dados, objeto da
experincia (evento), no temos mais acesso, somente linguagem que deles fala (fato).
Os fatos referem-se sempre a ocorrncias passadas e somente por meio desta
referncia que temos conhecimento dos objetos da experincia a que eles se referem. Vejamos os
exemplos: Brasil foi descoberto por Pedro lvares Cabral em 1500, A seleo brasileira de futebol
ganhou o campeonato mundial em 1970, A economia estabilizou-se com o advento do plano real,
Maria casou-se com Jos, so todos fatos, enunciados lingsticos que se referem situaes de
ordem fenomnica. O acontecimento descoberta do Brasil, a ocorrncia final do campeonato
mundial de futebol de 1970, a situao de estabilizao da economia no plano real e o casamento
de Maria com Jos, so eventos que se perderam no passado. Conhecemos tais eventos, contudo, por
meio dos enunciados que a eles se reportam. Nesse sentido, qualquer afirmao ou negao que se
pretenda fazer ser sempre dos enunciados lingsticos (fatos), no dos objetos a que eles se referem
(eventos), sobre estes apenas se tm, ou no, experincia.
somente por meio da linguagem que o homem capaz de organizar uma situao
existencial como realidade para constitu-la como objeto de seu conhecimento. S conhecemos as
modificaes do plano experimental quando as organizamos lingisticamente. Assim, a compreenso
de qualquer acontecimento requer articulao lingstica, um recorte no contnuo heterogneo do
mundo circundante perceptvel, capaz de identificar certa situao como objeto.
Seguindo a proposta de classificao dos objetos de HURSEL sintetizada por
CARLOS COSSIO, os fatos se qualificam entre os objetos culturais, j os eventos, entre os objetos
reais. Os eventos so experimentados por meio de nossos sentidos e os fatos so compreendidos
mediante a interpretao.
430
JRGEN HABERMANS, Teora de la accin comunicativa: complementos y estdios prvios, p. 117.
390
Ensina TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. que: o fato no algo concreto, sensvel,
mas um elemento lingstico capaz de organizar uma situao existencial como realidade
431
. Segundo
a concepo do giro-lingstico, qual nos filiamos, a realidade, tal qual se apresenta aos seres
humanos, nada mais do que um sistema de signos articulados num contexto existencial. a
linguagem que confere realidade aos objetos da experincia, de modo que as coisas, os
acontecimentos, as pessoas e suas manifestaes s existem para o homem quando constitudas
lingisticamente. Nestes termos, podemos dizer que, o evento se constitui como realidade somente por
meio dos fatos.
Compreendemos a realidade dividindo-a em sistemas, ou seja, agrupando unidades
proposicionais em torno de vetores comuns. Os sistemas nada mais so do que cortes realizados no
campo da experincia por meio de um cdigo prprio, que atribui identidade a um conjunto de
elementos, por isso, a afirmao segundo a qual todos os sistemas so proposicionais. Cada sistema
formado por uma linguagem que s sua e que lhe confere fechamento sinttico com relao aos
demais. por meio desta linguagem prpria que so constitudas as realidades do sistema. Ela
funciona como um filtro seletor, determinando aquilo que nele existe ou no. Portanto, para que um
fato ingresse num sistema, este deve estar vertido na linguagem deste sistema, isto porque, somente o
relato na forma lingstica prpria constitui o fato como realidade de determinado sistema.
Um fato social quando relatado na linguagem prpria do sistema social, poltico,
se constitudo em linguagem poltica, econmico quando traduzido na forma lingstica do sistema
econmico e jurdico somente se enunciado na linguagem jurdica. Vale transcrever aqui a pontual
explicao de FABIANA DEL PADRE TOM: qualquer que seja o sistema que se examine, nele
ingressam apenas os enunciados compostos pela forma lingstica prpria daquele sistema. Relatado o
acontecimento em linguagem social, teremos o fato social; este, vertido em linguagem jurdica, dar
nascimento ao fato jurdico. Os fatos da realidade social, enquanto no constitudos mediante
linguagem jurdica prpria, qualificam-se como eventos em relao ao mundo do direito. O mesmo se
d com o fato poltico, econmico, biolgico, histrico, etc.: quaisquer desses, enquanto no
constitudos em linguagem jurdica permanecem fora do campo de abrangncia do direito positivo
432
.
Diz-se que um fato jurdico quando produz efeitos na ordem jurdica. Produzir
efeitos na ordem jurdica significa realizar alguma alterao no sistema do direito positivo. Se
431
Introduo ao estudo do direito, p. 253.
432
A prova no direito tributrio, p. 33
391
partirmos da premissa de que todos os sistemas so proposicionais e o que os diferencia a linguagem
prpria de cada um, qualquer fato, enquanto enunciado lingstico, s ser capaz de alterar um sistema
se dele fizer parte, ou seja, se nele for inserido por meio de sua traduo no cdigo prprio daquele
sistema. Para produzir efeitos de ordem jurdica um fato tem que se configurar como uma realidade do
sistema jurdico, o que s ocorre com o relato na forma lingstica prpria daquele sistema.
Cada sistema delimita sua prpria realidade, elegendo o modo pelo qual seus
enunciados lingsticos sero constitudos. No qualquer linguagem habilitada a produzir efeitos
jurdicos, somente o cdigo prprio daquele sistema capaz de modific-lo, constituindo-lhe novas
realidades. Assim, enquanto no traduzido em linguagem jurdica, o fato pode existir socialmente,
politicamente, historicamente, economicamente, religiosamente, mas no se configura como uma
realidade jurdica, porque no integrante do sistema do direito positivo e, portanto, no capaz de nele
produzir qualquer efeito.
No se pode esquecer que a linguagem do direito, e somente ela, que constitui a
realidade jurdica. A incidncia normativa (como j vimos) no se d com a mera ocorrncia do
evento, sem que este adquira expresso em linguagem competente. Qualquer situao social, ainda que
se subsuma ao conceito da uma hiptese normativa, se no vier a encontrar a forma lingstica prpria
do direito, no ser considerada como fato jurdico, pois incapaz de propagar direitos e deveres
correlatos. Neste sentido, a linguagem do direito no apenas noticia a ocorrncia de um evento em
conformidade com uma hiptese normativa, mas constitui o fato para o mundo jurdico, o introduz no
sistema fazendo-o desencadear os efeitos que lhe so prprios. Antes dela, o fato no existe na ordem
jurdica.
A diferena entre um fato qualquer e o fato jurdico est pautada na linguagem que o
constitui. O fato jurdico aquele traduzido no cdigo do direito positivo, selecionado pelos
parmetros de filtragem do sistema e, por isso, capaz de desencadear efeitos de ordem jurdica. Todo
fato jurdico , antes de ser jurdico, um fato, pois constitui-se como um enunciado lingstico sobre
uma situao existencial, mas nem todo fato jurdico, somente aquele vertido na linguagem
competente do direito positivo, capaz de promover os efeitos prescritos pelo sistema.
Resumidamente: o evento um acontecimento de ordem experimental; o fato um
enunciado lingstico sobre uma situao passada, verificada em certas coordenadas de tempo e
392
espao, a descrio do evento; e o fato jurdico o relato do evento em linguagem jurdica, um
enunciado lingstico pertencente ao sistema do direito posto, capaz de nele produzir efeitos.
2. AMBIGIDADE DA EXPRESSO FATO JURDICO
A expresso fato jurdico, como tantas outras, padece do problema da ambigidade
inerente aos signos. Se observarmos seu uso, tanto na doutrina, como na legislao e na jurisprudncia,
verificamos seu emprego, de forma reiterada, para designar, pelo menos, trs realidades distintas: (i) a
descrio hipottica presente nos textos jurdicos; (ii) a verificao concreta do acontecimento a que se
refere tal hiptese; e (iii) o relato em linguagem jurdica de tal ocorrncia.
A fim de evitar confuses que o uso de expresses ambguas desencadeia, mesmo
porque o discurso cientfico no as admite, a menos que devidamente elucidadas, utilizamos a
expresso fato jurdico na terceira acepo, como o relato em linguagem competente, de um
acontecimento passado, capaz de produzir efeitos na ordem do direito. Para designar a descrio
hipottica presente nos textos do direito positivo, enunciados conotativos que ocupam a posio
sinttica de antecedente de normas abstratas, preferimos a terminologia hiptese de incidncia. E,
para indicar a ocorrncia do acontecimento descrito na hiptese, utilizamos o termo evento.
Trabalhando com a terceira acepo, ressalvamos ainda, o uso da expresso fato
jurdico em sentido amplo e em sentido estrito, diferenciada por FABIANA DEL PADRE TOM
433
.
Caracteriza-se o fato jurdico em sentido estrito, como um enunciado denotativo que ocupa posio
sinttica de antecedente de normas concretas, que se refere a uma ocorrncia passada, verificada nos
moldes de uma hiptese normativa (ex: a paternidade constituda numa sentena declaratria, o
homicdio relatado numa sentena penal condenatria; o ser proprietrio de bem imvel informado
na guia de constituio do IPTU, etc.). J o fato em sentido amplo qualquer enunciado jurdico que
relate a ocorrncia de um evento e que produza efeitos na ordem jurdica, mas no necessariamente
instituindo direito e deveres correlatos individualizados (ex: as provas, os fatos alegados em petio
inicial ou contestao). A diferena resulta na circunstncia de que o fato jurdico em sentido estrito
mais que o relato em linguagem competente de um acontecimento passado capaz de produzir efeitos
na ordem jurdica, ele tomado como antecedente de uma norma jurdica concreta, cujo conseqente
institui uma relao jurdica (individualizada) entre dois ou mais sujeitos.
Interessa-nos, aqui, o fato jurdico em sentido estrito.
433
A prova no direito tributrio, p. 71.
393
Dedicamos o item anterior distino entre evento, fato e fato jurdico, resta-nos,
agora, analisar as diferenas que separam e as propriedades que aproximam o fato jurdico (em sentido
estrito) da hiptese de incidncia.
Os enunciados da hiptese de incidncia, como explica PAULO DE BARROS
CARVALHO, projetam-se para o futuro selecionando marcas, aspectos, pontos de vista, linhas, traos,
caracteres, que no se referem a um acontecimento isolado, mas que se prestam a um nmero
indeterminado de situaes
434
. Tm carter conotativo, na medida em que apontam para um nmero
finito, mas no determinado de eventos e se encontram sintaticamente posicionados como proposio-
antecedente de normas abstratas.
No enunciado da hiptese (antecedente de normas abstratas), ainda no temos o fato
jurdico, apenas critrios para identific-lo. Somente com o enunciado antecedente da norma individual
e concreta, produzido na finalizao do processo de aplicao, que o fato jurdico aparece na sua
integridade constitutiva. Por isso, no correto dizer que o fato jurdico est contido na hiptese de
incidncia. Esta contm apenas a indicao de uma classe, com as notas que um acontecimento precisa
ter para ser considerado fato jurdico. somente com a norma individual e concreta, veiculada pelo ato
de aplicao, que o fato jurdico constitudo, antes dela, ele no existe.
Tanto a hiptese de incidncia quanto o fato jurdico so enunciados lingsticos,
pertencentes ao direito positivo, que se referem a acontecimentos do mundo social e que ocupam
posio sinttica de antecedente normativo, aquele de norma abstrata e este de norma concreta. A
diferena entre os enunciados est precisamente no grau de determinao. Na hiptese encontramos
notas identificadoras de uma ao e seus condicionantes de tempo e espao. No fato jurdico
deparamo-nos com uma ao concreta verificada num ponto do tempo e num lugar do espao.
No enunciado do fato jurdico, o conceito da hiptese apurado com extrema
determinao, de tal modo que a classe prevista transforma-se num conjunto de um nico objeto,
devidamente caracterizado. No temos mais critrios e sim elementos: (i) um elemento material, que se
refere a uma ao concreta realizada no passado (ex. Joo bateu no veculo de Jos); (ii) um elemento
espacial, que aponta para uma localidade determinada (ex. na rua z, nmero y, no Municpio q); e (iii)
um elemento temporal que assinala um ponto preciso na linha cronolgica do tempo (ex. s 16 horas e
25 minutos e 30 segundos, do dia 23 de maio de 1998).
434
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 88.
394
Quem se depara com o fato jurdico, logo percebe que suas referncias voltam-se
para o passado, o que implica destacar seu carter declaratrio com relao ao evento. Diferente da
hiptese que se projeta para o futuro desenhando a conotao do evento. Cronologicamente, temos
primeiro o enunciado da hiptese, depois a concretude do evento e, por fim, a constituio do fato
jurdico, como bem demonstra a ilustrao abaixo:
A passagem da norma abstrata para a norma concreta, processo mediante o qual se d
a incidncia daquela norma, consiste, nos dizeres de PAULO DE BARROS CARVALHO,
exatamente, nessa reduo unidade: de classes com notas que se aplicariam a infinitos indivduos,
nos critrios da hiptese, chegamos a classes com notas que correspondem a um e somente um
elemento
435
.
Enquanto a prescrio do procedimento e da autoridade competente para realizar o
processo de positivao, atuam como limites sintticos na constituio dos fatos jurdicos, a hiptese
opera como limite semntico, demarcando a extenso conceitual do fato jurdico. O enunciado factual
h de ser produzido mediante a denotao dos critrios da hiptese, nos limites conotativos por ela
estabelecidos.
Neste sentido, podemos definir o conceito de fato jurdico como o enunciado,
produzido com base nos critrios da hiptese de incidncia normativa, capaz de produzir efeitos na
ordem jurdica. Segundo a concepo que adotamos neste trabalho, s existe fato jurdico (em sentido
estrito) onde houver norma jurdica concreta, antes disso, o que h so eventos e antes destes, somente
hipteses normativas e nenhum deste capaz de sozinhos, implicar direitos e deveres individuais e
correlatos.
435
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 121.
evento
#
.
Fato jurdico
Hiptese
Linha do tempo
395
Seguindo esta linha de raciocnio, PAULO DE BARROS CARVALHO fixa o
conceito de fato jurdico como sendo um enunciado factual protocolar, denotativo, posto na posio
sinttica de antecedente de uma norma individual e concreta. Enunciado, porque se trata de uma
formulao lingstica; factual, por se referir a um acontecimento concreto (passado); protocolar,
porque marca a existncia jurdica de uma situao; denotativo, por representar um elemento da
classe da hiptese; e posto na posio sinttica de antecedente de uma norma individual e concreta,
para enfatizar a necessidade de sua constituio em linguagem jurdica e porque, s assim capaz de
propagar os efeitos jurdicos prescritos em seu conseqente.
3. INTERSUBJETIVIDADE DO FATO JURDICO
Todo fato jurdico antes um fato social, pois o sistema jurdico se caracteriza como
um subsistema do sistema social. A linguagem jurdica incide sobre a linguagem da realidade social,
de tal sorte que a projeo semntica do direito abrange somente relaes intersubjetivas, excludas as
manifestaes meramente subjetivas. Projetando-se as normas jurdicas sobre o espao social, qualquer
situao que escape a este domnio no pode ser levada em conta como dado jurdico. Por isso, a
inevitvel intersubjetividade do fato jurdico.
A linguagem da facticidade jurdica constitui-se como uma metalinguagem com
relao linguagem da facticidade social e, por isso, no se confundem. Os fatos sociais so
enunciados produzidos na forma lingstica utilizada em nosso cotidiano, j os fatos jurdicos so
enunciados sobre os fatos sociais, que se enquadram na delimitao de hipteses normativas, relatados
na linguagem competente do direito positivo. Segundo as lies de PAULO DE BARROS
CARVALHO, h uma linguagem, que denominamos de social, constituidora da realidade que nos
cerca. Sobre essa camada, a linguagem do direito positivo, como discurso prescritivo de condutas,
vai suscitar aquele plano que tratamos como sendo da facticidade jurdica: fatos jurdicos no so
simplesmente os fatos do mundo social, constitudos pela linguagem da qual nos servimos no dia a dia.
Antes, so enunciados proferidos na linguagem competente do direito positivo, articulados com a
teoria das provas
436
.
O grfico ilustra tal idia:
436
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 89.
396
Explicando: temos os eventos (#), como mutaes que se do no plano da
experincia. Sobre os eventos, se reporta a linguagem social (representada pelo retngulo do meio). E,
sobre esta, a linguagem jurdica, incidente sobre o campo material das condutas intersubjetivas
(representada pelo retngulo de cima FJ).
A linguagem jurdica um recorte da linguagem social e, sendo assim, o fato jurdico
no outra coisa seno um recorte jurdico sobre o fato social, feito nos moldes da hiptese normativa.
Relatados os eventos na linguagem natural que utilizamos nas nossas comunicaes corriqueiras,
temos os fatos sociais; estes, traduzidos em linguagem jurdica, do nascimento aos fatos jurdicos.
Para o direito (plano do dever ser), no entanto, os fatos sociais (pertencentes ao plano do ser),
enquanto no vertidos em linguagem competente, so qualificados como meros eventos, pois no tm
o condo de desencadear qualquer efeito de ordem jurdica.
Para ilustrar tais afirmaes PAULO DE BARROS CARVALHO fornece-nos o
esclarecedor exemplo do nascimento de uma criana, que transcrevemos a seguir: Nasce uma criana.
Isto um evento. Os pais contam aos vizinhos, relatam os pormenores aos amigos e escrevem aos
parentes de fora para dar-lhes notcia. Aquele evento, por fora dessas manifestaes de linguagem,
adquire tambm propores de um fato, num de seus aspectos, fato social. Mas no houve o fato
jurdico correspondente. A ordem jurdica, ao menos at agora, no registrou o aparecimento de uma
nova pessoa, centro de imputao de direitos e deveres. A constituio jurdica desse fato vai ocorrer
quando os pais ou responsveis comparecerem ao cartrio de registro civil e prestarem declaraes. O
oficial do cartrio expedir uma norma jurdica em que o antecedente o fato jurdico do nascimento e
o conseqente a prescrio de relaes jurdicas em que o recm-nascido aparece como titular dos
direitos subjetivos fundamentais (ao nome, integridade fsica, liberdade, etc.), oponveis a todos os
#
FJ
Plano da experincia (evento)
Linguagem social (fato social)
ser
Linguagem jurdica (fato jurdico)
dever ser
397
demais da sociedade
437
. Nota-se que o fato social do nascimento da criana s se torna relevante
juridicamente quando traduzido em linguagem competente. E, assim com qualquer fato. Para
desencadear direitos subjetivos e deveres jurdicos correlatos os fatos da realidade social devem
revestir-se da linguagem jurdica, pois o direito no se satisfaz com a linguagem ordinria, que
utilizamos no nosso dia a dia, requer uma forma especial, por ele prprio prescrita.
Repetimos aqui o desafio lanado pelo ilustre professor de que: se apresente um
nico fato, capaz de propagar efeitos na ordem jurdica, que no se encontre traduzido na linguagem
do direito, para abandonarmos de vez esta teoria. H mais de dez anos o desafio foi proposto e at hoje
no h notcias de qualquer acontecimento que, desprovido de linguagem jurdica, tenha estabelecido
direitos e deveres correlatos. Qualquer ocorrncia que pretenda ingressar no mundo dos fatos jurdicos
precisa revestir-se da linguagem prpria que o direito impe.
O direito utiliza-se semntica e pragmaticamente da linguagem social, para delimitar
as classes da hiptese e do conseqente e definir o contedo do fato jurdico, mas sintaticamente o
sistema fechado. Ele se comunica com seu ambiente, que se constitui pelos demais sistemas sociais
(poltico, econmico, histrico, etc.), mas de forma exclusivamente cognoscitiva, assimilando, de
acordo com seus prprios critrios, os dados que lhe so externos. Estes critrios se materializam
naquilo que chamamos de linguagem competente. Assim, os fatos do ambiente s so capazes de
influenciar operativamente o sistema jurdico se revestidos na metalinguagem da facticidade jurdica,
quando ento, passam a pertencer-lhe, caso contrrio, continuam atuando apenas de forma
cognoscitiva.
A linguagem da realidade social no se repete na linguagem da facticidade jurdica.
Esta reflete um recorte daquela, delimitada pela extenso da hiptese normativa. Neste sentido,
reforamos ser a linguagem jurdica uma metalinguagem em relao linguagem da realidade social.
A hiptese reflete um recorte conotativo sobre esta realidade, enquanto o fato jurdico, um recorte
denotativo.
Como j frizamos em diversaas passagens deste trabalho, toda linguagem redutora
do mundo sobre o qual incide. A metalinguagem da facticidade jurdica redutora da linguagem dos
fatos sociais que, por sua vez, redutora da linguagem da experincia. Um fato jurdico um fato
social, juridicizado pela linguagem do direito. Por isso, a afirmao segundo a qual a sobre-linguagem
437
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 89-90.
398
do direito positivo vem separar, no mundo do real-social, o setor juridicizado do no-juridicizado,
destacando os fatos capazes de desencadear efeitos jurdicos dos meros acontecimentos sociais.
Por ser um recorte da realidade social o fato jurdico ser sempre intersubjetivo. No
h um fato, no direito, que no seja relacional. Um fruto que cai no meio da floresta Amaznica, por
exemplo, no tem qualquer relevncia jurdica, agora, se o mesmo fruto cai no terreno do vizinho, o
direito j se interessa, pois o acontecimento envolve pessoas. Isto se justifica porque o sistema jurdico
tem como objeto o sistema social, e por isso, o que no social est fora do seu mbito de incidncia.
O direito no se interessa por fatos fsicos ou meramente naturais (entendidos aqui
como aqueles que no enredados por pessoas) como o desmoronamento de um barranco, o nascimento
de um animal, a morte de um pssaro, o apodrecimento de uma rvore, a enchente de um rio, a
descarga eltrica de um raio, etc. Os acontecimentos relevantes juridicamente so os que envolvem
sujeitos, ou seja, aqueles que encontram reflexo na ordem social. Isto porque, o sistema, para ter
operatividade, pressupe referibilidade objetiva.
Uma tormenta em alto-mar, como bem explica LOURIVAL VILANOVA, que no
atinja coisa (um navio) ou pessoa, um fato natural juridicamente irrelevante, porque nenhuma relao
mediata ou imediata tem com condutas humanas e, por isso, nenhuma conseqncia jurdica traz. Mas
se atinge um navio, com carga e pessoas, e o fato foi tido, em contrato de seguro, como sinistro, como
evento futuro e incerto, a mesma tormenta reveste-se da qualidade de fato jurdico, trazendo
conseqncias, como a indenizao de vidas e cargas pelo segurador em favor do segurado
438
. Ainda
que no existisse o contrato de seguro, o fato seria relevante juridicamente para a incidncia de outras
normas, porque envolve pessoas e o direito regula a relao entre pessoas.
Em suma, o que queremos ressaltar, neste tpico a necessidade da
intersubjetividade do fato jurdico. O mero evento natural no tem importncia para o mundo do
direito, pois um fato, para desencadear efeitos jurdicos tem que envolver sujeitos e, portanto, ter um
mnimo relacional. observando isso, que PAULO DE BARROS CARVALHO, ao definir os
componentes do critrio material da regra-matriz de incidncia (esquema lgico-semntico que facilita
a compreenso do sentido dos textos legislados), sublinha a necessidade da existncia de um verbo
pessoal conjugado sempre no infinitivo, ressaltando a indispensabilidade de algum que realize ou
sofra a ao por ele representada.
438
Causalidade e relao no direito, p. 135.
399
4. CATEGORIAS DA SEMITICA OBJETO DINMICO E OBJETO IMEDITO
Fixamos, linhas acima, o posicionamento de que o fato um enunciado lingstico e
o evento, um acontecimento fsico. Esta distino implica a afirmao segundo a qual os eventos so
percebidos por ns, mediante a experincia com a alterao do mundo circundante, j os fatos so
conhecidos mediante a interpretao dos signos que o compem. O conhecimento do fato se d por
meio da interpretao, com a construo das significaes dos signos que compem seu suporte fsico,
j que um enunciado nada mais do que o conjunto estruturado de signos numa seqncia frsica.
Analisando o fenmeno da construo das significaes dos signos, a Semitica
peirceniana trabalha com a distino entre dois tipos de objetos: (i) imediato; e (ii) dinmico (real ou
mediato). Imediato o objeto representado no signo (que pode assumir a forma de smbolo, cone ou
ndice) e dinmico o objeto representado pelo signo. O primeiro est dentro do signo e faz referncia
ao segundo que se encontra do lado de fora e o determina. Imaginemos, por exemplo, a foto de uma
pessoa (cone), o objeto imediato a imagem nela contida e o objeto dinmico a pessoa a que ela se
refere. No caso de uma palavra ou frase (smbolo), o objeto imediato aquele compreendido na forma
de significao, por meio da interpretao dos signos, enquanto o objeto dinmico aquilo a que a
palavra ou o enunciado se refere.
No grfico abaixo podemos perceber melhor tal distino.
Explicando: temos: (i) o objeto imediato, dentro do signo (constitudo como
significao mediante a interpretao do suporte fsico - ); e (ii) o objeto dinmico, fora do signo, mas
condicionante deste na medida em que o objeto imediato a ele faz referncia (#).
Por ser o objeto imediato inerente ao signo, aquele s existe dentro deste, isto
significa que pertence ao universo lingstico e s tem existncia dentro deste universo. J o objeto
dinmico autnomo, existe independentemente do signo e pode ser real ou imaginrio. Considerando
que o conhecimento s existe por meio da linguagem, no conhecemos o objeto dinmico, a no ser
#
*
Objeto dinmico (ii)
Objeto imediato (i)
Signo
400
por intermdio do signo. Neste sentido, explica LCIA SANTAELLA: a noo de objeto imediato
introduzida por PEIRCE para demonstrar a impossibilidade de acesso ao objeto dinmico do signo. O
objeto dinmico inevitavelmente mediado pelo objeto imediato, que j sempre de natureza
sgnica
439
. Conhecemos o objeto imediato, aquele que se encontra dentro do signo e, por meio dele,
temos acesso a aspectos do objeto dinmico, mas este, na sua inteireza, nunca conseguimos captar.
O objeto dinmico difere-se do objeto imediato por transcend-lo. Nenhum signo
capaz de expressar inteiramente o objeto que representa, podendo s indic-lo, pois como ensina
CLARICE VON OERTZEN DE ARAJO, toda codificao uma representao parcial do universo
codificado
440
.
Tomemos o exemplo da fotografia utilizado acima (objeto imediato), por mais que a
imagem seja perfeita, ela no capaz de repetir a pessoa (objeto dinmico), apenas nos possibilita
conhecer alguns de seus aspectos fsicos, talvez emocionais ou comportamentais. Tudo mais que se
queira saber sobre a pessoa, s outros objetos imediatos, presentes em outros signos, podero
comunicar. Isto porque, nenhum objeto dinmico cabe dentro de um s signo, nem de todos que a ele
se referem (conjuntamente considerados). Como a riqueza de seus detalhes infinita os objetos
imediatos, por mais precisos que sejam, apenas conseguem captar alguns dos aspectos do objeto
dinmico. Haver sempre alguma peculiaridade que ficar para outros signos apresentarem.
Nestes termos, afirma PAULO DE BARROS CARVALHO que o objeto dinmico
intangvel: sempre haver aspectos sobre os quais um signo poder ocupar-se, de tal modo que, por
mais que se fale e se escreva a respeito de um simples objeto que est a nossa frente, nunca
esgotaremos essa possibilidade
441
.
Sobre o mesmo objeto (dinmico) podem existir infinitos signos (objetos imediatos)
e sempre haver a possibilidade de existir mais um. Neste sentido, a relao que se estabelece entre
objeto imediato e objeto dinmico denominada de assinttica, pois eles nunca se encontram e nunca
coincidem. Isto se justifica porque a linguagem no toca a realidade e o objeto imediato, por ser
inerente ao signo, pertence ao universo lingstico e no se confunde com o mundo que representa
(real ou imaginrio). A experincia no tem fim. Por mais que se aprofunde sobre determinada matria
439
A teoria geral dos signos semiose e auto gerao, p. 40 (So Paulo, Pioneira, 2000)
440
Fato e evento tributrio uma anlise semitica, in Curso de especializao em direito tributrio: estudos analticos em
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, p. 339.
441
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 92
401
(objeto dinmico), mais e mais fica-se por conhecer, o que muito bem representado na curva
assinttica de CHARLES SANDERS PEIRCE, onde a linha dos signos se prolonga at o infinito sem
encontrar com os eixos das abscissas (horizontal) e das ordenadas (vertical), onde se localizam as
coordenadas dos objetos.
Toda representao limitada. O signo (objeto imediato) no copia o objeto
(dinmico), apenas o representa, ou seja, diz algo sobre ele. A busca por outras informaes sobre o
objeto (dinmico), alm das apresentadas no signo (objeto indireto), denominada de experincia
colateral. A experincia colateral diz respeito ao que est fora do signo, mas que pretende ser
alcanado pelo intrprete no intuito de obter uma representao mais satisfatria do objeto. Toda ela se
baseia em outros objetos imediatos, formando aquilo que a Semitica designa de semiose, uma
continuidade infinita de signos desenrolando-se em outros signos
442
. No caso da fotografia (acima
citado), por exemplo, mais informaes sobre a pessoa (objeto dinmico), podem ser obtidas atravs
de uma carta por ela escrita, mediante uma conversa, pela analise de suas roupas, de seus gestos, suas
atitudes, pela leitura de exames mdicos, por meio de imagens de vdeo, etc. Todos estes outros signos
compem a experincia colateral da imagem contida na fotografia, e isoladamente constituem-se como
objetos imediatos representativos da pessoa.
Em suma, o objeto dinmico se resume naquilo que o signo no explica, mas indica,
deixando o intrprete conhec-lo por meio da experincia colateral. Mas em que medida o objeto que
est fora participa do processo sgmico? Respondendo tal questo, LCIA SANTAELLA esclarece:
De acordo com PEIRCE, o fato do objeto dinmico ser mediado pelo objeto imediato no o leva a
perder o poder de exercer uma influncia sobre o signo, uma vez que o signo s funciona como tal
porque determinado pelo objeto dinmico
443
. Todo objeto imediato outro objeto em relao ao
442
Um signo sempre remete a outro signo, numa interminvel sucesso devido incompletude sgnica, que o impossibilita
de atingir seu objeto dinmico. Tal incompletude decorre do fato de que a significao tambm se apresenta como signo, a
qual exteriorizada, d origem a outro signo e assim sucessivamente. tal sucesso d-se o nome de semiose.
443
A teoria geral dos signos semiose e auto-gerao, p. 46
Coordenadas de objeto
(objeto dinmico)
Linha dos signos
(objetos imediatos)
402
objeto dinmico (isto pode ser identificado no grfico acima, quando utilizamo-nos de smbolos
diferentes para representar o objeto imediato " que se encontra dentro do signo e o objeto dinmico
# que est fora); ambos tm identidade prpria. Mas, apesar dos signos serem autnomos, devido a
sua natureza, eles s existem em razo dos objetos a que aludem, porque precisam de algo para se
referir.
5. FATO JURDICO E CATEGORIAS DA SEMITICA
A separao entre objeto imediato e dinmico instituda pela Semitica peirceniana
muito til na compreenso do fato jurdico e seu distanciamento do evento. Em primeiro lugar,
devemos ter em conta que o direito um conjunto de signos sintaticamente autnomo do sistema de
signos que compem a realidade social. Como ressalta EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI, assim
como a representao semitica na curva de CHARLES SANDERS PEIRCE, o direito no toca a
realidade, que lhe intangvel, o direito s produz novo direito, altera a realidade sem com ela se
confundir, construindo suas prprias realidades
444
.
O fato jurdico uma realidade exclusivamente jurdica, no pertence ao plano
social, econmico, poltico, moral, religioso, apenas ao mundo jurdico, mas se refere realidade
social, que se encontra fora da realidade do direito. No h conjugao, uma coisa so os fatos que
esto fora do direito, mas influenciam a construo dos fatos que esto dentro (jurdicos), outra coisa
so os fatos que esto dentro, mas se referem aos fatos de fora (sociais). Aplicando aqui as categorias
de Semitica, temos os fatos do direito como objetos imediatos e os fatos sociais como objetos
dinmicos.
O grfico abaixo explica melhor o que queremos dizer:
444
Decadncia e prescrio no direito tributrio, p. 53-54.
#
*
Fato social
(objeto dinmico)
direito positivo
Fato jurdico / Hiptese
(objeto imediato)
linguagem
competente
403
Em termos gerais, toda a linguagem do direito, por ser de sobre-nvel em relao
linguagem social, constitui-se como objeto imediato daquela, que se configura como objeto dinmico.
Especificamente, toda vez que o legislador seleciona aspectos do fato social, que pretende utilizar na
articulao prescritiva como hiptese de incidncia de normas jurdicas, constri uma realidade
jurdica (objeto imediato) cujo objeto dinmico o fato social. Da mesma forma, quando o aplicador
elabora o enunciado protocolar da norma individual e concreta, relatando um acontecimento social
verificado nos moldes da hiptese de incidncia, constri outra realidade, a do fato jurdico (objeto
imediato), cujo objeto dinmico tambm o fato social. O modelo da norma geral, ensina PAULO DE
BARROS CARVALHO, ou o prprio fato, na sua estrutura enunciativa, contido na norma individual
e concreta, aparecem como objeto imediato e o fato social, de que foi segmentado o fato jurdico, o
objeto dinmico. Neste sentido, o fato jurdico apenas um ponto de vista sobre o fato social
445
,
ressaltamos: um ponto de vista jurdico.
Como j observamos, o objeto imediato capta apenas alguns aspectos do objeto
dinmico, no tendo o condo de repeti-lo. Transpondo esta colocao para o direito positivo, temos
que a linguagem jurdica redutora da linguagem social que lhe serve como objeto. Como explica
PAULO DE BARROS CARVALHO: uma metalinguagem sempre redutora da linguagem-objeto de
que se ocupa. E isso significa, em outros termos, que a linguagem do direito positivo reduz as
complexidades da linguagem social que lhe serve de objeto
446
. E, ao reduzir as complexidades sempre
deixa escapar algo.
Aplicando-se tais colocaes ao estudo do fato e do evento temos que, tanto o recorte
hipottico, como o fato jurdico, jamais representaro o evento em sua integridade. Ao definir a classe
da hiptese normativa, de acontecimentos capazes de ensejar efeitos no mundo jurdico, o legislador,
por mais que tente, no consegue elaborar uma descrio to precisa, vendo-se na necessidade de
promover forte diminuio na multiplicidade social, descartando uma variedade de aspectos dos fatos
que julga irrelevante. Da mesma forma, o aplicador, ao constituir o fato jurdico, descarta uma
infinidade de pores do evento, que no interessam ao direito, por no terem sido eleitas na
composio da hiptese normativa, ou porque no as consegue reproduzir mediante os meios
prescritos pelo sistema. A estes cortes, promovidos pelo legislador (quando da delimitao da hiptese
normativa) ou pelo aplicador (quando da constituio do fato jurdico), atribui-se o nome de
isolamento temtico.
445
Direito tributrio, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 93
446
Idem, p. 94.
404
Nunca o fato jurdico captura a inteireza do evento. Este, enquanto ocorrncia do
mundo fenomnico percebido pela experincia, sofre, primeiramente, o recorte da linguagem social
que lhe toma como objeto e ao isol-lo, deixa escapar vrios aspectos de sua natureza. Sobre o recorte
da realidade social, incide uma nova inciso, feita pela linguagem que constitui o fato jurdico e, ao
reduzir as complexidades do fato social, deixa escapar ainda mais aspectos do evento. Nesta
cronologia, o fato jurdico um ponto de vista sobre outros pontos de vista do evento, representando,
apenas, uma parcela desta realidade.
Como diante do fato jurdico no dispomos de todas as informaes sobre o evento,
para colhermos outras notcias a respeito do fato social que ensejou sua produo, socorremo-nos da
experincia colateral. Esta pode ser: (i) jurdica ou (ii) extrajurdica. D-se a primeira quando o
aplicador ou o intrprete deixa de lado, por alguns instantes, o enunciado protocolar do fato jurdico e
sai em busca de outras proposies tambm jurdicas para melhor compreend-lo ou at mesmo para
impugn-lo. o que acontece, por exemplo, com o juiz que solicita uma prova pericial no satisfeito
apenas com a documental, presente nos autos, ou ento, com a parte insatisfeita numa sentena, que
tenta (em sede de recurso) constituir novo fato jurdico, por meio da inquisio de provas constantes
nos autos, mas no levadas em conta pelo juiz, quando da expedio da sentena. J a segunda
(experincia colateral extrajurdica) verifica-se quando o aplicador, ou o intrprete, buscando uma
melhor compreenso do fato jurdico, sai procura de enunciados no pertencentes ao sistema que o
complementem. o que ocorre, por exemplo, com o delegado que, tocado com a brutalidade de um
crime, vai at o local e conversa informalmente com as pessoas da redondeza, ou ento com o
comprador que, para se assegurar das condies oferecidas pelo vendedor, procura informaes sobre
sua ndole comercial.
Tal separao vale tambm em termos genricos, para todo campo do direito. A
experincia colateral, para o intrprete, ser a procura de qualquer outro signo que lhe traga mais
informaes sobre o objeto dinmico. Sempre que o jurista, diante de alguns enunciados prescritivos
(objeto imediato), busca outras proposies dentro do prprio direito, para colher mais aspectos de
seus objetos dinmicos, e assim, melhor compreend-los, estamos diante de uma experincia colateral
jurdica. Quando, porm, abandona os textos do direito positivo, indo ao encontro de outros
enunciados (econmicos, polticos, histricos, etc.), sai da esfera do jurdico, realizando uma
experincia colateral de carter extrajurdico.
405
Importante destacar tambm, a autonomia do fato jurdico em relao ao evento. O
objeto imediato, apesar de referente ao objeto dinmico, autnomo em relao a ele. Isto se aplica
linguagem jurdica como um todo. O direito cria suas prprias realidades, independentemente da
realidade social, embora seja, a ela, sempre referente. Nestes termos, o fato jurdico constitui-se como
uma realidade do sistema jurdico, independente do fato social, apesar de, a ele, ser sempre referente.
Tal afirmao leva concluso de que o fato jurdico no necessariamente haver de espelhar o evento
por ele descrito. Como bem ressalta FABIANA DEL PADRE TOM, conquanto a linguagem fale em
nome de um evento, dado a sua auto-suficincia, possvel que mesmo no tendo ocorrido certo
acontecimento, este venha a ser reconhecido pela linguagem
447
. O fato jurdico aquele constitudo
por uma linguagem competente, produzida de acordo com os critrios estabelecidos pelo sistema do
direito positivo. Se tais critrios oferecem, ao aplicador, informaes no condizentes com o evento, o
fato jurdico, com base nelas constitudo, no o representar, embora a ele se refira.
Seguindo as lies de VILM FLUSSER, pode-se dizer que o fato jurdico a
traduo do fato social em linguagem jurdica. Lembramos que, segundo o autor, entre uma traduo e
outra h o abismo do nada. Durante o processo de traduo o intelecto se aniquila provisoriamente ao
deixar o territrio da lngua original para condensar-se de novo ao alcanar a lngua da traduo. Neste
sentido, a traduo perfeita impossvel. Ela somente pode ser feita mediante aproximao, que
possvel porque cada sistema dispe de regras que governam a criao de suas unidades. Assim, um
enunciado verdadeiro em relao a outro enunciado, quando obedece essas regras e falso quando no
obedece.
Tais assertivas se aplicam perfeitamente ao estudo do fato jurdico. A linguagem que
o constitui cria uma realidade especfica para o direito. Entre esta realidade e a realidade do fato social
existe o abismo do nada. O fato social evapora-se no intelecto do aplicador para que este possa
constituir o fato jurdico mediante as regras prescritas pelo sistema. E, devido auto-suficincia da
linguagem jurdica, quando obedecidas tais regras o fato constitudo se mantm, ainda que no
consoante com o fato social. Nestes termos, a realidade do evento algo que no existe para o direito,
pois aniquilada no intelecto do aplicador quando da construo da realidade do fato jurdico.
Por fim, cabe ressaltar que, transportando para o estudo do fato jurdico a afirmao
segundo a qual, sobre o mesmo objeto (dinmico) podem existir infinitos signos (objetos imediatos),
temos que, sobre o mesmo fato social podem existir vrios fatos jurdicos, cada um deles autnomos
447
A prova no direito tributrio, p. 20.
406
entre si. Igualmente, como uma norma pode incidir sobre acontecimentos distintos, produzindo fatos e
efeitos jurdicos distintos, normas diferentes podem incidir sobre o mesmo suporte ftico, ensejando
variadas conseqncias jurdicas. o caso, por exemplo, da venda de um imvel. Sobre este mesmo
acontecimento (objeto dinmico), incidem vrias normas (tributrias, civis, comerciais,
procedimentais, etc.), efetuando o recorte de diferentes fatos jurdicos (objetos imediatos).
Cada fato jurdico distinto em relao ao outro, embora referentes ao mesmo
suporte ftico, porque decorrentes da aplicao de normas diversas e instauradores de diferentes
relaes na ordem jurdica. Os fatos constitudos como antecedentes de normas individuais e concretas
que se referem ao mesmo acontecimento emprico, no conversam entre si, para, conjuntamente,
fornecerem uma melhor compreenso do objeto dinmico. So autnomos, constitudos com o
propsito de desencadearem direitos e deveres correlatos, prprios de cada um.
6. TEORIA DAS PROVAS NA CONSTITUIO DO FATO JURDICO
Os fatos jurdicos so responsveis pela dinmica do direito. Nenhum efeito jurdico
produzido sem um fato que lhe sirva de causa. Como destaca EURICO MARCOS DINIZ DE
SANTI, sem a construo dos fatos jurdicos o direito rompe sua dinmica funcional, torna-se
esttico, no se reproduz e no aplicvel
448
. Sabemos, contudo, que nenhum fato capaz de
produzir efeitos jurdicos seno vertido em linguagem jurdica. Mas, a questo : como os fatos
ingressam na ordem jurdica? Como eles so constitudos em linguagem jurdica?
Como frisamos em inmeras passagens deste trabalho, o direito um sistema
sintaticamente fechado. Assim, para que um enunciado factual nele ingresse necessrio que seja
relatado no cdigo que lhe prprio, de acordo com as regras por ele prescritas. O sistema determina o
modo como seus fatos so produzidos, estabelecendo um procedimento especfico a ser realizado por
agente competente, e prescrevendo os instrumentos capazes de vincular juridicamente informaes
sobre os fatos sociais, que servem de base material para sua construo. Nestes termos, os fatos
jurdicos sero aqueles enunciados produzidos mediante procedimento prprio, realizado por agente
competente e que podem sustentar-se em face das provas em direito admitidas.
O que entra para o direito o ato, produto do processo de aplicao. E, para
realizao deste processo, o sistema indica os instrumentos credenciados a constituir os fatos jurdicos,
de modo que, como sublinha PAULO DE BARROS CARVALHO, os acontecimentos do mundo
448
Decadncia e prescrio no direito tributrio, p. 41.
407
social que no puderem ser relatados com tais ferramentas de linguagem no ingressam nos domnios
do jurdico, por mais evidentes que sejam
449
. V-se aqui a importncia das teorias da prova, do
procedimento e do ato na construo do fato jurdico.
A notcia do evento materializa-se juridicamente por meio do fato alegado. Tal fato
tomado como motivo do ato de aplicao, que obriga o agente competente a realizar o procedimento
prescrito pelo sistema, que culminar no ato de aplicao, veiculador do fato jurdico (considerado em
sua acepo estrita) e da correspondente relao instituidora de direitos e deveres correlatos, na ordem
jurdica. Pressuposto lgico deste procedimento saber se ocorreu ou no o fato alegado, o que se
torna possvel to s mediante o recurso tcnico das provas.
O fato alegado motiva o funcionamento do sistema. Ele produz um efeito na ordem
jurdica, que justamente o de iniciar o procedimento de aplicao. Neste sentido, ele um fato
jurdico (em sentido amplo), pois reconhecido pelo sistema, mas que tem a caracterstica de servir
como motivao para a constituio de outro fato jurdico (em sentido estrito). Prova disso que nem
todo o fato alegado motiva a instaurao de um procedimento de aplicao do direito, somente aqueles
produzidos nos moldes prescritos pelo sistema.
Para que um sujeito, por exemplo, tenha direito indenizao em razo de um
acidente de trnsito, primeiramente ele deve alegar a ocorrncia deste acidente. No basta, para tanto,
porm, que se dirija ao frum da cidade e relate o acontecido ao juiz. Tal fato, ainda que alegado, no
se reveste de linguagem competente capaz de ensejar o efeito motivador do processo da aplicao da
norma de indenizao. preciso que ele seja produzido nos termos do direito, ou seja, por petio
inicial, redigida por advogado e protocolada junto ao cartrio distribuidor. A produo da petio
inicial, ato motivador, que insere no sistema o fato alegado, tambm deve obedecer a certos requisitos
fixados pelo direito (art. 282 CPC), sob pena da alegao por ela vinculada no prosperar
juridicamente.
Juridicizado, o fato alegado deve ser provado. Aquele que no tem como provar seu
direito, registra MARIA RITA FERRAGUT, , para o mundo jurdico, como se no o tivesse
450
. Ao
direito s possvel conhecer a verdade do fato alegado por meio das provas. Se a ocorrncia nele
descrita no puder ser suficientemente provada, ela no existir juridicamente. Neste sentido, so as
provas jurdicas, e to-somente elas, que proporcionam, para o direito, o conhecimento dos fatos tidos,
449
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 98.
450
Presunes no direito tributrio, p. 45.
408
por ele, como relevantes. por meio delas que o evento atestado e que os fatos jurdicos so
constitudos e mantidos no sistema.
FABIANA DEL PADRE TOM, em elaborado estudo sobre a prova, realizado
dentro dos moldes da corrente com a qual trabalhamos, discorre acerca da ambigidade do termo e
seus mais diversos significados. Para fins deste trabalho, adotamos o conceito de prova como fato, ou
seja, um fato jurdico (em sentido amplo), cuja funo consiste em convencer o destinatrio acerca da
veracidade da argumentao de determinado sujeito, levando composio do fato jurdico em sentido
estrito
451
. Neste sentido, a prova sempre um fato que afirma ou infirma outro fato, um meta-fato
(na terminologia empregada pela autora), isto , um enunciado factual que tem como objeto outro
enunciado factual.
O objeto da prova so os fatos alegados, nunca os eventos. Estes, enquanto
acontecimentos do mundo fenomnico, s so conhecidos por meio de uma linguagem. Assim, um
enunciado lingstico s pode se referir a outro enunciado lingstico, porque no h relao entre os
signos e as coisas s quais eles se referem, mas apenas entre signos.
A prova sempre do fato que afirma ou nega o evento, atestando-o quando
compatvel ou negando-o quando incompatvel. Se no houver o fato alegado, no h o que se provar.
Como enfatiza FRANCESCO CARNELUTTI: as afirmaes sobre os acontecimentos no so
conhecidas, mas comprovadas, enquanto os acontecimentos no se comprovam, mas se conhecem
452
.
Nestes termos, a verdade do fato alegado no corresponde identidade entre o enunciado que o
materializa e o acontecimento percebido no mundo da experincia, mas compatibilidade entre tal
enunciado e aqueles denominados de prova.
Enquanto fato, a prova um enunciado lingstico e, portanto, a ela podem ser
aplicadas as categorias da semitica de objeto dinmico e objeto imediato. O fato que se deseja provar
(fato alegado) o objeto dinmico da prova, que se constitui como objeto imediato ao represent-lo
parcialmente. O fato alegado, por sua vez, o objeto imediato, em relao ao evento, que aparece na
condio de objeto dinmico. Resumindo, a prova signo do fato alegado e este signo do evento.
Nota-se que tudo a que o direito tem acesso para constituir o fato jurdico so signos do evento. neste
sentido, que a linguagem das provas o nico modo pelo qual os fatos do mundo social so passveis
de serem juridicizados
451
Prova do direito tributrio, p. 71
452
A prova civil, p. 68.
409
Nenhum acontecimento ingressa nos autos, para afirmar ou infirmar o fato alegado.
Tudo o que o aplicador tem a sua frente um conjunto de signos. E a constituio do fato jurdico (em
sentido estrito) feita mediante a interpretao, valorao e articulao destes signos. O que entra para
os autos, no o acontecimento concreto na sua interminvel multiplicidade, como bem diz PAULO
DE BARROS CARVALHO
453
, so os fatos formulados pelas partes e estes so os objetos das provas.
No processo de aplicao do direito, uma das partes produz uma alegao fato
jurdico em sentido amplo (enunciado lingstico), cujo reconhecimento produz o efeito de motivar o
procedimento de positivao. A parte contrria, ao se defender produz outra alegao fato jurdico
em sentido amplo (enunciado lingstico), que instaura o contraditrio no processo, requerendo que
esta prevalea em relao quela produzida primeiramente. As provas referem-se aos fatos alegados
pelas partes. Em nenhum momento o acontecimento concreto aparece nos autos. Apesar dos meios de
prova admitidos juridicamente serem dos mais variados, todos no passam de signos, que representam
aspectos do evento, mas que jamais tm o condo de traz-lo ou reconstitu-lo integralmente no
processo.
A eficcia probatria exige que, primeiramente, se alegue o fato, para depois
comprov-lo com o emprego das provas. As alegaes das partes (constantes da petio inicial e da
contestao) e s provas que as afirmam ou infirmam, constituem a nica realidade que o aplicador
tem como base para produzir a norma individual e concreta resolutiva do conflito, que constitui o fato
jurdico (em sentido estrito) e a relao jurdica dele decorrente.
Com base no que foi dito at aqui, especificando nossas ilustraes sobre a
incidncia, temos a seguinte perspectiva da aplicao do direito:
453
Teoria da prova e o fato jurdico tributrio. Apostila do Programa de Pos-Graduao em Direito (Mestrado e
Doutorado) da USP e da PUC/SP.
410
Explicando: temos um fato (#) constitudo pela linguagem social (plano do ser)
que se enquadra a extenso do conceito da hiptese de incidncia de uma norma jurdica. O aplicador
do direito tem acesso a este fato mediante outra linguagem, produzida nos moldes prescritos pelo
direito (plano do dever ser): a linguagem dos fatos alegados (linguagem jurdica I). Tal linguagem se
legitima e se sustenta noutra linguagem, tambm produzida nos moldes prescritos pelo sistema
jurdico: as provas (linguagem jurdica II). Com base nestas duas linguagens o aplicador, verificando
que o fato relatado se enquadra no conceito da hiptese (H) de uma norma jurdica (linguagem III),
realiza a subsuno e produz outra linguagem, denotativa daquela (linguagem jurdica IV) e
constitutiva do fato jurdico (Fj) e da relao jurdica (Sa P Sp). Tal linguagem projeta-se sobre o
campo da realidade social (plano do ser), instaurando relaes entre sujeitos ().
Nota-se que o aplicador no tem contato com a realidade do evento (linguagem
social), s com a linguagem jurdica. unicamente com base nela que o processo de positivao se
realiza. Neste sentido, no h que se falar na existncia de uma relao de veridicidade entre o fato
jurdico e o evento, mas unicamente entre o fato jurdico e as provas admitidas.
PLANO DO
DEVER SER
PLANO DO
SER
Fato social
Relao social
H C
#
FJ
Sa P Sp
Linguagem jurdica III
Linguagem
jurdica IV
Linguagem
social
Fatos Alegados
Provas
Linguagem
jurdica II
Linguagem
jurdica I
411
Como explica FABIANA DEL PADRE TOM, na dinmica da aplicao do direito,
tem-se que: se um fato alegado afirmado pelas provas, ento deve ser a constituio do fato jurdico.
Em termos formais:
[ Fa . (F1 . F2 . F3 . ... Fn)] Fj
454
O conjunto de diversos fatos (F1 . F2 . F3 . ... Fn), produzidos nos moldes e no tempo
prescrito pelo direito, conjuntamente considerados, leva a concluso de que o fato alegado (Fa)
verdadeiro, o que autoriza juridicamente a constituio do fato jurdico em sentido estrito (Fj). Nestes
termos, a prova o instrumento de que dispe o direito para constituir a verdade no processo de
positivao. No obstante sua funo seja persuasiva com relao ao fato alegado, a tarefa de
convencer o julgador visa a atingir determinada finalidade, orientada constituio ou desconstituio
do fato jurdico em sentido estrito
455
.
Como j mencionado, quando tratamos da interpretao do fato (no captulo anterior
sobre interpretao e aplicao do direito), ainda que os eventos possam ser expressos por diversas
formas de linguagem, s podem ser utilizadas, para a afirmao ou negao do fato alegado, as verses
produzidas na forma imposta pelo ordenamento, isto , pela denominada linguagem das provas
admitidas pelo direito. O sistema prescreve o procedimento probatrio, determinando os prazos, os
meios de apresentao dos fatos-prova e como estes devem ser produzidos. As provas apresentadas em
desacordo com tal procedimento, ou produzidas por meio ilcito, no se configuraram como aptas para
afirmarem ou negarem os fatos alegados e, conseqentemente, no servem como elementos para a
constituio do fato jurdico, por mais que atestem os fatos alegados. Neste sentido, que EURICO
MARCOS DINIZ DE SANTI enuncia ser o fato jurdico o fato juridicamente provado
456
.
A verdade do fato alegado aferida juridicamente de acordo com a compatibilidade
entre o enunciado que o constitui e os enunciados probatrios, que afirmam ou negam tal fato. Nota-se
que tudo um jogo de linguagens, articuladas de acordo com as regras impostas pelo sistema. Da
mesma forma que o direito determina o procedimento probatrio, prescreve como deve ser a
constituio do fato alegado e de sua contestao (fato contra-alegado) e os momentos em que tais
elementos devem ser produzidos. A constituio do fato jurdico depende to-somente da manipulao
454
Fa indica o fato alegado; (F1 . F2 . F3 . ... Fn) representam um nmero finito de fatos (provas); e Fj o fato que se
pretende constituir por meio das provas; (.) o conectivo conjuntor e () o implicacional (A prova no direito tributrio, p.
183).
455
A prova no direito tributrio, p. 264.
456
Decadncia e prescrio no direito tributrio, p. 43
412
destas linguagens. neste sentido que pondera PAULO DE BARROS CARVALHO serem, as provas,
tcnicas que o direito elegeu para articular os enunciados fticos com os quais opera
457
. O sucesso na
constituio do fato jurdico e na instaurao de direitos e deveres correlatos pretendidos pelas partes
de um litgio, depende do conhecimento da linguagem da articulao das provas e dos fatos alegados.
Aqueles que dominam esta tcnica imperam na aplicao do direito. Por esta razo, enfatiza
JEREMAS BENTHAM ser a arte do processo no outra coisa, seno a arte de administrar as
provas
458
.
7. TEORIA DA LEGITIMAO PELO PROCEDIMENTO E A RELAO ENTRE
VERDADE E FATO JURDICO
Todo fato jurdico constitudo com base em enunciados descritivos, que se referem
a um acontecimento, verificado nos moldes da hiptese de incidncia de uma norma jurdica. A
linguagem que o constitui prescritiva, de modo que, a ela no se aplicam os valores vlido e no-
vlido. Neste sentido, poder-se-ia indagar sobre a existncia de uma relao entre verdade e fato
jurdico, j que a linguagem que o constitui no se submete aos critrios de verdade e falsidade?
Primeiramente, deve-se reforar que nenhuma manifestao de linguagem exerce
uma nica funo. H sempre uma funo dominante, que no caso do direito positivo a prescritiva,
mas esta, no afasta a existncia de outras, como destaca IRVING M. COPI
459
. Muito embora as
normas individuais e concretas configurem enunciados prescritivos e, portanto, sujeitos aos valores
vlido e no-vlido, sua proposio antecedente (fato jurdico) produzida em conformidade com
enunciados descritivos, os quais se submetem aos valores de verdade e falsidade. Apesar da prova ser
um fato jurdico (em sentido amplo), porque constituda nos termos prescritos pelo direito, para ter o
condo de atestar o fato alegado e, portanto, produzir os efeitos que lhe so prprios, ela deve passar
pela valorao do juiz, que lhe atribui um sinal positivo se, em seu contexto analtico, ela afirmar o
fato alegado, ou um sinal negativo se o infirmar. O juiz no s delibera sobre a legitimidade do
processo probatrio, mas tambm decide sobre a veracidade do fato alegado. O fato constitudo como
jurdico no antecedente da norma individual e concreta expedida pelo juiz na resoluo do conflito,
aquele por ele considerado como verdadeiro, mediante as provas apreciadas. Neste sentido, a relao
entre a verdade e fato jurdico estabelecida mediante as provas do processo, pois, como afirma
MARIA RITA FERRAGUT, ao direito somente possvel conhecer a verdade por meio das provas
460
.
457
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 97
458
Tratados de las pruebas judiciales, p. 4
459
Introduo lgica, p. 21
460
Presunes no direito tributrio, p. 44
413
O fato jurdico, esclarece FABIANA DEL PADRE TOM, por integrar o sistema
do direito positivo, vlido ou no-vlido, mas tendo em vista a necessidade de essa espcie de
enunciado ser proferida em consonncia com eventos supostamente verificados, imprescindvel sua
articulao com a teoria das provas, mediante as quais apreciada sua veracidade
461
. Assim, a
verdade do fato jurdico no descoberta, mas criada dentro do sistema. As provas constituem os
fatos jurdicos e com eles a verdade jurdica sobre os eventos. O exemplo do homicdio trazido por
PAULO DE BARROS CARVALHO espelha bem essa idia. Nas palavras do autor: No suficiente
que ocorra um homicdio. Mister se faz que possamos cont-lo em linguagem jurdica, isto , que
venhamos a descrev-lo consoante as provas em direito admitidas. Se no pudermos faz-lo, por mais
evidente que tenha sido o acontecimento, no desencadear os efeitos jurdicos a ele atribudos. E,
nessa linha de pensamento, sendo suficiente para o reconhecimento jurdico a linguagem que certifica
o evento, pode dar-se, tambm, que no tenha ocorrido o crime (evento). Todavia, se as provas
requeridas o indicarem, para o direito estar constitudo
462
. Tal exemplo alude constituio do fato
jurdico penal, mas pode ser aplicado em termos gerais, para a construo de qualquer fato jurdico,
solidificando a afirmao de que a linguagem das provas constitui a verdade do fato para o direito.
Para falar da relao entre a verdade e o fato jurdico, necessrio, primeiro, fixar
um conceito de verdade. Como j abordamos no incio do trabalho, a verdade metafsica, ou seja,
abrange questes que no podem ser solucionadas pela experincia. Todos falam em nome da verdade
e no h meios experimentais de saber quem realmente diz a verdade.
Dentre as teorias existentes, que se voltam ao conhecimento da verdade, trabalhamos
com a da verdade lgica, aquela em nome da qual se fala, pressuposto lgico do discurso
comunicativo. Sempre que algum transmite uma mensagem descritiva, o faz em nome de uma
verdade que se pretende seja aceita dentro de uma comunidade de discurso. Sem tal pretenso, a
informao perde o sentido dentro do contexto comunicacional. Neste sentido, a verdade criada pelo
ser humano no interior de um dado sistema, para dar sustentabilidade ao discurso deste sistema. Um
fato verdadeiro quando de acordo com uma interpretao aceita pelo sistema. Nestes termos, os
enunciados verdadeiros apenas dizem o que uma coisa para determinado conjunto de enunciados,
com os quais se relaciona sistematicamente, no dizem como ela para todos os sistemas. Isto faz com
que a verdade seja sempre relativa, dependendo do discurso em que se insere.
461
A prova no direito tributrio, p. 28.
462
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 11.
414
Transpondo tais colocaes para o estudo dos enunciados factuais do direito positivo,
podemos dizer que a verdade do fato jurdico no corresponde verdade do evento. Primeiro, porque
ambos se encontram em sistemas diferentes. Segundo porque, como j mencionamos, a verdade no se
d pela relao entre as palavras e as coisas (verdade por correspondncia), mas pela relao entre
linguagens. Partindo do pressuposto de que o conhecimento se d unicamente por meio de um
conjunto articulado de signos, no existe verdade por correspondncia, verificada entre o signo e o
objeto que ele representa, porque este nada mais do que outro signo. A verdade, assim, corresponde
compatibilidade entre enunciados do mesmo sistema e no identidade entre um dado enunciado e o
mundo da experincia. Neste sentido, a verdade juridicamente estabelecida no depende da
correspondncia entre o fato jurdico e o evento, embora em nome desta correspondncia sejam
constitudos os enunciados do sistema, dado ser esta uma necessidade do discurso jurdico. O direito
to-s toma como verdicas, para constituio dos fatos jurdicos, as ocorrncias verificadas no tempo
e na forma por ele prescritos.
Isto se deve quilo que denominamos de princpio da auto-referncia do discurso,
em nome do qual a linguagem vista como no tendo outro fundamento alm de si mesma, no
havendo elementos externos aos signos (eventos, objetos coisas, pessoas) que possam garanti-la ou
legitim-la, o que se aplica com perfeio ao sistema jurdico.
Os acontecimentos nada dizem para o sistema do direito positivo, a linguagem
prpria deste sistema que os constitui e os desconstitui como fatos jurdicos. Os enunciados factuais do
direito no reconstituem os eventos, mesmo porque estes se perdem no espao e no tempo passado.
Eles, por serem auto-suficientes, constituem o fato, ou seja, o criam para o sistema. Criar, aqui, se
entende no sentido de inovar. A linguagem jurdica institui um fato nico e autnomo, que passa a
existir dentro do direito, independente de qualquer outro e que nunca ser repetido. Nestes termos,
pontua FABIANA DEL PADRE TOM: Conquanto a linguagem fale em nome de um evento, dada a
sua auto-referncia possvel que, mesmo no tendo ocorrido certo acontecimento, este venha a ser
reconhecido pela linguagem. Neste caso, teremos um fato sem efetiva correlao com o evento
(embora o fato tenha existncia exatamente por certificar um evento)
463
.
Atentos distncia que separa o fato jurdico do evento, alguns autores trabalham
com as expresses: (i) verdade material, para referirem-se verdade por correspondncia, aferida de
463
A prova no direito tributrio, p. 19-20.
415
enunciados que guardam correlao com acontecimentos da experincia; e (ii) verdade formal para
denotarem a verdade constituda mediante coerncia lgica dentro de um sistema lingstico.
TREK MOYSS MOUSSALLEM faz uma crtica a tal classificao, pois,
segundo o autor, considerando o carter auto-referente da linguagem, toda verdade passaria a ser
formal, devido ao fato de apenas ser verificada dentro de um sistema lingstico
464
. Deste modo,
preferimos utilizar as expresses verdade jurdica para referirmo-nos verdade constituda dentro do
sistema jurdico e verdade material, para denotarmos a verdade produzida fora do sistema jurdico,
referente aos fatos sociais (aos quais os fatos jurdicos fazem referncia), e aferida pela articulao de
signos no pertencentes ao direito positivo.
No direito, toda verdade jurdica. A verdade material, como bem explica EURICO
MARCOS DINIZ DE SANTI, to apenas um princpio, um diretivo conduta da autoridade, que
orienta o ato de aplicao do direito
465
. Os fatos jurdicos so constitudos no interior do sistema e se
submetem verdade jurdica, embora sejam produzidos em nome de uma verdade material.
Concebendo o direito positivo como o conjunto de normas construdas a partir de
documentos jurdicos, no se pode entender que um fato pertena ao direito se ainda no objetivado
por um ato de aplicao que o traduza no antecedente de uma norma individual e concreta. Assim,
havendo qualquer distoro entre a verso constituda por este ato de aplicao e a materialidade desse
fato, o que prevalece juridicamente o contedo objetivado na regra.
De acordo com a teoria da legitimao pelo procedimento, o que legitima uma
linguagem sua forma de produo. Nestes termos, um fato jurdico verdadeiro ou falso, conforme
tenha, ou no, sido observadas as regras prescritas juridicamente para sua constituio (que
determinam os sujeitos competentes e o procedimento prprio). A veracidade do fato jurdico depende
unicamente do procedimento realizado para sua produo e criada, pelo aplicador, dentro do sistema.
O que se obtm em qualquer processo de positivao do direito a verdade lgica, alcanada em
conformidade com as regras de produo do fato jurdico. Havendo construo de linguagem prpria,
na forma como o direito preceitua, o fato dar-se- por juridicamente verificado e, portanto,
verdadeiro
466
. Em suma, a verdade do fato jurdico posta pelo ordenamento e s existe dentro dele,
no fora e nem antes.
464
Fontes do direito, p. 39-40
465
Decadncia e prescrio no direito tributrio, p. 43.
466
FABIANA DEL PADRE TOM, A prova no direito tributrio, p. 25.
416
8. TEMPO E LOCAL DO FATO X TEMPO E LOCAL NO FATO
O tempo e o espao permeiam o jurdico, esto nos seus suportes fsicos
(Constituio Federal, leis, sentenas, resolues, atos administrativos, etc.), nos enunciados
normativos das hipteses de incidncia e dos fatos jurdicos, no exerccio da competncia, na validade,
na vigncia e eficcia das normas, ou seja, no direito dinmico e no direito esttico. Mas, com relao
aos fatos jurdicos, devemos separar, com bastante nitidez os marcos temporal e espacial em que o fato
se concretiza e as coordenadas de tempo e espao em que o fato produzido. PAULO DE BARROS
CARVALHO fala, assim, em: (i) tempo e lugar do fato; e (ii) tempo e lugar no fato
467
.
O tempo do fato o instante em que o enunciado denotativo da hiptese normativa
ingressa no ordenamento jurdico. o momento em que o fato constitudo juridicamente.
Geralmente, no processo de positivao, isso se d com a notificao das partes. O tempo no fato, por
sua vez, o instante a que alude o enunciado factual juridicamente constitudo. o momento descrito
como aquele em que o evento se realizou. Nesta mesma linha de raciocnio, o lugar do fato aquele
onde o enunciado protocolar do fato jurdico produzido. E, o lugar no fato o ponto no espao a que
alude o enunciado factual, ou seja, o local descrito como aquele onde o evento se realizou.
Vejamos a ilustrao abaixo:
467
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 122-125
H
(Se for proprietrio de bem imvel no permetro urbano do
Municpio de So Paulo-SP, no dia 01 de cada ano)
#
FJ
(Dado ser proprietrio do imvel x , localizado na Al. Santos 1382, So
Paulo-SP, em 01/01/06)
Fato social (Joo proprietrio do imvel x, com inmeras
caractersticas, localizado na Al. Santos, n 1382, em So
Paulo-SP)
Realizada na Secretaria da Fazenda Municipal de So Paulo em 04/02/2006
Aplicao
417
Explicando: Temos que, no processo de aplicao, o agente competente (), com
base no enunciado conotativo da hiptese de incidncia (representada pelo retngulo de cima - H) e na
interpretao alcanada com a linguagem das provas, produz uma norma individual e concreta, dando
conta da ocorrncia de um evento, ao constituir, em seu antecedente o enunciado protocolar,
denotativo do fato jurdico (representado pelo retngulo do meio FJ). Todo este processo acontece
dentro de certas coordenadas de espao e de tempo, que so denominadas de tempo e lugar do fato (no
exemplo acima: Secretaria Municipal de So Paulo e 04/02/06). Em contra partida, o enunciado factual
produzido contm elementos de espao e de tempo, pois referente a um acontecimento, identificado
num determinado ponto da linha espao-temporal, que so denominados de tempo e lugar no fato (no
exemplo acima: Al. Santos 1382, So Paulo-SP e 01/01/2006). Em suma: o tempo e o lugar do fato
esto relacionados ao processo de aplicao do direito e constituio do fato jurdico, enquanto o
tempo e o lugar no fato referem-se ao evento.
O tempo e o lugar do fato dizem respeito enunciao, ou seja, ao processo de
produo do enunciado factual, realizado por agente competente e podem ser identificados, enquanto
diticos da enunciao, na enunciao-enunciada, isto , nas marcas do processo presentes no veculo
que introduz o fato jurdico no sistema (ato administrativo, sentena, acrdo, etc.). J o tempo e o
lugar no fato referem-se s coordenadas do acontecimento descrito na hiptese normativa, estampada
na descrio do enunciado protocolar produzido e so encontradas no prprio enunciado. Esta a
distino estabelecida por TREK MOYSES MOUSSALLEM. Em suas palavras: estabelece-se dois
tempos: o do momento da enunciao e o momento do acontecimento. Este estampado no enunciado-
enunciado, aquele na enunciao-enunciada
468
.
A importncia desta distino, em termos prticos, revela-se para determinar a
legislao aplicvel. O tempo do fato, como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, vai ser o
ponto de referncia para a aplicao do direito posto e os atos relativos estruturao formal dos
enunciados jurdicos sero governados pela legislao que estiver em vigor no momento da sua
realizao
469
. Por outro lado, a legislao aplicvel ao tempo no fato, presente no enunciado
protocolar denotativo de hiptese e declaratrio do evento, ser a vigente na data a que o fato se refere,
ou seja, na data do evento. Isto se justifica porque o tempo do fato identifica o momento do
procedimento de constituio do fato jurdico, que presente. J o tempo no fato denota o momento da
468
Revogao em matria tributria, p. 49
469
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 123
418
ocorrncia do evento, que passado. Ao tempo do fato aplicam-se normas de carter processual,
enquanto que ao tempo no fato norma de natureza material.
Embora sempre anterior, o tempo no fato s aparece depois do tempo do fato. Isto
porque, para que exista juridicamente o enunciado factual denotativo da hiptese e declaratrio do
evento, faz-se necessrio que este seja constitudo mediante um processo de aplicao, realizado sobre
certas coordenadas de tempo e espao. Refora-se aqui a afirmao segundo a qual o tempo e espao
no fato no dizem respeito ao evento, mas a elementos presentes no fato jurdico, pois tanto o marco
temporal quanto o espacial s so determinados para o sistema mediante a produo de uma linguagem
competente. Antes desta linguagem, como j fixado, nenhum fato existe para o direito. O tempo e o
espao no fato referem-se ao contedo do enunciado do fato jurdico, ou seja, aquele devidamente
constitudo pela linguagem do direito. por isso que s temos acesso a estes elementos depois de
produzido o fato jurdico.
O mesmo se aplica para o tempo e local do fato se o considerarmos como enunciado
factual sintaticamente posicionado no antecedente da norma veculo introdutor. s com a
constituio da linguagem jurdica que temos acesso a tais coordenadas, presentes na enunciao-
enunciada do texto produzido, de modo que, elas tambm se constituem como elementos do enunciado
factual (tempo e lugar no fato jurdico da enunciao).
compreenso da dualidade tempo e lugar do fato e tempo e lugar no fato, aplica-se
a diferenciao entre processo e produto. Tempo e lugar do fato dizem respeito ao processo, enquanto
tempo e lugar no fato dizem respeito ao contedo produzido. O tempo no fato refere-se ao momento
consumativo de um acontecimento passado que motiva o processo de produo do enunciado que o
descreve. Embora, cronologicamente o processo venha antes do produto, este sempre vai se referir a
uma ocorrncia passada, anterior ao processo. Assim, ainda que bem prximos, os dois tempos (do
fato / processo e no fato / contedo do produto) jamais so os mesmos. Isto no se aplica, no entanto,
s coordenadas de espao do fato e no fato. O local da constituio do fato jurdico, onde se realiza o
processo de positivao do direito, pode muito bem ser o mesmo da verificao do evento a qual tal
fato se refere.
9. ERRO DE FATO E ERRO DE DIREITO
Analisando o direito como corpo de linguagem, PAULO DE BARROS
CARVALHO apresenta uma soluo simples, mas muito bem elaborada, para a delicada questo do
419
erro de fato e do erro de direito. Segundo o autor, visto o fato na sua contextura de linguagem, o erro
de fato seria um problema de utilizao inadequada das tcnicas lingsticas de certificao do
evento, verificado quando o enunciado factual no correspondesse s provas produzidas, enquanto o
erro de direito seria um problema de subsuno, causado quando o enunciado protocolar constitudo
como fato jurdico buscasse fundamento numa norma, quando na verdade deveria buscar em outra
470
.
O erro de fato um engano com relao aos recursos de linguagem utilizados para a produo do
fato jurdico, relativo s provas; aparece quando da releitura dos enunciados probatrios, nova
situao jurdica, diferente daquela descrita pelo fato jurdico, percebida. J o erro de direito uma
confuso com relao norma aplicada. verificado quando, aps a produo da norma individual e
concreta constata-se que a norma aplicada no deveria ser aquela, mas outra.
Considerando o processo de aplicao do direito, mas especificamente seu aspecto
pragmtico, tanto o erro de fato, quanto o de direito so equvocos de interpretao. No erro de fato, o
aplicador confunde-se na construo do sentido dos suportes fsicos probatrios constantes do
processo. No erro de direito ele se engana na construo da norma jurdica geral e abstrata, ou seja, o
equivoco ocorre na interpretao dos textos jurdico-positivos. Por tratarem de problemas na
interpretao, os erros de fato e de direito s so possveis de serem constatados depois da produo da
norma individual e concreta, quando as interpretaes do fato e do direito so positivadas, ou seja,
tornam-se autnticas. Tais colocaes so melhores explicadas no grfico abaixo, que demonstra o
processo de aplicao do direito, visto pelo ngulo pragmtico:
470
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 96
Norma geral e abstrata aplicada
Produo Interpretao
H C
FJ RJ
Lei
Provas Norma individual e concreta
Aplicador
Erro de direito
Erro de fato
420
Explicando: o aplicador, com base nos enunciados jurdicos positivos (Lei - ),
constri em sua mente, mediante o processo denominado de interpretao a norma jurdica a ser
aplicada (norma geral e abstrata representada pelo retngulo de cima), e com base na linguagem das
provas e nos fatos alegados constantes dos autos (Provas - _), o enunciado factual que se subsome ao
conceito da hiptese da norma jurdica produzida (norma individual e concreta representada pelo
retngulo de baixo). O erro de direito um desajuste entre os enunciados prescritivos da lei e a norma
construda pelo aplicador, enquanto o erro de fato uma inadequao entre os enunciados probatrios
e a linguagem da norma individual e concreta.
Um exemplo melhor esclarece essa distino: Imaginemos que o aplicador, diante
das provas constantes nos autos de que A matou C, constitui o fato jurdico descrevendo que B matou
C, h um erro de fato. Agora imaginemos que ao fixar a pena ele extrapole o limite legal prescrito na
legislao, h um erro de direito.
Ressaltamos que o erro de fato, apesar do nome assim especificar, no se condiciona
to-somente ao enunciado do fato jurdico, antecedente da norma individual e concreta produzida pelo
aplicador, mas norma como um todo. Se, por exemplo, houver um erro na constituio dos sujeitos
da relao, instituda no conseqente da norma individual e concreta, em razo de um descuido na
interpretao das provas do processo, este erro de fato e no de direito.
Devemos ter em mente que ambos os erros constituem-se como desajustes entre
enunciados. O erro de direito consiste na distoro entre os enunciados da norma individual e concreta
(fato jurdico e relao jurdica) e os enunciados conotativos da norma geral e abstrata que deveria ser
aplicada. O erro de fato caracteriza-se por desajuste interno na formao dos enunciados factuais do
fato jurdico, ou da relao jurdica decorrente de um problema relativo interpretao das provas. H,
assim, uma distoro entre o enunciado do fato jurdico e os enunciados probatrios. Vale ressaltar que
o erro de fato no se trata da incompatibilidade entre o fato jurdico (ou a relao jurdica) e o evento,
mas da no correspondncia entre linguagens do sistema: a linguagem das provas e aquela que
constitui a norma individual e concreta.
No erro de fato, temos um desajuste que interno ao fato (enunciado). J no erro de
direito o desajuste externo. Tomando como base a norma individual e concreta produzida, o erro de
fato intra-normativo e o erro de direito extra-normativo.
421
10. A FALSA INTERDISCIPLINARIEDADE DO FATO JURDICO
Muitos juristas investem em anlises econmicas, polticas, ticas, histricas, da
realidade tida como fato jurdico, alegando sua intradisciplinaridade. Principalmente na seara do
Direito Tributrio muito comum encontrarmos autores que atribuem aos fatos ensejadores de
obrigaes e deveres tributrios, carter econmico, como se o direito tomasse emprestado fatos da
economia para implementar os efeitos prescritivos que lhes so prprios. AMLCAR DE ARAJO
FALCO, por exemplo, um destes autores, que qualifica o fato jurdico tributrio de fato jurdico
de contedo econmico ou mesmo de fato econmico de relevncia jurdica, revelando a confuso
metodolgica que ALFREDO AUGUSTO BECKER criticamente denominou de mancebia
irregular
471
.
Considerando o direito como um corpo de linguagem que se estrutura na forma de
sistema autnomo, cujos elementos so normas jurdicas expressas mediante proposies hipotticas-
condicionais, no h possibilidade lgica de um fato que no pertena a este corpo de linguagem, nele
propagar efeitos. O fato capaz de implicar a conseqncia prescrita numa norma jurdica ser to-
somente o fato jurdico, enunciado antecedente de uma norma individual e concreta, nenhum outro
mais. Mesmo porque, a partir deste dado que se separa o jurdico do no jurdico.
Uma das caractersticas do direito positivo sua homogeneidade sinttica. O sistema
determina o que jurdico ou no, elegendo uma forma lingstica especfica para constituir seus fatos,
expressa num cdigo que s dele, qual denominamos de linguagem competente. Tal linguagem cria
uma realidade nica que no se confunde com qualquer outra: a realidade jurdica. Um acontecimento
relatado em linguagem competente um fato jurdico e produz efeitos no sistema do direito positivo,
porque se constitui como antecedente de uma norma individual e concreta. Qualquer outro fato, no
constitudo no cdigo prprio deste sistema, no tem o condo de nele produzir efeitos e, portanto, no
pode ser qualificado de jurdico. Isto no acontece s com o direito positivo, mas com qualquer outro
sistema, cada um tem a sua linguagem prpria e os critrios para constituio de seus elementos.
Nestes termos, no existe um fato econmico capaz de desencadear conseqncias jurdicas, apenas
econmicas, da mesma forma um fato jurdico no capaz de propagar efeitos polticos, econmicos,
contbeis, antropolgicos, somente jurdicos.
471
Teoria geral do direito tributrio, p.
422
Anota PAULO DE BARROS CARVALHO, em artigo escrito memria de
ALFREDO AUGUSTO BECKER, que o direito no pede emprestado conceitos de fatos de outras
disciplinas. Ele mesmo constri sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de
significao
472
. E, assim o faz, relatando os eventos do mundo social na linguagem que lhe prpria.
O que jurdico, jurdico, no econmico, poltico, histrico, contbil, porque o critrio utilizado
para separao destes outros domnios do social em relao ao direito justamente a homogeneidade
sinttica do universo jurdico. Neste sentido, esclarece FABIANA DEL PADRE TOM: mesmo que o
sistema econmico (v.g.) influencie (semntica e pragmaticamente) o sistema jurdico, este no
produzir atos comunicativos econmicos, mas sim jurdicos. A economia, passa informaes para o
direito, que as submete ao seu filtro, e vai produzindo suas unidades
473
. Assim, s os fatos jurdicos
so capazes de desencadear efeitos na ordem jurdica.
Tendo em vista ser o fato um recorte lingstico sobre certa base emprica. De um
mesmo fato social pode-se construir um fato jurdico, contbil, poltico, econmico, ou histrico, tudo
sob a pendncia do corte que se quer promover daquele evento. Um e outro, no entanto, so
completamente diferentes. Todos so construes de linguagem sobre um mesmo evento, o que os
diferencia a linguagem que os constitui. O fato jurdico, capaz de desencadear efeitos na ordem do
direito posto aquele inscrito como antecedente da norma individual e concreta dentro das regras
sintticas ditadas pelo ordenamento e de acordo com os limites semnticos delineados pela hiptese de
incidncia normativa, os demais representam unidades carentes de significao jurdica, que no
pertencem ao sistema e que, portanto, nele no so capazes de produzirem efeitos.
O grfico abaixo demonstra a constituio de vrios fatos a partir da mesma
realidade social, cada um deles autnomo em relao ao outro.
472
O absurdo da interpretao econmica do fato gerador Direito e sua autonomia O paradoxo da
interdisciplinariedade p. 25
473
A prova no direito tributrio, p. 45
#
Fato social
Fato poltico Fato econmico Fato jurdico
423
Explicando: o fato jurdico constitui-se em linguagem jurdica, o econmico em
linguagem econmica e o poltico em linguagem poltica, e assim por diante. O fato jurdico, no tem
possibilidade ontolgica de interferir na poltica, na economia, na religio, ou na histria de um pas,
embora da mesma base emprica a que faz referncia (fato social) possam ser construdos fatos capazes
de atuar nos mais diversos sistemas: econmico (fato econmico), poltico (fato poltico),
antropolgico (fato antropolgico), tico (fato tico), histrico (fato histrico), religioso (fato
religioso) etc. No h um fato que possa ser constitudo com todos os aspectos, capaz de produzir
efeitos em todos os sistemas, pois a separao dos caracteres econmicos polticos, jurdicos,
religiosos, suficiente para delimitar cada um deles como objetos distintos.
Os fatos, como bem salienta LOURIVAL VILANOVA, nada mais so do que
elaboraes conceptuais, subproduto de tcnicas de depurao de idias seletivamente ordenadas
474
.
No caso dos fatos jurdicos, o direito determina tais tcnicas de depurao traando limites de ordem
semntica, quando da definio conotativa constante nas hipteses de normas jurdicas gerais e
abstratas e de ordem sinttica, quando prescreve um procedimento de produo prprio
(processo/competncia). No entanto, acompanhando a dualidade direito positivo e cincia do direito,
existem duas possibilidades de cortes: (i) aquele realizado pelo aplicador no processo de positivao,
que efetivamente constitui o fato jurdico; e (ii) aquele realizado pelo jurista ao separar o fato relevante
juridicamente como objeto cognoscitivo.
O critrio adotado no corte que qualifica o fato cognositivamente por ele
constitudo. Se o critrio jurdico (como a conotao de uma hiptese de incidncia normativa), o
fato ser jurdico. Assim, os fatos podem ser observados como jurdicos, econmicos, polticos,
contbeis, histricos, etc., tudo dependendo do critrio metodolgico empregado na realizao do
corte. O economista atribui uma interpretao econmica ao fato, o contador o traduz contabilmente, o
historiador o recorta historicamente e o jurista, uma vez assumido o critrio jurdico, fixa uma
interpretao jurdica do fato. No entanto, se o critrio utilizado for outro, camos na mancebia
irregular de ALFREDO AUGUSTO BECKER.
O conhecimento s possvel mediante abstrao do objeto, que se d pela
realizao de cortes metodolgicos na realidade que nos perceptvel. Tais cortes constituem os
objetos do conhecimento, delimitando aquilo que chamamos de disciplinas. O saber disciplinar, no
entanto, leva o sujeito cognoscente busca da interdisciplinariedade, com o objetivo de completar seu
474
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 104.
424
conhecimento. Como bem explica PAULO DE BARROS CARVALHO, sem disciplinas no teremos
as interdisciplinas, pois o prprio saber disciplinar, em funo do princpio da intertextualidade,
avana na direo de outros setores do conhecimento, buscando a indispensvel
complementariedade
475
. A realidade (evento), na sua multiplicidade cognoscitiva intangvel enquanto
recortes lingsticos no o constituem como fatos. Feitos os recortes nascem as disciplinas, que se
referem ao mesmo domnio real (Direito, Economia, Poltica, Histria, Antropologia, Contabilidade,
etc.). Por terem um referencial comum tais disciplinas em alguns aspectos se entrecruzam, mas isto
no descaracteriza a autonomia de cada uma delas. Neste sentido, no h que se falar em anlise
econmica do fato jurdico, pois este um recorte jurdico, mesmo porque uma anlise econmica
constitui o objeto analisado como econmico. Fala-se, assim, na anlise de um fato econmico.
Apesar de sintaticamente fechado, o direito positivo, possui abertura semntica, o
que lhe permite qualquer tipo de anlise, desde que realizada dentro dos critrios estabelecidos pelo
recorte metodolgico proposto. A tipificao de um crime numa sentena, por exemplo, pode ser
analisada sob vrios enfoques (ex: cultural, poltico, econmico, antropolgico, histrico, psicolgico,
etc), da mesma forma que um texto de lei, um contrato, um ato administrativo e todos os demais
veculos jurdico-normativos. Mas para o jurista o que interessa unicamente o recorte jurdico.
Por retratar uma parcela de um fato social (a parcela jurdica) e sobre esta realidade
incidirem outras incises, nunca haver um fato puramente jurdico, ou econmico, ou poltico
(considerando seu aspecto semntico). O que existe so recortes de linguagem. O jurista promove um
recorte jurdico, isto no impede, contudo, que o economista, tomando a mesma base objetiva (fato
social), ou sob o prprio fato jurdico, realize uma inciso econmica e que o contador faa uma
delimitao contbil. A pureza do fato, assim, delimitada pelos critrios do recorte e cada inciso
produz um novo objeto.
11. FATOS JURDICOS LCITOS E ILCITOS
Alguns captulos acima, quando tratamos da classificao das normas jurdicas,
distinguimos duas espcies de normas: (i) dispositivas e (ii) derivadas, com base na relao de
coordenao estabelecida entre elas pelo legislador. Chamamos de derivadas, as normas cuja
hiptese pressupe uma prescrio contida em outra norma e de dispositivas aquelas que prescrevem
condutas tomadas como relevantes pelas normas derivadas. Dentre as normas derivadas, separamos,
475
O absurdo da interpretao econmica do fato gerador Direito e sua autonomia O paradoxo da
interdisciplinariedade ( memria de Alfredo Augusto Becker), p. 8.
425
levando em conta a valorao positiva ou negativa do legislador, as: (a) normas derivadas no-
punitivas, que valoram positivamente a conduta prescrita na norma que lhe dispositiva; e (b) normas
derivadas punitivas, que valoram negativamente a conduta prescrita na norma que lhe dispositiva,
descrevendo um fato ilcito em seu antecedente.
Reside em tal classificao a distino entre o fato jurdico lcito e o fato jurdico
ilcito. O primeiro construdo com a positivao de normas dispositivas e derivadas no-punitivas, o
segundo com a positivao de normas derivadas punitivas. Dizemos que um fato ilcito quando
contrrio ao direito, isto pressupe que outra norma (que lhe seja dispositiva) prescreva a conduta a ser
contrariada. O fato ilcito se resume, assim, num enunciado protocolar denotativo da hiptese de uma
norma derivada punitiva, que se refere a um acontecimento contrrio ao prescrito por outra norma
jurdica (dispositiva).
Ao adotarmos a concepo de que a incidncia normativa se equipara aplicao do
direito, abandonamos a idia de que a propagao de efeitos jurdicos possa se dar com a verificao
emprica do evento. Qualquer modificao de ordem jurdica pressupe necessariamente a existncia
de uma linguagem competente. No basta a verificao do evento, preciso que este seja relatado em
linguagem jurdica para que enseje uma obrigao jurdica. Os direitos e deveres correlatos, enquanto
efeitos jurdicos, s passam a existir depois do ingresso de uma norma individual e concreta no
sistema. Entender, no entanto, que a realizao do ilcito (descrito como hiptese de norma derivada-
punitiva) depende da constituio da obrigao prescrita no conseqente da norma dispositiva, um
grande equivoco, porm muito freqente entre os crticos da teoria de PAULO DE BARROS
CARVALHO.
Por vezes, nos deparamos com as seguintes colocaes: (i) se juridicamente o sujeito
s tem direito vida depois que o seu nascimento constitudo em linguagem competente (registro),
ento se antes dele ser registrado algum o matar, tal pessoa no cometer um homicdio porque a
vtima ainda no tinha direito vida; (ii) se a obrigao de pagar tributo s constituda com o
lanamento e este no foi realizado, o contribuinte que pagar com atraso no realiza o fato ilcito, pois
o dever dele pagar ainda no estava juridicamente constitudo; (iii) Se o dever de parar num sinal
vermelho no est constitudo juridicamente, aquele que avanar o sinal vermelho no deveria pagar
multa, vez que para o direito no tinha o dever de parar, etc. A maioria das crticas vai de encontro ao
equivoco de que a realizao do ilcito, tido como fato contrrio ao direito, pressupe a constituio
dos direitos ou deveres prescritos no conseqente da norma dispositiva a serem descumpridos.
426
Como j ressalvamos, quando se adota um referencial terico devemos segui-lo at o
fim, tanto para critic-lo, quanto para referenci-lo. O que no se admite cientificamente a confuso
de referncias, que leva a um total desconhecimento do objeto.
Partimos da premissa de que as normas so unidades autnomas do sistema do
direito positivo. Cada uma incide independentemente de outra, basta que o fato descrito em seu
antecedente seja verificado. As relaes de coordenao e subordinao so estabelecidas pelo
intrprete na compreenso do sistema (plano S4). As normas derivadas punitivas descrevem, em suas
hipteses, um acontecimento que se constitui na no-realizao de uma conduta, que por sua vez
encontra-se prescrita no conseqente de outra norma. A ocorrncia relevante para a incidncia das
normas punitivas a verificao da no-realizao desta conduta, no interessa se o direito a
constituiu, ou no, como obrigatria, mediante um ato de aplicao. Assim, o direito ou o dever, a ser
descumprido no precisa estar individualizado, para que o evento ilcito se caracterize, mas
necessrio que esteja previsto em termos gerais, para ser assinalado como contrrio ao direito. O que
interessa, unicamente a descrio hipottica da norma punitiva, preenchidos todos seus critrios ela
pode ser incidida.
No caso, por exemplo, do homicdio, em que o tipo penal descreve: matar algum,
para que a norma penal incida necessrio a verificao de tal acontecimento. O ser algum, no
entanto, no pressupe o registro, este apenas responsvel pela constituio da personalidade
jurdica, enquanto a hiptese penal diz respeito personalidade fsica, de modo que, a concretizao do
evento, independe da pessoa ser registrada juridicamente, ou no. No caso da multa tributria, a
hiptese de incidncia da norma derivada punitiva conota o fato de no pagar o tributo, ou seja, de no
entregar dinheiro aos cofres pblicos no dia prescrito pela legislao. No preciso que o crdito
tributrio, enquanto elemento da relao jurdica, esteja constitudo, nem que o montante pecunirio
seja determinado, para que o evento descrito se concretize. A hiptese da norma sancionadora apenas
requer que o sujeito que realizou o fato imponvel no entregue dinheiro aos cofres pblicos no dia
determinado. Verificada tal ocorrncia h suporte fctico para sua incidncia. Para a constituio
jurdica da multa, no entanto, pressupe-se a constituio do crdito tributrio.
Certamente que, para constituir o fato ilcito do no pagamento do tributo, o
aplicador, no mesmo veculo introdutor (auto de infrao) tambm constitui o fato jurdico tributrio e
instaura juridicamente a obrigao de pagar tributo. Como os fatos jurdicos referem-se a eventos
passados, declarando tais ocorrncias, apesar de seus efeitos se projetarem para o futuro, retroagem as
427
datas dos eventos a que eles se referem. Neste sentido, o direito constitui como devido o tributo desde
a data do evento tributrio e a multa desde o dia final do prazo para pagamento do tributo.
No caso da multa de trnsito, a situao um pouco diferente, consideramos que,
com a emisso da carteira nacional de habilitao constitui-se o fato jurdico lcito ensejador dos
direitos e deveres inerentes ao trnsito. O dever de respeitar o sinal vermelho j est constitudo a
partir do momento em que o condutor adquire a carteira de motorista. Apesar disso no ser relevante
para a incidncia da norma do ilcito de trnsito, cuja hiptese descreve a passagem em sinal vermelho.
Verificado o desrespeito ao semforo, j se tem suporte fctico suficiente para a incidncia da norma.
Analisando sintaticamente, a distino entre fato jurdico lcito e o fato jurdico
ilcito reside na valorao atribuda pelo sistema proposio-antecedente das normas jurdicas. Os
fatos valorados positivamente caracterizam-se como lcitos, ao passo que os valorados negativamente
apresentam-se como ilcitos. No h uma terceira possibilidade. No existe um fato jurdico meio
ilcito ou meio ilcito. Se jurdico, ou est valorado positivamente pelo sistema e, portanto, licito,
ou est valorado negativamente, constituindo-se como ilcito.
O lcito e o ilcito so valoraes (positiva/negativa) do fato jurdico atribudas pelo
sistema e s existem dentro dele. No h ilcito fora do direito, esta uma atribuio do sistema,
determinada por seu cdigo, mediante o qual ele recolhe as informaes de seu ambiente. Cada
subsistema do social, processa suas informaes internas por meio de um cdigo prprio que, no caso
do direito positivo, o do lcito/ilcito. Ao adotar este cdigo o sistema jurdico distingue-se das
demais comunicaes sociais, garantindo seu fechamento sinttico e sua autonomia.
428
CAPTULO XIV
TEORIA DA RELAO JURDICA
SUMRIO: 1. Relao jurdica no contexto do direito; 2. Falcia da relao
jurdica efectual; 3. Teoria das Relaes; 4. Relao jurdica como enunciado
factual; 4.1. Determinao do enunciado relacional; 4.1. Aplicao das
categorias da semitica; 5. Elementos do fato relacional; 5.1. Sujeitos; 5.2.
Objeto prestao; 5.3. Direitos subjetivos e deveres jurdicos; 6. Caractersticas
lgicas da relao jurdica; 7. Classificao das relaes jurdicas; 8. Eficcia das
relaes jurdicas 9. Efeitos das relaes jurdicas no tempo; 10. Modificao e
extino das relaes jurdicas.
1. RELAO JURDICA NO CONTEXTO DO DIRIETO
Relao o modo de ser ou de comportarem-se dois termos entre si
476
. O homem, na
sua incessante busca pelo conhecimento, experimenta as sensaes do mundo bruto que o cerca e vai
associando suas percepes a fim de torn-lo inteligvel. Assim o faz, estabelecendo relaes entre
elementos lingsticos. Imersos numa realidade constituda pela linguagem, vivemos num mundo de
relaes, dado a natureza relacional dos signos que a compem. Toda linguagem , antes de um
conjunto estruturado de signos, um sistema de associaes, ou melhor, de relaes. A isto no foge a
realidade jurdica.
Tomando o direito como objeto de anlise, EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI
observa que vamos encontrar tantas relaes quanto as formas possveis de combinar a multiplicidade
de sujeitos, normas, fatos, efeitos que compem o fenmeno jurdico
477
. H relao entre: (i) norma e o
sistema; (ii) normas e normas; (iii) hiptese e o conseqente; (iv) norma e fato jurdico; (v) norma e
efeito jurdico; (vi) fato social, as provas e fato jurdico; (vii) sujeitos de direito; (viii) conduta social e
conduta prescrita; etc. Todas, relaes jurdicas em sentido amplo. Mas interessa-nos, neste captulo,
as relaes jurdicas em sentido estrito, ou seja, aquelas tidas como efeito jurdico, instauradas entre
dois sujeitos de direito, com a incidncia de normas jurdicas.
476
NICOLA ABBAGNANO, Dicionrio de filosofia, p. 809.
477
Lanamento tributrio, p. 74.
429
Define-se relao jurdica (stricto sensu) como o vnculo abstrato segundo o qual,
por fora da imputao normativa, uma pessoa, chamada de sujeito ativo, tem o direito subjetivo de
exigir de outra, denominada sujeito passivo, o cumprimento de certa prestao, sendo que esta ltima
tem o dever jurdico de adimpli-la. Tal vnculo constitudo no conseqente de normas individuais,
produzidas no processo de aplicao do direito. Dizemos que abstrato para reforar o fato do vnculo
no existir empiricamente (enquanto dado bruto). Trata-se de uma construo proposicional,
identificada com a formalizao (abstrao lgica) da linguagem veiculada pelo ato de aplicao. E,
decorrente de imputao normativa, porque produzido mediante a incidncia de uma norma jurdica de
carter geral, como efeito de um fato jurdico, propagado em razo da existncia da causalidade do
direito (vnculo que liga a proposio-hiptese proposio-conseqente).
Tomado por base o carter instrumental do direito positivo, cujo objetivo primordial
ordenar a convivncia social mediante a regulao de comportamentos intersubjetivos, observa-se
que o nico meio de que dispe o sistema para alcanar tal objetivo a relao jurdica, no contexto da
qual emergem direitos e deveres correlatos. V-se assim, a importncia do vnculo relacional na
operacionalidade do sistema, o que leva PAULO DE BARROS CARVALHO eleger o prescritor
normativo como dado por excelncia da realizao do direito. Nos dizeres do autor, incontestvel a
importncia que os fatos jurdicos assumem, no quadro sistemtico do direito positivo, pois sem eles
jamais apareceriam direitos e deveres, inexistindo possibilidade de regular a convivncia dos homens
no seio da comunidade, mas sem desprezar este papel fundamental, pela virtude de seus efeitos que
as ocorrncias factuais adquirem tanta relevncia, e tais efeitos esto prescritos no conseqente da
norma, irradiando-se por via de relaes jurdicas
478
.
O direito prescreve condutas, estabelecendo relaes entre sujeitos, em virtude da
verificao de certos acontecimentos. Pensemos em qualquer instituio jurdica e deparamo-nos com
uma relao entre sujeitos. Pagar tributo, por exemplo, uma relao entre o fisco e o contribuinte;
comprar e vender uma relao entre o vendedor e o comprador; casar constituir uma relao entre o
marido e esposa; a sucesso uma relao entre o de cujos e os herdeiros; o ser agente pblico uma
relao entre o agente e o ente pblico; e assim por diante. Toda atuao jurdica, invariavelmente, se
estabelece mediante a constituio de relaes entre, pelo menos, dois sujeitos distintos, pois esta a
forma de que dispe a linguagem prescritiva para alcanar seu objetivo de disciplinar condutas.
478
Curso de direito tributrio, p. 279.
430
Os efeitos jurdicos, instaurados com a incidncia normativa, constituem-se em
relaes jurdicas. Como acentua LOURIVAL VILANOVA, proibir, ou obrigar, ou permitir aes e
omisses importa necessariamente estabelecer relaes normativas entre os portadores sujeitos-de-
direito da conduta
479
. Assim, as condutas juridicamente vedadas, exigidas ou facultadas, so
vnculos relacionais que se estabelecem entre sujeitos, mediante imputao normativa. Uma pessoa s
pode estar proibida, obrigada ou permitida em relao a outra pessoa. Inexistindo um dos sujeitos (o
que probe ou o que proibido; o que obriga ou o que obrigado; o que permite ou o que est
permitido) a prescrio perde o sentido.
Irrefragvel , pois, a relevncia do vnculo relacional no ordenamento jurdico.
importante ressalvar, no entanto, mais uma vez, que o carter relacional do direito no se encontra
apenas no conseqente normativo, mas tambm na prpria estrutura da norma jurdica. A norma
jurdica uma relao de implicao entre proposies (antecedente e conseqente). O fator dentico
atua como operador nas duas relaes normativas: (i) interligando as proposies antecedente e
conseqente das normas jurdicas; e (ii) conectando dois ou mais sujeitos de direito em torno de um
objeto. No primeiro caso, o operador dentico neutro e a relao inter-proposicional. No segundo
caso, o operador intra-proposicional e encontra-se modalizado nas formas: obrigatrio (O), proibido
(V), permitido (P)
480
.
A relao jurdica se estabelece apenas com a linguagem competente do ato de
aplicao, portanto, sempre concreta e individualizada. Neste sentido, enuncia EURICO MARCOS
DINIZ DE SANTI, reportando-se s lies de LOURIVAL VILANOVA: relao jurdica (stricto
sensu) no uma relao qualquer, mas aquela que se d entre sujeitos de direito em razo da
ocorrncia de determinado fato jurdico. concreta, pois prescreve uma conduta especfica e no uma
conduta-tipo (abstrata); individual, os termos da relao (Sa e Sp), categoremas, referente e relato,
so identificveis, individualizveis, no meras categorias de sujeitos quaisquer
481
.
No enunciado tese da regra-matriz de incidncia (norma geral e abstrata) ainda no
temos a relao jurdica, apenas critrios para identific-la. Somente com o enunciado conseqente da
norma individual e concreta, produzido na finalizao do processo de aplicao, onde so
determinados os termos gerais do enunciado-conseqente da norma incidida, que a relao jurdica
instituda. Por isso, no correto dizer que o conseqente contm a relao jurdica. Este delimita
479
Causalidade e relao no direito, p. 115.
480
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 137
481
Lanamento tributrio, p. 76.
431
apenas uma classe, identificando as notas do vnculo a ser institudo, futuramente, entre sujeitos de
direito.
Assim como a hiptese serve como base para construo do fato jurdico, o
enunciado do conseqente da norma geral e abstrata opera como limite semntico, demarcando a
extenso conceitual da relao jurdica. Esta h de ser produzida mediante a denotao dos critrios do
conseqente e nos limites conotativos por ele estabelecidos. Mas, somente com a norma individual e
concreta, veiculada pelo ato de aplicao, que a relao jurdica se constitui, antes, ela no existe.
As relaes jurdicas dirigem-se regio das condutas intersubjetivas, entretanto,
com tais condutas no se confundem. Isto porque, a linguagem do direito, como j vimos, no se
mistura com a linguagem da realidade social, no tendo o condo de alter-la. O vnculo que se
estabelece juridicamente independe da efetiva formao dos laos sociolgicos aos quais faz referncia
semntica. Ainda que a relao jurdica no guarde identidade com qualquer relao de ordem social
subjacente, o vnculo abstrato, que enseja direitos e deveres, permanece. Isto porque ele existe para o
direito e as modificaes verificadas no plano social so irrelevantes para a existncia da linguagem
jurdica. Se os sujeitos postos na condio de ativo e passivo do vnculo jurdico, no a observam, isto
, no se relacionam socialmente de acordo com o prescrito, apenas no haver uma relao social
correspondente quela instituda pelo direito, mas, a relao jurdica continua existindo, independente
de qualquer outra, at que seja desconstituda, podendo inclusive ser executada coercitivamente.
Condio de existncia da relao jurdica , no entanto, a linguagem competente.
Ressalvamos que os vnculos instituidores de direitos e deveres jurdicos correlatos s so constitudos
intra-normativamente, ou seja, com a produo de uma norma individual e concreta, quando
produzidos no cdigo prprio do sistema do direito positivo.
2. FALCIA DA RELAO JURDICA EFECTUAL
De acordo com a concepo que adotamos, no h que se falar em relaes jurdicas
eficaciais, expresso utilizada por PONTES DE MIRANDA
482
para designar, dentro de sua teoria, o
efeito de ordem jurdica, que se instauram com a ocorrncia do evento, antes porm, da aplicao da
norma jurdica por autoridade competente.
482
Tratado de direito privado, p. 118-20.
432
EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI, influenciado por esta tendncia, tambm
imersa na obra de LOURIVAL VILANOVA
483
e nas antigas publicaes de PAULO DE BARROS
CARVALHO
484
, trabalha com a diferenciao de duas relaes jurdicas: (i) efectuais, que surgem
com a ocorrncia do evento e no apresentam, necessariamente, revestimento lingstico; e (ii) intra-
normativas, constitudas em linguagem jurdica
485
. Nas lies do autor, com a ocorrncia, no mundo
fenomnico de um acontecimento previsto pelo direito como hiptese normativa, nasceria a relao
jurdica efectual e depois, com a constituio do fato em linguagem competente se instauraria a
relao jurdica intranormativa.
Trabalhando com os pressupostos por ns fixados, a mera ocorrncia do evento no
suficiente para propagar qualquer efeito na ordem jurdica. Para tanto, preciso que seja produzida
uma linguagem competente. Neste sentido, apenas so jurdicas as relaes intra-normativas, as
denominadas efectuais no pertencem ao sistema do direito positivo e, por isso, no recebem o
qualificativo de jurdicas.
Se partirmos do pressuposto de que o direito positivo o conjunto de normas
jurdicas vlidas num dado pas, que se manifesta, necessariamente, na forma lingstica, uma relao
para ser jurdica tem que ser intra-normativa, pois se no for parte integrante de uma norma, no
jurdica. E para ser intra-normativa, tem que ser constituda em linguagem prpria. Voltemo-nos ao
tema da incidncia/aplicao do direito, analisando o grfico abaixo:
483
Causalidade e relao no direito, p. 86-122.
484
Anteriores reformulao de sua teoria com o livro Fundamentos jurdicos da incidncia tributria.
485
Lanamento tributrio, p. 76-77.
Aplicador
PLANO DO
DEVER-SER
Fato social
Relao social
H C
#
FJ Sa P Sp
Linguagem jurdica I
Linguagem
jurdica II
Linguagem
social
PLANO DO
SER
Relao
jurdica
433
Explicando: no primeiro retngulo acima (no plano do dever ser) temos a
representao da norma jurdica geral e abstrata (linguagem jurdica I) que descreve em sua hiptese
(H) um acontecimento a ser verificado no plano da realidade social ser (representado pelo ltimo
retngulo de baixo). O aplicador do direito verifica a ocorrncia do evento (#), mediante a
interpretao do fato social (ato representado pela seta que aponta do retngulo da linguagem
social para o aplicador), que se subsome hiptese de incidncia da norma, construda com a
interpretao da linguagem jurdica I (ato representado pela seta que aponta do retngulo da
linguagem jurdica I para o aplicador), e produz uma nova linguagem (ato representado pela seta
que aponta do aplicador para a linguagem jurdica II), cujo antecedente contm um fato jurdico Fj
(denotativo do conceito da hiptese H linguagem jurdica I) e referente ao fato social (# -
linguagem jurdica II) e a instituio da relao jurdica (Sa P Sp ) no conseqente (denotativa
do conseqente geral C linguagem jurdica I) e que se refere linguagem social, com o intuito de
modificar condutas, isto , fazer com que dois ou mais sujeitos se relacionem efetivamente ().
Nota-se que relao jurdica s aparece com a linguagem produzida no processo de
aplicao (Linguagem jurdica II), mais especificamente na posio sinttica de conseqente da norma
individual e concreta (Sa P Sp) posta pelo aplicador, com a incidncia de uma norma geral e
abstrata (H C), por isso intra-normativa. As relaes sociais, ou tidas por relaes jurdicas
efectuais () encontram-se em outro plano (ser), no mais jurdico, podendo ser anteriores ou
posteriores constituio da relao jurdica.
Para construo da relao jurdica o aplicador no busca informaes sobre a
relao social, como faz com o fato jurdico, por meio das provas e dos fatos alegados. Os dados para
constituio do vnculo jurdico entre sujeitos-de-diretio so retiradas do fato jurdico e manipuladas
nos moldes do conseqente da norma geral e abstrata a ser incidida. Por isso, no necessariamente
existe cronologia entre a relao constituda juridicamente e a relao social correspondente, esta pode
j existir quando da produo da linguagem competente ou no.
Um exemplo esclarece o que queremos dizer. Digamos que depois de cinco anos do
nascimento de uma criana, em cujo registro o nome do pai figure como desconhecido, a me ingresse
com uma ao declaratria de paternidade que culmine na constituio jurdica do vnculo de
paternidade. Perante o sistema biolgico, a relao de paternidade sempre existiu, desde a concepo
da criana, no entanto, perante o sistema jurdico ela s constituda com a linguagem competente da
sentena na ao declaratria, uma prova disso que se o pai morre antes da constituio jurdica do
434
vnculo, a criana no tem direito a participar da sucesso. Socialmente, mesmo antes da deciso, o pai
pode j ter uma relao paternal com o filho, prestando-lhe assistncia e visitando-o freqentemente,
ou ento, pode ser que a relao social de paternidade se instaure somente depois da sentena, por
imputao da coercitividade jurdica.
Tudo isso indiferente. Inmeras relaes podem existir (sociais, biolgicas,
histricas, psicolgicas), mas para que surjam direitos e deveres correlatos (entendidos aqui como
aqueles que podem ser coercitivamente exigidos pelo aparato judicial) preciso que um vnculo se
instaure juridicamente, o que se d por meio de uma linguagem competente. Tal vnculo projeta-se
sempre para o futuro, estabelecendo que a partir da data de sua constituio uma conduta ser devida
por um sujeito perante o outro. Se a relao social correspondente j existia, desta data em diante ela
passa a ter um aspecto jurdico, se no existia, se instaurar j, desde logo, com um aspecto jurdico.
Como j tivemos a oportunidade de ressalvar, a relao jurdica no depende da
relao social e nem a social pressupe a jurdica, pois o direito uma realidade sintaticamente
autnoma da social, muito embora esta seja seu objeto (referente). Como ensina PAULO DE
BARROS CARVALHO, a alterao social (mundo social) estranha ao fato da relao jurdica, este,
na sua concretude existencial, esgota-se na fixao do direito e do dever correlato, sem qualquer
atinncia aos futuros comportamentos de seus destinatrios
486
.
A relao jurdica existe para a realidade jurdica e, sem dvida, isto produz
inmeros reflexos no mundo social, j que o direito um sub-sistema desta realidade. No entanto,
trabalhando com a teoria dos sistemas, para que a relao jurdica produza modificaes no campo
social, preciso que ela seja traduzida no cdigo prprio daquele sistema, quando de jurdica, passa a
ser relao social. O inverso tambm verdadeiro, para que uma relao social pertena ordem
jurdica preciso que seja convertida no cdigo prprio do direito positivo, o que se d com a
aplicao normativa.
Tambm fica fcil visualizar no grfico que a relao jurdica no se encontra no
conseqente da norma incidida (regra-matriz de incidncia linguagem jurdica I), que contm apenas
a classe de notas para sua identificao. Ela aparece com a produo da norma individual e concreta
(linguagem jurdica II), quando os critrios da regra-matriz so concretizados e individualizados,
surgindo o vnculo que atrela dois sujeitos (ativo, passivo) em torno de uma prestao, submetida ao
486
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 130.
435
operador dentico modalizado (O, V, P). Isto refora o que dissemos linhas acima, sobre a relao
jurdica no estar contida no conseqente da regra-matriz. Ela se instaura no conseqente sim, mas da
norma individual e concreta produzida mediante ato de aplicao do direito.
3. TEORIA DAS RELAES
Falamos da relao jurdica e da sua importncia para a objetivao da finalidade do
direito. Tal importncia justifica um estudo mais detalhado sobre as relaes, que alcanado por
meio da Teoria das Relaes, um sub-captulo da Lgica dos Predicados, mais precisamente conhecida
pelo ttulo: Lgica dos Predicados Polidicos.
Em primeiro lugar, devemos ter em mente que as relaes so sempre
proposicionais. Como j observamos, todo conhecimento se opera mediante linguagem, neste
contexto, as relaes no existem como dados do mundo fsico experimentvel aos nossos sentidos,
mas como elemento lingstico, construdo pelo homem ao organizar intelectualemtne os dados que
lhe so brutos. No curso do processo de conhecimento, primeiro o homem atribui nome quilo que
experimenta e, assim, cria cognoscitivamente o objeto, depois, para compreend-lo, passa a estabelecer
associaes entre ele e outros objetos, criando aquilo que denominamos de relaes. Deste modo, um
objeto se relaciona com outro sempre em termos proposicionais. As relaes no se encontram no
plano emprico, so estabelecidas linguisticamente, mediante a associao de termos ou proposies,
por isso, tomadas como objeto da Lgica.
Na composio interior de um enunciado proposicional (S P) vamos encontrar duas
espcies de termos, um delimitador da classe de indivduos, sujeitos ou objetos (S), outro da classe de
predicados (P), isto , das propriedades atribudas ao nome. Em alguns casos, no entanto, ao invs de
qualidades (ex: vermelho, mamfero, mortal, etc.), a classe de predicados denota vnculos que se
estabelecem com a classe de indivduos (ex: maior que..., to alto quanto...., igual a..., abaixo de...,
etc.). Temos assim: (i) predicados mondicos, que se referem isoladamente a um indivduo, ou objeto;
e (ii) predicados polidicos, que vinculam dois ou mais indivduos, ou objetos. Isso explica ser o
estudo das relaes objeto da Lgica dos Predicados Polidicos.
PAULO DE BARROS CARVALHO dedicou-se ao estudo da Teoria das Relaes
em enriquecedor trabalho que compe a apostila do curso de Lgica Jurdica da PUC-SP
487
e que
487
Apostila do Curso Lgica Jurdica da PUC-SP, cap. 5, p. 69-83.
436
agora se encontra editorialmente publicado no seu livro: Direito Tributrio Linguagem e Mtodo
488
.
Neste estudo, o autor tece importantes reflexes sobre o tema, as quais reproduzimos abaixo de forma
sucinta.
Em linguagem formalizada os enunciados polidicos so representados pela frmula
(x R y), onde se l: o objeto x tem relao com o objeto y. Utiliza-se as letras maisculas (R, S, T)
para simbolizar o vnculo relacional e as minsculas (x, y, z) para designar os termos da relao. A
varivel de objeto x ocupa a posio sinttica de predecessor (anterior, regio anterior, ou esquerda) da
relao, enquanto o objeto y figura no tpico de sucessor (posterior, regio posterior, ou direita da
relao). A classe de todos os predecessores de uma relao nominada de domnio e a classe de
todos os sucessores de contradomnio.
De acordo com as possibilidades de associaes entre seus termos (domnio e
contradomnio), as relaes podem ser classificadas em: (i) unvocas (ou biunvocas), quando os
sujeitos da relao (x R y) so nicos (ex: x casado com y na concepo jurdica de casamento
adotada por nosso sistema); (ii) uni-plurvocas, quando h um s nome na posio anterior e a
possibilidade de vrios na posio posterior, de modo que, a todo termo posterior corresponda um
nico objeto anterior (i.e: x me de y); (iii) pluri-unvocas, quando h possibilidade de um s nome
assumir a posio posterior enquanto vrios podem se encontrar na anterior, de modo que, a todo
termo anterior corresponda apenas um posterior (i.e: x filho de y); e (iv) pluri-plurvocas, quando
vrios nomes podem assumir a posio anterior e posterior (i.e. x amigo de y)
489
.
Tomando qualquer destas possibilidades, so trs as caractersticas fundamentais de
uma relao: (i) reflexibilidade; (ii) simetria; e (iii) transitividade.
Reflexibilidade atributo dos vnculos relacionais em que o mesmo elemento ou
sujeito figura na posio anterior e posterior. Com base neste atributo, as relaes podem ser: (i.a)
reflexivas, quando o vnculo relacional se estabelece entre uma coisa e ela mesma, ou entre um
indivduo e ele mesmo (ex: x matou x, o que equivale dizer x suicidou-se x R x); (i.b) irreflexivas,
quando os vnculos exigem que sujeitos diferentes ocupem as posies de predecessor e sucessor (ex:
488
Direito tributrio linguagem e mtodo, p. 98-115.
489
Todas essas combinaes podem ser observadas tanto no vnculo relacional da causalidade jurdica que liga antecedente
e conseqente normativo (i HC; ii HC.C; iii H.HC; iv H.HC.C), como no vnculo relacional que se
instaura entre sujeitos presentes no conseqente normativo (i sR s; ii s R s.s; iii s.s R s; iv s. s R s. s).
437
x mais velho que y; x pai de y; x maior que y x R y)
490
; (i.c) semi-reflexivas, as quais podem
assumir ora carter de reflexivas, ou ora de irreflexivas (ex: x est satisfeito com y x R y; ou consigo
prprio x R x).
A caracterstica da simetria verifica-se quando o vnculo instaurado entre x e y o
mesmo do estabelecido entre y e x (ex: x vizinho de y e y tambm vizinho de x; x casado com y e
y tambm casado com x). Levando-se em conta tal atributo as relaes podem ser: (ii.a) simtricas;
(ii.b) assimtricas; (ii. c) semi-simtricas.
Invertendo a ordem da relao (x R y) temos sua relao conversa (y R x). Uma
relao simtrica quando igual a sua conversa (x R y = y R x). Por outro lado, quando invertendo a
ordem dos termos a relao se modifica, o vnculo assimtrico (ex: x maior que y e y menor que
x, no maior; x pai de y e y filho de x, no pai). Assim, uma relao assimtrica quando diferente
da sua conversa (x R y y R x)
491
. A categoria intermediria das relaes semi-simtricas, aparece
nos vnculos que podem, ora se apresentar como simtricos, ora como assimtricos (ex: x ama y, mas
no se sabe se correspondido; x admira y, mas no se sabe admirado).
A caracterstica da transitividade verifica-se quando a combinao de duas relaes
de mesma ordem, estabelecidas uma entre um termo predecessor e um sucessor e outra, entre o termo
sucessor da primeira e um terceiro, implicam outro vnculo, de mesma ordem, instaurado entre o
predecessor da primeira relao e o terceiro termo sucessor da segunda (ex: x menor que y e y
menor que z, ento x menor que z). Para os trs objetos x, y, e z as condies de x R y sempre
implicam x R z. Com base nesta caracterstica, as relaes podem ser: (iii.a) transitivas; (iii.b)
intransitivas; e (iii.c) semi-transitivas.
Nas relaes transitivas para os trs objetos x, y, e z, as condies de x R y sempre
implicam x R z. Nas relaes intransitivas isto no se verifica, a combinao de duas relaes de
mesma ordem, estabelecidas uma entre um termo predecessor e um sucessor e outra, entre o termo
sucessor da primeira e um terceiro, implicam um vnculo de outra ordem, instaurado entre o
predecessor da primeira relao e o terceiro termo sucessor da segunda (ex. se x me de y e y me
de z, ento x av de z e no me). E, nas relaes semi-transitivas os vnculos aparecem ora como
490
A relao jurdica um exemplo tpico de vnculo irreflexivo, pois ningum sujeito de direitos e deveres consigo
mesmo
491
As relaes jurdicas enquadram-se na categoria das assimtricas, pois os direitos e deveres atribudos a um sujeito de
direito x so sempre diferentes dos conferidos ao sujeito de direito y.
438
transitivos, ora como intransitivos, dependendo das circunstncias (ex: x amigo de y e y amigo de
z, no entanto, no se sabe se x amigo de z; x conhece y e y conhece z, no entanto, no certo que x
conhece z)
492
.
Dentro de um sistema as relaes so constitudas a partir da juno de elementos ou
pela modificao de outras relaes, mediante aquilo que denominamos de clculo de relaes.
Dois importantes conceitos para realizao dessas operaes de constituio e
modificao so os de: (i) relao universal; e (ii) relao nula.
Relao universal a que vincula todo indivduo a todo individuo dentro de
determinado contexto (ex: no conjunto dos cristos todos os integrantes guardam relao com Deus e,
por isso, todos so irmos de f). Relao nula ou vazia aquela que nunca se estabelece entre
indivduos de um sistema (ex: no conjunto dos homossexuais, ser heterossexual uma relao nula).
Trazendo exemplos no mbito jurdico, espcie de relao universal, para o direito, a que estabelece
obrigao de reparar o dano por todos aqueles que o motivaram. J como espcie de relao nula,
temos a que atribui um prmio em dinheiro para aqueles que cometem crimes.
Outro conceito relevante o de complemento de relao, que se define como a
classe de indivduos entre os quais no se d uma relao. O complemento da relao, ser agente
competente, por exemplo, a classe dos indivduos que no so agentes competentes.
No clculo de relaes, mediante os qual vnculos relacionais so institudos e
modificados, destacam-se algumas operaes, como: (i) soma ou unio absoluta de relaes; (ii)
incluso de relaes; (iii) interseco de relaes; (iv) produto relativo de relaes.
H soma ou unio absoluta de relaes quando dois ou mais vnculos juntos formam
um terceiro (ex: a soma das relaes x filho de y e z neto de y formam a relao ser descendente de
y), em termos formalizados temos: R U S = T. Juridicamente, a relao ser motorista habilitado, por
exemplo, formada da soma de vrias relaes que estabelecem os direitos e deveres a serem
observados no trnsito.
H incluso de relaes quando um vnculo insere-se no contexto de outro vnculo
(ex: as relaes x pai de y, y filho de x, y tio de z, esto includas na relao ser parente de x), em
492
No direito as relaes podem ser de ordem transitiva ou intransitiva depende do caso concreto.
439
termos formais temos: R S = T. No direito, por exemplo, verifica-se a incluso na relao de
suspenso da exigibilidade do crdito tributrio, onde se incluem a relao de parcelamento, depsito,
concesso de liminar, etc.
D-se interseco (ou produto absoluto de relaes) quando dois vnculos so
conjugados em um (ex: a interseco das relaes ser irmo de y e ser mais velho que y, resulta na
relao ser irmo mais velho de y), em termos formais temos: R S = T (x R y x S y = x T y).
Juridicamente temos como exemplo a relao de reincidncia penal, formada pela interseco de duas
ou mais penas.
E, por fim, h produto relativo quando uma relao se estabelece entre x e z, em
decorrncia da relao que x mantm com y e que y mantm com z (ex: x irm de y e y me de z,
logo x tia materna de z a relao ser tia de z o produto relativo das relaes ser irm de y e ser
me de z). Como exemplos jurdicos de produto relativo de relaes, podemos citar o vnculo que se
estabelece entre fiador e vendedor (z T x), resultado do clculo das relaes entre o vendedor e o
comprador (x R y) e entre o comprador e o fiador (y S z); a relao de substituio tributria pela
compra de imvel estabelecida entre comprador e fisco (z T x); e a relao processual, que se institui
entre juiz autor e ru, resultado (produto relativo) das relaes autor/juiz e juiz/ru.
A digresso foi longa, mas til, pois tudo que vimos acima aplica-se
operacionalidade do direito positivo, ou seja, os meios dos quais dispe o sistema para alcance de seus
fins. De agora em diante, no entanto, restringimos nosso campo de anlise s relaes jurdicas,
aquelas sobre as quais atua o functor dentico (dever ser) numa das suas formas modalizadas
(obrigatrio, permitido ou proibido) e mediante as quais o direito materializa sua finalidade regulativa.
4. RELAO JURDICA COMO ENUNCIADO FACTUAL
Ao tratarmos as relaes como um ente lgico, condicionamos sua existncia
produo de uma linguagem, pois o acesso ao universo das frmulas lgicas se d nica e
exclusivamente a partir da linguagem (mediante a formalizao de uma linguagem objeto).
A afirmao, segundo a qual as relaes so constitudas linguisticamente, ganha
ainda mais fora quando tratamos especificamente das relaes jurdicas, dado ser o direito um objeto
cultural, cuja materializao se d por meio de uma linguagem prescritiva, empregada na forma
escrita.
440
Partindo da premissa de que o sistema do direito um corpo de linguagem, a relao
jurdica surge apenas com a formao de um enunciado lingstico produzido no cdigo prprio deste
sistema. Nestes termos, no temos dvidas de que a relao jurdica caracteriza-se como um fato
jurdico (em sentido amplo). Trata-se de um enunciado protocolar e denotativo, posicionado no tempo
e no espao da produo normativa, que se refere a um acontecimento social (conduta humana) e
ocupa posio sinttica de conseqente de uma norma individual e concreta. , nos dizeres de
LOURIVAL VILANOVA, um fato-conduta, com as mesmas caractersticas do estudado no captulo
anterior (fato-causa)
493
.
Com o ato de aplicao do direito, dois fatos so inseridos no ordenamento jurdico:
(i) fato-causa (fato jurdico em sentido estrito); e (ii) fato-conduta (fato jurdico relacional). O primeiro
constitudo com base nos critrios conotativos da hiptese de incidncia e o segundo, com base nas
notas indicativas do conseqente, ambos da norma incidida (geral e abstrata). Na linguagem da norma
individual e concreta, introduzida pelo ato de aplicao, temos, como ensina PAULO DE BARROS
CARVALHO, um enunciado protocolar denotativo que se obteve pela reduo unidade das classes
de notas (conotao) do antecedente da regra geral e abstrata, implicando outro enunciado, tambm
protocolar e denotativo, construdo pela reduo unidade das classes de notas (conotao) do
conseqente da norma geral e abstrata
494
. So dois enunciados, fato-causa no antecedente e fato-
conduta no conseqente.
Diferente do fato-causa, a relao jurdica um fato relacional, que vincula dois ou
mais sujeitos em torno de uma prestao. Ambos so enunciados lingsticos, constitudos nos moldes
prescritos pelo sistema. A distino entre ambos, no entanto, verifica-se com a anlise de seus planos
sinttico, semntico e pragmtico.
Sintaticamente, o fato jurdico (em sentido estrito) assume a forma de predicado
mondico (S P), ao passo que, o fato jurdico relacional reveste-se da forma dos predicados
polidicos (S R S). Ademais, nos enunciados relacionais do direito que se verifica a presena do
operador dever-ser, numa das suas trs modalidades: obrigatrio (O), permitido (P) e proibido (V).
Semanticamente, o fato jurdico stricto sensu apresenta-se como enunciado
descritivo, declarando a ocorrncia de um evento pretrito. Sua referncia significativa volta-se para o
passado, por isso, apesar de constitutivo em relao ao fato para o mundo do direito, declaratrio
493
As estruturas lgicas do sistema do direito positivo, p. 154.
494
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 129.
441
com relao ao evento. Ao contrrio, o fato relacional apresenta-se como enunciado prescritivo,
projetando-se para o futuro, ao determinar que, a partir da unidade nele prevista, uma conduta ser
deonticamente devida. Sua referncia significativa volta-se para o presente, constituindo deveres e
direitos correlatos.
E, pragmaticamente, a diferenciao que se deve pontuar que o enunciado do fato
jurdico (em sentido estrito) atua como causa enquanto o da relao jurdica, como efeito.
Para demonstrar que a relao jurdica um fato e de que tal fato se configura num
enunciado lingstico competente, PAULO DE BARROS CARVALHO traz o exemplo de uma
relao objetiva qualquer, inserida no mundo jurdico por meio de sentena judicial. Nos dizeres do
autor, a ponncia de um ato jurisdicional como esse , verdadeiramente, um fato, que acontece em
determinadas condies espao-temporais, da mesma forma que os acrdos, os contratos, os atos
administrativos, etc
495
. Para dizer qual o direito e o dever correlato do caso concreto, o juiz produz
um enunciado, delimitado no tempo e no espao, referente a uma conduta determinada, que certo
sujeito dever ter para com outro. Se para ns, o fato tomado como enunciado lingstico referente
certa ocorrncia e uma conduta caracteriza-se como certa ocorrncia envolvendo duas pessoas, a
relao instituda pelo juiz como efeito jurdico na sentena, nada mais do que um fato jurdico
relacional. Trata-se de um enunciado lingstico polidico (que estabelece relao entre dois ou mais
sujeitos), protocolar (que inova o sistema ao instituir direitos e deveres correlatos) e denotativo
(constitudo mediante a determinao dos critrios do conseqente da regra incidida na sentena).
Outra prova de que a relao jurdica apresenta-se na forma de um enunciado factual
aparece quando pensamos na sua modificao ou extino. Qualquer alterao que se pretenda no teor
do vnculo institudo com a sentena, dever ser feita mediante outra manifestao do Poder Judicirio,
ou seja, pela produo de outra linguagem, outro fato relacional. Isto ratifica a tese de que a
propagao de efeitos jurdicos s se d com a produo de uma linguagem competente e que estes
nada mais so do que fatos, enunciados concretos, individualizados, produzidos segundo a previso
dos conseqentes de normas gerais e abstratas.
4.1. Determinao do enunciado relacional
No enunciado relacional, presente no conseqente da norma individual e concreta
veiculada pelo ato de aplicao, o conceito do conseqente da norma geral incidida apurado com
495
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 131.
442
extrema determinao, de tal modo que a classe conotativamente prevista transforma-se num conjunto
de um nico objeto, devidamente caracterizado. No temos mais as propriedades que as relaes
devem ostentar, mas sim os elementos que as constituem, quais sejam: (i) um elemento subjetivo,
apontando para um sujeito ativo, titular do direito subjetivo de exigir a prestao (ex. Joo, Maria,
Ana, Paulo, etc.) e um sujeito passivo, titular do dever jurdico de cumprir a prestao (ex. Jos,
Flvio, Carla, toda a coletividade, etc.); e (ii) um elemento prestacional, determinando a prestao (ex.
obrigado a entregar R$ 5.000,00; proibido estacionar na rua x; permitido dirigir veculo automotor,
etc.).
A existncia da relao jurdica pressupe determinao de seus termos. Sem ela o
vnculo no se instaura, porque no h elementos, apenas notas identificadoras de uma classe.
Determinao, contudo, no se confunde com individualizao. H relaes que se estabelecem intra-
normativamente, apresentando em um dos plos, uma classe de sujeitos no-individualizados. o que
se verifica, por exemplo, nas relaes de propriedade, de personalidade, de trnsito, etc., em que um
dos termos (ativo ou passivo) preenchido por todos os membros da coletividade. Tais relaes so
jurdicas porque constitudas por atos de aplicao do direito (ex. registro de propriedade; registro de
nascimento; habilitao de motorista), contudo, no dispem de executoriedade enquanto no
totalmente individualizadas.
O proprietrio, por exemplo, tem o direito subjetivo de ter a coisa como sua perante
qualquer pessoa e todos os membros da coletividade tem o dever jurdico de respeitar tal direito. Nota-
se que num dos plos (ativo) o sujeito aparece individualizado (o proprietrio) e no outro (passivo)
generalizado (todos os membros da coletividade). Tal relao existe juridicamente, pois constituda
com o registro da propriedade, no entanto, s dispor de aparato coercitivo quando inteiramente
individualizada, o que ocorre com a incidncia de uma norma punitiva (quando aquele membro da
coletividade que no respeita o direito de ter a coisa como sua, do proprietrio, apontado como
sujeito passivo da relao).
Neste sentido, podemos dizer que para a existncia de uma relao jurdica h
necessidade de que pelo menos um dos sujeitos do vnculo jurdico (ou o ativo ou o passivo) esteja
individualizado. A indeterminao quanto ao outro sujeito, no entanto, deve ser momentnea, caso
contrrio, frustra-se a possibilidade de execuo.
443
O enunciado relacional localizado no tempo e no espao da produo normativa.
Como seu teor no declaratrio de um evento passado (o que ocorre no fato jurdico stricto sensu),
mas sim prescritivo de uma conduta, no h que se diferenciar tempo do fato e tempo no fato do
enunciado relacional. O tempo no fato da relao jurdica futuro e indeterminado, por isso, no
considerado. Seu enunciado no descreve um evento que ocorreu (como o fato jurdico em sentido
estrito), o que impossibilita sua determinao. Ele prescreve a existncia de uma ocorrncia
(instaurao de direito e deveres correlatos) que se d a partir do tempo do fato (momento de sua
produo) e continua existindo at que seja desconstituda por outro enunciado prescritivo competente.
Nesta linha de raciocnio, no devemos confundir o tempo da relao jurdica com o
momento de seu cumprimento ou no-cumprimento, fixado como tempo no fato da norma derivada
(punitiva ou no) da regra que institui a relao, pois a existncia do vnculo jurdico sempre anterior
ao seu adimplemento (quando esta for fixada juridicamente) e nem sempre neste momento que se
extingue a relao jurdica, pois o sujeito passivo pode no cumpri-la, no realizando a conduta
prescrita.
O mesmo podemos dizer quanto ao local da relao jurdica. O local da produo do
enunciado relacional confunde-se com o da propagao de seus efeitos. Estas alegaes s reforam a
tese da desnecessidade de um critrio temporal ou espacial no conseqente da regra-matriz de
incidncia.
4.2 Aplicao das categorias da semitica
A tomada de posio da relao jurdica como um fato relacional permite-nos aplicar
ao seu estudo as categorias de objeto imediato e objeto dinmico, adotadas para anlise do fato
jurdico, no captulo anterior. A aplicao de tais recursos refora a separao e autonomia do vnculo
institudo juridicamente (fato-conduta) com relao conduta (social) ao qual ela faz referncia, j
destacada no primeiro item deste captulo.
A relao jurdica uma realidade prpria do direito positivo (exclusivamente
jurdica), no pertence ao plano social, econmico, poltico, moral, religioso, apenas ao mundo do
direito, muito embora faa referncia realidade social. Aplicando aqui as categorias de Semitica,
temos o enunciado jurdico relacional do conseqente da norma individual e concreta como objeto
imediato e a conduta social qual ele se refere como objeto dinmico.
444
A ilustrao abaixo demonstra tal associao:
Explicando: a relao jurdica (objeto imediato representada no grfico pelo
smbolo *) constituda com a produo de uma linguagem competente (representada no grfico
pelo quadrado) que lhe atribui pertinncia ao sistema do direito positivo (representado pela figura
circular). O enunciado que a constitui refere-se a uma relao social j existente ou a ser instaurada
(objeto dinmico representada pela ilustrao ) noutro plano, fora da delimitao do direito
positivo e, por isso, com ela no se confunde.
Devemos lembrar que o objeto imediato capta apenas alguns aspectos do objeto
dinmico, no tendo o condo de repeti-lo. Nestes termos, a relao jurdica jamais prescrever a
conduta social na sua integridade constitutiva, esta ser infinitamente mais complexa. Na verdade, o
que podemos dizer sobre a relao jurdica que ela capta apenas um aspecto da conduta a ser
verificada socialmente: o jurdico. Aos demais aspectos s temos acesso por meio da experincia
colateral.
Ainda, considerando a relao jurdica como um enunciado factual, podemos aplicar
perfeitamente a distino entre erro de fato e erro de direito (trazida no captulo anterior) para explicar
eventuais distores entre o enunciado relacional e o evento ou entre este e a norma que lhe serve de
fundamento no processo de aplicao.
H erro de fato em relao ao enunciado relacional quando o aplicador manipula, de
forma inadequada, as provas empregadas na sua composio (ex: fatos do processo revelam que A
matou B, mas o juiz ao proferir a sentena interpreta equivocadamente as provas constantes nos autos
entendendo que C matou B e institui contra C a pena de privao de liberdade h erro de fato em
ambos os enunciados: do fato jurdico e da relao jurdica). Por outro lado, h erro de direito com
*
Relao social
(objeto dinmico)
direito positivo
Relao jurdica
(objeto imediato)
linguagem
competente
445
relao ao enunciado relacional quando o aplicador, ao constitu-lo, utiliza algum critrio indevido
como fundamentao jurdica (ex: a alquota aplicvel para apurao do crdito tributrio de IPTU
de 0,1% e a prefeitura efetua o lanamento sobre a alquota de 0,5% - h erro de direito com relao ao
enunciado relacional, posto na posio sinttica de conseqente da norma individual e concreta).
5. ELEMENTOS DO FATO RELACIONAL
O fato relacional construdo com a denotao dos critrios do conseqente da
norma jurdica aplicada. Logo, para que se instaure o vnculo jurdico faz-se necessrio a presena de
pelo menos: (i) um sujeito ativo e (ii) outro passivo (ainda que um deles no se encontre
individualizado); e (iii) de um objeto (prestao). Mas, isto no tudo, analisando formalmente a
estrutura da relao jurdica, verifica-se que ela composta de mais dois elementos, responsveis pela
concatenao dos anteriores, so eles: (iv) o direito subjetivo e o (v) dever jurdico.
Temos, assim, que a relao jurdica composta por cinco elementos (sujeito ativo,
sujeito passivo, objeto, direito subjetivo e dever jurdico), que graficamente pode ser representada da
forma abaixo:
Onde se l: Relao jurdica (RJ) equivale (=) um sujeito ativo (Sa) que tem o
direito subjetivo () de exigir certa prestao (P) de um sujeito passivo (Sp), sendo que este tem o
dever jurdico () de cumpri-la.
Na representao lgica acima, os termos Sa, P e Sp, que simbolizam,
respectivamente, o sujeito ativo, a prestao e o sujeito passivo, atuam como variveis, enquanto que
os signos e , representativos do direito subjetivo e do dever jurdico, operam como
constantes. Isto quer dizer que, o contedo dos primeiros se modifica de relao para relao, enquanto
o dos segundos permanece sempre o mesmo em qualquer relao jurdica. A abertura significativa das
dever
jurdico
(dbito)
direito
subjetivo
(crdito)
Sa Sp P RJ =
446
variveis Sa, P e Sp responsvel pela heterogeneidade semntica das relaes jurdicas,
enquanto a no-variao da estrutura garante-lhes homogeneidade sinttica.
5.1. Sujeitos
Os plos ativo Sa e passivo Sp da relao jurdica so sempre ocupados por
pessoas.
Durante muito tempo a doutrina discutiu a possibilidade de a relao jurdica
instaurar-se entre uma pessoa e um objeto. Tal tema abriu margem a interminveis disputas
acadmicas em grande razo pela existncia dos denominados direitos reais (sobre as coisas ex:
propriedade, posse, domnio til).
A idia era de que, nestes casos, os direitos subjetivos inerentes s coisas se
constituam devido a vnculos estabelecidos juridicamente entre os sujeitos e os bens. O proprietrio de
um imvel, por exemplo, teria uma relao com o imvel denominada de propriedade, o possuidor de
posse, o usufruturio de usufruto e assim por diante. O direito subjetivo seria inerente coisa e no a
terceiros, tendo-se a coisa como objeto. Com o passar do tempo tal discusso caiu em desuso,
consolidando-se o posicionamento de que, por a prescrio normativa incidir sobre condutas
intersubjetivas, as relaes jurdicas so essencialmente bilaterais, estabelecendo-se sempre entre
sujeitos. Neste sentido, toda relao jurdica interpessoal, os plos ativo e passivo so,
necessariamente, compostos por sujeitos de direito, no importando serem estes pessoa fsica ou
jurdica, de direito pblico ou privado, interno ou externo.
Os termos sujeitos (Sa e Sp) podem ser um ou vrios, individuais ou coletivos.
Requisito indispensvel, no entanto, que sejam pessoas diferentes, isto porque, o direito positivo
toma como objeto apenas condutas intersubjetivas, ou seja, aquelas que se estabelecem entre dois ou
mais sujeitos. Como explica LOURIVAL VILANOVA, direitos, faculdades, autorizaes, poderes,
pretenses, que se conferem a um sujeito-de-direito esto em relao necessria com condutas de
outros que se colocam reciprocamente nas posies do primeiro sujeito-de-direito
496
. Ningum tem
direitos e deveres jurdicos em relao a ele prprio, mas sim em relao a terceiro. E, neste sentido,
toda relao jurdica irreflexiva.
496
Causalidade e relao no direito, p. 121.
447
5.2. Objeto - Prestao
Alm do elemento subjetivo, como termo varivel, o enunciado relacional contm o
objeto (P), contedo do direito subjetivo de que titular o sujeito ativo e, ao mesmo tempo, do dever
jurdico a ser cumprido pelo sujeito passivo. O elemento prestacional indica a conduta prescrita como
obrigatria (O), proibida (V), ou permitida (P), pela norma jurdica incidida. Ele responsvel por
dizer qual a orientao normativa, ao caracterizar objetivamente a conduta a ser cumprida.
A conduta titulada como prestao da relao jurdica especfica e concreta, pois
denotativa do critrio prestacional da norma incidida no ato de aplicao. Enquanto no conseqente da
norma geral e abstrata h notas indentificativas da conduta prescrita (ex. pena de recluso de 10 a 16
anos; pagar 1% do valor do imvel; entregar o bem vendido, etc.), no elemento prestacional do
enunciado relacional a conduta aparece de forma especificada (ex. pena de recluso de 12 anos; pagar
R$ 5.000,00; entregar o imvel x, localizado na rua y n z; etc.).
A prestao configura-se como objeto da relao jurdica e identificada por um
verbo e um complemento (ex. pagar indenizao; ultrapassar a velocidade de 100 km/h; dirigir veculo
automotor; etc.), sobre os quais incidem os modalizadores denticos: obrigatrio, proibido, permitido
(ex. obrigado pagar indenizao; proibido ultrapassar a velocidade de 100 km/h; permitido dirigir
veculo automotor; etc.).
A doutrina civil
497
trabalha com a diferena entre objeto imediato e objeto mediato
da relao jurdica. O primeiro consubstanciado na prtica de um ato positivo ou negativo (ex: dar,
fazer ou no fazer), o que para ns se configura como o verbo do elemento prestacional e o segundo
representado pelo complemento do ato. A ao de pagar o valor da indenizao, por exemplo, seria o
objeto imediato, enquanto o valor pago ao lesado, o objeto mediato.
Atentos a tal separao, mas para no utilizarmo-nos dos termos mediato e
imediato, pois, segundo nossa concepo, o objeto da relao apenas um (composto pela
conjuno do verbo mais o complemento), falamos em prestao como objeto da relao jurdica e
objeto prestacional para denotar seu complemento, representado por um bem qualquer que se
consubstancia num dos elementos da prestao.
497
Citamos como exemplo os autores CAIO MRIO DA SILVA PEREIRA, Instituies de direito civil, p. 21 e MARIA
HELENA DINIZ, Curso de direito civil brasileiro, p. 34.
448
Toda prestao tem um objeto, representado gramaticalmente no enunciado
relacional, pelo complemento verbal da prestao. Em alguns casos, este complemento encontra-se
quantificado (ex. pagar R$ 10.0000,00; doar 500 livros; deter 3 anos; etc.), dado a presena de um
critrio quantificativo no conseqente da norma geral incidida, utilizada como base para produo do
enunciado relacional. Noutros casos o complemento apenas nominal, aponta para um objeto
determinado, porm no quantificado (ex: apresentar a declarao x; entregar o animal y; ser pai de z;
etc.). Mas, nominal ou quantificado, uma coisa certa, para que a prestao seja passvel de ser
exigida juridicamente (de forma coercitiva), imprescindvel a determinao de seu objeto.
Alm da determinao do objeto, devemos ainda observar dois requisitos quanto
prestao da relao: (i) sua licitude e sua (ii) possibilidade fsica e jurdica.
A prestao da relao jurdica h de ser uma conduta contida no campo do lcito.
Sendo ela um elemento do enunciado relacional, temos que a relao instituda juridicamente h de
constituir-se num fato lcito.
O que se pretende quando se afirma a necessidade da relao jurdica figurar no reino
da licitude assegurar que seu objeto seja valorado positivamente pelo direito. No haver, por
exemplo, uma relao jurdica instituindo o direito subjetivo de roubar bem de outrem, nem de violar a
integridade fsica de outrem, pois tais condutas ferem direitos e garantias valoradas positivamente pelo
sistema.
Quanto ao outro requisito, indispensvel a possibilidade de realizao material e
jurdica da conduta instituda como prestao da relao jurdica.
Por possibilidade material, explica PAULO DE BARROS CARVALHO,
entendemos a possibilidade fsica, isto , tudo aquilo que a lei da causalidade natural, nas suas vrias
combinaes propicia ao conhecimento do homem moderno, enquanto, por possibilidade jurdica,
aludimos aos procedimentos que a ordenao do direito permite implementar, colocando-os ao alcance
dos interessados
498
. A possibilidade material se verifica quando a conduta prescrita capaz de ser
praticada. Neste sentido, no pode ser objeto da relao jurdica, por exemplo, a conduta de entregar
um unicrnio ou um gnomo (cujo objeto prestacional consiste num ente metafsico), nem a conduta de
construir uma casa na lua (dado a impossibilidade fsica de tal prestao).
498
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 140.
449
J a possibilidade jurdica diz respeito utilizao da forma adequada prescrita pelo
direito para constituio de seus fatos. No pode ser objeto de uma relao jurdica contratual, por
exemplo, a conduta de modificar o nome de algum, pois, para isso, o direito prescreve um
instrumento prprio, a sentena judicial.
Outra condio inerente no apenas ao objeto, mas aos elementos variveis da
relao a correlao semntica entre os contedos do enunciado relacional e do fato jurdico, devido
circunstncia daquele ser produzido como efeito deste.
Dado correlao entre hiptese e conseqente, imposta pela causalidade jurdica, h
uma necessidade semntica do contedo das variveis de sujeito e prestao estar relacionado
significao do enunciado fctico posto na condio de antecedente normativo. Mesmo porque, as
informaes indispensveis para constituio da relao jurdica so obtidas do fato jurdico e
manipuladas nos moldes dos critrios contidos no conseqente da regra aplicada.
Numa sentena criminal, por exemplo, o juiz, para instituir a relao penal, identifica
o ru (sujeito passivo da relao) observando no fato constitudo juridicamente quem realizou a
conduta criminosa, da mesma forma, para individualizar a pena (prestao) volta-se ao fato, analisando
a culpabilidade do agente, as circunstncias que o envolvem, as conseqncias dele decorrentes, os
motivos que o antecedem, o comportamento da vtima, tudo nos termos do art. 59 do CP. Estabelece-
se, assim, uma relao semntica entre o enunciado factual e o enunciado relacional.
5.3. Direito subjetivo e dever jurdico
Finda a anlise dos elementos variveis da relao jurdica, voltemo-nos a seus
outros dois elementos: (i) o direito subjetivo; e (ii) o dever jurdico, representados pelos vetores e
, ambos mutuamente relacionados, com a mesma intensidade (por isso correlatos) e direo
(apontados para o objeto da relao), porm em sentidos contrrios.
O direito subjetivo (simbolizado pela constante ) constitui-se na possibilidade
jurdica de que titular o sujeito ativo de exigir o cumprimento da prestao, ou seja, na prerrogativa
de utilizar-se dos mecanismos que o direito dispe para assegurar sua realizao. J o dever jurdico
(representado pela constante ) constitui-se na obrigatoriedade de que investido o sujeito passivo
de adimplir a prestao, obrigatoriedade esta garantida pelo aparato coercitivo do sistema jurdico. Ao
direito subjetivo atribui-se o nome de crdito, enquanto ao dever jurdico o de dbito.
450
Nestes termos, juridicamente, crdito o direito subjetivo, de que titular certo
sujeito, de exigir de outro determinada prestao e, em contra partida, dbito o dever jurdico
outorgado a certo sujeito de cumprir determinada conduta em favor de outrem.
Tanto o crdito quanto o dbito, enquanto elementos da relao jurdica, so vnculos
que unem dois sujeitos de direito (ativo e passivo) em torno de uma prestao. Eles s aparecem na
linguagem da norma individual e concreta produzida com a aplicao. Antes, na linguagem da norma
geral e abstrata, encontramos apenas critrios identificativos dos termos variveis (sujeitos e
prestao). Nela no h relao jurdica, em razo da inexistncia de tais vnculos.
Os termos variveis (Sa, P e Sp) so apontados com maior facilidade no
enunciado relacional (enquanto suporte fsico). Numa sentena, por exemplo, de pronto identifica-se
os sujeitos, o verbo que representa o ncleo da conduta prescrita e o complemento verbal denotativo
do objeto desta conduta. A presena do direito subjetivo e o dever jurdico so geralmente
identificados pelas expresses fica obrigado, fica proibido, deve, etc. Mas, ao formalizarmos a
linguagem do enunciado relacional, encontramos a estrutura acima observada, com todos seus
elementos: (i) sujeito ativo; (ii) direito subjetivo; (iii) prestao; (iv) dever jurdico; e (v) sujeito
passivo. Basta a falta de um deles e a relao jurdica no se instaura. Tal afirmao suficiente para
demonstrar serem estes os elementos irredutveis de toda e qualquer relao jurdica.
6. CARACTERSTICAS LGICO-SEMNTICAS DA RELAO JURDICA
Vimos, alguns tpicos acima deste captulo, que so trs as caractersticas
fundamentais de uma relao: (i) reflexibilidade; (ii) simetria; e (iii) transitividade. Aplicando tais
conceitos relao jurdica, que antes de ser jurdica uma espcie de relao e, por isso, inteiramente
subordinada s diretrizes lgicas fixadas acima, podemos dizer que elas so necessariamente
irreflexivas e assimtricas, apresentando-se ou no como transitivas ou intransitivas. Tal aplicao,
porm, no depende pura e simplesmente de critrios lgicos, mas muito mais, da anlise de aspectos
semnticos inerentes ao sistema jurdico, como constataremos a seguir
499
.
A irreflexibilidade das relaes jurdicas uma condio reivindicada pelo campo
objetal do direito positivo, no uma imposio lgica, pois as relaes, tomadas como estruturas
sintticas, podem tanto ser reflexivas, quanto irreflexivas, em razo do contedo que apresentam.
499
comum no direito que questes de fundo lgico recebem tratamento semntico, porque, se sob o prisma sinttico, todo
seu discurso encontra-se estruturado de forma homognea, pelo ngulo semntico, todo texto jurdico avana em direo a
comportamentos interpessoais heterogneos, visando regul-los.
451
Como esclarece LOURIVAL VILANOVA, logicamente plenamente possvel que um termo tenha
relao reflexiva com ele mesmo, mas a textura do direto positivo que repele essa retroverso de um
termo sobre ele mesmo
500
. A regio ontolgica sobre a qual o direito incide exige a forma mnima da
bilateralidade de suas relaes.
Retomando o que foi dito em termos gerais, relaes reflexivas so aquelas em que o
mesmo sujeito figura na posio anterior e posterior (x R y onde x = y), enquanto, as irreflexivas
so aquelas em que os plos so ocupados por pessoas diversas (x R y onde x y). Os vnculos
jurdicos voltam-se sobre a regio material das condutas intersubjetivas. As condutas intrasubjetivas
esto fora do campo de regulao do direito, interessando apenas a outros sistemas de normas como a
moral, a religio, a tica, etc. Da porque, a relao jurdica caracterizar-se como irreflexiva. H a
necessidade sinttico-semntica, reivindicada pelo prprio sistema, de o vnculo jurdico se instaurar
entre sujeitos diferentes, o que afasta por completo qualquer possibilidade de encontrarmos uma nica
relao jurdica reflexiva ou semi-reflexiva. Como bem frisa PAULO DE BARROS CARVALHO, os
vnculos jurdicos sero sempre e necessariamente aliorrelativos
501
.
Da mesma forma sero assimtricos. A assimetria das relaes jurdicas tambm
reivindicada devido ao campo de objetos sobre o qual incide a regulao jurdica. No se trata de uma
necessidade lgica das relaes, porque estruturalmente, estas podem ser simtricas ou assimtricas.
Trata-se de um imperativo lgico-semntico prprio do sistema jurdico.
Relembrando, uma relao simtrica quando o vnculo instaurado entre x e y o
mesmo do estabelecido entre y e x, ou seja, quando idntica a sua conversa e assimtrica quando o
lao instaurado entre x e y diferente do estabelecido entre y e x, ou seja, quando diferente de sua
conversa.
As relaes jurdicas so invariavelmente assimtricas. Se x credor em relao a y,
este devedor em relao x; se x vendedor em relao a y, este ser comprador em relao x; se x
contratado com relao a y, este ser contratante em relao a x; e assim por diante. Isto ocorre
porque, os vetores que unem os sujeitos ativo e passivo em torno de uma prestao, apesar de terem a
mesma intensidade e direo apontam em sentidos contrrios. Enquanto um dos sujeitos (o ativo)
titular do direito subjetivo a algo, o outro sujeito (passivo) tem o dever jurdico a este algo, por isso, os
vnculos jurdicos sero sempre e necessariamente assimtricos.
500
Causalidade e relao no direito, p. 166.
501
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 143.
452
Invariavelmente, toda a relao jurdica ter a sua conversa, pois como preceituava
LOURIVAL VILANOVA a todo direito corresponde um dever. Mas, a relao conversa nunca ser
idntica quela que lhe originria. Na relao originria de crdito, por exemplo, o credor tem o
direito subjetivo de exigir do devedor determinado montante pecunirio ao passo que o devedor tem o
dever jurdico de pag-lo. Sua conversa corresponde ao direito subjetivo do devedor pagar o
determinado montante pecunirio e ao dever jurdico do credor aceitar o pagamento
502
.
Nota-se que ao inverter-se a relao ela se transforma em outro vnculo. Caso a
relao conversa fosse idntica originria, se o devedor tivesse o direito subjetivo de exigir do credor
o determinado montante pecunirio e este o dever jurdico de pag-lo, pelo clculo lgico das relaes,
elas mutuamente se excluiriam, dado seus vetores apontarem para o mesmo objeto, com a mesma
intensidade e em sentidos opostos. Nestes termos, a simetria uma impossibilidade sinttico-semntica
das relaes jurdicas.
Quanto transitividade, o direito mantm-se indiferente. Os vnculos podem
apresentar-se ora como transitivos, ora como intransitivos, de acordo com os interesses polticos
inerentes s prescries normativas.
Recapitulando, h transitividade quando x est em relao com y e est em relao
com z, porque y est em relao com z, e intransitividade quando apesar de y estar em relao com z e
x estar em relao com y, no existe relao entre x e z.
Em alguns casos o direito prescreve a existncia de transitividade entre suas relaes
em outros, no. PAULO DE BARROS CARVALHO cita os exemplos da falncia, da concordata e do
concurso de credores, em que o direito institui a transitividade do vnculo de crdito determinando que
x se torne credor de z, porque credor de y e este credor de z
503
. Em regra, a relao de crdito no
transitiva (no porque y credor de z e x credor de y que x ser credor de z), mas o sistema, em
certos casos, pode prescrever que seja. Assim, nada se pode dizer da transitividade ou intransitividade
das relaes jurdicas em termos gerais, a no ser que a anlise recaia sobre o caso concreto.
502
Tal relao que fundamenta a ao de consignao em pagamento.
503
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 145
453
7. CLASSIFICAO DAS RELAES JURDICAS
Observando o ncleo das condutas prescritas pelo ordenamento, podemos separar as
relaes jurdicas, na consonncia de ser ou no, seu objeto, susceptvel de avaliao econmica. Com
base neste critrio temos: (i) relaes jurdicas patrimoniais, isto , susceptveis de valorao
econmica; e (ii) relaes jurdicas no-patrimoniais, ou seja, no susceptveis de valorao
econmica.
H uma tendncia entre os civilistas e os tericos gerais do Direito
504
em salientar o
aspecto da patrimonialidade como caracterstica que estabelece a distino entre as relaes jurdicas
de cunho obrigacional e as de cunho no-obrigacional. As obrigaes so consideradas como aquelas
relaes jurdicas cujo objeto da prestao tem natureza patrimonial (ex: multa, tributo, indenizao,
prmio, etc.), ao passo que todas as outras relaes, cujo contedo no se pode representar em termos
econmicos, so de ndole no-obrigacional (ex: apresentar-se em juzo, entregar declarao, conceder
passagem; cumprir pena, etc.).
Neste contexto, o vocbulo obrigao tido como sinnimo de relao jurdica de
ndole economicamente aprecivel, um vnculo abstrato, imposto normativamente, mediante o qual
uma pessoa, denominada de sujeito ativo (credor ou pretensor), tem o direito subjetivo de exigir de
outra, chamada de sujeito passivo (devedor) o cumprimento de uma prestao patrimonial. As demais
relaes no-patrimoniais, constitudas juridicamente, apesar de imersas na mesma estrutura, por no
apresentarem objeto economicamente aprecivel, so apenas vinculadoras de meros deveres.
PAULO DE BARROS CARVALHO utiliza-se desta separao para diferenar a
obrigao tributria (relao de ndole pecuniria), dos deveres instrumentais (relaes cujo objeto se
perfaz num fazer ou no-fazer, utilizadas pelo Poder Pblico para controlar o cumprimento da
prestao tributria imprecisamente denominadas de obrigaes acessrias)
505
.
A despeito do forte potencial explicativo desta separao importante ressalvar que
todas as relaes jurdicas, obrigacionais ou no, so obrigatrias, levando-se em conta a
interdefinibilidade dos modais denticos. Numa relao jurdica de ndole no-patrimonial, a
obrigatoriedade do sujeito passivo de cumpri-la a mesma de uma relao de ndole patrimonial. A
cominao de uma pena de restrio de liberdade, por exemplo, constitui-se numa relao jurdica cujo
504
CAIO MRIO DA SILVA, em Instituies de direito civil, vol. II, p. 12 e MARIA HELENA DINIZ, em Curso de
direito civil, v. 2, p. 36.
505
Cursos de direito tributrio, p. 284-287.
454
objeto no-patrimonial, pois no susceptvel de valorao econmica, e, neste sentido, caracteriza-se
como no-obrigacional. Mas, se analisarmos a obrigatoriedade do sujeito passivo (ru) de cumprir a
pena, no podemos dizer que no se trata de uma relao obrigatria. O modal obrigatrio que incide
sobre um vnculo de natureza patrimonial o mesmo que recai sobre outro de natureza no-
patrimonial, o que importa dizer que as relaes jurdicas de ndole economicamente apreciveis so
to obrigatrias quanto as no susceptveis de valorao econmica.
O fato, entretanto, de se separar as relaes levando em conta a patrimonialidade do
objeto prestacional mostra-se de relevante utilidade para o estudo do direito, de modo que enquanto
til, tal classificao deve ser utilizada. Fica, porm, a ressalva para no confundirmos o critrio
classificatrio da suceptividade econmica do objeto, com a obrigatoriedade tendo-se em conta o
modal obrigatrio incidente sobre o vnculo relacional.
Outra classificao muito empregada pela doutrina civil aquela que separa as
obrigaes (relaes jurdicas de cunho patrimonial) levando-se em conta constituir-se sua prestao
num: (i) dar; ou (ii) fazer. Tal distino repousa na ao contida no ncleo da relao jurdica, indicada
pelo verbo do enunciado relacional e que, a nosso ver, pode ser aplicada em termos gerais, para
diferenar todo tipo de relao jurdica (no s as de cunho patrimonial), no mbito da Teoria Geral do
Direito. Vejamos:
Tanto o dar quanto o fazer constituem-se em condutas humanas que, quando
prescritas pelo direito so prestadas em relao a outrem (dado a irreflexibilidade das relaes
jurdicas). O verbo dar, nos termos desta classificao, utilizado no sentido de entregar algo pronto
e acabado (transferir o domnio, conceder o uso ou restituir) enquanto o verbo fazer empregado na
acepo de realizao de um ato prprio do sujeito passivo.
As relaes jurdicas de compra e venda, por exemplo, tm como objeto uma
prestao de dar. Na relao de compra, o comprador y tem o dever jurdico de entregar um
montante pecunirio (correspondente ao preo da mercadoria) ao vendedor x, sendo que este tem o
direito subjetivo de receb-lo e na relao de venda, o vendedor x tem o dever jurdico de entregar a
mercadoria ao comprador y, sendo que este tem o direito subjetivo de receb-la. Em ambas a conduta
instituda juridicamente consiste na entrega de algo pronto e acabado (dinheiro e mercadoria). J na
relao instituda pelo ttulo de eleitor o objeto uma prestao de fazer. O eleitor tem o dever jurdico
perante o Estado de realizar um ato prprio: o ato de votar.
455
Certamente que algumas prestaes classificadas como de fazer acarretam tambm
um dar, principalmente no mbito das obrigaes. A conduta de programao de um site, por
exemplo, quando instituda como objeto de uma relao jurdica, s cumprida com a entrega do site.
Apesar de a prestao consubstanciar-se na realizao de um ato prprio (programar) do sujeito
passivo (programador) ela pressupe tambm a entrega de algo pronto e acabado (o site). Neste
sentido, cabe a explicao de WASHINGTON DE BARROS de que, o substractum da diferenciao
entre a prestao de dar e de fazer, est em verificar se o dar ou entregar ou no conseqncia
do fazer. Assim, se o devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, no tendo, porm de faz-la
previamente, a obrigao de dar, todavia, se previamente tem ele de confeccionar a coisa, para depois
entreg-la, tecnicamente a obrigao de fazer
506
.
Ainda tendo em vista a prestao, podemos separar as relaes jurdicas, tendo em
conta o fato de seu objeto constituir-se numa: (i) ao (p); ou (ii) omisso (-p), ou seja, se o dever
jurdico de que investido o sujeito passivo configurar-se como uma ao positiva ou negativa (uma
inao) por parte deste. A conduta de x entregar um boi de seu rebanho a y na relao de venda, por
exemplo, constitui-se numa ao positiva a ser realizada por parte do sujeito passivo. J a conduta do
fiel depositrio de no entregar a coisa objeto do depsito terceiro, constitui-se numa ao negativa
(omisso) por parte do sujeito passivo. Em ambos os exemplos, nos termos da classificao anterior,
temos uma prestao de dar, no primeiro caso de dar (em sentido estrito) e no segundo caso de
no-dar.
Estabelece-se a mesma diviso para diferenar as prestaes de fazer. A conduta de
pintar uma casa, por exemplo, ao ser tomada prestao jurdica, constitui-se numa ao positiva do
sujeito passivo perante o sujeito passivo (dever de pintar) e, portanto, caracteriza-se como uma
prestao de fazer (em sentido estrito). J a pena de privao da liberdade constitui-se numa omisso
do ru perante o Estado (no ir e vir livremente) e, portanto, caracteriza-se como uma prestao de
no-fazer.
Apesar de til, devemos ter cuidado ao usar tal classificao dado a
interdefinibilidade dos modais denticos. O que se configura como um no-fazer ou no-dar (-p)
obrigatrio, pode constituir-se num fazer ou dar (p) proibido (ex: obrigatrio no pisar na grama
proibido pisar na grama). Neste sentido, tal distino deve ser adotada considerando-se sempre a
incidncia do mesmo modal, mas enquanto til, nada impede que seja utilizada.
506
Curso de direito civil, v. 4, p. 95.
456
Outra tradicional classificao a que separa as relaes jurdicas em: (i) principais e
(ii) acessrias. Tal classificao leva em conta o vnculo de coordenao que estabelecido entre
normas jurdicas. A relao jurdica acessria aquela que depende da principal, no sentido de que a
constituio do fato jurdico que a propaga vincula-se a uma prescrio anterior. A multa e os juros
decorrentes do no pagamento da fatura do carto de crdito, por exemplo, constituem-se como
relaes jurdicas acessrias tendo em vista a relao jurdica da fatura, que lhes principal. As
relaes acessrias vinculam-se principal, de modo que, se a principal no devida elas tambm no
o so
507
.
Da mesma forma conhecida, a classificao que distingue as relaes jurdicas em:
(i) materiais e (ii) processuais, tendo como critrio a estrutura e os sujeitos que a integram. As
primeiras so lineares e se estabelecem entre dois sujeitos de direito, j as segundas so angulares e se
instauram entre dois sujeitos de direito e um terceiro que exerce poderes de jurisdio.
No menos clssica a diviso das relaes jurdicas em: (i) sancionadoras e (ii)
no-sancionadoras, devido ao fato de constiturem-se, ou no, numa punio decorrente da ilicitude do
fato jurdico que as propagou. Como exemplo de relao sancionadora, podemos citar as penas de
multas, de restrio de direitos, de liberdade, etc. Tal classificao, no entanto, leva em considerao
fato jurdico tido como causa da relao, mas medida que tenha utilidade explicativa pode
perfeitamente ser utilizada.
Ademais as relaes podem ser separadas de acordo com a materialidade de suas
prescries em tributrias, civis, comerciais, trabalhistas, penais, ambientais, internacionais e tantas
outras quanto forem os recortes metodolgicos da Cincia do Direito sobre o objeto direito positivo.
8. EFICCIA DAS RELAES JURDICAS
Influenciado pela teoria de PONTES DE MIRANDA sobre a irradiao dos efeitos
do fato jurdico
508
, PAULO DE BARROS CARVALHO chegou a trabalhar com a existncia de graus
de eficcia das relaes jurdicas.
507
Fazemos aqui uma ressalva para registrar o uso indevido da terminologia acessria para designar relaes jurdicas
que no guardam vnculo de derivao (coordenao) com outras relaes tidas por principais. o que ocorre com os
deveres instrumentais tributrios, tidos pela legislao e pela doutrina como obrigaes acessrias da obrigao
tributria, considerada como principal. PAULO DE BARROS CARVALHO faz contundente crtica sobre a questo (Curso
de direito tributrio, p. 319)
508
Tratado de direito privado, vol. I e IV.
457
As relaes jurdicas ingressariam no sistema do direito com um mnimo de eficcia,
identificadas quando pudssemos reconhecer a singela previso de direitos subjetivos e deveres a eles
inerentes, ainda na compositura de normas gerais e abstratas. Com a verificao do fato jurdico elas
ganhariam um grau maior de eficcia, passando a ser exigveis. E, alcanariam grau de eficcia
mximo com o inadimplemento quando ento, investidas de executoriedade, podendo ter seu
cumprimento coercitivamente forado mediante atuao estatal
509
.
Haveria assim, trs graus de eficcia das relaes jurdicas: (i) mnimo; (ii) mdio e
(iii) mximo. Elas ingressariam no sistema com um mnimo de eficcia, atingiriam um grau mdio
quando da ocorrncia do fato jurdico e teriam sua eficcia mxima com o processo de execuo. Tal
posicionamento, no entanto, foi superado pelo autor.
Diante de tudo que foi visto at agora, no h com trabalhar, dentro dos conceitos por
ns adotados, com graus de eficcia da relao jurdica. No conseqente de normas gerais e abstratas
ainda no temos um vnculo entre sujeitos imputando direitos e deveres correlatos, apenas critrios que
a identificam. A relao jurdica s se instaura com a aplicao da norma, quando ento, produzido o
enunciado relacional como conseqente de uma norma individual e concreta. A possibilidade
coercitiva das relaes jurdicas faz-se presente nas normas secundrias e so concretizadas mediante a
incidncia destas com a instaurao de outra relao jurdica, de cunho jurisdicional, no qual um dos
plos figura o estado juiz.
Por eficcia entende-se a produo de efeitos de ordem jurdica, ou seja, a
instaurao de direitos subjetivos e deveres correlatos. A prpria relao jurdica se constitui como
efeito do fato jurdico. No instante em que ela produzida, como enunciado-conseqente da norma
individual e concreta (produto do ato de aplicao), instauram-se efeitos na ordem jurdica, ou seja,
nascem os direitos subjetivos e deveres jurdicos correlatos. Antes da sua constituio (no plano das
normas gerais e abstratas), no h um vnculo jurdico estabelecido entre sujeitos de direitos, assim,
no h que se falar em relao jurdica e muito menos num mnimo grau de eficcia desta.
A valorao de graus de eficcia da relao jurdica associa-se idia de fora, como
se, ao longo do processo de positivao do direito, as relaes jurdicas fossem ficando mais fortes, ou
mais jurdicas. O fato que as relaes jurdicas j nascem com fora total, ou melhor, com grau
509
No mbito do direito tributrio teramos a relao jurdica prescrita na regra-matriz de incidncia tributria como de
eficcia mnima, com a verificao do fato jurdico tributrio, tal relao ganharia um grau de eficcia mdia e com a
execuo fiscal forada alcanaria seu grau de eficcia mximo.
458
mximo de eficcia. A partir do momento em que so constitudas, instauram-se direitos subjetivos e
deveres jurdicos correlatos, passveis de serem exigidos coercitivamente, caso no adimplidos.
9. EFEITOS DAS RELAES JURDICAS NO TEMPO
Muito se fala na condio dos efeitos da relao jurdica no tempo serem: (i)
retroativos (ex tunc); ou (ii) no-retroativos (ex nunc), no sentido de valerem da data da sua
constituio para trs e para frente, ou s para frente.
Para entender tais condies dentro da concepo que adotamos, devemos
primeiramente ter em mente que a relao jurdica se estabelece no presente sempre para o futuro. O
efeito do enunciado relacional trazido no conseqente da norma individual e concreta, veiculada pelo
ato de aplicao constitutivo, o que significa dizer que a relao jurdica passa a existir e, portanto, a
produzir efeitos na linha cronolgica do tempo da sua constituio para frente. Como explicar, ento, a
existncia de efeitos retroativos?
O foco do problema centra-se no conceito de retroatividade, ou seja, no que se
entende por efeitos retroativos. No uso comum empregado pela doutrina jurdica, retroativos so
os efeitos que voltam no tempo. Mas, como algo pode voltar no tempo se este s anda para frente no
resgatando os acontecimentos passados? uma impossibilidade cronolgica algo produzir efeitos para
o passado, quando este se encontra concretizado. Como o direito teria este condo?
Quando se diz que os efeitos da relao jurdica so retroativos data do evento, pois
o fato jurdico que lhe deu causa declaratrio deste, no significa que tenham o condo de modificar
o passado, mas sim apenas o presente e o futuro. Os efeitos de uma relao jurdica nada mais so do
que a instaurao de direitos e deveres correlatos, tais direitos e deveres no voltam no tempo, eles
valem de sua constituio para frente. Eventualmente, porm, o direito permite que sejam utilizados
como fundamentao para desconstituio de certas relaes jurdicas institudas no passado, mas que
continuam existentes no presente ou para constituir outras relaes que no foram estabelecidas no
passado, tendo em vista a inexistncia de tais direitos e deveres correlatos. A tal possibilidade atribui-
se o nome de retroatividade.
Um exemplo esclarece melhor o que queremos dizer. Imaginemos uma sentena de
declarao de paternidade transitada em julgado. Primeiro, devemos consignar que, de acordo com a
concepo que adotamos, o termo correto no seria declarao de paternidade, mas constituio de
459
indenizao
desconstituio
da partilha para
incluso do
herdeiro x
paternidade, tendo em vista que a relao jurdica de paternidade s passa a existir a partir da
produo da sentena. Pois bem, tal sentena produz efeitos a partir da data de sua publicao, quando
ento, uma pessoa ser juridicamente constituda pai de outra. O ser pai juridicamente estabelecido
da data da sentena para o futuro. No passado do direito a relao de paternidade nunca existiu e nem
ter mais condies de existir, pois o tempo no volta. No entanto, com fundamento nesta relao
constituda com a sentena, o ento-filho pode requerer juridicamente a nova partilha dos bens do
ento-pai, caso este tenha morrido antes da constituio jurdica da relao de paternidade e dela no
tenha participado. A relao jurdica que institui nova partilha (e que, devido ao clculo de relaes,
desconstitui a anterior) tambm s gera efeitos da sua produo para frente (o ento-filho participa
de uma nova partilha no daquela que j se concretizou). Igualmente com fundamento na relao
jurdica de paternidade constituda pela sentena, a me, em nome do filho, pode requerer
juridicamente, ao ento-pai, o pagamento de uma indenizao (em razo dos alimentos no
prestados, ou seja, de relaes que no foram estabelecidas juridicamente no passado, dado a
inexistncia jurdica da relao de paternidade). A relao jurdica de indenizao tambm s gera
efeitos, na linha cronolgica do tempo, da sua produo para frente. Nota-se que nos dois casos,
somente depois da sentena constitutiva da relao de paternidade que o ento-filho passa a ter
direito sobre a partilha e aos alimentos do ento-pai.
O grfico abaixo elucida o exemplo:
linha do tempo
mundo
jurdico
dever ser
mundo
social
ser
nascimento
de x
(relao de
paternidade
biolgica
entre x e y)
sentena
constitutiva
da relao
jurdica de
paternidade
entre y e x
partilha dos
bens de y
entre os filhos
t e z
Formal de
partilha dos
bens de y aos
filhos t e z
partilha dos
bens de y
entre os filhos
x, t e z
entrega do
dinheiro
objeto da
indenizao
460
Explicando: as linhas pontilhadas de cima (da linha contnua - do tempo)
representam os efeitos relativos aos fatos do exemplo no mundo jurdico (dever ser) e as de baixo
(da linha contnua do tempo) os efeitos relativos aos fatos do exemplo no mundo social (ser),
ambos tendo em vista ao cronolgica do tempo (representada pela linha contnua). A primeira estrela
() representa o fato do nascimento de x e a instaurao da relao (biolgica - social) de paternidade
entre x e y. Tal fato, contudo, por no ser constitudo juridicamente, no produz qualquer efeito para o
mundo jurdico. Expedido juridicamente o formal de partilha em decorrncia da morte de y (fato
jurdico representado no grfico pela primeira bolinha - O), ocorre no mundo social a diviso dos bens
de y entre os seus ento herdeiros t e z (fato social representado pela segunda estrela - ).
Posteriormente constituda a relao jurdica de paternidade entre y e x (fato jurdico representado
pela segunda bolinha - O), quando s a partir de ento, para efeitos jurdicos, x considerado filho de
x. Em decorrncia da relao de paternidade constituda juridicamente instituda uma relao de
indenizao, que se projeta para o campo social onde ocorrer a efetiva entrega do dinheiro a x (fato
representado pela terceira estrela - ). Tambm em decorrncia da constituio jurdica do fato de x
ser filho de y, h a desconstituio do fato jurdico da partilha (representado pela ltima bolinha - O) e
a instauo da relao de partilha com incluso de x, que progetada no campo social gera a diviso dos
bens entre os herdeiros x, t e z. Tal fato, no entanto, no retroage para desconstituir a primeira partilha
desde a poca de sua realizao, ele opera efeitos da sua constituio para frente.
Nota-se que, apesar do direito alcanar os acontecimentos passados por meio da
constituio destes em fatos jurdicos, suas relaes so sempre constitudas no presente para o futuro,
nunca para o passado. Qualquer que seja o efeito, retroativo ou no, ele sempre opera para o futuro.
10. MODIFICAO E EXTINO DAS RELAES JURDICAS
Se partirmos da premissa de que os vnculos jurdicos so estabelecidos com a
produo de um enunciado relacional, posto na posio sinttica de conseqente de normas individuais
e concretas, a extino de qualquer relao jurdica pressupe, incondicionalmente, a produo de uma
nova linguagem competente. Tal afirmao se mostra ainda mais contundente quando temos presente
que a relao jurdica um ente lgico e que o acesso ao mundo das frmulas lgicas s possvel a
partir da linguagem. Neste sentido, os vnculos jurdicos s podem nascer, modificar-se, ou extinguir-
se mediante a produo de novo enunciado.
Na condio de ente lgico, subordinado s categorias da Lgica dos Predicados
Polidicos, qualquer alterao que se pretenda introduzir no mbito das relaes jurdicas exige a
461
prtica de operaes denominadas de clculo de relaes (vistas no item 3 deste captulo), exatamente
porque os laos relacionais no se modificam ou se extinguem sozinhos, pressupe, para tanto, a
produo de outro vnculo.
Quando, por exemplo, o tribunal reforma uma deciso aumentando o valor de uma
indenizao ou reduzindo a quantificao de uma pena, produz nova relao jurdica que, por meio do
clculo de relaes (incluso), modifica a instituda na deciso de primeira instncia. Da mesma forma,
quando o devedor paga o credor, insere no sistema uma nova relao jurdica (de dbito), que por meio
do clculo de relaes (unio absoluta) anula a de crdito.
Como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, tendo-se em conta o esqueleto
formal indicativo dos elementos irredutveis de todo e qualquer vnculo jurdico (apresentado no item 5
deste captulo), a extino de uma relao jurdica d-se em decorrncia do comprometimento de
qualquer um de seus constituintes lgicos, quais sejam: (i) sujeito ativo (Sa); (ii) direito subjetivo ();
(iii) prestao (P); (iv) dever jurdico (); e (v) sujeito passivo (Sp)
510
.
Nenhuma relao jurdica sobrevive excluindo-se um destes elementos. Retira-se,
por exemplo, o credor (Sa) de uma relao de crdito; ou o locador (Sp) de uma relao de locao; ou
a pena (P) de uma relao penal; ou o direito subjetivo indenizao do indenizado () numa relao
de indenizao; ou o dever jurdico de devolver a coisa do fiel depositrio () na relao de depsito;
e todas estas relaes ou se extinguem, ou se transformam em outras relaes jurdicas.
H de se ter em mente, no entanto, que a modificao de um dos elementos de
qualquer relao jurdica s se d com a produo de uma nova linguagem competente, suficiente para
inserir no sistema outra relao jurdica que, vinculada anterior, por meio do clculo lgico de
relaes, tenha o condo de extingui-la ou modific-la.
Para anulao ou alterao de um vnculo jurdico pr-estabelecido preciso a
existncia de uma relao jurdica posterior, de carter especifico, que guarde identidade com a relao
que se pretenda extinguir ou modificar. Sem tal identidade, o clculo de relaes impossvel, pois
no h vnculo lgico entre elas.
510
PAULO DE BARROS CARVALHO aborda precisamente tal questo ao discorrer sobre as causas de extino da
relao jurdica tributria (Curso de direito tributrio, p. e Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 190-
194)
462
Explicamos melhor tal colocao com o exemplo da declarao de
inconstitucionalidade em controle concentrado de uma lei (norma geral e abstrata) que no tem o
condo de, por si s, extinguir as relaes jurdicas constitudas sob seu fundamento. Para isso,
preciso que novas relaes jurdicas sejam constitudas em cada caso concreto.
Digamos, mais especificamente, que uma lei x, que fundamenta a cobrana de
determinado tributo, declarada inconstitucional (em controle direto - concentrado), tal fato, por si s
no tem o condo de extinguir as relaes tributrias constitudas sob seu fundamento. preciso que o
contribuinte, com fundamento na declarao de inconstitucionalidade requeira a anulao do auto de
infrao (que constituiu a relao de crdito) ou a repetio de indbito, caso j haja pago o tributo. E
mais, preciso que uma autoridade competente produza outra relao, que se relacione com a relao
anterior, por meio do clculo de relaes, para extingui-la. Caso o contribuinte no tome tais
providncias a relao de crdito tributrio permanece inabalvel, pois o vnculo jurdico institudo
com a declarao de inconstitucionalidade, no especfico com relao ao vnculo do contribuinte
com o fisco, institudo pela relao de crdito. No h, assim, a identidade necessria para o clculo de
relaes.
A doutrina jurdica costuma separar as causas extintivas das relaes jurdicas em: (i)
causas de fato; e (ii) causas de direito. Decadncia e prescrio, por exemplo, seriam causas de direito,
enquanto a morte do credor e o cumprimento da prestao seriam causas de fato. Dentro da concepo
que adotamos no h critrios para tal classificao. Todas as causas so de direito na medida em
que reguladas por normas jurdicas.
A nosso ver, as relaes jurdicas podem ser extintas por trs motivos: (i) pela
desconstituio do enunciado relacional devido falha na materialidade, o que implica na perda de um
dos seus entes lgicos (sujeitos ativo e passivo, prestao, direito subjetivo e dever jurdico; (ii) por
desconstituio do enunciado relacional devido falha na sua produo (erro na enunciao); ou (iii)
pela desconstituio do fato jurdico que lhe deu causa. Em todos os casos a relao desaparece: no
primeiro, porque o vnculo lgico no sobrevive sem um de seus elementos; no segundo, porque o
enunciado que a materializa no sobrevive sem seu veculo introdutor, ou seja, com a anulao do ato
que o produziu; e no terceiro porque enquanto efeito jurdico imputado ao fato ela no sobrevive
juridicamente com a desconstituio deste fato. Porm, em todos imprescindvel a produo de uma
linguagem competente especfica, o que s reafirma serem todas as causas extintivas de relaes
jurdicas de direito e no de fato.
463
CAPTULO XV
TEORIA DO ORDENAMENTO
SUMRIO: 1. Organizao do direito positivo; 1.1. Estrutura verticalizada
Relaes de subordinao entre normas; 1.2. Relaes de coordenao entre
normas; 1.3. Sistemas jurdicos federal, estaduais e municipais; 1.4. Esttica e
dinmica do ordenamento; 2. Ordenamento e sistema; 2.1. Teorias sobre
ordenamento jurdico; 2.1.1. Ordenamento como texto bruto; 2.1.2.
Ordenamento seqncia de sistemas normativos; 2.2. Axiomas do ordenamento
jurdico.
1. ORGANIZAO DO DIREITO POSITIVO
O direito composto por um nmero finito, mas indeterminado, de normas jurdicas.
No somos capazes de contar quantos enunciados, proposies ou normas existem no sistema, mas
temos a certeza de que todas elas se inter-relacionam.
As normas jurdicas no esto jogadas ao lu, encontram-se dispostas numa estrutura,
mantendo relaes de coordenao (horizontais) e subordinao (verticais) entre si, determinadas por
um unificador comum que atribui caracterstica de sistema ao conjunto.
At aqui preocupamo-nos em analisar as normas jurdicas enquanto unidades
isoladas. Nossos estudos, agora, voltam-se s relaes que se estabelecem entre tais unidades na
conformao de uma estrutura maior: o sistema jurdico.
1.1. Relaes de subordinao entre normas
O sistema do direito positivo tem uma particularidade: os elementos que o compem
(normas jurdicas) encontram-se dispostos numa estrutura hierarquizada, implementada pela
fundamentao ou derivao quanto matria e forma, pois ele prprio disciplina sua criao e
transformao
511
.
511
PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 214.
464
Sistema do
direito positivo
Observando o sistema, nota-se que uma norma jurdica (N1) encontra fundamento
para sua existncia em outra norma jurdica (N2), que por sua vez, encontra fundamento noutra norma
jurdica (N3). E se percorrermos o caminho contrrio, notaremos que a norma N3 deriva da norma N2,
que por sua vez, deriva da norma N1. Assim, tendo-se em conta as relaes de subordinao, observa-
se que: (i) de baixo para cima as normas inferiores fundamentam-se formal e materialmente em
normas superiores; e (ii) de cima para baixo, das regras superiores derivam as inferiores.
Vejamos graficamente:
Todas as normas do sistema convergem para um ponto comum: a Constituio. Ela
o fundamento ltimo de validade de todas as normas e todas dela derivam, de modo que, sua
existncia, como pontua PAULO DE BARROS CARVALHO, imprime carter unitrio ao conjunto e
multiplicidade de normas como entidades da mesma ndole, conferindo-lhe o timbre de
homogeneidade
512
.
Observando o sistema como um grande conjunto de enunciados prescritivos, uns
derivados de outros e todos fundamentados na Constituio, surge a representao piramidal
imaginada na obra de HANS KELSEN, onde as normas de superior hierarquia (que servem de
fundamento para outras normas) encontram-se no topo e, conforme implementado o processo de
derivao, as normas de inferior hierarquia vo se posicionando gradativamente at alcanarem a base
da pirmide, ponto que mais se aproxima das condutas juridicamente reguladas.
Tal proposta aparece ilustrada abaixo:
512
Idem, p. 214.
N1
N2
N3
Derivao
Fundamentao
465
Fundamentao
Derivao
Explicando: A Constituio Federal (CF) posiciona-se no plano superior, acima de
todas as demais normas jurdicas, pois ela o fundamento ltimo de todas as unidades do sistema.
Como a Constituio nica e as normas por ela veiculadas aparecem em pequeno nmero se
comparadas com as demais, ela se posiciona no ponto mais estreito da figura geomtrica
513
. Logo
abaixo, vm as normas que se fundamentam na Constituio (ex: leis, decretos legislativos, medidas
provisrias, etc.) e que, por serem dela derivadas, no tm o condo de modific-la (N2). A posio
que ocupam na representao geomtrica piramidal um pouco mais extensa do que a que se encontra
a Constituio Federal, justamente porque elas existem em maior quantidade. Um pouco mais abaixo
esto as normas produzidas com fundamento nas anteriores (ex: decretos regulamentares, instrues
normativas, portarias, atos administrativos, sentenas, contratos, etc.), que so em maior nmero e, por
isso, ganham o maior espao da pirmide (N3). Estas ltimas, que figuram na base da pirmide, so
geralmente do tipo individuais e concretas e encontram-se na posio mais prxima que a linguagem
jurdica pode alcanar em relao s condutas por elas disciplinadas.
Considerando-se as reparties de poderes, podemos tambm estabelecer a mesma
relao: as normas produzidas pelo Poder Constituinte no pice (ex: poder originrio: Constituio e
poder derivado: Emendas), logo abaixo as emanadas pelo Poder Legislativo (ex: leis, decretos
legislativos, resolues), seguidas por aquelas institudas pelo Executivo (ex: atos administrativos,
portarias, regulamentos), mais abaixo, as proferidas pelo Judicirio e na base, as constitudas pelo
Poder Privado (ex: contratos, atos declaratrios unilaterais de vontade, etc.). O Poder Privado tem sido
513
Acima dela s estaria a norma hipottica fundamental, bem no ltimo ponto do pice da pirmide, atribuindo
fundamentao a todas as normas jurdicas e delimitando o sistema do direito positivo.
CF
N2
N3
Regio das condutas intersubjetivas
466
um pouco esquecido. Muitos autores no o mencionam, porque no se atentam para o fato das normas
produzidas por particulares serem to jurdicas quanto quelas produzidas pelos outros poderes.
TREK MOYSES MOUSSALLEM utiliza-se da teoria dos atos de fala para
explicar as relaes de subordinao do sistema jurdico. Nas palavras do autor: vista pelo espectro
dos atos performativos, a hierarquia do sistema normativo dada pela fora ilocucionria do ato de
fala. Nos prprios atos de fala, cuja fora ilocucionria seja ordenar (como o caso das normas
jurdicas) o nvel hierrquico das ordens requer regras atribuidoras de maior fora ilocucionria para
alguns atos em detrimento de outros
514
.
Tais regras, no entanto, no se baseiam apenas em critrios de fundamentao,
derivao e poder competente. Existem outros dados que informam a organizao vertical do sistema,
atribuindo maior fora ilocucionria para alguns atos de fala em detrimento de outros, como por
exemplo, a autoridade do agente normativo e o processo de sua criao. Assim, para construirmos a
estrutura hierrquica do ordenamento jurdico temos que conjugar harmonicamente todos os critrios
delineados pelas regras que prescrevem como outras regras devem posicionar-se no sistema.
Este trabalho mostra-se de forma mais evidente com a ilustrao de alguns casos. Por
exemplo, um acrdo (deciso proferida pelo tribunal), na escala da fundamentao e derivao tanto a
sentena como o acrdo encontram-se na base da pirmide, no patamar das normas individuais e
concretas produzidas pelo Poder Judicirio, ambos fundamentam-se na lei, mas considerando o grau da
autoridade competente que os proferiu, o acrdo posiciona-se num nvel superior ao da sentena.
Outro caso que podemos citar o da medida provisria, que produzida pelo Poder
Executivo, mas ocupa o patamar hierrquico das normas produzidas pelo Poder Legislativo (lei). Outra
situao, tambm, a das normas produzidas pelo Poder Judicirio, que ocupam um dos patamares
inferiores da figura piramidal (acima apenas das normas produzidas pelo Poder Privado), no entanto,
todas as demais normas do sistema esto submetidas ao seu controle, podendo elas interferirem na
eficcia, inclusive, daquelas produzidas pelo Poder Constituinte derivado. Neste sentido, o construir
uma estrutura hierarquizada para o sistema importa na conformao de vrios critrios.
514
Revogao em matria tributria, p. 159.
467
1.2. Relaes de coordenao entre normas
A existncia de vnculos horizontais no direito determinada pelas relaes de
coordenao entre normas jurdicas, estabelecidas por critrios de ordem semntica e pragmtica, em
razo de uma completar o sentido de outra.
Pensemos na instituio de um tributo, por exemplo, quantas normas jurdicas esto
envolvidas neste processo? Temos regras que dispem sobre a materialidade do tributo, outras sobre o
pagamento, constituio do crdito, forma de cobrana, multa pelo no-pagamento, etc. So vrios os
dispositivos que se relacionam, cada qual completando o outro e todos conjuntamente operando para
disciplinar uma realidade jurdica: a instituio de tributos. No caso do inventrio, que a princpio
configura-se como uma realidade distante da anterior, tambm se verifica a mesma coisa. Para sua
existncia conjugam-se vrias normas, algumas tratam de sua realizao processual, outras da partilha
dos bens, dos direito dos herdeiros, das responsabilidades do inventariante, etc. E, em algum momento,
as duas realidades se cruzam (i.e. no caso do ITCMD imposto de transmisso causa mortis e
doao), mostrando que as normas dos tributos relacionam-se com as do inventrio e que, de um modo
ou de outro, o sistema do direito est todo interligado.
A organizao horizontal do direito rege-se tambm em funo da matria e da
forma, mas no com base em critrios de fundamentao/derivao (subordinao), e sim sob o critrio
da complementao (semntica e pragmtica). Semanticamente as normas se complementam em razo
da matria e pragmaticamente em razo da forma. Por exemplo, a regra que prescreve uma multa para
o no pagamento de tributo tem como complemento material a norma que institui tal tributo, pois a
primeira toma como hiptese o descumprimento da conduta regulada pela segunda e, por isso, com ela
se relaciona horizontalmente. Sob outro aspecto, as normas de execuo fiscal operam como
complemento formal da norma que institui o tributo, pois se prestam implementao do direito
prescrito naquela e, por isso, com ela se relacionam horizontalmente. Assim, sob o critrio da
complementao, tendo-se em conta dados formais ou materiais o intrprete vai estabelecendo
vnculos entre normas jurdicas e tecendo as relaes de coordenao do sistema.
Importante salientar que os vnculos verticais no interferem nas relaes de
coordenao entre normas, de modo que no se faz necessrio normas jurdicas ocuparem a mesma
posio hierrquica para se relacionarem horizontalmente. Os vnculos de coordenao se estabelecem
tanto entre regras que ocupam o mesmo patamar hierrquico, como entre aquelas que se posicionam
em patamares diferentes.
468
Vejamos o exemplo das normas jurdicas penais cujos bens jurdicos tutelados
encontram-se prescritos em regras constitucionais, mais especificamente a regra do homicdio, que
dispe: Se matar algum (desrespeitar o direito vida de outrem prescrito em norma
Constitucional), deve ser a pena de 6 a 20 anos. Ao tipificar a conduta de matar algum, tal norma
mantm relao de coordenao com a regra constitucional que prescreve o direito subjetivo vida,
dado que seu sentido completado por aquela. H, neste caso, relao de coordenao entre uma
norma infra-constitucional e outra constitucional, mas a questo da hierarquia, neste momento, no
relevante, vez que o foco est voltado para a relao horizontal que se estabelece entre elas.
1.3. Sistemas jurdicos federal, estaduais e municipais
Em razo do princpio federativo e da autonomia dos entes polticos Unio, Estados e
Municpios, o sistema jurdico guarda outra peculiaridade quanto a sua estrutura: h uma ordem
Federal, uma ordem Estadual e uma ordem Municipal, todas elas, no entanto, com fundamento na
Constituio da Repblica.
Cada Estado tem sua prpria Constituio que fundamenta todas as demais normas
estaduais e o mesmo se diz dos Municpios, cada um deles tem sua prpria Constituio (denominada
Lei Orgnica Municipal) que fundamenta todas as demais normas municipais. Contudo, todas as
normas estaduais e municipais tm como ltimo fundamento jurdico a Constituio Federal e as
municipais, ainda se encontram subalternadas s Constituies dos Estados.
Apesar, no entanto, de terem a Constituio da Repblica como fundamento ltimo
de juridicidade, as normas estaduais e municipais so autnomas em relao legislao federal (a
menos que esta disponha sobre matria de natureza geral), o que nos permite pensar, num sistema
dentro do outro (Federal, Estadual e Municipal) e todos eles juntos, compondo o sistema do direito
positivo (aquilo que denominamos de ordenamento jurdico).
1.4. Esttica e dinmica do ordenamento
O direito vive em constante movimentao, transformando-se a cada instante. Toda
vez que surge uma nova lei, que um juiz produz uma sentena, que um ato administrativo publicado,
que o Presidente da Repblica emite um decreto, que particulares realizam contratos, o sistema se
renova. Isto ocorre com numa absurda rapidez e com uma amplitude que impossvel de se
acompanhar, basta observarmos quantos enunciados so diariamente veiculados nos Dirios Oficiais
469
dos Municpios, Estados e da Unio, para percebemos o quanto o direito mutvel. A cada minuto,
para no dizermos segundos, temos um novo sistema.
Compreenso dessa ordem autoriza-nos analisar a ordem posta sob dois enfoques: (i)
um esttico e (ii) outro dinmico, que segundo CARNELLUTI, so modos de ser do observador e da
observao da realidade
515
.
Numa anlise esttica congelamos o direito positivo, as relaes entre suas normas
so surpreendidas em determinado instante, sem preocuparmo-nos com a movimentao do sistema. J
na anlise dinmica observamos o sistema em movimento, acompanhando suas transformaes ao
longo de certo intervalo de tempo.
Uma espcie de anlise esttica, por exemplo, aquela que se detm a discutir a
constitucionalidade de determinada lei a ser aplicada a um caso concreto. O intrprete estabelece a
relao de subordinao existente entre a lei e a Constituio e restringe-se a observar se aquela guarda
fundamentao na redao constitucional. J como espcie de anlise dinmica, podemos citar a que se
volta trajetria de uma norma no sistema (ex: quando foi publicada, revogada, se em algum momento
sua eficcia esteve suspensa, etc.). O trabalho do intrprete dirige-se construo das relaes que a
norma mantm e manteve com outras ao longo de sua permanncia no sistema.
Estas perspectivas (esttica e dinmica) servem tambm para o estudo dos elementos
do sistema, as normas jurdicas. Uma anlise esttica volta-se, por exemplo, sua constituio interna
e seus contedos significativos (conforme realizado nos captulos VII, IX e X), j um estudo dinmico
preocupa-se com sua aplicao (conforme realizado nos captulo XI e XII).
A viso esttica do ordenamento permite ao jurista analisar as estruturas do sistema,
j a viso dinmica demonstra que o direito est em constante movimento, expandindo-se, alterando-se
e revisando-se a cada dia. Uma, no entanto, no elimina a outra. Como bem explica TREK MOYSS
MOUSSALLEM, a dicotomia esttica/dinmica normativa no significa que a escolha de uma
implica excluso da outra. O conectivo ou que faz o liame entre os termos esttico e dinmico no
enunciado esttico ou dinmico no excludente, mas includente. Por outras palavras, antes de se
repelirem, as tendncias esttica e dinmica completam-se
516
.
515
Teoria geral do direito, p. 35.
516
Revogao em matria tributria, p. 129.
470
2. ORDENAMENTO E SISTEMA
O termo ordenamento utilizado como substantivo do verbo ordenar, para fazer
referncia ao seu ato ou efeito. O verbo ordenar vem do latim ordino, as, vi,, tum, re que, numa
de suas acepes significa por em ordem, arranjar, organizar, dispor de forma regular ou harmnica
partes de um todo. Assim, o conceito que temos de ordenamento de um conjunto de elementos
organizados harmonicamente.
Relacionada ao direito positivo, a palavra ordenamento reporta-nos idia de ordem,
de um conjunto estruturado de normas jurdicas dispostas segundo um vetor comum, o que, para ns,
equipara-se ao conceito de sistema jurdico. Neste sentido, utilizamos os termos ordenamento e
sistema como sinnimos
517
.
As normas jurdicas, como explica PAULO DE BARROS CARVALHO, formam
um sistema, na medida em que se relacionam de vrias maneiras, segundo um princpio unificador
518
.
Estas relaes se imperam de forma organizada, sob certa ordem e, por isso, o chamamos de
ordenamento.
2.1. Teorias sobre o ordenamento
Ordenamento a ordem posta, o direito positivado, um conjunto de disposies
jurdicas, produzidas por um ato de autoridade, estruturadas por vnculos de subordinao e
coordenao. aquilo que chamamos de sistema jurdico.
Tal afirmao, no entanto, no algo aceito por todas as doutrinas. H autores que,
sob outros referenciais tericos, trabalham com a diferenciao entre ordenamento e sistema.
Vejamos dois desses posicionamentos:
2.1.1. Ordenamento como texto bruto
GREGORIO ROBLES tem um pensamento bastante interessante sobre a questo que
vale a pena ser exposto, pois sua teoria, assim como a nossa, parte de uma anlise comunicacional do
direito.
517
Esta a posio de PAULO DE BARROS CARVALHO, evidenciada na frase: Advirto que emprego, livremente, no
curso desta obra, ordenamento como sinnimo de ordem posta, direito posto e direito positivo (Direito tributrio,
linguagem e mtodo, p. 213).
518
Idem, p. 213.
471
Para o autor o direito positivo, enquanto conjunto de textos prescritivos brutos
(conforme se apresentam materialmente), um ordenamento. O sistema s aparece como resultado da
elaborao doutrinria ou cientfica de tal texto bruto
519
. De acordo com seu entendimento, a tarefa de
interpretar os textos positivados e apresent-los de forma sistematizada compete Cincia do Direito.
O conjunto de enunciados prescritivos, suporte fsico no qual o direito se materializa, no
sistematizado, apresenta-se como um aglomerado de dados normativos, pronto para receber
tratamento, pela Cincia do Direito, que lhe confere forma de sistema.
De acordo com sua concepo, o ordenamento o ponto de partida para se chegar ao
sistema. O direito como sistema est na Cincia Jurdica, enquanto o ordenamento o direito matria,
dado emprico, tomado para se construir hermeneuticamente o sistema. Nas palavras do prprio autor:
o ordenamento um texto desorganizado, bruto, composto por todos os textos tal como saram das
decises dos produtores de normas, postos um depois do outro, sem conexo entre eles. A Cincia do
Direito atribui contedo a estes textos e os organiza de forma harmnica, constituindo assim, o sistema
jurdico.
O ordenamento jurdico, segundo estes referenciais, o conjunto ou a totalidade das
disposies jurdicas, que integram um domnio heterogneo, pois produzidas por pessoas diferentes,
em tempos diversos e por procedimentos distintos. O direito posto, tal qual materializado pelos rgos
competentes, s alcana a forma de sistema com a atividade do jurista que, cuidadosamente, compe
as partes e outorga ao conjunto o sentido de uma unidade organizada. Neste sentido, a noo de
ordenamento jurdico aparece ligada idia de direito posto e a de sistema do direito positivo
Cincia do Direito.
O grfico abaixo nos d uma viso melhor deste posicionamento:
519
Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), vol. 1, p. 111-127.
472
Explicando: Reunindo todos os textos que compem o plano material do direito
positivo, temos o ordenamento jurdico (ex: Constituio Federal, leis, decretos, regulamentos, atos
administrativos, sentenas, contratos, etc.) que s alcanaria a forma de sistema quando interpretado e
estruturado pelo cientista. Tendo em conta a trajetria geradora de sentido dos textos jurdicos
(descrita no captulo sobre interpretao), teramos o ordenamento jurdico no plano S1 e o sistema do
direito no plano S4 (que para o autor seria parte integrante da Cincia do Direito).
Como GREGORIO ROBLES, partimos de uma concepo comunicacional do
direito, mas no temos dificuldades em enxergar o conjunto de enunciados prescritivos (que compem
seu plano de expresso S1) como um sistema. Abstraindo o contedo significativo dos textos
jurdicos (designados pelo autor como brutos) que, segundo sua concepo, seria construo da
Cincia do Direito, somos capazes de identificar uma estrutura que os envolve, o que j suficiente
para atribuirmos ao conjunto caracterstica de sistema.
Neste sentido, vale a pena registrar o ensinamento de PAULO DE BARROS
CARVALHO, de que: qualquer que seja o tecido de linguagem de que tratamos, ele ter
necessariamente, aquele mnimo de racionalidade inerente s entidades lgicas, das quais o ser sistema
uma das formas. Sistema, assim, o discurso da Cincia do Direito, mas sistema tambm o
domnio finito, mas indeterminvel do direito positivo
520
. Seguindo esta linha de pensamento, para
ns, sistema jurdico, tanto o conjunto de enunciados prescritivos que compem o plano material do
direito (S1 da trajetria geradora de sentido), quanto o conjunto de significaes isoladas que
formam seu plano proposicional (S2), quanto o conjunto destas significaes organizadas
520
Direito tributrio linguagem e mtodo, p. 213.
473
deonticamente, que compem o plano das normas jurdicas (S3), quanto o conjunto estruturado por
relaes de coordenao e subordinao dessas normas (S4).
Outra crtica que fazemos a tal posicionamento com relao confuso dos planos
do direito positivo e da Cincia do Direito. Como vimos (no captulo III, quando tratamos da
diferenciao entre as linguagens jurdicas), direito positivo e Cincia do Direito so dois corpos de
linguagem distintos, que no se misturam, o primeiro prescreve, o segundo descreve. Como corpo de
linguagem o direito composto por signos, assim temos seu suporte fsico como aquilo que
GREGORIO ROBLES denomina de textos brutos (ordenamento) e o sentido estruturado atribudo a
tais textos (aquilo que o autor denomina de sistema jurdico) como sua significao. Se os textos
(enunciados) so prescritivos, a significao atribuda a tais enunciados h de ser tambm prescritiva.
No h como dizer que a significao construda em (S4), que se reporta a um suporte fsico composto
de enunciados prescritivos, pertence Cincia do Direito, pois esta descritiva.
Nestes termos, o sistema jurdico no est na Cincia do Direito, dizer o contrrio
retomar uma confuso j superada, misturar duas linguagens que no se misturam.
Para melhor esclarecer tal ponto, retomemos o grfico apresentado no captulo sobre
hermenutica jurdica (VII), quando tratamos da diferenciao entre interpretao autntica e no-
autntica:
474
Explicando: O interprete () l () os textos brutos do direito positivo (conjunto de
enunciados prescritivos o que ROBLES chama de ordenamento) e lhe atribui um sentido. O
sentido atribudo a tal suporte fsico sempre prescritivo. Depois de passar pelo plano das
significaes (S2) e da estruturao de tais significaes na forma HC (S3), em S4, o interprete
estrutura as normas jurdicas construdas em S3 e constitui o sistema jurdico. Este aparece como
significao do direito enquanto suporte fsico (S1). Depois de construda tal significao, o interprete
tem a prerrogativa de enunci-la () de forma descritiva, produzindo, assim, Cincia do Direito ().
Nota-se que, de acordo com nossos referenciais, a idia de sistema jurdico no
est ligada de Cincia do Direito, como pressupe o autor espanhol.
2.1.2. Ordenamento como seqncia de sistemas normativos
Considerando o aspecto dinmico do direito, em que a sucesso de normas jurdicas
no tempo (resultado da produo de novas regras e revogao de outras) acarreta a modificao do
sistema, ALCHOURRN e BULYGIN diferenciam sistema e ordenamento jurdico
521
.
Entendem por sistema do direito positivo o conjunto de normas estaticamente
consideradas e por ordenamento jurdico uma srie temporal de sucessivos sistemas, isto , uma
seqencia de conjuntos de normas jurdicas.
De acordo com este posicionamento, reportando-nos s palavras dos autores, um
sistema dinmico de normas no um conjunto de normas, mas uma seqncia de conjuntos: em cada
momento temporal o conjunto de normas que pertence ao sistema distinto (entendendo por momento
temporal o marco de tempo em que se produz algum ato, que incorpora uma norma ao sistema, ou
elimina uma norma do sistema, ou ambas as coisa de uma vez)
522
. A ordem posta uma s, mas
dentro dela vrios sistemas normativos vo se conformando no curso do tempo, todos interseccionados
por possurem ao menos um elemento comum: as regras constitucionais.
O ordenamento jurdico, nesta linha de raciocnio, composto por uma seqencia
temporal de sistemas, modificados cronologicamente com a introduo e eliminao de suas unidades.
Assim, em cada tempo (t1, t2, t3 ...) temos um sistema diferente (S1, S2, S3...), todos pertencentes a
um nico ordenamento jurdico (Oj). Uma norma jurdica N1, posta no ordenamento como elemento
521
Sobre el concepto de orden jurdico in Anlisis lgico y derecho, p. 393
522
CARLOS ALCHORRN e EUGENIO BULYGIN, Sobre La existencia de las normas jurdicas, p. 62.
475
do conjunto S1 (considerado no tempo t1), ser sempre integrante deste sistema, mas pode no
pertencer aos conjuntos seguintes (S2, S3..., considerados em tempos subseqentes t2, t3...), embora
continue parte integrante do ordenamento jurdico, porque pertencente a um de seus sistemas (S1).
A ilustrao abaixo bem representa tal posicionamento:
Explicando: Imaginemos a linha cronolgica do tempo (representada pela seta). No
tempo t1, temos um sistema jurdico (S1) composto pelas normas N1 e N2. No tempo t2 tal sistema se
modifica com o ingresso da norma N3, passando a ser outro sistema jurdico (S2). E no tempo t3, com
a retirada da norma N3, passa a ser outro sistema (S3). A seqncia destes sistemas constitui um todo
unitrio, pois todos encontram fundamento numa nica Constituio e a este todo atribui-se o nome de
ordenamento jurdico.
Ao explicar tal teoria TREK MOYSES MOUSSALLEM apresenta duas frmulas:
(i) (SDP1 SDP2 SDP3 SDPn) Oj; (ii) (SDP1 Oj); (SDP2 Oj); (SDP3 Oj); (SDPn
Oj), em que cada SDP sucessivo nos tempos t1, t2, t3, tn
523
. Em linguagem no-formalizada temos
que: (i) a unio dos sistemas do direito positivo S1, S2 S3 e Sn equivale ao ordenamento jurdico; e (ii)
cada sistema do direito positivo S1, S2, S3 e Sn est contido no mesmo ordenamento jurdico.
Esta viso permite-nos observar o direito cronologicamente e explicar, por exemplo,
a sistemtica da aplicao de normas j revogadas. Considerando-se os diversos sistemas pertencentes
a um nico ordenamento, a norma jurdica aplicada ao acontecimento x aquela pertencente ao
sistema do tempo da sua ocorrncia, mesmo que no mais integrante dos sistemas subseqentes, pois
quando revogada, a regra deixa de pertencer aos sistemas seguintes (S2, S3....), mas ainda permanece
como regra posta no ordenamento, porque integrante do sistema anterior a sua revogao (S1),
podendo ser aplicada.
523
Revogao em matria tributria, p. 130.
476
Apesar de servir como uma luva para explicar as transformaes do sistema jurdico,
tal concepo apenas um ponto de vista sobre o objeto que enfatiza seu aspecto dinmico. Por isso,
preferimos, ainda, trabalhar com sistema e ordenamento como sinnimos. O sistema do direito
positivo (ou se preferirmos o ordenamento jurdico) composto pelo conjunto estruturado de normas
jurdicas vlidas de um dado pas. E, este conjunto pode ser analisado sob o aspecto esttico e/ou
dinmico.
2.2. Axiomas do ordenamento jurdico
A existncia do ordenamento jurdico pressupe, em primeiro lugar, um conjunto de
normas jurdicas (i.e. postas por um ato de autoridade) e, em segundo, que tal conjunto constitua-se
numa estrutura. Com base nestes pressupostos, falamos em dois axiomas do ordenamento jurdico: (i)
a validade; e (ii) a hierarquia.
Impossvel existir ordenamento jurdico onde no houver normas jurdicas vlidas,
pois estas so seus elementos, logo a validade torna-se um postulado do sistema. Da mesma forma que
a hierarquia. Como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, sem hierarquia no h sistema do
direito, pois ningum poderia apontar o fundamento jurdico das unidades componentes, no se
sabendo qual deve prevalecer
524
. Este pressuposto decorre do fato das normas jurdicas estarem
impregnadas de valores. O valor est presente em toda configurao do direito e uma das suas
caractersticas a tendncia graduao hierrquica. Logo, onde houver um conjunto de normas
jurdicas estas se apresentaro dispostas numa estrutura hierrquica, em que uma regra tem seu
fundamento em outra regra que lhe seja superior.
A hierarquia e a validade, axiomas do sistema jurdico, no entanto, no se confundem
com os critrios utilizados para implement-las. Os critrios podem modificar-se, mas a validade e a
hierarquia tm de existir sempre, de uma forma ou de outra, onde houver direito positivo
525
. Nota-se
que as divergncias doutrinrias e jurisprudenciais repousam sempre sobre os critrios, nunca sobre a
necessidade de validade das normas jurdicas e da hierarquia que se estabelece entre elas. Isto se
justifica porque o ser vlida e o ter fundamento em norma superior so conceitos fundantes do
ordenamento jurdico.
524
Direito tributrio, linguagem e mtodo, p.216.
525
Idem, 216.
477
Analisaremos melhor o conceito de validade e de fundamento de validade no
captulo XVII deste trabalho, por ora fica apenas a ressalva de serem a validade e a hierarquia axiomas
do ordenamento jurdico.
478
CAPTULO XVI
FONTES DO DIREITO
1. Sobre o tema das fontes do direito; 1.1. Fontes do direito na doutrina jurdica;
2. Sobre o conceito de fontes do direito; 3. Enunciao como fonte do direito;
4. Dicotomia das fontes formais e fontes materiais; 5. Lei, costume,
jurisprudncia e doutrina so fontes do direito?; 6. O documento normativo
como ponto de partida para o estudo das fontes; 6.1. Enunciao-enunciada;
6.1.1. Utilidade da enunciao-enunciada; 6.1.2. Enunciao-enunciada fonte
do direito?; 6.1.3. Sobre a exposio de motivos; 7. Enunciao como
acontecimento social e como fato jurdico na enunciao-enunciada; 8. Que
veculo introdutor de normas?; 9. Sntese explicativa; 10. Classificao dos
veculos introdutores; 11. Hierarquia dos veculos introdutores; 11.1. Hierarquia
da Lei Complementar.
1. SOBRE O TEMA DAS FONTES DO DIREITO
Lidar com o tema das fontes do direito no um trabalho to simples, quanto
primeira vista possa parecer. H uma tendncia doutrinria em se considerar como fontes do direito a
lei, o costume, a jurisprudncia e a doutrina. E ns, influenciados por esta verdade consensual,
continuamos repetindo tal tendncia sem ao menos perguntarmo-nos: (i) que fonte do direito e (ii)
que faz a lei, o costume, a jurisprudncia e a doutrina serem fontes do direito? questes elementares
para que possamos compreender a matria.
Antes, no entanto, de encontrarmos respostas para tais perguntas, faremos uma
incurso pela doutrina jurdica, com o intuito de desvendar, sumariamente, como os autores trabalham
o assunto, para que possamos, no decorrer deste captulo, observar as confuses metodolgicas que
cercam o tema das fontes do direito. Mesmo porque, o posicionamento de PAULO DE BARROS
CARVALHO com relao ao tema muito diferente do trabalhado pela doutrina tradicional do direito.
1.1. Fontes do direito na doutrina jurdica
Para HANS KELSEN a fonte do direito o prprio direito, o autor utiliza-se da
expresso para caracterizar o fundamento de validade das normas jurdicas. Segundo sua concepo, o
direito regula sua prpria criao, de modo que todas as normas tm como fundamento jurdico outra
479
norma de dentro do sistema. Neste sentido, a Constituio seria a fonte suprema do direito, pois ela
regula a criao de todas as normas e todas elas dela derivam. Seguindo sua linha de raciocnio, a
legislao (Cdigos, leis, consolidaes) seria fonte da deciso judicial nela baseada, a deciso judicial
seria fonte do dever imposto parte, e assim por diante
526
. Mas, KELSEN tambm chama a ateno
para outro sentido de fontes do direito, empregado para designar os conceitos que influenciam a
criao do direito, como por exemplo, as normas morais, os princpios polticos, a doutrina, etc.
527
Tambm relacionando o estudo das fontes do direito com a questo do fundamento
de validade das normas jurdicas, LUIS RECASENS SICHES entende que todo o direito tem como
nica fonte a vontade do Estado
528
.
Neste mesmo sentido, ANTNIO BENTO BETIOLI sustenta que a fonte do direito
um poder capaz de especificar o contedo do devido e de exigir o seu cumprimento. Em suas
palavras: a gnese de qualquer regra de direito, s ocorre em virtude da interferncia de um poder, o
qual, diante de um complexo de fatos e valores, opta por dada soluo normativa com caractersticas
de objetividade e obrigatoriedade
529
.
J NORBERTO BOBBIO leciona que as fontes do direito so os fatos ou atos
indispensveis, pelo ordenamento jurdico para a produo de normas jurdicas
530
. Neste sentido, a lei
seria a fonte direta e superior do direito. O autor faz uma distino entre ordenamentos simples e
complexos segundo as normas que os compem serem derivadas de uma s fonte, ou de mais de uma
que, no seu entender, seriam fontes indiretas. Assim, classifica as fontes em direta (a lei) e indiretas
(costume, sentena, autonomia privada).
Sob outro enfoque, MARIA HELENA DINIZ divide as fontes do direito em formais
e materiais. De acordo com a autora, as fontes materiais seriam os fatos que do o contedo das
normas jurdicas e as formas, os meios em que as primeiras se apresentam revestidas no reino jurdico.
Segundo sua concepo s as materiais seriam fontes do direito, pois determinam de onde ele provm
(fenmenos sociais e dados extrados da realidade social juridicizados pelo direito). As fontes formais
seriam as formas pelas quais o direito positivo se manifesta na histria, segundo a autora: a lei, o
costume, a jurisprudncia, a doutrina, os tratados internacionais e os princpios. Dentre as fontes
526
Teoria pura do direito, p. 258
527
Teoria geral do direito e do estado, p. 192.
528
Introduccin al estdio del derecho, p. 165
529
Introduo ao estudo do direito, p. 98.
530
Teoria do ordenamento jurdico, p. 44.
480
formais existiriam aquelas constitudas de normas escritas, promulgadas pelo Estado (Constituio, lei,
regulamento, decreto, jurisprudncia), denominadas de fontes estatais e aquelas constitudas de
normas no-escritas, no promulgadas pelo Estado (costumes, doutrina, princpios), denominadas de
fontes no-estatais
531
.
PAULO DOURADO DE GUSMO compartilha do mesmo posicionamento que
MARIA HELENA DINIZ, porm, chama a ateno para a diferena entre as fontes de cognio do
direito e fontes de produo jurdica. Para o autor a expresso fontes de cognio do direito pode ser
entendida em dois sentidos: ou como os meios de conhecimento do direito e, nesta acepo, se
confundiriam com as fontes formais, ou como as vrias matrias das quais o legislador se serve para
formar o contedo jurdico das normas por ele formuladas e, neste sentido, se identificariam com as
fontes materiais. J as fontes de produo jurdica seriam aquelas que constituem normas jurdicas
(Constituio, lei, regulamento, etc.) e poderiam ser divididas em primrias, por estabelecerem a forma
de elaborao das normas jurdicas e secundrias, produzidas com observncia daquela. Segundo o
autor, as fontes de produo seriam fontes formais
532
.
Para MIGUEL REALE por "fonte de direito" designamos os processos ou meios em
virtude dos quais as regras jurdicas se positivam com legtima fora obrigatria, isto , vigncia e
eficcia no contexto de uma estrutura normativa.
533
O autor classifica as fontes em trs espcies: (i)
legal: expresso do poder estatal de legislar (lei); (ii) consuetudinria: resultante do poder social,
moldada pelas formas culturais de uma sociedade (costume); (iii) jurisdicional: procedente do Poder
Judicirio (jurisprudncia); e (iv) negocial: vinculada ao poder dos particulares de pactuar obrigaes
entre si (autonomia privada). E, aponta a impropriedade da expresso fonte material que apontaria
para um estudo sociolgico dos motivos ticos ou fatos que condicionam o aparecimento e
transformaes das regras, situado fora do campo da Cincia do Direito.
Para TRCIO SAMPAIO FERRAZ JNIOR a expresso fontes do direito serve
para apontar os modos de criao das normas jurdicas. Apesar de identificar a lei, o costume, a
jurisprudncia e o negcio jurdico como fontes formais do direito, o autor faz uma critica detectando
que tais termos podem referir-se tanto s regras estruturais (fontes do direito), quanto aos elementos
criados em obedincia a tais regras (normas jurdicas).
531
Compndio de introduo cincia do direito, p. 256.
532
Introduo ao estudo do direito, p. 107.
533
Lies Preliminares de Direito, p. 140.
481
Fazendo esta mesma constatao que RICARDO GUASTINI diferencia o ato
normativo do produto do ato normativo. Segundo o autor, as fontes do direito so atos normativos
capazes de produzir normas jurdicas, isto , todo comportamento que insere normas no sistema
534
.
Conjugando do mesmo raciocnio LOURIVAL VILANOVA denomina de fontes
formais as normas que regulam a produo normativa e de fontes materiais os fatos produtores de
normas jurdicas. De acordo com o posicionamento do autor, o direito positivo no se auto-reproduz,
uma norma no nasce de outra norma. A linguagem do direito se dirige linguagem da realidade social
para torn-la jurdica, por meio de um processo de juridicizao, as fontes formais seriam aquelas
normas que regulam este processo, enquanto as fontes materiais, o fato do processo
535
.
Seguindo esta linha PAULO DE BARROS CARVALHO entende por fontes do
direito os focos ejetores de regras jurdicas, isto , os rgos habilitados pelo sistema para produzirem
normas numa organizao escalonada, bem como, a prpria atividade desenvolvida por essas
entidades, tendo em vista a criao de normas
536
. Segundo o autor, afirmar que a lei fonte do direito
positivo significa dizer que uma norma cria outra norma, o que deixa sem explicao a origem da
primeira norma. A lei, assim como a jurisprudncia, os contratos e os atos administrativos, so
produtos de um processo e este que considerado como fonte do direito.
Como se v, a doutrina sobre o tema das fontes do direito bem diversificada.
Em coerncia com o referencial terico adotado neste trabalho, seguimos a linha de
PAULO DE BARROS CARVALHO, muito bem evidenciada no pormenorizado estudo realizado por
TREK MOYSS MOUSSALEM em sua obra As fontes do direito tributrio. Sua posio ficar
bem consolidada no decorrer deste captulo, mas para isso precisamos esquecer tudo que j estudamos
sobre fontes do direito e comear desde o princpio.
2. SOBRE O CONCEITO DE FONTES DO DIREITO
No h como desenvolver um estudo sobre fontes do direito sem antes definir o
que se entende por fontes e por direito.
534
Das fontes as normas, p. 78
535
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 23-24.
536
Curso de direito tributrio, p. 45.
482
A palavra fonte vem do latim fons-fontis, que significa o lugar de onde se brota, na
superfcie da terra, a gua. As acepes do termo no variam muito neste sentido, remetendo-nos
sempre origem de algo: (i) nascente de gua, olho-d'gua, mina, minadouro; (ii) local de onde vem
ou onde se produz algo; procedncia, origem, provenincia; (iii) aquilo que d origem; matriz,
nascedouro; (iv) pessoa que fornece informaes secretas ou privilegiadas imprensa; (v) aquilo que
causa (algo) em quantidade; (vi) motivo, razo; (vii) elemento que d origem a uma mensagem; ponto
de origem
537
.
O termo fonte, de uso da linguagem comum, empregada pela Dogmtica Jurdica
para designar a origem das normas, isto , de onde provm o direito. Mas, ao agregarmos a palavra
fonte ao termo direito com finalidades cientficas, surge-nos outro problema: o do sentido de
direito.
Como j vimos, (no captulo II deste trabalho sobre o conceito de direito), a
palavra direito possui diversas acepes e, por isso, para entendermos o que se pretende investigar
dentro do tema das fontes do direito faz-se necessrio a indicao do sentido em que o termo
direito utilizado: podemos falar, por exemplo, em fontes da Cincia do Direito e realizar um estudo
sobre a procedncia da doutrina jurdica; podemos referir s fontes do direito subjetivo e indagar de
onde provm o vnculo jurdico que permite algum exigir uma conduta ou algo de outrem; podemos,
tambm, aludir origem daquilo que certo e ingressar no campo especulativo dos valores; ou ento,
fazer referncia s fontes do direito positivo e voltar nossa ateno ao foco criador dos preceitos
jurdicos.
So muitos os enfoques que podem ser dados e, por isso, desde logo se faz necessrio
um corte metodolgico. Neste trabalho nossa preocupao voltar-se- para a origem das regras que
compem o sistema do direito positivo. Sob esta perspectiva, se entendemos o direito como um
conjunto de enunciados jurdico-prescritivos, o estudo das fontes do direito deve voltar-se para a
origem de tais enunciados. H, contudo, dentro deste enfoque, vrias formas de apreenso, o que
requer outros cortes.
Como ressalva TREK MOYSS MOUSSALLEM, o nascedouro do direito altera-
se de acordo com a Cincia que o investiga
538
. Neste sentido, o direito positivo pode ser tomado como
537
Grande dicionrio larousse cultural da lngua portuguesa.
538
Fontes do direito tributrio, p. 118.
483
objeto de estudo de vrias cincias e em cada uma delas o tema das fontes observado sobre aspectos
diferentes, inerentes especificao cientfica.
Como exemplifica o citado autor, o socilogo no enxerga outra origem para o
direito que no o fato social; j para o historiador, o direito fruto de conquistas ao longo do tempo;
para o psiclogo, a mente humana responsvel pela criao do direito; para a cientista poltico, o
direito origina-se de um jogo de poder, para o antroplogo o direito advm da evoluo humana; e
assim por diante, conforme apreendido o objeto pela Cincia, altera-se o foco que d origem ao
direito. Neste sentido, so diferentes as fontes do direito para a Sociologia, a Histria, a Psicologia, a
Cincia Poltica, a Antropologia, etc., modo pelo qual, podemos falar em fontes sociolgicas do
direito, fontes histricas do direito, fontes psicolgicas do direito, fontes polticas do direito e assim
sucessivamente
539
.
Propomo-nos neste trabalho a uma anlise jurdica, de modo que no nos interessa
aquilo que se passa fora do sistema jurdico. Para o estudo das fontes do direito vale tambm esta
assertiva. A pergunta central do tema, ento, deixa de ser: Como nascem os enunciados jurdicos que
compem o direito positivo? e passa a ser: Juridicamente, como estes enunciados passam a existir no
sistema? O juridicamente especifica o ngulo de anlise. No buscamos as origens sociais,
histricas, psicolgicas, polticas, econmicas, ou antropolgicas do direito, mas sim a origem jurdica,
isto , o modo disciplinado pelo prprio sistema para a sua produo. Esta a fonte do direito que
interessa para a Dogmtica Jurdica, as demais so prprias de outras Cincias.
Aquele, por exemplo, que aponta como fonte do direito os fatos sociais que motivam
o legislador a criao de normas jurdicas, no assinala a fonte jurdica do direito, mas sim a fonte
sociolgica. O mesmo acontece com aquele que atribui ser a origem dos enunciados jurdicos os
acontecimentos histricos que os antecederam (ex: o golpe poltico anterior a Constituio), nada mais
faz do que apontar para seu bero histrico.
Dizer, no entanto, que nosso estudo volta-se s fontes jurdicas do direito no
significa que elas pertencem ao direito positivo, mesmo porque a fonte, enquanto origem, sempre o
pressupe. Ao realizarmos um estudo jurdico das fontes do direito, nosso foco de observao volta-se
para aquilo que, por prescrio do prprio sistema, capaz de criar enunciados jurdicos. A fonte
539
Fontes do direito tributrio, p. 116.
484
jurdica dos enunciados jurdicos anterior ao prprio enunciado, mas disciplinado pelo direito como
algo capaz de originar enunciados jurdicos.
3. ENUNCIAO COMO FONTE DO DIREITO
Partindo da premissa de que o direito positivo um corpo de linguagem que se
materializa na forma de um conjunto de enunciados prescritivos, a resposta da pergunta: de onde
provm o direito?; s pode ser uma: da atividade produtora de enunciados.
A atividade psico-fsica produtora de enunciados, delimitada em condies de espao
e tempo denominada de enunciao
540
. De acordo com MILE BENVENISTE, a enunciao o
processo de funcionamento da lngua por um ato individual de utilizao
541
, ou seja, a atividade
humana de produzir enunciados. Isto refora o afastamento da tese de que as normas incidem por conta
prpria e que o sistema do direito positivo se auto-reproduz. Uma norma jurdica no capaz de, por si
s, criar outros enunciados prescritivos, mas apenas de disciplinar o ato de enunciao que os produz.
Os enunciados, que compem o plano de expresso do direito positivo, suas proposies e as normas
jurdicas com base neles construdas, s existem como tal porque algum os enunciou, isto , proferiu
um ato de enunciao (de criao de enunciados).
Cabe aqui, a lio de TREK MOYSS MOUSSALEM de que toda produo de
um enunciado (seja descritivo, seja prescritivo) subjaz a atividade de enunciao
542
e a
complementao de GABRIEL IVO de que a atividade de enunciao abarca todos os atos que
antecedem ou preparam, a produo dos enunciados prescritivos. A preparao e a produo
constituem a prpria enunciao, de modo que tudo o que acontece antes de o produto surgir
enunciao
543
.
A enunciao, assim, aparece como um acontecimento de ordem social, regulado
juridicamente que se consubstancia na conjuno de trs fatores: (i) um ato de vontade humano; (ii) a
realizao de um procedimento especfico; e (iii) por um agente competente. exatamente esta
atividade que cria as disposies do sistema jurdico. Ela o que chamamos de enunciao, fonte do
direito.
540
JOSE LUIZ FIORIN, As astcias da enunciao, p. 31.
541
Problemas de lingstica geral, passim.
542
Fontes do direito tributrio, p. 78.
543
Norma jurdica: produo e controle, p. 7.
485
Um exemplo esclarece melhor o que estamos dizendo:
Imaginemos que o pas est na eminncia de uma epidemia e, no intuito de proteger a
populao, alguns parlamentares pretendem tornar obrigatrio o uso continuo de mscaras. A
Constituio da Repblica, em seu artigo 5, II prescreve que ningum ser obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa seno em virtude de lei. Diante deste enunciado, o ente interessado em
tornar obrigatrio o uso de mscaras passa, ento, a procurar disposies jurdicas que prescrevam
como deve proceder para criar uma lei. Logo se depara com o art. 61 e seguintes da CF, que dispem
sobre o processo legislativo e, em observncia a tais dispositivos instaurado um procedimento para a
produo dos enunciados jurdicos que tornaro obrigatrio o uso de mscara por toda a populao.
Um projeto de lei apresentado Cmara dos Deputados para votao. Aprovado pela maioria simples
dos deputados, o projeto encaminhado para reviso do Senado. Se l tambm aprovado, o projeto
passa para a sano ou promulgao do Presidente da Repblica e depois para a publicao. Com a
publicao, os enunciados produzidos no processo legislativo ingressam no sistema e passam a ter
fora coercitiva, est criada, portanto, a norma jurdica que obriga o uso da mscara por toda
populao.
Diante deste exemplo, pergunta-se: Qual a fonte do direito? A epidemia o motivo
da lei, aquilo que determina o ato de vontade do legislador, mas no ela que produz o direito/dever
de usar a mscara. Os artigos da Constituio Federal (5, II e 64 ss.) so a fundamentao jurdica,
tanto da lei, quanto do procedimento que a criou, mas eles, por si s, no produzem o direito/dever de
usar mscara. Sem o ato de vontade e a realizao do procedimento prprio por autoridade
competente, tal norma nunca existiria no mundo jurdico. por isso que tomamos a enunciao como
fonte do direito.
A norma jurdica posta teve origem no processo legislativo, isto , adveio de uma
atividade exercida por rgos habilitados pelo sistema, credenciada para produo de enunciados
prescritivos, instaurada por um ato de vontade, qual denominamos de enunciao. E, os enunciados
produzidos so do tipo de lei, justamente pela especificidade desta atividade que os produziu.
Como j vimos (quando tratamos da aplicao do direito), uma linguagem jurdica
produzida mediante uma srie de atos pr-estabelecidos e realizados pelo homem com base em outra
linguagem jurdica que, por sua vez, tambm foi produzida da mesma forma. Assim, entre uma
linguagem e outra h sempre um intervalo, que se consubstancia num ato de vontade humano, voltado
486
Procedimento prprio
Autoridade competente
Ato de vontade
(Enunciao)
Procedimento prprio
Autoridade competente
Ato de vontade
(Enunciao)
Procedimento prprio
Autoridade competente
Ato de vontade
(Enunciao)
realizao de um procedimento prprio, por uma autoridade competente, o qual denominamos de
enunciao.
Nosso corte metodolgico isola o direito enquanto produto (linguagem), como o
conjunto de normas jurdicas de um dado pas, mas este conjunto de normas existe no por derivao
de outras normas e sim porque foi produzido pelo homem mediante um ato de vontade enunciativo.
Ns, dogmticos do direito, que o desconsideramos, para fins de anlise, voltando nossa ateno
apenas linguagem jurdica, enquanto produto deste ato.
Reportando-nos ao grfico apresentado naquela ocasio, conseguimos visualizar a
enunciao como fonte das normas jurdicas e diferenci-la das regras que prescrevem sua realizao
(de estrutura).
Explicando: A Constituio Federal (_ __ _) disciplina (materialmente quanto ao
contedo; formalmente quanto ao procedimento) a enunciao da lei e sua realizao fctica cria a
lei . O mesmo se repete na produo do ato administrativo ( ) e no ato do particular ( ). A linha
pontilhada representa nosso corte metodolgico: o jurdico, formado pelo conjunto de enunciados
prescritivos e o no jurdico, composto pelas enunciaes que os criam.
Jurdico
No jurdico
Lei
Ato particular
Ato administrativo
Constituio
Federal
487
O sistema dinmico, est em constante movimento, a todo instante vrias normas
jurdicas so nele inseridas e todas elas por meio de um ato de enunciao. Assim, so produzidas leis
ordinrias, complementares, emendas constituio, decretos-legislativos, resolues do Senado, leis
delegadas, medidas provisrias, instrues ministeriais, portarias, circulares, decises interlocutrias,
atos administrativos, sentenas, acrdos, contratos, etc. Qualquer enunciado jurdico que se pretenda
produzir fruto, indubitavelmente, de uma atividade enunciativa.
Pensemos na origem de qualquer norma jurdica e sempre depararemo-nos com uma
atividade de enunciao. Vejamos nossa Constituio, por exemplo, de onde ela provm? Qual sua
fonte jurdica? Se retrocedermos ao tempo, precisamente ao ano de 1988, veremos que o que deu
origem ao texto constitucional foi a realizao de uma assemblia constituinte, regulamentada por
normas jurdicas vigentes quela poca. E os enunciados constantes da Emenda Constitucional x, de
onde provm? Da realizao de uma srie de atos enunciativos prescritos no artigo 60 da Constituio
Federal. E a Lei Complementar y? De um processo de enunciao disciplinado pelos artigos 61 e
seguintes da Constituio Federal, com aprovao por maioria absoluta dos membros integrantes das
Casas do Congresso Nacional. E os enunciados do ato administrativo z? De uma atividade
enunciativa do Executivo prescrita juridicamente. E a sentena k como foi criada? Por um ato de
enunciao do juiz dentro de um processo judicial. E o contrato l como foi produzido? Da
enunciao das partes. A existncia de todo enunciado jurdico pressupe um ato de vontade e a
realizao de certos procedimentos por parte de uma pessoa competente, ambos determinados pelo
sistema.
Em sntese, o que queremos dizer que a fonte do direito positivo, que interessa para
a Dogmtica do Direito, a atividade de enunciao, enquanto acontecimento social, credenciado
juridicamente, como apto para criao de normas jurdicas. Esta concepo est diretamente ligada ao
fato de encarar o direito como um corpo de linguagem.
Para reforar nosso posicionamento, cabe aqui repetir a lio de PAULO DE
BARROS CARVALHO: o estudo das fontes do direito est voltado primordialmente para o exame
dos fatos enquanto enunciao, que fazem nascer regras jurdicas introdutoras, advertindo que tais
eventos s assumem esta condio por estarem previstos em outras normas jurdicas.
544
544
Curso de direito tributrio, p. 48.
488
Considerando a fonte do direito como a atividade de enunciao, fica fcil de
entendermos a importncia de seu estudo. O ordenamento jurdico contm certas regras que
determinam a autoridade competente e prescrevem como ela deve proceder para produzir enunciados
jurdicos. A enunciao, enquanto acontecimento social produtor de normas jurdicas, deve ocorrer nos
moldes prescritos por estas regras. Uma anlise da fonte permite-nos verificar se os enunciados
pertencentes ao direito positivo foram produzidos de acordo com as normas que fundamentam
juridicamente sua criao e identificar os vcios da atividade produtora que, se existentes, pem em
risco a aplicao e a permanncia no sistema dos enunciados por ela produzidos.
4. DICOTOMIA DAS FONTES FORMAIS E FONTES MATERIAIS
H uma tradio doutrinria de classificar as fontes do direito em: (i) formais; e (ii)
materiais. Segundo tal tradio, as primeiras (fontes formais) encontram-se no plano do dever ser
(jurdico) e so tomadas como modelos estipulados pela ordem jurdica para introduzir normas no
sistema; as segundas (fontes materiais) encontram-se no plano do ser (acontecimentos sociais) e so
estudadas como fatos da realidade social que influem na produo de novas proposies prescritivas.
De acordo com o posicionamento firmado neste trabalho, o fato da realidade social
apto a criar normas jurdicas a enunciao. Ela a fonte material do direito na medida em que produz
novos enunciados prescritivos e enriquece o sistema modificando-o de alguma maneira.
A concepo tradicional, porm, leva-nos a considerar o fato social juridicizado ou
regulado com a produo de novos enunciados jurdicos como fonte do direito. Se pararmos para
pensar, os fatores sociais que determinam o contedo das normas e nelas se espelham apenas motivam
a vontade do legislador, mas em si, no criam direito. preciso um ato de enunciao, este sim,
motivado por fatores sociais, para criar normas jurdicas. Voltemo-nos ao exemplo da epidemia (dado
no item anterior): o motivo da produo normativa a eminncia epidmica, mas o que cria a regra
instituindo o dever de todos usarem mscaras a realizao de um processo legislativo.
Neste sentido, no consideramos o fator social que se projeta no contedo da norma
jurdica, por ter motivado sua produo, como fonte do direito, pois sem um ato de vontade humano, a
realizao de um procedimento prprio, por um agente competente (enunciao), tais fatores nada
inovam o ordenamento jurdico. Assim, enquanto fato social, s aceitamos a enunciao como fonte do
direito.
489
Os fatos sociais motivadores da produo de normas jurdicas, que informam seu
contedo, so tomados como fonte do direito para a Sociologia Jurdica, afinal, esta a cincia que
tem como objeto o fato social. Nestes termos, aquilo que a doutrina jurdica tradicional entende ser a
fonte material do direito , na verdade, uma das fontes sociais do direito, objeto de anlise das Cincias
Sociolgicas e no da Dogmtica Jurdica.
Quanto s fontes formais a confuso ainda maior. O fato de a doutrina tradicional
conceitu-las como sendo as frmulas que a ordem jurdica estipula para introduzir regras no
ordenamento, leva-nos a dois pontos de vista: (i) considerar como fonte formal do direito as regras de
produo, isto as normas que fundamentam juridicamente a existncia de outras normas; (ii)
considerar como fonte do direito, a forma como as normas so inseridas e se apresentam no
ordenamento (ex: lei, ato administrativo, sentena, contrato, decerto, etc.).
Nos termos da primeira concepo, a fonte formal a norma de superior hierarquia
que fundamenta a de inferior hierarquia num ciclo ininterrupto, onde normas criam normas
545
. Por
exemplo, a fonte formal da norma N3 norma N2 e a da norma N2 a norma N1, que a antecede
hierarquicamente. A norma produzida tem como fonte a norma que fundamentou sua produo.
Pela linha de entendimento que traamos, no entanto, no podemos aceitar como
fonte do direito algo que direito. Entre uma norma e outra h sempre um ato de vontade e por mais
que existam normas de produo, se no for a atividade humana de enunciao, o direito no se inova.
Devemos ter isso bem separado em nossa mente: uma coisa a fonte do direito
(aquilo que d origem ao conjunto de normas), outra coisa a fundamentao jurdica de uma norma.
As fontes formais (nos termos delimitados pela doutrina tradicional) no so criadoras de normas, isto
porque, como diz LOURIVAL VILANOVA, as normas no so extradas de outras normas por
inferncia-dedutiva.
Nos termos da segunda concepo, a fonte formal a forma como as normas se
materializam no sistema, sob o fundamento de que desta forma que aparece o contedo normativo
(ou seja, que ele construdo pelo intrprete). Nessa linha, so fontes formais do direito a
Constituio, a Emenda, a Lei Complementar, a Lei Ordinria, a Lei Delegada, o Decreto Legislativo,
o regulamento, o ato administrativo, a sentena, o contrato, etc.
545
Esta a linha de raciocnio seguida por HANS KELSEN. O autor trabalha o conceito de fonte para caracterizar o
fundamento jurdico das normas que compem o sistema. (Teoria pura do direito, p. 285.)
490
Devemos atentar, todavia, para a trialidade de acepes que envolvem tais termos
(i.e. Constituio, emendas Constituio, leis, decretos, regulamentos, sentenas, contratos, etc.),
pois no raramente confunde-se: (i) o documento normativo; (ii) as normas por ele veiculadas e (iii) o
instrumento introdutor de tais normas, na mesma denominao. A lei, por exemplo, como documento
normativo, diferente da lei norma jurdica, e da lei, enquanto veculo introdutor.
Documento normativo o texto, suporte fsico, a expresso material das normas
jurdicas. O texto, em si, no fonte do direito e sim o produto da fonte. Tambm no a frmula que
a ordem jurdica estipula para introduzir regras no sistema e sim o meio de expresso de tais regras.
Neste sentido, a lei, enquanto documento normativo no se constitui como fonte formal do direito. O
mesmo pode-se dizer da lei enquanto regra jurdica (tomada na segunda acepo). Quando dissemos
que algum no obedeceu lei, referimo-nos norma jurdica, que tambm no fonte do direito, mas
sim produto que advm da fonte.
Utilizada na terceira acepo, de veculo introdutor, a lei o instrumento normativo
estipulado pelo ordenamento como apto a inserir normas jurdicas no sistema. De acordo com a
segunda concepo de fonte formal sugerida, a lei, enquanto instrumento introdutor pode ser tomada
como fonte formal do direito, pois consubstancia-se na forma (molde) como as normas jurdicas so
inseridas e aparecem no sistema.
Seguindo a linha que adotamos, no entanto, constitui-se uma incoerncia falar em
fonte formal do direito, pois nas duas concepes a fonte formal tomada como o prprio direito
(produto). Se um dos critrios da doutrina tradicional para diferenar fonte formal de fonte
material encontrar-se a primeira no plano do dever ser (direito positivo), conclui-se que ela no
anterior s normas jurdicas e, assim, no podemos dizer que ela se consubstancia na fonte que as
originam.
Neste sentido, vale a pena transcrever a lio de PAULO DE BARROS
CARVALHO: as normas ingressam no ordenamento, por intermdio de instrumentos designados por
aqueles nomes conhecidos (lei, decreto, portaria, ato de lanamento, acrdo, sentena, etc.), que so
de extrema relevncia para alojarmos o preceito nos escales do sistema, mas que tambm so regras
de direito positivo
546
. Se so regras, porque fazem parte do sistema e, portanto, no podem ser
consideradas como fontes.
546
Curso de direito tributrio, p. 49.
491
por isso, que o autor se utiliza da expresso veculos introdutores de normas ou
instrumentos introdutores de normas, em substituio elocuo fontes formais, para designar as
formas que o direito prescreve para inserir normas no sistema.
Tecidas tais consideraes, afastamos a diviso feita pela doutrina tradicional entre
fontes material e formal do direito, para trabalhar apenas com a fonte material (enunciao), que para
ns (dogmticos), constitui-se na nica fonte do direito.
5. A LEI, O COSTUME, A JURISPRUDNCIA E A DOUTRINA SO FONTES DO
DIREITO?
Apesar de toda divergncia que envolve o tema das fontes, a doutrina segue a
tradio de considerar como fontes do direito: (i) a lei; (ii) os costumes, (iii) a doutrina jurdica e (iv) a
jurisprudncia. As duas primeiras de natureza formal (principal e acessria, respectivamente) e as duas
ltimas de natureza material. J afastamos a separao entre fontes formais e materiais, considerando
como fonte do direito nica e exclusivamente a atividade de enunciao. Mas, adotando este
posicionamento, ser que podemos dizer que a lei, os costumes, a doutrina e a jurisprudncia so
fontes do direito?
Vejamos, separadamente, cada uma delas:
Lei: a lei no cria direito, ela o prprio direito. As normas jurdicas no derivam de
outras normas, dependem de um ato de vontade humano para existirem como tal e ingressarem no
sistema jurdico.
Costumes: os costumes tomados como prticas sociais reiteradas de natureza
iminentemente factual, s geram efeitos jurdicos quando integrantes de hipteses normativas
547
.
Nenhuma prtica reiterada de atos torna-se jurdica sem a existncia de uma atividade enunciativa que
a constitua como enunciado prescritivo. Quando isto acontece, o costume deixa de ser uma prtica
social, ou seja, deixa de ser costume e passa a integrar o direito positivo.
Enquanto acontecimento social o costume pode servir de motivao para a criao de
normas, mas no fonte do direito, pois nada modifica juridicamente sem a existncia de uma
enunciao que o constitua como enunciado jurdico. Por exemplo, por mais constante que seja a
547
PAULO DE BARROS CARVALHO, Curso de direito tributrio, p. 49
492
prtica da separao do lixo domstico reciclvel por uma sociedade, juridicamente, a separao do
lixo reciclvel s se tornar obrigatria se, por meio de um processo legislativo prprio, forem
produzidos enunciados jurdicos, atrelando a tal conduta o modal obrigatrio. Neste caso no ser o
costume, a fonte provedora da norma que obriga a separao do lixo reciclvel, mas sim a atividade
enunciativa que a produziu.
O costume, tomado como valor cultural, influencia a interpretao dos enunciados
jurdicos, mas por si s no tem o condo de cri-los ou alter-los e, por isso, no fonte do direito.
TREK MOYSS MOUSSALEM explica, no entanto, que o costume pode ser
considerado como fonte do direito, quando o prprio direito atribui s prticas costumeiras o condo
de inserirem normas jurdicas no sistema. o caso, por exemplo, do art. 100, III, do CTN que
prescreve serem normas complementares, as prticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas. Segundo o autor, o artigo 100, III do CTN funciona como regra estrutural de costume,
que confere s praticas reiteradas da administrao (enunciao), a qualidade de produzirem normas
complementares
548
. Neste sentido, o costume se credencia como fonte do direito.
Doutrina: a doutrina jurdica so os ensinamentos e descries explicativas do direito
positivo, elaboradas pelos juristas. Como j vimos (no captulo III deste trabalho), direito positivo e
Cincia do Direito so dois mundos distintos que no se misturam. A linguagem prescritiva do direito
no se altera pela linguagem descritiva da Cincia, que a toma como objeto. A funo da doutrina
informar sobre o direito e no modific-lo, por isso mesmo que no pode ser tomada como fonte do
direito
549
. A doutrina o descreve, no o cria.
Jurisprudncia: denomina-se jurisprudncia o conjunto de decises judiciais
uniformes, emanadas por um tribunal. A jurisprudncia resultado da atividade jurisdicional, ou seja,
de um processo enunciativo realizado pelo Poder Judicirio. No fonte do direito, ela o direito (i.e.
o direito dos tribunais normas individuais e concretas).
Quando, por exemplo, um advogado cita determinada jurisprudncia em sua petio
inicial ou contestao, o faz para tentar convencer o magistrado. Este, porm, no fica obrigado a
decidir o caso de acordo com o julgado, que somente ser aproveitado para fins de convencimento. Da
548
Fontes do direito tributrio, p. 171.
549
Neste mesmo sentido o posicionamento de MIGUEL REALE: a doutrina, ao contrrio do que sustentam alguns, no
fonte do direito, uma vez que as posies tericas, por maior que seja a fora cultural de seus expositores, no dispem de
per si do poder de obrigar. (Fontes e modelos do direito, p. 11).
493
mesma forma, muitas vezes a fundamentao das decises judiciais trazem transcries
jurisprudenciais o que demonstra que o juiz utilizou-se da jurisprudncia para justificar seu
convencimento sobre o caso. Em ambas as situaes, a jurisprudncia, por si s, no cria direito
algum, apenas influi na deciso do magistrado na produo da norma individual e concreta
(enunciao). Pode ser entendida, assim, como fonte psicolgica do direito, mas no jurdica.
O mesmo pode-se dizer da doutrina, quando citada no corpo de algumas decises ou
utilizadas por advogados em peties com o intuito de direcionar o posicionamento do juiz.
Em suma, de acordo com a posio que assumimos neste trabalho, nem a lei, nem o
costume
550
, nem a doutrina e nem a jurisprudncia so fontes do direito para a dogmtica jurdica.
6. DOCUMENTO NORMATIVO COMO PONTO DE PARTIDA PARA O ESTUDO DAS
FONTES
O procedimento de criao do direito pertence ordem dos acontecimentos sociais e
se perde no tempo e espao de sua realizao. Aos nossos olhos s aparece o produto, enquanto
conjunto de enunciados prescritivos. Mas, diante dele, sabemos da existncia de um processo de
criao, pois no h enunciado sem enunciao. Se o produto existe, porque algo o produziu.
Conforme j exposto, o conjunto de enunciados prescritivos, que compem o corpo
fsico do sistema jurdico, o nico e exclusivo dado do jurista e do aplicador do direito, todas as suas
investigaes partem dele. Com o estudo das fontes no poderia ser diferente, o ponto de partida para a
anlise da atividade produtora de normas jurdicas o documento normativo por ela produzido. O
produto, como registra GABRIEL IVO, alm de veicular os enunciados prescritivos que constituem
seu contedo, registra a forma de sua produo
551
, diz como foi feito, remetendo-nos instncia da
enunciao.
Assim, no corpo fsico do documento normativo diferenciam-se dois tipos de
enunciados: (i) aqueles que remetem atividade de enunciao, informando o processo, a autoridade
competente e as coordenadas de espao e tempo em que se deu a produo do documento normativo,
cujo conjunto denominamos de enunciao-enunciada e (ii) aqueles que nada informam sobre a
550
Exceto nos casos em que tomado juridicamente como enunciao.
551
Norma jurdica, produo e controle, p. 3.
494
atividade de enunciao, apesar de terem sido produzidos por ela, os quais denominamos de
enunciado-enunciado
552
.
Na Constituio Federal, por exemplo, temos o enunciado do prembulo Ns
representantes do povo brasileiro, reunidos em Assemblia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrtico,
destinado a assegurar o exerccio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurana, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justia como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometidas, na ordem interna e internacional, com a soluo pacfica das controvrsias,
promulgamos, sob proteo de Deus, a seguinte CONSTITUIO DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
que se distingue daqueles constantes nos artigos 1, 2, 3 4, 5, 6, ..... (at ltimo artigo do ADCT -
Ato das Disposies Constitucionais Transitrias). Tal enunciado, juntamente com aqueles constantes
aps o ltimo artigo do ato das disposies transitrias Braslia, 5 de outubro de 1988. Ulysses Guimares-
Presidente..... remete-nos instncia da enunciao, informando ter sido uma Assemblia
Constituinte, no dia 5 de outubro de 1988, em Braslia, que criou todos os enunciados contidos naquele
documento normativo (Constituio da Repblica).
A enunciao-enunciada nada mais do que o conjunto destes enunciados, presentes
no documento normativo, que nos remete instncia da enunciao. Os outros enunciados, dos artigos
1, 2, 3, 4, 5, 6..... (at o ltimo do ADCT), prescrevem condutas intersubjetivas que devem ser
observadas por todos, mas nada informam sobre a atividade que os criou, apesar de terem sido
inseridos no sistema pela enunciao, enunciada no prembulo e nos enunciados posteriores ao ltimo
artigo do ADTC. O conjunto destes enunciados constitui aquilo que chamamos de enunciado-
enunciado.
Em todo e qualquer documento normativo vamos encontrar sempre estas duas
linguagens distintas: (i) uma que se refere atividade produtora do documento (enunciao-
enunciada); e (ii) outra que perfaz a prescrio propriamente dita (enunciado-enunciado).
6.1. Enunciao-enunciada
Enunciao-enunciada so os enunciados (i.e. frases, sentenas), presentes no
documento normativo, que informam sobre o processo, o motivo, o local, as datas e os agentes
participantes da atividade enunciativa. So as marcas do processo (enunciao) que ficam no produto.
Assim, por exemplo, a enunciao-enunciada de uma lei composta por: (i) o nome Lei n xxx, que
indica a realizao de determinado procedimento produtor de normas; (ii) as datas da promulgao e
552
JOSE LUIZ FIORIN, As astcias da enunciao, p. 36.
495
da publicao; (iii) a referncia s pessoas que participaram do processo legislativo; (iv) o local onde
foi produzida; e (v) outras eventuais informaes que nos remeta atividade enunciativa.
GABRIEL IVO utiliza-se do termo diticos
553
se para referir a tais marcas. O
autor fala, assim em: (i) diticos de forma e contedo (nome do documento); (ii) diticos de
publicidade; (iii) diticos de espao; (iv) diticos de autoridade; e (v) diticos de tempo; atendo-se
detalhadamente a cada um deles, num elaborado estudo onde demonstra a importncia de tais marcas
para o controle da produo abstrata de enunciados prescritivos
554
.
6.1.1. Utilidade da enunciao-enunciada
A atividade enunciativa um ato singular. Cada documento normativo produzido
por uma enunciao nica, o procedimento previsto pode ser o mesmo, as autoridades competentes
tambm, assim como o local de produo, mas a atividade enunciativa em si, enquanto fato social,
nunca se repete identicamente.
A unicidade da enunciao reflete-se na enunciao-enunciada. Todo texto
produzido tem uma enunciao-enunciada, que lhe prpria e exclusiva. Ela, alm de remeter-nos
instncia da enunciao permitindo o seu controle jurdico, identifica o documento normativo
produzido. Sabemos, por exemplo, que um texto de lei, graas a sua enunciao-enunciada que
identifica o processo que o criou. Sem ela, o que nos resta o enunciado-enunciado, um conjunto de
prescries soltas, que nada dizem sobre a atividade de enunciao.
Neste sentido, a enunciao-enunciada que permite distinguir o texto jurdico do
no-jurdico, quando nos remete instncia da produo normativa. Como o direito positivo prescreve
sua forma de constituio a enunciao-enunciada que diz ser o texto jurdico, ou seja, ela que
informa ter sido ele produzido nos moldes jurdicos.
Ao reconstituir o fato da enunciao em linguagem jurdica, a enunciao-enunciada
juridiciza a fonte de produo do direito, outorgando juridicidade ao documento normativo. Sem ela,
no h lei, decreto, ato administrativo, ou sentena, nem qualquer outro tipo de documento jurdico,
apenas um aglomerado de enunciados sem identificao.
553
diticos, segundo a lingstica, so palavras que se referem ao pessoal, temporal e espacial de uma expresso.
554
Norma jurdica produo e controle.
496
Outra utilidade da enunciao-enunciada o controle jurdico. O direito prescreve
sua enunciao, disciplinando a forma como seus enunciados devem ser produzidos. A atividade
enunciativa aparece na enunciao-enunciada, possibilitando verificar se a enunciao se deu nos
moldes prescritos juridicamente.
A partir da linguagem da enunciao-enunciada, reconstrumos o procedimento
produtor de enunciados (enunciao) e realizamos o confronto entre esta e a linguagem da norma de
estrutura (seu fundamento jurdico), para aferimos se a produo normativa deu-se em conformidade
com o prescrito no ordenamento jurdico
555
e, assim, constatarmos os vcios formais (de produo) dos
enunciados jurdicos.
Estamos to acostumados a manusear os textos que muitas vezes nem percebemos a
importncia da enunciao-enunciada. Um exemplo, entretanto, demonstra seu valor: digamos que os
alunos de uma faculdade cheguem sala de aula e se deparem com o seguinte escrito na lousa: hoje
teremos prova. Diante desta informao surgem as perguntas: quem deixou este recado?; ser que
foi nosso professor (pode ter sido outro); quando ele foi escrito? (pode ter sido escrito no dia
anterior, para outra turma). Sem estas informaes sobre a enunciao, isto sem a enunciao-
enunciada, o recado deixado na lousa perde sua credibilidade e causa mais confuso do que
informao. A situao diferente, no entanto, se no recado constar as marcas da sua produo (ex:
Prof. Aurora da turma TGD1, So Paulo, 09 de julho de 2008).
Agora, imaginemos isso no campo do direito. Lidamos com uma srie de enunciados
prescritivos todos os dias e a todo momento surgem as perguntas: que tipo de enunciados so estes?
Constitucionais, legais, infra-legais?; quando foram inseridos no sistema?; quem os produziu? qual
foi o procedimento utilizado?. Com as respostas a tais perguntas, que encontramos na enunciao-
enunciada, identificamos o tipo dos enunciados observados e estabelecemos critrios para o controle
jurdico dos mesmos. Sem elas, os enunciados ficam jogados, sem identidade e nem ao menos
podemos dizer se so jurdicos, pois no temos acesso atividade que os enunciou.
6.1.2. Enunciao-enunciada fonte do direito?
A enunciao-enunciada no fonte do direito, ela , juntamente com o enunciado-
enunciado, produto da enunciao, esta sim fonte de normas jurdicas. A enunciao-enunciada um
555
TREK MOYSS MOUSSALLEM, Fontes do direito tributrio, p. 152.
497
conjunto de enunciados que faz parte do direito positivo e, se consideramos a fonte algo anterior, no
podemos eleger como fonte algo que j direito.
A atividade criadora de enunciados prescritivos, verdadeira fonte do direito, no est
presente no documento normativo. S temos acesso enunciao pelas suas marcas identificveis no
texto normativo, pois ela, enquanto acontecimento social, esvai-se no espao e no tempo de sua
realizao.
A enunciao-enunciada o nico dado material de que dispe o jurista para
conhecer a produo das normas que estuda e assim, identific-las dentro do sistema jurdico. O
processo produtivo, manifestado no exerccio da competncia legislativa, administrativa, judicial ou
particular, de impossvel reconstituio. S temos acesso as suas marcas, presentes na enunciao-
enunciada e, por meio delas, uma idia de como este complexo evento foi realizado.
6.1.3. Sobre a exposio de motivos
Questo polmica envolve a exposio de motivos. Pode-se dizer que a exposio de
motivos faz parte da lei? ela direito positivo? Integra a enunciao-enunciada?
A exposio de motivos um texto criado no curso de um processo enunciativo
jurdico. , portanto, direito positivo, integra o sistema.
Enquanto documento normativo, encontramos na exposio de motivos os dois tipos
de linguagem destacados linhas acima: (i) a enunciao-enunciada, expresses, oraes que nos
informam sobre sua enunciao, permitindo-nos identificar ser aquele documento a exposio de
motivos da lei x, do decreto legislativo y, da medida provisria z, etc.; e (ii) os enunciados-
enunciados, frases que trazem, efetivamente, as razes da criao da lei x, do decreto legislativo y, da
medida provisria z, etc.
Apesar de aparecer como enunciado-enunciado do documento normativo (exposio
de motivo), a efetiva exposio de motivo (razes da criao da lei enunciado-enunciado)
constitui-se como marcas da enunciao da lei x, do decreto legislativo y, da medida provisria z, etc.,
na medida em que informa sobre a produo (fonte) destes documentos normativos, mais
especificamente sobre as razes que determinam o ato de vontade impulsor da atividade produtora.
498
Nestes termos, pode-se dizer que a exposio de motivos compe a enunciao
enunciada juridicamente daqueles documentos normativos. Uma enunciao-enunciada no
presente no corpo do prprio documento (lei x, decreto legislativo y, medida provisria z, etc.), mas
constante do sistema, a qual a enunciao-enunciada no documento se remete.
Parece meio confuso, mas atravs da anlise da enunciao-enunciada de um
documento normativo (ex: lei x, decreto legislativo y, medida provisria z, etc.) identificamos sua
enunciao e passamos a procurar, no sistema, outras marcas (constantes em outros documentos
normativos) que nos permitam reconstruir cognitivamente a complexidade daquela atividade.
Buscamos informaes sobre o processo (ex: como se deu a votao; se houve ementa, algum veto),
sobre a competncia das pessoas envolvidas, sobre o ato de vontade enunciativo no constantes no
prprio documento, mas determinantes para compreendermos e controlarmos juridicamente sua
enunciao. Neste contexto, podemos diferenar dois tipos de enunciao-enunciada: (i) em sentido
estrito, como marcas da enunciao presente no documento normativo por ela produzido; e (ii) em
sentido amplo, como conjunto de marcas da enunciao presente no sistema jurdico.
Considerando a segunda perspectiva os motivos que justificam a criao de um
documento normativo integram a enunciao-enunciada deste documento, pois eles indicam os fatores
determinantes do ato de vontade da enunciao.
A relevncia de tomar a exposio de motivos como parte integrante da enunciao-
enunciada de um documento normativo que ela vincula a aplicao e controle do enunciado-
enunciado daquele documento. A exposio de motivos relaciona-se com o documento normativo que
motiva, num dialogismo prprio da intertextualidade jurdica, formando um contexto jurdico para
construo (interpretao) das normas veiculadas pelo enunciado-enunciado daquele documento
556
.
6.2. Enunciado-enunciado
O enunciado-enunciado de um documento normativo composto por todos os
demais enunciados que no nos remete instncia da enunciao. So preceitos gerais e abstratos,
individuais ou concretos, dos quais construmos as normas jurdicas que, efetivamente, regulam as
condutas intersubjetivas valoradas pelo legislador.
556
Para reforar nossas afirmaes citamos uma passagem de PAULO DE BARROS CARVALHO: as exposies de
motivos das legislaes no podem ser desprezadas. Na qualidade de marcas deixadas no curso do processo de enunciao,
assumem indiscutvel relevncia, auxiliando e orientando a atividade do intrprete (Direito tributrio, linguagem e
mtodo, p. 393).
499
No exemplo dado acima, do recado deixado na lousa, o enunciado-enunciado a
sentena: hoje teremos prova, que veicula a mensagem motivadora da enunciao, ou seja, aquela
para qual o processo enunciativo foi promovido.
O enunciado-enunciado nada diz sobre as fontes e, por isso, no se configurar como
objeto de um estudo mais aprofundado neste captulo.
7. ENUNCIAO COMO ACONTECIMENTO SOCIAL E COMO FATO JURDICO NA
ENUNCIAO-ENUNCIADA
Como j repetimos em inmeras passagens deste trabalho, separam-se os mundos do
direito e da realidade social pela linguagem jurdica. O fato jurdico resultado da incidncia da
linguagem normativa sobre a linguagem da realidade social, o que, como j vimos, s possvel por
um ato de aplicao do direito, isto , pela construo de uma nova linguagem jurdica. certo que
no h fato jurdico fora do sistema normativo
557
.
Com base nestas premissas, a atividade de enunciao, considerada no tempo e no
espao de sua realizao (processo), um acontecimento de ordem social e ainda no-jurdico. Com o
seu fim, que culmina na publicao dos enunciados produzidos em canal credenciado pelo sistema (i.e.
dirio oficial, edital), surge a linguagem jurdica (produto). No corpo do documento produzido
encontramos a enunciao-enunciada, um conjunto de enunciados que nos remete instncia da
enunciao e que a constituem como o fato jurdico. Apenas quando relatada em linguagem jurdica,
na enunciao-enunciada do produto por ela produzido que a enunciao se constitui como fato
jurdico ejetor de normas no sistema. A enunciao, enquanto atividade considerada no tempo e espao
de sua realizao fato social desprovido de linguagem jurdica. O produto a juridiciza, constituindo-a
como uma enunciao jurdica na enunciao-enunciada.
Neste sentido, no h que se falar na enunciao enquanto fato jurdico produtor de
normas, pois se jurdico faz parte do sistema e no o antecede. Cabe reforamos aqui a lio de
PAULO DE BARROS CARVALHO de que os fatos-fontes so os fatos vistos do ngulo da
enunciao, isto pelo processo, e no do enunciado, pelo produto
558
.
557
LOURIVAL VILANOVA, As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 22.
558
Curso de direito tributrio, p. 49.
500
8. QUE VECULO INTRODUTOR DE NORMAS?
Da leitura das oraes que compem a enunciao-enunciada, passando por um
processo gerador de sentido, construmos uma norma jurdica responsvel pela insero dos
enunciados-enunciados produzidos no sistema do direito positivo, a esta norma atribumos o nome de
veculo introdutor.
Por partimos da premissa de que o direito positivo um conjunto de normas
jurdicas, no podemos aceitar que enunciados ingressem no sistema seno por fora de um efeito
jurdico, que assim se caracteriza por encontrar-se prescrito no conseqente de uma regra. Nestes
termos, nenhuma norma jurdica ingressa no direito positivo sem ser atravs de outra norma jurdica
(veculo introdutor), pois a frmula que o sistema estipula para nele introduzir regras a produo de
uma norma introdutora. neste sentido que PAULO DE BARROS CARVALHO enuncia: as normas
vm sempre aos pares
559
. Nas palavras do autor: regra jurdica alguma ingressa no sistema do direito
positivo sem que seja introduzida por outra norma, que chamamos, aqui avante, de veculo introdutor
de normas. Isso j nos autoriza a falar em normas introduzidas e normas introdutoras, ou em outras
palavras, afirmar que as normas vm sempre aos pares. Uma norma introduz e a outra (ou outras)
(so) introduzida (s).
Vulgarmente identificamos os instrumentos introdutores de normas pelo nome do ato
que os contm (ex. lei, decreto, portaria, ato de lanamento, sentena, etc.), confundindo-os com o
prprio documento normativo, mas, ao interpretarmos a enunciao-enunciada destes documentos
normativos, logo constatamos a existncia de uma norma introdutora, que prescreve o ingresso dos
enunciados produzidos no ordenamento e, juridicamente, os introduz. O antecedente desta norma
juridiciza a enunciao ao denotar o agente competente, espao, tempo e procedimento realizado na
produo do documento normativo; e o conseqente prescreve a obrigao de todos considerarem
como vlidos os enunciados produzidos pela enunciao juridicizada no seu antecedente. Em suma, a
norma introdutora constitui o fato jurdico da enunciao em seu antecedente e prescreve, no seu
conseqente, o ingresso no sistema jurdico dos enunciados por ela criados (ex: antecedente dado o
fato do processo legislativo n x, promulgado pelo Presidente da Repblica y, em Braslia, na data z e
publicado no canal w, na data t; deve ser; conseqente o dever de todos os membros da sociedade
aceitar os enunciados produzidos neste processo, como parte integrante do sistema e o direito subjetivo
dos agentes competentes de que todos os aceitem como jurdicos).
559
Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 393.
501
A norma introdutora da espcie geral e concreta: concreta porque seu antecedente
relata um fato passado, mais precisamente, o exerccio da competncia normativa realizada no plano
dos acontecimentos sociais (enunciao); e geral porque no seu conseqente se estabelece um vnculo
em que um dos plos composto por sujeitos indeterminados (todos os membros da sociedade). Ela
resultado da aplicao das normas de produo jurdica. neste sentido que TCIO LACERDA
GAMA, em indito estudo, indica ser a norma de competncia que determina os pares a serem
estabelecidos entre normas introdutoras e normas introduzidas, ou seja, quais normas devem introduzir
quais normas
560
. As normas de produo jurdica (estrutura) so aquelas que atribuem fundamento
enunciao, disciplinando-a. Elas dispem como deve ser o processo de criao de novos enunciados
jurdicos prescrevendo os agentes competentes, o procedimento e a vinculao de ambos matria.
Para cada matria (enunciado-enunciado) o sistema prescreve um tipo especfico de enunciao,
determinando, assim, a norma introdutora que deve introduzi-la.
O procedimento criador de enunciados prescritivos legitimado pelo fato jurdico da
enunciao, constitudo no antecedente da norma veculo introdutor. No momento de sua constituio,
j no relevante para o direito a real atividade enunciativa, mas sim, aquela constituda como fato
jurdico no antecedente da norma introdutora, pois ela que propaga o efeito, no sistema, da incluso
de todos os enunciados produzidos, independentemente da real enunciao que os criou. O direito, no
entanto, dispe de meios para impugnar o fato jurdico da enunciao, sob a alegao de vcio formal,
o que implica a nulidade do veculo introdutor e, conseqentemente a retirada do documento
normativo do sistema.
Digamos, por exemplo, que o projeto da Lei n. x no recebeu quorum necessrio
para aprovao em uma das casas do Congresso, no entanto, mesmo assim, foi promulgada e
publicada
561
. Ao ser publicada, a norma introdutora juridiciza o processo enunciativo descrito em sua
hiptese e lhe atribui o efeito jurdico de inserir os enunciados por ele veiculados no sistema. Mesmo
que o fato social da enunciao no tenha ocorrido nos moldes da norma de produo, o direito assim
o constitui, pois o que importa juridicamente a linguagem das normas. H, porm, a possibilidade de,
por meio da linguagem das provas, reconstituir o fato da enunciao e verificar a sua
incompatibilidade com a norma de produo (vcio formal). No entanto, para que a Lei n. x seja
retirada do sistema preciso que se construa juridicamente a negativa da enunciao nos moldes da
norma de produo.
560
Competncia tributria, fundamentos para uma teoria da nulidade, passim.
561
TREK MOYSES MOUSSALLEM trabalha com o exemplo da Lei da COFINS, que foi alterada no Senado, porm no
submetida novamente votao da Cmara (Fontes do direito tributrio, captulo 9)
502
9. SNTESE EXPLICATIVA
Em busca do aclaramento do que foi dito at agora elaboramos o esquema abaixo:
Explicando: As normas de produo presentes na CF (representada, na ilustrao,
pela figura _ __ _) regulam a atividade de criao de enunciados jurdicos (no exemplo acima, o
processo legislativo envolto na figura circular), que denominamos de enunciao (fonte do direito
para a dogmtica jurdica). A enunciao produz () um documento normativo (Lei representada no
grfico pela gravura retangular). Neste documento normativo identificamos dois tipos de enunciados:
Interpretao LEI
(produto - documento normativo)
NORMAS DE PRODUO
processo
legislativo
(fato social)
23 de maio 2003
ENUNCIAO
(processo - fonte)
Lei n. x/03
O Presidente da Repblica
fao saber que o Congresso
Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
art.1 .....................
I .............................
1 ........................
2 .........................
art. 2 ......................
art. 3 .....................
Braslia, 23 de maio de 2003
Luiz Incio Lula da Silva
i) enunciao-enunciada
ii) enunciado-enunciado
NORMAS INTRODUZIDAS
(gerais e abstratas)
NORMA INTRODUTORA
(geral e concreta veculo introdutor)
(Dado o fato do Congresso
Nacional ter decretado, o
Presidente da Repblica
promulgado, em Braslia no dia 23
de maio de 2003 e o Dirio Oficial
publicado em 07 de junho de 2003)
(A juricidade dos enunciados
produzidos por este processo)
A
(deve ser)
C
FATO JURDICO
(enunciao)
i)
CONSTITUIO FEDERAL
503
(i) a enunciao-enunciada, composta pelo conjunto de frases que informam sobre a atividade
enunciativa (na representao Lei n x/03; o Presidente da Republica fao saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei; Braslia 23 de maio de 2003; Luiz Incio Lula da Silva); e (ii) o enunciado-enunciado,
que se configura na prescrio propriamente dita, formado pelas frases que nada informam sobre a
atividade de enunciao, apesar de terem sido produzidos por ela (na ilustrao - art.1 ......; I .....; 1 .....; 2
......; art. 2 .......; art. 3 .....). A partir da enunciao-enunciada construmos, por meio de um processo gerador
de sentido, a norma introdutora (veculo introdutor), cuja hiptese constitui a enunciao como fato
jurdico e o conseqente prescreve a juridicidade dos enunciados por ela produzidos (na figura A
Dado o fato do Congresso Nacional ter decretado, o Presidente da Repblica promulgado em Braslia
23 de mais de 2003 e o Dirio Oficial publicado em 07 de junho de 2003; deve ser; C a
juricidade dos enunciados produzidos por este processo). E, a partir do enunciado-enunciado
construmos as normas introduzidas (gerais e abstratas).
10. CLASSIFICAO DOS VECULOS INTRODUTORES
Utilizando-nos do critrio de serem as normas inseridas (enunciados-enunciados) de
carter inaugural ou no, podemos classificar os veculos introdutores em: (i) instrumentos primrios;
e (ii) instrumentos secundrios.
Segundo os ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO, os instrumentos
primrios so veculos credenciados para promoverem o ingresso de regras inaugurais no universo
jurdico e os instrumentos secundrios, ou derivados, so todos os demais veculos que introduzem
normas cuja juridicidade est condicionada s disposies introduzidas por veculos primrios
562
. As
normas introduzidas por veculos secundrios no apresentam fora vinculante capaz de, por si s,
instituir novos direitos e deveres. So hierarquicamente inferiores s normas introduzidas por veculos
primrios, no podendo ultrapassar o que nelas estiver regulado.
Nas palavras do autor: As leis e os estatutos normativos que tm fora de lei so os
nicos veculos credenciados a promover o ingresso de regras inaugurais no universo jurdico
brasileiro, sendo, por isso, designados instrumentos primrios. Todas as demais normas reguladoras
de condutas humanas intersubjetivas, neste pas, tm juridicidade condicionada s disposies legais,
quer emanem de preceitos gerais e abstratos, quer individuais e concretos. Por essa razo, recebem o
nome de instrumentos secundrios. No possuem, por si s, a fora vinculante capaz de alterar as
562
Curso de direito tributrio, p. 55.
504
estruturas do mundo jurdico-positivo. Realizam, simplesmente, os comandos que a lei autoriza e na
precisa dimenso que lhes foi estipulada
563
.
De acordo com esta classificao, so veculos introdutores primrios: (i.a) leis
constitucionais (Constituio Federal e Emenda constituio); (i.b) lei complementar; (i.c) lei
ordinria; (i.d) lei delegada; (i.e) medida provisria; (i.f) decreto legislativo; e (i.g) a resoluo do
senado. Vejamos cada um deles separadamente:
(i.a.1) Lei Constitucional Constituio Federal: o instrumento primrio, criado
por uma Assemblia Constituinte, que se sobrepe a todos os demais veculos introdutores de normas
e, portanto, constitui-se como o instrumento introdutor soberano do direito positivo. Abriga, em grande
parte, normas de produo, que dispem como outras normas devem ser produzidas e inseridas no
sistema.
(i.a.2) Lei Constitucional Emenda Constituio: um instrumento introdutor
criado pelo Poder Constituinte derivado nos termos do art. 60 da Constituio Federal que tem o
condo de inserir normas no patamar constitucional.
(i.b) Lei Complementar: produzida por meio de um processo legislativo de quorum
qualificado, nos termos do art. 69 e seguintes da Constituio Federal e veicula normas sobre matrias
especificamente previstas.
(i.c) Lei Ordinria: produzida por meio de um processo legislativo de quorum
simples, nos termos do art. 69 e seguintes da Constituio Federal. o item mais comum do processo
legislativo para inserir no sistema normas gerais e abstratas.
(i.d) Lei Delegada: uma exceo regra pela qual a atividade de editar leis
pertence, com exclusividade, ao Poder Legislativo. Nos termos do art. 68 da Constituio Federal,
sero elas elaboradas pelo Presidente da Repblica, que dever solicitar a delegao do Congresso
Nacional, que se manifestar mediante resoluo, especificando o contedo e os termos de seu
exerccio.
(i.e) Medida Provisria: o veculo introdutor expedido pelo Presidente da
Repblica, subordinado aos pressupostos de relevncia e urgncia, que tem sua eficcia limitada 60
563
Direito tributrio, linguagem e mtodo, p. 216-217.
505
dias, prorrogveis por mais 60, sob a condio de, aps sua publicao ser submetida apreciao do
Congresso Nacional nos termos do art. 62 da Constituio Federal.
(i.f) Decreto-Legislativo: o veculo expressivo das competncias exclusivas do
Congresso Nacional. Aprovado por maioria simples e promulgado pelo Presidente da Repblica sem
sano, ocupa o mesmo nvel hierrquico da lei ordinria. , por excelncia, o veculo responsvel
pelo ingresso do contedo dos tratados e das convenes internacionais no sistema do direito positivo
brasileiro.
(i.g) Resolues: so de competncia do Congresso Nacional e do Senado,
constituem-se como veculos introdutores aprovados por maioria simples e promulgados pela Mesa do
Senado ou do Congresso, revestindo o status jurdico de lei, ainda que no decorrentes de um processo
legislativo prprio, atuam nos setores que a Constituio lhes demarca.
Em anlise um pouco mais especfica, podemos subdividir a classe dos veculos
primrios, utilizando-nos do critrio da fundamentao jurdica, em: (i.1) de sobreposio; (ii.2) de
subposio. Todos os veculos que elencamos acima inserem disposies inaugurais no sistema
jurdico, mas os dois primeiros, as leis constitucionais (Constituio e Emendas), fundamentam os
demais, de modo que todos eles submetem-se as suas prescries. Podemos dizer, ento, que as leis
constitucionais so veculos introdutores primrios de sobreposio e os demais de subposio.
Como veculos introdutores secundrios, podemos citar: (ii.a) decretos
regulamentares; (ii.b) instrues ministeriais, (ii.c) as circulares; (ii.d) portarias; (ii.e) ordens de
servio; e (ii.f) atos normativos estabelecidos em funo administrativa; (ii.g) atos normativos
estabelecidos em funo jurisdicional; (ii.h) atos normativos produzidos por particulares. Vejamos
cada um deles separadamente:
(ii.a) Decretos Regulamentares: so atos da competncia privativa dos chefes dos
poderes executivo da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios editados para
possibilitar a fiel execuo das leis. Os decretos regulamentares esto adstritos ao mbito da lei, no
podendo ampli-la ou reduzi-la. O chefe do Poder Executivo somente est autorizado a produzi-los
quando a lei no for auto-executvel.
506
(ii.b) Instrues Ministeriais: so atos de competncia dos Ministros de Estados, nos
termos do art. 85, II, da Constituio Federal, que introduzem normas com a finalidade de promover a
execuo das leis, decretos e regulamentos que digam respeito s atividades de sua pasta.
(ii.c) Circulares: so veculos introdutores de normas infra-legais que visam a
ordenao dos servios administrativos. Seu campo de validade restrito a setores especficos.
(ii.d) Portarias : so instrumentos introdutores de normas que os servidores de
superior hierarquia editam para serem observadas por seus subalternos.
(ii.e) Ordens de Servio: so autorizaes ou estipulaes, para um determinado tipo
de servio a ser desempenhado por um ou mais agentes.
(ii.f) Atos normativos estabelecidos pelas autoridades administrativas: so
instrumentos introdutores de normas que veiculam manifestaes dos agentes administrativos
especializados, vinculando a interpretao entre os funcionrios.
(ii.g) Atos normativos estabelecidos pelas autoridades judiciais: so instrumentos
introdutores de normas, produzidos no curso do processo judicial (ex: sentena, acrdos, decises
interlocutrias, liminares, etc.)
(ii.h) Atos normativos produzidos por particulares: so instrumentos introdutores de
normas produzidos por pessoas comuns, por acordo entre partes ou em cumprimento de um dever legal
(ex: contratos, ato de formalizao do crdito tributrio, recibos, etc.)
564
.
Acatando a crtica de TREK MOYSS MOUSSALLEM, e utilizando-nos de outro
critrio, podemos tambm separar os veculos introdutores segundo a autoridade competente que os
criou em: (i) veculo introdutor-legislativo; (ii) veculo introdutor-judicirio; (iii) veculo introdutor-
executivo; (iv) veculo introdutor-particular.
564
A doutrina tradicional no trabalha com os dois ltimos itens (ii.g e ii.h).
564
TREK MOYSS MOUSSALLEM faz,
inclusive, uma critica neste sentido. Segundo suas palavras, em que pese a larga dimenso doutrinria da classificao dos
veculos introdutores em primrios e secundrios, ela parece ser insuficiente para abarcar o amplo aspecto da
fenomenologia das fontes do direito, pois tal vertente restringia-se apenas criao de normas criadas pelos Poderes
Legislativo e Executivo no abrangendo as disposies emanadas pelos Poderes Judicirio e particular. Para ficar completa
a classificao, enquadramos os veculos introdutores de normas produzidos pelo judicirio e pelo particular, na
classificao de instrumentos primrios e secundrios. Pertencem eles classe dos instrumentos secundrios, pois as
sentenas, os acrdos, os atos normativos administrativos exercidos na funo atpica pelo judicirio, os contratos e as
outras formalizaes dos particulares esto todos subordinados lei (em sentido amplo), isto , s disposies jurdicas
veiculadas por instrumentos introdutores primrios (Fontes do direito tributrio, p.188).
507
A separao dos veculos introdutores segundo o poder que os produziu no exclui a
classificao dos mesmos em primrios e secundrios, apenas proporciona-nos outro ngulo de estudo.
Podemos examin-los com nfase na capacidade inovadora das regras por eles veiculadas e depois
observ-los com enfoque na autoridade que os produziu, ou vice-versa. Um estudo no exclui o outro,
ao contrrio, ambos se completam
565
.
Outro critrio de diferenciao que tambm pode ser utilizado no estudo dos veculos
introdutores, recai sobre o ente federativo que os produziu, o que delimita, juridicamente, a ordem
jurdica qual pertencem as normas por ele introduzidas. Assim, temos veculos introdutores: (i) da
Unio; (ii) Federais; (iii) Estaduais ou do Distrito Federal; (iv) Municipais. Esta diferenciao
relevante em razo da autonomia normativa atribuda a cada ente. Graas ao princpio da autonomia
dos entes federativos, no h que se cogitar a supremacia das leis federais em relao s estaduais ou
municipais. Disposies inseridas no sistema por meio de uma lei federal ou estadual, por exemplo,
no podem ser revogadas por normas veiculadas por lei municipal e vice-versa, porque desfrutam do
mesmo status jurdico e s se distinguem pela competncia exercida.
11. A HIERARQUIA DOS VECULOS INTRODUTORES
Como j ressaltamos, o instrumento introdutor de extrema relevncia para
determinarmos a posio das normas jurdicas no sistema. Como enuncia PAULO DE BARROS
CARVALHO, por aceitar que a norma N entrou pela via constitucional, que reivindico sua
supremacia com relao norma N, posta por lei ordinria. por saber que certa norma individual e
concreta veio luz no bojo de um acrdo do Supremo Tribunal Federal, que me atrevo a declarar sua
prevalncia em face de outro acrdo proferido por tribunal de menor hierarquia
566
.
Neste sentido, reportando-nos s lies de TREK MOYSS MOUSSALLEM,
podemos dizer que o o direito estrutura-se em uma hierarquia de veculos introdutores, em virtude da
hierarquia do seu rgo produtor, em cujo cume encontramos a Assemblia Constituinte, na condio
de rgo-fonte superior, descendo verticalmente a pirmide do direito positivo at aos rgos
encarregados de expedir os derradeiros comandos normativos
567
565
O que no se permite, cientificamente, a mistura dos critrios, isto , tentar identificar separadamente os veculos
legislativos, judicirios, executivos e particulares dentro de uma classificao que no leva em conta o poder que os
produziu, mas sim, a capacidade inovadora das normas por ele introduzidas.
566
Curso de direito tributrio, p. 50.
567
Fontes do direito tributrio, p. 154.
508
Para conferir ao direito uma estrutura escalonada, o intrprete confronta a
enunciao-enunciada com as normas de produo que a fundamentam e verifica, tambm na
enunciao-enunciada, o poder do rgo produtor. Assim, vai tecendo as relaes de subordinao
entre normas e determinando os graus de hierarquia das normas introduzidas.
As normas introduzidas ingressam no ordenamento veiculadas ao instrumento que as
introduziu e passam a ocupar a posio hierrquica que este assume no sistema. Isto significa que a
retirada de qualquer uma delas pressupe uma enunciao de igual ou realizada por rgo
hierarquicamente superior. neste sentido, por exemplo, que os enunciados inseridos no sistema pela
Constituio Federal no podem ser revogados por enunciados introduzidos por lei ordinria, mas,
enunciados veiculados por sentena podem ser retirados do ordenamento jurdico por outros
enunciados inseridos por meio de acrdo.
11.1. Hierarquia das Leis Complementares
A Lei Complementar, como vimos linhas acima, um veculo introdutor produzido
por meio de processo legislativo de quorum qualificado, nos termos do art. 69 e seguintes da
Constituio Federal, e que veicula normas sobre matrias especificamente previstas. Temos assim,
para sua identificao, um requisito de ordem formal (i.e. quorum qualificado), vinculado a outro de
ordem material (i.e. matria especfica).
No ordenamento jurdico a lei complementar exerce duas funes distintas, podendo:
(i) servir de fundamento para outros atos normativos (ex: art. 59, pargrafo nico e 146 III da CF); ou
(ii) realizar misses constitucionais prprias, independentemente da edio de outras normas (ex. art.
154, I da CF)
568
.
Tendo em conta estas diferentes funes, em alguns casos a lei complementar
aparece como hierarquicamente superior lei ordinria, quando lhe serve de fundamento jurdico,
noutros casos descabe falar em hierarquia, quando ambas fundamentam-se diretamente no texto
constitucional, ocupando tanto a lei complementar quanto a ordinria mesmo patamar jurdico.
Nota-se aqui, que o critrio hierrquico utilizado o da fundamentao jurdica
(subordinao). Sob este enfoque, no h hierarquia entre leis complementares e ordinrias quando
ambas buscam seu fundamento jurdico diretamente na Constituio Federal. S h que se falar
568
Lei complementar tributria, p. 55.
509
hierarquia, quando a lei complementar disciplina juridicamente a lei ordinria, ou seja, quando esta ao
invs de fundamentar-se diretamente na Constituio Federal o faz na lei complementar. Utilizando-
nos, no entanto, de outro critrio hierrquico (como o da qualificao do processo legislativo, por
exemplo
569
), a concluso pode no ser a mesma.
Havendo hierarquia, ou seja, existindo fundamentao jurdica da lei ordinria na lei
complementar, esta pode ser de dois tipos: (i) material, quando as normas introduzidas no sistema por
lei ordinria fundamentam sua matria (contedo prescritivo) em normas inseridas por complementar
(ex. art. 146 III da CF); ou (ii) formal, quando a forma da lei ordinria fundamenta-se em disposies
veiculadas por lei complementar (art. 59, pargrafo nico da CF).
No caso de ocuparem tanto a lei ordinria quanto a complementar mesmo patamar
hierrquico, isto , quando ambas fundamenta-se diretamente na Constituio Federal, o que h, a
vinculao da forma lei complementar matria, pela norma de produo constitucional. A
Constituio prescreve que as disposies sobre tais e quais matrias devem ser inseridas no sistema
por meio de lei complementar.
O problema surge quando a Constituio no prescreve a forma lei complementar,
mas mesmo assim a matria veiculada no sistema por lei complementar. possvel dizer, neste caso,
que a lei formalmente complementar e materialmente ordinria? Que patamar ocupa no sistema?
E, mais, pode ser ela alterada ou revogada por lei ordinria?
Neste caso, considerando o critrio da fundamentao jurdica, no h hierarquia
entre os veculos. A lei complementar ocupa o mesmo patamar hierrquico da lei ordinria. No h, no
entanto, a nosso ver, que se falar em lei formalmente complementar e materialmente ordinria. A
lei, enquanto veculo introdutor (norma geral e concreta) complementar. Sua enunciao-enunciada
remete-nos a um procedimento de quorum qualificado. Embora a Constituio prescreva ser a matria
por ela veiculada prpria de lei ordinria, ela naquele documento, prpria de lei complementar, no
podendo, nestes termos, ser revogada ou alterada por lei ordinria. Para tanto preciso a produo de
idntico veculo (lei complementar)
570
.
569
Utilizando a qualificao do processo legislativo como critrio hierrquico, a lei complementar sempre se apresentar
como hierarquicamente superior em relao lei ordinria, pois ela exige quorum qualificado.
570
O tema polmico e a doutrina divergente. TREK MOYSS MOUSSALEM, por exemplo, entende que a lei
complementar, neste caso, pode ser alterada ou revogada por lei complementar, porque alm dos enunciados-enunciados
inseridos pela lei complementar serem afetos lei ordinria, inexiste na situao em considerao hierarquia entre ambas
(Revogao em matria tributria, p. 275).
510
CAPTULO XVII
VALIDADE E FUNDAMENTO DE VALIDADE DAS NORMAS JURDICAS
SUMRIO: 1. A validade e o direito; 2. Que validade?; 3. Teorias sobre a
validade; 3.1. Atos inexistentes, nulos e anulveis; 3.2. Validade como relao
de pertencialidade da norma jurdica ao sistema do direito positivo; 3.3. Validade
do ponto de vista do observador e do ponto de vista do participante; 3.4.
Validade como sinnimo de eficcia social ou justia; 4. Validade e a expresso
norma jurdica; 5. Critrios de validade; 6. Presuno de validade; 7. Marco
temporal da validade jurdica; 8. Validade e fundamento de validade; 9. A
questo do fundamento jurdico do texto originrio de uma ordem; 9.1.
Fundamento jurdico ltimo na ordem anterior ou no prprio texto originrio;
9.2. A norma hipottica fundamental de Kelsen, 10. Adequao s normas de
produo como critrio de permanncia da norma jurdica no sistema.
1. A VALIDADE E O DIREITO
A validade um conceito fundante, que est na raiz de toda a concepo sobre o
direito. Quando, no segundo captulo deste trabalho, demarcamos o objeto da Dogmtica Jurdica
como sendo o direito positivo e o definimos como o conjunto de todas as normas jurdicas vlidas num
dado pas, utilizamos o termo validade com um propsito definido, de excluir do campo de
apreciao cientfica o direito passado e o futuro, para concentrarmo-nos apenas no direito presente.
Nestes termos, direito posto o atual, composto pelo conjunto de todas as normas jurdicas que valem
hoje. E, delimitar o que validade torna-se indispensvel para se dizer o que direito.
A questo da validade das normas jurdicas, todavia, muito mais complicada do que
parece ser. H vrias formas de encar-la e cada uma delas determina um posicionamento do jurista
perante o direito. SONIA MARIA BROGLIA MENDES refora tal assertiva ao estudar as nuances do
tema nas escolas do jusnaturalismo, positivismo e realismo
571
. Em cada um destes sistemas de
referncia a concepo de direito modifica-se e com ela o conceito de validade, justamente por ser ele
um de seus conceitos fundantes.
571
A validade jurdica pr e ps giro lingstico, 75-151.
511
Para a concepo jusnaturalista (conforme j estudo quando tratamos do conceito de
direito no Captulo II) o direito um conjunto de normas e princpios que no se originam de um ato
de vontade humana, provm de uma instncia superior, natural, divina e expressam a idia de justia.
Neste sistema, a norma vlida a norma justa, moral, isto , aquela que atende as exigncias fixadas na
ordem natural. A norma vlida porque valiosa, porque implementa o valor da lei natural, eterna ao
homem. Transcrevendo os ensinamentos de GREGORIO ROBLES DE MORCHON, uma norma do
direito positivo que entre em grave contradio com o exigido pelo Direito Natural, no ser uma
norma valiosa, seno desvaliosa e, portanto, indigna de ser obedecida
572
. O termo validade, nesta
concepo, empregado como sinnimo de valiosidade.
Para o realismo jurdico, que (como j vimos no Captulo II) trabalha com uma
concepo pragmtica de direito, a validade da norma jurdica est relacionada com sua utilizao.
Norma vlida aquela que aceita pela sociedade, cumprida ou aplicada pelos tribunais. Nesta linha
de raciocnio, a validade tomada como sinnimo de eficcia, de aceitabilidade da norma no plano das
relaes intersubjetivas ou do judicirio.
Para o positivismo jurdico (normativista), a validade tida como um atributo da
norma que, por ser jurdica, est em condies de produzir efeitos. Os critrios de validade metafsico
e social so deixados de lado para adoo de um critrio de validade jurdico: a norma de superior
hierarquia. Uma norma vlida, quando produzida por ato de vontade (manifestao de poder)
disciplinado em outra norma de superior hierarquia e, em conseqncia disso, ela obrigatria. Neste
sentido, a validade tida como sinnimo de existncia e de obrigatoriedade.
De frente a estes trs modelos tericos verificamos trs maneiras de se conceber a
validade das normas jurdicas: (i) norma jurdica vlida a que tem compatibilidade com padres
religiosos e morais; (ii) norma jurdica vlida a aceita socialmente ou aplicada pelos tribunais; (iii)
norma jurdica vlida a que existe sob certo fundamento jurdico
573
.
Dentre estas concepes, trabalhamos com a premissa normativista. E, partindo
dela que compreendemos o conceito de validade. Mas, seguindo, todavia, a linha do constructivismo
572
Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho), vol. 1, p. 283.
573
GREGORIO ROBLES DE MORCHON classifica estas trs maneiras de conceber a validade em: (i) filosfica; (ii)
sociolgica; e (iii) jurdica. (Teoria del derecho fundamentos de teoria comunicacional del derecho, vol. 1, p. 279) e
NORBERTO BOBBIO faz a correspondncia desta classificao s trs funes da filosofia do direito: deontolgica,
fenomenolgica e ontolgica. (Teoria da norma jurdica, p. 52).
512
lgico-semntico sentimos a necessidade de comear, desde o incio, com a delimitao do sentido da
palavra validade que servir de base para o decorrer de toda nossa investigao.
2. QUE VALIDADE?
Preliminar a qualquer estudo sobre a validade das normas jurdicas o conceito de
validade. Em sua acepo de base, aquela encontrada nos dicionrios da lngua portuguesa, o
vocbulo validade aparece como a caracterstica daquilo que vlido e, sendo assim, para a
conhecermos temos que ter em mente o que ser vlido.
Na linguagem de uso comum, ao termo vlido atribudo os seguintes significados:
(i) forte, sadio, robusto, que tem valor de sade; (ii) legal, que est conforme as exigncias da lei; (iii)
eficaz, eficiente, que surte efeito
574
. Mas at que ponto devemos empregar estes significados na
construo de uma linguagem cientfica, ao tratarmos da validade das normas jurdicas? O que ter
sade para uma norma jurdica, ser legal e ser eficaz? Os conceitos cientficos devem ser os mais
precisos possveis, por isso, s vezes, necessrio irmos um pouco mais alm das definies
encontradas nos dicionrios.
Para a filosofia, ser vlido uma assero, ou autorizao, aplicvel apenas a um
universo do discurso limitado e designado
575
. Tomando por base tal definio, o ser valido algo
relativo, que s existe em razo de um sistema (i.e. um universo de discurso limitado e designado).
Parece um conceito difcil de ser compreendido, mas torna-se claro na medida em que analisamos
alguns exemplos.
Quando vamos a uma farmcia deparamo-nos com uma variedade de solues
qumicas e nossa ateno se volta para a data de validade que se encontra nas embalagens. Mas o que
diz a data da validade seno que a soluo vlida ou invlida? A soluo vlida considerada como
medicamento, j a invlida no o . O ser soluo vlida pertencente a um conjunto de solues
com efeitos medicinais, isto , existir enquanto medicamento, e o ser soluo invlida no fazer
parte deste conjunto e, portanto, no existir enquanto soluo medicinal. A data de validade, fixada
pelo laboratrio como presuno do tempo-limite de vida do medicamento, diz que at aquele
momento a soluo existir enquanto medicamento. Com o passar do tempo, seus componentes
qumicos se transformam e ela deixa de ter efeitos medicinais no se subsumindo mais aos critrios
574
SILVA BUENO, Grande dicionrio etimolgico prosdico da lngua portuguesa.
575
ANDR LALANDE, Vocabulrio tcnico e critico da filosofia, p. 1188.
513
fixados por sua frmula. Deixa, portanto, de pertencer ao sistema dos medicamentos. Se, no entanto,
em exame laboratorial, mesmo depois de expirada a data de validade, for constatado que no houve
alterao qumica de seus componentes, a soluo ainda tida como vlida. Da mesma forma, se antes
do prazo de validade, o exame constatar a falta de um dos componentes qumicos de sua frmula, a
soluo tida como invlida.
Nota-se que a validade do remdio no depende do seu efeito, mesmo que uma
pessoa tome o medicamento e no sinta alvio sintomtico, ele continua sendo vlido. Neste sentido, o
ser vlido algo que s tem significado em relao a uma classe. No caso do remdio, a classe a
das solues qumicas medicinais, sua conotao delimitada por uma frmula medicinal e o remdio
s vlido porque pertence a esta classe. Da se empreende que o ser vlido pertencer a um conjunto,
existir enquanto elemento de uma classe, o que importa dizer que o conceito de validade relacional.
Abstrai-se a classe ou o elemento e no podemos falar em validade.
Nestes termos, a validade tomada como um vnculo relacional de pertencialidade
entre um elemento e um sistema; e o vlido como o existente neste sistema. O tempo, ou a data de
validade indica o perodo em que o elemento existe em referncia a dada classe de elementos. O vinho,
por exemplo, tem uma data de validade porque presume-se que expedida tal data ele deixa de existir
como vinho, passando a ser talvez um vinagre e, portanto, no mais pertencente a classe dos vinhos.
Em suma: valer um valor atribudo a algo que pertence, que existe enquanto
elemento de um conjunto e validade a relao de pertencialidade entre o elemento e este conjunto.
Utilizemo-nos da representao grfica abaixo para melhor esclarecer tais conceitos:
Explicando: o elemento K vlido, porque pertence classe P (K P), ou seja,
porque denota sua conotao (representada pela linha pontilhada). J L no vlido, pois no existe
como elemento da classe P (L P), ou seja, porque no denota sua conotao.
K
classe P
L
514
O problema da validade, no entanto, no repousa propriamente no seu conceito, mas
na determinao dos critrios que conotam a classe. O que faz um elemento pertencer a um conjunto e,
portanto, ser vlido, ele subsumir-se aos requisitos eleitos para delimitao deste conjunto. Tais
requisitos, contudo, variam de acordo com os critrios de uso da classe, o que faz da validade algo
relativo.
Os critrios de uso de uma classe formam o significado da palavra com a qual se
nomeia o conjunto. Suponhamos, por exemplo, que na ilustrao acima P fosse a classe dos vinhos,
como critrios de conotao teramos: bebida alcolica proveniente da fermentao do suco de uva.
O elemento K preenche todos os requisitos que conotam a classe dos vinhos e, portanto, existe como
vinho, j L no preenche tais requisitos e, por isso, no considerado vinho. K vlido e L invlido.
Contudo, em se alterando os critrios conotativos da classe pode ser que K seja considerado como
vinho.
Ao tratarmos da validade, atribumos a tais requisitos o nome de critrios de
validade, ou critrios de pertencialidade. Nesta linha de raciocnio, um elemento vlido enquanto
subsumir-se aos critrios de pertencialidade de um sistema.
3. TEORIAS SOBRE A VALIDADE
Dentro da viso normativista existem duas grandes teorias sobre a validade: (i) uma
que a trata como sinnimo de existncia; e (ii) outra que a trata como uma caracterstica da norma
averiguada depois de que esta tomada como existente.
A primeira concepo, que trabalha validade como sinnimo de existncia, foi
pensada por HANS KELSEN. Segundo o autor, validade significa a existncia e a obrigatoriedade de
uma norma no mbito jurdico. Dizer que uma norma vlida importa afirmar que ela existe
juridicamente, em suas palavras: quando se diz: uma norma vale, admite-se essa norma como
existente
576
. Isto significa dizer que ela pertence ao direito positivo e que os homens devem se
conduzir de acordo com o que ela prescreve (obrigatoriedade). Tal posio enquadra-se bem ao
conceito de validade fixado acima.
576
Teoria geral das normas, p. 3.
515
A segunda concepo, que trabalha a validade como qualidade da norma jurdica
577
,
parte do modelo pensado por PONTES DE MIRANDA para diferenciar atos nulos e inexistentes.
Segundo o autor, o universo jurdico formado por trs planos: (i) da existncia; (ii) da validade; e (iii)
da eficcia e a existncia antecede a validade. Em suas palavras para que algo valha preciso que
exista, no tem sentido falar-se de validade ou de invalidade de algo que no existe
578
. Trabalhando
com estes pressupostos, PONTES distingue atos nulos e inexistentes utilizando-se o critrio da
suficincia e deficincia. Os atos inexistentes so aqueles que, por serem insuficientes, no se
subsomem regra e, sendo assim, no so juridicizados por ela. So atos no jurdicos, que se
encontram fora do direito. J os nulos so atos juridicizados, existentes para o mundo jurdico, porm
deficientes. So atos que apresentam algum vcio em relao s regras que regulam sua produo.
Nestes termos, levando-se em conta que todo ato jurdico constitui-se como antecedente de uma norma
jurdica, pode ser que uma norma exista no sistema (porque suficiente perante a regra que lhe
fundamenta), mas no vlida, porque produzida em desacordo com as demais normas que regulam
sua produo, isto , porque apresenta uma deficincia perante as regras que a fundamentam.
Sob este enfoque o conceito de validade est vinculado no existncia da norma no
sistema do direito positivo, mas sua compatibilidade com as demais normas que lhe servem como
fundamento.
Visando entendermos melhor tal posicionamento, faamos um parntese para
explicar mais detalhadamente a teoria dos atos inexistentes, nulos e anulveis.
3.1. Atos inexistentes, nulos e anulveis
A teoria tradicional civil divide os atos jurdicos (atos de vontade que geram efeitos
jurdicos - para ns, constitudos por normas jurdicas) em: (i) atos inexistentes; (ii) atos nulos; (iii)
atos anulveis. Os primeiros (atos inexistentes) so classificados como aqueles que no chegam a ter
existncia jurdica, possuindo apenas uma aparncia de juridicidade. Os segundos (atos nulos) como
aqueles que existem juridicamente, no entanto, carecem de validade e eficcia (no produzem efeito
vlido entre as partes) por apresentarem vcio insanvel que os compromete irremediavelmente, em
decorrncia da violao de exigncias prescritas pelas regras que os fundamentam. E, os terceiros (atos
anulveis) como aqueles que se constituem em desobedincia a certos requisitos no atinentes sua
577
Tambm seguem esta orientao KARL LARENZ in Metodologia da Cincia do Direito, p. 230 e RICARDO
GUASTINI in Il giudice e la legge lezioni de diritto constituzionale, p. 130.
578
Tratado de direito privado, tomo IV, p. 39.
516
substncia, como erro, dolo, coao, simulao e incapacidade relativa do agente e que acarretam uma
ineficcia relativa.
Segundo os pressupostos com os quais trabalhamos, os atos inexistentes esto fora do
direito, no tm relevncia jurdica justamente por no serem constitudos pela linguagem prpria do
sistema (da norma jurdica). Neste sentido, no h que se falar em validade (seja em qualquer de suas
acepes) e produo de efeitos na ordem do direito. A norma inexistente (linguagem que constitui o
ato inexistente) a norma no-jurdica, pode constituir-se como norma religiosa, tica, social, moral,
mas no pertencente ao sistema do direito, o que a torna totalmente irrelevante para a dogmtica
jurdica. Como exemplo de ato inexistente, a doutrina tradicional cita o casamento concludo apenas
perante autoridade religiosa e no devidamente registrado em conformidade com a lei (registro civil).
Dentro da concepo que adotamos, podemos dizer que so todos os acontecimentos que no se
revestem de linguagem jurdica.
Por no se revestirem de linguagem jurdica os atos inexistentes no nos interessam.
O problema reside, ento, em relao aos atos nulos e anulveis. Segundo a doutrina tradicional, so
considerados atos nulos aqueles que, por no terem sido produzidos de acordo com preceitos legais,
possuem vcio insanvel. Os vcios que geram a nulidade so: (a) agente absolutamente incapaz; (b)
objeto ilcito; (c) desrespeito forma prescrita em lei; (d) quando a lei taxativamente o probe. J os
atos anulveis so aqueles praticados: (a) por pessoas relativamente incapazes; ou (b) quando viciados
por erro, dolo, coao, simulao ou fraude
579
. As principais diferenas entre eles se mostram quanto:
(a) aos efeitos; (b) legitimidade; (c) ratificao; (d) prescrio. Os atos nulos no produzem
qualquer efeito porque quando nulo algo, impossvel de se produzir efeitos, ao contrrio do ato
anulvel que produz todos os efeitos at ser anulado. Os atos anulveis s podem ser alegados pelos
interessados, enquanto que a nulidade poder ser argida no s pelo interessado, como tambm pelo
Ministrio Pblico, ou decretada pelo juiz de ofcio. Os atos anulveis so suscetveis de serem
ratificados, os nulos no. Os atos nulos so imprescritveis e os anulveis sujeitos prescrio.
Nesta linha de raciocnio tanto o ato nulo como o anulvel seriam invlidos, porque
produzidos em desconformidade com a lei. Em regra, a invalidade acarretaria a ineficcia, pois seria
contraditrio dizer que algo no produzido de acordo com as regras do sistema gera efeitos dentro
dele. No que se refere ao ato nulo, a teoria tradicional considera-o ineficaz, tem-se que no h qualquer
efeito jurdico desde sua constituio em razo de uma nulidade absoluta. De outro lado,
579
SILVIO RODRIGUES, Direito Civil, parte geral, vol. 1, p. 283-298.
517
diferentemente do ato nulo, tem-se que o ato jurdico anulvel gera, desde logo, toda a eficcia
jurdica, perdurando at que seja desconstitudo por sentena, ou tornando-se definitiva se decorrido o
prazo prescricional sem que a ao de anulao seja proposta, ou por outro meio judicial seja a
anulabilidade argida"
580
, h, assim uma ineficcia relativa
Dentro da concepo que adotamos, no entanto, seria um contra sentido dizer que
atos nulos ou anulveis (constitudos em desacordo com as regras que os fundamentam) no produzem
efeitos na ordem jurdica. Tanto produzem que ensejam relaes jurdicas, atribuindo direitos e
deveres correlatos entre dois ou mais sujeitos. Uma prova disso que a nulidade (absoluta ou relativa)
deve ser argida e constituda. H sempre necessidade de se expedir outra linguagem competente para
que tais direitos e deveres deixem de existir no ordenamento.
O exemplo, trazido no captulo sobre relao jurdica, da desconstituio da partilha
dos bens feita sem incluso do filho cuja paternidade foi juridicamente reconhecida a posteriori, bem
demonstra a contradio destas duas linhas de pensamento (teoria tradicional civil x nossa concepo).
Na linha da teoria tradicional dos atos nulos, anulveis e inexistentes, a partilha um ato nulo desde a
sua constituio, por desrespeito forma prescrita em lei (deixou de incluir um dos herdeiros) e
ineficaz juridicamente. Mas como dizer que ineficaz se, em razo dela, propriedades foram
transferidas e efeitos se operaram no mbito jurdico. S com o reconhecimento da paternidade que
se pode dizer sobre a no incluso do herdeiro, pois at ento outro herdeiro no havia. At ento a
partilha produziu efeitos. O reconhecimento da paternidade funciona como motivo para produo da
linguagem competente que constitui o vcio da partilha anterior e enseja, no ordenamento jurdico,
novos efeitos (ex: pagamento de indenizao, diviso do patrimnio ainda existente, etc.).
Partindo desta premissa, se h produo de efeitos tanto no ato nulo (nulidade
absoluta) como no ato anulvel (nulidade relativa), temos de admitir que mesmo os atos no
constitudos nos termos da lei que os fundamentam possuem eficcia at que sejam desconstitudos
por uma linguagem competente. Neste sentido, considerar que a validade de uma norma est
relacionada adequao material ou formal importa afirmar que uma regra pode ser invlida e ao
mesmo tempo, produzir efeitos no sistema enquanto no desconstituda juridicamente.
por esse motivo que no trabalhamos com a tese da validade como um atributo da
norma que se encontra de acordo com o sistema, isto , com outras normas que lhe so
580
PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, tomo IV, p. 186.
518
hierarquicamente superiores e lhe do fundamento jurdico. Preferimos adotar outra concepo: de
validade como sinnimo de pertencialidade da norma ao direito positivo.
3.2. Validade como relao de pertencialidade da norma jurdica ao sistema do direito positivo
Partindo dos ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO e da delimitao
do conceito de validade fixada no item anterior, consideramos a validade normativa como a relao de
pertencialidade das normas para com o sistema do direito positivo. O que importa dizer que adotamos
o conceito de validade como sinnimo de existncia da norma no ordenamento jurdico.
Toda norma jurdica assim o porque existe como elemento de um sistema jurdico,
caso contrrio ela seria uma norma moral, religiosa, tica, moral ou de convivncia social, mas no
jurdica. Nestes termos, uma norma jurdica vlida porque existe como elemento do direito positivo e
invlida quando no pertencente o mundo jurdico. Transcrevendo os ensinamentos de PAULO DE
BARROS CARVALHO, temos que, a validade se confunde com a existncia, de sorte que afirmar
que uma norma existe, implica reconhecer sua validade em face de determinado sistema jurdico. Do
que se pode inferir: ou a norma existe, est no sistema e , portanto, vlida, ou no existe como norma
jurdica
581
.
O valer, como sinnimo de existncia um functor relacional entre a norma e o
sistema. Conforme leciona PAULO DE BARROS CARVALHO, a validade tem status de relao: o
vnculo que se estabelece entre a norma e o ordenamento jurdico, de tal modo que ao dizermos: a
norma N vlida (V) expressamos que ela (N) pertence ao sistema S
582
, em termos formalizados
[V (N S)], e ao dizermos: a norma N invlida (-V) anunciamos que ela (N) no pertence
ao sistema S, em termos formalizados [-V (N S)]. Em suma: ser norma jurdica vlida
pertencer ao direito posto, em outras palavras, existir enquanto norma jurdica.
Com relao validade, aplica-se o princpio lgico do terceiro excludo. S h duas
possibilidades: (i) ou a norma vlida e, portanto, existe juridicamente; (ii) ou invlida e,
conseqentemente, no-jurdica. No existe, nesta concepo, validade plena ou parcial, visto que no
h possibilidade de uma norma pertencer mais ou menos ao sistema do direito posto. Ou ela pertence
e valida, ou ela no pertence e invlida.
581
Curso de direito tributrio, p. 80.
582
Idem, idem.
519
O existir juridicamente no pressupe que a norma esteja de acordo com o
ordenamento, nem em perfeita sintonia com as regras que lhe fundamentam, condio que verificada
a posteriori. Primeiro se admite a norma como vlida e depois verificamos se h ou no
fundamentao jurdica para sua existncia. O problema deste conceito de validade est na eleio dos
critrios que determinam a existncia da norma no sistema, isto , quais os requisitos que uma regra
deve apresentar para a identificarmos como jurdica. Depararemo-nos, no entanto, com tal dificuldade
mais frente. Por ora, restringimos a anlise ao conceito de validade da norma jurdica.
3.3. Validade do ponto de vista do observador e do ponto de vista do participante
TCIO LACERDA GAMA, em minucioso estudo sobre a norma de competncia,
concebeu uma teoria dialgica da validade, modelo que conversa tanto com a concepo de
KELSEN como com a de PONTES, demonstrando no serem pensamentos contrrios ou
contraditrios, mas dois modos de explicar a validade, simultaneamente possveis, que refletem dois
pontos de vista distintos sobre o sistema jurdico: um de quem v para descrever e outro de quem
prescreve normas, disciplinando condutas.
O juzo de existncia feito por quem observa o sistema e o de adequao s normas
de fundamentao (produo/competncia) por quem participa do sistema. O observador pode tecer
proposies sobre a compatibilidade ou incompatibilidade das normas produzidas, mas como sua
linguagem no prescritiva, ela no relevante juridicamente. O participante, ao contrrio, tem
competncia para apreciar a adequao das normas s regras que lhe fundamentam e de diz-la
mediante aquilo que denominamos de interpretao autntica. Ele est autorizado, pelo sistema, a
constituir juridicamente a invalidade, caso haja incompatibilidade.
Ao observador, nas palavras do autor, cabe: (i) perceber se a norma jurdica existe
ou no existe num sistema qualquer, utilizando como critrio para fundamentar esse juzo a
circunstncia da norma ser ou no passvel de apreciao pelo judicirio
583
; e (ii) afirmar a
compatibilidade ou incompatibilidade entre as normas do sistema. No item i., a anlise feita no plano
do ser e as afirmaes do observador sujeitam-se aos juzos de verdade ou de falsidade. No item ii., as
afirmaes so irrelevantes, pois so feitas por um observador do sistema; no alteram a validade ou
invalidade da norma
584
. E ao participante cabe verificar se a norma compatvel com seu
fundamento jurdico, isto , com as regras que disciplinam sua criao num controle de produo.
583
O autor utiliza-se da aptido para ser apreciada pelo judicirio como critrio de pertencialiade da norma ao sistema.
584
Teoria dialgica da validade existncia regularidade e efetividade das normas tributrias, in Direito tributrio
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, p. 136.
520
Transcrevendo os dizeres do autor: quando um tribunal se manifesta sobre uma norma qualquer, no
se cogita mais de sua existncia ou inexistncia. A norma existe. Um rgo jurisdicional participante
decide sobre a licitude ou ilicitude da ao nomogentica (enunciao). Norma criada licitamente
vlida, vigente e eficaz at que outra norma prescreva de forma contrria
585
.
Nesta linha, separando os juzos que competem aos observadores e aos participantes,
percebe-se que os conflitos entre as teorias de KELSEN e PONTES so na verdade, conflitos de
pontos de vistas, o mesmo que acontece com as teorias sobre ordenamento e sistema (expostas no
captulo XV). Neste sentido, no h razo de se optar por um conceito de validade em detrimento de
outro, pode-se trabalhar ora com um, ora com outro, desde que as categorias de um no sirvam para
justificar o outro, quando ento aparecem as incongruncias.
3.4. Validade como sinnimo de eficcia social ou justia
Dentro da concepo de direito com a qual trabalhamos, a validade da norma jurdica
no est relacionada sua eficcia jurdica ou social ou aos valores religiosos e morais a ela atribudos,
como propem as correntes realistas e jusnaturalistas. Isto porque, sua existncia no depende de
concretizaes do plano social e muito menos a qualquer valorao que a ela se possa atribuir.
O fato dos indivduos observarem ou no as prescries contidas no direito positivo
em nada interfere na existncia de tais prescries. Lembramos que tratamos com duas realidades
distintas: a linguagem jurdica e a facticidade social. O existir no mundo jurdico no est
condicionado verificao emprica da conduta prescrita. Neste sentido, possvel que uma norma
seja vlida, mas nunca cumprida. Pode ocorrer, tambm, da prescrio veiculada juridicamente cair no
desuso social, passando a ser ignorada no plano das condutas intersubjetivas. Este fato, por si s, no
tem o condo de afastar a existncia da norma do plano jurdico (sua validade), pois a linguagem
jurdica s pode ser alterada com a produo de outra linguagem jurdica e no pela linguagem da
facticidade social.
Como j dito em vrias passagens deste trabalho, no se transita livremente do
mundo do ser, cuja existncia depende de critrios de verdade, para o mundo do dever ser sujeito a
critrios de validade. Vale a pena relembrar aqui, os ensinamentos de LOURIVAL VILANOVA de
585
Idem, p. 137.
521
que a verificao emprica, como critrio de verdade, no se transporta para o mundo do direito como
critrio de validade
586
.
Ser a conduta verificada no plano emprico correspondente prescrita juridicamente
no critrio para se aferir a validade das normas jurdicas, visto tratar-se de planos distintos regidos
por valncias que no se deduzem. A norma jurdica vlida desde o momento em que constituda
como tal, o fato da conduta por ela prescrita ser cumprida ou no diz respeito a sua eficcia social e
no a sua validade.
O mesmo se segue para a aplicao da norma. O fato dos juizes aplicarem ou no as
prescries contidas no direito positivo em nada interfere na existncia de tais prescries No
porque o juiz deixa de aplicar uma regra jurdica, opinando pela incidncia de outra, para ele mais
adequada, que a regra preterida deixa de existir juridicamente. A prescrio permanece vlida e pronta
para ser incidida em outra oportunidade
587
. Um exemplo disso o j citado crime de adultrio. O
Cdigo Penal, em seu art. 240 prescrevia a pena de deteno de quinze dias a 6 meses para aquele que
praticasse adultrio. Por diversas razes, que no nos cabe aqui analisar, a traio conjugal passou a
ser vista de forma mais amena pela sociedade e assim, os juzes foram deixando de aplicar a regra
penal, que caiu no desuso jurdico. No entanto, os enunciados prescritivos que tratavam da tipificao
do crime e da fixao da pena continuavam a pertencer ao ordenamento jurdico, isto , a norma no
deixou de ser vlida pela sua falta de aplicao, tanto que um juiz mais conservador poderia muito
bem aplic-la. Foi preciso a produo de um enunciado jurdico (art. 5 veiculado pela Lei n.
11.106/05), para que ela deixasse de pertencer ao ordenamento.
Ainda, dentro da concepo de direito com a qual trabalhamos, a validade das
normas jurdicas no pode ser auferida por critrios de justia. A norma jurdica posta por um ato de
autoridade, independentemente de ser justa ou injusta. A justia um valor atribudo s regras
jurdicas, no uma condio para sua existncia, mesmo porque uma norma pode ser justa para uns e
no para outros.
HANS KELSEN fala da necessidade de um mnimo de eficcia para que a norma
possa ser considerada como jurdica. Segundo o autor, uma norma que no eficaz em certa medida,
no ser considerada como vlida
588
. Mas o que seria este mnimo de eficcia? Temos para ns,
586
As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 107.
587
PAULO DE BARROS CARVALHO, Curso de direito tributrio, p. 80-81.
588
Teoria pura do direito, p. 12.
522
tratar-se de uma relao nfima entre o mundo do ser e do dever ser. A norma, para ser vlida, precisa
pertencer a um sistema jurdico com um mnimo de aceitabilidade social. No que a norma, para ser
jurdica, pressuponha ser cumprida ou aplicada, mas precisa pertencer a um sistema aceito socialmente
como jurdico. A eficcia, neste contexto, diz respeito ao sistema em que a regra se encontra inserida,
no propriamente norma. Normalmente todo sistema jurdico tem este mnimo de aceitabilidade
porque coercitivo, mas no a aceitabilidade social que faz uma norma ou um sistema serem
jurdicos, mesmo porque para que eles sejam aceitos eles devem primeiro existir. Nesta linha, podemos
tambm dizer que a validade pressupe um mnimo de eficcia
589
.
4. VALIDADE E A EXPRESSO NORMA JURDICA
Quando pensamos no conceito de validade relacionado s normas jurdicas logo nos
vem mente um pequeno problema: qual sentido deve ser conferido expresso norma jurdica
quando tratamos do tema da validade? (i) enunciado prescritivo; (ii) proposio jurdica; ou (iii) juzo
hipottico-condicional (norma jurdica em sentido estrito)?
EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI chama ateno para o fato de que a validade
como relao de pertencialidade pode ser aferida em todos os planos de manifestao do direito
positivo
590
. Assim, podemos falar em: (i) validade dos enunciados (S1 - texto em sentido estrito); (ii)
validade das proposies ainda no estruturadas (S2); (iii) validade das significaes estruturadas na
frmula (HC), isto , das normas jurdicas em sentido estrito (S3); e (iv) validade do sistema como
um todo (S4)
591
.
A relao de pertinncia ao sistema (validade) das proposies isoladas e das
significaes deonticamente estruturadas depende da relao de pertinncia ao sistema dos enunciados
prescritivos que lhe servem como suporte. Como ensina o autor: a validade do plano do texto
condio necessria da validade do contedo: atacando-se o texto, desqualifica-se a validade no s do
documento, como de todo o seu contedo
592
. Isto importa dizer que a validade do contedo est
589
No entanto, em vrias passagens KELSEN trabalha a questo da validade das normas jurdicas atrelada sua
aceitabilidade social. Em seus dizeres, no se considera como vlida uma norma que nunca observada ou aplicada (...)
uma norma jurdica pode perder sua validade pelo fato de permanecer por longo tempo inaplicada, ou inobservada, atravs
da chamada desuetudo (Teoria pura do direito, p. 237).
590
Decadncia e prescrio no direito tributrio, p. 69.
591
Neste sentido, trata-se da validade do sistema do direito positivo como um todo. J que uma mesma ordem jurdica vale
em determinado pas e no vale em outro, ou vale em um determinado momento histrico e em outro j no mais vlida.
592
Idem, p. 70.
523
atrelada validade do enunciado no qual ele se baseia, pois se o enunciado existe juridicamente a
significao dele construda tambm ir existir.
Por opo metodolgica preferimos trabalhar a validade no plano dos enunciados
prescritivos, porque este o nico dado objetivo do direito e, considerando-os vlidos, as significaes
que neles se baseiam tambm o sero. Lembramos que os enunciados prescritivos so como uma porta
aberta pela qual se tornam jurdicos e vlidos os valores a eles atribudos pelo usurio, jurista, ou
aplicador, quando das suas construes de sentido.
Pragmaticamente identificando os enunciados que aferimos a validade das normas
jurdicas. Digamos, por exemplo, que algum chegue com a notcia de que existe uma regra de direito
dispondo x, y e z e que resolve determinada questo. Qual a primeira providncia que tomamos para
saber se tal norma existe juridicamente? Buscamos o documento normativo que a vincula. No caso, em
se tratando de norma geral e abstrata federal, vamos direto ao site do Planalto
593
e l aferimos sua
autenticidade jurdica para podermos dizer se se trata de uma regra pertencente ao sistema ou no. Em
se tratando de uma norma individual e concreta, caso nos chegue a notcia de uma deciso judicial, por
exemplo, vamos ao processo e buscamos a sentena. Sempre vamos ao documento normativo e
encontrando-o estamos aptos para dizer se a norma jurdica existe ou no.
Outra ponderao necessria a ser feita com relao ao termo norma jurdica,
quando do trato da validade, sua unicidade perante o sistema jurdico. O modo de encarar a validade
de um enunciado o mesmo utilizado para o exame de todos os demais, no importando se o contedo
por ele veiculado civil, processual, constitucional, administrativo, penal, tributrio ou comercial. O
que queremos dizer, que, os critrios escolhidos para delimitar a validade devem ser aplicados a
todas as regras jurdicas, independente da matria que elas disciplinam, ou seja, a validade da norma
civil a mesma validade das normas penais, processuais, comerciais, tributrias, etc.
5. CRITRIOS DE VALIDADE
Trabalhando com a tese da validade como relao de pertencialidade entre a norma
e o ordenamento jurdico, os critrios de pertencialidade (ou de validade), como j vimos (no item 2
deste captulo) surgem como um ponto crucial para o tema, pois neles reside o diferencial que far uma
norma ser vlida ou invlida.
593
http://www.presidencia.gov.br/legislacao/
524
Seguimos a linha segundo a qual o direito vlido o direito posto. Posto entende-
se aqui em dois sentidos considerados conjuntamente: (i) presente (desconsiderando as normas
jurdicas passadas e futuras); e (ii) materializado em linguagem competente. O direito futuro ainda no
est materializado e o passado est desconstitudo. Assim, a pergunta para identificarmos os critrios
de validade das normas jurdica : o que faz uma linguagem ser jurdica (competente)?
Vimos, nos captulos sobre incidncia (Captulo XI) e fontes do direito (Captulo
XVI), que o prprio sistema determina o modo de criao de sua linguagem ao prescrever quais
pessoas esto aptas a produzirem normas jurdicas e quais os procedimentos a serem realizados para
este fim, pelas denominadas normas de produo ou de competncia (regras de estruturas). Nesta
linha de raciocnio, para identificarmos se uma regra pertence ou no ao ordenamento, utilizamo-nos
de dois critrios: (i) a autoridade competente; e (ii) o procedimento prprio
594
.
O critrio da autoridade competente diz respeito ao emissor da mensagem, a pessoa
que a produz. Para que um enunciado seja tomado como existente na ordem jurdica, a pessoa que o
emitiu deve estar credenciada pelo sistema como apta para nele inserir normas jurdicas. Se o emissor
no for uma pessoa legitimada pelo sistema para executar a funo de emissor, os enunciados por ele
produzidos no sero vlidos, isto , no existiro enquanto linguagem jurdica. J o critrio do
procedimento prprio diz respeito forma de produo da mensagem. Para que um enunciado seja tido
como existente ele deve ser produzido de acordo com uma forma prescrita pelo direito como prpria
para a produo de enunciados jurdicos.
Vejamos alguns exemplos:
(i) Digamos que uma pessoa estacione seu carro em local proibido e que o dono do
estabelecimento comercial situado em frente registre a infrao e deixe no pra-brisa uma notificao
ao proprietrio do veculo para pagar uma multa prefeitura municipal. O proprietrio do veculo ao
tomar cincia de quem o emissor da notificao, logo percebe que ela no tem qualquer valor
jurdico e que, portanto, no est obrigado a pagar a multa, porque o dono do estabelecimento
comercial no agente credenciado pelo direito para aplic-la. Diferente situao ocorre se um agente
de trnsito, ao se deparar com o carro estacionado em local proibido, registrar a infrao e expedir uma
notificao para o pagamento da multa. O proprietrio do veculo reconhecer a juridicidade do
documento e a sua obrigatoriedade de pagar a multa, ao certificar-se quem o emissor da notificao.
594
PAULO DE BARROS CARVALHO, Curso de direito tributrio, p. 79-80.
525
(ii) Imaginemos agora que um juiz de direito irritado com seu inquilino elabore, em
casa, uma sentena de despejo ordenando que o mesmo entregue imediatamente seu imvel. O
inquilino, ao tomar cincia da sentena, logo percebe que ela no valida, porque no foi produzida de
acordo com a forma prescrita pelo direito, no bojo de um processo judicial. A sentena, apesar de
produzida por agente competente (juiz de direito), no existe no mundo jurdico porque sua enunciao
no se deu na forma procedimental prescrita como prpria pelo sistema.
A indicao do emissor da mensagem e o procedimento utilizado para sua produo
encontram-se nas marcas da enunciao refletidas no enunciado, na enunciao-enunciada. Quando
deparamo-nos com um texto normativo, a sua enunciao-enunciada que nos permite dizer se ele
jurdico ou no. Sabemos, por exemplo, que um documento uma lei federal em razo de sua
enunciao-enunciada, pois reconhecemos nela autoridade e procedimento aptos. Da mesma forma,
identificamos a existncia de um ato administrativo, porque reconhecemos em sua enunciao-
enunciada autoridade e procedimento juridicamente credenciados para a criao de normas jurdicas.
Os critrios do agente competente e do procedimento prprio identificam a exitncia
de um texto normativo, o que vale para aferirmos a pertencialidade de enunciados prescritivos ao
sistema do direito positivo. Mas, aqui cabe uma ressalva. Para aqueles enunciados que j foram
produzidos h algum tempo, devemos ter um cuidado especial: o de analisar se no existe, no
ordenamento jurdico, uma linguagem desconstituindo-os juridicamente, pois, neste caso, pode ser que
a norma, mesmo tendo sido produzida por agente competente e procedimento previsto, no seja mais
vlida em razo de sua desconstituio jurdica.
Trabalhamos com os critrios da autoridade e do procedimento porque deste modo
que atribumos o qualificativo de jurdica a uma linguagem. Ainda que intuitivamente, quando algum
se refere a uma norma jurdica, pressupomos que ela assim o porque produzida por um ato de
autoridade mediante a realizao de um procedimento prescrito pelo direito e buscamos elementos que
nos certifiquem disso. Por essa razo, vamos aos sites do Planalto, do governo dos estados, municpios,
dos tribunais, Lex, ao dirio oficial, etc.
Devemos ter cuidado, no entanto, ao afirmar que os critrios de validade das normas
jurdicas so: autoridade competente + procedimento prprio, pois no consideramos, aqui, o perfeito
enquadramento destes critrios (aferidos na enunciao-enunciada dos documentos normativos) com
as normas jurdicas (de produo ou competncia) que os regulam. Fazer isso seria abandonar o
526
conceito de validade como relao de pertencialidade da norma para com o sistema para adotar o de
conformidade da norma para com o sistema.
Primeiro tomamos a norma como vlida, porque produzida por um ato de autoridade
disciplinado pelo direito como apto criao normativa, depois, num segundo momento, verificamos
se sua produo se deu nos estritos moldes (formais e materiais) das normas de competncia que a
regulam, isto , se est de acordo com as normas jurdicas que lhe fundamentam. Caso isso no seja
verificado, temos um fundamento para sua impugnao.
Em suma, a validade de uma norma aferida pela utilizao dos critrios autoridade
x procedimento, mas se a autoridade mesmo a competente e se o procedimento mesmo o prescrito
como prprio pelo sistema so constataes apenas possveis de serem feitas a posteriori. por isso
que a validade tida como um axioma do direito.
Nesta ordem, no cansamos de lembrar que a escolha dos critrios de pertencialidade
depende do sistema de referncia com o qual se trabalha e, nestes termos, outros critrios podem
sempre ser escolhidos
595
.
6. PRESUNO DE VALIDADE
Dizemos que a norma vlida quando produzida por pessoa juridicamente
credenciada e mediante procedimento estabelecido para este fim, mas no necessariamente porque a
competncia e o procedimento concretizaram-se exatamente nos moldes das normas de produo que
regulamentam especificamente a criao das normas produzidas. Esta posio parece, em princpio,
contraditria, mas um exemplo melhor a esclarece:
Imaginemos que um cidado comum (no investido do cargo de juiz) redija um texto
normativo e o apresente como sendo uma sentena. Logo se verifica a invalidade do documento, por
no ter sido ele produzido por juiz de direito, mediante processo judicial. Agora, imaginemos que um
595
TCIO LACERDA GAMA, por exemplo, com base nas idias de ALF ROSS (Direito e justia, p. 66), utiliza-se do
critrio pragmtico da possibilidade de ser aplicada por ato do Poder Judicirio. Em suas palavras: Existe a norma que
possa ser levada apreciao do poder jurisdicional, no existe a norma que no seja passvel de anlise jurisdicional. O
critrio pragmtico: desencadeou a jurisdio, existe. Caso contrrio, trata-se de proposio no-jurdica, inexistente no
sistema do direito (Teoria dialgica da validade existncia regularidade e efetividade das normas tributrias, in Direito
tributrio homenagem a Paulo de Barros Carvalho, p. 134). A nosso ver, no entanto, tal critrio s posterga o problema,
reportando-nos escolha de outro, pois logo surge a pergunta: e o que faz com que a norma possa ser levada ao judicirio,
isto , que ela desencadeie a jurisdio?. A resposta o fato de ela ser constituda em linguagem competente (por
autoridade e por procedimento prprios do direito).
527
juiz de direito, flagrantemente incompetente, ao fim de um processo judicial, observado todos os
trmites legais, produza uma sentena. O documento ser vlido, mesmo que o fato de sua enunciao
no se subsuma s normas jurdicas reguladoras de sua produo, porque a pessoa que o constituiu no
legitimada pelo sistema como apta para criar normas jurdicas. Se o juiz incompetente, se o
procedimento no seguiu todos os trmites conforme o disciplinado e se isso no foi constatado
durante a enunciao a tempo de interromp-la ou corrigi-la, a norma produzida vlida e os eventuais
vcios ocorridos na sua produo serviro apenas como materialidade para sua possvel
desconstituio.
O mesmo podemos dizer, por exemplo, de um prefeito, que institua um tributo por
meio de decreto. Sabemos que, em decorrncia do princpio da estrita legalidade tributria, os tributos
s podem ser institudos por meio de lei, no entanto, o prefeito agente competente e decreto um
procedimento prprio para a insero de normas no sistema jurdico. A enunciao tem fundamentao
jurdica e por conta disso as normas por ela produzidas so vlidas, muito embora esta fundamentao
no esteja calcada nas regras de produo de normas instituidoras de tributos. Uma prova disso que
a exao ser cobrada at que submetidas a um controle de validade.
H, na realidade, uma presuno posta pelo direito, de que todo o processo
enunciativo introdutor de normas se deu nos moldes das normas que o regulam, at que se constitua o
contrrio. Isto no s acontece com o processo enunciativo (antecedente da norma veculo introdutor)
mas com qualquer fato constitudo juridicamente, pois sistema do trabalha com o controle da validade
a posteriori.
Se durante o processo enunciativo no foi alegado qualquer vicio, ao seu trmino,
com a produo da norma veculo introdutor, presume-se que tudo ocorreu nos moldes prescritos pelas
normas de produo em vigor, porque assim diz a linguagem constituda. Presume-se que a autoridade
enunciativa competente e que o procedimento realizado para enunciao o prprio, e que a
materialidade do documento tem respaldo em norma de hierarquia superior, porque sem essa
presuno torna-se impossvel trabalhar com a linguagem jurdica.
Se a pertencialidade de uma linguagem para com o direito positivo dependesse do
controle de produo jurdica, que realizado posteriormente a sua existncia, como poderamos dizer
que esta linguagem susceptvel de controle jurdico se ainda no se sabe se ela jurdica?
528
As normas no adquirem validade aps o controle de sua produo, elas nascem
vlidas ou invlidas (jurdicas ou no-jurdicas), de acordo com sua enunciao-enunciada.
Posteriormente aferimos se a norma vlida foi criada em conformidade com as regras que disciplinam
sua produo, o que poder servir como motivo para uma futura desconstituio. Mas, para que isso
acontea, temos que, primeiramente, aceitar sua existncia no mundo jurdico (validade).
Nestes termos, a presuno a que nos referimos, no da validade, porque
ningum nega a existncia de uma norma como jurdica, por ela estar sujeita, futuramente, a um
controle em razo de no ter sido criada de acordo com as regras que disciplinam sua produo. A
presuno de que a enunciao (constituda juridicamente pela enunciao-enunciada) e o produto
por ela criado encontram-se em conformidade com as normas que regulam sua criao, est ligada
adequao (formal/material), no validade da linguagem jurdica.
Como vimos, assim que produzido, o texto normativo juridiciza o fato de sua
enunciao, constituindo-o como jurdico (no antecedente da norma veculo introdutor). Mesmo que a
enunciao no se der nos moldes das normas de produo, para que os enunciados por ela inseridos
sejam retirados do sistema, o fato jurdico da enunciao deve ser desconstitudo por outra linguagem
jurdica. Enquanto no desconstituda tem-se que a enunciao se deu perfeitamente em consonncia
com as regras que a disciplinam, pois ela est constituda em linguagem jurdica e toda linguagem
jurdica goza de tal presuno. este o axioma da validade.
A prpria linguagem (por meio da sua enunciao-enunciada) diz que jurdica
(vlida). A norma veculo introdutor constitui a validade da linguagem produzida para o sistema,
tanto que depois, num eventual controle, preciso a criao de outra linguagem para constituir
juridicamente sua invalidade.
O que se confronta num posterior controle de produo a adequao do fato
jurdico da enunciao (enuncaio-enunciada) s provas do processo realizado e s normas que
disciplinam sua realizao. O confronto sempre entre linguagens: (i) linguagem jurdica produzida;
(ii) linguagem das provas da enunciao; e (iii) linguagem que regula a criao da linguagem
produzida (a de superior hierarquia na qual ela se fundamenta). neste sentido que dizemos ser a
validade aceita, e a conformidade da constituio do fato jurdico da enunciao presumida, como a
de qualquer fato jurdico.
529
Seguido esta linha, a adequao da enunciao-enunciada e do enunciado-enunciado
s normas que os fundamentam no figura como critrio de validade do documento produzido, mas
como critrio de permanncia do documento no sistema do direito positivo. Se constatada
juridicamente, a inadequao da enunciao-enunciada gera a retirada de todo o documento normativo
do sistema, pois trata-se de vcio formal (de produo). Mas, alm da enunciao-enunciada, cada
enunciado est tambm sujeito a controle (de materialidade).
Se trabalhssemos com o conceito de validade atrelado ao de adequao (formal /
material) s normas de superior hierarquia, teramos que admitir serem todas as normas invlidas ou
presumidamente vlidas at que submetidas a um controle, isto , s poderamos dizer sobre sua
validade ou invalidade depois da apreciao do judicirio. Neste sentido, toda linguagem para produzir
efeitos vlidos no sistema precisaria de outra que lhe afirmasse como apta para tanto.
Na sua dinmica, o sistema lida tranqilamente com a incerteza sobre a adequao
jurdica formal e material dos enunciados produzidos, mesmo porque, seria invivel submeter todas as
normas jurdicas a um controle de produo antes de torn-las aptas incidncia.
7. MARCO TEMPORAL DA VALIDADE JURDICA
Adotando-se o conceito de validade como relao de pertencialidade da norma para
com o sistema, uma dvida fica latente: qual o marco temporal da validade, isto , a partir de que
instante uma norma jurdica passa a pertencer ao direito positivo? Ou, mais contundente com a
concepo que adotamos: em que momento o sistema considera constituda sua linguagem?
Partindo de uma teoria comunicacional do direito, presenciamos no fenmeno
jurdico um rgo credenciado, produzindo uma mensagem prescritiva com o intuito de disciplinar
condutas intersubjetivas. A linguagem jurdica, nestes termos, o instrumento de realizao da
comunicao entre o rgo credenciado e o destinatrio da mensagem prescritiva e, assim, s existe
quando instaurado o vnculo comunicacional.
Conforme j tivemos oportunidade de ressaltar (quando tratamos da teoria
comunicacional do direito, no Captulo V), segundo ROMAN JAKOBSON, para existncia de um
vnculo comunicacional so necessrios seis elementos: (i) emissor (remetente); (ii) mensagem; (iii)
receptor (destinatrio); (iv) contexto; (v) cdigo; e (vi) canal ou contato; e, para que a relao se
instaure, preciso que o emissor transmita a mensagem ao destinatrio. A simples constituio da
530
mensagem, materializada num determinado cdigo, pelo emissor, no suficiente para implementar o
conceito de comunicao, imprescindvel que a mensagem chegue ao conhecimento do
destinatrio, para que este integre a relao.
Aplicando tais categorias ao estudo do direito, s com a cincia do destinatrio que
podemos falar na existncia de uma linguagem jurdica e conseqentemente na validade da mensagem
(norma) produzida. Neste sentido, a pergunta para fins de determinao do marco temporal da validade
torna-se outra: em que momento o direito considera a tomada de cincia pelo destinatrio da
mensagem produzida?
Para responder tal questo, devemos voltar nossa ateno ao processo de produo
das normas jurdicas. A enunciao se concretiza com a realizao de uma srie de atos, todos
relevantes, mas, com o ato de publicao que os enunciados produzidos passam a cumprir sua funo
comunicativa. A publicao pressuposto da srie de produo normativa, ela instaura a comunicao
entre emissor e destinatrio da mensagem jurdica e atribui, com isso, juridicidade aos enunciados
elaborados, elevando-os categoria de jurdicos. Assim, sem publicao no h enunciado prescritivo
que pertena ao mundo do direito positivo, mesmo que, em sua produo, todos os outros atos da srie
enunciativa tenham sido observados.
No podemos dizer, por exemplo, que uma lei sancionada, mas no publicada
pertence ao direito positivo, na verdade, nem mesmo podemos cham-la de lei. O mesmo se aplica
sentena produzida e posta na gaveta pelo juiz, no h como consider-la vlida. Isto porque, a partir
da publicidade que os enunciados produzidos no curso do processo enunciativo passam a pertencer ao
mundo do direito. Ela o marco temporal da validade das normas jurdicas, o momento em que o
ordenamento considera constituda sua linguagem.
Como assevera EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI, toda norma jurdica
pressupe a publicidade como condio de validade, sem a publicao, o projeto de lei no vlido; a
sentena invalida; sem notificao tambm no h que se falar em validade do ato-norma
administrativo
596
. Com a publicidade, que uma das etapas da enunciao, instaura-se o vnculo
comunicacional e os enunciados produzidos passam a existir juridicamente. Assim, frisa PAULO DE
596
Lanamento tributrio, p. 162-163.
531
BARROS CARVALHO: o timo da cincia marca o instante preciso em que a norma ingressa no
ordenamento do direito posto
597
.
O direito trabalha com a fico do conhecimento de seus enunciados por todos seus
destinatrios a partir da publicao. Mesmo que efetivamente nem todos tenham realmente
conhecimento da mensagem produzida, fato que seria empiricamente impossvel dado a dinamicidade
do sistema jurdico, o direito considera que a partir da publicao todos seus destinatrios tm esta
cincia. O fato da publicao constitui o conhecimento dos enunciados produzidos, por todos seus
receptores, como uma realidade jurdica, devido prescrio do art. 3 da Lei de Introduo ao Cdigo
Civil: ningum se escusar de cumprir a lei alegando que no a conhece
598
. A linguagem produzida
juridiciza o fato da publicao e atribui-lhe o efeito da proibio de alegao do seu no conhecimento
no plano jurdico. Neste sentido, no necessrio que efetivamente o receptor entre em contato com a
mensagem legislada para que o sistema a considere jurdica. O prprio direito cria a realidade jurdica
do conhecimento por todos com a publicao
599
.
A publicidade marca a positivao das normas jurdicas, isto , seu ingresso no
ordenamento. Mas ressaltamos: no toda publicidade, apenas aquela realizada no meio prescrito
como prprio pelo sistema. De nada adianta, por exemplo, uma lei municipal ser veiculada no jornal
de maior prestgio da cidade e todos os cidados tomarem conhecimento de seus enunciados, porque
juridicamente ela s tem valor quando publicada no Dirio Oficial. por esse motivo que, o
contribuinte quando da formalizao do crdito tributrio no pode apresentar ao fisco qualquer
documento, deve entregar a guia de apurao x, veculo especificamente determinado em cada
legislao, sob pena do crdito no ser constitudo juridicamente. O mesmo acontece com a
597
Nesta passagem o autor refere-se norma individual e concreta produzida com a formalizao do crdito tributrio pelo
contribuinte. Ainda segundo o autor, recuperando a premissa de que o direito se realiza no contexto de um grandioso
processo comunicacional, impe-se a necessidade premente de o documento produzido pelo particular seja oferecido
cincia da entidade tributante, segundo a forma igualmente prevista no sistema. De nada adiantaria ao contribuinte expedir
o suporte fsico que contm tais enunciados prescritivos, sem que o rgo pblico, juridicamente credenciado viesse a saber
do expediente (Fundamentos jurdicos da incidncia tributria, p. 252)
598
Neste sentido, CLARICE VON OERTZEN DE ARAUJO, Semitica do direito, p. 50.
599
Voltando-se teoria analtica e trabalhando o direito como um fenmeno comunicacional DANIEL MENDONA abre
a discusso sobre a existncia da norma jurdica, depender ou no da compreenso dos enunciados produzidos por parte de
seus destinatrios. O autor expe dois posicionamentos: (i) as normas jurdicas existem com a emisso da mensagem
normativa; (ii) a existncia das normas jurdicas dependem da recepo, pelo destinatrio, da mensagem emitida, isto , da
sua compreenso; e acaba por filiar-se ao primeiro posicionamento, fazendo a ressalva de que seria necessrio, alm da
emisso, a publicao da mensagem jurdica Toda discusso perde o sentido com a elucidao da acepo empregada ao
termo norma jurdica. Se tomarmos norma como significao, imprescindvel para sua existncia a recepo e
compreenso da mensagem legislada pelo destinatrio. Se entendermos norma no sentido de enunciado jurdico, sua
existncia se efetiva com a emisso da mensagem, que juridicamente se concretiza com o ato da publicao. Apesar de
que, a fico, criada pelo art. 3 da LICC acima mencionado, considera que juridicamente a compreenso se d assim que o
texto adquire publicidade, independentemente da efetiva valorao hermenutica, porque ningum pode alegar falta de seu
conhecimento. (Exploraciones normativas hacia una teora general de las normas, p. 18-23)
532
Fundamentao Derivao
propriedade de um imvel, se a operao no for veiculada em documento prprio, juridicamente no
h transmisso, ainda que ela tenha sido verbalizada em outro documento ou socialmente ocorrida.
O direito prescreve a forma de veiculao de sua linguagem e nela se materializa o
ingresso de seus enunciados. Por ser o canal/contato um dado fsico, nele que percebemos e
comprovamos a existencialidade do direito positivo.
8. VALIDADE E FUNDAMENTO DE VALIDADE
A concepo que adotamos de validade das normas jurdicas tem como base a teoria
de HANS KELSEN, mas assume, porm, outra feio, quando analisada sob o enfoque da teoria
comunicacional do direito. Considerando-se a autoridade competente e o procedimento prprio como
critrios de validade, as normas que os disciplinam aparecem como fundamento de validade, numa
correlao entre as diretrizes da dedutibilidade e da fundamentao jurdica.
Conforme j salientamos (quando tratamos do ordenamento e sistema, no Captulo
XIV), no modelo de HANS KELSEN cada norma deriva de outra norma hierarquicamente superior, na
medida em que esta disciplina sua produo. Em seus dizeres, uma norma uma norma jurdica
vlida em virtude de ter sido criada segundo uma regra definida, e apenas em virtude disso
600
. O
critrio de validade estabelecido por KELSEN o da dedutibilidade da norma superior para a norma
inferior. A validade de uma norma jurdica atribuda por sua criao estar fundada noutra norma
jurdica que lhe hierarquicamente superior.
Repetindo o diagrama apresentado naquela ocasio:
Explicando: temos que a Constituio Federal (N1) regulamenta a criao da lei (N2),
legitimando sua existncia. Assim, dizemos que a lei (N2) tem como fundamento de validade a
600
Teoria geral do direito e do estado, p. 166
N1
N2
N3
533
F3 (enunciao)
F2 (enunciao)
F1 (enunciao)
regulao da produo
Constituio Federal (N1). J a norma N3 criada com base na lei (N2), ela que legitima a sua
produo e, por isso, dizemos que N3 tem, como fundamento de validade, a lei (N2).
Por partirmos de uma viso comunicacional do direito, fica difcil compreendermos
que normas jurdicas existam por derivarem de outras normas de superior hierarquia, num crculo
vicioso, onde normas criam normas. Como j dito (no captulo sobre fontes do direito), todo ato
produtor de enunciados jurdicos tem como base outros enunciados tambm jurdicos, que legitimam a
autoridade enunciativa e o procedimento por ela realizado como aptos a inserirem normas no
ordenamento em relao a determinada matria. Assim se forma a hierarquia do sistema: as normas
tomadas como fundamento para realizao dos fatos enunciativos de outras normas so tidas como
hierarquicamente superiores s normas produzidas.
No podemos esquecer, no entanto, que entre a norma fundamento de validade e a
norma produzida est o fato da enunciao, fonte do direito (consubstanciado no ato de vontade de
uma autoridade competente, realizado segundo um procedimento prprio), j que as normas sozinhas
no criam normas, so os fatos enunciativos que as criam.
Segundo esta concepo, cientes de que uma norma sozinha no deriva de outra sem
a presena de um ato de vontade humano, a pirmide idealizada por KELSEN vista nesta
configurao.
Explicando: a norma N3 (da base da pirmide) produzida pelo fato-enunciao F3,
realizado com base na norma N2, que lhe hierarquicamente superior e cuja criao se deu pelo fato-
enunciao F2, realizado sob o fundamento da Constituio Federal, norma que lhe hierarquicamente
superior, constituda pelo fato-enunciao F1.
CF
N2
N3
fundamentao
534
Neste contexto, chamamos de fundamento de validade as normas jurdicas tomadas
como base para a produo de outras normas jurdicas, que acabam por legitimar a autoridade e o
procedimento enunciativo como prprios para produo daquelas normas jurdicas.
Quando dizemos que uma linguagem jurdica porque produzida por agente
competente mediante procedimento prprio, ambos prescritos pelo direito positivo, estamos indicando
que esta linguagem tem um fundamento na ordem jurdica, isto , que a sua criao foi realizada
mediante as regras do prprio sistema. Nota-se que no estamos aqui, pressupondo uma exata
adequao entre a regra produzida e seu fundamento de validade para a aceitao de sua existncia no
sistema (validade), mas apenas que ela tenha um fundamento na ordem posta.
Uma norma tida como fundamento de validade quando regula o fato enunciativo
que insere outra norma jurdica, hierarquicamente inferior, no sistema. Nesta concepo, a validade de
uma norma jurdica se mantm mesmo quando as regras que lhe serviram de fundamento so retiradas
do sistema, o que no seria possvel aceitar se trabalhssemos unicamente com o princpio da
deditubilidade.
Quando uma norma jurdica, fundamento de validade de outra norma revogada, a
norma que lhe tinha como fundamento continua vlida. Isto porque, depois de inserido no sistema do
direito positivo, a existncia do enunciado no est condicionada validade das normas que
fundamentaram sua produo. As regras tomadas como fundamento de validade legitimam o fato
enunciativo como apto a produzir enunciados jurdicos no momento da enunciao. Mas, assim que
produzido, o prprio texto normativo juridiciza o fato enunciativo, ao relat-lo no antecedente da
norma veculo introdutor, atribuindo-lhe o efeito da pertencialidade ao ordenamento. H, neste
momento, a concretizao do fundamento de validade na linguagem introduzida, que passa a existir no
plano do direito positivo independentemente das normas que fundamentaram a sua produo. Nestes
termos, para que uma norma produzida sob certo fundamento de validade que posteriormente foi
revogado, perca sua validade preciso que seja impugnada e que outra linguagem desconstitua sua
juridicidade.
Digamos, por exemplo, que um ato administrativo seja produzido exatamente de
acordo com a legislao vigente poca de sua produo e que, depois de certo tempo, a lei que o
fundamentava retirada do ordenamento. Podemos dizer que o ato administrativo perdeu seu
fundamento de validade, o que causa para a sua possvel desconstituio, mas no que desde ento
535
?
F3 (enunciao)
F2 (enunciao)
F1 (enunciao)
ele invlido, pois ele continua existindo juridicamente at que seja desconstitudo por outro ato da
administrao ou em sede judicial. Disto depreendemos que a adequao ao fundamento jurdico de
um documento normativo no relevante para aferirmos sua existncia (validade), mas sim a sua
permanncia no sistema do direito positivo.
9. A QUESTO DO FUNDAMENTO JURDICO DO TEXTO ORIGINRIO DE UMA
ORDEM
Ao tomamos como critrio de pertencialidade para com o direito positivo o fato da
norma ter sido produzida por uma autoridade competente mediante procedimento prprio, ambos
prescritos pelo sistema, estamos pressupondo que todas as normas jurdicas tm fundamento de
validade em outras normas que lhes so superiores. Mas, o que dizer do fundamento jurdico da
Constituio Federal, que se encontra no topo da escala hierrquica do sistema jurdico? Quais normas
legitimam o rgo credenciado a produzi-la, o procedimento a ser realizado e a matria por ela
disposta, servindo-lhe como fundamento jurdico?
Seguindo a sistemtica de HANS KELSEN, onde normas juridicizam fatos
(enunciao) que criam outras normas jurdicas, a partir da Constituio Federal, encontramos
fundamento jurdico para todas as normas dela para baixo, mas no para o fato que lhe deu origem.
Dentro desta concepo, sem a existncia de normas superiores, a Constituio no teria fundamento
de validade, pois, no existiria norma jurdica acima dela legitimando sua produo, como podemos
aferir no grfico abaixo:
CF
N2
N3
fundamento de validade
536
Para resolvermos esta questo necessrio, fazermos um regresso alm da
Constituio Federal, o que implica a realizao de um estudo que ultrapassa os limites da dogmtica e
ingressa no direito passado, j que cada Constituio instaura uma nova ordem jurdica
601
.
9.1. Fundamento jurdico ltimo na ordem anterior ou no prprio texto originrio
Geralmente a fundamentao da linguagem jurdica originria se sustenta na ordem
que lhe anterior, vlida poca de sua enunciao. O texto originrio, porm, invalida o anterior e
constitui uma nova ordem jurdica, que passa a fundamentar todas as demais normas. Neste sentido,
existe um fundamento jurdico para todo texto originrio poca da sua enunciao, mesmo que, com
a produo da nova ordem tal fundamentao perca a validade.
Dizer, no entanto, que existe um fundamento jurdico no significa afirmar que h no
ordenamento jurdico uma norma hierarquicamente superior Constituio, porque toda nova
Constituio cria uma nova ordem jurdica, na qual ela o fundamento ltimo de validade para todas
as normas. Com isso queremos dizer que os textos originrios se legitimam juridicamente, embora tal
legitimao no mais nos interessa, pois, depois de posta a nova ordem, seu fundamento passa a
pertencer ao passado.
Um exemplo esclarece melhor tal assertiva: a nossa atual Constituio da Repblica
instituda em 1988, como reao ao regime militar de 1964, qual seria seu fundamento jurdico (ou
melhor, de validade)? Embora estivssemos sob a vigncia de um regime militar, em 8 de maio de
1985, depois de reaberto, o Congresso Nacional aprovou uma Emenda instituindo a eleio direita para
Presidente da Repblica. Em 22 de novembro do mesmo ano, j no governo Jos Sarney, foi aprovada
a Emenda Constitucional n. 26, legitimando a convocao de uma Assemblia Constituinte. Eleita em
15 de novembro de 1986 e empossada em 1 de fevereiro de 1987, a constituinte trabalhou at 5 de
outubro de 1988, quando foi promulgada a atual Constituio Federal. Nota-se que a Constituio
Federal produto da Assemblia Constituinte, mas o seu fundamento de validade encontra-se na
Emenda Constitucional n. 26/86, que legitima a Assemblia Constituinte poder originrio. No entanto,
com a publicao e conseqente ingresso da nova constituio, a constituio anterior, de 1967, deixa
de existir juridicamente e com ela a Emenda Constitucional n. 26/86 que fundamentou a criao da
nova Constituio. Assim, quando referimo-nos ao direito positivo brasileiro fazemos um corte que
desconsidera o fundamento jurdico da Constituio e tudo o que por ela no foi recepcionado,
601
Dizemos que uma nova Constituio instaura uma nova ordem pois as relaes de subordinao do sistema sero
alteradas em funo dela, que passar a fundamentar todas as demais normas.
537
partimos das normas constitucionais e a elas regressamos, estabelecendo, com isso, a unidade do
objeto.
H casos, entretanto, que a nova ordem instaurada no tem fundamentao jurdica
na ordem anterior, o que ocorre, por exemplo, quando ela posta, em decorrncia de um golpe de
estado, ou revoluo. Nestas circunstncias, a primeira providncia a ser realizada a produo de um
enunciado legitimando o golpe ou a revoluo como poder originrio para instaurao da nova ordem
jurdica. H sempre uma linguagem, pertencente a ordem instalada que legitima seu fato originrio e a
produo de uma nova constituio.
Exemplo disto foi o golpe militar de 31 de maro de 1964 no Brasil. O ento
presidente Joo Belchior Marques Goulart, conhecido como Jango, que assumiu o cargo aps a
renncia de Jnio Quadros, j contra a vontade dos militares, foi derrubado sob alegao de tender a
idias comunistas e abuso de poder, porque apoiava reformas sociais e uma junta militar assumiu seu
lugar. Em 9 de abril do mesmo ano foi institudo, por esta junta, o ato institucional n. 1, cujo texto a
legitimou juridicamente como poder originrio
602
. O Congresso Nacional ratificou a indicao do
comando militar e elegeu o general Humberto de Alencar Castelo Branco como chefe do Estado-Maior
do Exrcito.
Nota-se que mesmo no tendo fundamento na ordem anterior, a nova ordem imposta
passou a existir juridicamente, tendo seu fundamento no prprio texto originrio (AI-1), que suspendeu
a Constituio da poca (1949). Somente em 07 de abril de 1966 o governo editou o AI-4 convocando
o Congresso Nacional a votar uma nova Constituio Federal. Nestes termos, a Constituio de 1967
tem como fundamento jurdico o AI-1 e o AI-4.
Seja como for, a fundamentao jurdica dos textos originrios no interessa ao
estudo dogmtico do direito, assim como outros aspectos polticos, econmicos e sociais que levaram a
instaurao da nova ordem. Isto, porm, no quer dizer que ela no exista, quer dizer, apenas, que a
Cincia do Direito em sentido estrito, no a toma como objeto. As investigaes jurdicas partem da
602
No texto do AI n. 1 se l: A revoluo vitoriosa se investe no exerccio do poder constituinte. Este se manifesta pela
eleio popular ou pela revoluo. Esta a fora mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revoluo
vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o Governo anterior e tem a capacidade de
constituir novo Governo. Nela se contm a fora normativa, inerente ao poder constituinte. Ela edita norma jurdica sem
que nisso seja limitada pela atividade anterior sua vitria. Os chefes da revoluo vitoriosa, graas ao das Foras
Armadas e ao apoio inequvoco da Nao, representam o povo, em seu nome exercem o poder constituinte, de que o povo
o nico titular... (wikipdia grifo nosso).
538
Constituio como fundamento de validade de todas as demais normas do sistema e a ela regressa, no
se preocupando com a legitimao do fato de sua enunciao.
9.2. A norma hipottica fundamental de KELSEN
Para resolver a questo do fundamento de validade da Constituio HANS KELSEN
cria o pressuposto da norma hipottica fundamental, que no uma norma posta, mas sim pressuposta
para o fechamento do sistema, j que na Teoria Pura do Direito no interessam as regras do passado,
que legitimam a enunciao constitucional, apenas o direito presente. A norma fundamental funciona,
assim, como um instrumento para o jurista delimitar o plano do dever ser, uma criao metodolgica
para fundamentar a existncia da Constituio e do direito positivo como um todo.
Segundo KELSEN, ela deve ter carter normativo, apesar de no ser norma posta por
autoridade, porque o fundamento jurdico de qualquer norma s pode ser outra norma
603
. No entanto,
no devemos nos preocupar com seu contedo, pois tal investigao encontra-se fora do campo da
dogmtica jurdica.
Nestes termos, a norma hipottica fundamental no jurdica. Como ensina
LOURIVAL VILANOVA, num regresso da norma mais concreta e individual para a ltima norma, a
mais geral e abstrata do sistema positivo, encontramos como norma-limite dentro deste sistema a
Constituio positiva em vigor
604
. A idia da norma hipottica fundamental operaciona o fechamento
do sistema jurdico, para fins do estudo cientfico. Com ela pressupomos a existncia de uma
fundamentao para o texto originrio, embora no nos interessa dizer qual seja esta fundamentao.
Neste sentido, vale a pena registrar a explicao do citado autor: Como sistema (o
direito positivo) requer um ponto-origem, e no se dilui numa seqncia interminvel de antecedentes,
h que se deter por uma necessidade gnosiolgica, numa norma fundante, que no positiva, por no
ter uma sobrenorma da qual seja aplicao. uma norma pressuposta, uma hiptese-limite que confere
conclusividade ou fechamento ao conjunto de normas que o direito
605
.
603
Em seus dizeres: Dado que o fundamento de validade de uma norma somente pode ser outra norma, este pressuposto
tem de ser uma norma: no uma norma posta por autoridade jurdica, mas uma norma pressuposta (...) Como essa norma
a norma fundamental de uma ordem jurdica, a proposio fundamental diz: devem ser postos atos de coero sob os
pressupostos e pela forma que estatuem a primeira Constituio histrica e as normas estabelecidas em conformidade com
ela. (Teoria pura do direito, p. 224).
604
LOURIVAL VILANOVA, Escritos jurdicos e Filosficos (Teoria da norma fundamental comentrios margem de
Kelsen), vol. 1, p. 304.
605
LOURIVAL VILANOVA, Escritos jurdicos e Filosficos (Teoria da norma fundamental comentrios margem de
Kelsen), vol. 1, p. 313.
539
HANS KELSEN muito criticado por este recorte, mas o que poucos entendem
que a norma fundamental um axioma e, como tal, no se discute, nem se prova. uma proposio
que aceitamos, sem nos preocuparmos com sua origem, para podermos identificar e compreender o
direito dentro da proposta do mestre de Viena.
Toda teoria precisa de um axioma. As Cincias partem de proposies escolhidas
arbitrariamente, livres de comprovao, sobre as quais so construdas todas as demais proposies,
que inter-relacionadas formam o sistema cientfico. A Geometria euclidiana, por exemplo, parte do
postulado
606
de que por um ponto tomado fora de uma reta, pode-se fazer passar uma paralela a essa
reta e s uma e ningum discute este postulado ao estudar a geometria euclidiana. A Qumica de
Lavoisier, parte da proposio de que os elementos qumicos so as substncias mais simples que se
obtm pela decomposio de um material e todos aceitam tal proposio para conhecer a qumica de
Lavoisier, considerando, inclusive, o tomo como uma partcula do elemento e no como a substncia
mais simples da decomposio material. Se isto cabe a todas as Cincias, por que com a Cincia do
Direito haveria de ser diferente?
10. ADEQUAO S NORMAS DE PRODUO COMO CRITRIO DE PERMANNCIA
DA NORMA JURDICA NO SISTEMA
H certa confuso na doutrina jurdica entre critrios de validade da norma
(requisitos de pertencialidade) e seu fundamento de validade (fundamentao jurdica),
principalmente entre aqueles que trabalham a validade como sinnimo de existncia. Se dissermos que
uma norma valida por pertencer ao ordenamento jurdico e elegermos como critrio de pertinncia
sua adequao s normas que lhe servem de fundamento de validade, estamos abandonando o conceito
de validade como existncia e adotando a validade como atributo da norma que se adqua ao sistema.
Como sublinhado linhas acima, uma coisa a validade da norma jurdica e outra a
adequao de sua fundamentao jurdica s normas que disciplinam sua produo. Uma norma pode
pertencer ao sistema jurdico sem, no entanto, estar de acordo com as regras que disciplinam sua
produo ou a sua materialidade. A validade aferida com a relao de pertencialidade da norma para
com o sistema e no com sua adequao s demais normas existentes neste sistema. Tal averiguao
606
Alguns autores diferenciam axioma e postulado. Axiomas seriam proposies tidas como absolutamente
verdadeiras para vrios campos cientficos duas coisas iguais a uma terceira so iguais entre si. Postulados seriam
proposies tidas como verdadeiras para um campo especfico do conhecimento ex. o postulado das paralelas. Outros
entendem como axioma premissas evidentes, que se admitem como verdadeiras sem exigncia de demonstrao e como
postulado proposies no evidentes e no demonstrveis que se admitem como princpios de um sistema lgico. Neste
trabalho no nos preocupamos com estas diferenciaes e tratamos os termos como sinnimos.
540
feita num momento posterior, pressupe a sua validade e permite-nos dizer se a norma permanecer,
ou no, no sistema.
Uma lei, visivelmente inconstitucional, por exemplo, vlida, existe no plano do
direito positivo, mesmo que em descompasso com as regras constitucionais que a disciplinam, ela
produz efeitos e todos devem cumpri-la at que seja constituda juridicamente sua
inconstitucionalidade. Enquanto no impugnada, ela permanece vlida, apta a juridicizar os
acontecimentos descritos por sua hiptese imputando-lhes conseqncias jurdicas.
Nestes termos, a conformidade entre a linguagem jurdica produzida e as normas de
superior hierarquia que disciplinam sua produo critrio de permanncia no sistema e no de
validade, vez que o ordenamento prescreve um controle de produo a posteriori, ou seja, sobre o
produto j constitudo.
A titulo de controle de produo, feito o contra-posto entre as normas introduzidas
e aquelas que lhe so hierarquicamente superiores. O confronto recai sobre os dois tipos de normas
constantes do documento normativo: (i) o veculo introdutor e (ii) as normas introduzidas. Quando a
discrepncia verificada no veculo introdutor, dizemos que h vcio formal, o que demonstra alguma
inconformidade na enunciao-enunciada (i.e. autoridade incompetente ou falha no procedimento).
Quando a discrepncia verificada nas normas introduzidas, dizemos que h vicio material, o que
demonstra alguma indadequao no contedo produzido. Tambm a ttulo de controle faz-se o contra-
posto entre o fato constitudo juridicamente e a linguagem das provas apresentas e a verificao da
adequao jurdica dos enunciados tomados para fundamentao jurdica da norma produzida.
O controle de produo da linguagem jurdica sempre normativo, no recai sobre o
plano social. Mesmo quando tratamos do controle procedimental (enunciao), ou do controle de
constituio dos fatos jurdicos (provas), ele sempre realizado com a contraposio de duas ou mais
linguagens jurdicas. Neste sentido, compreendemos o recorte kelseniano, abandonando os fatos-
enunciativos e confrontando, para controle de produo (formal/material), norma com norma (normas
de produo x norma veculo introdutor e norma introduzida).
O grfico abaixo demostra tal recorte:
541
controle de produo
regulao da produo
Norma hipottica fundamental
Explicando: a linha em negrito que contorna toda a pirmide, demonstra que para o
controle da produo normativa no se leva em conta a fonte (o ato de vontade e o processo
enunciativo), apenas o que dispe os fatos jurdicos e as normas que os fundamentam.
Em sede de controle, havendo conformidade entre: (i) linguagem produzida e
linguagem jurdica de superior hierarquia que disciplina sua produo; (ii) linguagem produzida e
linguagem das provas constitudas juridicamente; e (iii) verificao da adequao jurdica da
linguagem jurdica que fundamenta a constituda; os enunciados produzidos permanecem no sistema
jurdico. No constatados estes requisitos, tais enunciados podem ser invalidados.
bom sublinhar que normas jurdicas podem perfeitamente existir na ordem do
direito positivo em contradio com outras regras qual lhe so de superior hierarquia, mesmo porque
nenhum sistema jurdico est livre de contradies. Do contrrio, teramos que aceitar ser possvel a
aplicao de norma invlida, pois certo que uma norma constituda em desacordo com o sistema,
enquanto no revogada, pode perfeitamente ser aplicada.
Digamos, por exemplo, que uma lei instituidora de certo tributo foi produzida com
vcio em seu processo enunciativo (ex. aps uma reviso do Senado no voltou votao da Cmara
dos Deputados), ou ento, com vcio de competncia (ex. utilizando como hiptese tributria uma
materialidade prpria da competncia dos Estados), ou ainda com vicio material (ex. hiptese de
incidncia prpria de taxa e a base de clculo de imposto, no mensurando o fato descrito
hipoteticamente). No momento em que ingressa no ordenamento jurdico a lei vlida, mesmo que
produzida com todos estes vcios, porque passa a existir no plano do direito posto. Numa primeira
anlise, logo observamos que ela no se encontra de acordo com as normas que regulamentam sua
CF
N2
N3
542
produo (fundamento jurdico procedimental), mas esta simples constatao no tem o condo de
impedir sua aplicao e nem de invalid-la. A lei continua existindo juridicamente e uma prova disso
que podemos impugn-la. Decorrido o prazo determinado pelo direito para o incio de sua vigncia, as
normas veiculadas por esta lei esto aptas a serem aplicadas, assim que se verificarem os fatos
descritos em suas hipteses.
Enquanto no declarada sua inconstitucionalidade, para o direito, a lei no tem
vcios, dado que estes no foram constitudos em linguagem jurdica. E, assim, a Unio, com
fundamento nesta lei, vai constituindo relaes jurdicas tributrias vlidas e cobrando o tributo at o
dia em que ela for expulsa do sistema. Certamente que, se expulsa por inconstitucionalidade com
efeitos ex tunc, tais relaes podem ser desconstitudas, mas isto se dar em momento posterior e
tambm depender de linguagem competente. Nota-se que a lei, mesmo tendo sido produzida com
incompatibilidade s normas que lhe so de superior hierarquia capaz de propagar efeitos jurdicos
porque existente no plano do direito positivo.
Neste sentido, dizemos que inconstitucionalidade e ilegalidade so desencontros
entre a linguagem produzida e aquela que serve de fundamento para sua produo. Mas, no porque
uma norma apresenta tal incompatibilidade que ela tida como invlida, pois a invalidade ainda se
encontra no plano dos fatos (no foi constituda juridicamente). Ela apenas um motivo para a
produo da linguagem que a constitui para o sistema. Para ter o condo de retirar uma norma do
sistema, o fato da inconstitucionalidade, ou da ilegalidade, deve ser constitudo juridicamente por uma
linguagem competente. De nada adianta o Joo da Silva falar que a norma inconstitucional, ou ilegal,
at a melhor doutrina pode com ele concordar, que juridicamente nada ocorrer. A norma s deixar de
ser vlida quando a inconstitucionalidade ou a ilegalidade for constituda juridicamente por pessoa
legitimada pelo sistema.
543
CAPTULO XVIII
VIGNCIA, EFICCIA E REVOGAO DAS NORMAS JURDICAS
SUMRIO: 1. Vigncia das normas jurdicas; 1.1. Vincia plena e vigncia
parcial; 1.2. Vigncia das normas gerais e abstratas e das normas individuais e
concretas; 1.3. Vigncia das regras introdutoras e das regras introduzidas; 2.
Vigncia no tempo e no espao; 2.1. Vigncia no tempo; 2.2. Vigncia no
espao; 3. Vigncia e aplicao; 4. Eficcia das normas jurdicas; 4.1. Eficcia
tcnica; 4.1.1. Eficcia sob os enfoques sinttico, semntico e pragmtico; 4.2.
Eficcia jurdica; 4.3. Eficcia social; 5. Nexo relacional entre validade, vigncia
e eficcia. 6. Revogao das normas jurdicas; 6.1. Sobre a revogao das
normas jurdicas; 6.2. Efeitos da revogao no direito.
1. VIGNCIA DAS NORMAS JURDICAS
Prximos ao conceito de validade esto os de vigncia e eficcia. To prximos que
no difcil verificar entre os autores a confuso de definies e a troca de um por outro. Por esta
razo e tambm em decorrncia do condicionamento ao recorte promovido pelo jurista para o
isolamento do objeto, h uma grande divergncia doutrinria a respeito do que so: validade, vigncia
e eficcia, o que acaba por causar um enorme embarao na compreenso do fenmeno jurdico.
No captulo anterior voltamos nossa ateno ao conceito de validade e assim o
fizemos definindo-o como sendo, no um predicado adjetivante da norma jurdica, mas uma relao de
pertencialidade entre a regra e o sistema do direito positivo, condio de sua existncia enquanto
norma jurdica. Neste captulo, nossa ateno volta-se definio dos conceitos de vigncia e eficcia,
que como j mencionamos, esto lado a lado ao conceito de validade.
Diferentemente do que ocorre com a validade, a vigncia tida como uma qualidade
de certas normas jurdicas que esto prontas para propagar efeitos jurdicos, to logo aconteam, no
mundo fctico, os eventos que elas descrevem
607
. Nestes termos, ter vigncia ter fora para irradiar
efeitos jurdicos em certo espao territorial e temporal. A vigncia uma caracterstica das normas que
esto aptas a serem aplicadas, nos dizeres e PAULO DE BARROS CARVALHO, significa o atributo
607
PAULO DE BARROS CARVALHO, Curso de direito tributrio, p. 82.
544
das normas que esto preparadas para incidir no mundo social, regulando deonticamente as condutas
intersubjetivas
608
.
muito comum encontrarmos na doutrina jurdica definies que tratam a vigncia
como o lapso temporal em que a norma apresenta a caracterstica de estar apta a propagar efeitos
jurdicos. Devemos, no entanto, ressaltar que vigncia no um intervalo de tempo, mas sim a
qualidade da norma apta a propagar efeitos jurdicos. A confuso se instaura devido ao fato das regras
apresentarem tal caracterstica em certo perodo de tempo durante sua existncia no mundo jurdico,
mas no se mantm, pois uma coisa a aptido e outra o lapso temporal em que aptido verificada.
Outro aspecto a ser ressaltado que nem toda norma jurdica vigente. H normas
positivadas, existentes no mundo do direito e, portanto, vlidas, que ainda no dispem desta aptido,
pois no tm fora para propagar as conseqncias jurdicas prescritas em seus mandamentos, sendo
suscetveis de serem aplicadas. A vigncia, assim, est diretamente relacionada prontido da norma
para incidir. As normas aptas a serem aplicadas esto prontas para incidir e propagar os efeitos que lhe
so prprios. So, portanto, regras jurdicas vigentes. As normas que no gozam desta qualificao,
no tm fora para irradiar efeitos no mundo do direito e disciplinar as condutas por elas prescritas.
So normas jurdicas no-vigentes.
As normas jurdicas no tm vigncia: (i) ou porque ainda no a adquiriram; (ii) ou
porque j a perderam.
Nos termos do artigo 1 da LICC (Decreto-lei 4.657/42), salvo disposio
contrria, a lei comea a vigorar em todo o pas quarenta e cinco dias depois de oficialmente
publicada. Isto significa dizer que, mesmo depois do seu ingresso no ordenamento (que se d com a
publicao) a regra ainda no tem aptido para produzir os efeitos que lhe so prprios. Somente o ter
(i.a) quarenta e cinco dias aps; ou salvo disposio em contrrio, quando: (i.b) o prprio documento
normativo trouxer o prazo de entrada em vigor de seus enunciados (geralmente ao final das
disposies); ou (i.c) quando este fixado em diploma de superior hierarquia (como o princpio
constitucional da anterioridade em matria tributria que prescreve a entrada em vigor das normas
instituidoras de tributo no exerccio financeiro seguinte a sua publicao ou noventa dias aps). Este
lapso de tempo em que a norma j pertence ao sistema, porm ainda no tem fora para regular as
condutas humanas que prescreve, denominado de vacatio legis.
608
Direito tributrios, fundamentos jurdicos da incidncia, p. 53.
545
A vacatio legis o tempo que o direito entende como necessrio para que todos os
membros da comunidade tomem conhecimento das novas disposies nele introduzidas, antes que elas
passem a produzir efeitos jurdicos. No decurso deste prazo a norma aguarda a data do incio de sua
vigncia. Assim sendo, ainda que se verifique o acontecimento descrito em sua hiptese, no se
propagam os efeitos jurdicos prescritos em seu conseqente, pois a regra no est apta a incidir.
Dizemos, ento, que durante a vacatio legis a norma vlida, porque existe
juridicamente, podendo, inclusive, ser objeto de controle de constitucionalidade ou legalidade, mas
ainda no vigente. Decorrido o lapso temporal da vacatio legis, a norma adquire a fora que lhe
prpria para regular condutas intersubjetivas, passando a ter a qualificao de norma vigente. E, com
essa qualificao, permanece no sistema, at que seja revogada.
1.1. Vigncia plena e vigncia parcial
A revogao no tem o condo de retirar a norma do sistema, nem sua vigncia por
completo. Em razo do princpio da irretroatividade, a norma revogada continua sendo aplicada aos
fatos que se sucederam antes de sua revogao
609
(a menos que a revogao tenha efeitos retroativos).
Assim, ainda apta a propagar efeitos no mundo jurdico, s perde o qualificativo de vigente com
relao aos fatos que se verificarem aps sua revogao, sob os quais no mais ter aptido para
incidir.
Diante desta observao, TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR distingue vigncia e
vigor. Segundo o autor, vigncia o intervalo de tempo em que a norma atua, estando apta a incidir e
vigor a fora que a norma mantm, mesmo aps ter perdido sua vigncia, para propagar efeitos aos
fatos ocorridos sob sua gide
610
. No caso da norma revogada, mas ainda aplicvel aos fatos ocorridos
antes de sua revogao, ela no vigente, mas tem vigor para propagar seus efeitos aos fatos
consumados antes a sua revogao.
Considerando relevante tal distino, PAULO DE BARROS CARVALHO entende
mais recomendvel no atribuir contedos semnticos distintos s palavras vigncia e vigor
611
. Se
609
Art. 6 da Lei de Introduo ao Cdigo Civil - A Lei em vigor ter efeito imediato e geral, respeitados o ato jurdico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Reputa-se ato jurdico perfeito o j consumado segundo a lei vigente ao
tempo em que se efetuou.
610
Introduo ao estudo do direito, p. 202.
611
Segundo as palavras do autor: O exemplo de uma regra no mais vigente, revogada, que continue vinculante para os
casos anteriores a sua revogao, justificaria a diferenciao semntica. Creio que o assunto merea, efetivamente, variao
terminolgica capaz de identificar dois momentos diferentes. Parece-me, contudo, que os termos empregados no seriam os
546
considerarmos a regra vigente como aquela que est apta a propagar efeitos, a norma revogada que
ainda pode ser aplicada aos fatos ocorridos sob sua gide, goza de tal aptido, no plenamente, como
as normas no revogadas, pois no tem o condo de propagar efeitos aos fatos ocorridos aps sua
revogao, mas, com relao aos fatos passados, ainda produz efeitos e, portanto, tem esta qualidade.
Neste sentido, o autor distingue: (i) vigncia plena, como a aptido da norma para
desencadear efeitos sobre acontecimentos futuros e passados; e (ii) vigncia parcial, como a aptido da
norma para desencadear efeitos apenas sobre acontecimentos passados (no caso de revogao), ou
apenas sobre acontecimentos futuros (quando a vigncia for nova).
A regra revogada que, em razo do princpio da irretroatividade, continua sendo
aplicada aos eventos passados (ocorridos antes de sua revogao), conserva sua vigncia, porm no
de forma plena. No dispe mais de aptido para desencadear efeitos sobre os eventos futuros
(verificados aps sua revogao). , assim, parcialmente vigente.
1.2. Vigncia das normas gerais e abstratas e das normas individuais e concretas
Como j vimos (quanto tratamos do contedo normativo, no Captulo IX), as normas
jurdicas podem ser classificadas em gerais, abstratas, individuais e concretas. As regras gerais e
abstratas tm a particularidade de conter, em seu antecedente, critrios de identificao de um fato de
futura ocorrncia e, em seu conseqente, critrios de identificao de uma relao jurdica a ser
instaurada assim que constatada juridicamente a ocorrncia do fato descrito no antecedente; e as
normas individuais e concretas, como resultado da aplicao destas primeiras, tm a especialidade de
conter, em seu antecedente a circunscrio de um fato passado, ocorrido nos moldes do descrito no
antecedente da norma geral e abstrata e, em seu conseqente, uma relao jurdica, com todos os
elementos plenamente denotados.
Diante destes conceitos, parece-nos claro que os efeitos jurdicos pertinentes s
normas gerais e abstratas no so os mesmos atinentes s normas individuais e concretas e isso ocorre
porque as primeiras so produzidas para serem aplicadas e as segundas para serem executadas.
Utilizando-nos das palavras de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR. a vigncia
exprime a exigibilidade de um comportamento, que ocorre a partir de dado momento, at que a norma
mais recomendveis. Fico com a distino, que entendo ser til e relevante, mas sem dar contedos semnticos diversos s
palavras vigncia e vigor. (Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 54).
547
seja revogada
612
. Exigibilidade, no sentido do Estado poder utilizar-se de todo seu aparato coercitivo
para ver realizado tal comportamento. As normas jurdicas gozam desta caracterstica por pertencerem
a um sistema coercitivo, mas isoladamente, para que a exigibilidade do comportamento por elas
prescrito seja concretizada no plano jurdico, elas precisam estar aptas para serem aplicadas e
executadas.
certo que muitas vezes, sem ao menos serem aplicadas, os membros da
coletividade vo realizando condutas prescritas em normas gerais e abstratas e produzindo, assim, os
efeitos sociais que lhe so peculiares. Contudo, esta ao de observncia da regra geral e abstrata,
realizada no mbito social, no gera qualquer modificao no mbito do direito positivo, o que s
acontece com a aplicao da norma por agente competente, quando ento, produzida uma regra
individual e concreta que noticia para o mundo do direito a ocorrncia de um fato jurdico e lhe atribui
as conseqncias que lhe so prprias.
J fixamos (em inmeras passagens deste trabalho) que a simples ocorrncia do
evento no suficiente para gerar qualquer efeito na ordem do direito positivo, apenas na ordem
social. Enquanto o fato no ingressar no sistema por meio de sua constituio no cdigo/programa que
lhe prprio (linguagem competente), no integra a ordem jurdica sendo incapaz de modific-la e de
nela produzir qualquer efeito. A linguagem competente, por sua vez, s constituda no ato de
aplicao. Assim sendo, se conceituamos vigncia como a aptido da norma para produzir os efeitos
jurdicos que lhe so prprios, certamente as normas gerais e abstratas s esto sujeitas a tal
predicativo quando aptas a serem aplicadas. Antes disso, no mximo podemos dizer que esto prontas
a produzirem efeitos sociais, mas no jurdicos.
Ocorrido os fatos descritos em seus antecedentes, somente as normas gerais e
abstratas, que estiverem autorizadas pelo sistema a serem aplicadas, podem juridiciz-los e implicar-
lhes relaes jurdicas, produzindo, assim, os efeitos jurdicos que lhe so prprios. Neste sentido,
analisando a vigncia das normas gerais e abstratas em termos sintticos, posicionamos a data de seu
incio como critrio temporal no antecedente das regras que obrigam sua aplicao: se verificado o
fato descrito na hiptese da norma geral e abstrata x, depois de quarenta e cinco dias da sua publicao
(ct), deve ser a obrigao do agente competente de aplic-la.
612
Introduo ao estudo do direito, p. 194.
548
Quando dissemos que a vigncia das normas est diretamente relacionada a sua
prontido para incidir, referimo-nos vigncia das normas gerais e abstratas, no das individuais e
concretas que, como j sabemos, no so produzias para serem aplicadas, e sim para serem executadas,
pois elas prprias se configuram como resultado da incidncia.
As normas individuais e concretas recebem o qualificativo de vigentes assim que
aptas a serem exigidas. Isto ocorre no momento em que ingressam no ordenamento jurdico. No
existe um lapso temporal (como ocorre com as normas gerais e abstratas na vacatio legis) para que elas
adquiram tal aptido. Elas ingressam no sistema j dotadas de vigor. Isto se justifica porque o prazo da
vacatio legis serve como perodo para a presuno do conhecimento das normas gerais e abstratas por
aqueles que lhe devem obedincia, antes que elas possam acarretar-lhes conseqncias jurdicas. No
caso das regras individuais e concretas, como o ingresso no sistema marcado pela cincia do
destinatrio a qual so especificamente dirigidas, tal prazo perde sua funo. Excepcionalmente, no
entanto, elas podem estar vinculadas a disposies que postergam sua vigncia, o que ocorre, por
exemplo, nos contratos condicionados temporalmente.
1.3. Vigncia das regras introdutoras e das regras introduzidas
No demasiado lembrar que as normas ingressam no sistema sempre aos pares: (i)
norma introduzida; e (ii) norma introdutora. Como normas que so, tanto as regras introdutoras quanto
as introduzidas, ho de ter sua vigncia marcada no tempo e espao, mas no necessariamente o marco
inicial da vigncia de ambas se confundir no mesmo momento. Neste sentido leciona PAULO DE
BARROS CARVALHO, os veculos introdutores tero sua vigncia marcada pelo timo da prpria
validade
613
. Assim que ingressam no ordenamento, as normas introdutoras produzem os efeitos que
lhe so prprios: inserem no sistema as normas por elas veiculadas. De acordo com o autor, no teria
sentido imaginar-se que a regra geral e concreta, operando como instrumento introdutor, tivesse de
esperar intervalo de tempo para, somente depois, irradiar sua vigncia, dado que a finalidade exclusiva
de tais normas inserir na ordem jurdica posta outras normas
614
. Nestes termos, as regras
introdutoras gozam de vigor assim que ingressam no ordenamento, no estando tal predicao sujeita a
qualquer decurso temporal. Isto, porm, no o que ocorre com as normas introduzidas. A capacidade
de propagar efeitos jurdicos destas ltimas est condicionada aos prazos fixados pelas regras de
vigncia, que muitas vezes no coincidem com a entrada em vigor da norma veculo introdutor.
613
Curso de direito tributrio, p. 84.
614
Idem, p. 84.
549
No coincidem, mas podem coincidir. Isto porque os enunciados do art. 1 da LICC
dispem: salvo disposio contrria, a lei comea a vigorar em todo o pas quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada. A expresso salvo disposio contrria permite que o legislador
fixe prazo diferente do imprimido no artigo em questo e, se assim o estipular, determinando que a lei
entre em vigor na data da sua publicao, o marco da vigncia das normas introduzidas coincidir com
a entrada em vigor da norma introdutora, que imediata ao seu ingresso no ordenamento.
Sobre os enunciados que prescrevem o marco temporal da entrada em vigor das
normas jurdicas, interessante saber se o mesmo atua sobre a enunciao-enunciada contribuindo,
conseqentemente, na conformao da norma veculo introdutor. A nosso ver, mesmo quando aparece
no bojo de documentos normativos (ex: esta lei entrar em vigor 120 dias aps sua publicao), tais
enunciados no compem a enunciao-enunciada formada exclusivamente por preceitos que nos
remetem instncia da enunciao. Os enunciados que prescrevem o marco temporal de vigncia das
normas jurdicas no fazem referncia ao fato enunciativo nem dispem sobre efeitos prprios da
enunciao. Pertencem, assim, ao campo do enunciado-enunciado e atua diretamente sobre ele. O
veculo introdutor, enquanto regra jurdica, tem como nica funo prescrever o ingresso das
disposies por ele veiculadas no ordenamento jurdico. Logo que entra no sistema, a norma
introdutora cumpre sua funo e, portanto, produz os efeitos jurdicos que lhe so prprios de
imediato. O momento em que as disposies por ela veiculadas se tornaro aptas a produzirem efeitos
jurdicos ocorrer numa etapa posterior, a ser disposta por outras normas, cujos enunciados de vigncia
sero relevantes para determinao do critrio temporal
615
.
Nestes termos, os enunciados de vigncia atuam na conformao do critrio temporal
das regras que atribuem o direito de aplicar e executar normas jurdicas aos agentes competentes para
tais funes, o que influi diretamente na qualidade de estarem elas aptas a produzirem as
conseqncias jurdicas que lhe so prprias, causando, assim, o efeito da protelao da
obrigatoriedade jurdica das mesmas.
615
TREK MOYSS MOUSSALLEM, que trata com preciso o tema das fontes e dos veculos introdutores, entende que
a clusula de vigncia atua diretamente sobre a enunciao-enunciada e apenas, excepcionalmente, pode operar sobre o
prprio enunciado-enunciado
615
. que, para o autor, o conseqente da norma veculo introdutor prescreve a obrigao da
comunidade observar o enunciado-enunciado inserido pela enunciao e no a obrigao de considerar como vlidos os
enunciados inseridos, como ns o fazemos. Nesta linha de raciocnio, a vigncia da norma veculo introdutor pode ser
protrada ou retrada de acordo com o prprio direito positivo, como bem entende o autor, pois a prescrio normativa da
regra introdutora no seria o ingresso no sistema das normas por ele veiculadas, mas sim a obrigatoriedade destas normas
(Revogao em matria tributria, p. 146).
550
Assim, o prazo fixado como marco inicial da vigncia protela a obrigatoriedade
das normas introduzidas, mas no da norma veculo introdutor, que prescreve o ingresso de outras
normas no sistema e produz efeitos jurdicos de imediatos. Tanto produz que a qualquer momento,
depois da publicao (mesmo antes da vacatio), permitido questionar juridicamente no s o veculo,
mas todas as normas por ele introduzidas, prova de que elas existem juridicamente e de que o veculo
introdutor produziu os efeitos jurdicos que lhe so prprios de imediato: introduziu no sistema normas
jurdicas.
Cabe-nos aqui dizer que h normas produzidas para serem aplicadas, h normas
produzidas para serem executas e mais, h tambm normas produzidas para servirem como veculo de
outras normas. Estas ltimas no nascem para serem aplicadas, vez que se consubstanciam como
resultado da aplicao de outras normas, nem so postas para serem executadas, dado a
impossibilidade jurdica de se exigir coercitivavmente a existncia de normas j introduzidas no
mundo do direito. Seus efeitos jurdicos se operam de imediato, com o aparecimento na ordem posta,
dos enunciados por elas veiculados.
2. VIGNCIA NO TEMPO E NO ESPAO
As proposies jurdicas tm sua vigncia, ou seja, a qualidade de produzirem efeitos
jurdicos, propagada no tempo e no espao. Isto porque apresentam tal atributo a partir de um marco
no tempo, durante certo perodo e dentro de um espao territorial. Falamos, assim, em: (i) vigncia no
tempo; e (ii) vigncia no espao, para referirmo-nos localizao temporal e espacial em que a norma
possui a caracterstica de ser vigente.
2.1. Vigncia no tempo
Como j registramos linhas acima, o termo inicial de vigncia das leis no tempo est
disciplinado no art. 1 da Lei de Introduo ao Cdigo Civil de forma genrica, isto nada impede,
porm, que outros prazos sejam fixados para o incio de sua vigncia, j que o prprio dispositivo
ressalta a clusula salvo disposio em contrrio. Assim, as normas entram em vigor no
ordenamento jurdico brasileiro, salvo disposio em contrrio, quarenta e cinco dias aps serem
publicadas.
Situao diferente, no entanto, a da vigncia da lei brasileira, quando admitida em
Estado estrangeiro. Sua aplicabilidade inicia-se trs meses depois de oficialmente publicada, nos
termos do 1 do art. 1 da LICC. Neste caso, temos duas situaes temporais de vigncia
551
determinadas pelo espao de vigncia. A mesma lei entra em vigor no ordenamento brasileiro, se no
houver disposio ao contrrio, quarenta e cinco dias depois de publicada, mas somente tem fora para
juridicizar fatos ocorridos no exterior, quando admitida em Estado estrangeiro, trs meses depois de
oficialmente publicada no Brasil. Durante quarenta e cinco dias, a lei tem vigor dentro do territrio
brasileiro, mas ainda no goza de tal predicao no territrio estrangeiro em que admitida.
H documentos normativos que ingressam no sistema jurdico com prazo de vigncia
de suas normas previamente definido. Estas regras so denominadas de normas de vigncia
temporria, pois esto aptas a produzirem efeitos jurdicos apenas durante certo perodo de tempo,
estipulado geralmente no prprio documento normativo que lhes serve de suporte fsico. Findo o prazo
prescrito, elas perdem tal aptido com relao aos fatos futuros, automaticamente, sem qualquer outra
interferncia jurdica. Isto ocorre, por exemplo, no caso das leis vigentes em perodo de guerra, das
medidas provisrias, das normas que concedem iseno tributria por prazo certo, etc. No se
destinando vigncia temporria, decorrido o prazo da vacatio legis e se no revogada neste perodo, a
lei tem vigor at que outra a modifique ou a revogue. o que dispe o art. 2 da Lei de Introduo ao
Cdigo Civil. Lembrando sempre das lies de TREK MOYSS MOUSSALEM, em sintonia com
nosso sistema de referncia que: o ter, o no ter, o suspender, o prorrogar vigncia sempre funo
ilocucionria de um ato de fala dentico
616
. Seja temporria ou no, a vigncia das normas jurdicas
ser sempre estabelecida pela prpria linguagem do direito.
Alm de estabelecida pela linguagem do direito, Cronologicamente, iniciado o
perodo de vigncia, este, forosamente, deve estar contido no intervalo de validade da norma, pois
no existe proposio normativa vigente que no seja vlida.
Ainda com relao vigncia no tempo, no se deve confundir o perodo de vigncia
com o momento de ocorrncia do fato ao qual imputado conseqncias jurdicas, delimitado pelo
critrio temporal das hipteses normativas (conforme j ressaltamos quando tratamos do critrio
temporal da regra-matriz, no captulo X). O critrio temporal diz respeito ao instante em que se
considera ocorrido, no mundo social, o evento que, mais tarde, o direito, mediante um ato de aplicao,
constituir como fato jurdico. O tempo de vigncia da norma concerne ao perodo em que esta est
apta a produzir efeitos no mundo jurdico, intervalo entre incio e trmino de sua vigncia.
Seguramente que o momento de consumao do fato guarda relao com tempo de vigncia da norma,
pois, para que a ele sejam imputados efeitos jurdicos, deve ocorrer dentro do intervalo de vigncia
616
Revogao em matria tributria, p. 150.
552
(exceto no caso de retroatividade). Contudo, os tempos no se confundem, o critrio temporal das
normas jurdicas aponta para um marco, um ponto no tempo, enquanto o perodo de vigncia das
normas jurdicas indica um intervalo entre um ponto e outro no tempo.
2.2. Vigncia no espao
A vigncia da lei no espao est pautada no fato do Brasil, juridicamente, ser uma
Repblica Federativa e da sua Constituio estabelecer a autonomia entre os entes federados: Unio,
Estados, Distrito Federal e Municpios. A princpio, as regras vigoram na estrita dimenso territorial
do ente poltico que as instituiu. As normas criadas pelos Municpios esto aptas a produzir efeitos
apenas dentro dos limites municipais. A vigncia das normas produzidas pelos Estados e Distrito
Federal est adstrita, respectivamente, s fronteiras estatais e ao permetro distrital. E, as regras
institudas pela Unio s esto qualificadas a propagar conseqncias jurdicas dentro dos limites
territoriais brasileiro.
Excepcionalmente, no entanto, a vigncia de certas normas jurdicas pode extrapolar
a dimenso territorial do ente que as produziu, causando o efeito denominado pelo direito de
extraterritorialidade da lei. Isto ocorre, no caso dos Estados e Municpios, quando celebrados
convnios ou acordos que reconheam a extraterritorialidade, as normas editadas pelos entes,
participantes do convnio ou do acordo, passam a ser vigentes tambm em outro territrio, mas to
somente nos estritos limites em que a extraterritorialidade foi concedida. O mesmo verificado com a
Unio: na qualidade de pessoa poltica de direito pblico interno, suas normas tm vigncia
circunscrita aos limites do territrio brasileiro; j como pessoa poltica de direito internacional, ao
assinar tratados e convenes com outros pases, tem o condo de imprimir vigncia a suas normas em
territrio estrangeiro.
Seja como for, territorial ou extraterritorial, a vigncia das proposies jurdicas
sempre delimitada no espao pela prpria linguagem do direito.
Ainda com relao vigncia no espao, tambm no se deve confundir o tempo de
vigncia das regras jurdicas com o critrio espacial das hipteses normativas, no se deve misturar os
conceitos de espao de vigncia da norma e a delimitao espacial do fato contido em sua hiptese
(conforme j ressaltamos quando tratamos do critrio espacial da regra-matriz). O espao de vigncia
de uma regra a extenso territorial em que ela est apta a produzir efeitos jurdicos, o critrio espacial
delimita o campo de ocorrncia do evento, ao qual sero imputadas conseqncias jurdicas, quando da
553
aplicao da norma. So, portanto, entidades ontologicamente distintas, que no se confundem. certo
que em algumas no raras circunstncias, encontramos identificado no critrio espacial o prprio plano
de vigncia territorial da lei, mas isto no uma feio juridicamente obrigatria.
3. VIGNCIA E APLICAO
Embora muito comum a confuso, dentro da concepo que adotamos, no se
misturam os conceitos de vigncia e aplicao das normas. O ter vigor uma qualidade normativa, a
aplicao (como j vimos quando tratamos da incidncia, no captulo XI) uma atuao humana
mediante a qual se d curso ao processo de positivao do direito, fazendo incidir, no caso particular, a
norma geral e abstrata, imputando ao fato conseqncias jurdicas, mediante a constituio da
linguagem competente da norma individual e concreta.
Vigncia e aplicao se relacionam, mas no se misturam. Algumas normas vigentes
podem no ser aplicadas e outras normas serem aplicadas sem terem vigncia plena.
Uma norma vigente pode no ser aplicada, por: (i) falta de ocorrncia emprica do
fato descrito em sua hiptese; (ii) falta de complementao jurdica necessria; (iii) existncia de outra
regra que impea sua incidncia; ou ainda, (iv) ter cado no desuso dos tribunais (situaes que
analisaremos melhor quando tratarmos da eficcia das normas jurdicas). Mas, mesmo no sendo
aplicada, ela continua tendo vigor, estando apta a propagar efeitos jurdicos.
O ato de aplicao concretiza o aspecto dinmico do direito e encontra-se entre a
vigncia e a eficcia normativa. Norma vigente aquela que est apta a ser aplicada (ou executada, no
caso das individuais e concretas), com a aplicao propagam-se as conseqncias jurdicas que lhe so
prprias e, se verificado, no plano social, a alterao prescrita pelo legislador, tambm os efeitos
sociais que lhe so pertinentes. A inaplicabilidade reiterada das regras de direito demonstra a ineficcia
das disposies pela ausncia de efetividade da norma em regular as condutas que prescreve. A norma
pode estar apta a ser aplicada e, portanto, vigente, mas sem o ato de aplicao, efetivamente, no
produz qualquer efeito na ordem jurdica.
4. EFICCIA DAS NORMAS JURDICAS
A palavra eficcia, no mbito jurdico, est relacionada produo de efeitos
normativos, isto , efetiva irradiao das conseqncias prprias norma. Muitos juristas a utilizam
554
como sinnimo de vigncia, denotando a qualidade da norma de produzir efeitos, mas, vigncia e
eficcia no se confundem. Uma coisa a norma estar apta a produzir as conseqncias que lhe so
prprias, outra coisa a produo destas conseqncias. Existem regras jurdicas que gozam de tal
aptido, mas efetivamente no produzem qualquer efeito na ordem do direito, nem na ordem social,
porque no incidem, ou porque no so cumpridas por seus destinatrios.
PAULO DE BARROS CARVALHO, no compasso das idias de TRCIO
SAMPAIO FERRAZ JR. distingue trs ngulos de anlise da eficcia, a saber: (i) eficcia tcnica; (ii)
eficcia jurdica; e (iii) eficcia social.
A primeira, eficcia tcnica, a qualidade que a norma ostenta, no sentido de
descrever fatos que, uma vez ocorridos, tenham aptido de irradiar efeitos, j removidos os obstculos
materiais ou as impropriedades sintticas. Tal ngulo proporciona a anlise dos efeitos relacionados
norma jurdica. A segunda, Eficcia jurdica, predicado dos fatos jurdicos de desencadearem as
conseqncias que o ordenamento prev, permite o estudo dos efeitos relacionados ao fato jurdico. A
terceira, eficcia social, a produo concreta de resultados na ordem dos fatos sociais
617
, permite-nos
especulaes sobre os efeitos das normas no plano social. Os dois primeiros enfoques so jurdicos,
interessam Dogmtica, ao passo que o ltimo direcionado ao plano das condutas intersubjetivas,
interessa Sociologia Jurdica, fugindo do campo de delimitao da Cincia do Direito estrito sensu.
Mas, vejamos cada uma delas separadamente.
4.1 Eficcia tcnica
Eficcia tcnica, assim como a vigncia, uma caracterstica da norma jurdica de
irradiar efeitos no mundo do direito positivo. As disposies jurdicas esto aptas a produzirem
conseqncias no plano normativo assim que decorrido o prazo de sua vacatio legis, no entanto, s
efetivamente produzem tais conseqncias depois de aplicadas. Ocorre que, mesmo aptas a produzirem
efeitos, certas normas no conseguem juridicizar os fatos descritos em seus antecedentes, por
depararem-se com obstculos que impedem sua aplicao (no caso das normas gerais e abstratas), ou
sua exigibilidade (no caso das normas individuais e concretas). Dizemos, ento, que tais normas so
vigentes, mas no tm eficcia tcnica, isto , no desencadeiam os efeitos jurdicos que lhe so
prprios, mesmo estando aptas a tanto.
617
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 56.
555
No havendo obstculos aplicao ou execuo, as regras jurdicas adquirem
eficcia tcnica no momento em que passam a ser vigentes. Aparecendo qualquer entrave que as
impea de serem aplicadas, enquanto no revogadas ou modificadas, as normas perdem o qualificativo
de tecnicamente eficazes at que o entrave seja afastado. Nestes termos, durante o perodo de sua
existncia (validade) uma proposio jurdica pode perder e recuperar sua eficcia tcnica por vrias
vezes, dependendo do nmero de obstculos que encontre pela frente. Mas, a caracterstica de ser
vigente s se adquire e se perde uma nica vez.
Em suma: uma norma jurdica tecnicamente eficaz quando presentes, no
ordenamento, todas as condies operacionais que garantem sua aplicao, ou exigibilidade. A falta
destas condies gera a ineficcia da norma, no podendo mais ser ela aplicada ou exigida at que a
situao ideal se restabelea.
4.1.1. Ineficcia tcnica sob os enfoques sinttico, semntico e pragmtico
Trabalhando o direito como um grande sistema comunicacional, podemos analisar a
falta destas condies tcnicas da linguagem jurdica, com auxilio de recursos da Semitica, sob os
enfoques sinttico, semntico e pragmtico. Assim, distinguem-se em: (i) ineficcia tcnica sinttica;
(ii) ineficcia tcnica semntica; e (iv) ineficcia tcnica pragmtica. No campo das investigaes
sintticas deparamo-nos com a inibio da produo dos efeitos normativos em decorrncia de enlaces
entre normas, ou a falta deles, quando pressupostos pelo sistema; No plano semntico, nossa ateno
se volta aos obstculos de ordem material que se impem aplicao da linguagem jurdica. E, no
campo pragmtico, s barreiras impostas por aqueles que lidam com a linguagem do direito.
Mas vejamos mais especificadamente cada um destes enfoques:
(i) H ineficcia tcnica sinttica quando a norma no pode produzir seus efeitos: (a)
pela existncia no ordenamento de outra norma inibidora de sua incidncia; ou (b) pela falta de outras
regras regulamentadoras, de igual ou inferior hierarquia. No primeiro caso, podemos citar como
exemplo a liminar suspensiva da exigibilidade do crdito tributrio, que, enquanto vigente, retira a
eficcia tcnica da norma tributria individual e concreta, impedindo sua execuo e a resoluo do
senado decorrente de declarao de inconstitucionalidade entre partes (controle difuso), que impede a
incidncia da norma declarada inconstitucional at que ela seja revogada pelo rgo competente. Em
ambas as circunstncias verifica-se a existncia de uma norma jurdica como obstculo para a atuao
de outra norma, trata-se de ineficcia tcnica sinttica, dado que o impedimento para produo de
556
efeitos decorre da relao entre normas. Para exemplificar o segundo caso de ineficcia sinttica,
TRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. cita a regra que prescreve serem os crimes hediondos inafianveis,
mas transfere para outra norma a definio de hediondo
618
, condicionando sua eficcia tcnica, no
mbito sinttico, vigncia daquela. Nesta hiptese o obstculo a falta de regulamentao
complementar, a ausncia de um enlace inter-normativo que o direito pressupe para atuao da
norma que probe fiana nos crimes hediondos.
Enquanto a ineficcia tcnica sinttica diz respeito s condies formais que
impedem a incidncia normativa, a ineficcia tcnica semntica volta-se s condies materiais sem as
quais a linguagem jurdica no pode produzir os efeitos que lhe so prprios. Quando, por exemplo, a
norma descreve, em seu antecedente, um fato de impossvel realizao social, ela semanticamente
ineficaz. Trata-se de um sem-sentido dentico nos dizeres de LOURIVAL VILANOVA. A norma
vlida, pois existente no ordenamento, vigente aps decorrido o prazo da vacatio legis, enquanto no
revogada ou modificada, mas tecnicamente no tem eficcia de ordem semntica, pois no pode incidir
enquanto no passvel de ser realizado o fato por ela descrito. O mesmo ocorre com a regra que
prescreve um comportamento impossvel de realizao, ela pode at ser aplicada, mas h bice de
natureza material a sua execuo. Em ambas situaes a norma deixa de produzir os efeitos que lhe so
pertinentes por impedimentos referentes ao objeto ao qual a linguagem jurdica alude, por falta de
sentido jurdico. A ineficcia semntica est relacionada ao contedo da norma. Tambm a
verificamos quando da impossibilidade de se identificar o alcance da regra por falta de algum elemento
significativo, por exemplo, o critrio temporal da hiptese normativa
619
.
J na ineficcia pragmtica as barreiras impostas aplicao da norma decorrem
daqueles que lidam com a linguagem jurdica. H regras vlidas, vigentes, mas que caem no desuso
dos tribunais, no sendo mais aplicadas pela convico de certo grupo de pessoas encarregadas de
fazerem incidir a linguagem do direito sobre a da faticidade social. Enquanto no revogadas ou
modificadas por uma linguagem jurdica tais normas permanecem vlidas e vigentes no ordenamento,
mas sem eficcia pragmtica. o caso, por exemplo, da norma tipificadora do crime de seduo, que
deixou de ser aplicada pelo desuso, mesmo antes de ser revogada.
618
Introduo ao estudo do direito, p. 196.
619
No exemplo sobre ineficcia sinttica da norma que prescreve serem os crimes hediondos inafianveis, verifica-se alm
da ineficcia sinttica uma ineficcia semntica, ligada ao sentido da norma, vez que, enquanto no produzida a norma
complementar, a regra que prescreve a inafianabilidade dos crimes hediondos no tem sentido dentico, enquanto no
produzida a regra que dispe quais crimes so hediondos. O mais adequado, ento, seria dizer ineficcia tcnica sinttico-
semntica.
557
4.2. Eficcia jurdica
Diferente da eficcia tcnica, que caracterstica da norma que no encontra
obstculos de ordem sinttica, semntica, ou pragmtica para incidir, a eficcia jurdica propriedade
do fato jurdico, atribuda em decorrncia da aplicao da norma jurdica. , nos dizeres de PAULO
DE BARROS CARVALHO, a potencialidade inerente aos fatos juridicizados de provocarem o
nascimento de relaes deonticamente modalizadas
620
ou seja, de desencadear efeitos jurdicos.
A eficcia jurdica decorre do vnculo, da causalidade jurdica, vnculo segundo o
qual verificado para o direito o fato descrito na hiptese normativa, instala-se a relao jurdica, como
seu efeito imediato. Em outros termos, a aptido do fato jurdico de propagar os efeitos que lhe so
prprios na ordem jurdica, em decorrncia da causalidade normativa. , assim, propriedade do fato e
no da norma. Afasta-se o fato jurdico e desaparecem os efeitos no plano do direito. Ainda que a
norma exista, sem a verificao do fato (em linguagem competente), juridicamente, nenhum efeito se
propaga.
Em vrias passagens do trabalho frisamos a diferena entre o mundo social e a
realidade do direito positivo, duas linguagens que no se coincidem e no se misturam. Para que as
ocorrncias do mundo social produzam efeitos no plano do direito positivo preciso que estas sejam
trazidas para dentro do ordenamento, o que se d apenas com a enunciao em linguagem competente.
De acordo com este sistema de referncia, sem que haja enunciao por agente credenciado, o simples
acontecimento no mundo social, que encontra identidade em uma hiptese normativa, permanece fora
da realidade jurdica sem nela produzir qualquer efeito. A ocorrncia verificada nos moldes descrito na
hiptese normativa, s tem eficcia jurdica depois de relatada em linguagem competente no
antecedente de norma concreta, isto , depois de juridicizado. Antes disso, no capaz de produzir
efeitos de ordem jurdica, apenas de ordem social. Assim, para que ao fato seja atribudo o
qualificativo de juridicamente eficaz, no basta que ele ocorra nos moldes da hiptese normativa,
indispensvel sua constituio em linguagem competente, o que se d no bojo do antecedente de uma
norma concreta.
Na doutrina jurdica comum encontrarmos o uso do termo eficcia jurdica em
vrios outros sentidos, como por exemplo: (i) capacidade da norma de produzir efeitos; (ii)
possibilidade de produzir efeitos assim que ocorrido o fato descrito em seu antecedente; (iii) a
620
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 55.
558
produo de efeitos propriamente dita; e (iv) observncia por parte dos destinatrios. Comentemos
cada uma deles:
(i) Quando tratamos da capacidade da norma de produzir efeitos, referimo-nos a uma
caracterstica da norma e no do fato jurdico, trata-se aqui de sua vigncia, se considerarmos a aptido
para irradiar conseqncias, ou de eficcia tcnica, se tal capacidade fizer referncia falta de bice a
sua incidncia, mas no se trata de eficcia jurdica que qualificativo do fato jurdico e no da norma.
(ii) A possibilidade de produzir efeitos assim que ocorrido o fato descrito em seu
antecedente, diz respeito possibilidade de incidncia da norma. Verificado, no mundo social, um
acontecimento que guarda identidade hiptese normativa, a norma pode ser aplicada e, assim,
produzir os efeitos imputados ao fato jurdico em decorrncia da causalidade normativa. Em nosso
sistema de referncia, neste instante, o fato ainda no tem eficcia jurdica, pois ainda no enunciado
em linguagem competente. Mas, para aqueles que trabalham com as premissas de PONTES DE
MIRANDA, no momento de sua ocorrncia emprica o fato j guarda o predicativo de ser eficaz
juridicamente.
(iii) Quanto produo de efeitos propriamente dita, o sentido no qual empregamos
a expresso eficcia jurdica neste trabalho, predicativo prprio do fato, constitudo juridicamente,
de irradiar a relao jurdica que lhe correlata, em razo da causalidade inter-normativa.
(iv) A observncia por parte dos destinatrios da norma se d no plano da realidade
social, tal efeito no jurdico, no implementa o sistema do direito, e sim o sistema social. Neste
sentido, no se trata de eficcia jurdica, pois a simples observncia da norma por parte dos
destinatrios, no resulta o desencadeamento de qualquer conseqncia no mbito do direito, a menos
que com tal ao, se produza uma linguagem competente. Trata-se de eficcia social, que diz respeito a
modificaes na ordem das condutas intersubjetivas.
Alm destas acepes, freqentemente, verifica-se o uso da expresso eficcia
jurdica para denotar a caracterstica da norma aplicada dizendo que ela, quando incidida, tem eficcia
jurdica. Afastada a impropriedade terminolgica, vez que o efeito jurdico propriedade do fato e no
da norma, pode-se argumentar que, indiretamente, eles tambm pertencem s proposies aplicadas,
vez que em decorrncia da incidncia delas que o fato juridicizado e os efeitos se propagam. Neste
sentido, ressalvadas as devidas imprecises do uso da linguagem, podemos separar: (i) eficcia jurdica
stricto sensu como a caracterstica inerente ao fato jurdico de irradiar os efeitos que lhe so prprios; e
559
(ii) eficcia jurdica lato sensu, como qualificativo da norma que j foi aplicada. Dizer que uma norma
tem eficcia jurdica em sentido amplo, significa afirmar que ela serviu como fundamento para
enunciao de outra norma, isto , que ela incidiu.
4.3. Eficcia social
O direito um instrumento utilizado pelo homem com a finalidade de regular
condutas inter-subjetivas, visando a concretizao de certos valores pela sociedade. Para implementar
esta finalidade, normas jurdicas so produzidas para serem cumpridas. O cumprimento das regras por
todos os membros da comunidade o efeito mais aguardado, pois ele representa a concretizao da
finalidade jurdica. A eficcia social de uma norma diz respeito a este efeito, verificando-se toda vez
que a conduta fixada pela regra jurdica adimplida por seus destinatrios.
Eficcia social da norma jurdica, nestes termos, trata-se da sua efetividade no plano
das condutas inter-subjetivas. Quando uma regra reiteradamente observada por seus destinatrios ela
socialmente eficaz, ao passo que, quando a conduta por ela prescrita frequentemente desrespeitada,
ela socialmente ineficaz. Nos dizeres de PAULO DE BARROS CARVALHO, eficcia social diz
respeito aos padres de acatamento com que a comunidade responde aos mandamentos de uma norma
jurdica historicamente dada
621
. Uma proposio jurdica pode ter eficcia social antes mesmo de ser
vigente e at depois que deixar de pertencer ao direito positivo, desde que continue sendo observada de
forma reiterada por seus destinatrios.
O socialmente eficaz diz respeito satisfao dos objetivos visados pela norma no
campo das relaes inter-humanas, o que pode coincidir, ou no, com a produo de efeitos no plano
jurdico. Pode ser que uma norma reiteradamente aplicada e, portanto, gozando de eficcia (em sentido
lato), nunca seja socialmente eficaz, porque a conduta nela prevista no se efetive de forma reiterada
no seio da comunidade. Pode ser, tambm, que uma norma no freqentemente aplicada, tenha eficcia
social devido reiterada observncia de suas disposies. O fato que para o direito irrelevante se a
conduta prescrita cumprida ou no, por isso, este tipo de eficcia no est relacionada aos efeitos
jurdicos decorrentes da aplicao da norma, e sim s conseqncias que esta implementa no plano das
relaes entre sujeitos, isto , aos efeitos que esto fora do mbito jurdico.
O conceito de eficcia social se estende desde as normas gerais e abstratas at as
individuais e concretas, a diferena que a abrangncia dos efeitos sociais destas ltimas
621
Curso de direito tributrio, p. 82.
560
direcionada. Uma norma jurdica individual e concreta tem eficcia social quando cumprida por seu
destinatrio, ao passo que as regras gerais e abstratas se dizem socialmente eficazes quando se d a
observncia da conduta nelas prescrita de forma reiterada pelos membros de toda uma comunidade.
5. VALIDADE, VIGNCIA E EFICCIA
Sintetizando tudo o que foi dito at aqui temos:
1. Validade o vnculo de pertencialidade que se instaura entre a norma jurdica e o
sistema do direito positivo. Tal vnculo designa sua existncia no ordenamento, de modo que a norma
vlida aquela que existe juridicamente.
2. Vigncia a qualidade da norma jurdica, que est apta a produzir efeitos no
mundo do direito. adquirida aps o decurso do prazo da vacatio legis e se estende integralmente at
o momento em que revogada, ou em que se esgota o prazo prescrito para sua durao, quando passa,
ento, a apresentar tal caracterstica parcialmente (apenas em relao aos fatos passados), at que se
esgotem todas as possibilidades de sua aplicao.
3. Eficcia refere-se produo de efeitos normativos, pode ser dividida em trs
espcies: (i) eficcia tcnica que a caracterstica da norma jurdica que apresenta todas as condies
para ser aplicada, ou executada; (ii) eficcia jurdica em sentido estrito a qualidade do fato
jurdico de produzir os efeitos que lhe so prprios, devido causalidade intra-normativa, em
decorrncia da aplicao de normas jurdicas; e em sentido amplo o predicativo atribudo norma
aplicada; (iii) eficcia social a propriedade da norma jurdica de desencadear efeitos sociais,
observada quando do seu cumprimento reiterado pelos membros da coletividade.
Para entender melhor tais conceitos socorremo-nos da didtica dos exemplos.
Imaginemos uma lei publicada em 07/06/77 e revogada em 02/02/2000, cuja complementao que lhe
era pendente foi dada em 03/09/78, mas que at 26/05/79 nunca foi obedecida, pois carente de sano
adequada. Em 06/06/77 a lei ainda no era vlida, no existia no ordenamento jurdico e, portanto,
tambm no era vigente nem eficaz. Em 07/06/77, com a sua publicao, a referida lei passa a
pertencer ao direito posto, vlida, porm, ainda no vigente. Quarenta e cinco dias aps, mais
precisamente no dia 22/07/77 (se nada disps ao contrrio) ela se torna vigente para os fatos futuros
622
,
mas ainda no goza de eficcia tcnica vez que lhe falta certa complementao. A lei adquire o
622
E, no instante seguinte, tambm para os fatos passados, quando ento adquire vigncia plena.
561
qualificativo de tecnicamente eficaz assim que sua complementao passa a ter vigor no ordenamento
jurdico, o que ocorre em 03/09/78. A parir desta data, sendo aplicada, h eficcia jurdica
(caracterstica do fato). At 26/05/79 a lei socialmente ineficaz, mas depois de agravada, sua sano
passa a ser observada e, ento, adquire eficcia social. Aps sua revogao ela continua vlida,
parcialmente vigente e tecnicamente eficaz, at quando no mais puder ser aplicada aos fatos ocorridos
entre 22/07/77 e 02/02/2000.
Dado o exemplo e relacionando os conceitos de validade, vigncia e eficcia, temos
que:
(i) uma norma pode ser vlida, porque existente juridicamente, mas no ser vigente,
por ainda no ter decorrido o prazo fixado para a sua vacatio legis;
(ii) pode ser vlida e vigente mas no ter eficcia tcnica, devido existncia de
algum obstculo que impea sua incidncia;
(iii) pode ser vlida, vigente, ter eficcia tcnica, mas no ter eficcia jurdica (em
sentido amplo), porque ainda no aplicada em decorrncia da falta de ocorrncia do fato descrito em
seu antecedente;
(iv) pode ainda ser vlida, no ser vigente, ou no ter eficcia tcnica e ser
socialmente eficaz, caso seus destinatrios cumpram reiteradamente a conduta por ela prescrita; mas,
(v) no pode ser eficaz (tcnica ou juridicamente) se no vigente;
(vi) nem vigente ou eficaz se no vlida.
De tais consideraes inferimos que a norma vigente necessariamente vlida e que
a norma eficaz necessariamente vigente. A eficcia, tanto como predicativo da norma, como
caracterstica do fato (exceto a eficcia social), pressupe a vigncia da norma e esta, por sua vez
pressupe a sua validade. Uma norma no vigente se no for vlida e no eficaz enquanto no
vigente.
562
6. REVOGAO DAS NORMAS JURDICAS
A revogao, antes de tudo, uma palavra que, como tantas outras, sofre com os
problemas da ambigidade e da vaguidade. Tal crtica no escapou aos olhos de TREK MOYSES
MOUSSALLEM que, em inovador e aprofundado estudo sobre o tema, ao analis-lo sobre os
pressupostos da teoria do discurso e dos atos de fala, encontrou treze acepes para o termo
623
, dentre
as quais ressaltamos sete: (i) ato; (ii) efeito de tal ato e suas variantes; (ii.a) expulso da norma do
sistema (perda da validade); (ii.b) perda da vigncia; (ii.c) perda da eficcia; (iii) ab-rogao; (iv)
derrogao; (vi) anulao; e (vii) conflitos de normas.
Em seu sentido de base, aquele presente nos dicionrios, revogar retirar,
desconstituir, desdizer algo. Sem o rigor da preciso, sua utilizao no mbito jurdico marca o trmino
da trajetria da norma no sistema do direito positivo. Cronologicamente, a histria das normas
jurdicas inicia-se com sua enunciao (mais precisamente com a publicao, aps serem promulgadas
por procedimento prprio e autoridade competente), depois de postas, elas passam a produzir efeitos
jurdicos com a aplicao e caminham ao seu fim com a revogao. Neste sentido, como bem observa
PAULO DE BARROS CARVALHO, no fenmeno revogatrio que o sistema vai adquirindo novas
configuraes, como se fosse uma formao de nuvens no cu
624
.
H, no entanto, na doutrina uma confuso de conceitos grande parte em razo da
ambigidade do termo, que acaba por causar um obstculo compreenso do fenmeno. A falta de
preciso em relao ao objeto da revogao, as suas espcies e aos efeitos revogatrios tambm
contribuem para instaurar tal confuso, afinal, com a revogao a norma perde a validade, vigncia ou
eficcia? So questes que analisaremos a seguir, utilizando-nos, para tanto, dos pressupostos da teoria
da linguagem.
6.1. Sobre a revogao das normas jurdicas
Em primeiro lugar, de se verificar que o conceito de revogao engloba a idia
do ato de revogar; da norma revogadora; e do efeito revogador, imerso na trialidade existencial entre
ato, norma e produto inerente a todos os institutos jurdicos. Partindo do pressuposto que o direito
um corpo de linguagem prescritiva, para que o fenmeno da revogao se concretize necessrio a
produo de um ato (por autoridade competente mediante procedimento prprio), isto , h de ser
constituda uma linguagem jurdica revogatria. Tal ato veicula no sistema uma norma jurdica que
623
Revogao em matria tributria, p. 171.
624
Idem, prefcio, p. XIII.
563
enseja o efeito de revogar outras normas. Neste sentido, a revogao pode ser analisada sob estes trs
enfoques: (i) ato; (ii) norma; (iii) efeito.
Analisar a revogao enquanto ato/norma s refora a postura assumida de que todos
os efeitos produzidos na ordem jurdica pressupem a constituio de uma linguagem. No poderia ser
diferente com a revogao. Ela tem que ser constituda juridicamente. Sob este ponto de vista, perde
fora a denominada revogao tcita como espcie de revogao.
A doutrina jurdica, com base nas disposies do artigo 2, 1 da Lei de Introduo
ao Cdigo Civil
625
separa: (i) revogao expressa e (ii) revogao tcita, dizendo haver a primeira
quando a lei revogadora indica expressamente aquilo que est sendo revogado e a segunda, quando
existe alguma incompatibilidade entre a norma anterior e a posterior, ou quando esta ltima regula
inteiramente matria de que tratava a anterior. Se considerarmos a revogao como efeito jurdico, em
ambos os casos as conseqncias sero as mesmas: a norma revogada ou incompatvel deixa de ser
aplicada aos fatos verificados aps a vigncia da regra revogatria ou da regra posterior. No entanto,
ao considerarmos a revogao na sua trialidade existencial, ela no aparece como funo de normas
conflitantes, mas como especfica funo de ato de fala dentico (norma revogadora) que opera sobre
outros atos de fala denticos, conforme observado por TREK MOYSES MOUSSALLEM.
Nas palavras do autor: a revogao tcita, enquanto situao ontolgicamente
subjetiva, no juridicamente relevante. Para s-lo depende de manifestao lingstica. E no
qualquer manifestao, mas to-somente objetivao em linguagem prescritiva do direito positivo.
Mesmo que se tenham duas normas em conflito, o conflito s sanvel mediante a interposio de um
terceiro elemento: o ato de fala dentico revogador
626
. Enquanto no for constituda juridicamente,
no se pode falar em revogao, pois, condizentes com a proposta metodolgica que seguimos, ela no
se resume numa operao intelectual. funo (efeito) de ato de fala dentico (norma jurdica)
dirigido sempre a outro ato de fala tambm dentico.
Conforme j dito (quando tratamos da interpretao e da teoria da deciso, no
captulo XII), na denominada revogao tcita o aplicador no expulsa o enunciado do sistema, pois
inexiste ato revogatrio (constituio em linguagem competente - como ocorre na revogao
625
Art. 2 No se destinando vigncia temporria, a lei ter vigor at que outra a modifique ou revogue.
1 A lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare, quando seja ela incompatvel ou quando regule
inteiramente a matria de que tratava a lei anterior.
626
Revogao em matria tributria, p. 211.
564
expressa). Ele, simplesmente, deixa de aplicar a norma que, aps sua interpretao, em razo de
conflitar com outras do sistema, considera no aplicvel. Como explica GABRIEL IVO, evidente
que, ao no aplicar a norma que entende no pertencer ao sistema, o aplicador afasta, tambm, para
aquele caso especfico, a disposio que lhe oferece suporte. Afasta, pe de lado. No a expulsa do
sistema jurdico. Ela permanece e pode, com fundamento em outras normas construdas por meio de
outros intrpretes, fruto de interpretaes fundadas em outros pressupostos, ser aplicada
627
.
Como, no entanto, em relao s conseqncias jurdicas do ato-norma revogao e
do conflito de regras se equiparam, ao invs de utilizarmos a terminologia revogao expressa e
revogao tcita, preferimos trabalhar com o uso da palavra em acepo ampla e estrita. Em sentido
estrito o termo revogao reporta-se trialidade existencial do fenmeno, pressupondo um ato de fala
dentico (norma jurdica) dirigido a outro com a finalidade de pr fim atividade jurdica deste. Em
sentido amplo refere-se ao efeito, englobando aquilo que a doutrina denomina de revogao tcita e
o ato de anulao.
A anulao, em termos estritos, diferencia-se da revogao em razo do pressuposto
que a antecede. Um enunciado jurdico anulado mediante a constituio de um contra-enunciado, em
decorrncia da existncia de vcio formal ou material do enunciado anterior. A anulao, neste sentido,
pressupe sempre um vcio, o que no acontece com a revogao.
A doutrina tradicional, ainda, diferencia a revogao (enquanto norma jurdica),
levando-se em conta o objeto sobre o qual incide, em duas espcies,: (i) ab-rogao, como sendo a
supresso total de uma lei (ex: primeira parte do art. 2.045 do novo Cdigo Civil revogam-se a Lei
3.071, de 1 de janeiro de 1916 antigo Cdigo Civil); e (ii) derrogao, como sendo a supresso
apenas de alguns dispositivos de uma lei (ex: segunda parte do citado artigo 2.045 do novo Cdigo
Civil revogam-se... e a Parte Primeira do Cdigo Comercial, Lei 556, de junho de 1850).
Com os recursos de que dispomos e com a anlise voltada teoria dos discursos,
principalmente em relao s fontes do direito, logo nota-se que a denominada ab-rogao trata-se
de uma revogao incidente sobre a enunciao-enunciada, que marca o fim da trajetria jurdica da
norma veculo introdutor e, conseqentemente, com ela, de todo seu enunciado-enunciado. J a
derrogao trata-se de uma revogao incidente sobre o enunciado-enunciado de dado documento
normativo. Neste sentido, explica TREK MOYSS MOUSSALLEM: O ataque enunciao-
627
Norma jurdica: produo e controle, p. 105-106.
565
enunciada tem por obiectum effectum a inaplicabilidae de todos os enunciados-enunciados daquele
documento normativo para os casos ocorridos aps a entrada em vigor do ato de fala revogador. A
investida contra o enunciado-enunciado tem por obiectum effectum apenas a inaplicabilidade do
enunciado-enunciado (obiectum effectum) para os casos ocorridos aps a entrada em vigor do ato
revogador
628
.
6.2. Efeitos da revogao no direito
Sob o aspecto dos efeitos, a revogao vista como a expulso da norma jurdica do
sistema do direito positivo. Tal idia, no entanto, deve ser analisada com maior preciso.
Vimos linhas acima que, em razo do princpio da irretroatividade, as normas
jurdicas, mesmo depois de revogadas (salvo algumas excees), continuam sendo aplicadas aos fatos
ocorridos antes da entrada em vigor da norma revogadora. Neste sentido, no seria coerente dizer que a
revogao expulsa a norma jurdica do sistema, pois, sob esta afirmao, pressupe-se que a regra
perde sua validade (deixa de existir enquanto regra jurdica) e sem validade no possvel ser
aplicada, pois no pertencente mais ao sistema jurdico. A regra revogada continua parcialmente
vigente, at que seja aplicada a todos os casos ocorridos antes de sua revogao e, enquanto
parcialmente vigente, ainda vlida
629
.
Em regra, a revogao atinge, assim, a vigncia das normas jurdicas, tornando-as
parcialmente vigentes, e conseqentemente a eficcia jurdica dos fatos verificados posteriormente.
Somente depois de aplicada a todas as situaes possveis a norma deixa de pertencer ao sistema, ou
seja, perde sua validade. Nestes termos, o efeito da revogao anunciar (prescrever) o fim da
atividade jurdica da norma revogada. Para chegar ao fim, no entanto, isto , para perder sua validade,
a regra passa por um processo (em razo do princpio da irretroatividade) devendo ser aplicada a todos
os casos ocorridos anteriormente. Deste modo, em sntese, podemos dizer que a revogao marca o
incio da caminhada da norma para seu fim.
628
Revogao em matria tributria, p. 215.
629
TREK MOYSS MOUSSALLEM utiliza-se da diferenciao que adota entre sistema e ordenamento para explicar tal
assertiva: supondo que em SDP1 (sistema do direito positivo 1), todas as normas so vlidas, vigentes e aplicveis. Com a
edio do ato de fala revogador em t2 pelo menos uma das normas de SDP1 perde sua aplicabilidade para os casos a ele
posteriores. Ento em t2, tem novo sistema normativo SDP2 (sistema do direito positivo 2). Em t3, quando decorrido o
tempo de aplicao da norma revogada em relao ao derradeiro fato consumado sob seu intervalo de subsuno, a norma
revogada perde sua validade e sua vigncia, estabelecendo-se novo sistema normativo SDP3 (sistema do direito positivo 3).
Veja que em SDP1, SDP2 e SDP3 tm-se trs sistemas de direito positivo distintos, j que suas conseqncias normativas
so diferentes (Revogao em matria tributria, p. 188-189).
566
Falamos em regra porque h casos em que a revogao atinge diretamente a
validade das normas. Isto ocorre, como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, quando a norma
revogada no perodo de sua vacatio legis, antes de adquirir aptido para efetivamente atuar nas
situaes que regula (vigncia)
630
. Ou, ento, quando h exceo ao princpio da irretroatividade, por
exemplo, no caso das normas penais que deixam de tipificar certa conduta como crime. Nestas
circunstncias, a revogao atua diretamente sobre a validade da norma revogada.
630
Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 52.
567
CONCLUSES
LIVRO I - PRESSUPOSTOS DO CONSTRUCTIVISMO LGICO-SEMNTICO
CAPTULO I
PROPOSIES PROPEDUTICAS
Fundamentos de uma teoria
01. No existe prtica sem teoria e nem teoria sem prtica. Nenhum caso concreto conhecido ou
resolvido sem um conjunto de proposies que o explique e nenhum conjunto de proposies
explicativas construdo sem uma realidade que o reclame.
02. Entre os planos terico e prtico, entretanto, existe outro que os conecta: a linguagem da
experincia, que torna efetivamente possvel o conhecimento do objeto.
03. De nada serve sabermos uma teoria se no conseguimos aplic-la para explicar a concretude
experimentada. Do mesmo modo, de nada adianta experimentarmos uma concretude se no temos uma
teoria para compreend-la. Em nenhum dos casos conheceremos o objeto.
Pressupostos do conhecimento
04. O ato de conhecer fundamenta-se na tentativa do esprito humano de estabelecer uma ordem para o
mundo (exterior ou interior) para que este, como contedo de uma conscincia, torne-se inteligvel, ou
seja, possa ser articulado intelectualmente (constituindo aquilo que a filosofia chama de racionalidade).
Conhecimento em sentido amplo e em sentido estrito
05. Em sentido amplo, toda forma de conscincia que aprisiona um objeto intelectualmente como seu
contedo conhecimento. Alcana, este, concepo estrita, no entanto, a partir do momento em que
seu contedo aparece na forma de juzo (uma das modalidades do pensamento) quando, ento, pode
ser submetido a critrios de confirmao ou infirmao.
06. Todo conhecimento, considerando-se o termo em acepo estrita, nasce da intuio. Primeiro
intumos, depois racionalizamos para que nossa conscincia aceite o objeto conhecido como tal. Por
meio da racionalizao o intelecto justifica e legitima as proposies construdas (e, em ltima
instncia, a intuio) tornando-as verdadeiras para o sujeito cognoscente.
07. Todo conhecimento proposicional. D-se com a construo e relao de juzos. Nestes termos,
no h conhecimento sem linguagem.
568
2.2. Giro-lingstico
08. O conhecimento nos d acesso s definies. No conhecemos as coisas em si, mas o significado
das palavras dentro do contexto de uma lngua e o significado j no depende da relao com a coisa,
mas do vnculo com outras palavras.
09. Conhecemos sempre uma interpretao. Por isso, a afirmao segundo qual o mundo exterior no
existe para o sujeito cognoscente sem uma linguagem que o constitua. Isto que chamamos de mundo
nada mais do que uma construo (interpretao), condicionada culturalmente e, por isso, incapaz de
refletir a coisa tal qual ela , livre de qualquer influncia ideolgica.
2.3. Linguagem e realidade
10. As coisas no precedem a linguagem, pois s se tornam reais para o homem depois de terem sido,
por ele, interpretadas. Dizer, todavia, que a realidade constituda pela linguagem, no significa
afirmar a inexistncia de dados fsicos independentes da linguagem, apenas que somente pela
linguagem podemos conhec-los, identific-los e transform-los numa realidade objetiva para nosso
intelecto.
2.4. Lngua e realidade
11. Cada lngua tem uma personalidade prpria, proporcionando ao sujeito cognoscente que nela
habita, um clima especfico de realidade. Ao conjunto de categorias e modos de pensar incorporados
pela vivncia de uma ou vrias lnguas atribumos o nome de cultura. E, neste sentido, dizemos que os
horizontes culturais do intrprete condicionam seu conhecimento, ou seja, sua realidade. Aquilo que
chamamos de realidade , assim, algo social antes de ser individual.
12. Os objetos, embora construdos como contedo de atos de conscincia do ser cognoscente
(subjetivo, pessoal), encontram-se condicionados pelas vivncias do sujeito, sendo estas determinadas
pelas categorias de uma lngua (coletivo, social). isso que faz com que o mundo parea uno para
todos que vivem na mesma comunidade lingstica e que torna possvel sua compreenso.
2.5. Sistema de referncia
13. No h conhecimento sem sistema de referncia, pois o ato de conhecer se estabelece por meio de
relaes associativas, condicionadas pelo horizonte cultural do sujeito cognoscente e determinadas
pelas coordenadas de tempo e espao em que so processadas.
14. Em razo disso, no h que se falar em verdades absolutas, prprias de um objeto, porque o mesmo
dado experimental comporta inmeras interpretaes. A verdade uma caracterstica da linguagem,
determinada de acordo com o modelo adotado, pelas condies de espao-tempo e tambm, pela
vivncia scio-cultural de uma lngua. , portanto, sempre relativa.
569
2.6. Consideraes sobre a verdade
15. Uma proposio verdadeira quando cremos na sua veracidade e podemos comprov-la,
justificando-a por meio de outras crenas.
16. Quando emitimos uma mensagem descritiva, nossa pretenso de que seu receptor a aceite, ou
seja, tome-a como verdadeira, pois s deste modo ela ter o condo de inform-lo. Tomamos, assim, a
verdade como um valor em nome do qual se fala (caracterstica lgica necessria dos discursos
informativos). Atribumos este valor s proposies descritivas por ns formuladas, almejando que
outras pessoas nelas creiam. E, tais pessoas lhes atribuem este mesmo valor ao aceit-las.
2.7. Auto-referncia da linguagem
17. Toda linguagem fundamenta-se noutra linguagem e nada mais existe alm dela. Sempre que
procuramos o significado de uma palavra ou a justificativa para uma sentena no encontramos a
coisa-em-si, nos deparamos com outras palavras ou outras sentenas. Neste sentido todo discurso
auto-referente. Por mais que diga, uma linguagem no se reporta a outra coisa seno a outra
linguagem.
2.8. Teoria dos jogos de linguagem
18. A teoria dos jogos de linguagem postula ser toda linguagem composta por um conjunto de regras
prprias, que a determina e a diferencia das demais. Nessa linha, por seguir um procedimento,
determinado por regras prprias que um enunciado legitimado como pertencente a determinada
linguagem.
19. As regras do jogo atribuem identificao aos elementos da linguagem (significado das palavras),
estabelecem como realizada cada jogada (utilizao das palavras para formao de enunciados e
destes para formao do discurso) e determinam o prprio jogo (qual a linguagem produzida).
3. Conhecimento cientfico
20. As teorias existem para conhecer rigorosamente seus objetos (e somente eles), mediante regras
prprias de aproximao, que atribuem rigor e credibilidade s proposies formuladas. Exigem a
produo de uma linguagem mais sofisticada: a cientfica, um discurso purificado, produzido a partir
da linguagem natural.
3.1. Linguagem cientfica
21. A linguagem cientfica precisa, seu plano semntico cuidadosamente elaborado, de modo que
as palavras tenham um e somente um significado, apresenta-se de forma coesa, no admitindo
contradio entre seus termos, o que lhe garante rigor sinttico. Outra caracterstica ter o domnio
informativo de seu objeto.
570
3.2. Pressupostos de uma teoria
22. A cada teoria corresponde um e somente um objeto e um e somente um mtodo. A delimitao do
objeto indica os limites da experincia, evitando sua propagao ao infinito. E, o mtodo determina a
forma de aproximao do objeto, atribuindo sincretismo s proposies formuladas.
3.2.1. Delimitao do objeto
23. O objeto do conhecimento no se encontra no plano fsico, perceptvel pela experincia sensorial.
Ele construdo proposicionalmente como contedo de nossa conscincia. Tudo que podemos saber
sobre a realidade resume-se a sua significao. No abstramos, nem classificamos, nem
compreendemos o dado-fsico, mas sim a linguagem que o torna inteligvel para ns e que independe
da existncia externa das coisas.
24. Os tericos distinguem objeto-formal e objeto-material. De acordo com esta separao, as
proposies produzidas pelo cientista criam o denominado objeto-formal (prprio de cada teoria),
caracterizando-se, com relao a este, como construtivistas ou constitutivas e, ao mesmo tempo,
informam sobre algo, o objeto-material (realidade experimentada), caracterizando-se, quanto a este,
como descritivas ou informativas. Numa viso reducionista, porm, trabalhando com as premissas do
giro-lingstico, todo objeto do conhecimento formal. O prprio objeto-material, ao ser percebido ou
sentido, o como contedo de alguma forma de conscincia, articulvel intelectualmente como
construo lingstica, no isenta das interferncias scio-culturais que condicionam qualquer
interpretao.
3.2.2. Mtodo
25. Adotamos a concepo de mtodo cientfico como sendo a forma lgico-comportamental
investigatria na qual se baseia o intelecto do pesquisador para buscar os resultados que pretende
(construir suas proposies cientficas ou seja, o objeto formal).
26. A forma de aproximao, por excelncia, de qualquer objeto a interpretao (considerado por ns
como mtodo em sentido amplo). Esta viso reducionista, no entanto, no afasta outras formas
comportamentais, que podem ser utilizadas pelo intrprete para estrutur-las (as quais denominamos
de mtodo no sentido estrito da palavra), como por exemplo: a analtica, a induo, a deduo, a
dialtica, a dogmtica, a hermenutica, etc.
4. Teoria geral do direito
27. Para conhecer o direito, o cientista pode retalhar a linguagem jurdica em diversos segmentos tendo
em conta um fator comum, aprofundando sua anlise em cada um deles e criando, assim, ramos
cientficos especficos. De outro lado, tambm com o objetivo de reduzir sua complexidade, o cientista
pode abstrair da linguagem jurdica um ncleo de conceitos que permanecem lineares e atravessam
universalmente todos os subdomnios do objeto, adquirindo, em cada um deles, apenas um quantum de
571
especificidade. Com a eleio destes pontos de interseco, que se repetem nos vrios ramos da
Cincia do Direito, temos a generalizao e, com ela, a formao de uma Teoria Geral do Direito.
CAPTULO II
O DIREITO COMO OBJETO DE ESTUDO
1. Sobre o conceito de direito
28. O conceito de direito formado em nosso intelecto, em razo das formas de uso da palavra no
discurso, tendo em vista os referenciais culturais do intrprete. Assim, no h um conceito absoluto,
cada pessoa tem sua idia em relao a dado contexto.
29. Com a associao do termo direito a outros signos, realizada de acordo com certa tradio
lingstica, construmos a conotao do que ele denota e, assim, temos acesso realidade que, para
ns, denomina-se direito.
2. Sobre a definio do conceito de direito
30. Definir pr em palavras o conceito. Ao definir direito, delimitamos a realidade tomada como
objeto de nossos estudos e ao explicar as categorias gerais desta realidade, construmos nossa Teoria
Geral do Direito.
3. Problemas semnticos da palavra direito
31. trs problemas prejudicam o conhecimento da palavra direito e, por conseguinte, da realidade
jurdica, j que esta delimitada com a definio do termo, so eles: (i) ambigidadde; (ii) vaguidade;
e (iii) carga emotiva.
3.1. Ambigidade
32. Ambigidade caracterstica dos termos que comportam mais de um significado, isto , que
podem ser utilizados em dois ou mais sentidos. A palavra direito multiplamente ambgua alm de
apresentar a pior espcie de ambigidade, aquela constituda por vrios significados estritamente
relacionados entre si.
33. Definir o significado de direito pressupe uma tomada de deciso quanto sua forma de uso.
Dentre todas estas acepes, no h uma certa ou errada, mas sim aquela que se enquadra, ou no,
situao estrutural de sua utilizao.
3.2. Vaguidade
34. Entende-se por vaguidade a falta de preciso no significado de uma palavra, remediada pelas
definies. As definies, no entanto, no eliminam o vcio da vaguidade, isto porque, definimos um
termo utilizando-nos de outros termos que tambm so vagos. No caso, por mais elaborada que seja
sua definio, restar sempre um quantum de vaguidade (zona de penumbra) a ser solucionada por
outras definies.
572
3.3. Carga valorativa
35. Espera-se que o conceito de direito incite um sentimento de justia, caracterstico de sua
utilizao na linguagem comum, influenciado pela cultura etimolgica do termo, que se explica desde
os primrdios tempos de seu uso. No mbito cientfico, no entanto, as definies tendentes a
satisfaes ideolgicas devem ser afastadas, pois as Cincias prezam pela neutralidade do discurso.
4. Teorias sobre o direito
36. At o final do sculo passado vrias teorias voltaram-se realidade jurdica, explicando-a sob
diferentes enfoques, os quais acabam por influenciar substancialmente as concepes mais modernas.
Dentre elas, citamos sete como algumas das mais influentes: (i) jusnaturalismo; (ii) escola da exegese;
(iii) historicismo; (iv) realismo jurdico; (v) positivismo (sociolgico e normativo); (vi) culturalismo
jurdico e (vii) pos-positivismo.
5. Nossa tomada de posio sobre o direito
37. Adotamos uma posio normativista do direito, considerando-o como o complexo de normas
jurdicas vlidas num dado pas. Seguindo, contudo, a concepo filosfica do giro-lingistico, no
podemos deixar de considerar as normas jurdicas como uma manifestao de linguagem. E, enquanto
linguagem, o direito produzido pelo homem para obter determinado fim (disciplinar condutas entre
sujeitos), o que implica reconhec-lo como produto cultural.
38. Assim, fixamos trs cortes para delimitar o direito como nosso objeto de estudos: (i) H direito
onde houver normas jurdicas; (ii) Onde houver normas jurdicas haver sempre uma linguagem (no
caso do direito brasileiro, uma linguagem idiomtica, manifesta na forma escrita); (iii) o direito um
instrumento, constitudo pelo homem com a finalidade de regular condutas intersubjetivas,
canalizando-as em direo a certos valores que a sociedade deseja ver realizados e, portanto,
impregnado de valores.
6. Conseqncias metodolgicas deste recorte
39. O primeiro recorte importa afastar do campo de interesse da Dogmtica Jurdica o direito passado,
o direito futuro, as razes (polticas, econmicas ou sociais) que lhe precedem ou as conseqncias
(polticas econmicas ou sociais) por ele desencadeadas e os conceitos ticos ou morais que lhe
permeiam, pois seu objeto resume-se s normas jurdicas vlidas.
40. Tom-lo como corpo de linguagem importa um posicionamento muito particular, a ser
implementado com recursos das Cincias da Linguagem e trat-lo como objeto cultural importa
compreender sua realidade submersa num processo histrico-axiolgico.
7. Mtodo analtico-hermenutico
41. Nosso trato com o direito revela uma tomada de posio analtico-hermenutica. Concebemos o
direito como um corpo de linguagem e, neste sentido, o mtodo analtico mostra-se eficiente para o seu
573
conhecimento. Mas, por outro lado, quando lidamos com os valores imersos na linguagem jurdica, ou
seja, com os fins que a permeiam, pressupomos a hermenutica. Com ela entramos em contato com o
sentido dos textos positivados e com os referenciais culturais que os informam.
42. Analtica e hermenutica se completam, consubstanciando-se no mtodo prprio da Cincia
Jurdica a qual nos propomos. A construo analtico-hermenutica, no entanto, ocorre dentro de um
processo dialtico, de contraposio de sentidos, prprio ao plano dos objetos culturais.
CAPTULO III
DIREITO POSITIVO, CINCIA DO DIREITO E REALIDADE SOCIAL
1. Direito positivo e Cincia do Direito
43. Dentre as inmeras referncias denotativas do termo direito encontramos duas realidades
distintas: o direito positivo e a Cincia do Direito, dois mundos muito diferentes, que no se
confundem, mas que, por serem representados linguisticamente pela mesma palavra e por serem,
ambos, tomados como objeto do saber jurdico, acabam no sendo percebidos separadamente por
todos.
44. Uma coisa o direito positivo enquanto conjunto de normas jurdicas vlidas num dado pas, outra
coisa a Cincia do Direito enquanto conjunto de enunciados descritivos destas normas jurdicas. So
dois planos de linguagem distintos, cujas diferenas devem estar bem definidas em nossa mente para
no incidirmos no erro de confundi-los.
2. Critrios diferenciadores das linguagens do direito positivo e da Cincia do Direito
45. Tanto o direito positivo, como a Cincia do Direito constituem-se como linguagens, ambos so
produtos de um processo comunicacional e, portanto, materializam-se como textos, cada qual, porm,
com caractersticas e funo prprias. Nesse sentido, diferenar direito positivo de Cincia do Direito
importa eleger critrios de identificao que separem duas linguagens.
2.1. Quanto funo
46. Nos discursos do direito positivo e da Cincia do Direito, conquanto possamos identificar outras
funes, so predominantemente dois os animus que motivam o emissor da mensagem: (i) no direito
positivo, o prescritivo; e (ii) na Cincia do Direito, o descritivo.
2.2. Quanto ao objeto
47. A linguagem do direito positivo dirige-se materialidade das condutas intersubjetivas a fim de
disciplin-las. A linguagem da Cincia do Direito volta-se linguagem do direito positivo, com a
finalidade de compreend-la e relat-la. Em outros termos, temos que: o objeto do direito positivo so
as condutas intersubjetivas que ele regula (linguagem social), ao passo que o objeto da Cincia do
Direito a linguagem do direito positivo que ela descreve.
574
2.3. Quanto ao nvel de linguagem
48. Considerando-se as linguagens do direito positivo e da Cincia do Direito, esta se caracteriza como
metalinguagem (Lm) daquela, que se apresenta como linguagem objeto (Lo). Considerando-se as
linguagens do direito positivo e da realidade social, aquela se caracteriza como metalinguagem (Lm)
desta, que se apresenta como linguagem objeto (Lo).
2.4. Quanto ao tipo ou grau de elaborao
49. O direito positivo se materializa numa linguagem tcnica, que se assenta no discurso natural, mas
utiliza-se de recursos e expresses especficas, prprias da comunicao jurdica. J a Cincia do
Direito se materializa numa linguagem cientfica, um discurso bem mais trabalhado, preparado com
mais cuidado e rigor e com maior grau de elaborao em relao ao direito positivo.
2.5. Quanto estrutura
50. O direito positivo, por manifestar-se como um corpo de linguagem prescritiva, opera com o modal
dentico (dever-ser). Isto quer dizer que suas proposies se relacionam na forma implicacional: Se
H, deve ser C" em linguagem totalmente formalizada H C. J a linguagem da Cincia do
Direito opera com o modal altico (ser). Suas proposies relacionam-se na forma S P em
linguagem formalizada S(P).
2.6. Quanto aos valores
51. Aos enunciados do direito positivo so compatveis os valores de validade/invalidade, alusivos
sua existncia e Cincia do Direito as valncias de verdade/falsidade, indicativas da referencialidade
a certo modelo. A linguagem do legislador vlida ou no-vlida, ao passo que a do jurista
verdadeira ou falsa.
2.7. Quanto coerncia
52. A linguagem do direito positivo no precisa ser totalmente coerente, vez que as contradies
existentes tm a chance de serem sanadas no plano da sua aplicao. J a Cincia do Direito no. Sua
linguagem, pelas caractersticas do rigor e da preciso prprias das linguagens descritivas, (est) presa
pela coerncia de seus enunciados.
CAPTULO IV
TEORIA DOS SISTEMAS
1. Sobre os sistemas
53. Separando a linguagem prescritiva do direito posto e da dogmtica jurdica deparamo-nos com dois
sistemas distintos: direito positivo e Cincia do Direito.
575
1.2. Noo de sistema
54. Onde houver a possibilidade de reunirmos, de forma estruturada, elementos que se conectam sob
um princpio unificador, est presente a noo de sistema.
1.2. Classificao dos sistemas
55. Os sistemas se dividem em comunicacionais e no-comunicacionais, em razo de seus elementos
resultarem ou no da troca de mensagens entre duas ou mais pessoas. Os sistemas comunicacionais
dividem-se em nomolgicos ou nomoempricos, em razo da denotao emprica dos seus elementos.
Os nomoempricos dividem-se em descritivos e no-descritivos, tomando-se como critrio serem suas
proposies informativas ou no. E os no-descritivos em prescritivos ou no prescritivos, levando-se
em conta serem suas proposies direcionadas modificao de condutas.
56. Embora tanto ao direito positivo quanto Cincia do Direito seja atribudo o qualificativo de
jurdicos, a Cincia pertence categoria dos sistemas descritivos que toma como objeto o direito
positivo, enquanto o direito positivo, a dos sistemas prescritivos (no-descritivos) que toma como
objeto a realidade social.
2. Direito positivo, cincia do direito e realidade social
57. Temos trs planos de linguagem: (i) Cincia do Direito; (ii) direito positivo; (iii) linguagem social.
Eles interagem entre si, mas constituem-se separadamente como unidades distintas, de modo que
podemos dizer serem trs sistemas diferentes.
2.1. Intransitividade entre os sistemas
58. O interagir no significa dizer que direito positivo e realidade social se confundem. Para que a
linguagem social ingresse no sistema do direito positivo, preciso que ela passe pelo filtro da
facticidade jurdica, para que deixe de ser linguagem social e passe, ento, a ser linguagem jurdica.
59. Da mesma forma a linguagem da Cincia do Direito no pode alterar o direito positivo. Por mais
que um jurista fale sobre o direito, no consegue modific-lo. Na ordem inversa, por mais que haja
transformaes no direito, se no for a enunciao de um jurista, com a produo de uma linguagem
descritiva, a Cincia do Direito em nada se modifica.
2.2. Direito positivo e Cincia do Direito como subsistemas sociais
60. O direito positivo e a Cincia do Direito configuram-se como sistemas autnomos, na medida em
que seus elementos so comunicaes diferenciadas. No entanto, constituem-se como subsistemas de
um sistema maior: a realidade social (composto por todas as demais comunicaes relaes
intersubjetivas) e com ele se relacionam.
61. O direito positivo incide sobre a realidade social com a finalidade de regul-la, de modo que todas
as demais comunicaes integrantes de seu ambiente o informam cognitivamente. J a Cincia do
576
Direito incide sobre o direito positivo com a finalidade de descrev-lo e, assim, presta-se a informar
cognitivamente todas as demais comunicaes integrantes de seu ambiente.
2.3. Teoria dos sistemas
62. Trabalhar o direito positivo como um subsistema social, autoriza-nos utilizar algumas categorias da
teoria dos sistemas sociais de para estud-lo.
2.3.1. Cdigo, programas e funo
63. O direito positivo diferencia-se funcionalmente dos demais sistemas sociais por ter a finalidade de
garantir a manuteno de expectativas normativas. Para executar sua funo o sistema utiliza-se de um
cdigo binrio prprio: lcito/ilcito. Determinando a maneira como o cdigo implementado o direito
utiliza-se de programas normativos, que estabelecem em que hipteses as comunicaes externas so
qualificadas como lcitas ou ilcitas.
2.3.1. Acoplamento estrutural, abertura cognitiva e fechamento operativo
64. A programao assegura uma abertura cognitiva ao direito em relao a seu ambiente (realidade
social), pois ela que colhe as informaes que so processadas no cdigo lcito e ilcito, para dentro
do sistema. Ao mesmo tempo, juntamente com o cdigo binrio, a programao assegura o
fechamento operativo do direito, organizando a produo de sua comunicao, pois todas as
informaes de seu ambiente s nele ingressam quando colhidas por normas jurdicas e qualificadas no
cdigo que lhe prprio (como lcitas ou ilcitas).
3. Dvidas quanto ao direito positivo ser um sistema
65. No podemos confundir a significao atribuda aos textos do direito positivo, que prescritiva,
com a descrio destas significaes realizada pela Cincia do Direito. Certamente que para descrever
o direito, o cientista passa por este processo de construo de sentido, mas a Dogmtica Jurdica est a
um passo alm, ela descreve as significaes prescritivas construdas neste processo, resultado de
outro ato de fala que se consubstancia noutro tipo de linguagem (com funo descritiva).
4. Sobre o sistema da cincia do direito
66. O mesmo fato social pode ser observado por vrios ngulos, mas s um deles jurdico: aquele que
toma como objeto o conjunto de normas jurdicas.
5. Falsa autonomia dos ramos do direito
67. Os ramos (cortes realizados no direito positivo), por serem epistemolgicos, no interferem na
composio do sistema, apenas criam uma especialidade para a Cincia do Direito, no tendo o condo
de cri-la juridicamente, pois o direito positivo um sistema uno e indecomponvel.
577
6. Direito positivo e outros sistemas normativos
68. A linguagem prescritiva, na qual o direito se materializa, uma particularidade dos sistemas
normativos. Toda vez que algum deseja transmitir uma ordem para outra pessoa, o faz mediante a
produo de uma linguagem prescritiva. Neste sentido, todos os sistemas de ordens so prescritivos.
69. Diferentemente de qualquer outro sistema prescritivo, a coero do direito positivo exercida pelo
Poder Estatal, que pode se utilizar, dentro dos limites estabelecidos pelo prprio direito, de toda sua
mquina para fazer valer as prescries inadimplidas.
CAPTULO V
SEMITICA E TEORIA COMUNICACIONAL DO DIREITO
1. Lngua, linguagem e fala
70. Ao tomar o direito como um corpo de linguagem, os conceitos de lngua, linguagem e fala,
tornam-se indispensveis Teoria do Direito. Por lngua entendemos o sistema de signos em vigor
em uma comunidade, por fala um ato individual de seleo e atualizao da lngua e por
linguagem o produto da fala, resultado da atualizao e seleo da lngua.
1.1. O signo
71. Falar em lngua, linguagem e fala remete-nos a outro termo: o signo, considerado como uma
relao tridica, entre um suporte fsico (dado material), um significado (objeto a que o suporte fsico
faz referncia) e uma significao (a noo ou idia que o suporte fsico provoca em nossa mente).
1.2. Suporte fsico significado e significao do direito positivo e da Cincia do Direito
72. O direito positivo, enquanto corpo de linguagem voltado regio das condutas intersubjetivas, com
a finalidade de implementar certos valores, tem como suporte fsico os enunciados prescritivos que o
compem materialmente. Tais enunciados reportam-se conduta humana, mais especificamente s
relaes intersubjetivas, que seu significado. E, suscitam na mente daqueles que os interpretam a
construo de normas jurdicas, que se constituem na sua significao.
73. A Cincia do Direito, enquanto corpo de linguagem voltado ao direito positivo, com finalidades
cognitivas, tem como suporte fsico os enunciados descritivos que a compem materialmente. Tais
enunciados reportam-se ao direito positivo, que seu significado. E, suscitam na mente de quem os
interpreta uma srie de proposies descritivas, que sua significao.
2. Semitica e direito
74. Sendo constituda por linguagem, cuja unidade elementar o signo, a Semitica, que se constitui
na Teoria Geral dos Signos, aparece como uma das tcnicas mediante a qual o direito positivo pode ser
investigado.
578
75. Nos termos da Semitica, so trs os planos de investigao dos sistemas sgnicos: (i) sinttico; (ii)
semntico; (iii) pragmtico. No plano sinttico estudam-se as relaes dos signos entre si, no
semntico so examinadas as relaes do signo com a realidade que ele exprime, e no pragmtico a
ateno se volta s relaes dos signos com seus utentes de linguagem.
3. Teoria comunicacional do direito
76. As pessoas s se relacionam entre si quando esto em disposio de se entenderem, quando entre
elas existe um sistema de signos que assegure a interao. Neste sentido, impor formas normativas ao
comportamento social s possvel, mediante um processo comunicacional, com a produo de uma
linguagem prpria, que a linguagem das normas.
4. O direito como texto
77. Do processo comunicacional, o que temos acesso o substrato lingstico, seu produto, base
emprica para que o destinatrio construa a mensagem emitida. A mensagem no vem pronta, como
muitos pressupem, ela o sentido do cdigo estruturado pelo emissor e s aparece na mente do
destinatrio com sua decodificao.
78. Tudo a que temos acesso, na nossa experincia sensorial com o direito positivo, so palavras
estruturadas em frases e sistematizadas na forma de textos. Assim sendo, o trato com o direito positivo
sempre nos conduz ao manejo de textos.
4.1. Texto e contedo
79. O sentido dos textos jurdicos, contudo, no est no seu suporte fsico, ele construdo na mente
daquele que o interpreta.
80. No existe texto sem contedo. No existe um suporte fsico ao qual no possamos atribuir uma
significao. Se no houver a possibilidade de interpret-lo, ou seja, de se construir um sentido, o
suporte fsico perde sua funo e no podemos mais falar na existncia de signos.
4.2. Dialogismo - contexto e intertextualidade
81. Todo texto envolvido por um contexto, encontra-se inserido num processo histrico-social onde
atuam determinadas formaes ideolgicas. Neste sentido, podemos dizer que no h texto sem
contexto.
82. O contexto formado por todos os enunciados com os quais um texto se relaciona. As relaes de
sentido que se estabelecem entre dois textos so denominadas de dialogismo. Nestes termos, todos
os textos so dialgicos.
83. Qualquer relao dialgica denominada intertextualidade. Em relao ao direito h uma
intertextualidade externa (contexto no-jurdico) que molda as valoraes do intrprete e uma
intertextualidade interna (contexto jurdico), na qual se justificam e fundamentam todas as construes
significativas da anlise jurdica.
579
CAPTULO VI
O DIREITO E A LGICA
1. Lgica e linguagem
84. O termo lgica pode ser utilizado em, pelo menos, duas acepes: (i) Cincia; e (ii) sistema
lingstico. Enquanto cincia, a Lgica estuda a estruturao e mtodos do raciocnio humano.
Enquanto linguagem (lngua), a lgica um sistema de significao que tem por funo reproduzir as
relaes estabelecidas entre os termos, proposies e argumentos de outra linguagem.
1.1. Enunciado e proposio
85. Enunciado a expresso lingstica, produto da atividade psicofsica de enunciao, so sentenas
(frases) formadas pelo conjunto de fonemas e grafemas devidamente estruturados que tm por
finalidade transmitir um contedo completo, num contexto comunicacional. A proposio o contedo
do enunciado, o sentido que lhe atribudo, aquilo que construmos em nossa mente quando o
interpretamos.
1.2. Formalizao da linguagem
86. Chegamos s estruturas lgicas por meio da formalizao da linguagem objeto, processo mediante
o qual os contedos significativos especficos das palavras so substitudos por signos convencionados
denominados de constantes e variveis, que no denotam um ou outro objeto especfico, mas um
conceito abstrato, no a vinculando a qualquer significado (objeto).
1.3. Frmulas lgicas
87. Caracteriza-se a frmula lgica pela estrutura de uma proposio ou de um argumento,
representada logicamente por uma varivel ou pela juno delas por meio de operadores.
88. As frmulas podem ser atmicas, formadas por variveis; ou moleculares, constitudas pela juno
das variveis com os operadores: (i) negador (-); (ii) conjuntor (.); (iii) disjuntor includente (v); (iv)
disjuntor excludente (); (v) condicional (); e (vi) bicondicional ().
1.4. Operaes lgicas
89. Por clculo proposicional entende-se o conjunto das relaes possveis entre as unidades de uma
frmula, isto , entre os elementos de um sistema lgico.
90. As operaes entre frmulas lgicas submetem-se a trs princpios elementares: (i) identidade, (ii)
no-contradio; e (iii) terceiro excludo.
91. Os sistemas lgicos so construdos por regras de construo, por meio de conceitos derivados,
obtidos de conceitos primrios por deduo. O procedimento de deduo condicionado por trs
regas: (i) substituio simples; (ii) intercmbio; e (iii) modus ponens.
580
2. A lgica como instrumento para o estudo do direito
92. A Lgica aplicada um forte e seguro instrumento para a anlise sinttica de qualquer linguagem,
que nos permite ingressar nos domnios da sua estrutura para compreendermos sua forma e as relaes
que se estabelecem entre suas unidades.
93. Aplicada ao direito, a Lgica permite conhecer sua estrutura, sendo um preciso e importante
instrumento para seu conhecimento. No entanto, o estudo proporcionado com emprego da Lgica no
completo, pois dirige-se apenas a um aspecto da linguagem, ficando os outros planos (semntico e
pragmtico) prejudicados.
3. Os mundos do ser e do dever-ser
94. Muito se diferenciam as leis da natureza, submetidas ao princpio da causalidade fsica (ser), das
leis jurdicas, estruturadas pela imputabilidade dentica (dever-ser).
3.1. Causalidade e nexos lgicos
95. Os nexos lgicos so construes ideais, perceptveis a partir da experincia com uma linguagem
objeto. No h implicao entre acontecimentos, tal relao se instaura em nvel proposicional, na
medida em que os eventos so vertidos em linguagem (constitudos em fatos) e a eles so atribudas
conseqncias. Mas ela mesma (relao como nexo lgico) no se encontra na linguagem que relata
tais acontecimentos, frmula lgica, que no tm existncia concreta.
3.2. Causalidade fsica ou natural e causalidade jurdica
96. Por causalidade fsica entende-se a natural, ou seja, as relaes implicacionais que se do na
realidade fsica constituda pela linguagem descritiva, representadas pela sntese do ser. J a
causalidade jurdica, espcie de causalidade normativa, compreende as relaes que devem se dar entre
sujeitos, representadas pela sntese do dever-ser.
97. Nas duas causalidades (jurdica e natural) temos a implicao, o conectivo condicional, atrelando
uma proposio causa (antecedente) a uma proposio efeito (conseqente). O nexo causal o mesmo,
a diferena que no plano do ser a implicao mencionada, enquanto no mundo do dever-ser a
implicao utilizada. As proposies, implicante e implicada, so atreladas, no por um ato de
conhecimento, mas por um ato de autoridade.
3.3. Leis da natureza e leis do direito
98. Enquanto as leis da natureza, submetidas ao princpio da causalidade fsica, so refutveis pela
experincia, as leis jurdicas, articuladas pela imputabilidade dentica, no. Isto porque, aquelas se
submetem a valores de verdade e falsidade, ao passo que estas, a valores de validade e no-validade.
99. As leis da natureza tm funo descritiva, elas nos informam sobre as coisas. As leis do direito tm
funo prescritiva, nada informam sobre as coisas, dirigem-se ao plano das condutas intersubjetivas
com a finalidade de alter-las.
581
4. Modais alticos e denticos
100. Para expressar as relaes entre as modalidades de predicados de segundo nvel que podem afetar
uma proposio descritiva, existe a denominada Lgica Modal Altica. Ciente de que os operadores
alticos no servem para qualificar proposies prescritivas, mas apenas aquelas descritivas de estados
de coisas, VON WRIGTH desenvolveu a Lgica Modal Dentica.
101. Os modais denticos aparecem como predicados de segundo nvel, atuando sobre as variveis
representativas das condutas intersubjetivas que a linguagem normativa pretende disciplinar. Temos:
Pp, Op e Vp, onde, saturando os contedos das frmulas, l-se: permitido fazer, obrigatrio
fazer e proibido fazer. Os operadores denticos qualificam as condutas, possibilitando, assim, que
elas sejam reguladas.
102. Pela interdefinibilidade dos modais denticos os operadores O (obrigatrio) e V (proibido) podem
ser definidos mediante o operador P (permitido) com a ajuda do negador (-) e, da mesma forma, o
conceito da permisso pode ser definido mediante os operadores O (obrigatrio) e V (proibido), mais o
emprego da negao (-). Isto possibilita serem eles substitudos a qualquer momento por sua
equivalncia.
103. Na Lgica Dentica encontramos as mesmas relaes entre os operadores alticos, das quais se
inferem as seguintes tautologias, denominadas leis denticas: (i) princpio da subcontrariedade
dentica; (ii) lei da contrariedade dentica; (iii) leis da subalternao dentica; e (iv) leis de
contradio dentica.
5. O carter relacional do dever ser
104. Ao formalizarmos a linguagem do direito, reduzindo-a do ponto de vista gramatical a sua
estrutura lgica, encontramos o esquema da norma jurdica D(H C). A norma de direito enuncia
que se ocorrer um fato deve seguir-se uma relao jurdica entre sujeitos, cuja conduta regulada
encontra-se modalizada como obrigatria (O), proibida (V) e permitida (P).
105. Internamente, na estrutura normativa, h uma implicao ligando a hiptese ao conseqente.
Formalizando a proposio conseqente, deparamo-nos com outra estrutura relacional S R S
indicativa de uma ligao que deve ser entre dois sujeitos. Distinguimos, assim: (i) o functor
dentico D, modal genrico, que afeta todo complexo proposicional normativo D (HC); e (ii) o
modal dentico relacional R, interno proposio conseqente S R S.
6. O direito e sua reduo mais simples modais denticos e valorao da hiptese normativa
106. Determinada pela valorao positiva ou negativa do legislador da realizao ou omisso de
condutas modalizadas pelo prprio sistema, a hiptese normativa indica os fatos lcitos, valorados
positivamente e os ilcitos aos quais atribudo o sinal negativo.
582
107. O conseqente normativo, diante da licitude ou ilicitude da hiptese, valora condutas
intersubjetivas, em termos relacionais, como obrigatrias (O), permitidas (P) e proibidas (V).
108. Temos assim, a reduo do direito a dois valores factuais (licito e ilcito), presentes na hiptese
normativa, e trs valores relacionais (obrigatrio, permitido, proibido), situados na posio sinttica do
conseqente.
CAPTULO VII
HERMENUTICA JURDICA E TEORIA DOS VALORES
1. Teorias sobre a interpretao
109. Durante muitos anos a tradio hermenutica associou o termo interpretao idia de
revelao do contedo contido no texto. Interpretar era mostrar o verdadeiro sentido de uma expresso,
extrair da frase ou sentena tudo que ela contivesse.
110. Com a mudana de paradigma da filosofia do conhecimento, o contedo dos textos deixa de ser
algo dado, pr-existente, para ser algo construdo e vinculado aos referenciais do intrprete. O
intrprete constri o contedo textual. O texto (em sentido estrito) significativo, mas no contm, em
si mesmo, significaes (seu contedo). Ele serve como estmulos para a produo do sentido.
2. Compreenso e interpretao
111. Sendo o direito um objeto cultural, o ato cognoscitivo prprio para seu conhecimento a
compreenso. O compreender um ato satisfativo da conscincia humana, por meio do qual um
sentido fixado intelectualmente como prprio de dado suporte fsico. Tal ato alcanado com a
interpretao, processo mediante o qual o contedo de um texto construdo.
112. A interpretao (processo) inesgotvel e intertextual. Inesgotvel porque h sempre a
possibilidade de atribuir novos valores aos smbolos e cada uma dessas possibilidades uma
interpretao diferente e intertextual em razo do dilogo que os textos mantm entre si e que
determina todo processo gerador de sentido.
3. Interpretao e traduo
113. A compreenso no est vinculada ao que o emissor quis dizer. Embora seja construda em nome
dessa prerrogativa, est relacionada aos vnculos que se estabelecem entre os textos (contexto) e aos
referenciais histrico-culturais de cada intrprete.
114. Entre o contedo pensado pelo emissor e o construdo pelo receptor h um completo
aniquilamento de realidades, transposto pela presena do texto em sentido estrito, onde se objetivam as
realidades do emissor e dos receptores.
583
4. Interpretao dos textos jurdicos
115. frente do cientista do direito, tudo que existe como objeto de sua experincia, so textos: um
aglomerado de smbolos estruturados em frases que se relacionam entre si, formando um sistema de
signos. Logo, qualquer pessoa que pretenda conhec-lo, no intuito de compreender a mensagem
pretendida pelo legislador, s tem uma alternativa, interpret-lo.
116. O intrprete, limitado por seus horizontes culturais, entra em contato com o plano de expresso do
direito positivo e, por meio da leitura, vai atribuindo valores aos smbolos nele contidos e adjudicando-
lhes significaes. Neste processo (denominado de interpretao) vai alcanando vrios nveis de
compreenso at que se sinta satisfeito, fixando um contedo significativo como prprio do texto
interpretado.
117. No existe um limite objetivo para a interpretao, como pressupe a teoria tradicional. A
objetividade do direito est no seu suporte fsico, que aberto. A comunicao jurdica (entre
legislador e intrpretes) se estabelece por ambos vivenciarem a mesma lngua, a mesma cultura, por
estarem inseridos no mesmo contexto histrico.
5. Sobre o plano de contedo do direito
118. No existe apenas um contedo significativo prprio, muito menos um esquema hermenutico
que aponte qual o sentido correto do enunciado, exatamente porque no existe um sentido correto. 119.
Cada um de ns constri o direito (enquanto conjunto de significaes) que acha mais conveniente,
coerente, justo, adequado. Muito embora, o direito que prevalea num conflito de interesses, seja
aquele construdo (interpretado) pelo judicirio.
6. Percurso gerador do sentido dos textos jurdicos
120. O ponto de partida para qualquer pessoa que deseja conhecer o direito seu dado fsico, um
sistema de enunciados prescritivos (S1); com a leitura dos enunciados, ingressa-se noutro plano, no
mais fsico, construdo na mente do intrprete e composto pelas significaes atribudas aos smbolos
positivados pelo legislador (S2); para compreender a mensagem legislada, no entanto, preciso
estruturar as significaes isoladas na frmula hipottico-condicional (HC), ingressando em outro
plano: o das normas jurdicas (S3); Depois de construdas as normas, resta ao intrprete estabelecer as
relaes de subordinao e coordenao existentes entre elas, ingressando no plano da sistematizao
do direito (S4).
121. Sob esta perspectiva, podemos analisar o direito sob estes quatro planos: (i) dos enunciados
prescritivos; (ii) das proposies isoladas; (iii) das normas jurdicas; (iv) do sistema jurdico.
6.1. S1 o sistema dos enunciados prescritivos plano de expresso do direito positivo
122. O plano da literalidade representado pelo suporte fsico textual. A palavra textual
empregada como conjunto de enunciados devidamente estruturados. Os enunciados so tomados
584
como sinnimo de frases. E, as frases como forma de transmisso de um sentido completo num
processo comunicacional.
6.2. S2 o sistema dos contedos de significao dos enunciados prescritivos
123. Num primeiro momento, os enunciados so compreendidos isoladamente. Suas significaes so
elaboradas na mente do intrprete com a atribuio de valores aos smbolos grficos que os compem,
so produto de um processo hermenutico condicionado pelos horizontes culturais do intrprete e
sofrem influncias permanentes de seu contexto social.
6.3. S3 o sistema das significaes normativas proposies denticamente estruturadas
124. As proposies isoladamente consideradas no constituem um sentido normativo, preciso uma
estruturao. A norma jurdica aparece, ento, como um juzo construdo pelo intrprete a partir dos
enunciados prescritivos, estruturada na frmula hipottico-condicional (HC), mnimo necessrio
para que uma mensagem prescritiva seja conhecida.
6.4. S4 plano das significaes normativas sistemicamente organizadas
125. A norma no pode ser compreendida como um ente isolado, pois ela porta traos de pertinncia a
certo conjunto normativo, mantm relaes de coordenao e subordinao com outras normas.
6.5. Interseco dos planos interpretativos
126. Os planos S1, S2, S3 e S4 no devem ser entendidos isoladamente, eles fazem parte do processo
gerador de sentido dos textos jurdicos. Neste processo o intrprete transita livremente por estes
planos, indo e vindo por vrias vezes em cada um deles, mas sem deles sair em qualquer momento.
Com tais cruzamentos, ratifica-se a unidade do sistema jurdico, que visto como um todo trabalhado
e construdo pelo intrprete.
7. Interpretao autntica
127. Independentemente da pessoa, as significaes construdas no processo interpretativo, que tomam
por base o suporte fsico positivado pelo legislador, so direito positivo. O que caracteriza a
interpretao autntica no a situao do intrprete, a produo de uma linguagem competente, no
mais, ela igual a qualquer outra.
8. Sobre os mtodos hermenuticos tradicionais
128. A utilizao do modelo sistemtico permite a anlise de todos os planos da linguagem jurdica,
atravessando seus campos sinttico, semntico e pragmtico, por isso, ele eleito como o mtodo por
excelncia no estudo do direito. Dizer isto, no entanto, no significa desmerecer os outros mtodos,
pois cada um tem uma finalidade especfica, o que propicia a anlise direcionada, muito embora no
sejam eficazes para o conhecimento do direito como um todo.
585
9. Teoria dos valores
129. Se o plano do contedo normativo formado pelas significaes construdas a partir da
interpretao do suporte fsico do direito positivo e esta interpretao constitui-se num processo de
atribuio de valores aos smbolos positivados, conclumos que o plano dos contedos normativos
valorativo e, portanto, seu estudo, pressupe necessariamente o ingresso na Axiologia, ou Teoria dos
Valores.
9.1. Sobre os valores
130. Os valores tomados isoladamente assumem a feio de objetos metafsicos, cujo modo de ser o
valer. As caractersticas que os identificam so: (i) bipolaridade; (ii) implicao recproca; (iii)
referibilidade; (iv) preferibilidade; (v) incomensurabilidade; (vi) graduao hierrquica; (vii)
objetividade; (viii) historicidade; (ix) inexauribilidade; (x) atributividade.
9.2. Os valores e o direito
131. No h valores nos enunciados prescritivos. Os valores esto no homem e so condicionados por
suas experincias. Assim tambm o direito. O sentido atribudo aos textos jurdicos so valores que
assumem certa designao dentro de uma cultura especfica, por isso que no h neutralidade
jurdica.
132. Alm disso, o direito, como objeto cultural, existe para concretizar valores, de modo que no h
como o jurista fugir do dado axiolgico.
LIVRO II - TEORIA DA NORMA JURDICA
CAPTULO VIII
A ESTRUTURA NORMATIVA
1. Por que uma teoria da norma jurdica?
135. Os fatos sociais isoladamente no geram efeitos jurdicos, se assim o fazem porque uma norma
jurdica os toma como proposio antecedente, implicando-lhes conseqncias. Nestes termos, uma
teoria da norma jurdica indispensvel Cincia do Direito.
2. Que norma jurdica?
136. Utilizamo-nos da expresso norma jurdica para designar as unidades do sistema do direito
positivo, quando este, por manifestar-se em linguagem, apresenta-se em quatro planos: (i) S1 plano
dos enunciados prescritivos; (ii) S2 plano das significaes isoladamente consideradas; (iii) S3
plano das significaes deonticamente estruturadas; e (iv) S4 plano da sistematizao.
137. Para aliviar as incongruncias semnticas do uso da expresso separa-se: (i) normas jurdicas em
sentido amplo; e (ii) normas jurdicas em sentido. As primeiras denotam unidades do sistema do
586
direito positivo, ainda que no expressem uma mensagem dentica completa. As segundas denotam a
significaes construdas a partir dos enunciados postos pelo legislador, estruturadas na forma
hipottico-condicional D(HC).
3. Norma jurdica em sentido estrito
138. A norma jurdica resultado de um trabalho mental, interpretativo, de construo e estruturao
de significaes. Como significao, esto sempre na implicitude dos textos, de modo que no existe
norma expressa.
4. Homogeneidade sinttica e heterogeneidade semntica e pragmtica das normas jurdicas
139. Todo comando jurdico apresenta-se sob a mesma estrutura. A variao encontra-se no contedo
que satura a frmula D((HC), que se modifica de acordo com a matria eleita pelo legislador e
com os valores que informam a interpretao dos textos jurdicos. Por isso, os pressupostos da
homogeneidade sinttica e da heterogeneidade semntica e pragmtica das normas jurdicas.
140. O princpio da homogeneidade sinttica das unidades do sistema, contudo, s tm aplicabilidade,
se considerarmos o direito positivo enquanto conjunto de normas jurdicas em sentido estrito (S3). A
dicotomia homogeneidade / heterogeneidade no se aplica organizao frsica dos enunciados
prescritivos (S1), nem das proposies isoladas (S2).
5. Estrutura da norma jurdica
141. A estrutura normativa composta por: (i) duas proposies (i.a) hiptese, pressuposto, ou
antecedente (H), cuja funo descrever uma situao de possvel ocorrncia (f), que funciona como
causa para o efeito jurdico almejado pelo legislador; e (i.b) conseqente ou tese (C), cuja funo
delimitar um vnculo relacional entre dois sujeitos (S R S), que se consubstancia no efeito almejado;
e (ii) um conectivo condicional (), tambm denominado de vnculo implicacional, cuja funo
estabelecer o liame de causa e o efeito entre a hiptese e o conseqente.
5.1. Antecedente normativo
142. O lugar sinttico de antecedente da norma jurdica ocupado por uma proposio descritora de
um evento de possvel ocorrncia no campo da experincia social que, verificado, enseja efeitos
jurdicos.
5.2. Operador dentico
143. O dever-ser exprime conceitos funcionais, estabelecendo vnculos entre as proposies hiptese
e conseqente e entre os termos de sujeitos do conseqente.
5.3. Conseqente normativo
144. O lugar sinttico do conseqente normativo ocupado por uma proposio delimitadora da
relao jurdica que se instaura entre dois ou mais sujeitos assim que verificado o fato descrito na
hiptese. Sua funo instituir um comando que deve ser cumprido por um sujeito em relao a outro
587
5.4. A implicao como forma sinttica das normas jurdicas
145. O legislador, na produo dos textos jurdicos, e o intrprete, na construo do sentido destes,
podem combinar: (i) uma s hiptese para uma s conseqncia (HC); (ii) vrias hipteses para
uma s conseqncia (H, H, H...C); (iii) uma s hiptese para vrias conseqncias (HC,
C, C...); ou (iv) vrias hipteses para vrias conseqncias (H, H, H...C, C, C...);
associando-as conjuntiva ou disjuntivamente.
6. Norma jurdica completa
146. A norma jurdica, entretanto, na sua completude, tem feio dplice: (i) norma primria; e (ii)
norma secundria. A primeira, vincula deonticamente a ocorrncia de um fato prescrio de uma
conduta. A segunda, logicamente conectada primeira, prescreve uma providncia sancionatria (de
cunho coercitivo), aplicada pelo Estado-Juiz, caso seja verificado o fato descrito na primeira e no
realizada a conduta por ela prescrita.
6.2. Fundamentos da norma secundria
147. A bimembriedade constitutiva da norma jurdica decorre do pressuposto de que, no direito,
inexiste regra sem a correspondente sano. O ser jurdica significa ter coercitividade, que a
previso, pelo sistema, de mecanismos para exigir o cumprimento das condutas por ele prescritas. A
sano, implementada coercitivamente pelo Estado-Juiz, uma caracterstica prpria do direito, que
est presente em todas as normas do ordenamento, diferenciando-o dos demais sistemas prescritivos.
6.3. Estrutura completa da norma jurdica
148. A norma primria estatui direitos e deveres correlatos a dois ou mais sujeitos como conseqncia
jurdica C, em decorrncia da verificao do acontecimento descrito em sua hiptese H. A norma
secundria estabelece a sano S, mediante o exerccio da coao estatal, no caso de no observncia
dos direitos e deveres institudos pela norma primria H (-c).
6.4. Normas secundrias
149. A norma secundria atribui juridicidade s normas primrias. Ela prescreve que no caso de
descumprimento, inobservncia, inadimplncia, por parte do sujeito passivo, do dever jurdico
prescrito na regra primria, o outro sujeito da relao, titular do direito subjetivo, pode exigir do
Estado o cumprimento coercitivo da prestao no-adimplida.
6.5. Sobre o conectivo das normas primria e secundria
150. O ou includente (v) o conectivo que melhor representa a relao entre as normas primaria e
secundria. Para representar a validade simultnea das normas primria e secundria o conectivo ou
usado na sua funo includente (ambas tm valncia positiva). Para representar que o cumprimento
588
de uma exclui o cumprimento da outra, o operador ou usado na sua funo excludente (se uma tem
valncia positiva, a outra tem valncia negativa).
7. Conceito de sano no direito
151. Atribumos ao termo sano uma conotao mais estrita, no apenas de relao jurdica
punitiva, instaurada em decorrncia de fato ilcito, de cunho reparatrio, mas de um vnculo de ordem
processual, mediante a qual se postula o exerccio da coercitividade Estatal (tambm punitiva e
decorrente de fato ilcito), para assegurar a garantia de um direito. Sob este enfoque todas as normas
jurdicas tm sano.
CAPTULO IX
CONTEDO NORMATIVO E CLASSIFICAO DAS NORMAS
1. Contedo normativo e teoria das classes
152. O legislador, ao selecionar os atributos que os fatos e as relaes precisam ter para pertencerem
ao mundo jurdico, delimita dois conceitos, dividindo a realidade dos fatos e das relaes relevantes
juridicamente, da realidade dos fatos e das relaes no relevantes juridicamente. Ao assim fazer, cria
duas classes: (i) a da hiptese, conotativa dos suportes fticos a serem juridicizados; e (ii) a do
conseqente, conotativa das relaes jurdicas a serem instauradas com a verificao daqueles fatos.
1.1. Sobre a teoria das classes
153. Toda classe delimitada por uma funo proposicional. Ela o mbito de aplicao de um
conceito. Sua conotao a totalidade dos requisitos que delimitam este conceito e sua denotao so
todos os objetos que cabem no mbito do conceito.
154. Quando todos os elementos de uma classe (K) so, ao mesmo tempo, elementos de outra classe
(L), dizemos que a classe K uma subclasse da classe L, ou que est includa na classe L.
1.2. Aplicao das noes de classe ao contedo normativo
155. A hiptese (H) e o conseqente (C) da norma jurdica (geral e abstrata produzida pelo
legislador) so duas classes, cuja extenso projetada pelo aplicador ao plano da realidade social para
identificao dos possveis fatos a serem juridicizados e as possveis relaes sociais a serem elevadas
categoria jurdica.
156. A linguagem do direito produzida pelo aplicador (norma individual e concreta), ao atuar sobre
casos concretos, indicando a verificao de um fato juridicamente relevante e a ele imputando uma
conseqncia jurdica, define dois conceitos, os quais denominamos de fato jurdico e relao
jurdica. A extenso destes conceitos projeta-se sobre a linguagem da realidade social, delimitando
duas classes unitrias: a do fato social consumado nos moldes da descrio hipottica e a da relao
social estabelecida nos moldes jurdicos.
589
2. Tipos de normas jurdicas
157. As classificaes so prprias da Cincia do Direito, o doutrinador que, ao observar o direito
positivado, separa e agrupa regras, atribuindo nome a estes grupos. Cada jurista se utiliza do critrio
que mais entende apropriado para descrever aquilo que v. Por isso, a enorme variedade de tipos de
normas trazidas pela doutrina
2.1. Sobre o ato de classificar
158. Classificar consiste num ato humano, de distribuir objetos em grupos de acordo com semelhanas
(e diferenas) que existam entre eles. Embora no existam limites semnticos a tal atividade, esta,
enquanto operao lgica que , deve submeter-se s regras que presidem o processo de diviso, o que
garante serem as espcies efetivamente sub-classes prprias dos gneros.
159. O ato de classificar, fundado no processo de diviso, no se confunde com o ato de desintegrar,
tambm utilizado com fins cognoscitivos, para organizao e aproximao da realidade circundante.
2.2. Classificao das normas jurdicas
159. O sistema jurdico constitudo de quatro subsistemas: S1; S2; S3; S4. O termo norma jurdica
pode ser utilizado (em acepo ampla) para designar unidades de qualquer um destes planos, mas em
cada um deles diferem-se os elementos e, conseqentemente, numa operao classificatria, a extenso
da classe gnero. Se o jurista se assenta nos planos S1 e S2, no classifica normas jurdicas em sentido
estrito, mas sim enunciados e proposies isoladas.
160. Para classificarmos normas jurdicas em sentido estrito, nossa ateno deve, necessariamente,
estar voltada ao plano S3 das significaes deonticamente estruturadas e somente a ele, sob pena de
criarmos espcies que no se enquadram na extenso do gnero norma jurdica. Isto, no entanto, no
nos impede de, paralelamente, estudarmos a diviso dos enunciados prescritivos e das proposies no
deonticamente estruturadas.
2.2.1. Tipos dos enunciados prescritivos S1
161. Separamos os enunciados prescritivos de acordo com sua estrutura sinttica em: (i) meramente
prescritivos; (ii) qualificatrios; (iii) definitrios; (iv) regras tcnicas. Os primeiros se dirigem
conduta humana, normalmente de forma imperativa. Os segundos atribuem qualificaes a certas
coisas, pessoas ou aes e apresentam estrutura morfolgica ......, onde o funciona como verbo
predicativo. Os terceiros apontam o sentido que o legislador pretende outorgar a uma palavra e
possuem, normalmente, a forma cannica das definies. Os ltimos so enunciados prescritivos que
estipulam os meios para alcanar determinado fim, apresentam a estrutura sinttico-gramatical do
condicional se... tem que....
590
2.2.2. Tipos de proposies isoladas S2
162. O problema de classificar proposies ainda no deonticamente estruturadas, considerando
apenas o plano S2, que as possibilidades significativas so infinitas e, assim, muito difcil uma
classificao, mesmo que detalhada, dar-nos segurana para apontar todos os tipos de proposies
existentes. Por isso, para identificar as unidades de S2 tomamos como critrio a posio que cada uma
ocupar na estrutura normativa, quando da construo da norma jurdica (em sentido estrito) em: (i)
nucleares do fato; (ii) espaciais; (iii) temporais; (iv) de sujeitos (iv.a) ativo e (iv.b) passivo; e (v)
nucleares da conduta prescrita.
2.2.3. Tipos de normas jurdicas (stricto sensu) S3
163. Trabalhando no plano S3, classificamos as normas jurdicas em sentido estrito, ou seja, as
significaes jurdicas estruturadas na forma hipottico-condicional, em:
2.2.3.1. Normas de conduta e normas de estrutura
164. (i) normas de comportamento (ou de conduta); e (ii) normas de estrutura (ou de organizao). As
primeiras diretamente voltadas para as condutas interpessoais; e as segundas voltadas igualmente para
as condutas das pessoas, porm, como objetivo final os comportamentos relacionados produo de
novas unidades jurdicas
2.2.3.1.1. Normas de estrutura e suas respectivas normas secundrias
165. Se o agente legislador no competente, ou o procedimento realizado no o prprio, os
membros da comunidade (que tm o direito subjetivo, atribudo pelas normas de estrutura, de s serem
obrigados por normas criadas por agente competente e procedimento prprio) tm o direito subjetivo
de se socorrerem ao Estado-Juiz para que este suspenda a aplicao ou invalide as normas criadas com
vcio de forma. A norma secundria, que se agrega s normas de estrutura prescreve exatamente isto
2.2.3.2. Normas abstratas e concretas, gerais e individuais
166. (i) gerais; (ii) individuais; (iii) abstratas; e (iv) concretas. Gerais aquelas cujos sujeitos se mantm
indeterminados quanto ao nmero. Individuais as que se voltam a certo indivduo ou a um grupo
determinado de pessoas. Abstratas aquelas que descrevem um fato futuro e incerto. E concretas as que
relatam um fato passado, propulsor de efeitos no mundo jurdico.
167. Sendo as qualificaes geral e individual atribudas ao conseqente e abstrata e concreta ao
antecedente, na juno estrutural das normas jurdicas encontramos as possveis combinaes
classificatrias: (i) normas gerais e abstratas de antecedente abstrato e conseqente generalizado; (ii)
normas gerais e concretas de antecedente concreto e conseqente generalizado; (iii) normas
individuais e abstratas de antecedente abstrato e conseqente individualizado; e (iv) normas
individuais e concretas de antecedente concreto e conseqente generalizado.
591
2.2.3.3. Tipos de normas jurdicas segundo as relaes estabelecidas em S4
168. Ainda trabalhando com a classificao dos contedos normativos no plano das normas jurdicas
strico sensu, mas levando em considerao as relaes entre normas estabelecidas no plano da
sistematizao do direito (S4), podemos classific-las em:
2.2.3.3.1. Normas dispositivas e derivadas, punitivas e no-punitivas
169. (i) derivadas, as normas cuja hiptese pressupem uma prescrio contida em outra norma; e (ii)
dispositivas aquelas que prescrevem condutas tomadas como pressuposto das normas derivadas.
170. O vnculo que se estabelece entre normas primrias e secundrias exatamente este. A distino,
no entanto, entre normas primrias e secundrias, repousa na relao constituda em seus
conseqentes, uma de ndole material e outra de ndole processual viabilizadora do exerccio da
coercitividade jurdica.
171. Tal vnculo de coordenao pode tambm existir entre normas primrias. Por vezes, a autoridade
legislativa entende relevante o adimplemento da conduta prescrita na norma dispositiva, configurando
como hiptese da norma derivada o fato do seu cumprimento. Outras vezes, considera proeminente o
seu inadimplemento, caracterizando como hiptese da norma derivada o fato do seu descumprimento,
o que juridicamente se constitui como um fato ilcito.
172. Levando-se em considerao a valorao do legislador, quanto ilicitude do fato eleito como
hiptese normativa, as normas derivadas podem ser classificadas em: (i.a) punitivas e (i.b) no-
punitivas. As primeiras tm como hiptese o descumprimento de conduta prescrita por outra norma
(que lhe precedente) e como conseqncia, a prescrio de um castigo (dever jurdico) para o sujeito
passivo. As segundas tm como hiptese a realizao de uma conduta prescrita em outra norma (que
lhe precedente) e como conseqncia a instaurao de um benefcio (direito subjetivo) ao sujeito
passivo.
2.2.3.1.1.1. Conectivos lgicos das normas dispositivas derivadas e punitivas e no punitivas
173. Com relao aos vnculos que se estabelecem entre normas primrias, a concluso do estudo
realizado no captulo anterior quanto s normas primrias e secundrias se aplica na unio das normas
primrias dispositivas e primrias derivadas punitivas.
174. Com relao ao vnculo entre normas dispositivas e derivadas no-punitivas no podemos
dizer o mesmo. No campo normativo, ambas so necessariamente vlidas para que a unio se
estabelea, porm, no campo factual no so excludentes. O cumprimento da norma dispositiva
que implica a aplicao da norma derivada no-punitiva, factualmente so tambm includentes. Por
isso, acreditamos que o melhor conetivo para representar tal relao o conjuntor e, logicamente
representado por (.): ambas so simultaneamente vlidas e ambas se aplicam conjuntamente apesar de
sucessivamente.
592
2.2.4. Tipos de normas jurdicas em sentido amplo
175. Outras separaes existem levando-se em conta a acepo de norma jurdica em sentido amplo,
abrangendo os planos dos enunciados, das proposies no deonticamente estruturadas e das normas
jurdicas, ou pelo menos mais de um deles.
2.2.4.1. Diferenciao quanto ao ncleo semntico
176. Quanto ao ncleo semntico as normas jurdicas se dividem em: (i) direito pblico; e (ii) direito
privado. As primeiras dispem sobre interesses do Estado; e as segundas sobre interesses dos
particulares.
177. Outra clssica classificao, quanto materialidade normativa a que divide: (i) normas de
direito material; e (ii) normas de direito processual; sob o critrio de serem instrumentais ou no. As
segundas servem de instrumento para realizao dos direitos e deveres prescritos nas primeiras.
2.2.4.2. Diferenciao quanto ao veculo introdutor
178. Tendo em vista as relaes de subordinao e o veculo mediante o qual so inseridas no sistema,
podemos dividir as normas jurdicas (lato sensu) em: (i) constitucionais; e (ii) infra-constitucionais. E
esta ltima em: (ii.a) legais; e (ii.b) infra-legais.
CAPTULO X
A REGRA-MATRIZ
1. Que regra-matriz?
179. Examinando vrias normas, em busca da construo de proposies descritivas generalizadoras,
verifica-se uma constante: que o legislador, na sua atividade de selecionar propriedades dos fatos e das
relaes jurdicas, acaba utilizando-se sempre dos mesmos critrios. A conjuno desses dados
indicativos oferece-nos a possibilidade de exibir um esquema padro, j que toda construo
normativa, para ter sentido, pressupe, como contedo mnimo, estes elementos significativos.
1.1. Normas de incidncia e normas produzidas como resultado da incidncia
180. Algumas normas so produzidas para incidir, outras nascem como resultado da incidncia. Nas
normas produzidas para incidir (do tipo gerais e abstratas), a classe dos fatos (delimitada pela hiptese)
e das relaes (delimitada pelo conseqente), compreendem inmeros elementos, tanto quanto forem
os acontecimentos concretos que nela se enquadrem, quanto s relaes a se instaurarem
juridicamente.
181. Para construo dos conceitos conotativos destas normas, h no antecedente: (i) um critrio
material (delineador do comportamento/ao pessoal); (ii) um critrio temporal (condicionador da ao
no tempo); e (iii) um critrio espacial (identificador do espao da ao). E, no conseqente: (iv) um
593
critrio pessoal (delineador dos sujeitos ativo e passivo da relao); e (v) um critrio prestacional
(qualificador do objeto da prestao).
1.2. A regra-matriz de incidncia
182. Chamamos de regra-matriz de incidncia as normas padres de incidncia, aquelas produzidas
para serem aplicadas em casos concretos, que se inscrevem entre as regras gerais e abstratas, podendo
ser de ordem tributria, previdenciria, penal, administrativa, constitucional, civil, trabalhista,
comercial, etc., dependendo das situaes objetivas para as quais seu vetor semntico aponta.
1.3. Ambigidade da expresso regra-matriz de incidncia
183. No imune ao problema da ambigidade, a expresso regra-matriz pode ser utilizada em duas
acepes, significando realidades distintas: (i) estrutura lgica; e (ii) norma jurdica em sentido estrito.
Considerando s a estrutura, temos a regra-matriz de incidncia como um esquema lgico-semntico
que auxilia o intrprete na construo do sentido dos textos do direito positivo. Considerando o
contedo, temos a regra-matriz de incidncia como norma jurdica (stricto sensu) significao
construda a partir dos textos do direito positivo, estruturada na forma hipottico-condicional.
2. Critrios da hiptese
184. A funo da hiptese definir os critrios (conotao) de uma situao objetiva, que, se
verificada, exatamente por se encontrar descrita como hiptese normativa, ter relevncia para o
mundo jurdico.
185. Considerando que todo fato um acontecimento determinado por coordenadas de tempo e espao,
h trs critrios identificadores do fato, constantes na hiptese de incidncia: (i) critrio material; (ii)
critrio espacial; e (iii) critrio temporal.
2.1. Critrio material
186. Critrio material a expresso, ou enunciado da hiptese que delimita o ncleo do acontecimento
a ser promovido categoria de fato jurdico, composto por um verbo e um complemento. O verbo
sempre pessoal, pois pressupe que algum o realize; apresenta-se no infinitivo, aludindo realizao
de uma atividade futura; e de predicao incompleta, o que importa a obrigatria presena de um
complemento.
2.2. Critrio espacial
187. Critrio espacial a expresso, ou enunciado da hiptese que delimita o local em que o evento, a
ser promovido categoria de fato jurdico, deve ocorrer.
188. Separados quanto determinao encontramos quatro tipos de critrios espaciais: (i) pontual, que
indica um local determinado, exclusivo e de nmero limitado; (ii) regional, que assinala uma rea
especfica, ou uma regio; (iii) territorial, que identifica o prprio campo de vigncia da norma; (iv)
universal, que demarca uma rea mais abrangente do que o campo de vigncia da norma.
594
2.3. Critrio temporal
189. Critrio temporal o feixe de informaes contidas na hiptese normativa que nos permite
identificar, com exatido, o momento de ocorrncia do evento a ser promovido categoria de fato
jurdico.
190. Comporta duas funes: (i) uma direta, que identificar, com exatido o preciso momento em
que acontece o evento relevante para o direito; (ii) outra indireta, que , a partir da identificao do
momento de ocorrncia do evento, determinar as regras vigentes a serem aplicadas.
3. Critrios do conseqente
191. A funo do conseqente definir os critrios (conotao) do vnculo jurdico a ser interposto
entre duas ou mais pessoas, em razo da ocorrncia do fato jurdico.
192. Por prescrever um comportamento relacional que vincula dois ou mais sujeitos em torno de uma
prestao (S R S), o conceito do conseqente da regra matriz de incidncia deve identificar os
elementos desta relao. Falamos, assim: (i) num critrio pessoal; e (ii) num critrio prestacional,
como componentes lgicos do conseqente da regra matriz de incidncia.
3.1. Critrio pessoal: sujeitos ativo e passivo
193. Critrio pessoal o feixe de informaes contidas no conseqente normativo que nos permite
identificar, com exatido, os sujeitos da relao jurdica a ser instaurada quando da constituio do fato
jurdico.
194. As informaes que identificam o indivduo a quem conferido o direito de exigir o cumprimento
da conduta prescrita (titular do direito subjetivo) so utilizadas na composio da posio sinttica de
sujeito ativo do conseqente normativo. J as notas, que nos remetem ao individuo a quem conferido
o dever de realiz-la (portador do dever jurdico), so utilizadas na composio do sujeito passivo.
3.2. Critrio prestacional
194. O critrio prestacional demarca o ncleo do conseqente, apontando qual conduta deve ser
cumprida pelo sujeito passivo em favor do sujeito ativo. Contm dois elementos: (i) um verbo,
identificativo da conduta a ser realizada por um sujeito em favor do outro (o fazer, ou no-fazer); e (ii)
um complemento, identificativo do objeto desta conduta (o algo).
195. Em alguns casos o complemento quantificado pelo legislador, noutros, apenas qualificado.
Quando quantificado, alm das notas sobre a ao a ser realizada pelo sujeito passivo em favor do
sujeito ativo (verbo + complemento), encontramos, no texto legislado, diretrizes para determinar
numericamente o complemento, s quais atribumos o nome de critrio quantitativo. Quando no
quantificado podemos encontrar outras informaes materiais relevantes para a precisa identificao
do objeto da prestao, s quais atribumos o nome de critrio qualitativo.
4. Funo operativa e prtica do esquema lgico da regra-matriz
595
196. Duas so as funes operacionais do esquema lgico da regra-matriz: (i) delimitar o mbito de
incidncia normativa; e (ii) controlar a constitucionalidade e legalidade normativa.
197. O preenchimento da esquematizao da regra-matriz fornece-nos todas as informaes para
definir os conceitos da hiptese e do conseqente e identificar, com preciso, a ocorrncia do fato e da
relao a ser constituda juridicamente. E, delimitando o campo de incidncia, a construo da regra-
matriz serve de controle do ato de aplicao que a toma como fundamento jurdico ou do prprio ato
legislativo que a criou.
LIVRO III TEORIA DA INCIDNCIA
CAPTULO XI
INCIDNCIA E APLICAO DA NORMA JURDICA
1. Teorias sobre a incidncia da norma Jurdica
198. Uma teoria sobre a incidncia estuda como se d a produo de efeitos da norma jurdica.
1.1. Teoria tradicional
199. Para a teoria tradicional da incidncia trabalha a norma projeta-se sobre os acontecimentos sociais
juridicizando-os. Ela incide sozinha e por conta prpria sobre os fatos, assim que estes se concretizam,
fazendo-os propagar conseqncias jurdicas.
200. H, nesta linha de raciocnio, uma transitividade entre os sistemas jurdico e social, de modo que
direitos e deveres so constitudos no impretervel momento da ocorrncia tomada como suposto por
normas jurdicas.
201. Seguindo este posicionamento, incidncia e aplicao so coisas distintas e ocorrem em
momentos diversos. Primeiro a norma incide, juridicizando o fato e fazendo nascer direitos e deveres
correlatos; depois, ela pode ou no, ser aplicada pelo homem.
1.2. Teoria de Paulo de Barros Carvalho
202. PAULO DE BARROS CARVALHO trabalha com diferente referencial terico. Um fato do
mundo social, para ser jurdico no basta ser verificado de acordo com o descrito na hiptese
normativa, tem que integrar no sistema do direito positivo, pois nele, e somente nele, que se instalam
conseqncias jurdicas. Nestes termos, somente com a produo de uma linguagem jurdica
instauram-se direitos e deveres correlatos desta natureza.
203. Sob este enfoque, no prevalece a diferena entre incidncia e aplicao. Para incidir, a norma
tem que ser aplicada, de modo que incidncia e aplicao se confundem. A incidncia da norma
jurdica se d no momento em que o evento relatado em linguagem competente, o que ocorre com o
ato de aplicao.
596
1.3. Consideraes sobre as teorias
204. A famosa afirmao sobre ser a incidncia automtica e infalvel aceita em ambas as teorias, s
divergindo quanto aos momentos. Na teoria tradicional, a incidncia, enquanto produo de efeitos
jurdicos, automtica e infalvel com relao ao evento. Na teoria de PAULO DE BARROS
CARVALHO, a incidncia automtica e infalvel com relao ao fato jurdico.
205. Trabalhando com a filosofia da linguagem e os referenciais filosficos at aqui fixados,
considerando o direito como um sistema comunicacional sintaticamente fechado, incoerente aceitar
que uma norma jurdica capaz de produzir efeitos jurdicos por si s, imediatamente ocorrncia do
evento (verificado em outro sistema comunicacional).
2. Incidncia e aplicao do direito
206. Falar em aplicao o mesmo que falar em incidncia, porque a norma jurdica no incide
sozinha. Para produzir efeitos ela precisa ser aplicada. Isso requer a presena de um homem, mais
especificamente de um ente competente, ou seja, uma pessoa que o prprio sistema elege como apta
para, de normas gerais e abstratas, produzir normas individuais e concretas, constituindo, assim, efeitos
na ordem jurdica.
3. A fenomenologia da incidncia
207. A incidncia se opera da seguinte forma: o homem, a partir dos critrios de identificao da
hiptese de uma norma geral e abstrata, construda com a interpretao dos textos jurdicos, demarca
imaginariamente (no plano do ser), a classe de fatos a serem juridicizados. Quando, interpretando a
linguagem da realidade social identifica um fato denotativo da classe da hiptese, realiza a
subsuno e produz uma nova linguagem jurdica, relatando tal fato no antecedente de uma norma
individual e concreta e a ele imputando a relao jurdica correspondente (como proposio
conseqente desta norma) e, assim o faz, com a denotao dos critrios de identificao do
conseqente da norma geral e abstrata (incidida), a qual ser representativa de um liame a ser
estabelecido no campo social.
4. Efeitos da aplicao: teorias declaratria e constitutiva
208. Considerando a incidncia automtica e infalvel em relao ao evento, o ato de aplicao
meramente declaratrio, ele relata a existncia de uma relao jurdica j constituda e do fato (j
juridicizado) que a instaurou, apresentando-se apenas como um pressuposto para exigncia coercitiva
de uma obrigao, proibio, ou permisso, j constituda com a incidncia da norma.
209. Considerando que o fato s se torna jurdico quando relatado em linguagem competente, o ato de
aplicao tem natureza constitutiva do fato jurdico e da relao jurdica, apresentando-se como
meramente declaratrio apenas quanto ao evento.
597
5. Sobre o ciclo de positivao do direito
210. o ordenamento jurdico que prescreve a criao, transformao e extino de suas normas,
determinando como suas estruturas devem ser movimentadas e os requisitos a serem observados para a
transformao de sua linguagem. Neste sentido, temos um ciclo ininterrupto: uma linguagem jurdica
produzida mediante uma srie de procedimentos pr-estabelecidos e realizados pelo homem com base
em outra linguagem jurdica que, por sua vez, tambm foi produzida da mesma forma.
211. Sempre que se produz uma linguagem jurdica, algum est aplicando uma norma, mediante um
processo que denominamos de positivao. Positivar, assim, passar da abstrao para a concretude
das normas jurdicas, o que se efetiva, necessariamente, por meio de um ato humano.
6. Aplicao e regras de estrutura
212. Os procedimentos adequados para criao de novas normas jurdicas e as pessoas credenciadas
para realiz-los so aqueles, e somente aqueles, estabelecidos pelo direito. Para cada tipo de norma que
se pretenda produzir, o sistema estabelece um procedimento prprio e determina quem so as pessoas
capacitadas para realiz-lo.
7. Aplicao: norma, procedimento e produto
213. Chamamos ateno para a ambigidade da palavra aplicao, como norma, fato social, e fato
jurdico, o que se explica quando refletimos sobre a dualidade processo/produto e sobre a
convergncia dos termos norma, procedimento e ato, tomados como aspectos do mesmo objeto.
7.1. Teoria da ao: ato norma e procedimento
214. Todo procedimento expresso por meio de uma norma, que estabelece os requisitos necessrios a
serem observados pelo sujeito para realizar uma ao. seguindo esta linha que trabalhamos norma,
procedimento e ato como momentos significativos de uma e somente uma realidade.
7.2. Aplicao como ato, norma e procedimento
215. Tratar a aplicao como norma, como procedimento ou como ato, passa a ser apenas uma
deciso de quem deseja examin-la. Examinar as normas disciplinadoras do modo de produo da
linguagem jurdica significa estudar a sintaxe da aplicao. Examinar o procedimento realizado,
significa estudar a pragmtica da aplicao e examinar o ato produzido significa estudar a semntica
da aplicao.
8. Anlise semitica da incidncia
216. A incidncia tomada como um fato, enunciado lingstico ou linguagem responsvel pela
interseco entre os mundos do direito (linguagem jurdica) e da realidade social (linguagem social),
utilizar os recursos da semitica e estudar a incidncia sob os enfoques: (i) sinttico, (ii) semntico e
(iii) pragmtico.
598
8.1. Plano lgico: subsuno e imputao
217. Sob o aspecto sinttico, a incidncia se perfaz em duas operaes lgicas: (i.a) subsuno
(incluso de classes) do fato e da relao; e (i.b) imputao ao fato dos efeitos jurdicos (implicao).
8.2. Plano semntico: denotao dos contedos normativos
218. Sob a faceta semntica, a incidncia a determinao do contedo dos enunciados normativos
gerais e abstratos, caracteriza-se, portanto, como uma operao de denotao
8.3. Plano pragmtico: interpretao e produo da norma individual e concreta
219. Sob o ponto de vista pragmtico a incidncia tambm se completa em duas operaes: (iii.a)
interpretao (do fato e do direito); e (iii.b) constituio da nova linguagem jurdica.
9. Do dever ser ao ser da conduta
220. Com a produo da norma individual e concreta, veiculada pelo ato de aplicao, a regulao
jurdica se aproxima do campo material das condutas intersubjetivas, mas no tem o condo de, por si
s, alter-lo. Para isso, faz-se necessrio um ato de vontade humano direcionado ao cumprimento
daquilo que a regra prescreve e a produo de uma nova linguagem social.
CAPTULO XII
APLICAO - INTERPRETAO E TEORIA DA DECISO
1. Interpretao e produo da norma individual e concreta
221. Operacionalmente, a aplicao pressupe: (i) a interpretao; (i.a) dos enunciados probatrios que
reportam o aplicador ocorrncia de um evento; e (i.b) do direito (construo da norma a ser
aplicada); e (ii) a produo da linguagem competente, que relata o fato (constituindo-o como fato
jurdico) e instaura o vnculo relacional (obrigatrio, proibido ou permitido) entre sujeitos.
1.1. Interpretao da linguagem do fato
222. Mediante a interpretao da linguagem dos fatos que se forma a convico do aplicador sobre o
caso concreto. Diante do conjunto de documentos que lhe apresentado sobre determinado
acontecimento e das verses trazidas pelo autor e pelo ru, o aplicador vai interpretando os textos,
atribuindo valores aos signos neles constantes e sobrepesando os relatos, at que, em algum momento
decide e constri a sua verso sobre o evento, aquela que servir de base para a incidncia normativa.
1.2. Interpretao do direito
223. A linguagem do aplicador diz qual a norma jurdica a ser aplicada, antes dela h apenas o suporte
fsico e a infinidade de significaes possveis de lhe serem atribudas, no existe nada determinado. O
aplicador traduz a linguagem do direito, dizendo-a do seu modo. O sistema lhe atribui competncia
para positivar o sentido construdo, de modo que sua interpretao configura-se como autntica, at
que outro sentido, produzido por pessoa cujo sistema atribua grau de competncia maior, o substitua.
599
1.2.1. O problema das lacunas
224. Em diversas circunstncias, o intrprete, por se perder na abstrao de seus conceitos, ou na
valorao destes, ou por no encontrar enunciados (suporte fsico) para fundamentar suas escolhas, no
consegue construir a norma que, na sua viso, seria adequada ao caso. Surge, assim, o conceito
tradicional de lacuna como a ausncia de norma na ordem jurdica que regulamente determinado
caso concreto.
1.2.1.1. As lacunas na doutrina
225. A problemtica das lacunas est relacionada idia de completude do sistema. A doutrina jurdica
tradicional divide-se em duas principais correntes: (i) a que afirma a inexistncia de lacunas e sustenta
haver no ordenamento jurdico regulao para todos os comportamentos humanos; e (ii) a que sustenta
a existncia de lacunas no sistema, sob o argumento de este no poder prever todas as situaes de fato
que se concretizam no mbito social
1.2.1.2. Completude sistmica
226. A questo das lacunas no est relacionada ausncia de normas do direito positivo, mas a
problemas de valorao, inerentes interpretao dos textos jurdicos. H lacunas quando o intrprete
no encontra uma significao que satisfaa seus anseios axiolgicos em relao ao caso concreto. A
soluo, para isso, buscar nova interpretao e outras fundamentaes jurdicas. Neste sentido, o
ordenamento completo, pois prescreve como solucionar tais problemas.
1.2.1.3. Integrao de lacunas
227. Como solues apresentadas pelo sistema temos: (i) a analogia; (ii) os costumes; (iii) os
princpios gerais de direito.
1.2.1.3.1. Analogia
228. Utilizando-se do recurso da analogia, o intrprete, em tese, amplia o conceito normativo,
incorporando-lhe uma situao nova, tendo como base um juzo de semelhana. O aplicador subsome
o conceito do fato, que de acordo com seu juzo de convencimento no contemplado pela norma,
significao normativa interpretada de forma extensiva, de modo que ela, devido a tal valorao,
passa a regul-lo.
1.2.1.3.2. Costumes
229. Diferenciamos duas formas de utilizao dos costumes na interpretao e aplicao do direito: (i)
como regra; (ii) como valor. Como valor, o costume um elemento condicionante da cultura que
informa a interpretao do direito e como norma uma significao construda pelo intrprete da
realidade social ao verificar uma srie de prticas reiteradas as quais, devido repetio, considera
como obrigatrias.
600
1.2.1.3.3.1. Princpio como enunciado, proposio ou norma jurdica
230. Os princpios apresentam-se na forma de proposies, significaes construdas em nossa mente a
partir da leitura dos textos do direito positivo e se materializam na forma de enunciados. Tais
proposies so valoradas, pelo intrprete, com um grau de superioridade em relao a outras
proposies jurdicas, apresentando-se como linhas diretivas que exercem grande influncia na
construo e aplicao das demais normas. E, por serem dotadas desta valorao elevada so
denominadas de princpios.
1.2.1.3.3.2. Princpio como valor e como limite objetivo
231. O princpio pode expressar: (i) um valor; ou (ii) um limite objetivo. Toda norma jurdica traz um
valor, devido fora com que o dado axiolgico est presente na linguagem do direito. Chamamos de
princpios aqueles valores que hierarquicamente colocamos num patamar de superioridade.
232. Quanto aos limites objetivos, so instrumentos jurdicos utilizados pelo legislador para atingir
certos fins. No so valores se considerados em si mesmos, mas voltam-se para implementao de
valores. O valor parece no estar presente, mas est no fim a ser alcanado pela tcnica prescrita,
qual denominamos de princpio.
1.2.1.3.3.3. Aplicao: entre regras e princpios
233. O princpio uma proposio jurdica que pertence ao direito posto, pois construda a partir dos
enunciados que compem seu plano de expresso. Aplicar um princpio, assim, aplicar uma norma
pertencente ao sistema. Sob este enfoque o problema de se aplicar regras ou princpios torna-se
utpico. Sempre se aplica uma regra e querer discutir a sobreposio de regras ingressar no campo da
ideologia do intrprete.
1.2.2. O problema das antinomias
234. As antinomias configuram-se pela existncia de incompatibilidades (contradies ou
contrariedades) entre as condutas prescritas pelo legislador. Tambm so problemas de interpretao.
Dependem das valoraes atribudas pelo intrprete quando da construo do sentido dos textos
jurdicos.
235. De acordo com os referenciais adotados neste trabalho, a soluo de antinomias no se d com a
revogao de uma das normas conflitantes. Ambas as disposies, mesmo que incompatveis, so
vlidas (existem) para o direito, at que o legislador produza uma terceira regra, com funo
revogatria, capaz de excluir uma delas do ordenamento.
236. Os princpios utilizados na soluo de conflito entre normas (i.e. lex superior derogat legi
inferiori, lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali), nada mais so do que
regras que regulam a aplicao de outras regras (normas de estruturas).
601
1.2.2.1. Critrio hierrquico
237. baseado na superioridade de uma fonte de produo jurdica sobre a outra. Num conflito entre
normas de diferentes nveis, a de nvel superior deve prevalecer em relao de nvel inferior.
1.2.2.2. Critrio cronolgico
238. Refere-se ao tempo de existncia da norma. Se houver contradio entre regras produzidas pelo
mesmo rgo, a editada por ltimo deve prevalecer sobre a editada anteriormente. Partindo-se de uma
premissa comunicacional do direito, considera-se a lei posterior aquela publicada por ltimo.
1.2.2.3. Critrio da especialidade
239. Diz respeito matria regulada. De acordo com tal critrio, a norma especial sobrepe-se, no ato
de aplicao, quela que disciplina a mesma matria em termos gerais.
1.3. Constituio da linguagem competente e teoria da deciso jurdica
240. A aplicao se completa com a produo de uma linguagem que constitui a verso do evento
elaborada pelo aplicador como fato jurdico e imputa-lhe os efeitos prescritos na norma por ele eleita
para regular aquele caso em concreto.
241. Quando o aplicador produz a norma individual e concreta, resultante da aplicao, ele diz qual o
fato e diz qual o direito, bem como apresenta suas fundamentaes e justificativas. Nestes termos, a
linguagem produzida positiva suas escolhas, por meio dela temos acesso deciso, o que possibilita o
controle de sua valorao.
CAPTULO XIII
TEORIA DO FATO JURDICO
1. Evento, fato e fato jurdico
242. Evento o acontecimento do mundo fenomnico despido de qualquer formao lingstica. Fato
o relato do evento, constitui-se num enunciado denotativo de uma situao delimitada no tempo e no
espao. Fato jurdico o relato do evento em linguagem jurdica. Enunciado, tambm denotativo de
uma situao delimitada no tempo e no espao, constitudo em linguagem competente, que ocupa
posio de antecedente de uma norma jurdica individual e concreta.
2. Ambigidade da expresso fato jurdico
243. A expresso fato jurdico utilizada pela doutrina, legislao e jurisprudncia para designar,
pelo menos, trs realidades distintas: (i) a descrio hipottica presente nos textos jurdicos (hiptese);
(ii) a verificao concreta do acontecimento a que se refere tal hiptese (evento); e (iii) o relato em
linguagem jurdica de tal ocorrncia.
602
244. A fim de evitar confuses utilizamos a expresso fato jurdico na terceira acepo, como o
relato em linguagem competente, de um acontecimento passado, capaz de produzir efeitos na ordem
do direito.
3. Intersubjetividade do fato jurdico
245. O fato jurdico no outra coisa seno um recorte jurdico sobre o fato social, feito nos moldes da
hiptese normativa. Por ser um recorte da realidade social o fato jurdico ser sempre intersubjetivo.
No h um fato, no direito, que no seja relacional.
4. Categorias da semitica objeto dinmico e objeto imediato
246. Analisando o fenmeno da construo das significaes dos signos, a Semitica trabalha com a
distino entre dois tipos de objetos: (i) imediato; e (ii) dinmico. O primeiro representado no signo
capta apenas alguns aspectos do segundo, representado pelo signo.
5. Fato jurdico e categorias da semitica
247. Toda a linguagem do direito, por ser de sobre-nvel em relao linguagem social, constitui-se
como objeto imediato daquela, que se configura como objeto dinmico. Neste sentido, nunca o fato
jurdico captura a inteireza do evento.
248. Para colhermos outras notcias a respeito do fato social que ensejou sua produo, socorremo-nos
da experincia colateral que pode ser: (i) jurdica ou (ii) extrajurdica.
6. Teoria das provas e constituio do fato jurdico
249. So as provas jurdicas, e to-somente elas, que proporcionam, para o direito, o conhecimento dos
fatos tidos, por ele, como relevantes. por meio delas que o evento atestado e que os fatos jurdicos
so constitudos e mantidos no sistema.
7. Teoria da legitimao pelo procedimento e a relao entre verdade e fato jurdico
250. A verdade do fato jurdico no corresponde verdade do evento. Ela depende unicamente do
procedimento realizado para sua produo e criada, pelo aplicador, dentro do sistema e s existe
dentro dele, no fora e nem antes.
251. A linguagem jurdica institui um fato nico e autnomo, que passa a existir dentro do direito,
independente de qualquer outro e que nunca ser repetido.
8. Tempo e local do fato x tempo e local no fato
252. Diferenciam-se: (i) tempo do fato; (ii) tempo no fato; (iii) lugar do fato; e (iv) lugar no fato.
Tempo do fato o momento em que o fato constitudo juridicamente. Tempo no fato o instante a
que alude o enunciado factual juridicamente constitudo, ou seja, que o evento se realizou. Lugar do
fato onde o enunciado protocolar do fato jurdico produzido. E, lugar no fato o local descrito
como aquele onde o evento se realizou.
603
9. Erro de fato e erro de direito
253. Considerando o processo de aplicao do direito, tanto o erro de fato, quanto o de direito so
equvocos de interpretao. No erro de fato, o aplicador confunde-se na construo do sentido dos
suportes fsicos probatrios constantes do processo. No erro de direito ele se engana na construo da
norma jurdica geral e abstrata.
10. Falsa idia de intradisciplinariedade do fato jurdico
254. Tendo em vista ser o fato um recorte lingstico sobre certa base emprica. De um mesmo fato
social pode-se construir um fato jurdico, contbil, poltico, econmico, ou histrico, tudo sob a
pendncia do corte que se quer promover daquele evento.
255. O critrio adotado no corte que qualifica o fato cognositivamente por ele constitudo. Por
retratar uma parcela de um fato social e sobre esta realidade incidirem outras incises, nunca haver
um fato puramente jurdico, ou econmico, ou poltico (considerando seu aspecto semntico). O que
existe so recortes de linguagem.
11. Fatos jurdicos lcitos e ilcitos
256. A distino entre fato jurdico lcito e o fato jurdico ilcito reside na valorao atribuda pelo
sistema proposio-antecedente das normas jurdicas. Os fatos valorados positivamente
caracterizam-se como lcitos, ao passo que os valorados negativamente apresentam-se como ilcitos.
CAPTULO XIV
TEORIA DA RELAO JURDICA
1. Relao jurdica no contexto do direito
257. Relao jurdica o vnculo abstrato segundo o qual, por fora da imputao normativa, uma
pessoa, chamada de sujeito ativo, tem o direito subjetivo de exigir de outra, denominada sujeito
passivo, o cumprimento de certa prestao, sendo que esta ltima tem o dever jurdico de adimpli-la.
Tal vnculo constitudo no conseqente de normas individuais, produzidas no processo de aplicao
do direito.
2. Falcia da relao jurdica efectual
258. De acordo com a concepo que adotamos, no h que se falar em relaes jurdicas eficaciais,
expresso utilizada por PONTES DE MIRANDA para designar, dentro de sua teoria, o efeito de
ordem jurdica, que se instauram com a ocorrncia do evento.
259. Se partirmos do pressuposto de que o direito positivo o conjunto de normas jurdicas vlidas
num dado pas, que se manifesta, necessariamente, na forma lingstica, uma relao para ser jurdica
tem que ser intra-normativa.
604
4. Relao jurdica como enunciado factual
260. Partindo da premissa de que o sistema do direito um corpo de linguagem, a relao jurdica
surge apenas com a formao de um enunciado lingstico produzido no cdigo prprio deste sistema.
Neste sentido, ela se caracteriza como um fato jurdico.
261. Trata-se de um enunciado protocolar e denotativo, posicionado no tempo e no espao da produo
normativa, que se refere a um acontecimento social (conduta humana) e ocupa posio sinttica de
conseqente de uma norma individual e concreta.
4.1. Determinao do enunciado relacional
262. A existncia da relao jurdica pressupe determinao de seus termos.
263. Com relao aos sujeitos, no entanto, h necessidade de que pelo menos um (o ativo ou o passivo)
esteja individualizado. A indeterminao quanto ao outro sujeito, no entanto, deve ser momentnea,
caso contrrio, frustra-se a possibilidade de execuo.
4.2. Aplicao das categorias da semitica
264. A tomada de posio da relao jurdica como um fato relacional permite-nos aplicar ao seu
estudo as categorias de objeto imediato e objeto dinmico. Temos o enunciado jurdico relacional do
conseqente da norma individual e concreta como objeto imediato e a conduta social qual ele se
refere como objeto dinmico.
5. Elementos do fato relacional
265. Para que se instaure o vnculo jurdico faz-se necessrio a presena de pelo menos: (i) um sujeito
ativo e (ii) outro passivo; (iii) um objeto (prestao) e mais dois elementos, responsveis pela
concatenao dos anteriores, (iv) o direito subjetivo e o (v) dever jurdico.
5.1. Sujeitos
266. Os plos ativo Sa e passivo Sp da relao jurdica so sempre ocupados por pessoas. Podem
ser um ou vrios, individuais ou coletivos. Requisito indispensvel, no entanto, que sejam pessoas
diferentes, isto porque, o direito positivo toma como objeto apenas condutas intersubjetivas.
5.2. Objeto prestao
267. O elemento prestacional indica a conduta prescrita como obrigatria (O), proibida (V), ou
permitida (P), pela norma jurdica incidida. Ele responsvel por dizer qual a orientao normativa, ao
caracterizar objetivamente a conduta a ser cumprida.
268. A prestao da relao jurdica h de ser uma conduta contida no campo do lcito. Outro requisito
a possibilidade de realizao material e jurdica da conduta instituda como sua prestao. E, outro
a correlao semntica entre os contedos do enunciado relacional e do fato jurdico, devido
circunstncia daquele ser produzido como efeito deste.
605
5.3. Direitos subjetivos e deveres jurdicos
269. O direito subjetivo constitui-se na possibilidade jurdica, de que titular o sujeito ativo, de exigir
o cumprimento da prestao, isto , na prerrogativa de utilizar-se dos mecanismos que o direito dispe
para assegurar sua realizao. J o dever jurdico constitui-se na obrigatoriedade de que investido o
sujeito passivo de adimplir a prestao, obrigatoriedade esta garantida pelo aparato coercitivo do
sistema jurdico.
6. Caractersticas lgicas da relao jurdica
270. As relaes jurdicas so necessariamente irreflexivas e assimtricas, apresentando-se ou no
como transitivas ou intransitivas. Irreflexivas porque h a necessidade sinttico-semntica,
reivindicada pelo prprio sistema, de o vnculo jurdico se instaurar entre sujeitos diferentes.
Assimtricas porque os vetores que unem os sujeitos ativo e passivo em torno de uma prestao,
apesar de terem a mesma intensidade e direo, apontam em sentidos contrrios. E, transitivas ou
intransitivas de acordo com os interesses polticos inerentes s prescries normativas.
7. Classificao das relaes jurdicas
271. Observando o ncleo das condutas prescritas pelo ordenamento, podemos separar as relaes
jurdicas em: (i) patrimoniais, susceptveis de valorao econmica; e (ii) no-patrimoniais, no
susceptveis de valorao econmica e sua prestao em de: (i) dar; ou (ii) fazer, uma (i) ao (p); ou
(ii) omisso (-p).
272. Outra classificao, que leva em conta o vnculo de coordenao estabelecido entre normas
jurdicas, a que separa as relaes jurdicas em: (i) principais e (ii) acessrias. Estas ltimas
dependentes da primeira, no sentido de que a constituio do fato jurdico que a propaga vincula-se a
uma prescrio anterior.
8. Eficcia das relaes jurdicas
273. No h como trabalhar, dentro dos conceitos por ns adotados, com graus de eficcia da relao
jurdica. A relao jurdica s se instaura com a aplicao da norma, quando ento, produzido o
enunciado relacional como conseqente de uma norma individual e concreta.
9. Efeitos das relaes jurdicas no tempo
274. Apesar do direito alcanar os acontecimentos passados por meio da constituio destes em fatos
jurdicos, suas relaes so sempre constitudas no presente para o futuro, nunca para o passado.
275. Quando se diz que os efeitos da relao jurdica so retroativos, no significa que tenham o
condo de modificar o passado. E que, eventualmente, o direito permite que tais efeitos sejam
utilizados como fundamentao para desconstituio de certas relaes jurdicas institudas no
passado. tal possibilidade atribui-se o nome de retroatividade.
606
10. Modificao e extino das relaes jurdicas
276. Os vnculos jurdicos s podem nascer, modificar-se, ou extinguir-se mediante a produo de
novo enunciado. E, na condio de ente lgico, qualquer alterao que se pretenda introduzir no
mbito das relaes jurdicas exige a prtica de operaes denominadas de clculo de relaes.
277. Trs formas determinam a extino das relaes jurdicas: (i) desconstituio do enunciado
relacional devido falha na materialidade, o que implica na perda de um dos seus entes lgicos
(sujeitos ativo e passivo, prestao, direito subjetivo e dever jurdico); (ii) desconstituio do
enunciado relacional devido falha na sua produo (erro na enunciao); ou (iii) desconstituio do
fato jurdico que lhe deu causa.
LIVRO IV - TEORIA DO ORDENAMENTO JURDICO
CAPTULO XV
TEORIA DO ORDENAMENTO
1. Organizao do direito positivo
278. As normas jurdicas no esto jogadas ao lu, encontram-se dispostas numa estrutura, mantendo
relaes de coordenao (horizontais) e subordinao (verticais) entre si, determinadas por um
unificador comum que atribui caracterstica de sistema ao conjunto.
1.1. Estrutura verticalizada Relaes de subordinao entre normas
279. Tendo-se em conta as relaes de subordinao, observa-se que: (i) de baixo para cima as normas
inferiores fundamentam-se formal e materialmente em normas superiores; e (ii) de cima para baixo,
das regras superiores derivam as inferiores.
280. Todas as normas do sistema convergem para um ponto comum: a Constituio. Ela o
fundamento ltimo de validade de todas as normas e todas dela derivam, de modo que, sua existncia
exprime carter de unidade ao conjunto.
1.2. Relaes de coordenao entre normas
281. A existncia de vnculos horizontais no direito determinada pelas relaes de coordenao entre
normas jurdicas, estabelecidas por critrios de ordem semntica e pragmtica, em razo de uma
completar o sentido de outra.
1.3. Sistemas jurdicos federal, estaduais e municipais
282. Em razo do princpio federativo e da autonomia dos entes polticos Unio, Estados e
Municpios, o sistema jurdico guarda outra peculiaridade quanto a sua estrutura: h uma ordem
Federal, uma ordem Estadual e uma ordem Municipal, todas elas, no entanto, com fundamento na
Constituio da Repblica.
607
1.4. Esttica e dinmica do ordenamento
283. O direito vive em constante movimentao, transformando-se a cada instante. Compreenso
dessa ordem autoriza-nos analisar a ordem posta sob dois enfoques: (i) um esttico e (ii) outro
dinmico.
284. Numa anlise esttica congelamos o direito positivo, as relaes entre suas normas so
surpreendidas em determinado instante, sem preocuparmo-nos com a movimentao do sistema. J na
anlise dinmica observamos o sistema em movimento, acompanhando suas transformaes ao longo
de certo intervalo de tempo.
2. Ordenamento e sistema
285. Relacionada ao direito positivo, a palavra ordenamento reporta-nos idia de ordem, de um
conjunto estruturado de normas jurdicas dispostas segundo um vetor comum, o que, para ns,
equipara-se ao conceito de sistema jurdico
2.1. Teorias sobre ordenamento jurdico
286. Tal afirmao, no entanto, no algo aceito por todas as doutrinas. H autores que, sob outros
referenciais tericos, trabalham com a diferenciao entre ordenamento e sistema.
2.1.1. Ordenamento como texto bruto
287. Para GREGORIO ROBLES o direito positivo, enquanto conjunto de textos prescritivos brutos
(conforme se apresentam materialmente), um ordenamento. O sistema s aparece como resultado da
elaborao doutrinria ou cientfica de tal texto bruto.
288. No temos dificuldades em enxergar o conjunto de enunciados prescritivos como um sistema.
Abstraindo o contedo significativo dos textos jurdicos (designados pelo autor como brutos),
somos capazes de identificar uma estrutura que os envolve, o que j suficiente para atribuirmos ao
conjunto a caracterstica de sistema.
289. De acordo com nossos referenciais, a idia de sistema jurdico no est ligada de Cincia do
Direito e dizer o contrrio retomar uma confuso j superada, misturar duas linguagens que no se
misturam.
2.1.2. Ordenamento seqncia de sistemas normativos
290. Considerando o aspecto dinmico do direito ALCHOURRN e BULYGIN diferenciam
sistema e ordenamento jurdico. Entendem por sistema do direito positivo o conjunto de normas
estaticamente consideradas e por ordenamento jurdico uma srie temporal de sucessivos sistemas,
isto , uma seqencia de conjuntos de normas jurdicas.
608
291. Apesar de servir como uma luva para explicar as transformaes do sistema jurdico, tal
concepo apenas um ponto de vista sobre o objeto que enfatiza seu aspecto dinmico. Por isso,
preferimos, ainda, trabalhar com sistema e ordenamento como sinnimos.
2.2. Axiomas do ordenamento jurdico
292. A existncia do ordenamento jurdico pressupe, em primeiro lugar, um conjunto de normas
jurdicas (i.e. postas por um ato de autoridade) e, em segundo, que tal conjunto constitua-se numa
estrutura. Com base nestes pressupostos, falamos em dois axiomas do ordenamento jurdico: (i) a
validade; e (ii) a hierarquia.
CAPTULO XVI
FONTES DO DIREITO
1. Sobre o tema das fontes do direito
293. H uma tendncia doutrinria em se considerar como fontes do direito a lei, o costume, a
jurisprudncia e a doutrina. E ns, influenciados por esta verdade consensual, continuamos repetindo
tal tendncia sem ao menos perguntarmo-nos: (i) que fonte do direito e (ii) que faz a lei, o costume, a
jurisprudncia e a doutrina serem fontes do direito?
2. Sobre o conceito de fontes do direito
294. O termo fonte, de uso da linguagem comum, empregado pela Dogmtica Jurdica para
designar a origem das normas, isto , de onde provm o direito.
295. Se entendemos o direito como um conjunto de enunciados jurdico-prescritivos, o estudo das
fontes do direito deve voltar-se para a origem de tais enunciados.
296. No buscamos as origens sociais, histricas, psicolgicas, polticas, econmicas, ou
antropolgicas do direito, mas sim a origem jurdica, isto , o modo disciplinado pelo prprio sistema
para a sua produo. Esta a fonte do direito que interessa para a Dogmtica Jurdica, as demais so
prprias de outras Cincias.
3. Enunciao como fonte do direito
297. A atividade psicofsica produtora de enunciados, delimitada em condies de espao e tempo
denominada de enunciao.
298. A enunciao aparece como um acontecimento de ordem social, regulado juridicamente que se
consubstancia na conjuno de trs fatores: (i) um ato de vontade humano; (ii) a realizao de um
procedimento especfico; e (iii) por um agente competente.
609
4. Dicotomia das fontes formais e fontes materiais
299. H uma tradio doutrinria de classificar as fontes do direito em: (i) formais; e (ii) materiais. As
primeiras tomadas como modelos estipulados pela ordem jurdica para introduzir normas no sistema;
as segundas como fatos da realidade social que influem na produo de novas proposies prescritivas.
5. Lei, costume, jurisprudncia e doutrina so fontes do direito?
300. Em suma, de acordo com a posio que assumimos neste trabalho, nem a lei, nem o costume, nem
a doutrina e nem a jurisprudncia so fontes do direito para a dogmtica jurdica. A lei porque o
prprio direito positivo e no sua origem. O costume surge como fato motivador, mas que por conta
prpria no cria direito. A doutrina Cincia. E, a jurisprudncia o direito concreto (aplicado).
6. O documento normativo como ponto de partida para o estudo das fontes
301. O procedimento de criao do direito pertence ordem dos acontecimentos sociais e se perde no
tempo e espao de sua realizao. Aos nossos olhos s aparece o produto, mas diante dele sabemos da
existncia de um processo de criao, pois no h enunciado sem enunciao. Se o produto existe,
porque algo o produziu.
302. Nestes termos, em todo e qualquer documento normativo vamos encontrar sempre duas
linguagens distintas: (i) uma que se refere atividade produtora do documento (enunciao-
enunciada); e (ii) outra que perfaz a prescrio propriamente dita (enunciado-enunciado).
6.1. Enunciao-enunciada
303. Enunciao-enuncaida so as marcas do processo (enunciao) que ficam no produto.
6.1.1. Utilidade da enunciao-enunciada
304. A enunciao-enunciada tem basicamente duas utilidades: (i) permite distinguir o texto jurdico
do no-jurdico, quando nos remete instncia da produo normativa; e (ii) permite o controle
jurdico do processo enunciativo.
6.1.2. Enunciao-enunciada fonte do direito?
305. A enunciao-enunciada no fonte do direito, ela , juntamente com o enunciado-enunciado,
produto da enunciao, esta sim, fonte de normas jurdicas.
6.1.3. Sobre a exposio de motivos
306. A exposio de motivos um texto criado no curso de um processo enunciativo jurdico. ,
portanto, direito positivo, integra o sistema.
307. Podemos diferenar dois tipos de enunciao-enunciada: (i) em sentido estrito, como marcas da
enunciao presente no documento normativo por ela produzido; e (ii) em sentido amplo, como
conjunto de marcas da enunciao presente no sistema jurdico.
610
308. Considerando a segunda perspectiva, os motivos que justificam a criao de um documento
normativo integram a enunciao-enunciada deste documento, pois eles indicam os fatores
determinantes do ato de vontade da enunciao.
6.2. Enunciado-enunciado
309. So preceitos gerais e abstratos, individuais ou concretos, dos quais construmos as normas
jurdicas que, efetivamente, regulam as condutas intersubjetivas valoradas pelo legislador.
7. Enunciao como acontecimento social e como fato jurdico na enunciao-enunciada
310. Apenas quando relatada em linguagem jurdica, na enunciao-enunciada do produto por ela
produzido que a enunciao se constitui como fato jurdico ejetor de normas no sistema. A
enunciao, enquanto atividade considerada no tempo e espao de sua realizao fato social
desprovido de linguagem jurdica. O produto a juridiciza, constituindo-a como uma enunciao
jurdica na enunciao-enunciada.
8. Que veculo introdutor de normas?
311. Da leitura das oraes que compem a enunciao-enunciada, passando por um processo gerador
de sentido, construmos uma norma jurdica responsvel pela insero dos enunciados-enunciados
produzidos no sistema do direito positivo, a esta norma atribumos o nome de veculo introdutor.
312. O antecedente desta norma juridiciza a enunciao e o conseqente prescreve a obrigao de
todos considerarem como vlidos os enunciados produzidos pela enunciao juridicizada no seu
antecedente.
10. Classificao dos veculos introdutores
313. Utilizando-nos do critrio de serem as normas inseridas de carter inaugural ou no, podemos
classificar os veculos introdutores em: (i) instrumentos primrios; e (ii) instrumentos secundrios. Os
primeiros credenciados para promoverem o ingresso de regras inaugurais no universo jurdico e os
segundos credenciados para promoverem o ingresso de regras cuja juridicidade est condicionada s
disposies introduzidas por veculos primrios.
314. Tambm separar os veculos introdutores, segundo a autoridade competente que os criou em: (i)
veculo introdutor-legislativo; (ii) veculo introdutor-judicirio; (iii) veculo introdutor-executivo; (iv)
veculo introdutor-particular.
11. Hierarquia dos veculos introdutores
315. Para conferir ao direito uma estrutura escalonada, o intrprete confronta a enunciao-enunciada
com as normas de produo que a fundamentam e verifica o poder do rgo produtor. Assim, vai
tecendo as relaes de subordinao entre normas e determinando os graus de hierarquia das normas
introduzidas. Neste sentido, o instrumento introdutor de extrema relevncia para determinarmos a
posio das normas jurdicas no sistema.
611
11.1. Hierarquia da Lei Complementar
316. Tendo em conta estas diferentes funes, em alguns casos a lei complementar aparece como
hierarquicamente superior lei ordinria, quando lhe serve de fundamento jurdico, noutros casos
descabe falar em hierarquia, quando ambas fundamentam-se diretamente no texto constitucional,
ocupando tanto a lei complementar, quanto a ordinria, mesmo patamar jurdico.
CAPTULO XVII
VALIDADE E FUNDAMENTO DE VALIDADE DAS NORMAS JURDICAS
1. A validade e o direito
317. A validade um conceito fundante, que est na raiz de toda a concepo sobre o direito.
Modifica-se o conceito de direito e com ele o conceito de validade.
2. Que validade?
318. A validade tomada como um vnculo relacional de pertencialidade entre um elemento e um
sistema; e o vlido, como o existente neste sistema.
3. Teorias sobre a validade
319. Dentro da viso normativista existem duas grandes teorias sobre a validade: (i) uma que a trata
como sinnimo de existncia; e (ii) outra que a trata como uma caracterstica da norma averiguada
depois desta ser tomada como existente.
3.1. Atos inexistentes, nulos e anulveis
320. Os atos no constitudos nos termos da lei que os fundamenta possuem eficcia at que sejam
desconstitudos por uma linguagem competente. Neste sentido, considerar que a validade de uma
norma est relacionada adequao material ou formal importa afirmar que uma regra pode ser
invlida e ao mesmo tempo, produzir efeitos no sistema enquanto no desconstituda juridicamente.
3.2. Validade como relao de pertencialidade da norma jurdica ao sistema do direito positivo
321. Consideramos a validade normativa como a relao de pertencialidade das normas para com o
sistema do direito positivo. O que importa dizer que adotamos o conceito de validade como sinnimo
de existncia da norma no ordenamento jurdico.
3.3. Validade do ponto de vista do observador e do ponto de vista do participante
324. Os conflitos entre as teorias sobre a validade so, na verdade, conflitos de pontos de vista. O juzo
de existncia feito por quem observa o sistema e o de adequao s normas de fundamentao
(produo/competncia) por quem participa do sistema.
612
3.4. Validade como sinnimo de eficcia social ou justia
325. Ser a conduta verificada no plano emprico, correspondente prescrita juridicamente, no
critrio para se aferir a validade das normas jurdicas, visto tratar-se de planos distintos regidos por
valncias que no se deduzem. A norma jurdica vlida desde o momento em que constituda como
tal, o fato da conduta por ela prescrita ser cumprida ou no diz respeito a sua eficcia social e no a sua
validade.
326. A validade das normas jurdicas tambm no pode ser auferida por critrios de justia. A norma
posta por um ato de autoridade, independentemente de ser justa ou injusta. A justia um valor
atribudo s regras jurdicas, no uma condio para sua existncia, mesmo porque uma norma pode
ser justa para uns e no para outros.
4. Validade e a expresso norma jurdica
327. A relao de pertinncia ao sistema (validade) das proposies isoladas e das significaes
deonticamente estruturadas depende da relao de pertinncia ao sistema dos enunciados prescritivos
que lhe servem como suporte. Neste sentido, identificando os enunciados que aferimos a validade
das normas jurdicas.
5. Critrios de validade
328. O prprio sistema determina o modo de criao de sua linguagem ao prescrever quais pessoas
esto aptas a produzirem normas jurdicas e quais os procedimentos a serem realizados para este fim.
Nesta linha de raciocnio, para identificarmos se uma regra pertence ou no ao ordenamento,
utilizamo-nos de dois critrios: (i) a autoridade competente; e (ii) o procedimento prprio.
329. O critrio da autoridade competente diz respeito ao emissor da mensagem, a pessoa que a produz.
Para que um enunciado seja tomado como existente na ordem jurdica, a pessoa que o emitiu deve
estar credenciada pelo sistema como apta para nele inserir normas jurdicas. J o critrio do
procedimento prprio diz respeito forma de produo da mensagem. Para que um enunciado seja tido
como existente, ele deve ser produzido de acordo com uma forma prescrita pelo direito como prpria
para a produo de enunciados jurdicos.
330. Adotamos tais critrios, mas no consideramos o perfeito enquadramento destes critrios com as
normas jurdicas (de produo ou competncia) que os regulam. Fazer isso seria abandonar o conceito
de validade como relao de pertencialidade da norma para com o sistema, para adotar o de
conformidade da norma para com o sistema.
6. Presuno de validade
331. As normas no adquirem validade aps o controle de sua produo, elas nascem vlidas ou
invlidas. Posteriormente aferimos se a norma vlida foi criada em conformidade com as regras que
613
disciplinam sua produo, o que poder servir como motivo para uma futura desconstituio. Mas,
para que isso acontea, temos que, primeiramente, aceitar sua existncia no mundo jurdico (validade).
7. Marco temporal da validade jurdica
332. Partindo-se de uma teoria comunicacional do direito, o marco temporal da validade das normas
jurdicas a publicao, pois com ela que o ordenamento considera constituda sua linguagem.
8. Validade e fundamento de validade
331. Chamamos de fundamento de validade as normas jurdicas tomadas como base para a produo
de outras normas jurdicas, que acabam por legitimar a autoridade e o procedimento enunciativo como
prprios para produo daquelas normas jurdicas. A adequao ao fundamento jurdico de um
documento normativo no relevante para aferirmos sua existncia (validade), mas sim a sua
permanncia no sistema do direito positivo.
9. A questo do fundamento jurdico do texto originrio de uma ordem
332. A fundamentao jurdica dos textos originrios no interessa ao estudo dogmtico do direito,
assim como outros aspectos polticos, econmicos e sociais que levaram a instaurao da nova ordem.
Isto, porm, no quer dizer que ela no exista, apenas que as investigaes jurdicas partem da
Constituio como fundamento de validade de todas as demais normas do sistema e a ela regressa, no
se preocupando com a legitimao do fato de sua enunciao.
9.2. A norma hipottica fundamental de Kelsen
333. Para resolver a questo do fundamento de validade da Constituio HANS KELSEN cria o
pressuposto da norma hipottica fundamental, que no uma norma posta, mas sim pressuposta para o
fechamento do sistema.
10. Adequao s normas de produo como critrio de permanncia da norma jurdica no
sistema.
334. Inconstitucionalidade e ilegalidade so desencontros entre a linguagem produzida e aquela que
serve de fundamento para sua produo. Tal desencontro apenas um motivo para a produo da
linguagem que a constitui para o sistema. Para ter o condo de retirar uma norma do sistema, o fato da
inconstitucionalidade, ou da ilegalidade, deve ser constitudo juridicamente por uma linguagem
competente.
CAPTULO XVIII
VIGNCIA, EFICCIA E REVOGAO DAS NORMAS JURDICAS
1. Vigncia das normas jurdicas
335. Vigncia a qualidade de certas normas jurdicas que esto prontas para propagar efeitos
jurdicos.
614
336. Nem toda norma jurdica vigente. As normas jurdicas no tm vigncia: (i) ou porque ainda
no a adquiriram; (ii) ou porque j a perderam.
337. Durante a vacatio legis a norma vlida, porque existe juridicamente, mas ainda no vigente.
Decorrido o lapso temporal da vacatio legis, a norma adquire a fora que lhe prpria para regular
condutas intersubjetivas, passando a ter a qualificao de norma vigente.
1.1. Vigncia plena e vigncia parcial
338. A revogao no tem o condo de retirar a norma do sistema, nem sua vigncia por completo. Em
razo do princpio da irretroatividade, a norma revogada continua sendo aplicada aos fatos que se
sucederam antes de sua revogao.
339. Nestes termos, distinguem-se: (i) vigncia plena, como a aptido da norma para desencadear
efeitos sobre acontecimentos futuros e passados; e (ii) vigncia parcial, como a aptido da norma para
desencadear efeitos apenas sobre acontecimentos passados (no caso de revogao), ou apenas sobre
acontecimentos futuros (quando a vigncia for nova).
1.2. Vigncia das normas gerais e abstratas e das normas individuais e concretas
340. A vigncia das normas gerais e abstratas est diretamente relacionada prontido para incidir,
enquanto que a vigncia das normas individuais e concretas est diretamente relacionada prontido
para serem executadas.
1.3. Vigncia das regras introdutoras e das regras introduzidas
341. As regras introdutoras gozam de vigor assim que ingressam no ordenamento, no estando tal
predicao sujeita a qualquer decurso temporal. Isto, porm, no o que ocorre com as normas
introduzidas. A capacidade de propagar efeitos jurdicos destas ltimas est condicionada aos prazos
fixados pelas regras de vigncia, que muitas vezes no coincidem com a entrada em vigor da norma
veculo introdutor.
2. Vigncia no tempo e no espao
342. As proposies jurdicas tm a qualidade de produzirem efeitos jurdicos, propagada no tempo e
no espao. Falamos, assim, em: (i) vigncia no tempo; e (ii) vigncia no espao, para referirmo-nos
localizao temporal e espacial em que a norma possui a caracterstica de ser vigente.
2.1. Vigncia no tempo
343. A mesma lei entra em vigor no ordenamento brasileiro, se no houver disposio ao contrrio,
quarenta e cinco dias depois de publicada, mas somente tem fora para juridicizar fatos ocorridos no
exterior, quando admitida em Estado estrangeiro, trs meses depois de oficialmente publicada no
Brasil.
615
2.2. Vigncia no espao
344. A princpio, as regras vigoram na estrita dimenso territorial do ente poltico que as instituiu.
Excepcionalmente, no entanto, a vigncia de certas normas jurdicas pode extrapolar a dimenso
territorial do ente que as produziu, causando o efeito denominado pelo direito de extraterritorialidade.
3. Vigncia e aplicao
345. Vigncia e aplicao se relacionam, mas no se misturam. O ter vigor uma qualidade normativa,
a aplicao uma atuao humana mediante a qual se d curso ao processo de positivao do direito,
fazendo incidir, no caso particular, a norma geral e abstrata.
4. Eficcia das normas jurdicas
346. A palavra eficcia, no mbito jurdico, est relacionada produo de efeitos normativos.
Vigncia e eficcia, contudo, no se confundem. Uma coisa a norma estar apta a produzir as
conseqncias que lhe so prprias, outra coisa a produo destas conseqncias.
4.1. Eficcia tcnica
347. Uma norma jurdica tecnicamente eficaz quando presentes, no ordenamento, todas as condies
operacionais que garantem sua aplicao, ou exigibilidade.
4.1.1. Eficcia tcnica sob os enfoques sinttico, semntico e pragmtico
348. Distinguem-se: (i) ineficcia tcnica sinttica; (ii) ineficcia tcnica semntica; e (iv) ineficcia
tcnica pragmtica.
349. Sintaticamente deparamo-nos com a inibio da produo dos efeitos normativos em decorrncia
de enlaces entre normas, ou a falta deles, quando pressupostos pelo sistema. No plano semntico, h
obstculos de ordem material que se impem aplicao da linguagem jurdica. E, no campo
pragmtico, as barreiras so impostas por aqueles que lidam com a linguagem do direito.
4.2. Eficcia jurdica
350. Eficcia jurdica a aptido do fato jurdico de propagar os efeitos que lhe so prprios na ordem
jurdica, em decorrncia da causalidade normativa.
4.3. Eficcia social
351. Eficcia social da norma jurdica, trata da sua efetividade no plano das condutas inter-subjetivas.
Quando uma regra reiteradamente observada por seus destinatrios ela socialmente eficaz, ao passo
que, quando a conduta por ela prescrita freqentemente desrespeitada, ela socialmente ineficaz.
5. Nexo relacional entre validade, vigncia e eficcia
352. A norma vigente necessariamente vlida e a norma eficaz necessariamente vigente. A eficcia,
tanto como predicativo da norma, como caracterstica do fato (exceto a eficcia social), pressupe a
vigncia da norma e esta, por sua vez pressupe a sua validade. Uma norma no vigente se no for
vlida e no eficaz enquanto no vigente.
616
6. Revogao das normas jurdicas
353. Sem o rigor da preciso, a utilizao do termo revogar, no mbito jurdico, marca o trmino da
trajetria da norma no sistema do direito positivo.
6.1. Sobre a revogao das normas jurdicas
354. O conceito de revogao engloba a idia do ato de revogar; da norma revogadora; e do efeito
revogador, imerso na trialidade existencial entre ato, norma e produto inerente a todos os institutos
jurdicos.
355. Analisar a revogao, enquanto ato/norma, s refora a postura assumida de que todos os efeitos
produzidos na ordem jurdica pressupem a constituio de uma linguagem. Neste sentido, a
revogao tem que ser constituda juridicamente, para operar efeitos na ordem do direito.
6.2. Efeitos da revogao no direito
356. Em regra, a revogao atinge a vigncia das normas jurdicas, tornando-as parcialmente vigentes
e, conseqentemente, a eficcia jurdica dos fatos verificados posteriormente a sua constituio
jurdica. Falamos em regra porque quando a norma revogada no perodo de sua vacatio legis a
revogao atinge diretamente sua validade.
617
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de filosofia. 5 ed., So Paulo: Martins Fontes, 2007.
ALCHOURRN, Carlos Eduardo; BULYGIN, Eugenio. Sobre la existencia de las normas jurdicas.
Mxico: Distribuciones Fontamara, 1997.
___________. Sobre el concepto de orden jurdico, in Anlisis lgico y derecho. n24, Madrid: Centro
de Estdios Constitucionales, 1991.
____________. Introduccin a la metodologa de las ciencias jurdicas y sociales. Buenos Aires:
Astrea, 1974.
ARAJO, Manfredo. Reviravolta lingstico-pragmtica na filosofia contempornea. So Paulo:
Editora Loyola, 1997.
ARAUJO, Clarice Von Oertzen de. Semitica do direito. So Paulo: Editora Quartier Latin, 2005.
____________. Fato e evento tributrio uma anlise semitica, in: SANTI, Eurico Marcos Diniz de.
Curso de especializao em direito tributrio: estudos analticos em homenagem a Paulo de
Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
ATALIBA, Geraldo. Hiptese de incidncia tributria. 5. ed., So Paulo: Malheiros, 1999.
VILA, Humberto. Teoria dos princpios: da definio aplicao dos princpios jurdicos. 2 ed.,
So Paulo: Malheiros, 2003.
BARTHES, Roland. A retrica da imagem, in O bvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1990.
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributrio. 4 ed., So Paulo: Noeses, 2007.
BENTHAM, Jeremas. Tratados de las pruebas judiciales. Trad. Manuel Osrio Florit, Buenos Aires:
Ejea, 1971.
BENVENISTE, mile. Problemas de lingstica geral. Campinas: Pontes, 1989.
BETIOLI, Antnio Bento. Introduo ao estudo do direito. So Paulo: Atlas, 2001.
BOBBIO, Norberto. Teoria general del derecho. Madrid: Debate, 1993.
____________. Teoria da norma jurdica. 3 ed., Traduo de Fernando Pavan Batista e Ariani Bueno
Sudatti. So Paulo/Bauru: Edipro, 2005.
BRAGHETTA, Daniela de Andrade em Tributao do comrcio eletrnico. So Paulo: Quartier Latin,
2003.
618
BUENO, Silva. Grande dicionrio etimolgico prosdico da lngua portuguesa. So Paulo: Saraiva.
1968.
BULYGIN, Eugenio. Lgica Dentica in: ALCHOURRON, Carlos Eduardo. Lgica. Madrid:
Trotta,1996.
CMARA JR, Joaquim Mattoso. Dicionrio de lingstica e gramtica referente lngua
portuguesa. 14 ed., Petrpolis: Vozes, 1988.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Poltica, sistema jurdico e deciso judicial. So Paulo: Max
Limonad, 2002.
CARNELUTTI, Francesco. Teora general Del derecho. Traduo F. X. Osset. Madrid: 1995.
___________. A prova civil. Traduzido por Lisa Pary Scarpa. Campinas: Bookseller, 2001.
CARRI, Gernaro. Notas sobre el derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1972
CARVALHO, PAULO DE BARROS. Direito tributrio linguagem e mtodo. So Paulo: Noeses,
2008.
___________. Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, 6 ed., So Paulo: Saraiva,
2008.
___________. Curso de direito tributrio. 20 ed., So Paulo: Saraiva, 2008.
___________. Teoria da norma tributria. 3 ed., So Paulo: Max Limonad, 1998.
___________. Isenes tributrias do IPI, em face do princpio da no-cumulatividade. Revista
Dialtica de Direito Tributrio, vol. 33, 1998.
___________. IPI Comentrios sobre as regras de interpretao da tabela NBM/SH (TIPI/TAB).
Revista Dialtica de direito tributrio, vol. 12, 1998.
____________. Formalizao da linguagem proposies e frmulas. Revista do programa de ps-
graduao em direito PUC/SP, vol. 1. So Paulo: Max Limonad, 1995.
____________. Teoria da prova e o fato jurdico tributrio. Apostila do Programa de Ps-Graduao
em Direito da USP e da PUC/SP, 2004.
____________. Apostila do Curso de ps-graduao em filosofia do direito I (Lgica jurdica). So
Paulo: PUC/SP, 1998.
____________. Apostila do Curso de extenso em teoria geral do direito. So Paulo: IBET/SP, 2007.
____________. O absurdo da interpretao econmica do fato gerador direito e sua autonomia
O paradoxo da interdisciplinariedade.
CONRADO, Paulo Cesar. Processo tributrio analtico. So Paulo: Dialtica, 2005.
619
COPI, Irving M.. Introduo lgica. So Paulo: Mestre Jou, 1981.
COSSIO, Carlos. La Valoracin Jurdica y La Ciencia Del Derecho. Buenos Aires: Aray, 1954.
____________. La teoria egolgica del Derecho. 2. ed., Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1964.
DALLA PRIA, Rodrigo. O processo de positivao da norma jurdica tributria e a fixao da tutela
jurisdicional apta a dirimir os conflitos havidos entre contribuinte e fisco, in CONRADO,
Paulo Cesar. Processo tributrio analtico, So Paulo: Dialtica, 2003.
DINIZ, Maria Helena. As lacunas do direito. 8. ed., So Paulo: Saraiva, 2007.
____________. Conflito de normas. So Paulo: Saraiva, 2003
____________. Curso de direito civil brasileiro. 22 ed., v.2, So Paulo: Saraiva, 2007.
____________. Lei de introduo ao cdigo civil brasileiro interpretada. 9 ed. So Paulo: Saraiva,
2002.
____________. Compndio de introduo Cincia do Direito.
DUBOIS, Jean, GIACOMO, Mathe, GUESPIN, Louis, MARCELLESI, Christiane, MARCELLESI,
Jean-Baptiste, e MEVEL, Jean-Pierre. Dicionrio de lingstica. Trad. Frederico Pessoa de
Barros, Gesuna Domenica Ferretti, John R. Scmitz . So Paulo: Editora Cultrix, 1998.
DUROZOI, Grard e ROUSSEL, Andr. Dicionrio de filosofia. 2 ed., Campinas: Papirus, 1996.
ECCO, Umberto. O signo. Trad. Maria de Ftima Marinho, Lisboa: Presena, 1990.
ECHAVE Delia Teresa; URQUIJO Mara Eugenia; GUIBOURG Ricardo. Lgica, proposicin y
norma. Buenos Aires: Astrea, 1991.
FALCO, Amlcar de Arajo. Fato gerador da obrigao tributria. 5 ed., Rio de Janeiro: Forense,
1967.
FERRAGUT, Maria Rita. As presunes no direito tributrio. 2 ed., So Paulo: Quartier Latin, 2005.
FERRAZ JR, Trcio Sampaio. Introduo ao estudo do direito. 4 ed., So Paulo: Atlas, 2003.
FIORIN, Jos Luiz. Introduo ao pensamento de Bakhtin. So Paulo: tica, 2006.
____________. As astcias da enunciao. So Paulo: tica, 2002.
FLUSSER, Vilm. Lngua e realidade. So Paulo: Annablume, 2004.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e mtodo. Trad. Flvio P. Meurer, 4 ed., Petrpolis: Vozes, 2002.
GAMA, Tcio Lacerda. Obrigao e crdito tributrio anotaes margem da teoria de Paulo de
Barros Carvalho. Revista Tributria e de Finanas Pblicas - v. 11, n. 50, maio/ junho, 2003.
620
____________. Competncia tributria, fundamentos para uma teoria da nulidade. Tese de
doutorado, PUC-SP, data da defesa: 19/05/2008.
GENOUVRIER, Emile e PEYTARD, Jean. Lingstica e ensino do portugus. Trad. Rodolfo Ilari,
Almedina, Coimbra: Livraria Almeida, 1974.
GUASTINI, Riccardo. Das fontes s normas. Trad. Edson Bini. Apresentao: Heleno Taveira Trres.
So Paulo: Quartier Latin, 2005.
____________. Distiguiendo, estudos de teoria y metateoria del derecho. Buenos Aires: 1999.
____________. in Il giudice e la legge lezioni de diritto constituzionale. Padova: Libreria
Universitria, 1995
GUIBOURG, Ricardo. El fenmeno normativo. Buenos Aires : Astrea, 1987.
____________; GHIGLIANI, Alejandro; GUARINONI, Ricardo. Introduccin al conocimiento
cientfico. Buenos Aires: Eudeba, 1985.
GUSMO, Paulo Dourado de. Introduo ao estudo do direito. 40. ed., Forence, 2008
HABERMAS, Jrgen S. Verdade e justificao: ensaios filosficos. Editora Loyola, 2000.
____________. Teora de la accin comunicativa: complementos y estdios prvios. Madrid: Catedra,
1994.
HEGENBERG, Leonidas. Saber de e saber que: alicerces da racionalidade. Petrpolis: Vozes, 2002.
HEIDEGGER, Martin. Conferncias e escritos filosficos. Coleo Os Pensadores, So Paulo: Nova
Cultural, 1989.
____________. A caminho da linguagem. So Paulo: Vozes, 2003.
HOSPERS, John. Introducin a anlisis filosfico. 2 ed., Madrid: Alianza Universidad, 1984.
HUSSERL, Edmund. Investigaes lgicas - Sexta investigao. Elementos de uma elucidao
fenomenolgica do conhecimento. So Paulo: Nova Cultural, 2005.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto. So Paulo: Scipione, 1988.
IVO, Gabriel. Norma jurdica produo e controle. So Paulo: Noeses, 2006.
____________. A incidncia da norma jurdica tributria o cerco da linguagem, in Revista de
Direito Tributrio, So Paulo: Malheiros Editores, 2001.
JACKOBSON, Roman. Lingstica e comunicao. Trad. De Jos Paulo Paes e Isidoro Blikstein, So
Paulo: Cultrix, 1991.
JOTA, Zlio dos Santos. Dicionrio de lingstica. 2 ed., Rio de Janeiro: Presena, 1981.
621
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Traduo de Joo Baptista Machado. Lisboa, Armnio
Amado, 1984.
__________. Teoria geral do direito e do Estado. Traduo de Lus Carlos Borges. So Paulo: Martins
Fontes, 1990.
__________. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Fabris, 1986.
LALANDE, Andr. Vocabulrio tcnico e critico da filosofia. Trad. Ftima S Correa, 2.ed., So
Paulo: Martins Fontes, 1996.
LUHMANN, Niklas. Introduccin a la teora del sistemas. Mxico: Iberomaricana, 1996.
LYONS, John. Introduo lingstica terica. Traduo Rosa Virginia Mattos e Silva e Hlio
Pimentel, So Paulo: Ed. Nacional, 1979.
MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco. A rvore do conhecimento as bases biolgicas do
conhecimento humano. So Paulo: Ed. Palas Athenas, 2004.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenutica e aplicao do direito. 16 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997.
MENDES, Sonia Maria Broglia. A validade jurdica pr e ps giro lingstico. So Paulo: Noeses,
2007.
MENDONA, Daniel. Interpretacin y aplicacin del derecho. Editores: Universidad de Almera,
1997.
____________. Exploraciones normativas hacia una teora general de las normas. Mxico:
Fontamara, 1995.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro, Borsoi 1954. T. IV
MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de direito civil, 8 ed, vol. IV, So Paulo: Saraiva, 1972.
MORCHON, Gregrio Robles. Teora del derecho (fundamentos de teora comunicacional del
derecho), Madrid: Civitas Ediciones, 1998.
____________. Las reglas del derecho y las reglas de los juegos. Universidade de Palma de Mallorca,
1984.
MORTARI, Cezar A.. Introduo lgica. 1 ed., So Paulo: Editora UNESP.
MOUSSALEM, Trek Moyss. Revogao em matria tributria. So Paulo: Noeses, 2005.
____________. As fontes do direito tributrio. So Paulo: Max Limonad, 2001.
NINO, Carlos Santiago. Introduccin al anlisis del derecho. 8 ed., Barcelona: Ariel, 1997.
PEREIRA, Caio Mrio Da Silva. Instituies de direito civil. Vol. 4, 19 ed., Forense Editora, 2005.
622
PEREIRA, Eduardo Carlos. Gramtica expositiva, curso superior. 87 ed., Cia. Edt. Nacional, obra da
dcada de 1930 ou 1940.
PIERCE, Charles Sanders. Semitica. Trad. de Jos Teixeira Coelho Neto, So Paulo: Perspectiva,
1990.
____________. Semitica e filosofia. Trad. de Octanny Silveira da Mota e Lenidas Hegenberg, So
Paulo: Cultrix, 1972.
PISCITELLI, Thatiane Dos Santos. Os limites interpretao das normas tributrias, So Paulo,
Quartier Latin, 2007.
QUEIROZ, Luis Cesar de. A regra-matriz de incidncia tributria. In SANTI, Eurico Marcos Diniz
de. Curso de especializao em direito tributrio em homenagem a Paulo de Barros
Carvalho. Rio de janeiro: Editora Forense, 2005.
REALE, Miguel. Cinco temas do culturalismo. So Paulo: Saraiva, 2000.
____________. Filosofia do direito. 20 ed., So Paulo: Saraiva, 2002.
____________. Fontes e modelos do direito. 1 ed., So Paulo: Saraiva, 1999.
____________. Lies preliminares de direito. 12 ed., So Paulo: Saraiva, 1985.
____________. Teoria do ordenamento jurdico. 10 ed., Braslia: Edt. da Universidade de Braslia,
1999.
____________. Teoria tridimensional do direito. 5 ed., So Paulo: Saraiva, 1994.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil, parte geral das obrigaes. 22 ed., vol. 2, So Paulo: Saraiva,
1994.
ROSS, Alf. Sobre el derecho y la justicia. Trad. de Genaro Carri, Buenos Aires: EUDEBA, 1974.
SANTAELLA, Lcia. A teoria geral dos signos semiose e auto gerao. So Paulo: Pioneira, 2000.
SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lanamento tributrio. So Paulo: Max Limonad, 1999.
__________. Decadncia e prescrio no direito tributrio. 2 ed., So Paulo: Max Limonad, 2001.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingstica geral. Trad. de Antnio Chelini, Jos Paulo Paes e
Isidoro Blikstein. So Paulo: Cultrix, 1991.
SCAVINO, Dardo. La filosofia actual: pensar sin certezas. Buenos Aires: Paids Postales, 1999.
SICHES, Luis Recasens. Introduccin al estdio del derecho. Mxico: Porrua, 1977.
STRECK, Luiz Lenio. Hermenutica jurdica e(m) crise uma explorao hermenutica da
construo do direito. Porto alegre: Livraria do Advogado, 1999.
623
TELLES JNIOR, Goffredo. O direito quntico. 8 Edio, Max Limonad, 2006.
TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoitico. Lisboa : Fund. Calouste Gulbenkian, 1989.
TOM, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributrio. 1 ed., So Paulo: Noeses, 2005.
VALVERDE, Gustavo Sampaio. Coisa julgada em matria tributria. 1 ed., Quartier Latin, 2004.
VERNEGO, Jos Roberto. Curso de teoria general del derecho. 2 ed., Buenos Aires: Ediciones
Depalma, 1988.
VILANOVA, Lourival. As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo. 3 ed., Editora Noeses,
2005.
__________. Causalidade e relao no direito. So Paulo: Saraiva, 1989.
__________. A teoria da revoluo. Separata do anurio do mestrado da Universidade de Recife,
1979.
__________. Lgica jurdica. So Paulo: Jos Bushatsky, 1976.
__________. Norma jurdica - proposio jurdica (significao semitica). Revista de Direito
Pblico, So Paulo: RT, 1982, (XV) 61.
__________. Teoria da norma fundamental. In: Estudos em Homenagem a Miguel Reale. Organizao
Tefilo Cavalcanti Filho. So Paulo: RT, 1977.
__________. A teoria do direito em Pontes de Miranda. Escritos jurdicos-filosficos, vol. 1. So
Paulo: IBET/Axis Mundi, 2003.
__________. Sobre o conceito do direito. Escritos jurdicos-filosficos. vol. 1. So Paulo: IBET/Axis
Mundi, 2003.
__________. Analtica do dever-ser. Escritos jurdicos-filosficos. vol. 1. So Paulo: IBET/Axis
Mundi, 2003.
__________. Universo das formas lgicas e o direito. Escritos jurdicos-filosficos. vol. 1. So Paulo:
IBET/Axis Mundi, 2003.
__________. Teoria da norma fundamental comentrios margem de Kelsen. vol. 2. So Paulo:
IBET/Axis Mundi, 2003.
VILLEGAS, Hector. Direito Penal Tributrio. Trad. Elisabeth Nazar. So Paulo: Resenha Tributria e
EDUC, 1974.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. So Paulo: Edusp, 1994.
ZAFFARONI, Eugnio Ral. Manual de derecho penal; parte geral. Buenos Aires: Ediar, 1977.
Você também pode gostar
- FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática Do Direito.Documento234 páginasFREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática Do Direito.VictorCarvalho100% (2)
- Teoria da Norma Jurídica: Aplicabilidade e Integração da Norma de Direito FundamentalNo EverandTeoria da Norma Jurídica: Aplicabilidade e Integração da Norma de Direito FundamentalAinda não há avaliações
- Os Princípios Jurídicos e o Pós-Positivismo No Direito BrasileiroDocumento130 páginasOs Princípios Jurídicos e o Pós-Positivismo No Direito BrasileiroThiago Storch100% (1)
- Revista DISCENSODocumento320 páginasRevista DISCENSOPedro DavoglioAinda não há avaliações
- O princípio jurídico da coesão dinâmica no Direito Urbanístico brasileiro: a relevância da dinâmica do planejamento urbano para a aplicação do Direito UrbanísticoNo EverandO princípio jurídico da coesão dinâmica no Direito Urbanístico brasileiro: a relevância da dinâmica do planejamento urbano para a aplicação do Direito UrbanísticoAinda não há avaliações
- Conflitos entre Princípios ConstitucionaisNo EverandConflitos entre Princípios ConstitucionaisAinda não há avaliações
- Sistema do Direito e o Código de Defesa do ConsumidorNo EverandSistema do Direito e o Código de Defesa do ConsumidorAinda não há avaliações
- A Crise do Modelo de Cortes Supremas como Teoria dos Precedentes Judiciais no BrasilNo EverandA Crise do Modelo de Cortes Supremas como Teoria dos Precedentes Judiciais no BrasilAinda não há avaliações
- O Enriquecimento Sem Causa No Código CivilDocumento142 páginasO Enriquecimento Sem Causa No Código CivilScarlett SoaresAinda não há avaliações
- Mutações Constitucionais e Racionalismo CríticoNo EverandMutações Constitucionais e Racionalismo CríticoAinda não há avaliações
- Grupos Societários: Subordinação de Interesses e Pagamento CompensatórioNo EverandGrupos Societários: Subordinação de Interesses e Pagamento CompensatórioAinda não há avaliações
- Entre Pavões e PinguinsDocumento12 páginasEntre Pavões e PinguinsGabriel S. PachecoAinda não há avaliações
- Fragmentos Criptomonetários: observação da governança e regulação das criptomoedas a partir do Constitucionalismo Social de Gunther TeubnerNo EverandFragmentos Criptomonetários: observação da governança e regulação das criptomoedas a partir do Constitucionalismo Social de Gunther TeubnerAinda não há avaliações
- Os Princípios Do Direito: Entre Hermes e HadesDocumento49 páginasOs Princípios Do Direito: Entre Hermes e HadesWálber Araujo CarneiroAinda não há avaliações
- Os princípios e os sobreprincípios constitucionais tributários sob a óptica do constructivismo lógico-semânticoNo EverandOs princípios e os sobreprincípios constitucionais tributários sob a óptica do constructivismo lógico-semânticoAinda não há avaliações
- Estudo de Filosofia do Direito para o exame da OABNo EverandEstudo de Filosofia do Direito para o exame da OABAinda não há avaliações
- O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, um enigma a ser decifrado: Percepções cognitivas na interpretação da normaNo EverandO Novo Código de Processo Civil Brasileiro, um enigma a ser decifrado: Percepções cognitivas na interpretação da normaAinda não há avaliações
- Trabalho de Direito ConstitucionalDocumento12 páginasTrabalho de Direito Constitucionalsardio dos santosAinda não há avaliações
- Nova Concepção de Sistema Jurídico - Bernardo Montalvão Varjão de AzevêdoDocumento365 páginasNova Concepção de Sistema Jurídico - Bernardo Montalvão Varjão de AzevêdoGeovane PedreiraAinda não há avaliações
- Hermenêutica e Direitos Humanos: Fabiano Melo e Filipe Augusto Caetano SanchoDocumento86 páginasHermenêutica e Direitos Humanos: Fabiano Melo e Filipe Augusto Caetano SanchofabricioaparecidogabrielAinda não há avaliações
- A Ética Da Pesquisa e A Perspectiva Da Cartografia Silvia TedescoDocumento16 páginasA Ética Da Pesquisa e A Perspectiva Da Cartografia Silvia TedescoNayaraXsAinda não há avaliações
- Jorge Octávio Lavocat Galvão - o Neoconstitucionalismo e o Fim Do Estado de Direito (Tese) PDFDocumento217 páginasJorge Octávio Lavocat Galvão - o Neoconstitucionalismo e o Fim Do Estado de Direito (Tese) PDFmarigranAinda não há avaliações
- Cdigo de EticaDocumento107 páginasCdigo de Eticamateus jaimeAinda não há avaliações
- Teoria Geral de DireitoDocumento14 páginasTeoria Geral de DireitoSampaio SampaioAinda não há avaliações
- Cópia de Pesquisa Empírica em Direito - Novos Horizontes A Partir Da Teoria Dos Sistemas (A1)Documento20 páginasCópia de Pesquisa Empírica em Direito - Novos Horizontes A Partir Da Teoria Dos Sistemas (A1)Marco BarrosAinda não há avaliações
- Trabalho de Teoria Critica Do Direito - Wassillys Fernandes SilvaDocumento6 páginasTrabalho de Teoria Critica Do Direito - Wassillys Fernandes Silvawassillys09fernandes123Ainda não há avaliações
- Resenha - Teoria Do Ordenamento JurídicoDocumento6 páginasResenha - Teoria Do Ordenamento JurídicoMauricio mendesAinda não há avaliações
- Acesso (e bloqueios) à justiça no Brasil: observações críticas a partir da potência crítica da teoria dos sistemasNo EverandAcesso (e bloqueios) à justiça no Brasil: observações críticas a partir da potência crítica da teoria dos sistemasAinda não há avaliações
- Moeda, Teoria da Regulação e sua Inserção na Formação da Política Monetária no BrasilNo EverandMoeda, Teoria da Regulação e sua Inserção na Formação da Política Monetária no BrasilAinda não há avaliações
- Metodologia Pesquisa Juridica Aula 2 Leitura Obrigatoria 1a3Documento33 páginasMetodologia Pesquisa Juridica Aula 2 Leitura Obrigatoria 1a3caiusviniciusog8240Ainda não há avaliações
- Congresso CONPEDI IIDocumento20 páginasCongresso CONPEDI IICélem Guimarães Guerra JúniorAinda não há avaliações
- As Normas de Direito Público na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro: Paradigmas para Interpretação do Direito AdministrativoNo EverandAs Normas de Direito Público na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro: Paradigmas para Interpretação do Direito AdministrativoAinda não há avaliações
- As Lacunas Ideológicas À Luz Da Teoria Complexa Do DireitoDocumento17 páginasAs Lacunas Ideológicas À Luz Da Teoria Complexa Do DireitoAndre StaackAinda não há avaliações
- Curso de Teoria Geral Do Direito PDFDocumento832 páginasCurso de Teoria Geral Do Direito PDFRoberto CAsecaAinda não há avaliações
- Modelos ProcessuaisDocumento10 páginasModelos ProcessuaisHeitor Marcelo 2Ainda não há avaliações
- Direito, tributação e o cerco da linguagem: homenagem ao professor Gabriel IvoNo EverandDireito, tributação e o cerco da linguagem: homenagem ao professor Gabriel IvoAinda não há avaliações
- Jurisprudência Dos InteressesDocumento11 páginasJurisprudência Dos Interessesrodrigo_rigeAinda não há avaliações
- Processo Coletivo Passivo: Uma Proposta de Sistematização e OperacionalizaçãoNo EverandProcesso Coletivo Passivo: Uma Proposta de Sistematização e OperacionalizaçãoAinda não há avaliações
- Meta-Teoria Do DireitoDocumento129 páginasMeta-Teoria Do DireitoVictorMvm100% (2)
- Precedentes Vinculantes em Recursos Especiais Repetitivos: uma análise sob a ótica do Princípio do Contraditório na Formação da Ratio DecidendiNo EverandPrecedentes Vinculantes em Recursos Especiais Repetitivos: uma análise sob a ótica do Princípio do Contraditório na Formação da Ratio DecidendiAinda não há avaliações
- O Acesso À Justiça em Mauro CappellettiDocumento84 páginasO Acesso À Justiça em Mauro CappellettiYwri SampaioAinda não há avaliações
- Tempo e Direito: Experiência e Expectativa No Sistema JurídicoDocumento23 páginasTempo e Direito: Experiência e Expectativa No Sistema JurídicomialbuquerqueAinda não há avaliações
- Magri. Hermenêutica Jurídica. Proposta Semiótica PDFDocumento235 páginasMagri. Hermenêutica Jurídica. Proposta Semiótica PDFIago MouraAinda não há avaliações
- Historia Da Lógica Matemática GULAMO-1Documento16 páginasHistoria Da Lógica Matemática GULAMO-1Gulamo Arune0% (1)
- Os Fundamentos Da Ética ContemporâneaDocumento110 páginasOs Fundamentos Da Ética Contemporâneas.renan130275% (4)
- Sociologia Do Direito Trabalho Meu Contributo 3Documento15 páginasSociologia Do Direito Trabalho Meu Contributo 3ladislau songAinda não há avaliações
- Tradição Crítica No Direito TributárioDocumento13 páginasTradição Crítica No Direito TributárioGabriela CavalcantiAinda não há avaliações
- Arbitragem e conexão: poderes para decidir sobre questões de conexidadeNo EverandArbitragem e conexão: poderes para decidir sobre questões de conexidadeAinda não há avaliações
- Plano de AulaDocumento29 páginasPlano de AulaSidney JuniorAinda não há avaliações
- Teorias do direito administrativo global e standards: Desafios à estatalidade do DireitoNo EverandTeorias do direito administrativo global e standards: Desafios à estatalidade do DireitoAinda não há avaliações
- Teologia e direito: O mandamento do amor e a meta da justiçaNo EverandTeologia e direito: O mandamento do amor e a meta da justiçaAinda não há avaliações
- OLIVEIRA Nao Fale Do Codigo de HamurabiDocumento22 páginasOLIVEIRA Nao Fale Do Codigo de HamurabiVongoltzAinda não há avaliações
- Projeto Tese de Laurea Novo 2018Documento9 páginasProjeto Tese de Laurea Novo 2018juridico.tributarioAinda não há avaliações
- Trabalho Do Campo de Direitos ConstitucionaisDocumento14 páginasTrabalho Do Campo de Direitos ConstitucionaisValdimiro DaliqueneAinda não há avaliações
- Livro - Os Oliveira Ledo e A Genealogia de Santa Rosa Vol 1Documento226 páginasLivro - Os Oliveira Ledo e A Genealogia de Santa Rosa Vol 1Reginaldo100% (1)
- Parkison - EscalasDocumento8 páginasParkison - EscalasJannes3Ainda não há avaliações
- Manual n480d Portuguese PDFDocumento6 páginasManual n480d Portuguese PDFricardoAinda não há avaliações
- A CEO e o Baba Mila WanderDocumento307 páginasA CEO e o Baba Mila WanderGabriela SantosAinda não há avaliações
- 77 Decisões Importantes para o Seu CasamentoDocumento9 páginas77 Decisões Importantes para o Seu CasamentoSilvana X Aquiles FerreiraAinda não há avaliações
- Entidades Registadas 773 22-09-2022Documento2.217 páginasEntidades Registadas 773 22-09-2022Claudia GomesAinda não há avaliações
- If DefinitivoDocumento2 páginasIf DefinitivoJaqueline SantosAinda não há avaliações
- Projeto PiolhoDocumento11 páginasProjeto PiolhoCláudia WincklerAinda não há avaliações
- Artigo 15-ptDocumento12 páginasArtigo 15-ptRosilainy SurubiAinda não há avaliações
- Cnc-Ombr-Mat-18-0124-Edce - AnexosDocumento29 páginasCnc-Ombr-Mat-18-0124-Edce - AnexosMARCELO BARBOSA DE SOUSA alu.ufc.brAinda não há avaliações
- Núcleo de Pós-Graduação Pitágoras Escola Satélite Curso de Especialização em Engenharia de Segurança Do TrabalhoDocumento66 páginasNúcleo de Pós-Graduação Pitágoras Escola Satélite Curso de Especialização em Engenharia de Segurança Do TrabalhoWesley CoelhoAinda não há avaliações
- Leis de NewtonDocumento10 páginasLeis de NewtonMarina lopesAinda não há avaliações
- Apostila Técnica Boas Práticas de Operação, Manutenção e Segurança de GuindautosDocumento18 páginasApostila Técnica Boas Práticas de Operação, Manutenção e Segurança de GuindautosArtur JardimAinda não há avaliações
- É Veneno Ou Remédio - FiocruzDocumento385 páginasÉ Veneno Ou Remédio - FiocruzMarco Aurélio Lessa Villela100% (1)
- Rochas Sedimentares - ClassificaçãoDocumento3 páginasRochas Sedimentares - ClassificaçãoLucio SilvaAinda não há avaliações
- Catalago Moto Bomba Branco Bd705 e Bd710Documento4 páginasCatalago Moto Bomba Branco Bd705 e Bd710Fabio MeinerzAinda não há avaliações
- Resumo para A Prova de Teoria Geográfica Do EspaçoDocumento4 páginasResumo para A Prova de Teoria Geográfica Do EspaçoIgor Renan GomesAinda não há avaliações
- Guia Do Marceneiro - Fresas PDFDocumento4 páginasGuia Do Marceneiro - Fresas PDFcarlosolmoAinda não há avaliações
- Normas Da ABNTDocumento29 páginasNormas Da ABNTCarolineMiguéisAinda não há avaliações
- Refrigerador Samsung R55Documento68 páginasRefrigerador Samsung R55Gustavo PaganiniAinda não há avaliações
- A Noite Escura Mais EuDocumento13 páginasA Noite Escura Mais EuOlavo NetoAinda não há avaliações
- Comparação Entre As Teorias de Kant e de MillDocumento6 páginasComparação Entre As Teorias de Kant e de MillFátima Paiva100% (2)
- Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito DaDocumento4 páginasExcelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito DaErnandes OliverAinda não há avaliações
- Pitágoras - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento6 páginasPitágoras - Wikipédia, A Enciclopédia LivrevoutrinAinda não há avaliações
- AL 3.3 - Balanço Energético1 - ResoluçãoDocumento4 páginasAL 3.3 - Balanço Energético1 - ResoluçãoSofia FigueiredoAinda não há avaliações
- Semeando o Amor em FamíliaDocumento38 páginasSemeando o Amor em FamílialucasgervasioAinda não há avaliações
- Anexo - 1 - AP - O QUE É DESIGN ORGANIZACIONALDocumento5 páginasAnexo - 1 - AP - O QUE É DESIGN ORGANIZACIONALSaminhoAinda não há avaliações
- ANAIS MuseologiaDocumento224 páginasANAIS MuseologiaCecita LopesAinda não há avaliações
- Indisciplina Na Escola Julio Groppa AquinoDocumento8 páginasIndisciplina Na Escola Julio Groppa AquinoClaudia Gomes75% (8)
- EmentaDocumento10 páginasEmentaPatricia MendesAinda não há avaliações