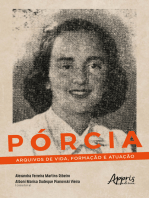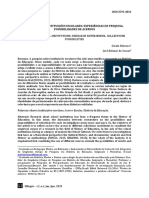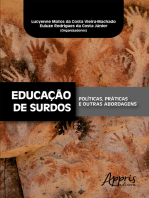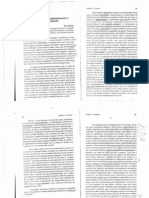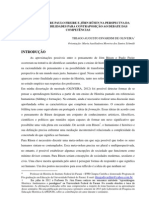Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
REDUH 4 Revista de Educação Histórica PDF
Enviado por
Thiago Augusto Divardim de Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
129 visualizações172 páginasEste documento é o número 4 da Revista de Educação Histórica (REDUH) publicada pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da Universidade Federal do Paraná entre setembro e dezembro de 2013. O documento apresenta informações sobre a equipe editorial, conselho editorial e normas para submissão de artigos, tendo como tema central "Educação Histórica: o trabalho com fontes e a aprendizagem histórica".
Descrição original:
Título original
REDUH 4 Revista de Educação Histórica.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento é o número 4 da Revista de Educação Histórica (REDUH) publicada pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da Universidade Federal do Paraná entre setembro e dezembro de 2013. O documento apresenta informações sobre a equipe editorial, conselho editorial e normas para submissão de artigos, tendo como tema central "Educação Histórica: o trabalho com fontes e a aprendizagem histórica".
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
129 visualizações172 páginasREDUH 4 Revista de Educação Histórica PDF
Enviado por
Thiago Augusto Divardim de OliveiraEste documento é o número 4 da Revista de Educação Histórica (REDUH) publicada pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da Universidade Federal do Paraná entre setembro e dezembro de 2013. O documento apresenta informações sobre a equipe editorial, conselho editorial e normas para submissão de artigos, tendo como tema central "Educação Histórica: o trabalho com fontes e a aprendizagem histórica".
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 172
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS. BIBIBLIOTECA DE CINCIAS HUMANAS E EDUCAO
___________________________________________________________________________
REVISTA de Educao Histrica - REDUH / Laboratrio de Pesquisa de Educao Histrica
da UFPR; [Editorao: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt; Coordenao
editorial: Lidiane Camila Lourenato, Lucas Pydd Nechi, Thiago Augusto Divardim de
Oliveira; Editorao Eletrnica: Cesar Souza], n.4(Set./Dez. - 2013) . Curitiba: LAPEDUH,
2013.
Peridico eletrnico: http://www.lapeduh.ufpr.br/revista
Quadrimestral
ISSN: 2316-7556
1. Educao - Peridicos eletrnicos. 2. Histria - Estudo e ensino - Peridicos
eletrnicos. I. Universidade Federal do Paran. Laboratrio de Educao Histrica. II.
Schmidt, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos. III.Gevaerd, Rosi Terezinha Ferrarini. IV.
Urban, Ana Claudia. V. Oliveira, Thiago Augusto Divardim de. Lourenato, Lidiane Camila.
Nechi, Lucas Pydd.
CDD
20.ed. 370.7
___________________________________________________________________________
Sirlei do Rocio Gdulla CRB-9/985
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Reitor: Zaki Akel Sobrinho
Vice-Reitor: Rogrio Mulinari
Setor de Educao
Diretora: Andra do Rocio Caldas Nunes
Vice-Diretora: Nuria Pons Vilardell Camas
Coordenadora do Laboratrio de Educao Histrica UFPR Brasil: Maria Auxiliadora
Moreira dos Santos Schmidt
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Editora: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt
Coeditoras: Ana Claudia Urban, Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd
Conselho Editorial:
Estevo Chaves de Rezende Martins UnB
Geyso Dongley Germinari UNICENTRO
Isabel Barca Universidade do Minho (Portugal)
Julia Castro - Universidade do Minho (Portugal)
Ktia Abud USP
Luciano Azambuja - IFSC
Marcelo Fronza UFMT
Maria Conceio Silva UFG
Marilia Gago - Universidade do Minho (Portugal)
Marilu Favarin Marin UFSM
Marlene Cainelli UEL
Olga Magalhes Universidade de vora (Portugal)
Rafael Saddi UFG
Rita de Cssia Gonalves Pacheco dos Santos - Lapeduh
Conselho Consultivo:
Alamir Muncio Compagnoni - SME - Araucria
Andr Luis da Silva - SME - Araucria
Andressa Garcia Pinheiro de Oliveira - SEED - PR
Cludia Senra Caramez - Lapeduh
der Cristiano de Souza FAFIPAR - PR
Henrique Rodolfo Theobald - SME - Araucria
Joo Luis da Silva Bertolini - UFPR
Leslie Luiza Pereira Gusmo - SEED - PR
Lidiane Camila Lourenato - UFPR
Lucas Pydd Nechi UFPR
Solange Maria do Nascimento - UFPR
Thiago Augusto Divardim de Oliveira - IFPR / UFPR
Tiago Costa Sanches - SME Araucria/ UFPR
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
EDITORA: LAPEDUH
Endereo: reitoria da UFPR, rua General Carneiro, 460 Edifcio D. Pedro II
5 andar. CEP 80.060-150
Coordenadora: Prof Dr Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt
Email: dolinha08@uol.com.br, inscricoeslapeduh@gmail.com
Coordenao Editorial: Lidiane Camila Lourenato, Lucas Pydd Nechi,
Thiago Augusto Divardim de Oliveira
Editorao Eletrnica: Cezar Sousa
Reviso dos textos: a cargo de cada autor
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
MISSO DA REVISTA
Ser uma Revista produzida por professores e destinada a professores de
Histria. Ter como referncia o dilogo respeitoso e compartilhado entre a
Universidade e a Escola Bsica. Colaborar na produo, distribuio e
consumo do conhecimento na rea da Educao Histrica, pautada na
construo de uma sociedade mais justa e igualitria.
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
EDITORIAL
Em seu quarto nmero, a Revista de Educao Histrica construiu uma
trajetria que pode ser considerada de grande xito, graas ao trabalho dedicado e
assduo do grupo de pesquisadores do Laboratrio de Pesquisa em Educao
Histrica da UFPR.
Como proposta para esse nmero, a Revista de Educao Histrica tem
como tema Educao Histrica: o trabalho com fontes e a aprendizagem
histrica, abordando dois aspectos considerados como fundadores de novas
propostas para o ensino de Histria. O trabalho com as fontes histricas j vem
sendo enfatizado em propostas curriculares e manuais didticos brasileiros e
estrangeiros. Pode-se afirmar que, desde uma dcada, a priorizao do mtodo de
ensino de Histria que contemple a explorao das fontes histricas em aulas em
escolas ou em outros ambientes de ensino e aprendizagem, j consensual entre
professores de Histria. Poder-se-ia indagar, entretanto, o que traria de novidade um
Dossi sobre esta temtica. Nesse aspecto, h que se destacar a natureza da
relao intrnseca entre a aprendizagem histrica e a sua relao com o trabalho
com as fontes histricas. Trata-se, nesse caso, da nfase na necessidade de se
conhecer como crianas e jovens aprendem a partir das fontes histricas. Ou seja,
como eles podem transformar as fontes em evidncias, a partir das quais construiro
seus argumentos e explicaes, com a finalidade de elaborar suas prprias
narrativas histricas.
A produo de narrativas pelos alunos a competncia bsica e
fundamental no ensino de Histria, pois assim que eles podem expressar formas
pelas quais conferem sentido relao passado, presente e futuro. E isso requer,
essencialmente, que possam reelaborar a experincia do passado com a finalidade
de dar uma orientao sua vida prtica.
O binmio trabalho com fontes e aprendizagem histrica anuncia que o
processo de aprendizagem histrica, que tem como referncia a cognio histrica
situada na prpria epistemologia da Histria, tem como um dos pressupostos
fundamentais o desenvolvimento do pensamento histrico a construo de
argumentos e explicaes histricas plausveis, a partir de processos metodolgicos
que permitem estabelecer as fontes como evidncias do passado.
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Partir do pressuposto de que as fontes histricas devem ser tratadas como
evidncias do passado, partir do pressuposto de que elas so fundamentais para
a construo da explicao histrica, da argumentao plausvel a partir da
evidncia e da significncia histrica, dando os suportes bsicos para a produo da
narrativa histrica e formao da conscincia histrica. Essa , na perspectiva da
Educao Histrica, a principal finalidade do ensino de Histria. Esperamos que o
Dossi Educao Histrica: o trabalho com fontes e a aprendizagem histrica -
seja de grande contribuio para todos aqueles que trabalham com a formao da
conscincia histrica dos nossos jovens e crianas.
Boa leitura!
Coletivo de Editores da REDUH
Maria Auxiliadora M.S.Schmidt
Ana Claudia Urban
Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd
Lidiane Camila Lourenato
Lucas Pydd Nechi
Solange Maria do Nascimento
Thiago Augusto Divardim de Oliveira
Curitiba, dezembro de 2013
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
NORMAS DE ARTIGOS PARA A REDUH:
- As contribuies devero ser apresentadas em arquivo de Word observando as
seguintes caractersticas:
- Os artigos tero entre 8 (oito) e 10 (dez) mil palavras.
- Com o texto original devero ser apresentados ttulo, autor, vinculao
institucional, resumo, contendo entre 100 (cem) e 200 (duzentas) palavras, 5
(cinco) palavras-chave, e rea at 3 (trs)- na que se inscreve o trabalho.
O ttulo dever estar em maisculas, negritas, com acentos e centrado; os
subttulos em negrito, minsculas. O nome do autor em itlico e alinhado direita.
- A titulao e filiao institucional devero ser colocadas em nota de rodap com
asterisco. Caso a pesquisa tenha sido elaborada com apoio financeiro de uma
instituio, dever ser mencionada em nota de rodap com asterisco no ttulo.
- O texto dever ser digitado em pgina A4, espaamento 1,5 (um vrgula cinco),
margens superior/esquerdo de 3 (trs) cm e inferior-direito de 2,0 (dois) cm, recuo
de 1 (um) cm, letra Arial, corpo 12 (doze) e as notas de rodap na mesma letra, em
corpo 10 (dez). As notas de rodap sero numeradas em caracteres arbicos. Os
nmeros das notas de rodap inseridos no corpo do texto iro sempre sobrescritos
em corpo 10 (dez), depois da pontuao.
- Os autores sero responsveis pela correo do texto.
- As citaes literais curtas, menos de 3 (trs) linhas sero integradas no pargrafo,
colocadas entre aspas. As citaes de mais de trs linhas sero destacadas no
texto em pargrafo especial, a 4 (quatro) cm da margem esquerda, sem recuo,
sem aspas e em corpo 10 (dez), com entrelinhamento simples. Depois deste tipo
de citao ser deixada uma linha em branco.
- A indicao de fontes no corpo do texto dever seguir o seguinte padro: Na
sentena Autoria (data, pgina) s data e pgina dentro do parntesis. Final da
sentena (AUTORIA, data, pgina) todos dentro do parntesis.
- A bibliografia deve vir com esse subttulo no fim do texto em ordem alfabtica de
sobrenome, observando as normas da ABNT/UFPR.
SOBRENOME, Nome. Ttulo do livro em negrito: subttulo. Traduo. Edio.
Cidade: Editora, ano.
SOBRENOME, Nome. Ttulo do captulo ou parte do livro. In: Ttulo do livro em
negrito. Traduo. Edio. Cidade: Editora, ano, p. x-y.
SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Ttulo do artigo. Ttulo do peridico
em negrito, Cidade, vol., n., p. x-y, ano.
SOBRENOME, Nome. Ttulo da tese em negrito: subttulo. Xxx f. Tipo do trabalho:
Dissertao ou Tese (Mestrado ou Doutorado, com indicao da rea do trabalho) -
vinculao acadmica, Universidade, local, ano de apresentao ou defesa.
Para outras produes:
SOBRENOME, Nome. Denominao ou ttulo: subttulo. Indicaes de
responsabilidade. Data. Informaes sobre a descrio do meio ou suporte (para
suporte em mdia digital).
Para documentos on-line ou nas duas verses, so essenciais as informaes
sobre o endereo eletrnico, apresentado entre sinais < >, precedido da expresso
disponvel em, e a data de acesso ao documento, antecedida da expresso
acesso em.
Ilustraes, figuras ou tabelas devero ser enviadas em formato digital com o
mximo de definio possvel.
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
SUMRIO
APRESENTAO................................................................................................. .....10
DOSSI EDUCAO HISTRICA: O TRABALHO COM FONTES E A
APRENDIZAGEM HISTRICA
- REPERCUSSES DA REPRESSO MILITAR NO PARAN: INVESTIGAO EM
ESCOLAS DE CURITIBA
Adriano Luiz Favero.................................................................................................15
- PARA A EDUCAO HISTRICA, OS CONFLITOS NO ALDEAMENTO DO
PIRAP SO RESISTNCIAS ESCRAVIDO?
Alecsandro Danelon Vieira.......................................................................................28
- AS QUESTES AGRRIAS NO BRASIL ENTRE NAES INDGENAS,
LATIFUNDIRIOS E GOVERNO SOB A VISO DA EDUCAO HISTRICA
Cristina Elena Taborda Ribas...................................................................................37
- A PROPAGANDA NAZISTA NO PARAN (1934-1942) E O ENSINO DE HISTRIA
Dayane Rbila Lobo Hessmann...............................................................................44
- DE CURITIBA A CURITYBA NA PERSPECTIVA DA EDUCAO HISTRICA
Geraldo Becker................................................................................................... ........56
- A IMIGRAO NO PARAN NO FINAL DO SCULO XIX E INCIO DO SCULO
XX: CONFLITOS ENTRE INDGENAS E IMIGRANTES COMO TEMTICA PARA O
ENSINO DE HISTRIA
Jucilmara Luiza Loos Vieira........................................................................................66
- LITERACIA HISTRICA: TEORIA E PRTICA SOBRE A HISTRIA DOS TIMES
DA CAPITAL PARANAENSE NA ESCOLA
Marcos Ancelmo Vieira & Paulo Rubens Brito de Lima.............................................78
- O CINEMA COMO RECURSO DIDTICO NAS AULAS DE HISTRIA
Vanessa Maria Rodrigues Viacava............................................................................87
ARTIGOS DE DEMANDA CONTNUA
- HUMANISMO E IDENTIDADE HISTRICA: CONTRIBUIES PARA ANLISE
DE NARRATIVAS HISTRICAS
Lucas Pydd Nechi Orientadora: Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt..................96
- A EDUCAO HISTRICA NA PERSPECTIVA DA PRXIS: UM ESTUDO
REALIZADO NO IFPR CAMPUS CURITIBA
Thiago Augusto Divardim de Oliveira Orientao: Maria Auxiliadora Moreira dos
Santos Schmidt........................................................................................................108
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
- A CONSCINCIA HISTRICA DE JOVENS HISTORIADORES EM FORMAO:
COMO ALUNOS UNIVERSITRIOS CONCEITUAM HISTRIA?
Uirys Alves de Souza...............................................................................................124
- LUGARES DE MEMRIA: MUSEOLOGIA COMUNITRIA E AS PRIMEIRAS
APROXIMAES COM A EDUCAO HISTRICA
Wagner Tauscheck...................................................................................................134
- PROTONARRATIVAS DA CANO: A CONSCINCIA HISTRICA ORIGINRIA
DE JOVENS ALUNOS BRASILEIROS E PORTUGUESES A PARTIR DAS
LEITURAS E ESCUTAS DE UMA CANO POPULAR ADVINDA DOS SEUS
GOSTOS MUSICAIS
Luciano de Azambuja...............................................................................................146
RESENHA
- NEM S A FICO SALVA! A FORMAO (BILDNG) NA LITERATURA E NA
HISTRIA
Thiago Augusto Divardim de Oliveira.......................................................................163
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
APRESENTAO
A Revista de Educao Histrica REDUH com o tema Educao
Histrica: o trabalho com fontes e a aprendizagem histrica apresenta mais um
dossi organizado a partir de pesquisas j concludas e em andamento. O tema do
dossi tem sido foco de discusso com professores da Educao Bsica em
encontros e seminrios organizados pela Universidade Federal do Paran e pelo
Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica LAPEDUH.
Segundo Hilary Cooper (2012) fontes histricas so quaisquer traos do
passado que permanecem. Esses traos do passado podem estar disponveis por
meio de livros, documentos, obras de arte, fotografias, casarios antigos, castelos,
roupas, museus, filmes, msicas, narrativas orais, enfim as fontes apresentam no
presente uma diversidade de discursos e informaes do passado. Ainda, segundo
Cooper as fontes podem ter vrias origens, pois no foram criadas com o objetivo de
serem fontes e sim para dar sentido a uma situao da vida prtica de um
determinado momento histrico. Por possurem esta caracterstica to diversa as
fontes podem representar situaes e momentos diversos por meio de mltiplas
formas. H fontes que representam smbolos de poder de uma determinada poca
ou regio, a imagem de um estadista, por exemplo.
Levando em conta as consideraes anteriores que o trabalho com fontes
assumido como fundamental para o ensino de Histria, como tambm inerente a
uma metodologia de ensino e aprendizagem identificada ao campo de investigao
da Educao Histrica. Com tais argumentos que os trabalhos aqui apresentados
foram selecionados.
Os treze artigos e a resenha deste nmero da REDUH podem ser
categorizados pelos temas: ensino de histria e as concepes de jovens estudantes
do Ensino Mdio e do Ensino Fundamental; ensino de Histria e as concepes de
futuros professores de Histria; ensino de Histria e museus; ensino de Histria e o
uso de diferentes linguagens.
Adriano Luiz Favero apresenta sua pesquisa com o ttulo Repercusses da
represso militar no Paran: investigao em escolas de Curitiba. Com base nos
pressupostos da Educao Histrica buscou entender a relao que os alunos do 3
ano do Ensino Mdio tm com a estrutura do aparato da represso militar no Estado
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
do Paran e, consequentemente, na cidade de Curitiba. Busca tambm apresentar
uma perspectiva que permita ao aluno o resgate de elementos concebidos a partir
de experincias e relatos familiares de um assunto que figura a distncia e a
margem de seu cotidiano.
O trabalho do professor Alecsandro Danelon Vieira Para a Educao
Histrica, os conflitos no aldeamento do Pirap so resistncias escravido? faz
parte de um estudo realizado com jovens estudantes do 1 ano do Ensino Mdio em
colgio pblico da regio metropolitana de Curitiba. Os resultados deste trabalho
revelaram que o uso de documentos propicia uma melhor compreenso da Histria,
possibilitando a relao entre presente e passado, bem como permite o
desenvolvimento de uma conscincia histrica mais elaborada por parte dos jovens
estudantes.
As questes agrrias no Brasil entre naes indgenas, latifundirios e
governo sob a viso da Educao Histrica foi o tema do trabalho apresentado por
Cristina Elena Taborda Ribas. A investigao envolveu estudantes da modalidade
Educao de Jovens e Adultos/EJA abordando as questes agrrias no Brasil e os
conflitos envolvendo naes indgenas, proprietrios de terras e o governo.
A professora Dayane Rbila Lobo Hessmann apresenta o trabalho com a
unidade investigativa cujo ttulo A propaganda nazista no Paran (1934-1942) e o
ensino de Histria. Os estudantes que participaram desta interveno so alunos da
Educao de Jovens e Adultos/EJA de um colgio da periferia da cidade de Curitiba.
O trabalho proporcionou uma importante reflexo sobre a histria local, pois por
meio dela os alunos puderam observar o conceito de simultaneidade, entendendo
que os fatos se relacionam e se intercruzam, que um processo histrico interfere em
outro.
Professor Geraldo Becker apresenta o trabalho De Curitiba a Curityba na
perspectiva da Educao Histrica. Sua investigao aponta algumas reflexes
baseadas nas orientaes da Educao Histrica e tem como aporte terico-
metodolgico a referncia da epistemologia da cincia da Histria, buscando por
meio de fontes histricas, problematizar e discutir a pluralidade de interpretaes e
explicaes sobre o passado e o presente.
Jucilmara Luiza Loos Vieira apresenta o trabalho A imigrao no Paran no
final do sculo XIX e incio do sculo XX: conflitos entre indgenas e imigrantes como
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
temtica para o ensino de Histria que faz parte dos resultados da anlise de
alguns documentos do arquivo pblico, sobre o contedo substantivo imigrao. O
trabalho foi realizado com alunos do 3 ano do Ensino Mdio, em colgio na regio
metropolitana de Curitiba. A investigao foi baseada em vrias fontes, entre elas o
relatrio do governo que incentiva os imigrantes com a lei de terras, alm de fontes
sobre indgenas e da pesquisa genealgica dos jovens estudantes.
Literacia histrica: teoria e prtica sobre a histria dos times da capital
paranaense na escola o ttulo do trabalho realizado pelos professores Marcos
Ancelmo Vieira e Paulo Rubens Brito de Lima, cujo tema est relacionado ao
contedo Repblica Velha, com recorte temporal de 1889 a 1930, momento que
marca a vinda dos imigrantes europeus com novas expectativas sociais, polticas,
econmicas, trabalhistas e, particularmente, o futebol, que chega nesse mesmo
momento como uma forte expresso social e cultural para a populao de Curitiba.
A insero de fontes primrias resultou em uma agradvel surpresa, pois despertou
a participao ativa dos jovens estudantes facilitando, desta forma, a prtica e a
produo do conhecimento de maneira clara e objetiva.
Vanessa Maria Rodrigues Viacava apresenta sua pesquisa com o ttulo O
cinema como recurso didtico nas aulas de histria, procura discutir o cinema como
recurso didtico nas aulas de Histria articulado s concepes terico-
metodolgicos da Educao Histrica, levando-se em conta as consideraes
sobre Cinema e Histria apresentados no evento on-line, de formao continuada
denominado Hora Atividade Interativa, promovido pelo Portal Dia a Dia Educao
em parceria com o Departamento de Educao Bsica (DEB). A partir deste e de
outros encontros virtuais, a professora foi colocada diante de uma situao a ser
resolvida e, diante disso traz, por meio do artigo, a discusso que trata o cinema
como fonte histrica e as implicaes dessa caracterstica em seu uso pedaggico.
Na seo de artigos de demanda contnua temos as seguintes contribuies
para o ensino de Histria:
Lucas Pydd Nechi apresenta os primeiros passos de sua pesquisa sob o ttulo
Humanismo e identidade histrica: contribuies para anlise de narrativas
histricas. O primeiro objetivo est relacionado fundamentao de um quadro de
anlise terica de narrativas histricas a serem estudadas empiricamente, a partir do
pensamento de Jrn Rsen. Outro objetivo foi verificar nas narrativas histricas de
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
jovens alunos de diferentes localidades se tais sujeitos apresentam elementos
semelhantes aos teorizados por Rsen em sua proposta humanista e, ainda, como
estas concepes influenciam na formao e apropriao de suas identidades
histricas.
A Educao Histrica na perspectiva da prxis: um estudo realizado no IFPR
Campus Curitiba trabalho do professor Thiago Augusto Divardim de Oliveira
apresenta-se como contribuio s discusses sobre a relao do ensinar e
aprender Histria de acordo com os pressupostos da Educao Histrica. A
proposta traz reflexes sobre uma forma especfica de se pensar a relao ensino e
aprendizagem na Didtica da Histria, a Educao Histrica na perspectiva da
prxis, e a discusso de conceitos como prxis, totalidade, subjetividade e
intersubjetividade como categorias centrais da formao histrica (bildng).
Uirys Alves de Souza apresenta A conscincia histrica de jovens
historiadores em formao: como alunos universitrios conceituam histria? A
pesquisa teve como objetivo compreender as formas de argumentao os
estudantes do quarto semestre do curso de Histrica Bacharelado/Licenciatura da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) quando elaboram suas narrativas
sobre determinados conceitos que dizem respeito Histria.
Wagner Tauscheck discute Lugares de Memria: museologia comunitria e
as primeiras aproximaes com a Educao Histrica a partir do conceito de
lugares de memria do historiador Pierre Nora para os estudos referentes
museologia social. Por meio de suas reflexes, buscou compreender a atuao do
Museu da Periferia (MUPE) e, partindo do campo da Educao Histrica, procurou
compreender e lanar algumas perspectivas de como um museu comunitrio pode
contribuir na complexificao da relao com o passado dos moradores da regio e
dos alunos das escolas em que o museu est ou vai desenvolver as suas atividades.
Luciano de Azambuja partilha parte dos resultados de sua pesquisa com o
ttulo Protonarrativas da Cano: a conscincia histrica originria de jovens alunos
brasileiros e portugueses a partir das leituras e escutas de uma cano popular
advinda dos seus gostos musicais. A tese teve como objeto investigar das
protonarrativas escritas por jovens alunos a partir das leituras e escutas de uma
cano popular advinda dos seus gostos musicais. Os resultados indicaram que a
escritura de protonarrativas da cano pode mobilizar as temporalidades,
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
competncias e dimenses da conscincia histrica originria e a subjacente
constituio da identidade histrica primeira de jovens alunos do ensino mdio.
Por fim o Volume 4 da REDUH apresenta a resenha da obra A literatura em
Perigo de Todorov elaborada por Thiago Augusto Divardim de Oliveira finaliza a 4
edio da Revista de Educao Histrica REDUH. A resenha iniciada com a
frase possvel ir alm das figuras retricas no contato com a literatura que,
segundo o resenhista, anuncia o elemento central da apresentao e a
compreenso das principais ideias da obra A literatura em Perigo. O prlogo
anuncia, de maneira geral, uma ideia que permeia e se aprofunda em toda a obra: a
literatura proporciona uma relao de intersubjetividades que possibilita um carter
formativo. Isso significa que a relao das subjetividades dos leitores com outras
subjetividades compostas na literatura amplia a capacidade de compreenso e
resulta em um processo formativo.
Boa leitura!
Curitiba, dezembro de 2013
Solange Maria do Nascimento
Mestra em Educao pelo PPGE-UFPR
Pesquisadora do LAPEDUH UFPR
15
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
REPERCUSSES DA REPRESSO MILITAR NO PARAN: INVESTIGAO EM
ESCOLAS DE CURITIBA
Adriano Luiz Favero
1
RESUMO:
Este trabalho relata uma experincia de investigao e interveno pedaggica
realizada em um Colgio Estadual de Curitiba no ms de outubro de 2013. Opta
como referencial terico-metodolgico a investigao na perspectiva da Educao
Histrica para procurar entender a relao que os alunos do 3 ano do ensino mdio
tm com a estrutura do aparato da represso militar no Estado do Paran e,
consequentemente, na cidade de Curitiba. Os resultados apresentaram uma noo
de alguns do Estado do Paran, contendo o dossi do Jardim de Infncia Pequeno
Prncipe, situada na cidade de Curitiba, na qual sua diretora, alm de outros
implicados, estaria ligada a atividades comunistas. A inteno do trabalho
desenvolvido de apresentar uma perspectiva que permita ao aluno o resgate de
elementos concebidos a partir de experincias e relatos familiares de um assunto
que figura a distncia e a margem de seu cotidiano. Ao reconstruir sua trajetria
histrica o individuo reconhece sua identidade cidad participativa na sociedade em
que vive.
Palavras-chave: governo, represso, ditadura, escola, cidadania.
Introduo
O presente trabalho de investigao realizou-se partindo da proposta do curso
O trabalho com arquivos e a Literacia Histrica: questes tericas e prticas,
oportunizado pela professora doutora Maria Auxiliadora Schmidt, da Universidade
Federal do Paran em parceria com a Secretaria Estadual da Educao do Paran e
Ncleo Regional de Educao de Curitiba.
A experincia de pesquisa e interveno pedaggica foi aplicada em um
colgio da regio central de Curitiba optando como referencial terico-metodolgico
a investigao na perspectiva da Educao Histrica para procurar entender a
relao que os alunos do 3 ano do ensino mdio tm com a estrutura do aparato da
represso militar no Estado do Paran e, consequentemente, na cidade de Curitiba.
A principal fonte historiogrfica partiu da pesquisa realizada no Arquivo
Pblico do Paran assessorada pela coordenadora da Diviso de Documentao
Permanente DPP/SAI, que teve como resultado a pasta arquivo da Secretaria de
1
Professor de Histria da Secretaria de Educao do Estado do Paran. alfa.txt@gmail.com
16
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Segurana Pblica do Estado do Paran, contendo o dossi do Jardim de Infncia
Pequeno Prncipe, situada na cidade de Curitiba, na qual sua diretora, alm de
outros implicados, estaria ligada a atividades comunistas.
A inteno desse trabalho de apresentar uma perspectiva que permita ao
aluno conhecer a forma como se constri o conhecimento histrico por meio de uma
metodologia especfica da Histria. A proposta, nesse sentido, apontou caminhos
para que houvesse tambm o resgate de elementos concebidos a partir de
experincias e relatos familiares de um assunto que figura a distncia e a margem
de seu cotidiano. Ao reconstruir sua trajetria histrica o individuo reconhece sua
identidade cidad participativa na sociedade em que vive assim como, de acordo
com Rsen (2010), consegue se orientar temporalmente desenvolvendo uma
conscincia histrica.
O inicio do desenvolvimento dos trabalhos com os alunos consistiu em
investigar os conhecimentos prvios de cada estudante da turma escolhida para
essa atividade sobre o tema. Os resultados apresentaram uma noo de alguns
episdios referentes tomada do poder pelos militares ligados ao contexto nacional,
desconhecendo os acontecimentos em outros estados e em particular, no Paran.
Com isso, evidenciou-se a somatria de vrias afirmaes, dentre eles, discursos
oficiais de parte do poder pblico ou do senso comum, que no permitiram a viso
fora do entendimento geral. A partir dos resultados da investigao, foi elaborada
uma interveno a partir da qual os alunos tiveram contato com diferentes verses
acerca do tema.
O instrumento utilizado para registro dos conhecimentos prvios dos
estudantes foi uma ficha contendo alguns dados como nome, idade, local de
moradia e a elaborao de uma narrativa sobre o que conhecia a respeito do
perodo da represso no governo militar brasileiro.
Aps troca de informaes entre os estudantes houve a elaborao e a
entrega das fichas, ocasionando a anlise e a categorizao das narrativas.
Categorizao dos conhecimentos prvios
Para o processo de categorizao privilegiou-se os conhecimentos que os
estudantes trouxeram para sala de aula. Para tanto, busquei instigar o tema
17
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
previamente escolhido assim como seus objetivos a atingir. Houve orientao para
que realizassem alguns questionamentos com parentes e pessoas prximas que
pudessem contribuir com informaes e experincias vividas naquele perodo.
Em sala, houve uma sondagem do nvel de conhecimentos da turma a
respeito do assunto, como o que eles sabiam a respeito da ditadura militar no mbito
nacional. Algumas respostas comearam a surgir e foram sendo transpostas para o
quadro de giz:
O Golpe de Estado praticado pelos militares em 1964.
O quadro poltico e econmico do perodo que representou a deposio do
vice-presidente Joo Goulart.
Os documentos institudos Atos Institucionais 1, 2, 3, 4 5.
No segundo momento a provocao voltou-se para esse tema com relao ao
Paran com a pergunta sobre o que eles sabiam sobre a represso no Estado? A
resposta quase unnime ecoou na sala: Professor! No encontramos nada sobre o
Paran!.
Fez-se necessrio uma interveno para o embasamento, por meio da
contextualizao que partia de um episdio especfico, como descrito a seguir:
O perodo que se refere o recorte histrico marcado por um processo de
organizao do sistema educacional no Estado do Paran em que se inclui a
educao pr-primria, a partir de propostas e orientaes expressas nas diferentes
documentos elaborados diretamente pelas autoridades educacionais do Estado com
base na orientao da UNESCO e pautados no modelo norte-americano de
educao. Tais proposies tiveram como princpios a moral, o civismo, o amor
Ptria, o vnculo com a comunidade e a preparao para o trabalho, numa frequente
defesa de sociedade, que deveria ser ordeira e pacfica.
Em tais condies de propostas estruturadas em harmonia com a ordem
poltica, econmica e social, houve na capital paranaense uma tentativa de organizar
uma instituio educativa para crianas pequenas cuja proposta pedaggica no se
alinhava s proposies da Secretaria de Estado da Educao: o Jardim de Infncia
Pequeno Prncipe. Com incio de suas atividades em 1965 e trmino em 1966, a
escola se localizava na Rua Comendador Arajo, 438 e chegou a ter 35 crianas,
divididas em duas faixas etrias: de 3 para 4 anos e outra dos 4 at os 5 anos. Teve
como organizadoras as professoras: Dilma Maria Maia Pereira, integrante da
18
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Secretaria de Estado da Educao indicada pelo Secretrio Jucundino Furtado,
vinculada ao PCB e ao Centro Popular de Cultura desde 1963, perodo em que
havia terminado o curso de Filosofia; Marilda Chautard, membro do Instituto Cultural
Brasil-Cuba e do Centro Popular de Cultura e ex-funcionria federal da Escola de
Qumica; e a professora Miriam Galarda, membro da diretoria do Centro Popular de
Cultura e funcionria da Secretaria de Estado da Educao por indicao do
Secretrio de Educao Jucundino Furtado (CURITIBA, 1966; HELLER, 1988).
Ao investigar a resistncia ditadura militar no Paran durante as dcadas de
1960 e 1970, averiguou-se nos arquivos da DOPS, junto ao Arquivo Pblico do
Paran, referncias ao Jardim de Infncia Pequeno Prncipe, encontradas em um
inqurito instaurado pela Delegacia de Ordem Poltica e Social do Estado, composto
de mandados de apreenso, em ofcios expedidos pelo Secretrio de Educao ao
Delegado da DOPS e entre o general comandante da 5 Regio Militar e o
Secretrio de Segurana Pblica do Paran, bem como em matrias publicadas em
jornais da poca, autos de apreenso e relatrios, totalizando 24 pginas de
documentos. Ressalva-se que no foi encontrado nenhum registro detalhado acerca
deste Jardim de Infncia no tocante s suas atividades e procedimentos didticos,
elementos que trazidos pesquisa a partir deste conjunto de documentos e dos
relatos da professora Dilma Maria Maia Pereira contidos no livro Resistncia
democrtica: a represso no Paran de Milton Ivan Heller (1988).
A organizao do Jardim de Infncia Pequeno Prncipe, segundo relato da
professora Dilma Maria Maia Pereira descrito por Heller, ocorreu a partir do
entendimento de que a proposta educacional e os mtodos da escola deveriam [...]
contestar a educao existente, retrgrada e arcaica. (HELLER, 1988, p. 361).
O rompimento com este modelo de ensino oficial apregoado pelo Jardim de
Infncia ficou registrado em matria publicada no jornal Estado do Paran de 02 de
fevereiro de 1966, ao afirmar que introduzindo mtodos inditos no ensino para
crianas, as professoras do Pequeno Prncipe conseguiram excelentes resultados
com os 60 alunos matriculados, durante o ano de 1965. (CURITIBA, 1966, p. 26).
19
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Referencial terico metodolgico
A Educao Histrica, perspectiva que norteou este trabalho de pesquisa,
preocupa-se, sobretudo com a forma na qual os estudantes aprendem Histria,
conseguem orientar-se temporalmente e desenvolvem uma conscincia histrica a
partir do contato com as mais variadas fontes histricas. H uma compreenso de
que os estudantes possuem conhecimentos histricos advindos dos mais variados
lugares, mas por meio do trabalho com as fontes, tornadas evidncias, que esse
conhecimento aperfeioado garantindo a possibilidade de orientao no tempo e
de compreenso da realidade.
Contextualizar os contedos disciplinares, levar os estudantes a participarem
do processo de anlise e apropriao do saber histrico, proporcionando-lhes o
despertar de um pensamento crtico sobre a temtica buscando, segundo Schmidt e
Garcia (2008) superar as teorias reprodutivistas e relativistas sobre a educao, em
geral, e sobre os processos de escolarizao, em particular que levam permitem ao
estudante um pensamento autnomo.
A partir dessa perspectiva, procurou-se demonstrar outras possibilidades para
o aprofundamento do conhecimento da Histria regional relacionando os significados
representados no cenrio politico nacional e suas implicaes na aplicao dessas
orientaes polticas pelas diversas regies do pas, levando os estudantes a uma
reflexo entre seu passado histrico e suas vidas como consequncia de tais fatos.
A proposta teve inicio com base nas fontes histricas coletadas no Arquivo
Pblico do Paran referentes repercusso da represso militar no Paran e, em
particular, os registros que reproduzem o envolvimento da diretora de um jardim de
infncia em Curitiba e seus desdobramentos que a ligavam ao grupo de pessoas
que trabalhavam com bonecos, denominados subversivos do teatro de fantoches.
De acordo com estudos realizados pela Educao Histrica os estudantes
tm dificuldade de entender como os acontecimentos do passado so narrados,
muitas vezes considerando que existe apenas uma explicao vlida para tal
episdio. Nesse sentido, o trabalho com as fontes histricas torna-se fundamental,
uma vez que os estudantes podem entrar em contato com vrias verses sobre o
passado, dando validade a essas fontes e transformando-as em evidncias deste ou
daquele acontecimento. Em contato com essas explicaes sobre o passado
20
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
tornam-se capazes de refletir sobre o presente e, assim, conseguirem se orientar
temporalmente. De acordo com Ashby (2006), o reconhecimento da afirmao
vlida requeria o uso, pelos alunos, das fontes como um conjunto, alm de entend-
las como evidncias.
Processo de interveno
A partir do processo de categorizao pode-se perceber que em relao
ditadura no Brasil, os estudantes abordaram vrias ideias, algumas de senso comum
outras de livros didticos e at mesmo discurso de outros professores, porm na
questo Paran, houve pouca argumentao. A partir das intervenes
pedaggicas, comeou-se a apresentao do assunto por meio de diferentes
perspectivas historiogrficas buscando o significado e o contexto histrico entre o
cenrio nacional e o regional.
O Jardim de Infncia Pequeno Prncipe tambm foi objeto de perseguies da
Polcia. Fechada em 1966, em janeiro de 1967 foi decretada a priso das
professoras, sob a alegao de estarem ministrando prticas marxistas s crianas.
A polcia conseguiu tomar o depoimento da diretora da escola, Dilma Maria Pereira,
das professoras Mirian Galarda, Marilda Kobastchuk e de Manoel Kobastchuk Filho,
que fazia apresentaes de teatro de bonecos. Segundo documento da DOPS
(URBAN, 2008, p.80) treze pessoas envolvidas na escola foram acusadas, mas
apenas estas quatro compareceram polcia para prestar depoimento. Segundo um
jornal curitibano da poca, uma Corte especial foi instalada e se os demais
indiciados no comparecessem na prxima sesso da Auditoria, seriam julgados
revelia.
As perseguies escola j estavam acontecendo antes da instalao da
Corte. Em documento da DOPS, do Arquivo Pblico do Paran, h um auto de
apreenso, datado de 01 de junho de 1966, que tambm determina o fechamento da
escola. Nesta data, a polcia apreendeu um filme intitulado: A Escola Maternal, de
propriedade da Embaixada Britnica, produzido pelo Conselho Britnico e liberado
pelo servio de censura para ser exibido em todo territrio nacional. Segundo o
relatrio da DOPS, na ocasio das buscas na escola, s havia uma zeladora e
nenhuma criana ou professor. Segundo o mesmo documento, estavam
21
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
matriculados 35 alunos, mas a escola no tinha registro da Secretaria de Educao,
demonstrando para a Polcia que ela funcionava indevidamente. Esta alegao da
falta de registro mesmo no sendo assunto de competncia da polcia, servia de
pretexto para demonstrar as ms intenes da escola.
Outro documento deste dossi foi um recorte de jornal que dava a seguinte
notcia:
Um informe confidencial do Ministrio da Guerra afirma que junto ao Jardim
de Infncia funciona o perigoso Centro Popular de Cultura da extinta UNE.
Nas diligncias realizadas foi encontrado to somente material didtico
apropriado infncia, diz um relatrio da DOPS. Para no sair de mos
abanando, os policiais apreenderam uma fita chamada: Escola Maternal
(Double Thread), de propriedade da Embaixada Britnica.
Um recorte de jornal de um ano antes dizia que a escola j contava com 65
alunos em 1965, obtendo excelentes resultados. Noticiava tambm que a professora
Dilma Pereira ia para o Estado da Guanabara para pegar fitas de filme. Entre as
fitas, estavam filmes de teatro de fantoches. O jornal chama a ateno para filmes
de um cineasta tcheco, Jiri Trinka. reconhecida a especialidade daquele pas em
teatro de fantoches, mas de se imaginar as relaes que a ditadura estabeleceu
entre a escola e um pas do Leste europeu.
O jornal O Estado Paran, de 27 e janeiro de 1967, estampava o ttulo:
Priso para subversivos do Teatro de Fantoches. Segundo A Tribuna do Paran,
da mesma data, o teatro e a escola mascaravam uma rede de subverso e de
propaganda comunista. O jornal afirmava que o teatro de fantoches era anexo
escola e seus membros tinham atividades nos dois espaos. Muitos deles tinham
participado do Centro Popular de Cultura (na poca na clandestinidade) e era na
escola que realizavam assembleias daquela entidade. O jornal tambm ressaltava
as relaes deste grupo com o Instituto Cultural Brasil-Cuba. Outra professora,
Mirian Galarda, declarou para o jornal que o maior lder brasileiro naquela poca era
Miguel Arraes; ela se sentia uma seguidora do ex-governador, para ela um
verdadeiro lder puro. O jornal ainda afirmava que a Polcia j estava h algum
tempo procurando a professora Dilma Pereira, que usava uma Kombi sem licena e
sem placa para servios da escola. E a polcia desconfiava que o carro sem
identificao fosse usado para fins subversivos.
Outros nomes ligados escola figuravam na lista da Polcia: Lilian Jeannete
Galarda, Jos Lus Chautard, Leonel Lara, Euclides Coelho de Souza (fundador do
22
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Teatro de Fantoches Dad) e Agliberto Vieira de Azevedo, ex-secretrio do extinto
partido comunista, em sua dissertao de mestrado, relata:
Os integrantes do CPC do Paran encerraram suas atividades em 1964,
com a deflagrao do Golpe de Estado, mas, na clandestinidade, fizeram
vrias tentativas de reiniciar as atividades de Teatro de Bonecos
relacionadas prtica educativa. Em 1965, resolveram montar um esquema
de resistncia ditadura e, nos fundos da casa dos pais da pedagoga
integrante do CPC Mirian Galarda montaram um teatro de tteres,
denominado Teatro de Bonecos Dad, em homenagem a outra pedagoga
integrante do CPC Aldair Chevonika (que tinha Dad como apelido) pois
ela estava em Moscou e, devido ao golpe, no poderia retornar. Estava
criado, portanto, o teatro de Bonecos Dad. Nos finais de semana,
realizavam espetculos infantis, atraindo as crianas da vizinhana e os
filhos de militantes comunistas... Aproveitando o xito do teatro e como
muitos integrantes daquela atividade eram tambm educadores, resolveram
montar o Jardim de Infncia Pequeno Prncipe, junto ao teatro de bonecos.
Entretanto, em 1967, os professores e artistas do jardim e do teatro de
bonecos receberam voz de priso, com a justificativa de que os integrantes
da escola estariam conduzindo as aulas para as crianas, atravs de
mtodos subversivos. (CALDAS, p. 120)
A escola se inspirava na filosofia do CPC, que organizava suas atividades em
trs eixos: arte, educao e poltica e, por meio da entrevista com uma de suas
fundadoras, pode-se perceber a preocupao em deixar bem clara uma funo
social, poltica e educativa para a arte praticada na escola.
Resultado do processo
Aps a anlise das fontes histricas do perodo, houve um debate com o
grande grupo para interpretao dos acontecimentos e o levantamento das
diferentes posies vividas por cada indivduo envolvido nos episdios,
demonstrando, desta forma, que a histria sempre construda a partir de vrias
perspectivas, levando-se em considerao escolhas e recortes de objeto, alm de
opes terico-metodolgicas. Ao final foi solicitada a elaborao individual de uma
narrativa comentando os diferentes discursos que eles aprenderam e discutiram a
ser entregue na prxima aula.
Todo o processo de interveno realizou-se em trs aulas. A primeira foi
destinada a comentar e analisar a categorizao a partir dos conhecimentos
apresentados na primeira narrativa, e tambm explicar como a interveno foi
preparada baseada nos resultados. Na segunda foram trabalhados os elementos da
23
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
narrativa histrica local da represso militar e, a terceira, baseou-se nas fontes
pesquisadas demonstrando as vrias possiblidades de leitura de um mesmo
acontecimento histrico.
Consideraes finais
Com os resultados da pesquisa e do processo de categorizao, buscou-se
no referencial terico da Educao Histrica, a compreenso do pensamento
histrico proporcionado pela relao passado/presente que os jovens estudantes
trazem na sua vida cotidiana, e a interpretao dos sentidos que so atribudos s
suas aes nas relaes humanas, em que, segundo Jrn Rsen (2001) o sentido
articula percepo, interpretao, orientao e motivao, de maneira que a relao
do homem consigo e com o mundo possa ser pensada e realizada na perspectiva do
tempo.
Trabalhar com os conhecimentos que os estudantes adquiriram a partir da
apresentao das fontes histricas, considerando suas concepes prvias
conforme afirma Isabel Barca (2000), podem ser tanto o conhecimento prvio e
cotidiano dos sujeitos sobre um determinado tema histrico como o conhecimento
elaborado e sistematizado nas aulas de Histria, buscou romper com os
paradigmas do discurso nico.
No processo de interveno pedaggica, a problematizao e o confronto de
documentos partiram do pressuposto de que ensinar Histria construir um dilogo
entre o presente e o passado, e no produzir conhecimentos neutros e acabados.
(SCHMIDT E CAINELLI, p. 53).
A inteno deste trabalho de investigao foi proporcionar aos estudantes a
percepo de que eles tambm fazem parte do processo histrico, e atravs da
reflexo e da problematizao despertar o interesse em preservar o patrimnio
pblico e conhecer mais sobre a histria da cidade de Curitiba e do Estado do
Paran. Procurou tambm atravs de elementos do cotidiano rediscutir prticas e
saberes e formar uma conscincia histrica, que conforme afirma o historiador Jrn
Rsen (2001) o conjunto das operaes mentais com as quais os homens
interpretam sua experincia da evoluo temporal de seu mundo e de si mesmos, de
forma tal que possam orientar intencionalmente, sua vida prtica no tempo.
24
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
REFERNCIAS
ASHBY, Rosalyn. Desenvolvendo um conceito de evidncia. Educar. Curitiba:
Editora da UFPR, 2006. P. 151-170. 2006.
BARCA, Isabel. O pensamento histrico dos jovens: ideias dos adolescentes
acerca da provisoriedade da explicao histrica. Braga: Universidade do Minho,
2000.
CALDAS, Ana Carolina. Centro Popular de Cultura no Paran (1959-1864):
Encontros e Desencontros entre Arte, Educao e Poltica. Dissertao de
Mestrado em Educao, UFPR, 2003.
CURITIBA. Secretaria de Estado da Segurana Pblica. Departamento de Polcia
Civil. Diviso de Segurana e Informaes. Documentos/informaes referentes
a: Jardim de Infncia Pequeno Prncipe, Curitiba, 1966. Processo n. 02080.
HELLER, M. I. Resistncia democrtica: a represso no Paran. Rio de Janeiro:
Paz e Terra; Curitiba: Secretaria de Cultura do Estado do Paran, 1988.
RSEN, Jrn. Razo Histrica. Braslia: Ed. UnB, 2001.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Histria. In KUENZER, Accia Zeneida. (org.). Ensino
mdio: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. So Paulo: Cortez,
2000.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CAINELLI, Marlene. Ensinar histria. So Paulo:
Scipione, 2004.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora e GARCIA, Tnia Maria F. Braga. Histria e educao:
dilogos em construo. In SCHMIDT, Maria Auxiliadora; GARCIA, Tnia Maria F.
Braga; HORN, Geraldo Balduno. (orgs.). Dilogos e perspectivas de
investigao. Iju: Uniju, 2008.
URBAN, Teresa. 1968: Ditadura Abaixo. Curitiba, Arte&Letra Editora, 2008.
FONTES DOCUMENTAIS UTILIZADAS
Escola Pequeno Prncipe
o Arquivos da DOPS Pasta: Jardim de Infncia Pequeno Prncipe
Mandado de interdio e fechamento de estabelecimento escola
Auto de apreenso de materiais e veculos.
o Jornais:
Estado do Paran, fevereiro de 1966.
Estado do Paran, janeiro de 1967.
Dirio do Paran, janeiro de 1967.
25
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
ANEXOS
26
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
27
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
28
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
PARA A EDUCAO HISTRICA, OS CONFLITOS NO ALDEAMENTO DO
PIRAP SO RESISTNCIAS ESCRAVIDO?
Alecsandro Danelon Vieira
2
RESUMO:
O referido artigo apresenta reflexes sobre um trabalho realizado no curso Trabalho
com Fontes Histricas e a Literacia Histrica: Questes tericas e prticas, em
parceria com a UFPR e SEED-PR. O estudo foi aplicado a 35 alunos do 1 ano do
Ensino Mdio em colgio pblico de So Jos dos Pinhais, regio metropolitana de
Curitiba. O documento escolhido no arquivo pblico paranaense foi sobre o
aldeamento indgena de Nossa Senhora do Loreto do Pirap, Castro/ PR, com a
finalidade de discutir os fatos ocorridos e narrados no aldeamento de Pirap e se
estes revelam resistncias escravido no Estado. A partir das ideias prvias dos
jovens estudantes, foi realizada a investigao do documento Ofcio escrito em
1858, culminando na produo de narrativas. Os resultados deste trabalho revelam
que o uso de documentos propicia uma melhor compreenso da Histria,
possibilitando a relao entre presente e passado, bem como permitindo o
desenvolvimento de uma conscincia histrica mais elaborada por parte dos jovens
estudantes.
Palavras-chave: Educao Histrica; Literacia; Narrativas.
Introduo
Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados de um trabalho
realizado com fontes histricas do Arquivo Pblico do Paran com turma do Ensino
Mdio em colgio pblico da regio metropolitana de Curitiba. Este trabalho atende
expectativas do curso Trabalho com fontes histricas e a literacia histrica:
Questes tericas e prticas. Alm de orientar e mudar prticas cotidianas nas
aulas de histria, no sentido de inserir o trabalho com fontes histricas no ensino de
Histria sob a perspectiva da Educao Histrica, permitiu aos jovens educandos a
utilizao e a interpretao de documentos.
No primeiro momento, foi selecionada uma carta ofcio de 1858 do Arquivo
Pblico do Paran. Este documento, escrito na cidade de Castro, permitiu aos
jovens alunos do 1 ano do Ensino Mdio uma reflexo: os conflitos relatados no
2
Formado em Filosofia com licenciatura em Histria pela UFPR. Professor especialista em
Psicopedagogia pelo IBPEX. Professor da SEED-PR.
29
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
aldeamento do Pirap revelam resistncia escravido no Estado? A leitura e
reflexo do documento instigou os educandos em busca de respostas. Os autores
Jrn Rsen, Maria Auxiliadora Schmidt, Marlene Cainelli, Peter Lee, Rosalin Ashby
foram as referncias necessrias para o estudo do tema em questo.
Contextualizao
Sendo professor da rede do Estado do Paran, e atuando em So Jos dos
Pinhais h 13 anos, tive o primeiro contato com a linha da Educao Histrica em
2012, a partir de estudos da professora PDE Jucilmara Luiza Loos Vieira, que atua
no mesmo colgio em que leciono e, em 2013, ao participar do GTR
3
-Grupo de
trabalho em rede desta professora. Nesse curso, com o qual trabalhou o uso de
Iconografia Pictrica nas aulas de histria e tambm implantou o uso de documentos
na escola, percebi a importncia desta linha de estudo e passei a me interessar na
aprendizagem de como utilizar fontes histricas nas aulas de Histria e proporcionar
aos estudantes um aprendizado que promova a compreenso da
multiperspectividade e uma maior conscincia histrica. A partir da, passei a realizar
leituras e a acompanhar o trabalho da professora Dr Maria Auxiliadora Schmidt e
dos tericos que direcionam o estudo da Educao Histrica. Veio ento o convite
para participar do curso promovido pela Secretaria de Educao do Paran-SEED
no Arquivo pblico em parceria com o Ncleo Regional de Educao de Curitiba e
com o Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica- LAPEDUH.
Com a proposta do curso que era a escolha de uma fonte histrica que
pudesse ser articulada a um contedo escolarizado, comecei a por em prtica a
teoria e a buscar um documento para ser aplicado na escola.
Durante as aulas, percebi que os jovens educandos, na sua maioria, no
conseguiam entender o que era um aldeamento indgena e muito menos a dinmica,
organizao e conflitos neles existentes. Com o intuito de trabalhar o que um
aldeamento, o tratamento destinado s pessoas que conviveram neste espao, a
forma que os sujeitos histricos se relacionam e os conflitos, escolhi uma carta
resposta de um ofcio escrito na cidade de Castro em 1858, almejando que o
documento seria bem interessante para investigar estas questes.
3
No decorrer do PDE os professores devem aplicar seu trabalho aos professores da rede estadual por
meio de um curso distncia.
30
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
De posse do documento, iniciei um trabalho com a turma e organizei alguns
resultados, que exponho no decorrer deste artigo.
Referencial terico
Entre os principais autores da Educao Histrica que escolhi para
fundamentar o artigo esto Peter Lee, Rosalyn Ashby, Maria Auxiliadora Schmidt,
Marlene Cainelli e o historiador e filsofo da Histria, Jrn Rsen. Estes autores
foram escolhidos por conversar diretamente com a Linha da Educao Histrica e
por enfocarem conceitos em torno da literacia, do uso das fontes histricas, da
narrativa e da formao da conscincia histrica.
LEE apresenta estudos que apontam possibilidades de leitura histrica do
mundo, a partir do conceito de Literacia histrica, propondo uma agenda de
pesquisas que une o trabalho passado com novas indagaes (Lee, p.148). Isto
sugere que podemos, a partir da realidade, interpretar o mundo com uma viso
peculiar.
A ideia de literacia histrica presente neste autor, abre expectativas de
acessar estruturas do passado e explic-lo por diferentes pontos de vista por meio
da pesquisa. Neste sentido, a pesquisa histrica faz o passado se tornar um
elemento ativo, ao qual o pesquisador pode elaborar novas perguntas auxiliando na
leitura do presente e do mundo trilhando somente caminhos da histria.
Este estudo pode ser realizado partindo de fragmentos e vestgios deixados
pela humanidade e que podem ser transformados em evidncias histricas. De
acordo com ASHBY (2006), o pesquisador pode se valer do conceito de evidncias
histricas, para poder operar com conceitos mais sofisticados, sendo o pesquisador
o prprio estudante. ASHBY defende que:
nesse contexto, a pesquisa trouxe tona a importncia do salto conceitual
que os alunos precisam fazer, e alguns foram capazes de fazer, a partir da
compreenso das fontes como testemunho para trabalhar o conceito de
evidncia, em que as fontes tem valor reconhecido com evidncia para tipos
especficos de afirmaes. (2006, p.155)
Neste sentido, a autora expe que so os questionamentos pertinentes e
concisos em relao s fontes que iro garantir o surgimento de evidncia histricas;
ou seja, devemos perguntar ao documento o que aconteceu, por que aconteceu, o
31
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
que muda e o que reside de significativo sobre determinado acontecimento (Ashby,
p.153). So os questionamentos que podem transformar fontes em evidncias, ou
em informaes cumulativas sobre o passado. Neste caso, as fontes servem para
instigar a interpretao e chegar a um conhecimento.
Em relao s fontes histricas, os questionamentos feitos ao documento
escrito devem seguir uma metodologia especfica. Segundo SCHMIDT E CAINELLI
(2009) necessrio identificar o tipo de fonte do documento, informar o que ele quer
dizer, quem o autor, qual a sua natureza, de onde provm. Na sequncia deve-se
contextualizar criticamente a fonte, confrontar com outras datas ou fatos e
ocorrncias. Aps este processo deve-se extrair do documento as respostas e as
explicaes. As perguntas devem ser feitas para que o documento possa revelar o
que est embutido nele. Para SCHMIDT E CAINELLI (2009):
o aluno deve inscrever o documento numa problemtica construda a priori e,
das respostas encontradas, procurar levantar novas questes. Essa
estratgia importante para reforar determinadas atitudes intelectuais. O
professor deve elaborar regras com o objetivo de manter o aluno no campo
da problemtica levantada e deve ser feito um registro pertinente s questes
levantadas. (2009, p.127)
O professor e o aluno no podem perder o foco da problemtica, a priori, que
envolve o documento. Os registros que podem ser feitos pelo estudante sobre
orientao do professor culminam na elaborao de narrativas histricas, nas quais
o passado relatado e expresso. De acordo com a narrativa, RSEN (2010), aponta
que:
a forma lingustica dentro da qual a conscincia histrica realiza sua funo
de orientao a da narrao. A partir desta viso, as operaes pelas
quais a mente humana realiza a sntese histrica das dimenses de tempo
simultaneamente com as do valor e da experincia se encontram na
narrao: o relato de uma histria. (2010, p.59 )
Desta forma, os jovens estudantes encontram na narrativa histrica o
significado de uma determinada histria e tambm a sua sntese, qualificando as
dimenses de tempo, valor, alm de apresentar o conhecimento que conseguiu
assimilar.
De acordo com os autores, possvel afirmar que os estudos em torno dos
documentos priorizam o desenvolvimento de uma conscincia histrica, pois na
32
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
narrativa o estudante consegue exteriorizar as suas relaes, estabelecer as suas
conexes e multiperspectivar aes futuras.
Metodologia
Com o documento em mos sendo levado aos jovens estudantes,
primeiramente foi realizada uma chuva de ideias, ou seja, os estudantes foram
induzidos a apresentar os conhecimentos que possuam em torno do assunto
aldeamentos. As ideias prvias foram anotadas e refletidas. Na sequncia foi
apresentado o documento escrito e feitos questionamentos aos jovens. A fonte era
uma carta de 1858, escrita na cidade de Castro-PR, redigida possivelmente pelo
diretor do aldeamento ao presidente da provncia do Paran. Partindo de uma
primeira leitura, os estudantes reuniram-se em grupos para fazer a transcrio do
documento, a fim de facilitar sua compreenso. Foi explicado que esta carta
encontra-se no arquivo Pblico do Paran e o motivo deste documento ter sido
selecionado.
Aps leitura do documento j transcrito e analisado, foi feito um crculo na
sala no qual os jovens relataram o que ocorreu no aldeamento do Pirap, em Castro,
relacionaram os personagens envolvidos com os acontecimentos, a funo de cada
um deles e as queixas proferidas pelo diretor relatadas ao presidente da provncia.
Depois da contextualizao inicial, surgiram dvidas de como era a
organizao de um aldeamento e como funcionava sua hierarquia. O segundo
momento procedeu-se de uma aula no laboratrio de informtica com o intuito de
acessar os relatrios de governo do arquivo Pblico do Paran e confrontar com o
documento j estudado. O relatrio selecionado foi o de 1854, que continha
informaes sobre a colonizao indgena. A partir de questionamentos feitos, os
jovens estudantes anotaram como o aldeamento era organizado, quais eram suas
necessidades e como funcionava sua hierarquia. Alm de conseguir as devidas
respostas para as dvidas que foram estabelecidas a priori, os jovens puderam
descrever a forma como o governo tratava os indgenas que habitavam em
aldeamentos e os nativos que viviam fora deles.
Depois da leitura do relatrio de governo de 1854, foi efetuada pesquisa
sobre Jean Baptiste Debret e analisadas duas de suas obras: A Cidade de Castro e
33
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
ndios Guaianases. O objetivo estava em interpretar as iconografias pictricas
confrontando com os documentos escritos, na inteno de verificar se havia
semelhanas, diferenas, oposio e se era possvel relacionar estas fontes com os
documentos escritos j analisados. Com estas obras os estudantes passaram a
compreender que a cidade uma das mais antigas do Estado e a forma como os
indgenas relacionavam-se com os poderes locais. Tambm concluram que existia
uma semelhana na forma de representao da hierarquia proposta naquela poca
e naquela sociedade entre o documento escrito e o imagtico.
Na sequncia deste trabalho foram apresentados trechos do filme A Misso.
Observaram-se as tcnicas de aproximao e contato com os nativos e a formao
de um aldeamento por parte de missionrios cristos no continente americano. Os
alunos levantaram questes interessantes que no faziam parte apenas do contexto
histrico, mas da representao flmica, como: Porque no filme os ndios aparecem
sorrindo quando o europeu ameaado de morte chora diante da tribo? Por que as
crianas puxam a barba do europeu? Estas dvidas remetem a questionamentos
que vo alm da mera reproduo que est contida nos livros ou materiais didticos,
levando o estudante a criar um pensamento mais crtico e aguado frente quilo que
est sendo mostrado, buscando com isto encontrar respostas para suas questes, o
que permite multiperspectivar e criar expectativas de orientao.
O ltimo passo consistiu na produo de narrativas histricas por parte dos
estudantes, os quais puderam apresentar argumentos para verificar se houve
conflitos no aldeamento do Pirap e se estes so uma forma de resistncia
escravido. As narrativas apresentaram detalhes importantes dos documentos
trabalhados e do que foi compreendido pelos jovens educandos sobre aldeamentos,
conflitos e escravido.
Resultados
Das ideias prvias dos jovens estudantes surgiram palavras como: tribos,
casas, aldeias, lugar, cidades, organizaes, quilombos, regies povoadas por
indgenas.
Da leitura e interpretao da carta ofcio de 1858 os jovens compreenderam
que necessrio fazer perguntas ao documento. Identificaram diferenas entre
34
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
escravos negros com os indgenas em situao de semi-servido no aldeamento do
Pirap. Elencaram tambm a disputa de poder ocorrida entre os diretores dos
aldeamentos do Pirap e do Jata, no momento ao qual deveriam ser aplicados os
castigos fsicos ao negro que havia atacado o feitor do aldeamento do Pirap.
Quanto interpretao do relatrio de governo de 1854, os jovens
encontraram dificuldades na redao ortogrfica da poca. Porm, compreenderam
como funcionava a organizao de um aldeamento e a viso governamental sobre
os indgenas: os que moravam no aldeamento eram chamados de mansos e os
que viviam fora do aldeamento eram considerados como selvagens.
Acerca das representaes das obras de Debret:
a) sobre a cidade de Castro, os jovens estudantes indicaram a simplicidade
da arquitetura e o estilo interiorano como contraditrio situao de conflitos tanto
polticos, quanto sociais entre negros ou ndios.
b) sobre os ndios Guaianases, os estudantes perceberam que as vestes dos
nativos eram semelhantes ao do homem civilizado.
A respeito dos trechos do filme A Misso, os jovens entenderam como se
iniciava um aldeamento, por meio da linguagem musical e oral, por parte dos
missionrios. Tambm pontuaram que a presena de armamentos intimidava os
indgenas causando repulsa nos nativos. Portanto, esta ameaa deveria ser
eliminada, no sendo aceitos armamentos que no fossem produzidas na tribo.
Tambm fizeram questionamentos que demonstraram uma orientao temporal.
Em relao s narrativas histricas dos jovens estudantes, seguem trechos
de duas:
Os aldeamentos eram lugares at interessantes, pena que o homem
civilizado sempre detona tudo. Se no aldeamento de Pirap o negro tivesse sido
castigado, os diretores no tinham brigado tanto. Ser que era preciso maltratar
tanto o cara s porque era negro naquela poca? (Sebastio)
Eu achei mega legal trabalhar o documento. Os carinha daquele tempo eram
uns coitados, sofriam por serem indgenas, sofriam por ser negros. S viviam para
trabalhar e ainda eram castigados. Hoje tem muita gente na mesma situao.
(Marina lvina)
De modo geral, as narrativas expressam relaes de temporalidade, o que
35
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
pode ser percebido quando relacionam os acontecimentos do passado a aspectos
da etnia negra e indgena na atualidade. A utilizao das fontes histricas, portanto,
promoveu uma mobilizao da orientao temporal, aspecto fundamental para a
aprendizagem histrica. Os estudantes reconheceram a importncia do trabalho com
fontes histricas e descreveram isto em suas narrativas.
Consideraes finais
De modo geral houve uma boa receptividade com o trabalho utilizando fontes
histricas do Arquivo Pblico do Paran. Muitos estudantes disseram compreender
melhor os conceitos e ideias pela forma como os documentos foram apresentados e
abordados.
As narrativas mostraram a intepretao das fontes e a relao presente-
passado. Os jovens perceberam e demonstraram em suas narrativas a preocupao
com a dizimao dos povos indgenas no passado e na atualidade, tambm com a
luta por direitos e pela posse da terra. Muitos se demonstraram sensibilizados com
as causas indgenas que so apresentadas na mdia, debatendo assuntos de
reportagens e de telejornais.
No entanto, no ficou claro se os conflitos ocorridos no aldeamento do Pirap
consistiram em resistncias escravido. Os jovens puderam perceber a diferena
entre o trabalho escravo dos negros com o trabalho semi-servil dos indgenas.
Contudo, como se trata de um caso isolado presente em apenas um documento
analisado, no possvel afirmar com convico que houve resistncia de escravos
na regio da cidade de Castro a partir da anlise deste documento.
O trabalho proporcionou pesquisa em documentos e sua reflexo. As
perguntas foram feitas, muitas respondidas e outras no. O importante que os
jovens estudantes perceberam a necessidade de estudar a histria do Paran.
Gostaram de relacionar vrias fontes e instig-las com perguntas. Compreenderam
tambm que possvel ter conscincia histrica do pas e do mundo partindo de
recortes histricos presente nos documentos do Arquivo Pblico do Estado. A
presena das fontes histricas nas aulas de histria trouxe motivao e tambm
investigao, sendo uma experincia nova e gratificante o trabalho com documentos
do arquivo pblico paranaense.
36
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
REFERNCIAS
ASHBY, Rosalin. Desenvolvendo um conceito de evidncia histrica: as ideias
dos estudantes sobre testar afirmaes factuais singulares. Educar, Curitiba,
Especial.Curitiba.Ed.UFPR,2006,p.155.
CADERNO DE HISTRIA. O uso escolar do documento histrico: ensino e
metodologia. Curitiba: UFPR/PROGRAD,1997.p.66.
FERNANDES, Lindamir Zeglin. A reconstruo de aulas de Histria na
perspectiva da Educao Histrica: da aula oficina unidade temtica
investigativa. PDE,2007.Disponvel
em:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
do=848#historia.
LEE, Peter. Em direo a um conceito de literacia histrica. Educar, Curitiba,
Especial. Curitiba. Ed. UFPR, 2006,p.148.
SCHMIDT,Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel e MARTINS, Estvo de Rezende
de.(org.) Jrn Rsen e o Ensino da Histria. Curitiba:Ed.UFPR, 2010,p.59.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar Histria. SoPaulo,
Ed.Scipione,2009.p.127.
37
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
AS QUESTES AGRRIAS NO BRASIL ENTRE NAES INDGENAS,
LATIFUNDIRIOS E GOVERNO SOB A VISO DA EDUCAO HISTRICA
Cristina Elena Taborda Ribas
4
RESUMO:
Este artigo tem por objetivo apresentar algumas reflexes baseadas na teoria da
Educao Histrica sobre os conhecimentos apresentados por um grupo de 19
estudantes, na faixa etria entre 15 a 76 anos de idade, cursando o ensino
fundamental do programa EJA em uma regio da periferia de Curitiba. A questo
agrria no Brasil e os conflitos envolvendo naes indgenas, proprietrios de terras
e o governo foram as temticas utilizadas para esta pesquisa de cunho qualitativo.
Esta se apoia na legislao vigente e busca, por meio de diversas fontes, contribuir
com a formao da conscincia histria dos jovens estudantes, bem como sua
orientao temporal no que se refere s questes do perodo da colonizao do
Estado do Paran e as disputas atuais.
Palavras-chave: educao histrica, questo agrria, naes indgenas, legislao,
conscincia histrica.
Introduo
O presente artigo resultado de um ano de estudos a partir do curso
desenvolvido pela professora Doutora Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt, da
Universidade Federal do Paran, realizado em parceria com a Secretaria de Estado
da Educao do Paran, o Ncleo Regional de Educao de Curitiba e o
Departamento do Arquivo Pblico do Paran, intitulado O trabalho com fontes
histricas e a Literacia Histrica: questes tericas e prticas.
Em meio s visitas tcnicas realizadas ao Departamento do Arquivo Pblico
do Paran, a variedade documental apresentada pela historiadora responsvel,
leituras terico-metodolgicas disponibilizadas pela professora Maria Auxiliadora
Schmidt e a Legislao da Educao Brasileira, escolhi como tema trabalhar as
questes de terras e os desentendimentos entre indgenas, latifundirios e governo
4
Professora de Histria da Secretaria Estadual da Educao do Paran, especialista em Histria,
Cultura e Sociedade pela FAFIJA, atualmente na Secretaria de Estado da Educao do Paran.
tab.cris@yahoo.com.br
38
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
no pas, pois o mesmo estava em pauta na mdia no perodo do desenvolvimento do
trabalho, causando controvrsias em nossa sociedade.
Este artigo, portanto, tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido
com jovens estudantes de EJA Educao de Jovens e Adultos fase II, realizado
em uma escola de periferia da cidade de Curitiba, a qual foi cedida gentilmente pelo
professor da turma, Geraldo Becker, para aplicao de minha pesquisa, pois atuo
como tcnica pedaggica da disciplina de Histria na Secretaria de Estado da
Educao do Paran. Cabe colocar aqui a heterogeneidade da turma, na qual havia
estudantes na faixa etria entre 15 e 76 anos.
Referencial terico metodolgico
A proposta deste trabalho foi baseada na perspectiva da Educao Histrica
que, segundo Schmidt e Barca (2009),
parte do entendimento de que a Histria uma cincia particular, que no
se limita a considerar existncia de uma s explicao ou narrativas sobre o
passado, mas, pelo contrrio, possui uma natureza multiperspectivada. (p.
12)
Procurou-se, dessa maneira subsdios terico-metodolgicos que
embasassem esta pesquisa no sentido de orientar os jovens estudantes a pensar na
historicidade dos valores e a possibilidade dos sujeitos problematizarem a si
prprios e procurarem respostas nas relaes entre passado/presente/futuro.
(RSEN, p.29)
Com a inteno de privilegiar a Lei de Diretrizes e Bases da Educao
Nacional, em que inclui no currculo oficial da rede de ensino o estudo sobre a
Histria e Cultura Afro-Brasileira e Indgena, por meio da Lei 11.645/08 e pautando
em Schmidt e Garcia (2005), que abordam que um dos princpios constitutivos da
Didtica da Histria torna necessrio que professores e alunos busquem [...] a
apreenso de vrias histrias lidas a partir de distintos sujeitos histricos, das
histrias silenciadas, histrias que no tiveram acesso Histria. Por isso priorizei o
recorte da unidade temtica investigativa partindo das questes agrrias que
envolvem grupos indgenas e dessa maneira contribuir com a construo de um
39
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
objetivo de formao de conscincias individuais e coletivas numa perspectiva
crtica.
Privilegiar os conhecimentos que os jovens estudantes trazem para a sala de
aula uma das propostas da Educao Histrica. Esta linha de investigao
entende que
O conhecimento escolar do passado e atividades estimulantes em sala de
aula so inteis se estiverem voltadas somente execuo de ideias de
nvel muito elementar, como que tipo de conhecimento a histria, e esto
simplesmente condenadas a falhar se no tomarem como referncia os pr-
conceitos que os alunos trazem para suas aulas de histria.(LEE, 2006, p.
136)
Tendo em vista essa concepo de aprendizagem em Histria, a escolha da
temtica a ser trabalhada e a seleo da fonte no Arquivo Pblico do Paran,
elaborei uma ficha como instrumento para investigar os conhecimentos tcitos dos
estudantes. Solicitei que elaborassem uma narrativa sobre a temtica com a
seguinte pergunta: O que voc sabe sobre os conflitos agrrios envolvendo naes
indgenas, proprietrios de terras e governo no Paran e em outros Estados do
pas? Aps a entrega das fichas, o passo seguinte foi a anlise e categorizao
dessas narrativas.
Categorizao
No processo de categorizao considerei os conhecimentos tcitos
apresentados nas narrativas contidos nas fichas sobre os conflitos agrrios
envolvendo indgenas, latifundirios e governo. Dos 19 estudantes, nove
responderam que os indgenas dependem do governo, no trabalham e so
preguiosos, como relatado por F. Z. Na minha opinio os ndios ficam s
esperando tudo de mo beijada do governo, e por causa disso no sabem mais
pescar, caar e trabalhar, ficam deitados na rede.; 06 estudantes disseram que os
indgenas so os donos da terra, como exemplificou A. S. eles j tavam l antes da
gente chegar, por isso a terra deles.; outros 03 alegaram que o governo e os
donos de terras querem tomar as terras indgenas, como demonstra A. C. eu vi na
TV que o governo no regula as terras dos ndios e t a favor dos fazendeiros. e 01
estudante disse no saber sobre o assunto.
40
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Depois do processo de categorizao, apresentada conforme anexo 1, levei
as respostas para a sala de aula para que houvesse uma anlise, oportunizando
argumentaes e consideraes sobre estas.
Interveno
Depois de realizada a leitura das narrativas e da categorizao dos
conhecimentos prvios, foram identificadas nessas narrativas algumas questes tais
como o direito terra garantido pela legislao brasileira, o reconhecimento da
cultura indgena, os diversos interesses de explorao e a manipulao das notcias
pela mdia.
De acordo com a Educao Histria, por meio das fontes que o passado
torna-se histrico, pois os estudantes conseguem perceber evidncias de
acontecimentos provocados por outras pessoas em outros momentos,
desenvolvendo a competncia de orientao temporal. Segundo Ashby
Se a investigao histrica deve estar no centro do currculo de Hi stria e
ser reconhecida como um empreendimento srio nas aulas de Histria,
ento o principal para o currculo e para o empreendimento deve ser o
desenvolvimento dos conceitos de evidncia histrica pelos alunos. (2006,
p. 154)
Na primeira interveno apresentei aos estudantes dois relatrios de
Presidentes da Provncia do Paran, sendo um do ano de 1854 e outro de 1858.
Ambos abordavam conflitos entre os indgenas e os fazendeiros na regio de
Guarapuava, Palmas e So Jos dos Pinhais. Tais documentos demonstravam
alguns interesses por parte do governo e por uma pequena parte da cultura
indgena, sendo que relacionavam um dos grupos indgenas como pacfico devido
ao processo religioso e o outro grupo que estava invadindo as terras, ao contrrio,
ainda no havia sido catequizado, por isso a rebeldia estava presente.
Aps esta interveno, foi apresentado um dossi do jornal Folha de So
Paulo, em que abordava os focos de tenso territoriais na atualidade, com grficos e
mapas das regies que representam as maiores representaes de moradores de
grupos indgenas do pas, a evoluo da populao indgena assim como o aumento
de sujeitos se reconhecendo como cidado indgena, os focos com os respectivos
motivos dos conflitos devido suspenso de demarcaes de terras em alguns
41
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
locais, bem como os interesses que esto em jogo seja do setor pblico como
privado para demora nesse reconhecimento.
Somado a esta fonte, levei ainda mais duas reportagens, sendo uma da
revista Carta Capital em que realiza um resgate das demarcaes de terras
indgenas ocorridas nos anos de 1970 e que ainda esto em posse de colonos, o
que levou alguns grupos a ocuparem as terras. A outra foi do jornal Gazeta do Povo
em que demonstra os conflitos de terras no Oeste do Paran, nas cidades de Guara
e Terra Roxa, no perodo atual, j que os estudantes acreditavam que no Estado
no havia este tipo de conflito.
A seleo e utilizao dessa variedade de fontes aconteceu justamente
porque, segundo Ashby(2006), o reconhecimento da afirmao vlida requeria o
uso, pelos alunos, das fontes como um conjunto, alm de entende-las como
evidncias.
Consideraes
O presente trabalho demonstra algumas alternativas de pesquisa ao que se
refere s propostas educacionais obrigatrias do currculo nacional, no que tange a
legislao vigente n 11.645/08 Histria e Cultura Afro-Brasileira e Indgena, sendo
esta definida como a Unidade Temtica Investigativa, proposta da professora
Lindamir Zeglin Fernandes.
A variedade documental e o confronto realizado pelos estudantes ao
analisarem as fontes foi essencial para os questionamentos e entendimento da
proposta colocada em pauta.
A realizao do trabalho feita com estudantes de Educao de Jovens e
Adultos foi bastante satisfatria, embora houvesse grande disparidade de
conhecimento da temtica devido diferena de idade entre eles. Porm o que no
incio parecia ser difcil foi aos poucos se tornando mais interessante aos
estudantes, por meio das trocas de experincias e as pesquisas realizadas
posteriormente nos documentos levados para sala de aula.
Na narrativa final dos estudantes foi possvel perceber o quanto eles se
preocupavam com a informao obtida apenas de um local e, principalmente,
somente de uma mdia informativa, sem apresentar qualquer fator questionador. Foi
42
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
possvel notar tambm que o conhecimento histrico dos estudantes estava mais
elaborado, com alguns aspectos de conscincia temporal, em que conseguiam
estabelecer relao entre passado, presente e futuro.
REFERNCIAS
ASHBY, Rosalin. Desenvolvendo um conceito de evidncia histrica: as ideias
dos estudantes sobre testar afirmaes factuais singulares. Educar, Curitiba,
Especial, p. 151-170, 2006. Editora UFPR.
LEE, Peter. Em direo a um conceito de literacia histrica. Educar, Curitiba,
Especial, p. 131-150, 2006. Editora UFPR.
PARAN. Secretaria de Estado da Educao. Superintendncia da Educao.
Departamento de Ensino Fundamental. Caderno Pedaggico de Histria do
Paran: Representaes, Memrias, Identidades. Curitiba: SEED, 2005.
________. Cadernos Temticos: Educao Escolar Indgena. Curitiba: SEED,
2008.
________. Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educao Bsica para a
Rede Estadual do Ensino de Histria. Curitiba, 2008.
RSEN, Jrn. El desarrollo de La competncia narrativa em el aprendizaje histrico:
uma hiptesis ontogentica relativa a La conciencia moral. Trad. Silvia Finocchio.
Propuesta Educativa. Argentina, n 7. Out. 1992.
______. Experience, interpretation, orientation: three dimensions of historical
learning. In: DUVENAGE, P. (Ed). Sdudies in metahistory. Pretoria: Human Sciences
Research Council, 1993.
______. Razo Histrica. Braslia: Ed. UnB, 2001.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel (orgs.). Aprender Histria:
perspectivas da educao histrica. Iju: Uniju, 2009.
Online
CARTACAPITAL. Demora em demarcaes impulsiona ocupaes. Disponvel
em: <http://www.cartacapital.com.br/politica/demora-em-demarcacoes-impulsionaocu
pacoes> Acesso em: 20 Outubro 2013
GAZETA DO POVO. Conflito indgena no Oeste do PR segue sem soluo.
Disponvel em:<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=
1401147> Acesso em: 20 Outubro 2013.
FOLHA DE SO PAULO. Governo decide descentralizar processo de
demarcao de terras indgenas. Disponvel em: <http://www1.folha.uol.com.br/po
43
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
der/2013/10/1354329-governo-decide-descentralizar-processo-de-demarcacao-de-te
rras-indigenas.shtml>. Acesso em: 25 Outubro de 2013.
FERNANDES, Lindamir Zeglin. A reconstruo de aulas de Histria na
perspectiva da Educao Histrica: da aula-oficina unidade temtica
investigativa. PDE, 2007. Disponvel em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=848#historia> Acesso em: 05 jun. 2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. Paranaense de
Candido Martins Lopes, 1854. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/
arquivos/File/pdf/rel_1854_b_v.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. Paranaense de
Candido Martins Lopes, 1858. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/
arquivos/File/pdf/rel_1858_p.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos, Garcia, Tnia Maria F. Braga. A
formao da conscincia histrica de alunos e professores e o cotidiano em
aulas de Histria. 2005. Disponvel em: <http: //www. Cedes.unicamp.br> Acesso
em 23/04/2013.
Anexos
Categorizao 1
O que voc sabe sobre conflitos agrrios envolvendo naes indgenas,
proprietrios de terras e governo no Paran e em outros Estados do pas?
ndios no trabalham e so preguiosos 9
Indgenas donos das terras 6
Governo e Latifundirios querem tomar terras indgenas 3
No sabe sobre o assunto 1
Fonte: Narrativa dos estudantes
0
5
10
44
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A PROPAGANDA NAZISTA NO PARAN (1934-1942) E O ENSINO DE HISTRIA
Dayane Rbila Lobo Hessmann
5
RESUMO:
O presente texto tem como objetivo apresentar os resultados de uma prtica de
ensino realizada com alunos do EJA Fundamental de um Colgio Estadual de
Curitiba, como parte constitutiva do Curso de Literacia Histrica, parceria entre a
Secretria de Estado da Educao do Paran (SEED), o Ncleo Regional da
Educao (NRE) e o Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica (LAPEDUH)
da UFPR. A unidade investigativa em foco foi a propaganda nazista no Paran,
analisada a partir de documentos encontrados no Arquivo Pblico do Paran,
seguindo os pressupostos tericos da Educao Histrica.
Palavras-chave: Educao Histrica; Ensino de Histria; Nazismo; Propaganda;
Histria local.
Com a proposta de proporcionar o trabalho com a fonte histrica para
professores de Histria da rede pblica, a Secretria de Educao do Paran, em
conjunto com o Ncleo Regional de Educao de Curitiba realizaram, no ano de
2013, uma parceria com o Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica
(LAPEDUH) da UFPR, juntamente com o Arquivo Pblico do Paran. O curso
intitulado de "O TRABALHO COM AS FONTES HISTRICAS E A LITERACIA
HISTRICA: QUESTES TERICAS E PRTICAS teve como objetivo propiciar
aprofundamento terico e prtico das investigaes no mbito da Educao
Histrica, com a finalidade do desenvolvimento de discusses e reflexes sobre a
temtica de investigao histrica. Foi, portanto, dentro deste cenrio que o
presente trabalho se desenvolveu.
Alm do mais, o curso j citado trazia em seu bojo a preocupao em produzir
materiais com a temtica da histria local, evidenciando com isso, a relevncia do
arquivo pblico estadual na construo da histria do Paran. Dessa forma, a
proposta consistia em levar uma fonte histrica que se relacionasse com a Histria
do Paran para que fosse investigada em sala de aula, de acordo com as
orientaes da lei 13381/01 que torna obrigatrio, no Ensino Fundamental e Mdio
da Rede Pblica Estadual de Ensino, contedos da disciplina Histria do Paran.
5
Mestre em Histria pela UFPR (2011), especialista em Metodologia do Ensino de Histria (IBPEX-
2010), professora da Rede Pblica do Estado do Paran; d_rubilla@hotmail.com
45
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Dentro da infinita gama de possibilidades para o estudo do passado que um
acervo proporciona, a fonte histrica escolhida foi uma propaganda sobre o nazismo
no Paran. Trata-se de uma propaganda nazista inserida num fortificante chamado
FOSFOTONI que circulou no Paran entre os anos de 1934-1942.
Assim, o trabalho foi realizado com uma turma de 08 alunos do EJA
(Educao de Jovens e Adultos) Fundamental do noturno, de um Colgio Estadual
da regio sul de Curitiba, totalizando 16 aulas.
A literacia histrica em sala de aula
A literacia histrica inserida no campo de estudo da Educao Histrica vem
sendo abordada por diversos pesquisadores que se debruam sobre os princpios,
as fontes e as estratgias de aprendizagem em Histria, dentre eles, Peter Lee,
Isabel Barca e Maria Auxiliadora Schmidt.
Por literacia histrica se entende, conforme Schmidt, a construo de sujeitos
historicamente letrados (SCHMIDT, 2009, p. 17), que sejam capazes de orientar-se
no tempo; que consigam ler o mundo que os rodeia e tambm perspectivar de
alguma forma o futuro, luz de experincias humanas do passado (BARCA, 2006,
p. 95). A ideia de conscincia histrica (ou pensamento histrico) defendida por Jorn
Rsen insere-se nesta abordagem.
Um dos pressupostos importantes que norteiam a literacia histrica o papel
consciente do professor (historiador) como autor/pesquisador, superando de uma
vez a diviso entre pesquisa e ensino. A proposta do curso j mencionado teve
tambm este intuito, de colocar os professores como sujeitos ativos da produo do
conhecimento, devolvendo-lhes a autoestima, reacendendo a chama da pesquisa,
aguando-lhes a curiosidade, redescobrindo o prazer de ensinar e aprender.
As fases do trabalho
Na esteira dos ensinamentos da Educao Histrica, o primeiro passo
desenvolvido foi a investigao dos conhecimentos prvios dos alunos, pois como
afirma Susana Alba Gonzalez os conhecimentos prvios so marcos de referencia
elaborados durante el desarrollo cognitivo, em outras palavras, eles representam os
46
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
repertrios de conhecimentos que os alunos possuem, afinal ningum , como
pensava John Locke, tbula rasa. De tal modo, fundamental partir de lo que ya
saben y, guiarlos, a partir de ello em la construccin de nuevos saberes
(GONZALEZ, 2000, p.55).
As ideias dos alunos referentes a algum assunto so concebidas
culturalmente, imbudas, portanto, do senso comum, da mdia e tambm de
experincias vivenciadas. Sendo assim, as questes abordadas nos conhecimentos
prvios foram as seguintes:
1)Preencha os espaos indicados com palavras que voc acha que se
relacionam com o conceito nazismo;
2) No seu crculo de convvio, atravs de pais, avs ou pessoas conhecidas,
bem como nos meios de comunicao, o que voc j ouviu falar sobre o nazismo?;
3) Defina o que para voc propaganda;
4) Voc acha que o nazismo teve influncia aqui no Paran? Se sim, de que
maneira?;
5) Voc sabe o que so fontes histricas? Se sim, cite exemplos.
Na chuva de ideias, na questo 01, apareceram as palavras medo, morte,
Hitler, dor, Alemanha, negros, piolho, racismo, guerra, tortura, judeus. Na questo 2,
as ideias apresentadas na chuva de ideias se repetiram, eles chamaram ateno
para os campos de concentrao, os milhares de mortos, a violncia nazista. Ainda,
uma aluna citou o filme O menino do pijama listrado, como referencial ao que sabia
sobre o assunto. Evidenciando com isso o que Rsen afirma sobre a aprendizagem
histrica, que no circula, no elaborada, no transmitida to somente na
escola, pois diferentes tipos de saberes so continuamente engendrados (RSEN,
2007, p.91).
Ao definir propaganda, grande parte dos alunos atrelou-a com o consumismo,
a ideia de vender um produto. J nas respostas sobre a presena nazista no Paran
todos foram unanimes em dizer que o nazismo no chegou at o nosso estado.
Finalmente, a respeito das fontes histricas, apenas 1 deu a resposta
completa, dizendo que so artefatos do passado que ajudam no trabalho do
historiador, os demais no sabiam o seu significado.
47
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A anlise dos conhecimentos prvios dos educandos indicou que a grande
maioria possua uma ideia do que foi o nazismo, ainda que superficial. Revelou
tambm o papel do cinema como um elemento formador de opinio.
O prximo passo foi o trabalho com a propaganda da Folha de So Paulo de
1987 sobre o governo nazista
6
, que serviu como instrumento para iniciar a discusso
sobre o nazismo, alm disso, esta propaganda propiciou o debate sobre
manipulao, mentira, verdade e propaganda. Num segundo momento, por meio de
fotografias da poca
7
, a professora realizou questes, estimulando o levantamento
de hipteses, orientando as respostas e construindo coletivamente o conhecimento
sobre aquele perodo histrico.
Depois, por meio de propagandas nazistas a professora realizou o mesmo
trabalho realizado com as fotos, evidenciando assim, os pressupostos da ideologia
nazista, os pilares da sua propaganda. Para fixar os valores prezados pelos
nazistas, realizamos a leitura de uma simulao de entrevista com Hitler escrito pelo
jornalista Leandro Konder
8
, baseado nos fragmentos do livro Minha Luta. Ainda,
para embasar teoricamente o conceito de propaganda poltica utilizou-se o texto do
site United States Holocaust Memorial Museum
9
.
Finalmente, partimos para o a fonte histrica selecionada que est sob a
guarda do Arquivo Pblico do Paran, o Fosfotoni
10
. Como j mencionado
anteriormente, o Fosfotoni era um fortificante distribudo por todo o Paran no
perodo da 2 Guerra Mundial, tratava-se de duas plulas solveis que se
encontravam dentro de uma pequena embalagem e junto dela um minsculo carto
com os seguintes dizeres: Antes das refeies 1 colher de Fosfotoni, d sade,
fora, vigor - fortificante insupervel, e no verso havia a imagem de uma sustica
com as palavras: o symbolo da sade.
Alm dessa propaganda, h tambm o processo judicial referente ao caso,
posto que este medicamento foi denunciado por um representante comercial em
1942, logo depois que o Brasil declarou guerra ao Eixo. No entanto, o foco para os
limites deste trabalho, foi apenas a propaganda do Fosfotoni.
6
Conferir em: http://www.youtube.com/watch?v=pY4FCKlQISA
7
O site do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos disponibiliza centenas de fotografias
do nazismo, ver: http://collections.ushmm.org/search
8
Acesse o texto em: http://www.consciencia.net/2005/mes/08/hitler-mussolini.html
9
Para conferir o texto na ntegra, veja:
http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005202
10
Arquivo Pblico do Paran. Dossi Nazista: Propaganda Nazista. N 1609, TOP 195.
48
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Conforme Schmidt, os documentos histricos devem se tornar o ponto de
partida para o trabalho em sala de aula, no pode ser somente uma maneira de
tornar a aula mais interessante (SCHMIDT, 1997, p. 12). Tendo isso em vista, o
prximo passo foi a investigao por meio da fonte. Ressaltou-se o que uma fonte
histrica e qual sua importncia para a reconstruo do passado, e depois, foi
realizado uma atividade de observao, descrio, identificao e anlise do
documento selecionado, suscitando posteriormente a sistematizao das seguintes
questes:
1) Analise com ateno a fonte e responda: Cite os aspectos do produto
remetem ao nazismo.
a. Explique de que maneira os elementos da fonte apresentam as
ideias nazistas.
b. Voc acha que este produto pode ser considerado como uma
propaganda? Justifique.
c. Relacione este produto com as propagandas nazista vistas em sala.
d. Por que apenas em 1942 este produto foi denunciado para a polcia
paranaense?
Ao analisar as respostas dos educandos na atividade acima proposta
observaram-se dificuldades na interpretao da fonte. Foram repetitivos, no
conseguiram aprofundar, nem fazer relaes com o contexto histrico. No entanto,
possvel pensar que se trata, sobretudo, de uma dificuldade em interpretao de
texto, j que muitos deles esto sem estudar h bastante tempo e ainda no
realizam o mdulo de Lngua Portuguesa, apresentando graves problemas com a
escrita, a gramtica e a interpretao. Creio que isso seja relevante por que na
atividade proposta como produo final foi inserido o Fosfotoni, demonstrando que
eles compreenderam a ideia, no entanto, no conseguiram traduzi-la para o papel
em forma de resposta. No obstante, na oralidade, quando estvamos discutindo a
fonte, eles apresentaram domnio sobre o assunto trabalhado, ressaltando, a
dificuldade predominante na escrita.
O facebook do passado
Como produo final, foi feita as seguintes propostas de atividades:
49
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Depois de tudo que voc aprendeu referente ao nazismo, imagine que no
contexto nazista havia a rede social facebook. Assim, sua misso criar um
personagem que vivenciou este perodo e sua respectiva pgina no
facebook. Portanto, suas conversas, compartilhamentos, fotos, curtidas e
seus amigos tero de ter relao com este momento histrico. Abuse da
criatividade!
Ao propor a ideia do facebook inspirei-me nos estudiosos da Educao
Histrica que apontam a necessidade de entender o aluno como uma construo
histrica, social e cultural, dessa forma, as redes sociais fazem parte da realidade de
grande parte dos educandos atualmente, e traz-las como uma ferramenta de
aprendizagem contribui para dar sentido ao processo de formao da conscincia
histrica.
Em contrapartida, em respeito s caractersticas dos educandos, uma vez em
que alguns tm mais idade e apresentam dificuldades com a tecnologia, foi sugerido
uma segunda proposta:
Levando em considerao o que estudamos sobre o nazismo, elabore um
dirio contando sobre este contexto histrico do ponto de vista de um(a)
paranaense. Alm de colocar fatos histricos, imagine e descreva os
sentimentos, ideais e valores de algum daquela poca.
De imediato, os alunos se mostraram entusiasmados com as atividades
propostas, especialmente com a ideia do facebook, acharam-na inusitada. Por outro
lado, aqueles que no so nativos digitais, preferiram fazer a proposta do dirio, na
qual sugeri como referncia a leitura do Dirio de Anne Frank. Todavia, enfocarei
aqui especificamente a atividade cuja proposta foi a confeco do facebook.
A prtica acabou alterando positivamente o planejamento. Pois, na proposta
original eles deveriam criar uma pgina fictcia no facebook e deveriam fazer isso em
casa, teriam um prazo para apresentar. Todavia, como o perfil deles de pessoas
adultas, trabalhadores, que possuem pouco tempo livre em casa, ou ainda que no
tem acesso diariamente a internet, foi solicitado que pudessem fazer a atividade em
sala e em papel.
Mais uma vez, a proposta inicial foi alterada, j que a atividade era individual,
mas quando eles comearam a criar seus personagens, suas vidas passadas
acharam que seria mais interessante fazer em grupo, com personagens distintos -
um seria o nazista, o outro na URSS, o outro ingls, a at um brasileiro. E assim foi
feito.
50
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A realizao do trabalho em sala, em grupo e no papel acabou se tornando
mais interessante que o imaginado e levou mais tempo tambm, ao todo foram 8
aulas desde o rascunho at a verso final do trabalho. O processo, mais que o
resultado final foi muito satisfatrio; v-los trocando ideias, colocando-se na pele dos
personagens, pensando nas falas, se seriam anacrnicas ou no, selecionando as
imagens mais adequadas, criando propagandas. Era perceptvel que se tratava de
um trabalho no qual eles acreditavam, que tinha significado, sentido. Ademais, o fato
de eles saberem que este trabalho seria apresentado pela professora num evento
acadmico
11
, os fez caprichar e se dedicar ainda mais.
Finalmente, ao final do trabalho realizou-se uma meta cognio com as
seguintes perguntas:
1) As ideias que voc tinha sobre o nazismo antes das aulas e as ideias que
possui agora so diferentes? Explique.
2) A ideia que voc tinha sobre propaganda mudou depois deste contedo?
De que maneira?
3) Que este contedo lhe ensina para o seu presente?
4) O que este contedo lhe ensina para seu futuro?
5) Voc gostou da atividade avaliativa? Justifique.
6) Se voc fosse atribuir uma nota para seu nvel de aprendizado neste
contedo qual seria? Por que.
Analisando as respostas, os alunos afirmaram, em sua maioria, que o
conhecimento que eles tinham sobre o nazismo se expandiu, se aprofundou muito
depois das nossas aulas e especialmente despois da elaborao da atividade.
Em relao propaganda, disseram que desconfiavam da influncia da
propaganda, mas no a imaginavam-na como ferramenta poltica, capaz de
convencer e legitimar um governo.
J na questo sobre o que o contedo lhe ensina para o presente
responderam que ensina ter mais cuidado com a manipulao das propagandas e
no fazer discriminao. Para o futuro, o contedo ensinou na opinio de um aluno:
no cometer esses erros e ensinar para os meus filhos que racismo e discriminao
no pode haver dentro de ns, e que a propaganda no nos manipule.
11
VI Seminrio Brasileiro de Educao Histrica- Passados possveis: a educao histrica em
debate. Realizado na Universidade Federal do Paran entre os dias 04-07 de novembro de 2013.
Mais informaes, acesse:
http://www.lapeduh.ufpr.br/arquivo.php?galeria=vi_seminario_brasileiro_de_educacao_historica
51
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
No que concerne a atividade, os alunos avaliaram-na como interessante, pois
juntou temas antigos com coisas do uso virtual e do dia a dia; ou ainda: positivo,
porque no trabalho em grupo, se compartilha ideias, um ajuda ao outro. Teve ainda
uma crtica construtiva: poderamos ter digitado e imprimido as falas. Na
autoavaliao a maioria aferiu-se com a nota 10,0 entendendo que o aprendizado foi
bastante significativo.
Consideraes finais
Do exposto, este trabalho mostrou que as aulas de Histria planejada partir
da tica da Educao Histrica se tornam mais criativas, mais crticas e
principalmente mais significativas ao educador e ao educando, evidenciando ambos
como sujeitos ativos no processo da construo do conhecimento.
Alm do mais, a atividade proposta como narrativa final, o facebook do
passado, estimulou a empatia dos alunos, fazendo-os experimentar a sensao de
como era viver durante o perodo nazista. No obstante, a atividade proposta se
mostrou em consonncia com a o contexto histrico vivenciado pelo aluno, dando
sentido e motivao para sua realizao.
Dessa forma, importante que o professor repense sua prtica, baseado
muitas vezes numa perspectiva supervalorizada de atividades pergunta-resposta,
propondo atividades que valorizem a era digital.
A histria local foi outra faceta relevante neste trabalho, pois por meio dela os
alunos puderam observar o conceito de simultaneidade, entendendo que os fatos
se relacionam, se intercruzam, que um processo histrico interfere em outro. Por
outro lado, o estudo da histria local proporcionou o enfoque na multiplicidade e nas
particularidades da histria.
Por fim, a participao no curso e o desenvolvimento do trabalho aqui
apresentado permitiu o aprofundamento nos ensinamentos da Educao Histrica,
provocando tambm uma reflexo da prtica da docncia, mostrando que
necessrio reavaliar constantemente nossas prticas e teorias, e que as duas so
indissociveis.
52
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
REFERNCIAS
BARCA, I. Literacia e conscincia histrica. Educar, Editora UFPR. Curitiba: p. 93-
112, 2006.
FERNANDES, Lindamir Zeglin. A Reconstruo de aulas de Historia na perspectiva
da Educao Histrica: da aula oficina a unidade temtica investigativa. In: Anais do
VIII .Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de Histria: Metodologias e
Novos Horizontes. So Paulo: FEUSP - Faculdade de Educao da Universidade de
So Paulo, 2008.
GONZALEZ, A. S. Andamiajes para la Enseanza de la Historia. Buenos Aires:
Lugar Editorial, 2000.
LEE, P. Em direo a um conceito de literacia histrica In: Educar em Revista,
Ed.,UFPR, Curitiba: 2006.
RSEN, J. Histria Viva. Teoria da Histria III: formas e funes do conhecimento
histrico.Traduo de Estevo Rezende Martins. Braslia: Editora da UNB, 2007.
SCHMIDT, M. A. M. S; CAINELLI, M. R. Ensinar Histria. 2a. ed. So Paulo:
Scipione, 2010. v. 01. 197p.
____________. Literacia Histrica: um desafio para a educao histrica no Sculo
XXI. Histria e Ensino. Revista do Laboratrio de Ensino de Histria. CLCH, UEL
v.15, ago.2009a. p.09-21.
____________. O uso escolar do documento histrico: ensino e metodologia.
Curitiba: UFPR/PROGRAD, 1997.
53
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
ANEXOS
Envelope do fortificante FOSFOTONI. Sob a guarda do Arquivo Pblico do Paran. Dossi Nazista:
Propaganda Nazista. N 1609, TOP 195.
Carto com instrues modo de usar, frente. Sob a guarda do Arquivo Pblico do
Paran. Dossi Nazista: Propaganda Nazista. N 1609, TOP 195.
54
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Realizao da atividade facebook do passado na biblioteca da escola.
Verso do carto
55
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
O facebook da poca do nazismo.
56
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
DE CURITIBA A CURITYBA NA PERSPECTIVA DA EDUCAO HISTRICA
Geraldo Becker
12
RESUMO:
O presente artigo busca discutir o processo de ensino-aprendizagem por meio da
perspectiva da Educao Histrica, e a partir da epistemologia da cincia da
Histria, entender a relao passado prtico e significativo entre os jovens
estudantes. Seu encaminhamento de cunho qualitativo, e apresenta algumas
reflexes obtidas inicialmente da anlise e categorizao dos conhecimentos
prvios, contidos em narrativas de 27 estudantes na faixa etria entre 16 e 19 anos
cursando o 3 ano do Ensino Mdio em um colgio da capital paranaense. As
narrativas foram obtidas aps visita tcnica ao centro histrico da cidade de Curitiba.
Palavras-chave: Educao Histrica narrativas visita tcnica.
Introduo
Esta pesquisa realizou-se a partir do curso O trabalho com fontes histricas e
a Literacia Histrica: questes tericas e prticas, desenvolvido pela professora
doutora Maria Auxiliadora Schmidt da Universidade Federal do Paran em parceria
com a Secretaria de Estado da Educao do Paran e Ncleo Regional de
Educao de Curitiba, cuja proposta foi investigar por meio do referencial terico da
Educao Histrica as ideias apresentadas por jovens estudantes a partir do contato
com fontes pr-selecionadas, mantidas no Arquivo Pblico do Paran, sobre
determinados acontecimentos da Histria paranaense.
Levar estes jovens a se relacionarem com o passado, possibilitando a eles
darem sentido e significado ao presente um dos grandes desafios enfrentados por
professores de Histria, que muitas vezes acabam privilegiando as prticas
tradicionais de ensino justamente pela correria do dia-a-dia, pelo pouco tempo que
podem se dedicar a seus estudos e pesquisas, deixando muitas vezes de lado o
trabalho com documentos histricos, a produo de narrativas e a valorizao dos
conhecimentos que os jovens estudantes trazem para o ambiente escolar.
Este artigo aponta algumas reflexes baseadas nas orientaes da Educao
Histrica e tem como aporte terico-metodolgico a referncia da epistemologia da
cincia da Histria, buscando por meio de fontes histricas, problematizar e discutir
12
Professor de Histria das redes Estadual e privada do Estado do Paran.
beckergeraldo@hotmail.com
57
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
a pluralidade de interpretaes e explicaes sobre o passado e o presente. Nessa
perspectiva, segundo Schmidt e Barca (2009) os pressupostos cientficos tem como
referncia terica e metodolgica da pesquisa os princpios investigativos da
Pesquisa Qualitativa e suas inter-relaes com o campo educacional. Nesse
sentido abrem-se possibilidades para que professores passem a desenvolver suas
pesquisas contribuindo para o conhecimento dos saberes e prticas escolares.
Referencial terico metodolgico: pressupostos da investigao
Nas Diretrizes Curriculares de Histria do Estado do Paran para o Ensino
Mdio (2008) a proposta a de se trabalhar com temas histricos, objetivando que
os contedos bsicos e especficos levem a uma discusso em que se busca
solucionar um tema/problema estabelecido previamente. Neste sentido, o trabalho
pedaggico deve estar articulado atravs de mtodos de investigao e de
narrativas histricas fundamentadas em diversas fontes histricas (documentos
escritos, fotografia, literatura, registros orais, etc.), levando os jovens estudantes a
uma anlise crtica sobre o trabalho do historiador, sua importncia para a produo
do conhecimento histrico e as diferentes interpretaes atravs das diversas
pesquisas realizadas sobre um determinado acontecimento histrico.
Renovar as prticas pedaggicas e contextualizar os contedos disciplinares,
possibilitando aos jovens estudantes entender e interpretar as fontes (data, quem
fez, interesses, relaes, crtica fonte, como cada autor explica) para compreender
a totalidade e relacionar com a vida prtica, segundo Schmidt (2000) um desejo
expresso pela maioria dos professores de Histria. Para tanto, busca-se vincular as
teorias crticas da educao com as metodologias que enfatizem a importncia da
interdisciplinaridade e as diferentes formas de aprender e ensinar.
Como referncia para o ensino e aprendizagem face s transformaes
mundiais e os modos de educar a sociedade contempornea, destaca-se a linha de
pesquisa em ensino de Histria denominada Cultura, Escola e Ensino, criada no final
da dcada de 1990, no Programa de Ps-Graduao da Universidade Federal do
Paran, onde pesquisadores buscam na escola a compreenso das relaes entre
os mecanismos globais, a atividade cotidiana dos professores e a experincia dos
alunos (SCHMIDT e GARCIA, 2008, p. 10).
58
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Buscando problematizar a construo do processo histrico e formar uma
conscincia histrica, que segundo Rsen (2001) est ligada ao modo como os
homens interpretam suas experincias de tal forma que possam orientar,
intencionalmente, sua vida prtica no tempo, esta linha de pesquisa busca trabalhar
valorizando os conhecimentos prvios dos jovens estudantes, procurando elementos
que possibilitem a realizao de intervenes demonstrando-lhes sua importncia no
processo histrico. Nesse sentido, afirma Lee (2006): se os alunos que terminam a
escola so capazes de usar o passado para ajud-los a atribuir sentido ao presente
e ao futuro, eles devem levar consigo alguma histria substantiva.
Ainda de acordo com Lee (2006), para compreendermos a Histria,
precisamos de falar de situaes especficas do passado e de promovermos a sua
interpretao. At o presente momento a grande preocupao no que se refere ao
ensino de histria est centrada naquilo que os estudantes tendem, a saber, sobre o
passado em termos dos grandes fatos, dos heris e da Histria linear. A partir dos
estudos de Jrn Rsen sobre conscincia histrica, a Educao Histrica passou a
assentar suas preocupaes sobre a compreenso histrica que, por sua vez,
permite uma orientao temporal. Deste modo, por seu papel em nos orientar no
tempo, a conscincia histrica tem uma funo prtica (RSEN, 1993, p. 67).
Para a Educao Histrica, extremamente importante o contato dos
estudantes com as evidncias histricas, ou seja, as fontes, pois so elas que levam
os alunos a reconhecerem que o
conhecimento do passado vem de materiais do passado que foram
deixados para trs; eles todos tambm, frequentemente, aprendem rotinas
de interrogao para lidar com fontes que pouco tm a ver com a
compreenso dessas fontes enquanto evidncias histricas. (ASHBY, 2006,
p. 154).
Deste modo, trabalhar com as fontes histricas pr-selecionadas, mantidas no
Arquivo Pblico do Paran e no Museu Paranaense, vem a ser o diferencial de
nossa discusso junto aos estudantes, pois como afirma Barca (2006) em Histria,
a aprendizagem orientada para uma leitura contextualizada do passado a partir da
evidncia fornecida por variadssimas fontes. Assim, por meio dessas fontes,
analisar a relao passado/presente partindo do referencial terico e metodolgico
da Educao Histrica revela-se extremamente motivador, pois essa relao atravs
de vestgios e atividades despertam o interesse e a compreenso de alguns
59
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
conceitos como os de patrimnio, identidade, temporalidade, desenvolvimento,
diversidade, alm de despertar a curiosidade e estimular a observao (PINTO,
2009, p. 278).
Categorizao dos conhecimentos prvios
Como temtica para o desenvolvimento deste trabalho foi escolhida a
fundao e a Histria da cidade de Curitiba at fins do sc. XIX e, para o processo
de categorizao dos conhecimentos prvios, foram elaboradas duas fichas, uma
com a pergunta: Qual o significado destas representaes e Patrimnios Histricos
para voc?, j que na visita tcnica realizada ao centro histrico da capital
paranaense os estudantes encontraram vrios smbolos, retratando acontecimentos
da Histria paranaense como: Marco Zero, Pelourinho, Catedral Baslica Menor
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Igreja da Ordem Terceira de So Francisco das
Chagas, Igreja Nossa Senhora do Rosrio de So Benedito.
Nesta primeira anlise foi possvel perceber que os estudantes apresentaram
uma viso tradicional da histria, como demonstrado em T. Z. estas representaes
remetem ao passado e esto ligadas fundao e formao de Curitiba e a partir
delas que podemos entender a sociedade curitibana. J o estudante L. T. diz:
representam a presena de europeus, a explorao portuguesa e espanhola, so
locais importantes para o estudo da Histria do Paran e de Curitiba.
Ao analisar as narrativas 18 estudantes destacaram que as representaes
remetem ao passado e esto ligadas a fundao e a formao de Curitiba, 04
citaram a presena de europeus e a explorao portuguesa e espanhola, 03
mencionaram que o centro histrico e suas representaes so importantes para o
estudo da sociedade curitibana, e 02 relataram a importncia para a cultura e o
turismo em Curitiba.
A segunda ficha solicitava um relatrio narrando aspectos principais das
observaes realizadas e a importncia do Patrimnio Histrico para a sociedade
Curitibana/Paranaense.
Por meio desta questo tambm foi possvel perceber nesta anlise a verso
tradicional/exemplar, conforme a narrativa de B. M: por meio do patrimnio histrico
podemos obter informaes mais claras e precisas do passado paranaense, que
60
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
apresenta uma cultura muito rica e interessante, com caractersticas nicas, j J.
M.: estes lugares nos possibilitam um aprendizado visual sobre tempos antigos.
Nossas futuras geraes podero ver o que aconteceu no incio de nossa cidade,
tero provas dos acontecimentos. Segundo a pesquisa das 27 narrativas
apresentadas, 24 relacionaram com a importncia em explicar a origem, modo de
viver, hbitos e costumes, 02 mencionaram que possibilitam um aprendizado visual
sobre tempos antigos e 01 comentou que so pontos tursticos e geram lucros.
Saliento que aps o preenchimento, essas fichas foram recolhidas e a
problematizao foi realizada em sala de aula junto aos estudantes, confrontando as
vrias interpretaes, tabulando e identificando algumas respostas, oportunizando a
reflexo sobre a temtica proposta.
Propostas de interveno
Para a proposta de interveno pedaggica busquei problematizar por meio
de diferentes perspectivas historiogrficas alguns acontecimentos histricos da
capital paranaense, retratados em diversas fontes. Sobre a fundao de Curitiba e
sua elevao capital da Provncia do Paran o trabalho foi desenvolvido a partir de
duas Lendas, a de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e a de Cri-tim, escritas no
livro Paiquer de Romrio Martins, de 1943; da Acta do levantamento do
Pelourinho; do Requerimento da Creao das Justias, ambos do Boletim do
Arquivo Municipal de Curitiba tambm de 1943 e de alguns fragmentos de jornais do
incio da segunda metade do sc. XX, retratando as festividades comemorativas dos
300 anos da fundao de Curitiba.
Para discutir um pouco a Histria da Cidade at fins do sc. XIX, o trabalho foi
desenvolvido em trs momentos. Em um primeiro foi apresentada a lei 704 de 29 de
agosto de 1853, na qual o Imperador do Brasil D. Pedro II decreta no artigo 1 a
elevao da Comarca de Curitiba categoria de Provncia do Paran e no artigo 2
Curitiba torna-se capital. Tambm foi apresentada a lei n 1 sancionada pelo
Presidente da Provncia Zacarias de Ges e Vasconcellos publicada no jornal O
Dezenove de Dezembro de 26 de julho de 1854 que decreta Curityba como capital
da Provncia do Paran.
61
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
O segundo momento pautou-se no cotidiano da cidade, sendo apresentadas
aos estudantes duas posturas
13
de 1748, elaboradas pela Cmara Municipal de
Curitiba, que tratavam da presena de animais soltos nas ruas e da conservao
das casas; dois relatos descrevendo a cidade, um de 1820 do botnico francs
Auguste de Saint Hilaire e outro tambm de 1820 de um antigo morador; uma
litografia de 1855 do topgrafo americano John Elliot representando Curitiba; um
texto mencionando a visita de D. Pedro II, sua esposa e alguns membros da nobreza
e um episdio envolvendo um aeronauta mexicano chamado Theodulo Ceballos que
sobrevoou a cidade em 1876 em um balo realizando acrobacias e deixando os
espectadores boquiabertos (MARTINS, p. 60, 1997).
Por fim, coube ao terceiro momento a interveno pedaggica, na qual foram
apresentados os relatrios dos presidentes da Provncia dos anos 1874, 1876, 1880
e 1886 descrevendo a necessidade, os interesses e os custos para a construo da
nova Igreja Matriz e os motivos e benefcios da elaborao do projeto que criou o
Passeio Pblico e sua inaugurao em 1886.
Produo de narrativas: elaborao de jornal
Aps a leitura e anlise das fontes foi solicitado aos estudantes que se
organizassem em equipes compostas por cinco integrantes. Foram apresentadas
vrias cpias do jornal O Dezenove de Dezembro
14
para que pudessem ter uma
ideia do tamanho e do formato. Foi solicitado que imaginassem que viviam em
Curitiba em 1887 e que, para comemorar a inaugurao do Passeio Pblico havia
sido criado um concurso premiando e publicando alguns textos produzidos sobre a
fundao e a Histria de Curitiba at aquela data.
O passo seguinte foi a elaborao de narrativas escritas, pautadas nas
diversas fontes apresentadas, nas quais os estudantes se imaginaram como
habitantes da Curitiba de fins do sculo XIX e tambm participantes desse concurso.
Para tanto deveriam realizar a confeco de um jornal de poca em que os textos
seriam publicados. O resultado final do trabalho foi apresentado em um seminrio
13
Preceitos, normas e regulamentos municipais a serem seguidos por rgos pblicos e pelos
cidados. Definio retirada do AULETE, Caldas. Novssimo Aulete: dicionrio contemporneo da
lngua portuguesa. (org. Paulo Geiger). Rio de Janeiro: Lexikon, 2011.
14
Primeiro jornal paranaense, o Dezenove de Dezembro (o nome refere-se data de instalao da
Provncia do Paran em 1853), comeou a circular em 1 de abril de 1854.
62
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
para os demais estudantes da instituio de ensino e ficou exposto no mural do
colgio para apreciao.
Ao final do processo foi solicitada a confeco de um pequeno texto a partir
da pergunta: Como voc descreve a histria de Curitiba desde a sua fundao at
fins do sc. XIX?, pode-se perceber uma mudana na maneira de pensar
historicamente. Nota-se que no incio T. Z. apresentou uma viso tradicional da
histria e, aps o trabalho realizado ela interpretou as diferentes narrativas, articulou
mltiplas temporalidades e relacionou o presente, o passado e o futuro: a histria
de Curitiba contada de vrias maneiras, com tantos documentos analisados e
discutidos no seminrio posso ter uma ideia mais ampla da histria, entendi tambm
que ela est sempre em construo, que no existe uma histria acabada, j J. M.
percebeu a importncia da complexidade da vida social: existem diferentes relatos
sobre um mesmo acontecimento e vrias verses que contam as histrias de uma
forma diferente, s vezes com muita fantasia de maneira mais pica e herica,
percebi que a histria pode ser contada pelo cotidiano das pessoas.
Consideraes finais
Este trabalho de pesquisa expressa uma preocupao em relao ao ensino
da Histria do Paran e, especificamente de Curitiba, em vista dos conhecimentos
demonstrados pelos estudantes na produo de suas narrativas e que durante o
processo de categorizao foram sistematizados como tradicionais e exemplares os
quais segundo Rsen (1992) expressam formas de conscincia histrica: na
tradicional a totalidade temporal apresentada como continuidade dos modelos de
vida e cultura do passado, e na exemplar as experincias do passado so casos
que representam e personificam regras gerais da mudana temporal e da conduta
humana.
Sendo assim, visou problematizar por meio de fontes pr-selecionadas alguns
momentos da Histria de Curitiba, buscando na interpretao do passado, na
compreenso do presente e na expectativa de futuro desenvolver um conhecimento
qualitativamente novo que Rsen (1992) conceitua como conscincia histrica
crtico-gentica: crtica porque formularam pontos de vista histricos, por negao
de outras posies e gentica devido ao fato de que diferentes pontos de vista
63
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
podem ser aceitos porque se articulam em uma perspectiva mais ampla de mudana
temporal, e a vida social vista em toda sua complexidade.
Ao privilegiar os conhecimentos que os jovens estudantes trazem para o
ambiente escolar, suas prticas, sua participao no processo de anlise e
interpretao de fontes e a elaborao de narrativas pautadas no referencial terico
da Educao Histrica criaram-se novas perspectivas para se discutir o sentido e o
significado da aprendizagem em Histria, reconceituando conforme Schmidt e
Garcia (2005) a aula como espao de compartilhamento de experincias individuais
e coletivas, de relao dos sujeitos com os diferentes saberes envolvidos na
produo do saber escolar.
REFERNCIAS
AULETE, Caldas. Novssimo Aulete: dicionrio contemporneo da lngua
portuguesa. (org. Paulo Geiger). Rio de Janeiro: Lexikon, 2011.
ASHBY, Rosalin. Desenvolvendo um conceito de evidncia histrica: as ideias
dos estudantes sobre testar afirmaes factuais singulares. Educar, Curitiba,
Especial, p. 151-170, 2006. Editora UFPR.
BARCA, Isabel. Literacia e conscincia histrica. Educar, Curitiba, Especial, p. 93-
112, 2006. Editora UFPR.
LEE, Peter. Em direo a um conceito de literacia histrica. Educar, Curitiba,
Especial, p. 131-150, 2006. Editora UFPR.
MARTINS, Boletim Casa Romrio. Tiradentes: A Praa Verde da Igreja. Curitiba:
Fundao Cultural de Curitiba. 1997.
PARAN, Secretaria de Estado da Educao, SUED. Diretrizes Curriculares
Orientadoras da Educao Bsica para a Rede Estadual do Ensino de Histria.
Curitiba, 2008.
PINTO, Helena. O tringulo patrimnio-museu-escola: que relao com a Educao
Histrica?. In SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel (orgs.). Aprender
histria: perspectivas da educao histrica. Iju: Uniju, 2009.
RSEN, Jrn. El desarrollo de La competncia narrativa em el aprendizaje histrico:
uma hiptesis ontogentica relativa a La conciencia moral. Trad. Silvia Finocchio.
Propuesta Educativa. Argentina, n 7. Out. 1992.
______. Experience, interpretation, orientation: three dimensions of historical
learning. In: DUVENAGE, P. (Ed). Sdudies in metahistory. Pretoria: Human Sciences
Research Council, 1993.
64
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
______. Razo Histrica. Braslia: Ed. UnB, 2001.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Histria. In KUENZER, Accia Zeneida. (org.). Ensino
mdio: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. So Paulo: Cortez,
2000.
________; GARCIA, Tnia Maria F. Braga. Histria e educao: dilogos em
construo. In SCHMIDT, Maria Auxiliadora; GARCIA, Tnia Maria F. Braga; HORN,
Geraldo Balduno. (orgs.). Dilogos e perspectivas de investigao. Iju: Uniju,
2008.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel (orgs.). Aprender histria:
perspectivas da educao histrica. Iju: Uniju, 2009.
Online
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. Paranaense de
Candido Martins Lopes, 1854. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/
arquivos/File/pdf/rel_1854_b_v.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. Paranaense de
Candido Martins Lopes, 1858. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/
arquivos/File/pdf/rel_1858_p.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. da Viuva Lopes,
1874. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/rel_1874
_p.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. da Viuva Lopes,
1876. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/rel_1876
_p.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. Perseverana,
1880. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/rel_1880
_a_p.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. da Viuva Lopes,
1886. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/rel_1886
_a_p.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
RELATRIO DO PRESIDENTE DA PROVNCIA. Curityba: Typ. da Gazeta
Paranaense, 1886. Disponvel em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/
File/pdf/rel_1886_b_p.pdf> Acesso em: 14/03/2013.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos, Garcia, Tnia Maria F. Braga. A
formao da conscincia histrica de alunos e professores e o cotidiano em
aulas de Histria. 2005. Disponvel em: <http: //www. Cedes.unicamp.br> Acesso
em 23/04/2013.
65
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Anexos
Categorizao 1
Qual o significado destas representaes e Patrimnios Histricos para voc?
Remetem ao passado 18
Presena de europeus 4
Estudo da sociedade 3
Cultura e turismo 2
Fonte: ficha preenchida pelos estudantes
Categorizao 2
Aspectos principais das observaes e importncia do Patrimnio Histrico
Origem, modo de viver e costumes 24
Aprendizado visual sobre tempos antigos 2
Pontos tursticos e geram lucros 1
Fonte: ficha preenchida pelos estudantes
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Remetem ao
passado
Presena de
europeus
Estudo da
sociedade
Cultura e turismo
0
5
10
15
20
25
Origem, modo de viver
e costumes
Aprendizado visual
sobre tempos antigos
Pontos tursticos e
geram lucros
66
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A IMIGRAO NO PARAN NO FINAL DO SCULO XIX E INCIO DO SCULO
XX: CONFLITOS ENTRE INDGENAS E IMIGRANTES COMO TEMTICA PARA O
ENSINO DE HISTRIA
Jucilmara Luiza Loos Vieira
15
RESUMO:
O presente artigo traz resultados de uma experincia realizada durante o curso
Trabalho com fontes Histricas e a Literacia Histrica: Questes tericas e
Prticas, em parceria com a UFPR e SEED-PR. A anlise de alguns documentos de
arquivo pblico, sobre o contedo substantivo imigrao foi feita com 32 alunos do
3 ano do Ensino Mdio, em colgio na regio metropolitana de Curitiba. A partir da
Educao Histrica e a relao presente e passado, buscou-se a imigrao na
regio de Curitiba em especial So Jos dos Pinhais, no final do sculo XIX e incio
do sculo XX. A investigao baseia-se nos relatrios de governo, incentivo aos
imigrantes com a lei de terras, fontes sobre indgenas, e pesquisa genealgica dos
jovens estudantes. O encaminhamento metodolgico foi de natureza qualitativa com
anlise dos conhecimentos prvios, reflexes durante o processo e narrativas que
expressam contribuies significativas para este trabalho. Os resultados das
narrativas demonstram a importncia da pesquisa, da orientao temporal, abrem
perspectivas de novos estudos e apontam o uso de fontes histricas para o
desenvolvimento da conscincia histrica.
Palavras-chave: Conscincia Histrica; Arquivo Pblico; Narrativas; Documentos;
Histria.
Introduo
O presente artigo mostra os resultados a partir do curso Trabalhos com
fontes histricas e a literacia histrica: questes tericas e prticas, desenvolvido
pela UFPR em parceria com a SEED-PR, com o objetivo de investigao em
fontes histricas do Arquivo Pblico do Paran, com jovens estudantes da rede
pblica estadual.
Feita a escolha de documentos no Arquivo Pblico e, relacionados aos
contedos substantivos propostos nas diretrizes curriculares do PR, aplicados aos
alunos, objetivaram a anlise, interpretao e culminaram na produo de narrativas
15
Formada em Filosofia, com licenciatura em Histria e Psicologia pela UFPR. Professora
Especialista em Histria e Filosofia da Cincia pelo IBPEX. Especialista em Psicopedagogia pelo
IBPEX e Professora PDE da Rede Estadual de Educao do Paran- SEED.
67
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
pelos jovens estudantes.
O trabalho aplicado aos jovens do 3 ano do ensino mdio, levou em
considerao a apreenso destas fontes como processos que fazem parte das
dimenses cognitivas e possibilitam a aprendizagem histrica.
O tema para este estudo: A imigrao no Paran no final do sculo XIX e
incio do sculo XX e a possibilidade de conflitos indgenas com estes imigrantes e o
ensino de Histria; se justifica devido a um trabalho realizado sobre poltica do
branqueamento com os mesmos alunos, e pela necessidade de se encontrar mais
respostas para as lacunas que ficaram no trabalho anterior, tambm pela
curiosidade do momento em que os alunos tiveram em saber quem eram os
imigrantes e o seu grau de parentesco.
Contextualizando a pesquisa
Este trabalho propicia reflexo a partir de investigaes em documentos de
arquivo pblico, visando a construo de narrativas histricas pelos jovens
estudantes e incentivando a pesquisa e elaborao de uma conscincia histrica. O
contato com a linha de pesquisa da Educao Histrica se deu a partir da minha
entrada no PDE, ao qual tive por orientadora a professora Doutora Maria Auxiliadora
Schmidt, que direcionou meus estudos e me convidou a participar do grupo do
LAPEDUH
16
, onde as discusses levaram a buscar mais conhecimento em torno da
aprendizagem histrica. A participao no curso: Trabalho com fontes histricas e a
literacia histrica proporcionaram maior contato com o uso de documentos e
aplicao com os jovens estudantes.
A ideia do tema: Imigrantes no Paran e a possibilidade de ter ocorrido
conflitos com indgenas e imigrantes no final do sculo XIX e incio do sculo XX,
surgiu a partir do contedo poltica do branqueamento e sobre o tema eugenia. No
Paran este conceito foi introduzido a partir da ideia da necessidade de higienizao
da populao e incentivo de imigrantes para trabalhar nas terras circunvizinhas a
Curitiba. Naquela poca, Curitiba deixava de ser provncia de So Paulo e
necessitava de mo de obra nas colnias; uma vez que a populao que residia na
capital e regio metropolitana, trabalhava na rea urbana para crescimento do
16
LAPEDUH- Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica- UFPR.
68
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
comrcio e havia falta de mo de obra rural a fim de sustentar a sociedade
paranaense.
O governo paranaense, acatando a lei maior n 528 de 28 de junho de 1892
do Distrito Federal, lana mo da poltica de incentivo imigrao e a partir da
desembarcam nestas terras imigrantes que se deslocaram at a regio de Curitiba,
onde fixam suas moradias em colnias nas regies metropolitanas. Os imigrantes de
origem italiana, russa, ucraniana, polonesa, alem e outras, fundaram colnias e
trabalharam na lavoura a fim de se estabelecerem. Como demonstra o documento
sobre a lei de terras de 1892 dos relatrios de governo do Paran, o estado
paranaense buscou recursos junto ao governo federal para a colonizao do Paran
e para dar cumprimento lei Federal. Num segundo documento sobre o
povoamento do solo do ano de 1913, tambm dos relatrios de governo, possvel
verificar que o governo ofereceu uma ajuda de custo por imigrante que tivesse
entrado na hospedaria de Paranagu, sem distino de idade. Tambm afirmou a
importncia do povoamento do solo paranaense pela colonizao, justificando a
imigrao como uma necessidade vital para o pas.
No entanto, quando estes imigrantes foram chegando regio metropolitana
de Curitiba, havia tribos indgenas que habitavam as terras a serem colonizadas. E
como teria sido o confronto entre os imigrantes e os nativos? Para mostrar como as
tribos indgenas agiam na presena do homem branco tomou-se como referncia
um documento do arquivo pblico, da tribo dos Botocudos em Curitiba, com o
intuito de verificar se o documento traz informaes sobre esta tribo e se a partir do
cruzamento de dados possvel afirmar a existncia de conflitos entre indgenas e
imigrantes.
Quanto aos imigrantes, a pesquisa enfocou a regio de So Jos dos
Pinhais, pelo fato de os estudantes residirem naquela localidade. A partir de
documentos de imigrantes da famlia Radicheski e Lecheta, disponveis no arquivo
pblico, levantou-se alguns dados que auxiliaram a construo da rvore
genealgica pelos jovens estudantes, e uma pesquisa individual sobre sua famlia,
com a finalidade de compreenderem a relao de imigrao e povoamento da
regio.
A problemtica que se faz neste trabalho : A partir dos documentos
escolhidos do arquivo pblico do final do sculo XIX e incio do sculo XX e outros
69
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
documentos de famlia e relatos orais, possvel afirmar que imigrantes em So
Jos dos Pinhais tiveram conflitos violentos com indgenas pela posse da terra? Na
inteno de responder a esta questo, iniciou-se um trabalho com 32 alunos do 3
ano do ensino mdio, os quais realizaram pesquisas e anlise de documentos que
culminaram na produo de narrativas histricas por parte dos jovens, incentivando
assim a construo de uma conscincia histrica mais crtica.
Referencial terico
Na perspectiva da Educao Histrica, a narrativa o elemento fundamental
para expressar a aprendizagem histrica. Segundo Rsen (2010), a aprendizagem
histrica acontece a partir da produo de sentido e experincia no tempo. De
acordo com nosso autor,
o conhecimento histrico no construdo apenas com informaes das
fontes, mas as informaes das fontes s so incorporadas nas conexes
que do o sentido histria com a ajuda do modelo de interpretao, que
por sua vez no encontrado nas fontes.( Rsen,2010.p.25)
Com a inteno de produzir uma orientao, as fontes histricas servem
como evidncia, sendo que por meio delas possvel a produo de argumentos,
diferentes leituras e possveis explicaes que superem a cultura hegemnica. A
partir da experincia no tempo, o indivduo produz uma orientao e constri uma
conscincia histrica crtica.
O trabalho realizado com o uso de fontes e documentos de arquivo pblico,
teve como referencial: Jrn Rsen, Rosalyn Ashby, Peter Lee e Maria Auxiliadora
Schmidt, autores que fundamentam suas teorias para a compreenso de conceitos
como literacia histrica, evidncia histrica, aprendizagem histrica e narrativas na
linha da Educao Histrica.
Em se tratando do uso de fontes histricas, pode-se dizer que elas nos
permitem ler o mundo historicamente. De acordo com Peter Lee, esta leitura de
mundo pode ser entendida como literacia histrica, embora, como afirma o autor:
um conceito de literacia histrica oferece uma agenda de pesquisas que une
o trabalho passado com novas indagaes. quase um trusmo que a
dicotomia entre a educao histrica como compreenso disciplinar e como
histria substantiva seja falso. Um conceito de literacia histrica demanda ir
70
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
alm disso ao comear a pensar seriamente sobre o tipo de substncia que a
orientao necessita e que as compreenses disciplinares devem sustentar
naquela orientao.(LEE, 2006.p.148)
Saber ler a fonte fundamental para a construo de anlises e argumentos
que direcionam os jovens estudantes a pensar de forma histrica e a construir
expectativas que proporcionaro o trabalho com narrativas. A narrativa histrica, por
sua vez, pode ser expressa a partir do conhecimento histrico, de maneira a tornar o
passado presente para a vida contempornea.
Desta forma, as fontes histricas permitem investigar o passado sem
necessariamente testemunhar o fato ocorrido, pois elas nos do evidncias que nos
permitem pesquisar e ir alm das meras aparncias. No entanto, como afirma Ashby,
necessrio compreender a relao de evidncia entre as fontes histricas
(compreendidas a partir de um conceito de que foi a sociedade quem as
produziu), e as afirmaes sobre o passado que elas apoiam (2006, p.155).
Isto confere dizer que as fontes trazem questes histricas que devem ser
exploradas e baseadas nas evidncias que sustentam a prpria fonte, sendo
necessria a verificao das afirmaes que estas revelam. de suma importncia
o levantamento de hipteses para o estudo da fonte histrica, uma vez que a histria
no pode ser vista como verdade irrefutvel e as afirmaes sobre o passado
demonstram aquilo que est disponvel em forma de evidncias, no entanto devendo
sempre estar sujeitas a questionamentos.
Para que ocorra a aprendizagem histrica por meio da fonte necessrio que
as informaes contidas nela sejam vistas como um instrumento que pode levar ao
conhecimento. Nesta direo, a fonte deve ter sentido ao estudante quando este se
depara com ela. A fonte deve transmitir um significado, ou seja, deve direcionar a um
pensar historicamente, englobando o passado e o presente e perspectivando o
futuro, por meio de uma interpretao.
Schmidt (2009) expressa que para dialogar com o passado e aprender a
pensar historicamente, devemos saber usar as ferramentas que os historiadores
utilizam para recriar o passado ( p.67). Em se tratando das formas e ferramentas
para recriar o passado como mostra Schmidt, necessrio que saibamos separar
eventos que se relacionam com o presente buscando uma explicao do presente
por meio destes. Tambm preciso aprender a ler as fontes afim de, como afirma
71
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Rsen, conseguir interpretar, experenciar e se orientar no tempo. O trabalho sobre
imigrantes no final do sculo XIX e incio do sculo XX e a investigao em torno de
conflitos com indgenas, proporciona aos jovens estudantes estabelecer estas
relaes, argumentar, criar hipteses, construir novas formas de narrar o passado
historicamente. As narrativas, portanto, so a forma de se expressar historicamente
relacionando-se ao tempo passado e presente, de maneira a torn-lo significativo.
De acordo com RSEN
a narrativa a face material da conscincia histrica, pois pela sua anlise
que ganha-se acesso ao modo de como o autor concebe o passado e utiliza
as suas fontes, bem como o tipo de significncia e sentidos de mudana que
atribui histria (Rsen,2010.p.12)
Para finalizar, as discusses promovidas no LAPEDUH, muito contriburam
para este trabalho, pois a partir do conhecimento expresso por SCHMIDT e os
avanos no ensino de histria em torno da linha de pesquisa em Educao Histrica,
possvel compreender a importncia do trabalho com fontes histricas e aplic-las
ao cotidiano escolar; visando uma modificao nas aulas de histria e na formao
da conscincia histrica dos jovens estudantes.
Metodologia
A pesquisa realizada de natureza qualitativa na rea da Educao Histrica.
Para isto utilizei como tcnica de investigao:
Anlise das ideias prvias.
Anlise de fontes documentais com a seleo de documentos de um imigrante
no arquivo pblico e sua descendncia no Paran.
Anlise do documento de incentivo do governo para a vinda de imigrantes no
incio do sculo XX- Relatrios de governo do ano de 1913.
Anlise do documento da Tribo dos Botocudos (indgenas no Paran), nos
relatrios de governo.
Anlise do documento sobre a lei de terras relatrios de governo de 1892.
Trabalho com recursos miditicos.
Apresentao em mesa redonda e grupos.
72
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Produo de narrativas escritas pelos jovens estudantes.
Procedeu-se num primeiro momento a uma coleta de ideias prvias do
contedo imigrao e descendentes imigrantes dos jovens estudantes. As perguntas
feitas estavam relacionadas a ideias como: se os jovens estudantes conheciam a
sua ascendncia, de onde vieram os parentes, como se estabeleceram na regio e o
que sabiam em torno da imigrao dos povos para o Paran no final do sculo XIX e
incio do Sculo XX. Em grupos os alunos destacaram em narrativas o que sabiam a
respeito dos imigrantes de So Jos dos Pinhais, local onde residem os jovens e
acerca da posse de terras neste municpio.
A partir do que os alunos sabiam, e por citarem bastante a colnia Marcelino
no municpio de So Jos dos Pinhais, foi realizada a busca ao arquivo pblico,
retirei nomes de imigrantes daquela regio e recolhi vrios documentos. As famlias
escolhidas foram os Radicheski e posteriormente os Lecheta. Em sala foram
analisadas vrias certides de bito, nascimento e casamento, obtidas a partir do
arquivo pblico e outros de cartrios. Nestas certides os alunos levantaram
suposies sobre o grau de parentesco, os nomes registrados errados, os nomes de
solteiro que iam sendo deixados de lado pelas mulheres quando estas contraam
matrimnio, como era possvel confrontar documentos para localizar os pais, avs,
bisavs, trisavs, tataravs e assim por diante. Os nomes e nmeros de filhos
constados errados nas certides de bito, os registros de nascimento de vrios
irmos que tinham que ser registrados no mesmo ano, porque no tinha escrivo
nem juiz para registrar na data que realmente nasceram e outros casos.
Na sequncia, os alunos montaram a sua rvore genealgica de acordo com
suas pesquisas e puderam aproximar os fatos histricos ao cotidiano. Como
exemplo apareceram algumas datas e acontecimentos:
1970 1945 1907 1868 1830
Pais Avs bisavs trisavs Tataravs
Os avs nasceram na segunda guerra mundial.
73
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Os bisavs nasceram na primeira repblica.
Os trisavs viveram no perodo da escravido.
Os tataravs vivenciaram o perodo de D. Pedro II e assim por diante. Com isto
aproximaram-se mais dos fatos histricos.
O prximo passo foi a anlise do documento sobre a posse de terra, dos
relatrios de governo do arquivo pblico e a lei de incentivo imigrao no Paran.
Feita essa anlise e discusso por parte dos jovens estudantes, procedeu-se a
anlise do documento sobre indgenas Botocudos no Paran e a possibilidade
destes terem se confrontado com imigrantes pela posse de terra. Neste momento
houve uma mesa redonda com discusses e escrita dos pontos que os jovens
consideravam mais importantes no documento.
A prxima etapa foi a pesquisa no laboratrio de informtica sobre conflitos
sobre terras e indgenas na atualidade. Foram estabelecidas relaes de como
poderia ser na poca dos sculos XIX e XX e como hoje os conflitos vm ocorrendo.
Os estudantes realizaram apresentaes em grupos sobre o que obtiveram de
informaes em suas pesquisas a respeito de conflitos indgenas e posse da terra e
no final o trabalho culminou com a produo de narrativas escritas pelos jovens.
Resultados
Das ideias prvias obtidas junto aos 32 estudantes serem descendentes de
imigrantes:
- 21 sabiam afirmar a descendncia de italianos, ucranianos, poloneses,
russos e alemes, porm no sabiam informar com convico o grau de parentesco.
Afirmaram que ouviram falar pela famlia. Um grupo de oito alunos tinha certeza
absoluta sobre a descendncia e a forma que os parentes imigrantes chegaram ao
Paran, enquanto trs alunos eram totalmente desinformados em relao aos seus
ascendentes.
Sobre a posse da terra
Aps pesquisa com familiares, por meio de relatos orais de parentes, os alunos
trouxeram informaes preciosas contando como os ancestrais/ascendentes vieram
74
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
para c e de que forma conseguiram suas terras.
Dos 32 estudantes:
- 2 no conseguiram maiores informaes, pois no tinham convivncia com
os familiares ou estes j eram falecidos. Outros 28 jovens, conseguiram inclusive,
relatar at o nome dos bisavs e como viviam, porm apenas 14 estudantes
conseguiram ir mais a fundo em suas pesquisas abordando aspectos sobre os
trisavs e a vinda destes para as terras do municpio de So Jos dos Pinhais.
Apenas 2 estudantes conseguiram documentos de terras e de seus familiares em
arquivo de famlia, no final do sculo XIX e incio do sculo XX.
Sobre a anlise de documentos das famlias Radicheski e Lecheta:
Os alunos cruzaram informaes nas certides apresentadas de nascimento,
bitos, casamento, batismo. Dentre as certides fizeram consideraes como: Na
certido de nascimento do Sr. Gregrio Lecheta aparece o nome do pai, na de
casamento repete o mesmo nome e na certido de bito aparece outro nome do
pai. A concluso que os alunos tiraram de que no foi um familiar que declarou a
morte. Desta maneira, como no tinha certeza do nome do pai e o defunto no podia
se pronunciar, colocou o nome que achava que era e no o que realmente constava
nos documentos.
Quanto ao Sr. Radicheski, as informaes que constam na certido de
matrimnio so que ele tinha cinco filhos e os nomes destes. Na certido de bito de
sua esposa as informaes obtidas so as de que teve seis filhos, sendo que no
foi registrado na certido de matrimnio o nome da primeira filha, a mais velha
porque ela j era casada e havia mudado seu sobrenome de solteira, no sendo
mais considerada daquela famlia na poca. O casal assinava o matrimnio civil
apenas depois de muitos anos do casamento na igreja, o que s se fazia para
garantir o direito de posse da terra e herana. Os jovens estudantes encontraram
outros erros como datas e nomes dos avs nas certides.
Sobre a construo da rvore genealgica:
- 30 jovens conseguiram cruzar informaes e continuam pesquisando os
75
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
seus familiares, pois como o processo lento para levantar os documentos, a
pesquisa se alastra. Por meio de certides de nascimento, casamento, bito e
documentos de terras foram levantando dados e atravs de entrevistas com seus
familiares conseguiram vrias informaes para compor a rvore e o grau de
parentesco. Os outros dois jovens foram incentivados em buscar informaes sobre
a sua ascendncia, mesmo sem a famlia contribuir com muitas informaes ou no
ter onde localizar totalmente, sentiram-se motivados em continuar a pesquisa.
Narrativas
Quanto aos documentos Lei de terras, lei de incentivo aos imigrantes e
conflitos indgenas:
Acho muito interessante o que o governo propunha, mas na verdade no foi
isto que aconteceu, a minha tatarav veio para c e depois no tinha nem o que
comer, o governo no deu nada... Ela passou fome com os outros e o governo virou
as costas. Havia propaganda de ajuda, mas no tinha ajuda nenhuma. De l para c
nada mudou. (Idelfonso)
Coitados dos nativos, primeiramente incentivaram imigrantes a vir para c e
depois distriburam terras que j tinham dono, no consideraram o ndio proprietrio,
claro que ele tinha que quebrar o pau mesmo. Se fosse eu botava todo mundo pra
correr. (Castronilda)
Foi graas ao incentivo do governo que estamos aqui, fcil criticar, mas
muitos imigrantes se deram bem, pois onde viviam tambm era bem difcil. Acho que
os ndios tinham que lutar, mas no precisava tanta violncia; mas tambm ningum
quis saber qual era a posio deles. Hoje acontece a mesma coisa, a Funai no
ajuda muito a questo da posse de terra pelos ndios.(Genivaldo)
Sobre o trabalho de pesquisa no laboratrio de informtica e
apresentaes dos grupos em sala:
- Os jovens pesquisaram em vrios sites e jornais impressos os conflitos
indgenas ocorridos neste ano. Foi realizada mesa redonda e, posteriormente,
apresentao de grupos com as concluses acerca dos debates.
76
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Consideraes finais
O trabalho trouxe condies de desenvolver o trabalho em Histria por meio
da pesquisa. A investigao, a orientao temporal e, a crtica direcionaram a
participao coletiva em termos de apresentaes e diferentes formas de narrativas,
o que culminou em textos escritos e continua proporcionando novas descobertas.
Exemplo disto foi, a pesquisa genealgica que muitos estudantes continuaram
realizando e vem constantemente mostrar com orgulho os resultados de seu
trabalho. Tambm puderam verificar que os documentos so evidncias de um
determinado passado que, no entanto, trazem informaes que devem ser
questionadas e investigadas.
importante salientar que os jovens estudantes conseguiram, por meio de
suas buscas, variadas informaes e concluram em seus trabalhos que no
possvel afirmar apenas pelos documentos escritos analisados. Obtiveram, tambm,
a confirmao, de que houve conflito violento entre indgenas e imigrantes em So
Jos dos Pinhais, no final do sculo XIX e incio do sculo XX.
Entretanto plausvel afirmar que os relatos de famlia trazem outras
informaes e vestgios sobre estes conflitos. Desta maneira, admissvel
considerar que as fontes trazem uma riqueza de informaes que muitas vezes
precisam ser esmiuadas para se chegar mais perto da verdade. Enfim, este
trabalho proporcionou aos jovens estudantes esta vontade de aproximar a histria
famlia, fazendo-os se sentirem mais prximos dos acontecimentos e participantes
do processo histrico.
REFERNCIAS
ASHBY, Rosalin. Desenvolvendo um conceito de evidncia histrica: as ideias
dos estudantes sobre testar afirmaes factuais singulares. Educar, Curitiba,
Especial.Curitiba.Ed.UFPR,2006,p.155.
LEE,Peter. Em direo a um conceito de literacia histrica. Educar, Curitiba,
Especial. Curitiba. Ed. UFPR , 2006, p.148.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estvo de Rezende. Jrn
Rsen e o Ensino da Histria. Curitiba:Ed.UFPR,2010,p.12.
77
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar Histria. So Paulo,
Ed.Scipione,2009,p.67-70.
RSEN,Jrn. Reconstruo do passado.Braslia:Ed.UNB,2010,p.12-25.
78
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
LITERACIA HISTRICA: TEORIA E PRTICA SOBRE A HISTRIA DOS TIMES
DA CAPITAL PARANAENSE NA ESCOLA
Marcos Ancelmo Vieira
17
Paulo Rubens Brito de Lima
18
RESUMO:
Este trabalho busca mostrar como possvel tornar a realidade dos alunos do
Colgio Estadual Benedicto Joo Cordeiro uma prtica pedaggica para formao
do indivduo como sujeito de participao histrica. O ponto chave deste trabalho foi
s visitas tcnicas ao Arquivo Pblico Paranaense e aos estdios de futebol,
reconhecendo que a realidade histrica - prtica est conectada ao terico. A partir
da possibilidade de colocar os jovens estudantes em contato com as fontes
histricas primrias, encontramos no futebol a possibilidade de unir a teoria da sala
de aula com uma prtica pedaggica pela interveno direta com as fontes. Ao fazer
esse resgate de valores sociais e histricos, busca estabelecer as conexes
histricas das migraes e etnias que formaram os primeiros times da capital
paranaense e suas realidades histricas. A insero do trabalho com fontes
primrias resultou em uma agradvel surpresa, pois o tema que desenvolvemos
despertou a participao ativa dos discentes. O tema selecionado em referncia
ao contedo sobre Repblica Velha, com recorte temporal de 1889 a 1930 que
marca a vinda dos imigrantes europeus com novas expectativas sociais, polticas,
econmicas, trabalhistas e o futebol, que chega nesse mesmo tempo como uma
forte expresso social e cultural para a populao de Curitiba. A partir disso, os
alunos corresponderam positivamente aos anseios de pesquisa s fontes primrias,
rompendo com os paradigmas do antigo como inapropriado e antiquado, sem
serventia para o presente. A satisfao em trabalhar desta forma facilita a nossa
prtica e produo do conhecimento de maneira clara e objetiva, prosseguindo a
forma de executar as aulas, com o engajamento dos alunos.
Palavras-chave: Histria - Futebol - Cultura - Escola Pblica.
Esse trabalho busca identificar e destacar a importncia de uma anlise mais
criteriosa ao que se refere teoria e prtica nas escolas. Com esse pensamento
a proposta fazer uma anlise crtica do papel do professor histriador em sala de
aula e sua importncia na produo e construo do conhecimento junto aos alunos.
Sendo tal fato de extrema importncia, SCHMIDT (2009) deixa claro em
alguns presupostos de anlise, quando destaca a importncia e papel do professor
17
Prof. da SEED - PR , licenciado em histria e especializao na rea, atuante no C.E Benedicto
Joo Cordeiro ( Ensino Fundamental) e C.E Paulo Leminski ( Ensino Mdio).
marcosancelmo@yahoo.com.br
18
Prof .da SEED PR, licenciado em histria e especializao, atuante no Colgio Estadual
Benedicto Joo Cordeiro ( Ensino Fundamental e Mdio) pavlovbenruben@yahoo.com.br
79
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
no somente como educador, mas tambm como pesquisador e produtor de
conhecimento:
Em primeiro pressuposto o de que o professor (historiador) no pode, em
hiptese alguma, ser um mero reprodutor/transmissor, depositador de
conhecimentos, mas necessita estabelecer, em sua formao, uma relao
orgnica entre ensino e pesquisa. Essa relao no implica em transformar
ensino em pesquisa, mas entende que a articulao entre a forma pela qual
cada um se pensa como professor e a condio de viver a atividade de
professor so produzidos historicamente. Neste sentido, importante que
se busque superar a lgica perversa da diviso tcnica do trabalho, que
separou, historicamente, aqueles professores que so autorizados a
produzir conhecimento, daqueles a quem conferida a sua transmisso.
(SCHMIDT, 2009. p.11)
Segundo Roger Chartier, a produo do conhecimento histrico se d por
meio da anlise de dados, da formulao de hipteses, da crtica e verificao de
resultados e articulao entre o discurso do historiador e seu objeto de pesquisa.
Assim, afirma mesmo que escreva de uma forma literria, o historiador no faz
literatura, e isso pelo fato de sua dupla dependncia. Dependncia em relao ao
arquivo, portanto em relao ao passado do qual ele vestgio (CHARTIER, 1994,
p. 110 Historiador francs 1945).
Da mesma forma preciso pensar o outro sujeito nessa relao de
aprendizagem. Existe, assim, a necessidade de se entender a ideia de aluno como
uma inveno historicamente determinada pelos acontecimentos e vivncias reais,
ou seja, reconhecendo esses jovens como sujeitos histricos. fundamental
entender que as crianas e os jovens fazem parte das construes histricas,
sociais e culturais, entendendo a sua aprendizagem histrica tambm a partir das
condies histricas e objetivas em que eles constroem a si mesmos e, portanto, as
suas identidades. A construo histrica dos times paranaenses mais um atrativo
e objeto de pesquisa que vai facilitar essa articulao entre o aluno e sua prpria
histria.
Foi assim que surgiu este trabalho, ao entrar em contato com as fontes
primrias existentes no Arquivo pblico do Paran, foi detectada a necessidade de
explorar juntamente com os alunos o resgate e valorizao da histria do Paran em
conexo ao lazer e prtica cultural que o futebol proporciona aos alunos do colgio
em questo.
80
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Este trabalho tem a proposta de explorar o Arquivo Pblico, que foi criado
pela Lei n. 33, sancionada pelo 1 Presidente da Provncia do Paran, Conselheiro
Zacarias de Ges e Vasconcellos, em 7 de abril de 1855. Denominado "Archivo
Publico Paranaense", tinha como finalidade reunir a memria impressa e manuscrita
sobre a histria e geografia do Paran. Sua primeira sede foi na Rua XV de
Novembro. A segunda na Avenida Mal. Floriano Peixoto. Em terreno da Rua dos
Funcionrios foram edificadas e adaptadas sedes em 1960, 1978 e 2001 Hoje, alm
de reunir a documentao referente memria do poder pblico, tem a
responsabilidade de executar a administrao da poltica relativa ao patrimnio
documental do Estado. Entretanto, determinante foi criado pela Lei n. 33,
sancionada pelo 1 Presidente da Provncia do Paran, Conselheiro Zacarias de
Ges e Vasconcellos, em 7 de abril de 1855. Denominado "Archivo Publico
Paranaense", tinha como finalidade reunir a memria impressa e manuscrita sobre a
histria e geografia do Paran. Sua primeira sede foi na Rua XV de Novembro. A
segunda na Avenida Mal. Floriano Peixoto. Em terreno da Rua dos Funcionrios
foram edificadas e adaptadas sedes em 1960, 1978 e 2001 Hoje, alm de reunir a
documentao referente memria do poder pblico, tem a responsabilidade de
executar a administrao da poltica relativa ao patrimnio documental do Estado.
como referncia histrica ao aluno da participao e do movimento histrico ao
pensar sobre a formao tica dos times e a relao com seus torcedores, uma
condio histrica muitas vezes que j est na memria ou identidade quando se faz
a escolha pelo time do corao, mesmo que muitas vezes induzido por familiares.
Ao destacar levantamentos bibliogrficos sobre o tema Identidade, Marieta de
Moraes Ferreira e Renato Franco apontam:
possvel definir identidade como o processo pelo qual uma pessoa se
reconhece e constri laos de afinidade (time), tendo por base um atributo
de religio, origem familiar ou profisso por exemplo. Assim, a noo de
identidade pode referir-se s formas como indivduos ou
grupos/coletividades se reconhecem ou se assemelham por meio de um
trao caracterstico ou de uma diferena comum, constituindo, ao mesmo
tempo, um elemento distintivo e unificador. (FERREIRA, 2009 p.86)
Entendemos a importncia do envolvimento direto do professor para
valorizao e resgate do conhecimento histrico nas escolas pblicas, passando
pela necessidade de propiciar aprofundamento terico e prtico das investigaes.
Nesse sentido a Educao Histrica, com nfase no conceito de literacia histrica, o
81
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
trabalho com fontes e a produo de narrativas em aulas de Histria siitua-se na
prtica de um objetivo comum, ou seja, o de valorizar o trabalho dos professores
enquanto sujeitos pensantes e capazes de produzir conhecimento.
Nesse contexto, a proposta da Educao Histrica, sobretudo o da Literacia,
foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.
Todos que conhecem qualquer coisa sobre educao histrica concordam
que h mais na histria do que o conhecimento de lembranas de eventos
passados, mas nem sempre h concordncia sobre o que esse mais
deveria ser, e que, na confuso da vida escolar, a prtica pode variar
enormemente, mesmo num nico sistema nacional. (PETER LEE p. 133).
Este artigo est articulado justamente com a prtica e teora do conhecimento
histrico, estabelecendo relaes histricas locais. Ao fazer um diagnstico
preliminar dos estudantes do 9 Ano do Colgio Estadual Benedicto Joo Cordeiro,
podemos identificar a manifestao esportiva como prtica ou manifestao cultural.
Acreditando ser o futebol um dos maiores fenmenos socioculurais do pas, nasce
assim a ideia de articular e mobilizar a comunidade escolar no envolvimento e
reconhecimento histrico do tema, reconhecendo a prtica histrica como tcnica
para o desenvolvimento de um trabalho motivador e o aluno como sujeito histrico
participativo nesse contexto.
Ao fazer as buscas pelos materiais de refncias bibliogrficas sobre o futebol
no Brasil, o historiador Andr M. Capraro
4
descreve a histria da chegada do futebol
no pas e como ele contribuiu diretamente para a migrao de vrias etnias,
inclusive no Paran.
Se a compreenso da vida social o objeto por excelncia da educao, o
futebol no pode ficar fora das sala de aula. Nas escolas, em geral, as
rpidas menses histriado futebol ocorrem nas aulas de educao fsica.
Aos alunos repassam-se fatos e nomes, como de Charles Miller (1874-
1953) e sua chegada ao Brasil em 1894, aps encerrar os estudos na Gr-
Bretanha. Questionado sobre o que aprendeu na Europa, o novo funcionrio
da Railway Company (companhia inglesa de ferrovias) em So Paulo, teria
respondido aprendi isto! - lanando duas bolas de futebol em direo ao
pai. ( CAPRARO. A. Mendes,2013. p. 76).
O futebol pode ser entendido como uma forte influncia dos imigrantes
europeus no plano sociocultural brasileiro. Alemes, italianos, portugueses e
espanhis fundaram vrios clubes esportivos pelo pas. Ao longo do sculo XX o
futebol passa a ser visto, no Brasil, com a inteno de preservar a prpria culura dos
82
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
imigrantes ou destacar as caractersticas ou ideologias propostas reais dos clubes,
como o caso dos times da capital paranaense (Atltico, Coritiba e Paran Clube).
Em sala de aula o professor pode usar as histrias dos clubes tradicionais
para discutir as formaes ou influncias das famlias no modo de pensar sobre
futebol, time e valores. Nesses aspectos gerais ainda identificar os esteretipos em
relao aos prprios clubes e aos seus torcedores, forjando identidades que
perduram at hoje. A histria social ajuda a explicar, por exemplo, por que no
Colgio Estadual Benedito Joo Cordeiro numericamente existe mais torcedores do
atltico em relao ao Coritiba ou mesmo ao Paran Clube, no o Atltico tido por
muitos como o time do povo ou mesmo o Coritiba como um clube de elite.
A condio de torcedor ou jogador de futebol faz parte da histria do povo
brasileiro, inclusive do paranaense. Pode se entender que ele caminha
paralelamente com importantes acontecimentos histricos do sculo XX, inclusive da
formao da identidade brasileira e at mesmo paranaense.
Sobre a relevncia da produo desse artigo, partiu-se da premissa que o
futebol em Curitiba um referencial de estudo para uma contextualizao da
sociedade brasileira e do estado do Paran; principalmente no que diz respeito s
formaes tnicas que, procurando um momento de lazer e diverso, introduziram a
prtica dos esportes em sua vida como condio cultural. Tambm busca por
parte das elites locais de uma identificao com as prticas europias no que
poderamos chamar da manifestao europia no sculo XX. Estes fatos podem ser
identificados atravs da prpria estruturao dos clubes e das prticas realizadas
pelos associados conforme documentos observados no arquivo pblico.
Nas aulas de histria fica subentendido que o tema futebol especificamente A
histria dos times da capital paranaense, servem para resgatar uso de fontes
histricas, uso de obras literrias, livros de memrias, filmes, documentrios,
notcias em jornais, documentos de clubes e federaes, legislao esportiva,
boletins de ocorrncias policiais, obras de arte, acervo em materiais histricos
(Museus, Estdios, Arquivo Pblico e Centros de Memrias), depoimentos orais de
atletas, dirigentes, torcedores em diversos sites ou revistas.
83
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Problemtica
necessrio articular as atividades de sala de aula com as visitas que
ocorrem durante as aulas expositivas como o passeio ao Arquivo Pblico
Paranaense e o estdio Couto Pereira. As propostas reais desse trabalho esto
diretamente ligadas aos objetos de estudo:
Percepo e importncia da Literacia Histrica no sculo XXI.
Relao histrica das migraes tnicas e formao dos clubes paranaenses
com a formao de seu povo.
Valorizao da histria local a partir dos documentos levantados pelos alunos
na perspectiva de reconhecer o futebol como manifestao cultural.
Conhecer os ambientes educacionais de pesquisa fora da escola para uma
aprendizagem da prpria histria.
Identificar os aspectos histricos que se apresentam em um trabalho
expositivo realizado na escola atravs das fontes coletadas pelos prprios
alunos.
Reconhecimento dos espaos pblicos e privados como fontes de estudo
O arquivo simulado
Para destacar a reflexo sobre o trabalho realizado pelos alunos do Colgio
Estadual Benedicto Joo Cordeiro como a aula de campo no Arquivo Pblico do
Paran, necessrio adequar um ambiente na prpria escola que represente
expositivamente um arquivo, mesmo que fixo ou provisrio para aprimorar o
conhecimento produzido e adquirido. Nessa perspectiva Guarracino informa:
Para responder uma srie de questes que envolvem a problemtica da
utilizao de arquivos como experincia didtica no ensino de histria,
dados as dificuldades que os alunos apresentam de deslocamentos, a
impossibilidade de permitir grande nmero de alunos ao mesmo tempo no
local de arquivo, o professor Ivo Mattozzi props o conceito de arquivo
simulado como um instrumento didtico que represente um arquivo
real.(GUARRACINO, 1987,p.79-80).
Produo e organizao de um espao na escola (Arquivo expositivo na
quadra esportiva) se tornam necessrios de maneira a organizar e selecionar os
84
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
materiais adquiridos, produzidos e selecionados pelos alunos durante o
desenvolvimento do projeto, com objetivo de divulgar e esclarecer as relaes
histricas migrao e influncias - dos times paranaenses, Atltico, Coritiba e
Paran Clube, de maneira visual e expositiva (fotos, imagens, vesturios, maquetes,
representaes, utenslios, revistas, cartazes, jornais etc).
Os arquivos familiares podem ser organizados nessa mesma exposio
dando espao para os alunos expressarem o seu conhecimento sobre um
determinado objeto.
A Histria alm do ambiente escolar
Atualmente, o ambiente escolar se torna um palco de diversidade social. A
disputa equivocada pela nota, conhecimentos que muitas vezes no fazem sentido
para o aluno, brigas, desmotivao, adoecimento por parte de colegas, falta de
valorizao dos profissionais de educao e pouca participao da famlia no
envolvimento da educao e formao do aluno, tem dificultado a expanso do
conhecimento para alm da escola. As tentativas por parte da escola e professores
de rever essas questes para alm das quatro paredes tem sido uma tentativa de
valorizar o aluno e da sua prpria histria e realidade. A disciplina de Histria assim
como outras (Sociologia, Filosofia, Geografia etc) fazem tentativas constantes de
que haja o envolvimento da famlia, a escola, o bairro e a cidade, na compreenso
do contexto histrico local.
Nessa perspectiva histrica Eric Hobsbawm deixa sua percepo:
Quando aprendem histria, os alunos esto realizando uma leitura do
mundo onde vivem e, assim, o tempo presente pode se tornar maior
laboratrio de estudo para a aprendizagem em histria, pois neste tempo,
com as memrias que foram preservadas, que o aluno comea a entender
que a histria tambm se faz fora da sala de aula e que o passado se faz
presente nas praas, nos monumentos, nas festas cvicas, nos nomes de
ruas e colgio. ( HOBSBAWM, 1998. P.53)
Visitas tcnicas ao arquivo pblico do parane aos estdios
Seguindo a proposta arquiteta pelos professores e alunos do Colgio
Estadual Benedicto Joo Cordeiro, duas visitas tcnicas foram concludas. Ao
agrupar os alunos e se dirigir at o Arquivo Pblico do Paran com finalidade
85
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
destacar importncia do ambiente, foi identificado que os alunos no conheciam o
ambiente ou mesmo sabiam o que era um Arquivo Pblico e sua funo histrica.
Com os devidos registros feitos (imagens e registros pessoais), os alunos mostraram
- se interessados alm de conhecer o ambiente, manusear os documentos.. Em um
segundo momento, a visita foi realizada no Coritiba Futebol Clube, com objetivo de
relatar e conhecer o estdio de futebol na prtica. Ao indagar os alunos sobre quem
j havia entrado em um estdio de futebol, mais da metade do grupo de 32 alunos
nunca havia conhecido um estdio do clube de futebol da capital paranaense,
segundo levantamento de fonte prpria realizado com os alunos que segue em
anexo.
Consideraes Finais
O futebol est integrado na cultura brasileira, portanto paranaense e inserido
de forma sistemtica e multidisciplinar em nosso ambiente escolar. O presente
trabalho buscou vincular o cotidiano escolar com aprendizagem histrica e
paranaense usando o futebol como base para despertar nos alunos o interesse pela
sua prpria histria, sendo agente histrico participativo dessa construo. O
presente trabalho conseguiu levantar questionamentos sobre o tema de maneira
reflexiva e participativa de toda a comunidade escolar inclusive dos alunos do 9B,
na qual ainda as consideraes finais no sendo fechadas para debates.
Do ponto de vista histrico, a compreenso pelo tema foi acatada pela maioria
dos alunos com a sua devida compreenso crtica sobre a formao dos times da
capital paranaense, onde buscou e demonstrou expressar, organizar, assumir
responsabilidades eles atribudas. Ficou claro que o tempo e a logistica da
organizao na escola e fora dela para os passeios devidamente pr-estabelecida
pelo professor, na qual sua misso demosntrar ao aluno que conhecimento no
est somente em sala de aula, mais tambm fora dela.
Mesmo o futebol considerado o esporte coletivo mais popular do pas, e
adorado pela maioria das pessoas, deve ser contextualizado enquanto contedo nas
aulas interdisciplinarmente, a fim de que compreendamos o seu real valor dentro do
ambiente scio-cultural que o produz inclusive historicamente.
Destacamos que a pesquisa essencial para a disciplina de histria em
qualquer momento da vida humana e principalmente estudantil, fica claro que
86
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
quando o tema de interesse do aluno a dedicao maior ainda, onde
acreditamos numa participao mais transformadora na construo da literacia
histrica por parte dos alunos como sujeitos histricos de sua prpria realidade.
REFERNCIAS
CHARTIER, Roger. A histria hoje: dvidas, desafios, propostas. In: Estudos
Histricos. Rio de Janeiro, v. 7, n 13, 1994.
FERREIRA, Maristela de Moraes. Aprendendo Histria: reflexo e ensino/Marieta de
Moraes Ferreira, Renato Franco. p.86 - 87 -So Paulo: Editora d Brasil, 2009
HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve sculo XX. So Paulo: Companhia
das
Letras, 1995.
LEE, Peter. Em direo ao conceito de literacia histrica. Educar, Curitiba,
Especial, p. 131-150, 2006. Editora UFPR.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Ensinar Histria / Maria Auxiliadora Schmidt, Marlene
Cainelli. So Paulo: Scipione, 2009. (Coleo Pensamento e ao na sala de
aula).
87
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
O CINEMA COMO RECURSO DIDTICO NAS AULAS DE HISTRIA
Vanessa Maria Rodrigues Viacava
19
RESUMO:
Este trabalho tem o intuito de apresentar o uso do cinema como recurso importante
para o ensino de Histria, tendo como pressupostos terico a Educao Histrica. O
cinema, enquanto produto cultural, atua na formao das ideias histricas e em
sala de aula, devendo, assim, ocupar um lugar de destaque nas aulas de Histria.
Desde as primeiras dcadas do sculo XX, educadores defendem a utilizao do
cinema como um recurso didtico, visto que quando usado em contextos escolares,
colabora na formao da conscincia histrica dos estudantes (RSEN, 2001).
Para as pesquisadoras Olga Magalhes e Henriqueta Alface (2011, p. 255), o
cinema pode ser includo no planejamento do professor de Histria desde que sejam
considerados algumas questes: a faixa etria do aluno, o nvel de ensino, a relao
direta com os contedos e o respeito com os valores socioculturais do meio onde a
escola est inserida. Isso porque o uso do filme no pode ser visto como apenas
"passar o filme", necessrio conduzir os alunos a uma percepo crtica, tornando
o filme significativo. Em relao bibliografia especializada em cinema e educao,
esta sugere algumas etapas para o bom uso do filme na escola so elas:
apresentao da sinopse, exibio do filme e debate sobre temas apresentados em
determinados trechos do filme. Cabe tambm ao professor escolher como
apresentar aos estudantes o filme: se completo ou selecionar alguns fragmentos que
favoream o processo de ensino e aprendizagem. Conforme Pablo Blasco (2006, p.
28), o uso do fragmento mostra-se eficiente porque se insere na chamada cultura
do espetculo, marcada pela informao rpida, o impacto, o intuitivo, em
detrimento do raciocnio linear, lgico e especulativo. No entanto, a maioria dos
pesquisadores consideram a fragmentao do filme como um procedimento
equivocado, porque essa leitura fracionada compromete a apreciao do cinema
como obra de arte (NAPOLITANO, 2009). A partir desses pressupostos tericos que
este trabalho se prope a comparar ambas as maneiras de uso do cinema em sala
de aula, em trechos ou na ntegra, a fim de auxiliar a prtica docente do ensino de
Histria.
Palavras-chave: Histria; cobem; ensino; aprendizagem.
INTRODUO
O cinema se apresenta como um importante recurso didtico no processo de
ensino e aprendizagem, (...) como prtica pedaggica pode fazer despertar no
aluno o interesse pelo conhecimento e pelo seu ensino no sentido tradicional, e, ao
19 Professora de Histria da Rede Estadual de Educao do Paran e mestre em Antropologia
Social. vanessaviacava@gmail.com
88
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
mesmo tempo, mostrar novas possibilidades educacionais apoiadas na narrativa
cinematogrfica (ARAJO et al., 2012, p. 252). A partir dessa afirmao, esse
trabalho discute o cinema como recurso didtico nas aulas de Histria articulado
s concepes terico-metodolgicos da Educao Histrica (ABUD, 2005;
CAINELLI; SCHMIDT, 2011; RSEN, 2001) , levando-se em conta as
consideraes sobre Cinema e Histria apresentados no evento on-line de formao
continuada denominado Hora Atividade Interativa, promovido pelo Portal Dia a Dia
Educao
20
em parceria com o Departamento de Educao Bsica (DEB).
Realizada atravs do software Coveritlive, que permite a interao sncrona
por meio de chat, a HAI tem a finalidade de proporcionar aos professores das
diversas reas do conhecimento momentos de socializao de ideias e
experincias vivenciadas em sala de aula, debates sobre o uso de
tecnologias, a fim de estabelecer um canal de comunicao entre professor-
SEED. (ANGREWSKI et al., 2013, p. 1)
A preocupao em problematizar e sistematizar indicaes para a exibio
pedaggica de filmes e trechos de filmes nas aulas de Histria surgiu a partir de um
diagnstico feito entre os professores de Histria da Rede Estadual do Paran no
segundo semestre de 2012 da Hora Atividade Interativa.
Na primeira edio da HAI foi discutido o uso de fontes histricas e de
Objetos de Aprendizagem nas aulas de Histria. No semestre seguinte, o assunto
abordado foi o uso de cinema no ensino de Histria, e em 2013, a HAI de Histria
debateu o uso de msica na sala de aula. Aps a realizao desses encontros
virtuais, o trabalho consistiu em retomar as discusses na web para produo de um
relatrio para verificar possveis demandas que pudessem auxiliar no planejamento
e na execuo de aes de apoio prtica docente. Os relatrios das HAIs de 2012
e 2013 indicaram uma fragilidade sobre a interpretao do conceito de fonte
histrica e, consequentemente, na dificuldade em us-las em sala de aula.
20 O Portal Dia a Dia Educao uma ferramenta tecnolgica integrada ao site institucional da
Secretaria de Estado da Educao do Paran (Seed-PR). Lanado em 2004 e reestruturado em
2011, essa ferramenta tem o intuito de disponibilizar servios, informaes, recursos didticos e de
apoio para toda a comunidade escolar. (...) Alm de sociabilizar contedos educacionais, o Portal
Dia a Dia Educao tambm se constitui em um modelo de aprendizagem colaborativa que
reconhece e valoriza os saberes escolares. Assim, todos os usurios podem participar por meio do
Recurso Colaborativo, enviando sugestes de materiais ou assuntos a serem abordados; sugestes
de sites, leituras e filmes; arquivos de udio e vdeo; simuladores e animaes; produes prprias,
como imagens e fotografias, artigos, teses, dissertaes e monografias; e relatos de experincias
bem sucedidos em sala de aula. Disponvel em:
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=212>.
Acesso em: 20 jan. 2014.
89
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A segunda edio da HAI debateu o tema O cinema como recurso nas aulas
de Histria
21
e contou com 515 participantes, os quais emitiram 880 comentrios,
sendo publicados 155 deles. Os participantes demonstraram muito interesse pelo
assunto e 95% dos professores declararam usar filmes e/ou trechos de filme em sua
prtica docente. Uma das intervenes destacou a importncia do cinema como
recurso e, ao mesmo tempo, suscitou a necessidade de criao de uma proposta
terico-metodolgica para o uso do cinema nas aulas de Histria.
O grande problema estabelecer a utilizao do cinema como recurso e
objetivo pedaggico e no simplesmente como um passatempo em sala de
aula. A sua utilizao como documento e fonte histrica proporciona novos
direcionamentos e interpretaes (...) do fazer histrico. Um recurso
audiovisual que permite elaborar novos olhares sobre determinados
conceitos estabelecidos no documento escrito. (Participante 1).
Esse comentrio colocou em pauta questes fundamentais acerca do uso do
cinema no ensino de Histria, entre elas, a importncia do planejamento e como o
professor atua como mediador entre o recurso didtico no processo de ensino e
aprendizagem. Outro elemento destacado nessa interveno diz respeito ao cinema
enquanto fonte histrica e quais as implicaes dessa caracterstica em seu uso
pedaggico. A relao entre cinema e historiografia ser discutida
concomitantemente aos primeiros elementos supracitados, pois, conforme se busca
afirmar nesse texto, o filme ou seus trechos devem ser compreendidos como fontes
histricas e recursos didticos, inseparavelmente.
Para as pesquisadoras Olga Magalhes e Henriqueta Alface (2011, p. 255), o
cinema pode ser includo no planejamento do professor de Histria desde que sejam
consideradas algumas questes: a faixa etria do aluno, o nvel de ensino, a relao
direta com os contedos e o respeito com os valores socioculturais do meio onde a
escola est inserida. Isso porque o uso do filme no pode ser visto como apenas
passar o filme, necessrio conduzir os alunos a uma percepo crtica, tornando
o filme significativo. Em relao bibliografia especializada em cinema e educao,
esta sugere algumas etapas para o bom uso do filme na escola so elas:
apresentao da sinopse, exibio do filme e debate sobre temas apresentados em
determinados trechos do filme.
21 Material de apoio sobre o tema e acesso aos debates na ntegra disponveis em:
<http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=397>. Acesso em: 20
jan. 2014.
90
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Para a pesquisadora Katia Abud (2005), o cinema assim como outros
produtos culturais compreendidos como fontes histricas pode ser um interessante
recurso didtico no processo de ensino e aprendizagem desde que o professor
indique aos estudantes algumas chaves de leituras. Para Napolitano (2009), o
professor deve apresentar um roteiro de anlise, seja informativo ou interpretativo.
O roteiro informativo consiste apenas na indicao da ficha tcnica do filme (tema
central, sinopse e lista dos personagens principais) e o roteiro interpretativo indica
questes que dirijam o olhar do aluno para os aspectos considerados mais
relevantes para atender aos objetivos traados no planejamento do professor.
Embora a elaborao de um roteiro possa interferir negativamente na exposio das
ideias prvias (RSEN, 2001) dos estudantes, cabe ao professor observar a
necessidade de tal ao em sua realidade escolar.
O roteiro pode ser uma ferramenta importante para os pblicos no
acostumados com a observao dos aspectos tcnicos do filme. Esses elementos
se articulam e ao mesmo tempo reforam elementos narrativos expressos pelo
diretor, como, por exemplo, um determinado som, a escolha do figurino, o close num
personagem ou mesmo a paleta de cores selecionadas so escolhas narrativas e
devem ser observadas pelo espectador como inseparveis da histria contada.
Nesse ponto, relembramos as consideraes de Arajo (2012) sobre a importncia
da compreenso dos elementos tcnicos da produo audiovisual, na medida em
que eles possibilitam uma melhor anlise da narrativa e tornam a leitura flmica mais
abrangente.
Observar e interpretar os aspectos tcnicos do filme consiste num elemento
fundamental no uso do cinema como recurso didtico nas aulas de Histria, mas
tambm importante impor ao cinema uma dupla anlise: como produto cultural
(fonte histrica), associado intencionalidade pedaggica proposta pelo mediador
(professor). Nesse ponto Katia Abud observa que o cinema (...) transforma-se em
evidncia quando, de material original, isto , de produo no intencional para
finalidades pedaggicas, passa a ser um instrumento para o desenvolvimento de
conceitos na aula de histria (ABUD, 2005, p. 312, grifo nosso). Ainda para essa
pesquisadora, (...) no processo de aprendizagem as fontes se transformam em
recursos didticos, na medida em que so chamadas para responder perguntas e
questionamentos adequados aos objetivos da histria ensinada (ABUD, 2005, p.
91
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
309, grifo nosso). A partir dessa afirmao, no existe contradio no uso de fontes
histricas como recursos didticos, pois as fontes em sala de aula se destacam
como elementos essenciais na percepo das ideias prvias dos estudantes acerca
dos contedos substantivos da disciplina Histria.
O cinema, em sala de aula, exibido integralmente, permite ao professor uma
leitura mais ampla e no serve apenas como um recurso didtico, mas revela traos
da sociedade que ela escolheu contra ou sobre si mesmas, como os monumentos.
Sobre isso, destacou Jacques Le Goff: Os filmes assim como outras formas de
narrativas tambm podem ser vistos como o resultado do esforo das sociedades
histricas para impor ao futuro voluntria ou involuntariamente determinada
imagem de si prprias (LE GOFF, 1992, p. 548). Essa denominao de documento
como monumento atribudo ao filme implica em cuidados de anlise especficos para
o cinema. O professor/pesquisador dever proceder com certos cuidados ao
trabalhar com o filme, conforme destacou Eduardo Morettin sobre as reflexes de
Marc Ferro:
Para Ferro, o cinema um testemunho singular de seu tempo, pois est fora
do controle de qualquer instncia de produo, principalmente o Estado.
Mesmo a censura no consegue domin-lo. O filme, para o autor, possui uma
tenso que lhe prpria, trazendo tona elementos que viabilizam uma
anlise da sociedade diversa da proposta pelos seus segmentos, tanto o
poder constitudo quanto a oposio. (MORETTIN, 2003, p. 14).
Alguns pesquisadores consideram a fragmentao do filme em sala de aula
como um procedimento equivocado, porque uma leitura fracionada compromete a
apreciao do cinema como obra de arte e impede a anlise nos termos propostos
pela historiografia especializada (NAPOLITANO, 2009). Mas cabe ao professor
escolher como apresentar aos estudantes o filme: se completo ou selecionar alguns
fragmentos que favoream o processo de ensino e aprendizagem.
Conforme Pablo Blasco, o uso do fragmento mostra-se eficiente porque se
insere na chamada cultura do espetculo, marcada pela informao rpida, o
impacto, o intuitivo, em detrimento do raciocnio linear, lgico e especulativo
(BLASCO, 2006, p. 28). Durante a realizao Hora Atividade Interativa,
anteriormente mencionada, algumas intervenes destacaram aspectos positivos
sobre o uso de trechos de filme.
92
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Penso que usar somente fragmentos de filmes seja mais importante que o
todo, pois muitas vezes, foge do contexto. (Participante 2).
Devido s poucas aulas semanais o mais recomendado, realmente,
utilizao de trechos de filmes ou pequenos documentrios. (Participante 3).
O Portal Dia a Dia oferece um grande nmero de fragmentos de filme de
grande importncia para nossas aulas, inclusive j em formato para nossa
tecnologia. (Participante 4).
No tenho muito tempo para assistir a filmes e muito menos fazer os tais
recortes pedaggicos necessrios... por isso sempre que possvel utilizo os
trechos de filmes que esto disponveis no Portal. (Participante 5).
Diante desses apontamentos, alguns elementos interessantes se revelam
acerca do uso do trecho de filme. A interveno do participante 2 indica o uso de um
roteiro interpretativo e enfatiza a intencionalidade pedaggica, aspecto discutido pela
pesquisadora Katia Abud (2005). Enquanto, o participante 3 coloca que o nmero
reduzido de aulas de Histria consiste num empecilho ao uso do filme completo.
Mas essa limitao no deve ser a justificativa para desconsiderar o uso do cinema
no processo de ensino e aprendizagem. A prtica demonstra que nas escolas os
professores costumam organizar arranjos de emprstimos de aulas para
possibilitar a exibio do filme na ntegra, e algumas escolas possuem cine clubes
em contraturno. O uso do trecho interessante porque evita a disperso dos
estudantes e combate o uso indevido do cinema em sala de aula, apresentar uma
obra cinematogrfica como enrolao, ou meramente como matao de aula. O
trabalho com a seleo de apenas alguns trechos dos filmes, trabalhando com
cenas e sequencias curtas interessante porque exige menos tempo de
concentrao do aluno. Cabe ainda ressaltar que ao escolher um determinado filme
fundamental obedecer indicao de faixa etria recomendada pelo produtor.
Embora muitos filmes possuam elementos interessantes para o trabalho com alguns
contedos e conceitos histricos, cenas inapropriadas devem ser suprimidas.
Ainda na segunda edio da Hora Atividade Interativa de Histria, os
participantes 4 e 5 enfatizam a importncia do Portal Dia a Dia Educao como
suporte ao uso dos trechos de filme. Esse tipo de produo de recursos didticos
comeou no Portal em 2008, com a parceria tcnica da coordenao do Multimeios
equipe responsvel pela criao de imagens, udios e animaes para a Seed. No
ano seguinte, a coordenao do Portal criou a pgina dentro do Portal especfica
para filmes e com isso os trechos passaram a ser objeto de estudo de um tcnico-
93
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
pedaggico especialista na rea
22
. Em 2010, os tcnicos-pedaggicos de todas as
disciplinas passaram a estudar sistematicamente o potencial pedaggico dos
trechos de filme como Objetos de Aprendizagem (OA). Para o Ministrio da
Educao (MEC), OA (...) so recursos educacionais, em diversos formatos e
linguagens, que tem por objetivo mediar e qualificar o processo de ensino-
aprendizagem.
23
No Portal Dia a Dia Educao, os Objetos de Aprendizagem foram
definidos como recursos digitais acompanhados de indicao pedaggica. A partir
disso, se colocou uma questo: como redigir uma indicao pedaggica para
trechos de filme nas aulas de Histria reconhecendo o cinema como fonte histrica e
recurso didtico? Para responder essa importante pergunta foi planejada a Hora
Atividade Interativa intitulada O cinema como recurso nas aulas de Histria.
Aps a realizao desses debates na HAI sobre o uso de cinema, o trabalho
na pgina disciplinar de Histria levou em conta essas reflexes. A equipe tcnico-
pedaggica e a coordenao do Portal Dia a Dia Educao compreenderam que os
usurios/professores identificam no Portal o espao de referncia nesse tipo de
recurso didtico e a indicao pedaggica deveria contemplar aspectos tcnicos e
narrativos do filme.
Ainda como ao da Seed para ampliar os debates acerca do cinema em sala
de aula, em 2013, a coordenao do Multimeios props a criao do programa
Cinema e Educao
24
, um produto vinculado a Web Rdio Escola dirigido aos
professores para apresentar sugestes de filmes e de trechos de filme para o uso
em sala de aula. Esses programas, de certa forma, deram continuidade aos debates
iniciados nas edies das HAIs e permite uma aproximao do professor ao trabalho
com trechos de filmes produzidos no Portal Dia a Dia Educao.
Portanto, o uso do cinema nas aulas de Histria possui uma relao inegvel
e o volume de filmes histricos comprova essa afirmao. Mas o uso do filme para
fins didticos envolve mais que apenas a exibio, necessrio planejamento e
22 Em 2010, ano de criao da pgina de Cinema (http://www.cinema.seed.pr.gov.br/), o
tcnico-pedaggico responsvel e co-criador do espao era um professor graduado em Arte. No
ano seguinte, a pgina passou a ser mantida por uma professora de Lngua Portuguesa e estudante
do curso de Bacharelado em Cinema e Vdeo (Faculdade de Artes do Paran FAP). Em 2013, a
pgina passou a ser responsabilidade de uma tcnica-pedaggica graduada em Histria que cursou
parte do curso de Bacharelado em Cinema e Vdeo na FAP.
23 Disponvel em:<http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/modulo4.html>. Acesso em:
20 jan. 2014.
24 Programas disponveis em:
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/genre.php?genreid=303>. Acesso em:
20 jan. 2014.
94
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
mediao docente no sentido de destacar a intencionalidade do filme ou do trecho
exposto.
Ao refletir sobre esse assunto a partir da experincia da HAI de Histria e da
produo de trechos de filmes do Portal Dia a Dia Educao, verificou-se que a
opo terico-metodolgica proposta pela Educao Histrica, especialmente pela
apreciao das ideias prvias, no contraditria a elaborao de um roteiro de
anlise que contemple os aspectos tcnicos e narrativos do filme. O roteiro serve
apenas como referncia ao professor, pois cada realidade escolar possui suas
especificidades que sero verificadas apenas na prtica, durante o processo de
ensino e aprendizagem.
Esse trabalho conclui suas reflexes afirmando que embora o filme completo
permita uma anlise mais abrangente dos elementos narrativos e tcnicos,
compreende-se que o uso de trechos no impede totalmente essa dupla anlise,
mas necessrio seguir as orientaes da bibliografia especializada. Alm disso, o
uso de filmes e/ou fragmentos, pode ser interessante tanto no momento de
explorao dos conhecimentos prvios, ou da problematizao do tema e podem
ainda colaborar na produo de uma narrativa histrica.
REFERNCIAS
ABUD, K. M. Registro e representao do cotidiano: a msica popular na aula de
histria. Cad. Cedes, Campinas, v. 25, n. 67, p. 309-317, set./dez. 2005. Disponvel:
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_01/singlefile.php?c
id=42&lid=6848>. Acesso em: 30 out. 2013.
ALFACE, H.; MAGALHES, O. O Cinema como recurso pedaggico nas aulas de
Histria. In: CAINELLI, M.; SCHMIDT, M. A. (Org.). Educao Histrica: teoria e
pesquisa. Iju: Ed. Uniju, 2011.
ANGREWSKI, E. et al. Hora Atividade Interativa: a experincia de um debate obre
educao ambiental na web com professores da rede estadual de ensino do Paran.
In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAO - EDUCERE, 11., 2013. (Texto cedido
pelo autor).
ARAJO, C. D.; ANGREWSKI, E.; GALVAN, M. Cinema e Filosofia: a utilizao de
obras cinematogrficas nas aulas de Filosofia. In: GABRIEL, F. A.; GAVA, L. (Org.).
Ensaios filosficos: antropologia, neurocincia, linguagem e educao. Rio de
Janeiro: Multifoco, 2012.
BLASCO, P. G. Educao da Afetividade atravs do cinema. Curitiba:
IEF/SOBRAMFA, 2006.
95
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
CAINELLI, M.; SCHMIDT, M. A. (Org.). Educao Histrica: teoria e pesquisa. Iju:
Ed. Uniju, 2011.
MORETTIN, E. V. O cinema como fonte histrica na obra de Marc Ferro. Revista
Histria: Questes & Debates, Curitiba, UFPR, n. 38, p. 11-42, 2003. Disponvel em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/historia/issue/view/297>. Acesso em: 30 out.
2013.
NAPOLITANO, M. Como usar o Cinema em sala de aula. So Paulo: Contexto,
2009.
RSEN, J. Razo histrica. Teoria da histria: os fundamentos da cincia histrica.
Braslia: Editora Universidade de Braslia, 2001.
96
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
HUMANISMO E IDENTIDADE HISTRICA: CONTRIBUIES PARA ANLISE DE
NARRATIVAS HISTRICAS
Lucas Pydd Nechi
25
,
Orientadora: Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt
RESUMO:
Este trabalho busca aprofundar a relao entre os conceitos de novo humanismo e
identidade histrica, do filsofo alemo Jrn Rsen. Para tanto, destaca o papel
normativo e emprico do humanismo e a possibilidade de uma formao da
identidade histrica que preze pela alteridade, pela concretizao dos direitos
humanos e civis e pela singularidade da vida humana e da dignidade do outro, a
partir de processos educacionais fundamentados na teoria da conscincia histrica.
A presente incurso terica, como parte integrante de uma pesquisa de doutorado,
busca traar elementos-chave para a anlise de narrativas histricas a serem
aplicadas em jovens ao trmino da educao bsica. Os resultados parciais detas
pesquisa apontam possibilidades de um bloco de perguntas sobre escolhas de
orientao no tempo a partir dos parmetros da dinmica do desenvolvimento da
aprendizagem histrica, e, complementarmente, um bloco de investigao sobre a
conscincia histrica a partir de um contedo especfico do ensino de histria.
Estabelecem-se, tambm, quatro elementos do novo humanismo usados como
chave de leitura das narrativas dos jovens futuramente inqueridos: dignidade
humana, relao com a natureza, conflitos antropolgicos e multiperspectividade.
Palavras-chave: humanismo identidade histrica conscincia histrica
narrativas histricas.
Introduo
Este trabalho tem o objetivo de fundamentar um quadro de anlise terica de
narrativas histricas a serem estudadas empiricamente, a partir do pensamento de
Jrn Rsen. Tal fundamentao parte integrante de uma tese de doutoramento,
em fase inicial de construo, cujo foco o conceito do novo humanismo do mesmo
autor. Intenciona-se verificar nas narrativas histricas de jovens alunos de diferentes
localidades se tais sujeitos apresentam elementos semelhantes aos teorizados por
Rsen em sua proposta humanista e, ainda, como estas concepes influenciam na
formao e apropriao de suas identidades histricas. Objetiva-se, paralelamente,
25
Psiclogo (UFPR), Mestre em Educao (PPGE/UFPR) e Doutorando em Educao na linha
Cultura, Escola e Ensino (PPGE/UFPR). Membro do Lapeduh UFPR. lucaspyddnechi@hotmail.com
97
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
compreender o conceito de novo humanismo em sua relao com a aprendizagem
histrica, inscrita na cultura, entre outras formas, por meio da didtica da histria.
A investigao qualitativa da aprendizagem histrica de jovens alunos
demanda um desdobramento conceitual na teoria da conscincia histrica, tendo em
vista que o novo humanismo pode ser compreendido tanto como elemento emprico
como normativo da conscincia histrica dos sujeitos. Rsen apresenta a ideia do
novo humanismo como esta combinao de um universalismo emprico e normativo
da humanidade, sua forma poltica dos direitos bsicos, sua historicizao geral e
individualizao da cultura humana e sua ideia de uma humanidade que forma a si
prpria em todos os processos educacionais. (2012b, p. 525).
A compreenso deste lcus entre a empiria e a normatividade essencial
tanto para que se atente profundidade do novo humanismo como tambm para
estruturar uma incurso emprica. Analogicamente, pode-se utilizar a definio dos
elementos empricos e normativos descritos pelo autor em relao aprendizagem
histria sob a tica da didtica da histria. Empiricamente, a didtica da histria
levanta a questo do que a aprendizagem histrica; examina os processos reais
pelos quais se manifestam as diferentes condies, formas e resultados, o seu papel
no processo de individualizao e socializao humana. (2012a, p. 72). J no
aspecto normativo a didtica da histria levanta a questo do que deve ser a
aprendizagem histrica, e investiga os pontos de vista de que ela, deliberadamente
(por meio do ensino) deve influenciar, planejar, moldar, dirigir e controlar. (2012a,
p.72). A partir do que e o que se enseja que deva ser a aprendizagem histrica,
visualiza-se o que o que deva ser a utilizao do novo humanismo como funo
didtica da histria.
Porm, neste ponto deve-se destacar que h uma dificuldade vigente de se
estabelecer critrios empricos para pesquisas focadas na conscincia histrica.
Rsen relata o desafio cujas pesquisas vm enfrentando e indica o saber histrico
como ponto de partida:
No plano da articulao lingustica da conscincia histrica surge para
qualquer pesquisa emprica, em primeiro lugar, a questo fundamental
acerca de que processos de conscincia histrica referentes que
enunciados lingusticos so empiricamente acessveis. O mais simples
comear pelos acervos do saber histrico. Esses acervos so
continuamente revisitados. (2012a , P.96).
98
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Assim, ainda no plano terico, procurou-se relacionar a concepo de novo
humanismo com o conceito de identidade histrica que, pertencente teoria da
conscincia histrica, estabelece uma ponte com a empiria. A opo por este
conceito dentre tantos possveis justificada pela inteno de constituir uma
pesquisa qualitativa cuja centralidade resida nos sujeitos. A identidade histrica
circunscreve a conscincia histrica, pois os sujeitos a constituem em um processo
formativo e se apropriam dela nas diversas relaes com os contedos do passado.
A identidade histrica tambm poder ser um conceito chave para que se possam
realizar pesquisas no universo escolar.
Desenvolvimento
A identidade histrica um dos trs elementos constitutivos da teoria da
conscincia histrica juntamente com a memria e com a continuidade e auxilia
na diferenciao entre as narrativas histricas e outras narrativas quaisquer, sejam
literrias ou de outros gneros de linguagem. A particularidade da narrativa histrica
em contraste com o contar e, com isso, tambm, a especificidade da histria como
um assunto do pensamento histrico formada pelas trs qualidades simblicas da
experincia temporal (2012a, p.39). Em suma, tais elementos conferem
historicidade s narrativas que, por sua vez, so a materializao da conscincia
histrica dos sujeitos.
Quanto memria, Rsen afirma que: a memria de sua experincia
apresenta a variao temporal do homem, e seu mundo no passado (que so
interpretados em termos de uma experincia do tempo presente). (2012a, p.39). J
em relao continuidade: significa a representao de um processo abrangente
de passado, presente e futuro, no qual se inserem os contedos do passado,
tornando-se assim, histria. (2012a, p.39).
A identidade histrica tem um papel diferenciado, estando relacionada com a
subjetividade e intersubjetividade dos sujeitos. Narrar histrias demarcar-se no
fluxo do tempo e tambm assinalar onde se encontram os outros sujeitos e quais
so as relaes entre si.
A principal razo para que a continuidade das ideias seja formada, a
inteno dos narradores e dos seus ouvintes de garantir suas prprias
99
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
identidades e as de seus mundos, a partir de histrias contadas no curso
das mudanas temporais: a continuidade das ideias deve ser capaz de
funcionar como uma reafirmao da identidade humana da mudana no
tempo. As histrias so (historicamente) contadas, porque os narradores e
sua audincia apenas podem ser e permanecer eles mesmos, quando eles
prprios e seu mundo se afirmam em suas identidades ao longo das
mudanas no tempo. (2012a, p.39-40).
Rsen define o conceito de identidade histrica como:
[...] a ligao de vrias identificaes centralizadas na auto-referncia de um
individuo e de sua comunidade social. Identidade integra as mltiplas
objetivaes do self humano com suas projees para o mundo exterior de
maneira pela qual a pessoa interessada se torna consciente de si mesmo
como sendo o mesmo, nico, em todas as mudanas de espao e de
tempo. (2012b, p.532).
Distinta do conceito de identidade abordado pela Psicologia, Antropologia e
demais cincias humanas, o qualitativo histrica atribui identidade concepes de
si e dos outros culturalmente inscritas e influenciadas por referncias do fluxo do
tempo e do acmulo dos saberes histricos. As ideias de Rsen foram influenciadas
por outro historiador alemo, Johann Droysen, que confere identidade histrica um
carter de potencial emancipao em vista das transformaes que os sujeitos
podem realizar em suas vidas se lhes forem permitidos a reflexo sobre seu lugar no
tempo.
Quando as pessoas, mediante a reflexo de sua conscincia histrica,
desvelam a gnese histrica do seu prprio mundo, descobrem que as
determinaes do seu agir, que aparecem como imposies externas,
deixam transparecer o esprito que as formou e cuja presena repercute
assim indiretamente em seu dia-a-dia. As pessoas adquirem assim sua
identidade histrica, e, ao mesmo tempo, transformam as circunstncias de
sua vida, de determinaes impositivas do agir, em oportunidades de
autoafirmao e autodesenvolvimento. (2012a, p.28)
Ao citar Droysen, Rsen relembra as contribuies do Iluminismo e do
Historicismo cincia da histria, destacando a importncia da funo didtica
interna prpria ao conhecimento histrico, sendo necessrio elaborar o sentido
didtico da racionalidade metodolgica prpria cincia como meio da formao da
identidade histrica. (2012a, p.30). A didtica da histria deve realizar mais do que
descries de identidades do passado, mas sim buscar fazer uso das
consequncias cientficas do Iluminismo no que toca a concepo universalista de
humanidade e do Historicismo concretizando o conceito de humanidade na
100
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
multiplicidade das culturas (2012a, p.30), para estabelecer critrios de apropriao
da identidade em consonncia com os pressupostos da cincia da Histria.
A identidade histrica de cada sujeito no constituda em si mesma,
justamente devido historicidade a que cada um est inserido. Os sujeitos no se
formam alijados do tempo. Tambm no se pode afirmar que as identidades so
copiadas ou que sejam composies similares a outras identidades do passado. A
idiossincrasia histrica de cada sujeito permite-lhes possuir relativa autonomia, no
sentido de autoafirmao e autodesenvolvimento de Droysen, porm sempre
vinculada s circunstncias histricas do tempo em que se vive. O processo de
formao e construo da identidade histrica , de fato, um processo de
apropriao, pois se realiza em um jogo dinmico de relao com o passado,
presente e futuro a partir de critrios que so formados culturalmente e podem ser
sistematizados em processos formais de educao. Empiricamente isto significa que
o processo de desenvolvimento da conscincia histrica liga-se com a apropriao
da identidade histrica de jovens alunos. Por consequncia, normativamente deve-
se refletir qual objetivo ou critrio centralizador pode ser utilizado para que tal
apropriao seja realizada de forma emancipatria. Nas palavras de Jrn Rsen:
Identidade histrica coisa totalmente diferente da discusso em torno de
liberdade de opinio ou de deciso. Ela est inexoravelmente marcada
pelas circunstncias histricas sob as quais qualquer sujeito nasce. Pela
aprendizagem a identidade histrica no criada, mas apropriada. Lembre-
se, a propsito, que o modo da apropriao influencia o formato de cada
identidade histrica. (2012a, p.105)
Em contrapartida pesquisas na rea da Educao Histrica vem apontando
que os sujeitos escolarizados que aprendem Histria de forma estanque, com uma
nica e etnocntrica narrativa sobre fatos isolados do passado, esto subjugados a
um presentismo que os aparta de formas mais crticas de conscincia histrica. Tais
pesquisas so destacadas pelas professoras Schmidt, Barca e Garcia ao traarem o
percurso das pesquisas de Educao Histrica no Brasil e em Portugal (SCHMIDT,
BARCA E GARCIA, 2010, p.14-18).
No ambiente escolar, o ensino e aprendizagem de histria podem ser
constitudos com o objetivo didtico do desenvolvimento da conscincia histrica e,
por consequncia, da identidade histrica dos alunos. Neste processo, os conceitos
subjetivos superficiais e generalistas, que muitas vezes regem a prxis dos
101
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
estudantes perdem fora para a materialidade da experincia histrica e suas
interpretaes.
Trata-se, aqui, de novas dimenses da subjetividade, especificamente
didticas. Elas se referem ao aprendizado histrico como o meio de
formao da identidade histrica. Como assim? Na conscincia histrica, a
posio relativa da subjetividade no manejo da experincia histrica se
modifica. Com isso, modifica-se tambm o modo de constituio da
subjetividade como identidade histrica, mediante a interpretao da
experincia histrica. A subjetividade perde sua competncia de criar regras
comportamentais de validade supratemporal. Perde assim seu status de
contraponto abstrato experincia histrica, ou melhor, sua superioridade.
(...) Ao invs disso, descobre-se na experincia histrica como vinculada ao
tempo e, simultaneamente, livre dele nas perspectivas novas de futuro.
(2012a, p.22)
Dentro da tipologia da conscincia histrica (2012a) a formao mais ampla,
aprofundada e emancipadora da identidade histrica aquela apropriada a partir de
um processo de aprendizagem de sentido gentico, que confere aos sujeitos uma
compreenso mais densa da experincia histrica e instigando-os a uma orientao
temporal reflexiva e significativa.
A aprendizagem histrica, desta forma, permite aos sujeitos mudar a si
mesmo e a seu mundo, com chances de auto ganho e ganho mundial, no
deixando a mudana temporal ser uma ameaa estabilidade, mas sim
trazendo-a para a validade do seu dinamismo interno. Os alunos estabilizam
a identidade humana, historicamente, como uma capacidade de mudana e
desenvolvimento, pois a representao da continuidade cognitiva
necessria ser alada como mudana de direo da experinci a histrica.
(2012a, p.84)
A visualizao desta forma de aprendizagem resultante em uma formao
gentica da conscincia histrica provoca-nos a refletir uma didtica da histria
comprometida com a prxis dos jovens alunos, para que com o auxlio da cincia da
Histria possam se compreender como sujeitos, mais do que vtimas ou refns de
seu tempo vivendo em um eterno pensamento tradicional, mas sim autores de suas
histrias e conscientes dos saberes histricos que tocam o seu tempo presente e
influenciam suas escolhas de futuro.
J o conceito de humanismo de Jrn Rsen apresentado como um novo
humanismo, pois possui a inteno de demonstrar que no se trata simplesmente da
retomada dos valores do humanismo renascentista. O autor almeja no apenas
valorizar conquistas humanitrias dos ltimos perodos histricos como tambm
102
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
super-las em vista da construo de um mundo mais igualitrio. Por novo
humanismo Rsen entende:
Um recurso fundamental e uma referncia para a natureza cultural dos
homens na orientao da vida humana e um alinhamento desta orientao
com o princpio da dignidade humana. Suas dimenses emprica e
normativa so ambas universais. O novo humanismo inclui a unidade da
humanidade e tambm sua manifestao na variabilidade e mutabilidade
das formas culturais de vida. Ele temporaliza a humanidade em um conceito
abrangente da histria universal onde cada singular forma de vida em sua
individualidade hermeneuticamente reconhecido. Politicamente ele baseia
a legitimidade da dominao e poder dos direitos humanos fundamentais e
civis. Ele compreende a subjetividade humana como um processo de
autoformao de acordo com a dignidade humana inerente a todos os seres
humanos no espao e no tempo. (2012b, p.524)
A identidade histrica se relaciona com o novo humanismo a partir da
singularidade da individualidade humana e do reconhecimento da alteridade e da
dignidade do outro. A formao da identidade histrica, luz do novo humanismo,
ensejaria a concretizao dos direitos humanos e civis a partir de processos
educacionais. Como torn-lo concreto dentro das instituies de ensino e nos
currculos nacionais ou supranacionais tarefa de pesquisas da esfera pragmtica
da aprendizagem histrica. O que se pode afirmar a partir do pensamento de Jrn
Rsen, contudo, que a identidade histrica possui fundamental relevncia nesse
processo.
A apropriao da identidade histrica como meio de consolidao do
humanismo passa simultaneamente pela tomada de pressupostos da aprendizagem
histrica. Entre eles destaca-se a viso multiperspectivada do passado. A
valorizao e o reconhecimento da humanidade e dignidade do outro, de outras
culturas, etnias, identidades de gnero e condies sociais implica na compreenso
das diferentes narrativas advindas de diferentes experincias histricas. As
perspectivas antagnicas e os conflitos devem fazer parte da recriao do passado
na busca pela identidade presente, no podendo ser mais admitidos os extremos da
relativizao do passado, por um lado, e do discurso histrico monolgico
homogeneizante, por outro.
No se trata mais de categorizaes da experincia, valorao e
ajuizamento histrico, mas sim de algo como uma tica da orientao
existencial por meio de representaes dos processos temporais, ou seja,
de uma tipologia de pontos de vista e perspectivaes histricas. Tal
tipologia deveria mensurar e abranger categorialmente o espao da
103
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
formao da identidade histrica pela relao com os pontos de vista no
processo interpretativo da experincia histrica. (2012a, p.100)
No encontro cultural entre os sujeitos, urge um reconhecimento recproco de
validade da dignidade humana, de alteridade, na qual a identidade histrica de cada
um tambm seja fortalecida. O princpio de reconhecimento se constitui como esta
ligao da identidade histrica com o novo humanismo.
O princpio do reconhecimento, que pode regular um discurso no qual se
trate da identidade humana, da individualidade dos indivduos, grupos,
povos e culturas inteiras. Identidade sempre particular, porm ela
sobrevive ao ser reconhecida por cada um dos que so diferentes. No
discurso intercultural sobre especificidade e validade dos direitos humanos,
trata-se tambm de identidade cultural, ou seja, da particularidade individual
de especificidade e alteridade de comunicao entre culturas. E, uma vez
que, nessa comunicao, trata-se tanto da mesmidade [eisengein] (e
sempre tambm da alteridade do Outro), quanto tambm daquilo que
contudo comum aos diferentes, medida em que pertencem mesma
categoria e (...) esto dispostos a atribuir a essa mesma pertena um
elevado valor cultural, legal, poltico e meso religioso e civilizatrio, trata-se
de fato da universalidade do que ampla e universalmente humano e da
sua expresso cultural especfica. (2012a, p.212)
importante salientar que estas formas de desenvolvimento da conscincia
histrica tem elevado comprometimento com a orientao temporal das pessoas. A
didtica da histria se afirma, assim, comprometida na formao de sujeitos que
orientem suas escolhas em direo a uma sociedade mais humana.
Nessa dimenso intercultural, o pensamento histrico ganha uma
orientao para o futuro extraordinariamente forte: ele organiza a
experincia histrica do desenvolvimento e do impedimento, da afirmao e
da limitao do pensamento sobre direitos humanos e de seus pontos
fracos e fortes nas relaes sociais e no poder poltico, luz de um
processo histrico abrangente que aponta para o futuro para um futuro no
qual os direitos humanos e civis se tornaro princpios formadores da
identidade cultural na comunicao intercultural. (2012a, p. 212)
Nesta concepo de identidade histrica a aprendizagem histrica mais do
que um contato breve com um passado distante desvinculado do presente, ela de
fato envolve processos de educao e formao nos quais se lida com direitos
humanos e civis [e] abordam o desenvolvimento da conscincia moral, poltica e
histrica em crianas e jovens. (2012a, p. 215). Esta formao teria forte efeito na
dimenso poltica da cultura histrica, tendo em vista que por ela direitos ganham
104
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
em forma e fora como pontos de vista de cada gerao que est crescendo e
definindo sua prpria identidade histrica e poltica. (2012a, p. 213).
A relao entre aprendizagem histrica, novo humanismo e identidade
histrica, definida por Jrn Rsen:
Aprendizagem histrica em uma compreenso humanstica o processo de
individualizao da humanidade no cenrio da experincia histrica. Este
processo deve ser apresentado de tal maneira que encontre e influencie a
auto-referncia ou auto-conscincia dos aprendizes e suas relaes com
outros, de forma que eles possam ser capazes de historicizar sua qualidade
de ser um ser humano. (2012b, p. 532).
O autor indica uma breve orientao subjetiva de implementao de uma
aprendizagem histrica humanista, segundo ele: isto deve ser feito atravs de um
espelhamento das suas prprias experincias, desejos, esperanas, expectativas e
medos na experincia histrica de uma variedade de formas de vida e de suas
vrias ideias constitudas de humanidade no curso do tempo. (2012b, p.532).
Apesar do direcionamento humanista ter ficado bastante explcito em sua teoria,
Rsen deixa em aberto a estruturao da metodologia de pesquisas empricas para
aproximaes com a cultura escolar. Coube na presente pesquisa o estabelecimento
de um critrio de anlise das narrativas que pudesse apontar a relao entre a
conscincia histrica dos sujeitos, suas identidades histricas e o ideal do novo
humanismo.
Concluso
Como resultado desta incurso terica apontam-se possibilidades de
investigaes que questionem sobre escolhas de orientao no tempo a partir dos
parmetros da dinmica do desenvolvimento da aprendizagem histrica.
Para realizar o cruzamento de elementos da identidade histrica com critrios
do novo humanismo optou-se por investigar narrativas de jovens sobre suas
escolhas pessoais. Especificamente, os jovens sero indagados a descrever o
processo de escolha do que faro ao fim de seu perodo escolar. Tal
questionamento procura coletar informaes de cunho pessoal dos sujeitos que
transpassem suas dimenses subjetivas e intersubjetivas no contato com a
experincia histrica (2012a, p.104-107). Ressalta-se que o incremento da
105
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
experincia histrica, subjetividade e intersubjetividade so os objetivos da
aprendizagem histrica. (2010, p.48). As questes relacionadas escolha pessoal
to profunda podem auxiliar a compreender como os jovens experimentam sua
experincia no tempo e suas interpretaes de si e do mundo que embasam suas
orientaes de escolhas de futuro. As intenes de percurso aps a vida escolar
podem denotar direta ou indiretamente a atribuio de sentido de vida, na prxis
destes sujeitos.
Complementarmente, se constituir uma anlise emprica da conscincia
histrica dos jovens atravs de narrativas que relatem um contedo especfico da
cultura histrica o qual eles afirmam ter influenciado significativamente na sua
escolha e em sua vida prtica. Tal contedo pode ter sido apresentado nas aulas
formais de histria ou em outros espaos de formao e de aprendizagem. Nestas
respostas sero diferenciados os fatos do passado, as interpretaes e as
orientaes decorrentes. Rsen salienta que a apreenso heurstica dos enunciados
lingusticos dos sujeitos deve ser esclarecedora principalmente quanto a funo de
orientao exercida pelo modelo de interpretao que estrutura o saber. (2012a,
p.97).
Os jovens sero inqueridos, assim, a partir de dois eixos de questes que
podem ser nomeados de forma breve como: a) a histria de uma escolha e b)
escolhas a partir de uma histria. Em todas as narrativas sero investigados os
seguintes elementos do novo humanismo: dignidade humana, relao com a
natureza, conflitos antropolgicos e multiperspectividade histrica. A escolha
deste conjunto de elementos como critrios de reconhecimento do novo humanismo
busca sintetizar o pensamento do terico alemo que se expande em vrias
subdivises. Os quatro critrios se diferem em abrangncia de suas dimenses: da
dignidade humana na dimenso de cada um dos seres humanos, os conflitos
antropolgicos na dimenso dos embates de seres humanos entre si por diversas
razes, a relao com a natureza inserindo o ser humano no contexto ambiental e
de sua ligao com seu entorno e, por fim, a multiperspectividade histrica que alm
de um critrio em si, uma forma de conceber a histria, multifacetada e em
permanente reconstruo.
A dignidade humana citada por Jrn Rsen (2012b) como um princpio
fundamental para a definio de seu novo humanismo. a concepo inalienvel do
106
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
princpio da vida e da vida digna de todos os seres humanos, independentemente de
qualquer varivel cultural, religiosa ou social. O humanismo ento um princpio de
defesa e qualificao da dignidade da vida humana no planeta. Tal critrio tambm
diferencia o novo humanismo de sua concepo clssica moderna, tendo em vista
que sob tais princpios a dignidade mnima de vida de todos os seres humanos no
foi estabelecida como prioridade e, em muitos culturas e povos observam-se seres
humanos sobrevivendo com as piores condies de habitao, saneamento, higiene,
nutrio e tendo seus direitos civis, religiosos e humanos desrespeitados
continuamente.
A temtica dos conflitos antropolgicos fez parte dos contedos
trabalhados em uma das apresentaes do professor Jrn Rsen na conferncia de
abertura do IX Heirnet em Julho de 2012 em Curitiba
26
no qual exps perspectivas
de superao de confrontos tnicos, sociais, culturais, de gnero e das mais
diversas situaes nas quais homens se dividem entre opressores e oprimidos
(LAPEDUH, 2013). Os conflitos antropolgicos nos remetem s questes culturais
que tornam a apropriao e formao da identidade histrica um desafio atual para a
cultura histrica (2012b). Devemos insistir nas conquistas dos direitos humanos
fundamentais e investir nos conflitos e diferenas que ainda se encontram distantes
de soluo pacfica. Na aprendizagem histrica a soluo dos conflitos
antropolgicos significa a valorizao da unidade humana na diversidade histrica e
cultural.
A reconfigurao do homem em sua relao com a natureza no se trata to
somente de adicionar a pauta ambiental na agenda de preocupaes da
aprendizagem histrica. Rusen prope uma mudana de concepo desta relao,
na qual a humanidade se perceba como parte integrante do ambiente, superando a
dicotomia homem/natureza. A desconstruo desta noo exige tambm a
superao da lgica de uso, dominao e explorao de elementos naturais pelos
homens.
A multiperspectividade histrica como critrio de identificao do novo
humanismo aponta para o princpio narrativo da histrica como pressuposto de
compreenso de mltiplas narrativas e vises histricas em cada fato histrico.
Trata-se de transpor as narrativas muitas vezes monolgicas dos materiais didticos
26
Conferncia Usos e Abusos da Histria na Atualidade, abertura do IX Heirnet em 14 de julho de 2012, na
Universidade Federal do Paran, extrado de LAPEDUH, 2013.
107
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
e historiogrficos, em busca de uma compreenso histrica a partir de evidncias e
de conflitos de narrativas divergentes. a aceitao da histria como plural e aberta
no processo de construo da conscincia histrica.
Os quatro critrios elencados no so estanques e suas definies se
entrelaam nas relaes sociais humanas. Contudo, podem ser teis empiricamente
uma vez que sero quantificadas e qualificadas narrativas que demonstrem
inclinao a um ou mais destes critrios. Aps as incurses empricas espera-se
refinar estes critrios e a metodologia da pesquisa em vistas a estruturar a
argumentao central da tese em construo.
REFERNCIAS
LAPEDUH Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica, Caderno Lapeduh 01:
Jrn Rsen e Didtica da Histria. Curitiba, 2013. Cadernos impressos pelo prprio
laboratrio, no publicados.
RSEN, J. Aprendizagem Histrica: fundamentos e paradigmas. Curitiba, W.A.
Editores, 2012a.
RSEN, J. Formando a Conscincia Histrica por uma didtica humanista da
histria. (2012b) Antteses, Londrina, Vol.5, n.10, p.519-536, jul./dez. 2012b.
SCHMIDT, M.A.; BARCA, I.; GARCIA, T.B. Significados do pensamento de Jrn
Rsen para investigaes na rea da educao histrica in: SCHMIDT, M.A.;
BARCA, I.; MARTINS, E.R (orgs). Jorn Rsen e o ensino de histria. Curitiba, Ed.
UFPR, 2010.
108
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A EDUCAO HISTRICA NA PERSPECTIVA DA PRXIS: UM ESTUDO
REALIZADO NO IFPR CAMPUS CURITIBA
Thiago Augusto Divardim de Oliveira
27
Orientao: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt
28
RESUMO:
No cotidiano da escola possvel detectar protonarrativas relacionadas a assuntos
histricos que nem sempre demonstram uma forma interessante de compreenso da
experincia no quadro geral de orientao da prxis da vida. Nesses casos, como
professor, faz-se necessrio realizar intervenes para a formao (bildng) como
motivao de expanses qualitativas e quantitativas da intersubjetividade na relao
entre conscincias e cultura histrica. O presente texto, como estudo sobre prxis e
educao histrica, refere-se a um trabalho desenvolvido no primeiro semestre de
2013 no Instituto Federal do Paran, na disciplina de Histria da Fotografia, do curso
tcnico de Processos Fotogrficos, mdulo integrado ao Ensino Mdio. No texto
discuto o processo de elaborao e desenvolvimento de uma proposta de trabalho
que ocorreu dentro e fora da sala de aula, envolvendo a realizao de entrevistas
fora do espao escolar e exposio de trabalhos nos corredores do Instituto. Alm
de compartilhar a experincia do trabalho, procuro desenvolver algumas reflexes
sobre uma forma especfica de se pensar a relao ensino e aprendizagem na
didtica da Histria, a educao histrica na perspectiva da prxis. Realizo a partir
de Rsen (2007 e 2012) uma discusso dos conceitos prxis, totalidade,
subjetividade e intersubjetividade como categorias centrais da formao histrica
(bildng). Proponho a partir desse estudo algumas consideraes referentes ao
campo da formao de professores de Histria e da epistemologia da prxis do
ensinar e aprender Histria.
Palavras-chave: cultura histrica conscincia histrica totalidade
intersubjetividade prxis.
Introduo
O presente artigo conforma uma tentativa de contribuio s discusses
sobre a relao do ensinar e aprender histria de acordo com a educao histrica,
que objetivamente se relaciona ao debate sobre formao de professores. O
princpio que nortear a pretensa contribuio vai alm da prtica, pauta-se no
27
Professor de Histria no Instituto Federal do Paran IFPR (Campus Curitiba), doutorando do
Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Federal do Paran PPGE-UFPR, e
pesquisador do Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica LAPEDUH UFPR.
thiagodivardim@yahoo.com.br
28
Professora do Programa de Ps Graduao em Educao Mestrado e Doutorado da Universidade
Federal do Paran, pesquisadora 1C CNPQ e fundao Araucria.
109
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
conceito prxis. Trata-se de uma discusso epistemolgica sobre a prxis da relao
do ensinar e aprender Histria.
Na dissertao de mestrado (OLIVEIRA, 2012) detectei uma forma possvel
para a relao ensino e aprendizagem em Histria em que um dos professores
entrevistados organizou suas aulas de acordo com elementos que havia percebido
entre as falas dos alunos. Basicamente, a cidade em que ele lecionava tinha
recebido um grande nmero de migrantes trabalhadores de vrios lugares diferentes
do pas. O impacto social na cidade gerou, segundo o professor, um enunciado
lingustico que representava uma forma de preconceito contra esses trabalhadores.
Ele elaborou um trabalho com a Histria a partir da perspectiva da excluso. De
acordo com esse professor a aprendizagem da Histria poderia proporcionar uma
formao histrica como interveno para contrapor o preconceito dos alunos.
Nessa mesma conjuntura em que trabalhava o professor citado tive
conhecimento do trabalho de uma professora que, ao perceber problemas
relacionados desigualdade de gnero, resolveu envolver a perspectiva da Histria
das mulheres em suas aulas. Foi possvel perceber que havia na concepo de
aprendizagem histrica desses professores preocupaes ligadas prxis da vida
dos alunos. Essa discusso teve incio na dissertao, no entanto, a questo no se
deu por encerrada.
O acmulo da experincia relacionada formao continuada de professores
resultado da relao entre o Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica da
Universidade Federal do Paran (LAPEDUH UFPR) e o Grupo Araucria
29
, sob a
coordenao da professora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, significa
um ponto fundamental dessa reflexo. Pois essa articulao incentivou em uma
perspectiva colaborativa que os professores institucionalizados pelo LAPEDUH
participassem de projetos de pesquisa sobre suas prprias atuaes enquanto
professores, porm ampliando o exerccio da intelectualidade (GONZLES, 1984).
Destaco como um dos resultados desse processo de formao continuada o
texto PERSPECTIVAS DO USO DIDTICO DE FONTES HISTRICAS NA WEB,
29
O Grupo Araucria formado por professores de Histria do Municpio homnimo. Os professores
desse municpio na dcada de 1990 conquistaram por meio da militncia sindical um plano de
carreira, o direito a hora-atividade concentrada e a formao continuada assessorada pela
Universidade Federal do Paran. No caso dos professores de Histria esse processo de formao
resultou em uma relao com o LAPEDUH. Sobre a trajetria do grupo Araucria conferir minha
dissertao de mestrado (OLIVEIRA, 2012) ou o texto A educao histri ca e as mudanas de
paradigma na cultura escolar no municpio de Araucria (THEOBALD, 2005).
110
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
apresentado pela professora Neide Teresinha Nbrega Lorenzi no 5 Seminrio de
Educao Histrica em 2013. Essa produo o resultado do trabalho da professora
com a Histria das Mulheres citado anteriormente. O trabalho de Lorenzi, assim
como o exemplo do professor citado anteriormente (nomeado como Armando em
minha dissertao), representam o ponto de partida para o que apresento como
possibilidades da educao histrica na perspectiva da prxis.
Essa experincia apresentada por Lorenzi pode ser discutida com base na
teoria e filosofia da histria de Rsen, alm de ser exemplo do exerccio da
intelectualidade na perspectiva que busquei discutir no meu trabalho de mestrado
(OLIVEIRA, 2012), referenciado em (GONZLES, 1984). Instigado pela
potencialidade dessa concepo de ensino e aprendizagem histrica desenvolvi o
estudo que discuto nesse trabalho.
Portanto, o presente texto discute a possibilidade da atuao dos professores
como intelectuais, capazes de detectar nas enunciaes dos alunos, compreendidas
como protonarrativas, possveis expresses da conscincia histrica e de elementos
da cultura histrica (RSEN, 2007 e 2012). A partir dessa apreenso heurstica, os
professores podem perceber carncias de orientao sobre as quais organizar
formas de relao com a Histria para a formao histrica dos alunos na prxis da
vida.
Protonarrativas como expresso de elementos da cultura
histrica, ou de onde surgiu a proposta do trabalho
A tese de doutorado JOVENS ALUNOS E APRENDIZAGEM HISTRICA:
PERSPECTIVAS A PARTIR DA CANO POPULAR, produzida por Luciano
Azambuja (2013), apresenta uma discusso sobre a utilizao da estratgia de
levantamento dos conhecimentos prvios dos alunos em aulas ou pesquisas da
Educao Histrica, como instrumentalizao metodolgica referenciada nas
contribuies da psicologia gentica. No entanto, Azambuja ressalta que a prpria
teoria da conscincia histrica possui fundamentao epistemolgica para o
tratamento terico e metodolgico dos dados levantados na inter-relao entre
conscincia e cultura histrica.
O objeto da tese de Azambuja referiu-se a investigao das protonarrativas
produzidas por alunos do Brasil e de Portugal, tomando como ponto de partida
111
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
leituras e escutas do que o autor chamou de fonte cano fruto das indicaes dos
prprios alunos, e da relao dos alunos com os aspectos da cultura histrica.
Nesse sentido, o autor estabeleceu uma compreenso que, referindo-se a msica,
ultrapassa a compreenso do levantamento prvio, por estabelecer relaes entre
as conscincias e a cultura histricas.
A partir da, desenvolveu uma metodologia de pesquisa que demonstrou a
potencialidade que reside no encontro do conhecimento da teoria da conscincia
histrica por parte do professor para a produo e encaminhamento de aulas de
histria. O autor apresenta que as protonarrativas da cano quando comparadas as
narrativas histricas da cano apresentam a perspectiva da formao e progresso
da conscincia histrica (AZAMBUJA, 2013 p. 420).
A tese de Azambuja apresenta que tomar como ponto de partida as canes
que fazem parte do universo cultural dos jovens alunos pode constituir uma
motivao para relao de ensino e aprendizagem em Histria. Ficou evidenciado
em seu trabalho que os alunos que participaram da pesquisa se envolveram nas
atividades propostas e que a mobilizao da conscincia histrica percebida na
comparao entre as protonarrativas e as narrativas produzidas por ocasio de seu
estudo.
A organizao do trabalho da professora Lorenzi, assim como a interveno
do professor Armando, citados na introduo desse trabalho estabelecem uma
relao entre conscincias e cultura histricas que esto diretamente relacionadas
s situaes genrica e elementares da prxis da vida. A interveno, nesse caso,
apresenta a inteno de um processo formativo que pode ser discutido pelo conceito
ontolgico de formao enquanto bildng. Nessa forma de relao entre cultura e
conscincia histrica as protonarrativas, em comum acordo com Azambuja, so
enunciados lingusticos de uma conscincia histrica originria. Porm, a forma
como chega-se a um tema do acervo de conhecimentos da Histria (RSEN, 2012
p.96) para ser trabalhado entre professores e alunos que se diferencia.
Rsen apresenta uma compreenso interessante em relao a essas ideias
prvias, pois elas envolvem conhecimentos histricos prvios como elementos
presentes na conscincia histrica dos sujeitos, assim como elementos que
compem a Cultura Histrica:
112
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
(...) a memria histrica e sua realizao pela conscincia histrica contm
elementos e fatores que no so genuinamente narrativos, mas possvel
demonstrar que esses elementos tambm possuem funo genuinamente
narrativa, quer dizer, sem rupturas nem coeres, so absorvidos e formam
parte do contar histrias. Se tratam de imagens e smbolos, que integram a
atividade memorativa da conscincia histrica e atravs dos quais se leva a
cabo; mas eles no so todavia as histrias. No so histrias, mas as
geram. Como portadores de sentido (semiforas) fascinam a conscincia
histrica, mas no levam e nem condensam em si mesmos as histrias,
ainda que estas sejam contadas mediante sua fora simblica. Os smbolos
arquetpicos podem ter uma funo importante na interpretao histrica da
experincia do tempo em seu papel de modelos interpretativos; podem ser
transmissores de significado e geradores de sentido na interpretao
temporal, sem que seu significado e isso decisivo esteja organizado
narrativamente. (RSEN, 1994, p. 9, 10) traduo prpria
Essa compreenso da protonarrativa, desses elementos chamados de
semiforas, e de smbolos arquetpicos que podem gerar sentidos de interpretao,
mesmo sem ser uma narrativa organizada, so elementos interessantes a serem
levados em considerao no que estou pensando como relao de ensino e
aprendizagem em Histria na perspectiva da prxis. No resumo desse artigo apontei
que no dia a dia dentro da escola, possvel detectar formas de atribuio de
sentido experincia humana no tempo que nem sempre so interessantes do
ponto de vista da racionalidade das relaes em sociedade. Era sobre essas
protonarrativas, entre outros elementos que Rsen apresenta como elementos que
compem a Cultura Histrica que eu estava me referindo.
Existe uma relao dialtica entre o que se compreende como Cultura
Histrica e o que costumamos chamar de Conscincia Histrica. Se concordarmos
que so as situaes genricas e elementares da prxis da vida que mobilizam as
operaes da conscincia histrica, so nessas protonarrativas, mas no apenas
nelas, que se constituem essas situaes genricas e elementares. E por
expressarem a conscincia histrica devem ser analisadas e levadas em
considerao nas relaes de ensino e aprendizagem em Histria. Principalmente
se queremos pensar na relao com a prxis. Falarei sobre isso adiante, agora
pretendo compartilhar de onde surgiu a ideia do trabalho que realizei na escola e
que resultou na produo do presente texto.
No Instituto Federal do Paran Campus Curitiba, no curso tcnico de
Processos Fotogrficos Integrado ao Ensino Mdio, leciono uma disciplina chamada
Histria da Fotografia. Apesar do nome, a ementa permite alm da Histria da
tecnologia da Fotografia os contextos de sua produo, trabalha-se a fotografia
113
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
como documento e arte contempornea, e tem-se liberdade para um trabalho que
estaria mais bem intitulado como Fotografia e Histria. Apenas para efeito de
ilustrao, o perfil da turma de 2013 composta por jovens de 14 (quatorze) e 15
(quinze) anos, e atualmente dos quase quarenta alunos h apenas dois meninos
(por esse motivo tratarei, neste texto, daqui para frente, os discentes sempre no
feminino; as alunas).
Em uma aula no primeiro bimestre do ano letivo de 2013, analisvamos uma
fotografia realizada nas olimpadas de Berlim (1936) relacionada ao atleta e
liderana da luta pelos direitos civis dos negros nos EUA, Jesse Owens. Durante a
discusso fora realizada referncia ao nome de Adolf Hitler como governante da
Alemanha nazista. Nesse momento ocorreu uma enunciao que chamou a
ateno.
A partir das discusses realizadas nesse momento detectei que havia
elementos difusos sobre a restrio das liberdades na vida em sociedade. Foi
possvel apreender que as alunas tinham dificuldades sobre o significado da
experincia relacionada s restries das liberdades das pessoas. Os exemplos das
intervenes do professor Armando e da professora Lorenzi, citados anteriormente,
influenciaram minhas reflexes sobre que interveno eu poderia realizar. A
identificao com a teoria da conscincia histrica e as discusses realizadas por
Rsen sobre o conceito de cultura histrica no mbito do LAPEDUH foram
importantes para essa compreenso. Foi ento que preparei como atividade de
avaliao do 2 bimestre de 2013, um trabalho que resultaria em uma exposio de
fotografias com relatos de memria.
A partir da compreenso entre a relao dialtica entre conscincia e cultura
histrica torna-se possvel apontar a hiptese central dessa discusso: se adotamos
o referencial da formao da conscincia histrica, e assumimos na utilizao desse
referencial o carter pragmtico do pensamento histrico, a formao histrica deve
per pautada nas situaes genricas e elementares da prxis da vida, e no em uma
seleo reificada de contedos estruturados e distanciados da prxis da vida.
Ao relacionar o referencial da conscincia histrica com o conceito de cultura
histrica proponho que no necessrio que haja determinaes inegociveis de
uma listagem ampla de contedos como nas diretrizes curriculares ou nos livros
didticos (o que reforado pelos sistemas de vestibulares). Os professores como
114
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
intelectuais podem detectar na cultura histrica e nas enunciaes das conscincias
histricas dos alunos o que necessrio para auxiliar no processo de formao
histrica (bildng). A primeira discusso que realizei nesse sentido est em minha
dissertao de mestrado e se relaciona ao professor Armando
30
.
No se dispensa toda e qualquer forma de regulamentao do ensino com
relao a contedos, estou desvelando a possibilidade de que o trabalho dos
professores de Histria possa ser exercido com maior autonomia intelectual. Ao
passo que a discusso no mbito da Educao Histrica, no apenas no Brasil, mas
em vrios pases, j demonstrou o deslocamento da relao com a vida impactada
pelas formas de ensino de histria centradas no contedo
31
. Os alunos que passam
por essa forma tradicional de aprendizagem histrica, pautada no contedo da
histria, do inicio das sociedades at a atualidade, em sua maioria ao sarem da
escola no so capazes de criar uma narrativa coerente sobre o passado, e muito
menos se colocando como parte da experincia humana no tempo.
Gerao criado-mudo & liberdade de expresso: proposta de exposio
A principal pretenso desse texto est centrada na compreenso da
protonarrativa como expresso da relao entre a conscincia e cultura histrica e a
possibilidade de interveno dos professores como intelectuais em um trabalho de
alterao qualitativa das formas de atribuio de sentido relacionadas a prxis da
vida. Por isso no me detalharei os encaminhamentos metodolgicos do trabalho
realizado em sala de aula. Apenas um breve relato para a compreenso geral das
intencionalidades do trabalho.
Para a realizao do trabalho foi indicado s alunas que em duplas deveriam
realizar entrevistas e produzir fotografias. A proposta era que as alunas procurassem
algum que pertenceu a chamada gerao criado-mudo
32
. E realizar uma
entrevista baseada seguinte pergunta:
30
Dissertao de mestrado defendida em 2012 no PPGE UFPR. Na pgina 174 relato o exemplo
desse professor que trabalhava contedos da histria motivado pelo que havia detectado como
carncias de orientao manifestadas pelos seus alunos na relao com o contexto social a que
estavam inseridos.
31
O projeto CHATA (Concepts of History and Teaching Approaches) ocorreu na Inglaterra e props-
se a pesquisar as ideias histricas das crianas e jovens alunos para identificar problemas
relacionados a diminuio do nmero de alunos matriculados nas disciplinas de Histria.
32
H um blog na internet (http://criados-mudos.blogspot.com.br/), criado por Arthur Leandro, que
abriu um espao interessante para a manifestao das pessoas educadas durante a ditadura militar
115
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
1- Voc pertenceu a gerao criado-mudo. Como era estudar
Estudos Sociais, Educao Moral e Cvica ou OSPB (Organizao Social e
Poltica Brasileira) na Escola? Relate um pouco da sua experincia escolar
durante a ditadura militar. Voc tinha liberdade de expresso? Discutia
temas do presente (na poca) e expectativas para o futuro?
Depois, as alunas deveriam entrevistar algum preferencialmente do 3 ano do
Ensino Mdio e realizar a pergunta:
2- Voc de uma gerao que possui Liberdade de Expresso,
pelo menos constitucionalmente. Comente um pouco sobre a importncia
que voc atribui as disciplinas de Histria, Geografia, Filosofia e Sociologia.
Como , para voc, estudar hoje em dia? Aproveite e comente sobre a
importncia que voc atribui possibilidade de expressar livremente suas
opinies.
As alunas tambm deveriam solicitar s pessoas entrevistadas para
realizarem um retrato que ajudasse a expressar a experincia da pessoa em relao
s perguntas citadas. A fotografia da pessoa que pertenceu a gerao criado-mudo
deveria ser construda com o sujeito amordaado (como na experincia proposta por
Arthur Leandro no blog da gerao criado-mudo). A fotografia da pessoa do ensino
mdio atual deveria expressar a sua possibilidade de liberdade de expresso.
Depois de todo o processo, e da exposio montada, as alunas envolvidas no
trabalho responderam a uma pergunta final que levou a produo de narrativas.
Essas narrativas foram analisadas no presente texto.
Uma vez estabelecido o raciocnio sobre a relao entre protonarrativas e as
enunciaes em geral, e os conceitos de conscincia e cultura histrica, pretendo
tratar de alguns exemplos identificados nas narrativas das alunas. Com isso no
pretendo concluir que atingi a expectativa de um trabalho de educao histrica na
perspectiva da prxis, mas como anunciei anteriormente trata-se de uma proposta
sobre o que tenho buscado como contribuio mais interessante para o que resulta
de uma relao de ensino e aprendizagem histrica tomando como referencia a
teoria da conscincia histrica.
Sobre a metodologia de anlise das narrativas das alunas a perspectiva
metodolgica utilizada pautou-se na investigao qualitativa com base em
pressupostos da Grounded Theory (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Utilizar como objeto
de estudo uma narrativa histrica, tomando como referencia a teoria da conscincia
(1964-1985). O autor do blog narrou um episdio que viveu durante sua infncia na escola, segundo
ele foi o dia em que se deu conta de que pertencia a uma gerao de criados-mudo.
116
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
histrica, torna possvel no mbito dessa matriz epistemolgica, que o pesquisador
crie categorias de anlise em acordo com a prpria teoria utilizada, assumindo o
carter interpretativo das enunciaes estudadas.
Depois do processo de entrevistas e realizao da exposio realizei uma
atividade sobre a experincia das alunas com esse trabalho. Para a narrativa final
das alunas foram propostas duas perguntas, pensadas como desencadeadoras do
pensamento histrico. No presente texto trabalharei apenas com respostas da
primeira pergunta. Essa se referiu expresso da aprendizagem relativa ao projeto:
No 2 bimestre realizamos um trabalho intitulado Gerao Criado-Mudo &
Gerao Liberdade de Expresso, agora quero que voc escreva suas
consideraes respeito do trabalho. Componha uma narrativa
respondendo a seguinte pergunta: qual a importncia da Liberdade de
Expresso para a vida em sociedade?
Foram 31 (trinta e uma) narrativas produzidas, desse total separei 12 (doze)
narrativas que atenderam de maneira satisfatria as perguntas estabelecidas. Nesse
texto, devido a extenso das respostas, discutirei apenas trs exemplos. A partir
dessa relao intrnseca com a teoria foi possvel categorizar as respostas das
alunas em um grupo principal: expanso da intersubjetividade. Nessa categoria
articulo a ideia de ao, alteridade e alternncia discutidas por Rsen (2012). Para
instrumentalizar a anlise das narrativas os trechos das narrativas foram agrupados
em uma tabela relacionada as asseres convergentes.
Mudana expanso qualitativa e quantitativa da experincia
A ideia de mudana pode ser percebida como uma categoria histrica porque
designa um contexto temporal geral, o estabelecimento da mudana e, portanto, das
diferenas como qualidades temporais no so dados puros retirados de fontes
histricas. Significam o resultado de um pensamento que, ao estabelecer uma
anlise das condies atuais em relao aquilo se pensa, atribui o carter histrico
qualificado. Esse processo resultado de uma operao cognitiva caracterstica do
pensamento histrico.
Para alm do estabelecimento da diferena como elemento de mudana, as
alunas apontaram as formas em que os sujeitos entrevistados sentiam a liberdade
117
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
ou o cerceamento da liberdade. Apontaram que a ideia da liberdade tambm muda
com o tempo, ou mesmo aquilo que se entende como censura.
Aluno CATEGORIA MUDANA
BEATRIZ Esse trabalho me possibilitou ver que num espao de tempo
teoricamente curto as diferenas dessas pocas foram gritantes.
Passamos de um regime onde at mesmo falar era proibido,
para um onde podemos protestar livremente.
ROSA Realizando esse trabalho pude perceber como era difcil quando
no era permitido fazer nada por conta prpria, quando tudo
devia seguir um padro, ou respeitando regras absurdas. J
hoje, (claro que ainda existem regras para uma boa convivncia
em sociedade, mas que, por sorte, so mais leves e aceitveis)
tudo mais simples. Todos tm direito de se vestir como
quiserem, de seguir um pensamento que nem todos seguem ou
at ter seu prprio, hoje podemos pensar livremente sem medo
de represso.
Se ainda vivssemos como antes, vivssemos como antes, me
pergunto se tantas coisas que existem hoje, seriam sequer
pensadas, graas a liberdade que temos muitas coisas surgiram
e melhoraram o lugar onde vivemos. (...) Analisando posso
afirmar que a liberdade de expresso que temos colabora para
vivermos em uma sociedade melhor. (...) Creio que continuar
melhorando conforme novas coisas forem conquistadas.
ALCIONE O ponto mais importante, para mim, em relao ao trabalho
realizado foi a diferena de modos de liberdade de expresso e
o como foram impedidos e por quem. Enquanto a liberdade de
expresso da entrevistada nascida em 1964, era impedido por
seu governante, o entrevistado nascido em 1994, era impedido
de realizar sua expresso pelos pais. Seus modos de expresso
tambm eram contrastantes: o modo de expresso da
entrevistada de 1964 eram suas aulas de artes vividas na
escola; o modo de expresso do entrevistado nascido em 1994
eram os protestos realizados nas ruas para lutar por seus
direitos. Essa grande diferena que eu achei mais interessante
no trabalho.
De acordo com Rsen justamente o pronome pessoal da primeira pessoa
(eu/ns) que funciona como o indicador chave para a compreenso do processo de
formao histrica (RSEN, 2012 p. 100). possvel perceber tal articulao nas
enunciaes da tabela acima. Observe o caso da aluna Beatriz: quando ela diz me
possibilitou, utiliza a primeira pessoa que, no presente, ao estabelecer a diferena
da experincia do presente e do passado torna possvel falar de uma qualidade
118
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
diferente da experincia em que podemos (plural coletivo) protestar (verbo que
indica ao e expectativa de mudana, alternativa).
As enunciaes lingusticas da conscincia histrica das alunas permitem
constatar uma aprendizagem histrica pela constituio de sentido relacionado a
mudana no tempo. Rsen sugere que as experincias do tempo devem ser
apropriadas pela aprendizagem como experincias de diferenas temporais
(RSEN, 2012 p.105). As alunas utilizam o estabelecimento da mudana temporal
como resultado de um processo de pensamento que resulta na identificao de
experincias.
A aluna Rosa evidencia o aprendizado na relao com a experincia
estabelecendo a dificuldade de se viver em um tempo de cerceamento das
liberdades, para em seguida constatar que a liberdade colabora no presente para
que a sociedade seja melhor. Enfim, a aluna abre a perspectiva de futuro sobre a
prpria melhoria da sociedade medida que novas coisas sejam conquistadas.
possvel observar que, de acordo com a articulao lingustica do
pensamento histrico, podemos perceber a forma como as alunas tangenciam os
elementos centrais da formao histrica. Na relao com a experincia Rosa
pensou sobre o passado no presente percebendo diacronicamente as relaes de
experincia no tempo deixando a possibilidade da mudana para a relao presente
futuro. uma expanso quantitativa e qualitativa em relao experincia
percebida na categoria mudana. A aluna Rosa evidenciou a mudana envolvendo
as trs expresses temporais (presente em relao ao passado, e presente em
relao ao futuro como ganho experiencial da aprendizagem histrica), por isso
quantitativa. E apresentou tambm uma expanso qualitativa da experincia, pois
distinguiu a qualidade da experincia temporal inferindo sobre a dificuldade de um
passado em que se vivia sob uma ditadura. Abordou o presente como o lugar onde
todos tm direito (como sujeito de ao) ns podemos (sujeito coletivo que
representa ela e os demais na vida em sociedade) pensar sem medo de represso.
Assim como no presente o todos e o ns possui o direito de pensar, a construo
de um futuro ainda melhor depende da ao de novas conquistas.
A compreenso dos modos de liberdade, abordagem da aluna Alcione
tambm possibilitou a expanso quantitativa e qualitativa na relao com a
experincia. Alcione aborda trs experincias diferentes, a da pessoa que viveu no
119
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
perodo da ditadura militar, a do jovem que ela entrevistou para o trabalho, o que
abordado a partir da experincia dela com relao a aprendizagem histrica.
Lembre-se que so trechos de narrativas de alunas na faixa de 14 (quatorze)
e 15 (quinze) anos de idade. A questo aqui no est centrada na qualidade textual,
no vocabulrio ou na reconstruo narrativa dos possveis passados da ditadura
militar. E sim em possibilidades, ainda que elementares, de operaes substanciais
do pensamento histrico. Se as alunas estivessem produzindo narrativas sobre
fontes histricas haveria outras preocupaes, como por exemplo a crtica e a
interpretao. Minha preocupao aqui foi o que restou da aprendizagem histrica
como formao aps o trabalho realizado.
A maneira como as alunas demonstram essa mudana no tempo ofereceu a
possibilidade de perceber que havia uma noo sobre o que aponto como relativo
totalidade. As narrativas das alunas demonstraram um total nocional de que vivem
hoje em um tempo que qualitativamente diferente do perodo da ditadura militar.
No entanto, apontam que mesmo os tempos atuais no so ainda totalmente
adequados, abrem ainda a expectativa de que a partir da compreenso da mudana
no tempo seja possvel esperar um futuro mais adequado. Nessa relao abordaram
uma quantidade de experincias diferentes, por isso foi possvel apontar a expanso
qualitativa e quantitativa da experincia temporal.
Trata-se de um pensamento mais elaborado do que a reproduo de
elementos que compem a cultura histrica, que utilizam o passado como o lugar
para onde o presente deveria se voltar. Como no exemplo das protonarrativas
citadas anteriormente.
Para a categoria mudana separei apenas esses trs exemplos porque a
maioria das narrativas possui uma pgina completa escrita mo, a transcrio das
narrativas tornaria muito extenso o presente texto. Haveriam outras categorias
possveis, no entanto, a inteno foi juntar asseres que se referem a uma ou mais
ideias, estas ideias que se concentram no tema da tabela e esto relacionadas ao
que se apontou como categorias centrais para a formao histrica.
120
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Consideraes finais
Em uma discusso sobre a pragmtica da aprendizagem histrica Rsen
prope a seguinte pergunta: O que significa, ento, dirigir-se a conscincia histrica
de forma especificamente motivada? (RSEN, 2012 p. 111). Responder a questo
algo complexo que passa do pensamento sobre como se aprende Histria, para
como mediar o ensino nessa concepo de aprendizagem histrica.
As reflexes do presente texto so uma sntese de minha prxis, estudar a
aprendizagem histrica e dar aulas de histria. O foco central dessa investigao
no foi questes de encaminhamento metodolgico como um passo a passo nas
aulas. Estive mais preocupado com a compreenso sobre como podemos estar
atentos para a relao entre cultura e conscincia histrica e uma noo geral sobre
quais seriam as caractersticas e contribuies possveis de uma aula na perspectiva
da prxis. essencial perceber que o ponto de partida para o desenvolvimento
desse estudo foram enunciaes lingusticas compreendidas como protonarrativas e
a apreenso heurstica de tais enunciados.
Essa uma caracterstica especfica do que proponho como epistemologia da
prxis do ensinar e aprender Histria, o professor como intelectual age
intencionalmente sobre o processo formativo da conscincia histrica que se
relaciona a cultura histrica. A experincia relatada sobre os encaminhamentos da
professora Lorenzi, assim como o relato do professor Armando possuem um
significado muito grande para as relaes do ensinar e aprender histria. Essas
formas de pensar essa relao vo ao encontro ao do que est proposto na teoria e
filosofia da histria como funo didtica da Histria, no entanto, no encontramos
muitas produes que dialoguem na perspectiva da prxis.
Restaria ainda nesse artigo, a realizao de uma discusso sobre os
elementos tericos que podem orientar a concepo formativa do que se apresentou
como educao histrica na perspectiva da prxis. Nesse sentido alm das
discusses realizadas a partir do referencial rsenniano da conscincia histrica
possvel apontar os saberes necessrios a prxis educativa a partir de Paulo Freire,
entendo a educao como um ato poltico e a interveno dos professores no
sentido do desenvolvimento da autonomia e da emancipao. A dissertao citada
anteriormente possui um captulo destinado a essas aproximaes.
121
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Outras aproximaes possveis para pensar a educao histrica na
perspectiva da prxis em escolas tcnicas de ensino mdio podem ser pensadas em
um dilogo entre outros autores, tais como: Istvn Mszros (2008) para uma
educao como transcendncia positiva da autoalienao do trabalho, Karel Kosik
(1976) para a referencia em uma prxis que possibilite a compreenso da vida
humana em sua totalidade, Paulo Freire (1996) para uma educao enquanto
processo dialgico da prxis educativa com vistas conscientizao e emancipao
do ser que age em sociedade. Essas aproximaes so possveis uma vez que
todos os autores se referenciam no processo da produo da conscincia discutido
por Marx e Engels na Ideologia alem (1845-1846).
Pensar uma relao de ensino e aprendizagem da histria a partir destes
referenciais ajudam a compor um referencial que ao orientar para a emancipao
anuncia a construo de um mundo mais justo e humano. Esse tipo de interveno
pode auxiliar no debate sobre a formao de professores de Histria para a
interveno nas realidades educacionais, uma vez que a interveno j ocorre
mesmo que de maneira inconsciente ou consciente da reproduo das atuais
condies. Discutir teoricamente as atitudes de professores como Lorenzi e
Armando, de acordo com a prxis, poder influenciar a discusso sobre as
necessidades das relaes do ensinar e aprender Histria em uma perspectiva
pautada na construo de um mundo mais justo em todos os sentidos da vida em
sociedade, podendo assim pensar mesmo na superao das atuais condies
econmicas, polticas, sociais e culturais.
REFERNCIAS
AZAMBUJA, Luciano. JOVENS ALUNOS E APRENDIZAGEM HISTRICA:
PERSPECTIVAS A PARTIR DA CANO POPULAR. Tese de doutorado, PPGE-
UFPR, 2013.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigao qualitativa em educao. Porto: Porto
Editora, 1994.
GONZLES, Mara Isabel Jimnez. LA PRTICA EDUCATIVA ESCOLAR COMO
PROCESO DE TRABAJO INTELECTUAL. Revista Mexicana de Sociologia. Ao
XLVI Vol.XLVI. N 1 enero-marzo de 1984
LEE, P. J. Ns fabricamos carros e eles tinham que andar a p: compreenso das
122
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
pessoas do passado. In: BARCA, I. (Org.) Educao histrica e museus. Actas das
Segundas Jornadas Internacionais de Educao Histrica. Braga: Lusografe, 2003.
p.19-36.
LOPES, A.R.C. Conhecimento escolar: processos de seleo cultural e mediao
didtica. IN: Educao & Realidade. 22(1):95-112. jan-jun. 1997.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuio semntica dos tempos
histricos. Traduo Wilma Patrcia Maas e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro:
Contraponto, Ed. PUC-Rio, 2006. 366p.
MARX, Karl & ENGELS, Fridrich. A IDEOLOGIA ALEM. 1845-1846. So Paulo:
Boitempo, 2007.
KOSK, K. Dialtica do Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.
MSZROS, Istvn. A educao para alm do capital. So Paulo: Boitempo, 2005.
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alem. 1845-46. [So Paulo]: Boitempo, 2007
MARX, Karl. Prefcio de Para a crtica da economia poltica. In: ________.
Manuscritos econmicos filosficos e outros textos escolhidos. So Paulo, Abril
Cultural, p.133-138. (Os Pensadores), 1974b.
OLIVEIRA, Thiago Augusto Divardim de. A RELAO ENSINO E APRENDIZAGEM
COMO PRXIS: A EDUCAO HISTRICA E A FORMAO DE PROFESSORES.
Dissertao de Mestrado. Curitiba, 2012.
RSEN, Jrn (a). Razo histrica Teoria da Histria: os fundamentos da cincia
histrica. Braslia: UNB, 2001.
___________ (b). Reconstruo do passado. Teoria da Histria II: os princpios da
pesquisa histrica. Editora da Universidade de Braslia, 2007. pg. 91 100.
___________ (c). Histria viva Teoria da Histria III: formas e funes do
conhecimento histrico / Jrn Rsen ; traduo de Estevo de Rezende Martins. -
Braslia : Editora Universidade de Braslia, 2007.
___________ (d). "Qu es la cultura histrica?: Reflexiones sobre una nueva
manera de abordar la historia". Culturahistrica. [Versin castellana indita del texto
original alemn en K. Fssmann, H.T. Grtter y J. Rsen, eds. (1994). Historische
Faszination. Geschichtskultur heute. Keulen, Weimar y Wenen: Bhlau, pp. 3-26].
___________ (e). APRENDIZAGEM HISTRICA: FUNDAMENTOS E
PARADIGMAS. Curitiba: W.A. Editores, 2012.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Cognio histrica situada: que aprendizagem
histrica esta?. In: SCHMIDT, M. Auxiliadora/ BARCA, Isabel. (Org.). Aprender
Histria: Perspectivas da Educao Histrica. 1a ed. Iju: Uniju, 2009, v. 1, p. 21-51.
123
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. A CULTURA COMO REFERNCIA PARA
INVESTIGAO SOBRE CONSCINCIA HISTRICA: DILOGOS ENTRE PAULO
FREIRE E JRN RSEN. Atas das XI Jornadas Internacionais de Educao
Histrica Realizadas de 15 a 18 de Julho de 2011, Instituto de Educao da
Universidade do Minho / Museu D. Diogo de Sousa, Braga.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Conscincia histrica e crtica em aulas de histria./
Maria auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt e Tnia Maria F. Braga Garcia. -
Fortaleza: Secretaria da Cultura do Estado do Cear/ Museu do Cear, 2006.
SCHMIDT, M. A. M. S; GARCIA, Tnia Braga; BARCA, Isabel. Significados do
pensamento de Jrn Rsen para investigaes na rea da educao histrica. In:
Jrn Rsen e o ensino de histria / organizadores: Maria Auxiliadora Schmidt, Isabel
Barca, Estevo de Rezende Martins Curitiba: Ed. UFPR, 2010
124
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A CONSCINCIA HISTRICA DE JOVENS HISTORIADORES EM FORMAO:
COMO ALUNOS UNIVERSITRIOS CONCEITUAM HISTRIA?
Uirys Alves de Souza
33
RESUMO:
Com Jrn Rsen somos convidados a refletir sobre a conscincia histrica, no que
ele tenha sido o precursor do conceito, mas sua conceituao e tipificao do
mesmo, contribui para a base teorica desse trabalho. Pois, para o autor, a
conscincia histrica se manifesta e realiza atravs das narrativas do indivduo, s
quais so fomentadas atravs dos instrumentos que ele tem para argumentar sobre
a sua vida, sua prtica, sua moral, etc., sendo que estes instrumentos so
elaborados pelo conhecimento histrico internalizado. Nesaa viso, este trabalho se
prope a analisar como so desenvolvidas as percepes de alunos/as
universitrios/as sobre o que histria, para que serve a histria.
Palavras-chave: Conscincia Histrica. Formao de universitrios. Pertencente ou
no aos processos histricos.
INTRODUO
Ao pensar as aprendizagens histricas, diversos estudiosos tem apontado os
processos que relacionam a experincia dos sujeitos no tempo e os materiais
didticos, assim como, a ao do prprio docente em sala de aula. Essa temtica
est presente em pesquisas como a de Rita de Cssia Pacheco dos Santos,
intitulada Significncia Histrica, Conceito de Passado e Professores de Histria, na
qual afirma:
necessrio compreender o trabalho do professor de Histria como fator
importante para que os alunos possam desenvolver como entende Peter
Lee (2006), literacia histrica, isto , que os alunos sejam capazes de
entender que a Histria uma cincia que tem o compromisso de
indagao, com caractersticas e vocabulrio e que, enquanto uma cincia
ligada ao Homem, tem como tarefa fornecer um senso de sua prpria
identidade. Esta identidade construda na relao entre o aluno e os
variados aspectos constitutivos da cultura escolar, a includos o professor e
suas ideias em geral, e os livros didticos utilizados em particular (SANTOS,
2010, p. 236).
33
Mestrando em Histria, pelo Programa de Mestrado Profissional em Histria, Pesquisa e vivncias
de Ensino-aprendizagem da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, tutor EaD da
Especializao Ps-RS da FURG. Atualmente desenvolve pesquisa sob a orientao da professora
Dra. Jlia S. Matos. uirys@hotmail.com
125
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A autora nessa citao chama a ateno para o papel do professor no
processo de significao do passado para o aluno em sala de aula. Ainda, para o
fato de que as aprendizagens histricas contribuem para a formao de identidades
que so compostas na relao entre os alunos, sua cultura escolar, professores e
tambm suas experincias com os livros didticos de forma muito especfica. A
anlise da autora demonstra que muito do que os sujeitos contrem sobre seus
passados e identidades tem como fundamento narrativas cunhadas em sala de aula
na relao entre livros didticos e professores.
Essa constatao da pesquisadora fruto dos debates que vem sendo
cunhado por diversos pesquisadores da chamada Educao Histrica, teoria da
Conscincia Histrica e/ou Didtica da Histria, entre eles, pode-se destacar a
Isabel Barca (Portugal), o Peter Lee (Inglaterra), o Arthur Schapman (Inglaterra), o
Jrn Rsen (Alemanh), o Marcelo Fronza (Brasil), a Maria Auxiliadora Schmidt
(Brasil), o Estevo Rezende Martins (Brasil), o Luis Fernando Cerri (Brasil), a
Marlene Cainelli (Brasil), o Peter Seixas (Canad), entre outros/as.
Tais pesquisas tm como centro de debate um conjunto de conceitos
provenientes do que se convencionou chamar de teoria da Conscincia Histrica,
que tem como autor o pensador alemo, Jrn Rsen. Para ele, a Histria tem como
escopo, nos dias de hoje, a aplicao vida prtica, ou seja, mais do que um
conjunto de saberes registrados no cdigo disciplinar da Histria, ensinada em
bancos escolares, ela serve e deve ser o plasma que contribui para o
desenvolvimento da experincia no tempo e da orientao para a vida prtica de ns
sujeitos, nos constituindo historicamente. Nessa direo, ainda para o autor, o
processo de compreenso histrica somente se realiza atravs da experincia
narrativa, narrando que ns sujeitos nos compreendemos, nos orientamos e
interpretamos o mundo ao nosso redor. Como bem afirmou o autor, as experincias
temporais sero processadas em tradies possibilitadoras e condutoras de aes.
As tradies se tornam visveis e sero aceitas e reconstrudas como orientaes
estabilizadoras da prpria vida prtica (RSEN. 2010, p. 45). Pois, para Rsen,
parafraseando Habermas, a razo a base argumentativa que norteia nossa forma
de pensar e ser, e esta reflexo est intimamente ligada vida prtica.
Nessa perspectiva, Rsen expe que existem 4 tipos de Conscincia
Histrica, que so: a) a Conscincia Tradicional, b) a Conscincia Exemplar, c) a
126
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Conscincia Crtica e d) a Conscincia Gentica. As argumentativas so norteadas
atravs desses quatro tipos de conscincia, porm cada uma singular em seus
aspectos de exposio, no havendo uma superior ou inferior, mas, somente,
existem narrativas e compreenses de mundo diferentes.
A Conscincia Histrica aqui relatada , no conceito do filsofo alemo
supracitado, imanente ao ser-humano. Noam Chomsky, lingusta norte-americano,
expe que a linguagem articulada tambm imanente ao ser-humano, ela est
potencializada em sua gentica, isto no quer dizer que todos os seres-humanos
vo falar, mas que, geneticamente, todos esto aptos a desenvolver uma linguagem
articulada. Essa relao entre linguagem e Conscincia Histrica fica clara na
medida em que ambas acabam usando a narrativa para expor as formas como os
seres-humanos interagem e compreendem o mundo.
34
No que diz respeito relao narrativa e linguagem, elas esto, como j
exposto, intimamente interligadas, logo, no h como refletir essas questes de
Conscincia Histrica, sem pensar em problematizar as questes de significados e
significantes, mas em uma perspectiva histrica, pois, para Rsen, a Conscincia
Histrica a prtica reflexiva de argumentao embasada na Histria, no somente
na histria institucional, aqui entende-se escola, mas, sim, toda e qualquer forma de
compreenso e argumentao em cima da Histria, j que o conhecimento histrico
pode ocorrer alm das instituies, como, por exemplo, em filmes, livros, jogos
(RPG, Video-game, jogos de tabuleiros, etc), entre outras formas.
Conforme j exposto, alguns/algumas pensadores/as esto fundamentando
suas teorias nas propostas de Rsen, na mesma direo, a presente proposta, ainda
em andamento, partiu da do modelo de Aula-Oficina desenvolvida pela professora
Isabel Barca da Universidade do Minho, em Portugal. A Aula-Oficina tem por
propsito problematizar fontes histricas em sala de aula, de forma a possibilitar que
os discentes produzam narrativas capazes de demonstrar como interpretaram tais
fontes. Ainda, perceber como produzem suas idias histricas e relaes entre
passado e presente, com vistas a orientao para a vida prtica.
35
34
Claro, as propostas da lingustica so diferentes das de Rsen, porm, no h como no pensar
em pontos de interseces entre elas. J que, como expe Saussure, no Curso de Lingustica, a
lingustica um campo do saber que possibilita compreenso de vrias cincias, como, por
exemplo, Histria, Psicologia, Cincias Sociais, etc.
35
Conceito este utilizado na anlise das narrativas e tem por inteno perceber o que os/as alunos/as
fazem a partir do conhecimento histrico, como eles/elas fomentam suas narrativas e argumentaes,
para, a partir da, conseguir categorizar os tipos de narrativas que eles/elas vm desenvolvendo
127
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
A partir do que foi exposto at aqui, o presente texto tem por objetivo principal
analisar as ideias histricas e conceituao de passado de alunos do quarto
semestre dos cursos de Histria Bacharelado e Licenciatura, com vistas a
compreender quais as formas de argumentao que os/as alunos/as da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) esto apresentando em suas
narrativas sobre determinados conceitos que dizem respeito Histria.
Em primeira instncia, foram feitos algumas perguntas, em formato de
questionrio para serem dissertados, in loco, aos/s alunos/as
36
que esto cursando
o 4 semestre do curso de Histria
37
, essa seleo partiu do princpio que se fazia
necessrio que os mesmos j tivessem cursado a disciplina que discorre sobre
teoria e metodologia da Histria,
38
sendo assim, esto, ou deveriam,
instrumentalizados aos debates e s problemticas no que diz respeito teoria da
Histria.
No desenvolvimento das atividades, primeiramente elaboramos duas
questes base, 1) Para voc, o que Histria e 2) Para que serve a Histria? Esses
dois questionamentos foram desenvolvidos com vistas a anlise da formao
histrica dos alunos que sero futuros historiadores, pois segundo Rusen, tanto a
Histria como cincia quanto o aprendizado histrico esto fundados nas operaes
e processos existenciais da conscincia histrica (RSEN, p.93). Se a relao
entre aprendizado histrico e cincia se constitui na conscincia Histrica, como
bem demonstrou o autor, como e quais processos existenciais de conscincia
histrica nossos alunos e futuros historiadores apresentam em seu quarto semestre
de formao? Para Rsen, Formao significa o conjunto de competncias de
interpretao do mundo e de si prprio, que articula o mximo de orientao do agir
com o mximo de autoconhecimento, possibilitando assim o mximo de auto-
realizao ou de esforo identitrio (RSEN, p. 95). As competncias, referidas
pelo autor, so resultado do processo formativo do aluno que deve habilita-lo a auto-
realizao ou esforo identitrio.
36
Participaram do questionrio 28 alunos/as ao total.
37
Nesta turma tinham tanto alunos/as de bacharel como de licenciatura, j que acreditamos que no
h, ou no deve, haver distino entre licenciado e bacharel, pois ambas as titulaes tm o mesmo
propsito, que transmitir, dialogar, argumentar a Histria
38
Disciplina esta que foi dividida em dois semestres: Teoria e Metodologia I e Teoria e Metodologia II,
ministrada pela professora doutora Jlia Silveira Matos.
128
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Nessa viso, foram construdas as questes j apresentadas, na medida em
que, atravs delas, se buscou entender nas narrativas as idias histricas e viso de
passado, como ideias prvias que os/as alunos/as tm j adquiridas por interlocuo
de suas experincias sobre o determinado assunto, aqui em questo, o que e para
que serve a Histria.
Estas narrativas serviram de respaldo para a minha interveno, que est em
andamento, na disciplina de Histria Moderna, as anlises que foram feitas com as
duas perguntas (o que e para que ser Histria), antes do contedo ministrado, se
fazem relevantes na medida em que podemos compreender como esses/essas
alunos/as que, em alguns anos, esto construindo suas concepes de Histria,
tanto para sua futura atuao no ensino e na pesquisa. De forma a perceber como
constroem suas noes de tempo e como eles/elas esto instrumentalizados ao
trato com os contedos histricos coadunando-os para a vida prtica de si
mesmos/as e do pblico-alvo que tero no futuro e, at mesmo, na atualidade, pois
os seres-humanos esto inseridos nas lgicas sociais, intervindo a todo instante em
seus nichos.
Mtodo e anlise das narrativas
Como forma de anlise das narrativas dos/das alunos/as do 4 semestre da
graduao em Histria (FURG), foi utilizada a Grounded Theory - metodologia muito
usada tambm por Isabel Barca em suas pesquisas -, pois ela permite uma certa
flexibilidade em relao s anlises, j que ela vai se adaptando conforme vai sendo
apresentados os discursos pela perspectiva de quem est analisando os mesmos,
tendo ela, a Grounded Theory, por foco uma perspectiva qualitativa e, se necessrio,
quantitativa. E, nessa pesquisa, categorizamos de forma qualitativa as respostas
que nos foram apresentadas, apenas quantificando o nmero de participantes.
O quadro de anlise, a seguir exposto, foi estruturado em dois grandes
campos categricos para cada uma das duas perguntas elaboradas, os campos
foram: a) Narrativas Simples e b) Narrativas Complexas. Pois, foi-se percebido,
atravs das estruturas sintticas e semnticas, que, de forma geral, alguns/algumas
discentes desenvolveram narrativas nas quais eles/as se perceberam como
participantes do processo histrico (Narrativas Complexas), j outros/as
demonstraram a Histria externa a si, mesmo estes explicitando que a Histria o
129
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
estudo dos homens no tempo, porm estes homens em processo parecem ser o
OUTRO e no o EU, ou, melhor, o NS, tornando, assim, a Histria distante, mas,
pelas propostas do Rsen, ela, a Histria (Geschichte em alemo), um campo do
saber que serve para a vida prtica dos seres-humanos, logo, temos que nos
compreender inseridos nos processos histricos e no distantes a eles.
Foram, com a inteno de demonstrao, retirados somente quatro
fragmentos das respostas dos/as 28 alunos/as, pois, para fim de exposio, esses
quatro fragmentos apresentaram alguns signos de linguagem que coincide com os
outros em relao a proposta de categoria em Narrativas Simples e Narrativas
Complexas, logo, no se fez necessrio transcrever todos os textos apresentados
pelos/as alunos/as.
A seguir apresentamos um quadro elaborado a partir das anlises que foram
inferidas atravs das escritas, ou seja, das narrativas, dos/das alunos/as:
Pergunta Narrativas (n) Exemplos
Para voc, o que
Histria?
Simples (21) Cincia que estuda os
homens no tenpo, atravs
de suas obras para
compreender suas
sociedades, seus
desenvolvimentos e suas
culturas
Complexas (7) ... Histria para mim
estudo do homem no
tempo, ou seja, os
fenemenos que nos seres
humanos produzimos
onde tornansse fatos
histricos.
Para que serve a
Histria?
Simples (20) ... sirva para tornar os
sujeitos mais crticos com
relao aos fatos que no
s pertencem ao passado,
mas tambm que
acontecem diariamente no
mundo todo.
130
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Complexas (8) A Histria serve para nos
compreender em quanto
humanos histricos e
compreender as mudanas
que ocorreram atravs dos
anos.
Quadro 1
O quadro acima, na parte das escritas dos/das alunos/as foram copiadas na
ntegra, inclusive os erros de ortografia, coeso e coerncia.
39
Cada uma das
citaes foi retirada de um/a aluno/a diferente, tanto na primeira pergunta, quanto na
segunda. Essas citaes foram escolhidas pelo fato de representar, pela proposta
aqui presente de anlise, que categorizar as narrativas como Simples (quando o/a
individuo/a se distancia do processo histrico) e Complexas (quando o/a individuo/a
se insere no processo), como os/as alunos/as da graduao se compreendem no
processo histrico, e como os mesmo compreendem a utilidade da Histria s suas
vidas na prtica.
No questionrio, na primeira pergunta (Para voc, o que Histria?), 21
alunos/as responderam a questo com uma Narrativa Simples, isso quer dizer, se
colocaram distante do processo, como apresentado o seguinte fragmento presente
no quadro: Cincia que estuda os homens no tempo, atravs de suas obras para
compreender suas sociedades, seus desenvolvimentos e suas culturas, ele, o
fragmento, foi classificado como Narrativa Simples, pois, quando se escreve que a
Cincia que estuda OS homens ... SUAS sociedades, SEUS desenvolvimentos e
SUAS culturas o/a sujeito se distancia do processo, pois quando se usa o artigo os
para homens e os pronomes possessivos suas para sociedades, seus para
desenvolvimentos e suas para culturas o/a indivduo/a acaba se excuindo do
processo, j que o/a aluno/a deixa os processos histricos aos homens, s suas
sociedades, em seus desenvolvimentos, em suas culturas, sendo que esses
pronomes e artigos definidos, ou categorias gramaticais congneres, apareceram
nos 21 discursos aqui tido como Narrativa Simples.
39
Esta (os erros de ortografia, coeso e coerncia) seria uma outra anlise interessante de
problematizar, pois as escritas no universo acadmico so os nossos meios de nos comunicarmos,
sendo possvel, uma escrita ruim, no deixar claro o que queremos com as nossas reflexes, mas ao
momento ficamos somente com a inteno do que est escrito na ntegra dos fragmentos que foram
retirados de alguns/algumas alunos/as.
131
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
J na Narrativa Complexa (7 alunos/as), da primeira pergunta foi retirado o
seguinte fragmento: ... Histria para mim estudo do homem no tempo, ou seja, os
fenmenos que nos seres humanos produzimos onde tornasse fatos histricos.,
esse assertivo foi enquadrado como Narrativa Complexa na medida em que foi
usado, para se inserir no processo, os seguintes termos: para mim o estudo do
homem no tempo
40
[...] fenmenos que nos [ns] seres humanos produzimos onde
tornasse [tornam-se] fatos histricos.. Quando se usa o pronome possessivo mim,
o pronome pessoal reto na primeira pessoa do plural ns e o verbo conjugado na
primeira pessoa do plural produzimos, nota-se que, nessa assertiva, o/a aluno/a se
coloca dentro do processo, pois, na gramtica, essas formas de expresso,
semanticamente, apresentam o/a interlocutor/a presente e participante do que est
expondo.
Na segunda pergunta (Para que serve a Histria?), a Narrativa Simples (20
alunos/as) ficou representada pela seguinte resposta: ... sirva para tornar os
sujeitos mais crticos com relao aos fatos que no s pertencem ao passado, mas
tambm que acontecem diariamente no mundo todo.. Novamente, alguns termos
como, por exemplo, o artigo indefinido os, acompanhado de sujeitos mais crticos,
demonstram que o/a aluno/a no est inserido/a no processo, pois os que se tornam
mais crticos, atravs da anlise desse fragmento, so os sujeitos, os outros,
aqueles que no somos ns.
J a categoria de Narrativa Complexa, para a segunda pergunta, retiramos o
seguinte dizer: A Histria serve para nos compreender em quanto humanos
histricos e compreender as mudanas que ocorreram atravs dos anos.. Quando a
frase expe que ela, a Histria, serve para nos compreender, automaticamente
nos compreender explicita que quem escreveu se colocou participante do processo
histrico, interessante que essas anlises de compreenso seguiram um certo
padro nas narrativas complexas.
Consideraes finais
Como a pesquisa ainda est em processo, traar uma concluso seria
invivel ao momento. Porm, atravs do acompanhamento que estou tendo na
40
Na verdade no para o/a autor/a dessa afirmao, mas sim Marc Bloch, porm o/a mesmo/a se
apropriou sem fazer a devida referncia.
132
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
disciplina de Histria Moderna desde o seu incio (09/10/2013), sendo que j
participei como ministrante em uma aula, alm das narrativas que os/as discentes
me forneceram, posso tracejar algumas consideraes ao momento, entre elas,
que ainda existe um distanciamento entre EU e A HISTRIA , outra observao
que ocorreu um grande processo de reproduo na medida em que foi parafraseada
a clebre frase de Bloch - mostrando assim haver um processo de reproduo
conceitual e no interpretao do mesmo - , em algumas questes, pois, foi unnime
aos 28 entrevistados, na questo 1, que histria o estudo do homem no tempo
presente, digo isto respaldado nas respostas que me chegaram via escrita. Sendo
que, nem todos se colocaram neste processo dialtico entre EU e A HISTRIA.
REFERNCIAS
BARCA, I., MARTINS, E. R., SCHMIDT, M. A. (orgs). Jorn Rsen e o ensino de
histria. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.
BARCA, Isabel. Aula Oficina: do Projeto Avaliao. In Para uma educao de
qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educao Histrica. Braga, Centro de
Investigao em Educao (CIED)/ Instituto de Educao e Psicologia, Universidade
do Minho, 2004, p. 131 144. Disponvel em:
<http://www.nre.seed.pr.gov.br/cascavel/arquivos/File/semana%20pedagogica%202
010/aula_oficina_Projeto_Avaliacao.pdf>. Acesso em: 21 outubro 2013
CERRI, Luis Fernando. Ensino de histria e conscincia histrica. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2011.
CHOMSKY, Noam. Novos horizontes no estudo da linguagem e da mente. So
Paulo: Editora Unesp. 2005.
FERNANDES, Eugnia M.; MAIA, Angela. Grounded theory. Mtodos e tcnicas da
avaliao: contributos para a prtica e investigao psicolgica. Disponvel em:
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/4209/1/Grounded%20Theory.pdf ,
acesso em 14 abril 2013.
RSEN, Jrn. Razo histrica: teoria da histria: fundamentos da cincia histrica.
1 reimpresso. Braslia: Editora UNB, 2010.
RSEN, Jrn. Histria Viva: teoria da histria: formas e funes do conhecimento
histrico. Braslia: UnB, 2007.
RSEN, Jrn. Aprendizagem histrica: fundamentos e paradigmas. Curitiba: W.A.
Editores, 2012.
SANTOS, Rita de Cssia G. P. Significncia Histrica, conceito de passado e
professores de histria. In: DESAFIOS DA APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DA
133
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
EDUCAO HISTRICA, 2010. Anais eletrnico do 3 Seminrio de Educao
Histrica. 4, 11, 18 e 25 de novembro de 2010. Curitiba/PR. Disponvel em: <
http://www.lapeduh.ufpr.br/arquivos/Anais.pdf>. Acesso em: 23 outubro 2013.
SAUSSURE, Ferdinand.Curso de lingustica. 8 ed. So Paulo: Cultrix, 1977.
134
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
LUGARES DE MEMRIA: MUSEOLOGIA COMUNITRIA E AS PRIMEIRAS
APROXIMAES COM A EDUCAO HISTRICA
Wagner Tauscheck
41
RESUMO:
O presente texto apresenta contribuies iniciais sobre a relao do conceito de
Lugares de Memria do historiador Pierre Nora para os estudos referentes
museologia social, em especfico para compreender a atuao do Museu da
Periferia (MUPE), entidade comunitria da periferia de Curitiba que desempenha
aes culturais e educativas na regio. Partindo do campo da Educao Histrica
este trabalho tambm busca compreender e lanar algumas perspectivas de como
um museu comunitrio pode contribuir na complexificao da relao com o
passado dos moradores da regio e dos alunos das escolas em que o museu est
ou vai desenvolver as suas atividades. Desta forma, partimos de uma tenso
existente na consolidao de espaos como um museu organizado pela sua prpria
comunidade, tenso est presente na relao entre memria e histria. Nessa
relao no existe certo ou errado, e esses dois polos esto presentes no MUPE,
podemos citar como exemplo: as memrias que esto nas narrativas dos moradores,
cristalizadas em entrevistas e em eventos como o caf com memria, roda de
memria e no registro histrico presente nos painis e na seleo das fotos e
materiais da exposio permanente do museu. Cabe nesse trabalho, portanto, tentar
responder se o MUPE pode ser compreendido como um lugar de memria, quais as
implicaes disso para a educao histrica, de que forma essas relaes entre
memria e museu podem contribuir para o desenvolvimento da conscincia
histrica, conceito abordado por Rsen, bem como verificar se este conceito est
presente nas narrativas dos moradores e jovens alunos.
Palavras-chave: Museu; Museologia Comunitria; Educao Histrica;
Memria.
A presente pesquisa est inscrita dentro do campo da Educao Histrica e
baseia-se na importncia do ensino e aprendizagem da histria no processo de
desenvolvimento da historicidade e no pressuposto da democratizao do acesso
memria como um dos componentes desse processo. Toma como princpios
norteadores a articulao entre memria, museologia social e aprendizagem
histrica, bem como a sua relao com a utilizao dos conceitos de
Documentos/Monumentos (LE GOFF, 2003), Lugares de Memria (NORA, 1993), no
41
Wagner Tauscheck, formado em histria pela Universidade Federal do Paran (UFPR).
Desenvolve suas pesquisas junto ao laboratrio de Pesquisa em Educao Histria (Lapeduh/UFPR).
tambm coordenador tcnico do Museu de Periferia (MUPE- Sitio Cercado). wag.tau@gmail.com
135
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
desenvolvimento da conscincia histrica e na orientao temporal dos jovens
alunos (RSEN, 2001).
Partindo das experincias do Museu da Periferia (MUPE)
42
a pesquisa buscou
compreender o museu comunitrio como espao complexo para o ensino de histria,
tendo como objeto o prprio processo de formao do museu, do arquivo
comunitrio
43
e na realizao de eventos e atividades que narram a histria da
comunidade, desenvolvidas pelo MUPE desde 2009. Entre essas atividades esto
espaos como roda de memria ou caf com memria
44
. Esses so espaos de
organizao das memrias e das narrativas dos moradores esto registrados em
gravaes e entrevistas desses eventos. A partir dos mesmos as memrias foram
sistematizadas e registradas nos painis e na seleo das fotos e materiais da
exposio permanente do museu. Essas atividades ainda acontecem de maneira
itinerante em diferentes comunidades da preferia de Curitiba.
O Museu e suas narrativas:
A pesquisa sobre o Museu de Periferia (MUPE), um museu comunitrio e as
primeiras aproximaes com a Educao Histrica parte do acmulo terico no
campo da Educao Histrica, em especial dos debates propostos por Jorn Rsen,
para quem o ensino de histria e a sua didtica especfica devem ter como
finalidade desenvolver a conscincia histrica mais complexa que ajude os jovens
alunos a se orientarem no tempo. Este referencial terico tem como finalidade
oportunizar situaes em que os alunos desenvolvam a capacidade de compreender
o presente e de projetar o seu futuro (RSEN, 2001).
Uma importante contribuio de Rsen para a Educao Histrica e em
especial para compreendemos as potencialidade do museu comunitrio para o
ensino de histria est na defesa, feita pelo autor, da importncia da narrativa para a
42
Museu comunitrio localizado no bairro do Sitio Cercado, inicialmente organizado como movimento
de memria (2009), sendo fundado oficialmente no dia 15 de abriu de 2011. Nesse ano elabora uma
exposio permanente sobre a histria do bairro, com ajuda do programa Pontos de Memria, do
Ibram. A exposio fica localizada na associao de moradores Nossa Luta, na comunidade do
Xapinhal. O museu coordenado por algumas lideranas comunitrias e moradores da regio, onde
eu como morador do bairro e historiador desenvolvo atividade coordenao tcnica, desde o final de
2012.
43
Atravs do projeto de extenso Universitria CONTANDO HISTRIAS DE NOSSA GENTE:
MUSEU DE PERIFERIA E EDUCAO HISTRICA est se organizando e sistematizando os
arquivos da MUPE. Iniciativa coordenada pela professora Maria Auxiliadora Schmidt.
136
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
aprendizagem histrica. Para esse autor as narrativas na histria apontam para a
necessidade de se dissolver uma falsa dicotomia entre a narrativa racional e
narrativa irracional, onde a irracionalidade estaria mais prxima de algo no
elaborado como as memrias afetiva e emocional, ou seja, essa falsa dicotomia
estaria distante de uma narrativa histrica e cientfica (RSEN, 2012). O autor entra
nesse debate sobre a narrativa e a cientificidade da histria buscando os
fundamentos narrativos da conscincia histrica, ou seja, a narrativa histrica um
sistema de operaes mentais que define o campo da conscincia histrica. A
narrativa , portanto, o processo de construo de sentido da experincia do tempo
(RSEN, 2010, p.95).
Dessa forma, o espao museal e as narrativas presentes na seleo dos
objetos e na organizao dos painis devem ser compreendidos como parte da
orientao temporal da comunidade ou pelo menos dos moradores membros da
coordenao do museu. Partindo dessa compreenso, podemos ler essas narrativas
como formas de expresso da conscincia histrica dos moradores, da mesma
forma que as outras narrativas que emergiram da comunidade nos espaos como
caf com memria e roda de memria, sem negar a sua historicidade e no as
colocando no espao da irracionalidade. Portanto, neste texto tentarei compreender
essas narrativas a partir dos apontamentos do Rsen e apontar como isso se
expressou em uma atividade educativa organizada pelo MUPE.
A relao entre a narrativa e o conceito de cultura histrica, presente nos
trabalhos Rsen, pode nos ajudar a compreender a construo de sentido e
orientao no tempo presente no MUPE e em seus eventos. Para o autor a cultura
histrica tem trs dimenses: a esttica, a poltica e a cognitiva (RSEN, 2012).
Essas trs dimenses so tambm elementos que podem ser considerados
constitutivos de um museu comunitrio. Dessa forma, a cultura histrica no mais
do que conscincia histrica no nexo prtico da vida (RSEN, 2012. P. 130).
Dessa forma, podemos fazer a aproximao das trs dimenses da cultura
histrica como o museu: 1. Esttica; trata-se do percebido, daquilo que
significativo no histrico (RSEN, 2012. P. 134). dessa forma que podemos
compreender a seleo e organizao dos documentos e fotos da exposio
permanente do MUPE. 2. Poltica; para Rsem essa dimenso poderia ser
substituda por uma compreenso prtica. Nas palavras do autor: a ao humana
137
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
como medida referencial da formao histrica de sentido (RSEN, 2012. P. 134),
ou seja, a dimenso poltica est relacionada forma com que a histria do bairro se
constitui na vida prtica dos moradores e como essa ao pode dar sentido histrico
comunidade. 3. A dimenso cognitiva de recepo e apropriao que se
relacionam a aspectos ideolgicos e viso de mundo.
Compreendendo a narrativa como expresso da conscincia histrica dos
moradores do bairro e a cultura histrica como sua forma prtica/poltica vamos
tentar compreender o processo de produo da exposio permanente do museu e
a realizao dos espaos como a roda da memria e o caf com memria. A
exposio inicial, realizada no final de 2011, foi o ponto alto do trabalho de uma
equipe dedicada, que tinha o objetivo de mostrar a memria de lutas e conquistas da
populao que veio habitar a regio sul de Curitiba, no Paran, mais
especificamente num territrio: o Stio Cercado. Porm, nenhum dos membros do
conselho gestor do MUPE tinha qualificao em cincias sociais ou museologia.
Contudo, apesar disso estavam construindo narrativas sobre a histria do bairro,
com a ajuda de consultores e muselogos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibran)
45
,
em especial na organizao do espao museal. O eixo central da exposio, que o
desenvolvimento do bairro a partir da luta por moradia, foi o tema que o Conselho
Gestor escolheu.
As lutas dos anos 1980 e do incio dos anos 1990, bem como os relatos das
dificuldades do cotidiano na periferia aparecem como elementos centrais na
construo dessa narrativa e na orientao para a vida prtica. Isso fica evidente na
exposio acima descrita e no depoimento de Daniel, no primeiro Caf da Memria,
que permite uma percepo das dificuldades das famlias:
A casa no estava nem terminada, tive que pegar, a luz foi gato, foi no
miau mesmo. A gua no tinha, pois a Sanepar ia demorar mais um ms,
um ms e pouco para instalar, eu peguei gua emprestada pra mim poder
morar. (Primeiro caf com memria/arquivo MUPE).
A narrativa, a partir das ocupaes, em especial a ocorrida no Xapinhal, que
foi realizada no ano de 1988 e outras que foram feitas e organizadas logo em
seguida, como a ocupao 21 de agosto, do ano 1991, so entendidas como
45
A oficina de expografia, ministrada pelo Consultor Marcelo Vieira, cengrafo e co-fundador do
Museu da Mar e pela Consultora Lavnia foi dividida em dois encontros no ano de 2011.
138
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
organizadoras da histria do bairro e compreendidas at mesmo como catalizadoras
do processo de urbanizao da regio. Isso fica evidente na organizao nos trs
painis que narram a histria do bairro.
No primeiro painel esto as imagens do acervo familiar de Dona Deuzita, que
moradora do bairro, e a sua narrativa, a construo do painel, tem fotos do seu
casamento com Santinor, de seus pais (Isaac e Magdalena Claudino) e dos avs
paternos (Laurindo e Maria Pereira); da sua infncia e de seus irmos (Isade e
Eurides); do cotidiano na fazenda. Ainda neste painel est um mapa da Fazenda
Cercado, datado de 1932, com a diviso da fazenda e as partes correspondentes
dos herdeiros Isaac, Cesinando e Julia. Esse painel tem uma grande importncia ao
revelar de onde vem o nome do bairro Stio Cercado, ou seja, do nome da fazenda.
Ainda conta a histria dos pioneiros (expresso presente no painel), que mais tarde
sero nomes de algumas ruas importantes no bairro.
Outro painel representa o longo perodo de surgimento das primeiras vilas,
entre os anos cinquenta a noventa, e que antecede a fase de invases. Relatos e
fotos de moradores antigos, foram obtidos como resultado dos encontros de
memria. Com essa ao, alm da pesquisa, os participantes puderam transmitir a
sua histria de vida para as novas geraes, conforme entrevista da conselheira
Arlinda:
Veja bem se seu pai tem uma casa hoje, pergunte o que que ele sofreu
pra chegar a esse ponto, eu sempre fao isso com as crianas da
catequese e as crianas das escolas. Pra eles parar, pisar no cho, e ver,
tudo com dificuldade que se consegue as coisa.
Outros dois painis narram os movimentos por moradia, que uniu associaes
dos bairros Xaxim, Pinheirinho, Alto Boqueiro e moradores das vilas do Stio
Cercado. As imagens e objetos expostos retratam as pessoas no acampamento, em
suas barracas construdas com lona e pedaos de madeira. Aps o incio da
regularizao pela companhia de habitao, os terrenos foram medidos, as quadras
e ruas abertas. Nessa poca, a prefeitura fez a doao de madeira, assim, foram
construdas muitas casas do tipo meia-gua casa com telhado de uma cada
fotos mostram os mutires para construo, reconstruo e deslocamento das casas
nos terrenos. As imagens retratam alm da ocupao do Xapinhal, tambm as
139
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Moradias 23 de Agosto, de 1991, e a realocao do Sambaqui, esta ltima j no ano
de 2004, e que teve grande mobilizao social, frente ao descaso do poder pblico.
Essa narrativa sobre a histria do bairro foi organizada pelos coordenadores e
conselheiros do MUPE, sendo que alguns deles participaram da organizao da
ocupao do Xapinhal ou dos movimentos comunitrios do bairro. Ou seja, parece
importante compreender que esse museu serve como organizador da subjetividade
da comunidade e em especial dos lderes comunitrios envolvidos.
Da mesma forma os espaos como as rodas da memria organizaram
tematicamente a memria do bairro ou serviram para sensibilizar e ajudar a outros
sujeitos a compreenderem e se relacionarem com o passado do bairro. Nesse
sentido parece importante citar um caf com memria realizado s com as
mulheres do bairro para, a partir de um olhar feminino, construir uma narrativa sobre
a histria do bairro ou uma exposio itinerante, Tambm importante citar a roda
de memria realizada na ocupao Nova Primavera em 2013, no bairro Cidade
Industrial de Curitiba (CIC). Esse ltimo evento parece interessante para
compreender esses espaos, pois a Nova Primavera uma ocupao recente
iniciada no ano de 2012 e a roda de memria nessa ocupao gerou um debate
sobre o cotidiano da luta por moradia na dcada de 1980 e as lutas por moradia nos
dias de hoje em Curitiba.
Portanto, a narrativa sobre a histria do bairro parece articular as direes da
cultura histrica (esttica, poltica e cognitiva), bem como se constitui como
expresso da conscincia histrica dos moradores que apresentam elementos de
uma conscincia tradicional ao valorizar a ocupao do Xapinhal, entendendo um
mito de origem da urbanizao da regio sul de Curitiba ou uma conscincia
exemplar, quando valoriza as experincias e as transporta para o presente, como
no evento na ocupao recente do no CIC, ou ainda se expressa com uma narrativa
crtica ao questionar o mito da cidade modelo, construda pela publicidade e pela
histria oficial. Assim, essas narrativas so articuladas de diferentes formas, em
diferentes contextos, com diferentes sujeitos e ainda utilizando documentos e
objetos como evidncias desse passado. Dessa forma, as narrativas produzidas
pelo museu e nos seus eventos tambm so narrativas genticas que se articulam
com outros elementos da histria de Curitiba e a outros conceitos substantivos,
como a imigrao, a redemocratizao e os movimentos sociais. Ou seja, est
140
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
presente no MUPE e nas suas atividades as diferentes dimenses da conscincia
histrica (tradicional, exemplar, critica e gentica).
Portanto, para concluir essa parte importante levantar alguns pontos da
leitura feita por Rsen sobre museus histricos, no caso ele est olhando para
Museu Histrico Alemo, e afirma que a didtica muitas vezes e vista como uma
transposio do cientifico do objeto para o sensvel do visitante (RSEN,2012)
para o autor necessrio expandir essa concepo, nas suas palavras uma tal
expanso do campo de viso museolgico deveria partir do fato de que experincia
do sensvel, proporcionada por um museu, no pode ser vista simples mente como
mero preenchimento de uma interpretao dada (RSEN,2012, p.153). Nesse
sentido no foram analisadas separadamente as narrativas do moradores da
disposio esttica da exposio permanente do museu comunitria, que por
concepo j est ditaste de uma simples transposio.
A dupla funo do museu comunitrio:
Antes de aprofundar o campo da Educao Histrica importante responder
o que entendemos com o conceito de museu comunitrio, a partir da seguinte
questo: ele um centro de educao comunitria ou um espao de contribuio
para educao formal? Essa questo central nas formulaes da professora Clia
Teixeira de Moura Santos, em seu livro Encontros museolgica, reflexes sobre a
museologia, a educao e o Museu. Para responder essa questo podemos nos
utilizar das experincias de ao pedaggica do MUPE, pois o museu comunitrio
constitudo por essas duas realidades: ao mesmo tempo espao de educao
comunitria e tambm ajuda a ressignificar a educao formal. Ademais, seguindo o
percurso designado pela autora, o projeto compreende algumas caractersticas do
museu comunitrio e sua relao com o ensino de histria, tais como:
Reconhecer o papel ativo do sujeito, que reconhece e transforma a
realidade; Considera-se o processo educacional como responsvel
formao do cidado, que deve reconhecer no seu patrimnio cultural uma
referncia para o exerccio da cidadania; A ao museu, escola e
comunidade deve se dar a partir da construo do conhecimento em sala
de aula, tomando como referencial o patrimnio cultural local (o bairro e o
colgio) em suas dimenses de tempo e espao, na dinmica do processo
social, e sua relao com o Pas e o Mundo (SANTOS, 2008, p. 32).
141
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Portanto, esta pesquisa aponta para conceitos do campo da Educao
Histrica as possveis relaes com um museu comunitrio e suas aes educativas,
compreendendo os documentos como monumentos e vestgios de um passado que
podem complexificar a relao com o passado de uma comunidade e dos alunos.
Para compreender as relaes entre o museu comunitrio acima definido e as
possibilidades de desenvolvimento do campo da Educao Histrica necessrio
fazer alguns apontamentos sobre a relao entre museu e o nosso campo de
pesquisa. Para isso levaremos em conta a pesquisa de mestrado desenvolvida por
Alamir Muncio Compagnani (UFPR, 2009).
Compagnani, em seu estudo sobre a conscincia histrica de jovens alunos
que participaram de Aulas Visitas em museus de Curitiba e regio metropolitana,
aponta o significado que esses espaos podem ter para a educao escolar. Onde o
museu deve ser entendido a partir da linguagem museolgica, como um espao do
objeto e dos bens culturais e no apenas como um fornecedor de dados do
passado. Nesse sentido, os museus devem ser espaos que possibilitem a
problematizao dos seus objetos da orientao no tempo.
Partindo dessas contribuies do campo da Educao importante
compreendermos as potencialidades do museu comunitrio para o ensino de
histria, nesse sentido parece importante definir os conceitos de documento/
monumento e lugares de memria.
Museu comunitrio como um lugar de memria:
Ao estudar o museu, os seus arquivos e a permanncia de diferentes
narrativas sobre a histria comunitria do bairro do Sitio Cercado, temos que pensar
a crtica ao documento histrico no sentido de entend-lo enquanto
monumento/documento (LE GOFF, 2003) e evidncia do passado, ou seja, inserido
no seu contexto, buscando explicitar os jogos e disputas de poder. Isso quer dizer
que se entende [que] o documento deve ser estudado numa perspectiva
econmica, social, jurdica, poltica, cultural, espiritual, mas sobre tudo enquanto
instrumento de poder (LE GOFF, 2003, p 538.)
Compreender o documento enquanto monumento nos auxilia, uma vez que, a
construo da memria coletiva sobre a ocupao podem ser estudada partindo das
142
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
disputas polticas e dos lugares de poder sobre a narrativa do bairro. Portanto, S a
anlise do documento enquanto monumento permite a memria coletiva recupera-lo
e ao historiador us-lo cientificamente (LE GOFF, 2003, p.535). Desta forma,
devemos compreender a produo das narrativas e a organizao do museu e seus
arquivos sobre a histria do bairro, partindo dessa concepo de
documento/monumento e a construo da memria coletiva dos moradores e
integrantes do MUPE. Essa concepo de documento/monumento ocorre a partir de
uma leitura filolgica da palavra monumento, que foi proposta por Le Goff, que a
define como tudo aquilo que pode perpetuar a recordao. Na relao com o
documento escrito, ou seja:
O monumento tem como caracterstica o ligar-se ao poder de perpetuao,
voluntaria o involuntria, das sociedades histricas (um legado a memria
coletiva) e o reenviar a testemunhos que s numa parcela mnima so
testemunhos escritos. (LE GOFF, 2003, p.526)
Portanto, no devemos naturalizar a forma com que o MUPE organizou a
histria comunitria do bairro e selecionou seus documentos. Partindo dessa
premissa, pode-se desenvolver anlises das atividades educativas j desenvolvidas
pelo museu e as possibilidades de utilizao desses materiais no ensino de histria
das escolas da regio e sua insero na histria da cidade.
Da mesma forma, para compreender melhor a relao entre o MUPE e a
construo da memria coletiva nos parece importante fazer algumas aproximaes
com o conceito de lugares de memria que para Pierre Nora so primeiramente
lugares em um trplice significado: so 1. Lugares Materiais onde a memria social
se fundamenta e pode ser percebida pelos sentidos; 2. Lugares Funcionais porque
tm ou adquiriram a funo de alicerar memrias coletivas e so 3. Lugares
Simblicos onde essa memria coletiva se expressa So, portanto, lugares com uma
vontade de memria.
partindo desse triplo sentido que entendemos o museu comunitrio como
um Lugar Material, com uma exposio de objetos e fotos que podem ser
apreendidas pelos sentidos; em segundo sendo um Lugar Funcional com seus
arquivos e projetos comunitrios ou escolares; por fim um Lugar Simblico, por
valorizar elementos e objetos da histria comunitria, alm de estar sediado na
primeira associao de moradores da maior ocupao da histria do bairro, ou seja,
143
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
na associao Nossa Luta, na comunidade do Xapinhal, no Sitio Cercado. Nas
palavras do prprio autor:
Lugar de memria, ento: toda unidade significativa, de ordem material ou
ideal, que a vontade dos homens ou o trabalho do tempo converteu em
elemento simblico do patrimnio material de uma comunidade qualquer
(NORA, 1997).
Portanto, podemos aproximar esse museu comunitrio, compreendido aqui
como um Lugar de Memria e de seus documentos como monumentos, das trs
dimenses da cultura histrica: a dimenso esttica, poltica e cognitiva (RSEN,
2012) e, assim, compreender o museu, suas narrativas e atividades, seus arquivos e
eventos, em um caminho que se aproxime do campo da Educao Histrica e na
complexificao da relao com o passado da comunidade e de jovens alunos do
bairro. Ou seja, o MUPE cumpre essa dupla funo de ser um espao de educao
escolar e comunitria, podendo ser compreendido luz do conceito de lugar de
memria e que se expressa nas narrativas ali presentes. Partindo desses elementos,
para concluir, podemos apontar algumas perspectivas no campo do ensino de
histria a partir de uma experincia do prprio museu e tambm apontar o museu
como um espao com potncias de pesquisa e dilogo com a comunidade.
Aes educativas e novas possibilidades:
Podemos compreender a partir de um olhar comprometido com o campo da
Educao Histrica uma das atividades educativas que foi organizada pelo museu.
Essa atividade foi o Projeto Memria e Tecnologia
46
, desenvolvido na Escola
Estadual Hasdrubal Bellegard, que teve com o objetivo:
Despertar nas crianas e nos jovens da periferia o sentimento de
pertencimento e de cidadania atravs do conhecimento da Memria local.
Ressaltando diferenas intergeracionais no que diz respeito cultura, ao
surgimento e aos diferentes desdobramentos da histria da comunidade,
est tida como o local da cidade onde a vida se passa e as mudanas mais
significantes para a vida do indivduo se manifestam (justificativa do
projeto/ arquivo MUPE).
46
Projeto desenvolvido em conjunto com o Mais Educao no ano de 2012.
144
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Podemos perceber nessa justificativa a busca por evolver os alunos com a
histria local e a preocupao com o desenvolvimento da historicidade. Mesmo que
os professores e coordenadores do MUPE no se relacionem com o campo da
Educao Histrica, podemos afirmar, nos termos de Rsen, que o projeto buscava
complexificar a conscincia histrica e desenvolver a capacidade de orientao
temporal de compreender as mudanas no bairro. O que deve ajudar na orientao
da vida prtica, mas tambm partindo dessa necessidade humana de se orientar no
tempo. Ainda para envolver os alunos no projeto foi desenvolvida uma oficina de
multimdia onde esses jovens eram incentivados a produzir fotos e vdeos do bairro
e compar-los com a histria sistematizada pelo MUPE. Para finalizar o projeto foi
organizada uma exposio com esse material, que passou a incorporar o acervo do
museu.
Portanto, partido do campo da Educao Histrica e entendendo o MUPE
como um lugar de memria podemos perceber as potencialidades de sua dupla
funo, seja mais prximo da educao formal ou da educao comunitria, para o
desenvolvimento da conscincia histrica da comunidade e de jovens alunos. Essas
potencialidades devem ser desenvolvidas e avaliadas partindo dos referencias da
cultura histrica, seja com atividades de metacognio, no contexto escolar, ou
buscando compreender a percepo e relaes estticas dos alunos e visitantes do
MUPE, ou ainda a relao poltica com a comunidade e nos eventos organizados
pelo museu. Podendo essas atividades serem compreendidas como objetos de
pesquisa para o ensino de histria, nos sentido apresentados no texto
REFERNCIAS:
COMPAGNONI, Alamir Muncio. Em cada museu que a gente for carrega um
pedao dele: compreenso do pensamento histrico de crianas em ambiente de
museu. Dissertao de Mestrado. Curitiba: UFPR, 2009.
GONALVES, Janice. Pierre Nora e o tempo presente: Entre a Memria e o
Patrimnio Cultural. Histriae, Rio Grande, 2012.
HARTOG, Fraois. O tempo desorientado- Tempo e histria: como escrever a
histria da Frana?. Anos 90. Porto Alegre, 1997.
LE GOFF, Jacques. Histria e memria, 5 Ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp,
2003.
145
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
NORA, Pierre. Entre memria e histria: a problemtica dos lugares. Projeto Histria,
So Paulo, n.10, dez. 1993, p.7-28.
RSEN, Jrn. Jrn Rsen e o ensino de histria/ organizadores Maria Auxiliadora
Scmidt, Isabel Barca, Estevo de Rezendes Martins- Curitiba: Ed. UFPR, 2010.
RSEN, Jrn. Aprendizagem histrica. Fundamentos e Paradigmas. Curitiba: W & A
Editores, 2012
RSEN, Jrn. Aprendizagem histrica. Fundamentos e Paradigmas. Curitiba: W & A
Editores, 2012.
SANTOS, Clia Teixeira de Moura. Encontros museolgicos reflexes sobre a
museologia, a educao e o Museu. Rio Janeiro: Minc/IFHAN/DEMU,2008.
146
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
PROTONARRATIVAS DA CANO: A CONSCINCIA HISTRICA ORIGINRIA
DE JOVENS ALUNOS BRASILEIROS E PORTUGUESES A PARTIR DAS
LEITURAS E ESCUTAS DE UMA CANO POPULAR ADVINDA DOS SEUS
GOSTOS MUSICAIS
Luciano de Azambuja
47
RESUMO:
O objetivo da comunicao partilhar parte dos resultados da tese de doutoramento
realizada no Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Federal do
Paran. O objeto da tese consistiu na investigao das protonarrativas escritas por
jovens alunos a partir das leituras e escutas de uma cano popular advinda dos
seus gostos musicais. Os sujeitos da investigao foram jovens alunos brasileiros e
portugueses do segundo ano do ensino mdio de escolas pblicas das cidades de
Florianpolis, Brasil, e Vila Nova de Famalico, Portugal. A partir dos
desdobramentos do objeto, foram aplicados os instrumentos de investigao do
estudo principal: Narrativas de vida; Gostos musicais & Aulas de Histria; Aula-
Audio; e as Protonarrativas da cano. Os conceitos e categorias estruturantes do
quadro terico foram articulados a partir dos referenciais de Rsen (2001; 2007a;
2007b; 2010; 2012); Marx (2002; 2012); Heller (2008); Forquin (1993); Snyders
(1988); Pais (1993); Margulis (1994); Dubet (1996); Medrano (2007); Dias (2000);
Zumthor (1988); Le Goff (1975); Topolski (1985); Martins (2011), Simo (2011),
dentre outros autores. A metodologia da pesquisa procurou sintetizar as
perspectivas dos mtodos da pesquisa histrica, da didtica da histria e dos
pressupostos da pesquisa qualitativa. Os resultados indicaram que a escritura de
protonarrativas da cano pode mobilizar as temporalidades, competncias e
dimenses da conscincia histrica originria e a subjacente constituio da
identidade histrica primeira de jovens alunos do ensino mdio.
Palavras-chave: Cano popular. Jovens alunos. Aprendizagem histrica
O objetivo deste artigo partilhar parte dos resultados da tese de
doutoramento realizada no mbito do Programa de Ps-Graduao em Educao da
Universidade Federal do Paran, sob a orientao da Profa. Dra. Maria Auxiliadora
Schmidt. Na tripla perspectiva da educao histrica, da cognio histrica situada e
da didtica da histria, o objeto da tese consistiu na investigao das protonarrativas
47
Doutor em Educao; trabalho realizado com o apoio de bolsa concedida pela CAPES; professor
de Histria do Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), cmpus
Florianpolis-Continente. luciano.azambuja@ifsc.edu.br
147
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
escritas por jovens alunos brasileiros e portugueses, a partir das primeiras leituras e
escutas de uma fonte cano advinda dos seus gostos musicais, mediada por
critrios de seleo e de uma pergunta histrica formulada pelo professor-
pesquisador, e da subjacente constituio da conscincia histrica originria e da
identidade histrica primeira enraizada na vida prtica cotidiana. Os sujeitos da
investigao foram jovens alunos brasileiros e portugueses do segundo ano do
ensino mdio de escolas pblicas das cidades de Florianpolis, Brasil, e Vila Nova
de Famalico, Portugal. A partir dos desdobramentos do objeto, foram aplicados os
instrumentos de investigao do estudo principal: Narrativas de Vida; Gostos
Musicais & Aulas de Histria; Aula-Audio; e as Protonarrativas da Cano. Os
conceitos e categorias estruturantes do quadro terico foram articulados a partir dos
referenciais de Rsen (2001; 2007a; 2007b; 2012); Barca (2007); Schmidt (2009);
Martins (2011); Marx (2002; 2012); Heller (2008); Forquin (1993); Snyders (1988);
Dubet (1996); Dias (2000); Zumthor (1988); dentre outros autores. A metodologia da
pesquisa emprica procurou sintetizar as perspectivas dos mtodos da pesquisa
histrica, mtodos de pesquisa em ensino e aprendizagem histrica, mediados pelos
pressupostos da pesquisa qualitativa de natureza narrativstica e etnogrfica.
(FLICK, 2004).
A partir dos dados empricos extrados das fontes narrativas e interpretados
historicamente tendo como referncia o quadro conceitual categorial da
investigao, verificamos que os jovens alunos brasileiros e portugueses
narrativizaram por escrito ideias de passado, presente e futuro, assim como
estabeleceram mltiplas relaes temporais entre as trs dimenses do tempo
histrico, a partir das leituras e escutas de uma fonte cano efetivamente advinda
dos seus gostos musicais. Observamos e inferimos que as fontes canes
mobilizaram as temporalidades do passado, presente e futuro e dinamizaram as
competncias da experincia, interpretao e orientao da conscincia histrica
originria dos jovens alunos portugueses e brasileiros, manifesta empiricamente nos
enunciados lingusticos das protonarrativas da cano. Procuramos inferir e
demonstrar que a escritura de protonarrativas a partir das leituras e escutas da
cano, em resposta a uma pergunta formulada, pode potencializar a rememorao
de contedos experienciais do passado, a atribuio de significados da interpretao
do presente, e a constituio de sentidos da orientao do futuro. Indissocivel
148
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
totalidade das complexas dimenses e competncias da conscincia histrica,
privilegiamos evidenciar nas fontes narrativas e, em especial, nas protonarrativas da
cano, a manifestao mesclada, relativamente autnoma e reciprocamente
interdependente das trs dimenses originrias da conscincia humana no tempo:
as dimenses cognitiva, esttica e poltica; intelecto, sentimento e vontade; as
ideias, as palavras e as coisas, ou no caso especfico da investigao, conscincia
histrica originria, protonarrativas da cano e vida prtica cotidiana. E por fim, as
protonarrativas da cano, especificamente na anlise da sua dimenso poltica,
evidenciaram processos de constituio de uma identidade histrica primeira do eu-
ns dos jovens alunos brasileiros e portugueses, em relao alteridade dos eles-
outros inferidos, expressos e representados nas protonarrativas, mobilizando assim
potencialidades de uma orientao poltica da vida prtica atual e futura.
Terica e empiricamente fundamentamos a presena e significado da cano
popular na vida prtica cotidiana, nos processos de escolarizao, e na constituio
das mltiplas culturas e identidades juvenis; emprica e teoricamente pudemos
comprovar, qualitativamente, que a escritura de protonarrativas, a partir das leituras
e escutas de uma fonte cano advinda dos gostos musicais dos alunos, pode
dinamizar as temporalidades, competncias e dimenses da conscincia histrica
originria de jovens alunos do ensino mdio, constituindo-se como um ponto de
partida motivador para processos relevantes de ensino e aprendizagem histrica,
com vistas formao escolar da conscincia histrica. Esse percurso propiciou
tambm que, metodologicamente, pudssemos sinalizar e orientar perspectivas
metodolgicas de ensino de histria e princpios epistemolgicos de aprendizagem
histrica a partir do trabalho com a cano popular.
As funes, aplicaes e efeitos do conhecimento histrico resultante desta
investigao puderam convergir como orientao, sinalizao e indicao de
possibilidades produtivas de efetivao de uma literacia histrica (LEE, 2006), um
letramento especfico de professores e alunos que alfabetize para o trato metdico
adequado especificidade complexidade e unicidade da cano popular como fonte
para o ensino e aprendizagem histrica. A ttulo de sntese geral dos resultados
obtidos com esta pesquisa histrica qualitativa em ensino e aprendizagem histrica
na tripla perspectiva da educao histrica, da cognio histrica situada e didtica
da histria, prognosticamos a partir da vida prtica cotidiana, culturas juvenis e
149
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
cultura histrica primeira de potenciais jovens alunos, seis perspectivas-princpios
sobre o ensino e aprendizagem histrica a partir do trabalho com a cano
popular:
1. Narrativa de vida trata-se de uma autobiografia escrita, dialgica e
roteirizada, cuja finalidade fornecer dados, informaes e fatos para
delinear o perfil identitrio da amostra dos sujeitos escolares em situao de
ensino e aprendizagem. Escreva uma narrativa sobre a sua prpria histria
de vida a partir da seguinte sugesto de roteiro, pode ser solicitado aos
alunos como estmulo para a escritura de narrativas: ttulo; nome completo,
data e local de nascimento; nome completo, idade, profisso e ascendncia
tnica dos pais; vida familiar; vida escolar; vida profissional; fatos marcantes;
o que gosta de fazer; e projetos futuros. As narrativas de vida so
interpretaes e orientaes das experincias de vida de um sujeito histrico
na sucesso do tempo, portanto, podem dinamizar as competncias
experiencial, interpretativa e orientacional, e as dimenses cognitiva, esttica
e poltica da conscincia histrica originria e da identidade histrica primeira
dos jovens alunos enraizada na vida prtica cotidiana: familiar, escolar,
produtiva e juvenil. O tpico o que gosta de fazer das narrativas de vida
remete capacidade de interpretao do presente. Enquanto jovens de uma
sociedade globalizada, mediada e mediatizada pela indstria cultural de
massa, os jovens alunos gostam de fazer coisas relacionadas s dimenses
estticas, emocionais e intersubjetivas das mltiplas culturas juvenis grupais e
identidades juvenis individuais constitudas e enraizadas na vida prtica
juvenil cujo campo privilegiado de experincias situa-se na interseco dos
espaos da vida prtica familiar e da vida prtica escolar. Este predomnio da
dimenso esttico-emocional na cultura primeira dos jovens alunos que
confere operao da conscincia originria a marca de uma interpretao
esttica do presente.
2. Msica a arte humana da combinao, sucesso e simultaneidade de sons
e sentidos em seus trs elementos fundamentais: harmonia, melodia e ritmo,
coloridos substancialmente pelo timbre. A msica muito importante e
parte fundamental na vida prtica cotidiana dos jovens alunos. A msica
150
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
pode mobilizar as competncias da experincia do passado, interpretao do
presente e orientao do futuro e as respectivas dimenses cognitivo-
racional, esttico-emocional e poltico-identitria da conscincia juvenil
primeira dos jovens alunos. A msica estetiza a vida, contrape, extrapola e
transcende o princpio da realidade das vontades de verdade e poder da
cincia e da poltica, e instaura o princpio do prazer da vontade de beleza da
arte. A msica constitui elemento indispensvel nas prticas de
entretenimento, lazer e diverso, constitutivos das mltiplas culturas e
identidades juvenis no duplo processo de socializao da juventude e
juvenilizao da sociedade. Os gneros musicais de preferncia dos jovens
alunos com mdia de idade em torno dos dezessete anos so
predominantemente o rock em primeiro lugar isolado, seguido do pop, rap e
reggae, gneros musicais caractersticos da cano pop anglo-americana
veiculada pelas matrizes das corporaes transnacionais do disco
predominantemente norte-americanas, europeias e japonesas. Todavia, os
jovens tambm apreciam gneros cancionais enraizados nas culturas
originrias de seus respectivos pases e nas apropriaes dos gneros
musicais da cano pop anglo-americana. Os cantores, compositores, grupos
e bandas de preferncia dos jovens so os astros da msica pop
internacional e os respectivos dolos nacionais diretamente associados aos
gneros musicais ofertados pela indstria fonogrfica cultural monopolizada
pelas corporaes transnacionais do disco; instaladas nos pases perifricos
no processo de globalizao cultural, ao mesmo tempo em que veiculam os
produtos musicais das matrizes metropolitanas, a indstria fonogrfica se
apropria da criao e produo musical local para satisfazer segmentos do
mercado fonogrfico que se identificam com a msica de tradio nacional,
regional e as tradues hbridas de gneros musicais estrangeiros.
3. Toda e qualquer msica pode ser apropriada como fonte histrica para a
aprendizagem histrica, pois tudo que trs a marca da intencionalidade da
ao humana no tempo evidncia potencial. Depende do critrio histrico
de seleo da cano de trabalho, da pergunta histrica formulada que se
pretenda orientar responder na perspectiva da didtica da histria, e do grau
de adeso que se queira alcanar junto a determinado perfil de jovens alunos
151
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
em situaes concretas de ensino e aprendizagem histrica. Todavia,
sugerimos como ponto de partida para o trabalho com msica na Aula de
Histria, apropriar inicialmente uma fonte cano advinda dos gostos musicais
dos jovens, ou seja, letra e msica mediatizada que tematiza histria em
seus mltiplos significados. Segundo suas proposies de contedos,
justificativas, finalidades e mtodos dos usos da msica em aulas de histria,
os jovens alunos tendem a conceber progressivamente a msica como
artefato esttico, recurso didtico e fonte histrica. A msica emerge
espontaneamente da cultura histrica primeira dos jovens alunos mantendo a
sua funo original enquanto artefato esttico da cultura de massa da
indstria fonogrfica destinado s atividades de entretenimento, lazer e
diverso e cuja finalidade gerar o prazer esttico-emocional constitutivo das
mltiplas culturas e identidades juvenis. Nessa concepo, a justificativa e a
finalidade do uso da msica se confundem e se reduzem a tornar as aulas de
histria mais divertidas, descontradas e dinmicas; nesse caso especfico, a
dimenso esttica torna-se um fim em si mesma e instrumentaliza as
dimenses cognitivas e polticas, correndo o perigo de efetivar-se uma
estetizao do histrico que rompe o vnculo com a experincia histrica que
possibilita a interpretao fundamentada do presente e a expectativa
orientada do futuro. Despertar o interesse e a motivao em aprender histria
indispensvel como ponto de partida, entretanto, insuficiente do ponto de
vista de uma aprendizagem histrica situada na cincia da histria e na
situao de aprendizagem histrica. A msica concebida como recurso
didtico instrumentaliza a sua dimenso esttica para servir como mero
veculo de transporte e artifcio artstico que conduz at a dimenso cognitiva
e poltica do contedo histrico curricular. Nesse caso, as dimenses
cognitivas e polticas da cultura histrica escolar tendem a instrumentalizar a
dimenso esttica, destituindo-a de seu papel ativo na constituio histrica
de sentido, podendo provocar uma conteudizao do esttico, cujos exemplos
potencializados so as pardias e as canes didticas. Na perspectiva da
investigao acerca da aprendizagem histrica a partir da cano popular,
adotamos como ponto de partida e reafirmamos ao longo do trabalho os
seguintes pressupostos prospectivos: o que ensinar, ou seja, o contedo
152
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
consiste nos conceitos histricos substantivos, categorias histricas
epistemolgicas, categorias histricas gerais, imagens-ideias, e outras
temticas inferidas, expressas e comunicadas nas letras e msicas das
canes apropriadas, escolhidas e selecionadas; o como ensinar, ou seja, a
metodologia do ensino de histria consiste nos processos de aprendizagem
histrica a partir das leituras, escutas, falas e escrituras de protonarrativas
com vistas escrita de narrativas histricas da cano, ou seja,
aprendizagem histrica a partir da leitura histrica da cano, em sntese, por
uma interpretao histrica da cano; o por qu, ou seja, a justificativa do
uso da cano no ensino e aprendizagem histrica reside na premissa
epistemolgica de que a cano popular pode ser apropriada como fonte
histrica para a aprendizagem histrica de jovens alunos, pois como artefato
humano constitui evidncia potencial; e por fim, o para que, ou seja, a
finalidade do uso da msica em aulas de histria coincide com a finalidade
primeira e ltima do ensino e aprendizagem histrica na perspectiva da
didtica da histrica: a constituio, formao e progresso da conscincia
histrica e a subjacente consolidao da identidade histrica juvenil de jovens
alunos do ensino mdio. Relacionando perspectiva ruseniana das trs
dimenses da aprendizagem histrica como processo de formao da
conscincia histrica, o contedo a experincia histrica do passado; a
metodologia a interpretao histrica do presente; a justificativa e
finalidade so as carncias e funes de orientao temporal da vida prtica
atual, com vistas orientao histrica do futuro; e para concluir, o valor a
constituio, estabilizao e consolidao da identidade histrica juvenil.
4. Aula-audio a tarefa que consiste na escolha por parte dos alunos de
uma msica dos seus gostos musicais que, segundo a opinio deles, pode
ser usada em uma aula de histria. As msicas podem ser apresentadas,
recepcionadas e defendidas na aula-audio procurando responder a
perguntas histricas formuladas pelo professor-pesquisador: Por que usar
essa msica em uma aula de Histria?; Para que usar essa msica em uma
aula de Histria?. Tendencialmente as escolhas dos jovens alunos
corroboram o pressuposto pragmtico de que quando o jovem solicitado a
escolher uma msica do seu gosto musical que pode ser usada em uma aula
153
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
de histria, ele escolhe especificamente forma cano popular fonogrfica.
O contato indireto, abstrato e individual de um uso genrico da msica em
aulas de histria tende a levar o jovem aluno a reproduzir concepes acerca
dos usos da msica no ensino arraigadas na cultura histrica escolar
tradicional que tende a conceber a msica como artefato esttico e recurso
didtico e a no diferenciar as justificativas e finalidades dos seus usos. As
tarefas da aula-audio tm como intencionalidade consciente possibilitar aos
alunos atravs do trato heurstico, didtico e metdico estabelecido
diretamente com a fonte cano, a operao da inferncia histrica que
transmuta a cano popular em fonte histrica subsumindo-a em fonte
cano, letra e msica mediatizada que tematiza histria. Os pressupostos
estticos, didticos e histricos implcitos aula-audio podem mobilizar
uma progresso tendencial da conscincia histrica primeira dos jovens
alunos no sentido de uma concepo de msica enquanto artefato esttico e
recurso didtico, para uma concepo de msica como fonte histrica para a
aprendizagem histrica. Tendncia de progresso em direo aos
pressupostos tericos da investigao delimitados como ponto de partida e de
chegada para essa reflexo sobre as justificativas e finalidades dos usos da
msica em uma aula de histria. Em relao ao processo de votao e
escolha por parte dos alunos da fonte cano a ser apropriada como cano
de trabalho para a aprendizagem histrica, a oscilao das canes que
tendem mais para o polo da cultura histrica escolar, do que para o polo da
cultura juvenil primeira, possibilitam defesas mais consistentes das
justificativas e finalidades de seus respectivos usos em uma aula de histria e
podem contribuir decisivamente para o processo de escolha por parte dos
alunos da cano de trabalho, e gerar intrinsecamente, antes da efetiva
interveno pedaggica do professor, processos de ensino e aprendizagem
histrica e da subjacente progresso da conscincia histria primeira dos
jovens alunos a partir da vida prtica cotidiana, juvenil e escolar. A mediao
do professor-pesquisador na seleo da cano de trabalho dentre as mais
votadas pelos alunos depende das potencialidades didticas vislumbradas
nas canes escolhidas pelos jovens, da pergunta histrica que pretenda
formular a fonte cano, dos conceitos histricos substantivos, categorias
154
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
histricas epistemolgicas e as subjacentes competncias especficas da
conscincia histrica que ambicione mobilizar nos jovens alunos em situao
de aprendizagem, em suma, depende do que se queira e pretenda fazer: as
possibilidades so infindas.
5. Cano popular constitui uma criao e produo musical caracterstica da
cultura ocidental; um produto da indstria fonogrfica cultural, mercadoria
esttica do capitalismo monopolista do sculo XX, o sculo da cano. A
cano popular uma totalidade, um complexo de complexos, uma
acoplagem indissocivel constituda pelos seguintes complexos: letra, a
palavra, a linguagem verbal, os enunciados lingusticos em suas formas e
contedos; msica, a combinao de sons a partir dos seus trs
fundamentos, harmonia, melodia e ritmo, substancialmente coloridos pelo
timbre; as subjacentes performances vocal e instrumental; e por fim, o
fonograma; o arquivo, medium ou suporte tcnico, tecnolgico e
mercadolgico de reproduo de canes. Quer pelas suas razes ancestrais,
quer pela sua globalizao cultural, a cano popular, um produto do
trabalho de criao e produo musical humana, letra e msica, palavra
cantada ou canto falado, acompanhados ou no por instrumentos musicais;
uma onda verbal, sonora e fsica, portanto, material, concreta, verificvel,
enfim, real. O poder esttico da msica sobre o ser humano apropriado pelo
poder econmico, tecnolgico e comercial da indstria fonogrfica e
transformado em um produto da cultura de massa, uma mercadoria musical
destinada ao consumo simblico do ouvinte, cuja funo primeira o prazer
esttico e a satisfao do pblico consumidor, e a finalidade ltima, o lucro da
indstria cultural e a manuteno das relaes de poder vigentes. A presena
emprica, concreta, intersubjetivamente verificvel, enfim, a totalidade da
msica no tempo diacrnico da vida prtica cotidiana e no espao sincrnico
que ocupa todo e qualquer canto, manifesta-se por meio do processo de
mediatizao produzida pela indstria fonogrfica cultural, e a subsequente
veiculao das mercadorias musicais nos meios de comunicao de massa
que condicionam, apesar da aparente liberdade de escolha, uma escuta
aleatria, compulsria e inconsciente que sugere, antecipa e induz ao ato de
compra e consumo do fonograma. Apesar da influncia da cultura de massa
155
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
na formao dos gostos musicais dos jovens alunos, devemos considerar o
refluxo assimtrico e aleatrio dos gostos, tendncias e influncia das
culturas juvenis sobre a sociedade e a prpria cultura de massa, ou seja, o
processo de juvenilizao da sociedade. Registrada mecanicamente,
mediatizada e emitida por um suporte-aparelho reprodutor, a cano popular
fonogrfica chega como um todo aos ouvidos, pele, msculos, ossos e
sistema nervoso, instalando-se na interioridade subjetiva do eu e
provocando mltiplas recepes, leituras e escutas dos ouvintes em situao
de comunicao. A totalidade da cano, o complexo de complexos, a
acoplagem indissocivel que constitui a unicidade da cano, extrapolam os
campos de anlise especificamente literrios, musicolgicos, histricos,
estticos, tecnolgicos e mercadolgicos, e demandam uma perspectiva de
sntese dialtica transdisciplinar que procure subsumir as diversas alteridades
em uma unidade do diverso. A cano popular apropriada como fonte
histrica; transmutada pela inferncia em fonte cano que tematiza histria
em suas perspectivas conceitual e categorial; a seleo da fonte cano em
funo da formulao da pergunta histrica que se pretenda responder; toda
essa estratgia metodolgica resulta na delimitao da cano de trabalho. A
seleo da cano de trabalho constitui o ponto de partida e de chegada de
um processo de ensino e aprendizagem histrica que no est subordinado a
nenhum contedo histrico pr-determinado pelo currculo histrico escolar,
ou gnero musical, cantor e grupo de preferncia do professor, ou mesmo por
se fazer presente como ilustrao nos livros didticos de histria. Ao
contrrio, o conceito histrico substantivo, a categoria histrica
epistemolgica, ou ainda, a categoria histrica geral a ser trabalhada na aula
de histria emerge da categorizao das protonarrativas de uma cano de
trabalho advinda dos gostos musicais dos alunos, e do subsequente recorte
temtico estabelecido pelo professor de histria, com vistas formao
escolar da conscincia histrica e da identidade histrica dos jovens alunos
em situao de ensino e aprendizagem histrica.
6. Protonarrativas da cano so as manifestaes empricas dos enunciados
lingusticos da conscincia histrica originria de jovens alunos a partir das
primeiras leituras e escutas de uma fonte cano advinda dos seus gostos
156
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
musicais configurados na vida prtica cotidiana. Protonarrativas da cano
so interpretaes da cano a partir da escritura de uma resposta
pergunta histrica formulada cano; constituem os primeiros significados e
sentidos atribudos e constitudos a partir da experincia esttica de recepo
da cano, e da concomitante manifestao emprica dos enunciados
lingusticos dessas interpretaes e orientaes da experincia da cano. As
protonarrativas da cano podem mobilizar as dimenses temporais da
conscincia histrica dos jovens, passado, presente e futuro e as mltiplas
relaes entre as trs dimenses do tempo histrico: passado presente;
presente passado; futuro presente; presente futuro; bem como as
relaes passado presente futuro, enquanto permanncia e como
mudana. Sempre partindo do presente epistemolgico, podemos pressupor
que a relao estabelecida com determinada ideia-imagem de passado,
condiciona e substancia os significados atribudos imagem-ideia de
presente e os sentidos constitudos ideia-imagem de futuro, o que por
sua vez, acaba por substanciar e condicionar as respectivas e
correspondentes operaes de constituio histrica de sentido. As
condies e circunstncias objetivas da vida prtica atual dos sujeitos
condicionam, substanciam e orientam as relaes temporais estabelecidas
com determinadas ideias-imagens do espao de experincia e dos horizontes
de expectativa dos sujeitos em situao de ensino e aprendizagem histrica.
No h espao de experincia sem horizonte de expectativa; no h
expectativa sem experincia; no h experincia do passado sem
interpretao do presente; logo, no h interpretao sem experincia; por
sua vez, no h interpretao sem orientao, portanto, no h orientao do
futuro sem interpretao do presente. Nesta perspectiva temporal, no h
continuidade sem mudana e no h mudana sem continuidade: a mudana
e a capacidade de mudar no fluxo do tempo configuram a condio
fundamental para a constituio de uma conscincia histrica ontogentica
que consiste na interpretao e orientao da experincia da mudana
humana no tempo. Na perspectiva da aprendizagem histrica, conscincia
histrica a conscincia com cincia do tempo histrico na vida prtica:
competncia cognitiva-racional, esttico-narrativa e poltico-identitria de
157
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
interpretao (atribuio de significados) e orientao (constituio de
sentidos) da experincia da mudana humana do tempo (tradicional), sobre o
tempo (exemplar), contra o tempo (crtica) e no tempo (gentica). As leituras e
escutas da cano de trabalho podem mobilizar a experincia do passado:
um passado histrico que infere conceitos histricos substantivos,
categorias histricas epistemolgicas e categorias histricas gerais; um
passado da cano que se limita a interpretar os enunciados primeiros da
cano em sua interpretao esttica do tempo; e por fim, a inferncia
lacunar por parte dos jovens de um passado indeterminado e a-histrico
que necessita ser historicizado para responder as perguntas constitutivas de
um conceito histrico substantivo: o que foi o caso? Quem? Quando? Onde?
Por qu? Para que? Como? Consequncias e efeitos? Significados da
experincia no passado, presente e futuro? A cano popular atualizada na
performance oral mediatizada pode configurar uma interpretao esttica do
presente que pode remeter tanto ao presente prtico quanto ao presente da
cano que atualiza o passado na audio, recepo e comunicao,
mobilizando o leitor-ouvinte perspectivas de orientao poltica-identitria na
vida prtica atual. A partir do presente epistemolgico de onde germinam
todas as inferncias e relaes temporais, vislumbramos uma experincia
esttica da cano como meio para interpretao histrica do passado
presente, e uma interpretao esttica da cano como meio para a
experincia histrica do presente passado, em suma, a recepo esttica
como veculo para o efeito histrico. A cano de trabalho pode dinamizar a
orientao do futuro da conscincia histrica originria dos jovens alunos: um
futuro da cano representado a partir das condies e circunstncias da
vida prtica atual e que se projeta como continuidade ou mudana do
presente em um futuro prtico. A escritura de protonarrativas a partir das
primeiras leituras e escutas de uma fonte cano advinda dos seus gostos
musicais, pode mobilizar as dimenses cognitiva, esttica e poltica da
conscincia histrica originria de jovens alunos do ensino mdio e constituir
um ponto de partida significativo para processos de ensino e aprendizagem
histrica. A dimenso cognitivo-racional da conscincia histrica primeira de
jovens alunos pode se manifestar na escolha de uma msica dos gostos
158
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
musicais dos jovens para a aula-audio; opera na identificao dos
conceitos histricos e categorias histricas; mobilizada na elaborao das
respostas s perguntas acerca das justificativas e finalidades do uso da
msica em uma aula de histria; se faz presente na prpria experincia
cognitiva individual da vida prtica atual dos jovens alunos a partir do
presente epistemolgico de onde partem todas as inferncias temporais; e
por fim, o cognitivo manifesta-se nas ideias-imagens de passado, presente e
futuro articulada na constituio narrativa de sentido. No limiar da fronteira
entre a dimenso cognitiva-racional e a dimenso esttica-emocional, a
imaginao histrica dos jovens alunos pode ser dinamizada pela escritura
de protonarrativas da cano, oscilando entre a imaginao construtiva
artstica cuja finalidade ltima evocar a catarse, o prazer esttico e a
comunicao, e a imaginao reconstrutiva histrica que, transitando no limite
entre o esttico e o histrico, nunca chega a romper com a experincia
histrica, ao contrrio, imagina-a a partir dos testemunhos empricos do
passado presentes no presente. A imaginao histrica pode se manifestar e
operar nas trs competncias e dimenses da conscincia histrica primeira
dos jovens alunos: na rememorao cognitiva da experincia do passado; na
atribuio esttica de significado da interpretao do presente, e na
constituio poltica de sentido da orientao do futuro. A dimenso esttica
da imaginao histrica relativiza, equilibra e sintetiza a vontade de verdade
da cincia e a vontade de poder da poltica, com a vontade de beleza da arte.
A dimenso esttica-emocional da conscincia histrica originria de jovens
alunos pode ser evidenciada atravs das protonarrativas da cano na
operao especfica da interpretao esttica do presente a partir das leituras
e escutas de uma interpretao esttica da cano que tematiza histria,
logo, direta ou indiretamente, implcita ou explicitamente, tende a inferir o
estabelecimento de relaes temporais entre passado, presente e futuro. A
interpretao esttica do presente diz respeito s leituras e escutas
operacionalizadas pelos jovens alunos letra e msica mediatizada da fonte
cano, portanto, diz respeito recepo e a subsequente experincia
esttica da cano objetivada na performance oral mediatizada. A escritura
de protonarrativas da cano tende a dinamizar a dimenso poltico-
159
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
identitria da cultura histrica primeira dos jovens alunos em situao de
ensino e aprendizagem histrica. A interpretao da cano pode mobilizar a
interpretao recproca de sujeitos em interao social constitutiva das
relaes de identidade e alteridade. possvel identificarmos nas
protonarrativas da cano escritas por jovens alunos enunciados lingusticos
da conscincia histrica constitutivos da identidade do eu-ns em relao
alteridade dos eles-outros, bem como, vislumbrar chances de consenso por
meio do argumento racional, fundamentado e pacfico. As noes de
identidade do eu-ns representadas nas protonarrativas da cano tendem
a remeter primeiramente aos prprios jovens alunos em situao de
aprendizagem e a identidade juvenil geracional em geral, e,
subsequentemente a uma noo genrica de identidade nacional relacionada
ao povo de origem, em uma viso monoltica, homognea e sem nenhuma
distino de classe, gnero e gerao. Em contraposio, contradio e
conflito a essa identidade em processo de constituio, tende a emergir nas
protonarrativas da cano a alteridade dos eles-outros, o outro geralmente
culpabilizado e considerado causalidade nica, primeira e ltima da
problemtica ou ausncia tematizada na fonte cano e que
momentaneamente criticada, extrapolado e superada pela interpretao
esttica da cano. As protonarrativas da cano potencialmente mobilizam a
representao das relaes mtuas e recprocas entre a identidade do eu-
ns e a alteridade dos eles-outros, constitutivas de uma orientao poltica
do futuro, evocadas, inferidas e expressas, tanto no futuro presente da
cano, quanto no presente futuro da vida prtica atual e futura. A
experincia cognitiva do passado e os subjacentes conceitos histricos
substantivos, categorias histrica epistemolgicas, e categorias histricas
gerais, bem como ideias-imagens e outros recortes temticos; a
interpretao esttica do presente, a partir da interpretao esttica da
cano que tematiza implcita ou explicitamente as trs dimenses do tempo
histrico; e por fim, a orientao poltica do futuro na constituio das
identidades histricas primeiras dos jovens em relao s alteridades dos
outros representados na cano ou identificados na vida prtica atual; todas
estas competncias, dimenses e temporalidades da conscincia histrica
160
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
podem tecer o fio condutor que interconecta passado, presente e futuro na
constituio histrica de sentido da conscincia histrica originria de jovens
alunos.
Como planejar uma aula de histria a partir da interpretao histrica das
protonarrativas da cano? Definitivamente esta pergunta no constitui objeto desta
investigao. Ao final deste longo caminho percorrido, nos sobra flego para
somente afirmar que parte da resposta encontra-se sinalizada neste trabalho e que
possveis respostas fundamentadas apontam para perspectivas futuras de
investigao. A interpretao histrica das protonarrativas da cano escritas a
partir das primeiras leituras e escutas de uma fonte cano advinda dos gostos
musicais dos jovens alunos, pode constituir um ponto de partida significativo,
motivador e interessante para mltiplas perspectivas de planejamento de efetivas
Aulas de Histria resignificadas a partir do trabalho metdico com fontes histricas
de natureza diversa e multiperspectivadas, com vistas a atividades de avaliao
calcadas na leitura histrica da cano, na escritura de narrativas histricas da
cano, ou seja, em uma interpretao histrica da cano e nas subjacentes
funes, aplicaes e efeitos do conhecimento histrico na orientao da vida
prtica atual e futura, na perspectiva da Educao Histrica: eis os horizontes de
expectativa desta tese de doutorado.
REFERNCIAS
AZAMBUJA, L. Leitura, cano e histria: Mundo Livre s/a contra o Imprio do Mal.
Florianpolis, 2007. 149f. Dissertao (Mestrado em Literatura). Programa de Ps-
Graduao em Literatura, Universidade Federal de Santa Catarina.
_____. Fado Tropical; protonarrativas de jovens alunos brasileiros e portugueses
escritas a partir das leituras e escutas de uma cano engajada. In: Marlene
Cainelli; Maria Auxiliadora Schmidt. (org.). Educao histrica: teoria e pesquisa. 1
ed. Iju: Editora Uniju, 2011, v. 1, p.227-246;
AZAMBUJA, L. SCHMIDT, M. A. Aprendi a pensar que msica tambm histria:
perspectivas da Educao Histrica. In BARCA, I. (Org.). Educao e Conscincia
Histrica na Era da Globalizao. Braga: Centro de Investigao em Educao,
Instituto de Educao, Universidade do Minho, 2011, p. 202-222.
161
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
BARCA, I. Investigao em Educao Histrica: possibilidades e desafios para a
aprendizagem histrica. In: JORNADAS INTERNACIONAIS DE EDUCAO
HISTRICA: PERSPECTIVAS DE INVESTIGAO EM EDUCAO
HISTRICA,VI, 2007, Curitiba, Atas... Curitiba: Ed. UTFPR, v.1, 2007.
CHAVES, E. A. A msica caipira em aulas de histria: questes e possibilidades.
Curitiba, Brasil, 2006. 149f. Dissertao (Mestrado em Educao). Programa de Ps-
Graduao em Educao, Universidade Federal do Paran.
DIAS, M. T. Os donos da voz: indstria fonogrfica brasileira e mundializao da
cultura. So Paulo: Boi Tempo Editorial, 2000.
HELLER, A. O cotidiano e a histria. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro
Konder. So Paulo: Paz e Terra, 2008.
FLICK, U. Uma introduo pesquisa qualitativa. Trad. Sandra Netz. Porto
Alegre: Bookman, 2004.
FORQUIN, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemolgicas do
conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Mdicas sul, 1993.
KOSELLECK, R. Futuro pasado: para una semntica de los tiempos histricos.
Trad. Noberto Smilg. Barcelona: Ediciones Paidos, 1993.
LEE, P. Em direo a um conceito de literacia histrica. In: Educar em revista:
Dossi Educao Histrica. Curitiba: Ed. UFPR, especial, 2006.
MARGULIS, M. Juventud o Juventudes? In: Perspectiva: Revista do Centro de
Cincias da Educao. Dossi Juvente e Educao. Universidade Federal de Santa
Catarina. v.22, n.2 (jul-dez 2004). Florianpolis: Editora da UFSC, 2004.
MARTINS, E. C. R. Histria: conscincia, pensamento, cultura, ensino. In: Educar
em revista. Revista do Programa de Ps-Graduao em Educao. Dossi Histria,
Epistemologia e Ensino. Universidade Federal do Paran, n. 42, p. 43-58, out./dez
2011. Curitiba: Editora UFPR, 2011.
MEDRANO. C. (coord.). Las historias de vida: Implicaes educativas. Buenos
Aires: Alfagrama, 2007.
NAPOLITANO, M. Histria & Msica: histria cultural da msica popular. Belo
Horizonte: Autntica, 2002.
NETTO, J. P. Introduo ao estudo do mtodo de Marx. 1. ed. So Paulo:
Expresso Popular, 2011.
_____. (Org.). O leitor de Marx. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2012.
PAIS, J. M. Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2003.
162
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
RSEN, J. Razo histrica. Teoria da histria: os fundamentos da cincia histrica.
Trad. de Estevo de Rezende Martins. Braslia: Editora Universidade de Braslia,
2001.
_____. Reconstruo do passado. Teoria da histria II: os princpios da pesquisa
histrica. Trad. Asta-Rose Alcaide. Braslia: Editora Universidade de Braslia, 2007.
_____. Histria viva. Teoria da histria: formas e funes do conhecimento
histrico. Trad. de Estevo de Rezende Martins. Braslia: Editora Universidade de
Braslia, 2007.
SCHMIDT, M. A., BARCA, I. (org.). Aprender histria: perspectivas da educao
histrica. Iju: Ed. Unijui, 2009.
SNYDERS, Georges. Alegria na escola. So Paulo: Ed. Monoele, 1988.
TODOROV, Tzvetan. A literatura em Perigo/ Tzvetan Todorov; traduo Caio
Meira. 4 Ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2012. 96p.
TOPOLSKI, J. Metodologia de la histria. Madri: Ed. Ctedra, 1985.
ZUMTHOR, P. Introduo Poesia Oral. So Paulo: Editora Hucitec, 1997.
163
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
NEM S A FICO SALVA! A FORMAO (BILDNG) NA LITERATURA E NA
HISTRIA
48
Thiago Augusto Divardim de Oliveira
49
A argumentao que est por trs da afirmao de que possvel ir alm das
figuras retricas no contato com a literatura possibilita uma aproximao com o fato
de Tzvetan Todorov afirmar-se historiador para alm de linguista ou ensasta. A
explicao da frase que d incio a essa resenha ser o elemento central da
apresentao e compreenso das principais ideias da obra A literatura em Perigo.
Todorov nasceu em 1939 na Bulgria, e l viveu at o incio da vida
universitria. Esse perodo coincidiu com o regime sovitico e os reflexos e refraes
do encaminhamento reconhecidamente stalinista a respeito do comunismo. O
prlogo do livro retoma rapidamente sua infncia rodeada de livros e o prazer que
sentia em conhecer histrias infantis e clssicos da literatura, at a sada encontrada
na universidade para no ter que abordar ideologicamente seus objetos de estudo:
analisar a materialidade do texto e suas formas lingusticas. Uma bolsa de estudos
na Frana deu a Todorov a sensao de que poderia escrever sobre o que queria,
uma vez que estava em campo de liberdade poltica e intelectual, no entanto, o
labirinto das instituies escolares, sobretudo a um estrangeiro, causou vrias
dificuldades. Mesmo assim, a Frana era um pas plural onde, sobretudo aps seu
doutoramento, pode deixar de lado os mtodos de anlise e se dedicar as anlises
em si: foi a retomada do prazer que a literatura oferecia e a emancipao da
formao acadmica em regime ditatorial. Essa liberdade trouxe tambm a
necessidade de ampliar seus prprios conhecimentos em reas como a Psicologia,
a Antropologia e a Histria. Ainda nesse prlogo, Todorov explica que a medida que
ampliava suas compreenses e fontes de estudo, a literatura o colocou em contato
com dimenses incgnitas que incitavam o pensamento. De acordo com o autor:
48
Resenha produzida como parte da avaliao final do seminrio Leitura, Literatura e Educao
ministrado pelo professor Dr. Gilberto de Castro, a quem registro agradecimentos pelas contribuies
durante a disciplina ofertada no segundo semestre de 2013 no Programa de Ps-Graduao em
Educao da Universidade Federal do Paran.
49
Professor de Histria no Instituto Federal do Paran IFPR (Campus Curitiba), doutorando do
Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Federal do Paran PPGE-UFPR, e
pesquisador do Laboratrio de Pesquisa em Educao Histrica LAPEDUH UFPR.
thiagodivardim@yahoo.com.br
164
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Mais densa e eloquente que a vida cotidiana, mas no radicalmente
diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar
outras maneiras de conceb-lo e organiza-lo. Somos todos feitos do
que os outros seres humanos nos do: primeiro nossos pais, depois
aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa
possibilidade de interao com os outros, e por isso, nos enriquece
infinitamente. (...) ela permite que cada um responda melhor a sua
vocao de ser humano. (TODOROV, 2012 p.23 24)
Esse trecho do prlogo anuncia, de maneira geral, uma ideia que permeia e se
aprofunda em toda a obra: a literatura proporciona uma relao de
intersubjetividades que possibilita um carter formativo. Isso significa que a relao
das subjetividades dos leitores com outras subjetividades compostas na literatura
amplia a capacidade de compreenso e resulta em um processo formativo. H,
portanto, na concepo de Todorov, ideias de universalidade a respeito da formao
humana. Como em crculos concntricos entramos em contato com os outros (que
tambm so um eu). Da vida familiar ao contato com a literatura essa capacidade
formativa possvel pode ser pensada em relao ao conceito alemo bildng.
Na teoria e filosofia da Histria bildng discutida como formao que
possibilita a interpretao do mundo e de si prprio, a orientao do agir articulado
ao autoconhecimento, com competncias
50
relacionadas ao saber, prxis e
subjetividade; essas so as caractersticas de uma formao histrica possvel a
partir de uma relao adequada com os conhecimentos histricos na vida. Esse
conceito formao se ope a unilateralidade, significa aprender sobre contextos
abrangentes e refletir sobre eles. A partir dessa compreenso o livro est dividido
em 7 (sete) breves captulos.
Em A LITERATURA REDUZIDA AO ABSURDO apresenta-se basicamente a
ideia de que na escola, entra-se mais em contato com o que crticos produzem sobre
as obras literrias, do que propriamente com as obras. possvel transbordar a
crtica aos estudos literrios na escola realizada por Todorov, tambm para outras
disciplinas. O fato que o modelo atual escolar, sem generalizao, mas apontando
aquilo que hegemnico, trata diversas formas de conhecimento de maneira
asctica. Estuda-se em uma semana a metonmia e em outra a personificao, este
50
Essa utilizao do conceito competncia no coincide com a utilizao da documentao oficial
na educao brasileira, nem mesmo do estabelecimento criticado por Todorov a respeito do que a
disciplina de Literatura exige na Frana (p. 26). Basicamente, e nos dois casos, a aproximao dos
alunos com o resultado dos estudos de especialistas, e no aquilo que a aproximao dos alunos
com o objeto poderia restar enquanto formao.
165
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
isolamento conceitual, muitas vezes deixa de lado o sentido do texto e suas
possibilidades de anlise enquanto dilogo com sua produo e com a sociedade de
quem realiza a leitura. E isso no significa abrir para o puro subjetivismo dos alunos.
A responsabilidade dos problemas escolares para Todorov no recai sobre os
professores, porm o autor ressalta a importncia deles no trabalho de
conhecimento que mais interessante para a relao com a literatura.
O debate se torna mais epistemolgico quando Todorov vai, ALM DA
ESCOLA, aponta problemas do presente e busca responder historicamente uma
possibilidade de compreenso. O problema se refere a forma como os estudos
literrios ocorrem, principalmente sobre a desconfiana sobre o sentido das obras.
Resumidamente poderia apontar duas correntes epistemolgicas mais hegemnicas
nas academias europeias da 2 metade do sculo XX. A primeira, seja dogmtica ou
mais flexvel, se relaciona ao estruturalismo ou a proximidade ao materialismo
histrico-dialtico. A segunda, ps-estruturalista, ligada a recusa aos padres
explicativos anteriores, seja dos marxismo(s) afetados pelas denncias dos crimes
de Stalin ou mesmo dos projetos anteriores (iluminismo(s) e positivismo(s). Essa
segunda vertente muitas vezes esteve marcada pela recusa exacerbada de padres
e possibilidades de anlise, e at de utopias, chegando a um comportamento niilista
que aponta unicamente a verdade de que no existe verdade. Todorov aponta que a
universidade mesmo com autonomia tambm segue seus padres e forma os
professores que vo lecionar na escola. A eles cabe a dura tarefa de incorporar o
que aprenderam e dar conta de um outro contedo na escola que no se refere
apenas ao debate epistemolgico, mas a criao de ferramentas e tcnicas
invisveis.
Mais de uma vez Todorov utiliza a ideia de universais antropolgicos, nesse
caso com relao percepo esttica dos seres humanos. Em NASCIMENTO DE
UMA ESTTICA MODERNA o autor buscou explicar historicamente que dois
movimentos principais ajudaram a compor o que se compreende como arte. Seriam
eles, a sacralizao do mundo europeu por um processo que viria do renascimento
at a revoluo industrial iniciada no sculo XVIII, e de outro a sacralizao do belo
e da arte que por no possuir finalidade prtica estaria ligada a formas de
transcendncia do mundo material. E, pela assuno criativa como forma de
liberdade e domnio da criao, o ser humano encontra a finalidade daquilo que
166
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
belo, podendo, ento, contemplar a beleza, seja como noo de totalidade da vida
humana ou manifestao do absoluto atingida pelo ser humano. possvel dizer
que, nesse captulo, Todorov amplia sua aproximao com o carter filosfico de
sua produo do conhecimento histrico. Apesar de no apresentar diretamente
suas fontes histricas, ressalta sua necessidade presente de compor uma
compreenso sobre o passado, essa busca compreensiva se d por uma relao
presente-futuro, ligada ao lugar ocupado pela literatura no mundo atual que o
objetivo geral da obra. Essas ideias possibilitam a entrada na discusso do 4
captulo, este apresenta uma discusso sobre o porvir pela primeira vez no livro.
A filosofia marca do captulo A ESTTICA DAS LUZES. Uma dupla ruptura
caracterstica do movimento filosfico iluminista deixou marcas em discusses sobre
a esttica no XVIII e no XIX. A arte no necessariamente deve imitar o que belo, o
que d autonomia s formas de produo artstica (entre elas a literatura). Por outro
lado, no ignora que a esttica liga as obras ao mundo comum dos homens.
Observe:
Literatura de imaginao e escritos cientficos ou filosficos so
distintos, mas dentro de um gnero comum; uns e outros dependem
do mundo e agem sobre ele, contribuindo para a criao de uma
sociedade imaginria habitada pelos autores do passado e os
leitores do porvir. (TODOROV, 2012 p. 60)
Entre vrios autores destaco a referencia de Todorov ao filsofo, historiador e
retrico Giambattista Vicco, o primeiro a se dedicar a distino entre linguagem
racional e linguagem potica, no entanto, sem distino hierrquica. Vico
reconheceu que as duas conduzem ao mesmo objetivo: uma melhor compreenso
do homem e do mundo, uma sabedoria mais ampla (p. 55).
possvel perceber na trajetria de Todorov, assim como suas explicaes no
incio da obra aqui discutida, que a autonomia de seu pensamento o levou a busca
da relao do todo e as partes assim como o estabelecimento de possibilidades
compreensivas do sentido das obras. Sua forma de pensamento e de produo se
explicita no 5 captulo, DO ROMANTISMO AS VANGUARDAS, quando analisa
movimentos histricos mais amplos (ou mesmo estruturais) como o realismo
sovitico, ou casos mais localizados e at eventos e sujeitos histricos como Oscar
Wilde ou Nietzsche. A oposio anteriormente criticada entre uma forma de
estruturalismo que trs a utopia fechada e que automaticamente recusada por um
ps-estruturalismo niilista que depois de desconstrues nada oferece, novamente
167
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
criticada a luz da percepo de Todorov. O autor comenta alguns eventos do incio
do sculo XX, os reflexos e refraes das catstrofes e esperanas nas discusses
sobre arte e sobre a prpria epistemologia. O resultado que mesmo com outras
escolas de pensamento possveis (formalismo russo ou o novo criticismo
estadunidense) ainda chegam professores a escolas, trabalhadores em outras
instituies como as miditicas, que possuem formas empobrecidas de
compreenso sobre a arte e a literatura.
Contrariando o ttulo do livro, que aponta a conjectura do risco que sofre a
literatura, o ttulo do 6 captulo, uma pergunta, O QUE PODE A LITERATURA?
prope resgat-la. As primeiras pginas lembram alguns trechos da aula inaugural
realizada em 2006 por Antoine Compagnon, e depois transcrita no livro
LITERATURA PARA QUE? (2009). O autor francs citou uma srie de livros e
personagens de clssicos da literatura, sobretudo europeia, ainda que incomodado
com algumas questes parecidas com as de Todorov, Compagnon mantm um tom
quase edificante.
A resposta para a pergunta relacionada ao poder da literatura, pelo menos no
plano pessoal, Todorov j havia respondido. Suas ideias j comentadas seguem a
linha de que a literatura nos enriquece infinitamente, ao abrir ao mximo nossas
relaes intersubjetivas torna o mundo real mais pleno de sentido. Nesse captulo,
porm, Todorov vai alm da prpria pergunta, ao contrariar aqueles que encerram a
discusso literria em uma torre de marfim como se estivesse em um mundo parte.
Nesse sentido o autor blgaro aproxima-se das concepes apresentadas pela
autora brasileira Mrcia Abreu
(...) a avaliao esttica e o gosto literrio variam conforme a poca,
o grupo social, a formao cultural, fazendo com que diferentes
pessoas apreciem de modo distinto os romances, as poesias, as
peas teatrais, os filmes (ABREU, 2006 p.59).
A esse respeito Todorov enftico: o leitor que tem razo! O leitor comum que
continuar tendo razo contra professores, crticos e escritores. A autora brasileira
demonstra bastante lucidez ao explorar o campo da leitura e da literatura no Brasil,
por exemplo, quando estabelece comparaes entre a literatura de cordel e a
apreciao esttica de outras obras literrias por sujeitos que se identificam com o
cordel. Todorov, por sua vez, afirmou que tanto Os Trs Mosqueteiros quanto Harry
168
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
Potter possibilitam uma primeira imagem coerente do mundo, e que leituras
posteriores ajudam na complexificao das compreenses de mundo dos leitores.
O ltimo captulo UMA COMUNICAO INESGOTVEL sintetiza a ideia da
literatura como enunciaes que remetem a conscincias e proporcionam a ideia de
intersubjetividade. Todorov leva em considerao autores e leitores em diferentes
espaos e culturas, por isso indica na literatura essa fonte infinita de comunicao.
Um dos apontamentos mais interessantes que todas as produes por mais
importantes que sejam demandam reflexo, e essa demanda s possvel, seja por
quem escreve ou por quem l, na prpria existncia humana (p. 90). Alm, claro,
da atualidade de seu pensamento que d destaque as fontes no literrias que as
tecnologias da informao e comunicao atuais permitem-nos entrar em contato.
Seria possvel aproximar as ideias do autor blgaro a de outros autores que se
dedicaram as possibilidades da literatura. Essa comunicao inesgotvel apontada
por Todorov pode ser pensada luz da utilizao realizada por Paulo Freire (1996)
sobre o conceito de dialogo ou de dialogicidade, como reconhecimento do outro ou
do tu na outredade do no eu e por isso a radicalidade do meu eu na
possibilidade do outro ser outro que tambm um outro eu. Freire aponta a
necessidade de reconhecer o prprio inacabamento, e que a conscincia da prpria
formao significa um aumento formativo. Os jogos de palavras realizados por Paulo
Freire em muito se aproximam da alteridade discutida na filosofia ou na
intersubjetividade necessria para Todorov.
Sobre esse processo formativo existem discusses esteira do pensamento
ontogentico que possibilitam a visualizao desse processo formativo como um giro
espiralado. A subjetividade humana que d voltas entorno de si mesma e que sem
se fechar, e no contato com outras subjetividades e contextos plurais, realiza uma
elevao no linear (steigerung). Essas ideias podem ser aprofundadas por
exemplo e enquanto bildng, nas discusses sobre formao histrica na teoria e
filosofia da histria, como por exemplo a esteira do pensamento do professor Jrn
Rsen (2007).
A obra A literatura em perigo no destinada estritamente ao pblico
acadmico, por isso, e possivelmente pela sua brevidade (96 pginas), o autor
aponta algumas questes que no so muito aprofundadas. Por exemplo, quando o
autor se refere ao ensino de Fsica nas escolas que possuem um carter geral
169
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
diferente do ensino de Histria. Nesses casos a abordagem pode parecer
generalizao ou mesmo atrelada a um ensino conhecido como tradicional e j
refutado e rediscutido no campo das pesquisas que envolvem as relaes ensino e
aprendizagem ou didticas especficas de suas cincias de referncia. No campo da
Histria, por exemplo, mesmo aquilo que Todorov aponta como mais interessante
no corresponde a discusso especfica nesse campo de discusso. No campo da
epistemologia existem, tambm, outras discusses que j avanaram sobre as
dicotomias apontadas por Todorov entre estruturalismo e ps-estruturalismo, por
exemplo as discusses sobre o estruturismo metodolgico (LLOYD, 1996)
51
.
Mesmo assim, nesse sentido epistemolgico e como comentrio final,
possvel dizer que a resposta a questo colocada no incio desta resenha que
Todorov ao realizar estudos literrios e buscar responder a que servia sua produo
acabou realizando o processo da produo do conhecimento histrico discutido na
filosofia da Histria.
Em sua trajetria Todorov quis responder as carncias de orientao de um
mundo da modernidade contempornea, sendo um blgaro que vivia na Frana, e
acabou encontrando nos relatos de viajantes europeus e dos contemporneos maias
e astecas durante A conquista da Amrica (1983), possibilidades para pensar as
demandas da sua prpria poca. Ao longo da vida dedicou-se a temas como O
medo dos brbaros (2010) em um mundo onde o islmico muitas vezes tem sua
humanidade reduzida. A reduo da humanidade dos outros s vezes acaba por
justificar messianismos em defesa de uma suposta democracia, resultando em
guerras e conflitos que revelam os inimigos ntimos da democracia (2012).
Basicamente, em seus estudos literrios acabou produzindo conhecimento histrico
e em sua maturidade intelectual afirmou-se historiador. Alm disso, produziu de
acordo com a lgica filosfica da Histria, a partir do presente e das expectativas
relacionadas ao futuro buscou formas de compreenso resultantes de uma inter-
51
As anlises centradas apenas na estrutura, assim como os estudos microscopicamente delimitados e analisados
em sua existncia isolada, na maior parte dos casos no do conta das necessidades sociais de produo do
conhecimento. So necessrias inter-relaes explicativas entre o micro e o macro, que busquem explicar a
sociedade, sem deixar de lado sua historicidade. O estruturismo est entre duas formas de produo do
conhecimento nas cincias humanas e sociais. Uma holista, caracterizada pelas explicaes totalizantes que
possuem formas pr-estabelecidas de caracterizao dos fenmenos sociais. E outra individualista, que utiliza da
fenomenologia para apreender caractersticas observveis e atomsticas em relao aos campos de observao
estudados pelos holistas. possvel defender uma terceira forma que a do estruturismo metodolgico, que
est interligado a um conceito de estrutura e a um conceito de mudana. uma forma de explicao do social
com dimenses metodolgicas, sociolgicas e histricas.
170
REVISTA DE EDUCAO HISTRICA - REDUH - LAPEDUH
Nmero 04/ Setembro 2013 - Dezembro 2013
relao presente-passado-futuro. Sendo assim, seus escritos preenchem de sentido
a existncia humana no tempo e sua trajetria e produo intelectual sustentam as
crticas apontadas pelo autor na obra aqui discutida.
Todorov afirmou que possvel ir alm das figuras retricas no contato com a
literatura. Esse ir alm corresponde a ideia de formao (bildng) como aumento da
capacidade de compreenso e interpretao da existncia humana, essa
complexificao do pensamento ocorre de maneira intersubjetiva. Essa discusso
possvel no mbito da Filosofia, da Esttica, da Literatura e da Histria. Por
conseguinte, evidencia-se que a capacidade formativa desses campos do
conhecimento so possveis como resposta a carncias da existncia humana no
presente, e que ao serem mobilizadas preenchem de sentido a construo dos
horizontes do porvir.
Referncias:
ABREU, Marcia. Cultura letrada, literatura e cultura. Unesp, 2006.
COMPAGNON, Antoine. Literatura para qu? Traduo de Laura Taddei Brandini.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 57 p.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios a pratica educativa.
So Paulo: Paz e Terra, 1996.
LLOYD, Christopher. As estruturas da histria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.
TODOROV, Tzvetan. S a fico salva. Entrevista concedida a Bruno Garcia para a
Revista de Histria da Biblioteca Nacional em 01/01/2012. Disponvel em
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/tzvetan-todorov acesso em
21/01/2014
RSEN, Jrn. Histria viva Teoria da Histria III: formas e funes do conhecimento
histrico / Jrn Rsen ; traduo de Estevo de Rezende Martins. - Braslia : Editora
Universidade de Braslia, 2007.
Você também pode gostar
- Campo Historiográfico-Educacional e EnsinoNo EverandCampo Historiográfico-Educacional e EnsinoAinda não há avaliações
- REDUH 5 Revista de Educação HistóricaDocumento203 páginasREDUH 5 Revista de Educação HistóricaThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Reduh 1 Revista de Educac3a7c3a3o Histc3b3rica PDFDocumento232 páginasReduh 1 Revista de Educac3a7c3a3o Histc3b3rica PDFKika-ChanAinda não há avaliações
- Revista de Educação Histórica - Reduh - Lapeduh - Ufpr PDFDocumento232 páginasRevista de Educação Histórica - Reduh - Lapeduh - Ufpr PDFRodrigo TeixeiraAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento21 páginasArtigoZé LuizAinda não há avaliações
- 51-Texto Do Artigo-130-1-10-20070524Documento212 páginas51-Texto Do Artigo-130-1-10-20070524Alexandre Luiz PereiraAinda não há avaliações
- Memória e Práticas Na Formação de Professores - Vol IIDocumento216 páginasMemória e Práticas Na Formação de Professores - Vol IIMarcelinhu StudinskiAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO HISTÓRICA - Trajetórias de Pesquisas (16746)Documento226 páginasEDUCAÇÃO HISTÓRICA - Trajetórias de Pesquisas (16746)Júlia Matos100% (1)
- A Trajetória Do Curso De Biblioteconomia E Documentação Da Ufs (2008-2017)No EverandA Trajetória Do Curso De Biblioteconomia E Documentação Da Ufs (2008-2017)Ainda não há avaliações
- Livro Fontes e Métodos em História Da EducaçãoDocumento351 páginasLivro Fontes e Métodos em História Da EducaçãoAnderson Alexandre RodriguesAinda não há avaliações
- História da Idade Média: Textos e testemunhasNo EverandHistória da Idade Média: Textos e testemunhasAinda não há avaliações
- A aprendizagem histórica e os professores de históriaNo EverandA aprendizagem histórica e os professores de históriaAinda não há avaliações
- 17° Asphe - Caderno de ResumosDocumento44 páginas17° Asphe - Caderno de ResumosRevista História da Educação - RHEAinda não há avaliações
- Fontes e Métodos em História Da EducaçãoDocumento350 páginasFontes e Métodos em História Da EducaçãohellberAinda não há avaliações
- Historia BNCCDocumento140 páginasHistoria BNCCKeelzinhaaaAinda não há avaliações
- Protonarrativas e Possibilidades de Intervenção: Práxis e Educação Histórica em Um Estudo No Ifpr (Campus Curitiba)Documento16 páginasProtonarrativas e Possibilidades de Intervenção: Práxis e Educação Histórica em Um Estudo No Ifpr (Campus Curitiba)Thiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Cinema e Formação de Conceitos Científicos no Ensino Superior: Diálogos Entre a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-CríticaNo EverandCinema e Formação de Conceitos Científicos no Ensino Superior: Diálogos Entre a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-CríticaAinda não há avaliações
- TCCE LivroDidaticoHistoriaDocumento24 páginasTCCE LivroDidaticoHistoriaCelso LuísAinda não há avaliações
- Sociologia 2S EM Volume 1Documento74 páginasSociologia 2S EM Volume 1Augusto Garcia100% (1)
- E-Book Dos Planos de Aula (Sociolinguística UVA 2020.1)Documento269 páginasE-Book Dos Planos de Aula (Sociolinguística UVA 2020.1)Thiago CostaAinda não há avaliações
- Dissertação Olga Teixeira PROFHISTÓRIA - História Local e Anos IniciaisDocumento88 páginasDissertação Olga Teixeira PROFHISTÓRIA - História Local e Anos IniciaisFelipe RibeiroAinda não há avaliações
- Patrimônio-Educativo E História Oral: Subjetividades E Diversidades Na ContemporaneidadeDocumento3 páginasPatrimônio-Educativo E História Oral: Subjetividades E Diversidades Na ContemporaneidadeJuno AlexandreAinda não há avaliações
- O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIENCIA (Rasangela Pedralli)Documento197 páginasO DESENVOLVIMENTO DA CONSCIENCIA (Rasangela Pedralli)José Theobaldo WendlingAinda não há avaliações
- Pastorini, T. Patrimônio CulturalDocumento150 páginasPastorini, T. Patrimônio CulturalMarcelinhu StudinskiAinda não há avaliações
- Currículo e Livro Didático da Educação Básica: Contribuições Para a Formação do Licenciando em Ciências BiológicasNo EverandCurrículo e Livro Didático da Educação Básica: Contribuições Para a Formação do Licenciando em Ciências BiológicasAinda não há avaliações
- Trabalho DireitoDocumento16 páginasTrabalho DireitoFelix Ernesto JacintoAinda não há avaliações
- PÓRCIA: Arquivos de Vida, Formação e AtuaçãoNo EverandPÓRCIA: Arquivos de Vida, Formação e AtuaçãoAinda não há avaliações
- Na Terceira Margem - 10 de AgostoDocumento277 páginasNa Terceira Margem - 10 de AgostoHelena AraújoAinda não há avaliações
- Manual de Trabalho em Arquivos EscolaresDocumento61 páginasManual de Trabalho em Arquivos Escolareslelure0% (1)
- 2021 Educação, Linguagens e Ensino Vol3 CapítuloDocumento21 páginas2021 Educação, Linguagens e Ensino Vol3 CapítuloMacsuelber CunhaAinda não há avaliações
- Educação Especial e Inclusiva: Reflexões, Pesquisa, Práticas e Formação de ProfessoresNo EverandEducação Especial e Inclusiva: Reflexões, Pesquisa, Práticas e Formação de ProfessoresAinda não há avaliações
- Manual de Trabalho em Arquivos EscolaresDocumento61 páginasManual de Trabalho em Arquivos EscolarespacsusiAinda não há avaliações
- Historia Da Educação - Instituições EscolaresDocumento19 páginasHistoria Da Educação - Instituições EscolaresAna Raquel AzevedoAinda não há avaliações
- Glossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosNo EverandGlossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Primeiro Capà - TuloDocumento10 páginasPrimeiro Capà - TuloMaria JesusAinda não há avaliações
- Uma Escola Experimental Democrática, da Vida e Para a Vida (1968-1974)No EverandUma Escola Experimental Democrática, da Vida e Para a Vida (1968-1974)Ainda não há avaliações
- Historia e Historiografia Da Educação No Rio Grande Do SulDocumento281 páginasHistoria e Historiografia Da Educação No Rio Grande Do SulCamila WolpatoAinda não há avaliações
- Ensino, Pesquisa e Realidade HistóriaDocumento133 páginasEnsino, Pesquisa e Realidade HistóriaPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Indigena e AfrobrasileiraDocumento136 páginasIndigena e AfrobrasileiraamoristefanyAinda não há avaliações
- 44 309 1 PBDocumento24 páginas44 309 1 PBRafael CamposAinda não há avaliações
- Ateliês de Pesquisa: Tecendo Processos Formativos da Pesquisa em Educação e DiversidadeNo EverandAteliês de Pesquisa: Tecendo Processos Formativos da Pesquisa em Educação e DiversidadeAinda não há avaliações
- Pedagogia Histórico-Crítica e o Desenvolvimento da Natureza HumanaNo EverandPedagogia Histórico-Crítica e o Desenvolvimento da Natureza HumanaAinda não há avaliações
- Entrelugares Temáticas Culturais e Educacionais Na 230131 214751Documento34 páginasEntrelugares Temáticas Culturais e Educacionais Na 230131 214751RODOLFO CRUZ VADILLOAinda não há avaliações
- 551 3200 1 PBDocumento14 páginas551 3200 1 PBhistoriaufrrjmar5Ainda não há avaliações
- Educação de Surdos: Políticas, Práticas e Outras AbordagensNo EverandEducação de Surdos: Políticas, Práticas e Outras AbordagensAinda não há avaliações
- E-Book Formacao de Professores e Praticas de Ensino em Contextos InclusivosDocumento324 páginasE-Book Formacao de Professores e Praticas de Ensino em Contextos InclusivosMairla Pires CostaAinda não há avaliações
- RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. História Oral Na EscolaDocumento11 páginasRIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. História Oral Na EscolaamatobrunogabrielAinda não há avaliações
- Coleção Componentes Curriculares-SP - 6 Historia 1Documento108 páginasColeção Componentes Curriculares-SP - 6 Historia 1Isaac BrunoAinda não há avaliações
- "Formação de Cabeças ou de Braços":: Tensionamentos Históricos em Currículos da Formação Profissional entre 1963-2008No Everand"Formação de Cabeças ou de Braços":: Tensionamentos Históricos em Currículos da Formação Profissional entre 1963-2008Ainda não há avaliações
- TCC Pós Alfabetização e Letramento Contação de HistóriasDocumento41 páginasTCC Pós Alfabetização e Letramento Contação de Histórias8 ANOAinda não há avaliações
- A Formação Histórica (Bildung) Como Princípio Da Didática Da História No Ensino Médio: Teoria e PráxisDocumento444 páginasA Formação Histórica (Bildung) Como Princípio Da Didática Da História No Ensino Médio: Teoria e PráxisThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Fundamentos Teóricos e Metodológicos Da HistóriaDocumento128 páginasFundamentos Teóricos e Metodológicos Da HistóriaTom CordeiroAinda não há avaliações
- REVISTA HISTÓRIA HOJE. História 2.0 - Ensino À Distância, Redes Sociais e Recursos Educacionais Abertos (Vol.3, n.5)Documento329 páginasREVISTA HISTÓRIA HOJE. História 2.0 - Ensino À Distância, Redes Sociais e Recursos Educacionais Abertos (Vol.3, n.5)MarcioSuarezAinda não há avaliações
- Admin, A8Documento25 páginasAdmin, A8Simone Gomes de FariaAinda não há avaliações
- 23º Encontro Da AspheDocumento8 páginas23º Encontro Da AspheRevista História da Educação - RHEAinda não há avaliações
- 7791-Texto Do Artigo-22883-2-10-20171123Documento4 páginas7791-Texto Do Artigo-22883-2-10-20171123Migosta Graphics ilustradorAinda não há avaliações
- Para Conhecer A Educação HistóricaDocumento15 páginasPara Conhecer A Educação HistóricaThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo Historia e HermeneuticaDocumento14 páginasArtigo Historia e HermeneuticaArtur_FraudaAinda não há avaliações
- Para Conhecer A History EducationDocumento22 páginasPara Conhecer A History EducationThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Protonarrativas e Possibilidades de Intervenção: Práxis e Educação Histórica em Um Estudo No Ifpr (Campus Curitiba)Documento16 páginasProtonarrativas e Possibilidades de Intervenção: Práxis e Educação Histórica em Um Estudo No Ifpr (Campus Curitiba)Thiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- A Formação Histórica (Bildung) Como Princípio Da Didática Da História No Ensino Médio: Teoria e PráxisDocumento444 páginasA Formação Histórica (Bildung) Como Princípio Da Didática Da História No Ensino Médio: Teoria e PráxisThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Entrevista - Serginho Com RusenDocumento7 páginasEntrevista - Serginho Com Rusenmarcos.peixotoAinda não há avaliações
- 2011 Pode - Se Melhorar o Ontem PDFDocumento18 páginas2011 Pode - Se Melhorar o Ontem PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- 1987 Explicação Narrativa A e o Problema Dos Construtos Teóricos de Narração PDFDocumento8 páginas1987 Explicação Narrativa A e o Problema Dos Construtos Teóricos de Narração PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Consciencia RusenDocumento47 páginasConsciencia RusenCaroline MagossiAinda não há avaliações
- O Conceito de Compreensão Na Histórica de Droysen PDFDocumento0 páginaO Conceito de Compreensão Na Histórica de Droysen PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Aprendizagem Histórica Na Educação Infantil Possibilidades e Perspectivas Da Educação Histórica PDFDocumento219 páginasAprendizagem Histórica Na Educação Infantil Possibilidades e Perspectivas Da Educação Histórica PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- 1997 A História Entre A Modernidade e A Pósmodernidade QUESTÕES E DEBATES PDFDocumento18 páginas1997 A História Entre A Modernidade e A Pósmodernidade QUESTÕES E DEBATES PDFThiago Augusto Divardim de Oliveira100% (1)
- Ensaio UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA PDFDocumento5 páginasEnsaio UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Relação Teoria e Prática Na Formação de Professores de História Experiências de Laboratórios de Ensino No Brasil e Da Associação de Professores de História em Portugal PDFDocumento315 páginasRelação Teoria e Prática Na Formação de Professores de História Experiências de Laboratórios de Ensino No Brasil e Da Associação de Professores de História em Portugal PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- AnaisDocumento263 páginasAnaisPaula RibeiroAinda não há avaliações
- Diálogos Entre Paulo Freire e Jörn Rüsen Na Perspectva Da Práxis: Possibilidades para Contraposição Ao Debate Das CompetênciasDocumento15 páginasDiálogos Entre Paulo Freire e Jörn Rüsen Na Perspectva Da Práxis: Possibilidades para Contraposição Ao Debate Das CompetênciasThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- É Possível ConhecerDocumento3 páginasÉ Possível ConhecerMadalena GouveiaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino 2023 53Documento5 páginasPlano de Ensino 2023 53Robson Ribeiro100% (1)
- Politicas de Curriculo e EscolaDocumento176 páginasPoliticas de Curriculo e EscolaRodrigo FariasAinda não há avaliações
- Análise Exploratória de Dados Usando o RDocumento92 páginasAnálise Exploratória de Dados Usando o RArmandoCamaraNinoAinda não há avaliações
- Introdução TeosofiaDocumento19 páginasIntrodução TeosofiaCarlos PatersonAinda não há avaliações
- DOESCHER-plantao - Psicologico Trabalho ErikaDocumento7 páginasDOESCHER-plantao - Psicologico Trabalho ErikaOscar FonsechiAinda não há avaliações
- 1Documento3 páginas1saleskauanny535Ainda não há avaliações
- Material Completo EJADocumento231 páginasMaterial Completo EJACesario Ramos100% (2)
- Psicologia Da Educacao - Licenciaturas PDFDocumento202 páginasPsicologia Da Educacao - Licenciaturas PDFZelão Liz100% (2)
- Direito LeiteBR 1Documento199 páginasDireito LeiteBR 1Giulia ParreiraAinda não há avaliações
- Uma Breve História Da Tomada de DecisãoDocumento14 páginasUma Breve História Da Tomada de DecisãoBreno BlaiserAinda não há avaliações
- DG - Portfolio (2022)Documento40 páginasDG - Portfolio (2022)eduardo.assisAinda não há avaliações
- A Psicopedagogia No Brasil - Nadia BossaDocumento271 páginasA Psicopedagogia No Brasil - Nadia BossaJuliana Palma100% (20)
- BLUEDORN Ensinando o Trivium (Vol 2)Documento5 páginasBLUEDORN Ensinando o Trivium (Vol 2)SantanaAinda não há avaliações
- Testes de Didactica de BiologiaDocumento21 páginasTestes de Didactica de Biologiainaciojoaquimribeirovinho100% (1)
- Teoria Geral Da Investigação e PeríciaDocumento134 páginasTeoria Geral Da Investigação e PeríciaBruno KarevAinda não há avaliações
- 3.1 Noções de Pesquisa EmpíricaDocumento10 páginas3.1 Noções de Pesquisa EmpíricaBárbara RodriguesAinda não há avaliações
- 2020 - 2009 - SILVEIRA, L. - Wolfgang Kersting e A Esfera Político-Jurídica em KantDocumento15 páginas2020 - 2009 - SILVEIRA, L. - Wolfgang Kersting e A Esfera Político-Jurídica em KantLuciano Duarte da SilveiraAinda não há avaliações
- Razões e Revoluções (Kuhn) - M. M. CarrilhoDocumento6 páginasRazões e Revoluções (Kuhn) - M. M. CarrilhoESLCBiblioAinda não há avaliações
- Recursos Multimídia No Processo de Ensino AprendizagemDocumento16 páginasRecursos Multimídia No Processo de Ensino AprendizagemjanyAinda não há avaliações
- Filosofia - Senso Comum e Senso CríticoDocumento2 páginasFilosofia - Senso Comum e Senso CríticoIves LimaAinda não há avaliações
- A Vida. (O Livro Da Vida - The Book of Life) - J KrishnamurtiDocumento386 páginasA Vida. (O Livro Da Vida - The Book of Life) - J KrishnamurtiMarina Txupē100% (4)
- Estratégias de Aproximação Das Tecnologias Professor-Aluno Na Cultura DigitalDocumento22 páginasEstratégias de Aproximação Das Tecnologias Professor-Aluno Na Cultura DigitalJosemeire Machado DiasAinda não há avaliações
- ABENDIDocumento26 páginasABENDIAlexandre Lopes100% (1)
- Escrever É Preciso - Resumo EsquemáticoDocumento4 páginasEscrever É Preciso - Resumo EsquemáticoBrenda TomasiAinda não há avaliações
- Trabalho de Campo - fILOSOFIADocumento22 páginasTrabalho de Campo - fILOSOFIAJuma ChaleAinda não há avaliações
- Minha Princesa É Um Príncipe - Lucas de Souza RohlingDocumento294 páginasMinha Princesa É Um Príncipe - Lucas de Souza RohlingMaria HeloisaAinda não há avaliações
- Língua Inglesa: Apostila Gerada Especialmente Para: Rafael Ribeiro Monteiro 822.090.810-68Documento89 páginasLíngua Inglesa: Apostila Gerada Especialmente Para: Rafael Ribeiro Monteiro 822.090.810-68fausto1980Ainda não há avaliações
- Inventário Do Conhecimento Do Desenvolvimento Infantil Estudo Com Mães de Crianças em Acolhimento InstitucionalDocumento15 páginasInventário Do Conhecimento Do Desenvolvimento Infantil Estudo Com Mães de Crianças em Acolhimento InstitucionalMarília ZaraAinda não há avaliações