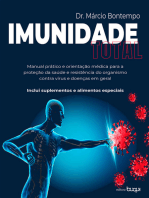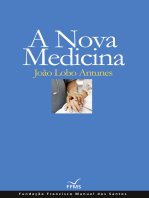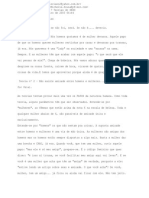Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Almeida 9788575412794
Enviado por
Florence NeryTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Almeida 9788575412794
Enviado por
Florence NeryDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
ALMEIDA FILHO, N., et al., orgs. Teoria epidemiolgica hoje: fundamentos, interfaces, tendncias
[online]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1998. 256 p. EpidemioLgica series, n2. ISBN 85-85676-50-7.
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.
All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o contedo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, publicado sob a licena Creative Commons Atribuio -
Uso No Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 No adaptada.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, est bajo licencia de la licencia Creative Commons
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Teoria epidemiolgica hoje
fundamentos, interfaces, tendncias
Naomar de Almeida Filho
Maurcio Lima Barreto
Renato Peixoto Veras
Rita Barradas Barata
(orgs.)
TEORIA EPIDEMIOLGICA HOJE
Fundamentos, Interfaces, Tendncias
FUNDAO OSWALDO CRUZ
Presidente
Eloi de Souza Garcia
Vice-Presidente de Ambiente, Comunicao e Informao
Maria Ceclia de Souza Minayo
EDITORA FIOCRUZ
Coordenadora
Maria Ceclia de Souza Minayo
Conselho Editorial
Carlos E. A. Coimbra Jr.
Carolina . Bori
Charles Pessanha
Hooman Momen
Jaime L. Benchimol
Jos da Rocha Carvalheiro
Luiz Fernando Ferreira
Miriam Struchiner
Paulo Amarante
Paulo Gadelha
Paulo Marchiori Buss
Vanize Macedo
Zigman Brenner
Coordenador Executivo
Joo Carlos Canossa P. Mendes
TEORIA EPIDEMIOLGICA HOJE
Fundamentos, Interfaces, Tendncias
Organizadores
Naomar de Almeida Filho
Maurcio Lima Barreto
Renato Peixoto Veras
Rita Barradas Barata
Sri e Epi demi oLgi ca 2
Copyright 1998 dos autores
Todos os direitos desta edio reservados
FUNDAO OSWALDO CRUZ/EDITORA
ISBN 85-85676-50-7
Capa: Guilherme Ashton
Projeto Grfico: Guilherme Ashton e Carlota Rios
Editorao Eletrnica: Carlota Rios e Ramo Moraes
Copidesque: Sergio Tadeu Niemeyer Lamaro e Fernanda Veneu
Superviso Editorial: M. Cecilia Gomes Barbosa Moreira
ESTA PUBLICAO FOI PARCIALMENTE PRODUZIDA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
CONVNIO 123/94 - ABRASCO/FUNDAO NACIONAL DE SADE DO MINISTRIO DA
SADE - COM O OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO DA EPIDEMIOLOGIA EM APOIO S
ESTRATGIAS DO SUS.
Catalogao-na-fonte
Centro de Informao Cientfica e Tecnolgica
Biblioteca Lincoln de Freitas Filho
A447t Almeida Filho, Naomar de (Org.)
Teoria epidemiolgica hoje: fundamentos, interfaces, tendncias/Organizado
por Naomar de Almeida Filho, Maurcio Lima Barreto, Renato Peixoto Veras e
Rita Barradas Barata. - Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO, 1998.
256p. (Srie EpidemioLgica, 2)
1. Epidemiologia. I. Barreto, Maurcio Lima. II. Veras, Renato Peixoto.
III. Barata, Rita Barradas.
CDD-20.ed. - 6 1 4 . 4
1998
EDITORA FIOCRUZ
Rua Leopoldo Bulhes, 1480, Trreo - Manguinhos
21041-210 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 590-3789 - ramal 2009
Fax.: (021) 280-8194
Autores
Dina Czeresnia
Departamento de Epidemiologia e Mtodos
Quantitativos em Sade da Escola Nacional de Sade Pblica/FiocRUZ
Douglas L. Weed
Instituto Nacional do Cncer - Estados Unidos
Eduardo Menndez
Centro de Investigations y Estudios en Antropologia Social - Mxico
Ezra Susser
Universidade de Columbia/Instituto Psiquitrico do Estado de Nova York -
Estados Unidos
Fermin Roland Schramm
Departamento de Cincias Sociais da Escola
Nacional de Sade Pblica/FIOCRUZ
Juan Samaja
Universidade Nacional de Buenos Aires - Argentina
Luiz David Castel
Departamento de Epidemiologia da Escola
Nacional de Sade Pblica/FIOCRUZ
Maria de Ftima Milito de Albuquerque
Ncleo de Estudos em Sade Coletiva do
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhes/FIOCRUZ
Marilia Bernardes Marques
Escola Nacional de Sade Pblica /FIOCRUZ
Mervyn Susser
Universidade de Columbia - Nova York, Estados Unidos
Milos Jnicek
Universidade McMaster - Canad
Miquel Porta
Instituto Municipal de Investigao Mdica de
Barcelona/Universidade Autnoma de Barcelona - Espanha
e Universidade da Carolina do Norte - Estados Unidos
Pedro Luis Castellanos
Organizao Pan-Americana de Sade - Repblica Dominicana
Pierre Philippe
Universidade de Montreal - Quebec, Canad
Organizadores
Naomar de Almeida Filho
Instituto de Sade Coletiva da Universidade Federal da Bahia
Maurcio Lima Barreto
Instituto de Sade Coletiva da Universidade Federal da Bahia
Renato Peixoto Veras
Instituto de Medicina Social e Universidade Aberta
da Terceira Idade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Rita Barradas Barata
Departamento de Medicina Social/Faculdade de
Cincias Mdicas da Santa Casa de So Paulo
Sumrio
APRESENTAO 9
PARTE I: FUNDAMENTOS
1. Epistemologia e Epidemiologia
Juan Samaja 23
2. O Senso Comum e a Filosofia na Epidemiologia
Douglas L. Weed 37
3. Limites da Inferncia Causai
Dina Czeresnia & Maria de Ftima Milito de Albuquerque 63
PARTE II: INTERFACES
4. Antropologia Mdica e Epidemiologia
Eduardo L. Menndez 81
5. Metanlise em Epidemiologia
Milos Jnicek 105
6. Epidemiologia Clnica e Molecular: possvel integrar os trs 'mundos'?
Miquel Porta 117
7. O Ecolgico na Epidemiologia
Pedro Luis Castellanos 129
8. Epidemiologia, Tecnocincia e Biotica
Fermin Roland Schramm 149
9. A Epidemiologia e a Biotecnologia
Marlia Bernardes Marques 165
PARTE III: TENDNCIAS
10. Um Futuro para a Epidemiologia
Mervyn Susser & Ezra Susser 187
11. Teoria do Caos e Sistemas Complexos em Epidemiologia
Pierre Philippe 213
12. Metforas para uma Epidemiologia Mestia
Luis David Casel 225
APRESENTAO
Fala-se, por toda parte, de uma crise da sade pblica. Na base deste
rumor, constata-se uma crise das disciplinas cientficas que do sust ent ao
s prticas coletivas em sade, expressa pela i ncapaci dade de tais disciplinas
de expli carem satisfatoriamente os eni gmas e os paradoxos do campo. Por
exemplo: apesar das t ransformaes, mai s ou menos radicais, dos modelos
de at eno sade em todo o mundo, as reais condi es de sade das popu-
laes no t m melhorado na mesma proporo. Em outras situaes ocorre
just ament e o contrrio: a despeito da falncia dos sistemas assistenciais, a
situao de sade efetivamente melhorou. Ser que as expli caes para es-
ses eni gmas no seriam encont radas na i nadequada base conceituai da plani
ficao em sade, que se vale quase que exclusi vament e de uma perspect i va
superficial e i ngnua do ponto de vista epi st emolgi co, i ncapaz de conside-
rar a historicidade e a concret ude dos problemas de sade?
Nas mat ri zes da investigao populaci onal em sade, a epi demi ologi a
' normal' tem-se most rado pouco instigante e criativa no que se refere ca-
paci dade de levantar problemas. A investigao epi demi olgi ca parece vol
tada produo de modelos explicativos bvios, triviais e imediatistas. Ob-
serva-se ento outro paradoxo: enquant o ocorre um explosivo cresci ment o
de est udos epi demi olgi cos que fornecem subsdios para a prtica clinica e
para i nt ervenes sobre i ndi v duos, cada vez mai s di mi nui o i mpact o da
disciplina como eixo estruturante da sade pblica, debilitando sua capaci-
dade de apoiar tanto as i nt ervenes sobre as populaes quant o as deci ses
sobre polticas pblicas no campo da sade.
A hiptese diagnostica mais bvia que a epi demi ologi a hoje sofre de
uma sria sndrome carencial: pobreza terica. Nancy Krieger (1994) parece
ter finalmente descobert o o que Ricardo Br uno Gonalves j h mui t o tem-
po insistia: a epi demi ologi a precisa com urgnci a de mai s teoria. Quase com
i ndi gnao, Breilh (1995) observa que, neste moment o, uma srie de crticas
sobre a epi demi ologi a, que j eram senso comum na cult ura cientfica da
sade coletiva lat i no-ameri cana, comea a ser apropri ada e difundida na lite-
ratura internacional como se fossem originais. Talvez a principal dessas crti-
cas seja a idia da carncia t eri co-epi st emolgi ca da disciplina. Porm, para
sermos justos, a s ndrome da pobreza terica no afeta soment e a epi demi o-
logia, mas grassa por todo o campo da pesquisa em sade, conforme avalia-
o recente (e i gualment e tardia) de Holmberg & Baum (1996).
De fato, at agora, o desenvolvi ment o terico da epi demi ologi a tem se
baseado em concei t os problemt i cos e parci ai s, i nt egradores de modelos
explicativos tmidos e i ncomplet os, dei xando de debater criticamente a na-
t ureza e as propri edades de seu objeto de conheci ment o. Pensar a sade
como mera configurao de riscos, como se faz com insistncia cada vez
mai or na epi demi ologi a anglo-saxni ca da qual somos tributrios, restringe
i nevi t avelment e a const r uo conceituai desse campo a modelos t eri cos
essenci alment e reduci oni st as, regidos por uma lgica mecni ca linearizada.
Este modo de praticar a cincia epi demi olgi ca tem como conseqnci a a
produo de conhecimentos distanciados dos objetos reais da sade-enfermi
dade, aqueles que na verdade no habitam os sistemas fechados e controlados
dos laboratrios, mas sim compem os sistemas abertos e caticos, caracters-
ticos da realidade histrica e social das populaes concretas. Nesse processo
particular de produo de dados, observa-se um desprezo pelo que h de qua-
litativo, interativo, participativo, etnolgico na definio dos problemas de sa-
de, o que, conforme defende Sperber (1985), inclui necessariamente os pro-
cessos subjetivos na raiz das representaes sociais desses fenmenos.
Nesse aspect o particular, um breve exame da histria da epi demi olo-
gi a revela quest es interessantes. Os fundadores da cincia epi demi olgi ca
flagrantemente valori zavam a di scusso concei t uai e filosfica como uma
et apa crucial para a consoli dao da i dent i dade prpri a da disciplina perant e
campos cientficos aproxi mados. Greenwood, Frost, Wi nsl ow e Gordon (en-
tre out ros nomes ilustres) produzi ram reflexes bast ant e consi st ent es de afir-
mao terica da jovem cincia, buscando explicitar o que na poca se de-
si gnava como a mat ri a da epi demi ologi a.
Ao t empo em que ampliava seu objeto de i nt erveno para alm das
doenas infecciosas, a epi demi ologi a buscava, ento, ret omar a t radi o da
medi ci na social de privilegiar o mbi t o coletivo, vi st o como mai s do que um
mero conjunto de i ndi vduos. Este esforo consci ent e de const ruo terica
e fundament ao filosfica da nascent e epi demi ologi a provocou um profun-
do i mpasse, post o que, como sabemos, a nova cincia havi a sido gest ada de
dentro do modelo flexneriano de uma medi ci na experi ment al. Feli zment e
para seus fundadores, j se produzi a o desenvolvi ment o i ndependent e da
estatstica moderna, que apresent ava a Velha novi dade' da teoria das proba-
bi li dades, pr opi ci ando a formali zao do objeto pri vi legi ado ' ri sco' . Est e
aspect o especfico, da mai or i mport nci a para a consoli dao da cientifici
dade da disciplina, no ser aqui aprofundado, devendo o leitor consult ar a
deci si va cont ri bui o de Ayr es (1996) no sentido de uma ' arqueologi a' do
concei t o de risco neste campo cientifico.
Entretanto, como se fosse concebvel haver cincia sem teoria, as ge-
raes que se segui ram no demonst r avam mai ores preocupaes epi st emo
lgi cas, o que se reflete na pobreza t eri co-met odolgi ca de gr ande part e
dos t ext os fundament ai s da di sci pli na a part i r da dcada de 60. Dur ant e
quase 25 anos, at a publi cao dos textos Theoretical Epidemiology de Mietti
nen (1985) e Modem Epidemiology de Rot hman (1986), pouco se avanou no
pr oblema especfico dos marcos tericos da disciplina, reduzi do a uma mera
quest o de definies (Lilienfeld, 1978). Ai nda assi m, a partir de ento, o
ni co problema conceituai que pareci a monopoli zar a at eno no cenri o
epi demi olgi co dos pases do Nor t e era o da causali dade e seus correlat es.
Observa-se na literatura especi ali zada uma ' sangrent a' di sput a ent re popperi
anos e indutivistas (Weed, 1986, 1997, 1998; Susser, 1987, 1991; Pearce &
Crawford-Brown, 1989), aparent ement e sem mai ores repercusses sobre a
prtica terica e met odolgi ca da disciplina. Ayr es (1996:294) interpreta este
movimento quase que proposital de empobrecimento epistemolgico como o
preo da legitimao fcil: em uma fase de intensa expanso institucional expe-
rimentada pela epidemiologia nas dcadas de 60 e 70, "o progresso conceituai da
disciplina restringe-se quase que exclusivamente aos aspectos tecno-metodol
gicos que, no entanto, alcanam marcante versatilidade e penetrao".
A si t uao atual da teoria epi demi olgi ca define-se just ament e pela
constatao da mencionada crise. Finalmente, a malaise epistemolgica da nossa
disciplina conseguiu atingir um certo grau de explicitao, certamente determi-
nada pela incmoda posio de principal suspeito responsvel pelas vicissitudes
da sade pblica neste fim de milnio. Nesse contexto, o debate terico-filosfi
co ressurge altamente valorizado, convocando os estudiosos e praticantes da
cincia epidemiolgica a questionar seus fundamentos, explorar suas interfaces
e formular discursos competentes indicadores das suas tendncias.
A present e colet nea rene t ext os apr esent ados como confernci as
ou palest ras no event o conjunt o do III Congr esso Brasi lei ro de Epi demi o-
logi a, II Congr esso I ber o-Amer i cano de Epi demi ologi a e I Congr esso Lat i -
no- Amer i cano de Epi demi ologi a. Pelo seu cart er de congr egao t ransna
ci onal, esse evento, reali zado em abril de 1995, foi sem dvi da uma opor-
t uni dade mpar de efetiva i nt erao ent re t radi es cientficas t o di st i n-
t as. Por um lado, os mai s i nsi gnes represent ant es das ver t ent es crt i cas da
epi demi ologi a europi a e nor t e-amer i cana puder am apresent ar as di feren-
tes respost as que est o pr oduzi ndo frente crise t eri ca do campo. Por
out ro, os epi demi l ogos da Amr i ca Lat i na puder am, pela pr i mei r a vez,
most r ar de forma si st emt i ca (e expor avali ao crtica dos seus par es do
Nor t e) o i mpor t ant e conjunt o de reflexes acumul adas nas lt i mas dca-
das no cont i nent e, que de cert a forma confi gura uma ver t ent e epi st emol -
gi ca da epi demi ologi a social lat i no-ameri cana.
FUNDAMENTOS
Por sua bvia ext rao filosfica, os textos de Samaja, Weed e Czeres
nia & Albuquer que foram agrupados na seo Fundament os.
J uan Samaja nos apresenta uma revi so epi st emolgi ca da epi demi o-
logia a partir de uma abordagem historicista, mapeando com clareza e preci
so a pr oblemt i ca t er i co-met odolgi ca da di sci pli na no moment o atual.
Ident i fi ca a necessi dade de a di sci pli na r eexami nar os concei t os bsi cos,
as cat egor i as de anl i se, os pr ocedi ment os met odol gi cos , as r el aes
i nt er di sci pl i nar es, enfi m, os cri t ri os de ci ent i fi ci dade que a est r ut ur am.
Ma s a sua pr i nci pal cont r i bui o ao opor t uno debat e t er pr opos t o
i ncl ui r nest a agenda o Vas t o campo da s i gni f i cao' dos pr oces s os pa-
t ol gi cos col et i vos , des t acando o car t er s emi t i co- nar r at i vo do obj e-
t o epi demi ol gi co.
Douglas Weed prefere levant ar questes, em uma estratgia dialtica
de valori zar o debat e epi st emolgi co no campo da i nvest i gao epi demi ol-
gi ca. Weed pergunt a, por exemplo, como devemos deli near o desenvolvi-
ment o da filosofia na epi demi ologi a. Com este propsito, faz sentido exami -
nar a utilidade e criticar as escolhas dos pesqui sadores quant o a pont os de
vista filosficos? Em sntese, Weed consi dera que uma abor dagem que tudo
abarca no se encont ra em uma ni ca escola de pensament o ou temtica, no
m ni mo devi do ao fato de que t udo passvel de crtica e pode ser apri mora-
do. Apes ar dest a limitao, argument a o autor, no devemos abandonar a
busca apenas porque ela se most ra difcil ou forada, nem devemos ser ga-
nanci osos ou apressados na necessria procura de fundament ao filosfica
coerent e para a epi demi ologi a.
No obst ant e a sua assuno como quest o bsi ca da t eori a epi de-
mi olgi ca, Czer esni a & Al buquer que most r am-nos que o t r at ament o do
pr obl ema da causali dade t em se caract eri zado, nest e campo, por uma apro-
xi mao i nst r ument al do pr ocesso de det er mi nao que no faz just i a
ri queza e complexi dade da anli se da si t uao de sade. Como result ado,
observa-se uma t endnci a defi ni o da det er mi nao epi demi olgi ca com
base em at ri but os i ndi vi duai s, omi t i ndo o cart er essenci al ment e gr upai
dos f enmenos da sade nas colet i vi dades. Com o objet i vo de avaliar a
consi st nci a epi st emolgi ca das respost as do neocausal i smo frente s se-
veras crt i cas do pr agmat i smo e do hi st ori ci smo, as aut oras di ssecam os
modelos de inferncia causal de Holland e Rubi n. No seu texto, Czeresni a &
Al buquer que de mons t r a m com maes t r i a que, por um l ado, os pr es s u-
pos t os daquel es model os r equer em si t uaes de apl i cao e xt r e ma me nt e
rest ri t a; por out ro, o concei t o bsi co de ' ef ei t o mdi o caus al ' no cum-
pr e a pr et ens o de t or nar o r i sco um es t i mador uni ver s al ef i caz t ant o
par a i nf er nci as i ndi vi duai s quant o popul aci onai s.
INTERFACES
Na at uali dade assi st i mos a profundos desenvolvi ment os na mai ori a
das cincias que t radi ci onalment e servem de base para a epi demi ologi a. Novos
modelos tericos da reali dade, paradi gmas cientficos, avanos met odolgi -
cos e t ecnolgi cos, vm t ransformando significativamente nossa capaci dade
de ent ender e de operar sobre a nat ureza e os processos sociais. Tais desen-
volvi ment os t m modi fi cado consi deravelment e o campo geral das ci nci as,
enri quecendo e ampli ando, como nunca, a capaci dade pot enci al de compr e-
ender e t ransformar as condi es de vi da e sade das populaes. Em face
deste cenri o, a busca de alternativas analticas para uma renovao da epi-
demi ologi a ser facilitada com uma abertura transdisciplinar para campos do
conheci ment o em que se t enham identificado avanos na const ruo prtica
de novos paradi gmas.
Port ant o, a epi demi ologi a dever estar cri t i cament e atenta s transfor-
maes di sci pli nares, em todos os campos de cincia que lhe fazem interfa-
ce, a fim de equipar-se conceituai e met odologi cament e para tratar seus ob-
jet os/sujei t os. Dessa manei ra, ser possvel revelar a arquitetura da comple-
xi dade e a di nmi ca dos processos reais, possibilitando i nt ervenes efetiva-
ment e i nt egradoras. As possi bi li dades de avano da epi demi ologi a se rela-
ci onam a t ransformaes nos campos cientficos que subsi di am t eori camen-
te a const ruo do seu objeto, como a clnica, a bi ologi a, a estatstica e as
cincias sociais. Quai s sero os efeitos da aplicao desses saberes cincia
dos processos coletivos da sade-enfermi dade-cui dado? Os textos de Me-
nndez, Jni cek, Porta, Marques, Cast ellanos e Schr amm, agrupados na se-
o intitulada Interfaces, compart i lham just ament e o objetivo de responder
a esta quest o.
A cont ri bui o de Eduardo Menndez constitui um esforo de siste
mat i zao das complement ari dades e di vergnci as entre a epi demi ologi a e a
ant ropologi a mdi ca, nesse caso definidas de uma manei ra bast ant e conven-
cional. O pri nci pal e mai s vali oso argument o deste aut or a crtica, a partir
de uma cui dadosa revi so de vri os casos de ' apropri ao i ndbi t a' de con-
ceitos, ao modo como os epidemiologistas t m se i nst rument ali zado teorica-
ment e, s expensas de concei t os ant ropolgi cos mal digeridos. Em contra-
partida, Menndez identifica, e i gualment e critica, a t endnci a medi cali za
o da ant ropologi a no campo da sade, produzi ndo o que denomi na de
' eroso met odolgi ca' da abordagem etnogrfica profunda, substituda por
i nst rument os padroni zados e por ' etnografias rpi das' .
Mi los Jni cek e Mi quel Porta det m-se em aspectos especficos da prin-
cipal interface disciplinar da epi demi ologi a, aquela com a clnica. Apesar de
uma histria recent e de conflitos e di sput as territoriais, ambos os aut ores
assi nalam um novo esprito de i nt egrao entre os dois campos di sci pli nares,
e, nesse aspecto, Port a vai mai s adiante, pr opondo uma articulao ' multin
vel' i nclui ndo o mundo molecular. Entretanto, apesar da humi ldade intelec-
tual com que Jni cek e Port a se posi ci onam perant e o debat e da vocao
interdisciplinar da epi demi ologi a atual, Marli a Mar ques quem avalia mai s
det alhadament e os efeitos sobre a raci onali dade epi demi olgi ca do inter-
cmbi o com a moder na bi ot ecnologi a. Consi derando que a epi demi ologi a
vive uma crise de crescimento, ampli ando suas interfaces di sci pli nares e seus
objetos de i nt erveno, a aut ora expe os novos desenvolvi ment os das teo-
rias dos si st emas complexos no campo biotecnolgico. Mar ques t ermi na por
sugerir que, ao contrrio do retrocesso que mui t os t emem, as trocas discipli-
nares com a ' nova bi ologi a' fomentaro o avano de novos par adi gmas na
prpri a ci nci a epi demi olgi ca.
De um pont o de partida bastante diferente, por m com resultados in
t ri gant ement e convergent es, Pedro Luis Cast ellanos t ambm desenvolve um
mar co de anlise da epi demi ologi a baseado em noes de sistemas comple-
xos di nmi cos, no seu caso por referncia obra do economi st a Herbert
Si mon. Abor dando o problema da anlise ecolgi ca em epi demi ologi a, Cas-
tellanos det m-se mai s nas relaes complexas entre subsi st emas e nos n-
vei s hierrquicos componentes das situaes reais de sade. Termi na sistemati-
zando algumas das contribuies latino-americanas para a construo de uma
'epidemiologia de populaes' , quase como uma alternativa tendncia domi-
nante na epidemiologia convencional de fundar-se prioritariamente sobre o indi-
vidual como unidade de anlise e nvel de modelagem terica.
Fi nalment e, cont ri bui ndo para o debat e sobre os inter-efeitos entre a
epi demi ologi a e os bi opoderes, Fer mi n Schramm prope um eixo dialtico
est rut urador das relaes entre os campos disciplinares em paut a: o conflito
entre aut onomi a e eqi dade. Tal como a mai ori a dos aut ores dest a colet-
nea, Schr amm no pode evitar t omar como linha de base o t ema da comple-
xi dade na t ecnoci nci a cont empornea, bali zando-o sucessi vament e em re
lao ao seu i mpact o sobre as quest es tericas da pesqui sa epi demi olgi ca
e as pragmt i cas da bi ot i ca cont empornea. Para uma per manent e e ade-
quada i nt egrao dos trs objetos tericos, fundamental uma post ura crti-
ca e reflexiva capaz de explicitar as conexes e redes de saber e poder, ou
seja, as i mpli caes e det ermi naes ticas, polticas e econmi cas da pr o-
duo de conheci ment o cientfico em sade.
TENDNCIAS
As di scusses da seo anterior t rouxeram tona o pr oblema das fron-
teiras disciplinares e, em conseqnci a, levam-nos di ret ament e a pr oblema
tizar o papel da transdisciplinaridade na epi demi ologi a do futuro, como ci n-
cia responsvel pela formulao de um di scurso cientfico sobre a sade-
enf er mi dade-cui dado no mbi t o coletivo. Qualquer anli se ancor ada nas
polticas de t ransformao da situao de vi da e sade das populaes re-
quer concei t os e mt odos caract eri zados pela diversidade de sua extrao,
para que possi bi li t em a compreenso da complexi dade dos si st emas di nmi -
cos bi olgi cos e hi st ri cos, bem como a formulao de prticas di scursi vas
capazes de interferir no espao social da sade coletiva.
Dados alguns bali zament os da esperada mudana de par adi gmas, a
reconst ruo da cincia epi demi olgi ca nos nveis epi st emolgi co e terico
a t emt i ca obri gat ri a nesta etapa de di scusso das t endnci as do campo.
Em face da urgnci a deste debate, outro no o objetivo comum dos textos
de Susser & Susser, Phi li ppe e Castiel, seleci onados para compor esta seo.
Com o objetivo de subsidiar escolhas sobre o futuro da epi demi ologi a,
Susser & Susser pr opem-se a exami nar a condi o atual da epi demi ologi a
em t er mos de sua evoluo ao longo de trs eras, cada uma demar cada por
um paradi gma: a era das estatsticas sanitrias, com o par adi gma dos mi as-
mas; a era da epi demi ologi a das doenas i nfecci osas, com o da t eori a do
ger me; e a era da epi demi ologi a das doenas crni cas, com o da caixa preta.
Em t orno desse desenvolvi ment o intelectual, os aut ores ar gument am que o
atual par adi gma domi nant e na epi demi ologi a, o da caixa preta, t em hoje uti-
lidade decrescent e e logo ser substitudo. Assi m, prevem uma nova era,
por eles chamada de era da eco-epi demi ologi a, na qual ser crucial o deli
neament o de um novo modelo capaz de abarcar vri os nvei s organi zaci o-
nai s, t ant o moleculares e sociais quant o i ndi vi duai s. Objet i vando i nt egrar
vri os nveis em t ermos de desenho, anlise e interpretao, pr opem um
paradi gma, denomi nado de caixas chinesas, que poder sustentar uma epidemi-
ologia orientada para a sade pblica. Advertem ainda Susser & Susser que, para
prevenir um declnio da epidemiologia criativa nesta nova era, ser necessrio
no somente um paradigma cientfico plausvel, mas t ambm redobrada ateno
aos processos sociais que favoream uma disciplina coesa e humana.
Em vez de prescrever como dever ser o novo paradi gma epi demi ol
gico, a cont r i bui o de Pi erre Phi li ppe busca descrever alguns r esult ados
concret os j obt i dos na i nvest i gao epi demi olgi ca que par ecem i ndi car
novas aber t ur as par adi gmt i cas para o campo. Em pr i mei r o lugar, o aut or
descr eve o par adi gma li near corpori fi cado na regresso mlt i pla, no qual
t odos os fatores de ri sco t m efeitos di ret os sobre o result ado, e na ' anli se
li near expandi da' , em que efeitos di ret os e i ndi ret os est o embut i dos em
model os hi errqui cos. Al m desses, h a model agem di nmi ca no-li near,
que possi bi li t a a compr eenso de pr ocessos di nmi cos no-li neares em re-
des de i nt eraes. Fi nalment e, Phi li ppe descreve t ent at i vas de model agem
com si t uaes de di mensi onali dade mui t o elevada, i rredut vei s modela-
gem di nmi ca no-li near. Esse pr ocedi ment o ut i li zado quando o nmer o
de equaes di ferenci ai s a serem elaboradas e resolvi das pr oi bi t i vament e
gr ande, r ecomendando- se a model agem est at st i ca fractal par a t rat ar de
si st emas complexos. Abor dagens fractals per mi t em a si nt oni a fina dos pro-
cessos compl exos, que podem ser mai s freqent es na rea da sade do que
habi t ualment e se supe. Segundo o aut or, so caract er st i cas dos si st emas
compl exos: alas de r et r oali ment ao, t r ansi es de fase, at rat ores, rea-
es em cadei a, aut o-organi zao, di nmi ca ' longe-do-equi l br i o' , adapt a-
o e pr opr i edades emer gent es. Ti pi cament e, a di nmi ca no-li near cons-
t i t uda por est rut uras compl exas em desenvolvi ment o, cuja ' plant a' com-
pe-se de uma hi erarqui a das escalas de organi zao. Embor a seja i mpulsi -
onada pela ent rada de energi a proveni ent e do ambi ent e, est a est rut ura com-
plexa ' vi va' est li mi t ada a um repert ri o r eduzi do de efeitos emer gent es, a
despei t o de sua plast i ci dade. Tai s si st emas no encer r am fatores causai s,
soment e event os ' cont ri bui nt es' dent ro de uma i nfi ni dade de escalas.
Fi nalment e, o texto de Lui s Davi d Castiel aborda aspect os tericos e
concei t uai s do mt odo epi demi olgi co, com nfase nas di menses metafri
cas vi nculadas produo cientfica, de um modo geral, e pesqui sa em
epi demi ologi a, em particular. Nest a perspectiva, di scut e as relaes da disci-
plina com a lgi ca identitria e as met foras empregadas, tanto em t er mos
de causali dade como referentes idia de ' risco' . Para tal, o autor procede a
uma breve revi so da noo de metfora, suas relaes com o chamado sen-
so comum e com a produo de conheci ment o. Avanando pr opost as/ ques-
tes em t orno de uma ' epi demi ologi a das met foras' , Castiel discute proble-
mas li gados percepo pbli ca de const rut os produzi dos pela epi demi olo-
gia, descrevendo algumas tentativas de desenvolver mtodos que avancem no
conhecimento da situao de sade-doena das populaes, como por exemplo
a incorporao de aspectos qualitativos pesquisa populacional em sade, con-
forme discutido por Menndez neste volume. Finalmente, Castiel avalia as po-
tencialidades de uma 'epidemiologia contextual' com base em inovaes meto-
dolgicas (como, por exemplo, as redes sociohistricas nos estudos de AIDS), ou
em uma aparente reabilitao dos estudos ecolgicos (Cf. texto de Castellanos
nesta coletnea). Para a implementao e utilidade pragmtica desta ltima pro-
posta, o autor considera relevantes as tentativas de avanos conceituais com
base nas noes de evento ou populao-sentinela, no contexto de uma redefini-
o da estratgia da vigilncia epidemiolgica.
Os textos que compem este vol ume sem dvi da const i t uem excelen-
te material para um balano necessri o e oport uno das t endnci as da teoria
epi demi olgi ca na atualidade. Prat i cament e t odos os autores revelam-se com-
promet i dos com a fascinante tarefa de pensar os cami nhos que se abr em
para a cincia epi demi olgi ca neste final de sculo.
Nesse sentido, apesar de uma adeso i mplci t a s abert uras paradi g-
mt i cas possvei s no campo epi demi olgi co, Weed, Czeresnia & Albuquer-
que, Menndez, J ni c e k e Por t a ocupam uma pos i o que poder amos
denomi nar de ' sbr i a expect at i va' . Em cont r ast e, os out r os col abor ado-
res dest a col et nea def endem pr opos t as , compl ement ar es ent r e si, de
novos par adi gmas na epi demi ol ogi a. Cast el l anos, Mar ques , Sc hr a mm e
Phi l i ppe no es condem o ent usi asmo pel o chamado par adi gma da com-
pl exi dade, dando r essonnci a a um debat e pr pr i o da ci nci a cont empo-
r nea. Susser & Susser apr esent am uma ver so mai s cont i da de muda na
par adi dmt i ca, pr econi zando uma espci e de neo- s i s t emi s mo apl i cado
Epi demi ol ogi a, que eles desi gnam por ' eco- epi demi ol ogi a' . Fi nal ment e,
si nt oni zados com o hermeneutical turn car act er st i co da nova epi s t emol o
gi a pr agmat i s t a, Samaj a e Cast i el compar t i l ham um fort e i nt er esse de
val or i zao do pot enci al semi ol gi co da epi demi ol ogi a, pr opondo uma
bus ca do sent i do na const r uo pr xi ca da di sci pli na. Est a pr opos t a
ali s bast ant e conver gent e com uma ' semanl i se epi demi ol gi ca' , no sen
t i do i ndi cado por Mar i o Test a ( 1997) .
Consenso h em trs pontos. Primeiro, observa-se em t odos os aut ores
uma saudvel atitude compreensi va, post ulando pr i mor di alment e snteses
i nt egradoras (e. g., ' a epi demi ologi a mest i a' de Castiel) em lugar das estreis
di sput as em torno do esplio da epi demi ologi a do risco. Segundo, conforme
si st emat i zado nas cont ri bui es de Samaja, Weed e Schramm, a epi demi olo-
gi a deve tornar-se mai s humana e reflexiva, preocupando-se cada vez mai s
com os aspect os ticos e polticos da sade. Em terceiro lugar, como melhor
assi nalam Porta, Cast ellanos e Castiel, necessri o redefinir o carter utilita
rista da disciplina, superando o ' pragmat i smo vulgar' dos defensores de uma
epi demi ol ogi a apli cada, na li nha de MacMahon e Terri s. Nes s a di reo,
Susser & Susser, di gnos representantes do ot i mi smo acadmi co columbi ano,
ousam anunci ar o fim dos velhos paradi gmas na epi demi ologi a. Parodi ando
a filosofia apli cada de Manoel Franci sco dos Sant os, resta esperar que os
adversri os estejam de acordo com as jogadas ensai adas e facilitem a vi da do
time dos defensores do novo na cincia epi demi olgi ca.
Os Organizadores
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA FILHO, A Clinica e a Epide miologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Apce/Abrasco, 1997.
AYRES, J. R. de C M. Sobre o Risco: para compre e nde r a e pide miologia. So Paulo:
Hucitec, 1996.
BREILH, J. Epidemiology's role in the creation of a humane world: convergences
and divergences among the schools. Social Science and Medicine, 41(7):911-914, 1995w
HOLMBERG, L. & BAUM, M. Work on your theories! Nature Medicine, 8(2):844-
846, 1996.
KRIEGER, . Epidemiology and the Web of Causation: has anyone seen the spider?
Social Scie nce s & Me dicine , 39(7):887-903, 1994.
LILIENFELD, D. Definitions of epidemiology. Ame rican Journal of Epide miology,
107(2):87-90, 1978.
MIETTINEN, O. The ore tical Epide miology. New York: John Wiley & Sons, 1985.
PEARCE, N. & CRAWFORD-BROWN, D. Critical discussion in epidemiology:
problems with the popperian approach. Journal of Clinical Epide miology, 42:177-185,1989.
ROTHMAN, K. Mode rn Epide miology. Boston: Little Brown & Co., 1986.
SPERBER, D. Anthropology and psychology: towards an epidemiology of
representations. Man, 20(1):73-89,1985.
SUSSER, M. Falsification, verification, and causal inference in epidemiology:
reconsiderations in the light of Sir Karl Popper's philosophy. In: Epide miology, He alth
& Socie ty: se le cte d pape rs. New York: Oxford University Press, 1987.
SUSSER, M. What is a cause and how do we know one? a grammar for pragmatic
epidemiology. Ame rican Journal of Epide miology, 133(7):635-648, 1991.
TESTA, M. Saber en Salud: la construction del conocimiento. Buenos Aires: Lugar
Editorial, 1997.
WEED, D. On the logic of causal inference. Ame rican Journal of Epide miology,
123(6):965-79, 1986.
WEED, D. On the use of causal criteria. Inte rnational Journal of Epide miology,
26(6):1137-1141, 1997.
WEED, D. Beyond Black Box Epidemiology. Ame rican Journal of Public He alth,
88(1):12-14, 1998.
PARTE I
FUNDAMENTOS
Epide miology is e sse ntially an inductive scie nce , conce rne d not
me re ly with de scribing the distribution of dise ase , but e qually
or more with fitting it into a consiste nt philosophy.
Wade Hampton I
;
rost
EPI STEMOLOGI A
EPIDEMIOLOGIA*
Juan Samaja
NOTAS PRELIMINARES SOBRE A NOO DE CINCIA
Que interesse pode ter para a epidemiologia o debate sobre seus fundamentos
epistemolgicos? O que a epistemologia tem a dizer para a epidemiologia?
A resposta a estas questes, que exami nar emos nest e trabalho, pressu-
pe a revi so prvi a de certos aspect os da palavra ' cincia' , tal como se pode
extrair das ci rcunst nci as de sua ori gem.
Pri mei ro a metafsica e depoi s a fsica (como bat i smo inicial das ' cin-
cias part i culares' ) surgi ram no cenrio da cult ura com a pret enso de estabe-
lecer o saber legt i mo e efetivo para os homens: esse que deve ser adot ado
como verdadei ro por ser efetivamente verdadeiro.
O surgi ment o dessas cincias result ou de mudanas nas formas da
consci nci a social que se produzi ram na transio das soci edades gentlicas
Traduo: Cludia Bastos
s soci edades j dot adas de Est ados. Em out ras pal avr as, a filosofia e a
ci nci a emer gi r am como a expr esso das novas condi es de di r eo so-
cial i nt r oduzi das pela ges t o est at al. Com esse pr opsi t o, elas cont r apu-
ser am fora das r epr esent aes t i cas e das nar r aes m t i co-r el i gi osas
a oper ao efi ci ent e de seus pr pr i os i ns t r ument os de si mbol i zao: os
concei t os, ju zos e encadeament os ar gument at i vos , e, o que de par t i cu-
lar i nt er esse aqui a efi cci a de suas apl i caes t cni cas.
Es t e pr oc e s s o se i ni ci a na Ant i gi da de , a ma dur e c e e se aper f ei -
oa a par t i r da f or ma o dos Es t a dos bur gues es . No sei o des t a nova
f or ma de vi da, a f i losof i a e as ci nci as pa r t i c ul a r e s se c ons ol i da m c omo
a or ga ni z a o vl i da e ef et i va de c onhe c i me nt o, apt a a c onduzi r os
a s s unt os cent r ai s na ge s t o dos Es t ados e de sua e c onomi a . Os or ga-
ni s mos es t at ai s c o me a r a m a f or mar seus r ecur s os t cni cos ( f unci o-
nr i os de t odas as cat egor i as ) me di a nt e t r e i na me nt os s i s t emt i cos par a
o e xe r c c i o dos pr oc e di me nt os di s cur s i vos ( car act er s t i cos des t e mo d o
de ma ne j a r os s mbol os e suas c ons e q nc i a s oper at r i as ) e m es col as
ou uni ve r s i da de s .
Os cer i moni ai s est at ai s f or am subst i t ui ndo, em suas l i t ur gi as reli -
gi osas, a comunho dos membr os pela busca da ' comunho pol t i ca' , re-
cor r endo ao debat e cor t eso ou ao par l ament ar , com suas novas ' li t ur-
gi as ' : a r et r i ca e a l gi ca acadmi cas. As nar r aes m t i cas ceder am lu-
gar s t eori as expl i cat i vas na pr oduo da compr eens o ou pr oduo de
sent i do. As f r mul as mgi cas abr i r am espao s oper aes mecni cas ,
ener gt i cas, ci ber nt i cas etc. r eai s ou si mbl i cas.
Cabe agor a r et or nar quest o i ni ci al dest e t r abal ho: o que i mpl i ca
exami nar os f undament os epi st emol gi cos de uma di sci pl i na?
De a c or do c om o que foi di t o, no est e m j ogo aver i guar , i no-
c e nt e me nt e , quai s so suas noe s bs i cas ou pr e l i mi na r e s e se es t as
noe s c oi nc i de m ou no c om o r eal, ma s al go mui t o mai s c ompr o-
met edor . O que est ef et i vament e em j ogo sua l e gi t i mi da de c omo
f or ma de saber , o que si gni f i ca mui t o ma i s do que se i nt e r r oga r s obr e
a ve r da de ou f al si dade dos fat os. Es t e m j ogo o que os j ur i s t as de no-
mi n a m " a ve r da de f or ma l ", i st o , a sua a de qua o aos pr e s s upos t os
f or mai s da c ons c i nc i a soci al que se t oma c o mo vl i da.
O STATUS EPISTEMOLGICO DA EPIDEMIOLOGIA
Quando se debate o estatuto cognitivo de um certo tipo de disciplina ou
campo do saber neste caso, a epidemiologia no mbito acadmico (aulas,
conferncias ou congressos), o que se discute, de uma maneira ou de outra, a
sua legitimidade, isto , a sua adequao ou no aos pressupostos formais domi-
nantes da conscincia social que ora impe os cnones de validao.
O debate epistemolgico sobre a epidemiologia encerra, ademais, um in-
teresse adicional, j que esta disciplina aspira a estabelecer o saber verdadeiro
sobre a sade e a enfermidade nas populaes humanas, o que implica colocar
em questo o que se entende por normal ou anormal na vida dos homens, nas
sociedades e nos Estados. Mas quem estabelece os critrios de validao?
Pelo exposto anteriormente, infere-se que a epistemologia constitui um
espao de luta entre posies adversrias em torno do que representa uma 'boa'
legitimao, ou, expresso de uma forma mais direta, de quais so ou devero ser
as formas institucionalmente vlidas de fazer circular o conhecimento.
Doi s grandes tipos de orientaes tm-se dest acado neste debate: o
empi ri smo e o apriorismo. Pastes tm sido os cami nhos mais amplos e mais
freqentemente trilhados pelos acadmi cos em busca dessa legi t i mao, por-
que, cada um a seu modo, ofereceu i mport ant es vant agens para a consolida-
o dos diferentes interesses das classes hegemni cas. como se estas duas
variantes epi st emolgi cas compart i lhassem o mesmo espao: o do exerccio
atual do poder institucionalizado.
H, ainda, um terceiro cami nho que, todavia, tem per maneci do mar-
gem destes trajetos hegemni cos: o historicismo, i naugurado por Vico, no
incio da modernidade, e desenvolvido inicialmente por Kant e imediatamente
depois por Hegel, sob a denominao de dialtica. Um trao decisivo desta via
marginal de legitimao consiste em sua pergunta a respeito do ' nascimento do
novo', formulada por meio da questo do Vir a ser', e no da questo de 'derivar
o que deve ser' ou de 'demonstrar o que no ' Este caminho, diferena dos
outros dois, caracteriza-se por substituir a questo 'qual o saber legtimo?' por
'qual a histria formativa deste ou daquele critrio de legitimidade?' como se
esta variante epistemolgica ocupasse o espao do desafio ao poder, ou, mais
especificamente, ao poder emergente ainda no institudo.
A quest o ' como se produzem os critrios de legi t i mi dade?' foi con-
testada pelo historicismo da seguinte maneira: legtimo o que coincide com
o aceito como evi dent e por t odos os membr os de uma comuni dade, e, por
sua vez, evi dent e o que essenci alment e congruent e com os pressupost os
que t or nar am possvel seu contrato de fundao. De uma manei ra propri a-
ment e epi st emolgi ca, um saber legt i mo quando organi za as represent a-
es de manei ra anloga ao contrato que logrou obter uma resoluo transa-
cional suficientemente estvel para dar lugar a uma forma de vi da social.
EM QUE UM DEBATE EPISTEMOLGICO
CONTRIBUI PARA A EPIDEMIOLOGIA?
Uma vez definido, de modo genri co, o sentido de um debat e episte-
molgi co como o aqui evocado, i mport ant e i ndagar de onde os pri nci pai s
modelos (ou analogi as permi t i das) ext raem a capaci dade de se legi t i mar nas
cincias moder nas; de quais traos da organi zao social procede a pot nci a
legi t i mant e dos grandes modelos epi st emolgi cos da cultura moder na (os
modelos mecni cos, processuai s, orgni cos, morfogent i cos, praxi olgi cos
e t c ) . De acordo com o const rut i vi smo dialtico defendi do aqui, responder
se-ia: da prpri a vi da, de seus conflitos e pactos.
Por consegui nt e, a tarefa referente ao debat e sobre a legi t i mi dade do
saber epi demi olgi co consistir em discutir sobre que processos sociais as
analogi as permi t i das e os objet os-modelo da epi demi ologi a como disciplina
t m-se estabelecido. Por exemplo, que analogi as t ornaram possvel a idia
i ngenuament e empi ri st a de que este campo surgiu como result ado de obser-
vaes atentas sobre o clera realizadas por um observador talentoso John
Snow? Ou, ento, que analogi as permi t i ram a idia dedut i vi st a, segundo a
qual o nasci ment o da epi demi ologi a deveu-se a um duelo entre ' hi pt eses
cont rapost as' (por exemplo, a mi asmt i ca em oposi o bact eri olgi ca)?
E, finalmente, o que torna possvel a existncia de cientistas que se i nt erro-
gam sobre a ori gem de seus concei t os e pr et endam fazer sua prpri a crtica
histrica, desconst rui ndo seus di scursos e rast reando sua genealogi a (por
exemplo, Goldmann ou Haber mas) ?
O EXAME HISTORICISTA DE ALGUNS
DOS PRESSUPOSTOS DA EPIDEMIOLOGIA
Embor a no seja possvel detalhar aqui os resultados que a epi st emo
logi a historicista alcanou nas ltimas dcadas de investigao, menci onar e-
mos dois dos mai s notrios, os de Mi chel Foucault e os de Ian Hacking. So
conheci dos os est udos do pri mei ro sobre o nasci ment o da medi ci na, bem
como sua tese de que aquilo que a soci edade capitalista, nos fins do sculo
XVI I e incios do sculo XVIII, t rouxe de original foi no a medi ci na do
corpo individual, mas, ao contrrio, a medi ci na social (pri mei ro como medi -
cina de Est ado e depoi s como medi ci na urbana). Para Foucault (1981), a
mudana r umo a uma medi ci na do corpo individual aparece recent ement e,
na segunda met ade do sculo XI X, quando o pr oblema da fora de trabalho
se t orna uma quest o crtica.
Por sua vez, os est udos sobre os recursos dos Est ados foram mot i va-
dos por razes mui t o mai s amplas do que o hori zont e das quest es sanitrias
ou de medi ci na social. Eles esto referidos emergnci a dos modelos de
i nt erpret ao da realidade que surgi am das novas prt i cas polt i cas no coti-
di ano das aes administrativas das formaes estatais. For am os requisitos
relativos ao manejo dos recursos e do funci onament o dos rgos estatais
que der am or i gem a novos model os de i nt er pr et ao t ant o das r eal i dades
soci ai s quant o das nat ur ai s. Est e aspect o foi br i l hant ement e anal i sado
pel os est udos de Hacki ng sobr e o nas ci ment o das est at st i cas, e m seu
livro A Domesticao do Acaso ( 1991) . Nel e, o aut or compr ova em que
medi da a i mpor t nci a das est at st i cas foi reconheci da e foment ada pelos
grandes intelectuais da poca, como parte de sua tarefa de prest ar assessoria
aos funcionrios estatais.
As principais analogias e paradi gmas que const i t uram o capital con-
ceitual da epi demi ol ogi a der i vam das gr andes t endnci as que car act er i za-
r am as soci edades moder nas nos sculos XVI I , XVI I I e XI X. Esse capi t al
concei t uai foi or gani zado, por seu t urno, s egundo um cri t ri o l gi co que
se pode car act er i zar como formal e conjuntista, ent endendo por tais deno-
mi naes a concepo de que as noes so di sposi t i vos classi fi cat ri os,
mai s ou menos convenci onai s, de ordenao de um mat eri al que per manece
ext erno a essas formas.
A grande supremaci a obtida por esta manei ra de ent ender a lgi ca deve-
se ao fato de que ela traduzia para categorias epi st mi cas o sentido comum
que i mperava nas soci edades moder nas ' gui adas' pela praxi s contratualista
i nt eri ndi vi dual.
1
Est a prxi s contratualista compreens vel em sua especifi-
ci dade quando compar ada quela outra que ela desloca do cenri o social
as relaes comunai s. Com efeito, a relao de contrato se diferencia essen-
ci alment e das relaes comunai s pelo fato de que os sujeitos de um cont rat o
no compart i lham v nculos de mt ua dependnci a: const i t uem i ndi v duos
diferentes e aut nomos que, por mt ua vont ade, se pem de acordo acerca
do i nt ercmbi o de algum bem ou servi o ext erno a eles, e cuja raci onali dade
depende essenci alment e de algum tipo de valor comput vel present e nos
objetos do i nt ercmbi o (Samaja, 1993a).
Para que as relaes contratuais pudessem existir e se difundir, foi neces-
srio que ocorresse previamente um processo de rompimento dos vnculos de
dependncia mtua dos membros da comunidade. Talvez seja esta a razo bsi-
ca pela qual as relaes de intercmbio no floresceram no interior das comuni-
dades, como most rou Max Weber (1978) em sua Histria Econmica.
Para que os fenmenos naturais e sociais est udados pela ci nci a pu-
dessem ser pensados, com a fora da evidncia, medi ant e as cat egori as de
' conjunto e element os' , e, assi m, operaci onali zados por mei o dos mt odos
da cont abi li dade (somas, diferenas, i gualdades), foi necessri o que a t rama
da vi da cot i di ana dei xasse par a trs a evi dnci a dos v nculos fami li ares e
comunai s argamassa da soci edade em suas fases iniciais e que se cons-
t ru ssem em seu lugar mecani smos cont rat uai s, com seu triplo registro: inte
ri ndi vi duali dade, cent ri ci dade e associ at i vi dade. Tornou-se i gualment e ne-
cessrio que os sistemas de parentesco fossem desestruturados, como resultado
do desdobramento da crise da propriedade comunal, em benefcio do avano da
diviso do trabalho social e do desenvolvimento do intercmbio.
A essa supremaci a lgica das cat egori as de conjunto, como agr egado
de element os i ndependent es, deve-se tanto a pot nci a quant o os li mi t es do
advent o da epi demi ol ogi a na moder ni dade, como a di sci pli na ou o mt o-
do que bus ca t axas de mor bi - mor t al i dade e cor r el aes c om poss vei s
fat ores causai s.
1
Adota-se o critrio de Bidet (1993) que distingue trs dimenses na matriz da modernidade: a
contratualidade interindividual, a 'centricidade' e a associatividade.
De acordo com a lgica domi nant e, as inferncias lgi cas, aplicadas
ao t rabalho dos cientistas, registra apenas duas apli caes: a deduo - apli-
cao de um conheci ment o sobre a totalidade do conjunto a uma part e ou
subconjunt o e a i nduo a generali zao do que se sabe acerca de uma
parte do conjunto a t odo o objeto. Deri var concluses part i culares (deduzir)
ou produzi r uma generali zao (induzir) const i t uem as operaes element a-
res do raciocnio cientfico. As demai s formas de operar com o conheci men-
to so post as mar gem pelas teorias met odolgi cas, pressupondo-se que
sejam i rraci onai s.
RESSURGIMENTO DO HISTORICISMO
Sem dvi da, a supremaci a destes paradi gmas do nasci ment o e da ma-
t uri dade do capitalismo, cujo melhor embl ema a teoria newt oni ana, est
chegando ao fim. A t ransformaes das soci edades at uai s t m engendrado
condi es ext remas de crise da prpri a mat ri z da moder ni dade e de seu tr-
pli ce registro. Mas a esta crise t m se somado perspect i vas i nspi radas em
not vei s avanos cientficos, est rei t ament e relaci onados entre si: a ci bern-
tica, a teoria da i nformao e da comuni cao, a i nvest i gao de si st emas
complexos, as est rut uras hi errqui cas, as i nvest i gaes semi t i cas etc.
importante insistir sobre o fato de que todos estes avanos tericos,
somados crise da moderni dade, par ecem conduzi r a uma i nesperada reapa
ri o daqui lo que represent ou o ' par adi gma mar gi nal' da moder ni dade: o
hi st ori ci smo e a dialtica. Todos estes desenvolvi ment os, na verdade, con
fluem para um par adi gma que, adot ando a concei t uao de Buckley (1982),
pode ser t ambm denomi nado de paradi gma morfogent i co. Pode-se afir-
mar, sem dvi da, que este paradi gma ret oma a di reo da epi st emologi a hi s-
toricista de Vi co e a dialtica de Hegel e Marx.
Trata-se de uma epi st emologi a que i ncorpora a i di a do desenvolvi-
ment o de si st emas adaptativos complexos, que no soment e possuem meca-
ni smos de conservao das est rut uras, mas, e sobret udo, de pr oduo de
novas est rut uras, como sistemas i nt ri nsecament e i nst vei s, i nconst ant es, e
histrico-evolutivos. Tais modelos so menci onados porque proporci onam
ricas analogi as par a se pensar a sade e a enfermi dade. Per mi t em cont ext ua
lizar a noo de sade no mbi t o do que se pode desi gnar de si st ema soci o-
cultural, com o que se alude a uma est rut ura de processos morfogent i cos,
medi ant e os quais o sistema se reproduz, i nclui ndo nessa reproduo a pro-
duo de novas formas.
PERSPECTIVAS PARA A EPIDEMIOLOGIA
No cont ext o de novas anal ogi as e par adi gmas , que per spect i vas se
abr em par a o debat e epi st emol gi co sobre a epi demi ol ogi a? Que novos
des envol vi ment os , no mbi t o da epi demi ol ogi a, possi bi l i t a est a f or ma
de conceber a sade- doena como funes da aut o- r egul ao da r epr o-
duo soci al?
Conf or me expost o ant eri orment e, o li mi t e mai s significativo dos mo-
delos epi demi olgi cos que possi bi li t aram os paradi gmas dedut i vi st as e i ndu
tivistas foi a lgica conjuntista, que forneceu o par adi gma de base para pen-
sar que a avali ao das situaes de sade das soci edades humanas soment e
podi a ser efetuada medi ant e taxas e correlaes, ou seja, medi ant e o clculo
de casos e sua referncia a diferentes denomi nadores possveis.
Di ferent ement e do que se pensa com bast ant e freqncia, no foi a
hegemoni a da medi ci na clnica que limitou os desenvolvi ment os da epi de-
mi ologi a. Ao contrrio, foi a prpri a epi demi ologi a, i nspi rada na lgi ca con
juntivista, que vi nculou seu ' dest i no' locomot i va da nosografia e, com ela,
ao cmput o de casos e sua ponderao com relao a diferentes gr upos
populaci onai s. Tant o verdade que, at ualment e, a epi demi ologi a parece ca-
recer de objet o-modelo, em um sentido t eori cament e ambi ci oso.
Efet i vament e, se ent endemos por objet o-modelo a concei t uali zao
de um campo da realidade medi ant e a seleo de um conjunto de vari vei s,
necessri o reconhecer que a epi demi ologi a parece carecer de vari vei s pr -
prias. Se, em relao s variveis cont ext uai s, ela lana mo das vari vei s da
soci ologi a ou da ant ropologi a, em relao ao campo da sade, conf or ma-se
com taxas. O mais alto nvel de t eori zao alcanado com a utilizao destas
taxas, ao menos na prtica domi nant e dest e campo, consiste em aprovei t ar a
poli ssemi a encerrada na palavra metafrica ' risco' . A pobreza dest e nvel de
t eori zao foi exami nada e criticada por Al mei da Fi lho em seu livro A Clni-
ca e a Epidemiologia (1992).
2
Tal vez no seja i nt ei r ament e exager ado af i r mar que a ni ca noo
de que a epi demi ol ogi a di sps desde seu advent o at hoj e, no sent i do
de buscar uma compr eens o da sade como f enmeno soci al - que pos -
sui hi er ar qui a t er i ca par a alm de i ndi cador es em est ado br ut o cont i nua
s endo a cat egor i a dur khei mi ana de anomi a. Como se sabe, Dur khe i m
pr ops que os val or es das t axas de sui c di o const i t u ssem i ndi cador es de
uma var i vel t er i ca que expr essa uma condi o r el evant e da vi da das
soci edades humanas . No uma si mpl es mdi a ou pr opor o, mas uma
pr opr i edade objet i va dos si st emas nor mat i vos s oci ai s
3
e de sua pot enci a-
l i dade par a or gani zar e cont er a vi da dos i ndi v duos. O s oci l ogo francs
di st i ngui u t rs si t uaes ou condi es soci ai s t pi cas, def endendo a ado-
o de um novo concei t o par a i nt er pr et ar uma si t uao pr eponder ant e
nas soci edades cont empor neas : as t r ansi es acel er adas das est r ut ur as
econmi cas (at ualment e conheci das como processos de reconverso), que
det er mi navam superposi es de si st emas nor mat i vos i ncompat vei s ent re
si, dando lugar a esse fenmeno particular bat i zado por ele de anomi a.
Uma taxa de morbi dade refere-se somente a um nmero mai or ou menor
de epi sdi os; isso, ai nda, no constitui um fato social. As s i m como Mar x
sustentava que no a quantia que uma pessoa t em no bolso que i nforma
sobre sua classe social, mas sim a sua i nsero no sistema de produo, no
so essas taxas que revelam a sade ou a doena das populaes, mas sim a
sua di st ri bui o como expresso de algo present e na di scursi vi dade da vi da
cot i di ana de uma populao.
2
O captulo 2, Risco: objeto-modelo da epidemiologia, ilustra bem esse ponto.
3
"As tendncias coletivas tm uma existncia prpria: so foras to reais como as foras csmicas,
ainda que sejam de outra natureza, moldam igualmente o indivduo de fora, embora isso ocorra por
outras vias.(...) Mas qualquer que seja o nome que lhe dado, importa reconhecer sua realidade e
conceb-la como um conjunto de energias que determinam nossas aes proveniente de fora, assim
como o fazem as energias fsico-qumicas cuja ao sofremos. Deste modo so coisas suigeneris e no
entidades verbais" (Durkheim, 1965:249).
NOSOGRAFIA VERSUS SEMITICA
NARRATIVA DISCURSIVA
As vant agens decorrentes do renasci ment o do paradi gma di alt i co
(morfogentico) consi st em, preci sament e, em mant er aberta a possi bi li dade
de pensar a complexi dade sem ter que lanar mo de uma reduo de um
nvel a outro, do social ao individual, por exemplo. Per manece abert a a pos-
sibilidade de compreender os novos planos de realidade que se pr oduzem
nas interfaces hi errqui cas, como na passagem do natural ao cultural. Com
base nest e paradi gma, torna-se possvel i magi nar uma epi demi ologi a menos
li mi t ada pela nosografia que comput a casos e calcula t axas, valendo-se de
event os i ndi vi duai s, que cami nha na di reo de uma epi demi ologi a mai s i ns-
pi rada nos processos normat i vos (cujo cont edo semitico, comuni caci o
nal, e no uni cament e fsico).
Toda nosografi a, como result ant e de um tipificao de pr ocessos par-
t i cular es, v- s e sempr e s vol t as com uma t endnci a a ' fi si cali zar' seus
t i pos, ao i nvs de se dei xar at ravessar pelos seus fundament os de cart er
soci ocul t ur al .
Os desenvolvi ment os epi st emolgi cos cont empor neos, decorrent es
especi alment e da teoria da i nformao e da comuni cao, per mi t em distin-
gui r clarament e as relaes prpri as do nvel orgnico, das relaes sociais.
As pri mei ras i mpli cam i nt ercmbi os de energia fsico-qumica, ao passo que
as demai s pem em jogo complexos processos de comuni cao ou de inter-
cmbi o de i nformao. As pri mei ras r emet em noo t r adi ci onal de causa
ef i ci ent e, j as s egundas r emet em aos si gni f i cados (i st o , aos efei t os
des encadeador es da t r ansmi sso de i nf or mao, em cont ext os pr agmt i -
cos) . De acor do com Buckl ey ( 1982: 74) , "o i ndi v duo que at ua a pes -
soa psi col gi ca , em essnci a, uma or gani zao que se desenvol ve e
mant m soment e um i nt er cmbi o si mbl i co com out r as pessoas em per-
manent e des envol vi ment o e por mei o de tal i nt er cmbi o".
O ' fato' relativo sade-doena concebi do como um component e
de um si st ema de processos reais e si mbli cos, como a expresso ou o sinal
de que alguns desses processos foi i nt errompi do, vi olado, bloqueado, pertur-
bado e que os processos encarregados de reequilibr-los ou no exi st em ou
no esto operando como deveri am. Operando no sentido de restituir o an
terior ou de criar uma nova alternativa de reordenament o, seria ent o uma
vi so concret a e di nmi ca que i nclua os component es si mbli co-comuni ca
cionais em jogo. Isto supe afirmar que a sade/ doena , desde sempr e, um
fenmeno semi t i co-comuni caci onal, uma instncia de sentido significativa
par a sujeitos da cultura, e no apenas um fenmeno natural.
Parafraseando Buckley, poder amos afi rmar que o objeto das cincias
da sade realment e social e a soci edade , de fato, um fenmeno psqui co-
semitico. A epi demi ologi a ter como objet o-modelo um objeto que i mpli ca
a produo de sentido, devendo suas variveis explicar o sucesso ou o fra-
casso na produo do sentido.
A PRODUO DE SENTIDO
O aspect o mai s geral da produo de sentido se expressa, no mbi t o
formal, de manei ra si mples: soment e h sentido quando a par t e relaciona-
da ao t odo ao qual pert ence. A relao de significao uma funo dos
v nculos que unem, de manei ra viva, uma part e ao seu conjunto. Em outras
palavras, soment e se compreende aquilo que se pode referir a seus processos
de formao ou const ruo na totalidade em que est inserido.
Desse modo, segundo as recent es i nvest i gaes cognitivistas, a forma
mai s element ar e oni present e de produo de sentido por part e dos seres
humanos consiste na narrao. A fonte mesma da significao parece derivar
da di nami ci dade das estruturas do mundo da vida. Em conseqnci a, para
um i nt egrant e de uma configurao cultural, a reproduo de seu mundo
aqui lo que obvi ament e dot ado de sentido, aquilo pelo qual no se pergunt a
nem se narra. Assi m, no a narrao a cri adora originria de sentido, mas
si m a que restaura ou reengendra um sentido vi vi do como pri mri o no mo-
ment o em que ele j se perdeu. "A funo da histria encont rar um est ado
i nt enci onal que mi t i gue ou pelo menos t orne compreens vel o desvi o em
relao ao padro cultural cannico. Este objetivo o que empresta verossimilhan-
a a uma histria." (Bruner 1992:61) (grifo do aut or).
Mediante a narrao, os membros de uma cultura reintroduzem a signifi-
cao onde havia se produzido uma fratura, um hiato, uma situao excepcional,
ou, como disse Giddens, a irrupo de "situaes crticas" (1995:95).
Os processos de reproduo social constituem o que se pode denominar
'a discursividade esperada da vida'. Quando essa discursividade interrompida,
a narrao constitui o procedimento mediante o qual os membros de uma cultu-
ra restituem esta discursividade esperada.
Conflitividade e contratualidade parecem ser, portanto, os dois plos de
uma incessante dialtica, no mbito da qual a sociedade e sua cultura vo se
construindo e se preservando. Observamos ento como a reproduo e a narra
tividade esto articuladas como duas rodas de engrenagens, como dois momen-
tos do mundo da vida humana: a narratividade restitui o sentido no ponto em
que a discursividade esperada (fonte primria de sentido) viu-se interrompida.
A nat ureza ltima da soci edade consiste em inserir-se em um const an-
te processo de const ruo,
4
o que i mpli ca um processo cont nuo de recons-
t r uo de cada uma de suas subest rut uras i ndi v duos, famlias, gr upos
pri mri os e secundri os, organi zaes i nformai s, i nst i t ui es da soci edade
civil, Est ados etc. De acordo com Gi ddens (1995:95),
0 conceito de rotinizao, ancorado em uma conscincia prtica, vital para a
teoria da estruturao. Uma rotina algo inerente tanto continuidade da personalidade do
agente, quando ele anda pelos caminhos das atividades cotidianas, quanto s instituies da
sociedade, que so como so somente em virtude de sua reproduo continuada.
A reproduo social o conjunto de aes medi ant e as quai s os diver-
sos atores menci onados satisfazem, em uma hierarquia de combi naes, as
necessi dades de seus prpri os modos de funci onament o, em conformi dade
s regras que lhes do vali dade o reconheci ment o social. A vali dao ou o
r econheci ment o social a funo assi mi ladora prpri a das subjet i vi dades
como fenmenos sociais. Essa funo expressa o movi ment o de busca do
equilbrio dos i nt egrant es na condi o de prot agoni st as de um present e con-
tratual com a memr i a semi t i ca de uma passado conflitivo.
Tomando-se essa nova perspectiva, a patologia, como ent i dade fsico-
comput vel, perde esse valor fascinante, permanecendo, contudo, referida
pat ologi a semitico-narrativa, isto , aos processos reprodut i vos, ao conflito
e s t ransaes que emer gem dos cont ext os socioculturais no mbi t o dos
4
"A natureza ltima do real consiste em estar em construo permanente, ao invs de consistir em
uma acumulao-de estruturas j realizadas" (Piaget, 1969:62).
quais produzi da. Na perspectiva da reproduo, o ' caso' deixa de ocupar a
posio central, cedendo esse post o aos cont ext os, aos ambi ent es e aos
mecani s mos por i nt er mdi o dos quai s se r epr oduzem ou r enegoci am cons-
t ant ement e os pr ocessos que t ecem a di scur si vi dade esper ada da vi da. A
relao de causal i dade cede a vez noo, mai s rica e complexa, de ' signi-
ficao' e ' est rut urao' .
De tudo o que foi exposto, depreende-se que os desenvolvimentos cient-
ficos e metodolgicos contemporneos exigem da epidemiologia uma profunda
reviso epistemolgica, capaz de torn-la apta para reexaminar seus conceitos
bsicos, seu objeto, suas categorias de anlises, seus procedimentos investigati
vos, suas relaes interdisciplinares etc. No cenrio dessa reviso, deve-se in-
cluir o vasto campo da significao que procura se constituir no mbito das
situaes crticas, campo que configura o processo patolgico. Significao que
o ato clnico freqentemente perde quando limita a histria clnica a um mero
registro de fatos. No importa se fatos biolgicos ou sociais, meros fatos dos
quais se eliminou o sentido que lhes conferido pela narrao do paciente, no
moment o mesmo em que este narra sua situao crtica, impregnada de vnculos
com os processos de reproduo continuada das instituies e da sociedade glo-
bal. Talvez os objetos dos epidemiologistas, ao solapar a reprodutibilidade da
vida diria, estejam mais prximos destes processos que engendram situaes
crticas do que do contedo de casos patolgicos e das suas associaes com
variveis sociais e econmicas. Em outras palavras, talvez tenha chegado a hora
de completar o conceito de ' significao estatstica', que meramente nos infor-
ma que pouco provvel que uma certa associao se deva ou no ao acaso,
lanando mo do conceito de 'significncia narrativa', que nos informa que os
processos de estruturao social contm oposies que produzem conseqn-
cias perversas, associadas significativamente a essas circunstncias particulares
narradas por cada paciente.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA FILHO, . A Clnica e a Epidemiologia. Rio-Salvador: Apce/Abrasco, 1992.
BIDET, J . Teoria de la Modernidad. Buenos Aires: Ed. El cielo por asalto, 1993.
BRUNER, J . Ados de Significado. Madri: Alianza, 1991.
BUCKLEX W La Sociologa y la Teoria Moderna de los Sistemas. Buenos Aires: Amorrortu, 1982.
FOUCAULT, M. Microfsica do Voder. Rio de J aneiro: Graal, 1981.
GIDDENS, A. La Constitution de la Sociedad:. bases para la teoria de la estructuracin. Buenos
Aires: Amorrortu 1995.
HABERMAS, ].Teoria de la Action Comunicativa. Buenos Aires: Taurus, 1990.
IHACKING, I. La Domestication del Azar. Barcelona: Gedisa, 1991.
PIAGET, J . El Estructuralismo. Buenos Aires: Proteo, 1969.
SAMAJ A, J . Epistemologia y Metodologia. Buenos Aires: Eudeba, 1993a.
SAMAJ A, J . La reproduccin social e la relacin entre la salud y Ias condiciones de
vida (elementos tericos y metodolgicos para re-examinar la cuestin de Ias
"relaciones" entre salud y condiciones de vidaj. OPS/OMS, 1993b.
WEBER, M. Historia de la Economia General Cidade do Mxico: Fundo de Cultura
Econmica, 1978.
O SENSO COMUM
A FILOSOFIA NA EPIDEMIOLOGIA*
Douglas L. We e d
Eu no discordaria da idia de que a epidemiologia senso
comum. Obviamente, ela senso comum, e eu gostaria que vrias
disciplinas contivessem algum elemento [desse senso comum].
Enterline
Nas lt i mas duas dcadas, os epi demi ologi st as t m t est emunhado a
uni o de seu mundo da cincia e t ecnologi a com o mundo da filosofia. O
que poderi a ter sido um casament o entre um campo que est amadur ecendo
e outro j plenament e desenvolvi do t ransformou-se, em vez disso, em uma
relao turbulenta. Essa relao caract eri za-se por abr anger t ant os adept os
apai xonados de det er mi nados pont os de vi st as fi losfi cos, quant o crt i -
cos i gual ment e dogmt i cos, l evando a filosofia na epi demi ol ogi a a l em-
brar, s vezes , um fogo cr uzado ent r e di ferent es pos i es i nt elect uai s.
Est a si t uao se compl et a com quei xas de que exi st i ri a um ' cul t o' ou um
* Traduo: Cludia Bastos & Francisco Incio Bastos
' acampament o'
1
de epi demi ologi st as, adept os r gi dos da filosofia de Karl
Popper (Pearce & Crawford-Brown, 1989; Buck, 1989; Renton, 1994). Nes-
te estgio inicial do desenvolvi ment o filosfico na epi demi ologi a, a lealdade
dogmt i ca a (ou contra) qualquer pont o de vista parece, si mult aneament e,
desnecessri a e i mprpri a. Cert ament e, h mui t as perspect i vas filosficas
que mer ecem ser levadas em consi derao. Al m disso, no h idias filos-
ficas que no encont rem o espao necessri o para seu apri morament o.
Uma abor dagem que per mi t a seleci onar e apli car i di as filosficas,
tarefas centrais de uma 'filosofia na epi demi ologi a' , pode ser bast ant e til.
Essa expresso foi t omada de emprst i mo ao desenvolvi ment o da investiga-
o filosfica na medi ci na, que compr eende trs fases cumulat i vas e pro-
gressi vament e mai s complexas: filosofia e medi ci na, filosofia na medi ci na, e
filosofia da medi ci na (Pellegrino, 1986). Anal ogament e, a evoluo dos es-
t udos filosficos aplicados epi demi ologi a envolve filosofia e epi demi olo-
gi a, sendo as duas at i vi dades pr at i cament e i ndependent es e os concei t os
filosficos ut i li zados par a i dent i fi car pr obl emas relat i vos ao pens ament o
epi demi ol gi ca Em segundo lugar, h uma filosofia na epi demi ologi a, na
qual os mesmos problemas so exami nados anali t i cament e de pont os de vi s-
ta filosficos especficos. Fi nalment e, h uma filosofia da epi demi ologi a e
seus produt os, em que tem lugar uma sntese geral de problemas identifica-
dos e exami nados nas duas fases anteriores.
A julgar pelo est gi o at ual da li t er at ur a sobr e est e t ema ( Pear ce &
Cr awf or d- Br own, 1989; Buck, 1989; Rent on, 1994, ent re out r os) , a epi -
demi ol ogi a habi t ual ment e per manece na s egunda fase, i st o , filosofia na
epi demi ol ogi a. Em out ras pal avr as, os epi demi ol ogi st as t m consegui do
ult r apassar a mer a i dent i f i cao de pr obl emas , r ecor r endo ao empr ego de
concei t os filosficos a ser em ut i li zados na anli se daquel es pr obl emas .
Os pr obl emas emer gem em trs das mai s r elevant es reas da filosofia: a
ont ol ogi a, a epi s t emol ogi a e a t i ca ( Weed, 1 988a) . Nes t e t r abal ho, a
nfase r ecai r nos pr obl emas que envol vem a nat ur eza dos par adi gmas
epi demi ol gi cos , a i ncl u das a nat ur eza da caus a e as t eor i as sobr e a
ocor r nci a das doenas e a l gi ca da i nf er nci a causai .
1
Existe a um trocadilho, sutil e intraduzvel, envolvendo categorias de anlise cultural utilizadas
pela ensasta norte-americana Susan Sontag, como kitsch, camp e cult. A idia do autor parece ser a
de adicionar uma pitada de ironia ao fenmeno da adeso de grupos filosofia de Popper conside-
rado como um ' modismo' ( . T.).
O objetivo deste trabalho expor trs princpios do senso comum e
utiliz-los como um guia, com o objetivo de selecionar e aplicar pont os de
vista filosficos especficos. Comument e citadas na literatura epi demi olgi -
ca, as perspect i vas popperi ana e kuhni ana so aqui utilizadas para ilustrar os
dois pri mei ros princpios. Quant o ao terceiro princpio (o ger al), sero utili-
zadas as idias de Aristteles, Watkins e outros filsofos. Mui t as perspecti-
vas filosficas devem ser levadas em consi derao, entre as quais a filosofia
do ' reali smo' , recent ement e discutida no Journal of Epidemiology & Community
Health (Rent on, 1994) e as diferentes teorias e mt odos de biotica cont em-
porneos. Est as perspect i vas foram dei xadas de lado para uma utilizao
futura destes princpios do senso comum.
TRS PRINCPIOS DO SENSO COMUM
PARA A FILOSOFIA NA EPIDEMIOLOGIA
PRIMEIRO PRINCPIO: possvel obter grandes recompensas na tentati-
va de executar tarefas difceis sugeridas pelos filsofos, mes mo que o suces-
so parea i mprovvel.
Um exemplo perfeito deste princpio pode ser identificado na idia de
que a cincia passa por revolues, noo que emerge de forma mui t o viva
do trabalho de Kuhn (1970). O pri mei ro princpio afirma que os proveitos
encont ram-se espera daqueles que tentam revoluci onar a epi demi ologi a.
Embora uma descri o det alhada desses moment os esteja alm da finalida-
de deste trabalho, a histria de qualquer cincia comport a moment os extre-
mament e convulsi onados, quando as idias vi gent es so subst i t u das por
novas. Essas revolues, ou mudanas de paradi gma, result am, basi camen-
te, de uma curiosa combi nao de dois fatores: anomali as cumulat i vas no
paradi gma existente, preci pi t ando uma crise, c apareci ment o de um novo
paradi gma, ainda no sujeito a essas mesmas dificuldades. (Goodman, 1 9 9 3 ) .
Mas o que exat ament e um paradi gma? Kuhn admitiu no existir uma
definio precisa da estrutura das revolues cientficas. Mast er man (1970)
realou este fato, de manei ra convi ncent e, ao menci onar 21 usos diferentes
do termo, todos encont rados na obra mais popular de Kuhn. Algumas con
fuses da decorrent es poderi am ser ameni zadas pela criao de, ao menos,
duas cat egori as: os par adi gmas globai s, neles i nclui ndo t odas os esforos
compart i lhados por uma comuni dade cientfica; e os par adi gmas particula-
res, referidos a um esforo especfico no interior desta mes ma comuni dade.
Exemplos da perspect i va global podem ser encont rados em t rabalhos nos
quai s uma dada di sci pli na cientfica a ci nci a social, a clni ca mdi ca, a
epi demi ologi a, ou a bi ologi a molecular, por exemplo - di scut i da integral-
ment e como par adi gma (Yach,1990; Stein & Jessop, 1988, Susser, 1989).
O paradi gma ' particularista' cont m trs subtipos: modelos, generali -
zaes si mbli cas (isto , leis quantitativas) e exempli fi caes (isto , pro-
blemas relativos a livros-texto, teis par a o ensino dos pri ncpi os e prt i cas
de uma disciplina cientfica madur a) (Kuhn, 1974). Poucos epi demi ologi st as
t m di scut i do modelos tericos ou analticos como paradi gmas particularis
tas. Um bom exemplo desse uso restrito encont ra-se no debat e sobre o en-
saio clnico randomi zado (Hill, 1983; Horwi t z, 1987). Exemplos de paradi g-
mas tericos i ncluem, no passado, o cont gi o e a teoria do mi asma, e, mai s
r ecent ement e, o par adi gma da ' cai xa pret a' da causali dade ambi ent al e o
par adi gma dos modelos bi olgi cos dos mecani smos de doena (Savitz, 1994;
Skrabanek, 1994). Al guns epi demi ologi st as t m sugeri do i nt egrar o paradi g-
ma ambi ent al e o da bi ologi a molecular (Vandenbroucke, 1988). Out ros com-
bi nam os mesmos dois paradi gmas particularistas em um s, o reduci oni smo
cartesiano, rejeitado, por sua vez, em favor de um par adi gma novo, ai nda
mai s amplo, caract eri zado como uma teoria sofisticada da causali dade, ca-
paz de i nt egrar concei t os si st mi cos, i nt er dependnci a de causas, fatores
histricos e interesses sociais (Loomi s & Wi ng, 1990).
As solicitaes para que se defi nam novos par adi gmas apont am, na
verdade, par a uma mudana revolucionria no pensament o epi demi ol gi ca
Os defensores dest a mudana par ecem estar convi ct os, geralment e, de que
ela no apenas necessri a, como t ambm t rar benefcios. Embor a seja
sem dvi da i mport ant e levar em consi derao a necessi dade de mudanas e
refletir sobre as vant agens pot enci ai s das novas i di as, possvel modificar
par adi gmas sem que necessari ament e se rejeite o passado. Um exemplo hi s-
trico ocorri do no final do sculo XI X instrutivo. Naquela ocasi o, os epi-
demi ologi st as passaram a aceitar um novo par adi gma de necessi dade causal
que compet i a com o antigo modelo de mltiplas causas suficientes, mas no
o substitua complet ament e (Kunitz, 1987, 1988).
As vant agens de uma mudana paradi gmt i ca nos modelos tericos
so at raent es e i ncluem o aprofundament o do conheci ment o por mei o de
uma expli cao aperfeioada e a melhor aplicao do conheci ment o obtido.
Em t er mos epi demi olgi cos, uma revoluo, ai nda que ampla no seu esco-
po, deve proporci onar modelos tericos mai s adequados sobre a ocorrnci a
das doenas e mt odos mai s efetivos de preveno e controle de doenas.
mais fcil falar a respeito da mudana do que coloc-la em prtica. Na
epidemiologia cont empornea das doenas crnicas, h relativamente pouco
desenvolvimento terico. Se uma parcela significativa de seus praticantes de-
dicasse uma parcela mai or do seu t empo propondo, testando e criticando teo-
rias gerais da ocorrncia das doenas, talvez pudesse ocorrer uma revoluo.
Estas teorias devem provavelmente ser compost as de uma ampla variedade de
formas ontolgicas e no necessariamente de um amont oado de formas reuni-
das sob o guarda-chuva rasgado da causali dade (Anderson, 1991).
Tambm aqui mui t o mai s fcil falar a respeito da mudana do que
coloc-la em prtica. Os est udos t eri cos em epi demi ologi a no const am
das listas de pri ori dades de muitas agnci as de financiamento. Al m disso,
h relat i vament e poucas li nhas-mest ras que i ndi quem o que de fato consti-
tui progresso terico. A perspect i va kuhni ana no mui t o til neste caso
porque, no seu mbito, as prescri es prticas sobre o que, de fato, significa
progresso no const i t uem um t ema i mport ant e. A filosofia popperi ana, por
sua vez, fornece alguma ori ent ao sobre como avaliar se uma nova teoria
expl anat r i a r epr esent a um avano e m r elao s t eor i as concor r ent es
(Kuhn, 1974b; Popper, 1974; Watkins, 1970; Toulmi n, 1970).
Esta avaliao do progresso terico tem sido codificada em um conjun-
to de critrios, inicialmente descritos por Buck (1975) para a epidemiologia,
ilustrada, no mbito da epidemiologia ocupacional, pela problemt i ca do 'efei-
to do trabalhador saudvel' (Weed, 1985). Mai s recentemente estes critrios
foram utilizados na avaliao de uma nova teoria, construda com base no
component e suficiente do modelo de causalidade e do modelo de ao inde-
pendent e (Koopman & Weed, 1990). Estes padres remet em ao fato de que
uma nova teoria mostra-se superior caso explique e corrija os erros da teoria
preexistente, estabelea predies mai s exatas, passe por testes mai s rigorosos
do que a concorrente, ou, enfim, unifique teorias previamente no relaciona-
das. Os padres, considerados separadamente, so, obviamente, insuficientes
para serem adot ados como uma linha-mestra para o progresso terico.
Uma agenda mai s abrangent e poderi a envolver, pelo menos, quatro
etapas fundamentais. Em primeiro lugar, os modelos tericos existentes seri-
am criticados de modo a evidenciar as suas fragilidades. Em seguida, novos
modelos seriam propost os e depoi s avaliados utilizando os padres descri-
tos. Fi nalment e, a ' revoluo' ocorreria, na medi da em que o novo modelo
consi ga ofuscar e substituir o modelo anterior.
Constitui um exemplo bastante ilustrativo dessa abordagem a proposta
de um tipo de modelo causai discreto para a epidemiologia, o modelo causal
do component e suficiente (Rothman, 1976). Os pontos fortes de modelo so
a simplicidade e a capacidade de delinear trs noes fundamentais: necessi-
dade causal, suficincia causal e multicausalidade. Esta ltima noo pode ser
interpretada tanto em termos de mltiplas causas suficientes quanto de mlti-
plos component es de uma dada causa suficiente. Apesar desses pontos fortes,
desde o inicio o modelo causal dos componentes suficientes foi criticado por
se mostrar falho quanto proposio de conexes entre as causas que o com-
punham (Koopman, 1977). Esta crtica revelou-se importante porque enfati-
zou o fato de as escalas de mensurao de efeitos combi nados, as interaes,
serem dependentes das conexes entre as causas que compem o modelo, ao
passo que o modelo original implicava que todos os efeitos combi nados seri-
am mensurados por i nt ermdi o de uma escala aditiva simples.
Recent ement e, foi propost o um novo modelo de causao em epi de-
mi ologi a, compr eendendo a especificao de quat ro conexes especficas
entre causas component es ao longo dos processos pat ogni cos: complemen-
tar, em separado, i nt er medi r i o e cooperat i vo-compet i t i vo ( Koopman &
Weed, 1990). O modelo t ambm une estas conexes a formulaes estatsti-
cas similares quelas utilizadas no modelo de ao independente (Weinberg,
1986). Com base neste novo modelo, denomi nado teoria da epi gnese, fo-
ram deduzi das diversas escalas de mensurao de efeitos combi nados, cor-
r es pondendo, cada uma delas, a uma r elao espec fi ca pr opost a ent re
component es causais. A teoria da epi gnese pode significar progresso teri-
co, j que estabelece predi es mais precisas e detalha um nmer o mai or de
observaes do que a teoria anterior. Embora o aument o da predi bi li dade e
da capaci dade explanat ri a possa se most rar uma r ecompensa suficiente,
outras conseqnci as t ambm decorrem dessa mudana terica. A teoria da
epi gnese no apenas traz aperfei oament os ao modelo causal dos compo-
nentes suficientes, como t ambm estabelece uma ponte sobre o hiato exis
tente entre os modelos causai s det ermi nst i cos e os modelos probabi lst i cos
ut i li zados nas anli ses epi demi olgi cas cotidianas. S o futuro dir se, de
fato, este novo modelo representa uma revoluo.
SEGUNDO PRINCPIO: h um preo a ser pago por se exigir de uma esco-
la de pensament o filosfico mai s do que ela pode oferecer.
Esse pri ncpi o significa, utilizando-se a li nguagem si mples do senso
comum, que no convm ser por demai s ambicioso. Consi deremos, por exem-
plo, que se paga um preo por se esperar em demasi a dos pont os de vista
populares e, para alguns, marcant es de Kuhn. Conf or me apresent ado
ant eri orment e, sua formulao constitui uma tese histrica, mai s descritiva
do que prescritiva, na qual a cincia adequadament e descrita medi ant e a
noo de paradi gma, como atividades nor mal ment e aceitas, i nt errompi das
pelas sublevaes muito ocasi onai s do progresso revolucionrio. As formu-
laes de Kuhn so to aceitveis e confortveis que, se al gum depende
excessi vament e delas, podem ocorrer trs efeitos adversos.
O pri mei ro destes efeitos que a epi demi ologi a pode compreender a
si prpri a como um paradi gma global e operar nor malment e sem desenvol-
ve r t eor i as pa s s ve i s de t es t e ( Ma s t e r ma n, 1 970; Fe ye r a be nd, 1 970;
Wat ki ns, 1975). Este peri go part i cularment e agudo para os cientistas en-
volvi dos no que Feyerabend (1970) denomi na cincia nor mal, ' no-heri ca'
e mesmo tediosa, pois eles desconhecem a crtica dirigida aos seus concei t os
e mt odos. Para aqueles compromet i dos com a filosofia de Kuhn, funda-
ment al compreender que um dos peri gos a que esto expost os os pesqui sa-
dores o de desenvolver teorias to amplas que as t ornem ' i nt est vei s' , no
soment e irrefutveis, mas t ambm no verificveis.
O segundo efeito, relaci onado ao primeiro, diz respeito possi bi li dade
das revolues cientficas em epi demi ologi a serem cont empladas seri amen-
te como uma met a prtica, realizvel pela parcela dos seus prat i cant es que
opt ou por uma ori ent ao kuhni ana ou deslizou, passi vament e, para ela. Por
ser rara e anmala, uma revoluo no pensament o epi demi olgi co revela-se
uma met a pouco razovel, embor a essencial no longo prazo. O pr oblema vai
alm de uma perda de mot i vao, uma vez que no se di spe de um mt odo
que subsidie esta revoluo. De acordo com Kuhn (1970), as revolues ou
mudanas de paradi gmas no so tributrias dos mt odos propost os, da lgi-
ca ou de provas. Elas ocorreri am de uma forma abrupt a ou ent o inexisti
ri am, como algumas experincias de converso religiosa (Watkins, 1970).
O terceiro efeito, decorrent e de uma dependnci a excessi va dos pon-
tos de vi st a de Kuhn, que a i nvest i gao filosfica pode ser post a de lado
ou i gnorada. De modo a esclarecer de que modo essa afi rmao est ranha
pode ser verdadei ra, suponhamos que um filsofo na epi demi ologi a escolha
como seu objeto a anlise da prtica epi demi olgi ca de um pont o de vi st a
kuhni ano. Ele ou ela no prescrever prticas futuras, mas ant es descrever
o que os epi demi ologi st as esto fazendo hoje e em que consistia sua prtica
no passado (Schlesi nger, 1988). Quando confront ado com uma descri o
histrica de sua ocupao de t odo o dia, o prat i cant e da disciplina poder i a
f aci lment e conclui r que essa espci e de i nvest i gao fi losfi ca , no me-
l hor dos casos, excessi va e, na per spect i va menos favorvel, i r r el evant e.
Est a at i t ude de ' quem li ga par a i sso?! ' foi expr essa de manei r a i ngnua
em um t r abal ho r ecent e, que coment ava o papel das fi losofi as descr i t i -
vas na i nf er nci a epi demi ol gi ca (Petitti, 1988).
Out ro exemplo do segundo pri ncpi o pr ovm de uma dependnci a
dogmt i ca da filosofia popper i ana (Popper, 1968; 1965; Macl ur e, 1988) .
Quando algum se most ra excessi vament e dependent e da tese de Popper
sobre o progresso do conheci ment o por mei o de conjecturas e refutaes,
conf or me t est emunha a i ncli nao de alguns filsofos atuais na epi demi olo-
gia, h um preo a pagar. este preo, para o prat i cant e da epi demi ologi a,
pode represent ar uma ' uni lat erali zao' particular do pont o de vista: os re-
sultados negat i vos (refutaes) sero salientados de tal modo que a i mpor-
tncia dos resultados posi t i vos (corroboraes), no sentido de i mpulsi onar a
ao da sade pbli ca, passa a ser negli genci ada. Est e pont o fundament al
ser anali sado com mai or detalhe em um moment o post eri or deste trabalho.
Out ra deficincia da filosofia popperi ana no abordar de manei r a
adequada o cont edo das t eori as (Bronowski , 1974). Se ver dade que a
filosofia popperi ana demarca cui dadosament e os li mi t es entre ci nci a e pseu
doci nci a e, com este propsito, procede anlise dos requisitos met odol-
gi cos necessri os t est agem de uma teoria, per manece, cont udo, relativa-
ment e silenciosa sobre os usos da teoria para alm da expli cao cientfica.
Em resumo, a filosofia de Popper essenci alment e met odolgi ca, t endo mui t o
pouco a di zer a respeito das distines ont olgi cas entre as teorias da cincia
e a tecnologia, por exemplo, (Renton, 1994; Agassi , 1979; Bunge, 1974). Por
consegui nt e, o epi demi ologi st a que se torna i deologi cament e compr omet i do
com este pont o de vista pode encontrar nele uma abor dagem relat i vament e
til para i nvest i gar a melhor expli cao bi olgi ca da ocorrnci a da doena,
mas pode t ambm se deparar com um vazi o ao utiliz-la na busca de outras
met as da pesqui sa epi demi olgi ca, como, por exemplo, o apr i mor ament o da
sade humana (Gordi s, 1988).
Fi nalment e, o fato de a filosofia popperi ana ser o bode expi at ri o fa-
vori t o na literatura epi demi olgi ca atual pode ser expli cado por que os crti-
cos esperavam que ela vi esse a ter mai s apli caes epi demi ologi a (Susser,
1989). No obst ant e, difcil deixar de reconhecer que o trabalho de Popper
nos proporci ona alguns concei t os e estratgias teis. Aqueles que criticam o
t rabalho de Kuhn chegar am a uma concluso semelhant e (Popper, 1974;
Wat ki ns, 1970; Toulmin, 1970; Feyerabend, 1970). Dest e modo, parece que
os epi demi ologi st as necessi t am pri mei ro escolher um cami nho, para em se-
gui da equilibrar o pot enci al da filosofia em proporci onar vant agens, discuti-
do no pri mei ro princpio, com o seu potencial em causar prejuzos, discutido
no segundo princpio. com esta finalidade que o princpio geral proposto.
PRINCPIO GERAL: para que possamos escolher e i mplement ar as idi-
as dos filsofos necessri o bem mai s do que est expost o no pri mei ro e no
segundo princpios.
Est e princpio parece expressar perfeitamente o senso comum: os pri-
mei ros dois pri ncpi os no const i t uem um gui a suficiente par a a filosofia na
epi demi ologi a. Cert ament e h algo mai s do que r ecompensar os achados
extraordinrios e ' puni r' a gannci a. Al m disso, os filsofos na epi demi olo-
gi a consi deraro a seleo e a aplicao de qualquer filosofia em particular
como algo pot enci alment e til e criticvel. Assi m, os component es iniciais
deste pri ncpi o geral podem ser interpretados como uma verso menos ex-
t remada dos dois pri mei ros princpios. O pri mei ro component e, tributrio
do pri mei ro princpio, a utilidade: a filosofia deve ser til par a a prtica do
epi demi ologi st a. Cert ament e, isto pode nos colocar s volt as com tarefas
difceis, tais como revolues e si mi lares, mas i gualment e pode fornecer ex-
pli caes e insights teis s nossas pr eocupaes cientficas cot i di anas. O
segundo component e, em part e tributrio do segundo princpio, o da crti-
ca (Weed & Trock, 1986; Skrabanek, 1980). Chave do pri ncpi o geral, ele
t ambm nos auxilia na locali zao de erros e, assi m, moder a a t ent ao de
agi r de forma dogmt i ca no mbi t o de qualquer escola do pensament o cien
tfico. Uma boa dose desse component e deveria ser prescrita, junt ament e
com a autocrtica (Weed, 1988b), a t odo filsofo novato na epi demi ologi a.
Exemplificaremos, a seguir, o princpio geral. O primeiro exemplo exami-
na a utilidade e as crticas dirigidas causalidade aristotlica e o segundo aborda
a aplicao das doutrinas de um universo mal-assombrado ( haunt ed universe) de
Watkin aos paradigmas causais em epidemiologia. O terceiro exemplo apresenta
a abordagem popperiana quanto ao progresso na soluo de problemas, enfo-
cando o problema da importncia relativa de refutaes e verificaes.
CAUSALIDADE ARISTOTLICA (EXEMPLO 1)
A cont ri bui o de Aristteles ao t ema da causali dade est cont i da em
sua conheci da classificao quaternria: causa mat eri al a coisa a ser modi -
ficada; causa formal o sentido em que ela modificada; causa eficiente o
que t ransforma a causa material em causa formal; e causa final o propsi t o
ou a razo da mudana.
Estas causali dades podem ser traduzidas em t er mos familiares ao epi
demi ologi st a: a causa mat eri al um i ndi v duo em um mome nt o ant er i or
expos i o; a causa f or mal um i ndi v duo depoi s da exposi o, ou, em
t er mos do model o causal de Rubi n ( Hol l and, 1986) , a r espost a obser va-
da a uma det er mi nada exposi o i ndi vi dual ; a causa efi ci ent e a pr pr i a
expos i o; e a causa final a r azo pel a qual o i ndi v duo expost o por
out r o que no aquele i ndi v duo (em um ensai o cl ni co r andomi zado, por
exempl o) , pela escol ha i ndi vi dual ( opt ando por fumar ci gar r os, por exem-
pl o) , ou devi do a al gum out r o pr ocesso ( exposi o r adi ao por pr opr i e-
t ri os de i mvei s pr xi mos ao local de exposi o , ou mi nei r os expos -
t os a depsi t os nat urai s do gs r adni o, por exempl o) .
A causali dade ari st ot li ca til epi demi ologi a? Apesar de se mos -
trar de acor do com alguns de nossos precei t os fundament ai s, sua apli cabi -
li dade li mi t ada. St ehbens (1985) observa que a manut eno da di st i no
ent re as noes ari st ot li cas de causa mat eri al e causa efi ci ent e const i t ui
um exerc ci o satisfatrio do senso comum, mui t o embor a ambas possam
ser necessr i as s mudanas causai s. Acr edi t ar em concepes opost as
i mpli ca a acei t ao do que St ehbens consi dera uma ar gument ao absur
da: que a exi st nci a de um i ndi vduo (isto , a causa mat eri al) provoca as
doenas vi venci adas por ele.
Par a alm da crtica de que soment e a causa eficiente ari st ot li ca
relevant e par a as di scusses sobre a concepo moder na de causali dade
(Taylor, 1967) , encont ra-se a pr eocupao de que sua classi fi cao possa
' repri mi r' os desenvolvi ment os post eri ores da i nvest i gao causal (Lakat os,
1970). Em outras palavras, mui t as situaes no mbi t o da pesqui sa epi de-
mi olgi ca envolvem subtipos de causas eficientes. Os exemplos i ncluem um
component e de causa suficiente, alm de out ros menci onados ant eri ormen-
te com relao ao desenvolvi ment o da teoria causal em epi demi ologi a. Se
no h dvi da de que as quatro causas aristotlicas so i mport ant es para a
epi demi ologi a, elas, cont udo, no t m sido consi deradas como tais. A susce
tibilidade gent i ca, por exemplo, faz part e de nossa concepo habitual de
causa material. As populaes expost as a situaes de alto risco ' compem-
se' de causas formai s. Fi nalment e, mui t os epi demi ologi st as encont ram-se
envolvi dos em discordncias sobre quem responsvel pelas causas finais.
Em suma, a causali dade aristotlica, embor a fundament al, revela-se
i ncomplet a, por aludir de forma apenas i ndi ret a complexi dade dos siste-
mas bi olgi cos, a i ncluda a idia de que os fatores causai s podem ser parte
de um modelo subjacent e de mecani ci smo bi olgi co. O exemplo a segui r
ilustra algumas propri edades filosficas de dout ri nas que esto subjacentes
busca, por parte da epi demi ologi a, de uma abor dagem mai s unificada quant o
et i ologi a.
As DOUTRINAS DE WATKINS SOBRE
UM UNIVERSO MAL-ASSOMBRADO (EXEMPLO 2)
Em recent e debat e, solicitou-se aos epi demi ologi st as que consi deras-
sem as razes histricas de trs abordagens relativas etiologia do cncer,
descritas ant eri orment e neste trabalho como exemplos de par adi gmas parti
cularistas: o par adi gma da ' cai xa pret a' de causao ambi ent al, o par adi gma
baseado em mecani smos bi olgi cos e um terceiro combi nando os doi s ante-
ri ores (Vandenbroucke, 1988; Loomi s & Wi ng, 1990) . Nest e mbi t o, so
di scut i das as propri edades lgi cas das dout ri nas metafsicas subjacent es a
estes paradi gmas. Tendo em ment e o princpio geral proposto, algumas des-
tas propri edades se revelam como pont os frgeis, ao passo que out ras se
most ram i nt ei rament e teis.
Consi der emos as seguintes afi rmaes: "t odos os cnceres t m cau-
sas", "t odos os cnceres t m mecani smos bi olgi cos", ou a formulao inte
gradora "t odos os cnceres t m causas embut i das em mecani smos bi olgi -
cos". Cada uma destas dout ri nas est i nt i mament e associ ada aos paradi gmas
menci onados; operando, cada uma delas, em um nvel exat ament e subjacen-
t e s uper f ci e do pr e c e de nt e hi s t r i co. Por e xe mpl o, a a l e ga o de
Vandenbr oucke (1988) de que o par adi gma da ' cai xa pr et a' de causao
ambi ent al aceito pela comuni dade de pesqui sadores epi demi olgi cos pode
ser expost o de forma diferente: no interior da comuni dade de pesqui sadores
epi demi olgi cos h aqueles que acredi t am na doutrina segundo a qual "t o-
dos os cnceres t m causas ambi ent ai s". O desenho e a i nt erpret ao de
est udos elabor ados sob esta dout ri na dedi cam pouca at eno aos meca-
ni smos bi olgi cos. De forma similar, o paradi gma mecani ci st a reflete um
amplo compr omi sso para com a dout ri na de que "t odos os cnceres t m
mecani smos bi olgi cos subjacent es".
As propri edades lgi cas dessas dout ri nas podem ser i lust radas com o
exemplo "t odos os cnceres possuem causas". Apesar dos esforos de epi de-
mi ologi st as que est udam o cncer h vri as dcadas, conhece-se hoje um
nmer o relat i vament e pequeno de causas definidas dest a doena. Isto nos
leva a dizer que s se pode est abelecer a existncia velada desses cnceres.
Em outras palavras, a doutrina original t em sido i nconclusi vament e confir-
mada. De fato, h mui t o pouca esperana de algum dia confi rm-la de modo
conclusivo, para alm daqui lo que nos proporci onado por um pri ncpi o
i ndut i vo indefensvel. o que mai s i mport ant e, a dout ri na t ambm irre-
futvel. Ela no per mi t e o teste empri co. O fato de que no se t enham
descobert o as causas de mui t os cnceres no prove uma base lgi ca para a
rejeio dest a hiptese.
Essas dout ri nas no podem servir como exemplos de teorias cientfi-
cas porque no so passvei s de falsificao. Uma vez que so i gualment e
inverificveis, alcanam a quali dade de formulaes met afsi cas, pr xi mas
ao concei t o de Lakat os (1970) de um ncleo ' duro' de post ulados funda-
ment ai s em um programa de pesqui sas, ou aos pressupost os ont olgi cos de
Col l i ngwood (1969). No sendo verdadei rament e empricas nem sintticas,
elas operam numa terra de ningum entre estes dois extremos. Watkins (1957;
1958), num ' surto' de licena analgica, denomina-as de "doutrinas de um uni-
verso mal-assombrado", porque compartilham traos lgicos com as alegaes
de que uma casa mal-assombrada. Nenhuma evi dnci a conclusi va forne-
ci da, em qualquer moment o, em relao ao fantasma no sto da vov, e
nenhuma observao concebvel pode servir como uma refutao decisiva.
No obst ant e, o fato de que as dout ri nas de um uni ver so mal - assom-
br ado possam servir de base e ser to est rei t ament e ali nhadas a paradi g-
mas epi demi olgi cos corrent es i ndi ca que elas t m uma gr ande i nflunci a
sobre a prt i ca epi demi olgi ca. Ser vem como pr escr i es met odol gi cas
gerai s, cont r i bui ndo para a det er mi nao dos pr obl emas ci ent fi cos, met o-
dologi as de pesqui sa e i nt erpret aes de result ados par a os prat i cant es da
di sci pli na (Agassi , 1964) .
MODELO POPPERIANO RELATIVO AO PROGRESSO
NA RESOLUO DE PROBLEMAS (EXEMPLO 3)
Um terceiro exemplo do pri ncpi o geral i nt roduz um mt odo sugerido
por Popper (1979), possi velment e til como um gui a de progresso em pro-
blemas met odolgi cos de base filosfica. O mt odo no foi descrito origi-
nalment e par a ser usado por epi demi ologi st as e poderi a, obvi ament e, ser
exami nado de forma mai s complet a. Em resumo, pri mei ro, prope-se um
problema. A seguir, so sugeridas solues hipotticas. Est as solues so
ent o criticadas de modo a que os erros possam ser descobert os. Fi nalment e,
um novo problema proposto, no mbi t o do qual, se h progresso efetivo,
so corri gi dos os erros i nt rnsecos e esclarecidas as solues propost as para
o pr oblema anterior. Obt er progresso medi ant e a utilizao dest e mt odo de
soluo de pr oblemas requer que se resolva um pr oblema por mei o da solu-
o de um out ro problema, mai s fundamental, que i ncorpora e corrige as
solues propost as para o anterior.
APLICAO DO MTODO
O PROBLEMA
Consi deremos o pr oblema da i mport nci a relativa de resultados nega-
tivos (refutaes) e resultados posi t i vos (verificaes) em uma situao na
qual uma hi pt ese epi demi olgi ca testada contra observaes. A refutao
de uma hi pt ese ocorre quando predi es razoavelment e preci sas fracassam
na obt eno de observaes razoavelment e preci sas que lhes sejam equi va-
lentes. A verificao de uma hi pt ese epi demi olgi ca, por outro lado, ocorre
quando predi es razoavelment e preci sas se i gualam a observaes razoa-
velment e preci sas. O que mai s i mport ant e, a refutao ou a verificao de
uma hi pt ese epi demi olgi ca?
SOLUO DEDUTTVISTA
A refut ao mai s i mpor t ant e, por que nossa met a expli car fen-
menos obs er vvei s . A mel hor est r at gi a nesse sent i do expor nos s as
hi pt eses expl i cat i vas desses f enmenos aos t est es mai s sever os que pu-
de r mos reuni r. Nest as ci r cunst nci as, poder emos apr ender com base nas
r ef ut aes, i st o , com base nos nossos erros de pr edi o. Est as falhas
so o que mai s i nt er essa aos ci ent i st as ( Feynman, 1985) . I mpel i dos pela
bus ca da ver dade, s er emos encor aj ados a t ent ar nova me nt e e m nos s a
bus ca de mel hor es expl i caes.
SOLUO INDUTTVISTA
A verificao o mai s i mport ant e, por duas razes: pri mei rament e,
porque os cientistas esto mai s i nt eressados em estabelecer expli caes de
cart er genr i co do que jog-las fora, e melhor const ru-las valendo-se de
hi pt eses que t i veram suas predi es verificadas por mei o de observaes.
A segunda razo no sentido de preservar a i mport nci a da verificao de
que cada pes s oa or i ent ada par a a pr t i ca sabe que, habi t ual ment e, agi -
mos no cot i di ano baseados nas r egul ar i dades as s umi das , ver i f i cadas pe-
las nossas aes.
AVALIAO DE ERROS
As crticas que podem ser endereadas a cada uma dest as solues
i ncluem os erros di scri mi nados a seguir.
O erro na pri mei ra soluo hipottica, di ret ament e deri vada de uma
filosofia dedutivista, que ela parece falhar na avaliao do mundo das ocor-
rncias prticas dirias. difcil imaginar um mundo em que se procuram ati-
vament e exemplos negativos por i nt ermdi o de testes precisos de nossas hip-
teses e no qual, ao mesmo tempo, i gnoramos os sucessos de nossas predies.
O erro na segunda soluo hipottica, deri vada de uma filosofia i ndu
tivista, que esta falha em levar em consi derao os erros ocasi onai s, e,
algumas vezes, at mesmo as falhas espet aculares da cincia. Ela t ambm
negli genci a os problemas mai s comuns no mbi t o da predi o que inferni
zam o dia-a-dia da pesqui sa epi demi olgi ca. difcil i magi nar um mundo
em que prest emos at eno soment e a i nst nci as confirmatrias e i gnor emos
nossas falhas, por mai s triviais que sejam.
Apesar da possvel existncia de outros erros subjacentes a cada uma
destas solues, aqueles listados anteriormente so decorrentes de omisses.
Como, ento, extrair vantagens dos component es livres de erro destas solu-
es, corrigindo, simultaneamente, os erros decorrentes da omi sso? Os su-
cessos dependem de nossa habilidade em propor um novo problema e uma
nova soluo, que tanto expli quem como corrijam as tentativas anteriores.
UM NOVO PROBLEMA: QUAIS SO
AS OBRIGAES DOS EPIDEMIOLOGISTAS?
UMA SOLUO
A pri mei ra delas buscar o conheci ment o (uma met a da ci nci a); ou-
tro aplic-lo de modo beneficente (uma met a de uma t ecnologi a da sade)
(Weed, 1994) . Se as met as da epi demi ologi a so t ant o cientficas quant o
t ecnolgi cas, ent o os epi demi ologi st as devem procurar est abelecer hipte-
ses mai s uni versai s para as doenas medi ant e o seu desenvolvi ment o e a
tentativa de refut-las, ao mesmo t empo em que t ambm lanam mo da-
quelas hipteses que foram verificadas e as utilizam para apri morar a sade
da populao. Nest e sentido, a meta da cincia melhor expli cao e a
meta da tecnologia melhor apli cao so si mult aneament e alcanadas
(Agassi , 1980).
A soluo para o segundo problema corrige e explica as solues rela-
tivas ao pri mei ro problema. Enquant o as met as de inferncia cientfica so
quase i nt ei rament e preenchidas pela refutao, as deci ses dos t ecnlogos
no sentido da ao exi gem verificao. Requerem, mai s preci sament e, verifi-
cao de uma hi pt ese til no cont ext o das refutaes de hi pt eses alterna-
tivas. Em suma, a cincia requer refutao; a t ecnologi a requer verificao.
Dessa manei ra, tem se obtido algum progresso no que tange i mport nci a
complement ar dos resultados positivos e negativos.
'CRTICA' UTILIDADE
Uma das dificuldades encontradas na utilizao do mt odo de soluo
de problemas popperi ano que ele parece promover o pensament o em uma
nica di reo: de um problema para outro problema, ' mai s fundamental' .
Por outro lado, encoraja o pensament o inovador, o raciocnio dedutivo e o
pensament o crtico, trs formas de raci ocni os fundamentais na epi demi olo-
gia (Graham, 1988; Fraser, 1987).
CONCLUSO
Este trabalho exami nou alguns princpios, no intuito de selecionar e
aplicar a filosofia epi demi ologi a. As idias filosficas se revelaram tanto
teis quant o passvei s de crtica. Di versas quest es per manecem sem res-
posta: quant as crticas sero necessrias para que possamos i ncorporar uma
idia filosfica aparent ement e til? Exi st em diferentes graus de crticas e
nveis de utilidade? Estas quest es sugerem a necessi dade de respost as que,
provavelment e, podem ser fornecidas mai s adequadament e como compo-
nent es adicionais do princpio geral, ou como novos pri ncpi os especficos
similares ao pri mei ro e ao segundo princpios. Cada esforo um passo adi-
ante r umo a uma filosofia da epidemiologia, passo mai or do que este traba-
lho permi t e dar. Doi s tpicos per manecem: a autocrtica e, i ndo mai s adian-
te, a defesa da argument ao de que os pri ncpi os so, de fato, pri ncpi os do
senso comum.
Uma crtica mai s ampla que pode ser dirigida a este t rabalho de que
ele no realment e necessri o para que os epi demi ologi st as possam levar
em cont a uma vi so filosfica explcita quando da proposi o de novos pro-
blemas e solues para aqueles pr oblemas, no moment o da di scusso de
concei t os e mt odos est abeleci dos, ou no exercci o da epi demi ologi a do dia-
a-dia. Por out ro lado, fundamentos filosficos implcitos por exemplo, no-
es ont olgi cas subjacentes podem influenciar os debat es met odolgi cos
e as perspect i vas sobre concei t os tradicionais como sade e doena (Nijhuis
& Van der Maesen, 1994) . Fazendo coro a out ros aut ores (Susser, 1989;
Schlesi nger, 1988; Pettiti, 1988; Murphy, 1989), concor damos que respon-
sabilidade daqueles que i nvest i gam a fundo este assunt o demonst rar a i m-
port nci a da filosofia. Um cami nho nest e sentido exami nar em que medi da
a reflexo filosfica modi fi ca a prtica. Por exemplo, identificar o ensai o
clnico r andomi zado como um paradi gma met odolgi co algo que poderi a
ser utilizado no sentido de efetuar a mudana nos praticantes da epi demi olo-
gi a cujos est udos no se adequam aos padres exatos dos melhores testes
randomi zados. A mudana, no entanto, pode estabelecer uma i nt erpret ao
demasi adament e estreita da utilidade da filosofia. Existe algo a ser dito quant o
utilidade terica ou conceituai. Os exemplos de Aristteles e Wat ki ns de-
monst r am que a filosofia t ambm til quando proporci ona uma expli cao
mai s adequada para prticas j existentes. A filosofia; ao lado de outras di s-
ciplinas human st i cas, oferece, i gualment e, mui t as outras vant agens, inclu-
i ndo a perspect i va de flexibilidade, criatividade, pensament o crtico e outras
habi li dades e atitudes cognitivas relevant es (Weed, 1995. )
Podem ser dirigidas crticas aos trs princpios em si mesmos. Talvez
estejam errados e devam ser descartados. Apesar de haver um amplo espao
no mbito do princpio geral para component es adicionais, eles so inquestio-
navelment e i ncomplet os. Fi nalment e, parece ser razovel pergunt ar se eles
const i t uem, de fato, princpios do senso comum. No campo da epi demi olo
gia, a expresso ' senso comum' bast ant e popular e encerra um peso retri-
co consi dervel (Susser, 1986; St ehbens, 1985; Murphy, 1989; Evans, 1976;
Feinstein, 1988). Entretanto, ao se consult ar o dicionrio ( Col l ege Dictionary),
l-se que o t er mo significa "sli do j ulgament o prtico, que i ndepende de
conheci ment o especi ali zado ou t rei nament o". Dada esta definio, os trs
pri ncpi os para a filosofia na epi demi ologi a s se revelam exemplos de senso
comum se emer gem de algumas atividades ou experi nci as que represent am
conheci ment o no especi ali zado, isto , conheci ment o cujo aqui si o prece-
de o t rei nament o epi demi olgi co formal.
Poucas atividades obedecem a essas exi gnci as. Um livro-texto recen-
te de epi demi ologi a (Rot hman, 1986) sugere que pode ser fecundo nos vol-
t ar mos para as experincias de infncia. Consi deremos, ento, por exemplo,
a obr a de cont adores de histrias como os I r mos Gr i mm (Campbell, 1990).
Cer t ament e suas narrativas no so especi ali zadas. Al m disso, a mai ori a de
ns escut ou esses cont os clssi cos ant es de nossa escolari zao. Embor a
alguns deles sejam peculiares a determinadas culturas, uma de suas caractersti-
cas transculturais tpicas consiste na habilidade em descrever, de forma diverti-
da, temas teis tomada de decises (Mathers & Hodgkin, 1989). Chesterton
(1957), ensasta ingls, formulou essa idia de maneira brilhante: "O reino das
fadas no outra coisa que o pas ensolarado do senso comum".
Com base nesse argument o, os trs princpios para a filosofia na epide-
mi ologi a propost os no present e trabalho const i t uem genu no senso comum.
Eles so fundament alment e semelhant es aos t emas encont r ados em uma
histria bast ant e familiar. Trata-se do cont o "Rumpelst i lt ski n" dos I r mos
Gr i mm, cuja sntese e coment ri os const am do apndi ce.
APNDICE
Para alguns, o cont o "Rumpelst i lt ski n" deve ser to familiar que no
necessri o repeti-lo. Mas para outros, especi alment e para aqueles que nunca
escut aram o cont o ou esqueceram as suas peripcias e personagens, a si nop-
se a seguir ser til.
Um molei ro, que queria obter a prot eo do rei, vanglori ava-se de que
sua filha poderia, ao tecer a palha, transform-la em ouro. O rei, que queria
uma esposa t ant o quant o o ouro para sustent-la, aceitou a oferta do molei ro
e ofereceu donzela a coroa, caso ela realizasse a faanha.
A donzela, par a sua enor me surpresa (e de todas as outras pessoas),
fiou trs aposent os chei os de fios de ouro, mas s consegui u realizar esse
feito depois que obteve, secret ament e, dons mgi cos de um ano. Se pelos
doi s pri mei ros aposent os chei os de fios de ouro, a moa pagou ao ano com
ninharias, o terceiro aposento, exi gnci a adicional do rei, foi pago medi ant e
a promessa de ent regar ao ano seu pri mei ro filho.
Al gum t empo mai s tarde, o ano ret ornou para receber seu pagament o
final. Compreensi velment e, a donzela, j ent o rainha, most rou-se profun-
dament e pert urbada. Impressi onado com seu desespero, o ano ofereceu
rai nha uma segunda chance. Se ela adi vi nhasse o seu nome, o ano permi t i -
ria que ela conservasse a criana.
A rai nha, que agora tinha condi es para empr eender uma investiga-
o de grandes propores, teve xito na descobert a do nome daquele que a
ext orqui a Rumpelst i lt ski n e salvou o seu filho. O ano, por sua vez, foi
direto para o inferno aps partir-se ao mei o com suas prpri as mos.
Trs aforismos emer gem desta histria.
Pri mei ro, a realizao de um feito, especi alment e naquelas situaes
em que o resultado excede todas as expect at i vas ordi nri as, acarret a grandes
recompensas. Por exemplo, a filha do molei ro t omou a si, e com sucesso, a
tarefa aparent ement e i mpossvel de fiar ouro a partir da palha, ganhando o
t rono como recompensa.
Segundo, terrvel o preo a ser pago pela gannci a. Como Rumpels-
tiltskin vem a descobrir, uma criana significava um pagament o demasi ado
elevado pela sua mgi ca.
Por ltimo, o aforismo geral: a vi da no simples o suficiente par a que
possa ser resumi da a apenas duas t onali dades: branco (primeiro afori smo) e
pret o (segundo aforismo). Ela reveste-se, habi t ualment e, de alguns tons de
cinza, resultantes da combi nao dos dois pri mei ros afori smos, alm de uma
dezena de outros. Um exemplo claro do afori smo geral, ent endi do como uma
combi nao dos dois pri mei ros, pode ser encont rado no per sonagem do rei.
Ele cert ament e no era to t erri velment e solitrio a pont o de preci sar lanar
mo de uma estratgia to i mprovvel para obt er uma esposa, mas, ao final,
foi gener osament e recompensado. Di ant e do expost o, t ent ador i nvocar
apenas o pri mei ro aforismo a recompensa para uma reali zao i mprevi st a,
se no fosse pela gannci a do monarca. Foi a sua cobi a insacivel que i mpe-
diu que o desafio fosse i nt errompi do depoi s que o pri mei ro (ou o segundo)
aposent o j est avam cheios de fios de ouro. Mas ser que o rei pagou pela
sua gannci a, como prescrito pelo segundo afori smo? A leitura de duas ava-
liaes distintas de "Rumpelst i lt ski n" no dei xa isso claro. Faz sentido pen-
sar que a rai nha t enha cobr ado o seu preo. Talvez o rei no t enha prest ado
mui t a at eno a isso.
O autor expressa seus agradecimentos a Naomar Almeida Filho,
Phillip Davis, Alfred Evans, William Mayer, Jorn Olsen,
Diana Pettiti, Dimitrios Trichopoulos, Bruce Trock e
J . P. Vandenbroucke pelos comentrios proveitosos sobre
uma verso inicial deste trabalho.
REFERNCIAS BIBILOGRFICAS
AGASSI, J. The nature of scientific problems and their roots in metaphysics. In:
BUNGE, M. A.(Ed.) The Critical Approach to Science and Philosophy. London: Free
Press, 1964.
AGASSI, J. Between science and technology in the standard philosophies of science.
In: COHEN, R. S. & WARTOFSKY, M.W. (Ed.) Science in Flux: Boston studies in the
Philosophy of Science. Dordrecht: D. Reidel, 1975.
AGASSI, J. Between science and technology. Philosophy & Science, 7:82-99, 1980.
ALES, K. L. & CHARLSON, . E. In search of the true inception cohort. Journal of
Chronic Dise ase s, 40: 881- 885, 1987.
ANDERSON, D. R. Umbrellas and lions. Journal of Clinical Epide miology, 44: 335-
337, 1991.
BOLLET, A. J. On seeking the cause of disease. ClinicalRe se arch, 12: 305-310, 1964.
BRONOWSKI, J . Humanism and the growth of knowledge. In: SCHILPP, P. A. (Ed.)
The Philosophy of Karl Poppe r. Library of Living Philosophers. LaSalle, Illinois: Open
Court, 1974. v. XIV, book II.
BUCK, C. Problems with the Popperian approach: a response to Pearce and
Crawford-Brown. Journal of Clinical Epide miology, 42:185-187', 1989.
BUNGE, M. Towards a philosophy of technology. In: MICHALOS, A. C. (Ed.)
Philosophical Proble ms of Scie nce and Te chnology. Boston: Allyn and Bacon, 1974.
CAMPBELL, J. The Flight of the Wild Gande r. New York: Harper, 1990.
CHESTERTON, G. K. The logic of elfland. In: GARDNER, M. (Ed.) Gre at Essays
in Scie nce . New York: Pocket, 1957.
COLLEGE DICTIONARY New York: Random House, 1980.
COLLINGWOOD, R. G. An Essay on Me taphysics. Oxford: Clarendon, 1969.
ENTERLINE, P. E. Epidemiology: 'nothing more than common sense?' Occupational
He alth Safe ty, 48:45-48, 1979.
EVANS, A. S. Causation and disease: the Henle-Koch postulates revisited Yale Journal
of Biological Me dicine , 49:175-195, 1976.
FEINSTEIN, A. R. Scientific standards in epidemiologic studies of the menace of
daily life. Scie nce , 242:1257-1263, 1988.
FEYERABEND, P. K. Consolations for the specialist. In: LAKATOS, I. &
MUSGRAVE, A. (Ed.) Criticism and the Growth of Knowle dge . Cambridge: University
Press, 1970.
FEYNMAN, R. P. QED: the Strange The ory of Light and Matte r. Princeton: University
Press, 1985.
FRASER, D. W. Epidemiology as a liberal art. Ne w England Journal of Me dicine , 316:
309-314, 1987.
GOODMAN, N. W Paradigm, parameter, paralysis of mind. British Me dical Journal,
307: 1627-1629, 1993.
GORDIS, L. Challenges to epidemiology in the next decade. Ame rican Journal of
Epide miology, 128:1-9,1988.
GRAHAM, S. Enhancing creativity in epidemiology. Ame rican Journal of Epide miology,
128:249-253, 1988.
GRIMM, Brothers. Rumpelstiltskin. In: House hold Storie s. New York: Dover, 1963:
228-231.
HILL, G. B. Controlled clinical trials: the emergence of a paradigm. Clinical Inve stigational
Me dicine , 6:25-32,1983.
HOLLAND, P. Statistics and causal inference, journal of the Ame rican Statistical Socie ty,
945-960, 1986.
HORWITZ, R. I. The experimental paradigm and observational studies of cause-effect
relationships in clinical medicine, journal of Chronic Dise ase s, 40: 91- 99,1987.
JACOBSEN, M. Inference in epidemiology. In: ROTHMAN, K. (Ed.) Causal Infe re nce .
Chestnut Hill: ERI, 1988.
KOOPMAN, J. S. Causal models and sources of interaction. Ame rican Journal of
Epide miology, 106:439-444, 1977.
KOOPMAN, J. S. & WEED, D. L. Epigenesis theory. Ame rican Journal of Epide miology,
132:366-390, 1990.
KUHN, T. S. The Structure of Scie ntific Re volutions. Chicago: University Press, 1970.
KUHN, T. S. Second thoughts on paradigms. In: SUPPE, F. (Ed.) The Structure of
Scie ntific The orie s. Urbana, Illinois: University of Illinois, 1974a.
KUHN, T. S. Logic of discovery or psychology of research? In: SCHILPP, P. A.
(Ed.) The Philosophy of Karl Poppe r. Library of Living Philosophers. LaSalle, Illinois:
Open Court, 1974b. v. XIV, book II.
KUNITZ, S. J. Explanations and ideologies of mortality patterns. Population and
De ve lopme nt Re vie w, 13:379-408,1987.
KUNITZ, S. J. Hookworm and pellagra: exemplary diseases in the new South. Journal
of He alth & Social Be haviour, 29:139-148, 1988.
LABARTHE, D. R. & STALLONES, R. A. Epidemiologic inference. In:
ROTHMAN, (Ed.) Causal Infe re nce . Chestnut Hill: ERI, 1988.
LAKATOS, I. Falsification and the methodology of scientific research programmes.
In: LAKATOS, I. & A. MUSGRAVE (Ed.) Criticism and the Growth of Knowle dge .
Cambridge: University Press, 1970.
LANES, S. F. The logic of causal inference in medicine. In: ROTHMAN, K. (Ed.)
Causal Infe re nce . Chestnut Hill: ERI, 1988.
LOOMIS, D. & WING, S. Is molecular epidemiology a germ theory for the end of
the twentieth century? Inte rnational Journal of Epide miology, 19:1-3,1990.
MACLURE, M. Popperian refutation in epidemiology. Ame rican Journal of Epide miology,
121:343-350, 1985.
MACLURE, M. Refutation in epidemiology: why else not? In: ROTHMAN, K.
(Ed.) Causal Infe re nce . Chestnut Hill: ERI, 1988.
MACLURE, M. MduVariate refutation of aetiological hypotheses in non-experimental
epidemiology Inte rnational Journal of Epide miology, 19:782-787, 1990.
MARMOT, M. Facts, opinions and affaires du coeur. Ame rican journal of Epide miology,
103:19-526, 1976.
MARMOT, M. Epidemiology and the art of the soluble. Lance t, 1:897-900, 1986.
MASTERMAN, M. The nature of a paradigm. In: LAKATOS, I.& MUSGRAVE,
A. (Ed.) Criticism and the Growth of Knowle dge . Cambridge: University Press, 1970.
MATHERS, N. & HODGKIN, P. The gatekeeper and the wizard: a fairy tale. British
Me dical journal, 298:172-173, 1989.
MCINTYRE, N. The truth, the whole truth, and nothing but the truth? In:
ROTHMAN, K. (Ed.) Causal Infe re nce , Chestnut Hill: ERI, 1988.
MURPHY, E. A. Editorial: the basis for interpreting family history. Ame rican journal
of Epide miolopgy, 129:19-22,1989.
NG, S. K. C. Does epidemiology need a new philosophy? A case study of logical
inquiry in the AIDS epidemic. Ame rican journal of Epide miology, 133:1073-1077,1991.
NIJHUIS, H. G. J. & VAN DER MAESEN, L. J. G. The philosophical foundations
of public health: an invitation to debate, journal of Epide miological Community He alth,
48:1-3, 1994.
PEARCE, N.& CRAWFORD-BROWN, D. Critical discussion in epidemiology:
problems with the Popperian approach, journal of Clinical Epide miology, 42:177-184,1989
PELLEGRINO, E. D. Philosophy of medicine: towards a definition, journal of
Me dical Philosophy, 11:9-16,1986.
PETITTI, D. B. The implications of alternative views about causal inference for the
work of the practicing epidemiologist. In: ROTHMAN, K. (Ed.) Causal Infe re nce .
Chestnut Hill: ERI, 1988.
PHILIPPE, P. Generation et evolution des hypotheses etiologiques en epidemiologic
Social Scie nce s and Me dicine , 20:681-689, 1985.
POPPER, K. R. Conje cture s and Re futations: the growth of scie ntific knowle dge . New York:
Harper, 1965.
POPPER, K. R. The Logic of Scie ntific Discove ry. New York: Harper, 1968.
POPPER, . R. Kuhn on the normality of normal science. In: SCHILPP, P. A. (Ed.)
The Philosophy of Karl Poppe r. Library of Living Philosophers. LaSalle, Illinois: Open
Court, 1974a. (v. XIV, book II).
POPPER, R Of clouds and clocks. In: Obje ctive Knowle dge . Oxford: University Press, 1979.
RENTON, A. Epidemiology and causation: a realist view. Journal of Epide miology &
Community He alth, 48:79-85, 1994.
ROTHMAN, K. J. Causes. Ame rican Journal of Epide miology, 104:587-592,1976.
ROTHMAN, K. J. Causal inference in epidemiology. In: Mode rn Epide miology. Boston:
Little Brown, 1986:7.
ROTHMAN, K. J. Causation and causal inference. In: SCHOTTENFELD, D. &
FRAUMENIJ. F. (Ed.) Cance r Epide miology and Pre ve ntion. Philadelphia: W. B. Saunders, 1982.
SAVITZ, D. A. In defense of black box epidemiology. Epide miology, 5:550-552,1994.
SCHLESINGER, G. N. Scientists and philosophy. In: ROTHMAN, K. (Ed.) Causal
Infe re nce . Chestnut Hill: ERI, 1988.
SKRABANEK, P. In defense of destructive criticism. Pe rspe ctive s of Biological Me dicine ,
30:19-26, 1986.
SKRABANEK, P. The emptiness of the black box. Epide miology, 5:553-555, 1994.
STEHBENS, W. E. The concept of cause in disease. Journal of Chronic Dise ase s,
38:947-950, 1985.
STEIN, R. . K. & JESSOP, D. J. Thoughts on interdisciplinary research. Journal of
Clinical Epide miology, 41:813-815,1988.
SUSSER, M. Epidemiology in the United States after World War II: the evolution
of technique. Epide miologic Re vie w, 7:147-177,1985.
SUSSER, M. The logic of Sir Karl Popper and the practice of epidemiology. Ame rican
Journal of Epide miology, 124:711-718,1986.
SUSSER, M. Epidemiology today: 'a thought-tormented world'. Inte rnational Journal
of Epide miology; 18:481-488, 1989.
TAYLOR, R. Causation. In: The Encyclope dia of Philosophy. New York: MacMillan and
The Free Press, 1967; 2:56-66.
TOULMIN, S. Does the distinction between normal and revolutionary science hold
water? In: LAKATOS, I & MUSGRAVE, A. (Ed.). Criticism and the Growth of Knowle dge .
Cambridge: University Press, 1970.
VANDENBROUCKE, J. R Is 'the causes of cancer' a miasma theory for the end
of the twentieth century? Inte rnational Journal of Epide miology, 17:708-709,1988.
WATKINS, J. W N. Between analytic and empirical. Philosophy, 112-130, abr. 1957.
WATKINS, J. W. N. Confirmable and influential metaphysics. Mind, 67:344-365,1958.
WATKINS, J. W.N. Against 'normal science'. In: LAKATOS, I. & MUSGRAVE, A.
(Ed.) Criticism and the Growth of Knowle dge . Cambridge: University Press, 1970.
WATKINS, J.W. N. Metaphysics and the advancement of science. British Journal of
Philosophy Scie nce , 26:91-121, 1975.
WEED, D. L. An epidemiological application of Popper's method. Journal of
Epide miology Community & He alth, 39:277-285, 1985.
WEED, D. L. On the logic of causal inference. Ame rican Journal of Epide miology, 123:965-
979, 1986.
WEED, D. L. Causal criteria and Popperian refutation. In: ROTHMAN, K.(Ed.)
Causal Infe re nce . Chestnut Hill: ERI, 1988a.
WEED, D. L. Criticism and its constraints: a self-appraisal and rejoinder. In:
ROTHMAN, K.(Ed.) Causal Infe re nce . Chestnut Hill: ERI, 1988b.
WEED, D. L. Science, ethics guidelines, and advocacy in epidemiology. Annals of
Epide miology, 4:166-171, 1994.
WEED, D. L. Epidemiology, humanities, and public health. Ame rican Journal of Public
He alth, 1995.
WEED, D. L. &TROCK, B.J. Criticism and the growth of epidemiologic knowledge,
(letter). Ame rican Journal of Epide miology, 123:1119-1120, 1986.
WEINBERG, C. R. Applicability of the simple independent action model to
epidemiologic studies involving two factors and a dichotomous outcome. Ame rican
Journal of Epide miology, 123:162-172, 1986.
YACH, D. Biological markers: broadening or narrowing the scope of epidemiology?
Journal of Clinical Epide miology, 43:309-310,1990.
LI MI TES DA
I NFERNCI A CAUS AL
Dina Czeresnia &
Maria de Ftima Milito de Albuquerque
INTRODUO
Uma questo considerada fundamental na epidemiologia a conceitua
o e a operaci onali zao met odolgi ca da causali dade. Identificar causas
uma das manei ras pela qual o pensament o cientfico aborda a expli cao dos
fundament os que ori gi nam o apareci ment o de um fenmeno. A causa seria
um agent e eficaz, cujo desvendament o garantiria um mai or conheci ment o
do fenmeno estudado, visto ser possvel i nt ervi r sobre um efeito quando se
remont a sua causa.
A causali dade foi i nt roduzi da na epi demi ologi a com base na busca da
causa verdadei ra e especfica da doena. Essa abor dagem ganhou legitimi-
dade com a identificao de agent es especficos responsvei s pela t ransmi s-
so de doenas infecciosas. No entanto, em decorrnci a da necessi dade de
cont ornar a ' i gnornci a' a respeito dos processos causai s das chamadas do-
enas no-t ransmi ssvei s ou crni co-degenerat i vas, o t rat ament o conceituai
e met odolgi co da causali dade deslocou-se par a a quant i fi cao pr obabi
lstica do risco. A bus ca da i dent i fi cao de fatores de risco numa r ede de
mlt i plas causas cont ri bui u consi der avelment e para o desenvol vi ment o me-
t odolgi co da epi demi ol ogi a (Susser, 1985) , que, l anando mo de uma
cr escent e mat emat i zao, vem ut i l i zando r ecur sos est at st i cos cada vez
mai s sofi st i cados.
O concei t o de risco e suas i mpli caes na epi demi ologi a t m sido
est udados por vri os aut ores (Goldberg, 1990; Al mei da Fi lho, 1992) . As
quest es debat i das referem-se, em geral, s redues operadas ao se desta-
carem da reali dade complexa e mut ant e cadei as causais i ndependent es, quan-
tificadas por mei o de relaes lineares.
O risco uma medi da de associ ao estatstica, i ncapaz de inferir di-
ret ament e a causali dade. Bradford Hill, em 1965, j definia critrios, adapt a-
dos dos cnones causais de J ohn Stuart Mi ll, para avaliar a nat ureza causal
ou no de uma associ ao epi demi olgi ca encont rada (Rot hman, 1986).
Demonst r ar que as estimativas de risco poderi am evi denci ar uma rela-
o de causa e efeito fortalecia o carter cientfico da pesqui sa epi demi olgi -
ca, respaldando medi das adot adas event ualment e para enfrentar os proble-
mas de sade pblica. Ent re os famosos critrios de Hill, o de ' plausi bi li dade
bi olgi ca' apont a para uma fragilidade i mport ant e do concei t o de risco. Em
ltima instncia, segundo esse critrio, a bi ologi a que seria capaz de legiti-
mar as associ aes est i madas nos est udos epi demi olgi cos.
Dessa forma, ao substituir a identificao da causa pela estimativa pro
babilstica do risco, a epidemiologia teria construdo sua identidade baseada
em um concei t o que no t em aut onomi a. Part i ndo da pr emi ssa de que a
const ruo da abor dagem do risco foi decorrent e da ' i gnornci a' dos pr oces-
sos causai s nas chamadas doenas crni cas, no se poderi a afi rmar que t em
ocorri do uma superao da compreenso causalista da doena em favor de
uma compreenso probabilstica.
Na verdade, o raciocnio epi demi olgi co ai nda traz, na sua essncia, a
fora do pensament o causai. Isso fica evi dent e nas i nvest i gaes recent es
sobre a etiologia da i munodefi ci nci a adqui ri da (AIDS). As pesqui sas esta-
vam ori ent adas para a locali zao da causa da i munodefi ci nci a. Por analo-
gia ao modelo da hepat i t e B, afirmou-se a nat ureza transmissvel da doena,
passando-se a buscar o agente causal. Nest e sentido, significativo o fato de
que, durant e esse processo, os est udos que est i maram uma forte associ ao
entre os casos de AIDS e o uso do nitrito de ami la foram apont ados como
equi vocados por no di sporem de uma base bi olgi ca consi st ent e (Vanden
broucke & Pardoel, 1989).
Ao mes mo t empo, t em-se reafi rmado que o est udo de cofatores em
uma abor dagem mult i causal ampli a a compreenso das causas envolvi das na
vari abi li dade da expresso das doenas. Os est udos epi demi olgi cos, reali-
zados com base em modelos multifatoriais, relaci onaram event os clnicos e
bi olgi cos no interior de uma mat ri z de experi nci a social e de comport a-
ment o humano (Rose, 1988), possi bi li t ando uma abor dagem mai s complexa
da etiologia das doenas.
Seri a necessri o, por m, anali sar a lgi ca de const r uo dos model os
de ri sco e como, por seu i nt er mdi o, apr eendi do o si gni fi cado das doen-
as e das formas sociais de li dar com elas. O concei t o de ri sco t em cont ri -
bu do deci si vament e par a o desenvol vi ment o met odol gi co da epi demi o-
logi a, consoli dando prt i cas de i nt er veno sani t ri a que pr i vi l egi am ape-
los a mudanas compor t ament ai s i ndi vi duai s. Os chamados fatores de ri s-
co (hbi t o de fumar, consumo de lcool, uso de dr ogas, ali ment ao defi-
ci ent e, falta de exer c ci os, pr omi scui dade etc. ) t endem a responsabi li zar os
i ndi v duos pelo sur gi ment o de suas doenas, deslocando a nfase de aes
colet i vas de sade.
Est e trabalho discute a base de const ruo do concei t o de risco, se-
gundo o modelo de inferncia causal de Rubi n, desenvolvi do na mbi t o da
est at st i ca apl i cada ( Holland, 1 986) . A expl i ci t ao das pr emi s s as dest e
model o t orna visvel as passagens lgi cas assumi das na const r uo dest e
conceito, permi t i ndo ent end-lo por dent ro. Essa vert ent e mat emat i zada da
epi demi ologi a tenta demonst rar que a estatstica capaz de inferir causali-
dade, ao i nvs de si mplesment e evi denci ar associ aes estatsticas, est i man-
do em um modelo o que definido como o efeito concret o de uma causa.
Por mei o da estatstica, a epi demi ologi a, ao incorporar, em modelos, teorias
que expressam mecani smos de fenmenos bi olgi cos, conqui st ari a um mai -
or grau de aut onomi a e cientificidade para a disciplina. Nest a perspect i va, a
definio da i dent i dade da epi demi ologi a estaria ancorada, fundament alment e,
na estatstica e na biologia.
Cabe t ambm chamar at eno par a o fato de que est e pr ocesso de
mat emat i zao do mt odo epi demi olgi co sofre a i nflunci a das mudan-
as que v m ocor r endo no mbi t o das ci nci as nat urai s, cujo est at ut o de
ci ent i fi ci dade pri vi legi ado por esta vert ent e da epi demi ologi a. Nest e sen
tido, di scusses como a do concei t o de objet i vi dade vm i nf luenci ando o
ncleo da disciplina por i nt ermdi o da estatstica.
As PREMISSAS DO MODELO DE INFERNCIA CAUSAL
Apresent am-se, a seguir, as formulaes bsi cas do modelo de infe-
rncia causal de Rubi n (Holland, 1986).
O foco de ateno da inferncia causal deve se deslocar da busca das
causas dos efeitos para a busca dos efeitos das causas. No raciocnio causal, falar
que A causa relativo a outra causa que inclui a condio 'no-A'. Isso implica
comparar a exposio causa com a no-exposio, ou, na linguagem da experi-
mentao, o tratamento com o no-tratamento ou a ausncia de controle.
Para a inferncia causal, fundamental que cada unidade seja potencial-
mente exposta a qualquer uma das causas. Nesse sentido, igualmente funda-
mental o modo pelo qual os indivduos so alocados nos grupos de comparao. Alm
disto, esta concepo exclui os atributos pessoais como passveis de serem causas.
O papel do t empo i mport ant e. A causa ocorre e os i ndi v duos (uni-
dades) exi st em em um cont ext o t emporal especfico. Al m disso, as medi das
das caractersticas dos i ndi vduos, que compem as vari vei s est udadas, t am-
bm devem ser feitas em t empos particulares.
Inferir causalidade diz respeito a efeitos de causas em indivduos (unidades)
especficos. Os efeitos de causas ocorrem na singularidade. Isto implica o chamado
' problema fundamental da inferncia causal', ou, em outras palavras, impossvel
observar simultaneamente o valor do tratamento e do no-tratamento (A e no-A)
na mesma unidade. A inferncia causal, desse modo, seria impossvel.
Quando as uni dades so i ndi v duos, recorre-se estatstica como so-
luo, substituindo a i mpossi bi li dade de observar o efeito causal em um in-
di v duo especfico pela possi bi li dade de est i mar o 'efeito causal mdi o' em
uma populao de i ndi vduos.
Essa estratgia exige que se trabalhe com amostras da populao. neces-
srio, portanto, garantir que todos os indivduos da amostra sejam passveis de
serem expostos igualmente ao tratamento e ao no-tratamento. Faz-se isso por
meio da alocao dos indivduos nos grupos de comparao de maneira aleatria.
Rubi n (Holland, 1986) acrescenta, ainda, como quest o fundamental
a ser consi derada neste modelo, a assuno do ' valor estvel de t rat ament o
da uni dade' ( SUTVA) . Isto significa que os i ndi vduos so i ndependent es
entre si, est abelecendo-se a priori que o valor do result ado do t rat ament o
para um i ndi vduo i ndepende do t rat ament o ou no dos demai s. Esta pre-
mi ssa garant i ri a que o efeito mdio, est i mado a part i r da amost ra, seria igual
ao efeito mdi o calculado com base na populao.
Evi dent ement e, essa assuno no plausvel em t odas as ci rcunst n-
cias, uma vez que restringe o gr upo a uma soma de i ndi vduos, sem consi de-
rar suas relaes. Essa quest o vem sendo desenvolvi da no cont ext o dos
est udos de eficcia vaci nai em doenas t ransmi ssvei s, nos quai s o concei t o
de i muni dade de gr upo apont a para a necessi dade de t ranspor esse li mi t e do
mt odo (Halloran et al. , 1991). Nest e sentido, a expli ci t ao das premi ssas
da inferncia causal, ao t ornar evi dent e alguns dos seus li mi t es, contribui
para o desenvolvi ment o met odolgi co.
Entretanto, cabe chamar ateno para o fato, ao qual se voltar mais
adiante, de que as redues decorrentes desses artifcios mat emt i cos apre-
sentam problemas no somente no que se refere s das doenas transmissveis.
Um pont o fundamental dessa abordagem, que concebe o procedi men-
to estatstico da inferncia causal distinto do da simples associ ao, distin-
gui r a di menso epi demi olgi ca dos concei t os em cont raposi o a uma di-
menso si mplesment e estatstica. Tendo como base essa distino, enfatiza-
se a necessi dade da explicitao prvi a de teorias e modelos que expressem
as caract erst i cas bi olgi cas dos pr ocessos est udados. Est a vi so provoca
modi fi caes no cont edo e na met odologi a de avali ao dos concei t os de
i nt erao e de confuso. Para que possamos ent ender as i mpli caes deste
desenvolvi ment o met odolgi co, ser necessri o caracterizar os concei t os de
i nt erao e confuso.
INTERAO ENTRE CAUSAS CONFUSO
O est udo da relao causa e efeito em epi demi ologi a, como se vi u,
desenvolve-se com base na necessi dade de se est i mar uma medi da de efeito
(risco) entre exposi o e doena. Nesse processo, a identificao de intera-
o entre causas e de confounding, ou confuso, consi derada fundamental.
Caract eri za-se a existncia de interao, dent ro de um mes mo meca-
ni smo causal, quando, na presena de dois ou mai s fatores de risco, o efeito
resultante diferente do simples efeito combi nado pelos efeitos i ndi vi duai s
(Rot hman, 1986). Em relao ao confounding (ou confuso), pode-se defini-lo
como uma mistura de efeitos, isto , como a superposi o do efeito de um
fator de risco i ndependent e sobre a relao est i mada entre a exposi o e o
event o (Rot hman, 1986).
No mbi t o da e pi de mi ol ogi a , h uma i nt ens a pol mi c a a r es pei -
to da ope r a c i ona l i z a o des t es doi s concei t os . Ma s qual ser i a a met o-
dol ogi a mai s a de qua da par a a sua aval i ao no cont ext o dos es t udos
e pi d e mi o l gi c o s ?
No caso da interao, por exemplo, coloca-se em discusso se mais
apropriado utilizar modelos aditivos ou modelos multiplicativos. Nos primei-
ros, a combi nao dos efeitos individuais feita pela soma das diferenas de
riscos atribuveis, ao passo que nos segundos a interao avaliada pelo pro-
duto dos riscos relativos ou odds ratio (Rothman, Greenland & Walker, 1980).
O modelo de anlise freqentemente escolhido apenas em virtude
da si mpli ci dade e da conveni nci a estatstica. Esse procedi ment o, sem refe-
rncia aos mecani smos biolgicos envolvi dos, torna a definio de i nt erao
arbitrria e dependent e do modelo adotado. Portanto, a i nt erao estatstica
expressari a apenas a i nt erdependnci a entre fatores dentro dos limites de um
dado modelo de risco (Rot hman, 1986; Siemiatycki & Thomas, 1981).
neste sentido que se ressalta que a pesquisa epi demi olgi ca deveria
ir alm da modelagem estatstica, pri ori zando a etapa explanat ri a da anli-
se, cujo objetivo a busca de explicaes para as relaes observadas, seja
identificando a presena de confounding na estrutura do estudo, seja verifican-
do a causao baseada em um modelo biolgico subjacente.
A interao deve, portanto, ser vista como uma caracterstica biolgica
do fenmeno estudado, cujo mecani smo deve ser explicitado previ ament e
escolha de um modelo de anlise estatstica (Rothman, Greenland & Walker,
1980). A questo t ambm est presente na discusso do confounding. Neste
caso, faz-se igualmente necessrio definir previamente quais so as variveis a
serem controladas. Ser confounder no uma caracterstica inerente a qualquer
varivel, ocorrendo somente no contexto de um estudo particular.
Uma var i vel de conf uso dever i a t er as segui nt es car act er st i cas
(Miettinen & Cook, 1981): ser um fator de risco para a doena entre os no
expost os; estar associ ada com a exposi o na populao em est udo; e no
ser uma varivel i nt ermedi ri a na seqnci a da exposi o para o evento.
No cont ext o de est udos experi ment ai s, a possi bi li dade de alocao
aleatria dos i ndi vduos tem sido classi cament e consi derada uma estratgia
eficaz para garant i r a comparabi li dade entre gr upos de t rat ament o e, assi m,
preveni r a confuso. Foi, portanto, no cont ext o de est udos observaci onai s,
nos quais a alocao aleatria dos i ndi vduos em gr upos de comparao
i mpossvel, que se sentiu mai or necessi dade de desenvolver concei t os e es-
tratgias para melhor abordar a confuso (Rot hman, 1986).
De modo semelhant e ao que foi observado em relao interao, a
abordagem do confounding na epi demi ologi a t endeu, mui t as vezes, a se res-
tringir ao mbi t o t cni co da estatstica. neste sentido que Mi et t i nen &
Cook (1981) e Greenland & Robbins (1986) tomando por base o critrio
de ' colapsabi li dade' , que remet e o julgament o da existncia ou no de con-
fuso et apa da anlise dos dados criticam a concei t uao de confounding.
Caso o controle da vari vel de confuso, por estratificao ou t cni cas mul
tivariadas, no mude a estimativa de efeito, isto , quando a est i mat i va brut a
igual est i mat i va ajustada por estratos, a medi da de efeito dita ' colaps
vel' , ou seja, no existe confounding.
Est e critrio, que se baseia si mplesment e na anlise t cni ca dos dados,
pode levar a falsas concluses. Porm, um outro tipo de concei t uao consi-
dera que a confuso se ori gi na das diferenas ' i nerent es' ao risco, ent re a
populao de expost os e no expostos. Ou seja, estas diferenas exi st i ri am
mes mo se a exposi o estivesse i nt ei rament e ausent e de ambas as popula-
es (Greenland & Robbi ns, 1986).
Por consegui nt e, prevenir confounding seria garant i r a comparabi li dade
ou a i nt ercambi ali dade ent re os grupos expost os e os no expost os. Na au-
snci a de exposi o, a proporo de casos entre os expost os e os no expos-
tos seria a mesma (Greenland & Robbi ns, 1986). Desse modo, a assuno de
i nt ercambi ali dade e comparabi li dade dos gr upos o que t ornari a o efeito
i dent i fi cvel, apr oxi mando as condi es do est udo dos f undament os do
modelo de inferncia causal.
A mudana na concei t uao do confounding refora a i di a de que
i mport ant e di spor de uma teoria explicitada a respeito do fenmeno biolgi
co estudado. Refora, i gualment e, a necessi dade de uma definio prvi a de
quai s so as vari vei s i mport ant es a serem consi deradas no modelo. Est a
mudana desloca, t ambm, a lgi ca da utilizao da model agem mat emt i ca
na anli se mult i vari ada.
A ESCOLHA DO MODELO DE ANLISE:
O PAPEL DA SUBJETIVIDADE
Na etapa da anlise dos dados, o desenvolvi ment o de t cni cas de an-
lise mult i vari ada proporci ona, medi ant e o uso de modelos mat emt i cos, uma
manei ra de controlar o confounding e verificar a i nt erao (Rot hman, 1986).
Uma das manei r as de utilizar a model agem considerar, no modelo, t odas as
vari vei s pot enci alment e envolvi das e suas i nt eraes. Nes t e caso, t er a-
mos um model o di t o ' sat ur ado' , que est de cert o modo coer ent e com
uma pos t ur a de i gnor nci a pr vi a a respei t o do f enmeno est udado. Tr ans -
fere-se, des s a f or ma, a funo de escol her quai s del as so per t i nent es
par a a et apa de anl i se, o que ocasi ona per da de pr eci so e qual i dade
( Oppenhei mer , 1992).
Um outro tipo de abordagem estabelece que o modelo estatstico deve
reproduzir matematicamente o que ocorre na natureza, assumindo um conjunto
de restries. Isto implicaria optar por incluir apenas as variveis consideradas
importantes. Neste caso, ganhar-se-ia em preciso, mas, correr-se-ia o risco de
no incluir nenhuma varivel que pudesse provocar confounding. Esta estratgia
exigiria, de fato, assunes det alhadas sobre processos que mui t as vezes so
pouco conheci dos (Oppenhei mer, 1992).
Out ro aspect o dessa mesma abor dagem ressalta o fato de que a ade-
quao a uma funo mat emt i ca no constitui um objetivo em si mesmo. O
processo de modelagem, ao adequar dados, pode apagar caractersticas es-
senciais do processo bi olgi co em estudo (Greenland, 1979). Dessa forma,
cabe ao i nvest i gador definir previ ament e a teoria adequada ao processo bi o-
lgico em estudo, avaliar qual a funo mat emt i ca que t em melhor condi-
o de express-lo e det ermi nar quais so as variveis i mport ant es no mode-
lo. Como afirma Oppenhei mer (1992): "Desde que o verdadei ro est ado da
nat ureza desconheci do, a magni t ude do vi s no pode ser conheci da. Por-
tanto, a escolha subjetiva e sujeita a erro".
Essa perspect i va de anlise aproxi ma-se de uma concepo de estats-
tica probabi lst i ca no convenci onal, na qual o concei t o de probabi li dade
no part e da assuno de i gnornci a prvi a da di st ri bui o do fenmeno
estudado, mas si m quantifica uma crena anterior, utilizando uma distribui-
o de probabi li dade subjetiva. Os dados so ent o usados para atualizar
esta di st ri bui o pela regra de Bayes (Oppenhei mer, 1992).
A alternativa bayesi ana, apesar de antiga, vem sendo resgat ada, de uns
t empos para c, em vi rt ude da ampli ao dos recursos t cni cos proporci ona-
dos pela comput ao elet rni ca (Breslow, 1990). Al m disso, ela expressa
uma concepo de objetividade distinta daquela que a estatstica probabi ls-
tica padro utiliza. De certa forma, esta ret omada um reflexo da crescent e
discusso que vem ocorrendo a respeito do conceito de objetividade no mbito
das ci nci as naturais.
Um argument o ao qual essa perspect i va recorre o de que obter dados
objetivos de uma anlise estatstica requer um input subjetivo. O reconheci -
ment o da subjetividade inerente i nt erpret ao de dados permi t e que novas
evi dnci as possam ser i nt egradas ao conheci ment o anterior (Berger & Berry,
1988), o que constitui, na verdade, uma crtica ao concei t o de objetividade
dos modelos de anlise convencionais. Estes, por sua vez, t ambm depen-
dem das i nt enes do investigador, por exemplo, ao opt arem por colher de-
t er mi nados dados em det ri ment o de outros. A subjetividade no explcita
seria, assi m, mui t o mai s peri gosa, porque apresent ada como neut ra e obje-
tiva (Berger & Berry, 1988).
A estatstica bayesiana, portanto, relativiza o valor de verdade do dado
quantitativo, assumi ndo-o como uma construo. O dado, dest a forma, j
no vi st o como uma mensurao do real, em que a objetividade e o rigor
so garant i dos pela neut rali dade e i seno de valor do investigador.
Provavelment e inspirado nesta concepo de probabilidade, Greenland
(1990) quest i ona a alocao aleatria dos i ndi vduos em gr upos de compa-
rao como a melhor forma de prevenir a confuso em est udos epi demi ol-
gi cos experi ment ai s. Cada indivduo teria uma probabi li dade prpri a de ex-
peri ment ar um evento, i ndependent ement e da exposi o em estudo. Portan-
to, os i ndi vduos no seri am i gualment e informativos. A alocao aleatria
no evitaria a possi bi li dade de essas di ferenas t ornarem a est i mat i va do
risco subdi mensi onada ou superdi mensi onada, apenas t ornando-a estatisti-
cament e no envi esada (Greenland, 1990).
Dessa forma, a ' aleat ori zao' s seria til na preveno de confuso
no caso de vari vei s no conheci das Se as variveis so conheci das e podem
ser medi das, melhor consi derar essas diferenas no estudo, ut i li zando-se
um model o de anli se estatstica bayesi ano (Greenland, 1990) . Ancor ada
nessa concepo, uma quest o que se apresenta, no mbi t o de est udos ob
servaci onai s, a crtica propri edade da utilizao de estatsticas probabi
lsticas baseadas na rejeio da hi pt ese nula e no valor de p . Nela t ambm
fica evi denci ado que, mui t as vezes, ao i nvs de se trabalhar com modelos de
anlise i nadequados, seria melhor interpretar os dados de modo no proba
bilstico. Isto poderi a ser feito, ent re outras formas, valori zando-se est udos
descritivos bem t rabalhados, por mei o de grficos e tabelas (Greenland, 1990).
Um desdobrament o possvel deste processo, e sem dvi da promi ssor,
seria conseguir superar metodologicamente outros modos clssicos de controle
de vis que pressupem a neutralidade do investigador, como o caso dos estu-
dos ' duplo-cego' e da utilizao de placebos em estudos experimentais.
DISCUSSO
No decorrer deste texto, descreveram-se os desenvolvi ment os met o-
dolgi cos susci t ados por uma vert ent e da epi demi ologi a moder na, que se
fundament a no modelo de inferncia causai de Holland e Rubi n. Est e mode-
lo explicita as suas premissas, com o objetivo de estimar uma medi da de efeito
o risco entre exposio e doena. Por essa razo que esta perspectiva privile-
gia os conceitos de interao e confuso. Busca-se ressaltar como, na discusso
interna da epidemiologia, as abordagens desses conceitos vm se tornando cada
vez mais complexas e como este processo vem sofrendo a influncia de uma
concepo de probabilidade que reconhece a subjetividade como elemento de
construo de rigor cientfico.
Nest e pont o do trabalho, ret oma-se a di scusso sobre a operaci onali -
zao da lgi ca da i nfernci a causai , t endo por met a i dent i fi car aspect os
i nt ernos e premi ssas do mt odo que apresent am alguns problemas.
De incio, i mpor t a destacar a i di a de que para a i nfernci a causal
i mport ant e cont ext uali zar t emporalment e os i ndi v duos, as causas e a ocor-
rncia de efeitos (Holland, 1986). Caberi a i ndagar com que concei t o de t em-
po este model o opera.
No mbi t o da di scusso da inferncia causal, Holland (1986) consi de-
ra, i mpli ci t ament e, duas manei ras de pensar a t emporali dade. Em condi es
de laboratrio, por exemplo, t rabalhando fenmenos fsicos, seria possvel
supor o t empo como reversvel, isto , poder-se-i a repetir em laborat ri o as
condi es iniciais de uma experincia. A experi nci a anterior no interferiria
nas subseqent es.
No caso dos fenmenos bi olgi cos est udados pela epi demi ologi a, as
condi es iniciais d experi nci a no ret ornam. O t empo i rreversvel e
unidirecional. Sendo assi m, o que significaria cont ext uali zar t emporalment e
um est udo epi demi olgi co? No i mpli cari a t ambm t rabalhar a di menso do
t empo como histria? Sem dvi da, mes mo no cont ext o da bi ologi a, as trans-
formaes evolutivas vo de encont ro crena de i nvari abi li dade, fixidez e
uni versali dade dos seres vi vos. Isto se t orna mai s flagrante no caso de popu-
laes humanas, que so medi adas pela li nguagem e pela histria, const rui n-
do si ngulari dades individuais e sociais. Dessa forma, o que seria construir
uma medi da de efeito (risco) t emporalment e cont ext uali zada? At que pon-
to esta medi da pret ende, ao contrrio, expressar caractersticas uni versai s do
homem, abst rai ndo o movi ment o e a di versi dade?
Essas i ndagaes remet em necessi dade de se pensar como, interna-
ment e lgi ca da inferncia causal, const ru da a medi da de efeito (risco).
Como j visto, para a inferncia causal, o problema fundament al residiria na
i mpossi bi li dade de observar, si mult aneament e, o efeito da exposi o e da
no exposi o no mes mo indivduo. Como soluo, prope-se o clculo do
'efeito causal mdi o' , t rabalhando com gr upos de populao que possam ser
comparvei s. O risco, segundo esta lgi ca, seria, port ant o, uma medi da de
efeito para a inferncia individual. O gr upo, nesse caso, seria ut i li zado como
forma de viabilizar operaci onalment e a inferncia i ndi vi dual.
Caberi a analisar, por consegui nt e, a propri edade da est i mat i va do 'efeito
causal mdi o' para a inferncia individual. O que se quest i ona o fato deste
mt odo, ao cont ornar o pr oblema fundamental da causali dade, proceder pri-
mei ro a uma passagem do nvel individual para o gr upal, volt ando em segui-
da para aquele.
O que acontece nestas passagens? Ser que a condi o da individua-
lidade preservada? O risco s corresponderia singularidade se os indivduos
fossem homogneos. Porm, mesmo a epi demi ologi a no opera com a supo-
sio de homogenei dade dos indivduos. Ela busca, como artifcio met odo-
lgico, a comparabi li dade dos grupos, por i nt ermdi o de uma distribuio
homognea das het erogenei dades individuais. O risco, ento, no seria um
concei t o passvel de ser transposto para singularidades sem medi aes (Al-
mei da Filho, 1992).
Esta const ruo met odolgi ca coerente com a viso que distingue
risco, como medi da de probabi li dade individual, de uma derivao deste, a
razo de densi dade de incidncia como medi da capaz de estimar a fora da
mor bi dade em popul aes ( Mor genst er n, Kl ei nbaum & Kupper , 1980;
Kl ei nbaum, Kupper & Mor genst er n, 1982). A dupl i ci dade de objet i vos
de medi das cons t r u das com base na mes ma lgi ca causal poder i a ser
vista como ambi gi dade, poi s a epi demi ologi a se define como o est udo de
doenas cm populaes.
Todavi a, a abor dagem i ndi vi dual do ri sco dei xa clara a sua i nt eno
de servi r como subs di o prt i ca cl ni ca e avali ao da t ecnologi a mdi -
ca. A domi nnci a desse objetivo na prt i ca da epi demi ologi a moder na tem
subsumi do a abor dagem populaci onal li gada t radi o da sade pbli ca
(Wi ng, 1993) .
Caberia analisar t ambm as i mpli caes da utilizao do 'efeito causal
mdi o' como medi da populacional. Nest e caso, esbarramos na premi ssa do
modelo da inferncia causal (SUTVA) que assume a i ndependnci a entre os
indivduos que pert encem ao gr upo estudado, como j foi apresentado.
No caso das doenas infecciosas, a assuno de i ndependnci a mai s
facilmente quest i onada. O estudo destas doenas utiliza concei t os como os
de infeco, suscetibilidade e i muni dade. As relaes entre esses diferentes
concei t os, por sua vez, pr oduzem o conceito de ' i muni dade de gr upo' , o
qual no pode ser reduzi do soma das i muni dades individuais e acaba deter-
mi nando a di nmi ca de t ransmi sso (Nokes & Anderson, 1988; Greenland
& Robbi ns, 1992). Pode-se dizer que o concei t o de t ransmi sso preserva um
cont edo relacional que tende a ser desconect ado na concei t uao das do-
enas no-t ransmi ssvei s ou crni co-degenerat i vas.
Cert ament e esse o motivo de se considerar o SUTVA mai s apropria-
do, no caso dos est udos de doenas crnicas. Todavia, como afi rmar que
quest es consi deradas como fatores causai s de doenas crni cas - fumo,
ali ment ao, vi olnci a, agent es t xi cos etc. - so no-t ransmi ss vei s? Ser
que esses no so pr oblemas t ransmi t i dos por i nt er mdi o da relao dos
homens entre si e com a nat ureza? Ser que compreendi das com base na sua
di menso cultural, estas quest es no deveri am ser t rabalhadas na perspec-
tiva da ' i muni dade de gr upo' ou de ' suscetibilidade de gr upo' ? Sem dvi da,
no modelo do SUTVA, a populao no concebi da como uma organi zao
que produz conseqnci as para a situao de sade dos i ndi vduos.
Quando a quest o identificar a causa da di st ri bui o desi gual de
doenas entre populaes e no a causa dos casos, a lgi ca da i ndependnci a
dos i ndi v duos no seria a mai s adequada (Robbi ns & Gr eenland, 1986).
Sendo assi m, a const ruo met odolgi ca do risco, enquanto 'efeito causal
mdi o' , apresent a limites que preci sam ser consi derados no moment o de sua
apli cao como estimador, tanto para as inferncias i ndi vi duai s quant o para
as populaci onai s.
Sem dvi da, o desenvolvi ment o do mt odo produz passagens lgicas
inevitveis na perspect i va de viabilizar sua operaci onali zao, cont ornando
quest es como o ' problema fundamental da inferncia causal' . No entanto,
corre-se o risco de esquecer e assumi r como verdadei ras as redues consi-
deradas inevitveis do pont o de vista da lgi ca i nt erna do mt odo. A passa-
gem lgi ca poderi a apagar caractersticas fundamentais do fenmeno estu-
dado. Dest a forma, quando o mt odo t rabalhado sem a compr eenso do
significado das redues que opera, pode t ransformar um artifcio operaci o-
nal em artefato. O mt odo, se reificado, estreita as possi bi li dades de compre-
enso da realidade.
Cabe, ento, levantar uma questo bvi a, mas no to bvi a a pont o
de ser respondi da na prtica do processo de i nvest i gao: quais so os pro-
blemas para os quais um mt odo ou no adequado? Em relao ao con-
t edo dest e texto, poder-se-i a i ndagar de forma mai s especfica: para que
quest es per t i nent e a abor dagem que busca avali ar o efei t o da causa
contra a ' no-causa' , i solando relaes (ou cadei as) causai s i ndependent es?
Deslocando a di scusso para uma di menso mai s prtica, poder amos
di zer que essa tem sido uma manei ra consi derada apropri ada de est udar o
efeito de exposi es i ndi vi duai s, como avali ao da eficcia de medi camen-
tos, procedi ment os clnicos e vaci nas. Nest e contexto, deve-se ressaltar que
o apri morament o met odolgi co descrito neste trabalho teria algo a contri
buir: tornaria possvel, por exemplo, a criao de desenhos de est udo que
consegui ssem ultrapassar a necessi dade de cont rolar o ' vi s' por mei o da
suposi o de neutralidade. Sem dvi da, consegui r superar as necessi dades
tcnicas de alocao aleatria, duplo cego e utilizao de placebos, sem per-
der o estatuto de cientificidade, seria um desafio de modo algum irrelevante.
Pri nci palment e, quando se reivindica concret ament e que a t est agem de efi-
ccia de drogas e vaci nas possa ser realizada em uma perspect i va de mai or
rigor tico (Rot hmann & Edgar, 1992; Hort on, 1989).
Por outro lado, porm, sabe-se que o desenvolvi ment o met odolgi co
descrito per manece preso a uma concepo de causali dade linear, que isola
um aspect o que varia, ao passo que supe os demai s constantes.
Ao consi der ar em as relaes ent re i ndi v duos e gr upos de i ndi v -
duos, assi m como as mudanas que ocor r em ent re est es com a pas s agem
do t empo, os model os di nmi cos em epi demi ol ogi a per mi t em abor dar
i nt er aes mai s compl exas ( Nokes & Ander son, 1988) . Ao t r abal har em
com concei t os di st i nt os tais como li mi ar, pont o de equi l br i o, fluxo
etc. per mi t em uma out r a abor dagem da quest o da causal i dade.
Isso, contudo, no evita que se tenha de defrontar, novament e, com o
problema de como abordar a passagem do t empo e as interaes complexas
em fenmenos de sade em populaes humanas sem consi derar o carter
histrico do t empo. A demarcao do campo disciplinar da epi demi ologi a
restrito biologia e estatstica, sem dvida, dificulta esta possi bi li dade.
Fi nalment e, merece reflexo o fato de o pensament o cientfico trans-
formar a base da qual algo surge na causa que o produz, e t ambm a idia de
que a revelao da causa ocupa um lugar mais importante na explicao de um
fenmeno. Pois, "no s as aparncias nunca revelam espontaneamente o que se
encontra por trs delas. Nenhuma coisa, nenhum lado de uma coisa se mostra
sem que ativamente oculte os demai s" (Arendt, 1992:392).
Esta uma caracterstica incontornvel do processo de construo do co-
nhecimento: ao optar por revelar e explicar algo, inevitavelmente oculta-se um
outro lado; ao selecionar determinadas causas, temas, conceitos e mtodos, exclu-
em-se outros. as opes correspondem a interesses, valores e necessidades.
preciso ressaltar que a teoria antecede ao mtodo. i nt rnseca
teoria a nat ureza subjetiva do pensament o e da ao, refletindo interesses e
necessi dades humanas. O cont edo de verdade de uma teoria no est dado
a prion, i ndependent e de um juzo de valor. o mtodo, como conj unto de
estratgias de i nvest i gao e de tcnicas de anlise, no deve estar ali enado
da teoria, por mei o da utilizao de modelos formai s que ganham vi da pr-
pri a (Gonalves, 1990).
Compreender a base da construo terica e met odolgi ca de um campo
de conheci ment o no se justifica apenas para evi denci ar os li mi t es que redu-
zem a di menso dos problemas, mas t ambm para permi t i r pensar como
resolver problemas devidamente formulados, otimizando as possibilidades de
integrar as metodologias que possam explic-los da melhor forma possvel.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA FILHO, . A Clinica e a Epide miologia. Salvador/Rio de Janeiro: Abrasco, 1992.
ARENDT, . A Vida do Espirito, o Pe nsar, o Que re r, o Julgar. Rio de Janeiro: Itelume-Dumar, 1992.
BERGER, J . O. & BERRY, D. .. Statistical analysis and the illusion of objectivity.
Ame rican Scie ntist, 76: 159-165, 1988.
BRESLOW, N. Biostatistics and bayes (with discussion). Statistical Scie nce , 5(3): 269-298,1990.
GOLDBERG, M. Este obscuro objeto da epidemiologia. In: COSTA, D. C.
Epide miologia, Te oria e Obje to. So Paulo: Hucitec/Abrasco, 1990.
GONALVES, R. . M.. Contribuio discusso sobre as relaes entre teoria,
objeto e mtodo em epidemiologia. In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE EPI-
DEMIOLOGIA. Anais... Campinas/So Paulo: Abrasco,1990.
GREENLAND, S. Limitation of the logistic analysis of epidemiologic data.
American Journal of Epidemiology, 110(6):693-698,1979.
GREENLAND, S. Randomization, statistics and causal inference. Epidemiology, 1:421-429,1990.
GREENLAND, S. & ROBBI NS, J. M. Identifiability, exchangeabi li t y, and
epidemiologic confounding. International Journal of Epidemiology, 15:412-418, 1986.
GREENLAND, S. & ROBBINS, J. M. Ecologic Studies: biases, fallacies, and
counterexamples. American Journal of Epidemiology, 1992.
KLEINBAUM, D. G; KUPPER, L. L. & MORGENSTERN, H. Epidemiologic
Research. Principles and quantitative methods. New York: Van Nostrand Reinhold, 1982.
HALLORAN, M. E. et al. Direct and indiret effects in vaccine efficacv and
effectiveness. American Journal of Epidemiology, 133(4):323-331,1991.
HOLLAND, , W. Statistics and causal inference. Journal of the Ame rican Statistical
Association, 81(396):945-960, 1986.
HORTON. M. Bugs, dings and placebos. In: CARTE, E. & WATNEY, S. (Eds.)
Taking Libe rtine s: Aids and control cultural politics. London: Serpents Tail, 1989.
MIETTINEN, O. S. & COOK, . F. Confounding essence and detection. Ame rican
Journal of Epide miology, 114(4):593-603, 1981.
MORGENSTERN, H; KLEINBAUM, D. D. & KUPPER, L. L. Measures of disease
incidence used in epidemiologic research. Inte rnational Journal of Epide miology, 90:97-104,1980.
NOKES, D. J. & ANDERSON. The use of mathematical models in the epidemiological
studv of infections diseases and in the designs of mass immunization programmes.
Epide miology and Infe ction, 101:1-20, 1988.
OPPENHEIMER, G. M. Causes, cases, and cohorts: the role of epidemiology in
the historical construction of AIDS. In: FEE, E. & FOX, D. M. (Eds.) Aids: the
making of a chronic dise ase . Berkeley: University of California Press, 1992.
ROBBINS, J. M. & GREENLAND, S. The role of model selection in causal inference
from monexperimental. Ame rican Journal of Epide miology, 123(3):392-402, 1986.
ROSE, G. Individuos enfermos y poblaciones enfermas. In: El De safio de la
Epide miologia. OPAS, 1988. (Publicao cientfica 505).
ROTHMANN, D. J. & EDGAR, . Scientific rigor and medical realities: placebo
trials in cancer and Aids research. In: FEE, E. & FOX, D. M. (Eds) Aids: the making
of a chronic dise ase . Berkeley: University of California Press, 1992.
ROTHMAN, K. J. , GREENLAND, S. & WALKER, A. M. Concepts of interation
Ame rican Journal of Epide miology, 112(4):467-470, 1980.
ROTHMAN, J Mode rn Epide miology. Boston/Toronto: Little Brown and Company, 1986.
SIEMIATYCKI J . & THOMAS, D. C. Biological models and statistical interactions: an example
from multistage carcinogenesis. Inte rnational Journal of Epide miology, 10(4):383-387,1981.
SUSSER, M. Epidemiology in the United States after World War II: the evolution
of technique. Epide miologic Re vie w, 17:147-177,1985.
VANDENBROUCKE, J. P. & PARDOEL, V. P. A. M. Reviews and commentary-an
autopsy of epidemiologic methods: the case of Toppers' in the early epidemic of the
acquired immunodeficiency syndrome (Aids). Ame rican Journal of Epide miology, 129(3), 1989.
WING, S. Concepts in modern epidemiology: population, risk, dose response and
confouding. Oficina de Trabalho "Teoria crtica da epidemiologia". Salvador:
Departamento de Medicina Preventiva/UFBA, jun. 1993 (cpia reprogrfica).
PARTE II
I NTERFACES
necessrio que reflitamos sobre a situao atual das relaes entre
as disciplinas cientficas particulares e destas com a filosofia; necessrio que
questionemos a separao instituda e praticada entre as cincias, portanto,
que questionemos o tipo de diviso do trabalho que as domina.
Cor neli us Cast ori adi s
ANTROPOLOGI A MDI CA
EPIDEMIOLOGIA*
Eduardo L. Menndez
Est e t rabalho analisa algumas caractersticas complement ares e diver-
gent es entre epi demi ologi a e antropologia mdi ca. Convm deixar claro, desde
o incio, que, ao nos referi rmos a estas duas disciplinas, assumi mos que esta-
mos colocando entre parnt eses as t endnci as diferenciais e at conflituosas
e contraditrias que oper am no interior de cada uma delas.
1
Os pont os que abordaremos de forma esquemt i ca so: enumer ao
de caractersticas similares, complement ares e diferenciais; anlise de alguns
aportes da ant ropologi a mdi ca; e o possvel processo de eroso da propost a
ant ropolgi ca.
Traduo: Cludia Bastos
Assinalamos que a anlise estar referida, quase sempre, s propostas dominantes em ambas as
disciplinas, e que isto no supe ignorar a existncia de outras correntes tanto antropolgicas como
epidemiolgicas.
ELEMENTOS COMPLEMENTARES DIVERGENTES
A epidemiologia e a antropologia abordam o processo sade/ enf er mi -
dade/ at eno com base em disciplinas, objetivos e instituies distintas, de-
senvolvem-se em moment os diferentes e suas relaes so recentes em t ermos
de campos tcnico-cientficos mutuamente reconhecidos (Bastide, 1967; Caudill,
1953; Dunn & Janes, 1986; Opler, 1959; Trostle, 1986a, 1986b). Assumi ndo,
em conseqncia, que a insero cientfica/tcnica e o desenvolvimento de ambas
as disciplinas so diferenciados, trataremos pri mei ro de assinalar os aspect os
substantivos que per mi t em observar convergnci as met odolgi cas ent re an-
tropologia mdi ca e epi demi ologi a.
Em princpio, deve-se assumir que os dois campos tratam de conjuntos
sociais de alguma natureza, e estes podem ser pensados em termos de grupos
domsticos, ocupacionais ou de idade, estratos sociais etc. Para eles, a unidade
deve ser algum tipo de conjunto social e no o i ndi vduo.
At ualment e, as correntes domi nant es em ambas as di sci pli nas reco-
nhecem que as expli caes/i nt erpret aes da mai ori a dos pr oblemas a in-
vest i gar se referem a uma mult i pli ci dade de causas e quest i onam as interpre-
t aes unicausais. A manei ra de li dar com a mul t i causal i dade pode var i ar
s egundo o pr obl ema e / o u mar co met odol gi co ut i li zado. I sso leva algu-
mas i nves t i gaes a l i dar em com uma not r i a di ver s i dade di sper sa de
fat ores expl i cat i vos , ao pas s o que out r as bus c a m encont r ar u m efei t o
est r ut ur al que or gani ze os di versos fat ores i ncl u dos, quer por mei o de
uma r ede caus al (pr opost a de Ter r i s ) , quer at r avs de uma concepo
s egundo a qual os di ver sos padeci ment os se refi ram a uma mes ma causa-
lidade bsi ca (proposta de Cassei ).
Tant o a epi demi ologi a como a ant ropologi a mdi ca supem a existn-
cia de algum processo de evoluo relativo ao processo s ade/ doena/ at en-
o (processo s / d / a ) especfico, que, no caso da epi demi ologi a, pode se re-
ferir ao modelo de histria natural da doena e, no caso da ant ropologi a,
histria social da doena, ou trajetria do paci ent e ent endi da como fato
social. Para alm das notrias di screpnci as, o terreno comum seria ent ender
a enfermi dade como processo.
Um quart o pont o de convergnci a refere-se ao fato de que ant ropolo-
gi a e epi demi ologi a r econhecem que as condi es de vi da sejam elas deno-
mi nadas formas de vi da operria, subcult ura adolescent e ou estilo de vi da
do fumante - tm relao com a causali dade, desenvolvi ment o, controle ou
soluo dos problemas de sade. O concei t o estilo de vida o que parece ter
consegui do melhor acolhida entre os epi demi ologi st as, revelando-se como
parte constitutiva de toda uma gama de padeci ment os crni cos e de deter-
mi nadas Vi olnci as' .
Por ultimo, diramos que as duas disciplinas tendem a propor uma concep-
o preventivista do adoecer, na qual se articulam diferentes dimenses da rea-
lidade, com o objetivo de limitar a extenso e a gravidade dos danos sade.
Poderamos prossegui r na enumer ao de outros pont os complemen
tares consi derados significativos, mas o i mport ant e a assinalar que, a des-
peito de cada um destes pont os de acordo, podemos detectar diferentes graus
de conflito que podem chegar ao ant agoni smo entre as propost as da antro-
pologi a mdi ca e da epi demi ologi a.
Se vi er mos a rever cada um dos aspect os apresent ados, poder emos
observar que, embora ambas as disciplinas lidem com conjuntos sociais, a
epi demi ologi a descreve muito freqentemente agregados estatsticos, ao passo
que a ant ropologi a trabalha preferencialmente com ' gr upos naturais' . Este
ponto, que no desenvolveremos, deve ser consi derado decisivo com rela-
o const ruo e significado do ' dado' referido ao processo s / d/ a . Por
outro lado, mesmo quando as duas disciplinas t rabalham com uma concep-
o multicausal, a epi demi ologi a domi nant e insere no bi olgi co ou no bioe
colgico o eixo da causali dade, ao passo que a ant ropologi a mdi ca o insere
em fatores de tipo cultural ou soci oeconmi co.
2
Al m disso, deve-se subli-
nhar que a t endnci a a buscar uma causali dade especfica cont i nua domi -
nando a aproxi mao epi demi olgi ca, a despei t o da passagem ao pri mei ro
plano das doenas crnico-degenerativas, das violncias e das drogadi es.
A epi demi ologi a tende a considerar o processo evolut i vo da enfermi-
dade em t ermos biolgicos. Al m disso, nela domi nant e uma aproxi mao
met odolgi ca a-histrica com relao ao processo s ade/ doena/ at eno
que no deve ser consi derada casual. A utilizao predomi nant e de sries de
curta durao por parte da epi demi ologi a no supe um fato conjuntural,
2
l i s t a af i r mao no i gnor a que a epi demi ol ogi a soci al col oca o ei xo de seus i nt er esses na di me ns o
econmi co- pol t i ca, apr es ent ando pont os de cont at o c om a de nomi na da ant r opol ogi a mdi ca cr-
tica. Devemos , no ent ant o, r ecor dar que a epi demi ol ogi a soci al no i nclui i nf or ma e s de nat ur eza
soci ocul t ur al ou i deol gi ca, c o mo t a mpouc o o f azem a l guma s t endnci as da ant r opol ogi a mdi ca
c om r el ao aos pr oces s os econmi co- pol t i cos .
expressando realment e sua concepo a-histrica. No conjuntural, srie hi s-
trica breve de ci nco a dez anos, estaria o peso do bi olgi co como const an-
te, ao passo que a est rut urao hi st ri ca se most r a desnecessri a com-
preenso do desenvolvi ment o da enfermi dade. Ai nda que, em nvel mani -
festo, a epi demi ologi a trabalhe fundament alment e com sries histricas cur-
tas, no este o det ermi nant e de sua opo met odolgi ca. A necessi dade de
encont rar a soluo, ou pelo menos expli cao para problemas i medi at os, e a
de propor solues para epi sdi os agudos (' surtos' ), bem como a desconfi-
ana a respei t o dos dados ' ant i gos' e t c , const i t uem razes compreens vei s,
por m no h dvi da de que a i gnornci a da mdi a e longa durao histrica
obedece ao predom ni o de um modelo mdi co biologicista.
No caso do concei t o est i lo de vi da, obs er vamos que, se a ant r opo-
l ogi a o consi der a hol st i co, a epi demi ol ogi a t ende a r eduzi -l o condut a
de ri sco, cor r oendo a concepo t er i co-met odol gi ca com base na qual
foi pr opost o. Est e concei t o foi des envol vi do por di ferent es cor r ent es
t er i cas soci ol gi cas e psi canal t i cas (Corei l et al. , 1985) com o obj et i vo
de pr oduzi r uma ar t i cul ao ent re a base mat er i al e i deol gi ca que oper a
no des envol vi ment o das enf er mi dades. Tr at a-se de const i t ui r um concei -
t o medi ador ent r e o n vel macr o (est rat o soci al) e o dos gr upos i nt er me-
di r i os expr esso por mei o de sujei t os consi der ados c omo me mbr o s / e x-
pr es s o dest es.
As necessi dades expli cat i vas/apli cat i vas da epi demi ologi a despojaram
este concei t o de sua art i culao mat er i al/i deolgi ca e m t er mos holst i cos e
r eduzi r am sua apli cao ao risco subjetivo ou gr upai especfico. De uma
perspect i va ant ropolgi ca, o hbi t o alcoli co no um risco di st i nguvel das
condi es globai s com base nas quais o sujeito produz sua vi da. o contex-
to global que post o em quest o por i nt ermdi o do estilo de vi da. Pensar
i soladament e o risco de beber, fumar ou de comer det ermi nados ali ment os
pode ser eficaz para intervir em nvel de condut as individuais, mas anula o
efeito abrangent e do problema. No por acaso que as vi olnci as estejam
entre os fatos menos est udados pela epi demi ologi a lat i no-ameri cana, e que
fenmenos como suicdio, acidentes e homi c di os sejam despojados de suas
i mpli caes estruturais e convertidos em fenmenos de risco. Em sntese,
se, para a epi demi ologi a, o estilo de vi da represent a uma vari vel a mai s,
para a ant ropologi a, integra uma forma global de vi da, da qual o risco seria
part e const i t ut i va.
A ant ropologi a continua pr opondo uma preveno de tipo est rut ural,
em t ermos econmi co-polt i cos ou culturais, ao passo que a epi demi ologi a
preci sa se adequar a padr es ' reali st as' em funo das pol t i cas de sade
domi nant es que no colocam na preveno estrutural o ei xo de suas inver-
ses nem de seus interesses.
Tocamos, nest e pont o, em um aspect o i mpor t ant e, que no anali sa-
r emos aqui , mas que deve ser i nclu do em uma anli se das conver gnci as e
di vergnci as. So os l ugar es di ferent es que a ant ropologi a e a epi demi olo-
gi a ocupam no mbi t o do setor de sade ou, se preferi rem, dent ro do Est a-
do. Seu status e sua significao, t ant o t cni ca quant o polt i ca, so diferen-
t es: uma apar ece como uma ' di sci pli na t eri ca e acadmi ca' , quando mui t o
vi ncul ada a Or gani zaes No- Gover nament ai s ( ONGs ) em t er mos de
i nves t i gao/ ao; j a out ra se most r a ori ent ada, pelo menos i deologi ca-
ment e, par a as prt i cas, segundo a defi ni o que a elas dada pelos obje-
tivos gover nament ai s.
3
DIFERENCIAES DISTANCIAMENTOS:
A APROPRIAO DE CONCEITOS
As t endnci as assinaladas most ram-se condi ci onadas por uma srie de
processos, que vo desde o met odolgi co at o institucional, aqui coment a-
remos apenas os que facilitam a i nt erpret ao das divergncias.
A ant ropologi a parte, em sua aproxi mao ao processo de s / d/ a , de
uma concepo uni lat eralment e soci ogni ca. A quase t ot ali dade das t endn-
cias ant ropolgi cas so soci ogni cas, desde o mar xi smo at o i nt eraci oni smo
si mbli co, passando pelo cult urali smo i nt egrat i vo, o const r uci oni smo e o
estruturalismo. em funo deste pressupost o comum que t odas as t endn
3
Estas concluses so pertinentes Amrica Latina, mas merecem ser ponderadas. Nas instituies
em que o antroplogo tem um status similar ao de um mdico, sua situao semelhante ou, de um
modo geral, ainda mais 'subalterna'. Parte do trabalho antropolgico - e tambm mdico - tem
lugar nas ONGs e em termos de investigao/ao. Isto, porm, no permite concluir que seu
trabalho no seja 'terico' ou 'acadmico', mas sim que deveria ser realizada l uma anlise deste
tipo de atividade para observar qual a natureza do trabalho predominante.
cias pr opem que o n vel de anli se mai s est r at gi co par a expli car o pr o-
cesso s / d / a cor r es ponda ao n vel s oci oeconmi co ou soci ocul t ur al , e
no ao bi ol gi co. Essa opo adqui r e car act er st i cas r adi cai s em t odas as
t endnci as, com exceo da ecol ogi a cult ural e do mat er i al i smo mecani
ci st a, const i t ui ndo est a lt i ma um dos poucos r epr esent ant es do bi ologi
ci smo na ant r opol ogi a mdi ca.
Com relao ao processo s / d / a , a epi demi ologi a parte do pat olgi co,
isto , da enfermi dade medi cali zada, ao passo que a ant ropologi a par t e do
processo sociocultural e polt i co-econmi co que inclui o fenmeno consi de-
rado patolgico. Al gumas corrent es tericas ant ropolgi cas oper am, inclusi-
ve, com forte t endnci a a despat ologi zar ou reduzir o pat olgi co ao processo
social ' normal' . Est a t endnci a t em sido criticada pelos sanitaristas, que ar-
gument am mui t as vezes, de forma corret a que o relativismo ant ropolgi -
co e a nfase na cultura como ' verdade' levam a uma reduo da significao
dos processos patolgicos. No obstante, devemos subli nhar que, se a epi-
demi ologi a ancora seu eixo de anlise no processo patolgico, a ant ropologi a
mdi ca o faz na estrutura sociocultural.
Temos investigado, nos ltimos anos, o problema do alcooli smo no
Mxi co, utilizando como conceito central o de ' processo de alcooli zao' , ao
qual r emet emos os concei t os de ' alcooli smo' , ' alcoli cos' e ' dependnci a' .
O processo de alcooli zao inclui t odos aqueles processos sociais consi de-
rados deci si vos na est rut urao do alcooli smo como fenmeno pat olgi co,
nor mal e coletivo e, em conseqnci a, remet emos a ele no soment e os con-
ceitos bi omdi cos pert i nent es, como os processos i ndi vi duai s ( Menndez,
1990a; Menndez & Di Pardo, 1994).
J em 1943, Hort on propunha que, para um ant roplogo i nt eressado
no pr oblema do alcooli smo, era to relevante estudar os alcolicos crni cos
quant o os bebedores sociais e a populao que no bebe. Afinal, por mei o
das represent aes e prticas dos diferentes conjuntos sociais que podera-
mos obter uma expli cao/i nt erpret ao do fenmeno em t er mos da estru-
tura sociocultural e no soment e do fenmeno pat olgi co em si. Al m disso,
o consumo pat olgi co e suas conseqnci as seriam expli cados no soment e
pelos sujeitos alcooli zados, mas t ambm pelo conjunto de atores i nseri dos
no si st ema social (Horton, 1943).
Exi st e, poi s, um pont o de convergnci a, que si mult aneament e se cons-
titui um dos pri nci pai s pont os de ant agoni smo pot enci al, e expresso do
processo de medi cali zao. Referi mo-nos pr oduo e ao uso de concei t os
por part e das duas disciplinas.
Uma reviso, mes mo superficial, dos concei t os empr egados pela epi-
demi ologi a, a sade pbli ca ou a medi ci na social per mi t e constatar o bvio:
seus concei t os bsi cos foram, em grande parte, cunhados e utilizados pre-
vi ament e pelas cincias sociais e antropolgicas. Concei t os como necessi da-
des, comuni dade/ or gani zao da comuni dade/ des envol vi ment o comuni -
t ri o, gr upo e ci clo domst i co, par t i ci pao soci al, cl asse s oci al / es t r at o
s oci al / n vei s s oci oeconmi cos , pobr eza, r edes soci ai s, n vei s educaci o-
na i s , o c u pa o / t r a ba l ho / pr o c e s s o s de t r a ba l ho / n ve i s oc upa c i ona i s ,
s exo/ gner o, est i lo de vi da, est r at gi as de s obr evi vnci a/ es t r at gi as de
vi da foram f or mul ados, ut i li zados, modi f i cados e at me s mo descar t ados
pel as ci nci as soci ai s e ant r opol gi cas antes de serem apropri ados ou rein-
vent ados pelas cincias da sade.
Es t es concei t os so frut o de u m pr oc e s s o t er i co e met odol gi -
co acer ca do qual a mai or i a dos epi demi ol ogi s t as par ece no det er i n-
f or maes abr angent es . Deve- s e subl i nhar , a esse r es pei t o, que t odos
est es concei t os se r ef er em a t eor i as espec f i cas e que pel o me nos uma
par t e del es ( neces s i dades , c omuni da de , r edes s oci ai s , est i l o de vi da)
foi de s e nvol vi da por t endnci as que ut i l i zavam pr ef er enci al ment e t c-
ni c a s qua l i t a t i va s .
Em relao ao que est amos assinalando, pelo menos em alguns pases
da Amr i ca Latina, nota-se algo interessante sobre a utilizao de concei t os
como medi cali zao, controle social e cultural, relao entre o cultural e o
bi olgi co ou art i culao ent re o nor mal e o patolgico, j que podem ser
utilizados como concei t os sem passado soci oant ropolgi co ou, o que mai s
significativo, como concei t os elaborados por filsofos ou epi st emlogos.
Assi m, na Amr i ca Latina, alguns dest es concei t os so referidos, dent ro do
campo das cincias da sade, s obras de Foucault ou Cangui lhem, i gnoran-
do o i mport ant e vol ume de i nvest i gaes empri cas e pr oduo terica, ela-
bor adas, desde a dcada de 1920, pelas ci nci as sociais e ant ropolgi cas,
que t rabalharam a fundo alguns deles. Est es resultados, possi velment e, se-
ri am mai s teis para os epi demi ologi st as do que os concei t os formulados
pelos filsofos franceses.
O objetivo, aqui, no negar a i mport nci a dos aport es de Foucault
ou Cangui lhem, mas chamar at eno para a necessi dade de recuperar a mas
sa de mat er i al ant r opol gi co, pr oduzi da, em sua mai or i a, com base em
t r abal hos de campo. Deve- se, t ambm, esclar ecer que no r ecuper amos
a i mpor t nci a de t oda essa pr oduo, mas const at amos sua exi st nci a e
at es t amos que dever i a ser conheci da e avali ada e m t oda sua si gni fi cao.
Se os sani t ari st as e cl ni cos que r et omam os del i neament os i nt er pr et at i
vos conheces s em mai s a fundo no s oment e um de seus r ef er ent es mai s
evi dent es r ef i r o-me a Geer t z mas t ambm a pr oduo ant r opol gi ca
nor t e- amer i cana, br i t ni ca, canadense e francesa ent re 1920 e 1960, po-
der i am obs er var que o que cer t as cor r ent es i nt er pr et at i vas at uai s t m
feito, bas i cament e, aprofundar um campo que j havi a pr oduzi do con-
t r i bui es not vei s, hoj e esqueci das ou negadas .
A falta de reconheci ment o de que estes e outros concei t os utilizados
at ualment e pelas cincias da sade possuem uma histria conceituai expres-
sa, de forma quase paradi gmt i ca, no soment e o desconheci ment o das refe-
ridas cincias acerca da produo ant ropolgi ca, mas t ambm da a-historici
dade das disciplinas originrias (em t ermos met odolgi cos) do model o m-
dico hegemni co.
Todavi a, e isto que i nt eressa ressaltar, este desconheci ment o t em
conseqnci as negat i vas no trabalho epi demi olgi co, acarret ando, por um
lado, que t enhamos de lidar, com cert a freqncia, com a redescobert a do
bvi o, si gni fi cando per da de t empo, desperd ci o de recursos, i ncor r ees
concei t uai s em t ermos tcnicos etc. Devemos ter claro que i gnorar o pr oces-
so de como os concei t os foram produzi dos e, sobretudo, apli cados i mpli ca
dei xar de observar a capaci dade que estes concei t os vm demonst rando, ao
l ongo do tempo, de explicar e possibilitar o enfrent ament o dos problemas
esboados. Supe dei xar de observar, por out ro lado, como efet i vament e
foram apli cados os referidos concei t os, e se o pr oblema reside no concei t o
ou na nat ureza da apli cao.
4
Concei t os que foram ou esto sendo utilizados por epi demi ologi st as
tais como os de necessi dade, comuni dade, part i ci pao social ou s exo/ gne-
ro t m, na Amr i ca Latina, uma histria terica e de i nvest i gao aplicada.
Al guns deles se di fundi ram de forma not vel, expr essando no soment e
4
Para uma reviso desta natureza, ver a anlise da participao social em sade na Amrica Latina,
realizada por Ugalde (1985).
modi smos, mas t ambm estmulos terico-prticos e financeiros, diretos ou
indiretos, que acent uaram tendncias de i nvest i gao de longo curso.
O concei t o de gnero - restrito durante anos aos redut os de socilo-
gas, hi st ori adoras e ativistas feministas - i rrompeu nos anos 80 e 90 em
est udos sobre planificao familiar ou sade reprodutiva. Existe, agora, uma
avalanche de i nvest i gaes que o t m como um de seus eixos. Est cada vez
mai s despojado de seus cont edos heursticos e i mpugnador es, dado o pro-
cesso de produo de conheci ment o em que vem sendo includo.
De nossa perspectiva, o uso de conceitos se refere, consci ent ement e
ou no, a teorias que os produzi ram no mbi t o de um det ermi nado marco
referencial, que supe discrepncia, complement ari dade ou ant agoni smo com
outros marcos tericos. Os conceitos so const rues provi sri as que, pelo
menos em antropologia, no so ' neutras' ; referem-se a det ermi nadas ten-
dncias. Esta cont ext uali zao parece estar ausent e de boa part e da produ-
o epi demi olgi ca, que, inclusive, elabora teorias explicativas sobre as quais
estes referentes tericos se omi t em.
A penl t i ma dest as t eori as a da t ransi o epi demi ol gi ca. Como
s abemos , ela foi pr opost a nos Est ados Uni dos no i n ci o da dcada de 70
e apl i cada por aut or es l at i no- amer i canos dur ant e a s egunda par t e dos
anos 80. O que i nt er essa dest acar que o concei t o de ' t r ansi o epi de-
mi ol gi ca' sai bam ou no os que o ut i li zam est r el aci onado a uma
pr opost a evol uci oni s t a/ des envol vi ment i s t a da soci edade, f or mulada ge-
r al ment e em t er mos t i polgi cos, sust ent ando-se t eor i cament e na assi m
denomi nada t eori a da moder ni zao. Est a t eori a foi mui t o di fundi da nas
dcadas de 50 e 60, t endo como al guns de seus pr i nci pai s expoent es
soci l ogos e ant r opl ogos l at i no-amer i canos. Cr i t i cada dur ant e os anos
60, dei xou de ser ut i li zada em fins dest a dcada e nos anos 70. A di scus-
so t eri ca acerca da t r ansi o - que, por out r o lado, t ambm t em razes
na dcada de 30
5
- no est pr esent e na mai or i a dos t r abal hos que a
ut i li zam na Amr i ca Lat i na. A t eori a empr egada com base em dados
emp r i cos, t r abal hados como se o concei t o no estivesse referido a certas
5
Ver a di s cus s o sobr e o continuum f o l k - ur ba no relat i vo Am r i c a Lat i na. Vr i os dos pr i nci pai s
t er i cos dest a pr opost a, e m par t i cul ar Redf i el d e Fost er , de s e nvol ve r a m- na a par t i r da r eali dade
me xi c a na . No por acas o que as t i pol ogi as t r ans i ci onai s i ncl uem car act er st i cas do pr oces s o
s / d / a , da do que cer t os aut or es so al guns dos ' pai s f undador es ' dos es t udos e t nom di c os r ef er ent es
Am r i c a Lat i na.
concepes tericas que, conforme foi demonst rado no caso da moder ni za-
o, i mpli cavam a acei t ao de det ermi nadas concepes i deolgi cas a res-
pei t o do desenvolvi ment o.
O fato de que at ualment e se t enha recuperado a teoria da t ransi o
est relaci onado no soment e a uma aproxi mao cientfica, mas t ambm
recuperao das propost as polt i co-econmi cas domi nant es em grande parte
dos pases lat i no-ameri canos, j que a teoria da transio se articula s pro-
post as neoliberais e neoconservadoras.
Em sua ver s o epi demi ol gi ca, a pr opos t a da t r ans i o no apr e-
sent a as pect o mani f es t o de t eor i a e se api a, bas i cament e, na i nf or ma-
o sobre a t endnci a hi st ri ca dos danos sade e dos perfis epi demi ol
gi c o s . I s t o s i gni f i c a que o c o n c e i t o u t i l i z a d o ' d e s c r i t i va ' e no
' t eor i cament e' . Por m, deve- se r ecuper ar o f undament al : o concei t o de
t r ans i o se refere a t eor i as que o or i ent am na sua anl i se dos dados
emp r i cos . Es s as t eor i as t m si do anal i s adas quant o cons i s t nci a, e
cons t at ar am- s e nel as falt a de capaci dade expl i cat i va e i nc ongr u nc i a s
t e r i c o- i de ol gi c a s .
6
O lt i mo pont o que assi nalamos ressalta os mri t os da di scusso acer-
ca do que se ent ende por ' descri t i vo' em ant ropologi a e epi demi ologi a. Para
tal, devemos partir da epi demi ologi a domi nant e, que descritiva, mas assu-
mi r t ambm que um dos traos bsi cos do trabalho ant ropolgi co a etno
grafia, t ambm descritiva. Const at a-se, em conseqnci a, que a descri o, a
pr oduo do dado se revela prioritria para ambas. A quest o preci sar o
que cada uma delas ent ende por produo do ' dado' , j que aqui resi dem
algumas das principais divergncias.
6
Todo conceito constitudo por duas facetas: uma terica, outra operacional. A epidemiologia
descritiva tem-se preocupado sobretudo com esta ltima. Reduzir a interpretao aos dados, sem
incluir marcos referenciais tericos, conduz a uma espcie de oportunismo interpretativo, dado que
no se explicita por que determinados dados so trabalhados e outros no so includos. Torna-se
ainda mais necessrio quando se trata de formular interpretaes tericas como ocorre com a
'teoria' comentada ? Por que a transio se reduz anlise dos perfis de mortalidade e no inclui os
perfis de morbidade, j que nestes continuam a prevalecer as enfermidades 'tradicionais'? Que
explicao fornecer para a presena de homicdios e cirrose heptica tanto no perfil tradicional
como no transitional? Se enfocamos a violncia, at onde vai a transio como modelo, se temos,
lado a lado, a situao dos EUA, com altas taxas de homicdio, e a dos pases da Comunidade
Econmica Europia, com taxas reduzidas? Onde inserir fenmenos como o clera, a AIDS OU a
tuberculose, considerando seu aumento e suas caractersticas de doenas transmissveis e mortais?
Quando lemos e anali samos trabalhos de sade pbli ca ou de epi de-
mi ologi a clnica que fazem referncias e pr opem incluir em suas investiga-
es aspect os como estratgias de sobrevi vnci a, gr upos domst i cos, pro-
cessos i deolgi co-cult urai s, estilos de vi da ou ' si mplesment e vi olnci as' , e
obser vamos os dados emp ri cos que nos apresent am e anali sam, torna-se
evi dent e que h uma concepo diferencial no explicitada naqui lo que se
ent ende por cada um destes aspect os e sobre o tipo de ' dado' a ser produzi -
do. Supomos que pelo menos para uma parcela dos epi demi ologi st as ocorre-
r o mes mo com relao ao dado antropolgico. Est e pont o part i cularmen-
te i mport ant e e constitui um dos eixos diferenciais que t m de ser especifica-
dos pelos profissionais das duas reas.
7
ALGUMAS CARACTERSTICAS
BSICAS DO ENFOQUE ANTROPOLGICO
A ant r opol ogi a mdi ca, be m c omo out r as di s ci pl i nas s ci o- hi s t
r i cas, t m pr oduzi do mat er i ai s emp r i cos e t er i cos que s upe m apor -
t es e pos s i bi l i dades de ar t i cul ao c om a per s pect i va epi demi ol gi ca,
s empr e e quando exi st i r r eal ment e uma vont a de de ar t i cul ao e uma
al i enao. Em s egui da, enumer ar emos al guns apor t es s oci oant r opol
gi cos da epi demi ol ogi a.
A pr i mei r a cont r i bui o refere-se pr opost a de uma epi demi ol ogi a
soci ocult ur al, que r ecuper e os si gni fi cados e as pr t i cas que os conjunt os
soci ai s at r i buem a seus padeci ment os , pr obl emas , sent i ment os. Deve- se
r ecor dar que est a j ve m sendo pr oduzi da desde o final do scul o XI X.
Dur ant e os pr i mei r os ci nqent a anos deste sculo, foi se enri quecendo me-
diante cont ri bui es pont uai s que possi bi li t aram sua expanso a partir das
dcadas de 60 e 70.
7
Para dar um exemplo facilmente reconhecvel, muito freqente nos anos 70 e 80: quando epide
miologistas e socilogos utilizavam o nvel educacional - entendido como educao formal - para se
referir sua relao com comportamentos maternos ou com migrao, havia um pressuposto no
explcito de que estes nveis se referiam a fatores culturais. Esta significao emergia, sobretudo, na
discusso dos resultados.
O pri mei ro aporte sistemtico a i nvest i gao de Dur khei m (1897)
sobre o suicdio, ainda hoje uma alternativa terica para pensar o dado epi -
demi olgi co.
8
Post eri orment e, os t rabalhos de Dunhan e Faris (sobre a es-
quizofrenia em Chi cago), de Mauss (sobre as tcnicas do corpo), de Deve
reux (suicdio e homossexual i smo ent re os Mohave) , de Me a d e Bat eson
(problemas infantis em Bali ) , e de De Mar t i no (tarantulismo no sul da Itlia)
const i t uram propost as de articulao dos processos culturais e sociais com
relao i nt erpret ao de enfermi dades e problemas, e possi bi li t aram a ex-
panso dest a abor dagem a partir dos anos 60 e 70 (Young, 1982; Paul, 1988).
Est a art i culao sups a cont nua i ncluso de marcos referenciais tericos
ant ropolgi cos, sociolgicos e filosficos (Bi beau, 1987) .
9
A possi bi li dade de criao de uma epi demi ologi a sociocultural se apoi a
no r econheci ment o da existncia de uma estrutura epi demi olgi ca nos con-
junt os sociais que servi ro de mat ri a-pri ma para reconstru-la. Est e reco-
nheci ment o, por sua vez, est correlaci onado existncia do que denomi na-
mos ' epi demi ologi a prt i ca' em t odos os tipos de agent es de cura que ope-
ra nos mdi cos de famlia e generali st as, nos curandei ros populares e nos
especialistas alopat as e de outros sistemas mdi cos. Est a epi demi ologi a pr-
tica expressari a no soment e diferenas a propost a domi nant e como t am-
bm pont os de si mi lari dade e art i culao com o saber popular ( Campos,
1990; Menndez, 1990b, 1990c).
A epi demi ologi a sociocultural deve se referir tanto s represent aes
quant o s prticas. Partes significativas da ant ropologi a mdi ca e da epi de-
mi ologi a anali sam soment e as represent aes dos conjuntos sociais. ne
8
Criticvel em muitos aspectos, a proposta durkheimiana contm, no obstante, alguns aportes que
diferenciam e legitimam a aplicao do enfoque socioantropolgico ao processo s / d/ a. Suas contri-
buies se referem s necessidades de estudar o processo s / d/ a em termos de representaes
coletivas e de prticas (rituais), como tambm de construir o dado a partir da teoria e de uma
metodologia da ruptura. Na realidade, no se pode compreender de fato Bachelard, Canguilhem ou
Foucault, passando por Mauss e Bourdieu, sem rever Durkheim em profundidade. O principal
problema de sua proposta reside na 'eliminao' do sujeito, ou, mais precisamente, no fato de que
as significaes so referidas s representaes e s praticas dos conjuntos sociais e no aos indiv-
duos, eliminando uma das principais fontes de sentido. Desta perspectiva, sua anlise do suicdio em
termos de representaes e prticas coletivas uma 'provocao metodolgica'.
9
De uma perspectiva epidemiolgica, os trabalhos de Cassei (1955, 1960) e de alguns psiquiatras
culturais (Bastide, 1967; Corin, 1988) estabeleceram as possibilidades de articulao, ao incorporar
as dimenses socioculturais. Com relao a isto, no casual que a experincia 'etnogrfica' destes
epidemiologistas se reporte ao contato com grupos no-ocidentais.
cessri o modificar esta manei ra de construir a i nformao, e, com base nesta
perspect i va, assumi r que as represent aes devem ser referidas a i ndi cado-
res objetivos - por exemplo, anlises bi oqu mi cas - , e s prt i cas que a po-
pulao pr oduz, no necessari ament e idnticas s represent aes.
Por consegui nt e, deve-se assumi r que os conjuntos sociais li dam com
um nmer o mai or de represent aes do que de prticas com relao a um
processo s / d / a det ermi nado. As prticas supem uma vari edade de sinteti-
zao/ sel eo das represent aes em funo da ao. Isto deve ser referido
no soment e ao saber popular, mas t ambm ao dos agent es de cura, a in-
cludo o saber mdi co.
O processo s / d / a deve ser ent endi do como uma const ruo social; os
conjuntos sociais vo const rui ndo um perfil epidemiolgico i nt egrado.
1 0
Deve-
se sublinhar, no entanto, que represent aes e prticas sobre cada uma das
enfermi dades e de suas caractersticas clnicas e epi demi olgi cas no se re-
vel am como algo est rut urado, emergi ndo, de fato, como reaes perant e si-
t uaes especficas. Reconhecemos um processo de const i t ui o histrica
do saber dos conjuntos sociais, que deve ser reconst rudo no t rabalho antro-
polgi co (Bi beau, 1993).
Os aspect os enumerados so alguns dos i nt egrant es do ncleo central
da propost a ant ropolgi ca e que se est rut uram em t orno do reconheci ment o
de que o processo s ade/ doena/ at eno constitui um dos campos para
alguns, o principal em t orno do qual os conjuntos sociais pr oduzem um
mai or nmer o de represent aes e de prticas. Est as represent aes e prti-
cas desempenhar i am vr i as tarefas fundament ai s art i culadas ent re si, que
i ncluem desde permi t i r uma i nt erpret ao e ao com relao s doenas
1 0
Com o termo 'integrado', queremos assinalar que o perfil inclui o conjunto de padecimentos,
sofrimentos, dores e problemas, sintetizando concepes e prticas provenientes de diferentes
saberes. Esta qualidade de sntese provisria necessria para assegurar o processo de reproduo
social. Em vrios trabalhos realizados ou supervisionados por ns, temos verificado, reiteradamen
te, que os grupos atuam frente a uma enfermidade segundo uma normatividade social dada. Porm,
caso o tratamento selecionado no funcione, eles recorrem a outras estratgias de interveno,
determinadas por sua capacidade/possibilidade de utilizao das mesmas. Assim, as mes abando-
nam o diagnstico de indigesto ou 'mau-olhado' e o ressignificam como gastroenterite, caso as
aes no dem resultado e vice-versa (Menndez, 1985, 1990c; Osrio, 1994; Mendoza, 1994). A
codificao de enfermidades dos 'curandeiros' e dos 'mdicos', construda e 'coisificada' por toda
uma corrente de investigaes antropolgicas, constituiu-se com base na observao quase exclu-
siva das representaes, sem referncia s prticas. No mbito das prticas, a enfermidade emerge
como processo de sntese.
r econheci das como ameaas, at possi bi li t ar a art i culao da r elao dos
sujeitos e gr upos sociais com a estrutura social, sobret udo em nvel i deolgi -
co/ cul t ur al (Stein, 1985, 1990).
Do processo s / d / a , const am desde aes cotidianas relativas solu-
o de problemas, at a elaborao de interpretaes que expressam os n-
cleos centrais das i deologi as/cult ur as domi nant es/ subalt er nas dos diferen-
tes gr upos que i nt eragem em uma soci edade det ermi nada. Uma vez que os
conjunt os sociais necessi t am produzi r uma interpretao isto , conferir
sentido e significado a seus sofrimentos , a enfermi dade e suas represent a-
es e prticas so, para a antropologia, part e constitutiva dos sujeitos.
Um aspect o nuclear da perspect i va ant ropolgi ca que vem adqui ri ndo
relevnci a nos lt i mos anos a respeito da i nvest i gao e da ao do processo
s / d / a o que se refere ao uso de tcnicas qualitativas na obt eno de infor-
mao e de anlise. A nfase s polticas de at eno primria, por um lado, e
a modi fi cao do perfil epi demi olgi co, por outro, favoreceram o reconheci -
ment o da i mport nci a desta abor dagem qualitativa, ao menos com relao a
det er mi nadas enfermi dades e estratgias.
Deve-se subli nhar que a recuperao da abor dagem quali t at i va rela-
tiva i nvest i gao do pr ocesso s / d / a t eve or i gem nos pa ses capi t ali st as
cent rai s, e, em part i cular, a part i r do desenvolvi ment o da s ndr ome de i mu
nodefi ci nci a adqui r i da (AIDS). Em pouco t empo, as car act er st i cas da en-
f er mi dade e dos sujei t os e gr upos por t ador es evi denci ar am as l i mi t aes
da abor dagem estatstica par a a obt eno de i nf or mao est rat gi ca com
al gum t i po de ut i li dade expli cat i va e prt i ca em t er mos dos compor t amen-
t os dos gr upos de risco. A medi da que se desenvolvi a a pr oduo de infor-
mao, os dados referent es ao homossexual i smo, bi ssexual i smo, r elao
ent re prost i t ui o e AIDS, a i nclu da a prost i t ui o infantil e t c , t ornava
ai nda mai s evi dent e a necessi dade de t rabalhar com abor dagens do tipo
quali t at i vo. Por m e isto o que interessa ressaltar o que se ' descobri u'
a respeito da AIDS no diferente do que j sabamos a respeito de out ras
enf er mi dades e pr oblemas, di ant e dos quai s a abor dagem est at st i ca evi-
denci ava suas li mi t aes. No di spomos de dados (ou os que t emos no
so confi vei s) com relao a uma srie de enf er mi dades par a a mai or i a
dos pa ses da Amr i ca Lat i na. A falta de legi t i mi dade ci ent fi ca decor r e
no soment e da pouca confiabilidade nos sistemas de captao institucional,
mas dos i nst r ument os estatsticos apli cados em i nvest i gaes epi demi olgi
cas. A desconfi ana se refere, basi cament e, a dois tipos de i nformaes: em
pri mei ro lugar, confiabilidade quant o aos valores relatados em t ermos de
mort ali dade ou de morbi dade e, em segundo lugar, quali dade estratgica
da i nformao obtida.
Em conseqnci a, na maioria dos pases da Amr i ca Latina, a infor-
mao epi demi olgi ca no confivel ou inexistente para problemas como
infanticdio, suicdio, alcooli smo, drogadi o, homi c di o, vi olnci a intrafa
miliar, vi olaes, aborto, sndromes cult uralment e deli mi t adas, cirrose hep
tica e aut omedi cao. Quase todos estes padeci ment os e problemas, da mes-
ma forma que a AIDS, tm relao com o ' ocult ament o' intencional ou fun-
cional da informao. Sua soluo ou abrandament o se referem mudana
de compor t ament o de sujeitos e conjuntos sociais envolvidos.
Deve-se recordar que vri os dos padeci ment os assi nalados constitu-
em algumas das principais causas de mort ali dade em vri os pases latino-
ameri canos, em nvel geral ou em gr upos de idade especficos. Isto , a falta
de aplicao de tcnicas qualitativas para obt eno de i nformao e anlise
obedece a outras causas que, em grande parte, esto relaci onadas concep-
o met odolgi ca utilizada na const ruo da i nformao e a sobredet ermi
nao do modelo mdi co hegemni co.
1 1
O sub-regi st ro de i nf or maes a respei t o de padeci ment os cuja na-
t ureza a dos pr oblemas j assi nalados deve, por seu turno, ser art i culado
ao tipo de i nf or mao acerca dest es padeci ment os, pr oduzi da em nvel
estatstico. Se, por exemplo, obser vamos a nat ureza do ' dado' produzi do
epi demi ologi cament e para um pr obl ema como o alcooli smo, i nclusi ve em
pa ses com t radi o de i nvest i gao nest e campo como o Mxi co,
1 2
vemos
que as vari vei s empr egadas cont i nuam a ser i ndefi ni dament e rei t eradas,
sem gerar aport es subst ant i vos di ferenci ai s depoi s de quase trinta anos de
pesqui sas epi demi olgi cas.
11
O fato de que a pr eocupao e a compi l ao de i nf or maes mai s conf i vei s a r espei t o de pr obl e
ma s / pa d e c i me n t o s c omo vi ol nci a i nt rafami li ar, s ndr ome de e s pa nc a me nt o de cr i anas , vi ol aes ,
si t uao de doe na s ment ai s ou cont ami nao, t enha si do pr oduzi do por ONGs c no por s er vi os
de s ade pbl i cos ou pr i vados r ef or a o que di s s emos .
1 2
A mor t al i dade por al cool i s mo, medi da por me i o de i ndi cador es di r et os e i ndi r et os, const i t ui uma
das t rs pr i nci pai s caus as de mor t e no M xi c o Ver Me n nde z & Di Par do ( 1 981 ) e Me n nde z
( 1 990a ) .
Em todas elas, conclui-se que o alcooli smo ocorre em homens de de-
t er mi nadas i dades, em sua mai or i a pert encent es a cert os est rat os soci ai s,
que professam det ermi nada religio, que t m nvel educaci onal formal e es-
tilo de vi da det ermi nados. Ai nda que se fale em consi derar os padres de
consumo e as di nmi cas culturais; e que alguns se pr oponham a est udar os
saberes dos conjunt os sociais uma vez que consi deram o alcooli smo como
part e da religiosidade popular , ou a i nformao no se pr oduz, ou, com
raras excees, adqui re as caract erst i cas de uma i nf or mao mani fest a e
rei t erada, operaci onali zada em t ermos de vari vei s epi demi olgi cas. Al m
disso, o Mxi co realizou, nos ltimos cinco anos, doi s i nquri t os sobre adi-
es, a i ncludo o alcooli smo, em nvel naci onal (SSA, 1990 & 1993). Po-
rm, seus dados seguem reiterando o uso das vari vei s j conheci das, sem
que se produza a i nformao estratgica que possibilitaria um tipo de inter-
pret ao e de ao diferente face s aes domi nant es.
A Pesqui sa Naci onal de Sade (SSA, 1994), i nvest i gando a ocorrnci a
de enfermi dades crnicas por gr upos de idade, codificou a diabetes mellitus,
a hi pert enso, as bronquites, as cardiopatias, as artrites, a desnutrio, a tu-
berculose, a epi lepsi a, a cegueira, a surdez, o atraso ment al e out ras causas.
No entanto, no det ect ou a cirrose hept i ca em t ermos de mor bi dade uma
das dez pri nci pai s causas de mort ali dade como a pri mei ra ou segunda cau-
sa de mor t e em gr upos em i dade produtiva, e como a pri nci pal causa de
hospi t ali zao nos servi os de gastroenterologia, com uma evoluo de 8 a
12 anos. Ou seja, a ci rrose heptica, a exemplo do alcooli smo, suscita igual-
ment e pr obl emas para os epi demi ologi st as.
A passagem ao pri mei ro plano das enfermi dades crni co-degenerat i
vas t ambm favoreceu o reconheci ment o das t cni cas qualitativas, dada a
crescent e i mport nci a conferida aos estilos de vi da tanto em relao s cau-
sas, quant o ao controle e sobret udo ao auto-controle destas enfermi dades. A
nfase recent e colocada na experincia do sujeito enfermo e na convi vnci a
com o ' seu' padeci ment o, bem como a i mport nci a dada ao ' aut ocui dado'
como expresso que pode assegurar mai or esperana e quali dade de vi da,
reforam ai nda mai s a significao das tcnicas qualitativas.
As lt i mas referncias nos conduzem a outro fator que t em i mpulsi o-
nado o desenvolvi ment o da aproxi mao qualitativa. As propost as de aten-
o pri mri a no soment e as de at eno pri mri a integral e seletiva, mas
t ambm as de at eno pri mri a mdi ca supem a i ncluso de estratgias
como part i ci pao social e organi zao comuni t ri a, a utilizao de prticas
populares ou o est mulo educao para a sade. Todas estas estratgias
supem a necessi dade de produzir i nformao clnica ou epi demi olgi ca es-
tratgica, e neste aspecto que as tcnicas qualitativas se t ornam decisivas.
Deve-se assumi r em toda sua significao que a mai or parte da i nformao a
ser obt i da de modo a i mpulsi onar a mai ori a destas estratgias se refere a
processos sociais, culturais, i deolgi cos e polticos, e que, alm disso, supe
incluir a ao, com base nos servios e sobret udo nos atores sociais. Se isso
for efetivamente assumi do, e no soment e como propost a burocrt i ca ou
modi smo, i mpe-se a utilizao de uma abor dagem qualitativa. Conseqen-
t ement e, se a preocupao com a At eno Pri mri a (AP) e com os Si st emas
Locai s de Sade (SILOS) real, estes objetivos pressupem o desenvolvi men-
to de uma epi demi ologi a no apenas do patolgico, mas i gualment e dos ' com-
port ament os normai s' , assim como, por princpio, uma relao com a estru-
tura e a organi zao social em nvel local. Este pont o torna meritria uma
di scusso desenvolvi da com base na anlise, por exemplo, das propost as de
AP e de como estas so realmente levadas a cabo.
1 3
DAS EROSES METODOLGICAS MEDICALIZAES
H poucos anos, alguns dos mai s dest acados ant roplogos mdi cos
at uai s, entre os quai s Lock, at ent aram para o peri go da medi cali zao da
ant ropologi a mdi ca, ao menos nos Est ados Uni dos e no Canad. Esta di s-
cusso se assent ava sobre um aspect o que pode ser desconheci do dos sani
taristas e t ambm dos ant roplogos lat i no-ameri canos. Referi mo-nos ao fato
de que, nos Est ados Uni dos, a ant ropologi a mdi ca a disciplina ant ropol-
gi ca de acent uada expanso nos ltimos dez anos; a pri mei ra ou segunda
especi ali dade com mai or nmero de membr os ativos, produz o mai or nme
13
bvi o que as pr opos t as de i nvest i gar a ' s ade posi t i va' , a ' qual i dade de vi da' ou os r ecur sos que
os s uj e i t os / gr upos det m par a enfrent ar seus pa de c i me nt os pr e s s upe m a ut i li zao, ai nda mai s
i nt ensa, dc uma a pr oxi ma o de t i po quali t at i vo.
ro de revistas especializadas recentes, obt m mai or nmero de post os de tra-
balho e t ambm um dos campos com maiores recursos de financiamento.
Est a expanso est relaci onada com vri os dos aspect os anali sados,
em part i cular com a apli cao da abordagem ant ropolgi ca i nvest i gao e
ao em AP com relao s enfermi dades crnicas, AIDS, drogadi o, vi o-
lncias e sade reprodut i va, assi m como com relao aos fatores ocupaci o
nais e de financiamento.
O peri go de medi cali zao da ant ropologi a era referido, no que con-
cerne aos pases centrais, nfase na especi ali zao ant ropolgi ca, correlata
especi ali zao mdi ca; ao fato de o mai or nmer o de i nvest i gaes ant ro-
polgi cas opt arem pelo enfoque ecolgico-cultural, o mai s si mi lar em sua
concepes met odolgi cas e t cni cas ao epi demi olgi co, a um cr escent e
dom ni o de i nvest i gaes de corte empirista, a uma crescente subordi nao
t eri co-met odolgi ca ao modelo mdi co hegemni co etc.
Nossa experi nci a na Amr i ca Lat i na no pode ser referida a estes
processos, pelo menos do modo como tm sido analisados pelos ant roplo-
gos nort e-ameri canos, canadenses e britnicos. H out ros processos que ex-
pr essam nossas condi es especficas.
No entanto, exi st em alguns fatos que compart i lhamos com esses pa-
ses em gr ande medi da, porque foram i nvent ados e receberam i mpulso de
ant roplogos e sanitaristas nort e-ameri canos com base em suas i nvest i ga-
es na Amr i ca Latina. Um dos mai s dest acados e que experi ment ou relati-
va expanso est li gado ao desenvolvi ment o de t ecnologi as rpi das de ob-
t eno de i nformao e de anlise. Dest e modo, t m sido produzi dos vri os
manuai s de ' etnografia rpi da' , referentes obt eno de i nf or mao epi de-
mi olgi ca e de servi os de sade (Scri mshaw & Hurt ado, 1988; Her man &
Bendey, 1992). At onde de nosso conheci ment o, na Amr i ca Lat i na, equi-
pes de sade, mdi cos e paramdi cos t m utilizado as ' etnografias r pi das'
referidas ao processo s / d/ a . Embor a entre os i nt rodut ores dest a t ecnologi a
possam ser encont rados ant roplogos, ger al ment e nor t e-amer i canos, sua
operaci onali zao no tem ficado, em geral, a cargo desses profissionais.
As etnografias rpidas part em de um fato observado rei t eradament e
em nosso trabalho antropolgico, e que t em permi t i do fundament ar a signi-
ficao das abordagens qualitativas. O trabalho com poucos i nformant es,
mas em profundi dade, permi t e const rui r o perfil epi demi olgi co de um gr u-
po det ermi nado, possi bi li t ando i gualment e a i ncluso de i nformaes eco
nmi cas, polticas e socioculturais. Al m disso, a epi demi ologi a obtida a par-
tir da permi t e ' encont rar' i nformaes a respei t o de enfermi dades ger al -
ment e obscur eci das ou i nexi st ent es nas pesqui sas epi demi olgi cas, assi m
como i nt erpret aes estabelecidas com base no pont o de vi st a dos at ores,
que per mi t em est abelecer atividades especficas.
Porm, esta forma de trabalho ant ropolgi co supe o di spndi o de
mui t o t empo, se pensar mos em t ermos comparat i vos com o trabalho epide
miolgico. Ademai s, supe uma aproxi mao de nat ureza holstica, que, ain-
da que no se cumpr a em sentido integral, opera como mar co referencial de
nosso trabalho.
A propost a de ' etnografias rpi das' supe despojar o t rabalho ant ropo-
lgi co no soment e de seu mar co referencial holstico, mas t ambm de sua
profundidade. Est a forma de trabalho pr omove o engendr ament o de coisas
semelhant es ao que j se t em produzi do, por exemplo, sobre o concei t o de
' estilo de vi da' , isto , corri a capaci dade terico-prtica da abor dagem an-
tropolgica. Est as modi fi caes advm, em grande parte, das concepes de
AP mdi ca e, em certa medi da, de AP seletiva, e podem ter pot enci ali dade
operativa. Todavi a, em t ermos prticos, i mpossi bi li t am obt er part e do n-
cleo da propost a antropolgica, caracterizada por permi t i r o acesso s signi-
ficaes das represent aes e das prticas.
Esta propost a encobre um fato decisivo. Alguns dos que a t m promo-
vi do t m uma ampla experi nci a no trabalho ant ropolgi co no que diz res-
peito aos gr upos de seu interesse, e em funo dest e saber vi venci ado que
eles t m elaborado recursos de i nt erveno no-t ransmi ssvei s, por m numa
apr endi zagem demor ada e prxi ma.
Out ro fato que no se most ra suficientemente ponder ado o da utili-
zao de t rabalhadores de sade locai s, para a reali zao dest e tipo de i nves-
tigao. A experi nci a ant ropolgi ca, assi m como os programas de AP inte-
grai s, t m at est ado com const nci a a factibilidade de produzi r agent es de
cura locai s que domi nem tcnicas bi omdi cas, e se revelado i gualment e ca-
pazes de engendrar uma epi demi ologi a local (Kroeger, Mont oya-Agui lar &
Bi chman, 1989). Est a possibilidade, porm, est baseada, quant o produ-
o de dados epi demi olgi cos (a i ncludos os ' dados ant ropolgi cos' ), no
fato de que estes trabalhadores sejam membr os do gr upo no mbi t o do qual
t rabalham. Quando esta met odologi a se revela apropri ada em t ermos de in-
vest i gao, mas utilizada por pessoas que no t m esta i nsero ou no
det m o saber acumul ado ant eri orment e assi nalado, o resultado pode ser
problemt i co.
Com relao ao analisado, h um pont o que interessa dest acar sobre a
forma como as tcnicas de tipo qualitativo esto sendo utilizadas, ao menos
nas reas a que t emos acesso, pelo pessoal de sade, j que esta apropri ao
supe uma t ransformao em doi s sentidos. Em pri mei ro lugar, os instru-
ment os t eri co-met odolgi cos podem ser reduzi dos a tcnicas despojadas
de seu i nst rument al terico. Em segundo, por exi gnci a das fontes de finan-
ci ament o, as urgncias e as necessi dades de produzi r result ados passar am a
det ermi nar o uso das tcnicas e no, do mar co terico. Tant o em t ermos de
i nvest i gao como de investigao-ao, com relao a aspect os da realida-
de e problemas que just ament e requerem uma met odologi a baseada em grande
medi da no t empo, est o sendo aplicadas met odologi as de ur gnci a.
1 4
A nfase no qualitativo, o 'falar' de etnografias, mas com caractersti-
cas rpi das, a i ncluso de uma t ermi nologi a que se refere a si gni fi caes,
sentidos, represent aes e saberes, a converso de i nst rument os que pot en-
ci alment e pr oduzem ' etnografias profundas' em i nst rument os que ger am da-
dos urgent es, t udo isso supe a necessi dade de comear a esclarecer o senti-
do dest e enfoque, que tende a se apropriar de um corpo de palavras que se
referem a uma met odologi a de nat ureza ant ropolgi ca, mas que est o sendo
ressignificadas com base em uma concepo no qualitativa do ' dado' pro-
duzi do, o que, na prtica, t ende a separ-lo da referncia terica.
1 4
Devemos deixar claro que a urgncia na produo de resultados no constitui uma particularidade
das cincias da sade. H muitos anos, quando parte dos socilogos 'redescobriu' o qualitativo,
alguns instrumentos qualitativos foram convertidos em tcnicas rpidas. Um dos exemplos mais
precoces foi a converso das histrias de vida socioantropolgicas em histrias de vida estruturadas
de aproximadamente uma pgina e meia e constituda por uma enumerao de variveis similar a
um perfil demogrfico e ocupacional. Nos ltimos anos, foram realizados vrios experimentos
interessantes que obtiveram rpida difuso. Um deles a aplicao do critrio de 'saturao' s
entrevistas em profundidade ou s histrias de vida, o que, entre outras coisas, implicou a impossi-
bilidade de construir padres de comportamentos 'reais'. Outro diz respeito ao desenvolvimento
dos 'grupos focais', manejados com as mesmas caractersticas aplicadas nas "entrevistas mercadol-
gicas". Um ltimo exemplo o que postula a entrevista nica como o meio pelo qual emergem as
representaes e prticas dos sujeitos com problemas tais como AIDS, questes no mbito da sade
reprodutiva ou violaes. Para alm de fundamentaes metodolgicas, uma parte do desenvolvi-
mento destas tcnicas tem relao com as urgncias e as imposies dos financiamentos. Em
conseqncia, um segmento dos antroplogos tambm est alterando suas formas qualitativas de
abordagem.
Ent ret ant o a nfase no qualitativo pode dar lugar a vri as deforma-
es, tais como o hi perempi ri smo e o ateoricismo, ou a uma quali dade duvi -
dosa da i nformao. Em outras palavras, pode chegar a reproduzi r as carac-
tersticas domi nant es em grande parte da produo epi demi olgi ca e socio-
lgi ca que, paradoxalment e, questiona. A produo do dado e a anlise qua-
litativa supem um vi goroso controle epi st emolgi co em nvel artesanal, bem
como um quest i onament o de tais urgnci as.
1 5
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BASTIDE, R. Sociologia de Ias Enfermedades Mentales. Mxico: Siglo XXI, 1967.
BIBEAU, G. Nouvelles directions dans l' anthropologie medico-psychiatrique
nord-americaine. Sant, Culture Health IV: 2-4,1987
BIBEAU, G. Hay una enfermedad en las Amricas? Otro camino de la Antropolo-
gia Mdica para nuestro tiempo. In: PINZN, C; SUAREZ, R. & GARAY, G.
Cultura y Salud en la Construccin de las Amricas Bogot: Colcultura, 1993.
CAMPOS, R. Nosotros los curanderos. Aproximacin antropolgica al curanderis
mo contemporneo en la ciudad de Mxico. Tesis de Maestria Social, Mxico:
EN AH, 1990 . (Alianza Edit. Mexicana, no prelo).
CAUDILL, W. Applied anthropology in medicine. In: KROEBER, A. (Ed.)
Anthropology Today. Chicago: University of Chicago Press, 1953:771.
CASSEL, J. C. A Comprehensive health program among South African Zulus. In:
Paul, (Ed.) He alth, Culture and Community. New York: Russel Lage, 1955.
CASSEL, J. et al. Epidemiologic analysis of the health implications of culture
change: a conceptual model. Annals of the Ne w York Acade my of Scie nce s, 84(17): 938-
942, 1960.
COREIL, J. et al. Life-Style. An emergent concept in the sociomedical sciences. Culture ,
Me dicine and Psychiatric, 9: 243-255, 1985.
1 5
No desconhecemos a utilizao de tcnicas qualitativas no trabalho da sade pblica latino-america-
na, que no caso do Mxico refere-se quase que exclusivamente ao uso de servios de sade (SSA, 1994;
Miranda et al., 1993), mas consideramos que esta utilizao no somente muito escassa, mas
tambm no est integrada ao trabalho epidemiolgco, figurando como um produto paralelo.
CORIN, E. La culture, voie royale vers l'elaboration d'une psychiatrie scientifique.
Sant, Culture, Health V(2): 157-170, 1988.
DUNN, F. & J ANES, C. Introduction: medical anthropology and epidemiology. In:
J ANES, C; STALL, R. & G1FFORD, S. (Eds.) Anthropology and Epidemiology. Interdis-
ciplinary approaches to the study of health and disease. Dordrecht: D. Reidel Pub. Co.,1986.
DURKHEIM, E. El Suicdio. Mxico: UNAM, 1974.
HERMAN, . & BENTLEY, . Manuals for ethnografic data collection:
experience and issues. Social Scie nce & Me dicine 35 (11):1369-1373, 1992.
HORTON, D. Las funciones del alcohol en las sociedades primitivas. In:
MENNDEZ, E.L. (lid.). Antropologia del alcoholismo en Mxico: los limites culturales de la
economia poltica. 1930-1979. Mxico: Ediciones de la Casa Chata, 1991.
J ANES, C; STALL, R. & GIFFORD, S. (Eds.) Anthropology and Epidemiology.
Interdisciplinary approaches to the study of health and disease. Dordrecht: D. Reidel Pub.
Co.,1986.
KROEGER, .; O OYA - AGUILAR, C. & BICHMAN, W. Mate nale s de
enseanza sobre el uso de la epidemiologia en la atencin de salud a nivel de sistemas locales de salud
(SILOS). Universidad de Heidelberg/OMS, 1989.
MENDOZA, Z. De lo biomdico a lo popular. El proceso salud/enfermedad/
atencin en San Juan Copala, Oaxaca. Tesis de Maestria Social, Mxico: ENAH,
1994.
MENNDEZ, E. L. Descripcin y anlisis de las representaciones y prcticas de
grupos domsticos sobre la mortalidad en nios menores de cinco anos en una
comunidad de Guanajuato. (Manuscrito). Mxico, 1984.
MENNDEZ, . L. Morir de Alcohol: sabe r y he ge monia mdica. Mxico: Alianza
Editorial Mexicana/CONACULT, 1990a.
MENNDEZ, E. L. Antropologia mdica en Mxico: hacia la construccin de una
epidemiologia sociocultural, 1990b.
MENNDEZ, E. L. Medicina tradicional o sistemas prctico-ideolgicos de los
conjuntos sociales como primer nivel de atencin, 1990c.
MENNDEZ, E. L. Antropologia Mdica, orientaciones, desigualdades e tran
sacciones. Cuadernos de la Casa Chata, 179. Mxico: CIESAS.
MENNDEZ, E. L. (Ed.). Antropologia del alcoholismo en Mxico: los limites culturales de
la economia poltica. 1930-1979. Mxico: Ediciones de la Casa Chata, 1991.
MENNDEZ, E. L. & Dl PARDO, R. Alcoholismo (I). Caractersticas y funciones
del proceso de alcoholizacin. Cuademo de la Casa Chata, 56, Mxico, 1981.
MENNDEZ, E. L. & Dl PARDO, R.De algunos alcoholismos e de algunos saberes:
atencin Primaria y proceso de alcoholization en Mxico. Mxico: CIESAS, 1994.
MIRANDA, C. (Coord.) Estdio qualitativo/diagnstico de los factores que
afectan la demanda de los servicios de salud en los Estados de Aguascalientes, Chi-
apas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca e el Distrito Federal. Mxico, 1993, (Manuscrito).
OPLER, M. Culture and Mental Health. New York: Basic Books,1959.
OSORIO, R. M. La cultura mdica y la salud infantil. Sntesis de representaciones y
prcticas sociales en um grupo de madres de familia. Tesis de Maestria Social,
Mxico: ENAH, 1994.
PAUL, R. Psychoanalytic Anthropology. Annual Review of Anthropology. 18:177-183,
1989
PAUL, B. (Ed.) Health, Culture and Community. New York: Russell Sage, 1955.
PINZN, C; SUAREZ, R. & GARAY, G. Cultura y salud en la construction de las
Amricas. Bogot: Colcultura,1993.
SCRIMSHAW, S. & E. HURTADO. Procedimientos de asesoria rpida para programas de
nutritin y atencin primaria de salud. Los Angeles: UNICEF/UCLA, 1988.
STEIN, H. Alcoholism as metaphor in American Culture: Ritual desecration as social
integration. Ethos 13(3), 1985.
STEIN, H. American Medicine as Culture. Boulder: Westview Press, 1990.
SSA. Secretaria de Salud. Encuesta National de Adicciones. Mxico, 1990.
SSA. Secretaria de Salud. Encuesta National de Adicciones. Alcohol. Mxico, 1993.
SSA. Secretaria de Salud. Estudio cualitativo sobre los determinantes y modalidades de la
utilization de los servicios de salud. Mxico, 1994.
TROSTLE, J . Early work in Anthropology and Epidemiology: from social
medicine to the germ theory, 1840 to 1920. In: J ANES, C; STALL, R. & GIFFORD,
S. (Eds.) Anthropology and Epidemiology. Interdisciplinary approaches to the study of health and
disease. Dordrecht: D. Reidel Pub. Co.,1986.
UGALDE, A. Ideological dimensions of community participation in Latin American
Health Programs. Social Science & Medicine 21 (1): 41-57, 1985.
YOUNG, A. The anthropologies of illness and sickness Annual of Review of Anthropology,
11:257-280, 1982.
ME T A NA L I S E E M
E P I D E MI O L O G I A *
Milos Jnicek
H um lugar para a metanlise na epi demi ologi a e vi ce-versa? A res-
posta um sonoro sim, porm com li mi t aes i gualment e sonoras. O passa-
do, o presente e as possveis tendncias do futuro podero confi rmar isto.
EM TERMOS HISTRICOS
Vi vemos em uma era excitante, uma poca de revolues t ecnolgi cas
na medi ci na preventiva, na sade pblica, na prtica clnica. Vacinas criadas
genet i cament e, mapeament o subcelular em epi demi ologi a molecular, mt o-
dos avanados de diagnstico por i magens como a tomografia comput ado-
rizada axial e a ressonnci a magnt i ca esto-se t ornando mai s acessveis
para uma parcela cada vez mai or da populao, ainda que a um custo que
* Tr aduo: ngelo S.Meira & Francisco Incio Bastos
cresce de modo alarmant e. O uso em larga escala de mt odos mai s t radi ci o-
nais de preveno pri mri a e secundria como a vaci na BCG, t ri agem do
cncer ou alterao comport ament al em cardi ologi a , com i mpact os fre-
qent ement e pouco conheci dos sobre doenas e camadas da comuni dade,
rapi dament e subtrai recursos do orament o naci onal de sade. Busca-se a
relao cust o/benef ci o melhor possvel em t odos os nveis de planejament o
e cui dados em sade. Escolhas entre programas e problemas concorrent es
no mbi t o da sade no podem ser feitas i nt ui t i vament e, nem baseadas ape-
nas na experincia. Uma anlise sistemtica de pesqui sa e i nt erveno em
sade torna-se uma necessi dade.
Ao l ongo dest e sculo, persi st e um hi at o ent re a r i gor osa pesqui sa
bsi ca e cl ni ca e a t omada de deci ses no mbi t o de pol t i cas de sade e
cui dados mdi cos . Es t amos acos t umados e t r ei nados a des envol ver a
cont ent o est udos or i gi nai s, como ensai os cl ni cos e de campo, mas s h
pouco t empo est amos apr endendo a pr em prt i ca uma abor dagem r i go-
rosa quando t omamos deci ses com base no ampl o espect r o de exper i n-
ci as i sol adas. Por exempl o, o cont r over so ri sco de comor bi dades envolvi -
do no ampl o uso de dr ogas ant i -i nf lamat r i as no-est er i des ou r eposi -
o hor monal em mulher es na ps - menopaus a s pode ser avali ado em
bases ampl as , com est r at gi as mai s apr opr i adas do que os est udos anal -
t i cos obser vaci onai s i sol ados ou ensai os cl ni cos. A met anl i se pode au-
xi li ar nest e aspect o.
A met anli se i nt egrao de result ados de est udos i ndependent es
vi nculados a uma mesma questo ainda no t em vinte anos (Glass, 1976;
Light & Pilemer, 1984), ao passo que sua apli cao em medi ci na e cincias
afins da sade t em apenas dez (Ei narson et al. 1985; L' Abbe, Det sky &
O' Rour ke, 1987; Jni cek, 1989).
Apesar de recente, esse campo corre o risco de tornar-se v t i ma de sua
prpri a populari dade. Se, nos anos 70, apenas um punhado de met anli ses
era publi cado a cada ano, hoje, mai s de 500 avaliaes sistemticas que uti-
li zam o rtulo de met anli se so di vulgadas no mesmo i nt ervalo de tempo.
Uma nova safra de metanalistas profissionais se pr ope a dedi car-se
apenas a esse tipo de pesqui sa e avaliao. Essa atividade est-se t ornando
progressi vament e mai s bem deli neada e definida. O pri mei ro livro-texto de
met anli se em medi ci na foi publi cado h menos de dez anos (Jnicek, 1987),
e o segundo soment e em 1994 (Petitti). Cap t ulos cont endo met anli ses
t ambm constituem, cada vez mais, partes de livros-texto em epidemiologia
(Fletcher, Fletcher & Wagner, 1988; Hennekens & Buring, 1987; Jnicek, 1995).
O PRESENTE
J c onhe c e ndo sua evol uo, pode mos as s i m def i ni r met anl i s e
(Jni cek, 1995):
Em psicologia e educao, de onde provm, metanlise o processo de uso de mtodos
estatsticos para combinar resultados de diferentes estudos. O novo procedimento no se detm
nas distintas caractersticas referentes qualidade dos estudos originais. Em medicina e nas
cincias mdicas associadas, metanlise uma avaliao sistemtica, organizada e estruturada
e uma sntese de um problema que desperta interesse, baseada em resultados de estudos
independentes da questo (causa da doena, efeito do tratamento, mtodo diagnstico, prog-
nstico etc). No sentido epidemiolgico, os resultados de diferentes estudos tornam-se uma
nova unidade de observao e o objeto do estudo um novo conglomerado (cluster) de
informaes, semelhantes aos grupos de objetos nos estudos originais. um 'estudo de
estudos' ou 'epidemiologia de seus resultados'. Por conseguinte, a metanlise apresenta hoje
em dia quatro objetivos e propsitos: confirmar informaes, localizar erros, buscar descober-
tas adicionais e criar novas idias para pesquisas posteriores.
A partir do ensai o clnico, a met anli se se expande em direo a out ros
campos, como estudos de valores normat i vos (Staessen et al. , 1990), ocor-
rncia de doenas (Mahoney & Mi chalek, 1991), fatores etiolgicos por mei o
de pesqui sa observaci onal (Fleiss & Gross, 1991; Jones, 1992), prognst i co
(Mitra & MacRae, 1991), ou vali dade das tecnologias de di agnst i co (Irwig,
Li t t enberg & Petitti, 1991).
H met anli se na epidemiologia? Ou epi demi ologi a na met anli se, como
sugere o ttulo do texto? A resposta afirmativa para ambos os casos; alm
disso, a epi demi ologi a e a met anli se most ram-se mut uament e benficas. A
met anli se na epi demi ologi a refora nossa certeza sobre a(s) etiologia(s) das
doenas, efetividade de programas de sade ou curso, ocorrnci a e dissemi-
nao das doenas.
Por outro lado, a vast a experincia de epi demi ologi st as clssicos e cl-
nicos foi colocada a servio da metanlise. Critrios epi demi olgi cos ri goro
sos apli cados sade comuni t ri a e pesqui sa clnica realizada bei ra do
leito so hoje utilizados na avaliao da quali dade dos est udos originais. H,
t ambm, uma crescente t endnci a que vi ncula a met anli se qualitativa sua
' pri ma' ,
1
a met anli se quantitativa. Vi sando a uma melhor i nt egrao quan-
titativa, os est udos originais so ponderados e/ ou estratificados de acordo
com sua quali dade e caractersticas.
O mai or avano promovi do pela met anli se, do pont o de vista epi-
demi olgi co, a expanso da met odologi a de avaliao do i mpact o de in-
terveno. O clssico 'efeito de t amanho do est udo' , nest a disciplina, t em
como base a i nt egr ao e a i nt erpret ao de par met r os estatsticos. Em
medi ci na e sade pbli ca, uma avali ao e sntese de razes de produt os
cr uzados (odds ratios) (Yusuf et al. , 1985; Colli ns & Langman, 1985) , ri s-
cos relat i vos (St ampfer et al. , 1982) e at ri bu vei s (Hi mel et al. , 1986) , e,
possi velment e (no futuro), fraes etiolgicas ou taxas de eficcia de ele-
ment os de prot eo revelam-se ainda mai s i nt eressant es (Jnicek, 1995).
TENDNCIAS PREVISVEIS
Ambas as t endnci as met anli se na epi demi ologi a e epi demi ologi a
na metanlise podem ser antecipadas tanto no mbi t o da met odologi a quant o
no das suas aplicaes.
Nas pesqui sas clni cas, epi demi olgi cas e em sade pbli ca, o mai or
benefcio, provavelment e, no ser nossa mai or compet nci a para est i mar
alguns valor es caract erst i cos sobre det er mi nado campo de pesqui sa, tais
como ri scos ou efeitos decorrent es da doena. Na verdade, um efeito de
desdobr ament o e ent r el aament o
2
de tal pesqui sa dedut i va em met anli se
estar relaci onado, sobret udo e cada vez mai s, ao r umo t omado pela anlise
e pela i nt erpret ao da het erogenei dade dos resultados. Avali aes de estu-
dos ' ext r nsecos' de seus diferentes estratos, segundo diversas classificaes,
podero levar gerao de novas hi pt eses e interpretaes, medi ant e uma
1
No original kin (N.T.).
2
No original spin-off (NT. ).
abor dagem i ndut i va em met anli se, combi nada deduo por mei o de um
processo i nt erat i vo (Jnicek, 1995).
Na formulao de polticas nacionais de sade, a definio de prioridades
e a alocao de fora de trabalho e recursos sero levadas a termo, cada vez
mais, valendo-se de uma avaliao metanaltica de uma situao. Os governos
esto-se tornando mais conscientes de tal necessidade. Em diversos pases, j
existe uma infra-estrutura, com instituies especficas, que procedem a avalia-
es sistemticas de programas, polticas e tecnologias em sade. Seu propsito
a fiscalizao da efetividade da assistncia mdica.
A Fora-Tarefa Canadense par a Avali ao Peri di ca do Exame Mdi -
co (Periodic Healt h Exami nat i on Monogr aph, 1980), o Escri t ri o Canaden-
se de Coordenao da Avaliao Tecnolgi ca em Sade e instituies pro-
vi nci ai s afins, como o Escritrio de Avaliao Tecnolgi ca em Sade do
Quebec, represent am i mport ant es ve culos para o empr ego da met anli se
em seu sentido met odolgi co mai s amplo.
A Comisso de Avaliao de Tecnologia Mdica do Congresso dos EUA
(Committee for Evaluating Medical Technologies in Clinical Use, 1985) e a Divi-
so de Metodologia do Escritrio Geral de Contabilidade dos EUA (Silberman,
Dr oi t cour & Scul i n, 1 992; Dr oi t cour , Si l be r ma n & Chel i ms ky, 1 993;
United States General Accounting Office, 1994) tm utilizado, cada vez mais,
mtodos metanalticos e correlates para determinar a alocao de recursos e a
definio de prioridades em polticas e programas de sade. Oriunda do Reino
Unido, de onde se expandiu para outras partes do mundo, a Rede Colaborativa
Cochrane (Chalmers, 1993) compreende centros nacionais e redes em pases
como Canad, Escandinvia, Itlia e Austrlia. Na Frana, mantida com recur-
sos pr i vados, a Agnci a Naci onal para o Desenvolvi ment o da Avali ao
(ANDEM) t ambm persegue objetivos similares (Mattillon & Durieux, 1994).
DETERMINANDO PRIORIDADES
PARA A PREVENO DE DOENAS
Um problema de sade s se t orna prioridade para a i nt erveno quando
freqente e grave. Para solucion-lo, necessri o di spor de mei os efetivos
para o seu controle, bem como mant er a populao-alvo do programa de
sade dent ro do alcance.
A avali ao met analt i ca requisito para det ermi nar pri ori dades em
qualquer nvel de preveno (Jnicek, 1995). Na preveno primria, o co-
nheci ment o sobre o risco, a histria natural da doena e as modali dades de
i nt erveno efetiva so combi nados a uma avaliao metanaltica da efetivi-
dade do pr ogr ama considerado e confi rmao adicional, por mei o da an-
lise da deciso, de que o programa , de fato, a melhor opo. O mesmo se
aplica preveno secundria, qual se acrescenta o conheci ment o sobre o
curso clnico da doena, seus fatores prognsticos e marcadores.
Fi nalment e, a pr eveno t erci ri a necessi t a, somando-se a t udo j
menci onado, de um conheci ment o slido da auxomet ri a
3
da doena, e ainda
uma vez, da confi rmao por mei o da metanlise de que o pr ogr ama em
anlise realment e funciona, e que a anlise de deciso indica que tal progra-
ma , de fato, uma escolha prefervel dentro de um leque de alternativas.
At ualment e, a met anli se tem sido utilizada pri nci palment e na avalia-
o do i mpact o (efetividade) de uma interveno. Seria i gualment e til ter
um melhor conheci ment o, baseado na metanlise, de outros component es
da avali ao de pri ori dade de um programa de sade? Isso ainda precisa ser
avali ado.
NAS POLTICAS EDITORIAIS DE PERIDICOS MDICOS
Artigos de reviso com base na metanlise de quest es e problemas
formulados a priori sero cada vez mai s preferveis a "safaris intelectuais nos
bosques, onde as espcies caadas devem ser observadas, persegui das e en-
cont radas". Algumas iniciativas vm tentando padroni zar tais revises (Mul
row, 1987; Squires, 1989; Haynes et al. 1990; Oxman & Mulrow 1987).
Aps um perodo de certa relutncia (Goldman & Feinstein 1979; Sha-
piro, 1994), os estudos metanalticos so hoje bem recebidos pelos conse-
lhos editoriais de um nmer o crescente de peridicos mdi cos de alto nvel,
que, at mesmo, os solicitam. (Goodman, 1991).
1 Vocbul o no di ci onar i zado nos l xi cos habi t uai s, t ant o da l ngua por t ugues a c o mo i nglesa, deri va-
do de t er mi nol ogi a gr ega: au.xos (relat i vo a cr es ci ment o) e metros ( medi o) , si gni f i cando "aval i ao
da pr ogr es s o".
NA PESQUISA MDICA EM GERAL
A met anl i se t em cont r i bu do par a a abor dagem si st emt i ca relat i -
va i nt egr ao de pesqui sa, do me s mo modo que a epi demi ol ogi a cont ri -
bui u par a a qual i dade de est udos ori gi nai s. A r evi so si st emt i ca das pes -
qui sas est -se t or nando cada vez mai s um padr o.
pr evi s vel que as r evi ses da li t er at ur a mdi ca em t eses de pes-
qui sa des envol vi das nos pr ogr amas de t r ei nament o sejam escri t as mai s
f r eqent ement e como r esul t ado de r evi ses si st emt i cas do que como
um ' quem di sse o qu' na li t erat ura mdi ca, como o que obt emos medi -
ant e qua l que r bus ca e r ecuper ao c omput a dor i za da de i nf or ma e s
mdi cas .
A met anl i se est -se t or nando uma abor dagem met odol gi ca com
boa acei t ao na pesqui sa em epi demi ol ogi a cl ni ca. Recent ement e, doi s
mest r es di pl omados em epi demi ol ogi a cl ni ca foram pr emi ados na Uni -
ver s i dade de Mont r eal pel a r eal i zao de met anl i ses da funo dos ant i -
cor pos monocl onai s na pr eveno e cont r ol e da rejei o aguda a t r ans-
pl ant es de r gos sli dos (Carri er, J ni cek & Pellet i er, 1 992) , e da efeti-
vi dade da qui mi ot er api a adjuvant e ci r ur gi a do cncer do col on e do
ret o ( Dub, Heyen & J ni cek, 1994) . Por que i sso no poder acont ecer
na sade pbl i ca em um futuro pr xi mo?
NOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO EM SADE
A met anl i se ve m sendo i nt r oduzi da como uma di sci pl i na de ' i m-
pact o' em vr i os cur sos de fri as e em cur sos r egul ar es de escol as de
sade pbli ca. No moment o, oferece-se um cur so r egul ar de met anl i se
em ci nci as de sade na Uni ver si dade de Mont r eal , em nosso pr ogr ama
de ps - gr aduao em sade comuni t r i a.
necessr i o que, no magi st r i o, se adot e est a t endnci a, se deseja-
mos cont ar com pr ocessos de t omada de deci so mai s adequados por
par t e dos gover nos e das i nst i t ui es de sade.
APLICAES PROGNSTICOS
Espera-se, com algumas reservas (Brook, 1993; Swales, 1993), que a
met anli se v ser utilizada nas deci ses clnicas sobre paci ent es i ndi vi duai s.
Esse pot enci al de apli cao ai nda deve ser explorado.
J na rea de pesqui sa, a met anl i se no ir salvar or i gi nai s med o-
cres, nem t or nar obsol et os bons est udos. No h boa s nt ese de pesqui sa
sem um sli do t r abal ho que lhe si rva de base. Quant o r elao com a
epi demi ol ogi a, ambas cont i nuar o exer cendo uma i nf lunci a mt ua fa-
vor vel , l evando a epi demi ol ogi a a t r ansceder o dom ni o dos est udos
or i gi nai s si ngul ar es, e ' r essusci t ando' a met anl i se das ci nzas de uma i n-
t egr ao numr i ca mecni ca pura.
O rpi do i ncrement o dos mecani smos de busca e recuperao compu-
t adori zada da literatura mdi ca, aliado disponibilidade de software destina-
dos elaborao de revi ses si st emt i cas, far com que a met anli se seja
testada fora do mundo acadmi co e da avaliao, admi ni st rao e planeja-
ment o das polticas de sade.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
L A B B , . . ; DETSKY, A. S. & O' ROURKE, . Meta-analysis in clinical research.
Annals of Inte rnal Me dicine , 107: 224- 233, 1987.
B OI S S EL, J - P ; DELAHAY E, F. & C U C HERAT, M. La mta-analyse. In:
MATI LLON, Y. & DURI EUX, P. (Eds.) devaluation mdicale. Ou concept la pratique.
Paris: Flammarion Mdecine-Sciences, 1994: 24- 33 (Chapitre 5) .
BROOK, R. H. Using scientific information to improve quality of health care. An-
nals of the New York Academy of Sciences, 703: 74- 84, 1993.
CARRI ER, M. ; J NI CEK, . & PELLETI ER, C. Value of monoclonal antibody
OKT3 in solid organ transplantation: A meta-analysis. Transplantation Proce e dings, 2 8 5 6 -
2 8 9 1 , 1992.
C HA L ME RS , I. The Cochrane Collaboration. Preparing, maintaining and
disseminating systematic reviews of the effects of health care. Annals of The Ne w
York Acade my of Scie nce s, 156- 163; discussion 163- 165, 1993.
COLLINS, R. & LANGMAN, M. Treatment with histamine H2 antagonists in
acute upper gastrointestinal haemorrhage. Ne w England Journal of Me dicine , 313:660-
666, 1985.
COMMITTEE FOR EVALUATING MEDICAL TECHNOLOGIES IN
CLINICAL USE. F. Mosteller Chairman. Asse ssing Me dical Te chnologie s. Washing-
ton: National Academy Press, 1985.
DROITCOUR, J. .; SILBERMAN, G. & CHELIMSKY, . Cross-design synthesis:
a new form of meta-analysis for combining results from randomized clinical trials
and medical-practice databases. Inte rnational Te chnology Asse ssme nt He alth Care , 9:440-
449, 1993.
DUB, S.; HEYEN, F. & J NICEK, . Meta-analysis of adjuvant chemotherapy
in colorectal carcinoma. Paper read at the 1994. Annual Me e ting of the Royal Colle ge of
Physicians and Surge ons of Canada. Toronto, September 18, 1994 (no prelo).
EINARSON, T.R. et al. Meta-analysis: quantitative integration of independent
research results. Ame rican Journal of Hospitalar Pharmacology, 42:1957-1964, 1985.
ESCOBAR, G. J. ; LITTENBERG, B. & PETTITI, D. B. Outcome among
surviving very low birth weight infants: a meta-analysis. Archive s of Dise ase s of Childre n,
27:1574-1583,1991.
FLEISS, J. L. & GROSS, A. J. Meta-analysis in epidemiology, with special reference
to studies of the association between exposure to environmental tobacco smoke
and lung cancer: a critique. Journal of Clinical Epide miology, 44:127-139,1991.
FLETCHER, R. H; FLETCHER, S.W. & WAGNER, . H. Clinical Epide miology-the
e sse ntials. 2. ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1988:2226-2240.
GLASS G. V Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Re se arch,
5:3-8, 1976.
GOLDMAN, L. & FEIN STEIN, A. R. Anticoagulants and myocardial infarction.
The problems of pooling, drowning, and floating. Annals of Inte rnal Me dicine , 90:92-
94, 1979.
GOODMAN, S. N. Have you ever meta-analysis you didn't like? Annals of Inte rnal
Me dicine , 114: 244-246, 1991.
HAYNES, B. R. et. al. More informative abstracts revisited. Annals of Inte rnal
Me dicine , 113:69-76,1990.
HENNEKENS, C. H. & BURING, J. E. Epide miology in Me dicine . Boston/Toronto:
Little Brown, 264-269, 1987.
HIMEL, . N. et al. Adjuvant chemoterapy from breast cancer: a pooled
estimate based on published randomized control trials. Journal of Ame rican
Me dical Association, 256:1148-1159, 1986.
IRWIG, L. et al. Guidelines for meta-analysis evaluating diagnostic tests. Annals of
Inte rnal Me dicine , 120:667, 1994.
J NICEK, . Mta-analyse en mdecine. Evaluation et synthse de 1'information clinique et
pidmiologique. St. Hyacinthe and Paris: EDISEM and Maloine, 1987.
JNICEK, M. Meta-analysis in medicine: where we are and where we want to go.
Journal of Clinical Epidemiology, 42:35-44, 1989.
JNICEK, . Epide miology: the logic of mode rn me dicine . Montreal: EPIMED International,
1995:267-295.
JONES, D. R. Meta-analysis of observational epidemiological studies: a review.
Journal of the Royal Socie ty of Me dicine , 165-168,1992.
LIGHT R. J. & PILLEMER DB. Summing-up: the scie nce of re vie wing re se arch.
Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1984.
MAHONEY, M. C. & MICHALEK, M. A. A meta-analysis of cancer incidence in
United States and Canadian native populations. Inte rnational Journal of Epide miology,
20:323-327, 1991.
MITTRA, I. & MACRAE, K. D. A meta-analysis of reported correlations between
prognostic factors in breast cancer: does axillary lymph node metastasis represent
biology or chronology? Europe an Journal of Cance r, 27:1574-1583, 1991.
MULROW, C. D. The medical review article: State of the science. Annals of Inte rnal
Me dicine , 106: 485-8,1987.
OXMAN, A. D. & GUYATT, G. H. Validation of an index of the quality of review
articles. Journal of Clinical Epide miology, 44:1271-1278,1991.
PERIODIC HEALTH EXAMINATION MONOGRAPH. Report of a Task Force
to the Conference of Deputy Ministers of Health. Cat No H39-3/1980 E. Ottawa:
Supply and Services Canada, 1980.
PETITTI, D. B. Meta-analysis, decision analysis, and cost-effectiveness analysis: me-
thods of quantitative synthesis In: Me dicine . Monographs in Epide miology and Biostatistics,
volume 24. New York and Oxford: Oxford University Press, 1994.
THE POTSDAM INTERNATIONAL CONSULTATION ON META-ANALYSIS.
Potsdam, Germany, March Special issue edited by WO Spitzer. Journal of Clinical
Epide miology, 48 (Number 1):1-171, 1995.
SHAPIRO, S. Meta-analysis/Shmeta-analysis. Ame rican Journal of Epide miology,
140:771-778, 1994.
SILBERMAN, G.; DROITCOUR, J.A. & SCULLIN, E.W Cross design synthesis:
a new strategy for medical effectiveness research. Report to Congressional
Requesters. Washington: United States General. Accounting Office. Publ. No GAO/
PEMD-92-18. mar. 1992.
SQUIRES, B. P. Biomedical review articles: what editors want from authors and
peer reviewers. Canadian Me dical Asse ssme nt Journal, 113:69-76,1989.
STAESSEN, J. et.al. Reference values for ambulatory blood pressure: a meta-analysis.
Journal of Hype rte nsion, 8 (suppl 6): S57-S64, 1990.
STAMPFER, M. J. et al. Effect of intravenous streptokinase on acute myocardial
infarction: pooled results from randomi zed trials. Ne w England Journal of
Me dicine , 307:11080-11082, 1982.
SWALES, J. D. Meta-analysis as a guide to clinical practice. Journal of Hype rte nsion,
(suppl 5):S59-S63, 1993.
UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE. Br east
conservation ve rsus mastectomy: patient survival in day-to-day medical practice
and in randomized studies. Report to the Chairman, Subcommittee on Human
Resources and Intergovernmental Relations, Committee on Government
Operations, House of Representatives. Washington: US General Accounting
Office, Publ No GAO/PEMD-95-9, nov. 1994.
YUSUF, S. et al. Beta blockade during and after myocardial infarction: an overview
of the randomized trials. Programme of Cardiovascular Dise ase , 27:335-371,1985.
EPI DEMI OLOGI A CL NI CA
MOLECULAR: POSS VEL
I NTEGRAR OS TRS ' MUNDOS' ?
Miquel Porta
INTRODUO
fcil polemi zar sobre a chamada epi demi ologi a clni ca e a epi de-
mi ol ogi a molecular , assi m como sobre as relaes ent re a bi ologi a e a
epi demi ologi a e, em um nvel mai s geral, sobre os mt odos da i nvest i gao
dita bsi ca e da i nvest i gao dita apli cada. Ai nda que al gumas dest as con-
t rovrsi as sejam honest as e enr i quecedor as, out ras di st or cem e simplifi-
cam ext raordi nari ament e as posi es do ' oponent e' (poi s, s vezes, parece
que se trata de i ni mi gos). Estas polmi cas so si mpli st as e, de nosso pont o
de vi st a, bast ant e estreis.
De i medi at o, v-se que adot ar essa atitude mai s cmodo do que
reconhecer as limitaes que possamos ter em nossa prtica profissional e
no conheci ment o de outras especi ali dades, reas ou ' mundos' . mais fcil
do que criar um ambi ent e de trabalho em que haja uma acei t ao tcita de
que compart i lhamos da ignorncia. Tampouco difcil pregar as vi rt udes do
trabalho transdisciplinar. O mais rduo colocar em prtica essas boas in
tenes. A palavra i nt egrao uma das chaves para isso (Wynder, 1 9 9 4 ) , e
creio que seria proveitoso nos aprofundarmos em sua natureza e em suas
i mpli caes, luz, por exemplo, de concei t os como t ransdi sci pli nari dade,
reduci oni smo, ecletismo, pragmat i smo etc. Embora no seja uma proposta
mui t o brilhante, a nica que podemos oferecer aqui.
Na realidade, o t ema de que t rat amos se reduz a esta pergunta: como
podemos i nt egrar de forma coerente as vises, crenas, prtica, mt odos,
conheci ment os das cincias bsicas, clnicas e de sade pbli ca? A pergunt a
pode par ecer ou, mesmo, ser enganosa. no esqueo as ci nci as
sociais, que t m figurado em meu trabalho j h mui t os anos. No obstante,
a verdade que meus conheci ment os epi st emolgi cos e em geral, mi nhas
luzes filosficas so absolut ament e exguos. O que posso oferecer-lhes
so, apenas, alguns fragmentos da mi nha prtica de investigao. l i st a prti-
ca, com todas suas li mi t aes, compreende o esforo integrador a que acabo
de me referir. No muito, e provavelment e padece de um excessivo prag-
mat i smo e ecletismo.
Por tudo isso, nesta primeira part e, gost ar amos de sintetizar algumas
idias sobre as quest es que hoje nos congr egam neste debate. Por sero
enunci adas sob o formato de quat ro teses. Na segunda part e, expem-se
alguns aspectos do estudo PANKRAS II, uma tentativa de trabalho transdisci
plinar que tenho a felicidade de chefiar com o dr. Francisco X. Real e nossas
respect i vas equi pes.
QUATRO IDIAS
Os estudos sobre as bases moleculares do cncer devem:
a) estender-se para alm do laboratrio, de modo a se inserir no contexto
clnico e populaci onal, medi ant e uma met odologi a rigorosa (geralmente,
com um forte component e ' epi demi olgi co' );
b) ser valori zados na medi da em que podem se aproxi mar da ' cabeceira do
leito do paci ent e' (a prtica clnica cot i di ana) e traduzir-se em t ermos
teis no mbi t o da assistncia clnica;
c) integrar-se com os estudos sobre as causas ambi ent ai s do cncer (por
exemplo, ocupaci onai s, dietticos) e avaliar em que medi da podem con
tribuir para os programas de i nt erveno (promoo da sade, preven-
o das enfermi dades);
d) avaliar as tcnicas que utilizam com base em standards de confiabilidade
e exatido, habituais nos estudos bem conduzi dos de i nvest i gao clini-
ca e epi demi olgi ca.
O ' c i s ma ' ent r e ci nci as bs i c a s , cl ni cas e de s ade pbl i ca
(Fletcher, 1992) prejudicial para os trs ' n vei s' ou ' mundos' , tanto em
t ermos prticos quant o do conheci ment o cientfico. Ai nda que nem todos os
est udos possam ou devam abarcar os trs nveis de uma vez, necessrio um
nmero maior de estudos mais aprofundados, para promover esta integrao.
Em todo projeto de i nvest i gao que procure integrar as cincias
bsicas e as de sade pblica, a medi ci na clnica por seu conheci ment o dos
padres di agnst i cos e teraputicos e, em geral, do raciocnio clnico predo-
mi nant e nos centros sanitrios desempenha um papel central como gera-
dora de hipteses, como referente prtico e como fonte de i nformao acer-
ca de possveis vcios de seleo e de i nformao (Porta, 1990).
prat i cament e inevitvel que a i nvest i gao bsica e a epi demi ol-
gi ca, quando seu objeto de est udo so ' pessoas humanas' , susci t em uma
reflexo sobre as condi es reais da prtica da medicina. Esta reflexo pode
e deve ser formalizada em estudos especficos sobre os servi os assisten
ciais, tornando-se operativa e integrando-se como uma di menso adicional
dos estudos. Isso ocorreri a de forma similar com relao anlise do estado
de sade de uma comuni dade.
Com relao ao item do primeiro tpico, caberia acrescentar 'e vice-
versa' , uma vez que os est udos epi demi olgi cos t ambm poder i am rever
suas premi ssas e mt odos com mai or freqncia, e i ndagar se o seu objeto de
est udo ou suas hipteses exi gem a modificao dos pressupost os e rotinas
habituais, se no seria conveni ent e afastar-se da ortodoxia epi demi olgi ca,
por vezes to auto-suficiente, to convenci da de deter a verdade met odol-
gi ca frente aos i nvest i gadores ' bsi cos' e ' clnicos' . A lgica dos experi men-
tos habi t uai s em mui t os laboratrios, por exemplo, sua concat enao de hi-
pt eses, resultados e desenhos poderi am ser perfeitamente aplicveis a al-
guns estudos epi demi olgi cos, ou a algumas fases da anlise de tais est udos,
quando as bases de dados const i t uem um i menso conjunto de amost ras pas-
sveis de serem analisadas de mltiplas formas (Vandenbroucke, 1990; Cole,
1993). Pode ser, t alvez, que essa lgi ca a posteriori no seja apli cvel, mas
benfico formular a quest o (Taubes, 1995).
Al go semelhant e poderi a ser dito das rotinas com as quai s, s vezes,
so efetuados os clculos sobre o t amanho amost ral, baseadas no raramen-
te em alguma ' pi ruet a' sobre a magni t ude do efeito esperado.
Sobre o segundo tpico, deveria haver uma reflexo sobre os privilgios
encerrados neste ' ci sma' : cada ' mundo' com seus congressos, revi st as, gru-
pos de mai or ou menor influncia, nor mas, cdi gos etc. Tem-se a sensao
de que poucas vezes a cult ura de um mundo, sequer a de uma especi ali dade
dent ro dele, se expe de outro mundo ou nvel.
GENES, 'SERES HUMANOS' POPULAES
Enquant o diversos gr upos de investigadores se esforam em ampli ar
os conheci ment os acerca dos mecani smos et i opat ogni cos das doenas, par-
te consi dervel do saber existente no utilizada. Isto especi alment e grave
no caso da preveno e do controle de diversas doenas crni cas (Wynder,
1994). Por exemplo, em que medi da e como os conheci ment os obt i dos gra-
as t cni ca da PCR (reao em cadei a da poli merase) podem contribuir
para a preveno e o controle do cncer de colo ut eri no? Em que medi da os
recursos gast os na det eco do HPV (vrus do papi loma humano) deveri am
ser i nvest i dos em exames de Papani colau?
A prt i ca da medi ci na e da sade pbli ca , de um modo geral, alhei a
ao af dos i nvest i gadores. Assi m, par a dar um exemplo pr xi mo a nosso
t rabalho, nos cent ros sani t ri os espanhi s exi st e uma not vel var i edade de
enfoques di agnst i cos sobre suspei t a de cncer de pancr eas e de cncer do
si st ema biliar, como foi evi denci ado no Est udo PANKRAS II e como, sem
dvi da, sabem aqueles que exer cem a medi ci na. A Tabela 1 reflet e, em
par t e, essa vari abi li dade (Porta et al. , 1994) . Ao mes mo t empo, per si st em
lacunas acer ca de quest es de gr ande r elevnci a clnica. Como, por exem-
plo, det ect ar de forma mai s pr ecoce est es t umor es? Que seqnci a de exa-
mes compl ement ar es per mi t e obter, com rapi dez, um di agnst i co cor r et o?
Que al gor i t mo di agnst i co mai s efi ci ent e? Como aument ar a t axa de
ressecabi li dade? Qual o papel especfico do diagnstico anat omopat olgi
co nos paci ent es mai s velhos? Como distinguir a ori gem de certos t umores
peri ampulares? Como melhorar a sobrevi da e a quali dade de vi da dest es pa-
cientes? Como aument ar a part i ci pao dos paci ent es no processo de t oma-
da de deci ses e t c ?
T a b e l a 1 - E x a me s d i a gn s t i c o s r e a l i z a d o s nos pr i me i r o s 120 c a s o s
de c n c e r de pa n c r e a s e xc r i no e ve r i f i c a o ci t o- hi s t o
l gi c a , n o s c i n c o h o s pi t a i s p a r t i c i p a n t e s d o e s t u d o
PANKRAS II ( Por t a et al . , 1 994 a)
*
Outras alteraes genticas.
Efet i vament e, o grau de di ssemi nao ou est gi o em que, de modo
geral, estas pat ologi as chegam ao mdi co e no, di gamos, ao ci rurgi o ou
ao oncologi st a i ndi ca que algo no funciona bem no si st ema de at eno
pri mri a. Quando possvel t omar deci ses t eraput i cas ponder adas, es-
tas tm uma di menso mar cadament e pali at i va. A relevnci a clni ca dest as
quest es evi dent e para t odos e constitui soment e um exempl o menor,
mas i lust rat i vo. Mui t os profi ssi onai s quer se si nt am pr xi mos ou di st an-
tes da chamada epi demi ologi a clni ca tm cont ri bu do efet i vament e para
apr i mor ar o conheci ment o de tais quest es e da prt i ca profi ssi onal cor-
r espondent e. Em out ras palavras, def endemos que os rt ulos (' epi demi o-
logi a cl ni ca' etc. ) so menos relevant es do que os frutos obt i dos e podem
cont i nuar a bali zar a i nt egrao do raci ocni o e dos mt odos da epi demi o-
logia com os de out ras di sci pli nas.
Out ro pont o de referncia prxi mo o Hospital do Mar de Barcelona.
Por i nt ermdi o do seu Registro de Tumor es sabemos que, at ualment e, 89%
dos doent es com cncer de pncreas ou de vescula biliar i ngressam no hos-
pital por i nt ermdi o do Servi o de Emergnci a (somente 1 1 % so admi s-
ses pr ogr amadas). O i nt ervalo entre o primeiro si nt oma e a pri mei ra con-
sulta no hospital tem, em mdi a, 61 dias ( 26, 7% demor am mai s de trs me-
ses). J o t empo transcorrido entre a pri mei ra consulta no hospital e o diag-
nstico , em mdi a, de 25 dias (superior a um ms em 3 1 % dos doent es).
Ai nda de acor do com os dados do Registro, sabe-se que o t rat ament o dos
cnceres de pancreas e vescula biliar tem um objetivo radical em apenas
37% dos casos. Existe um estudo acerca da ext enso dos t umores em 69%
dos doent es e, no moment o do diagnstico, 2 5 % dos paci ent es apresent am
doena di ssemi nada distncia (regional, 6%; local, 38%) . Podem-se cons-
tatar algumas outras cifras preocupant es, do nosso pont o de vista sobre
os paci ent es com cncer do tubo digestivo, que i ngressam em nosso hospital
por mei o do servio de emergnci a (Fernandez et al., 1995).
Estas cifras ser i am abs ol ut ament e di ver gent es do habi t ual ? No
cr emos. Por que, ent o, t r azemos ao debat e t emas to cot i di anos na cl-
ni ca, apar ent ement e to afast ados do mundo do labor at r i o e at mes mo
de al gumas epi demi ol ogi as? Porque est amos convenci dos de que, em pri-
mei r o lugar, necessr i o e poss vel i nvest i gar f or mal ment e est as ques-
tes. Em segundo lugar, por que pouco t i co e, de um modo ger al, ftil
levar a cabo cer t as formas de i nvest i gao epi demi ol gi ca sem que est a
se basei e na pr t i ca cl ni ca e t enha r eper cusso sobre ela. Em t ercei ro,
por que no poss vel reali zar i nvest i gao de bom padr o (bsi ca, clni -
ca ou epi demi ol gi ca) sem conexo com a pr t i ca cl ni ca, caso est a i n-
vest i gao aspi r e a um alt o gr au de val i dez e r el evnci a (Flet cher , 1990;
Port a, 1990; 1 9 9 4 ) .
No obst ant e, sur pr eendent e a ausnci a de r ef er nci a a est as ques -
t es por par t e de numer os os i nvest i gador es em bi ol ogi a celular e mol e-
cular, assi m como deve-se dest acar os i mpor t ant es defi ci t s met odol gi -
cos nos est udos em que se basei am cert as pr opost as de apl i cao ao con-
t ext o cl ni co das descober t as da bi ologi a. Um exempl o so os est udos
que pr opem que a det eco de mut aes no gene k-ras t eri a ut i li dade
cl ni ca no di agnst i co do cncer de pancr eas nas quai s, obvi ament e, o
PCR des empenha um papel f undament al e que vi ol am cl ar ament e di -
ver sos r equi si t os que devem ser obedeci dos por um est udo de aval i ao
de pr ovas di agnost i cas (Malat s et al. , 1994; Her nandez Agua do & Gar-
ci a, 1993) . Na r eal i dade, a cr ena na ut i li dade di agnost i ca dest e mt odo
de det eco r epr esent a um novo e evi dent e exempl o das gr aves conse-
qnci as da falta de di l ogo ent r e os t rs ' mundos ' que pr ot agoni zam
est a exposi o.
Em consonnci a com o que acabamos de expor e com a ' t ese' inicial
de nmer o 4, a equi pe de i nvest i gadores do estudo PANKRAS I I deci di u abor-
dar formalment e a problemt i ca que i nt u mos a partir da leitura da Tabela 1,
tratando-a como um subprojeto do referido est udo (Porta et al. , 1994a; Port a
et al. , 1994b; Malat s et al., 1995) Os objetivos deste subprojeto so apresen-
t ados, si nt et i cament e, a seguir:
analisar os padres de utilizao (freqncia e seqnci a) das tc-
ni cas di agnost i cas ut i li zadas para a di agnose das pat ologi as menci onadas,
nos cinco hospitais participantes do estudo PANKRAS II, bem como os fatores
associ ados a estes padres, tanto os relativos ao paci ent e e sua doena, como
os relativos ao hospital;
avali ar quali t at i va e quant i t at i vament e o r endi ment o cl ni co dos
padr es pri nci pai s de ut i li zao, conferi ndo uma nfase especi al base do
di agnst i co (hi st ologi a, ci t ologi a, cl ni ca), s compli caes clni cas das tc-
ni cas, ao i mpact o sobre as deci ses t eraput i cas (re-seco ci rrgi ca, qui -
mi ot er api a; i nt eno do t r at ament o) e evol uo do doent e (rei nt erna
es, sobr evi da). Est e objet i vo inclui t ambm o est udo do gr au de correla
o ent re a cert eza di agnost i ca, avali ada medi ant e uma adapt ao de nos-
sa classi fi cao CCD-IHM (Port a et al. , 1 994 b) , e a aval i ao cl ni ca do
paci ent e, vi sando, ai nda, a efetuar uma apr oxi mao relao cust o-bene
fcio e cust o-efet i vi dade dos pri nci pai s padr es di agnst i cos; e
avaliar a possi bi li dade do i mpact o dos padres di agnst i cos e do
grau de cert eza di agnost i ca associ ado a cada um deles sobre as est i mat i vas
do risco das ' exposi es' , acerca das quais o estudo coleta i nformaes por
mei o de entrevista (ocupao, hbitos txicos, ali ment os, ant ecedent es pa-
t olgi cos etc. ) com paci ent es que compem os grandes gr upos di agnst i cos
do est udo (cncer de pncreas, cncer das vi as biliares ext ra-hept i cas, pan-
creatite crnica, outras pat ologi as beni gnas do pancreas), bem como avaliar
a possvel relao entre a base di agnst i ca e a classificao errnea das ex-
posi es entre os 110 paci ent es cujos familiares foram t ambm entrevista-
dos de forma i ndependent e.
J que aludi mos tcnica do PCR, e uma vez que este processo , atu-
alment e, emblemt i co de tantas coi sas, talvez no seja suprfluo subli nhar
que o PCR carece de funo, caso no se obt enha pelo menos uma amost ra
citolgica do tumor. Como isto nem sempre possvel e j que nem sempre
as amost ras citolgicas so t i mas (devido ao material hemt i co, ao escasso
nmer o de clulas t umorals etc. ), a avali ao da possvel efetividade do PCR
ganha em consi st nci a met odolgi ca e em reali smo no mbi t o de um
trabalho como o menci onado. O progresso parece substancial com relao
i mensa mai or i a de i nvest i gaes efet uadas at o moment o (no campo do
gene k-ras e do cncer pancretico-biliar). Porm, i ndubi t avelment e, em fun-
o dos result ados do nosso e de outros est udos, devero ser desenvolvi dos
out ros projetos que superem as li mi t aes que, sem dvi da, afetam nosso
estudo. Dei xar emos aqui apenas esboadas as di scusses sobre o equilbrio
entre complexi dade met odolgi ca e logstica e entre pert i nnci a e relevnci a
cientficas (Porta & Sanz, 1993).
OUTRO EXEMPLO DE BUSCA DE INTEGRAO
Descr evemos a seguir outro estudo que t ambm i nt egra o PANKRAS II
(Porta et al. , 1994a). Seus objetivos so:
avaliar a met odologi a de mensurao da dose i nt erna de compost os
organoclorados em amost ras de soro, tecido t umoral e tecido no-t umoral
do pancreas e de vias biliares ext ra-hept i cas;
analisar a dose i nt erna de met aboli t es do DDT e out ros organoclora-
dos, tais como os PCBS, em soro de pessoas ss (' controles' ami gos dos ' ca-
sos' ), em tecido nor mal de pancreas excri no (procedent e de cont roles -
doadores de rgos falecidos), em amost ras de tecido e de soro de paci ent es
com pancreat i t e crnica, no soro e tecido t umoral de paci ent es com cncer
de pancreas e no soro e tecido t umoral de paci ent es com cncer do sistema
biliar ext ra-hept i co;
analisar, nos quatro gr upos ant eri ores, a correlao entre as exposi-
es ocupaci onai s a compost os organoclorados (est i madas por mat ri zes de
t rabalho exposi o, a part i r das ent revi st as com os paci ent es) e a dose
interna dest es compost os; e
anali sar, nos casos de cncer de pancr eas, a poss vel associ ao
entre as exposi es ocupaci onai s e a dose interna dos compost os organoclo-
rados, com a presena ou ausnci a de mut aes no cdon 12 do oncogene
k-ras, bem como, nos casos com mut aes, analisar o espect ro das mesmas
em funo das exposi es ocupaci onai s e a dose interna de organoclorados.
Na Fi gura 1, esquemat i zam-se estas i di as. Gost ar amos que ela refle-
tisse um cert o esforo no sentido de integrar, de forma coerent e, conheci -
ment os, raci ocni os, mt odos e tcnicas de vri as di sci pli nas, como medi ci -
na clnica, bi ologi a, farmacogent i ca e epi demi ologi a. O PCR revela-se um
i nst rument o de enor me valor, e no desproposi t ado pensar que este valor
se ampli ar, caso se confi rmem os indcios de que possvel det ect ar mut a-
es em clulas neoplsi cas obtidas de sangue perifrico e de suco pancre
tico (Tada et a l , 1993; Mi ki et al. , 1993). Nat uralment e, deveremos verifi-
car se estes avanos de ndole essenci alment e t ecnolgi ca cont ri bui ro
para aprimorar o diagnstico, aumentaro nossos conhecimentos etnolgicos ou
sero somente uma pea a mais do imenso puzzle dos estudos mecanicistas.
F I GUR A 1 - Mo d e l o c a u s a l ( h i pt e s e ) s o br e e x p o s i e s o c u p a
c i o n a i s , d o s e i n t e r n a d e me t a b o l i t o s d e DDT e ou
t r os c o mpo s t o s o r ga n o c l o r a d o s , e a t i v a o do g e n e
K-ras n o c n c e r de p n c r e a s e x c r i n o , p a n c r e a t i t e
c r n i c a e c n c e r do s i s t e ma bi l i a r e x t r a - h e p t i c o
( ) Polimorfismos genticos associados ativao/desativao dos agenetes xeno
biticos.
(1) Os dados sugerem apenas que algumas exposies ocupacionais e ambientais
podem participar na gnese de algumas pancreatites crnicas idiopticas.
(2) As evidencias epidemiolgicas so marcantes, no sentido de que existe uma de-
terminada conexo causal.
(3) participao do gene k-ras na via etiopatognica situada entre determinadas
exposies ocupacionais e o cncer somente foi estudada na leucemia mielide
aguda. A hiptese que as exposies que atuam por intermdio de k-ras so
distintas para os cnceres de pncreas e das vias biliares.
(4) Desconhecem-se os fatores que ativam k-ras e que acarretam as mutaes to
freqentes no cncer de pncreas. Esta anlise constitui um objetivo central do
estudo PANKRAS II em sua totalidade.
(5) O lcool seria um exemplo destes fatores: sem dvida, desconhece-se a causa da
pancreatite crnica mais freqentemente do que a da pancreatite aguda.
(6) Existem estudos muitos sugestivos de que a pancreatite crnica (algum subtipo?
aquela ocasionada por algum grupo especfico de agenetes?) um dos fatores
de risco para o cncer de pancreas.
(7) De modo semelhante s hipteses relacionadas Via 2', aquelas relacionadas
Via 7' puderam ser postas prova por meio da informao obtida com base na
entrevista do paciente e do resumo estruturado das histrias clnicas.
(8) Exemplo de confounding a ser controlado mediante as estratgias epidemiolgicas
habituais.
Obs. 1 . A figura e as not as a ela relat i vas const i t uem uma si mpli fi cao, com objet i vos si mpl es-
ment e i lust rat i vos
2. As vi as et i olgi cas de i nt eresse pr i mr i o no est udo est o i ndi cadas ent r e par nt eses.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
E V I D E N C E - B A S E D M E D I C I N E WO R K I N G G R O UP . Evi dence-based
medicine: a new approach to teaching the practice of medicine. Journal of American
Medical Association, 268:2420-2425,1992.
F E R NA ND E Z , E. et al. Emergency admisssion for cancer: a matter of survival.
Livro de resumos do Congresso, 1995.
F L E T C H E R , R. H. Three ways of knowing in clinical medicine. Southern Medical
Journal, 83:308-312, 1990.
F L E T C H E R , R. H. Clinical medicine meets modern epidemiology - and both
profit. Annals of Epidemiology, 2:325-333, 1992.
G A R C I A BE NA VI D E S , F. La epidemiologia "moderna" y la "nueva" salud
pblica. Revista de Sanidady Higiene Publica 68 (supl.):101-105,1994. C O L E , . The
hypothesis geneerating machine. Epide miology, 4:271-273,1993.
HERNANDEZ AGUADO, I. & GARCI A, . . G. La evaluation de pruebas
diagnosticas en Espana. Una aproximacin crtica. Revisiones en Salud Pblica, 3:243-
262, 1993.
MAL ATS, N. et al. Detection of c-Ki-ras mutation by P C R/ RF L P analysis and
diagnosis of pancreatic adenocarcinomas. Journal of National Cancer Institute, 86: 1353-
1354, 1994.
MALATS, N. et al. Ki-ras mutations as a prognostic factor in extrahepatic bile system
cancer. Journal of Clinical Oncology, 13:1679-1686,1995.
MIKI, H. et al. Detection of c-ki-ras mutation from pancreatic juice. A useful detec-
tion approach for pancreatic carcinoma. International Journal of Pancreatology,14:145-
148, 1993.
PORTA, M. Mtodos de investigacin clnica: errores, falcias y desafios. Medicina
Clinica (Barcelona), 94:107-115,1990.
PORTA, M. et al. Role of mutations in K-ras and p53 genees in exocrine pancreatic
cancer and cancer of the extrahepatic biliary system (The PANKRAS II Study). In.
SANKARANARAYANAN, R.; WAHRENDORF, J. & DEMARET, E. (Eds.)
Directory of on-going research in cancer epidemiology. IARC Scientific Publications n 130.
Lyon: International Agency for Research on Cancer, 1994:306, 1994.
PORTA, M. et al. Epidemiologia molecular. Medicina Clnica (Barcelona), 100:475,
1993.
PORTA, M. La epidemiologia clnica: un puente entre el indivduo y la comunidad.
Revista de Medicina Familiar Comunitria, 4:156-157,1994.
PORTA, M. & SANZ, F. Prlogo edio espanhola de HULLEY, S. B. &
CUMMINGS, S. R. (Eds.) Diseno de la Investigacin Clnica: un enfoque epidemiolgico. Bar-
celona: Ediciones Doyma, 1993.
PORTA, M. et al. Diagnostic certainty and potential for misclassification in exocrine
pancreatic cancer. Journal of Clinical Epidemiology, 47:1069-1079,1994.
SACKETT, D. L. Basic research, clinical research, clinical epidemiology, and geneeral
internal medicine (Zlinkoff Honor Lecture). Journal Gene International Mediane, 2:40-
47, 1987.
SACKETT, D. L. Inference and decision at the bedside. Journal of Clinical Epidemiology,
42:309-316, 1989.
TADA, M. et al. Detection of ras genee mutation in pancreatic juice and peripheral
blood of patients with pancreatic adenocarcinoma. Cancer Research, 53:2472-2474,
1993.
TAUBES, G. Epidemiology faces its limits. Science, 269:64-169, 1995.
VANDENBROUCKE, J. How trustworthy is epidemiologic research? Epide miology,
1:83-84, 1990a.
VANDENBROUCKE, J. P. Epidemiology in transition: a historical hypothesis.
Epide miology, 1:164-167, 1990b.
WYNDER, E. L. Invited commentary. Studies in mechanism and prevention:
Striking a proper balance. Ame rican Journal of Epide miology, 139:547-549, 1994.
O ECOLGI CO NA
E P I DE MI OL OGI A
Pedro Luis Castellanos
INTRODUO
Nosso pont o de partida ser assumi r que a epi demi ologi a uma disci-
plina bsica da sade pbli ca. Sua funo principal a descri o e a explica-
o dos fenmenos e problemas de sade de conglomerados humanos, vi -
sando a sua transformao. Isto no nega que os concei t os, mt odos e tcni-
cas da epi demi ologi a t enham apli cao til a out ros fins, mas sim que eles
cont ri buem para a deli mi t ao do que, segundo nossa experi nci a, o cam-
po especfico da epi demi ologi a.
A sade pbl i ca foi subsi di ada, nos sculos XVI I I e XI X, por uma
t eori a da sade e por est udos epi demi ol gi cos que demons t r ar am e enfa-
t i zar am as r el aes ent re os pr obl emas de sade de comuni dades e suas
condi es de vi da, ent o essenci al ment e ent endi das como condi es sa-
ni t ri as bsi cas, f or mas de al i ment ao e condi es de t rabalho. Pi onei -
ros como Vi r chow dest acar am enf at i cament e est as r el aes e a i mpor -
t nci a de t r ansf or mar as condi es de vi da par a mel hor ar a sade das
popul aes. Podem-se ci t ar, como exempl o, alguns t r abalhos pi onei r os
sobre freqnci a e di st r i bui o das doenas, como o est udo ecol gi co de
Dur khei m (1982) sobre freqnci a e di st r i bui o do sui c di o associ ada
s cult ur as pr ot est ant es e cat li cas na Eur opa Oci dent al, as descr i es
de Farr (1991) sobre a sade dos t r abal hador es das mi nas e os est udos de
Snow (1991) sobr e o clera na I nglat er r a, os de Vi l l er me ( 1991) sobre a
sade dos t r abal hador es em di ferent es r amos da i ndst r i a txtil na Fran-
a e os de Casal (1991) sobre as conseqnci as de uma al i ment ao pou-
co var i ada e pobr e em pr ot e nas ani mai s, na Espanha. Na Amr i ca Lat i -
na, podemos citar os t r abalhos de Fi nlay ( 1991) , em Cuba, sobr e o papel
dos mos qui t os na t r ansmi sso da febre amar el a, os de Car r i n ( 1991)
sobre a ver r uga per uana e os de Chagas ( 1991) , no Brasi l, sobre a tripa
nos s om as e amer i cana.
Naquela poca, os estudos epi demi olgi cos cont ri buram para demons-
trar que a relao entre a situao de sade e as condi es do mei o ambi ent e
era medi ada pelas condi es de vi da e de trabalho das populaes e pelos
agent es et i olgi cos. Est abeleceram-se, assi m, as bases para a busca i nces-
sante dos agent es etiolgicos e seus mecani smos de t ransmi sso e para uma
sade pbli ca ancorada nas cincias positivas. Como tal, esta sade pblica
enfatizou as intervenes para melhorar o mei o ambi ent e e as condi es de
vi da das populaes.
Post eri orment e, com o franco predom ni o da clnica no campo da sa-
de, os concei t os e mt odos da medi ci na prevent i va se fizeram predomi nan-
tes na sade pbli ca. A propost a prevent i vi st a nasceu mai s vi nculada ao
pensament o mdi co clnico e, em conseqnci a, sua aspi rao bsica redu-
zir os riscos de doena. Sua principal preocupao tem sido ent ender por
que as pessoas adoecem, e no mai s saber o mot i vo de as populaes terem
det ermi nado perfil de sade, ou por que det ermi nados problemas de sade
pr edomi nam em certas populaes.
Est a mudana apar ent ement e sutil de par adi gma na sade pbli ca
de uma vi so popul aci onal a uma vi so de i ndi v duos doent es t em
est ado associ ada a uma t r ansf or mao de gr ande enver gadur a na pr t i ca
epi demi ol gi ca pr edomi nant e. A epi demi ol ogi a foi cada vez mai s requi -
si t ada para pr oceder ao est udo das associ aes ent re ri scos e pr obl emas
de sade i ndi vi duai s, vi ndo a assumi -l o como pri ori t ri o. As s i s t i mos , hoje,
a um par adoxo: apesar do expl osi vo desenvol vi ment o t cni co e t ecnol
gi co no campo da epi demi ol ogi a e da ver t i gi nosa pr oduo de pesqui sas
epi demi ol gi cas no mundo cont empor neo, cada vez a epi demi ol ogi a
cont r i bui menos par a a compr eens o dos pr obl emas de sade das popu-
l aes e cada vez mai s as i nt er venes de sade pbl i ca t endem a se
concentrar em intervenes sobre indivduos.
As conseqncias dessa situao para a sade das populaes tm
si do i mpor t ant es . No que a sade pbl i ca cent r ada e m i nt er venes
sobr e os i ndi v duos no t enha obt i do sucessos, al guns i ncl usi ve de gr ande
i mpact o e t r ans cendnci a, ma s essa pr t i ca cont r i bui u par a que as i n-
t er venes s obr e as popul aes no t e nha m t i do o me s mo des envol vi -
ment o. Como r ecent ement e i ndagou o ex- di r et or de Pr omoo da Sa-
de do Canad, La va da Pi nder ( 1 995 : 1 - 2) , "o que t er i a acont eci do se
t odos os el ement os do c a mpo da sade t i ves s em r ecebi do a me s ma n-
fase e se os est i l os de vi da no t i ves s em r oubado a l uz dos r ef let or es
por t ant o t e mpo?".
Rose (1992) chamou a at eno para os li mi t es de uma sade pbli ca
fundament ada em estratgias de i nt erveno sobre i ndi vduos e para a ne-
cessi dade de uma sade pbli ca que assuma est rat gi as populaci onai s de
interveno. Dest acou ai nda que, mesmo no sendo excludent es, o predo-
m ni o de cada uma delas confere uma raci onali dade e uma di reci onali dade
ao conjunto da sade pblica, mai s orientada quer a ser subsidiria da clni-
ca, quer a transformar as condi es de vi da e os perfis da sade das popula-
es, com nfase na pr omoo da sade.
A sade pbli ca, como bem dest acou um recent e editorial do American
Journal of Public Health (1994), lida com populaes, di ferent ement e da clni-
ca, que lida com i ndi vduos. A epi demi ologi a, port ant o, mai s do que o estu-
do da sade e doena em populaes, deve se ocupar do est udo da sade e
doena de populaes humanas.
A est a al t ur a, neces s r i o pr eci sar o que e nt e nde mos por popul a-
es. No se t rat a de qual quer conj unt o de i ndi v duos , a gr upa dos se-
gundo os cr i t r i os ut i l i t r i os do pes qui s ador . Em nos s a per s pect i va, um
at r i but o es s enci al de t oda popul ao a i nt er ao ent r e seus membr os .
Como t oda i nt er ao ger a or gani zao e hi er ar qui as , no sent i do at r i bu-
do por Si mon, uma popul ao , por t ant o, um a gr upa me nt o de s ubpo
pul aes que i nt er age ent r e si c omo s i s t emas c ompl e xos e hi er r qui cos
i nde c ompon ve i s .
Cl ar o que exi s t em mui t as f or mas de a gr upa me nt os de i ndi v duos
e popul aes pas s vei s de ser em es t abel eci das por um i nves t i gador de
acor do com as especi f i ci dades do pr obl e ma em e xa me , ma s o que que-
r emos des t acar aqui que nem t odas pode m ser cons i der adas popul a-
es no sent i do em que es t amos def i ni ndo est e concei t o. Ne m t odo
a gr upa me nt o de i ndi v duos e s ubpopul aes const i t ui uma t ot al i dade
f unci onal da qual e me r ge m qual i dades ( compor t ament os que l he so
pr pr i os ) e, por t ant o, nem t odo a gr upa me nt o pode ser cons i der ado um
n vel or gani zaci onal da r eal i dade.
i mpor t ant e di st i ngui r a abor dagem i ndi vi dual da popul aci onal ,
ao me s mo t empo est abel ecendo as r elaes ent re ambas . comum afir-
mar que a cl ni ca abor da os pr obl emas de sade de i ndi v duos e a epi de-
mi ol ogi a os de popul aes. Ma s em que consi st em essas di ferenas? As
di f er enas mai s i mpor t ant es no so dadas pel o nmer o de pes s oas est u-
dadas , mas si m pel o n vel no qual os pr obl emas e f enmenos em est udo
so abor dados. A part i r dest a per spect i va, o n vel de abor dagem acar r et a
cons eqnci as na def i ni o de pr obl emas de pes qui s a, de cat egor i as e
var i vei s, de ' amost r as' , dos i ndi cador es e dos pr ocedi ment os de anl i se,
i nt er pr et ao e i nfernci a. Baseando- se i gual ment e nest e pont o de vi st a,
ambos os n vei s de abor dagem no s no so excl udent es, mas se super-
pem como necessi dade. preci so, ai nda, avaliar o que poder amos cha-
mar de ' coer nci a de n vel' dos est udos epi demi ol gi cos sobr e a sade
das popul aes. I mpli ca ai nda a necessi dade de desenvolver pr ocedi ment os
adequados par a ar t i cul ar var i vei s de di f er ent es n vei s em um me s mo
est udo, sem vi ol ent ar a especi f i ci dade de cada n vel (cross level bias).
Em nos s a per s pect i va, a e pi de mi ol ogi a t em uma i mpor t a nt e con-
t r i bui o a dar pa r a es t a muda na de r u mo da s a de pbl i c a . Par a
i st o, por m, t er de enf r ent ar o des af i o de r e c upe r a r o n vel popul a -
ci onal , a gor a no ma i s c omo s ubs i di r i o de es t udos i ndi vi dua i s , ma s
c omo out r o n vel da r eal i dade. Por c ons e gui nt e , t er de a s s umi r um
out r o des af i o: r es ol ver suas l i mi t a e s c onc e i t ua i s , me t odol gi c a s e
t cni cas c omo di s ci pl i na.
Em uma l i nguagem mai s comum na epi demi ol ogi a cont empor nea,
est as pr opost as pode m ser assumi das como a necessi dade de r ei vi ndi ca-
o dos chamados est udos ecol gi cos, sobr et udo no que se refere ao es -
t udo das popul aes.
A RE A L I DA DE C O MO S I S TEMA C O MP L E X O SEMI-ESTRUTURADO SUAS IMPLICAES NA PESQUI SA EPI DEMI OLGI CA
Consi derando o pensament o de Si mons sobre a arquitetura do mundo
natural e 'artificial', esta pode ser ent endi da como um sistema complexo e
hierrquico, indecomponvel. Isto significa dizer que, a cada nvel que aborde-
mos seu estudo, esta arquitetura est composta por outros subsistemas que inte-
ragem entre si e, por sua vez, o nvel estudado interage com outros subsistemas
de seu mesmo nvel, fazendo parte de um sistema mai or .
Cada totalidade que est udamos como uni verso constitui, na reali dade,
um component e de uma totalidade mai or, compost a por si st emas menor es,
os quai s t ambm podem ser est udados como totalidade em out ro nvel de
abor dagem. O que define cada nvel de realidade so suas quali dades emer-
gent es, produt o da i nt erao entre os subsi st emas que o compe, dent ro dos
limites est abeleci dos pelo sistema mai or do qual fazem parte. Est as qualida-
des emergent es no esto present es nas uni dades (sistemas) que compem o
nvel, mas sua potencialidade est, s aparecendo como produto da organiza-
o e interao entre elas. Estas formas particulares de organizao e interao
expressam, por sua vez, o processo que lhes deu origem, de tal maneira que
nenhum nvel somente o somatrio dos processos e estruturas que podemos
estudar em um nvel inferior. Estes processos so semelhantes aos da morfog
nese, na qual o embrio, em cada estgio evolutivo, constitui um ser com uma
estrutura e funcionalidade subst anci alment e diferente do estgio anterior.
Est as quali dades emergent es assumi das em t ermos de ' compor t amen-
t os' apresent am, na reali dade, uma vari edade reduzida, li mi t ada pelas carac-
tersticas da sua prpri a estrutura (subsi st emas interativos) e pela forma como
se i nsere em sistemas mai ores (contextuais). A aparent e complexi dade que
os compor t ament os de cada sistema adot am represent a mai s uma expresso
da forma como esta li mi t ada capaci dade de vari ao de compor t ament os se
combi na, se adapt a, em cada circunstncia. Para usar as palavras de Si mon
(1981), "o homem, vi st o como um sistema de compor t ament o , em grande
part e, reflexo da complexi dade do mei o em que vi ve".
Est as descobert as t rouxeram i mport ant es esclareci ment os sobre os
processos de pensament o e de resoluo de problemas por parte dos seres
humanos e abri ram cami nho para pesqui sas sobre i nt eli gnci a artificial e a
const ruo de sistemas experts si st emas aut mat os que podem aprender
por i nt ermdi o da prpri a experi nci a. Por suas apli caes s organi zaes
admi ni st rat i vas, Si mon mereceu o Prmi o Nobel de Economi a em 1978.
difcil di zer que t odos os objetos de nossas pesqui sas t m a arquite-
tura e funcionalidade de sistemas complexos, hi errqui cos e quase i ndecom
ponvei s. Mas podemos afi rmar que, com base em nossa experi nci a, no
encont ramos at agora um exemplo que escape a essa formulao.
Os exemplos destas quali dades emergent es so numerosos e est amos
bast ant e familiarizados com eles. O poder, por exemplo, um fenmeno que
no existe em nenhum i ndi vduo em particular, emergi ndo apenas no pro-
cesso de i nt erao entre indivduos em conglomerados sociais. A consci n-
cia no est em neurni o algum, emer gi ndo apenas na i nt erao entre os
neurni os no sistema nervoso central complexo. A vi da no exi st e em mol-
cula alguma, emergi ndo apenas da i nt erao entre elas em uma organi zao
celular. A ' i muni dade de gr upo' no soment e conseqnci a do est ado i mu
nolgi co dos i ndi vduos do grupo, mas t ambm de suas i nt eraes. O com-
port ament o dos atores sociais no s expresso de sua di nmi ca interna,
mas t ambm da i nt erao com outros atores.
A i magem de caixas chinesas ou de bonecas russas i nclusas possibili-
ta, na prtica, a i nvest i gao cientfica, medi da que facilita a deli mi t ao
racional dos problemas da pesqui sa. por esse motivo que, para uma disci-
plina como a astrofsica, por exemplo, uma galxi a pode ser consi derada uma
uni dade que, i nt eragi ndo com outras, forma uma t ot ali dade, um cluster de
galxi as, o qual, por sua vez, faz parte de um superclusters ( c l ust ers de clusters)
que const i t uem uma totalidade maior. Em outro estudo, t odavi a, a galxi a
pode ser consi derada como a totalidade mai or da qual fazem part e os siste-
mas solares, que, por sua vez, so formados por planet as, sis e luas intera-
gi ndo. Que nvel de abor dagem o mai s correto? Depende do pr oblema que
est sendo enfocado.
No campo da sade, estamos familiarizados com estas 'hierarquias'. Coti
dianamente, trabalhamos com indivduos constitudos por sistemas e aparelhos,
compostos, por sua vez, por clulas, e estas por outros nveis de organizao. Os
indivduos, por sua vez, so integrantes de famlias, constituindo populaes
(bairros, grupos sociais) que sempre fazem parte de populaes maiores.
Trabalhamos com reali dades que const i t uem sistemas abertos para ci ma
e para baixo, em nveis que incluem uns aos outros, de modo quase infinito
para os fins prt i cos da i nvest i gao cientfica. Assi m, qualquer fenmeno
que est udemos estar i ndubi t avelment e afetado, em algum gr au, pelas inte-
raes que ocorrem em nveis infinitamente distantes aci ma ou abaixo. En-
tretanto, nem t odas estas i nt eraes t m o mes mo efeito sobre os fenmenos
est udados em um det er mi nado nvel. As de alta freqncia e i nt ensi dade
cost umam estar mai s relaci onadas s vari aes de curt o prazo, ao passo que
as de bai xa freqnci a cost umam se vi ncular, sobret udo, s vari aes de
longo prazo. Independent ement e do nvel de abordagem, as i nt eraes de
alta freqncia e i nt ensi dade cost umam corresponder aos nveis inferiores e
as de bai xa freqncia e i nt ensi dade aos nveis superiores.
Para os fenmenos correspondent es a um det er mi nado nvel da reali-
dade, as i nt eraes dos nvei s inferiores, medi da que nos afast amos em
di reo a nveis cada vez mai s inferiores, podem chegar a ser de tanta inten-
sidade e freqncia que so i rrelevant es, excet o pela influncia que podem
ter exerci do no processo de gnese dos sistemas que compe o sistema cor-
respondent e ao nosso nvel de abor dagem. Da mes ma manei ra, medi da
que nos afast amos em di reo a nveis superi ores, as i nt eraes podem che-
gar a ser de to bai xa freqncia e i nt ensi dade que se t ornam irrelevantes
para os fenmenos em estudo, exceto pelo i mpact o que possa haver ocorri-
do, na est rut ura e di nmi ca do nvel de nossa abor dagem, o processo de
i nt egrao sucessiva em subsi st emas mai ores. Assi m, por exemplo, se estu-
damos a cobert ura de vaci nao em um est ado ou regio, t orna-se prat i ca-
ment e irrelevante o efeito das i nt eraes entre os diferentes component es
do ciclo de Krebs-Henselei t no met aboli smo da uria nas pessoas da referida
rea. Ai nda que possa existir algum efeito, este se expressar mui t o prova-
velment e medi ant e var i aes no compor t ament o das fam li as. Ta mb m
se t orna pr at i cament e i rrelevant e o efeito das i nt eraes ent re superclusters
de gal xi as. Se exi st e al gum efeito, ser sent i do, por exempl o, em var i a-
es nas condi es cl i mt i cas do pa s ou da r egi o. No obst ant e, as
i nt er aes ent re os di ferent es gr upos de popul ao da r ea, ent re as fa-
m l i as de cada gr upo e ent re cada gr upo e o conjunto da soci edade podem
ser muito relevantes.
Por outro lado, fcil ent ender que, em qualquer nvel, o si st ema pode
ser decompost o de mlt i plas manei ras, dependendo do ' recort e' utilizado.
Ao ser est udado, um cluster de galxi as pode ser decompost o em galxi as, em
si st emas solares, em planet as, e assi m at quase ao infinito, at part culas
subatmicas. Cada um deles uma totalidade em det ermi nado nvel inferior.
Entretanto, se qui sermos estudar processos e fenmenos emergent es nos clus-
ters de galxias, s sero considerados assim quando ent endermos o cluster de
galxias como uma totalidade compost a por galxias, com uma det ermi nada
estrutura e interaes entre si como unidades, com uma histria gentica.
Dest a forma, as i nt eraes mai s relevantes para o est udo em um de-
t ermi nado nvel so aquelas que, na prtica, correspondem s desse mes mo
nvel e aos nveis i medi at ament e superior e inferior ao nosso nvel de abor-
dagem. Isto habi t ualment e recuperado com a denomi nao de vari vei s
est rut urai s, cont ext uai s e analticas. Est a condi o no i nerent e prpri a
vari vel, e sim ao nvel de abor dagem: uma mes ma varivel pode ser estru-
tural para um nvel, analtica para o segui nt e e cont ext ual para o inferior
(Samaja, 1993) .
Em outras palavras, se o nosso objeto de estudo representado como
um sistema complexo, com uma hierarquia, no sentido dado por Si mon a este
conceito, perde-se pouca i nformao quando estudamos um det ermi nado n-
vel em funo das interaes entre os subsistemas i medi at ament e inferiores.
As subpartes pertencentes s diferentes partes s atuam de forma passiva como
um todo; os detalhes de sua interao com nveis inferiores so irrelevantes e
podem permanecer ignorados. Suas propriedades coletivas so mai s i mport an-
tes. Para uma descrio tolervel de uma realidade como sistema complexo,
basta uma insignificante frao de todas as interaes possveis.
De acordo com esta forma de ent ender nossos objetos de estudo, as
famlias so uni versos quando est udamos i ndi v duos, mas uni dades quando
est udamos um gr upo como universo. Os gr upos so uni dades quando estu-
damos populaes. As populaes so uni dades quando est udamos popula-
es mai ores e assi m sucessi vament e. Isto significa dizer que no s as vari -
vei s, mas t ambm as uni dades de anlise tero um carter distinto que no
i nerent e a elas mesmas, e sim ao nvel de abordagem.
Qual o nvel correto? Consi deramos que depende do pr oblema que
est udamos. O i mpor t ant e agor a que deve haver uma coernci a entre o
pr oblema tal como foi definido, as uni dades de i nformao e de anli se, as
vari vei s, os i ndi cadores e, t ambm, o uni verso para o qual fazemos infern-
cia com base em nossos result ados.
Quai s as uni dades de anlise corretas? Consi deramos que depende do
nvel no qual defi ni mos e abordamos o problema de pesqui sa, e o mes mo
vli do em relao s variveis. No h dvi das de que boa par t e da validade
e ut i li dade dos est udos epi demi olgi cos reside na escolha de uni dades de
anli se adequadas. A experi nci a do pesqui sador, bem como sua familiarida
de com o objeto de estudo e o problema tm papel mui t o i mport ant e na
escolha de uni dades de anlise e vari vei s adequadas, seja o nosso pont o de
partida o desenho do estudo, a definio do problema, a identificao do
nvel de abor dagem ou ai nda a definio de uni dades de anlise e variveis.
Al gumas pistas podem nos guiar. Uma delas observar se os compo-
nent es i nt ernos de nossas uni dades de anlise i nt eragem ent re si formando
uma uni dade funcional, do pont o de vista dos fenmenos e processos em
estudo. Out r a observar se as uni dades de anlise i nt er agem entre si no
nosso nvel de abordagem.
Se confecci onarmos um esquema no qual apaream as i nt eraes so-
ciais em diferentes nveis de organi zao, ser mai s fcil identificar as acu-
mulaes de i nt erao densa, que, mui t o provavelment e, oferecero a i ma-
ge m de uma est rut ura hi errqui ca como a que definimos.
Certamente, no h motivos para esperar que a decomposio do desenho
completo em seus componentes funcionais possa ser nica. Sempre existiro
decomposies alternativas; mas este tipo de raciocnio nos ajuda a compreen-
der qual o nvel dos estudos populacionais e qual o dos estudos de individuais
em epidemiologia, assim como suas possveis aplicaes e limitaes. Isto confe-
re um marco mais amplo para revisar o papel do ecolgico na epidemiologia.
O ECOLGICO COMO UM NVEL DA
REALIDADE EM EPIDEMIOLOGIA
Quando nos referimos a estudos ecolgi cos em epi demi ologi a, geral-
ment e no est amos falando da i ncorporao das cont ri bui es da ecologi a
como disciplina no estudo da i nt erao entre os seres vi vos e o ambi ent e.
Trat amos de um det ermi nado tipo de estudo epi demi olgi co em que as uni-
dades de anlise e as vari vei s preditivas no correspondem ao nvel indivi-
dual, mas sim ao populacional. Isto pode ser entendido de duas maneiras. Uma
se refere a estudos nos quais a populao constitui no s a unidade de anlise
mas t ambm variveis e o universo sobre o qual se inferem os resultados. Neste
caso, utilizam-se coletivos como unidades de estudo, inclusive populaes de
populaes o universo de referncia so, t ambm, coletivos de populao.
A outra manei r a se refere a est udos nos quai s os valores de i ndi v duos (ris-
cos i ndi vi duai s) so i nferi dos com base em valores mdi os de um gr upo
(Poole, 1994) .
Freqent ement e, argument a-se que os est udos ecolgi cos tm pouca
abrangnci a para avaliar hi pt eses de risco em decorrnci a da chamada 'fa-
lcia ecolgi ca' (Lilienfeld & Lilienfeld, 1980; Rot hman, 1986) ent endi da
como o erro comet i do ao se inferir o risco individual com base em i nforma-
es correspondent es ao gr upo ou populao. De acordo com este pont o
de vista, os estudos ecolgi cos podem ser teis para a gerao de hi pt eses,
mas a sua t est agem, consi derada mai s i mport ant e, reservada para o traba-
lho com dados em nvel i ndi vi dual (Klei nbaum, Kupper & Mor genst er n,
1982). De fato, na mai ori a das vezes, as variveis de gr upo so consi deradas
vari vei s de confuso, que devem ser cont roladas no desenho ou na anlise,
por que afetam a vali dade das associ aes encont radas.
Ut i li zando o ' t eorema da covari nci a' , Robi nson (1950) demonst rou
mat emat i cament e pela pri mei ra vez, em 1950, que a covari nci a total de
duas vari vei s pode ser expressa como o somat ri o de um component e in
t r agr upo e um component e i nt ergrupo (ecolgi co). Post eri orment e, Dun-
can, Cuzzort & Duncan (1961) ut i li zaram este t eorema para expressar as
relaes entre os coeficientes de regresso i nt ragrupo e i nt ergrupo.
Mor genst er n (1992) havia chamado a ateno, em 1982, que os pr o-
psi t os bsi cos dos desenhos ecolgi cos eram gerar e / ou testar hipteses
causais (etiolgicas na linguagem de Morgenstern) e avaliar a efetividade das
intervenes em populaes. Entretanto, no deixou de enfatizar as limitaes
em ambos os tipos de estudo, como conseqncia da falcia ecolgica. Este
autor usou a expresso cross level bias como ponto-chave para avaliar a vali dade
dos est udos ecolgi cos. Em essncia, esse tipo de vi s (bias) ocorre quando
uma vari vel predi t i va ecolgi ca utilizada para analisar o compor t ament o
de uma vari vel em nvel individual.
Post eri orment e, Greenland & Mor genst er n (1992), est udando a rela-
o entre a exposi o doena nos nveis individual e coletivo, demonst ra-
ram que o coeficiente de correlao no nvel ecolgi co pode ser di vi di do em
trs component es: efeitos i ndi vi duai s, confoundings e efeitos de modi fi cao.
Est e t i po de pr opost a foi at uali zado e ampl i ado mai s r ecent ement e por
Greenland & Robi ns.
Na reali dade, pareci am existir evi dnci as e argument os suficientes para
document ar as conseqnci as dest a 'falcia ecolgi ca' . As correlaes entre
gr upos nem sempre exi st em ou se compor t am de forma semelhant e em nvel
i ndi vi dual, devi do a uma vari ao dos riscos individuais no interior de cada
conglomerado ou populao, que seguem um modelo no-linear. A mai ori a
dos aut ores cont emporneos chegou concluso de que, para vali dar hi p-
teses de risco individual, necessrio t rabalhar com gr upos de i ndi vduos
com a menor vari ao possvel ent re eles, em t ermos de exposi o a fatores
e processos de risco. As variveis de nvel coletivo devem ser cont roladas
como confundidoras.
Recent ement e, Schwar t z (1994) chamou a at eno par a est as con-
seqnci as, embas ando- s e em uma per spect i va geral da val i dade dos es-
t udos epi demi ol gi cos. Segundo ele, a falci a ecol gi ca, t al como co
mume nt e ut i li zada, refora t rs noes i nt er - r el aci onadas: a de que os
model os de n vel i ndi vi dual so mai s espec f i cos do que os de n vel eco-
l gi co; a de que as cor r el aes ecol gi cas so mer os subst i t ut os das cor-
r el aes em n vel i ndi vi dual, i st o , que os des enhos ecol gi cos so uti-
l i zados quando no podemos r eali zar des enhos i ndi vi duai s ( consi der a-
dos super i or es) ; e a de que as var i vei s de gr upo no ' caus am doenas ' ,
no podendo ser consi der adas causai s. A ar gument ao de Schwar t z pa-
rece demons t r ar o que se apr esent a a segui r.
Ai nda que os est udos ecolgi cos t rabalhem freqent ement e com
i nformao menos especfica e depurada, isto se deve ao uso freqente de
registros e dados secundri os, no sendo inerente sua condi o de desenho
ecolgico. Em mui t os casos, nos estudos ecolgi cos podem-se obt er infor-
maes mui t o mai s confiveis do que nos i ndi vi duai s por exemplo, quando
se referem s vari vei s de ingresso, consumo alcolico ou abort os induzidos.
Portanto, mai s que uma limitao, esta deve ser consi derada uma van-
t agem dos desenhos ecolgicos, ao permi t i r freqent ement e utilizar dados
secundri os apesar de suas deficincias. Todavia, assi m como os i ndi vi duai s,
os desenhos ecolgi cos podem se basear em dados pri mri os e i nformaes
muito especficas e, s vezes, menos enviesadas do que os estudos individuais.
O problema de vigiar o possvel efeito de variveis de confuso i gualment e
vli do para os est udos de i ndi vduos e de populaes.
Os desenhos ecolgi cos at uam em diferentes const ruct os da reali-
dade. A di screpnci a entre as correlaes nest e nvel e o i ndi vi dual pode ser
consi derada como uma contribuio compreenso dos ri scos dos i ndi vdu-
os. Nenhum dos dois nveis t em uma capaci dade absoluta de predi zer o com-
port ament o de um i ndi vduo em particular, mas ambos cont ri buem para co-
nhec-lo melhor.
Mui t as das vari vei s causais de problemas de sade corresponde-
rem a nveis agr egados e no soment e a indivduos.
Ai nda que suas propost as consi derem as quest es da epi demi ologi a
como quest es de i ndi vduos e, port ant o, a utilidade dos desenhos ecolgi-
cos di scut i da em funo de sua utilidade para est udar est es pr obl emas
i ndi vi duai s, Schwart z t rouxe cont ri bui es significativas ao desmont ar mui -
tas das premi ssas utilizadas para desacredi t ar os est udos ecolgicos.
O element o-chave que a mai ori a destas propost as se refere ao nvel
i ndi vi dual como o nvel de estudo dos problemas de sade. O nvel ecolgi-
co consi derado outra forma de desenhar est udos para avaliar os pr oblemas
de sade de i ndi vduos. O que no foi document ado com a mesma intensi-
dade so as conseqnci as decorrent es de se limitar o mbi t o da vali dao
de hi pt ese s vari vei s e aos dados de nvel individual. Tambm no foram
suficientemente document adas as li mi t aes dos est udos de nvel individual
para est udar pr oblemas de nvel populaci onal.
Recent ement e, Koopman & Longi ni (1994) demons t r ar am que, pelo
menos par a as doenas i nf ecci osas, o mar co concei t uai consi der ado ha-
bi t ual ment e par a di scut i r a falcia ecol gi ca no era adequado, uma vez
que os r esult ados, em t er mos de doena, em cada i ndi v duo no depen-
di am da ao causal sobr e a i nt er ao dos i ndi v duos com o gr upo, o que
si gni fi ca di zer que as s umi am uma di nmi ca li near da i nf eco nas popu-
l aes. Est es aut or es dest acam que o efei t o das causas sobr e um i ndi v -
duo modi f i ca a f or ma como ele i nt er age com os out ros e, por t ant o, o
efeito das causas sobr e eles; a i nf eco t em uma di nmi ca no-l i near nas
popul aes. Por consegui nt e, os est udos em n vel i ndi vi dual t m gr andes
l i mi t aes par a i ncor por ar est a compl exa di nmi ca, que s pode ser apr e-
endi da em est udos ecol gi cos que def i nam a r eali dade como um si st ema
compl exo. Como exempl o, eles coment am um est udo de domi c l i os, no
Mxi co, sobr e a exposi o ao vet or do dengue. A anlise em nvel indivi
dual quase demonst rou a no existncia de associ ao entre a exposi o a
vetores e infeco. No entanto, a anlise agregada demonst rou forte asso-
ciao. A explicao, segundo Koopman & Longini, no reside na falcia
ecolgica, e sim na di nmi ca real da infeco na populao, que apresent a
um carter no-linear.
Susser (1994a; 1994b), por sua vez, revisou os desenhos ecolgi cos
com base na perspect i va da lgica do desenho e da lgica da anlise. De
acordo com esta perspectiva, a falcia ecolgica definida como a suposi-
o de que uma associ ao em um nvel de organi zao pode ser inferida a
outro. Nest e moment o, interessa destacar que, de acordo com este autor, o
cross level bias descrito por Greenland & Morgenst ern e outros pode ocorrer
em qualquer direo, quando se tiram concluses sobre i ndi vduos a partir
de estudos populaci onai s, ou sobre populaes e gr upos a partir de estudos
individuais. Isto coloca em evidncia a idia de que o ecolgi co constitui um
nvel de organi zao diferente do individual.
Parecem, poi s, estar definitivamente maduras as condi es para esta-
belecer que os desenhos ecolgicos podem ser to pot ent es quant o os indi-
vi duai s para formular e provar hi pt eses, e que as pr eocupaes sobre a
falcia ecolgi ca so vlidas para ambos os estudos.
O pont o que preci samos destacar, agora, que o nvel ecolgi co
essencial para os estudos epi demi olgi cos, quando se assume esta disciplina
como um pilar da sade pbli ca. Se a sade pbli ca atua essenci alment e
sobre populaes, se esto-se desenvolvendo estratgias de i nt erveno po-
pulacional que no negam as i nt ervenes sobre indivduos, mas as redefi-
nem como marco explicativo dos problemas de sade mai s relaci onado s
condi es de vida das populaes, ento a epi demi ologi a tem de assumi r o
ecolgi co como nvel bsico de trabalho.
Por consegui nt e, os estudos ecolgi cos no so (ou no so soment e)
uma das alternativas de desenho para o estudo dos problemas de sade indi-
viduais, mas sim o nvel adequado para o estudo da sade das populaes.
Assi m, como foi ressaltado por Almei da Filho, todos os desenhos epi demi o-
lgicos tanto os observaci onai s quant o os de interveno, tanto os trans-
versais quant o os longitudinais - podem ser realizados no nvel individual
bem como no nvel agregado (ecolgico).
Por outro lado, como existe uma vari edade de desenhos ecolgi cos em
epi demi ologi a, ainda necessrio enfatizar que os estudos sobre sade de
populaes no s preci sam i ncorporar desenhos ecolgi cos quando utili-
zam uni dades de anlise que so coletivos humanos, como t ambm consi de-
rar a reali dade como um sistema complexo, com diferentes nveis de totali-
dade si st emi cament e art i culados.
Com base na perspect i va da sade coletiva isto , de populaes , a
pr obl emt i ca de art i cular var i vei s de di ferent es n vei s, i ncor por ar a um
est udo de popul aes var i vei s que cor r es pondem em n vel de i ndi v -
duos ou de subpopulaes e vari vei s que correspondem a uni dades popula-
ci onai s mai ores, das quais fazem parte do nosso nvel de abor dagem, adqui re
grande i mport nci a. Di t o de outra manei ra, como i ncorporar vari vei s anal-
ticas e cont ext uai s que se relaci onam com as variveis que so est rut urai s
em nosso nvel de abordagem.
Cabe reconhecer que seja qual for o nvel em que abor demos a sade
das populaes (indivduos e subpopulaes que i nt eragem entre si ), tere-
mos de trabalhar, quase que necessari ament e, com vari vei s de nveis infe-
riores e superi ores, a menos que assumamos a restrio de est udar exclusi va-
ment e vari vei s estruturais do nvel de abor dagem, o que, sem dvi da, pode
levar a conheci ment os t ei s, mas li mi t ados. O i mpor t ant e assumi r est a
dificuldade como um desafio a ser superado em nossos desenhos.
Ai nda assi m, seja qual for nosso nvel de abordagem, li daremos com
processos de carter qualitativo que no so adequadament e expressos ou
recupervei s medi ant e uma formali zao mat emt i ca pelo menos, no nos
seus aspect os mai s relevant es para os fenmenos em estudo. Est a out ra fon-
te de complexi dade, i nerent e s formas de consci nci a e condut a e s mu-
danas de quali dade nos pr ocessos de i nt erao, t em uma opor t uni dade
mai or de ser i ncorporada quando t rabalhamos desenhos populaci onai s.
A falcia ecolgi ca const i t ui uma espci e de alert a per manent e par a
quem est uda a sade de i ndi v duos. preciso t omar det ermi nados cuida-
dos quando se i ncorporam vari vei s populaci onai s. Ai nda no t emos uma
expr esso consagr ada par a nos alertar sobre os ri scos de i ncor por ar vari -
vei s de i ndi v duos em est udos de populao. So os ri scos t radi ci onai s do
r educi oni smo e do mecani ci smo. Tampouco t emos uma pal avr a consagr a-
da par a alert ar sobre as poss vei s conseqnci as de ut i li zar desenhos de
cart er li near par a est udar reali dades complexas. Pr ovavelment e, este fato
est r elaci onado com a i ngenui dade, ou, quando se t rat a de defi ni r i nt er-
venes , com a prepot nci a.
ALGUNS AVANOS PARA UMA
EPIDEMIOLOGIA DE POPULAES
Ent re os avanos na di reo de uma epi demi ologi a de popul aes,
gost ar amos de dest acar a i mpor t nci a da i ncor por ao do concei t o de ter-
ritrio. Embor a no seja recent e a ut i li zao de uni dades t erri t ori ai s para
est udos epi demi ol gi cos, novi dade a i ncor por ao da noo de t erri t ri o
como espao-populao, i st o , uma uni dade na qual i nt er agem popula-
es como um mbi t o de conver gnci a hi st ri ca de mlt i plos pr ocessos,
desde a defi ni o do cli ma at as relaes de i nt erao ent re i ndi v duos,
gr upos e subpopul aes.
Deve-se levar em conta, t ambm, que o territrio essencial para a
concret i zao do Est ado e dos rgos do poder pblico. Portanto, a execu-
o de i nt ervenes sociais t ende a ter uma organi zao territorial. Se a isto
acrescent armos o fato de que os territrios, se consi derados espao-popula-
o, t endem a estabelecer hi erarqui as e a atuar como sistemas complexos e
quase i ndecompon vei s, di sporemos de ferramentas de pesqui sa mui t o po-
derosas que ai nda no foram suficientemente exploradas e desenvolvi das.
Como exemplo de uso de uni dades territoriais como espao-popula-
o em est udos epi demi olgi cos, podemos citar os est udos sobre perfis dife-
renci ai s de mor t ali dade segundo n vei s de desenvolvi ment o econmi co e
social, com base nas chamadas Tbuas Reduz vei s de Mort ali dade, publi ca-
das pela OP S / OMS na sua mai s recent e edi o do relat ri o quadri anual
Condies de Sade nas Amricas (OPS, 1994).
Out ra cont ri bui o fundamental foi feita por Samaja (1993), com sua
propost a da ' mat ri z de dados' . O autor enfrenta especi fi cament e a proble-
mt i ca da art i culao de vari vei s de diferentes nveis em um mes mo estu-
do. Em vez de fechar os desenhos em det er mi nado nvel de abor dagem ('an-
coragem' , segundo sua denomi nao) por t emer o reduci oni smo e o mecani
ci smo falcia ecolgi ca em sentido descendent e e ascendent e, di r amos,
entre os epi demi logos , o autor defende a necessi dade de utilizar vari vei s
de diferentes nvei s e articul-las ent re si, de tal manei r a que as vari vei s
analticas de nosso nvel de abor dagem sejam definidas como as est rut urai s
de um nvel inferior. Na verdade, as variveis cont ext uai s de nosso nvel
podem ser estruturais de um nvel superior e assi m sucessi vament e.
Em um det ermi nado nvel, uma varivel pode ser definida como es-
trutural, analtica ou contextual, dependendo dos t ermos nos quai s seja de-
finida. Portanto, se definida como contextual, dever ser abordada em um
nvel superior; se definida como analtica dever ser abordada em um nvel
inferior, e se contextual, no mesmo nvel de nosso estudo. Isto significa
di zer que, em um mes mo estudo, no s podemos utilizar variveis de dife-
rentes nveis para enri quecer nosso conheci ment o do pr oblema i nvest i gado,
como t ambm nossas uni dades de anlise podem ser e mui t o provavel-
ment e, devem ser de diferentes nveis em um mes mo estudo.
Escapari a aos objetivos deste trabalho, e provavelment e nossa capa-
ci dade, a tentativa de uma reviso exaust i va da pot nci a dest es desdobra-
ment os para nossa i nvest i gao epi demi olgi ca sobre a sade de popula-
es. Entretanto, quer emos enfatizar que este tipo de cont ri bui o abre um
cami nho mui t o promi ssor para uma epi demi ologi a mai s pot ent e.
Out r a cont r i bui o f undament al deve ser at r i bu da aos avanos r e-
al i zados no r econheci ment o da i mpor t nci a e ut i li dade dos des enhos cha-
mados quali t at i vos em epi demi ol ogi a, e no des envol vi ment o met odol -
gi co par a art i cular var i vei s e t cni cas ' qual i t at i vas' com ' quant i t at i vas'
no mes mo est udo. Isto pr essupe o r econheci ment o de doi s fat os t r ans-
cendent es . Em pr i mei r o lugar, a pot nci a das t cni cas et nogr f i cas, de
vali dao consensual, e em geral de cart er heur st i co, par a obt er a infor-
mao que di f i ci lment e consegui da de forma confi vel por mei o de re-
gi st r os, est udos secci onai s e censos t r adi ci onal ment e ut i l i zamos em epi -
demi ol ogi a. Em segundo, o r econheci ment o de que o quant i t at i vo so-
ment e uma di mens o da r eal i dade, que as mudanas de qual i dade e de
est ado const i t uem no a exceo, mas si m par t e do compor t ament o habi -
tual de t odo o si st ema.
A revi so dos concei t os bsicos sobre inferncia foi outro passo i m-
port ant e. Como escapari a aos objetivos deste trabalho proceder a uma am-
pla revi so dos t er mos desta reviso, dest acaremos soment e dois aspectos.
Em pri mei ro lugar, a revalori zao da abduo, ao lado da i nduo e da
deduo, como mt odo de produzi r conheci ment o; e relaci onada a ela, a
recuperao do concei t o de espci me como enri queci ment o do tradicional
concei t o de amostra. Samaja, da Uni versi dade de Buenos Ai r es, foi prova-
velment e quem t rabalhou de manei ra mai s sistemtica e t rouxe est es concei-
tos lgica do desenho e da anlise em epi demi ologi a.
No mbi t o epistemolgico, necessrio destacar novament e as con-
tribuies de Almei da Filho, cri t i cando si st emat i cament e os concei t os de
inferncia e seu uso na epi demi ologi a cont empornea, sobret udo quando
abordados com base em perspect i va ecolgica e antropolgica.
Fi nalment e, gost aramos de destacar as contribuies sobre a reprodu-
o social como modelo explicativo das condi es de vi da e os perfis de
sade das populaes e gr upos sociais. Este desenvolvi ment o surgiu em di-
ferentes pases da Amri ca Latina. Cert ament e so relevantes as contribui-
es de Breilh, no Equador, de Samaja, na Argent i na, de Laurel, no Mxi co,
as nossas e as de muitos outros pesqui sadores. O encont ro destes desenvol-
vi ment os tericos com o conjunto de desenvolvi ment os met odolgi cos que
suci nt ament e acabamos de descrever anunci a uma fecunda produo de co-
nheci ment os sobre a realidade da sade de nossos povos.
Em outra linha de pensamento, poderamos destacar os avanos obtidos
ao repensar os conceitos de vigilncia epidemiolgica, das tcnicas de vigilncia-
sentinela, dos conceitos de indicadores e variveis 'traadoras' e muitos outros
progressos de nvel tcnico que esto acontecendo.
Ai nda preci sa ser veri fi cado quant o do desenvolvi ment o concei t ual,
met odolgi co e t cni co da epi demi ologi a de nvel i ndi vi dual recupervel
para os nvei s populaci onai s, e quant o necessri o reconcei t uar e desen-
volver. Esta revoluo i nt erna no campo da epi demi ologi a e da sade p-
blica ocorre em uma poca em que o campo geral das ci nci as est sendo
est r emeci do por i ncont vei s avanos que t endem a der r ubar mui t as das
premi ssas bsi cas da ci nci a moderna. Ent re elas, dest acam-se o apego
predi o, sua vi so causali st a, est t i ca e a-histrica das uni dades de anli -
se, bem como a i ncorporao da noo de caos no mundo apraz vel dos
compor t ament os li neares dos si st emas, no desenvolvi ment o de uma mat e-
mt i ca capaz de dar cont a do no-formal, de uma nova vi so geomt r i ca,
agora no-eucli di ana, de uma fsica que superou ampl ament e a vi so me-
cni ca, de uma bi ologi a que cada vez mai s i ncorpora uma vi so di nmi ca
da or gani zao e evoluo dos seres vi vos, de ci nci as soci ai s que valori -
zam cada vez mai s o ant ropolgi co, e mui t os out ros avanos que se mes-
clam em um het er ogneo e cont radi t ri o movi ment o de const ruo de uma
ci nci a que mui t os t ent am chamar de ps-moder na.
Cremos no ser possvel afirmar, ainda, o quant o estes avanos - que
j esto t ornando obsoletas muitas das premi ssas das cincias ditas moder-
nas - sero teis ao nosso esforo de repensar a epi demi ologi a cada vez mai s
como uma disciplina que est uda a sade de populaes e no apenas a sade
em populaes, cada vez mai s compr omet i da com a sade pbli ca e coleti-
va. Podemos, si m, advertir com segurana que devemos nos mant er alerta
em relao a esses avanos. No poder amos per manecer ancorados a uma
vi so esttica da nossa disciplina e mant er nossos concei t os e mt odos pri-
sioneiros da abor dagem individual da sade, ai nda que em nome da chama-
da epi demi ologi a moder na que t odos apr endemos um dia, mas que, em mui -
tos aspect os, vem comeando a ser consi derada li mi t ada e obsoleta.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
C A R R I O N, D. Anotaes sobre a verruga peruana. In: 0 Desafio da Epidemiologia.
Pub. Cientfica 505. OPS/OMS. Washington D.C., 1991.
CASAL, G. Da afeco que nesta provncia se chama vulgarmente mal da rosa. In:
O Desafio da Epidemiologia. Pub. Cientfica 505. OPS/OMS. Washington DC, 1991.
CHAGAS, C. Uma nova entidade mrbida do homem: relatrio de estudos etiol
gicos e clnicos. In: O Desafio da Epidemiologia. Pub. Cientfica 505. OPS/OMS.
Washington DC, 1991.
DUNCAN, O.D.; C UZZOR T , R.P. & DUNCAN, . Statistical Ge ography: proble ms
in analysing are al data. Westport: Greenwood Press, 1961.
FINLAY, C. mosquito hipoteticamente considerado como agente de transmisso
da febre amarela. In: O Desafio da Epidemiologia. Pub. Cientfica 505. OPS/OMS.
Washington D.C., 1991.
G R E E NL A ND , S. & MO R G E NS T E R N, H. Ecological bias, confounding and
effect modification. International Journal of Epidemiology, 18:269-274, 1992
G R E E NL A ND , S. & R OBI NS , J . Invited commentary: ecologic studies-biases,
misconceptions, and conterexamples. American Journal of Epidemiology, 139:747-760,1994.
KL E I NB A UM, D. G; KUPPER L. L. & M O R G E N S T E R N , H. Epidemiologic
Research: principles and quantitative methods. London: Lifetime Learning, 1982.
K O O P M A N J & LONGINI I. The ecological efects of individual and nonlinear
disease dynamics in populations. American Journal of Public Health. 84:836-842, 1994
LILIENFELD A.M & LILIENFELD, D. E. Foundations of Epidemiology. New York:
Oxford University Press, 1980.
MORGENSTERN, H. Uses of ecologic analysis in epidemiologic research.
American Journal of Public Health, 72:1336-1344, 1992
PINDER, L. Twenty years after Lalonde. Health promotion in perspective. Health
Promotion in Canada, 33, 1995.
POOLE, C. Editorial: Ecologic analysis as outlook and method. American Journal of
Public Health, 84:715-716, 1994.
ROBINSON, W S. Ecological correlations and the behavior of individuals. American
Sociological Review, 15:351-357,1950.
ROSE, G. The Strategy of Preventive Medicine. New York: Oxford University Press,
1992.
ROTHMAN, K. J. Modern Epidemiology. New York: Little Brown, 1986.
SAMAJA, J. Epistemologia y Metodologia. Elementos para una teoria de la investigation cientfica.
Buenos Aires: EUDEBA, 1993.
SCHWARTZ, S. The fallacy of the ecological fallacy: the potencial misuse of a
concept and the consequences. American Journal of Public Health, 84:819-824,1994.
SIMON, H. Science of the Artificial. 2nd edition. Boston: Massachusetts Institute of
Technology, 1981.
SNOW, J. Sobre o modo de transmisso da clera. In: O Desafio da Epidemiologia. Pub.
Cientfica 505. OPS/OMS. Washington. DC, 1991.
SUSSER, M. The logic in ecological: I. The logic of analysis. American Journal of Public
Health, 84:825-829,1994.
SUSSER, M. The logic in ecological: II. The logical of design. American Journal of
Public Health, 84:830-835, 1994.
VILLERME, L. Resenha do estado fsico e moral dos operrios do algodo, l e
seda. In: O Desafio da Epidemiologia. Pub. Cientfica 505. Organizao Panamericana de
Sade OPS/OMS. Washington DC, 1991.
E P I D E MI O L O G I A ,
T E C NO C I NC I A BI OT I C A
Fermin Roland Schramm
INTRODUO
Te nt a mos ar t i cul ar , aqui , t rs t i pos de obj et os t er i cos : o epi -
de mi ol gi c o, o t ecnoci ent f i co e o bi ot i co. A a r t i c ul a o ser fei t a a
par t i r do pont o de vi s t a da di al t i ca ent r e os doi s pr i nc pi os t i cos
prima facie da a ut onomi a (da pe s s oa ) e da e qi da de ( ent r e pe s s oa s ) .
Cons i de r a mos t ai s pr i nc pi os he ur i s t i c a me nt e per t i nent es par a enf r en-
t ar uma pe r gunt a r el evant e par a a s ade pbl i ca: quai s so os ef ei t os
e pi de mi ol gi c os e s pe r a dos do de s e nvol vi me nt o da c ompe t nc i a t ec
noci ent f i ca c ont e mpor ne a , bus c a ndo me l hor a na qua l i da de de vi da
i ndi vi dual ( pes s oal ) e r e s pe i t a ndo o pr i nc pi o de e qi da de em s ade
ent r e i ndi v duos ( pes s oas ) i st o , o pr i nc pi o da di s t r i bui o eqi
t at i va das opor t uni da de s ent r e os i ndi v duos de uma popul a o?
O DESAFIO DA COMPLEXIDADE A DIALTICA
AUTONOMIA / EQIDADE
Int ui t i vament e, do pont o de vi st a do saber-fazer epi demi olgi co, a
pr i mei r a per gunt a no se refere pr i nci pal ment e a i ndi v duos em si, mas
a gr upos e soci edades de indivduos ou ' populaes' , ent endi das como
conjuntos de ' i nt eraes' entre indivduos. Assi m, o objeto da epi demi ologi a
parece estar vi nculado, preferencialmente, mai s ao princpio tico da eqi-
dade, do que ao da aut onomi a.
Cont udo, pode- se t ambm consi der ar a hi pt ese de que o pr i nc pi o
t i co prima facie mai s per t i nent e par a est e objet o da epi demi ol ogi a o da
benef i cnci a (ou benevol nci a) , de acor do com a t r adi o da t i ca mdi -
ca, ou deont ol gi ca, de or i gem hi pocr t i ca. Est a foi a t ese def endi da
pel o bi oet i ci st a Dougl as Weed na palest r a A new ethic for epidemiology du-
r ant e o III Congr es s o Br asi lei r o de Epi demi ol ogi a, em 1995. Por m, o
pr i nc pi o da benef i cnci a, embor a i mpor t ant e nas di scusses da t i ca con-
t empor nea ( como qual quer pr i nc pi o t i co prima facie), est mui t o mai s
vi ncul ado post ur a do mdi co na r el ao com o paci ent e por t ant o, s
r egr as de condut a da deont ol ogi a concebi da t r adi ci onal ment e do que
ao cont ext o de just i a e eqi dade r equer i do par a di r i mi r as quest es de
sade em t er mos pbl i cos.
Do pont o de vi st a tico, os pr obl emas epi demi olgi cos par ecem pri -
vi legi ar a abor dagem macr ot i ca (Gost i n, 1991). O epi demi ologi st a, ao ter
de escolher ent re ser nort eado pelo pri nc pi o da aut onomi a da pessoa ou
pelo da eqi dade ent re pessoas, escolher coerent ement e o segundo. Pr i o-
ri za, assi m, os i nt eresses da populao, consi derada verdadei ro alvo do seu
enfoque disciplinar. Como ver emos, o pr oblema no to si mples, embor a
seja poss vel sust ent ar que, do pont o de vi st a da assi m chamada objetivi-
dade ci ent fi ca, o epi demi ol ogi st a no est pr i mor di al ment e i nt er essado
em valor es, pri ori dades e escolhas, li mi t ando-se a regi st rar ocor r nci as em
popul aes em um t erri t ri o det er mi nado, poi s est as ser i am os ni cos
fat os relevant es par a suas anli ses di sci pli nares. No ent ant o, o que est
i mpli ci t ament e em quest o, aqui , a separ ao ent re fatos e valores, isto
, a pr pr i a lei de Hume apli cada aos pr obl emas da epi demi ol ogi a.
Com efeito, como t ent aremos demonst rar a seguir, em um mundo se
culari zado onde o respeito dos direitos da pessoa (a comear, portanto, pelo
de aut onomi a) se torna prioritrio para o exerccio concret o de ci dadani a de
cada um, e de t odos, a relao entre aut onomi a e eqi dade no pode ser, sem
mai s, enfrentada de forma di cot mi ca, mas deve, em princpio, ser pensada
de forma que chamaremos complexa.
Dadas estas premi ssas, se consi derarmos soment e a populao como
pert i nent e para a anlise epi demi olgi ca e, portanto, soment e o nvel macr o-
tico, uma outra pergunt a surgiria i medi at ament e: como conciliar, em uma
soci edade laica e pluralista (democrt i ca), os interesses da populao, sinte
tizveis no pri ncpi o de eqi dade, com o pri ncpi o da aut onomi a, que res-
ponsabi li za cada um dos membr os de uma populao e o t orna um cidado,
um i ndi vduo com direitos e deveres correspondent es?
Est a quest o no oci osa para o epi demi ologi st a, poi s i mpli ca, por
exemplo, no poder usar i nformaes sobre uma det er mi nada pessoa sem o
seu consent i ment o esclarecido, mes mo quando tais i nformaes so rele-
vant es para a preveno e a prot eo da sade da populao como um todo.
Caso contrrio, o epi demi ologi st a, ao infringir o princpio prima fade da auto-
nomi a, seria passvel das medi das legais previstas em uma soci edade deter-
mi nada. Esta quest o polmi ca foi di ri mi da em 1991 pelo Int ernat i onal Com-
mittee of Medi cal Jour nal Editors, ao proibir toda publi cao de i nforma-
es que pudessem levar identificao de paci ent es, sem seu consent i men-
to e aps devida i nformao (ICMJE, 1991).
De toda forma, esta di scusso evi denci a un conflito latente entre os
dois princpios prima facie e abre a quest o se eles podem ser conci li ados em
det er mi nadas circunstncias, a serem avaliadas em cada caso concret o.
Ant es, por m, preciso distinguir doi s nveis o lgi co e o prtico -
em tica. Como, em nvel lgico, os dois princpios par ecem excluir-se um ao
outro pelo menos se ent endermos lgi ca no sentido tradicional, apoi ada
no pri ncpi o de no-cont radi o t rat aremos apenas do nvel prtico.
Em nvel prtico, a quest o no to menos simples. Consiste, em
essncia, no seguinte: possvel abordar os pri ncpi os de aut onomi a e de
eqi dade, escapando de uma abordagem di cot mi ca e excludent e, para en-
frentar os problemas ticos de forma complexa? Em caso afirmativo, a ques-
to da eqi dade ter de estar relaci onada a out ras quest es, relativas din-
mi ca entre direitos e deveres dos atores concret os da vi da social, ou seja, os
i ndi vduos que, em princpio, so aut nomos, logo, responsvei s por seu agir
e pensar. Por um lado, eles se i nt errelaci onam com outros i ndi v duos, em
princpio i gualment e aut nomos, e, por outro, det er mi nam, dest a ou daque-
la forma, a quali dade de suas vi das e a dos outros.
Como exi st em pont os de vista, desejos e i nt eresses conflitantes em
qualquer vi da em comum (e at em cada pessoa), nasce a exi gnci a de resol-
ver tais conflitos, operao nor malment e feita por uma instncia terceira e
medi adora, qual os conflitantes delegam parte de sua aut onomi a, confor-
me a confiabilidade dest a em respeitar a avali ao eqitativa dos i nt eresses
e dos valores consi derados pert i nent es para a quali dade de vi da em cada
gr upo ou sociedade.
Mui t o superficialmente, este o contexto em que deve ser pensada a
quest o da eqi dade em sade e, acr edi t amos, enfrent adas as di scusses
atuais tanto em biotica quant o em epi demi ologi a.
Para tratar este ' desafio da complexi dade' (Bocchi & Cerut i , 1985),
abordaremos, a seguir, trs cami nhos (ou pi st as), de acordo com o pont o de
vi st a da epi demi ologi a, da t ecnoci nci a e da tica.
Procedendo desse modo, nos situamos, em pri mei ro lugar, no cont ex-
to da chamada transio epi st emolgi ca em epi demi ologi a, que pode ser ca-
racterizada, essenci alment e, como a passagem de um par adi gma da causali-
dade e do risco para um ' paradi gma da complexi dade' essenci alment e no-
di cot mi co e com base no mt odo da i nt errelao, da interdefinibilidade e da
i nt erdi sci pli nari dade dos pr oblemas epi demi olgi cos a serem enfrent ados
(Schramm & Castiel, 1992).
Por isso, a quest o epi demi olgi ca t ambm ser relaci onada questo,
que chamar emos tico-poltica, e que pergunt a se o desenvolvi ment o t ecno-
lgico constitui fator relevante na busca da eqi dade em sade e, port ant o,
um i ndci o de aument o da quali dade de vi da. Trata-se aqui , par a utilizar uma
expresso hei deggeri ana ao avesso, da ' pergunt a pela tica' (Die Frage nach
der Ethik), indissocivel, no nosso entender, da ' pergunt a pela t cni ca' (Die
Frage nach der Technik) (Hei degger, 1990).
Como se sabe, Hei degger nunca desenvolveu uma ' pergunt a pela ti-
ca' coerente, em consonnci a com a sua ' pergunt a pela tcnica' . Trata-se de
um fato admi rvel, se consi derarmos suas concluses sobre a objetivao e
a i nst rument ali zao do mundo da vi da pela Tcni ca, na poca da metafsi-
ca reali zada pelo saber-fazer tecnocientfico. De fato, o filsofo alemo con
siderou a Tcni ca (que desi gnamos aqui como t ecnoci nci a) o lt i mo est-
gi o da metafsica (a metafsica realizada pela Tcni ca). No mundo cont em-
porneo, ento, a vont ade de poder humano seria um poder total de ' apro-
pri ao' (Ereignis) do mundo da vi da, propi ci ado pela compet nci a tcnica.
Nest e processo de apropriao, o mundo como um t odo tornar-se-ia mero
' fundo de r eser va' (Bestand) para qualquer tipo de mani pulao, i nclusi ve
uma verdadei ra ' cri ao' de mat ri a e vi da. Hoje, poder amos dizer, assisti-
mos a um poder de poiesis (' criao' ) que se t orna li t eralment e uma auto-
poiesis (' aut o-cri ao' ). Com efeito, como o prpri o Hei degger alertara du-
rante uma entrevista concedida emissora de televiso alem ZDF em 1969,
pouco t empo antes de morrer, hoje existiria um perigo bem maior para o futu-
ro da humani dade do que o 'destrutivo', representado pela criao do plut
nio: aquele ' construtivo' representado pelo prprio conjunto de leis (Ge-setz)
do dispositivo tcnico (Ge-stell), que permitir que "em um t empo previsvel,
seremos capazes de fazer o homem, de constru-lo na sua prpri a essncia
orgnica da forma como precisamos: homens capazes e incapazes, inteligentes
e est pi dos" (Haar, 1983:385-386). Apesar destas reflexes, Hei degger no
desenvolveu uma reflexo tica de acordo com elas. Esta tarefa caber a dois
de seus ex-alunos (Jonas, 1979; Anders, 1980).
O DESAFIO DA COMPLEXIDADE PARA A EPIDEMIOLOGIA
No ent raremos na quest o de saber se epi st emologi cament e perti-
nent e utilizar o t ermo ' paradi gma' quando referido ao desafio da complexi -
dade relativo sade das nossas sociedades. No que as quest es epi st emo
lgi cas no sejam importantes; ao contrrio, so indispensveis para dimensio-
nar corretamente a concepo que encara a epidemiologia como uma cincia
humana (Susser, 1989), isto , como integrante daquele processo geral de en
frentamento dos vrios tipos de crise disciplinar que atravessa nossa modernida-
de tardia/ps-modernidade, e que se concretiza na tentativa de superao da
dicotomia entre as cincias naturais (em princpio objetivas e a-histricas) e as
cincias sociais (inseparveis da subjetividade e da historicidade).
Esta tentativa i mpli ca, concret ament e, uma aproxi mao e uma reva-
lori zao dos est udos human st i cos (Sant os, 1987:43), devi do qui lo que
poder amos chamar ' transio paradi gmt i ca do pont o de vi st a da observa-
o par a o pont o de vi st a do observador' (Schramm, 1994).
Do pont o de vista epi st emolgi co, a necessi dade dest a t ransi o do
represent at i onal (o que Hei degger denomi nava metafsica da represent ao)
para o complexo relat i vament e consensual no debat e cont emporneo, ape-
sar das crticas epi st emolgi cas vi ndas da filosofia analtica, que quest i onam
o uso da categoria de complexi dade.
Com efeito, para situar esta transio, fala-se cada vez mai s, recorren
do-se a um t er mo talvez infeliz, em ' ci nci a ps-moderna' (Santos, 1989),
isto , uma "t ransi o paradi gmt i ca, entre o paradi gma da moder ni dade (...)
e um novo paradi gma (...) ai nda sem nome e cuja ausnci a de nome se desig-
na por ps-moder ni dade" (Santos, 1994: 34). Est a t ransi o i ndi cada, em
particular, por um quest i onament o radical dos efeitos do saber-fazer t ecno-
cientfico e por uma desconfi ana crescent e em relao aos mei os de sua
legi t i mao por parte de um sujeito epistmico supostamente imparcial e desen-
carnado, de uma razo separada das emoes, de uma mente separada de um
corpo e de um mundo em que, de fato, o sujeito se enraza e se realiza como
'mente encarnada' ( embodied mind) (Varela; Rosch & Thompson, 1991).
A epi demi ologi a parece no escapar desta transio, como j foi de-
monst rado no prpri o II Congresso Brasi lei ro de Epi demi ologi a (Costa &
Souza, 1994:117-26, 273-275) e, mai s recent ement e, no III Congr esso Bra-
sileiro de Epi demi ologi a, cujo lema era "a epi demi ologi a na busca da eqi-
dade em sade". Para justificar esta afi rmao, ci t aremos dois exemplos re-
tirados das atas do II Congresso.
O pri mei ro o texto "Caos e causa em epi demi ologi a" (Almei da Filho,
1994), essenci alment e uma crtica utilizao das cat egori as de causali dade
e mult i causali dade em epi demi ologi a. Para o autor, ambas est ari am sempre
aqum da complexi dade encont rada nas situaes concret as da prxi s, irre-
dutveis mer a ' vi rt uali dade' da t ext uali dade e i nt ert ext uali dade, como ele
afi rma, polemi zando com os textos do soci logo Souza Sant os (Sant os, 1987
e 1989). Cont udo, deve-se lembrar que o prpri o aut or vem t ent ando, desde
ento, responder s crticas, relaci onando a transio epi st emolgi ca, descri-
ta nas publi caes anteriores (1987 e 1989), a uma transio desi gnada como
' soci et al' (Sant os, 1994) . Al mei da Fi lho prope, ent o, uma r et omada da
abor dagem sistmica em epi demi ologi a, requeri da pelos objetos complexos
(como seri am reconheci dament e t ambm os objetos atuais da epi demi olo
gi a) , afi rmando que preci so pensar uma epi demi ologi a que no seja mera-
ment e i nferent i al (alis, j criticada por aqui lo que chama de ' mi ni mali smo
cont ra-i ndut i vo' , de ori gem popperi ana), mas referencial e histrica, "capaz
de ali ment ar uma prtica, e no mer ament e produzi r uma tcnica [pois] isto
significa i nt egr-la em uma nova epi st emologi a (...) da reflexi vi dade e da
desconst r uo" (Almei da Filho, 1994: 122).
Em nosso entender, isso significa preocupar-se menos com i ndci os e
modelos, tpicos da theoria epi demi olgi ca (e da sua ' crtica' , ou meta-teoria
epi st emolgi ca), e mai s com uma epi demi ologi a volt ada para situaes pr-
ticas e cont ext os reai s, refernci as t pi cas de uma prt i ca epi demi olgi ca
i ndi ssoci vel de uma crtica tico-poltica. Em outras palavras, trata-se de
vi ncular a anlise epi st emolgi ca a preocupaes de filosofia prtica ou ti-
ca. Pode-se, ento, concordar com o argument o do aut or de que se, por um
lado, sempre possvel pensar mos em t ermos de texto e intertextualidade
quando consi deramos um corpus terico disciplinar definido quando a rea-
lidade (epi demi olgi ca ou outra qualquer) for encarada do pont o de vista da
s i gni f i c a o por out r o, i s s o se t or na pr obl e mt i c o do pont o de
vista da referncia, poi s, nest e caso, o ' real' conserva toda a sua carga ame-
aadora, amplament e imprevisvel e desconheci da, t ornando-se uma verda-
deira resistncia ao conheci ment o (Schramm, 1993). De fato, como sinteti-
zou magi st ralment e Gui mares Rosa, "o real no est nem na sada nem na
chegada, ele se di spe para a gent e no mei o da t ravessi a".
esta ' travessia' exat ament e o cami nho das pedras que o sanitarista
t em de enfrentar, mesmo quando esteja ' si mplesment e' t eori zando, inclusive
quando enfrenta este real modeli zando-o como ' reali dade vi rt ual' , isto ,
quando usa os i nst rument os propi ci ados pelas assi m chamadas t ecnologi as
da i nt eli gnci a artificial.
O segundo exemplo o texto "Fundament os concei t uai s em epi de-
mi ol ogi a" (Czeresni a et al. , 1994), em que os autores afi rmam que "a cons-
cincia cada vez mai or da precari edade e provi sori edade da ver dade (...) leva
a uma concepo plurali st a" e que "encont rar verdades provi sri as, prec-
rias e ao mes mo t empo verdadei ras torna-se cada vez mai s compl exo", razo
pela qual "consi derar esta noo de complexi dade abre novas perspect i vas
na const ruo do conheci ment o" (1994:273-275). A quest o levant ada nes-
te texto, mas t ambm em parte no texto anterior, represent a, em nosso en-
tender, uma tentativa de conciliar o plurali smo met odolgi co, i mplci t o na
abor dagem das situaes sanitrias concret as, enrai zadas em um cont ext o
social e cultural particular (ou local), sem abrir mo de uma relativa generaliza-
o (global) que no se constri necessariamente pelo paradigma descontextua
lizado e desencarnado da objetividade mas, talvez, por um certo consenso (ou
' rede' entre olhares diferentes em conexo entre si). Nest e caso, porm, mai s
do que uma cert eza da verdade, teramos uma metfora da verdade.
O DESAFIO DA COMPLEXIDADE A TECNOCINCIA
Desi gnamos ' t ecnoci nci a' uma configurao concret a da racionalida-
de cientfica, tpica da nossa poca, na qual o tradicional pr i mado da teoria
sobre a prtica (na forma da tcnica) vem sendo paulat i nament e substitudo
pelo pri mado da prtica sobre a teoria ou, melhor, por uma teoria que deve
necessari ament e ter a sua finalidade prtica no at o tcnico, concret i zar-se
em prtica tcnica.
O predom ni o da teoria sobre a prtica, da cincia (ou epistme) sobre a
t cni ca ( t c hne) antigo. Comea com a prpri a filosofia gr ega Plato e
Aristteles negam a ci dadani a aos t rabalhadores manuai s nas suas ci dades
ideais (Gille, 1978:362-363) - e atravessa a cultura ocidental sem quest i o-
nament os i mport ant es at a poca moderna. Na prpria moderni dade, conti-
nua vi gent e sob a forma da assi m chamada cincia pura que "si t uava-se em
uma esfera de verdade para alm de qualquer consi derao prtica e moral
(...) em si a cincia seria necessari ament e boa, ou, pior, neut ra (. . . ), ao passo
que soment e sua utilizao teria a ver com a apreci ao mor al " (Hot t oi s,
1990:16). Nest a concepo, o problema da escolha e da responsabi li dade s
viria a se t ornar relevante com a cincia aplicada na forma da tcnica. Isso
acont ece, paulat i nament e, com a cincia moder na que opera um pri mei ro
deslocament o "do lado do operat ri o", embora mant endo subst anci alment e
"a cli vagem entre terico e t cni co" (Hottois, 1990: 16).
Com a transformao contempornea da cincia em tecnocincia, a cliva-
gem entre teoria e prtica (na forma da tcnica) desaparece, vindo a ser substi-
tuda, inicialmente, por uma vinculao "tanto no sentido de uma tecnicizao
da cincia quanto [no] de uma cientifizao da tcnica" (Stork, 1977: 41) e,
posteriormente, por uma verdadeira subsuno da primeira segunda. Assi m,
como Jacques Ellul j afi rmara em 1954, "a cincia t em se t ornado um mei o
da t cni ca" (Ellul, 1954: 8). Em suma e apesar do fato de que a interao
entre cincia e tcnica no i mpli ca que se confundam pois "a cincia tem o
progresso do conheci ment o por objetivo, ao passo que a t ecnologi a vi sa a
t ransformao da realidade dada" (Ladrire, 1977:57) , a ci nci a na i dade
da t ecnoci nci a pode ser consi derada i nst rument o de uma at i vi dade de ma-
ni pulao essenci alment e criadora, tanto do mundo fsico-qumico quant o
do bi olgi co, criando, respectivamente, mat ri as e organi smos que no exi s-
t em na natureza.
Dest a forma, o saber na i dade da compet nci a tecnocientfica torna-
se essenci alment e operatrio, o que i mpli ca necessari ament e ter de enfrentar
a quest o do poder (no esqueamos o lema de Franci s Bacon na alvorada
da cincia moderna: ' saber poder' ) e, portanto, ter de consi derar a di men-
so tico-poltica inscrita nos efeitos deste saber operatrio.
Entretanto, o problema levant ado pela pri mazi a do operat ri o sobre o
terico no apenas tico-politico, mas t ambm especificamente epi st emo-
lgico. Para Pierre Lvy, o desdobrament o ' i nt eli gent e' da tcnica do final do
sculo XX constitui um dos mai ores desafios tanto para os epi st emologi st as,
que no t eri am ai nda pensado adequadament e sobre a questo, quant o para
a soci edade como um todo, poi s "uma reapropri ao ment al do fenmeno
tcnico nos parece um pr-requisito i ndi spensvel para a i nst aurao pro-
gressi va de uma t ecnodemocraci a", sob a forma de uma
ecologia cognitiva [baseada na] idia de coletivo pensante homens-coisas, coletivo dinmico
povoado por singularidades atuantes e subjetividades mutantes, to longe do sujeito e xa n
gue da epistemologia quanto das estruturas formais dos belos dias do 'pensamento 68'.
(Lvi , 1993:11)
Mai s especificamente, no contexto de ' reafirmao da filosofia prti-
ca' que se vem deli neando desde os anos 60 nas culturas anglo-saxni ca e
nor t e-amer i cana, essenci alment e pr agmt i cas, as quest es t i cas relat i vas
ao poder tecnocientfico criador (ou biotecnocientfico, se i nclui rmos a cria-
o no s de mat ri a, mas t ambm de formas de vi da) , amplament e desco-
nheci do nas suas conseqnci as para o mundo dos seres vi vos e, em particu-
lar, para os humanos, const i t uem quest es i ndi t as, que, por uma srie de
razes, devem ser encaradas adequadament e.
Em pri mei ro lugar, porque, admi t i ndo que a responsabi li dade direta-
ment e proporci onal ao poder de mani pulao e criao, nos encont ramos,
at ualment e, com esta forma de poder, em uma situao antes desconheci da
pelas soci edades histricas tradicionais, regidas por nor mas e valores emba
sadas no pri ncpi o de autoridade ou em leis tidas como nat urai s, isto , regi-
das por pri ncpi os absolutos (e no prima facte).
Em segundo lugar, porque a radi cali dade e a ampli t ude dest e poder
levam as compet nci as mani puladora e criadora a se t ornarem no soment e
globali zant es (no sentido de uma rede de i nt erconexes at uant es sobre o
conjunto do mundo vi vi do), mas ainda pot enci alment e definitivas (como
o caso das mani pulaes gent i cas em clulas ger mi nai s) , i nt eressando, em
princpio, t ambm a quali dade de vi da das geraes futuras, o que coloca
toda uma srie de quest es ticas e, t alvez, jurdicas (se admi t i r mos a perti-
nnci a de confrontar ' direitos at uai s' e ' direitos pot enci ai s' ).
Em terceiro, porque a prpri a lgi ca i nt erna da t ecnoci nci a (aquela
que Hei degger chamava a ' essnci a' da Tcni ca, ou Gestell) i mpli ca uma es-
pci e de ' i mperat i vo t ecnolgi co' inercial, segundo o qual t udo aqui lo que
sabemos fazer vamos i nevi t avelment e faz-lo cedo ou tarde (Anders, 1980).
Ou ento, se deci di rmos, por alguma razo, que no vamos faz-lo, os custos
e os esforos para tanto seriam de tal magni t ude que por necessi dade (falta
de recursos, esgot ament o de mat ri as-pri mas, falta de consenso polt i co etc. )
acabar amos reproduzi ndo as mesmas prt i cas do passado e, mui t as vezes,
repet i ndo os antigos erros. A este respeito, vale a pena lembr ar o alerta ' pre
vent i vi st a' lanado pelo filsofo Hans Jonas:
o poder imenso da nossa tecnologia tem na preveno seu dever principal, sua maior respon-
sabilidade, [pois] tambm a tecnologia pacifica com a qual hoje a humanidade conquista o
seu dia a dia sobre o planeta esconde em si um potencial daninho (...) que no nem
intencional nem imediato, mas rastejante, que acompanha suas obras realizadas como uma
assombrao crescente e, freqentemente, tanto mais necessria quanto maior for seu
sucesso. ( J onas , 1987: 33)
Em quarto lugar, porque no seguro que os avanos da tecnocincia
consigam dar conta da assim chamada transio paradigmtica, inclusive da tran-
sio epidemiolgica, na qual se combi nam, de maneira complexa, antigas e
novas ameaas sanitrias, a saber (simplificando), doenas infecciosas do ' sub-
desenvolvi ment o' (como diarria e clera), novas doenas infecciosas (como
a AIDS) e do ' desenvolvi ment o' (como as crni co-degenerat i vas e o estresse).
Exi st em, evi dent ement e, mui t as outras razes que poder i am ser cita-
das aqui, mas isso t ranscende nossa tarefa, essenci alment e ilustrativa.
Em sntese, saber se o desenvolvimento tecnocientfico constitui um avan-
o na busca de uma melhor qualidade de vida de populaes e indivduos uma
questo complexa e em aberto, merecendo, muitas vezes, uma anlise especfica
de cada caso concreto para avaliar cautelosamente os prs e os contras. Mas, por
outro lado, parece t ambm ser impensvel conceber uma qualidade de vida,
atual e futura, que no esteja proporcionada pela competncia da tecnocincia,
pois as transformaes 'criadoras' atuantes parecem dificilmente reversveis. J
entramos no campo da biotica propriamente dita.
O DESAFIO DA COMPLEXIDADE PARA A BIOTICA
Do pont o de vi st a da bi ot i ca, o desafio da complexi dade significa
assumi r a compet nci a e os artefatos da t ecnoci nci a como fatos relevante
para o prpri o saber-fazer do sanitarista epi demi logo. Isso configura novas
formas de responsabi li dade.
Se levarmos em conta o que foi afi rmado at aqui , admi t i ndo que no
mai s possvel fundament ar nossos saberes na observao desencarnada de
um observador tido como i mparci al, mas uni cament e si t u-los na de um
observador concret o e cont ext uali zado em um territrio t ant o epi demi ol-
gica quanto tecnocientificamente , isso implica considerar a responsabilidade
destes saberes que requerem novas formas de poder (e de seu controle).
De fato, a legi t i mao por este saber que, na poca da metafsica
reali zada, i medi at ament e um saber-fazer ' cri ador' no pode mai s ser pro-
curada em algum pri ncpi o de aut ori dade het er nomo (Deus, Lei da Nat ure-
za ou Ser ), mas s pode ser gerado ' publi cament e' pela prpri a ' aut onomi a'
deste mes mo observador, seja ele um i ndi vduo (pesqui sador) ou um gr upo
(a comuni dade ci ent fi ca), fruto de uma prt i ca comunicatfva consensual
( mesmo que m ni ma) que avalia a utilidade dest e saber para a resoluo de
pr oblemas, a comear pela reduo do sofrimento e da injustia que afetam
a quali dade de vi da das pessoas.
Ali s, o prpri o paradi gma pragmt i co-li ngst i co exclui o reduci oni s
mo, se acredi t armos nas declaraes de Ri chard Rorty, um dos pri nci pai s
represent ant es do pragmat i smo na atualidade, na entrevista "Cont ra Plato,
novos modos de falar", publicada pelo J o r n a l do Brasil, em 26 de mai o de
1994: "Para ns, pragmat i st as (...) o que i mport a i nvent ar mei os de di mi -
nuir o sofrimento humano e aument ar a i gualdade humana".
esta ' autonomia' consiste, literalmente, em dar-se suas prpri as leis,
no dedut vei s de algo fora de si. Isso i mpli ca, como escreveu o romanci st a
Vassili Gr ossman, que para o homem cont empor neo a aut onomi a, ou a
li berdade, deva ser consi derada como "a base e o sentido, a infra-estrutura
das i nfra-est rut uras" (Grossman, 1983:179).
Resumi ndo, na abordagem complexa da quest o da observao, todo
observador necessari ament e inseparvel da observao (como as cincias
humanas e sociais afi rmam h prat i cament e um sculo). Ele , de fato, um
ator-autor. Em outras palavras, o Homo sapiens que observa e interpreta (su-
jeito epi st mi co) Homo faber e Homo creator que forma e t ransforma (sujeito
t cni co) e, port ant o, responsvel pelas suas cri aes (sujeito t i co), junt o
aos out ros humanos (sujeito social), com os quais i nvent a as formas de con-
vi vnci a (sujeito pol t i co).
Est a concluso, aparent ement e bvi a para o cientista social, parece
valer t ambm para a epidemiologia. Como afirma o relatrio do II Congresso, "a
explicitao do valor, o reconhecimento da subjetividade propiciariam o resgate
do sentido tico da cincia" pela construo de uma perspectiva do "saber que
avalie as suas conseqncias sociais e nos oriente a tomar decises", consciente
do fato de que "a crtica do carter dominantemente instrumental da cincia e da
epi demi ologi a no reduz, pelo contrrio, ampli a a responsabi li dade com a
di menso prtica do saber" (Czeresnia et al., 1994: 274-275).
Esta preocupao no nova na reflexo filosfica. Bastaria s lem-
brar, em poca cont empornea, Rorty quando afirma, na entrevista citada,
ns, pragmatistas, (...) no consideramos a verdade como a finalidade da investigao. 0
sentido da investigao conseguir que seres humanos concordem sobre o que fazer,
conseguir consenso sobre os fins a serem obtidos e os meios para atingi-los, [pois] no h
separao profunda entre teoria e prtica, porque toda 'teoria' que no seja um jogo de
palavras prtica.
Isso responderi a, alis, s preocupaes expressadas por Al mei da Fi-
lho, quando, mui t o apropri adament e, criticou aqueles que s enfrent am o
real como um texto, e cont i nuam insistindo na i nt erpret ao segundo a qual
"mes mo que dest ruam cidades com exploses at mi cas (...) cont i nuam [en-
carando isso como] efeitos de t ext o" (Almei da Filho, 1994:125). Como t am-
bm sintetizou o terico do ' princpio da responsabi li dade' , Hans Jonas,
a origem do homem a prpria origem do saber e da liberdade e, graas a este dom
extremamente ambguo, a inocncia de um sujeito que plenitude de vida deixa o lugar
para a tarefa da responsabilidade que age e opera em um domnio da separao entre bem
e mal. (Jonas, 1991: 26-27)
CONSIDERAES FINAIS
Como vi mos i ni ci alment e, os pri ncpi os de aut onomi a e de eqi dade
so prima facie, ou seja, no-absolut os, admi t i ndo, por consegui nt e, excees.
Nest e caso, embor a ' logi cament e' contraditrios (pelo menos em uma lgi ca
de pri mei ra or dem que respeite o pri ncpi o de no-cont radi o), podem ' pra-
t i cament e ser' conci li ados em casos concretos.
Este parece ser o caso dos objetos da epi demi ologi a, na medi da em
que se respei t em os interesses sanitrios de uma populao frente aos indivi-
duais. Entretanto, uma populao t ambm formada por i ndi v duos, em
pri ncpi o aut nomos e responsveis. Se acei t amos essa afirmao, podemos
formular o pri ncpi o de eqi dade como aquele que respeita a igual consi de-
rao de t odos os i nt eressados i ndi vi duai s (as aut onomi as) em uma situao
det er mi nada. De fato, no caso de uma populao, este objet o concei t ual
nem sempre operacional e deve-se, port ant o, recuar para objetos menos
t ot ali zant es ou i nt ermedi ri os (Schr amm & Castiel, 1992), pensando, por
exemplo, em populaes diferenciadas em subgrupos ou at em indivduos.
Dest a forma mas isso mereceri a uma anlise mai s aprofundada, que no
possvel fazer aqui , graas igual consi derao dos i nt eresses em jogo,
obter-se-ia um ' princpio m ni mo de i gualdade' (Singer, 1994: 33) que, ao
respeitar as diferenas dos interesses i ndi vi duai s ou melhor, a relevnci a
de cada um no conjunto de uma populao (entendida como o conjunto das
interrelaes i ndi vi duai s), ao i nvs de subsumi -la em um pri ncpi o de igual-
dade abstrato t ambm tornaria possvel resgatar, com a i ndi vi duali dade da
pessoa, sua responsabi li dade perant e os outros i ndi vduos (e at perant e to-
dos os seres senci ent es), decorrente das suas interrelaes com out ras indi-
vi duali dades e subjet i vi dades.
De ve mos levar e m cont a, t a mb m, o apr of undament o, por pr i nc -
pi o, da r es pons abi l i dade do ho me m cont empor neo, em pr i nc pi o aut -
nomo, que se t or nou, gr a a s ao pot e nc i a me nt o da sua c ompe t nc i a
t ecnoci ent f i ca, um ser capaz de aut ocr i ar - s e (e aut odes t r ui r - s e) cada
ve z mai s. O a ba ndono do pr i nc pi o de aut or i dade he t e r nomo t r az no
seu i nt er i or est a nova f or ma ' r adi cal ' de ci dadani a, ai nda a mpl a me nt e
des conheci da, mas ne m por i s s o i r r el evant e. De fato, a t ecnoci nci a
c o mo nova f or ma de c o mpe t n c i a hu ma n a , qu a n d o a s s u mi d a pe l a
r ef l exo f i losf i ca, i mpl i ca um i mbr i c a me nt o das di me ns e s l gi ca e
pr t i ca que, e mbor a di s t i ngu vei s , obr i ga m a r ecol ocar a ques t o do
sent i do da t i ca, da pr pr i a et i ci dade, e no s oment e de uma ou out r a
mor al par t i cul ar . Est a uma das t ar ef as da bi ot i ca: ques t i onar - s e so-
br e o que , et i cament e falando, a t ecnoci nci a. A bi ot i ca em uma
das ve r t e nt e s ma i s pr omi s s or a s da f i losof i a da ci nci a, na poc a da
t ecnoci nci a e da nos s a t r ansi o epi s t emol gi ca, que t a mb m de t ran-
si o epi demi ol gi ca e, t al vez, t i ca.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
A L M E I D A F I L HO, N. Caos e causa em epidemiologia. In: C O S T A , M. F. &
S O UZA , R. P. (Orgs.) Qualidade de Vida: compromisso histrico da epidemiologia. Belo Ho-
rizonte: Ed. Coopemed-Abrasco, 1994.
A ND E R S , G. Die Antiquiertheit desMenschen II. ber die Zerstrung des Lebens im Zeitalter
der dritten industrielle Revolution. Mnchen: Oscar Beck Verlag, 1980.
BO C C H I , G. & C E R UT I , M. La Sfida delia Complessit. Milano: Ed. Feltrinelli, 1985.
C O S T A , M. F. F. L. & S O UZA , R. P. (Orgs.). Qualidade de Vida: compromisso histrico da
epidemiologia. Belo Horizonte: Ed. Coopemed-Abrasco, 1994.
CZERESNIA, D. et.al. Fundamentos conceituais em epidemiologia. In: COSTA,
M. F. & SOUZA, R. R (Orgs.) Qualidade de Vida: compromisso histrico da epidemiologia.
Belo Horizonte: Ed. Coopemed-Abrasco, 1994.
ELLUL, J . La Technique ou I'Enjeu du Steele. Paris: Ed. Calmann-Lvy, 1954.
GILLE, B. (org.) Histoire des Techniques. Paris: Ed. Gallimard-La Pliade, 1978.
GOSTIN, L.O. Macro-ethical principles for the conduct of research on human
subjects. Population-based research. In: BANKOWSKI, Z.; BRYANT, J . H. & LAST,
J . M. (Eds.) Ethics and epidemiology: international guidelines Geneva: CIOMS, 1991.
GROSSMAN, V. Vie et Oestin. Paris: Ed. J ulliard/UAge d'Homme, 1983.
HAAR, M. (Org). Entretien du professeur Richard Wisser avec Martin Heidegger.
In: Cahiers de I'Herner. Heidegger. Paris: Ed. de l' Herne, 1983.
HEIDEGGER, M. Die Frage nach der Technik. In: Vortrge und Aufstze. 6 ed.
Pfullingen: Gnther Neske Vedag, 1990.
HOTTOIS, G. Leparadigme Biothique: une thiquepour la technoscience. Bruxelles: Ed. De
Boeck-Wesmael, 1990.
I.C.M.J.E. Statement on protection of patient anonymity. British Medical Journal,
302:1194,1991.
J ONAS, H. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik fur die techno logsche Zivilisation.
Frankfurt a Main: Insel Vedag, 1979.
J ONAS, H. Technik, Freiheit und Pflicht. In: Wissenschaft als pershliches Erlebnis.
Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987.
J ONAS, . Il Conce tto di Dio dopo Auschwitz una voce e braica. Genova: Ed. Il Melangolo,
1991.
LADRIERE,J. Le s Enje ux de la Rationalit. Paris: Ed. Aubier/Unesco, 1977.
LEVY, P. As Tecnologias da Inteligncia. O futuro do pensamento na era da informtica. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1993.
SANTOS, B. S. Um Discurso sobre as Cincias. Porto: Ed. Afrontamento, 1987.
SANTOS, B. S. Introduo a uma Cincia Ps-moderna. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1989.
SANTOS, B. S. Pela Mo de Alice. O social e o poltico na ps-modernidade. Porto: Ed.
Afrontamento, 1994.
SCHRAMM, F. R. A Terceira Margem da Sade: a. tica natural. Complexidade, crise e
responsabilidade no saber fazer sanitrio. Rio de Janeiro, Ensp/Fiocruz, 1993.
SCHRAMM, F. R. Toda tica , antes, uma biotica. Humanidades, 9(4):325-331,
1994.
SCHRAMM, F. R. & CASTIEL, L. D. Processo sade/doena e complexidade em
epidemiologia. Cadernos de Sade Pblica, 8(4): 379-390, 1992.
SINGER, P. tica Prtica. So Paulo: Ed. Martins Fontes, 1994.
STORK, . Einfuhrung in die Philosophie de r Te chnik. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaf, 1977.
SUSSER, M. Epidemiology today: a 'tought-tormented world', Inte rnational Journal
of Epide miology, 18: 481-488,1989.
VARELA, F. J.; THOMPSON, E. & ROSCH, E. The Embodie d Mind: cognitive scie nce
arid human e xpe rie nce . Cambridge: The MIT Press, 1991.
A EPI DEMI OLOGI A
BI OTECNOLOGI A
1
Marilia Be rnarde s Marque s
A PROPOSTA DA EPIDEMIOLOGIA DA COMPLEXIDADE
Iniciamos mencionando, de modo sinttico, as funes bsi cas da ra-
ci onali dade epi demi olgi ca (Mazzfero, 1987), a saber:
fornecer as bases cientficas da preveno de doenas e t raumat i smos,
identificando os agent es e as causas e anali sando o hospedei ro e os fato-
res ambi ent ai s;
det ermi nar a i mport nci a relativa das diversas causas de doena, i ncapa-
ci dade e mort e, com o objetivo de estabelecer pri ori dades par a a pesqui -
sa em sade e para a i nt erveno sobre a sade;
1
O ttulo deste artigo , de certo modo, um 'plgio' intencional do ttulo que Naomar de Almeida
Filho deu ao famoso texto de 1 9 9 2 , A Clinica e a Epidemiologia. Aqui desenvolvemos o tema por ns
apresentado no Congresso de Epidemiologia de 1995, em Salvador, retomando alguns dos argu-
mentos apresentados no Apndice, includo na segunda edio daquele livro: Um Dilema Epide
miolgico: neo-causalismo ou ps-causalismo? (Almeida Filho, 1997).
identificar o risco ou a probabilidade de um indivduo de uma populao vir
a desenvolver uma doena durante um dado perodo de tempo;
avaliar a efetividade de programas, servi os e tecnologias de sade.
Fazem parte, portanto, da raci onali dade epi demi olgi ca, funes cien-
tficas e funes polticas, cujos limites so pouco ntidos. Em out ras pala-
vras, at ri buem-se raci onali dade epi demi olgi ca funes cientficas na pes-
qui sa em sade e funes polticas nas polticas pbli cas de sade e de cin-
cia e tecnologia.
No exerccio de suas funes cientficas, a raci onali dade epi demi ol-
gi ca t em oscilado, em diferentes moment os histricos, entre diversos mode-
los tericos ou enfoques do processo sade/ doena. Bast a citar o enfoque
mgi co-reli gi oso das soci edades ditas pri mi t i vas, o modelo sanitarista da poca
da Pri mei ra Revoluo Industrial, o modelo social de Vi r chow e Ramazzi ni ,
o bi olgi co ou uni causal da segunda met ade do sculo XI X e pri ncpi os do
sculo XX, de Koch e Pasteur, e, a partir dos anos 50 do sculo XX at a
at uali dade, os modelos multicausal de Leavell & Clark, o da rede de causali-
dade, de MacMahon e Pugh, o ecolgi co de Susser, o materialista ou histri
co-estrutural de Berlinguer, Laurell, Breilh e outros, o econmi co da teoria
do capital humano, o interdisciplinar de Frenk, Ar r edondo, e out ros, t odos
culmi nando em propost as i nt egradoras, pret endendo alcanar novas frontei-
ras explicativas para as interfaces bi olgi co/soci al, i ndi vi dual/colet i vo, si s-
t ema/ ambi ent e (Arredondo, 1992; Schr amm & Castiel, 1992).
Em busca de respostas eficazes de sade pblica, a epidemiologia sempre
expressou uma postura crtica, mantendo-se em um estado de constante investi-
gao das situaes nas quais os problemas de sade de uma comunidade a
sade coletiva so gerados e/ ou mantidos (Njera, 1987). Nesse percurso, a
epidemiologia incorporaria determinantes de diferentes ordens (biolgica, eco-
nmica, ambiental, cultural) e ofereceria uma viso integrada, ainda que insufici-
ente, do processo sade/doena, em toda a sua complexa dinmica.
Para Almei da Filho, entretanto, os modelos tericos da epi demi ologi a
so t odos essenci alment e reducionistas. Neles, o objeto de conheci ment o, a
sade, reduzi do a uma mera configurao de riscos, ori ent ados por uma
lgica de causali dade linear, na qual pr edomi na a abordagem i nst rument al e
mecani ci st a do processo de det ermi nao. Assi nala o autor: "a futilidade de
post ular uma det ermi nao exclusi vament e causal e linear escamot eando a
riqueza e a complexi dade das relaes entre mat ri a (o substrato fsico-qu
mi co-bi olgi co), forma (o cont ext o ecolgi co-econmi co-soci al-polt i co) e
o i magi nri o social da sade-doena" (1997:183).
Em seu texto, Al mei da Fi lho registra, ai nda, a emer gnci a de duas
abordagens alternativas a dos modelos mat emt i cos no-li neares e a dos
modelos si st mi cos di nmi cos , que denomi na de ps-causali st as e para os
quai s prope um novo tipo de pr ogr ama de investigao, a por ele desi gnada
epi demi ologi a da compl exi dade. Segundo o aut or,
um dilogo com as matemticas no-lineares certamente propiciar uma superao dos mode-
los de anlise atualmente em uso na Epidemiologia, permitindo uma explorao de novas
equaes e formas de representao das funes epidemiolgicas, incorporando e superando as
limitadas ferramentas probabilsticas da estatstica. (Almeida Filho, 1997:198)
A opo pela epi demi ologi a da complexi dade dever permi t i r "enri-
quecer e superar o velho concei t o de causa da Epi demi ologi a cont empor-
nea, com uma abertura para distintos nveis e categorias de det ermi nao,
alm da velha causa, pot enci alment e mai s capazes de dar cont a da comple-
xi dade dos objetos concret os da sade colet i va" (1997:199).
Aps t omar conheci ment o da argument ao opor t unament e desen-
volvi da por Almei da Fi lho refletimos sobre a proxi mi dade entre essa insatis-
fao com os modelos de compreenso da problemt i ca da causali dade em
epi demi ologi a, com a noo de crise de crescimento, tal como concebi da por
Sant os (1989:18). Referindo-se relao entre reflexo epistemolgica e crise
da cincia, este autor, recorrendo a uma expresso de Kuhn (apud Santos, 1989),
define a crise de crescimento como a que ocorre no interior da matriz disciplinar
de um dado ramo da cincia e que revelada pela insatisfao com mtodos e
conceitos bsicos at ento usados sem qualquer contestao. Em geral, esta
insatisfao decorre da existncia de alternativas viveis, mesmo quando ainda
no so plenament e conheci das e aceitas. Est e , preci sament e, o caso das
duas alternativas ps-causalistas referidas por Almei da Filho, component es
da sua propost a de uma epi demi ologi a da complexi dade.
Um segundo tipo de crise da ci nci a i ndi cado por Sant os (1989), a
crise de degenerescnci a, equivalente ao quest i onament o da prpri a forma
de inteligibilidade do real peculi ar a um dado par adi gma cientfico, mant i do
o sentido kuhni ano desta noo. No se rest ri ngi ndo a certos i nst rument os
met odolgi cos e conceituais disciplinares, a crise de degenerescnci a i mpli
ca t ransformaes mui t o mai s amplas e profundas do que a crise de cresci-
ment o enfrent ada por uma dada mat ri z disciplinar, no caso, a sade coletiva
e, em especial, a epi demi ologi a.
A lembr ana da di ferenci ao est abeleci da por Sant os vei o em boa
hora, sobret udo t endo em conta a freqncia com que se observa a utiliza-
o da expresso ' paradi gmas epi demi olgi cos' , descompr omi ssada de qual-
quer expli cao a respeito do que se pret ende expri mi r ao t ranspor a noo
de paradi gma para a mat ri z disciplinar da epi demi ologi a. Est a vulgari zao
est i mpondo ao t er mo paradi gma um certo desgast e pr emat ur o e i mpr oce-
dente, no ambi ent e da sade coletiva brasileira.
Por outro lado, t em relevncia o empr ego do concei t o de paradi gma
t ecnolgi co para a anlise da bi ot ecnologi a moderna. Este concei t o foi e
amplament e utilizado nas mai s recentes e criativas abordagens tericas da
mudana t ecnolgi ca, da i novao tecnolgica, no campo dos est udos eco-
nmi cos e que est o correspondendo i nt roduo de um novo paradi gma
mi cr odi nmi co.
2
Essa expresso, tal como desenvolvi da por Dosi ( 1982) ,
t ambm result ou da t ransposi o do concei t o de par adi gma cientfico de
Kuhn para o mbi t o tecnolgico. Expressa, entretanto, as drsticas mudan-
as observadas na estrutura industrial, com o advent o das denomi nadas no-
vas t ecnologi as, como a mi croelet rni ca e a i nformt i ca (t ecnologi as da in-
formao e comuni cao) (Marques, 1991).
A i di a de par adi gma t ecnolgi co corresponde a verdadei ras revolu-
es t ecnolgi cas, t raduzi ndo fenmenos profundos que levam emergn-
cia de novos produt os e servios em todos os ramos da economi a. Um bom
exemplo foi a revoluo provocada pela energia eltrica, com efeitos pene-
trantes em toda a economi a, favorecendo i nmeras i novaes radi cai s e in-
crement ai s e modi fi cando a est rut ura de custos e as condi es de produo
e distribuio de t odo o sistema econmi co (Marques, 1991).
Novas t ecnologi as paradi gmt i cas so, port ant o, aquelas baseadas na
cincia e que, dando ori gem a novos produt os, processos e servi os, propi -
ci am espetaculares i ncrement os de produt i vi dade e compet i t i vi dade e i nt ro
duzem mudanas expressivas na esfera do trabalho.
Na at uali dade, os i mpact os difusos causados por essas mudanas tec-
nolgi cas paradi gmt i cas sobre as economi as naci onai s e nos planos social,
2
Para uma apresentao sistematizada destas correntes, ver Possas (1989).
cultural e institucional vm colocando, i nt ernaci onalment e, novas i nt erroga-
es a respeito da i nt erveno do Est ado e do controle social sobre a cincia
e a t ecnologi a.
Consi derando ser pouco apropri ada a t ransposi o do t er mo paradig-
ma para a mat ri z disciplinar da epi demi ologi a, preferi mos di zer que ela vi ve,
hoje, uma crise de crescimento. A teoria da complexi dade poder abrir uma
vi a transdisciplinar real para a sua renovao. Com efeito, embor a o debate
cont empor neo sobre sistemas complexos apenas comece a engat i nhar,
mui t o provvel que a raci onali dade epi demi olgi ca venha a encont rar um
cami nho alternativo no terreno da complexi dade (Tarride, 1995).
At ualment e, poucas reas da cincia transdisciplinar esto avanando
to rapi dament e como aquelas associ adas s teorias do caos, fractals e com-
plexi dade. O pressupost o dessas novas teorias alcanar a inteligibilidade
do uni verso utilizando concei t os como ' desordem organi zadora' , ' complexi -
dade' , ' aut o-organi zao' , ' caos' etc. Estas teorias est o at i ngi ndo discipli-
nas e dom ni os tericos di versos, como a fsica, a qu mi ca, a bi ologi a, a ci-
bernt i ca, a teoria dos si st emas, as neuroci nci as, a i nt eli gnci a artificial.
Ilya Pri gogi ne, sem hesitar, afirmou que estes novos enfoques confi guram o
advent o de uma nova raci onali dade cientfica (Pessis-Pasternak, 1992).
Ingressaremos, agora, no terreno terico da complexi dade,
3
com base
em Mai nzer (1994) - mes mo cientes dos riscos de pi nar alguns fragmentos
desse campo terico to atraente quant o rduo.
Mai nzer consi dera que o pensament o linear tornou-se obsoleto. A t eo-
ria dos sistemas complexos no-lineares, ao contrrio, por no poder ser re-
duzi da s leis nat urai s da fsica, apesar dos seus princpios mat emt i cos, vai-
se fi rmando como uma abordagem bem-sucedi da. Sua apli cabi li dade ocorre
nos mai s di versos r amos das cincias naturais, da fsica qunt i ca do laser e da
met eorologi a model agem molecular e s si mulaes, com auxlio de com-
put adores, do cresci ment o celular em biologia.
Nesse amplo espect ro de apli caes, Mai nzer (1994) dest aca como
uma das mai s excitantes teses cont emporneas a idia, ori gi nada na neuro-
cincia comput aci onal, de que at mesmo a ment e humana gover nada pela
di nmi ca no-linear dos sistemas complexos, das redes cerebrais complexas.
3
Para um aprofundamento do tema, consultar, entre outros, Prigogine & Stengers (1992), Lorenz
(1996), Lewin (1994), Gleick (1990).
O si st ema ner voso, mes mo de or gani smos si mples, aci ona as at i vi dades
paralelas de bi lhes de neurni os para avaliar, categorizar e responder aos
mei os exterior e interior.
As cincias sociais e humanas, por sua vez, t ambm esto reconhe-
cendo que os principais problemas da humani dade so globai s, complexos e
no-li neares e que mudanas m ni mas ou locais no sistema ecolgi co, eco-
nmi co ou poltico podem causar uma crise global.
Segundo a teoria dos sistemas complexos no-li neares, t odo e qual-
quer si st ema macroscpi co pedras ou planet as, nuvens ou fluidos, plant as
ou ani mai s, populaes ani mai s ou soci edades humanas consi st e de ele-
ment os component es, como t omos, molculas, clulas, organi smos. Essa
teoria comport a uma met odologi a interdisciplinar, explicativa da emergn-
cia de fenmenos macroscpi cos que podem ser to diferentes quant o
ondas de luz, nuvens, reaes qu mi cas, plant as, ani mai s, populaes huma-
nas, mer cados, conjuntos de clulas cerebrais etc. por mei o das i nt eraes
no-li neares de element os mi croscpi cos em sistemas complexos.
Complexidade no significa apenas no-linearidade, mas t ambm um n-
mero imenso de elementos simples com muitos graus de liberdade. Em sistemas
complexos, o comportamento dos elementos simples no pode ser previsto
sequer para o moment o seguinte tampouco traado para trs. Portanto, a evo-
luo de distribuies probabilsticas deve substituir a descrio determinstica.
Um dado padro macroscpi co deriva da cooperao no-li near des-
ses element os si mples, que podem ou no ser mi croscpi cos, a part i r do
pont o em que a i nt erao energt i ca do sistema, que dissipativo ou aberto,
com o seu ambi ent e alcana algum valor crtico.
Os si st emas abert os mant m sua estrutura pela di ssi pao e consumo
de energi a e foram denomi nados por Pri gogi ne est rut uras dissipativas. Em
t er mos filosficos, a estabilidade da estrutura emergent e garant i da por al-
gum balano entre no-li neari dade e dissipao. Mui t a interao no-li near
ou mui t a di ssi pao destruiro a estrutura.
Os fenmenos macroscpi cos so caracterizados por parmet ros de
ordem, no reduzi dos em nvel mi cro dos t omos, molculas, clulas, or-
gani smos dos sistemas complexos. Parmet ros de ordem, denot ando ca-
ractersticas do sistema em sua totalidade, so propri edades reais dos fen-
menos macro, como campos de pot nci a, poder social ou econmi co, senti-
ment os, pensament os etc.
Em t ermos mai s qualitativos, diz-se que velhas estruturas t ornam-se
instveis e ' quebr am' pela mudana nos parmet ros de controle. Em t ermos
mai s mat emt i cos, a vi so mi croscpi ca de um sistema compl exo pode ser
descri t a por mei o de equaes evolutivas de um vetor de estado, no qual
cada component e depende do espao e do t empo, aplicveis a sistemas em
que ocorra uma compet i o entre parmet ros.
No quadro mat emt i co dos sistemas complexos no-li neares, di versos
modelos j foram sugeridos para si mular a ori gem molecular da vida. No
marco dos si st emas complexos, a quest o da emergnci a da vi da consi de-
rada no sentido da aut o-organi zao dissipativa. Tant o na ont ognese (cres-
ci ment o de um dado organi smo) quant o na filognese (evoluo de esp-
ci es), est amos diante de sistemas dissipativos complexos, cujo desenvolvi -
ment o pode ser expli cado pela evoluo macroscpi ca de parmet ros de or-
dem, causada pela i nt erao no-linear (mi croscpi ca) de molculas, clulas
em fases transitivas, distantes do equilbrio trmico.
A teoria dos sistemas complexos t ambm nos per mi t e simular e anali-
sar a causali dade no-linear de sistemas ecolgi cos na natureza. Trata-se de
sistemas dissipativos complexos de plant as e ani mai s com i nt eraes met a
blicas no-lineares entre si e com o ambiente. As formas nos sistemas bi o-
lgi cos so descritas por parmet ros de ordem. O organi smo mult i celular
madur o ou adulto pode ser interpretado como o atrator do cresci ment o org-
nico. Os atratores, na evoluo biolgica, so os ciclos ou osci laes peri -
dicas da natureza.
Mai nzer (1994) exemplifica: o balano complexo do equilbrio natural
i mensament e prejudi cado pelo modo linear da produo industrial, no qual
pr edomi na a crena de que as fontes de energia, gua, ar etc. so i nesgot -
vei s e podem ser usados infinitamente sem perturbar o balano natural. Os
procedi ment os industriais e a oferta contnua de bens no levaram em conta
os efeitos sinergticos que deles iriam resultar, como o buraco na camada de
ozni o sobre o planeta Terra. A evoluo da vi da passa, desse modo, a con-
fundir-se com a da soci edade humana.
No quadro dos sistemas complexos, o comport ament o de populaes
humanas expli cado pela evoluo de parmet ros de or dem (macroscpi -
cos), causada pelas interaes no-lineares (mi croscpi cas) de seres huma-
nos ou subgrupos humanos (Estados, instituies, part i dos polt i cos e t c ) .
Nest e caso, o atrator a ordem econmi ca ou social.
Em s uma, est a abor dagem suger e que a r eal i dade fsi ca, soci al e
ment al no-li near e compl exa, ao passo que os pr obl emas ecol gi cos,
econmi cos e pol t i cos da humani dade t or nar am-se gl obai s, compl exos e
no-l i near es. Um desdobr ament o i mpor t ant e que ela desafi a o concei t o
de r esponsabi l i dade i ndi vi dual e si nali za a necessi dade de novos mode-
los de compor t ament o colet i vo. Fi nal ment e, como Mai nzer ( 1994) des -
t aca, a abor dagem dos si st emas compl exos coloca novos desafi os epi st e
mol gi cos e par a a t i ca.
Ai nda que o det al hament o dest as t eor i as es cape ao es copo e s
di mens es dest e t ext o, i mpor t ant e frisar que ver dadei r ament e espan-
t osa a exci t ao que a j ust aposi o de descober t as, des envol vi ment os e
apl i caes de anli ses der i vadas dessas r eas emer gent es da mat emt i ca
e da fsica est causando nos c r culos ci ent fi cos i nt er naci onai s. Deve ser
dest acado, cont udo, que, al m da consi der vel exci t ao, t ambm exi st e
mui t o cet i ci smo a esse respei t o.
Qual a substncia desses novos mt odos analticos? Eles esto aju-
dando a avanar na compreenso da biologia e do compor t ament o humano?
Quais so suas promessas e que pr oblemas apresent am para a est rut ura da
experi ment ao cientfica? As respostas a essas quest es comeam a ser da-
das em diferentes espaos disciplinares. No Brasil, o campo da sade coleti-
va i naugura sua part i ci pao nest es debat es, j t endo outros aut ores, alm
do prprio Al mei da Filho (1997), oferecido suas cont ri bui es (Possas &
Mar ques, 1994; Tarride, no prelo; Schramm, 1996).
Nossas preocupaes, aqui , di zem respeito a algumas quest es. Exi st e
li gao entre o terreno da complexi dade e o novo arqut i po do conheci men-
to cientfico i nt roduzi do pela moderna bi ot ecnologi a, com as t ecnologi as do
Projeto Genoma? Mai s especificamente, existe relao entre essa nova raci-
onali dade cientfica que vem da bi oqu mi ca e da bi ologi a molecular e uma
epi demi ologi a da complexi dade?
Consi deramos estas quest es procedent es, levando-se em cont a a real
possi bi li dade de modi fi cao de est rut uras gent i cas e moleculares, por mei o
das moder nas tcnicas da bi oqu mi ca e da biologia molecular e que confe-
rem grande preci so s atividades de pesqui sa e desenvolvi ment o em sade.
Afinal, na prtica, j est amos t est emunhando um deslocament o dos procedi -
ment os casust i cos, sobret udo na descobert a de agent es e mecani smos fisio
pat ogni cos, assi m como de novas substncias.
Todas essas i novaes t ecnolgi cas so ext remament e relevant es do
pont o de vista da epi demi ologi a, porque, entre outras razes, alm de esta-
rem despejando no mercado uma srie de produt os mai s eficazes, esto cau-
sando uma verdadei ra exploso de novos dados e i nformaes. Como vere-
mos a seguir, o uni verso da pesqui sa bi omdi ca j convi ve com uma nova
raci onali dade cientfica.
SOBRE A MODERNA BIOTECNOLOGIA
A evoluo histrica da bi ot ecnologi a marcada por trs fases: a bi o-
tecnologia de pri mei ra gerao, que inclui o uso secular da ferment ao na
produo de bebi das, ali ment os e combustvel; a de segunda gerao, cuja
grande arrancada se deu no perodo do ps-Segunda Guerra Mundi al, graas
aplicao dos processos de ferment ao produo de antibiticos; e fi-
nalment e, a de terceira gerao, t ambm denomi nada de nova ou moderna,
relaci onada ao desenvolvi ment o das tcnicas de engenhari a gent i ca duran-
te a dcada de 70.
A defi ni o de bi ot ecnol ogi a moder na ou de t ercei ra ger ao pas -
sari a a i nclui r as t ecnol ogi as do DNA r ecombi nant e ( DNAr ) , do ant i cor-
po monocl onal ( AcMon) ou t cni cas de fuso celular ou hi br i domas , sn-
t ese gni ca, o seqenci ament o gni co, t cni cas de cult ur a de cl ul as ou
de t eci dos, as t ecnol ogi as de f er ment ao, a pur i f i cao e m l ar ga escala e
a enzi mol ogi a ( Bl ument hal , Gl uck & Wi s e , 1 986) . A expr es s o ' enge-
nhar i a gent i ca' refere-se, em ger al, s t cni cas de DNAr , Ac Mon, s nt e-
se e seqenci ament o gni co.
A expresso bi ot ecnologi a apli cada a este conjunto de t ecnologi as
i nt ensi vas em cincia. H pelo menos trs dcadas, estas t ecnologi as vm
di sput ando com as tecnologias da mi croelet rni ca e da i nformt i ca a posi-
o de pri nci pal r evoluo t ecnolgi ca do sculo XX, ai nda aguardando,
portanto, sua plena ascenso condi o de t ecnologi a paradi gmt i ca.
Prospect i vas t ecnolgi cas otimistas at ri buem bi ot ecnologi a moder-
na o pot enci al de deflagrar, no futuro prxi mo, mudanas significativas nas
caractersticas econmi cas da sade pbli ca, ant eci pando a i mport nci a cres
cente no mercado mundi al de produt os para di agnst i co e vaci nas, em com-
parao com produt os teraputicos. Devi do sua elevada especificidade, os
ant i corpos monoclonai s (AcMon) j esto encont rando uma ampla vari eda-
de de apli caes na epi demi ologi a e na clnica, alcanando a escala de pro-
duo industrial.
As reas da medi ci na que, provavelment e, sero as mai s afetadas pelo
desenvolvi ment o da bi ot ecnologi a so o cncer, doenas infecciosas e para-
sitrias, os problemas cardi ovasculares e met abli cos, as doenas relaci ona-
das com o sistema ner voso central e os problemas gent i cos. Os r umos atu-
ais das at i vi dades de pesqui sa e desenvolvi ment o t ecnolgi co (P&D) farma-
cuticas est o descort i nando novas oport uni dades estratgicas para as pol-
ticas de sade, como a mudana no foco da pesqui sa mdi ca das doenas
agudas para as doenas crnicas. Est a mudana j resultou no desenvolvi-
ment o de drogas novas e promi ssoras e de novas apli caes de substncias
conheci das, usadas em distrbios que afetam a crescente populao de i do-
sos, sobret udo nos Est ados Uni dos.
Apes ar das i nmer as cont r ovr si as, as t cni cas de DNAr e de hi
br i domas vo dei xando claras evi dnci as da sua cont r i bui o par a a t r ans-
f or mao da medi ci na. Gr aas aos Ac Mon, por exempl o, um enor me i n-
t eresse comer ci al passou a cer car os kits di agnst i cos, por que sua utili-
zao in vitro di spensa os cust osos t est es apr obat r i os exi gi dos pel a Food
and Dr ug Admi ni s t r at i on ( FDA) , nos Est ados Uni dos, par a out r os pr o-
dut os f ar macut i cos. O segment o de di agnst i cos mdi cos o pr i mei r o
do mer cado da sade a ut i li zar pr odut os de base bi ot ecnol gi ca e o que
mai s cr esce. Na pr xi ma dcada, ser t r ansf or mado de modo r adi cal pel a
mode r na bi ot ecnol ogi a. Tcni cas sof i st i cadas de ma pe a me nt o gni co,
Ac Mo n al t ament e espec f i cos, t est es com base em mat er i al gent i co (son-
das de DNA e de RNA) e sofi st i cados bi ossensor es t m per mi t i do que
pr odut os di agnst i cos bi ot ecnol gi cos sejam pr oduzi dos em quant i da-
des comer ci ai s e com cust os compet i t i vos em r elao a out r os pr odut os
exi st ent es no mer cado ( Mar ques, 1993) .
Encont ra-se i gualment e em desenvolvi ment o uma pr xi ma ger ao
de vaci nas baseadas na tecnologia de DNAr para doenas como AIDS, hepa-
tite B, malri a, raiva, vari cela, otite mdi a, doenas infecciosas respiratrias
agudas e cr ni cas , c omo as pne umoni a s por Streptoccocus pneumonia e
Haemophilus tipo B, artrite reumat i de, cncer, lupus e outras. Como todas
elas so responsvei s por elevados coeficientes de morbi dade e mort ali dade
nos pa ses da Amr i ca Lat i na e Cari be, a pr oduo de vaci nas eficazes
ext remament e desejvel para a regio. A engenhari a gent i ca oferece novas
estratgias para o desenvolvi ment o de vaci nas que no podem ser feitas com
os mt odos convenci onai s e t ambm permi t e o desenho e a fabricao de
vaci nas muito mai s seguras. Por estas razes, uma parcela considervel das
vaci nas existentes e das novas ser deri vada, futuramente, de moder nos pro-
cessos bi ot ecnolgi cos.
Dr ogas rfs isto , produt os que no est i mulam os i nvest i ment os
pri vados em funo da sua pequena, ai nda que i mport ant e, demanda ou de
outras li mi t aes dos mercados especficos t ambm esto sendo alvo das
bi ot ecnologi as. Parece que as bi ot ecnologi as de terceira ger ao podero
originar ferramentas tcnicas que cont ri bui ro para os i nvest i ment os diretos
nestes medi cament os, i nclui ndo produt os para preveno e t rat ament o de
defeitos gent i cos raros e doenas negli genci adas, como as parasitrias en-
dmi cas no Tercei ro Mundo.
A democrat i zao de t ecnologi as e servi os de alta eficcia e baixo
cust o e que j esto i ngressando no mer cado tal como a reao em cadeia
da poli merase (PCR), para citar apenas uma provavelment e ter um pro-
fundo efeito acelerador do desenvolvi ment o de outras i novaes tecnolgi-
cas em bi ot ecnologi a. Esta t endnci a traduz as mudanas radi cai s, prpri as
do novo par adi gma da pesqui sa bi omdi ca. Nele, est ocorrendo um verda-
deiro salto da experi ment ao par a a formulao conceituai, servi ndo a ban-
cada do laborat ri o cada vez mai s ao propsi t o de compr ovar di ret ament e
certas associ aes causais do que a gerar dados (Tzotzos, 1993). As tcnicas
de seqenci ament o esto i nt roduzi ndo um novo hori zont e na pesqui sa bi o-
lgica, aument ando em mui t o a habi li dade de predizer, mani pular e dese-
nhar as propri edades das molculas.
As bi ot ecnol ogi as moder nas, especi al ment e a engenhar i a gent i ca,
expectativas de que tero um efeito pervasi vo, fractal, i mport ant e no com-
plexo mdi co-i ndust ri al, det onando t ambm ramificaes sucessi vas de i no-
vaes t ecnolgi cas par a di versos out ros set ores i ndust ri ai s. Acredi t a-se,
port ant o, que conduzi ro a uma nova revoluo t ecnolgi ca, paradi gmt i ca,
graas qual a medi ci na ter sua eficcia e sua produt i vi dade aument adas
no que diz respeito ao confronto com certas doenas.
LIMITES DA EPIDEMIOLOGIA CRTICA
Ret ornemos questo da racionalidade epi demi olgi ca. Ao longo de
seu desenvolvi ment o lgico e histrico, a sade coletiva brasileira tem reite-
rado o seu compromi sso com a solidariedade para com os i ndi vduos social-
ment e margi nali zados ou, como se tem dito mai s recent ement e, os exclu-
dos. Responsabi li zando-se pelo ponto de vista coletivo ou comuni t ri o no
estudo da sade de populaes, passou a se perceber, cada vez com mais
radicalidade, como uma espcie de guardi do interesse pbli co na gerao
da resposta da medi ci na s necessi dades de sade em uma soci edade, reve-
lando um compromi sso emanci pat ri o com a Ver dade' , em seus ideais de
renovao das prticas de sade.
Sabemos, entretanto, que as atividades cientficas e t ecnolgi cas em
sade no so gui adas exclusi vament e pelos juzos positivos emanados da
raci onali dade epi demi olgi ca que, entre ns, cada vez mais se confunde
com vont ade poltica de satisfazer necessi dades ou demandas de sade. Sen-
do a raci onali dade epi demi olgi ca sempre i nvocada como o component e
mais i mport ant e na seleo de prioridades para a poltica de sade, tanto na
defi ni o da nova agenda dos aci dent es, vi olnci as e doenas crni co-
degenerat i vas quant o da agenda i nacabada das doenas i nfecci osas e
parasi t ri as a sua i nflunci a , entretanto, relat i vi zada e mi ni mi zada na
prtica, pela forte presena de outras racionalidades e interesses - econmi -
cos, burocrt i cos, corporativos (Possas, 1994).
Ai nda que, event ualment e, interesses particulares possam coincidir com
interesses pbli cos, certos interesses pri vados cami nham, com freqncia,
em uma di reo oposta dos i nt eresses de sade de coletividades. Ent ram,
portanto, em contradio com a racionalidade epi demi olgi ca, que se pre-
tende a guardi do interesse pblico. Esta cont radi o sempre foi muito evi-
dente nas atividades de pesquisa e desenvolvi ment o tecnolgico de frmacos e medi cament os. Estas at i vi dades, que sempre tiveram seus r umos e
pri ori dades fortemente di reci onados pelos interesses do segment o industrial
qu mi co-f ar macut i co, est o passando gr adat i vament e a ser di reci onadas
sobret udo pelos objetivos estratgicos e comerci ai s da indstria bi ot ecnol
gica relacionada sade.
As doenas at ualment e priorizadas pelas atividades cientficas e pela
P &D industrial so as doenas virais, o cncer, o di abet es, a esclerose, a
artrite reumat i de e as doenas cardiovasculares. Dados recent es fornecidos
pela revista The Economist (23 a 29 de agost o de 1997) revelam que a pesqui -
sa em malri a recebe, aproxi madament e, US$ 60 mi lhes por ano, ao passo
que para a pesqui sa sobre asma so dest i nados US$ 140 mi lhes, e para a
doena de Alzhei mer US$ 300 mi lhes. A pesqui sa em AIDS consome US$
950 mi lhes anuais. A pri ori dade conferida pelas empresas farmacut i cas ao
i nvest i ment o na P&D de cada uma dessas doenas guarda uma relao dire-
ta com as expect at i vas das vendas pot enci ai s de futuros produt os especfi-
cos no mercado mundi al. Eis, portanto, uma situao tpica em que a racio-
nali dade econmi ca t em um peso mai or do que a epi demi olgi ca.
Na atualidade, as indstrias farmacut i cas mai s compet i t i vas no ranking
i nt ernaci onal reali zam volumosos i nvest i ment os em P&D nas bi ot ecnolo-
gi as de terceira gerao. Nest as atividades, observam-se novas interfaces e
v nculos com as grandes universidades e com pesqui sadores concei t uados.
Pelas razes e evi dnci as ant eri orment e apresent adas, j ulgamos que
procede no singular moment o cont emporneo de que somos t est emunhas
e part i ci pant es, vspera de um novo mi lni o e t ambm do novo paradi gma
t ecno-econmi co que at ravessar a medi ci na mant er vi vas as expect at i vas
em relao aos possveis i mpact os da bi ot ecnologi a moder na sobre a racio-
nali dade epi demi olgi ca da solidariedade aos excludos sociais e do compro-
mi sso emanci pat ri o com a verdade.
Mas cabe pergunt ar se esta sofisticao t ecnolgi ca crescent e da pes-
qui sa bi omdi ca no ir contribuir para o desprestgio da sade coletiva, ao
provocar uma possvel descaract eri zao ou desvalori zao da nat ureza so-
cial vis--vis uma nfase na nat ureza bi olgi ca dos processos que cercam a
sade e a doena.
Cr emos que no. Ao cont r r i o, assi st i mos hoje a um ver dadei r o re
c r ude s c i me nt o dos desaf i os que as ques t es soci ai s t r adi ci onal ment e
col ocam par a a pesqui sa bi omdi ca, susci t ados, exat ament e, pel a emer -
gnci a dessas novas t ecnol ogi as. Por out r o lado, cons i der amos que os
desafi os t er i cos, epi st emol gi cos e t i cos que est o sendo i nt r oduzi dos
pel a gent i ca mol ecul ar so reai s, i ndi t os e par adi gmt i cos. Ist o ocor r e
por que uma nova e vi gor osa abor dagem est , em l t i ma i nst nci a, am-
pl i ando o conheci ment o sobre a base gent i ca da sade e da doena e das
funes essenci ai s da vi da, i nclusi ve o des envol vi ment o huma no e o fun-
ci onament o do crebro.
GENOMA: A COMPREENSO DA VIDA, DA SADE
DA DOENA NO QUADRO DA COMPLEXIDADE
O t er mo genoma define, de modo amplo, a totalidade dos genes e das
seqnci as de DNA no ncleo de uma clula. O sistema genmi co de qual-
quer clula de met azori os superi ores cont m de 10. 000 a 100. 000 genes
est rut urai s e regulatrios, cujas atividades, orquest radas em conjunto, cons-
tituem o pr ogr ama de desenvolvi ment o subjacente ont ognese, a partir do
vulo fertilizado (Kauffman, 1993).
O genoma um sistema no qual um grande nmer o de genes e seus
produt os regulam, direta e i ndi ret ament e, um as at i vi dades do outro. Seu
aspect o ci bernt i co, si st mi co lhe per mi t e alcanar estados de arbitrarieda-
de, de complexi dade.
Kauffmann (1993:412) consi dera que o propsi t o adequado da bi olo-
gi a molecular no mer ament e analisar a estrutura e a di nmi ca do compor-
t ament o do genoma. E, t ambm, compreender por que os genomas t m a
arqui t et ura e o compor t ament o observados e como podem evoluir em de-
corrnci a de mut aes contnuas. O autor sugere que se construam teorias es-
tatsticas das estruturas e dos comportamentos esperados de tais redes ou siste-
mas complexos. As propriedades esperadas, seriam, ento predies testveis
das teorias. Se confirmadas em organi smos, seriam consi deradas tpicas ou
genri cas do conjunto do sistema regulatrio genmi co.
A pesqui sa bi omdi ca est gradualment e convergi ndo par a a crena
de que o genoma det ermi na a forma, o desenvolvimento, a composi o qu-
mi ca e todas as funes de um organi smo, seja ele um mi cr oor gani smo ou
um or gani smo superior.
O arqut i po ci ber nt i co, si st mi co, do genoma i nst i ga a i nt er pr et a-
o do f enmeno da doena como um di st r bi o i nf or maci onal um d-
ficit, um defei t o, uma r edundnci a ou uma des or dem r egul at r i a , em
n vel gent i co ( Dr ews, 1996) . Adequando- s e a est e novo ar qut i po par a
a compr eens o da doena, o pr opsi t o cent ral do di agnst i co mdi co
passa a ser, cada vez mai s, det ect ar est ados i nf or maci onai s par t i cul ar es.
Segui ndo est e novo arqut i po, muda t ambm o exper i ment o teraputico,
passando a ser o seu objetivo, progressi vament e, reparar um distrbio infor-
maci onal (Dr ews, 1996:9).
Est e novo cnone repousa na anlise direta, cada vez mai s mecni ca e
repetitiva, da i nformao coleci onada em livrarias de DNA e em experi men-
tos especficos, i ndi vi duali zados para cada gene. Este empr eendi ment o mo-
nument al, de probabi li dade de sucesso incerta, j criou um novo ambi ent e
i nt ensi vo em i nformao para a pesqui sa mdi ca molecular, no qual cientis-
tas var r em livrarias digitais de genes e abordam seletivamente, por i nt erm-
dio de mei os farmacolgi cos moleculares, alvos bi olgi cos relevantes para
um dado processo fsio-patolgico.
Esta nova raci onali dade cientfica est mot i vando uma expanso fa-
bulosa no empr ego de tcnicas genmi cas e de seqenci ament o de DNA
( cDNA) . Podemos afirmar que o processo central da descobert a de drogas
farmacuticas est sendo redi reci onado por este novo arqutipo terico.
Graas a estes esforos de pesqui sa, uma autntica i ndst ri a genmi ca
est sendo i mpulsi onada, volt ada para a fabricao de di sposi t i vos aut oma-
t i zados par a o s e qe nc i a me nt o de DNA e, i ncl us i ve, de l i vr ar i as de
cDNA. Nos t empos atuais, bases de dados cont endo pequenas parcelas de
DNA seqenci ado, bem como a seqncia de DNA de um gene inteiro, ad-
quiriram um valor i ncomensurvel para a pesqui sa farmacut i ca. Comput a-
dores poderosos e robtica avanada pot enci ali zam a fora dest es procedi -
ment os que despejam, rapi dament e, sobre longos segment os de genes ex-
pressados, consi dervei s quant i dades de i nformao, vali osas para a com-
pleta identificao dos genes.
Permanece, entretanto, ainda em suspense, a demonst rao de quo
efetiva ser esta estratgia baseada na i nformao gent i ca, no que se refere
ger ao de novos agent es cli ni cament e at i vos (Wei nst ei m et al. , 1997:
343-349). Isto ocorre porque a det ermi nao da funo bi olgi ca de uma
seqnci a particular de aminocidos , de longe, o passo mai s importante e
difcil. A compreenso da funo biolgica necessria para o uso de genes e de
produtos gnicos no diagnstico e no tratamento da doena humana. Este desa-
fio vive moment os de extrema incerteza e requer uma permanente criatividade
(Caskey et al., 1995). Apesar disto, esta estratgia j ganhou um valor inco-
mensurvel para a indstria da bi ot ecnologi a relaci onada sade humana.
No plano da pesqui sa bsica, o arqutipo do genoma est possibilitan-
do um novo e extraordinrio quadro de referncias para os conheci ment os
sobre as ori gens da vida. A partir de Pasteur, a qu mi ca e a bi ologi a experi-
ment am uma crescente confluncia, no est udo das ori gens da vi da como um
fenmeno qumi co, est abelecendo uma li gao entre est rut ura e evoluo,
isto , a estrutura qu mi ca das bi omolculas t em sido conect ada ao processo
evoluci onri o que as originaria. A i nformao evoluci onri a ar mazenada nos
12 pares de bases que const i t uem os diferentes ami noci dos j est per mi -
t i ndo identificar gr upos qu mi cos funci onalment e interessantes. Foi bem-
sucedi da a pr i mei r a model agem da conf or mao est rut ural de pr ot e nas,
valendo-se de dados de seqenci ament o, usando i nformao evolucionria,
dando incio ao desenho racional de bi omolculas, por mei o do qual a fun-
o raci onalment e desenhada. Os conheci ment os sobre a catalise, por exem-
plo, esto em pleno florescimento. Uma hi pt ese que a funo cataltica
teria tido como ori gem colees de seqnci as aleatrias de RNA, na ' sopa
pr i mor di al' .
4
EM BUSCA DOS ELOS ENTRE O ARQUTIPO DO GENOMA A
PROPOSTA DE UMA EPIDEMIOLOGIA DA COMPLEXIDADE
Assi m como Almeida Filho (1997), pensamos que a epidemiologia, no
Brasil, est preci sando respirar o ar fresco de novos t rat ament os tericos e
met odolgi cos. Esta gui nada essencial para configurar uma nova i dent i da-
de acadmi ca para a epi demi ologi a e assegurar a superao da atual crise de
cresci ment o em que se encont ra mergulhada.
Afinal, a histria nos conduzi u a um cenrio que nos obriga a refletir
sobre o novo paradi gma cientfico que emerge da pesqui sa bi omdi ca, no
qual o ser humano consegue remodelar a plasticidade molecular das estrutu-
ras vi vas e est prestes a deter um conheci ment o indito sobre os sistemas
vi vos complexos.
Sem dvi da, a humani dade est renovando seus conheci ment os sobre
as est rut uras vi vas, sua organi zao, as relaes entre seus component es e
ampli ando a capaci dade de predi zer comport ament os. Estas t ransformaes
inseriro, com certeza, a racionalidade epi demi olgi ca nesta nova racionali
4
Para informaes atualizadas a esse respeito, ver os Anais do Simpsio Internacional "Da Gerao
Espontnea Evoluo Molecular" do Ano Pasteur. Rio de Janeiro: Institut Risteur/Fiocruz, fev.
1995.
dade cientfica. , poi s, mui t o provvel que, em breve, venhamos a teste-
munhar a substituio radical, na epi demi ologi a, dos modelos reduci oni st as
det ermi ni st as pela s nt ese/ anli se/ s nt ese dos sistemas adaptativos comple-
xos. Afinal, os sistemas vi vos sejam eles os tecidos, os organi smos, comu-
ni dades, ecossi st emas - const i t uem, talvez, os mai s ricos exemplos da com-
plexi dade organi zada.
Esta tendncia assegurada e amplificada pelo espetacular poder compu-
tacional j disponvel para cada pesquisador. Acreditamos que este poder, conju-
gado possibilidade de operar em redes globais de comunicao, por estar, por si
mesmo, abrindo oportunidades sem precedentes para a bioinformtica, tambm
descortinar novos desafios para a racionalidade epidemiolgica.
Alguns autores, entretanto, pensam com ceticismo que, apesar de a gen-
tica molecular estar dando um novo impulso ao desenvolvimento de modelos
filosficos de causas e obrigando concepo de novos desenhos de estudos
epidemiolgicos e de tcnicas analticas, isso no acarretar necessariamente
uma mudana nos seus atuais modelos tericos (Struchiner, 1994:285-319). Para
outros, a gentica molecular estaria apenas renovando as vises reducionistas
que subordinam tudo quanto humano hereditariedade gentica e tambm
estaria aproximando-se, perigosamente, do darwinismo social.
De acordo com essas vi ses pessi mi st as, est ar amos, mai s uma vez,
diante de um mer o reduci oni smo explanatrio, t ent ando explicar toda a bi o-
logi a pela gent i ca ou por interaes fsico-qumicas. S que agora o velho
reduci oni smo explanat ri o estaria sendo levado ao seu moment o ext remo,
por fora deste ultratecnicismo que se processa na biologia.
No pensamos assim. A expect at i va que, entre ns, as di scusses
sobre este novo arqutipo no se reduzam produo de textos enfadonhos,
excessi vament e tericos, ret omando a velha e superada cont rovrsi a do pri-
mado das causas externas ou das i nt ernas. Afinal, os graves di lemas ticos
susci t ados pelos projetos do genoma humano e da di versi dade humana, os
desafios da regulament ao volt ada para a problemt i ca da bi ossegurana,
os i mpact os sobre os cust os do desenvolvi ment o de novas drogas e vaci nas,
as di sput as em t orno dos aspect os comerci ai s da pr opr i edade i nt elect ual,
sobret udo no captulo dos direitos pat ent ri os, so algumas das mui t as con-
trovrsias que se vo descort i nando i nt ernaci onalment e com a emergnci a
das moder nas bi ot ecnologi as e de suas aplicaes em sade e que vo intro-
duzi ndo a complexi dade no panor ama cientfico cont emporneo.
O novo arqut i po do genoma est descort i nando os mai s i nst i gant es
di lemas e desafios para o projeto mdi co social da epi demi ologi a, da sade
coletiva. Um desses desafios, talvez o mai or de t odos, pens-lo no terreno
da di nmi ca dos sistemas complexos no-lineares. Edgard Mor i n fez algu-
mas observaes sobre o tema:
As extraordinrias descobertas da organizao simultaneamente molecular e infor
macional da mquina viva conduzem-nos no ao conhecimento final da vida, mas s portas do
problema da auto-organizao.
Elucidando a base molecular do cdigo gentico, a biologia comea a descobrir o
problema terico complexo da auto-organizao viva, cujos princpios diferem dos das nossas
mquinas artificiais mais aperfeioadas.
O princpio de explicao da cincia clssica no concebia a organizao enquanto
tal. Reconheciam-se organizaes (sistema solar, organismos vivos), mas no o problema da
organizao. Hoje, o estruturalismo, a ciberntica, a teoria dos sistemas operam, cada uma a
sua maneira, avanos para uma teoria da organizao, e esta comea a permitir-nos entrever,
mais alm, a teoria da auto-organizao, necessria para conceber os seres vivos. (Morin,
1996: 24, 28, 29)
Fi nalment e, ao referir-se necessi dade de um pri ncpi o de complexi -
dade, Mor i n (1996:30) afirma que este
se esfora por abrir e desenvolver amplamente o dilogo entre ordem, desordem e organizao,
para conceber, na sua especificidade, em cada um dos seus nveis, os fenmenos fsicos,
biolgicos e humanos. Esfora-se por obter a viso poliocular ou poliscpica, em que, por
exemplo, as dimenses fsicas, biolgicas, espirituais, culturais, sociolgicas, histricas daqui-
lo que humano deixem de ser incomunicveis.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA FILHO, . A Clnica e a Epidemiologia. 2.ed. Salvador: APCE/ Abras
co, 1997
ARREDONDO, A. Anlisis y reflexion sobre modelos tericos dei processo salud
enfermedad. Cadernos de Sade Pblica. Rio de J aneiro, 8(3):254-261, 1992.
BLUMENTHAL, D.; GLUCK, . L.& WISE, D. Industrial support of university
research in biotechnology. Scie nce , 231:242-246,1986.
CASKEY T. et al. HUGO State me nt on the Pate nting of DNA Se que nce s. Docume nt of The
Human Ge nome Organisation, 1995.
DOSI, G.Technological paradigms and technological trajectories: a suggested
interpretation of the determinants and directions of technical change. Re se arch Policy,
11:147-162, 1982.
DREWS, J. Inte nt and Coincide nce in Drug Re se arch: the impact of biote chnology. Basel,
Switzedand: Roche F.Hoffmann-La Roche, 1996.
GLEICK, J. Caos. A criao de uma nova cincia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990.
KAUFFMAN, S. A. The Origins of Order: self-organisation and selection in evolution. New
York: Oxford University Press, 1993.
LEWIN, R. Complexidade: a vida no limite do caos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
LORENZ, . N.A Esse ntia do Caos. Braslia: Universidade de Braslia, 1996.
MAINZER, K. Thinking in Complexity. The complex dynamics of matter, mind, and mnkind.
Germany: Springer-Vedag, 1994.
MARQUES, . B. Cincia, Tecnologia, Sade e Desenvolvimento Sustentado. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 1991. (Srie Poltica de Sade n 11).
MARQUES, . B. Patenting life: foundations of the Brazil-United States controversy.
Rio de Janeiro: Fiocruz/NECT, 1993. (Srie Poltica de Sade n13).
MAZZAFERO, V E. Epidemiologia como conocimiento bsico In: La Formation
en Epidemiologia para el Desarrollo de los Servidos de Salud. Washington, D.C.: OPAS,
1987. (Sri e Desarrollo de Recursos Humanos n 88).
MORIN, E. Cincia com Conscinda. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
NAJERA, E. Investigation y desarrollo profesional In: La Formation en Epidemiologia
para el Desarrollo de los Servidos de Salud. Washington, D.C.: OPAS, 1987. ( Srie Desar-
rollo de Recursos Humanos n 88).
PESSIS-PASTERNAK, G. Do Caos Inteligncia Artificial: quando os cientistas se
interrogam. So Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992.
POSSAS, C. A. Prioridades sanitrias, cincia e tecnologia. In: I CONFERNCIA
NACIONAL DE CINCIA TECNOLOGIA EM SADE. Anais... Braslia, 1994.
POSSAS, C. A.& MARQUES, . B. Health transitions and complex systems: a
challenge to prediction? In: WILSON, . E; LEVINS, R. & SPIELMAN, A. (Orgs.)
Disease in evolution: global changes and emergence of infectious diseases. Annals of
the Ne w York Acade my of Scie nce s, 740:285-296, 1994.
POSSAS, M. L. Em direo a um paradi gma mi crodi nmi co: a abordagem
neo-schumpeteriana In: Ensaios sobre Economia Poltica Moderna: teoria e histria do pensa-
mento econmico. So Paulo: Marco Zero, 1989.
PRIGOGINE, Y. & STENGERS, I. Entre o Tempo e a Eternidade. So Paulo: Com-
panhia das Letras, 1992.
SANTOS, B. S. Introduo a uma Cincia Ps-Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
SCHRAMM ER. & CASTIEL L.D. Processo sade/doena e complexidade em
epidemiologia. Cadernos de Sade Pblica. Rio de Janeiro, 8(4):379-390, 1992.
SCHRAMM, F. R. A Terceira Margem da Sade: tica natural, complexidade, crise e responsa-
bilidade no saber-fazer sanitrio. Braslia: Universidade de Braslia, 1996.
STRUCHINER, C. Debate sobre o artigo de Castiel. Cadernos de Sade Pblica. Rio
de Janeiro, 10 (3):285-319, 1994.
TARRIDE, . I. Complejidad y sistemas complejos. Histria, Cincias, Sade Man
guinhos, 1(3), 1995.
TARRIDE, . I. Sade Pblica: uma complexidade anunciada. Rio de Janeiro: Editora da
Fundao Oswaldo Cruz. (no prelo)
TZOTZOS, G. Biotechnology R&D Trends: science policy for development Annals
of the New York Academy of Science, New York, 700, 1993.
WEINSTEIN, J. N. et al. An information-intensive approach to the molecular
pharmacology of cancer. Science, 275:343-349,1997.
PARTE III
TENDNCI AS
Podemos levantar a questo das novas dimenses suscetveis de
desaparecer espontaneamente neste fim de milnio, como conseqncia de uma
tecnocultura que escapa cada vez mais s leis e ao direito consuetudinno
(ou por acaso se castiga uma mquina, inocente por definio?)
Paul Virilio
UM FUTURO PARA A
EPI DEMI OLOGI A*
Mervyn Susser & Ezra Susser
A EVOLUO DA EPIDEMIOLOGIA
A i di a subjacente que caracterizou os pri mrdi os da epi demi ologi a
quant i t at i va no sculo XVII foi a pr eocupao com a sade pbli ca e as
di spari dades nas taxas de mort ali dade nos diferentes estratos sociais. O pe-
queno comerci ant e J ohn Graunt, no seu livro dat ado de 1662, Natural and
Political Observations made upon the Bills of Mortality, relata a distribuio social
da mort e em Londres e, em especial, as conseqnci as mort ai s da peste.
mdi co Wi lli am Petty, ami go de Graunt e seu patrono na Soci edade Real, foi
o pri mei ro autor a esboar, em seu livro Political Arithmetick (1667), um mt o-
do de clculo dos custos da mort ali dade.
A abor dagem utilitria que eles e out ros adot aram revelava-se inteira-
ment e de acor do com as justificativas pr edomi nant es nos pr i mr di os da
Traduo: Francisco Incio Bastos, Carlos Magno M. Pinheiro & Francisco Trindade
cincia moder na nos sculos XV e XVI . Impulsi onada pelas duas foras g-
meas do capi t ali smo e da tica protestante, a cincia foi ' sanci onada' , con-
forme a expresso de Robert Mer t on (1973), pela utilidade econmi ca e pela
glorificao de Deus. Essa i deologi a fomentou descobert as passvei s de apli-
cao tcnica i medi at a na ast ronomi a, na navegao, na fabricao de armas
de fogo, na tica e em mui t os outros campos.
Com a acelerao do fluxo de descobert as no decorrer dos sculos, a
cincia abandonou suas razes utilitrias para se tornar um fim em si mesma.
Dur ant e algum tempo, contudo, isso no foi verdade para a epi demi ologi a,
que pr eser vou uma preocupao central com a sade pbli ca e sua distribui-
o na soci edade.
Assim, diante das misrias da Inglaterra do sculo XI X vanguarda da
industrializao e da urbanizao acelerada , a epidemiologia moderna pouco a
pouco t omou forma, emergi ndo, plenament e, com o movi ment o sanitrio
(Simon, 1887; Rosen, 1993). A partir de ento, podem-se distinguir pelo menos
trs eras na epidemiologia, cada uma portadora do prprio paradigma dominan-
te: era das estatsticas sanitrias, com seu paradigma os miasmas; era da epide-
miologia das doenas infecciosas, com seu paradigma a teoria do germe; e era
da epidemiologia das doenas crnicas, com seu paradigma a caixa preta.
O Quadro 1, a seguir, descreve cada uma delas em seu contexto histrico.
Qu a d r o 1 As t r s e r a s n a e vo l u o d a e p i d e mi o l o g i a mo d e r n a
ESTATSTICAS SANITRIAS MIASMAS
A teoria dos miasmas foi dominante entre os sanitaristas na maior par-
te do sculo XIX. As estatsticas sanitrias revelam o pesado tributo pago
em doena e mort e nos bairros pobres da Inglaterra, Frana, Al emanha, Es-
candi nvi a e Est ados Uni dos, precursores dos campos de refugiados, favelas
e bairros de periferia do mundo subdesenvolvi do dos nossos dias. A hi pt ese
sanitria dos mi asmas tentativa de compr eender essas condi es - atri-
bui u-as ao ' envenenament o' secundri o s emanaes pt ri das ori gi nri as
do solo, guas e ar. Pensava-se, ento, que as causas ambi ent ai s exerci am
amplas e mlt i plas influncias sobre a morbi dade e a mort ali dade, e as esta-
tsticas sanitrias, coletadas para comprovar seus efeitos, eram, em grande
medi da, indiferenciadas, isto , relaci onadas mai s mor bi dade e mortali-
dade globais do que a doenas especficas. Soment e em 1839, na Inglat erra,
Wi lli am Farr comeou a usar uma classificao de di agnst i cos especficos
para a elaborao das estatsticas naci onai s de mort ali dade (Farr, 1885).
Si s t emas de esgot o e dr enagem, compl ement ados pel a col et a de
li xo, pelos banhos pbl i cos e por mel hor habi t ao ser i am os r emdi os
que di s per s ar i am os mi as mas , r eduzi ndo a mor bi dade e a mor t al i dade
(como, de fato, ocor r eu) e ' bani ndo' a pobr eza (o que no acont eceu) . O
pr i nci pal def ensor e, em alguns casos, o cr i ador dessas i novaes foi
Edwi n Chadwi ck ( 1 84 2) , r ef or mi st a que sust ent ava que a doena ger ada
pel o ambi ent e fsico pr ovocava penr i a. Seu cont empor neo, Fri edri ch
Engel s , foi um r evol uci onr i o que, ao document ar as mazel as dos t raba-
l hador es das fbri cas de Manchest er , compr eendeu a pobr eza como cau-
sa e no conseqnci a das suas mazel as (Susser, 1 973) . Ambos , por m,
concor davam que est as quest es er am soci ai s e que as medi das adequa-
das par a r esolv-las t er i am que at i ngi r t oda a soci edade.
Vale notar que, par a enfatizar os valores sociais e a vi so de sade
pbli ca dos pri mei ros sanitaristas, a estatstica comeou a se dedi car, literal-
ment e, anlise das condi es e dos dados relativos a estes est udos. A ento
r ecm- const i t u da Soci edade Est at st i ca de Londr es ( London St at i st i cal
Soci et y) preocupava-se, pri nci palment e, com a compi lao dos dados ne-
cessrios consecuo dest es estudos. Loui s Ren Vi ller m, na Frana, e
Wi lli am Farr, na Inglaterra, pi onei ros da epi demi ologi a, so apenas dois en-
tre os mui t os que t rabalharam para o avano da sade pbli ca nesta direo.
Os epi demi ologi st as, em sua mai ori a aut odi dat as, eram, com freqn-
cia, poca, heri s mdi cos (Brocki ngt on, 1965). Os jovens profissionais
ficavam ent usi asmados diante dos desafios que lhes eram colocados pelos
padres emergent es de doena, que pareci am deitar razes em um ambi ent e
horrendo de mi sri a urbana. Chief medical officer
1
do Conselho Naci onal de
Sade da Inglaterra, John Si mon foi capaz, no i nt ervalo de poucos anos (o
trabalho teve incio em 1858) de reunir em torno de si uma bri lhant e equi pe
17 membr os ao todo, oito deles eleitos, por mri t o, para a Real Soci edade.
Esses epi demi ologi st as mapear am o excesso de mort ali dade no pa s, por re-
gi o e em relao s condi es de habi t ao, aos cui dados di spensados
infncia e a doenas especficas. Est udar am uma ampla gama de atividades
produt i vas e ocupaes e det ect aram riscos di versos secundri os a part cu-
las e met ai s pesados, e condi es gerai s de trabalho. Reali zaram, i gualment e,
i nquri t os naci onai s sobre condi es ali ment ares, infestao de carnes por
parasi t as e cont ami nao alimentar.
Esses resultados fundamentais foram alcanados com base nos estu-
dos pr omovi dos na era dos mi asmas, por m o seu par adi gma no poder i a
sobr evi ver i nal t er ado aos avanos da mi cr obi ol ogi a. Sua mor t e col ocou
um pont o final na era sani t ri a. A t enaci dade de al gumas br i l hant es figu-
ras do movi ment o como Edwi n Chadwi ck e Fl or ence Ni ght i ngal e, que
se opus er am r evi so de suas t eor i as, ao i nvs de se s ubor di nar em
nova bi ol ogi a at r ai u o escr ni o dos ci ent i st as da r ea mdi ca que, at
ent o, no t i nham l ogr ado xi t o. As s i m, a per spect i va ampl a pel a qual
eles se bat i am, gr adual ment e, per deu fora. O enr edo dr amt i co da nova
mi cr obi ol ogi a no seri a faci lment e cont est ado.
Uma das i r oni as da hi st r i a da sade pbl i ca que, se por um l ado,
os sani t ar i st as es t avam er r ados na sua t eori a causai sobr e emanaes p-
t r i das, por out ro, demons t r ar am cor r et ament e como e onde pr ocur ar cau-
sas em t er mos de pr oces s o de concent r ao (clustering em det er mi nados
s e gme nt os / e s pa os de mor t al i dade e da mor bi dade. As r ef or mas que aju-
dar am a pr omover em mat r i a de dr enagem, t r at ament o de dej et os, su-
pr i ment o de gua e saneament o concor r er am, de um modo ger al , par a
mel hor i as si gni fi cat i vas na sade. El es es t avam equi vocados quant o s
1
Cargo hoje equivalente ao de Ministro da Sade (N.Org.).
especi f i ci dades bi ol gi cas, mas no quant o a se at r i bui r a causal i dade ao
ambi ent e em um sent i do ampl o (Susser, 1973) .
DOENAS INFECCIOSAS TEORIA DO GERME
Em 1840, Jakob Henle publicou um tratado muito bem fundamenta-
do, estabelecendo a seguinte hi pt ese (j esboada por alguns precursores,
como Fracast ori us): a infeco por organi smos mi nsculos constitua uma
causa fundamental de doena (Rosen, 1937; Henle, 1938; Shryock, 1972).
Apesar do t rabalho semi nal que J ohn Snow reali zou no campo da epi demi o-
logi a analt i ca ent re 1849 e 1854, a respei t o da causali dade ' or gamsmi ca'
2
do clera (Snow, 1855), 25 anos se passar am antes que Henle fosse reabili-
tado. A demonst rao, por Loui s Pasteur, de que um or gani smo vi vo era o
agent e de uma epi demi a que afetava os bi chos-da-seda ganhou ressonnci a
em 1865 (Vallery-Radot, 1901), a ela se segui ndo est udos da i nfeco e con-
tgio em doenas humanas, como a t uberculose, o carbnculo (antraz) e a
lepra (Vi llemi n, 1865; Hansen & Looft, 1865; I r gens & Bi er kdal , 1973) .
Fi nalment e, em 1882, Robert Koch, que havi a sido aluno de Henle, reco-
nheceu que uma mi crobact ri a era a causa da t uberculose (Koch, 1912).
Henle, Snow, Past eur e Koch podem ser consi der ados os fundadores si m-
bli cos da nova era.
Embor a Henl e no di spusesse de mei os de i nt er veno e Past eur
at uasse pri mordi alment e nas quest es comerci ai s relativas s doenas que
ameaavam a i ndst ri a da seda e a viticultura, ambos expli ci t aram e compar-
tilharam de uma perspect i va de sade pbli ca no que diz respei t o preven-
o da doena. A despei t o dessas ori gens, o novo par adi gma da doena que
se est abeleceu em decorrnci a do trabalho de ambos a teoria do ger me ,
acabou por se restringir perspect i va est ri t ament e laboratorial de um mode-
lo de causali dade especfica (Evans, 1976; 1993) - ou seja, agent es especfi-
cos relaci onados, um a um, a doenas especficas.
2
Procuramos conservar a relativa indeterminao do termo "organismic" do original, mais compat-
vel com as formulaes da poca de Snow do que utilizar a terminologia atual - "microorganismos"
e similares (N.T.).
A t eori a do ge r me e sua vi so cor r espondent e sobre causas especfi-
cas domi nar am as ci nci as mdi cas e a sade pbli ca desde o lt i mo quar-
tel do sculo XI X at , pelo menos, a met ade do sculo XX. Agent es espe-
cficos er am i dent i fi cados com base no i solament o e na cult ura dos locai s
afet ados por doenas causadas por mi cr oor gani smos, na sua t r ansmi sso
exper i ment al e na r epr oduo das leses. As respost as apr opr i adas vi sa-
vam a li mi t ar a t ransmi sso por mei o da apli cao de vaci nas, do i solamen-
to dos afet ados e, em lt i ma i nst nci a, da cura pela admi ni st r ao de ant i -
bi t i cos e qui mi ot erpi cos. Di agnst i cos com base em descober t as labor a-
t ori ai s, a i muni zao e o t rat ament o se aperfei oavam a cada avano ci en-
tfico. A t eori a dos mi asmas foi r elegada ao mes mo esqueci ment o em que
ca ra a i di a do flogisto.
Si mul t aneament e, a epi demi ol ogi a das popul aes, das exposi es
ambi ent ai s e da di nmi ca social das doenas, t ri but ri a da t eori a dos mi as -
ma s , ent r ou em decl ni o, sendo subst i t u da pela nfase ao cont role dos
agent es i nfecci osos. A epi demi ologi a de ent o era mai s uma at i vi dade se-
cundri a do que uma ci nci a cri at i va assent ada sobre as prpri as bases. A
nova era conser vou, com di fi culdades e guar dadas as suas especi fi ci dades,
os avanos epi demi olgi cos do sculo XI X, no que concer ne ao desenho e
ao desenvol vi ment o de pesqui sas de campo, elabor ao de si st emas est a-
tsticos naci onai s referent es a dados vi t ai s e s anli ses est at st i cas de gr an-
des nmer os. Os adept os da filosofia t radi ci onal da sade pbli ca per de-
r am prest gi o e poder na hi erarqui a mdi ca e foram mes mo objet o de es-
crni o, de forma semelhant e ao que cont i nua a ocorrer, em mui t os locai s,
nos di as de hoje.
A busca por outras causas de doenas no meio ambiente, que no as mi
crobi olgi cas, prat i cament e dei xou de existir. Assi m, nos Est ados Uni dos,
Joseph Goldberger (1918), com seu trabalho sobre a pelagra, comeado em 1914
e terminado nos anos 20, ops-se mar dominante da noo de infeco, ao
estabelecer a deficincia nutritional como causa da pelagra. Isso ainda mais
significativo, se levarmos em conta que ele e Edgar Sydenstricker demonstraram
que, no Sul rural, a deficincia alimentar era decorrente da pobreza dos planta-
dores e de outros trabalhadores presos armadilha da estrutura econmica da
lavoura do algodo.
Nesse mes mo perodo, a busca de uma etiologia viral para o flagelo
crescent e da poli omi eli t e justificava-se plenament e. Todavi a, a concent ra
o de recursos nas atividades de pesqui sa laboratorial em busca de um mi-
croorgani smo acarretou uma certa negligncia quant o a descobert as-chave
no mbi t o da epi demi ologi a e t ornou inteis as est rat gi as de pr eveno
i mplement adas. Ivar Wi ckman, na Suci a, j em 1905, e Wade Hampt on
Frost, nos Est ados Uni dos, uma dcada depoi s, concluram, com base em
dados epi demi olgi cos, que a t ransmi sso di ssemi nada de i nfeco subclni
ca causada por algum agente desconheci do constitua o fator subjacente s
epi demi as de vero - que at i ngi am, especi alment e, as crianas das classes
mai s abast adas.
A ironia da era sanitria foi ent o i nvert i da nesse pont o. Se no resta
dvi da de que, dent ro de seu mbi t o restrito, os formuladores da teoria do
ger me est abel eci am relaes causai s preci sas par a mui t as doenas, cabe
observar, no ent ant o, que sua vi so estreita ret ardou o uso cri at i vo de suas
descobert as em prol de um progresso efetivo da ci nci a epi demi olgi ca.
Af i r mam alguns que o declni o das doenas i nfecci osas nos pa ses desen-
volvi dos na pri mei ra met ade do sculo XX, pi ce do par adi gma da teoria
do ger me, deve menos aos avanos cientficos a i nclu do o uso de vaci -
nas e ant i bi t i cos, do que nut ri o ou melhor i a no padr o de vi da
( McKeown, 1976a; 1976b). Embor a uma anli se mai s det i da no sust ent e
o ar gument o cont ra o papel da ci nci a, no resta dvi da sobre o papel
fundament al do desenvolvi ment o econmi co e da mudana social (Susser,
1973; McKi nlay, 1981) .
Quai s quer que sejam as caus as , os gr andes f lagelos das doenas
cont agi osas foram post os sob cont r ol e nos pa ses desenvol vi dos. Quando
os pr i nci pai s agent es i nf ecci osos par eci am ter si do i dent i f i cados e as
doenas cont agi os as no mai s domi na va m o quadr o das doenas l et ai s,
a fora do par adi gma da t eor i a do ge r me di mi nui u. Poucos , com not -
vei s excees c omo Ren Dubos ( 1 95 9, 1 965 ) , a nt e c i pa r a m o r ecr u
des ci ment o das doenas cont agi osas ou as novas epi demi as gl obai s. Com
a pr edomi nnci a emer gent e das doenas cr ni cas de caus as des conhe-
ci da, sob qual quer par adi gma causal di gno de cr di t o, o ambi ent e fsico
e soci al t eve de ser, mai s uma vez, r econs i der ado.
As DOENAS CRNICAS A CAIXA PRETA
A Segunda Guerra Mundial serve como um divisor de guas que assi-
nala o i nci o da era da doena crni ca e do par adi gma da cai xa pret a. Pouco
depoi s do t r mi no do conflito, em 1945, j era evi dent e que, no mundo
desenvolvi do, a ascenso da mort ali dade decorrent e das doenas crni cas
ult rapassara a decorrent e das doenas infecciosas. A ascenso no se devi a
apenas ao envelheci ment o da populao. Especi fi cament e ent re os homens
de mei a-i dade, o i ncr ement o da prevalnci a da lcera ppt i ca, da doena
coronari ana e do cncer de pul mo era rpido e assust ador o suficiente para
que pudssemos denomi n-lo epi dmi co (Morri s, 1957).
Nesse mesmo moment o, quimioterpicos e antibiticos j faziam part e
do arsenal teraputico. Os seus potentes efeitos pareci am fornecer evidncias
claras de que as principais causas das doenas infecciosas havi am sido cont ro-
ladas. S mai s tarde percebeu-se que esses medi cament os no eram o fator
primordial para o contnuo declnio das doenas infecciosas na primeira met a-
de do sculo XX e que, ademai s, no seriam capazes de prevenir devastadoras
epi demi as globais na met ade seguinte ( McKeown, 1976a; 1976b).
A epi demi ologi a predomi nant e de nossos dias t raduz o esforo de en-
t ender e controlar as novas epi demi as de doenas crnicas. Tambm nest a
ocasi o, a nova era foi, no incio, gui ada pelos concei t os da sade pbli ca.
As doenas crnicas, que ameaavam de forma mai s explcita a sade pbli -
ca, t ornaram-se o objeto pri mordi al da i nvest i gao epi demi olgi ca e os gru-
pos est udados foram recrut ados ent re aqueles sob risco manifesto, especial-
ment e os homens de mei a-i dade.
A epi demi ologi a das doenas crni cas firmou-se quando foram r egi s-
trados os seus primeiros resultados irrefutavelmente relevantes. Estudos de caso-
controle e coorte sobre as relaes entre fumo e cncer de pulmo, bem como os
primeiros estudos de coorte sobre a doena coronariana, que definiram o coles
terol srico e o fumo como fatores de risco, demonstraram o poder do mt odo
observaci onal e conferiram-lhe suas credenci ai s (Susser, 1985).
Esses est udos t rouxeram consi go o i mp r i mat ur
3
invisvel do par adi gma
da cai xa pret a, que relacionava exposi o a resultado, sem que i sso i mpli cas
3
Termo latino que significa 'imprima-se' e expressava a autoriao, por parte da censura, de i mpres-
so de um livro (N.T.).
se qualquer obri gao de interpolar fatores i nt ermedi ri os, ou mes mo a pa
tognese, embora nem t odos negli genci assem tal interpolao. Como na era
sanitria, os epi demi ologi st as defront avam-se com i mport ant es doenas le-
tais de ori gem i nt ei rament e desconheci da. De incio, por fora das ci rcuns-
t nci as, eles recorreram a est udos est ri t ament e descri t i vos da di st ri bui o
das doenas e busca de possvei s fatores que i mpli cavam ri scos ampli ados
(Morris, 1957). Quando comear am a testar as observaes emergent es, eles
cont aram com o engenho dos seus desenhos e lanaram mo de circunstn-
cias oport unas de modo a chegar s suas concluses. Rar ament e recorreram
a uma anlise estatstica complexa.
Os est udos do cncer de pulmo revelaram-se especi alment e influen-
tes em conferir credibilidade ao novo paradi gma. A pat ognese havi a sido
superada. Assi m, a descobert a bi olgi ca mai s substancial, que referendava a
relao f umo/ cncer de pulmo, li mi t ou-se a uma evi dnci a indireta: a de-
monst rao, por parte de Kennaway e colaboradores, de que o alcatro apli-
cado pele de camundongos era carci nogni co (Burrows & Kennaway, 1932).
De fato, por mai s quat ro dcadas, no foi est abeleci da nenhuma analogi a
direta entre os experi ment os com ani mai s e as significativas descobert as dos
estudos epi demi olgi cos sobre o fumo.
Passo a passo, as complexi dades das doenas crni cas emergi ram, pri-
mei ro no que diz respeito a desenhos de pesqui sa e inferncia causal e, um
pouco mai s tarde, anlise estatstica (Susser, 1985). A i nci pi ent e reflexo
sobre o desenho dos est udos das dcadas anteriores foi desenvolvi da e siste-
mat i zada (Wi t t s, 1959; MacMahon, 1960). A est rut ura dos desenhos tor-
nou-se mai s clara, bem como compreendeu-se a necessi dade de poder esta-
tstico e das vant agens decorrent es das grandes amost ras.
Os epi demi ologi st as vi ram-se obri gados a abandonar o modelo de cau-
sas especficas da teoria do ger me. A metfora da 'teia de causali dade' carac-
terizou a nat ureza mult i causal das quest es de sade pbli ca, em particular,
das doenas crnicas. Por este motivo, um de ns (Mer vyn Susser) tentou,
por sua cont a e risco, sistematizar os problemas inferenciais que emergi am,
com a nascent e epi demi ologi a, de um mundo mult i vari ado (Susser, 1973).
Post eri orment e, o apri morament o da tcnica analtica det ermi nou um
ciclo de sofisticao crescente. Os epi demi ologi st as passaram a explorar a
fundo as sutilezas dos fatores de confuso, dos pr oblemas classificatrios,
da anlise de sobrevi da e outras quest es similares. Est e esforo pode ser
explicitado no concei t o elegante e unificador da tabela 2x2, e dos desenhos
de caso-controle e coorte como mt odos alternativos de amost ragem da ocor-
rncia de doenas na populao, de modo a est i mar as taxas de risco ou as
razes de produt o cruzado (odds ratios) (Susser, 1973).
O paradi gma da caixa preta permanece como modelo domi nant e, e vir-
tualmente todos os epidemiologistas cont emporneos, a includos os prprios
autores deste texto, dele t m lanado mo. Ele continua a subsidiar descober-
tas significativas no mbito da sade pblica. Os defeitos no canal neural nos
oferecem um exemplo recente dessa afirmao: estratgias de pesquisa, tpi-
cas do paradi gma da caixa preta, permitiram chegar, casualmente, descober-
ta do papel fundamental da deficincia de cido flico. Trabalhos anteriores
havi am encontrado variaes na ocorrncia destes defeitos nas diferentes clas-
ses sociais, localizaes geogrficas e etnias, e em decorrncia dos ciclos eco-
nmi cos (Elwood, 1992). Estudos posteriores identificaram uma associao
entre a exposio fome nos primeiros meses de gravidez e um mai or risco de
defeitos congnitos, e uma segunda associao entre a suplementao vitam
nica pr-natal e um decrsci mo deste risco (Stein et al. 1975). Fi nalment e,
indo alm do paradi gma da caixa preta, estudos com animais, seguidos por
ensaios clnicos utilizando suplementao nutritional, estabeleceram que a ad-
ministrao periconcepcional de cido flico podia prevenir uma grande por-
cent agem de defeitos no canal neural (Smithells, 1983).
A NOVA ERA: ECO-EPIDEMIOLOGIA
No entanto, todos os sinais apont am para um clmax e, com toda pro-
babi li dade, um declnio subseqent e da caixa preta como par adi gma domi -
nante. Duas foras caractersticas do nosso t empo e freqentemente men-
ci onadas est o enfraquecendo este paradi gma. Referimo-nos t ransforma-
o nos padres globai s de sade e nova tecnologia.
PADRES DE SADE
Com relao aos padres de sade, nenhum event o t em tido mai or
i mpact o do que a epi demi a da AIDS/HIV. Embor a a epi demi ologi a nos t enha
proporci onado notveis contribuies para a adequada compr eenso da epi-
demi a, a epi demi ologi a da caixa preta most ra-se mal equi pada para efetuar o
seu controle.
A epi demi a da AIDS demonst rou que tanto os pases desenvolvi dos
quant o os em desenvolvi ment o esto vulnervei s di ssemi nao devasta-
dora de uma doena infecciosa. Todavia, o agente causal e os fatores de risco
essenciais so conhecidos, de modo que a preveno , em tese, possvel.
A anlise em nvel exclusi vament e i ndi vi dual de organi zao, como
i mpli cado nos concei t os do paradi gma da caixa preta, no per mi t e avaliar
em que pontos, nos diferentes nveis hierrquicos, a i nt erveno poderi a ser
bem sucedi da (Koopman et al; 1991). Nenhuma vaci na hoje em desenvolvi -
ment o parece capaz de atingir o nvel de eficcia que poderi a redundar em
um controle da epidemia. Afora essa falta de eficcia, nossa i ncapaci dade de
controlar a epi demi a reside nas lacunas relativas compreenso da t ransmi s-
so e da doena no cont ext o social. Sabemos quais compor t ament os sociais
preci sam ser mudados, mas pouco sabemos sobre como mud-los, mesmo
quando soci edades inteiras esto envolvidas.
Aos olhos de hoje, nossa confiana, vigente durant e a era da doena
crnica, na capaci dade de controle das doenas infecciosas parece i ngnua e
i gualment e insensvel s part i culari dades do mundo menos desenvolvi do.
Para a mai or parte da populao mundi al, as infeces crni cas - t uberculo-
se, sfilis, malria, entre out ras nunca estiveram, de fato, sob controle. O
mesmo ocorreu com o HIV: as causas imediatas e os fatores de risco so
conheci dos, mas esse conheci ment o no se traduz em prot eo efetiva
sade pbli ca.
Do mes mo modo, nossa confi ana no cont role das doenas crni cas
no-i nfecci osas, por i nt er mdi o da alt erao de compor t ament os que acar-
ret am ri sco, foi abalada. Mai s uma vez, o conheci ment o dos ri scos e as
i nt er venes di ri gi das exclusi vament e s mudanas de compor t ament o dos
i ndi v duos, ai nda que em di versas comuni dades, r evelar am-se i nsufi ci en-
tes (Susser, 1995) .
Problemas de sade decorrent es de problemas sociais si nali zam a iden-
tificao das dificuldades subjacentes. Defensores da sade pbli ca - como
ni ngum menos do que o eloqent e pat ologi st a do sculo XI X, Rudolf
Vi rchow (1985) - h muito compreenderam essa relao. Em algumas popu-
laes, foram as relaes sociais que frearam a melhori a das condi es de
sade. Um exemplo bem conheci do a influncia, em gr ande escala, das
dependnci as qu mi cas e da vi olnci a sobre o perfil de sade de gr upos et-
rios inteiros. Assi m, at ualment e, no Central Harlem, Nova York, a taxa de
mort ali dade de jovens adultos do sexo masculi no superior de um pas
pobre como Bangladesh (Klei nbaum, 1982). Os efeitos sociais sobre a sa-
de em mui t as outras situaes no so menos dramt i cos. Por exemplo, na
Rssi a, no decorrer da t ransi o iniciada com o fim do Est ado sovitico, na
frica do Sul, durant e as mat anas espasmdi cas do apartheid, e na Colm-
bi a (Virchow, 1985; Leon, 1987; Yach, 1988).
O par adi gma da caixa preta, i soladament e, no eluci da as foras so-
ciais nem suas relaes com a sade. No que se refere sade pbli ca, uma
epi demi ologi a volt ada para o i ndi v duo most ra-se seri ament e li mi t ada. As
solues por ela formuladas envolvem o controle dos fatores de risco que
at i ngem di ret ament e os i ndi v duos, tais como os compor t ament os relativos
ao ' hospedei ro' (fumar, por exemplo) ou aos ' agent es' (os ve culos mot ori za-
dos ou a polui o ambi ent al, por exemplo). O paradi gma no nos fornece
i nst r ument os j consoli dados para lidar com os fatores de risco no seu con-
t ext o amplo, como ger alment e necessri o par a sua mudana efetiva. A
preveno em nvel social concei t uada ant es como uma i nt erveno sobre
i ndi vduos em uma escala en masse do que uma i nt erveno em uma ent i dade
social com leis e di nmi cas prprias.
TECNOLOGIA
Com relao tecnologia, os desenvolvi ment os que ori ent aro a pes-
quisa e que podem conduzi r a epi demi ologi a a um novo par adi gma resi dem
pri mordi alment e, por um lado, na bi ologi a e nas tcnicas bi omdi cas e, por
outro, nos si st emas de i nformao. Esses avanos vm i mpondo reformula-
es a t odas as disciplinas na rea da sade.
Tcni cas bi olgi cas como a recombi nao gent i ca e o processament o
de i magens corporais t ransformaram nossa habi li dade em compr eender a
doena humana em nvel micro. Por exemplo, os mt odos do DNA recombi
nant e levar am ao reconheci ment o dos component es viral e gent i co na dia-
bet es i nsuli no-dependent e, ao rast reament o conclusi vo ' pessoa-a-pessoa' do
HIV, da t uberculose e outras infeces, por mei o da especificidade molecu
lar dos organi smos, descobert a do vrus da herpes como o agent e quase
i nquest i onvel do sarcoma de Kaposi (Chang et al., 1994) e ao ' drama' do
rast reament o familiar e identificao do pri mei ro gene do cncer de mama
(Hall et al., 1990).
As tcnicas de processament o de i magens abalaram a noo da esqui-
zofrenia como psi cose funcional e deram novament e crdito participao
de fatores ambi ent ai s (Andreasen et al., 1994). Permi t i ram, t ambm, a des-
coberta de uma freqncia elevada de leses cerebrais nos premat uros, antes
insuspeita, concent rada nas pri mei ras horas de vida (Paneth et al., 1993). A
aqui si o de conheci ment os secundri os nova t ecnologi a apenas come-
ou. O mapeament o do genoma humano abre cami nho para possibilidades
antes i ni magi nvei s, como a especificao do papel da heredi t ari edade na
doena e a vi suali zao dos processos fisiolgicos na i nt erpret ao das fun-
es do organi smo.
A cont ri bui o potencial desses avanos epi demi ologi a constitui um
extraordinrio aperfei oament o na definio e na medi da da exposi o e do
result ado (outcome). Tal aperfei oament o esclarece as vi as i nt ermedi ri as e
elucida, com preciso, processos causais e no apenas fatores causai s. pos-
svel acreditar que as novas tcnicas, aplicadas de modo criterioso, ajudaro
a tirar a epi demi ologi a do lamaal das estimativas de riscos margi nalment e
significantes (Stein & Hatch, 1987).
Paralelamente, a t ecnologi a em nvel social, sob a forma de redes de
comuni cao global, abriu novas perspectivas para a compreenso e o con-
trole das doenas. Redes de i nformao possibilitam o acesso i nst ant neo a
bancos de i nformao cont endo estatsticas vitais e out ros dados sociais e
de sade relevantes por todo o mundo (Friede et al., 1993), permi t i ndo igual-
ment e sua contnua reestruturao. Estes dados di spem de uma infinidade
de aplicaes com relao a estratgias de vi gor renovado em sade pblica
e compor t am uma capaci dade potencial de projetar e testar i nt ervenes
bem formuladas volt adas para o social. Bancos de dados podem ser ' gari m-
pados' em busca de descries comparat i vas de ocorrnci as em diferentes
segment os e gr upos, nacional e i nt ernaci onalment e, de modo a gerar e testar
hipteses, e como ' quadros de referncia' de estratgias amost rai s. A acumu-
lao contnua de dados, ao longo do tempo, pode subsidiar uma vigilncia
abrangent e de estados de sade, a det eco de epi demi as emergent es e no-
vas doenas, a resposta a desastres e a avaliao de i nt ervenes. Essa tec
nologi a possibilita, portanto, a compreenso de fenmenos de larga escala e
mes mo de sistemas que esto ao nosso alcance. Coloca em nossas mos a
habi li dade e a necessi dade de reconhecer padres di nmi cos de gr ande am-
plitude e, i gualment e, as doenas em seu cont ext o social.
Quando as pesqui sas baseadas no par adi gma corrent e da cai xa preta,
na sua f or ma pura, ext r aem suas concluses exclusi vament e das t axas de
riscos que relaci onam a exposi o aos event os resultantes, sem elaborao
sobre as vi as i nt erveni ent es, est o abri ndo mo da profundi dade proporci o-
nada pelos novos conheci ment os biolgicos. Al m disso, em decorrnci a de
um compr omi sso implcito, e s vezes explcito, de analisar doenas exclusi-
vament e no nvel individual, a pesqui sa reali zada sob esse par adi gma pres-
ci nde, i gualment e, da ampli ao que seria proporci onada por novos siste-
mas de i nformao, decorrent es da i nsero da exposio, result ado e risco
no cont ext o social.
NECESSIDADE DE UM NOVO PARADIGMA
O apogeu do par adi gma da cai xa preta est consoli dado nos textos
epi demi olgi cos bsi cos dos anos 80. Eles se afastam da ori ent ao da sa-
de pbli ca adot ada pelos pi onei ros da era da doena crnica. Si mult anea-
ment e, a anlise tem deslocado a quest o do desenho do centro de seu foco.
Levando essas consi deraes a um pont o ext remo, vemo-nos s volt as com
uma epi demi ologi a desembaraada das exi gnci as de refletir sobre as doen-
as inseridas em gr upos sociais, comuni dades e out ras formaes da estru-
tura social. Em conseqnci a disso, um moder no livro-texto, largament e uti-
li zado, endossa i mpli ci t ament e uma definio expressi va da epi demi ologi a
como ' o est udo da ocorrnci a das doenas' , colocando de lado os objetivos
da sade pbli ca. A epi demi ologi a vista, nesse enfoque, como algo prxi -
mo s cincias fsicas, com estas compart i lhando a busca dos nvei s de abs-
trao mai s altos, sob a forma de leis universais.
Pesqui sas desenvolvi das sob esta perspect i va uni versali st a no po-
dem usufruir das ext raordi nri as mudanas e oport uni dades abert as pelas
novas di nmi cas das doenas e novas tecnologias.
Na evoluo da epi demi ologi a moderna, sempre que os padres de
sade e as t ecnologi as se alteraram, os par adi gmas domi nant es t m sido subs-
titudos por novos paradi gmas. Como ocorreu com par adi gmas anteriores, a
cai xa preta, est endi da para alm dos seu li mi t es, deve ser em breve subsumi
da ou mes mo i nt ei rament e substituda por outro. Est e par adi gma reflete uma
era especfi ca no desenvolvi ment o da epi demi ologi a como di sci pli na. No
nosso pont o de vista, si t uamo-nos no li mi t e de uma nova era, por ns deno-
mi nada de era da eco-epi demi ologi a.
CAIXAS CHINESAS: UM PARADIGMA PARA A ECO-EPIDEMIOLOGIA
Tr aamos a evoluo da epi demologi a, consi derando trs eras e seus
par adi gmas domi nant es: a era das estatsticas sanitrias, com o seu paradi g-
ma do mi asma; a da epi demi ologi a das doenas infecciosas, com o seu para-
di gma da teoria do ger me; e a atual, da epi demi ologi a da doena crnica,
com o seu par adi gma da caixa preta. Post eri orment e, ar gument amos que o
par adi gma da caixa preta, embor a bem ajustado i nvest i gao de fatores de
risco no nvel individual, ve m sendo mi nado por novos padres de sade e
tecnologia, e provvel que mui t o em breve seja substitudo.
Nest e moment o, defendemos um par adi gma para uma quart a er a emer-
gent e a da eco-epi demi ologi a. De modo a conot ar a i ncluso de si st emas
em di ferent es n vei s, ns o denomi namos como par adi gma das cai xas chi -
nesas. Est e par adi gma, que pr ovm de uma di st i no par t i cul ar ent re o
uni ver sali smo das ci nci as fsicas e o ecologi smo das ci nci as bi olgi cas,
i nsere a epi demologi a na t ri lha do ecologi smo, perspect i va que quer emos
expli car e justificar.
A i mpli cao prtica de um paradi gma ecolgi co para o desenho da
pesqui sa epi demi olgi ca que de nada nos servir um foco exclusi vo em
fatores de risco no nvel individual entre populaes, mes mo consi derando
os nmeros mai s abrangent es. Preci samos estar i gualment e pr eocupados com
cami nhos causai s no nvel social, e com a pat ognese e a causali dade em
nvel molecular. Observamos, neste ponto, que i nvest i gaes em t odos es-
ses nvei s podem ser encont radas na hi st ri a da medi ci na e na da epi de-
mi ologi a desde t empos remot os. Hi pocrat es (1950) preocupava-se com os
efeitos das condi es ambi ent ai s mai s amplas sobre a sade. Mai s tarde,
Galeno, que enfatizou o hospedei ro individual na forma da teoria dos quat ro
humor es, no negli genci ou a i nt erao da suscet i bi li dade com o estilo de
vi da. Paracelso, no sculo XVI , objetivou alcanar nveis mltiplos, tentou
aplicar a qu mi ca medi ci na e est udou a influncia dos astros na fisiologia.
A necessi dade e a pot nci a de um novo par adi gma podem ser ilustra-
das pela doena infecciosa secundri a ao HI V e pela doena crni ca a
lcera pptica. Se, por um lado, esses dois distrbios foram seleci onados de
modo a represent ar doenas crni cas e infecciosas do nosso t empo, cabe
observar t ambm que cada uma delas assinala menor nitidez das di st i nes
entre doena crnica e infecciosa. Isto constitui, por si s, uma mar ca da
nova era.
Ent ender e conter a epi demi a global do HI V requer pensament os cau-
sais em di ferent es nveis de anlises. No nvel da molcula, a pr eci so da
bi ologi a molecular requeri da de modo a det ermi nar os mei os e a t empora
li dade da t ransmi sso e encont rar um mei o de interromp-la. Em nvel inter-
medi ri o, um compor t ament o social especfico dos i ndi vduos encoraja a
t ransmi sso sexual e outras formas de t ransmi sso do vrus. No nvel popu-
lacional, as di nmi cas da epi demi a so governadas tanto pela prevalnci a da
infeco e por outras caractersticas da populao, como por padres de re-
laci onament o sexual e de amament ao, quant o pela prevalnci a de outras
doenas sexualment e transmissveis e fatores nutricionais, entre os quais os
nveis mat ernos de vi t ami na A.
No nvel global, as i nt erconexes entre as soci edades det er mi nam a
rota da infeco. Como investigadores, nos vemos nor malment e const rangi -
dos pelas nossas capaci dades e pelo necessri o reduci oni smo, compr eendi do
na definio de v nculos fortes entre uma coisa e outra e, mai s especifica-
ment e, no est abeleci ment o de seus v nculos causais. Ai nda assi m, as melho-
res perspect i vas de cont eno da epi demi a so tributrias de uma estratgia
coerent e que possa abranger t odos esses nveis.
De modo similar, a lcera ppt i ca i lust ra as li mi t aes de um quadr o
de refernci a por demai s estreito para uma doena crni ca (Susser & St ei n,
1962). O mar co de refernci a causal do fisiologista gst ri co focaliza a pa-
r ede do est mago, e o do neurofi si ologi st a o si st ema ner voso aut nomo.
O especi ali st a em psi cossomt i ca expande o mar co de refernci a de modo
a i nclui r est ressores i nt ernos e ambi ent ai s, o genet i ci st a consi dera a heran-
a fami li ar de gr upos sang neos e status secretor, e o mi crobi ologi st a com
par ece com as recent es descobert as sobre a Helicobacter pylon. O epi demi olo-
gi st a inclui t udo isso e ai nda acrescenta o hbi t o de fumar como um fator de
ri sco i ndi vi dual.
No entanto, o mi st ri o e o desafio da lcera ppt i ca par a a epi demi olo-
gi a resi dem no nvel ecolgi co de uma mudana secular substancial. Temos,
ainda, de desvendar os fatores que levaram a s ndrome da lcera ppt i ca a
crescer, em um pri mei ro moment o, para, em seguida, decrescer. Essa condi -
o, ou complexo de condi es, atingiu um ' pi co' nos anos 50 e, de forma
no menos mi st eri osa do que o seu cresci ment o, comeou, ento, a declinar.
O incio de seu i ncrement o em coortes com datas de nascimento anteriores
virada do sculo XIX, com um declnio constante em coortes com datas de
nascimento posteriores a esta data. Um modelo causai i nt ei rament e adequado
sade pbli ca deve explicar a doena tanto no nvel ecolgi co quant o em
nveis mai s di mi nut os e refinados de organi zao. Isso deve ser mantido,
ai nda que a melhor explanao venha a ser o compor t ament o ao longo do
t empo das bact ri as Helicobacter.
UNIVERSALISMO VERSUS ECOLOGISMO
O cami nho, agora, est aber t o par a que os epi demi ologi st as avan-
cem para al m do tpico enfoque cai xa preta, at i ngi ndo os i ndi v duos con-
si derados como um t odo en masse
4
e t r abalhem - ao mes mo t empo - em
profundi dade no nvel molecular e, por ext enso, no gr upai . Devemos nos
gui ar por concepes causai s apr opr i adas, um assunt o j bast ant e di scut i -
do na epi demi ologi a.
Como todas as ci nci as, a epi demi ologi a busca concei t os generali zan
tes de modo a explicar as causas das coisas. Na histria da cincia, entretan-
to, possvel traar no apenas uma, mas duas pistas concei t uai s. O bem-
descrito uni versali smo das cincias fsicas cont rast a com o ecologi smo das
cincias bi olgi cas, habi t ualment e relegado a segundo plano, e deve ser com-
plement ado por ele. Em cont rast e com o universalismo, o ecologi smo t ema
4
Os autores utilizam o termo em francs (N.T.).
tiza a locali zao e est atento s fronteiras que li mi t am a possi bi li dade de
est abelecer generali zaes acerca de sistemas bi olgi cos, humanos e sociais.
A concepo de causali dade baseada em leis uni versai s est absolut a-
ment e di ssemi nada nas cincias, embor a exi st am, claro, excees. A mai o-
ria dos filsofos da cincia confinou o seu empr eendi ment o quase inteira-
ment e ao quadr o de referncia universalista. Acredi t amos que os epi demi o-
logistas, entre out ros pesqui sadores, vm sendo i ludi dos por i nt erpret aes
padroni zadas sobre a nat ureza da cincia.
A busca de leis universais do mundo mat eri al deve se defrontar com
um paradoxo. Os menores element os so os element os mi cr ocsmi cos inte-
rat i vos, cujo compor t ament o expli cado por essas leis, na medi da em que
estes so i nt egralment e universais. Uni versali dade i mpli ca uma vi so do es-
pao e t empo em expanso para fora, atravs das fronteiras e hori zont es de
nosso mundo e de out ros, no li mi t ada pelo acrsci mo regi onal nem por
caractersticas de est rut uras i nt erveni ent es, como planet as, cont i nent es ou
nosso mundo bi olgi co, i nclui ndo as pessoas.
Al gumas leis podem ser vli das para o nosso planeta, para as espci es
e para os processos evolutivos que as produzi ram. Todavi a, aci ma do nvel
das molculas, nenhuma ent i dade bi olgi ca pode se ajustar i nt ei rament e s
leis uni versai s, por causa dos cont ext os subjacentes a uma dada moldur a e
das i nt eraes ent re nveis dent ro de uma estrutura biolgica. Fat o trivial
que cada soci edade influenciada tanto por suas ci rcunst nci as econmi -
cas, polticas e culturais quant o pela mi st ura de pessoas, cli ma e topografia.
Da decorre que o uni versali smo no t ot alment e apli cvel ao empr e-
endi ment o cientfico. Em epidemiologia, a pobre adapt ao do universalis-
mo reali dade humana pode ser melhor formulada por uma const ruo con-
trastante deri vada do ecologismo. O que mai s universal menos bi olgi co
e, antes de t udo, menos humano. Dest a forma, quando ent ramos nas esferas
fsicas, bi olgi cas e sociais do mundo humano, necessi t amos de um conjun-
to paralelo de idias entrelaado busca da generali dade. Const rut os ecol-
gi cos t ent am lidar com a verdadei ra complexi dade do mundo material. No
podem se limitar descri o do comport ament o do mi cr ocosmo e do cosmo
fsico; devem incluir o ' menos universal' biolgico, o ai nda menos universal
humano e suas i nt eraes particulares.
Ao propor um paradi gma i mbu do do mes mo esprito do ecologi smo,
lanamos mo e desenvolvemos uma formulao anterior de agent e e hos
pedei ro, i mersos em um mei o ambi ent e que abrange si st emas em mlt i plos
nveis (Susser, 1973). Nossa concepo abr ange si st emas interativos. En-
t endemos por si st emas um conjunto ou leque de fatores reuni dos, conecta-
dos uns aos outros, em algum modo coerent e de relao. Dest a forma, um
si st ema uma abstrao que permi t e que uma srie de fatores correlaci ona-
dos sejam descritos em t ermos de uma est rut ura ou funo coerente. Fala-
mos, com propri edade, de sistemas fisiolgicos circulatrio, ner voso e re-
produtivo. O corpo humano , em si mesmo, um sistema que abarca todos
esses. Soci edades abrangem sistemas mui t o mai s complexos de relaes per-
sistentes e ordenadas. O uni verso um sistema de escala mui t o ampla; uma
molcula, um si st ema de escala mi nscula.
Cada si st ema pode ser descri t o em seus prpri os t ermos. Cada um
deles define os limites de um nvel especfico de organi zao e a est rut ura
dent ro desses limites. Sua coernci a i mpli ca um det ermi nado gr au de persi s-
tncia e estabilidade. Por essa razo, possvel identificar um conjunto de
fatores que compem um si st ema. Essa est abi li dade coexi st e, entretanto,
com a capaci dade de mudana. Como os fatores que compem um sistema
se relaci onam de algum modo, a mudana e at i vi dade em um setor colide e
afeta out ros setores.
Si st emas t ambm se relaci onam com outros si st emas; no exi st em de
forma isolada. Uma met fora pode servir para i lumi nar essa perspectiva eco-
lgica. Compar amos nossa formulao s cai xas chinesas, uma srie de cai-
xas de mgi co, cada uma cont endo uma sucesso de cai xas menor es. Dest e
modo, no interior de estruturas locali zadas, di vi samos nveis sucessivos de
organi zao, cada um dos quai s abarcando o nvel seguinte, mai s elementar,
t odos com nt i mas li gaes entre eles.
No interior de cada nvel, uma est rut ura relativamente limitada, como
uma nao, soci edade ou comuni dade pode ser caract eri zada por relaes
legtimas que esto locali zadas naquela estrutura e que podem ser evi den-
ciadas. Essas relaes legtimas so generali zvei s em qualquer nvel espec-
fico dent ro da hierarquia de escala e complexi dade, mas soment e no que diz
respeito ao gr au que elas abarcam e em relao a outras est rut uras similares,
sejam elas soci edades, cidades, comuni dades locais ou i ndi vduos.
O paradi gma represent ado pela metfora das caixas chi nesas poderi a
ser adapt ado a uma nova eco-epi demi ologi a. Este par adi gma trata de rela-
es i nt ernas a estruturas localizadas e entre elas , li mi t adas social, bi ol
gi ca e t opografi cament e. O enfoque epi demi olgi co adequado aquele que
analisa os det ermi nant es e resultados em diferentes nveis de organi zao.
Tal anlise contextual seria baseada em novos sistemas de i nformao, tanto
i nt ernament e quant o ao longo de diferentes nveis, de modo a ganhar ampli -
tude. Ela aproveitaria novas tcnicas bi omdi cas para ganhar profundi dade.
A ao que se seguiria a isto seria alavancada pelo nvel mai s eficaz con-
textual ou molecular, ou ambos.
A met fora das caixas chinesas no , entretanto, adequada a t odas as
di menses. Nesses nveis, existe uma hi erarqui a no soment e de escala mas
t ambm de complexi dade, com mlt i plas i nt eraes entre e at ravs de dife-
rent es nveis. A caixa externa deve ser a moldura mais abrangente do meio am-
biente fsico, que, por sua vez, contm sociedades e populaes (o terreno da
epi demi ologi a), i ndi vduos isolados e sistemas fisiolgicos i ndi vi duai s, teci-
dos, clulas e, finalmente (no mbi t o da bi ologi a), molculas.
Para que possamos estudar os sistemas ecolgicos em profundidade,
t emos ainda que utilizar os procedimentos met odolgi cos bsicos da cincia e
limitar os campos de observao. A epidemiologia nunca pode aspirar ao redu-
ci oni smo definido por Freeman Dyson (1995), ou seja, o "esforo para reduzir
o mundo dos fenmenos fsicos a um conjunto finito de equaes fundamen-
tais". Steven Weinberg denomi nou a isto "grande reduci oni smo", j que deter-
mi na uma certa vi so da natureza. Os epidemiologistas necessitam conviver e
devem utilizar o que Weinberg denomi nou como "reduci oni smo di mi nut o",
que i mpe soment e uma estratgia de pesquisa ou programa (Weinberg, 1995).
No se deve permitir, porm, que essas aproximaes obscuream a estrutura
contextual dos sistemas envolventes. Para lidar com uma hierarquia de tais
sistemas, patente a necessidade de um novo paradigma.
ESCOLHENDO O FUTURO
Embor a possam ocorrer reaes, t emos, por ora, de adotar, desenvol-
ver e aplicar este tipo de paradi gma epi demi ologi a. O que apresent amos
aqui nada mai s do que um quadro bsi co de referncia. Na medi da em que
este par adi gma embri onri o for testado no campo, no resta dvi da de que
suas simplificaes e i nadequaes emergi ro e algumas de suas deficincias
sero reparadas.
O par adi gma ver-se- compeli do ao desenvolvi ment o e mudana,
medi da que os const rangi ment os do pensament o ora existentes sejam que-
brados, e que possamos dele esperar que confira uma nova vi t ali dade epi
demologi a. Tal par adi gma exigir um i menso arsenal de mdodos sofistica-
dos apropri ados, adapt ados e cri ados que capaci t em os epi demi ologi st as
a t est arem modelos em nveis que vo do molecular ao social.
A esta altura, a tarefa parecer aterrorizante, e mes mo sem perspect i -
va alguma, par a mui t os de ns. Poucos epi demi ologi st as est o equi pados
para levar adi ant e esta propost a. No incio deste sculo, entretanto, Ronald
Ross foi o pi onei ro de uma propost a anloga (Ross, 1910). Em 1902, ele
recebeu o Pr mi o Nobel por estabelecer, aps um met i culoso t rabalho com
o mi croscpi o na dcada de 1890, que os mosqui t os t ransmi t i am a malria.
Depoi s disso, passou a desenvolver uma propost a epi demi olgi ca vi sando a
erradi car a doena. A epi demi ologi a e uma i ncli nao mat emt i ca o levaram
a uma model agem multivariada, de modo a t ornar possvel a det er mi nao
da eficcia de i nt ervenes de diferentes nat urezas.
Ext rai remos lies adicionais dos precedent es histricos para justifi-
car o nosso ot i mi smo. Um est udo da bibliografia referente ao incio da era
das doenas crni cas (Susser, 1985) proporci ona uma experi nci a direta dos
desenhos element ares e dos i nst rument os analticos em uso no incio daque-
la era. Os pri nc pi os met odolgi cos relativos aos desenhos apenas davam
seus pri mei ros passos e a anlise mult i vari ada era quase inacessvel. O con-
traste com os poderosos desenhos de pesqui sa e com as sofisticadas anli ses
dos anos post eri ores quela era dificilmente poderi a ser maior. Mui t os dest es
precedent es nos fornecem razes para que acredi t emos que as ferrament as
analticas necessri as est o ao nosso alcance, desde que a at eno de epi de-
mi ologi st as esteja focalizada no seu desenvolvi ment o e uso.
Nest e moment o, deve-se reconhecer que um par adi gma molecular to-
mado em si mes mo algo i mensament e atrativo, por seu poder explanatrio.
Sem que desenvolvamos em cont raposi o um esforo consci ent e, este pa-
radi gma ir, com toda certeza, domi nar a epi demi ologi a, assi m como a teoria
dos ger mes o fez no seu tempo. Nest e aspecto, com sacrifcio da ampli t ude
concei t uai e analtica, a epi demi ologi a poderi a novament e ser reduzi da a um
r amo auxiliar da i nvest i gao de laborat ri o e o vei o pri nci pal de nossa dis
ciplina poderi a se perder frente cincia criativa. Uma fora em contraposi-
o capaz de restaurar a di menso da sade pbli ca para a epi demi ologi a
pode resultar de uma verso madura do par adi gma das caixas chinesas.
Devemos, t ambm, nos mant er atentos com relao a out ro paradi g-
ma emergent e. A combi nao de sistemas de i nformao e anlises de siste-
mas pode i gualment e conduzi r a um paradi gma de si st emas, com seus pr-
prios atrativos para os epi demi ologi st as com i ncli nao mat emt i ca. Man-
t endo-se i solado, este paradi gma sacrificaria a profundi dade bi olgi ca e o
endereament o i medi at o da disciplina para as quest es da sade. Para que
evi t emos a constrio, ambos os t emas emergent es, assi m como a cai xa pre-
ta de nossa era, preci sam ser subsumi dos a um paradi gma mai s abrangent e
como o das caixas chi nesas, aqui propost o para uma eco-epi demi ologi a.
Um par adi gma cientfico convincente no , cont udo, suficiente para
ancorar os epi demi ologi st as sade pblica. Portanto, algum poderi a per-
gunt ar: o que mai s seria necessri o para t ornar efetivo este v nculo, para
alm do si mples evangeli smo dirigido a uma epi demi ologi a i nvi olavelment e
presa sade pbli ca?
De sada, um programa prtico deve ser planejado de modo a garantir
que, no curso de sua educao, os epi demi ologi st as sejam soci ali zados de
forma que se mant enha vi va a idia de apri morar a sade pbli ca como valor
pri mri o. Os epi demi ologi st as devem mant er rigor cientfico, mas t ambm,
em alguma medi da, ser profissionais no sentido tradicional em relao me-
dicina, lei e ao clero. Isto , a soci edade lhes concede uma funo pri vi legi -
ada e aut noma, com base em um t rei nament o especial. Est a aut onomi a
acarret a obri gaes ticas recprocas e pri mri as de servir aos i ndi vduos ou
soci edade.
Para pr eser var tal tica, t emos que fazer escolhas e agir de acor do
com ela. O poder do pr ocesso soci ali zant e no sent i do de i mbui r valor es
est bem document ado no t rabalho sobre educao mdi ca, pr ot agoni za-
do por Rober t Mer t on e seus colegas (Mert on, Reader & Kendall, 1957) e
em mui t o do que se segui u a eles. A est e respei t o, a epi demi ol ogi a e a
sade pbl i ca vem- se s volt as com ambi gi dades de papel e status. Como
enfat i zado aci ma, a funo da sade pbli ca t em sido a de servi r popula-
es e, i nf or mada por noes de eqi dade social, a de preveni r e cont rolar
doenas nessas populaes. As ori gens hi st ri cas pr edomi nant es se no
exclusi vas da epi demi ologi a encont r am-se na medi ci na. Por mi lni os, a
funo mdi ca, guar dada como relquia em tica e ensi nament o, t em sido
servi r os indivduos doentes.
Nest e sculo, a epi demi ologi a e a sade pbli ca t m, freqentemente,
defi nhado em um ambi ent e mdi co que, quase i nvari avelment e, pri ori za o
cui dado i ndi vi dual de pessoas doentes. Em conseqnci a, as escolas aut -
nomas de sade pbli ca, ent re outras, t m pela frente um papel crucial na
socializao dos profissionais de sade.
A diversificao das profisses no campo da sade pbli ca resultou
em ampli ao da ambi gi dade de papi s de seus praticantes. Al m dos dou-
tores e sanitaristas que const i t uam ant eri orment e sua vi gas-mest ras, o cor-
po de profissionais da sade pblica abrange, hoje, epidemiologistas sem treina-
ment o mdi co, estatsticos, economi st as, cientistas sociais, admi ni st radores,
especialistas em organizao e similares. Esta diversificao possui fora centr-
fuga. Para i mbui r estes diferentes gr upos dos valores da sade pblica, as
escolas de sade pbli ca tero de dar o devi do peso ao processo de socializa-
o de seus est udant es frente a valores comuns.
A socializao de est udant es em sade pbli ca exigir a i nduo cons-
ciente medi ant e o aprendi zado de suas tradies e histria. Eles preci saro
ter cont at o com professores e profissionais que ent endam e i ncor por em os
valores da sade pbli ca. Tero necessi dade de adqui ri r experi nci a em si-
t uaes comuni t ri as to vi vi das e reveladoras quant o as propi ci adas aos
est udant es mdi cos por clnicos cabecei ra do leito. Eles tero de compre-
ender o sofrimento e o desgast e das comuni dades despojadas ou desorienta-
das. De reconhecer a verdadei ra escala dos efeitos que poucos pont os per-
cent uai s de um i ndi cador confivel t m em relao sade de uma nao.
Sem uma i nt ensa socializao e aprendi zado, devemos admitir, pelo curso
natural dos acont eci ment os e do est rei t o foco ger ado pela especializao,
que os v nculos entre os valores da sade pbli ca e suas disciplinas especi-
ali zadas vo se dissolver diante dos nossos olhos. A epi demi ologi a , ento,
uma das disciplinas que corre mai or risco.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
A ND R E A S E N, N. C. et al. Thalamic abnormalities in schizophrenia visualized through
magnetic resonance image averaging. Science, 266: 294-298,1994.
BR O C KI NG T O N, C. F. Public Health in the 19th century. Edinburgh/London: E&S
Livingstone, 1965.
BUR R O WS , K; HE I GE R , I & KE NNAWAY, E. L. The experimental production
of tumors of connective tissue. Am. J. Cancer, 16: 57-67, 1932.
C H A D WI C K, E. Report on the sanitary condition of the the labouring population of Great
Britain. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1842.
C H A NG , Y; C E S A R MA N, E. & P E S S I N, M. S. Identification of herpervirus-like
DNA sequence in Aids-associated Kaposi's sarcoma. Science, 266: 1865-1869, 1994.
D UBO S , R. The Mirage if Health: utopias, progress and biological change. New York:
Harper & Row; 1959.
D UBO S , R. Man Adapting. London: Yale University Press, 1965.
D YS O N, F. The scientist as rebel. New York Review of Books, 42(5):31-33,1995.
E L WO O D , J. M.; LITTLE, J. & E L WO O D , J. H. Epidemiology and Control of Neural
Tube Defects. New York: Oxford University Press, 1992.
E VANS , A. S. Causation and disease: the heule koch postulatis revisited. Yale J Biol.
Med., 49:175-195, 1976.
E VANS , R. G; BARER, M. L. & MARMOR, T. R. (Eds.) Why are somepeople healthy and
others not? The determinants of health of populations. New York: Aldine de Gruyter, 1990.
EVANS, A. S. Causation andDisease: a chronologcal journey. New York/London: Plennun, 1993.
F RI E DE , A et al. Wonder: a comprehensive on-line public health information system
of the Center for Disease Control and Prevention. American Jounal of Public Health, 83:
1289-1294, 1993.
G O L D BE R G E R , J. WH E E L E R , G. A. & S YD E NS T R I C KE R , E. A study of the
diet of non-pellagrous and pellagrous households in textile mill communities in
South Carolina in 1916. Journal of American Medical Association, 71:944-949,1918.
HALL, J. et al. Linkage of early onset familial breast cancer to chromosome 17Q21.
Science, 250: 1684-1689, 1990.
HANS E N, G . , LOOF, C Epidemiology of Leprosy in Norway: the history of the
national leprosy registry of Norway from 1856 until today. Inte rnational Journal of
Epide miology, 2:81-89,1973.
HENLEJ. On Miasmata and Contagia. Baltimore: John Hopkins University Press, 1938.
HIPOCRATES. In: The Me dical Works of Hippocrate s. Oxford: Blackwell Scientific
Publications, 1950.
IRGENS, L. M. & BJERKEDAL, . Epidemiology of leprosy in Norway.
Inte rnational Journal of Epide miology, 2: 81-89, 1973.
KING, L. S. The Growth of Me dicalThougth. Chicago & London: University of Chicago
Press, 1963.
KLEINBAUM, D. G; KUPPER, L. L. & MONGESTERN, H. Epidemiologic
Research: principles and variable quantitave methods. Belmont: Lifetime Learning
Publications: Wandsworth Inc, 1982.
KOCH, R. Die aetiologie der tuberkulose. Reprinted in: SCHWALBE, J. (Ed.) Gesammelte
von Robert Koch. Leipzig, Germany: Georg Thieme. Verlag 1:428-455, 1912.
KOOPMAN, J. S., LONGIN1, . ., JACQUEZ, J. A. et al. Assessing risk factors
for transmission of infection. Ame rican Journal of Epide miology, 133:1199-1209,1991.
KRiEGER, N. Epidemiology and the web of causation: has anyone seen the spi-
der? Social Scie nce Me dicine , 39(7):887-903, 1994.
LEON, C A. Observing the violence in Colombia. American Psychiatric Association,
Simon Bolivar Lecture, 1987.
LINK, B. G. & PHELAN, J. Social conditions as fundamental causes of disease.
Journal of He alth and Social Be haviour (no prelo).
MAcMAHON, B.; PUGH, T. F. & IPSEN, J. Epide miological Me thods. Boston: Litlle,
Brown & Co, 1960.
MAYR, E. The Growth of Biological Thought: dive rsity, e volution, and inhe ritance . Cambrige,
Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1982.
McKEON, T. The Mode rn Rise of Population. London: Edward Arnold, 1976a.
McKEON, T. The Role of Me dicine : dre am mirage or ne me sis. London: The Nuffield
Provincial Hospitals Trust, 1976b.
MCKINLAY, J. B. Paradigmatic obstacles to improvements in women's health. In:
SYMPOSIUM ON WOMEN'S HEALTH, 1994.
MERTON, R. K. The Sociology of Scie nce : the ore tical and e mpirical inve stigations. Chicago:
University of Chicago Press, 1973.
MERTON, R. K.; READER, G. C. & KENDALL, P. L. The Stude n Physician: intro-
ductory studie s on the . sociology of me dical e ducation. Cambridge, Mass., 1957.
MORRIS, J. N. Use s of Epide miology. London: Churchill Livingstone, 1957.
PANETH, et al. Incidence and timig of germinal matrix/intravencular hemor-
rhage in low birth weight infants. Ame rican Journal of Epide miology, 137:1167-75,1193.
PEARCE, N. Traditional epidemiology, modern epidemiology, and public health.
Ame rican journal Public He alth, (no prelo).
ROSEN, G. A. History of Public He alth. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.
ROSEN, G. A. Social aspects of Jacob Henle's medical thought. Bull Inst Hist Me d,
5:509-537, 1937.
ROSS, R. The Pre ve ntion of Malaria. 2.ed. New York: E.P. Dutton, 1910.
SHRYOCK, R H. Germ theories in medicine prior to 1870: further comments on
continuity in science. Clio Me dica, 7:81-109,1972.
SIMON, J. English Sanitary Institutions. 2.ed. London: John Murray, 1887.
SMITHELLS, R. W, SELLER, M.J., HARRIS, R et al. Further experience of vitamin
supplementation for prevention of neural tube defect recurrences. Lance t, 1027,1983.
SNOW, J. On the mode of communication of cholera. 2.ed. London: J. Churchill,
1855. (Reprinted in 1936).
STEIN, Z. & HATCH, M. Biological markers in reproductive epidemiology,
prospects. Environme ntal He alth Pe rspe ctive s, 74:67-75, 1987.
STEIN, Z. et al. Famine and Human Development: the dutch hunger winter of
1944-45. New York: Oxford University Press, 1975.
SUSSER, M. Causal Thinking in the He alth Scie nce s: conce pts and strate gie s of e pide miology.
New York: Oxford University Press, 1973.
SUSSER, M. Epidemiology in the United States after Word War II: the evolution of
technique. Epide miological Re vie w, 7:147'-177,1985.
SUSSER, M. The tribulations of trials - interventions in communities. American
Journal of Public He alth, 85: 156-158, 1995.
SUSSER, M. & STEIN, Z. Civilization and peptic ulcer. Lance t, 1:115-119, 1962.
VILLEMIN, J. A. Cause et nature de la tuberculose: son inoculation de l'homme au
lapin. Compt Re nd Acad Sci, 61: 1012-1015, 1865.
VIRCHOW, R. Colle cte d e ssays on public he alth and e pide miology (1879). (Translation by A.
Gismann) In: RATHER, L. J. , CANTON, M. A. (Eds.) Watson Publishing Internati-
onal. Science History Publications, 1985.
WING, S. Limits of epidemiology. In: WESLEY, R. C. & SIDEL, V. W. (Eds.)
Me dicine and Global Survival, 1:74-86, 1994.
WITTS, L. J. (Ed.) Me dical Surve ys and Clinical Trials. London: Oxford University
Press, 1959.
YACHT, D. The impact of political violence on health and health services in Cape
Town, South Africa, 1986: methodological problems and preliminary results. Ame ri-
can Journal of Public He alth, 78: 772-776, 1988.
TEORI A DO CAOS S I S TEMAS
COMP LEXOS EM EPI DEMI OLOGI A*
Pie rre Philippe
INTRODUO
Pri nci pi amos com o aforismo de Jacques Monod acaso ou necessi da-
de. Porm, vamos alter-lo um pouco para ' acaso e necessi dade' . Quando
li damos com o caos, ambos esto presentes.
O acaso habi t ual ment e equi par ado al eat or i edade; a necessi -
dade ao det er mi ni smo. As pr pr i as noes de aleat or i edade e det er mi -
ni smo no so novas. Elas nos l evam de volt a a Lapl ace, no sculo XVI I I .
Para ele, nosso conheci ment o do mundo t i nha como base o det er mi ni s-
mo, ou seja, a pr edi o do que est par a acont ecer ser obt i da sem pro-
bl emas quando chegar mos a conhecer as mui t as var i vei s que cont r olam
o universo. Portanto, defendia que a i ndet er mi nao habi t ual que assola o
conheci ment o apenas t empor r i a.
Traduo: Claudete Daflon dos Santos & Francisco Incio Bastos
Out ro paradi gma relaci onado ao de Laplace o da li neari dade newt o
niana. Na mecni ca de Newt on, se pode saber o resultado de qualquer siste-
ma, na medi da em que as condi es iniciais so especificadas e conhece-se
uma lei de movi ment o.
Os dois paradigmas esto bastante cristalizados no nosso trabalho epide
miolgico cotidiano. A regresso mltipla um exemplo disso. Acreditamos, de
fato, que acrescentar cada vez mais variveis ir nos ajudar a explicar melhor a
varincia dos resultados, esperando-se que a relao da exposio para com o
resultado seja linear. Como estabeleciam as formulaes de Newt on, pode-se
dizer hoje: d-me uma exposio e uma relao linear e estarei apto a predizer o
resultado. E, na concepo de Laplace, a predio ser to mais acurada quanto
maior o nmero de fatores de risco levados em considerao. Nossa prtica epi-
demiolgica , portanto, fundamentalmente newtoniana ou laplaceana. Hoje em
dia, contudo, tambm abandonamos o determinismo e o substitumos pela esto
casticidade, pois, evidentemente, embora no sejam lineares, as correlaes esto
corporificadas na aleatoriedade. Porm, visto de uma perspectiva mais ampla, nosso
paradigma corrente permanece basicamente linear.
A teoria do caos traz um novo pont o de vista. Tem como base a se-
gui nt e premi ssa: o det ermi ni smo real, mas, quando acoplado no-lineari
dade, pode dar lugar a vari aes si mi lares ao acaso. A aleat ori edade est
implcita nas no-li neari dades de um sistema det ermi nst i co. Trata-se de uma
i nesperada mi st ura das posi es histricas j menci onadas. O caos t ambm
significa que a aleat ori edade inevitvel pelo fato de estar const i t uda de
det er mi ni smo, est abelecendo, assi m, um paradoxo. A aleat ori edade no
vista como algo de que possamos nos livrar pela adio de novas variveis.
Pelo contrrio, o caos det ermi nst i co necessita apenas de umas poucas vari-
veis para introduzir uma vari ao similar ao acaso.
Da emerge um novo paradigma, segundo o qual a aleatoriedade que
costumvamos declarar temporria revela-se, antes, intrnseca. Com base nele,
constata-se que sua origem pode no se dever s variveis desconhecidas, mas
sim ao determinismo estrutural no-linear. Se for assim, ento o paradigma da
linearidade e os mtodos nele fundamentados tm de ser questionados.
1
1
Para um resumo detalhado e acessvel da teoria do caos aplicada epidemiologia, ver Philippe, P.
Chaos, Population Biology and Epidemiology: Some Research Implications. Human Biology, 65:525-
546, 1993.
Uma apli cao da teoria do caos ao modelo de Sartwell de per odo de
i ncubao de doenas most rou result ados consi st ent es. A di st ri bui o do
per odo de i ncubao de mui t as doenas adapt ou-se bem a uma distribuio
lognor mal. Est a lt i ma di st ri bui o revelou-se, i nci dent alment e, capaz de
resistir a mui t os fatores de confuso e erros de medi o.
Essa consistncia uma peculi ari dade i nesperada, que ai nda no foi
objeto de mui t as pesqui sas. Como algum pode expli car que a doena possa
desenvolver-se li vrement e, sem influncia do mei o ambi ent e? Uma vez ini-
ciado, o processo patolgico se desenrola como se as condi es iniciais ou
cont ext uai s no tivessem i mpact o algum sobre a progresso da doena.
Isso nos faz lembrar, em pri mei ro lugar, do det ermi ni smo. Em segui-
da, a estabilidade do processo pat olgi co ao longo do t empo sugere que as
condi es iniciais no esto relaci onadas mani fest ao; isto , o t empo de
apareci ment o da doena i ndepende dos fatores cont ext uai s relativos s con-
di es basais. Essa ltima caracterstica t ambm se assemelha s vari aes
similares ao acaso, esperadas sob regimes caticos. Por consegui nt e, a ques-
to saber se a teoria do caos pode ser til para o esclareci ment o da di nmi -
ca dos processos pat olgi cos durante o per odo de lat nci a.
2
PRINCPIOS DE MODELAGEM EM EPIDEMIOLOGIA
Na histria recente da epi demi ologi a, h quat ro fases ou tipos
de modelagem. Ini ci alment e, existe a modelagem linear estocstica, corpori
ficada na regresso mltipla, na qual t odos os fatores de risco so intercorre
laci onados a efeitos diretos sobre o resultado. Este tipo de model agem inspi-
ra-se di ret ament e no paradi gma da mecni ca newt oni ana da causali dade li-
near. Mudanas no resultado esto di ret ament e relaci onadas alt erao na
quant i dade de energia absorvi da (input). Est e tipo de model agem relaciona-
se t ambm ao paradi gma laplaceano do sculo XVIII, segundo o qual a falta
de ajuste (lack-of-fit) do modelo resultado da i ndet ermi nao t emporri a no
2
Para uma aplicao epidemiolgica da modelagem de caos determinstico ao desenvolvimento de
doenas individuais, ver Philippe, P. Sartwell's incubation period model revisited in the light of
dynamic modeling. Journal of Clinical Epidemiology, 47:419-433,1994.
mbi t o do nosso conheci ment o sobre os fatores causais. Para ambos os para-
di gmas, o princpio da superposio de fundamental i mport nci a. Utiliza-
do cot i di anament e na epi demi ologi a quando se agr upam objetos sob o pres-
suposto de i ndependnci a, afirma que o conheci ment o de um sistema com-
pleto igual soma do conheci ment o referente a seus subsi st emas. As con-
dies da eventual interao na regresso em que a superposi o no per-
feita so utilizadas basi cament e para forar o ajuste linearidade. No apre-
sent am, neste caso, relao com a i nt roduo no clculo das no-linearida
des di nmi cas.
Em segundo lugar, existe a anlise linear estocstica expandi da, t am-
bm denomi nada modelagem da equao estrutural, em que efeitos diretos e
indiretos so alcanados por i nt ermdi o de modelos compli cados. A mode-
lagem da anlise de percurso ( p a t h analysis) um exemplo. Este segundo tipo
de modelagem no mais do que uma superposio de regresses li neares,
no h diferena fundamental em relao regresso mltipla.
As estratgias das duas modelagens anteriores est abelecem uma ' gra-
de esttica' nas relaes entre vari vei s, ainda que a relao dos fatores de
risco com os efeitos resulte de processos di nami cament e interativos. Estes
procedi ment os podem deixar escapar, portanto, relaes no-lineares que se
somam ao longo do t empo e que podem det ermi nar vi eses nas est i mat i vas
dos efeitos. Conseqent ement e, alternativas para estes esforos de modela-
gem que se assemelham a ' espant alhos'
3
tentaro i ncorporar aspect os da di-
nmi ca e dos feedbacks oni present es nos sistemas globais.
J na modelagem di nmi ca no-linear det ermi ni st a, levam-se em con-
siderao as interaes e produzem-se comport ament os di nmi cos mais ade-
quados (no que diz respeito aos element os perceptveis) do que as outras
anlises li neares menci onadas.
O modelo SEIR um exemplo desta estratgia. Nele, quatro compar
timentos so objeto de interesse: pessoas Suscet vei s, Expost as, Infectadas
e em Recuperao da doena. Aqui , as interaes conduzem ao tipo de din-
mica. Pode-se notar, t ambm, que este mt odo consiste em abstrair subsis-
t emas bem definidos da di nmi ca global. Em situaes complexas, quando
os subsi st emas so restitudos ao sistema global, podem ser produzi dos re-
3
No or i gi nal , 'strawman' modeling efforts ( . T.).
sultados que no se coadunam com as expect at i vas da anlise desenvolvi da
em separado. Portanto, este tipo de model agem t ambm pode ser chamado
de reduci oni st a. Embor a a pri nci pal vant agem do model o seja i ncorporar
element os da di nmi ca i nerent es a qualquer si st ema real, esta abor dagem
pode ajustar situaes di nmi cas no-lineares simples.
SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS
O que acont ece se o sistema to complexo que uma infinidade de
equaes diferenciais t em de ser elaborada e resolvi da? Os fsicos, ao se
defrontarem com este tipo de problema, desistiram do projeto de compreen-
der em profundi dade o comport ament o das molculas, conclui ndo que seria
prefervel estudar seu compor t ament o probabilstico.
H, ainda, um quart o estgio nas tentativas de model agem que procu-
ra dar cont a de situaes de di mensi onali dade mui t o elevada, isto , aquelas
que apresent am um nmer o elevado de graus de li berdade, i mpli cando si-
t uaes, que podem se revelar, port ant o, no-redutveis model agem no-
linear det ermi ni st a per si. Esta quest o pode ser exemplificada pela anlise
do risco para doena cardaca, reconheci dament e relaci onada a mai s de 200
fatores de risco diferentes. Este tipo de model agem, que poderi a requerer o
auxlio da model agem fractal estocstica ou da model agem dos si st emas adap-
tativos complexos, i gnora i nt enci onalment e os det alhes dos subprocessos
referentes doena individual, enfatizando o i nvlucro (caixa-preta) destes
subprocessos-processos.
Uma tentativa de exami nar o interior da cai xa pret a de um sistema
adaptativo complexo dever encontr-lo decompost o em trs sees. A pri-
mei ra represent ada pela ent rada de energi a no sistema, a do mei o a caixa
preta; a outra o mundo externo, o do fentipo clnico. A ent rada de energi a
ocorre sob a forma de genes ou fatores de risco, podendo contribuir para a
alterao dos parmet ros de controle do sistema. Pode, t ambm, i mpeli r o
sistema para longe do equilbrio e para a desordem, provendo-o do pot enci al
necessri o mudana. Ult rapassar o limiar crtico pode provocar uma transi-
o de fase. A subordi nao de det ermi nadas funes utilitrias ir, poste-
ri orment e, possibilitar o est abeleci ment o de uma nova ordem. Da em diante,
como o si st ema passa a almejar um novo tipo de estabilidade, o funciona-
ment o ocorre em um nvel di verso; suas propri edades emergentes vi sam a
uma soluo original para o stress (ou variao) a que ele foi submetido. O novo
estado o resultado da superao de uma etapa da qual o sistema, para a mai o-
ria das finalidades prt i cas, no pde se recuperar.
Os sistemas adaptativos complexos (aut o-organi zados) apresent am trs
car act er st i cas:
o elevado aport e de energi a i mpulsi ona o si st ema para um est ado de
cooper ao ent r e el ement os di st anci ado da si mpl es i ndependnci a,
cri ando, assi m, um novo padro de element os macroscpi cos;
a desor dem mi croscpi ca det ermi ni st a do sistema de elevada di menso
se reduz a poucos padres regulares estocsticos de bai xa di mensi onali
dade ( l ow dimensional) na escala macroscpi ca; e
o reduci oni smo met odolgi co no tem lugar nos si st emas aut o-organi za
dos. No h forma de reconstruir o sistema com base nos element os que
const i t uem sua espi nha dorsal.
Em relao a esse lt i mo pont o, vale di zer que as pr opr i edades emer-
gent es so alhei as aos element os mi cr oscpi cos do si st ema. Ist o ver da-
de, apesar de o result ado macr oscpi co ter or i gem na base mi cr oscpi ca e
r eal i ment - l a.
UMA NOVA METFORA DE SADE DOENA
Para compr eender melhor os sistemas complexos, gost ar amos de pro-
por uma metfora. Um si st ema aut o-organi zado pode ser vi st o como um
' conjunt o' de Cant or,
4
uma represent ao geomt ri ca.
Para gerar um ' conjunto' de Cantor, traa-se pri mei ro um segment o de
reta (linha) do qual se extrai o tero mdi o. O processo repet i do vri as
vezes, at que se obt m uma srie de pont os, dispostos em uma forma resul
4
Referente ao matemtico alemo do sculo XIX Georg Cantor, criador da teoria dos nmeros
ordinais transfinitos ( . T.).
tante do puro acaso. Alguns denomi nam esta estrutura de poei ra de Cant or
( Cant or dust). Obt m-se ento uma est rut ura hi errqui ca auto-similar. Isto ,
estrutura dent ro de est rut ura na ausnci a de uma escala tpica, algo como a
lei da gravi dade de Newt on, que verdadei ra ao longo de t odas as escalas.
Nest e ponto, se algum interligar os segment os da resultantes, obter
algo que se assemelha filogenia, na qual todas as escalas, da menor mai or,
encont ram-se i nt erli gadas. Este modelo torna-se cont rovert i do ao ser con-
frontado com um sistema bi olgi co que constitui uma hi erarqui a auto-simi-
lar, dot ada de uma infinidade de escalas, dos genes ao fentipo. O que suge-
ri mos que o ' conjunt o' de Cant or constitui a espi nha dorsal de um processo
bi olgi co di nmi co, isto , dot ado de estruturas e funes aut o-si mi lares,
ampar ado em uma infinitude de escalas da organi zao bi olgi ca.
Uma metfora mais apropriada poderia ser a de uma pirmide, cujos blo-
cos de construo esto em constante rearranjo. Ou, como escreveu algum,
trata-se de caminhar por um labirinto cujas paredes se rearrumam a cada passo.
A sade, neste contexto, decorre do fato de que, ao interagir com ex-
posi es ambi ent ai s, t odas as escalas de organi zao da vi da so i nst adas
a colaborar, contribuindo, portanto, de modo eficiente, para o processo bi o-
lgico em evoluo, sem que haja qualquer expectativa de ret orno em senti-
do inverso. Isto nos faz lembrar da mxi ma de Hercli t o: ni ngum pode se
banhar duas vezes no mesmo rio. Isto , mudana e i dent i dade encont ram-
se, ambas, i ncorporadas em um mesmo modelo.
A doena, em contrapartida, decorre do fato de que relaes particula-
res entre as escalas de organi zao e dent ro delas t enham sido mani puladas,
epi sodi cament e, no curso do t empo, que as relaes cruci ai s t enham sido
alt eradas, e mes mo i nvert i das, e que algumas vi as de desdobr ament o te-
nham se t ornado becos sem sada. A presena de subprocessos pat olgi cos
evitar, portanto, a suavidade e a plasticidade, aspectos que cost umam ca-
racterizar o processo de sade. Quant o mai s elevada na hi erarqui a situa-se a
ruptura, mai s relevante a adapt ao post a em peri go pela exposi o a fato-
res ambi ent ai s nocivos.
Em sntese, a sade um complexo labirinto, dotado de uma infinidade de
caminhos, amplos e estreitos, que conduzem ao ar livre. A doena pode significar
que alguns dos caminhos esto obstrudos, impedindo, assim, que se encontre uma
soluo apropriada diante das exigncias necessrias mudana. Conseqente-
mente, apenas poucos caminhos so deixados em aberto, e isto menos que timo.
MODELO ESTOCSTICO PARA
SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS
Como se pode reconhecer quant i t at i vament e um sistema complexo?
Por i nt ermdi o da model agem mas no de qualquer tipo. A model agem
estocstica leva em consi derao as no-li neari dades do sistema di nmi co (e
seu carter de escala no-usual); sistemas, nos quais vi olado o pri ncpi o de
superposi o e i ndependnci a das uni dades bsicas. Mai s uma vez, as expe-
rincias fsicas most raram que a di nmi ca ext remament e complexa na forma
de dados de freqncia de sries t emporai s, ou de distribuies i nt ervalares
- como perodos de espera, perodos de incubao, durao da hospitaliza
o etc. podem ser represent ados por leis de fora inversa. A lei de fora
descreve sistemas nos quais a compet i o ocorre entre a or dem (' randomi za
o' correlata) c a desordem (' randomi zao' complet a) em todas as escalas.
Pode ser comparada ao i nvlucro da di nmi ca complexa do sistema.
Pode-se, t ambm, calcular a di menso de aut o-si mi lari dade das for-
mas geomt ri cas euclidianas (e elaboradas pelo homem) , com i ncli naes da
lei de fora. Dadas uma forma geomt ri ca uma linha, uma superfcie ou
um cubo - e sua representao reduzida, pode-se calcular a di menso topo-
lgica por meio da funo da lei de fora. O segment o de linha, quadrado e
o cubo so sempre trs vezes menores do que suas estruturas corresponden-
tes mais ampli adas. O clculo da di menso topolgica, efetuado pela i ncli -
nao da lei de fora, pr oduz r esult ados bem conheci dos , nos quai s a
li nha ocupa um espao uni di mensi onal , a superfci e um espao bi di men-
si onal e o vol ume um espao t r i di mensi onal. i mport ant e dest acar que
a di menso r epr esent ada aqui por um nmer o i nt ei ro, por que as formas
geomt r i cas so r epr esent aes ment ai s perfei t as e no formas reais. No
mundo concr et o, os objet os t m di menses fraci onri as, isto , a por o
de espao que ocupam menor do que 3, menor do que 2, ou menor do
que 1. Por exemplo, o ' conj unt o' de Cant or no uma li nha, menor do
que uma li nha (sua di mens o fractal 0, 63). Ns, seres humanos , no
ocupamos o espao t r i di mensi onal como o senso comum poder i a sugeri r;
ocupamos , na verdade, um espao di mensi onal equivalente a 2, 25. Somos,
portanto, pouco mais do que uma superfcie. Formas com di menses fracio-
nrias so oni present es na natureza. Di zemos que so objetos fractals.
As di menses fractais podem ser calculadas para fenmenos que no
guar dam relao mui t o estreita com as formas geomt ri cas. Elas represen-
t am, portanto, sistemas sociolgicos, psi colgi cos, ecolgi cos e bi olgi cos
aut o-organi zados. o caso das distribuies de freqncia dos sinais eltri-
cos no elet rocardi ograma, da distribuio da i nt ensi dade dos t erremot os, das
distribuies de renda nas diferentes sociedades, do fluxo do rio Nilo, do uso
de palavras de diversas extenses, das flutuaes da Bolsa, da rvore brn
qui ca, da durao das hospi t ali zaes, e pode-se presumi r dos vri os
parmet ros bi olgi cos que caract eri zam os processos de sade e doena.
SIGNIFICADO BIOLGICO DOS FRACTAIS
Os processos biolgicos so presumi velment e fractais. Em cert o sen-
tido, fractais so i nvlucros que represent am globalment e pr ocessos di nmi -
cos alt ament e complexos. Um processo bi olgi co saudvel permi t e:
sintonia fina das respostas s exposi es ambi ent ai s (sintonia fina signi-
ficando o ajuste mai ori a dos fatores de risco mes mo quando o ser sus-
cetvel os desafia);
um espao-t ampo necessri o ao manej o de pr ocessos pr edi spost os a
erro (erros so previ s vei s em si st emas adapt at i vos compl exos que, s
vezes, podem funcionar no li mi t e da nor mal i dade) ;
a adapt ao (mesmo quando o sistema t em um de seus component es
avari ados, ele no se despedaa; outros component es so chamados a
contribuir, para ajudar a mant er tudo funcionando como ant es);
a aprendi zagem, de modo a que a histria passada, a gent i ca, o ambi ent e
ou qualquer outro element o seja utilizado eficientemente no esboo da
respost a mai s adequada ao ambi ent e; e
encontrar solues originais para desafios inesperados (novas solues so
possibilitadas pela disperso ilimitada da funo da lei de fora).
A doena, neste contexto, represent a qualquer i mpulso experi ment a-
do pelos element os do sistema que consegue desest abi li zar o si st ema em
algum pont o de sua escala organizacional. Isto contribuir para i nduzi r transi
es de fase, cujos efeitos at ravessam t ransversalment e mui t as escalas da
organi zao, passando ao largo de qualquer possibilidade de sintonia fina da
respost a.
Um novo tipo de equilbrio emerge. Se verdade que mui t as vezes se
obt m um rearranjo substancial da di nmi ca do equilbrio, podem emergir
di nmi cas complet ament e ' nocaut eadas' (boxed-in), atingindo-se, conseqen-
t ement e, o estgio de disfuno clnica. O desafio discriminar os processos
pat olgi cos dos saudveis. Isto talvez possa ser feito com a di menso fractal
da lei de fora.
De um pont o de vista prtico, a doena a expresso de um colapso
do processo fractal e ocorre quando a resposta adaptativa comea a se mos-
trar li mi t ada. O or gani smo no pode mai s conservar a homeost ase. Este
moment o no coi nci de apenas com o diagnstico clnico, podendo ser reco-
nheci do por uma resposta descontnua, qualitativa, aos desafios ambi ent ai s,
anterior s mani fest aes clnicas. A resposta no mais sintonizada de manei-
ra fina e se estabelece um estado de 'trancamento'. Em ltima instncia, evolui-
se segundo uma nova dinmica, que corresponde a um novo ponto de equilbrio.
Da em diante, o desafio ser tanto estabelecer como permitir que os parmetros
de controle ret ornem a um estado prvio mai s saudvel. Essa tarefa talvez
possa ser levada a cabo com base em intervenes de sintonia fina.
Finalizamos com duas predies, uma de natureza terica e outra prtica:
a teoria dos sistemas complexos adaptativos constitui uma met at eori a da
criao de i nformaes, que vai se most rar inestimvel em futuros esfor-
os de pesqui sa etiolgica; e
a teoria dos sistemas complexos adaptativos prognost i ca que o potencial
de padres e tipos de doena, tanto no nvel individual quant o no da
populao, surpreendent ement e mai or do que se pensa.
CONCLUSO
A aleat ori edade equi parada i mprevi si bi li dade. A aleat ori edade
usualment e explicada por uma infinidade de fatores i ndependent es de varia-
o e que o pesqui sador no pode domi nar. Esse pont o de vista remet e ao
paradi gma linear da causao e, habitualmente, d a entender que a aleatorie
dade e a impresivilibilidade so temporrias, isto , dependem do estado cor-
rente do conheci ment o e das tcnicas. Essa viso laplaceana da causao est
incorporada modelagem estocstica clssica. A mudana de paradi gma, an-
tes, encara a imprevisibilidade como algo inescapvel, isto , haveria um limite
intrnseco ao conhecimento. A descoberta de sistemas di nmi cos no-lineares,
com input de energia suficientemente alto para induzir caos, constitui a base do
novo paradi gma. Isso porque o caos determinstico de dimensionalidade limi-
tada pode engendrar, com base em si mesmo, uma variao similar ao acaso. A
sensibilidade s condies iniciais pode, a longo prazo, compreender resulta-
dos sem nenhuma relao bvia com os inputs. Esse o efeito Poincar (ou
'efeito borboleta' ), que ilustra como essa mecni ca no-linear encontra-se em
varincia
5
com nossos hbitos usuais de pensament o linear.
Repet i r o comport ament o de si mples equaes diferenciais (por exem-
plo, logstica) pode ajudar a ent ender as t endnci as da mudana de paradig-
ma. Um sistema simples no-linear di nmi co, que evolui por mei o de etapas
di scret as (por exemplo, uma srie t emporal de infeces) pode at ravessar
vri os tipos de di nmi ca, entre as quais o estado estvel, o ciclo limite e o
regi me catico. A di nmi ca no-linear de um processo pode ser reconst ruda
por mei o de uma pletora de tcnicas, sendo as mai s bsi cas a anlise espec-
tral e os atratores de espao de fase. Demonst rou-se que a model agem din-
mi ca no-linear de processos t emporai s pelo sistema de equao diferencial
SEI R pode, com certas li mi t aes, adequar-se a sries t emporai s de proces-
sos infecciosos reais tais como os da vari cela e sarampo. Foi i gualment e refe-
ri do que a consistncia do modelo de Sartwell, que se acredi t ou, por mui t o
t empo, resistir a qualquer i nt erpret ao linear, pode ser expli cado por pro-
cessos pat olgi cos caticos individuais.
5
O autor usa a expresso 'is at variance'e difcil traduo em nossa lngua. Optamos por traduzir no
sentido literal, ao invs de expresses habituais como "est em dissonncia", que correspondem ao
portugus corrente, mas no conservam a estranheza da construo original (N.R.T.).
ME T F ORAS PARA UMA
EP I DEMI OLOGI A ME S T I A
Luis David Castiel
Nada confere mais sentido do que mudar de sentido.
Michel Serres
Palomar
1
um "homem nervoso que vive num mundo frentico e con-
gest i onado" (Calvino, 1994:8). Ele est de p em frente ao mar e quer fazer
a "lei t ura de uma onda". Para isto, procura, em sua observao, isolar, sepa-
rar, uma onda das que lhe seguem. Mas seu i nt ent o se most r a bem mai s
compli cado, pois percebe que
no se pode observar uma onda sem levar em conta os aspectos complexos que concorrem para
form-la e aqueles tambm complexos a que essa d ensejo. Tais aspectos variam continua-
mente, decorrendo da que cada onda diferente de outra onda; mas, da mesma maneira
verdade que cada onda igual a outra onda mesmo quando no imediatamente contgua ou
sucessiva; enfim so formas e seqncias que se repetem, ainda que distribudas de modo
irregular no espao e no tempo (...). (Calvino, 1994:8)
1
Personagem de talo Calvino do livro Palomar (Calvino, 1994).
Ent o, pensa em uma estratgia: limitar seu campo de obser vao e
demarcar uma rea de dez met ros de gua e dez met ros de areia par a i nven-
tariar os fluxos das ondas que ali ocor r em em um dado per odo de tempo.
Mas as cristas das ondas que se apr oxi mam bl oquei am sua vi so do que
sucede mai s atrs, obri gando-o a rever sua rea de observao.
Ai nda assim, acredita ser possvel alcanar seu objetivo: "observar tudo o
que poderia ver de seu ponto de observao", entretanto, "sempre ocorre algu-
ma coi sa que no tinha levado em cont a" (Calvino, 1 9 9 4 : 9 ) . Por fim, di ant e
de out ras dificuldades que no cessam de aparecer, desiste.
Se Palomar tivesse condies para raciocinar epi demi ologi cament e, suas
dificuldades talvez fossem contornadas. Seu objeto de observao seria uma
' populao' de ondas. Assi m, poderia traar suas caractersticas, atributos, pro-
pri edades correspondent es e respectivas conseqnci as da exposi o a ele-
ment os climticos, meteorolgicos ou ao humana. Mas, para tal, seria ne-
cessri o mudar seu pont o de observao. Deveri a alar-se, de prefernci a
muni do de i nst rument os ticos/fotogrficos (ou, ento, telegui-los), aci ma
das ondas (em um balo, por exemplo) e observar det ermi nado recort e do
litoral. Desta forma, se a distncia do solo fosse suficientemente grande (e no
houvesse perturbaes excesso de nuvens, instrumentos descalibrados, i ns-
tabilidade do balo), as ondas at pareceriam ' paradas' , permi t i ndo, assi m,
melhor apreenso do objeto de estudo. O problema talvez fosse generali zar os
achados para outras praias ou, ento, fazer afirmaes especficas para deter-
mi nada onda. Ou, ainda, levar em conta efeitos de inesperadas alteraes das
correntes martimas (no i ncomum o fato de o fenmeno El Nino manifes-
tar-se de modos variados). Mas talvez fosse exigir demai s de uma abordagem
epi demi olgi ca litornea. . .
INTRODUO
O ttulo deste trabalho est i nt enci onalment e calcado no soberbo en-
saio pot i co do filsofo francs Mi chel Serres, Le Tiers lnstruit ( 1 9 9 1 ) . Tal
expresso, rica em possibilidades de significao, no foi bem t raduzi da em
lngua portuguesa. Tiers significa ' mest i o' , ' mi st urado' ; ' out ro' , ' est ranho' ,
' t ercei ro' , ' t ero' . Na edi o brasi lei ra, a obra se chama Filosofia Mestia.
Tiers-Instruit pode significar ' mest i o i nst rudo' , como i ndi ca a t raduo par a
o port ugus, ou ento, ' terceiro instrudo' , como aparece na edi o brasileira
de outra obra de Serres (1990), O Contrato Natural.
Al m disto, Serres faz t ambm um jogo de palavras, no qual i nt roduz a
crtica ao post ulado lgi co referente ao ' t ercei ro exclu do' , em relao ao
qual, medi ant e especial processo de aprendi zagem (i nst ruo), seria poss-
vel ' i nclu-lo' . Assi m, seria vi vel a ult rapassagem da bi nari edade li mi t ada
da lgica da i dent i dade,
2
ao permi t i r o acesso a ' outro lugar' , ' t ercei ro' , ' mes-
tio' . Isto no significa que se deva abandonar tal lgica, mas si m di mensi o-
nar as caract erst i cas de f echament o/ aber t ur a do pr obl ema em est udo
3
e
verificar se o seu empr ego procede. Nest e sentido, h desenvolvi ment os de
out ras lgi cas, como as infralgicas e as paraconsi st ent es. Em ambas, for-
maes, concei t os e noes ment ai s se encadei am de tal modo que a ' exati-
do' de um element o carrei a a pressuposi o de exatido para os seguintes.
Embor a possam ser consi derados ' falsos' luz do raciocnio lgico, tais pro-
cessos de conexes na conscincia servem para interligar det ermi nados concei-
tos, propi ci ando uma suposi o de verdade, limitada, com certeza, porm,
operativa (Moles, 1995). Tais lgicas oper am com uma semnt i ca diferente,
de modo que, nestas ci rcunst nci as, a idia de negao se di st i ngue da nega-
o clssica. Por exemplo, a denegao em um cont ext o psi canalt i co pode
se configurar como uma negao paraconsi st ent e (Costa, 1985).
Mas volt emos obra de Serres. A, abordada a insistncia dos sabe
res oci dent ai s em atingir, com base na lgi ca conjunt i st a/i dent i t ri a, uma
razo purificada, na procura do conheci ment o perfeito i nalcanlvel, diga-
2
Cabe lembrar que a lgica formal se baseia em trs princpios inseparveis: o da identidade - todo o
objeto idntico a si mesmo, ou seja, impossvel existir e no existir ao mesmo tempo e com a
mesma relao; o da contradio - entre duas proposies contraditrias, na qual uma a negao
da outra, uma delas falsa, ou seja, impossvel um mesmo atributo pertencer e no pertencer ao
mesmo sujeito ao mesmo tempo e com a mesma relao; o do terceiro excludo: toda proposio
possuidora de significado falsa ou verdadeira - de duas proposies contraditrias, uma delas deve
ser verdadeira (Costa, 1985; Morin, 1991). O princpio do terceiro excludo vale para os casos bem
delimitveis - tal ser vivo animal ou vegetal. H situaes, porm, em que esta clareza no
possvel, uma vez que existem espcies que no permitem a classificao zoolgica ou botnica
(Morin, 1991).
3
As condi es de fechamento de um sistema dependem de duas premi ssas. Para que os meca-
ni smos operem de modo consistente, no deve haver vari ao intrnseca na quali dade do
objeto com papel causal. Para que os resultados sejam regulares, a relao entre os mecani s-
mos causais e os mecani smos extrnsecos dos fatores intervenientes operao ou aos efeitos
deve ser constante (Santos, 1989).
se de passagem. Porm, tal pri ori zao resultou no fato de os afast ament os
dest a coernci a serem encarados como deslocament os para fora da razo, do
mundo, da realidade.
A ri gor, o mot or dest a busca no se pr ende a prion ao pr opsi t o de
conhecer , mas, si m, ao i mpul so de cont r ol ar e, por ext enso, de domi nar .
A l gi ca i dent i t r i a no se di spe compr eens o do compl exo e da vi da,
mas i nt eli gi bi li dade pr agmt i ca, que, segundo Mor i n (1991:168-169):
Corresponde s nossas necessidades prticas de ultrapassar o incerto e o ambguo,
para produzir um diagnstico claro, preciso, sem equvoco. Ela corresponde, mesmo custa de
alterar a natureza dos problemas, s nossas necessidades fundamentais de separar o verdadeiro
do falso, de opor a afirmao negao. A sua inteligibilidade repele a confuso e o caos. Por
isso, esta lgica praticamente e intelectualmente necessria. Mas ela fraqueja justamente
quando a complexidade s pode ser apagada custa de uma mutilao do conhecimento ou do
pensamento. De fato, a lgica dedutiva-identitria corresponde, no s nossas necessidades de
compreenso, mas s nossas necessidades instrumentais e manipuladoras, quer se trate da
manipulao dos conceitos, quer da manipulao dos objetos.
Pode-se cogi t ar que a pr i mazi a da lgi ca i dent i t ri a e da razo nos
assunt os humanos esteja relaci onada nossa pulso de est abelecer nexos e
expli caes racionais ao caos circundante. Como um modo de sustentar iden-
tidades e estabilizar relaes no propsi t o de conhecer um uni verso que, a
rigor, s per mi t e i nt erpret aes que surjam de nossa finita capaci dade de
compr eenso e de produzi r representaes. Uma sugestiva expli cao a este
respeito foi formulada por Samaja (1994). Para este autor, a supremaci a da
lgica conjuntista est li gada aos efeitos de prticas sociais uni versai s funda-
ment adas em processos de ' desacoplament o do mundo da vi da comuni t ri a'
como requisito para o apareci ment o da relaes societais que especificam a
soci edade civil. Em outros t ermos, o representante pragmt i co de tal lgi ca
o mercado, constitudo por um conjunto de i ndi v duos que mant m rela-
es externas (quantificveis) entre si, t endo por base uma "prxi s cont rat u-
alista i nt eri ndi vi dual".
Cont udo, por mai s que as cincias, em geral, se esforcem par a susten-
tar o seu projeto de mani pulao/ cont r ole, e, que, par a tanto, soli ci t em um
ri goroso ' controle de quali dade' em sua propost a de preci so ou seja, evi-
tar distores, eliminar impurezas, impedir ' cont ami naes' (Serres, 1993) - ,
as insuficincias se i nsi nuam aqui e ali, de forma mai s ou menos explcita.
Em outras palavras, evidente o pri mado da preci so na i deologi a cientfi-
ca. Como se bast asse "medi r para domi nar, conhecer para fazer e explicar
para comprender, sofrendo dentro dest a conqui st a de um conheci ment o
que i ncont est vel a mi r agem da pr eci so" (Moles, 1995:23).
Talvez a fora da ci nci a se basei e j ust ament e na r ennci a a vi ver
entre as coisas do mundo da vi da e optar por mani pul-las. Mas da resulta a
sua fraqueza, poi s distancia o cientista de seus produt os e das repercusses
correspondent es no mundo. Se, at pouco tempo, tal problemt i ca no apre-
sent ava mai ores pr oblemas, nos dias de hoje, diante dos di lemas gerados
pelas bi ot ecnoci nci as, esta situao vai se t ornando i nsust ent vel. evi-
dente a const at ao de no haver solues ni cas nem plenament e satisfat-
ri as, com as quai s somos obri gados a lidar, com ganhos e perdas si mult neos
de difcil avali ao.
preciso, por m, avaliar os efeitos da excluso do mundo da vi da
(como se referem os fenomenologi st as) subjacente aos empr eendi ment os ci-
entficos. E, sob esta tica, em t ermos mai s especficos, como considerar a
noo de experi nci a humana, tal como Varela et al. (1992) enunci am em
relao s cincias cogni t i vas? Em sntese, nossa ment e apresent a-se cons-
t ant ement e ocupada por ' t urbi lhes' i mpreci sos que mescl am i di as, pensa-
ment os, afetos, sent i ment os, emoes, teorias, opi ni es, preconcei t os e, ade-
mai s, por juzos acerca dos element os ant eri ores e por juzos sobre estes
juzos. Vale salientar que tanto analogi as como metforas funcionam, utili-
zando uma met f or a, como f er r ament as par a li dar com a exper i nci a
(Ki rmayer, 1992), seja na di menso auto-referida, seja com t udo que nos
cerca. Assi m, elas ensejam, sobretudo, a compreenso do present e, do mo-
ment o que se est vi vendo (Maffesoli, 1988), em t ermos no soment e relati-
vos li nguagem, mas t ambm ao pensament o e ao.
No entanto, no campo cientfico cont emporneo, em geral, e no t erre-
no das bi oci nci as, em part i cular (alm das di sci pli nas cogni t i vi st as), so
percept vei s as i ncompat i bi li dades entre cincia e experi nci a humana. "No
mundo atual, a cincia to domi nant e que lhe out or gamos aut ori dade para
explicar ai nda que negue o mai s i medi at o e direto: nossa experi nci a coti-
di ana e i medi at a" (Varela et al. , 1992).
Do pont o de vista da sade, as repercusses da chamada experi nci a
humana nos processos de adoeci ment o (e cura) no podem ser negli genci a-
das. Este trabalho, valendo-se da lgi ca da identidade, analisa a epi demi olo
gia como uma disciplina que procura explicar os padres populaci onai s de
sade/ doena, operando, em grande medi da, com i nst rument al estatstico.
Para isso, deve-se partir das seguintes premi ssas, entre out ras:
os result ados obtidos com base em amost ras (medi das de t endnci a cen-
tral e de di sperso) seriam element os pert i nent es ao i ndi vduo, quando, a
rigor, so inerentes s amost ras (Samaja, 1994); e
os comport ament os i ndi vi duai s vari am ao redor de tipos consi derados
' padr es' ou ' normai s' , de modo que os t rat ament os estatsticos possam
isol-los e defini-los.
Eventualmente, acatar tais premissas no chega a invalidar programas de
pesquisa diversificados. Porm, torna-se insatisfatrio em situaes nas quais o
contexto hipercomplexo, e as variveis interatuam entre si de modo no-linear
e os fatos, por exemplo, so entendidos como histricos (Granger, 1994).
preciso destacar, ainda, a cont i ngnci a de que a epi demi ologi a, em
nome do rigor quantitativo, abre mo de abordar a vari edade dos modos das
pessoas levar em a vi da. Est e aspecto foi assi nalado por uma ant roploga
ameri cana com larga experi nci a em estudar os significados lei gos de doen-
as infecciosas no Nordest e brasileiro (Nations, 1986). Em outras palavras,
a epi demi ologi a necessita justificar-se em t ermos de sua eficcia sociocultu
ral no mundo da vi da, seja na vertente predomi nant e, dita ' moderna' , que
tende a enfocar o mundo sob o pont o de vista da nat urali zao, seja na pro-
post a denomi nada ' crtica' , que se prope a estudar o adoeci ment o sob a
tica da socializao, isto , dos processos sci o-polt i co-econmi cos relaci-
onados hegemoni a de gr upos e dos respectivos conflitos de poder no inte-
rior dos modelos capitalistas neoliberais.
Apesar de no pertencerem ao terreno epidemiolgico j consagrado, cabe,
ainda, incluir as abordagens do campo da antropologia da sade que se voltam,
entre outros aspectos, para as anlises discursivas e das representaes sociais
relativas ao adoecer humano. Na verdade, diante da proliferao de objetos h-
bridos, como enuncia Latour (1994), cada um destes nveis de anlise se mostra
insuficiente per se para abarcar as questes de sade contemporneas.
Nest e trabalho, discute-se o papel e a funo das elaboraes met af-
ri cas, consi deradas por alguns aut ores como ' i mpurezas' nos di scursos da
cincia, em det ermi nados nveis do campo cientfico, em geral, e do epi de-
mi olgi co, em particular. Trata-se de delimitar o papel epi st emolgi co dest es
t ropos, situar elaboraes metafricas no interior da prpri a epi demi ologi a
e, sob esta tica, cogi t ar out ras vi as concei t uai s capazes de proporci onar
agenci ament os investigativos mai s efetivos para est udar o adoecer humano.
METFORA
O vocbulo met fora t em uso relat i vament e trivial. Serve para desig-
nar, na l ngua grega, o processo e, por extenso, os mei os de t ransport e de
carga (Ferrater Mora, 1986). No pret endendo entrar em mai ores aprofunda-
ment os, refere-se, em sua di menso li ngst i ca, a doi s t er mos e relao
entre eles. O pri mei ro t er mo denomi nado ' tpico' , o segundo Ve culo' , e a
relao que se est abelece ent re eles ' campo' .
4
Por exemplo: "o sanitarista
(tpico) um mdi co de papel (ve culo)". O campo estaria referido idia
preconcei t uosa de um profissional de sade de valor discutvel (h um duplo
sentido ao sugerir que eqivaleria a papel) que no trata de paci ent es, mas,
sim, lida com pesqui sas, relatrios, artigos etc. (em suma, papel).
Em t er mos lingsticos, consi deram-se trs concepes de met fora
que podem se superpor si mult aneament e: substitutiva, comparat i va e inte-
rativa (Rivano, 1986). A pri mei ra pode ser ilustrada pela subst i t ui o direta
de um t er mo metafrico por um literal ("a AI DS uma mal di o" no lugar de
"a AI DS surgiu para cast i gar a humani dade") . No segundo caso, t eramos uma
conot ao de carter analgico: "a AI DS como se fosse uma mal di o".
Quant o di menso interativa da metfora, ao enunci armos "a AI DS uma
maldi o", t emos a possi bi li dade de perceber dois pont os de vi st a interrela
ci onados: a existncia de uma doena humana consunt i va e letal; um ' agent e
que desencadei a' a enfermi dade que at uari a deste modo por razes suposta-
ment e malvolas ou punitivas.
Neste ponto, importante assinalar as tentativas de cUstinguir analogia de
metfora. Para Kirmayer (1993), a primeira diz respeito apenas aos aspectos
cognitivos da relao, nos quais prevalece a similaridade. A segunda t ambm
incorpora aspectos afetivos e sensorials, bem como suas interaes (Kirmayer,
4
Esta a definio proposta por Richards, em 1936, ainda consagrada por grande parte dos lingistas
(cf. Corra, 1986)
1993). Assi m, as metforas no se resumem dimenso verbal. Podem ser per
ceptivas ou vinculadas a domni os no-verbais. So facilmente lembradas as
transposies que as crianas fazem ao substituir o significado de determinados
objetos por outros (um graveto por um 'foguete', por exemplo, ou mesmo, segun-
do a psicanlise, um carretei pela ausncia da me). Deste modo, a linguagem
metafrica no pode ser julgada em termos das categorias Verdadeiro' ou 'falso',
mas sim aliada por sua eficcia, sua capacidade de ensejar encami nhament os
originais nas propostas de representao da 'realidade' (White, 1994).
Por sua vez, no campo filosfico,
5
h autores que sugerem no haver
discurso sobre a metfora que no se enuncie em uma cadeia conceituai, pro-
duzi da metaforicamente em si (Ricoeur, 1983). No obstante, preciso enfa-
tizar que a metfora pode ser encarada como algo mais do que uma simples
figura de retrica, cujas origens remont ari am a um estgio mental pr (ou anti)
cientfico (voltaremos a este aspecto). Na medi da em que permi t e cogitar al-
guma coisa em t ermos de outra (Lakoff & Johnson, 1980), ela seria o meca-
ni smo fundamental do processo de criao e inveno. Portanto, a metfora
no consiste, to-somente, no mapeament o de uma idia em termos de outra
possibilidade analgica. Para Derrida, "a metfora seria o prpri o homem"
(1991:287). Nesta perspectiva, cabe indagar se o conheci ment o humano esta-
ria inapelavelmente dependente de construes metafricas: Que pensar se: a)
o que podemos perceber de nosso si-mesmo nossa prpria metfora; b) so-
mos nossa prpria epistemologia; c) nosso mundo interior esta epistemolo-
gia, nosso mi crocosmo; e d) nosso mi crocosmo uma metfora apropriada do
macrocosmo? (Bateson, 1994: 296).
Se acei t armos que concei t os metafricos ori ent am e est rut uram nos-
sas percepes, movi ment os e relaes com o mundo, pode-se dizer que a
experi nci a humana, em sua i nt erao com a realidade, ocorre medi ant e um
sistema concei t uai que est est rut urado e opera, em grande medi da, met afo-
ri cament e (Lakoff & Johnson, 1980).
Est e pont o de vi st a, com base em evi dnci as li ngst i cas em que a
met fora se dest aca, serve para quest i onar o mi t o do objet i vi smo no co-
nheci ment o, isto , a premi ssa de que o mundo est compost o por diversos
5
Uma detalhada discusso filosfica sobre a metfora foi desenvolvida por Ricoeur (1983) e Derrida
( 1991) .
objetos com propri edades inerentes e relaes estveis entre si. Lakoff & John-
son argumentam que a filosofia objetvista no consegue explicar satisfatoria-
mente como entendemos nossa experincia, nossas manifestaes mentais, nos-
sa linguagem. Para eles, uma explicao adequada demanda:
ver os objetos apenas como entidades relativas a nossas interaes com o mundo e com nossas
projees sobre ele; considerar aspropriedades como propriedades interacionais mais do que
inerentes; - considerar as categorias como gestalts experienciais definidas por meio de
prottipos em vez de consider-las rigidamente fixadas e definidas segundo a teoria dos
conjuntos. (Lakoff & Johnson, 1980:254)
Em contrapartida, h, nos dias de hoje, autores que suger em a perda
progressi va do vi gor metafrico em t odos os domni os. Isto ocorreri a em
funo do processo de confuso e i nt erpenet rao pelo qual passam as disci-
plinas, que perderi am, assi m, seu carter especfico. Desse modo, nenhum
di scurso poderi a constituir-se metfora do outro, diante do apagament o da
diferena dos campos e dos objetos. Enfim, um processo de ' cont ami nao'
gener ali zada, ger ando redes e ci rcui t os homogenei zados , sem alt eri dade,
condi o bsi ca para a ecloso metafrica (Baudrillard, 1990).
Mes mo aceitando a existncia deste processo, ainda assim discutvel sua
radicalidade, podendo-se t ambm cogitar que, em um sistema aparentemente
homogneo, sua organizao complexa pode gerar alteridades locais, suficientes
para dar margem a diferenas e permitir novas possibilidades de carter meta-
frico. dest a or dem a metfora do hi pert ext o,
6
com base nos avanos da
i nformt i ca nas denomi nadas t ecnologi as intelectuais (Lvy, 1993).
6
Em termos tcnicos, o hipertexto consiste em um programa computacional no qual h um conjunto
de ns vinculados por conexes. Os ns podem ser palavras, pginas, imagens, grficos, sons,
documentos complexos. Foi concebido para ser manipulado e transformado em interaes com
usurio (s) envolvendo um banco de dados original. o ambiente virtual do hipertexto que propor-
ciona o ' meio' que viabiliza a interao destes usurios. Os exemplos mais conhecidos so as
extensas obras editadas em CD-ROM, como dicionrios e enciclopdias (Lvy, 1993).
METFORA PRODUO DE CONHECIMENTO
Em pri mei ro lugar, preciso sublinhar que tais figuras de li nguagem
cost umam ser vi nculadas ao discurso do senso comum. Mes mo no mbi t o
filosfico, h controvrsias que remont am Ant i gi dade em relao ao seu
emprego. Veja-se, por exemplo, a freqncia com que Plato fazia uso da
li nguagem figurada, diferentemente de Ari st t eles, que chegou, i nclusi ve a
desenvolver uma das pri mei ras teorias sobre a nat ureza da met fora (Ferra
ter Mor a, 1986). No toa que so t ambm chamadas figuras de ret ri ca
7
no sentido mesmo de ' arte da eloqnci a' com vistas ar gument ao per
suasiva, prpri a ao confuso mundo dos desejos e pai xes humanas e i nade-
quada ' objet i vi dade' cientfica.
Uma das premi ssas i deolgi cas do paradi gma da cincia moder na (e da
epi demi ologi a moder na) , chamada cientismo, sustenta que, alm da pri ma-
zia da sua propost a de conheci ment o, "os fatos falam por si e (...) os mt o-
dos s so cientficos se puder em ser utilizados i mpessoal ment e" (Sant os,
1989:102). O par adi gma da cincia moderna, em sua busca de objetividade e
rigor tcnico na qual a subjetividade surge como algo perturbador da ordem e
dos bons costumes metodolgicos, precisando, portanto, ser controlada gera
um discurso destitudo de figuras de retrica, literariamente pobre, sem encanto.
E, pior, deslocado dos di scursos que percorrem a soci edade (Sant os, 1989),
(mal)ditos como pert encent es ao senso comum e vulgar.
Mes mo assi m, filsofos como Bachelard (1972) encaram o empr ego
de i magens, analogi as e metforas como desvi os i mpedi t i vos ao acesso do
conheci ment o objetivo, ainda que ele mes mo faa uso delas em seus escri-
t os.
8
Enfim,
Se as cincias desconfiaram oficialmente da analogia, tambm a praticaram clandes-
tinamente. Muitos cientistas utilizaram o raciocnio por analogias para construir tipologias,
elaborar homologias, e at induzir leis gerais (...). H at grandes deslocaes tericas que se
efetuaram por analogia. (Morin, 1987:136)
7
Para uma relevante discusso sobre a retrica na cincia, ver Santos, (1989).
8
Ver diversas passagens a esse respeito em Bachelard (1968).
A rigor, o uso das metforas na cincia, em funo de suas possibilida-
des inventivas e i novadoras, tem sido recuperado por autores respeitveis,
originrios dos domnios tanto das cincias fsicas como das sociais.
9
A este
respeito, Samaja destaca a importncia da abduo (desenvolvida por Peirce),
que, mediante analogias e metforas, funciona como mt odo alternativo in-
duo c deduo como proposio lgica de investigao (Samaja, 1993).
1 0
Em uma perspectiva similar, i mport ant e dest acar as idias da cor-
rente epi st emolgi ca conheci da por realismo, na qual
as teorias (...) desenvolvem-se por analogia a partir de compreenses j estabelecidas. Os
discursos cientficos e seus campos conceituais (...) crescem por meio de uma extenso meta-
frica (ou metonmica) na construo dos conceitos (...). ( Al mei da Filho, 1993:18)
Ademai s, experi ment os com base na psi cologi a cogni t i va geraram a
hiptese do raciocnio humano cotidiano fazer uso reduzi do da lgica for-
mal. possvel que os indivduos const ruam modelos ment ai s das circuns-
tncias vividas ou dos objetos que se apresent am como alvos de suas elabo-
raes psqui cas e, com base nestas produes i magi nri as, explorem as vi-
cissitudes envolvi das (Lvy
7
, 1993).
preciso destacar a existncia de uma conexo entre mt odos quali-
tativos e acei t ao da relevnci a da li nguagem metafrica, di ferent ement e
do que cost uma ocorrer nas disciplinas emi nent ement e quant i t at i vas, como
o caso da epi demi ologi a. A este respeito oport uno o coment ri o de San-
tos (1989:16):
Enquant o a quantidade distancia sujeito e objeto e a qualidade os aproxima, a
linguagem tcnica separa teoria dos fatos e a linguagem metafrica aproxima-os. Os mtodos
qualitativos tendem a suscitar uma linguagem metafrica e, conjuntamente, produzem um
conhecimento cientfico de perfil diferente daquele que se obtm com mtodos quantitativos e
linguagem tcnica.
9
Res pect i vament e: Bo hm & Peat ( 1989) e Bat es on (s. d. ), por exempl o. Um de s e nvol vi me nt o mai s
det al hado acer ca do uso de met f or as e anal ogi as e m m t odos de model i zao si st mi ca pode ser
vi st o em Mol e s , ( 1 995 ) .
10
Na me s ma li nha de r aci oc ni o, o concei t o de r et r oduo foi cr i ado para referi r-se "expl or ao
exaust i va de anal ogi as , es t abel ecendo a posteriori mode l os met af r i cos e me t o n mi c o s " que si r vam
a bor da ge m r eal i st a-t r anscendent al das est r ut ur as ci ent fi cas (cf. Al mei da- Fi l ho, 1 993) .
A li nguagem tcnica t em uma funo essencial quando separa da cin-
cia o senso comum. Todavi a, a li nguagem metafrica fundament al na ul
t rapassagem tanto de um quant o de outro na produo de um saber prt i co
efetivo. i mport ant e averiguar o efeito das pesqui sas epi demi olgi cas e seus
result ados em t ermos de proposi es de risco. Trata-se, em out ras palavras,
de saber como so apreendi dos os produt os da cincia epi demi olgi ca pela
soci edade, caracterizada pelo senso comum (e suas met foras), seja no nvel
particular das interaes clnicas, seja medi ant e a difuso global de i nforma-
es, por i nt ermdi o de mensagens e i nformaes lei gas e oficiais vei cula-
das pelos mei os de comuni cao de massa.
A EPIDEMIOLOGIA SUAS METFORAS
Se par t i r mos da noo de ' pest e' e seus derivativos, central fundao
e demar cao da disciplina epi demi olgi ca, percebe-se que ela carreia, jun-
to aos significados originrios de pr opagao e contgio, aluses met afri cas
de ' i nfeli ci dade' , ' dest rui o' , ' ru na' , ' mor t e' (Tei xei ra, 1 993) . Por out r o
l ado, em t er mos epi st mi cos, consi der vel a i nf lunci a das met f or as
or i undas, pr i nci pal ment e, da bi ologi a no campo epi demi olgi co, o que pode
ser verificado, por exemplo, ao ' t ransformar' o coletivo em um ' cor po' social
(Ayres, 1994).
Em relao vi nculao entre epi demi ologi a e lgi ca da i dent i dade,
Almei da Filho (1994) descreve trs grandes metforas sobre a causali dade
em epi demi ologi a, relativas, a saber, idia de event o como algo demarca-
do, circunscrito como tal, que se destaca da i ndi st i no; noo de nexo, no
sentido de associ ao, conexo entre eventos e, t ambm, de at ri bui o de
sentido; concepo de fluxo, com o significado de deslocament o em rela-
o det ermi nada uni dade cronolgica, no interior de uma represent ao
t emporal linear.
Ent r et ant o, apesar de no expli ci t adas na mai or i a dos compndi os
epi demi ol gi cos , as met f or as causai s mai s dest acadas na epi demi ol ogi a
angl o- s axni ca r ef er em-se, em pr i mei r o lugar , i di a das cadei as de cau
sao, vi gent e at os anos 60 ( Macmahon, Pugh & I psen, 1 960) . At est a
poca, o obj et o pr i mor di al de est udo da epi demi ol ogi a ai nda er am as
doenas i nf ect o- cont agi osas. Nest e caso, a t eori a mi cr obi ana per mi t i a
tal conf i gur ao, ao const i t ui r o agent e et i olgi co como o lt i mo elo (su-
ficiente) de uma sucesso de si t uaes cuja cul mi nnci a era o adoecer.
A partir da obra semi nal de Macmahon, Pugh & Ipsen (1960), foi
elaborada a i magem da teia causal. A, criticado o model o ant eri or por
no levar em cont a as ori gens complexas de cada um dos elos e pelo modo
como as det er mi naes dos diferentes fatores podem se superpor, ger ando
mlt i plas associ aes, diretas e i ndi ret as enfim, a mult i causali dade. As-
si m, a teia consi st i ri a em uma malha de fios, com suas i nt ersees repre-
sent ando desfechos ou fatores de risco especfi cos e os prpri os fios os
trajetos causai s (Kri eger, 1994). Esta parece ser, ai nda, a met fora domi -
nant e no campo concei t uai da epi demi ologi a dos fatores de risco.
Ent ret ant o, di ant e da i mpossi bi l i dade de est abelecer as conf i gur a-
es r elat i vas aos mecani s mos de det er mi nao et i ol gi ca, ut i li za-se a
conheci da met f or a da cai xa pret a. Isto , o des conheci ment o dos meca-
ni smos de causao no seria necessr i o par a est abelecer nexos causai s
ent re os fatores com seus cor r espondent es ri scos. A pr opsi t o, a ' epi de-
mi ol ogi a da cai xa pr et a' (ou dos fatores de ri sco) foi foco de um recent e
debat e acer ca da val i dez de seus achados; se er am ou no dependent es
da concor dnci a com est udos de out ros campos das bi oci nci as (Pearce,
1990; Savi t z, 1994; Skr abanek, 1994) . A ' f ut i l i dade' da ' epi demi ol ogi a
da cai xa pr et a' foi defendi da por Skr abanek ( 1994) , dando como exem-
plo a ausnci a de evi dnci as concl usi vas dos est udos sobre os efei t os do
cons umo de caf cm r elao a di ver sos ri scos de adoecer ( doena cor o-
nari ana, cncer de bexi ga, pncr eas, seio, clon, reto e ovr i o) , ao l ongo
de trinta anos de pesqui sa.
Em t er mos mai s espec fi cos, apar ecem out ros usos met af r i cos no
di scur so epi demi ol gi co referent e prpri a cat egor i a ' r i sco' . Consi der e-
se, por exempl o, o fato de no ser cost umei r o o empr ego das desi gna-
es ' gr a nde / pe que no' , ' l ar go/ es t r ei t o' ou me s mo ' mui t o/ pouc o' para
i ndi car as caract er st i cas do ri sco, conf or me sua quant i fi cao. Na ver-
dade, os adjet i vos ut i li zados nest as ci r cunst nci as est o vi ncul ados i di a
de ver t i cal i dade: ' al t o/ bai xo ri sco' . Est es adjet i vos se basei am no con-
cei t o met afri co, comum a out r os concei t os ci ent fi cos, de que mai s
em ci ma e menos embai xo, cal cado na r epr esent ao vi sual dos aspec
t os quant i t at i vos em quest o, sob o pont o de vi st a de um ' empi l hamen
t o' ( como se apr esent a em det er mi nados grfi cos).
1 1
A constituio do concei t o de risco como uma met fora ont olgi ca,
ou seja, na condi o de ent i dade detentora de substncia, ai nda mai s rele-
vant e. Isto percept vel nos di scursos pr escr i t i vos/pr event i vos da educa-
o em sade, ao estabelecer as possvei s conseqnci as da exposi o aos
diversos fatores, situaes e comport ament os ditos de risco. Ao substanciar-
se, o risco pode ser objetivizado, identificado em t ermos de causas que, por
sua vez, podem ser decompost as em part i es. Esta operao d mar gem a
respectivas quantificaes e ao eventual est abeleci ment o de nexos.
Cont udo, ao se expor a fatores de risco, muitas vezes sob um supost o
cont role raci onal daquele que se expe, o risco passa a ter a capaci dade
prot ei forme de se mat eri ali zar sob sua forma nociva, que pode ser denomi -
nada ' agravo' , numa operao semnt i ca equi valent e, na verdade, a que de-
signa ' doena' em sua acepo metafrica ontolgica. Nest e caso, por m, os
riscos ' exi st i ri am' , por um lado, como potenciais invasores de cor pos (corpos
est ranhos?) sub-reptcios, mas, por outro, a ambi nci a met afri ca dest e ' mun-
do' virtual e fantasmtico dos riscos poderi a adquirir vi si bi li dade (e, port an-
to, concret ude) nos result ados de exames laboratoriais indicativos dos graus
de exposi o a fatores de risco, por exemplo, taxas elevadas do colesterol
(rui m) ou, mai s moder nament e, nas sofisticadas t est agens genticas.
O 'SENSO COMUM' EPIDEMIOLGICO
A este respeito, vamos enfocar, especi alment e, as represent aes so-
ciais sobre a percepo do risco. Podemos caracteriz-las, a princpio, como
formas de conheci ment o de i mpli caes prticas, includas no interior das
vert ent es que est udam o senso comum, em busca da superao da ' retrica
1 1
Este conceito metafrico orientacional foi delineado por Lakoff & Johnson (1980). Os autores
esclarecem que sua formulao, tal como apresentada, limitada, pois no assinala a inseparabilida
de das metforas de suas respectivas bases experienciais. Estas, por sua vez, podem variar mesmo
em outras metforas relativas verticalidade. No caso de "sade e vida acima, doena e morte
embaixo", por exemplo, a base experiential parece ser a posio corporal que acompanha estes
estados/condies.
da ver dade' embut i da no di scurso da cincia moder na (Spink, 1993). i m-
port ant e not ar que as met foras podem desempenhar aqui seu papel de ' char
neira' , pois, alm de servi rem como suport e si mbli co elaborado com base
no sujeito, podem assumi r di menses colet i vament e compart i lhadas para a
comuni cao e a i nt erpret ao do mundo.
Nest e sentido, i mport ant e consi derar o empr ego abusi vo de met fo-
ras na comuni cao entre cientistas e o pbli co, medi ada pelos mei os de
comuni cao de massa. Isto part i cularment e flagrante nas di scusses so-
bre os efeitos das mani pulaes gent i cas sobre a humani dade. Assi m, ca-
bem trs pergunt as a respei t o dest a relao: o que se pode aprender dos
esforos dos geneticistas para moldar a i magem pbli ca de tais mani pula-
es (especi alment e no que se refere ao projeto Genoma) ? As i magens pro-
duzi das pelos geneticistas i nformam ao pbli co com exat i do e sem i mpro
pri edades? Como estas i magens so apreendi das? (Nelkin, 1994). Em geral,
h uma proliferao de significaes atribudas aos gens, em especi al, aque-
les que envolvem det ermi ni smos bi olgi cos a definio de i dent i dades (e
respect i vos julgament os de quali dade) e o est abeleci ment o de t raos com
port ament ai s. H gens egost as, hedoni st as, cri mi nai s, homossexuai s, depres-
sivos, condut ores ao pecado, geni ali dade. Em suma, os gens servi ri am para
expl i car as di f er enas huma na s e t ant o j ust i f i c-las quant o pr edi z- l as
(Nelki n, 1994) .
No campo do risco, post ul a-se a exi st nci a de uma ' epi demi ol ogi a
l ei ga' ( Davi son et al. , 1991) . Como i lust r ao, uma pes qui s a r eal i zada no
Pa s de Gal es na qual se consi der ou a i di a de ' candi dat ur a' doena
cor onar i ana ( DC) , i st o , qual er a a per cepo popul ar dos at r i but os,
condi es e compor t ament os das pessoas de modo a t or n-las ' candi da-
t as ' ao i nf or t ni o de desenvol ver DC. O est udo pr eocupava- s e em veri fi -
car os efei t os de pr ogr amas de educao em sade par a cont r ol e de DC.
Es t avam em ques t o os papi s da di mens o i ndi vi dual e da soci al na
et i ologi a e di st r i bui o da enf er mi dade, l evando em cont a a compl exi da-
de do fato de mui t os compor t ament os par t i cul ar es est ar em i mbr i cados
no t er r eno cult ur al ( Davi son et al. , 1 991 ) . A i di a de ' candi dat ur a' DC
admi t i a quat r o usos di ferent es:
expli cao ret rospect i va do adoecer / mor t e de out rem por DC;
predi o do adoecer / mor t e de out rem por DC;
expli cao retrospectiva do prpri o adoecer por DC;
avali ao do prpri o risco de adoecer / mor r er por DC.
Em t er mos gerais, os ' candi dat os' DC eram os gordos, sedentrios,
de rost o avermelhado, com t om de pele pli do-aci nzent ado, fumantes, com
casos de DC na famlia, bebedores ' pesados' , com dieta rica em gordura,
ansi osos (por nat ur eza), mal -humor ados (ou pessi mi st as ou negat i vi st as),
estressados (ou com vi da desregrada). Uma das concluses da i nvest i gao
foi most rar o reconheci ment o da falibilidade do sistema de ' candi dat ura co
ronariana' . Const at ou-se a existncia de i ndi vduos que preenchi am di versos
requi si t os para DC e no adoeci am, ao passo que out ros, apar ent ement e
saudveis e cui dadosos, chegavam a morrer pela enfermi dade (Davi son et
al. , 1991, 1992), gerando o coment ri o do tipo "quem diria. . . ".
Estas ' di st ores' eram i ncludas em um sistema expli cat i vo co-exi s
tente, de cart er fatalista, opost o i di a de cont role prot et or cont ra DC
medi ant e a escolha de estilos de vi da mai s salutares. Os campos nos quai s a
percepo de ausnci a de controle apresentava-se de forma mai s pronunci a-
da eram aqueles que envolvi am diferenas pessoai s entre i ndi v duos (heredi
tariedade, educao, caractersticas prpri as), ambi ent e social (posses e di s-
poni bi li dade de recursos, exposi o a risco e danos vi culados ocupao,
solido) e ambi ent e fsico (como clima, peri gos naturais, polui o ambi en-
t al). Todos subsumi dos a um aspecto mai or que dizia respeito sorte, ao
acaso, ao destino, fatalidade, vont ade divina etc. Nessas ci rcunst nci as,
nada mai s poderi a ser feito se por acaso Deus decidisse a fazer chamado'
ou se "a hora da pessoa tivesse chegado..." (Davison et al., 1992). Como, em
geral, os efeitos da exposi o a supostos riscos no cost umam ser freqen-
tes, i medi at os e certos, so compreens vei s as resistncias de algumas pes-
soas em aderi rem ao di scurso prevent i vo/profi lt i co.
Out r os est udos i ngleses apont ar am o di st anci ament o dos aspect os
envolvendo sade em relao s preocupaes de cada um em seus cotidia-
nos. Isto sugere discrepncias entre o di scurso racional sobre sade e o com-
por t ament o (ou estilo de vi da) a pri ncpi o, passvel de ser i nfluenci ado
medi ant e prticas de educao em sade e os dom ni os da vi da pri vada,
que devem ser ent endi dos em relao ao cont ext o pessoal e cultural mai s
amplo (Calnan & Wi lli ams, 1991).
Todavia, no absurdo supor em um quadro simultneo de precarieda-
de da qualidade dos servios de sade (em termos de acessibilidade, eqidade,
cobertura, disponibilidade, efetividade, eficincia, resolutividade etc.) e de ex-
posio a agravos mltiplos, como acontece em uma formao socioeconmica
como a nossa que as preocupaes dos grupos sociais em relao sua sade
devam ser distintas daquelas encontradas em outros contextos.
De qualquer manei ra, o papel da confi gurao sociocultural pode ser
de difcil di mensi onament o no processo de ext rapolao dos achados de um
est udo epi demi olgi co sobre fatores de risco. Por exemplo, a abor dagem dos
graves pr oblemas como aqueles que envolvem a possvel conexo entre uso
de drogas, mai or di sponi bi li dade a relaes sexuais e, uma vez estas ocorren-
do, a event ual utilizao de prticas sexuais seguras.
Segundo alguns pesquisadores, o comportamento de usurios de drogas
no pode ser explicado apenas pelo conhecimento da farmacologia das substan-
cias empregadas ou da suposta 'desinibio' provocada por elas. Temos a uma
complexa resultante da interao de farmacocintica, caractersticas psicolgi-
cas pessoais, expectativas comportamentais compartilhadas no dia-a-dia, situa-
o socioeconmica e contexto cultural (Rhodes & Stimson, 1994).
Neste caso, a pesquisa epidemiolgica produziu indicadores de comporta-
mento sexual de risco em usurios de drogas, mas parece limitada para explicar a
dinmica desta relao. De acordo com Rhodes & Stimson (1994: 222):
A inadequao da pesquisa epidemiolgica convencional para gerar dados sobre a
interao entre expectativas individuais, comportamento individual de risco e relaes sociais,
demanda uma reorientao da prtica epidemiolgica atual rumo a uma epidemiologia social
do uso de drogas e do comportamento sexual de risco como parte de um paradigma de pesquisa
social designado para investigar as relaes sociais e o contexto social do uso, conhecimento,
percepes e comportamentos relativos a drogas.
Cabe i ndagar sobre a capaci dade da epi demi ologi a de fazer suas afir-
maes de risco diante do pr oblema das i nt eraes entre represent aes co-
letivas e i ndi vi duai s em relao a quest es cruci ai s que envolvem o adoecer
e o morrer. preci so salientar que no se trata to soment e de apurar mt o-
dos par a lidar com o fenmeno de i nt erao na pesqui sa epi demi olgi ca,
1 2
1 2
Por sinal, h o reconhecimento, mesmo neste nvel de preocupao, da limitao dos mtodos para
chegar a concluses definitivas sobre efeitos sinergsticos ou antagonistas em relao aos efeitos
conjuntos de dois fatores de risco (cf. Thompson, 1991).
mas si m de t ransformar pressupost os da prpri a pesqui sa populaci onal em
sade. Nessas ci rcunst nci as, a abor dagem epi demi olgi ca deve mudar sua
nfase em i ndi vduos (ou outras uni dades at omi zadas) para ' uni dades glo-
bai s' , fruto de i nt eraes das partes, anali t i cament e concei t uali zadas por mei o
do ent endi ment o da est rut ura de rede social e de subcult ura ( Rhodes &
St i mson, 1994), com suas respectivas represent aes.
EPIDEMIOLOGIA DAS METFORAS?
possvel conceber os produt os do esprito humano como pert encen-
tes a um det er mi nado universo, que seria constitudo por signos, s mbolos,
i magens, crenas, mi t os, si st emas de i di as, relativos a det er mi nados esta-
dos, si t uaes, acont eci ment os, fenmenos, problemas. As s i m, funci onam
como medi adores i mpresci ndvei s nas t ransaes dos homens entre si e com
o mundo circunjacente. Conforme Mor i n (1991), desde Tei lhard de Chardi n,
este dom ni o teria a denomi nao de noosfera. Seria, na verdade, um campo
possvel de articulao entre o i ndi vduo (psicosfera) e a soci edade (socios
fera). Dest e modo, tanto o cr ebr o/ ment e como a cultura pr oduzem, organi -
zam, condi ci onam e rest ri ngem a noosfera, que, por sua vez, em efeito recur
sivo, atua da mes ma forma sobre ambos. Seri a possvel deli near doi s gr andes
gr upos relat i vament e estveis de entes noosfri cos:
1 3
os i magt i cos, que compr eendem seres de aparnci a cosmo-bi oant ropo
mrfica, fantsticos ou no (que povoam mi t os e reli gi es);
os logomorfos, sistemas de idias que habi t am dout ri nas, t eori as, filoso-
fias (Mori n, 1991).
Como exemplo, cabe mencionar a reconhecida suscetibilidade da mente
humana a desvarios, loucuras, psicoses. Nestas circunstncias, observam-se, res-
pectivamente, alucinaes e delrios como sintomas psicolgicos da proliferao
desenfreada de entidades da noosfera, com prejuzos (ou seja, alm do conside-
rado 'habitual') da capacidade de delimitao da dita realidade.
1 3
possvel cogitar, ainda, em outras entidades espirituais, como as referidas aos afetos, sentimentos,
emoes, mas que no pertenceriam noosfera, reino das elaboraes mentais intelectivas.
Tem havi do tentativas de est abelecer nexos ent re o pont o de vista
epi demi olgi co e a di menso psicolgica relacionada esfera societria. O
exemplo mais evidente a relao entre a epi demi a de AIDS e ' epi demi as
psi cossoci ai s' de sentimentos correspondent es, como medo, ansi edade, afli-
o, suspeita (Strong, 1990). Ao mesmo tempo, isto t ambm reflete uma
epi demi a de significaes (Treichler, 1987) para lidar, para alm da di men-
so de cont agi osi dade fisiopatognica, com a ameaa constituda pelos efei-
tos carreados pela AIDS sobre as represent aes sociais que envolvem t emas
candent es como mort e e sexualidade.
A este respeito, um texto de Sperber (1985), consi derado clssico na
literatura ant ropolgi ca francesa, sugere um diferencial do poder de difuso
de algumas represent aes culturais comparat i vament e a outras, a exemplo
de certas doenas infecto-contagiosas. O autor, no entanto, chama ateno
para o fato de os modelos epi demi olgi cos deli nearem a t ransmi sso de do-
enas est vei s ou com vari aes li mi t adas e previ s vei s, ao passo que as
represent aes t endem a variar cada vez que so transmitidas.
Uma epi demi ologi a das representaes consistiria, antes de tudo, em
um estudo dessas transformaes. No se trata, porm, de aplicar modelos
epi demi olgi cos de anlise s representaes. Na verdade, est em relevo na
analogia a correspondnci a entre as interaes a) clnica mdi ca/ epi demi o
logia e b) psi cologi a/epi demi ologi a das represent aes (Sperber, 1985). Ou
seja, mlt i plas problemt i cas si mult neas: individual x colet i vo na relao
entre ' numeradores' com ' denomi nadores' e orgni co x psicossocial (ou na-
tural x cultural) na relao entre a) e b). Temos, ento, dois nveis de obser-
vao em uma epi demi ologi a das represent aes: o nvel ' i ndi vi dual' das
represent aes ment ai s, singulares aos i ndi vduos, e o ' colet i vo' das repre-
sentaes sociais. Conforme a viso de Sperber (1985:86),
Uma epidemiologia das representaes um estudo das cadeias causais nas quais estas
representaes mentais (RM) epblicas (RP) esto envolvidas: a construo ou recuperao
de RM pode levar indivduos a modificarem seus ambientes fsicos, por exemplo para produzi-
rem uma RP. Estas modificaes ambientais pode levar outros indivduos a construrem suas
prprias RMs; tais novas RMs podem se armazenadas e depois recuperadas, e, por sua vez,
levar indivduos que as apreenderam a modificar o ambiente e, assim por diante.
Import a, t ambm, salientar os processos geradores das di st ri bui es
de representaes. Assi m, "uma cultura (...) seria definida menos por uma
certa distribuio de i di as, de enunci ados e de i magens em uma populao
humana do que pela forma de gesto social do conheci ment o que ger ou esta
di st r i bui o" (Lvy, 1993).
Na verdade, esto em jogo transies e interrelaes complexas entre
fronteiras geradas pela denomi nada era moderna. Na base destas di cot omi
as, cada vez menos ntidas sujeito e objeto,
1 4
singular e universal, mental e
material, valor e fato, privado e pblico, natural e social encontra-se a grande
ruptura ontolgica homem e natureza (Santos, 1989). No entanto, as biotecno
cincias chegaram para subverter as prpri as disjunes que cri aram as con-
di es de possi bi li dade de sua ori gem, desenvolvi ment o e evoluo.
Por conseguinte, pensar uma epi demi ologi a que t ranscenda as frontei-
ras das propost as investigativas habituais significa, preli mi narment e, cogitar
formas de abor dagem de interfaces em que ocorrem relaes recprocas en-
tre instncias diferentes e complexas que no podem mai s ser concebi das
separadament e, localment e. Em out ras palavras, i mpli ca a necessi dade de
medi ao si mult nea entre l ocal / gl obal e nat ural/soci al.
Um desenvolvi ment o i mport ant e a este respeito est present e na idia
de objeto hbri do, elaborada por Lat our (1994). Para ele, no mai s poss vel
mant er a ciso nat ureza versus cultura diante da proliferao de tais objetos
(ou quase objet os), mi st os de ambos, amlgamas nat urezas-cult uras. A pr-
pria et i mologi a de ' hbri do' encerra algumas curi osi dades. Provm do gr ego
hybris, com os significados de tudo que excede a medi da, excesso; orgulho,
i nsolnci a, ardor excessivo, i mpet uosi dade, exalt ao; ultraje, insulto, inj-
ria, sevcia; vi olnci as contra a mulher ou a criana. Pelo latim hybrida, serve
para desi gnar o produt o do cruzament o de porca com javali, o filho de pais
de diferentes regies ou de condi es diversas (Machado, 1956).
Seri am objetos hbridos o buraco de oznio e as repercusses quant o
legislao que probe o uso de CFCs na industrializao de propelent es, as
mani pulaes gent i cas e seus desdobrament os ticos e polt i cos, as di scus-
ses sobre o reivindicaes de gr upos ativistas gays pelo acesso ao AZT. Na
1 4
Nestas circunstncias, a linguagem (e, por extenso, a capacidade metaforizante) participaria tanto
do sujeito, uma vez que nos constitutiva, como do objeto, em funo de seu teor socialmente
compartilhado (Lvy, 1993).
rea epi demi ol gi ca, um bom exempl o seri am as i nfeces emer gent es
(Institute of Medi ci ne, 1992), resultantes de processos desencadeados pelo
prpri o homem, entre as quais os surtos de doena dos legi onri os, provoca-
da por uma bactria que se alberga em dutos de grandes sistemas de condi-
ci onament o de ar. Mas o exemplo mais i mpressi onant e constitudo pelos
xenotransplantes. Com base em mani pulaes gent i cas, est uda-se a viabi-
lidade de serem gerados sunos transgnicos com a capaci dade de evitar as
reaes de rejeio i munolgi ca, caso seus rgos sejam t ransplant ados para
humanos (Concar, 1994). A escolha deste mamfero prendeu-se ao fato de
ser um ani mal domst i co cujos rgos tm di menso compat vel com os
humanos. Nada mais adequado do que a desi gnao ' hbri do' para o objeto
resultante deste transplante.
Podemos afirmar, ento, que os objetos hbridos (quase-objetos, qua
se-sujeitos) refletem e produzem mltiplas redes. Nest e sentido, a rede de
prticas e de i nst rument os, de document os e t radues pode ser vista como
o agenci ament o i nt ermedi ri o entre tais nveis. E, ao nosso ver, a instncia
metafrica poderia ser includa nesta condio. Mas, mesmo que no seja,
serve para proporci onar outras metforas para pensarmos este mundo mes-
tio, resultante destes emaranhados reticularcs.
Mes mo i ncorrendo no risco de uma simplificao grossei ra ou, o que
t alvez seja pior, de uma obvi edade, pode-se dizer, em snt ese, que tanto
nossos organi smos quant o nossas sociedades confi guram-se em sistemas al-
t ament e di nmi cos, constitudos por redes de interaes e modulaes rec-
procas i nt r a/ ent r e i nst nci as psi co-neuro-i muno-endcri nas e ci rcunst n-
cias psico-socioculturais (como difcil definir o local exato para o ' psi co' ,
opt amos por localiz-lo em ambos nveis).
Uma t ent at i va preliminar de representar tais sistemas sugerida por
Krieger (1994), ao utilizar uma estrutura fractal que consiste em uma seqncia
de bifurcaes infinitas que assinalam a auto-similaridade nas mltiplas escalas.
Desta forma, em cada nvel, seria possvel incluir det ermi naes pert encen-
tes tanto aos domni os biolgicos como culturais (Krieger, 1994).
Out ra metfora possvel seria i magi nar um denso e emaranhado man-
gue, sem a harmoni a da figura fractal sugeri da por esta autora. A, os ele-
ment os de um conjunto de seres vi vos const i t uem, com sua conduta, mlti-
plos nvei s de organi zao e i nt erao que, ao at uar em (para eles) como
' mei o ambi ent e' , demar cam as formas de vi da viveis neste contexto, bem
como seus modos de adoecer e perecer. Exi st em numa deriva compart i lha-
da, em ' acoplament o estrutural' , vi nculados a sua part i ci pao em tal rede
de i nt eraes (Maturana, 1993). No entanto, esta met fora ai nda no satis-
fatria, pois os ' manguezai s humanos' so bem mai s complexos e mut ant es,
em t er mos de indivduos, t empos e lugares. Os humanos t m, por exemplo,
a capaci dade de pert encerem si mult aneament e a distintos ni chos ecolgi co-
culturais, com diferentes padres de conduta. E, mai s i mport ant e ainda, o
mecani smo bsi co de i nt erao nos sistemas sociais humanos a li nguagem.
E, a, como vi mos, a met afori zao ocupa lugar de dest aque.
EPIDEMIOLOGIA CONTEXTUAL?
Est udos ant ropolgi cos vm di scut i ndo a efetividade dos pr ogr amas
de educao em relao a HI V/ AI DS, dirigidos em nvel da responsabi li dade
pessoal quant o a condut as que levassem reduo do risco. Tai s programas,
porm, dei xam de lado aspectos li gados di menso interativa do risco, ou
seja, o fato de as relaes com os ' out ros' e seus aspectos sociais e simbli-
cos deverem, t ambm, ser levados em considerao. A sugest o ao uso de
preservativos pode insinuar significados de promiscuidade, degenerao moral,
cont ami nao (da serem, usados, t ambm, com vi st as pr ot eo cont ra
doenas venreas) i ncompat vei s com relaes sexuais baseadas na con-
fiana no parceiro. Isto t ender a ser vi st o como srio empeci lho poss vel
propost a de i nt i mi dade vei culada por relaes sexuais (Sibthorpe, 1992).
Levando em conta a i mport nci a das di menses i nt erpessoai s, um re-
cente desenvolvi ment o em tcnicas de i nvest i gao no campo epi demi ol
gi co se prope a abordar nveis de anlise para alm de uni dades i ndi vi dua-
lizadas. As denomi nadas abordagens scio-histricas de redes vm est udan-
do, just ament e, a epi demi a de H I V/ A I D S . So trs as probabi li dades:
estar infectado pelo HIV;
assumi r comport ament os de risco; e
tais comport ament os de risco levarem infeco.
As abordagens de preveno ao HI V podem ser encaradas como de-
pendent es de est rut uras e processos histricos e sociais referidos a escalas
mai s amplas de observao, conforme j foi menci onado. Tai s fatores exer-
cem efeitos sobre a epi demi a medi ant e suas influncias sobre as formas de
i nt erao pessoal, tanto em t ermos sexuais quant o nas prt i cas de compart i -
lhament o de seringas (Fri edman et al. , 1994).
Port ant o, element os per t encent es a outras escalas de or gani zao afe-
t am as r edes soci ai s e, por sua vez t ambm i nt erferem nas r edes de ri sco
em que ci r culam os agent es pat ogni cos de di versas doenas sexualment e
t r ans mi s s vei s . Re de s s oci ai s s er i am r el aes que i nf l ue nc i a m i di as ,
nor mas e condut as. Redes de ri sco consi st i ri am em compor t ament os e ma-
t eri ai s de t r ansf er nci a ( ser i ngas compar t i l hadas des cui dadament e, por
exempl o) pass vei s de t ransmi t i r o HIV. Como seri a pr esum vel , ambas
podem apresent ar reas de superposi o.
As i nformaes para configurar as redes podem ser obt i das por mei o
de quest i onri os pessoai s que i ndagam sobre dados soci odemogrfi cos e
biogrficos, comport ament os sexuais e uso de drogas, histria clnica, cren-
as em relao sade, papis sociais na cultura da droga, nor mas de convvio
entre pares. As redes so montadas pela indicao de parceiros e companheiros
(at dez pessoas, com as quais mantiveram contatos no-casuais e/ ou comporta-
mentos de risco, nos trinta ltimos di as), alm de outras i nformaes sobre seus
comport ament os de risco, tanto isolada como conjuntamente.
Os i ndi v duos so consi derados Vi nculados' , caso um ou ambos te-
nham referido injeo conjunta de drogas, relaes sexuais entre si, ou outra
i nt erao no-casual. Tais vi nculaes so vali dadas por cont at os pessoai s
com ent revi st adores, por observao etnogrfica e pelo par eament o de ca-
ract erst i cas i dent i fi cadas.
Mes mo assi m, h li mi t aes nos dados, decorrent es de sub-registro, da
i mpossi bi li dade de serem obtidas amost ras aleatrias destas populaes, das
restries ori undas das tcnicas analticas, das modi fi caes das redes dian-
te da ' ant i gi dade' da epi demi a (15 anos em Nova York), alm de inviabili-
zar a deli mi t ao do sentido da infeco. De qualquer forma, t emos indiv-
duos, com det ermi nados padres de exposi o infeco, de acordo com
seus compor t ament os de risco (um nvel de anli se), que so agrupados con-
forme as redes interativas que estabelecem (outro nvel). Est es pr ocedi men-
tos vm revelando novas di menses no est udo e na preveno da epi demi a
(Fri edman et al. , 1994).
i mport ant e ressaltar como a pesqui sa populacional em sade vem se
desenvolvendo no intuito de incorporar tcnicas sofisticadas de modelagem
com abordagens qualitativas. As estratgias investigativas hbri das, consti-
tudas por desenhos qualitativos ani nhados no interior do aparato met odol-
gico quantitativo, esto-se tornando mai s freqentes. Por exemplo, em uma
propost a de est udo experi ment al de eficcia de uma vaci na cont ra HI V/
AI DS, inclui-se uma abordagem soci ocomport ament al qualitativa, medi ant e
histria de vi da e gr upos focais (Carvalheiro et al., 1994).
Alm disto, perceptvel a progressiva difuso das tcnicas qualitativas
na investigao em sade, mesmo nos pases ditos perifricos (Yach, 1992), que
vo alm dos estudos caracteristicamente definidos como pertencentes aos do-
mnios da chamada antropologia mdica. O trabalho de Atkinson (1993) sobre a
avaliao leiga da assistncia pr-natal em um estado do Nordeste brasileiro
exemplar a esse respeito. Convm enfatizar que o uso das denominadas tcnicas
qualitativas de avaliao rpida em sade tem dado margem a controvrsias
devido aparente dissociao entre mtodo c teoria antropolgica e, tambm,
pela proposio de pessoal sem formao em antropologia efetuarem investiga-
es de carter qualitativo, ainda que ' rpidas' (Coimbra Jr., 1993).
Out ros desenvolvi ment os met odolgi cos esto relaci onados aparente
reabilitao dos denomi nados estudos ecolgicos na pesquisa populaci onal
em sade. Nest a circunstncia, as unidades de anlise seriam referidas a gru-
pos (vari vei s agr egadas), ao i nvs de est arem relaci onadas a caractersti-
cas / at r i but os / pr opr i edades i dent i fi cadas de modo especi fi cado (vari vei s
i ndi vi duai s). H distintos tipos de estudos ecolgi cos explorat ri os, com-
parativos entre diversos gr upos, de tendncia temporal e mi st os (Mor gens-
tern, 1982) , cujo potencial, alcance e fontes de vi eses vm sendo revela-
dos em trabalhos recent es.
1 5
Nesta perspectiva, pode-se pensar que um enca-
mi nhament o possvel para a epi demi ologi a seria dedicar-se com mai or nfa-
se a tais est udos como forma de contextualizar seu Objeto populaci onal' ,
15
Sc hwa r t z ( 1994) faz uma i nt er essant e a bor da ge m sobr e os concei t os de val i dade i nt er na e val i dade
de cons t r ut o e as r espect i vas ut i l i zaes na a bor da ge m da falci a ecol gi ca ou cross-level bias vi s
r el at i vo s ci r cunst nci as de li dar s i mul t aneament e c om var i vei s agr egadas e i ndi vi duai s, l i s t e pode
cont er doi s aspect os: vi s de agr egao - r esul t ant e do agr upament o de i ndi v duos e de especi f i ca-
o or i undo da exi st nci a de var i vei s de conf uso por i nt er mdi o dos gr upos ( Mor gens t er n,
1982) . A concei t ual i zao anal t i ca de var i vei s pr pr i as a gr upos (i nt egrai s e cont ext uai s ) pode ser
vi st a e m Sus s er ( 1994a; 1 994 b) , e Koopma n & Longi ni Jr . ( 1 994 ) .
evi t ando transitar por nveis distintos de organi zao com suas margens de
vi eses e erros. Assi m, consi derando as caractersticas de li neari dade ou no
do si st ema est udado, inferncias preditivas feitas com base e m populaes
per manecer i am vli das para populaes, em relao, por exemplo, a novos
casos esperados no decorrer do tempo. J inferncias generali zadoras corres-
pondent es ext rapolao sobre i ndi vduos ou populaes no equi valent es
dari am mar gem a previ ses logi cament e discutveis, passvei s de equvocos.
Nest e ponto, cabe destacar as tipificaes problemt i cas da cat egori a
' popul ao' em suas elaboraes concei t uai s e operaci onai s com base na
idia de ' amost ras represent at i vas' , essenciais para a epi demi ologi a moder-
na. Como most rou Samaja (1993, 1994), h li mi t aes nos procedi ment os
inferenciais a envolvidos. Para este autor, preciso avanar para estabele-
cer uni dades de anlise ' espao-populaci onai s genu nas' , correspondent es a
det ermi nados agrupament os populaci onai s reuni dos por critrios, tais como
a proxi mi dade geogrfica, as caractersticas de seus v nculos comuni t r i os/
econmi cos, a di nmi ca sociocultural local e t c , ou seja, element os que re-
present em, com mai s legi t i mi dade, os complexos constituintes de uma dada
formao social. Sob esta tica, desenvolvi do o conceito de ' populao-
sentinela' , uni dade populaci onal m ni ma, demarcada por mei o da juno de
component es populaci onai s que t m em comum os seguintes traos: identi-
dade tipolgica (definida com base em variveis est rut urai s referentes, por
exemplo, a situaes de carter geogrfico, demogrfi co, econmi co, biolgi-
co, educaci onal e relat i va aos servi os de sade); i dent i dades territorial e
cultural; e capaci dade de interagir em processos decisrios. Tai s populaes
poder o ser acompanhadas medi ant e o uso de vari vei s i mport ant es para a
moni t orao de seus processos bi olgi cos, psi colgi cos, econmi cos, ecol-
gi cos (Samaja, 1994).
Em que pese a i ndi scut vel ori gi nali dade e a elabor ada const r uo
terica e conceituai subjacente a esta proposta, preciso avaliar se, uma vez de-
marcada a populao-sentinela, as variveis de monitorao dos referidos proces-
sos ainda poderiam ser insuficientes para o fim a que se propem. Em outros
termos, quais sero os referenciais de anlise destas variveis? Especialmente quanto
aos processos psicolgicos, qual ser a pertinncia terica e metodolgica de tais
variveis e respectivos indicadores? De qualquer modo, o modelo sugerido avana
ao problematizar o aparentemente bem estabelecido Objeto populacional' da
epi demi ologi a e sugerir encami nhament os que podem ser promi ssores.
COMENTRIOS FINAIS
Vi ve mo s em uma poc a em que a bi ot e c noc i nc i a es t ge r a n d o
pr of unda s al t er aes nas de l i mi t a e s di s c i pl i na r e s e u m e s ga r a me n
t o das c a t e gor i a s em di f er ent es dom ni os , e s pe c i a l me nt e a que l e s que
d e ma r c a m o nat ur al , o s oci al e o di s cur s i vo. Conf or me af i r ma Es c o-
bar ( 1 994 : 2 1 7) :
As fronteiras entre natureza e cultura, entre organismo e mquina so incessante-
mente redefinidas conforme fatores histricos complexos, nos quais discursos de cincia e
tecnologia desempenham um papel decisivo (...). 'Corpos', 'organismos'e 'comunidades'tm,
portanto, de ser reteorizados como compostos de elementos que se originam em trs diferentes
domnios com fronteiras permeveis: o orgnico, o tcnico (ou tecnoeconmico), e o textual
(ou, em termos mais gerais, culturais).
Vai -se t or nando cada vez mai s difcil no assumi r os ' r u dos' que
' at r apal ham' nossas pesqui sas quant i t at i vas como i nerent es enor me com-
pl exi dade da reali dade. Se o pr eo par a evi t -los i mpli ca pr ocedi ment os
que si gni fi quem li mi t ao das possi bi li dades de conhecer, deve-se, t alvez,
modi fi car o sent i do de nossa post ura de ri gor cientfico e buscar a posi t i va
o do est at ut o das anomal i as,
1 6
hi bri di smos e i mperfei es e i nclu -las em
out r as const r ues de conheci ment o, capazes de pr opor ci onar pr t i cas
menos i nsat i sfat ri as como as vi gent es, result ant es, em part e, das crenas
na exi st nci a de fundament os raci onai s sli dos que sust ent em o empr een-
di ment o bi ot ecno-ci ent fi co.
i mpor t ant e consi der ar ser i ament e a possi bi l i dade da t r adi o
qua nt i t a t i va das c i nc i a s di t as na t ur a i s , e m ge r a l , e da e pi d e mi o l o -
gi a, e m par t i cul ar , de a pr e s e nt a r s i nai s de de s ga s t e em s uas pr opos -
t as de pr oduz i r c onhe c i me nt o. s i nt omt i c a a pr e oc upa o de u m
1 6
O conceito de anomalia aparece em Kuhn (1970). Seu significado considerado ambguo, pois se,
por um lado, sua percepo pode configurar-se em elemento propulsor de mudanas paradigmti-
cas, por outro, por estar relacionada atividade do pesquisador, a anomalia pode, antes de tudo,
representar uma questo especfica envolvendo mais sua habilidade e capacidade tcnica do que um
desafio aos paradigmas vigentes. H autores, como Palcios (1994, que sugerem quatro padres de
resposta s anomalias: indiferena, rejeio, acomodao, oportunismo.
r e c onhe c i do ma t e mt i c o, Ren Tho m ( 1 995 ) ,
1 7
em e l a bor a r um saber
que a bor de di me ns e s qual i t at i vas e suas e s pe c i f i c i da de s , conf i gur a-
do em sua t eor i a das cat s t r of es que, segundo ele, teria a capaci dade de
fazer previ ses qualitativas.
Enfim, a especulao acerca das possibilidades de i ncorporar os agen-
tes provocadorcs de pert urbaes aos nossos esquemas cientficos, de modo
a gerar outra(s) racionalidade(s) epi demi olgi ca(s) e outra(s) relao(es) (in-
clusive metafricas) entre sujeito e objeto, no constitui um exerccio dile-
tante e incuo. Dest a forma as ' i mpurezas' no adqui rem i nevi t avelment e o
i ncmodo significado de ' confundi ment o' . Talvez, admi t i ndo mest i agens,
seja possvel alcanar outro pat amar de compreenso e de i nt erveno sobre
o adoecer humano.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA FILHO, N. Ns, ps-kuhnianos esclarecidos ...(epistemologia, pragma-
tismo e realismo cientfico). Caderno CDH, 18:138-156, 1993.
ALMEIDA FILHO, N. Caos e causa em epidemiologia. In: LIMA, . F. F. &
S OUS A, R. P. (Orgs.) Qualidade de Vida: compromisso histrico da epidemiologia. Belo Ho-
rizonte: Coopmed/Abrasco, 1994.
ATKINSON, S. J. Anthropology in research on the quality of health services. Cader-
nos de Sade Pblica. 9(3):283-299, 1993.
AYRES, J. R. C. M. Epidemiologia sem nmeros: outras reflexes sobre a cincia
epidemiolgica, a propsito da Aids. In: PARKER, R. & GALVO, J. (Orgs.) Anais
do Seminrio A Epidemiologia Social da Aids. Rio de Janeiro: IMS-Uerj/Abia, 1994.
BACHELARD, G. O Novo Esprito Cientfico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1968.
BACHELARD, G. La Formation delEspritu Cientfico. Buenos Aires: Siglo XXI, 1972.
BATESON, G. Una Onidad Sagrada: pasos hacia una ecologia de la mente. Barcelona:
Gedisa, 1994.
17
Uma mat emt i ca ' qual i t at i va' no ut i li zari a medi das de gr andeza. As r el aes ent r e as var i vei s so
ml t i pl as e seu conj unt o ger a est r ut ur as es t udadas pel os mat emt i cos que de s c r e ve m suas pr opr i e-
dades f or mai s ( Gr anger , 1 994 ) .
BATESON, G. Natureza e Esprito. Lisboa: D. Quixote, s.d.
BAUDRILLARD, J. A Transparncia do Mal: ensaio sobre os fenmenos extremos. Campi-
nas: Papitus, 1990.
BOHM, D. & PEAT, F. D. Cincia, Orem e Criatividade. Lisboa: Gradiva, 1989.
CALNAN, M. & WILLIAMS, S. Style of life and the salience of health: an
exploratory study of health related practices in households from differing socio-
economic circumstances. Sociology of Health and Illness, 13(4):506-529,1991.
CALVINO, I. Palomar. So Paulo: Companhia das Letras, 1994.
CARVALHEIRO, J. R. & GRUPO TCNICO PERMANENTE. Vacina contra
HIV/Aids: estudo de factibilidade em uma coorte de homossexuais: o caso de So
Paulo. In: IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SADE COLETIVA. Recife:
Caderno de Resumos, jun. 1994.
COIMBRA JR. , C. A. Resenha sobre Rapid Asse ssme nt Me thods for the Control of
Tropical Dise ase s. In: VLASSOFF, C & TANNER, M. (Ed.) He alth Policy and Planning,
1 (1):1-96. The London School of Hygiene and Tropical Medicine. (Cade rnos de Sade
Pblica. 9(3):398-340, 1992.
CONCAR, D. 1994. The organ factory of the future? New Scientist, 18 de junho de
1994.
CORRE A, M. C. Q. Razes cognitivas da metfora, 1986. Dissertao de Mestrado, Rio
de Janeiro: Pontifcia Universidade Catlica.
COSTA, N. C. A. Psicanlise e lgica. Reviro 3: Revista da Prtica Freudiana, 3:74-93,
1985.
DAVISON, C; FRANKEL, S. & SMITH, G. D. The limits of lifestyle: reassessing
'fatalism' in the popular culture of illness prevention. Social Science and Medicine, 34:675-
685, 1992.
DAVISON, C; SMITH, G. D. & FRANKEL, S. Lay epi demi ology and the
prevention paradox: the implications of coronary candidacy for health education.
Sociology of Health and Illness, 13(1):1-19, 1991.
DERRIDA, J. Margens da Filosofia. Campinas: Papirus, 1991.
ESCOBAR, A. Welcome to Cyberia: notes on the anthropology of cyberculture.
Current Anthropology, 1 35(3):211-231, 1994.
FERRATER MORA, J. Dictionario de Filosofia. Madrid: Alianza Ed., 1986.
FRIEDMAN, S. R. et al. Network and sociohistorical approaches to the HIV
epidemic among drug injectors. In: Conferncia 'Biopsychosocial aspects of Aids'.
Brighton, England, 1994.
GRANGER, G. G. A Cincia e as Cincias. So Paulo: Ed. Unesp, 1994.
INSTITUTE OF MEDICINE. Emerging Infections. Microbial threats to health in the
United States. Washington: National Academy Press,1992.
KIRMAYER, L J . The body's insistence on meaning metaphor as presentation and
representation in illness experience. Medical Anthropology Quarterly, 6(4):323-346,1992.
KIRMAYER, L. J. Healing and the invention of metaphor: the effectiveness of
symbols revisited. Culture, Medicine andPnchiatry, 17:161-195,1993.
KOOPMAN, J. S. & LONGINI JR. , I. M. The ecological effects of individual
exposures and nonlinear disease dynamics in populations. American Journal of Public
Health, 84(5):836-842, 1994.
KRIEGER, N. Epidemiology and the web of causation: has anyone seen the
spider? Social Science and Medicine, 39(7):887-903, 1994.
DEN KROODE, H.; OOSTERWIJK, M. & STEVERINK, N. Three conflicts as
a result of causal attributions. Social Science and Medicine, 28(1):93-97,1989.
KUHN, . A Estrutura das Revolues Cientificas. So Paulo: Perspectiva, 1970.
LAKOFF, G & JOHNSON, M. Metforas de la Vida Cotidiana. Madrid: Ctedra, 1980.
LATOUR, . Jamais Fomos Mode rnos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
LEVY, P. As Te cnologias da Inteligncia: o futuro do pensamento na era da informtica. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1993.
MACHADO, J. P. Dicionrio Etimolgico da Ungua Portuguesa. Lisboa: Confluncia, 1956.
MACMAHON, B.; PUGH, F. & IPSEN, J. Epide miologic Me thods. Boston: Little
Brown & Co, 1960.
MAFFESOLI, . O Conhe cime nto Comum. So Paulo: Brasiliense, 1988.
MATURANA, H. Desde la Biologia a la Psicologia. Vina del Mar, Chile: Synthesis
Ed., 1993.
MOLES, A. As Cincias do Impreciso. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1995.
MORGENSTERN, H. Uses of ecologic analysis in epidemiologic research.
American Journal of Public Health, 72:1336-1344,1982.
MORIN, . O Mtodo HI. Oconhecimento do conhecimento Lisboa: Publ. Europa-Amrica, 1987.
MORIN, . O Mtodo IV. As idias: a sua natureza, vida, habitat e organizao. Lisboa:
Publ. Europa-Amrica, 1991.
NATIONS, . . Epidemiological research on infectious disease: quantitative rigor
or rigormortis? Insights from ethnomedicine. In: JANES, C. R.; STALL, R. &
GIFFORD, S. M. Anthropology and Epide miology: inte rdisciplinary approache s to the study of
he alth and dise ase . Boston: D. Reidel Publ. Co., 1986.
NELKIN, D. Promotional metaphors and their popular appeal. Public Understanding
of Science, 3:25-31, 1994.
PALCIOS, . O programa forte da sociologia do conhecimento e o princpio da
causalidade. In: PORTOCARRERO, V. (Org.) Filosofia, Histria e Sociologia das Cinci-
as: abordagens contemporneas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.
PEARCE, N. White swans, black ravens, and lame ducks: necessary and sufficient
causes in epidemiology. Epidemiology, 1(1):47-50,1990.
RHODES, T. & STIMSON, G. V. What is the relationship between drug taking and
sexual risk? Social relations and social research. Sociology of Health and Illness, 16(2):209-
228, 1994.
RICOEUR, P. A Metfora Viva Porto: Rs Editora, 1983.
Rl VAN O, J. Perspectivas sobre a Metfora. Santiago de Chile: Ed. Universitria, 1986.
SAMAJA, J. Epistemologay Metodologia: elementos para una teoria de la investigation cientifica.
Buenos Aires: Eudeba, 1993.
SAMAJA, J. Vigilncia epidemiolgica de los ambientes en que se desarrollan los
procesos de la reproducin social, 1994. (cpia reprogrfica).
SANTOS, B. S. Introduo a uma Cincia Ps-Moderna. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1989.
SAVITZ, D. A. In defense of black box epidemiology. Epidemiology, 5(5):550-552,
1994.
SCHWARTZ, S. The fallacy of the ecological fallacy: the potential misuse of a
concept and the consequences. American Journal of Public Health, 84(5):819-824,1994.
SERRES, . O Contrato Natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
SERRES, M. Filosofia Mestia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
SIBTHORPE, B. The social construction of sexual relationships as a determinant of
HIV risk perception and condom use among injection drug users. Medical Anthropo-
logy Quarterly, 6(3):255-270, 1992.
SKRABANEK, P. The emptiness of the black box. Epidemiology, 5(5):553-555,1994.
SPERBER, D. Ant hropology and psychology: towards an epi demi ology of
representations. Man, 20(1):73-89,1985.
SPINK, M. J. P. O conceito de representao social na abordagem psicossocial.
Cadernos de Sade Pblica. 9(3):300-308, 1993.
STRONG, Epidemic psychology: a model. Sociology of He alth and Illne ss, 12(3):
249-259, 1990.
SUSSER, M. The logic in ecological: I. The logic of analysis. Ame rican Journal of Public
He alth, 84(5):825-829,1994.
SUSSER, M. The logic in ecological: II. The logic of design. American journal of Public
Health, 84(5):830-835,1994.
TEIXEIRA, R. R. Epidemia e cultura: Aids e mundo securitrio, 1993. Dissertao
de Mestrado, So Paulo: Universidade de So Paulo.
THOM, R. 1995. O enigma do predador esfomeado. Entrevista concedida ao Le
Monde. Folha de S. Paulo, So Paulo, 5 mar. 1995,
THOMPSON, W. D. Effect modification and the limits of biological inference from
epidemiologic data. Journal of Clinical Epidemiology, 44(3):221-232, 1991.
TREICHLER, P. Aids, homophobia and biomedical discourse: an epidemic of
signification. Cultural Studies, 1(3): 263-305, 1987.
VARELA, . Autonomie e t Connaissance : e ssai sur le vivant. Paris: Seuil, 1989.
VARELA, .; THOMPSON, . & ROSCH, . De Cue rpo Pre se nte : las cincias cognitivas
y la experincia humana. Barcelona: Gedisa, 1992.
WHITE, S. Para White, a histria recalcou a poesia. Folha de S. Paulo, So Paulo, 11
set. 1994. Mais, p.5.
YACH, D. The use of qualitative methods in health research in developing countries.
Social Science and Medicine, 35(4):603-612, 1992.
TTULOS DA
SRIE EPIDEMIOLGICA
VOLUME I
EQIDADE SADE: CONTRIBUIES DA EPIDEMIOLOGIA
Rita Barradas Barata, Maurcio Lima Barreto,
Naomar de Almeida Filho & Renato Peixoto Veras (Orgs.), 1997.
VOLUME II
TEORIA EPIDEMIOLGICA HOJE: FUNDAMENTOS, INTERFACES TENDNCIAS
Naomar de Almeida Filho, Maurcio Uma Barreto,
Renato Peixoto Veras & Rita Barradas Barata (Orgs.), 1998.
VOLUME III
EPIDEMIOLOGIA, SERVIOS TECNOLOGIAS EM SADE
Mauro Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho,
Renato Peixoto Veras & Rita Barradas Barata (Orgs.), 1998.
VOLUME IV
EPIDEMIOLOGIA: CONTEXTOS PLURALIDADE
Re nato Pe ixoto Ve ras, Maurcio Lima Barreto,
Naomar de Almeida Filho & Rita Barradas Barata (Orgs.), 1998.
OUTROS TTULOS DA EDITORA FIOCRUZ EM CATLOGO*
Estado sem Cidados: seguridade social na Amrica Latina. Snia Fleury, 1994. 249p.
Sade e Povos Indgenas. Ricardo Santos & Carlos E. A. Coimbra (Orgs.), 1994. 251p.
Sade e Doena: um olhar antropolgico. Paulo Csar Alves & Maria Ceclia de Souza
Minayo (Orgs.), 1994. 174p. I
a
Reimpresso: 1998.
Principais Mosquitos de Importncia Sanitria no Brasil. Rotraut A. G. B. Consoli & Ricardo
Loureno de Oliveira, 1994. 174p. I
a
Reimpresso: 1998.
Filosofia, Histria e Sociologia das Cincias I: abordagens contemporneas. Vera Portocarrero
(Org), 1994. 268p. 1
a
Reimpresso: 1998.
Psiquiatria Social e Reforma Psiquitrica. Paulo Amarante (Org.), 1994.202p. 1
a
Reimpresso:
1998.
O Controle da Esquistossomose. Segundo relatrio do Comit de Especialistas da OMS,
1994. 110p.
Vigilncia Aumentar e Nutritional: limitaes e interfaces com a rede de sade. Ins Rugani R.
de Castro, 1995. 108p.
Hansenase: representaes sobre a doena. Lenita B. Lorena Claro, 1995. 110p.
Oswaldo Cruz a construo de um mito na cincia brasileira. Nara Britto, 1995. 111p.
A Responsabilidade pela Sade: aspectos jurdicos. Hlio Pereira Dias, 1995. 68p.
Sistemas de Sade: continuidades e mudanas. Paulo M. Buss e Maria Eliana Labra
(Orgs.), 1995. 259p. (co-edio com a Editora Hucitec)
S Rindo da Sade. Catlogo de exposio itinerante de mesmo nome, 1995. 52p.
Democracia Inconclusa: um estudo da Reforma Sanitria brasileira. Silvia Gerschman,
1995. 203p.
Atlas Geogrfico de las Malformaciones Congnitas en Sudamrica. Maria da Graa Dutra
(Org), 1995. 144p.
Cincia e Sade na Terra dos Bandeirantes: a trajetria do Instituto Pasteur de So Paulo no
perodo 1903-1916. Luiz Antonio Teixeira, 1995. 187p.
Profisses de Sade: uma abordagem sociolgica. Maria Helena Machado (Org), 1995.193p.
Recursos Humanos em Sade no Mercosul. Organizao Pan-Americana da Sade, 1995.
155p.
Tpicos em Malacologia Mdica. Frederico Simes Barbosa (Org.), 1995. 314p.
* por ordem de lanamento/ano.
Agir Comunicativo e Planejamento Social: uma crtica ao enfoque estratgico. Francisco Javier
Uribe Rivera, 1995. 213p.
Metamorfoses do Corpo: uma pedagogia freudiana. Sherrine Njaine Borges, 1995. 197p.
Poltica de Sade: o pblico e o privado. Catalina Eibenschutz (Org.), 1996. 364p.
Formao de Pessoal de Nvel Mdio para a Sade: desafios e perspectivas. Escola Politcnica
de Sade Joaquim Venncio (Org.), 1996. 222p.
Tributo a Vnus: a luta contra a sfilis no Brasil, da passagem do sculo aos anos 40. Srgio
Carrara, 1996. 339p.
O Homem e a Serpente: outras histrias para a loucura e a psiquiatria. Paulo Amarante,
1996. 141p.
Raa, Cincia e Sociedade. Ricardo Ventura Santos & Marcos Chor Maio (Orgs.),
1996. 252p. (co-edio com o Centro Cultural Banco do Brasil). 1
a
Reimpresso:
1998.
Bios-segurana: uma abordagem multidisciplinar. Pedro Teixeira & Silvio Valle (Orgs.),
1996. 364p. I
a
Reimpresso: 1998.
1/7 Conferncia Mundial sobre a Mulher. Srie Conferncias Mundiais das Naes
Unidas, 1996. 352p.
Prevention Primaria de los Defectos Congnitos. Eduardo E. Castilla, Jorge S. Lopez-
Camelo, Joaquin . Paz & Ida M. Orioli, 1996. 147p.
Clnica e Teraputica da Doena de Chagas: uma abordagem prtica para o clnico geral. Joo
Carlos Pinto Dias &Jos Rodrigues Coura (Orgs.), 1997. 486p.
Do Contgio Transmisso: cincia e cultura na gnese do conhecimento epidemiolgico. Dina
Czeresnia, 1997. 120p.
A Endemia Hansnica: uma perspectiva multidisciplinar. Marcos de Souza Queiroz &
Maria Anglica Puntel, 1997. 120p.
Avaliao em Sade: dos modelos conceituais prtica na anlise da inplantao de programas.
Zulmira Maria de Arajo Hartz (Org), 1997. 131p.
Fome: uma (re)leitura de fosu de Castro. Rosana Magalhes, 1997. 87p.
A Miragem da Ps-Modernidade: democracia e polticas sociais no contexto da globalizao.
Silvia Gerschman & Maria Lucia Werneck Vianna (Orgs.), 1997. 226p.
Os Dirios de Langsdorff v.l (Rio de Janeiro e Minas Gerais, 08 de maio de 1824
a 17 de fev. de 1825) e v.2 (So Paulo, de 1825 a 22 de nov. de 1826). Danuzio Gil
Bernardino da Silva (Org.), 1997. 400p. (v. l) e 333p. (v.2) (co-edio com a
Associao Internacional de Estudos Langsdorff e Casa de Oswaldo Cruz)
Os Mdicos no Brasil: um retrato da realidade. Maria Helena Machado (Coord.), 1997.
244p.
Cronobiologia:princpios e aplicaes. Nelson Marques & Luiz Menna-Barreto (Orgs.),
1997. 328p. (co-edio com a EdUSP)
Sade, Trabalho e Formao Profissional. Antenor Amncio Filho & Maria Ceclia G.
B. Moreira (Orgs.), 1997. 138p.
Atlas dos Vetores da Doena de Chagas nas Amricas (v.l ed. bilnge). Rodolfo U.
Carcavallo, Itamar Galndez Girn, Jos Jurberg & Herman Lent (Orgs.), 1997.
393p.
Doena: um estudo filosfico. Leonidas Hegenberg, 1998. 137p.
Epidemiologia da Impreciso: processo sade/ doena mental como objeto da epidemiologia.
Jos Jackson Coelho Sampaio, 1998. 130p.
Sade Pblica: uma complexidade anunciada. Mario Ivan Tarride, 1998.107p.
Doena, Sofrimento, Perturbao:perspectivas etnogrficas. Luiz Fernando Dias Duarte &
Ondina Fachel Leal (Orgs.), 1998. 210p.
Loucos pela Vida: a trajetria da reforma psiquitrica no Brasil. Paulo Amarante (Coord.),
1998. (2 edio revista e ampliada)
Textos de Apoio em Vigilncia Epidemiolgica. Srie Trabalho e Formao em Sade, 1.
Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio (Org.), 1998. 149p.
Você também pode gostar
- Almeida 9788575412794 PDFDocumento261 páginasAlmeida 9788575412794 PDFPaulo Cesar Aguiar JuniorAinda não há avaliações
- Epidemiologia Contextos e PluralidadeDocumento170 páginasEpidemiologia Contextos e PluralidadeGeorgia De Oliveira MouraAinda não há avaliações
- Liv Rodo en Castro Pica IsDocumento107 páginasLiv Rodo en Castro Pica Isjeyiy92174Ainda não há avaliações
- CONHECIMENTO E CUIDADO: DESAFIOS E TENDÊNCIAS DA MEDICINA CONTEMPORÂNEANo EverandCONHECIMENTO E CUIDADO: DESAFIOS E TENDÊNCIAS DA MEDICINA CONTEMPORÂNEAAinda não há avaliações
- Entre Contos e Contrapontos Medicina Narrativa na Formação MédicaNo EverandEntre Contos e Contrapontos Medicina Narrativa na Formação MédicaAinda não há avaliações
- Imunidade total: manual prático e orientação médica para a proteção da saúde e resistência do organismo contra vírus e doenças em geral: inclui suplementos e alimentos especiaisNo EverandImunidade total: manual prático e orientação médica para a proteção da saúde e resistência do organismo contra vírus e doenças em geral: inclui suplementos e alimentos especiaisAinda não há avaliações
- Determinantes Sociais Da Saúde Cap 3Documento18 páginasDeterminantes Sociais Da Saúde Cap 3NATHALIA SUELLEN VALERIANO CARDOSOAinda não há avaliações
- Doenças virais no Brasil: emergências reemergênciasNo EverandDoenças virais no Brasil: emergências reemergênciasAinda não há avaliações
- Historia Clinica Centrada No Sujeito Estrategia Pa PDFDocumento7 páginasHistoria Clinica Centrada No Sujeito Estrategia Pa PDFHelenaAinda não há avaliações
- Equidade e Saúde PDFDocumento249 páginasEquidade e Saúde PDFlbc-602Ainda não há avaliações
- Qualidade de vida e saúde: perspectivas contemporâneas - Volume 4No EverandQualidade de vida e saúde: perspectivas contemporâneas - Volume 4Ainda não há avaliações
- O Conceito de Saúde Ponto-Cego Da EpidemiologiaDocumento17 páginasO Conceito de Saúde Ponto-Cego Da EpidemiologiapoetafingidorAinda não há avaliações
- Percorrendo territórios da(s) Saúde(s) no Brasil: Perspectivas contemporâneasNo EverandPercorrendo territórios da(s) Saúde(s) no Brasil: Perspectivas contemporâneasAinda não há avaliações
- EpidemiologiaDocumento9 páginasEpidemiologiaCíntia AlmeidaAinda não há avaliações
- Envelhecer no Brasil: Da pesquisa às políticas públicasNo EverandEnvelhecer no Brasil: Da pesquisa às políticas públicasAinda não há avaliações
- 2mod Conc Saude 2016Documento22 páginas2mod Conc Saude 2016Eline Mendonça100% (1)
- Epidemiologia - Unidade 01Documento48 páginasEpidemiologia - Unidade 01Weslei Leonardo LopesAinda não há avaliações
- Prova Saúde Coletiva - Primeiro Bimestre: 1. Nome CompletoDocumento6 páginasProva Saúde Coletiva - Primeiro Bimestre: 1. Nome CompletoHugo LeonardoAinda não há avaliações
- Epidemio - Aula 1Documento25 páginasEpidemio - Aula 1CLINILAB Laboratorio Laboratorio CLINILABAinda não há avaliações
- Hipertensão Arterial: Uma Visão IntegrativaNo EverandHipertensão Arterial: Uma Visão IntegrativaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Estudos e Práticas de Prevenção de Doenças e Controle de InfecçõesNo EverandEstudos e Práticas de Prevenção de Doenças e Controle de InfecçõesAinda não há avaliações
- Epidemiologia e Processo Saúde-DoençaDocumento117 páginasEpidemiologia e Processo Saúde-DoençaPós-Graduações UNIASSELVI100% (1)
- Praticas Integrativas em SaúdeDocumento346 páginasPraticas Integrativas em SaúdeBárbaraSG100% (1)
- Dina Czeresnia - Os Sentidos Da Saúde e Da DoençaDocumento105 páginasDina Czeresnia - Os Sentidos Da Saúde e Da Doençaarthropods are coolAinda não há avaliações
- LIVRO SAUDE EM NOVO PARADIGMA 02092011 Dr. Marcelo Pelizzoli PDFDocumento264 páginasLIVRO SAUDE EM NOVO PARADIGMA 02092011 Dr. Marcelo Pelizzoli PDFKarla BeckmanAinda não há avaliações
- Formação de Lideranças na Educação de Profissionais de Saúde: Novos Currículos, Novas AbordagensNo EverandFormação de Lideranças na Educação de Profissionais de Saúde: Novos Currículos, Novas AbordagensAinda não há avaliações
- Por Que BioéticaDocumento7 páginasPor Que BioéticaAlex SousaAinda não há avaliações
- Direito à saúde e física quântica: a nova racionalidade científica e os direitos fundamentaisNo EverandDireito à saúde e física quântica: a nova racionalidade científica e os direitos fundamentaisAinda não há avaliações
- Contextos e condutas em atenção primária à saúde – Volume 1No EverandContextos e condutas em atenção primária à saúde – Volume 1Ainda não há avaliações
- As Noções Da Epidemiologia RegionalDocumento12 páginasAs Noções Da Epidemiologia RegionalEverton PereiraAinda não há avaliações
- Conceitos e Métodos - Antropologia MédicaDocumento8 páginasConceitos e Métodos - Antropologia MédicaArieli ButtarelloAinda não há avaliações
- Saúde e Bioética em Foco: Coletânea de Artigos MultitemáticosNo EverandSaúde e Bioética em Foco: Coletânea de Artigos MultitemáticosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Letramento em Saúde e Doenças Crônicas não Transmissíveis: Revisão Sistemática 1945-2011No EverandLetramento em Saúde e Doenças Crônicas não Transmissíveis: Revisão Sistemática 1945-2011Ainda não há avaliações
- 01 Introdução A Epidemiologia PDFDocumento43 páginas01 Introdução A Epidemiologia PDFFlaviane CostaAinda não há avaliações
- Epidemiologia Nutricional Unidade 3Documento23 páginasEpidemiologia Nutricional Unidade 3Silvaney Nunes PinheiroAinda não há avaliações
- Ebook NarrativasHumanistasDocumento293 páginasEbook NarrativasHumanistasAnacely CostaAinda não há avaliações
- Psicologia da Saúde e Clínica: Conexões NecessáriasNo EverandPsicologia da Saúde e Clínica: Conexões NecessáriasAinda não há avaliações
- Epidemiologia II - MEDICINADocumento2 páginasEpidemiologia II - MEDICINABruno Grande da CunhaAinda não há avaliações
- BREILH, Jaime. Epidemiologia Economia, Política e SaúdeDocumento283 páginasBREILH, Jaime. Epidemiologia Economia, Política e SaúdePaola RamosAinda não há avaliações
- Aspectos Nutricionais na Síndrome Metabólica: Uma Abordagem InterdisciplinarNo EverandAspectos Nutricionais na Síndrome Metabólica: Uma Abordagem InterdisciplinarAinda não há avaliações
- Possibilidades e Dificuldades Nas Relações Entre Ciências Sociais e EpidemiologiaDocumento19 páginasPossibilidades e Dificuldades Nas Relações Entre Ciências Sociais e EpidemiologiaenfwalisonAinda não há avaliações
- ARQUI Livro 2015 PDFDocumento238 páginasARQUI Livro 2015 PDFMayara MeloAinda não há avaliações
- CAROSO, C. Cultura, Tecnologias em Saúde e Medicina - Perspectiva AntropológicaDocumento288 páginasCAROSO, C. Cultura, Tecnologias em Saúde e Medicina - Perspectiva AntropológicaFernanda NathaliAinda não há avaliações
- O Normal e o Patológico - Uma Discussão Atual - Benilton Bezerra JuniorDocumento10 páginasO Normal e o Patológico - Uma Discussão Atual - Benilton Bezerra JuniorHeitor Coelho100% (2)
- Saude e Doença - Um Olhar Antropológico (1994)Documento177 páginasSaude e Doença - Um Olhar Antropológico (1994)Eduardo GarciaAinda não há avaliações
- SABROZA P ConcepcoesSaudeDoencaDocumento30 páginasSABROZA P ConcepcoesSaudeDoencamarcioldAinda não há avaliações
- Epidemiologia e Saude Zelia RouquayrolDocumento5 páginasEpidemiologia e Saude Zelia Rouquayrolfla200880Ainda não há avaliações
- Programa Epidemiologia Descritiva EnfermagemDocumento7 páginasPrograma Epidemiologia Descritiva Enfermagemvilamilitar22biAinda não há avaliações
- 2020: O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas – As Influências da Pandemia da Covid-19 no BrasilNo Everand2020: O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas – As Influências da Pandemia da Covid-19 no BrasilAinda não há avaliações
- TASK124366Documento18 páginasTASK124366Ana Marcia PachecoAinda não há avaliações
- Medicina Baseada em Evidências : Álvaro Nagib AtallahDocumento2 páginasMedicina Baseada em Evidências : Álvaro Nagib AtallahMariana Silva100% (1)
- Epidemiologia Processo Saúde Doença: Pular para o Conteúdo Principal Pular para NavegaçãoDocumento115 páginasEpidemiologia Processo Saúde Doença: Pular para o Conteúdo Principal Pular para NavegaçãoTiago GobbiAinda não há avaliações
- Acolhimento e Desmedicalização SocialDocumento10 páginasAcolhimento e Desmedicalização SocialguiramossensAinda não há avaliações
- A Bioética e A Prática MédicaDocumento3 páginasA Bioética e A Prática MédicaAlexandre Grande MadredeusAinda não há avaliações
- Fundamentos EpidemiologicosDocumento80 páginasFundamentos EpidemiologicosRafael M.S.Ainda não há avaliações
- Dworkin-Regras SociaisDocumento7 páginasDworkin-Regras SociaisPolly piskAinda não há avaliações
- Bauman Comunidade Líquida PDFDocumento3 páginasBauman Comunidade Líquida PDFMagkampusAinda não há avaliações
- Jovens, Espaço Urbano e Identidade - Reflexões Sobre o Conceito de Cena MusicalDocumento15 páginasJovens, Espaço Urbano e Identidade - Reflexões Sobre o Conceito de Cena MusicalmartinguelmanAinda não há avaliações
- Estratégias de Leitura PDFDocumento8 páginasEstratégias de Leitura PDFRomualdoSFAinda não há avaliações
- Intervenção Psicologia ClínicaDocumento21 páginasIntervenção Psicologia ClínicaPatricia AntunesAinda não há avaliações
- Desconstrução Das Categorias Mulher e NegroDocumento16 páginasDesconstrução Das Categorias Mulher e NegroRafael RochaAinda não há avaliações
- CLC 5,6,7Documento25 páginasCLC 5,6,7Pedro FerreiraAinda não há avaliações
- 2006 10 - Um Caminho Simples - Dalai LamaDocumento48 páginas2006 10 - Um Caminho Simples - Dalai LamaDeco Fernandes100% (1)
- A Racionalidade LimitadaDocumento40 páginasA Racionalidade LimitadaSonyTeixeiraAinda não há avaliações
- As Formas Elementares Da Vida ReligiosaDocumento130 páginasAs Formas Elementares Da Vida ReligiosaNilo Canuto100% (3)
- Apostila - Cinco Elementos - 2010Documento40 páginasApostila - Cinco Elementos - 2010Claudio Solano100% (2)
- Aprendizagem Histórica Na Educação Infantil Possibilidades e Perspectivas Da Educação Histórica PDFDocumento219 páginasAprendizagem Histórica Na Educação Infantil Possibilidades e Perspectivas Da Educação Histórica PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraAinda não há avaliações
- Estratégia Global Da Reforma Do Sector Público Como Caminho para Boa Gestão Da Coisa Pública Caso Do Sistema de Administração Financeira Do EstadoDocumento65 páginasEstratégia Global Da Reforma Do Sector Público Como Caminho para Boa Gestão Da Coisa Pública Caso Do Sistema de Administração Financeira Do EstadoOdibar Joao Lampeao100% (4)
- O Dinheiro Na Teoria PsicanalíticaDocumento7 páginasO Dinheiro Na Teoria Psicanalíticarodrigo_diniz_74100% (1)
- Gilza Marques - 7 Mitos Sobre o Mulherismo Africana PDFDocumento4 páginasGilza Marques - 7 Mitos Sobre o Mulherismo Africana PDFJosué De SouzaAinda não há avaliações
- Cidade e UrbanidadeDocumento9 páginasCidade e UrbanidadeBinô ZwetschAinda não há avaliações
- Adorno Introdução À Sociologia PDFDocumento4 páginasAdorno Introdução À Sociologia PDFLuciana Pazini PapiAinda não há avaliações
- As Três Economias Políticas Do Welfare StateDocumento21 páginasAs Três Economias Políticas Do Welfare StateEmilie FaedoAinda não há avaliações
- Plano TerapeuticoDocumento23 páginasPlano Terapeuticotileomn2Ainda não há avaliações
- Garantismo Penal Integral Ou Defensivismo Diet - Elmir DuclercDocumento10 páginasGarantismo Penal Integral Ou Defensivismo Diet - Elmir DuclercDanilo Carvalho CremoniniAinda não há avaliações
- HAMARTIOLOGIADocumento5 páginasHAMARTIOLOGIAMissões Anunciai100% (2)
- A Arte de Fábio NoronhaDocumento53 páginasA Arte de Fábio NoronhadeborahbruelAinda não há avaliações
- As Teorias Da Educação e o Problema Da MarginalidadeDocumento26 páginasAs Teorias Da Educação e o Problema Da Marginalidademaristelabueno042178Ainda não há avaliações
- Revista Arqueologia Volume 25-2-2012Documento157 páginasRevista Arqueologia Volume 25-2-2012Rafael Lemos de SouzaAinda não há avaliações
- Resumo de A PROFISSÃO DE SOCIÓLOGODocumento7 páginasResumo de A PROFISSÃO DE SOCIÓLOGOSilvana Louzada100% (2)
- A Teoria Do Jornalismo No BrasilDocumento172 páginasA Teoria Do Jornalismo No BrasilAmandaDominguesAinda não há avaliações
- Manual Das 7 Teorias Do SEXODocumento4 páginasManual Das 7 Teorias Do SEXOSirdata DataAinda não há avaliações
- Kuhn VS PopperDocumento8 páginasKuhn VS Popperhelenacristina98307Ainda não há avaliações
- Carneiro-PRÁTICAS, DISCURSOS E ARENAS - NOTAS SOBRE A SOCIOANTROPOLOGIA DO DESENVOLVIMENTODocumento57 páginasCarneiro-PRÁTICAS, DISCURSOS E ARENAS - NOTAS SOBRE A SOCIOANTROPOLOGIA DO DESENVOLVIMENTOmavecu0510Ainda não há avaliações
- Pensamento Político BrasileiroDocumento39 páginasPensamento Político Brasileiroprofiali1Ainda não há avaliações