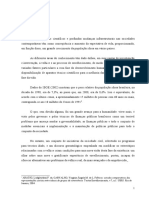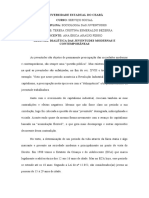Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pressupostos de Reflexão
Enviado por
marcon.pcDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pressupostos de Reflexão
Enviado por
marcon.pcDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PRESSUPOSTOS DA REFLEXO ANTROPOLGICA
SOBRE A VELHICE*
Guita Grin Debert**
As formas pelas quais a vida periodizada, as categorias de idade presentes em uma sociedade e o carter dos grupos etrios nela constitudos so, do
ponto de vista da Antropologia, um material privilegiado para pensarmos na
produo e reproduo da vida social. O estudo dessas dimenses parte fundamental das etnografias preocupadas em dar conta dos tipos de organizao
social, das formas de controle de recursos polticos e da especificidade das representaes culturais.
A pesquisa sobre esses temas esbarra, entretanto, em trs conjuntos de dificuldades, prprias das problemticas marcadas por trs tipos de caractersticas:
categorias culturalmente produzidas, que tm como referncia supostos processos biolgicos universais; questes que nas sociedades ocidentais contemporneas se constituram em problemas sociais; e temas em torno dos quais um discurso cientfico especializado institucionalizado.
A velhice, enquanto tema de pesquisa, est marcada por essas caractersticas e o interesse deste texto apresentar algumas das armadilhas que seu estudo traz para os antroplogos que pesquisam as representaes e as prticas ligadas ao envelhecimento, em sua prpria sociedade ou em sociedades muito distintas da sua.
Tratarei dessas armadilhas atravs de nove tpicos que podem ser pensados como pressupostos bsicos da pesquisa antropolgica sobre questes ligadas
ao envelhecimento.
*
Agradeo os comentrios sempre carinhosos e pertinentes de Mariza Corra a este texto.
Guita Grin Debert, docente do Departamento de Antropologia do IFCH/ UNICAMP.
**
Guita Grin Debert
1 - A velhice no uma categoria natural
A dificuldade mais evidente, cujo tratamento d incio a boa parte dos
manuais e cursos dirigidos formao de antroplogos interessados em pesquisar o envelhecimento, a considerao de que a velhice uma categoria socialmente produzida. Faz-se, assim, uma distino entre um fato universal e natural
o ciclo biolgico, do ser humano e de boa parte das espcies naturais, que envolve o nascimento, o crescimento e a morte e um fato social e histrico que a
variabilidade das formas pelas quais o envelhecimento concebido e vivido. Da
perspectiva antropolgica, mas tambm do ponto de vista da pesquisa histrica,
trata-se de ressaltar, em primeiro lugar, que as representaes sobre a velhice, a
idade a partir da qual os indivduos so considerados velhos, a posio social
dos velhos e o tratamento que lhes dado pelos mais jovens ganham significados particulares em contextos histricos, sociais e culturais distintos. A mesma
perspectiva orienta a anlise das outras etapas da vida, como a infncia, a adolescncia e a juventude.
Boa parte da produo antropolgica sobre as sociedades ditas primitivas
esteve voltada para a descrio da diversidade de formas com que so tratados
indivduos em diferentes etapas da vida. So descries importantes para oferecerem um quadro, o mais completo possvel, da vida social e de formas culturais
diferentes da nossa.
Em outras palavras, do ponto de vista da Antropologia clssica, as etnografias tm sempre um duplo objetivo: por um lado, oferecer uma descrio
densa das particularidades culturais e, por outro, transcender os particularismos
pensando a humanidade em seu conjunto. Um dos mecanismos fundamentais
para a realizao desse segundo objetivo a relativizao de uma srie de noes que tendem a operar uma naturalizao da vida social. Ou seja, criticar a
postura que consiste em apresentar o que prprio de uma sociedade ou de
uma cultura como caracterstica da natureza humana em geral ou dos estgios
mais altos da sua evoluo. A obra de Margaret Mead um dos exemplos mais
conhecidos nesse sentido. As descries que faz sobre o cuidado e o tratamento
das crianas, sobre os papis sexuais atribudos a homens e mulheres na vida
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
adulta e os sentimentos e emoes envolvidos na experincia cotidiana em Samoa, na Nova Guin, servem para relativizar e criticar certos padres de comportamento prprios da sociedade norte-americana e mostrar o carter etnocntrico da postura que os considera como prprios da humanidade enquanto
espcie ou como os mais adequados convivncia humana. Apresentando
formas de sociedade e cultura muito distintas da nossa, a Antropologia rompe
com o senso que uma sociedade tem de seus prprios costumes, que tendem a
ser concebidos como naturais e imutveis.
Em segundo lugar, as etnografias mostram que em todas as sociedades
possvel observar a presena de grades de idades. Entretanto, cada cultura
tende a elaborar grades de idades especficas. A pesquisa antropolgica demonstra, assim, que a idade no um dado da natureza, no um princpio
naturalmente constitutivo de grupos sociais, nem um fator explicativo dos
comportamentos humanos. Essa demonstrao exige um rompimento com os
pressupostos da psicologia do desenvolvimento que concebe o curso da vida
como uma seqncia unilinear de etapas evolutivas em que cada etapa, apesar
das particularidades sociais e culturais, seriam estgios pelos quais todos os
indivduos passam e, portanto, teriam carter universal. Em sua pesquisa sobre a adolescncia, Margaret Mead (1973) verifica que esse perodo, concebido
na sociedade norte-americana como um momento de dificuldades e conflitos a
que todos os indivduos devem se ajustar, no ocorre em Samoa.
A pesquisa antropolgica rica em exemplos que servem para demonstrar que fases da vida, como a infncia, a adolescncia e a velhice no se constituem em propriedades substanciais que os indivduos adquirem com o avano da idade cronolgica. Pelo contrrio, o prprio da pesquisa antropolgica
sobre os perodos da vida mostrar como um processo biolgico elaborado
simbolicamente com rituais que definem fronteiras entre idades pelas quais os
indivduos passam e que no so necessariamente as mesmas em todas as sociedade.
Guita Grin Debert
2 - As categorias de idade so construes histricas e sociais
A demonstrao de que a periodizao da vida implica um investimento
simblico especfico em um processo biolgico universal no est ausente da
pesquisa histrica que trata das mudanas ocorridas nas sociedades europias. O
livro de P. Aris (1981) sobre a infncia um dos exemplos mais difundidos de
como o trabalho do historiador se volta para o estudo da construo social das
categorias de idade.
Esse autor mostra que a criana como uma categoria no existia na Idade
Mdia e analisa o processo de sua constituio a partir do sculo XIII que resultou em um alargamento da distncia que separava as crianas dos adultos. Na
Frana Medieval, as crianas no eram separadas do mundo adulto. Pelo contrrio, a partir do momento em que sua capacidade fsica permitisse e em idade
relativamente prematura, as crianas participavam integralmente do mundo do
trabalho e da vida social adulta. A noo de infncia desenvolveu-se lentamente
ao longo dos sculos e s gradualmente a criana passou a ser tratada como um
problema especfico. Roupas e maneiras adequadas, jogos, brincadeiras e outras
atividades, passaram a distinguir de maneira radical a criana dos adultos. Instituies especficas, como as escolas, foram criadas para atender e preparar a populao infantil para a idade adulta.
Elias, N. (1990), em seu trabalho sobre o processo civilizador, outro exemplo interessante nessa mesma direo. Considera que o comportamento dos
adultos na Idade Mdia era muito mais solto e espontneo. Os controles sobre as
emoes eram menos acentuados e sua expresso, como ocorre com as crianas,
no carregava culpa ou vergonha. A modernidade, segundo o autor, teria alargado a distncia entre adultos e crianas, no apenas pela construo da infncia
como uma fase de dependncia, mas tambm atravs da construo do adulto
como um ser independente, dotado de maturidade psicolgica, direitos e deveres de cidadania.
As formas como a vida periodizada e a definio das prticas relacionadas a cada perodo apresentam tambm variaes, de acordo com os grupos sociais no interior de uma mesma sociedade. George Duby (1973) mostra como na
10
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
Frana do sculo XII, na sociedade aristocrtica, uma nova etapa na vida foi designada como juventude perodo que compreendia a sada da infncia e antecedia o casamento. A criao dessa etapa correspondeu a uma estratgia das
famlias para conservar poder e patrimnio. Ser jovem no era, portanto, uma
questo de idade biolgica, posto que indivduos com idades cronolgicas muito
variadas permaneciam nessa fase. Ser jovem era ser uma espcie de cavaleiro
errante e aventureiro espera do momento em que se poderia casar e substituir
os pais na gesto do patrimnio familiar.
Featherstone (1989), em seu artigo sobre os jovens na sociedade inglesa
contempornea, descreve as diferenas na durao e na forma como essa etapa
da vida vivida por indivduos de classe operria e de setores mdios.
O texto A Aposentadoria e a Inveno da Terceira Idade, includo nesta coletnea, apresenta o processo de constituio da Terceira Idade em uma nova
etapa que se interpe entre a idade adulta e a velhice. Sua inveno corresponde
a mudanas no processo produtivo que levaram a ampliao dos setores mdios
assalariados. A inveno desta nova etapa na vida acompanhada de um conjunto de prticas, instituies e agentes especializados, encarregados de definir e
atender as necessidades dessa populao que, a partir dos anos 70 deste sculo,
em boa parte das sociedades europias e americanas, passar a ser caracterizada
como vtima da marginalizao e da solido.
Os recortes de idades e a definio de prticas legtimas associadas a cada
etapa da vida no so, portanto, conseqncias de uma evoluo cientfica marcada por formas cada vez mais precisas de estabelecer parmetros no desenvolvimento biolgico humano. Como ressalta Bourdieu (1983), no texto A juventude apenas uma palavra, a manipulao das categorias de idade envolve uma
verdadeira luta poltica, na qual est em jogo a redefinio dos poderes ligados a
grupos sociais distintos em diferentes momentos do ciclo da vida. Por isso,
Bourdieu afirma que, ao tratar das divises por idade, um reflexo profissional
do socilogo, lembrar que elas so uma criao arbitrria.
Afirmar, contudo, que as categorias de idade so construes culturais e
que mudam historicamente no significa dizer que elas no tenham efetividade.
Essas categorias so constitutivas de realidades sociais especficas, uma vez que
11
Guita Grin Debert
operam recortes no todo social, estabelecendo direitos e deveres diferenciais no
interior de uma populao, definindo relaes entre as geraes e distribuindo
poder e privilgios. A fixao da maioridade civil, do incio da vida escolar, da
entrada no mercado de trabalho , na nossa sociedade, fundamental na organizao do sistema de ensino, na organizao poltica, na organizao dos mercados de trabalho. Mecanismos fundamentais de distribuio de poder e prestgio
no interior das classes sociais tm como referncia a idade cronolgica. Categorias e grupos de idade implicam, portanto, a imposio de uma viso de mundo
social que contribui para manter ou transformar as posies de cada um em espaos sociais especficos.
3 - Diversidade cultural e a busca de universais
No est ausente da pesquisa antropolgica a busca de universais por trs
das complexas elaboraes especficas a determinadas culturas. Ou seja, a tentativa de descobrir, com base nas descries da vida cotidiana em diferentes sociedades, o que haveria de comum em todas elas e que, portanto, poderia ser considerado inevitvel na situao dos velhos e no tratamento da velhice, independentemente das variaes culturais.
A primeira tentativa nesse sentido foi a de Leo Simmons, que publicou,
em 1945, The Role of the Aged in Primitive Societies. Com base no material etnogrfico reunido no Yale Human Relations Files, o autor procurou descobrir padres
universais de adaptao ao envelhecimento. Ele analisou a situao dos velhos
em 71 sociedades ditas primitivas, e que apresentavam diferenas marcantes, do
ponto de vista da cultura e da ambientao no meio fsico, procurando relacionar o status formal dos velhos com o que denominava de variveis culturais e
econmicas. Simmons props um conjunto de critrios, a partir do qual a velhice
poderia ser objeto de comparao transcultural. Por exemplo, formas de subsistncia, direitos de propriedade, atividades econmicas, vida domstica, organizao poltica, conhecimento da tradio, crenas e rituais, integrao na famlia
e no sistema de parentesco. O autor conclui que existem fatores constantes, rela-
12
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
cionados a objetivos e interesses centrais, que caracterizariam os indivduos na
ltima etapa da vida: viver o mximo possvel; terminar a vida de forma digna e
sem sofrimento; encontrar ajuda e proteo para a progressiva diminuio de
suas capacidades; continuar participando ativamente nos assuntos e decises
que envolvem a comunidade; prolongar ao mximo suas conquistas e prerrogativas sociais como a propriedade, a autoridade e o respeito.
As colocaes de Simmons lanam luz sobre a especificidade da velhice
na nossa sociedade. Entretanto, afirmaes to gerais sobre o que o especfico
aos indivduos na ltima fase da vida no impedem que o envelhecimento tenha
uma ampla variao nas formas atravs das quais vivido, simbolizado e interpretado em cada sociedade.
O problema com os universais que, na tentativa de encontrar o que
comum em experincias to distintas e multifacetadas, eles acabam se transformando, como mostra C. Geertz (1978), em categorias vazias:
O fato de que em todos os lugares as pessoas se juntam e procriam filhos, tm
algum sentido do que meu e do que teu, e se protegem, de alguma forma, contra a
chuva e o sol no nem falso nem sem importncia, sob alguns pontos de vista. Todavia,
isso pouco ajuda no traar um retrato do homem que seja uma parecena verdadeira e
honesta e no uma espcie de caricatura de um Joo Universal, sem crenas e credos.
(p. 52). Criticando o pressuposto de que a essncia do ser humano se revela nos
aspectos que so universais s culturas, Geertz sugere que, pelo contrrio, pode
ser que nas particularidades culturais dos povos nas suas esquisitices sejam encontradas algumas das revelaes mais instrutivas sobre o que ser genericamente humano. (p. 55) 1
1
A busca de universais est presente em contribuies mais recentes como por exemplo
na introduo feita por Cowgill and Holmes (1972) a uma coletnea de textos por eles
organizada que envolve estudos sobre o envelhecimento em sociedades ditas primitivas
como os Bantu e sociedades complexas como a Noruega. Esses autores chegam a concluses do tipo: em todas as sociedades algumas pessoas so classificadas como velhas;
os velhos correspondem sempre a minoria da populao; entre esses a maioria composta por vivos, o nmero de mulheres velhas sempre maior do que o de homens, etc.
Eles propem ainda uma correlao negativa entre modernizao e participao, status e
13
Guita Grin Debert
Nas pesquisas sobre as etapas da vida em geral e o envelhecimento em
particular, a busca de universais prejudicada, tambm, pela dificuldade de
definir a especificidade e precisar os limites dessa etapa. Na pesquisa antropolgica, muitas vezes a impresso que o pesquisador tem sobre a aparncia do
pesquisado que o leva a caracterizar os indivduos como velhos. Outras vezes,
a autodefinio do informante, e na maioria das vezes, uma determinao aproximada da sua idade cronolgica.
Quando a referncia do pesquisador no tratamento de categorias como
velhos, jovens, adolescentes e crianas o nmero de anos vividos a partir da
data de nascimento ou a aparncia de cada um, acaba-se por perder a plasticidade
das formas pelas quais o curso da vida concebido em sociedades distintas, bem
como o sentimento investido na relao entre grupos etrios e a importncia desses
grupos e categorias na organizao social. A diferena entre idade cronolgica,
idade geracional e nveis de maturidade, enquanto princpios organizadores do
curso da vida lana luz sobre essas questes, como mostraremos no prximo
item, seguindo as colocaes de Meyer Fortes (1984). Esse autor, apresenta, tambm, a riqueza da abordagem transcultural quando se estabelecem com preciso
os elementos e as dimenses da vida social que podem ser comparados.
4 - Idade cronolgica, idade geracional, nveis de maturidade
Meyer Fortes considera que os antroplogos, muitas vezes, acabam erroneamente por projetar categorias relacionadas com a idade cronolgica, nos grupos estudados. Prope, ento, que se estabeleam diferenas entre conceitos como estgio de maturidade, ordem de nascimento, idade geracional e idade cronolgica. Vou retomar essas distines ressaltando trs pontos fundamentais, em
seu artigo, para mostrar como um olhar cuidadoso sobre as diferenas pode tra-
satisfao na velhice. Apresento o conjunto de crticas que vm sendo feitas a essa concepo da modernizao como um fenmeno homogneo e negativo para os velhos em
Debert, G.G., 1992.
14
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
zer elementos importantes para uma reflexo sobre as formas que a periodizao
da vida assume e como elas definem espaos privilegiados para a ao.
Fortes parte da considerao de que as idades cronolgicas, baseadas
num sistema de datao, esto ausentes da maioria das sociedades noocidentais. No entanto, nas sociedades ocidentais elas so um mecanismo bsico
de atribuio de status (maioridade legal), de definio de papis ocupacionais
(entrada no mercado de trabalho), de formulao de demandas sociais (direito
aposentadoria), etc.
Os estudos antropolgicos nas sociedades no-ocidentais, a partir da observao do ciclo de vida individual, procuram dar conta da incorporao dos
estgios de maturidade na estrutura social. Eles tm mostrado que, nessa incorporao, leva-se em conta no apenas o desenvolvimento biolgico, mas o reconhecimento da capacidade para a realizao de certas tarefas e que a validao
cultural desses estgios no apenas um reconhecimento de nveis de maturidade, mas uma autorizao para a realizao de prticas, como caar, casar e
participar do conselho dos mais velhos. Estgios de maturidade so, portanto,
diferentes de ordem de nascimento, posto que, apesar da diferena na data de
nascimento, as pessoas podem estar autorizadas a realizar atividades prprias a
um determinado grupo de idade. Por exemplo, a categoria jovem, como uma
classe de idade, pode compreender indivduos nascidos h 10 ou 30 anos. O ritual de passagem de um estgio para outro no se orienta pela idade cronolgica
dos indivduos, mas pela transmisso de status sociais, tais como poder e autoridade jurdica, atravs de rituais especficos cujo momento de realizao depende, na maioria das vezes, da deciso dos mais velhos.
O estgio de maturidade e a ordem de nascimento nada tm a ver com a
gerao. Entre os Tallensi, por exemplo, um filho pode ser mais velho do que seu
pai classificatrio.
Nas sociedades ditas primitivas, como indica Fortes, pode haver conflitos
entre a ordem de nascimento e a ordem de gerao, e tambm possvel observar a institucionalizao de medidas para resolv-los. Entre os Tallensi, os conflitos entre direitos e deveres que essa situao tenderia a gerar so resolvidos
medida que os indivduos so classificados pela gerao, nas relaes internas
15
Guita Grin Debert
da famlia e da linhagem, e pela ordem do nascimento, nas relaes polticas e
entre as linhagens.
Fortes mostra ento que o envelhecimento em sociedades desse tipo pode
ser uma experincia muito distinta da das sociedades ocidentais. Alm disso,
preciso notar tambm que relaes bastante complexas podem ser resolvidas
sem referncia a idade cronolgica.
O segundo ponto a ressaltar no texto de Fortes a considerao de que,
nas sociedades ocidentais, a idade cronolgica estabelecida por um aparato
cultural, um sistema de datao, independente e neutro em relao estrutura
biolgica e incorporao dos estgios de maturidade. Os critrios e normas da
idade cronolgica so impostos nas sociedades ocidentais no porque elas disponham de um aparato cultural que domina a reflexo sobre os estgios de maturidade, mas por exigncia das leis que determinam os deveres e direitos do
cidado. Crianas, considera Fortes, trabalhavam nas minas de carvo h 150
anos no porque a lei, ou melhor, o Estado autorizava, da mesma forma que
mais tarde passou a imped-las de trabalhar. Na Inglaterra, os pais estaro desrespeitando a lei se no fizerem com que seus filhos, independentemente de sua
capacidade fsica e mental, compaream escola at os 16 anos. O fato de a idade cronolgica no estar ligada a um aparato que domina a reflexo sobre os
estgios de maturidade mostra tambm a flexibilidade desse mecanismo para a
criao de novas etapas e a redefinio de direitos e obrigaes. Essa fluidez,
mas, ao mesmo tempo, efetividade na definio de experincias individuais e
coletivas, transforma a idade cronolgica em um elemento simblico extremamente econmico no estabelecimento de laos entre grupos bastante heterogneos no que diz respeito a outras dimenses. Laos simblicos que so extremamente maleveis uma vez que neles podem ser embutidas e agregadas outras
conotaes que nada tm a ver com ordem de nascimento, estgio de maturidade ou gerao.
O terceiro ponto que nos interessa a considerao de Fortes de que os
sistemas de datao, dos quais o reconhecimento das idades cronolgicas dependem, so irrelevantes se no forem cruciais para o estabelecimento de direitos e deveres polticos, isto , para o status de cidado. A idade cronolgica s
16
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
tem relevncia quando o quadro poltico jurdico ganha precedncia sobre as
relaes familiares e de parentesco para determinar a cidadania.
A idade geracional relevante para estruturar a famlia e o parentesco.
Um pai um pai, um irmo um irmo independentemente de sua idade cronolgica ou estgio de maturidade. Nesse sentido, para Fortes, as idades cronolgicas so uma imposio, um fator adventcio na estrutura familiar. Em algumas
sociedades, o princpio geracional pode ser ampliado para a comunidade tribal
(caso dos aborgenes australianos) e se constituir na base dos direitos polticos e
jurdicos. Em outras sociedades, como a nossa, no h relao, pelo menos do
ponto de vista jurdico, entre ser membro de uma famlia ou grupo de descendncia e ser cidado. As sociedades variam entre aquelas em que o domnio legal e a famlia so esferas distintas e aquelas em que essas duas esferas se mesclam em graus variveis.
Fortes quer enfatizar a idade cronolgica e o princpio geracional como
elementos da estrutura social e como valores culturais. Enquanto as geraes
tm como referncia a famlia, as idades so institucionalizadas poltica e juridicamente. A organizao geracional subsume a ostensiva descontinuidade entre
geraes sucessivas num quadro de continuidade geral. A idade, em contraste,
opera atomisticamente, com o indivduo formalmente isolado, enquanto unidade de referncia, e deixa a questo da continuidade e descontinuidade para a
ordem institucional no-familiar. O Estado a forma mais diferenciada e desenvolvida do ordenamento poltico-jurdico que, em nossa sociedade, tende a absorver cada vez mais funes anteriormente prprias da famlia.
5 - Cronologizao da vida e modernidade
Ao mostrar que o processo de agrupar pessoas em funo de sua gerao
totalmente distinto de agrupar pessoas em funo do estgio de maturidade ou
da idade cronolgica, Fortes abre a anlise para duas dimenses que vale a pena
ressaltar.
17
Guita Grin Debert
A primeira delas complementa o conjunto de trabalhos inspirados na obra
de Aris apontando uma direo que o prprio Aris (1990), em trabalho posterior,
reconhece que deveria ser incorporada anlise das transformaes histricas
ocorridas na vida privada nas sociedades ocidentais contemporneas: trata-se do
domnio do Estado, e da forma como ele redefine o espao domstico e familiar.
A segunda vai no sentido de apontar que as transformaes histricas ocorridas no processo de modernizao ocidental corresponderam no apenas a
transformaes na forma como a vida periodizada, no tempo de transio de
uma etapa a outra, e na sensibilidade investida em cada um dos estgios, mas
tambm no prprio carter do curso da vida enquanto instituio social. nesse
sentido que a expresso cronologizao da vida usada por Kohli and Meyer
(1986). Trata-se de chamar a ateno para o fato de que o processo de individualizao, prprio da modernidade, teve na institucionalizao do curso de vida
uma de suas dimenses fundamentais. Uma forma de vida, em que a idade cronolgica era praticamente irrelevante foi suplantada por outra, em que a idade
uma dimenso fundamental na organizao social. Estgios da vida so claramente definidos e separados e as fronteiras entre eles mais estritamente organizadas pela idade cronolgica (p.145). Essa institucionalizao crescente do curso da vida envolveu praticamente todas as dimenses do mundo familiar e do
trabalho, est presente na organizao do sistema produtivo, nas instituies
educativas, no mercado de consumo e nas polticas pblicas, que cada vez mais,
tm como alvo grupos etrios especficos.
Na explicitao das razes que levaram institucionalizao crescente do
curso da vida, em funo da idade cronolgica, pesos distintos podem ser atribudos a dimenses diversas. A padronizao da infncia, adolescncia, idade adulta e velhice pode ser entendida como respostas s mudanas estruturais na
economia, devidas sobretudo transio de uma economia que tinha como base
a unidade domstica para uma economia baseada em mercado de trabalho. Inversamente, pode ser dada nfase ao papel do Estado Moderno que no processo de transformao de questes que diziam respeito esfera privada e familiar
em problemas de ordem pblica seria, por excelncia, a instituio que orienta
o curso da vida A regulamentao estatal do curso da vida est presente do nas-
18
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
cimento at a morte, passando pelo sistema complexo que engloba as fases de
escolarizao, entrada no mercado de trabalho e aposentadoria.
6 - Modernidade e o conceito de geraes no estudo de mudanas
sociais
A institucionalizao do curso da vida, prpria da modernidade no significou apenas a regulamentao das seqncias da vida, mas tambm a constituio de perspectivas e projetos de vida por meio dos quais os indivduos se
orientam e planejam suas aes, individual e coletivamente. Nesse sentido,
preciso ir alm das colocaes de Fortes, em que a gerao fica restrita famlia
ou apenas interessante para dar conta de mudanas histricas porque estabelece uma associao apressada entre as diferentes geraes na famlia e as diferenas entre as geraes na histria.
Nos dois ltimos sculos, mostra Kriegel (1978), a idia de geraes, no
corresponde a sucesso de um grupo pelo outro, a substituio do mesmo pelo
mesmo. Na verdade, apesar de suas conotaes variadas, a idia de gerao implica um conjunto de mudanas que impe singularidades de costumes e comportamentos a determinadas geraes. Da falar-se em gerao do ps-guerra, da
televiso, de 68. A gerao no se refere s pessoas que compatilham a idade,
mas que vivenciaram determinados eventos que definem trajetrias passadas e
futuras.
As pesquisas sobre grupos de idade tanto mostram que a gerao, mais
do que a idade cronolgica, a forma privilegiada de os atores darem conta de
suas experincias extra-familiares como tambm indicam que mudanas na experincia coletiva de determinados grupos no so apenas causadas pelas mudanas sociais de ordem estrutural, mas que esses grupos so extremamente ativos no direcionamento das mudanas de comportamento, na produo de uma
memria coletiva e na construo de uma tradio. Ou seja, apesar das vrias
conotaes que o conceito de gerao assume, ele tem uma efetividade que ultrapassa o nvel das relaes na famlia, direcionando transformaes que a esfe-
19
Guita Grin Debert
ra da poltica tem de incorporar. nesse sentido que a idia de geraes ganha
a efetividade que vai alm da proposta por Fortes, que tinha como base a famlia.
Anthony Giddens (1992), em Modernity and Self Identity, considera que a
prpria idia de ciclo de vida perde sentido na modernidade, uma vez que as
conexes entre vida pessoal e troca entre geraes se quebram. Nas sociedades
pr-modernas, a tradio e a continuidade estavam estreitamente vinculadas
com as geraes. O ciclo de vida tinha forte conotao de renovao, pois cada
gerao redescobre e revive modos de vida das geraes predecessoras. Nos
contextos modernos, o conceito de gerao s faz sentido em oposio ao tempo padronizado. As prticas de uma gerao s so repetidas se forem reflexivamente justificadas. O curso da vida se transforma em um espao de experincias abertas, e no de passagens ritualizadas de uma etapa para outra. Cada
fase de transio tende a ser interpretada pelo indivduo como uma crise de
identidade e o curso da vida construdo em termos da necessidade antecipada de confrontar e resolver essas fases de crise.
7 - Problema social e problemas para a investigao antropolgica
O segundo conjunto de dificuldades que as pesquisas sobre as dimenses
do envelhecimento enfrentam que nas sociedades ocidentais contemporneas a
velhice apresentada como um problema social. Seria, portanto, importante ter
uma viso clara do que a constituio de uma questo em problema social e
qual a especificidade da anlise antropolgica.
O objetivo do estudo antropolgico no a resoluo dos conflitos envolvidos na luta pelos direitos dos idosos. No cabe ao antroplogo definir a idade
correta para a entrada dos indivduos na aposentadoria, ou o momento em que
as pessoas ficam velhas demais para o exercer certas atividades ou para ocupar
determinadas posies sociais. No cabe, tampouco, ao antroplogo avaliar
quais os programas e atividades, que garantem uma adaptao bem-sucedida ao
envelhecimento.
20
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
O interesse do antroplogo por esses problemas deveria comear, por exemplo, pela anlise das seguintes questes: quem so os agentes envolvidos
nessa luta em torno de definies?, qual o tipo de arma que utilizam?, que estratgias pem em ao e como definem as relaes de fora que se estabelecem?,
quais so as representaes dominantes na organizao das prticas legtimas
associadas definio das idades e como a partir delas definem-se os comportamentos corretos ou adequados?, como os indivduos de mais idade, vivendo
em condies distintas, reelaboram essas representaes e redefinem novas prticas?
O antroplogo que ao tomar como objeto uma populao, supe que sua
essncia definidora seja a idade legal ou o estado de envelhecimento biolgico,
nega de incio seu objeto de estudo, por desconsiderar uma das primeiras questes que deveriam orientar sua pesquisa: como o envelhecimento fsico ou a idade legal tornaram-se mecanismos fundamentais de classificao e separao de
seres humanos? Desprezar essa questo significa perder a oportunidade de descrever os processos por meio dos quais os indivduos passam a ser designados
socialmente como velhos, jovens, adolescentes ou crianas.
Em resumo, no cabe ao antroplogo a resoluo de um problema social,
mas compreender a forma como um problema social constitudo e o conjunto
de representaes que orientam as prticas destinadas a solucion-lo. O trabalho
do antroplogo envolve um rompimento com as definies dos fenmenos socialmente admitidas.
8 - A constituio de problemas sociais: reconhecimento,
legitimao, presso e expresso
A transformao da velhice em problema social no o resultado mecnico do crescimento do nmero de pessoas idosas, como tende a sugerir a noo
de envelhecimento demogrfico usada pelos demgrafos e, freqentemente,
utilizada pelos cientistas sociais para justificar seu interesse pessoal e o interesse
social em pesquisas sobre o tema.
21
Guita Grin Debert
Para Remi Lnoir (1989), um problema social uma construo social e
no o puro resultado do mau funcionamento da sociedade. A constituio de um
problema social supe um trabalho em que, segundo esse autor, esto envolvidas quadro dimenses: reconhecimento, legitimao, presso e expresso.
O reconhecimento implica tornar visvel uma situao particular. a conquista de uma ateno pblica, e supe a ao de grupos socialmente interessados em produzir uma nova categoria de percepo do mundo social, a fim de
agir sobre ele.
A legitimao no conseqncia automtica do reconhecimento pblico
do problema. Ao contrrio, supe o esforo para promov-lo e inser-lo no campo das preocupaes sociais do momento.
Em outras palavras, s transformaes objetivas, sem as quais um problema social no teria sido colocado, soma-se um trabalho especfico de enunciao e de formulao pblica, enfim uma empresa de mobilizao. O texto A
Aposentadoria e a Inveno da Terceira Idade, nesta coletnea, d um bom exemplo
nesse sentido. Ao tratar do conjunto de lutas pelo direito dos operrios aposentadoria, que opuseram a burguesia industrial aristocracia no sculo XIX, na
Frana, mostra que, naquele momento, a aposentadoria era uma questo que
ainda no fazia parte das pautas de reivindicao operria. As condies sociais
que possibilitam um determinado tipo de mobilizao e a interpretao das razes
que levam ao seu sucesso so alguns dos aspectos que a anlise antropolgica deve
compreender. Mesmo quando o problema social uma oportunidade para o
embate entre grupos ou um pretexto para acirrar conflitos que ultrapassam sua
resoluo o importante que o problema passa a ser formulado, integrado s
preocupaes do momento e pode ser reelaborado em funo de novos atores
sociais que eventualmente passam a incorpor-lo como objeto de luta poltica.
As formas de presso envolvem o estudo dos atores sociais que podem
tanto representar certos grupos de interesses quanto um interesse geral, que deve ser explicitado enquanto tal. So porta-vozes empenhados em denunciar determinadas questes e que ocupam uma posio privilegiada para torn-las pblicas. Essas questes, transformadas em problemas sociais, levam a marca social
desses agentes que a pesquisa antropolgica deve recuperar. No caso da trans-
22
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
formao da velhice em problema social, essa questo , segundo Lenoir, especialmente importante. Diferentemente de outras categorias, os velhos no dispem
de meios sociais nem de instrumentos de acesso expresso pblica. Os representantes, que se colocam como porta-vozes das pessoas idosas so, atualmente,
experts, cuja competncia oficialmente reconhecida pela referncia a uma
especialidade cientfica, a Gerontologia.2
As formas de presso se traduzem em formas de expresso. Na transformao do envelhecimento em problema social esto envolvidas novas definies
da velhice e do envelhecimento, que ganham dimenso com a expresso Terceira
Idade. O texto acima mencionado, nesta coletnea, mostra tambm, como uma
nova imagem do envelhecimento constituda e a partir de um trabalho de categorizao e criao de um novo vocabulrio para tratar dos mais velhos. O
discurso sobre a Terceira Idade, assim, no acompanha simplesmente processos
de mudanas objetivas. Pelo contrrio, ele deve ser entendido como parte constitutiva dessas mudanas. Contribui para acelerar e direcionar processos, na medida em que opera reclassificaes que so constitutivas das formas de gesto do
envelhecimento.
Entender a Terceira Idade como uma construo social , portanto, recuperar questes, tais como:
- os contedos investidos nessa classificao;
- as formas de mobilizao e as condies que as tornam possveis;
- a especificidade dos agentes encarregados de dar credibilidade s representaes e o tipo de autoridade de que se servem para isso;
- os contedos simbolicamente produzidos e o modo pelo qual se constituem intervenes voltadas a uma populao especfica;
- a reelaborao e incorporao desses contedos nas prticas e autodefinies dos mais velhos.
Esse conjunto de questes fica vedado anlise que parte do pressuposto
de que a constituio da velhice como um problema social o resultado do envelhecimento populacional ou de que a Terceira Idade um nome que se d a uma
2
No caso brasileiro, sobretudo no que diz respeito a aposentadoria, o movimento dos aposentados
exige uma reviso deste suposto. Ver a respeito o trabalho de Jlio Assis Simes, 1993.
23
Guita Grin Debert
etapa do processo de degenerao fsica, cuja descoberta conseqncia de um
olhar detido sobre o corpo humano pautado exclusivamente na cincia biolgica.
9 - A cincia e a anlise cultural
O terceiro conjunto de dificuldades relacionadas ao estudo do envelhecimento est no fato de ele ser objeto de um discurso cientfico. Nas sociedades
ocidentais contemporneas, no apenas a velhice se constitui em problema social,
mas tambm objeto de uma especialidade reconhecida como cientfica a gerontologia.
Lnoir mostra que pensar na constituio da gerontologia enquanto especialidade cientfica se deparar com as etapas da evoluo das disciplinas que,
a maneira de camadas geolgicas transformam a velhice em uma especialidade. Os primeiros discursos pertenciam ao campo mdico e tratavam do envelhecimento orgnico, visto como desgaste fisiolgico. Esse discurso difundido em
obras especializadas e em revistas encarregadas de difundir o saber especializado e propor medidas de higiene corporal relacionadas com o retardamento do
envelhecimento. Mais tarde, com as polticas de aposentadoria, a problemtica
econmica e financeira com base na especialidade da demografia, impe-se no
campo poltico-administrativo. Trata-se de analisar o custo financeiro do envelhecimento, estabelecendo a relao entre a populao ativa e aquela que est
fora do mercado de trabalho. Dessa relao demogrfica se servem os experts em
administrao pblica e na gesto das caixas de aposentadoria, para calcular o
montante dos impostos ou das cotizaes de seus associados e dos gastos em
penses. Da mesma forma, e para responder s demandas dos mais velhos, especialistas em psicologia e sociologia emprestam seu saber para definir as necessidades dos aposentados e as formas de resolv-las. Alm disso, a gerontologia
tende, cada vez mais, a abarcar o problema do envelhecimento populacional que
se transforma em problema nacional. J no se trata apenas de melhorar as condies de vida do velho pobre, ou de propor formas de bem-estar que deveriam
acompanhar o avano das idades, ou ainda de empreender clculos de contribu-
24
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
ies adequadas s despesas com aposentadoria. Trata-se agora de apontar os
problemas que o crescimento da populao idosa traz para a perpetuao da
vida social, contrapondo-o a diminuio das taxas de natalidade. Ou seja, o
envelhecimento se transforma em um perigo, em uma ameaa vida social.
Em outras palavras, a transformao do envelhecimento em objeto de
saber cientfico pe em jogo mltiplas dimenses: do desgaste fisiolgico e o
prolongamento da vida ao desequilbrio demogrfico e o custo financeiro das
polticas sociais. A pluralidade de especialistas e abordagens que a Gerontologia abarca no impede a constituio de um campo de saber claramente delimitado, em que cada uma das disciplinas, sua maneira, contribui para definir a ltima etapa da vida como uma categoria de idade autnoma, com propriedades especficas, dadas naturalmente pelo avano da idade e que exigem
tratamentos especializados, como o desgaste fsico e os mdicos; a ausncia de
papis sociais e os socilogos; a solido e os psiclogos; a idade cronolgica e
os demgrafos; os custos financeiros e as ameaas reproduo das sociedades e os economistas e os especialistas na administrao pblica.
Essa autonomizao da velhice um dos obstculos que o pesquisador
encontra na construo de seu objeto de pesquisa e que o leva, na maioria das
vezes, a limitar seu campo de trabalho ao estudo da ltima etapa da vida.
Quando a anlise cultural est em jogo, esse campo tem que ser ampliado e o
texto de Featherstone, nesta coletnea, sugere maneiras atravs das quais essa
ampliao pode ser buscada de forma interessante.
A autonomizao da velhice abre tambm uma nova frente para a investigao antropolgica, que a anlise dos pressupostos que organizam as
representaes sobre a velhice nesses discursos. O discurso gerontolgico
um dos elemento fundamentais no trabalho de racionalizao e de justificao
de decises poltico-administrativas e do carter das atividades voltadas para
um contato direto com os idosos. Mesmo quando o poder de deciso final no
do gerontlogo, ele o agente que, em ltima instncia, tem a autoridade
legtima para definir as categorias de classificao dos indivduos e para reconhecer nos indivduos os sintomas e os ndices correspondentes s categorias
criadas.
25
Guita Grin Debert
O saber cientfico no um saber exclusivamente tcnico, mas um saber
que produz fatos normativos. As qualificaes e desqualificaes que ele opera
acabam por ter o estatuto de um direito e de definio de normas.
O texto de Lawrence Cohen, nessa coletnea, sobre a Gerontologia na ndia um bom exemplo de como a pesquisa antropolgica procede na anlise das
formas especficas que a Gerontologia assume em determinados contextos e do
tipo de luta que neles tem lugar para a imposio de novas necessidades, inclusive a necessidade de servios de especialistas para atend-las.
Essa tarefa especialmente importante em um momento em que o envelhecimento populacional visto como um problema que coloca em causa a reproduo da sociedade e do grupo nacional. Concebido como um perigo, o envelhecimento, como mostra Lenoir, oferece a certos agentes a oportunidade de
exercer uma magistratura meta-poltica em um domnio ainda pouco constitudo
politicamente.
A Antropologia, ao mostrar que a velhice uma construo social, ao acompanhar sua constituio em problema social e ao discutir os pressupostos
que regem o discurso gerontolgico, oferece elementos para a politizao dos
debates e da luta envolvida no tratamento do conjunto de questes indissoluvelmente ligadas ao envelhecimento.
Bibliografia
ARIS, P., Histria Social da Criana e da Famlia, Editora Guanabara, Rio de Janeiro,
1981.
__________, Por uma Histria da Vida Privada In Histria da Vida Privada, vol. 3,
Companhia das Letras, So Paulo, 1990.
BOURDIEU, P. A 'juventude' apenas uma palavra. In Questes de Sociologia, Marco Zero, Rio de Janeiro, 1983.
DEBERT, G. G., Famlia, Classe Social e Etnicidade: Um balano da bibliografia sobre experincia de envelhecimento In BIB Boletim Informativo e Bibliogrfico de Cincias Sociais, ANPOCS, n.33, 1992.
26
Pressupostos da reflexo antropolgica sobre a velhice
DUBY, G., Hommes et Structures du Moyen Age, Mouton, Paris, 1973.
ELIAS, N., O Processo Civilizador. Uma Histria dos Costumes. Jorge Zahar Editor, Rio
de Janeiro, 1990.
FORTES, M., Age, Generation, and Social Structure in Kertzer, D. & Keith, J. (org.)
Age and Anthropological Theory, Cornell University Press, Ithaca, 1984.
GEERTZ, C., A Interpretao das Culturas. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1978.
GIDDENS, A., Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge, 1992.
KOHLI, M. & Meyer, J. W., Social Structure and Social Construction of Life Stages
In Human Development, n 29, 1986.
KRIEGEL, A., Generation Differences: The History of an Idea In Daedalus, 105(2)
spring 1978.
LENOIR, R., Objet Sociologique et Problme Social In Champagne, P. et alli (org)
Initiation a la Pratique Sociologique, Dunod, Paris, 1989.
MEAD, M., Coming of Age in Samoa. American Museum of Natural History, New
York, 1973.
SIMMONS,L. W., The role of the Aged in Primitive Society. Yale University Press, New
Haven, 1945.
SIMES, J. A. O aposentado como ator poltico, mimeo, IFCH/UNICAMP.
27
Você também pode gostar
- Desenvolvimento e envelhecimento: Perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicasNo EverandDesenvolvimento e envelhecimento: Perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- DAYRELL - Juventude, Grupos Culturais e Sociabilidade.Documento18 páginasDAYRELL - Juventude, Grupos Culturais e Sociabilidade.Jahannes Rodrigues100% (1)
- GROPPO, Luis Antônio. A Juventude Como Categoria SocialDocumento11 páginasGROPPO, Luis Antônio. A Juventude Como Categoria SocialP. MendesAinda não há avaliações
- Chaves para a psicologia do desenvolvimento - tomo 2No EverandChaves para a psicologia do desenvolvimento - tomo 2Ainda não há avaliações
- Pressupostos Da Reflexão Antropológica Sobre A Velhice-1Documento21 páginasPressupostos Da Reflexão Antropológica Sobre A Velhice-1Éwerton SampaioAinda não há avaliações
- A Categoria Social JuventudeDocumento6 páginasA Categoria Social JuventudeGabriela VianaAinda não há avaliações
- 1 O IDOSOfinalDocumento42 páginas1 O IDOSOfinalSandro FélixAinda não há avaliações
- Juventudeuma Categoria Histórica e SocioculturalDocumento5 páginasJuventudeuma Categoria Histórica e SocioculturalAndréea VieiraAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento23 páginas1 PBSalomão DiasAinda não há avaliações
- Adolescência Através Dos SéculosDocumento8 páginasAdolescência Através Dos SéculosRoselle MatosAinda não há avaliações
- Guita Grin Debert. Velho, Terceira Idade, Idoso Ou Aposentado. Revista Coletiva. 2011Documento4 páginasGuita Grin Debert. Velho, Terceira Idade, Idoso Ou Aposentado. Revista Coletiva. 2011mar-23423Ainda não há avaliações
- Artigo História de Velhice (Na Íntegra)Documento13 páginasArtigo História de Velhice (Na Íntegra)Maury SilvaAinda não há avaliações
- Antropologia Velhice - GuitaDocumento11 páginasAntropologia Velhice - Guitaleontut100% (2)
- Da Velhice À Terceira Idade - o Percurso Histórico Das Identidades Atreladas Ao Processo de EnvelhecimentoDocumento14 páginasDa Velhice À Terceira Idade - o Percurso Histórico Das Identidades Atreladas Ao Processo de EnvelhecimentoVítor HugoAinda não há avaliações
- A Cultura Adulta e Juventude Como Valor - DebertDocumento24 páginasA Cultura Adulta e Juventude Como Valor - DebertFabiola CezarAinda não há avaliações
- Novas Imagens Do Envelhecimento e A Construção Social Do Curso Da VidaDocumento25 páginasNovas Imagens Do Envelhecimento e A Construção Social Do Curso Da VidaCharles PereiraAinda não há avaliações
- Culturas Juvenis Descobertas Do DialogoDocumento5 páginasCulturas Juvenis Descobertas Do DialogoMephisto PhilisAinda não há avaliações
- (D6965967 E284 4B3C B005 A28EBBBE3B35) - Sociologia Da JuventudeDocumento14 páginas(D6965967 E284 4B3C B005 A28EBBBE3B35) - Sociologia Da JuventudeCamila AraujoAinda não há avaliações
- Culturas JuvenisDocumento18 páginasCulturas JuvenisMaria Isabel LinharesAinda não há avaliações
- Sociologia Da JuventudeDocumento5 páginasSociologia Da JuventudeOsnildo Francisco KretzerAinda não há avaliações
- Velhice e Terceira Idade Na Sociedade ContemporâneaDocumento7 páginasVelhice e Terceira Idade Na Sociedade ContemporâneaLarissa RosaAinda não há avaliações
- Caderno Tematico Andifes JUVENTUDEDocumento53 páginasCaderno Tematico Andifes JUVENTUDEPatricia TROPIAAinda não há avaliações
- Carrano, P. Participação Social e Política de Jovens No Brasil.Documento17 páginasCarrano, P. Participação Social e Política de Jovens No Brasil.Matheus PasqualiAinda não há avaliações
- JuventudeDocumento8 páginasJuventudePëdrö Dämïãö KängänjöAinda não há avaliações
- A Invenção Das JuventudesDocumento6 páginasA Invenção Das JuventudesRossana RossiAinda não há avaliações
- Trabalho 94Documento15 páginasTrabalho 94lithgrindelwalddrAinda não há avaliações
- A Adolescência Como Construção SocialDocumento2 páginasA Adolescência Como Construção Sociallais isabelleAinda não há avaliações
- Juventude, Juventudes Pelos Outros e Por Ela Mesma - ABRAMOVAYDocumento36 páginasJuventude, Juventudes Pelos Outros e Por Ela Mesma - ABRAMOVAYAna CarolinaAinda não há avaliações
- Curso de VidaDocumento11 páginasCurso de VidaSilenio Elves SteelAinda não há avaliações
- Por Uma História Da Juventude BrasileiraDocumento4 páginasPor Uma História Da Juventude BrasileiraCarlos da Costa de JesusAinda não há avaliações
- Texto 11 - A Adolescência Como Ideal SocialDocumento5 páginasTexto 11 - A Adolescência Como Ideal SocialMichelle CarelliAinda não há avaliações
- Art. A Juvenilização Atual Das IdadesDocumento14 páginasArt. A Juvenilização Atual Das IdadesEpaminondas ReisAinda não há avaliações
- Adolescência TrassiDocumento170 páginasAdolescência TrassiThaysa CastroAinda não há avaliações
- Os Sujeitos Jovens e A EJADocumento34 páginasOs Sujeitos Jovens e A EJAdiogojordao92Ainda não há avaliações
- Geraã - Ã - o e DesigualDocumento65 páginasGeraã - Ã - o e DesigualValena NascimentoAinda não há avaliações
- Asilos de Velhos PasadoepresenteDocumento21 páginasAsilos de Velhos PasadoepresenteAlcione KullokAinda não há avaliações
- A Atualidade Do Conceito de Gerações Na Pesquisa Sociológica PDFDocumento10 páginasA Atualidade Do Conceito de Gerações Na Pesquisa Sociológica PDFliviaasrangelAinda não há avaliações
- Tribos Urbanas Na EscolaDocumento17 páginasTribos Urbanas Na EscolaJuninhoDeAndradeAinda não há avaliações
- Adolescência Prolongada - Um Olhar Sobre A Nova GeraçãoDocumento21 páginasAdolescência Prolongada - Um Olhar Sobre A Nova GeraçãoElisa AlendesAinda não há avaliações
- Artigo Sobre JuventudeDocumento23 páginasArtigo Sobre JuventudeVera Carvalho100% (1)
- Terceira Idade - Nova Identidade, Reinvenção Da Velhice Ou Experiência GeracionalDocumento15 páginasTerceira Idade - Nova Identidade, Reinvenção Da Velhice Ou Experiência GeracionalJo JoAinda não há avaliações
- Resenha La Juventud Es Más Que Una PalabraDocumento2 páginasResenha La Juventud Es Más Que Una PalabraAna Érica100% (1)
- Adolescência e ContemporaneidadeDocumento13 páginasAdolescência e Contemporaneidadecaio sAinda não há avaliações
- Aula 1 - Periodização Da Vida e Suas Implicações para o Estudo Dos Estágios Do DesenvolvimentoDocumento11 páginasAula 1 - Periodização Da Vida e Suas Implicações para o Estudo Dos Estágios Do DesenvolvimentoAndersson LimaAinda não há avaliações
- Marialice Sociologia Da Juventude BrasileiraDocumento27 páginasMarialice Sociologia Da Juventude BrasileiraDidz DiegoAinda não há avaliações
- Antropologia e Velhice - Guita Grin Debert (Org.)Documento120 páginasAntropologia e Velhice - Guita Grin Debert (Org.)Boris Jr.Ainda não há avaliações
- A Natureza E As Origens Da SociologiaDocumento15 páginasA Natureza E As Origens Da SociologiaElisa Muniz100% (1)
- Resenha Dialética Das JuventudesDocumento3 páginasResenha Dialética Das JuventudesAna ÉricaAinda não há avaliações
- A Sociologia Da Juventude Tem DefinindoDocumento7 páginasA Sociologia Da Juventude Tem DefinindoDeane TaiaraAinda não há avaliações
- Jovem Sujeito Social (Dayrell)Documento23 páginasJovem Sujeito Social (Dayrell)Andréea VieiraAinda não há avaliações
- 9S A Importância Da Sociologia Da Infância e As Práticas PedagógicasDocumento11 páginas9S A Importância Da Sociologia Da Infância e As Práticas PedagógicasBrenda SousaAinda não há avaliações
- Sociologia Da JuventudeDocumento218 páginasSociologia Da JuventudeUarle CarvalhoAinda não há avaliações
- Um Olhar Antropológico Sobre Os Ciclos Da VidaDocumento11 páginasUm Olhar Antropológico Sobre Os Ciclos Da VidaSofi GRAinda não há avaliações
- BENETTI, Idoseia Collodel. ZANELLA, Michelle. CONSTRUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO IDOSO CIDADÃODocumento16 páginasBENETTI, Idoseia Collodel. ZANELLA, Michelle. CONSTRUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO IDOSO CIDADÃOJakelline BatistaAinda não há avaliações
- PAIS, José Machado. A Construção Sociológica Da JuventudeDocumento28 páginasPAIS, José Machado. A Construção Sociológica Da JuventudeKarl MichaelAinda não há avaliações
- A História Da Ed. Física No Mundo - Aula 02Documento22 páginasA História Da Ed. Física No Mundo - Aula 02Gerardo Marcilio Pinto LimaAinda não há avaliações
- Identidade e Sexualidade No Discurso Adolescente PDFDocumento28 páginasIdentidade e Sexualidade No Discurso Adolescente PDFMarco SadockAinda não há avaliações
- A Dissolução Da Vida Adulta e A Juventude Como ValorDocumento22 páginasA Dissolução Da Vida Adulta e A Juventude Como ValorIsabela MartinsAinda não há avaliações
- C 21 74 PDFDocumento189 páginasC 21 74 PDFmarcon.pcAinda não há avaliações
- SCI Apresentação de Negócios 2017 AtualizadaDocumento40 páginasSCI Apresentação de Negócios 2017 Atualizadamarcon.pcAinda não há avaliações
- Cremos em Deus Nosso PaiDocumento27 páginasCremos em Deus Nosso Paimarcon.pcAinda não há avaliações
- Na Bíblia, A Bússula Da VidaDocumento26 páginasNa Bíblia, A Bússula Da Vidamarcon.pc100% (1)
- Registro de Grupo Familiar: MaridoDocumento2 páginasRegistro de Grupo Familiar: MaridoLourdes LudgeroAinda não há avaliações
- 2018 11 06 - 616638 Edicao 1263Documento21 páginas2018 11 06 - 616638 Edicao 1263Webert FernandesAinda não há avaliações
- A Paz - de Songbook - João DonatoDocumento2 páginasA Paz - de Songbook - João DonatoReginaldo100% (1)
- Manual Calouro UFRR 2023Documento16 páginasManual Calouro UFRR 2023HUMBERTONOGUEIRAAinda não há avaliações
- Avaliação de ImoveisDocumento30 páginasAvaliação de ImoveisEduardo Rampanelli TosettoAinda não há avaliações
- Tabela Salarial NM 2019.08 PDFDocumento2 páginasTabela Salarial NM 2019.08 PDFRodrigo Lima Gomes100% (1)
- DIREITO ResumosDocumento59 páginasDIREITO ResumosFábio BastosAinda não há avaliações
- Ebook - Aula 1 - ImersãoDocumento20 páginasEbook - Aula 1 - Imersãofabiano aozaniAinda não há avaliações
- EdiitalDocumento126 páginasEdiitalAnonymous 0NEKxj1CAinda não há avaliações
- Fortaleza, 04 de Setembro de 2023 - SÉRIE 3 - ANO XV Nº167 - Caderno 2/2 - Preço: R$ 21,97Documento48 páginasFortaleza, 04 de Setembro de 2023 - SÉRIE 3 - ANO XV Nº167 - Caderno 2/2 - Preço: R$ 21,97Pedro LucasAinda não há avaliações
- 49 - Edital Do Concurso (Retificado em 07-01-2019) - 1546859923Documento57 páginas49 - Edital Do Concurso (Retificado em 07-01-2019) - 1546859923My Books 2010Ainda não há avaliações
- Auditoria Sus Contexto SnaDocumento104 páginasAuditoria Sus Contexto SnaricardoAinda não há avaliações
- Boleto - 09 06 2023 2Documento1 páginaBoleto - 09 06 2023 2Henrique OrtolaniAinda não há avaliações
- Publico 20140630Documento48 páginasPublico 20140630Pedro Miguel Abreu100% (1)
- Codigo de Etica e Conduta Da ANEPS-novoDocumento6 páginasCodigo de Etica e Conduta Da ANEPS-novoJam RamosAinda não há avaliações
- Sugestão de Planilha Orçamentaria 2021Documento10 páginasSugestão de Planilha Orçamentaria 2021Leandro CardosoAinda não há avaliações
- Participa SUSDocumento41 páginasParticipa SUSisrael233Ainda não há avaliações
- Enviando Por Email PDF - MENTORIA PLATINUM TIRADENTESDocumento15 páginasEnviando Por Email PDF - MENTORIA PLATINUM TIRADENTESÁdila VasconcelosAinda não há avaliações
- NP en 933-2 - 1999 PDFDocumento7 páginasNP en 933-2 - 1999 PDFalmirante_andreAinda não há avaliações
- Alimentos NCCDocumento13 páginasAlimentos NCCApolenario FilimianoAinda não há avaliações
- 08 - Enfermeiro - EstomaterapeutaDocumento10 páginas08 - Enfermeiro - EstomaterapeutaGlícia OliveiraAinda não há avaliações
- Doutorado em Educacao - FFP 2023Documento21 páginasDoutorado em Educacao - FFP 2023E. M. Anton DworsakAinda não há avaliações
- Despacho N.º 12 - 2022 Calendário Académico ESTM 2022 - 2023 - SignedDocumento4 páginasDespacho N.º 12 - 2022 Calendário Académico ESTM 2022 - 2023 - Signedmargarida tomeAinda não há avaliações
- PDFDocumento1 páginaPDFlucasAinda não há avaliações
- Aposentadoria Ou BPC Por AUTISMO - Direitos, Regras e Como SolicitarDocumento25 páginasAposentadoria Ou BPC Por AUTISMO - Direitos, Regras e Como Solicitaresc.rem.advAinda não há avaliações
- Ficha Cadastral BarãoDocumento2 páginasFicha Cadastral BarãolucamorimAinda não há avaliações
- Ação de AlimentosDocumento10 páginasAção de AlimentosElisa MoraesAinda não há avaliações
- As Igrejas BatistasDocumento13 páginasAs Igrejas BatistasrronaldofpinhoAinda não há avaliações
- Memorex OAB - Rodada 2 - Exame XXXVIIIDocumento177 páginasMemorex OAB - Rodada 2 - Exame XXXVIIINathan HumbertoAinda não há avaliações
- SiegeDocumento470 páginasSiegeAndré P SelvaAinda não há avaliações