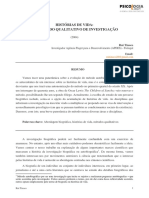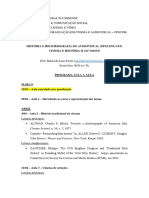Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
RAMOS & SERAFIM - Cinema Documentário, Pesquisa e Método - Desafios para Os Estudos Interdisciplinares PDF
RAMOS & SERAFIM - Cinema Documentário, Pesquisa e Método - Desafios para Os Estudos Interdisciplinares PDF
Enviado por
Gabi LealTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RAMOS & SERAFIM - Cinema Documentário, Pesquisa e Método - Desafios para Os Estudos Interdisciplinares PDF
RAMOS & SERAFIM - Cinema Documentário, Pesquisa e Método - Desafios para Os Estudos Interdisciplinares PDF
Enviado por
Gabi LealDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cinema documentrio, pesquisa e mtodo
Desafios para os estudos interdisciplinares
Natlia Ramos', Jos Francisco Serafim2
Resumo
Destaca-se neste texto a importncia, caractersticas e vantagens da metodologia
filmica na pesquisa e na interdisciplinaridade. Salientam-se igualmente alguns
princpios e procedimentos metodolgicos, tcnicos e analticos sobre a utilizao
da imagem documental na pesquisa. Aps um rpido panorama histrico e
metodolgico sobre o filme documentrio, desde o surgimento do cimematgrafo
em 1895 na Frana, passando por dois de seus maiores representantes, Robert
Flaherty e Dziga Vertov, busca-se mostrar o interesse deste aporte metodolgico.
Este inclui a imagem esttica e em movimento nos trabalhos acadmicos e foi
niciado pelos pesquisadores Margaret Mead e Gregory Bateson nos anos 1930,
seguidos por pesquisadores franceses tais que Marcel Griaule e Jean Rouch,
nos anos 1930 e 1940, vindo a se tornar uma disciplina, no sentido amplo do
termo, quando a pesquisadora Claudine de France publica o texto Cinema e
Antropologia no final do anos 1970. A partir deste momento esta nova disciplina
a antropologia filmica comea a ser um instrumental valioso para a compreenso
do Homem e das atividades humanas em situao de pesquisa.
Palavras chaves: Cinema documentrio; pesquisa; metodologia flmica
163
Abstract
This text focuses on the importance, characteristics and advantages of the filmic
methodology in research and in interdisciplinary studies. It points out too some
principies and methodological behaviours, techniques and analytics about the
use of the documentary image in the research. lnitially, there is a short historical
and methodological review on documentary film, from the beginning of lhe
cimematograph in1895 in France, going through two of its major representatives
- Robert Flaherty and Dziga Vertov. Then, we demonstrate the interest for
methodological approach which includes still image and in movement in academic
works. This methodology, started by the researchers Margaret Mead and Gregory
Bateson in the 1930s, followed by the French Jean Rouch in the 1940s, became
a field of study on its own when researcher Claudine de France published her
text Cinema and Anthropology, at the end of the 1970s. From then onwards, this
new discipline - filmic anthropology - became a precious tool for the understanding
of Man and human activities in research situation.
Keywords: Documentary film, research; filmic methodology
1 Natlia Ramos doutorado em Psicologia Social realizado na Universidade de Paris V Professora
e pesquisadora na Universidade Aberta de Lisboa e diretora do Mestrado em Comunicao e
Sade
2 Jos Francisco Serafim realizou o doutorado em cinema Documentrio na Universidade Paris
X Nanterre. atualmente professor e pesquisador na Faculdade de Comunicao e no Programa
de Ps-Graduao em Comunicao e Cultura Contemporneas da Universidade Federal da
Bahia
Introduo
A imagem tem vindo a ocupar um lugar privilegiado na
pesquisa, no mbito das diferentes reas disciplinares, em particular,
das Cincias Humanas e Sociais.A pesquisa envolvendo a imagem
esttica ou em movimento pode reportar-se observao e anlise da
imagem relativa ao processo filmado por outros ou ao processo de
registro e edio das imagens coletadas pelo prprio pesquisador.
E nesta segunda perspectiva que neste artigo abordaremos
algumas questes metodolgicas relativas utilizao do cinema,
particularmente do documentrio, para a observao e conhecimento
do, Homem, na sua unidade e diversidade e nos diferentes contextos
sociais e culturais.
Sublinha-se a importncia do filme para desvendar aspectos da
sociedade por vezes margem, difusos ou ostensivos a fim de traz-los
para o campo do visvel e partilha-los, no s, com as pessoas filmadas,
mas tambm com outros pesquisadores e a comunidade em geral, indo
ao encontro da perspectiva de "antropologia partilhada" defendida pelo
antroplogo-cineasta Jean Rouch (1979).
164
Os mtodos e as tcnicas audiovisuais trouxeram mudanas ao
nvel dos paradigmas conceituais, tericos e prticos abrindo novas
perspectivas de pesquisa e possibilitando a anlise da comunicao em
suas diferentes dimenses.
Ao nvel metodolgico, a imagem animada sonora ao integrar a
comunicao verbal e no verbal e os contextos onde se desenrolam as
atividades, permite uma abordagem holstica, interacionista e apreender
a "situao total', ', utilizando a terminologia dos antroplogos Marcel
Mauss (1934) e Margaret Mead (1951, 1979)
Apresentam-se neste artigo algumas caractersticas e
especificidades da utilizao do mtodo filmico na antropologia filmica
e na pesquisa.
Contextualizao terica e metodolgica
Na Frana, os irmos Louis e Auguste Lumire, foram no s
os inventores do cinema em 1895 com a criao do "cinematgrafo",
como tambm os pioneiros e precursores do cinema documentrio,
filmando diversas cenas da vida familiar e quotidiana que projetaram
em pequenos filmes no Salo ndio do Grand Caf de Paris.
Alguns meses depois da primeira sesso pblica dos filmes dos
irmos Lurnire, ocorrida em 28 de dezembro de 1895, igualmente
na Frana que o mdico e etnlogo Fel ix-Louis Regnault (1896), ser
o primeiro pesquisador a sublinhar o interesse do filme com objetivo
de pesquisa, sobretudo para o estudo das tcnicas corporais, do
movimento e posturas em diferentes grupos tnicos e ainda para observar
fatos que escapam aos nossos sentidos porque demasiados rpidos e
fugazes. Para este pesquisador "O cinema aumenta a nossa viso no
tempo corno o microscpio a aumentou no espao. Ele nos permite
observar fatos que escapam aos nossos sentidos porque demasiados
rpidos e fugazes".
Em 1898, na Inglaterra o pesquisador Alfred C. Haddon ser o
pioneiro ao introduzir o instrumental filmico na pesquisa
multidisciplinar no Estreito de Torres (situado entre a Austrlia e a
Nova Guin) para estudar diversos aspectos sociais, culturais e rituais
de algumas populaes locais desta regio do Pacfico e captar diversas
manifestaes possveis de serem registradas atravs da imagem em
movimento. 165
O cinema documentrio comear a ganhar importncia nos anos
1920,
com os dois grandes pioneiros do gnero, o norte-americano
Robert Flaherty e o russo Dziga Vertov. Com efeito, Nanook, do Norte,
realizado em 1922 por Flaherty e O homem com a cmera dirigido por
Vertov em 1920, constituem dois modelos do cinema documentrio, os
quais iro marcar a trajetria deste gnero cinematogrfico.
Flaherty, no seu documentrio Nanook, do Norte, vai observar e
filmar a vida quotidiana de unia famlia lnuit no norte do Canad, ao
longo das estaes do ano, sublinhando a vida harmoniosa deste grupo,
apesar da luta pela sobrevivncia em uma regio inspita e em condies
adversas. A temtica da ralao entre o Homem e a natureza ser o fio
condutor dos trabalhos posteriores realizados por este cineasta, tais
como Moana (1926) realizado nas ilhas Samoa e O homem de Aran
(1934) filmado na costa oeste irlandesa.
J Vertov, no filme O homem com a cmera, atravs da cmera
ativa do "cinema-olho" (kinoglaz) procura apreender no contexto urbano
e na conteniporaneidade, no s as atividades do novo homem e mulher
soviticos na cidade, como tambm evidenciar o prprio processo de
realizao cinematogrfica e o que vir a ser um dos primeiros
metafilmes da histria do cinema.
Enquanto Flaherty se interessa, sobretudo, pela descrio das
atividades humanas no contexto em que ocorrem, o que poder
considerar-se um dos pioneiros do cinema antropolgico e etnogrfico,
Vertov vem com seu mtodo experimental desenvolver uma outra
perspectiva cinematogrfica.
Em relao ao mtodo filmico, igualmente importante sublinhar
o trabalho de Gregory Bateson e Margaret Mead (1942), os quais
introduziram nos EUA, o mtodo visual com a utilizao da imagem
esttica (fotografia) e em movimento (cinema) com objetivo de pesquisa.
Estes dois pesquisadores, no somente foram precursores na introduo
do mtodo fotogrfico e filmico na pesquisa, como tambm nos estudos
culturais e comparativos sobre a infncia, estudando a educao e a
socializao da criana em diferentes grupos e contextos culturais. S
nos anos 1930 em Bali, Nova Guin e EUA, realizaram diversos filmes
nestas reas geogrficas e reuniram 25 000 fotografias (BATESON e
MEAD, 1938a, 1939, 1942, 1954, 1955).
166 Ao incorporarem desde o inicio dos seus trabalhos a pesquisa
fotogrfica, e filmica, a interdisciplinaridade e o mtodo comparativo
para observar e analisar os comportamentos em diferentes grupos
tnicos e culturais, Mead e Bateson esto na origem dos mtodos
modernos de pesquisa.
Na Frana, Marcel Griaule (1938, 1957) e Jean Rouch (1948,
1957, 1961, 1968, 1972, 1979) foram igualmente pioneiros na utilizao
do filme como mtodo de pesquisa etnogrfica, sobretudo na anlise
dos ritos e das atividades rituais, comeando a imagem animada a ocupar
um espao importante nos trabalhos etnolgicos e antropolgicos.
Rouch (1949, 1972) interessa-se particularmente pelas
cerimnias religiosas e pelos rituais de iniciao praticados pelos
Songhay (Niger), colocando simultaneamente em evidncia a
organizao dos processos de aquisio e transmisso dos rituais e os
gestos e modalidades de aprendizagem.
Atravs de uma "cmera participante" (HEUCH, 1962), de uma
cmera em movimento e do que denominou "cinema-verdade", Rouch
foi filmar o Homem nas suas atividades banais ou rituais, foi ao encontro
do eu e do outro no territrio africano ou no espao urbano e familiar
na regio de Paris.
Seguiram-se outros pesquisadores da universidade de Paris X -
Nanterre e da universidade de Paris V que tm utilizado o filme no
estudo das tcnicas do corpo, dos processos de aprendizagem das
atividades educativas e rituais. (FRANCE, 1998; COMOLLI, 1983,
1995; GUERONNET, 1977; LOURDOU, 1975; STORK, 1982,1986).
Claudine de France(1998) desenvolveu as bases conceituais da
unia nova disciplina, a antropologia filmica, em seu livro Cinema e
Antropologia, constituindo uni marco decisivo para o desenvolvimento
deste novo domnio cientfico.
Por seu lado, Annie Cornoili elaborou unia cinematografia das
aprendizagens atravs dos seus trabalhos relativos aprendizagem de
de
tcnicas materiais, corporais e rituais.
Cinema documentrio e antropologia flmica
A realizao de um filme de pesquisa baseia-se eni opes
metodolgicas, estratgias flmicas precisas e procedimentos ticos.
Ao decidir utilizar a cmera corno instrumento de pesquisa, o
pesquisador deve refletir sobre as possibilidades tcnicas de que dispe
167
e nas questes ticas que se colocam entre o objeto a ser estudado e o
mtodo a ser utilizado.
No filme de pesquisa de carter etnogrfico e antropolgico e no
mtodo que utilizamos o pesquisador participante e a cmera esta
nas mos do investigador que a movimenta e a toma ativa e participante.
Jean Rouch observa que
Hoje todos movimentar-
se os operadores do cinema direto sabem movimentar-
se com a cmera que se tornou a "cmera viva", "cinema-olho"
de Vertov. No domnio do filme etnogrfico, esta tcnica
particularmente eficaz, pois permite unia adaptao ao em
funo do espao, permite penetrar na realidade eni vez de deix-
la desenrolar-se perante o observador ( ... ) para niini, a nica
maneira de filmar de caminhar com cmera, de conduzi-Ia
onde ela mais eficaz e, de improvisar uni outro tipo de "baliet",
onde a cmera se tome to viva quanto os Homens que ela filma.
(1979:62-63)
Trata-se da utilizao de uma cmera implicada e orientada s
questes de pesquisa e observao participante facilitando a insero
no terreno e a familiarizao do objeto e sujeitos de estudo, com o
pesquisador e com a prpria cmera.
Uma fase inicial da pesquisa consiste na insero do pesquisador
junto ao grupo com o qual se deseja trabalhar. E necessrio obter a
autorizao dos participantes para o desenrolar da pesquisa filmica,
fase fundamental para a continuidade do trabalho.
importante respeitar o desenvolvimento natural das atividades,
sem a interveno do pesquisador-cineasta, o que vem fortalecer a
relao entre o filmador e o fimado. Quanto melhor for a insero do
pesquisador no campo, mais as pessoas observadas participam no
processo e aumenta a relao de confiana e de aceitao que .se
estabelece entre todos os participantes.
O hbito de o pesquisador se apresentar no local de estudo com
os instrumentos filmicos e fotogrficos, entra como uma atividade de
rotina, familiariza o outro com o pesquisador e seus instrumentos e
atenua nas pessoas filmadas a "conscincia da cmera" (BATESON,
168 1942) e os efeitos da "profilmia" (FRANCE, 1998). Os efeitos da
cmera, da profilmia, esto sempre mais ou menos presentes durante
toda pesquisa filmica, mas eles podero ser atenuados se observarmos
os princpios acima salientados.
Quando filmamos em contextos culturais e meios sociais
diferentes daqueles do pesquisador, necessrio combater os
esteretipos e as idias pr-concebidas e desenvolver uma atitude de
autocrtica. importante respeitar os hbitos e costumes das populaes
que estudamos e no transpor os modelos de nossa prpria cultura
(BASTIDE, 1958; RAMOS, 1993, 2001; SERAFIM, 2002, 2004)
Ao passarmos da fase de insero e da observao direta para a
observao instrumentalizada, ou seja, com o uso da cmera, o
pesquisador obrigado a elabora uma "reconverso do olhar", ou
melhor,
essa reconverso comea com a tomada de conscincia, por
parte do aprendiz cineasta, dos traos que permitem distinguir
a observao filmica da observao direta. Ela prossegue no
dificil aprendizado de uma nova ordem de relaes entre os
diferentes meios de apreenso sensorial. (ROSENFELD, 2000:
51).
Nesta fase do processo de pesquisa, torna-se indispensvel a
adequao entre a mise cri do cineasta e a auot- niise en scne
das pessoas filmadas. Para Claudine de France
Pelo simples fato de que aceitem ser filmadas, as pessoas
observadas se colocam em cena e so testemunhas da interveno
cri
do cineasta. Mise prpria s pessoas filmadas e
interveno do observador-cineasta se manifestam em diversos
nveis, mais frequentemente revelia de seus prprios autores.
( ... ) a observao do etnlogo-cineasta, mesmo a mais distante
sempre "participante". Ou seja, o etnlogo-cineasta participa
sempre de alguma maneira, do processo observado, porque sua
cri
interveno e a auto-mise prpria das pessoas filmadas
so inevitveis. Reciprocamente, as pessoas filmadas participam
do processo de observao porque intervm da niise cii scne do
cineasta. (1998: 21-22)
169
Esta adequao processa-se atravs da variao de postos de
observao, enquadramentos, ngulos de viso, distncias focais, planos
fixos e em movimento, em funo das atividades, relaes e gestual
idades que se pretendam observar e destacar.
Torna-se, desta forma, necessrio adotar estratgias diferentes,
a fim de resolver os problemas que surgem nas situaes particulares,
como exemplo podemos citar, entre outros, a situao em que filmamos
em espaos exguos, domsticos atividades relacionadas ao banho,
toalete, alimentao e atividades ldicas (RAMOS, 1993, 2002;
SERAFIM, 1994) ou em espaos escolares, como creches, jardins da
infncia e escolas, onde encontramos uni nmero elevado de
participantes e mltiplas atividades ocorrendo simultaneamente
(RAMOS 1994,1996,1997,1998,2000; RAMOS e SERAFIM 2001 a,
2001 b).
A devoluo das imagens aos participantes, ou seja, o feed-back
com a discusso e partilha do produto realizado com as pessoas
filmadas, permite que estas tenham uni controle do material registrado,
clarifiquem ou acrescentem elementos que no so claros para o
pesquisador e, por vezes, para os prprios participantes e introduzem
novas relaes de pesquisa tornando o filme fruto uma cooperao
entre o pesquisador e os sujeitos filmado estabelecendo-se uma relao
de intersubjetividade.
A construo final do filme processa-se no momento da edio
do material filmado, aps mltiplos visionamentos e anlise rigorosa e
minuciosa do material bruto. O resultado final , em geral, um
documento sbrio, desprovido de efeitos tcnicos (fade, fuso, slow
motion etc.) e de comentrios orais. O auxilio de um narrador da voz
over e voz off s so utilizados nas situaes estritamente necessrias
do ponto de vista narrativo. Busca-se assim preservar ao mximo a
fidelidade ao processo observado, respeitando a cronologia dos eventos
e o ambiente natural onde os mesmos ocorrem.
Os produtos resultantes do material coletado e analisado podem
ser de vrios tipos, Podero ser, por exemplo, documentos de carter
descritivo ou comparativo. O documento descritivo aprofundado,
desenvolveu-se principalmente a partir dos trabalhos filmicos de Robert
Flaherty. J documento de tipo comparativo foi iniciado por Gregory
170 Bateson e Margaret Mead, onde se destaca sobretudo o filme Bathing
Babies in Three Cultures (1954).
Posteriormente outros pesquisadores desenvolveram esta
metodologia realizando, tanto ao nvel descritivo como comparativo,
diversos documentos filmicos. Ramos (1993, 1995a, 2001, 2002a),
Stork, Ramos et ai. (1994,1995), Ramos e Serafim (2001a, 2001b,
2001c) realizaram diversos filmes comparativos sobre os cuidados s
crianas em diferentes culturas, favorecendo a comparao das
observaes e permitindo salientar as semelhanas, mas tambm as
diferenas dos comportamentos e das atividades humanas.
Outros documentos buscam uma descrio mais aprofundada
dos fenmenos estudados a fim de uma maior compreenso de um
determinado grupo ou sociedade. Nesta linha, podemos destacar os
trabalhos de Ramos (1994b, 1995b, 1996c, 1997, 1998, 2000a, 2001),
de Ramos e Serafim (200 la), realizados em famlias, creches ejardins
de infncia em diferentes pases europeus (Portugal, Frana, Itlia e
Romnia) e da Amrica Latina (Brasil).
Nos filmes As mos que embalam (1999a) e Bercements
Tsiganes (1999b) podemos observar em vrias famlias de origem
cigana, originrias da ex-Yugoslvia e vivendo na Itlia, as prticas
educativas, cuidados s crianas e estilos comunicacionais, sendo
evidente corno todo o grupo se ocupa da criana, o estilo proximal de
interao e a iniciao precoce das crianas nas atividaddees de cuidados
maternos.
J nos filmes Isabelie (Ramos, 1 996a),Une farnilie portugaise
Paris (Ramos, 1996c) e Isthar e Sotis (Ramos, 2000a), podemos
observar os estilos educativos e cornunicacionais e as tcnicas de
maternagem, eni famlias de origem africana e portuguesa, imigrantes
respectivarnente em Frana e Itlia. Podemos igualmente constatar
particularidades relacionadas com a situao de imigrao e
aculturao, nomeadamente, influncias da cultura de origem e da
cultura de acolhimento nesses estilos e prticas.
Nos filmes Apaiser le bb Ia crche (Ramos, 1994a), Autour
des gestes de maternage (Ramos, 1996b) e Le jour se lve (Ramos,
1997), podemos observar em vrias creches e jardins de infncia da
regio centro de Portugal , a dinmica educativa, os cuidados e estilos
interativos das educadoras coni as crianas, as diferentes atividades de
estimulao e, ainda, como as crianas se exercitam, desde muito cedo,
na aprendizagem das tcnicas de cuidados maternos.
171
No filme Grands parents et Petits Enfants (Ramos, 1995a),
dedicado participao dos avs nos cuidados e educao dos netos,
podemos observar vrias avs e avs portugueses em atividades de
cuidados, tais corno, adormecimento, banho e toalete, alimentao,
interaes ldicas e de estimulao de bebs no primeiro ano de vida.
Observamos, igualmente, unia riqueza e diversidade de estimulaes
verbais, fsicas e sinestsicas na interao com a criana e prticas
religiosas e mgico-religiosas de proteo.
Nesta perspectiva situam-se igualmente alguns trabalhos de Jos
Francisco Serafim (2000a, 2000b, 2000c, 2000d, 2000e, 2000f)
realizados junto ao grupo Wasusu sobre os aprendizados a vida
quotidiana neste grupo indgena que vive em urna reserva no estado de
Mato Grosso.
Serafim realizou com este grupo tnico unia pesquisa filmica
aprofundada, tendo realizado vrios filmes dedicados ao processo de
educao e socializao da criana das crianas e das atividades
quotidianas realizadas pelos Wasusu. Os filmes mostram como se
processa a socializao da criana, sobretudo, no grupo domstico e
como as aprendizagens ocorrem principalmente por observao,
imitao e participao. As crianas indgenas iniciam-se muito
precocemente nas atividades domsticas, no transporte dos bebs e nos
variados cuidados infantis, sendo o modo de comunicao predominante
com a criana o contato corporal e visual. Observa-se, por exemplo,
atravs dos documentos flmicos que o contato fisico quase constante
em todas as atividades e que a comunicao verbal bastante reduzida.
Constata-se, ento, que a metodologia, atravs da utilizao da
imagem em movimento fornece uma contribuio valiosa para o
desenvolvimento do conhecimento tanto ao nvel da pesquisa como da
formao. Ela nos d a descrio tanto das palavras como das posturas
e dos gestos, permitindo-nos aceder aos contedos verbais e no-verbais.
A este propsito Annie Comolli observa em seu texto "lments
de mthode en anthropologie filmique" que
Descrever atravs do filme consiste em apresentar de forma
aprofundada ou simplesmente fragmentada uma pessoa, um
grupo humano, uma atividade ou um conjunto de atividades, um
lugar, um momento etc. Trata-se para o cineasta, de explorar,
172 mais ou menos detalhadamente os aspectos sensveis do objeto
de estudo. A descrio filmica diz respeito somente indiretamente
ao sensvel no acessvel pelo filme, como igualmente ao no
sensvel. O tctil, o olfativo, o gustativo so simplesmente
sugeridos ou indicados pelo filme graas apresentao de
manifestaes concretas apreendidas pela vista e pela audio
(2003: 16).
Consideraes finais
O filme um meio de comunicao como outro qualquer e um
meio de comunicao intercultural por excelncia. So inmeras as
vantagens da utilizao da imagem e das tcnicas audiovisuais no
domnio social, comunicacional, intercultural, psicolgico e
educacional.
O documento filmico promove uma atitude de descentrao
(Piaget, 1970) a qual contribui para flexibilizar e relativizar princpios
apresentados como nicos e universais, buscando-se evitar
comportamentos de intolerncia e vindo facilitar e aprofundar a
comunicao junto dos diferentes grupos e comunidades (RAMOS,
2003d).
O filme documentrio constitui-se em um excelente suporte tanto
para a pesquisa fundamental ou aplicada como a formao de diferentes
reas disciplinares.
Claudine de France observa, neste sentido, que:
Tudo nos leva a concluir que os numerosos problemas levantados
durante a elaborao de uni filme, as reflexes e as descobertas
que esta experincia suscita fazem do cinema etnogrfico algo
mais que a simples ocasio de armazenar imagens sonoras que
viro ilustrar ou completar trabalhos escritos, e do cineasta um
pesquisador completo, cuja empreitada engendra
progressivamente uma disciplina autnoma que propusemos
chamar provisoriamente de antropologia filmica. (1998:401)
fundamental que a metodologia ilniica seja integrada nas
diversas cincias sociais e humanas, de modo a favorecer o
conhecimento do Homem e das suas atividades nos diferentes contextos
173
e culturas, vindo a possibilitar o estudo do "fato social total" e a
promover a anlise e a comparao inter/transcultural.
Referncias Bibliogrficas
BATESON, G.; MEAD, M. Balinese character, a photographic
analysis. New York: The Ncw York Acadeniy of Scicnccs, 1942.
BATESON, G. et ai. . La nouvelie comniunication. Paris : Scuil,
1981.
BATESON, G. ; RUESH, J. Communication cl Socit. Paris: Seuli,
1988.
COMOLLI, A. Les gestes du savoir. La Garcnnc-Colombcs Publidix,
1983.
COMOLLI, A. Cirimatographics des apprentissages. Fondements
et stratgics. Paris : Argunients, 1995.
COMOLLI, A. Elmenis dc mthode em anthropologic filmique.
Travaux en Anthropologic filmiquc. Nanterre: Publidix Universit Paris X
- FRC, 2003, PP 5-43.
FRANCE, C. de (cd). Pour une anthropologie visucllc. La Hayc
Mouton Ed. et EHESS, 1975.
FRANCE, C. de . Cinema e antropologia. Campinas : Editora da
Unicamp Papiprus, 1998,
ROSENFELD, J. M. Filmar uma reconverso do olhar. FRANCE,
C. de (org.) Do filme etnogrfico antropologia filmica. Campinas: Editora
da Unicamp, 2000, pp. 43-53.
FRANCE, X. de. Elments de scnographie du cinma. Nanterre
Univ. de Paris X, 1989.
GRIAULE, M. Masques dogon. Paris: Mmoires de l'Institut
d'Ethnologie, XI, 1938.
GRIAULE, M. Jeux Dogon. Paris : Institut d'Ethnologie, 1938.
GRIAULE, M. Mthode de Yethnologue. Paris: PUF, 1957.
HEUCH, L. Cinma et sciences sociales. Paris : UNESCO, 1962.
LEROI-GOURHAN, A. Cinema et sciences humaines. Le film
ethnographique existe-t-il ? Revue de gographie humaine et d'ethnologie.
3, pp. 42-51, 1948.
LEROI- GOURHAN, A. Le geste et Ia parole. 1. Technique et langage.
Paris : A. Michel, 1964.
LEROI-GOURHAN, A. Le geste et la parole. II. La mmoire et les
rythmes. Paris : A. Michel, 1965.
MAUSS, M. Les techniques du corps. Journal de Psycho1ogie (32,
174 3-4), 1934, pp. 271-293.
MEAD, M. The primitive child. In C. Murchison (ed) A Handbook
of Child Psychology. Worcester, Mass: Clark University, 1931.
MEAD, M. Une ducation en Nouvelle-Guine. Paris : Payot, 1973.
MEAD, M.; MacGregor, F. Growth and culture. Aphotographic study
ofbalinese childhood. NewYork: G.P.Putman's Sons, 1951.
MEAD, M. Research on primitive children. In L. Carmichel
(ed).Manual of child psychology. New York: Wiley, 1954.
MEAD, M. L'anthropologie visuelle dans une discipline verbale. In
Pour une Anthropologie visueile. C.de France (dir.). La Haye : Mouton,
1979.
PIAGET, J. pistemologie des Sciences de I'Homme. Paris
Gailimard, 1970.
RAMOS, N. Educao precoce e prticas de cuidados infantis em
meio urbano. Actas do Colquio Viver na Cidade. Lisboa: LNEC, 1990, pp.
315-323.
RAMOS, N. Maternage en rnilieu portugais autochtone et immigr.
De Ia tradition Ia modernit. Une tude ethnopsychologique. Tese de
Doutoramento em Psicologia. Paris V: Universit Ren Descartes, Sorbonne,
2 vol, 1993a.
RAMOS, N. Le monde enchant de l'endormissement et de
l'apaisement au Portugal. In Les ritueis du coucher de l'enfant. Variations
cultureiles. Paris : E.S.F., 1993b, pp.235-268.
RAMOS, N. (Org.) Educao intercultural. Mestrado em "Relaes
Interculturais". Lisboa, Univ. Aberta, 2 vol, 1995.
RAMOS, N. (Org.). Comunicao Intercultural. Mestrado cm
"Relaes Interculturais". Lisboa: Univ. Aberta, 2 vol, 2001 a.
RAMOS, N. Comunicao, Cultura e Intercultural idade : Para uma
Comunicao Intercultural. Revista Portuguesa de Pedagogia. (35, 2), 2001 b,
PP.155-178
RAMOS, N. Educao, sade e culturas - Novas perspectivas de
investigao e interveno na infncia. Revista Portuguesa de Pedagogia.
(1,2,3, 36), 2002, P1) 463-487.
RAMOS, N. Etnoteorias do desenvolvimento e educao da criana.
Urna perspectiva intercultural e preventiva. Psicologia, Sociedade & Bem-
Estar. Leiria: Ed. Diferena, 2003a, pp. 161-177.
RAMOS, N. lntercultural it, Conimunication et ducation. Bucareste:
Milena Press. 2003b.
RAMOS, N. O contributo da metodologia flmica para o estudo das
representaes sociais: perspectivas de pesquisa na inifincia. Actas do 5
Encontro de estudos e pesquisas interdisciplinares em representaes sociais.
Natal: Unix' do Rio Grande do Norte, 2003c, pp. 343-347.
RAMOS, N. Perspectivas metodolgicas em investagao: o
contributo do mtodo filmico. Revista Portuguesa de Pedagogia, n3, Lisboa,
175
2003d, pp. 35-62.
RAMOS, N. Psicologia Clnica e da Sade. Lisboa: Univ. Aberta,
2004.
RAMOS, N. A famlia nos cuidados criana e na socializao
precoce em Portugal e no Brasil: uma abordagem intercultural comparativa.
Desafios da comparao. Famlia, mulher e gnero cm Portugal e no Brasil.
Oeiras: Celta, 2004, pp. 149-190.
REGNAULT, F.L. Les attitudes du corps dans les races humaines.
Revue Encyclopdique, 1896, pp. 9-12.
ROUCH, J. Le film cthnographique. In J. Poirier (cd), Ethnologie
gnrale. Paris : Gallimard, 1968.
ROUCH, J. La camra et les hommes. In C. de France (Ed) Pour une
anihropologie visuelle. La Haye : Mouton Editeur, EHESS, 1975.pp. 53-
71.
SERAFIM, J. F. Apprentissages de l'enfant et vie quotidienne chez
les Wasusu (Mato Grosso, Brsil). Une tude d'anthropologie filmique.
Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2002
SERAFIM, J. F. "Antropologia filmica e pesquisa em Cincias
Sociais", In Cadernos do GIPE-CIT II, Salvador, Programa de Ps-
Graduao em Artes Cnicas, 2004, pp. 89-97.
STORK, H. Enfances indiennes. Etude de psychologie
transculturel le et compare du jeune enfant. Paris: Le Centurion, 1986.
STORK, H. (Dir), Les ritueis du coucher de 1' enfant. Variations
cultureiles. Paris : E.S.F, 1993.
Referncias Filmogrficas
BATESON, G.; MEAD, M. Childhood rivalyry in Bali and in New
Guinea. 35 mm, pb, 15 mm., 1938a.
BATESON, G.; MEAD, M. (1938). First days. in the life of a New
Guinea baby. 35 mm, pb, 14 mm., 1938b.
BATESON, G.; MEAD, M. Learning to dance in Bali: 35 mm, pb,
20 mm., 1939a.
BATESON, G.; MEAD, M. Karba's flrst years. 35 mm, pb, 20 mm,
1939b.
BATESON, G.; MEAD, M. Bathing babies in three cultures. 35 mm,
pb, 10 mm., 1954,
COMOLLI, A. Initiation aux techniques domestiques. U-matic, pb,
40 mm., 1972.
COMOLLI, A. Initiation aus soins corporeis. VHS, pb, 20 mm.,
1973a.
COMOLLI, A. La petite mnagre.16 mm, c, 30 min., 1973b.
176 COMOLLI, A., France, C.de. Techniques de musculation: Ia leon.
16 mm, c. 40 mm., 1973c.
COMOLLI, A. La toilette. 16 mm, c., 20 mm., 1974
COMOLLJ, A. Le Sabbat des enfants. U-Matic, c, 20 mm., 1983-84.
FLAHERTY, R. Nanook ofthe North, 35 mm, pb, 55 min., 1922.
FLAHERTY, R. Man ofAran, 35 mm, pb, 75 mm., 1934.
FRANCE, C.de. La Charpaigne. 16 mm, pb, 30 min., 1968.
FRANCE, C. de. Laveuses. 16mm, c, 30 mm., 1970.
GRIAULE, M. Au pays des dogons.16 mm, pb, 13 mm., 1938a.
GRIAULE, M. Sous les masques noirs. 16 mm, pb, 12 mm., 1938b.
GUERONNET, J. Les trois bains. U-Matic, c, 60 fim., 1977a.
GUERONNET, J. Le bain d'Atuyo. Super 8 mm, c, 17 mm., 1977b.
LOURDOU, Ph. (Kebo. Super 8 mm, e, 15 mm., 1975.
LOURDOU, Ph. La vaisselie. Super 8 mm, c, 15 mm., 1980.
LUMIERE, L. Le goter de beb. 35 mm, pb, 2 min., 1895.
RAMOS, N. Bercements et berceuses en milieu portugais. U-Matic,
e., 30 mm., 1993.
RAMOS, N. Apaiser et endormir le bb Ia crche. Betacam SP, e.,
25 mm., 1994a.
RAMOS, N. Gestes de mres, gestes de pres. Betacam SP, e., 35
mm., 1994b.
RAMOS, N. Grands-parents et petits-enfants. Le renouveau du
Printemps. Betacam SP, e, 45 mm., 1995a.
RAMOS, N. Maternage Portugais. Betacam SP, c., 35 mm., 1995b.
RAMOS, N. Isabelle. Betacani SP, e, 23 mm, 1996a.
RAMOS, N. Autour des gestes de maternage. Betacam SP, e, 25
mm., 1996b.
RAMOS, N. Une famille portugaise Paris. Betacam SP, e, 20 min.,
l996c.
RAMOS, N. Le jour se lve. De Ia dcouverte aux apprentissages.
Betacam SP, e, 24 miii., 1997.
RAMOS, N. Aprender no plural. A escola de todas as cores.
(Apprendre au pluriel. L'cole de toutes les couleurs. Betacam SP, e, 25
min, 1998, Verso Portuguesa. e Francesa
RAMOS, N. As mos que embalam. Ciganos em Florena. Betacam
SP, e., 14 mm., 1999a.
RAMOS, N. Bercements tziganes. Betacam SP, e., 12 nin., 1999b.
RAMOS, N. Ishtar et Sotis. Premiers liens, prenires dcouvertes.
Betacam SP, e, 13 mm., 2000a.
RAMOS, N. Primeiras experincias. Primeiras aprendizagens na
creche. Betacam SP, e., 18 min., 2000b.
RAMOS, N. Acalantos. Gestos e ritmos de embalar em Portugal e
177
no Brasil. Betacani SP, e, 34 min., 2001.
RAMOS, N. Pais e Filhos. As teias que o amor tece. Betacam SP, e,
33 min., 2002.
RAMOS, N. Frres et soeurs. Betacam SP, e, 50 min., 2002.
RAMOS, N.; SERAFIM, J. F. O jardim de infncia. Arco-ris de
aprendizagens e culturas. Betacani SP, e., 36 min., 2001a.
RAMOS, N.; SERAFIM, J. F. O despertar da criana atravs da
msica na creche. Abordagem intercultural. Betacani SP, e, 33 mm., 2001b.
Ramos, N.; SERAFIM, J. F. Gestos de maternagem no Brasil.
Betacani SP, e., 25 mm., 2001c.
ROUCH, J. Initiation Ia danse des possds. 16 mm, pb, 25 mm.,
1947.
ROUCH, J. Moi, un noir. 16 mm, e., 80 mm., 1957
ROUCH, J., Morin, E. Chronique dun t. 16 mm, pb, 90 miii.,
1960.
ROUCH, J. Architects Ayorou. 16 min., e, 30 miii., 1971.
ROUCH, J. Horendi. 16 mm, e, 90 mm., 1972.
ROUCH, J. Initiation. 16 mm, e, 45 mm., 1975.
SERAFIM, J. F. Natacha. Super 8 mm, e, 34 nin, 1994.
SERAFIM, J, F. Kayatisu, le mas, vdeo, 40 niin, 2000a.
SERAFIM, J. F. Musique de fltes, vdeo, 40 min, 2000b.
SERAFIM, J. F. La pche ia nivre-Husinousu, vdeo, 29 mm,
2000c.
SERAFIM, J. F. Le singe et le pcari, vdeo, 43 mm, 2000d.
SERAFIM, J. F. Les bains de Sandri. Super 8mm, 25 mm, 2000e.
SERAFIM, J. F. . Fli3tes sacres. Super 8 mm, c. 25 mm, 2000f.
STORK, H. Pour endormir Lakshmi. 16 mm, 19 mm, 1982a.
STORK, H. Seliamedu. Petits soins aux bbs dans un village Tamoul.
16 mm, e, 32 mn., 1982b.
STORK, H. et ai. Techniques de maternage dans diffrentes cultures.
Umatic, e, 52 mm., 1988.
STORI H.; Ramos, N.et ai. Bercements et berceuses dans diffrentes
cultures.Betacam SP, e, 24 mm., 1994.
STORK, H.; Ramos, N.et ai. Le rituel du bain travers les cultures -
(Afrique, Asic, Europe).Betacam SP, e, 54 mm., 1999.
VERTOV, D. O homem com a cmera. 35 mm, pb, 95min., 1929.
178
Você também pode gostar
- Escala AgressividadeDocumento113 páginasEscala AgressividadeCarlos Charlotte Salvador100% (2)
- Psicanálise e Cinema: Em Busca de uma AproximaçãoNo EverandPsicanálise e Cinema: Em Busca de uma AproximaçãoAinda não há avaliações
- Prova NTPPS PDFDocumento2 páginasProva NTPPS PDFpedroarte75% (4)
- World cinema: As novas cartografias do cinema mundialNo EverandWorld cinema: As novas cartografias do cinema mundialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O QUE É MITO - Everardo P. Guimarães RochaDocumento43 páginasO QUE É MITO - Everardo P. Guimarães RochadudasouzaAinda não há avaliações
- 8 Atividades Essenciais de AutoaperfeiçoamentoDocumento3 páginas8 Atividades Essenciais de AutoaperfeiçoamentoGustavo AcauanAinda não há avaliações
- Culto A OròDocumento5 páginasCulto A OròJoseSantosAinda não há avaliações
- (Livro) Antropologia e Imagem (Barbosa & Cunha)Documento35 páginas(Livro) Antropologia e Imagem (Barbosa & Cunha)thiaguinholayerAinda não há avaliações
- Da Produção de Subjetividade - GuattariDocumento18 páginasDa Produção de Subjetividade - GuattariJessica GonçalvesAinda não há avaliações
- Sociologia e Cinema 2sem2012Documento4 páginasSociologia e Cinema 2sem2012LauraPimentelAinda não há avaliações
- Fotografia: Intertextualidades e HibridismosDocumento20 páginasFotografia: Intertextualidades e HibridismosRainha Ester0% (1)
- Jean Rouch - Filme Etnográfico e Antropologia Visual. José Da Silva RibeiroDocumento49 páginasJean Rouch - Filme Etnográfico e Antropologia Visual. José Da Silva RibeiromapuntoguerreroAinda não há avaliações
- Imagens Que Falam: Olhares Contemporâneos Sobre Cinema, Fotografia e AudiovisualDocumento408 páginasImagens Que Falam: Olhares Contemporâneos Sobre Cinema, Fotografia e AudiovisualJennifer Jane SerraAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento21 páginas1 PB PDFPaulo Fehlauer100% (1)
- Material de ÉTICADocumento56 páginasMaterial de ÉTICAAntonio Gomes100% (1)
- Ementa Antropologia Visual USP - 2018 2º SemestreDocumento21 páginasEmenta Antropologia Visual USP - 2018 2º SemestreVi GrunvaldAinda não há avaliações
- Antropologia e Imagem. o Que Há de Particular Na Antropologia Visual Brasileira - PeixotoDocumento16 páginasAntropologia e Imagem. o Que Há de Particular Na Antropologia Visual Brasileira - PeixotoJan LopesAinda não há avaliações
- 7825 o Luto Do Filho Perfeito Um Estudo Psicologico Sobre Os Sentimentos Vivenciados Por Maes Com Filhos Portadores de Paralisia CerebralDocumento127 páginas7825 o Luto Do Filho Perfeito Um Estudo Psicologico Sobre Os Sentimentos Vivenciados Por Maes Com Filhos Portadores de Paralisia CerebralMarcosAinda não há avaliações
- 2017.2 Antropologia Visual Métodos e Técnicas de Registro Audiovisual 1Documento6 páginas2017.2 Antropologia Visual Métodos e Técnicas de Registro Audiovisual 1ORCAM MASTROBELAinda não há avaliações
- 9494 23347 1 SMDocumento10 páginas9494 23347 1 SMLexas12345Ainda não há avaliações
- Elementos Do CurrículoDocumento2 páginasElementos Do Currículocursomagisterio94% (16)
- A Construção Da Imagens Na Pesquisa de Campo em AntropologiaDocumento19 páginasA Construção Da Imagens Na Pesquisa de Campo em AntropologiaTucandeira UnderlineAinda não há avaliações
- CAIUBY NOVAES Sylvia - A Construção de Imagens Na Pesquisa de Campo em Antropologia PDFDocumento19 páginasCAIUBY NOVAES Sylvia - A Construção de Imagens Na Pesquisa de Campo em Antropologia PDFIgor Rlmbrg100% (1)
- Erotismo e Cinema No Brasil (1965 85) : Uma Visão HistóricaDocumento53 páginasErotismo e Cinema No Brasil (1965 85) : Uma Visão HistóricaCristiane Nova100% (2)
- Historiografia Audiovisual - A História Do Cinema Escrita Pelos FilmesDocumento26 páginasHistoriografia Audiovisual - A História Do Cinema Escrita Pelos FilmesAna GattoAinda não há avaliações
- Especificidades Da Antropologia VisualDocumento13 páginasEspecificidades Da Antropologia VisualCarlos ReynaAinda não há avaliações
- Antropologia e Filme Etnográfico - Clarice Ehlers PeixotoDocumento25 páginasAntropologia e Filme Etnográfico - Clarice Ehlers PeixotoLucas MarquesAinda não há avaliações
- Vieira Pierre SorlinDocumento3 páginasVieira Pierre SorlinPaulo SoaresAinda não há avaliações
- 12 A Construcao de Imagens Na Pesquisa de Campo emDocumento20 páginas12 A Construcao de Imagens Na Pesquisa de Campo emNaim Rodrigues DE AraújoAinda não há avaliações
- Documento, Arquivo, Ensaio Fílmico - A Apropriação de Imagens Na Produção Audiovisual ContemporâneaDocumento18 páginasDocumento, Arquivo, Ensaio Fílmico - A Apropriação de Imagens Na Produção Audiovisual ContemporâneaWilker PaivaAinda não há avaliações
- Antropologia e Filme Etnográfico PDFDocumento25 páginasAntropologia e Filme Etnográfico PDFLudymila SouzaAinda não há avaliações
- 4817-Texto Do Artigo-12421-1-10-20110119Documento28 páginas4817-Texto Do Artigo-12421-1-10-20110119Jorge LiraAinda não há avaliações
- O Filme de Artista Dentro Da Marginalia Do Super 8Documento13 páginasO Filme de Artista Dentro Da Marginalia Do Super 8sewicaAinda não há avaliações
- H CinemaDocumento17 páginasH CinemaNelomundai JoaoAinda não há avaliações
- Sarmento 2014 Metodologias Visuais em Ciências Sociais e Da EducaçãoDocumento19 páginasSarmento 2014 Metodologias Visuais em Ciências Sociais e Da EducaçãoWilliam RibeiroAinda não há avaliações
- Historia de Cimena. DocDocumento16 páginasHistoria de Cimena. DocNelomundai JoaoAinda não há avaliações
- Documentário e AntropologiaDocumento230 páginasDocumentário e AntropologiaPatrícia Nogueira100% (1)
- Cinema, Uma Técnica, Uma Representação e Um SimulacroDocumento12 páginasCinema, Uma Técnica, Uma Representação e Um SimulacroAna PaimAinda não há avaliações
- Coloniaoudmo e MaterialidadesDocumento30 páginasColoniaoudmo e MaterialidadesCLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVAAinda não há avaliações
- 29535-Texto Do Artigo-132580-1-10-20201215Documento13 páginas29535-Texto Do Artigo-132580-1-10-20201215Carina FreitasAinda não há avaliações
- 20110909-Tradicao ReflexoesDocumento365 páginas20110909-Tradicao ReflexoesZoueinAinda não há avaliações
- Fernando Da Tacca - Imagem FotográficaDocumento9 páginasFernando Da Tacca - Imagem FotográficaEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Coelho, Ramos 2017 Migrações No Documentário Contemporâneo em Primeira Pessoa Uma Análise Etnobiográfica p41-58Documento18 páginasCoelho, Ramos 2017 Migrações No Documentário Contemporâneo em Primeira Pessoa Uma Análise Etnobiográfica p41-58CristinaJardimAinda não há avaliações
- Apresentacao SarentatyDocumento43 páginasApresentacao SarentatyProfessor Diego Carvalho - Ensino e GestãoAinda não há avaliações
- 30.erica Cristina - Luz e Sombra Na FotografiaDocumento32 páginas30.erica Cristina - Luz e Sombra Na FotografiaJuaeliton CamposAinda não há avaliações
- A Fotografia Na Produção ArtísticaDocumento41 páginasA Fotografia Na Produção ArtísticaEmanuelleAinda não há avaliações
- Sobre Tintim No CongoDocumento72 páginasSobre Tintim No CongoBreno LealAinda não há avaliações
- Programa de Antropologia 2008aDocumento9 páginasPrograma de Antropologia 2008aVideoder ManausAinda não há avaliações
- Manini Arquivos Imagéticos e MemóriaDocumento19 páginasManini Arquivos Imagéticos e MemóriaSimone Cristina VálioAinda não há avaliações
- TINOCO, Rui. Histórias de VidaDocumento9 páginasTINOCO, Rui. Histórias de VidaVictóriaVittideLaurentizAinda não há avaliações
- Sociologia e Cinema: ResenhaDocumento6 páginasSociologia e Cinema: ResenhaGabrielly Caroline CarvalhoAinda não há avaliações
- A Noetica Do Video EtnograficoDocumento20 páginasA Noetica Do Video EtnograficoPatrícia Jeanny de Araújo Cavalcanti MedeirosAinda não há avaliações
- 143984-Texto Do Artigo-327500-1-10-20181228Documento19 páginas143984-Texto Do Artigo-327500-1-10-20181228Lucas Costa ZednikAinda não há avaliações
- Antropologia VisualDocumento4 páginasAntropologia VisualMarcele de MoraisAinda não há avaliações
- ACHUTTI, L. Fotos e Palavras, Do Campo Aos Livros PDFDocumento12 páginasACHUTTI, L. Fotos e Palavras, Do Campo Aos Livros PDFEduardo MonteiroAinda não há avaliações
- Programa Aula A Aula - Cinema e História - Historiografia - 2019-1Documento5 páginasPrograma Aula A Aula - Cinema e História - Historiografia - 2019-1Uriel PinhoAinda não há avaliações
- Santigado JR, (Cinema e Historiografia)Documento23 páginasSantigado JR, (Cinema e Historiografia)Raphael Figueiredo ZanelatoAinda não há avaliações
- Margarida MedeirosDocumento13 páginasMargarida MedeirosAline Soares LimaAinda não há avaliações
- A Construção Do Campo Cinematográfico O Nascimento de Um Meio de Comunicação SocialDocumento14 páginasA Construção Do Campo Cinematográfico O Nascimento de Um Meio de Comunicação SocialceciinhaferreiraAinda não há avaliações
- SR - Artigo4 - em Busca - Metodo - Entre A Estética e A História - 1809-5844-Interc-43-2-0169Documento15 páginasSR - Artigo4 - em Busca - Metodo - Entre A Estética e A História - 1809-5844-Interc-43-2-0169meph.postAinda não há avaliações
- SocineDocumento6 páginasSocineEdmilson JuniorAinda não há avaliações
- Ferraz - A Piramide Humana de Jean RouchDocumento12 páginasFerraz - A Piramide Humana de Jean RouchLouise CarvalhoAinda não há avaliações
- Benoit de L'Estoile - Sobre A Etnografia FrancesaDocumento38 páginasBenoit de L'Estoile - Sobre A Etnografia FrancesadiegofmarquesAinda não há avaliações
- SCHVARZMAN. Sheila. História e Historiografia Do Cinema Brasileiro. Objetos Do HistoriadorDocumento27 páginasSCHVARZMAN. Sheila. História e Historiografia Do Cinema Brasileiro. Objetos Do HistoriadorAlexandre Vander VeldenAinda não há avaliações
- Texto - Achutti Fotos e Palavras. Do Campo Aos LivrosDocumento6 páginasTexto - Achutti Fotos e Palavras. Do Campo Aos LivrosDiego AmoedoAinda não há avaliações
- A MauadDocumento18 páginasA MauadSherol28Ainda não há avaliações
- Crítica Descentrada para o Senso Comum: Amostragem da Reflexão Acerca da Comunicação Contemporânea Realizada na Ufrn Volume IvNo EverandCrítica Descentrada para o Senso Comum: Amostragem da Reflexão Acerca da Comunicação Contemporânea Realizada na Ufrn Volume IvAinda não há avaliações
- 10 PDFDocumento20 páginas10 PDFJessica GonçalvesAinda não há avaliações
- Producao e Recepcao de Texto I Aula 3Documento11 páginasProducao e Recepcao de Texto I Aula 3Jessica GonçalvesAinda não há avaliações
- Producao e Recepcao de Texto I Aula 2Documento11 páginasProducao e Recepcao de Texto I Aula 2Jessica GonçalvesAinda não há avaliações
- Ementa de PRODUÇÃO DE TEXTO E REVISÃO GRAMATICALDocumento1 páginaEmenta de PRODUÇÃO DE TEXTO E REVISÃO GRAMATICALJessica GonçalvesAinda não há avaliações
- Resenha para Gostar Do DireitoDocumento4 páginasResenha para Gostar Do DireitoRepública FavelaAinda não há avaliações
- ARTIGO - Patrimônio Cultural, Turismo e Identidades Territoriais - Um Olhar GeográficoDocumento11 páginasARTIGO - Patrimônio Cultural, Turismo e Identidades Territoriais - Um Olhar GeográficoTanisadanAinda não há avaliações
- Texto 10 CERRI Vendendo o PeixeDocumento3 páginasTexto 10 CERRI Vendendo o PeixeAdemilson ArrudaAinda não há avaliações
- Dieta Da Moda2Documento29 páginasDieta Da Moda2Jordana SirlaideAinda não há avaliações
- Meu Discurso de FormaturaDocumento2 páginasMeu Discurso de FormaturaJoclesfran Alexandre da SilvaAinda não há avaliações
- Trabalho Produtivo e ImprodutivoDocumento27 páginasTrabalho Produtivo e ImprodutivofromgalizaAinda não há avaliações
- A Importância Da Teoria Neoclássica Na AdministraçãoDocumento20 páginasA Importância Da Teoria Neoclássica Na AdministraçãoJosé Wallace Reis100% (1)
- Escolas AntropologicasDocumento3 páginasEscolas AntropologicasangiekloppelAinda não há avaliações
- AV1 Estudo Dirigido - Aconselhamento e Psicoterapia 2016.2Documento3 páginasAV1 Estudo Dirigido - Aconselhamento e Psicoterapia 2016.2Leonardo MendesAinda não há avaliações
- Teoria Da Gestão Ambiental (Ofc)Documento5 páginasTeoria Da Gestão Ambiental (Ofc)João Clécio HolandaAinda não há avaliações
- 01 - A Teoria Dos Processos Civilizadores Como Possibilidade Teórico-Metodológica Nas Ciências Humanas e SociaisDocumento14 páginas01 - A Teoria Dos Processos Civilizadores Como Possibilidade Teórico-Metodológica Nas Ciências Humanas e SociaisAna BraunAinda não há avaliações
- Uma Velha Novidade - o Integralismo No Século XxiDocumento12 páginasUma Velha Novidade - o Integralismo No Século XxiMarcia S. R. CarneiroAinda não há avaliações
- Unidade 1Documento213 páginasUnidade 1izaelAinda não há avaliações
- Anais Enanpur Revisão Espaço PúblicoDocumento25 páginasAnais Enanpur Revisão Espaço PúblicoJefferson TomazAinda não há avaliações
- Universidade São Tomas de Moçambique-2Documento11 páginasUniversidade São Tomas de Moçambique-2Yara tatiana MassangoAinda não há avaliações
- Portfolio de Legislação TrabalhistaDocumento5 páginasPortfolio de Legislação TrabalhistaZuzu GraziAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Local e Desenvolvimento EndógenoDocumento9 páginasDesenvolvimento Local e Desenvolvimento EndógenoAndreia MarcelinoAinda não há avaliações
- Pestalozzi o Afeto em Sala de AulaDocumento9 páginasPestalozzi o Afeto em Sala de AulaCamila MeloAinda não há avaliações
- Ana - Siqueira.a Ressignificação Da Cultura Pop Japonesa em FortalezaDocumento126 páginasAna - Siqueira.a Ressignificação Da Cultura Pop Japonesa em FortalezaCantosAinda não há avaliações
- Minorias PsicologicasDocumento56 páginasMinorias PsicologicasLuanNetoAinda não há avaliações
- Protocolo de AvaliaçãoDocumento7 páginasProtocolo de AvaliaçãojaneguerreiroAinda não há avaliações