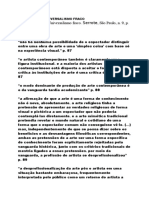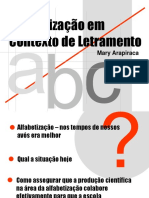Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro e Leitura No Novo Ambiente Digital
Enviado por
ANGELAMESFREIRE64990 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações23 páginasLivro e Leitura No Novo Ambiente Digital.
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoLivro e Leitura No Novo Ambiente Digital.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações23 páginasLivro e Leitura No Novo Ambiente Digital
Enviado por
ANGELAMESFREIRE6499Livro e Leitura No Novo Ambiente Digital.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 23
Livro e leitura no novo ambiente digital
José Afonso Furtado
O desenvolvimento e a rápida expansão das novas tecnologias de Informação e
de Comunicação e a passagem para uma sociedade de informação, digital ou de
rede, em que a Internet e a World Wide web assumem uma especial importância,
têm levantado diversas questões sobre a natureza e funções do do livro tal como
tradicionalmente o temos conhecido e mesmo sobre o seu eventual
desaparecimento.
Neste quadro, Roger Chartier tem vindo a insistir em que, muito embora
situações aparentemente semelhantes sejam recorrentes na história do livro e
dos meios de comunicação, o momento em que nos encontramos configura uma
“revolução” mais radical do que todas as anteriores por abranger, pela primeira
vez em simultâneo, um conjunto de mutações que até agora tinham ocorrido em
separado. Na verdade, argumenta Chartier, muitas das categorias através das
quais nos temos relacionado com a cultura escrita estão a alterar-se, pois
assistimos a mudanças nas técnicas de reprodução do texto, na forma ou
suporte do texto e ainda nas práticas de leitura. Ora, no passado, isso nunca
sucedeu: “a invenção do códice no Ocidente não modificou os meios de
reprodução dos textos ou dos manuscritos. A invenção de Gutenberg não
modificou a forma do livro. As revoluções nas práticas de leitura ocorreram no
contexto de uma certa estabilidade quer nas técnicas de reprodução dos textos
quer na forma e materialidade do objecto. Mas hoje estas três revoluções -
técnica, morfológica e material – estão perfeitamente interligadas.” Essa
singularidade leva a que enfrentemos uma crise nas categorias que têm
permitido a nossa ligação com o livro e com a sua cultura. Por exemplo,
acrescenta Chartier, as que dizem respeito à propriedade e ao copyright, que se
cristalizaram durante o século XVIII, encontram agora diversas dificuldades face
às características do texto electrónico. Mas o mesmo se passa com a noção da
identidade do livro, identidade que é simultaneamente textual e material. Até
agora, os géneros textuais podiam distinguir-se imediatamente pela sua
materialidade específica. “Todos sabemos que um livro não é um jornal, que por
sua vez também não é uma carta... Mas no mundo dos textos electrónicos esta
diferença tende a desaparecer.”(1)
Patrick Bazin refere então que a “ordem do livro” que tem sido a nossa e que
conformava um campo simultaneamente cognitivo, cultural e político “em torno
do qual o objecto livro ocupava a posição central”, se encontra já em plena
reconfiguração. Mais ainda, essa “«cultura do livro», ou seja, uma certa maneira
de produzir saber, sentido e sociabilidade vai pouco a pouco desvanecendo-se.”
(2)
Muito embora, como lembra George Steiner, noções como as do “Livro da Vida”
ou da “Revelação”, sejam basicamente de origem greco-judaica e nunca tenham
sido familiares ou imediatas para a maior parte da humanidade, quaisquer
“mudanças fundamentais no estatuto do textual, do livro concebido como idioma
da mente ou como fonte da vitalidade do espírito (...) tocam a substância da
filosofia, da lei, das doutrinas políticas, da história e da literatura ocidentais. (...)
E, acrescenta, também “a nossa experiência do passado, as nossas práticas de
memória, são livrescas em todo o sentido do termo”. (...) De um modo quase
impensado, entendemos, imaginamos livros quando reflectimos sobre a criação
e a invenção, sobre as relações do pensamento e da imaginação com o tempo,
sobre o arquivo dos erros e do conhecimento”. (3)
Na verdade, da palavra de Deus à palavra do homem, o livro tornou-se a
garantia da memória, da existência da ordem e da lei, parecendo ter recolhido
da Bíblia uma suplemento do sagrado que lhe confere um claro privilégio de
autoridade.
Por outro lado, Yvonne Johannot refere que “o recurso aos textos antigos” (...), “a
transmissão do conhecimento através das gerações, assegura simbolicamente
uma coerência e homogeneidade a todo o género humano...” Desse modo, para
Petrarca, a Antiguidade são os livros que leu, os manuscritos que procurou
pacientemente e que estudou e explicou graças as seus conhecimentos
filológicos. Petrarca que chegará a afirmar que a destruição de um livro é como
que uma “segunda morte” para o seu autor, pois só a sua obra se encontra por
excelência investida da autoridade para o representar. (4)
Esta concepção do livro, diz ainda Johannot, “privilegia a actividade intelectual,
elide o corpo do autor em benefício da sua obra, confunde o passado com as
ideias transmitidas pelos textos que chegaram até nós e torna o livro o objecto
incomparavelmente valorizado de uma cultura elitista. É a concepção dos
humanistas e foi ela que viemos a herdar.” (5)
Sendo inegável que o livro, a leitura e as suas práticas ou os modos de
apropriação dos textos, bem como a nossa relação com a escrita, se encontram
num momento de rápida transformação, impõe-se reflectir sobre como se
traduzem essas mudanças na “ordem do livro” que referimos. Na verdade,
encontramo-nos num campo de turbulência, em que se assiste cada vez mais a
experiências no âmbito da edição electrónica e ao aparecimento de obras para
leitura em écrã, de dispositivos portáteis de leitura de textos digitalizados, à
multiplicação de publicações em diversos formatos e linguagens mark-up e ao
desenvolvimento de software para potenciar condições dessa “nova” leitura.
Mas, para Clifford Lynch, o que está realmente a acontecer é ainda mais
complexo do que a emergência de novos canais de comercialização de livros ou
de um novo tipo de dispositivo electrónico de consumo. “O que está em jogo é
muito mais fundamental: como vamos pensar os livros no mundo digital e como
irão estes comportar-se? De que modo vamos usá-los, partilhá-lhos e em que
termos nos vamos referir a eles? Em particular, quais são as nossas expectativas
sobre a persistência e permanência da comunicação humana com base nos
livros, à medida em que entramos no «brave new digital world»? Continuará o
nosso pensamento a ser dominado pelas convenções e modelos de negócio da
edição impressa (...) e pelas nossas práticas culturais, expectativas de
consumidor, quadros legais e normas sociais ligadas aos livros ou irão essas
tradições desaparecer, talvez a favor de práticas em desenvolvimento em
indústrias como a música?”
Salientam-se então três temas cruciais na transição para o mundo digital e que a
agitação em torno dos e-books pode ocultar: a natureza do livro no mundo digital
como forma de comunicação; o controlo dos livros nesse mesmo mundo,
incluindo as relações entre autores, consumidores/leitores e editores e, por
extensão, o modo como viremos a gerir a nossa herança cultural e o nosso
passado intelectual; e a reestruturação das economias da autoria e edição.” (6)
Nesta perspectiva, convém antes do mais esclarecer o sentido de alguns termos
pois, na verdade, encontramo-nos perante uma grande instabilidade semântica,
provavelmente inevitável face a uma realidade em constante mudança.
A edição electrónica apresenta então características específicas que vão desde a
sua enorme capacidade de armazenamento de dados até à rapidez da sua
produção e disseminação, facilidade de actualização e correcção ou
potencialidades colaborativas e interactivas. Nessa medida, os produtos por ela
gerados apresentam óbvias vantagens em relação à edição tradicional no que se
refere à disponibilidade do conteúdo (tempo e local de entrega e dimensão da
informação), à transparência e interactividade do conteúdo (interactividade,
possibilidade de integração de conteúdos e serviços e instrumentos de
pesquisa), e ao formato do conteúdo (hipertexto e multimédia).
No corpus em construção da edição electrónica encontramos basicamente dois
géneros de textos: por um lado, representações derivadas ou secundárias de
livros impressos e publicados ou de textos pensados primariamente para
publicação impressa (a que Geoffrey Nunberg chama “versões electrónicas”);
por outro, publicação de textos electrónicos pensados e concebidos para se
moverem em suportes electrónicos desde o seu início, que exploram as
capacidades específicas do universo digital, ligados à vulgarização de ambientes
hipertextuais e que questionam algumas das noções tradicionalmente
atribuíveis aos textos da cultura do impresso.
Acontece que, neste momento, todos estes desenvolvimentos coexistem, o que
confirma que, no interior das próprias inovações tecnológicas, os movimentos
não são uniformes nem síncronos e que a mesma invenção pode conter diversas
evoluções e potenciais utilizações.
Deve pois evitar-se a tendência redutora de atribuir as mudanças emergentes,
designadamente nos meios e nas formas de comunicação, exclusivamente aos
recentes desenvolvimentos tecnológicos. Os efeitos das tecnologias nunca são
intrínsecos a um média em particular, são sempre mediados pelos usos que lhe
são atribuídos e variam com o contexto em que são utilizadas. Por isso, Mark
Bide chama a atenção para o facto de, “se olharmos apenas para o lado
tecnológico, a mudança no sentido da distribuição de conteúdos em rede parece
imparável. (...) No entanto, a existência de uma infra-estrutura tecnológica não
garante por si só uma utilização neste ou naquele sentido nem define
deterministicamente o tipo de impacte sobre o sector da edição. É pois
necessário olhar para além dos factores tecnológicos de mudança e reconhecer
que são as dimensões culturais, sociais e económicas e o modo como elas
interagem com as novas tecnologias que vão, na realidade, afectar a edição do
futuro” (7).
É compreensível que esse acento tónico na “distribuição” tenha contribuído para
que, nos anos mais recentes, o termo “livro electrónico” ou “e-book” se tenha
visto apropriado pelas empresas que vendem dispositivos electrónicos para
apresentação de textos digitais. Mas, na realidade, o e-book tanto tem vindo a
ser entendido como o conteúdo que se lê (uma versão digital paperless de um
livro, artigo ou outro documento) como acaba por se confundir com o dispositivo
computacional onde se lê, que pode por sua vez ser dotado de maior ou menor
grau de portabilidade. É certo que, antes do mais, se deve sublinhar que, em
relação ao livro impresso, os produtos da edição electrónica exigem um suporte
hardware e um software sem o qual não é possível o acesso à informação. Por
isso nos parece que uma definição operativa deve passar por utilizar o termo e-
book no sentido de um conteúdo digital ou digitalizado destinado a ser publicado
e acedido electronicamente, o que implica o recurso a equipamentos
electrónicos e a software. Frank Romano, por exemplo, define-o como “a
apresentação de ficheiros electrónicos em monitores digitais. Embora o termo
«e-book» implique informação direccionada para o livro, outros conteúdos
podem também ser disponibilizados nesses dispositivos. Para além de texto e
imagens estáticas, que são os casos típicos, é ainda possível apresentar som e
imagens em movimento. Os ficheiros e-book podem ser fornecidos como
unidades gravadas (discos) ou descarregadas a partir de repositórios digitais
(incluindo Web sites) para computadores desktop, para laptops, para assistentes
digitais portáteis, telefones celulares, ou para dispositivos digitais de leitura
dedicados (também eles vulgarmente chamados «e-books»).(8) Contudo,
acrescentamos nós, a estes últimos será mais correcto chamar e-book readers.
Lynch chama ainda a atenção para que se não deve conceber um e-book
apenas como o substituto de um livro que pode também estar disponível sob
forma impressa já que, se tivermos em conta a trajectória do preço-performance
do armazenamento, dentro em pouco alguns produtos de ponta estarão em
condições de hospedar centenas ou mesmo milhares de obras simultaneamente.
O que implica que se pense não apenas em livros electrónicos mas em
bibliotecas pessoais digitais, o que confere uma dimensão bem diferente ao que
no processo de mudança pode estar em jogo. (9)
Se, a partir daqui, seguirmos a metodologia proposta por Brunella Longo,
podemos distinguir basicamente três macro-categorias que, embora
determinando no seu interior uma grande variedade de fórmulas, podem ajudar
a identificar as diversas funções exercidas no mercado do livro e da edição
electrónica pelas componentes hardware, software e de serviço (10). Em
primeiro lugar, a categoria de livros electrónicos que requerem equipamentos de
leitura específicos e dotados de software proprietário para a leitura em écrã.
Uma segunda categoria é constituída por livros e documentos electrónicos que
se descarregam a partir da Internet para máquinas convencionais e que são
acessíveis através de um adequado software de leitura. Por último, encontramos
uma gama crescente de serviços Web baseados na criação e desenvolvimento
de bancos de dados de texto integral. O conjunto destes três pontos configura o
sector que tem mobilizado nos anos mais recentes investimentos assaz
significativos por parte dos grandes grupos editoriais e de companhias operando
tradicionalmente no sector da informática, que rapidamente ocuparam o espaço
onde durante algum tempo se movimentaram livremente pequenas start-up
companies. No entanto, apesar de diversas previsões entusiásticas quanto ao
sucesso dos livros electrónicos, o estado da questão é bem menos risonho, pois
a edição electrónica é um segmento em rápida mas diferenciada evolução,
pouco sedimentado, onde coabitam iniciativas que em geral remetem para
acções de auto-publicação a par de outras mais consistentes e que propõem
produtos de elevada qualificação profissional. Mas, no essencial, o sector foi em
geral incapaz de dar origem a um mercado com a massa crítica indispensável
para a sua sustentabilidade. Uma das razões para esse insucesso encontra-se
certamente na ausência de uma clara concepção do produto. Refiro-me aqui não
apenas à multiplicidade de fórmulas em presença, como à indefinição em
relação a uma filosofia de replicação electrónica ou de edição digital, a uma
perspectiva monofunção ou multifunção e ainda à simbiose
produto/tecnologia/público alvo. No entanto, para alguns críticos mais radicais, o
que acontece é que o livro electrónico, tal como o descrevemos, é ainda um
avatar do livro impresso. Como escreve Jean Clément, “longe de constituir uma
passo em direcção ao futuro, não é mais do que o derradeiro sinal da nossa
ligação nostálgica a um objecto à beira do desaparecimento.” (11) E se a
autonomia em relação ao computador, um menor custo e progressos nas
condições de legibilidade são, a seu ver, trunfos importantes para o livro
electrónico, eles acabam por o aproximar ainda mais do livro impresso e são
completamente ineficazes para o destronar. Verifica-se assim que, “depois de ter
sido separado do seu suporte (o livro papel), o texto se encontra de novo sujeito
a um dispositivo material. Está relocalizado, identificado, cadeado e volta a
apresentar as propriedades de um objecto comercial clássico.” Neste cenário,
para Clément, a tradicional cadeia do livro encontrou uma vez mais o modo de
se perpetuar, pois “as grandes manobras em curso no domínio da edição têm
um objectivo bem simples - como continuar a conseguir lucros na cadeia do livro
na hora do electrónico? – e não são mais do que uma resposta às ameaças
levantadas pela disseminação dos textos na Internet.” Mas esta resposta “não se
encontra à altura das questões culturais e intelectuais que a digitalização das
obras do espírito coloca.” (12) Na verdade, prossegue, “este novo objecto (...)
oferece poucas vantagens em relação ao livro tradicional. Tentando imitá-lo,
empobrece-o.” Deste ponto de vista, “trata-se de uma regressão em relação às
promessas do electrónico.” Essas promessas eram as de uma biblioteca
universal tal como Ted Nelson a imaginava em 1965 no seu projecto Xanadu ou
as do “expanded book”, termo lançado pelos promotores das edições Voyager
em 1984, aproveitando as “vantagens conjugadas do suporte digital (primeiro o
disco laser e depois o CD-ROM) e do software Hypercard, o primeiro software
hipertexto destinado ao grande público.” Face a essas promessas, o e-book é um
livro fechado, “fechamento que é acompanhado pela sua estruturação
hierárquica. Todas as tecnologias elaboradas para os e-books tendem a tornar
fixa a estrutura do texto ao reproduzir a do papel.” (13) Por fim, do lado da
criação, “vira as costas a novas formas por vezes bastante afastadas da nossa
cultura do livro e, designadamente, a uma nova escrita que se caracteriza por
três aspectos essenciais: por ser hipertextual, distribuída, e dinâmica e
multimédia. Concluindo, para Clément, “assegurar a sucessão do livro na hora
electrónica, não é apenas procurar reproduzi-lo do modo mais fiel possível, é
também explorar as novas potencialidades oferecidas pelo digital, é ter em
consideração a ruptura fundamental que ocorreu entre o texto e o seu suporte. É
passar do livro-objecto ao livro-biblioteca, ao livro interactivo, ao livro em rede,
ao livro multimédia.” (14) Deste modo se declinam alguns dos pontos que levam
a desencontros teóricos profundos no campo da edição electrónica: na realidade,
a geração de publicações que exploram as capacidades específicas do universo
digital, o crescimento exponencial da Web, a vulgarização do trabalho em rede e
de ambientes hipertextuais questionam algumas noções atribuíveis aos textos
da cultura do impresso, como a fixidez, linearidade, sequencialidade, autoridade
ou finitude, provocando transformações nas clássicas definições de autor, leitor
e suas relações mútuas. Estes pontos integram já a agenda teórica do hipertexto
e, nela, do aparecimento de diversos e novos géneros textuais. Campo em que é
exigível uma atitude prudente face a algumas posições relativamente
generalizadas. Entre elas, a de que a acelerada evolução no campo das
tecnologias digitais terá provocado alterações críticas nos modos de escrever e
de ler; mas também, como refere Espen Aarseth, “a tendência para descrever os
novos média textuais como absolutamente diferentes dos anteriores, com
atributos determinados pela tecnologia material do medium.” Em ambos os
casos, “a inovação técnica surge como causa de progresso social e político e de
libertação intelectual face aos média anteriores.” No âmbito dos géneros
literários, esta posição levou à convicção de que “as tecnologias digitais e os
seus recursos possibilitam que os leitores se transformem em autores ou, pelo
menos, de que a distinção entre ambos seja cada vez menos nítida, já que o
leitor poderia criar a sua própria «estória» «interagindo» com o computador. As
forças ideológicas que rodeiam as novas tecnologias produzem uma retórica de
novidade, diferenciação e liberdade que contribui para obscurecer as relações
estruturais mais profundas entre média superficialmente heterogéneos.” Por fim,
o mesmo Aarseth refere-se ainda a um outro problema que passa por uma
aplicação algo descuidada das teorias da crítica literária a um novo campo
empírico, sem qualquer reavaliação dos termos e conceitos nele envolvidos. (15)
Isso não tem impedido que nestes anos mais recentes alguns desses novos
géneros textuais tenham encontrado boa fortuna, particularmente os ligados aos
conceitos de hipertexto e, mais concretamente, as chamadas narrativas
hipertextuais ou hiperficção.
Comecemos então por enfrentar esta noção, o hipertexto, e o que nela se vem
jogando, até porque a primeira utilização explícita do termo já tem praticamente
quarenta anos e o artigo seminal de Vannevar Bush mais de cinquenta. Luciano
Floridi considera que, passado este tempo, os hipertextos adquiriram tantos
atributos e desenvolveram-se em tipologias tão diferentes que uma definição
englobante se arrisca a ser ou muito genérica ou muito controversa. Mas que
vale a pena assumir esse risco, até pelo que isso poderá ajudar a clarificar
alguns conceitos equívocos referentes à natureza do hipertexto. Então, na sua
definição abrangente, “um texto é um hipertexto se, e só se, for constituído por:
1. Um conjunto discreto de unidades semânticas (nós) que, nos melhores
casos, têm um baixo peso cognitivo, como parágrafos ou secções, mais do que
páginas ou capítulos. Estas unidades, definidas por Roland Barthes como lexia
(…) podem ser: a) documentos alfanuméricos (hipertexto puro); b) documentos
multimédia (hipermédia); c) unidades funcionais (isto é, agentes, serviços ou
applets…), caso em que temos o hipertexto ou o hipermédia multifuncional.
2. Um conjunto de associações - links ou hiperlinks incrustados em nós por
intermédio de áreas formatadas especiais, conhecidas como âncoras (anchors)
de origem e de destino – conectando os nós. Estas são referências cruzadas
activas e estáveis que permitem ao leitor mover-se imediatamente para outras
partes de um hipertexto.
3. Um interface dinâmico e interactivo. Isto possibilita ao leitor identificar (...)
e operar com as âncoras (...) com a finalidade de consultar um nó a partir de
outro (...). Os interfaces também podem apresentar mais facilidades de
navegação, como uma representação espacial, a priori, de toda a estrutura da
rede – quando o sistema é fechado e suficientemente limitado para ser
totalmente apresentado num mapa (o chamado sistema sky-view) -, ou um
sistema a posteriori do registo cronológico da ‘história’ dos links seguidos (…)”.
(16)
Floridi refere ainda alguns equívocos recorrentes sobre o hipertexto, a que
chama falácias, interesssando-nos aqui particularmente duas delas: em primeiro
lugar, a falácia electrónica, segundo a qual o hipertexto seria unicamente um
conceito computer-based. Ora, na verdade, essa posição é incorrecta e deve-se à
confusão entre o nível físico e nível conceptual. Como o «Memex» mostra, “um
hipertexto é uma estrutura conceptual que foi originalmente concebido em
termos completamente mecânicos. (…) É certo que nós e links só podem ser
implementados eficientemente e em larga escala por um sistema de informação
que possa, em primeiro lugar, unificar todos os documentos, formatos e funções
que usam o mesmo medium físico e, em segundo lugar, proporcionar um
interface interactivo que possa responder aos inputs externos quase em tempo
real. E é igualmente óbvio que os computadores se ajustam de um modo preciso
a esse papel. Mas o memex ou Xanadu são, como a máquina de Turing, modelos
teóricos. A electrónica digital, embora praticamente vital para o seu
desenvolvimento, é em geral conceptualmente irrelevante para o seu
entendimento”. Em segundo lugar, a falácia literária, segundo a qual o
hipertexto teria começado primariamente como uma técnica narrativa, sendo
pois essencialmente uma nova forma de género literário. Também esta noção é
incorrecta. Na verdade, “os hipertextos foram encarados em primeiro lugar e
permanecem antes do mais, como sistemas de recuperação de informação,
usados para recolher, ordenar, agrupar, actualizar, pesquisar e recuperar
informação de um modo mais fácil, rápido e eficiente”. E, na realidade, o
hipertexto fornece meios potentes e efectivos para integrar e organizar
documentos em colecções coerentes com referências cruzadas extensas,
estáveis e imediatamente disponíveis. Em consequência disso, “o formato
hipertexto tornou-se o formato standard para software educativo interactivo,
obras de referência, livros de texto e documentação técnica, ou para a própria
Web...” (17)
Por outro lado, para Floridi, o hipertexto, como princípio organizacional da
estrutura tipológica do nosso espaço intelectual (...) abre a infoesfera para um
crescimento sem limites. Parece então razoável descrever o hipertexto como “o
princípio logicamente constitutivo de organização do hiperespaço representado
pela infoesfera. (…) E, em vez de tentar impor uma linha de divisão entre
diferentes tipos de documentos, é mais útil reconhecer que o hipertexto, como
organização relacional de documentos digitais, ajuda a unificar, a tornar mais
fina e eventualmente mais acessível a estrutura intertextual e infratextual da
infoesfera.” (18) Recorde-se que, para Floridi, a infoesfera é “todo o sistema de
serviços e documentos, codificados em qualquer média semiótico e físico, cujos
conteúdos incluem qualquer espécie de dados, informações e conhecimentos,
sem limitações de dimensão, tipologia ou estrutura lógica. No que se refere à
infoesfera, o poder simbólico-computacional dos instrumentos das TIC é
empregue para fins que vão para além da solução de problemas numéricos
complexos, do controlo de um mundo mecânico ou da criação de modelos
virtuais. A ciência dos computadores e as TIC fornecem os novos meios para
gerar, fabricar e controlar o fluxo de dados e informações digitais (...), gerindo
assim o seu ciclo de vida (criação, input, integração, correção, estruturação e
organização, actualizações, armazenamento, pesquisa, interrogação,
recuperação, disseminação, transmissão, uploading, downloading, linking, etc.)”
(19).
Este ponto é decisivo para entendermos que, independentemente de o
hipertexto, como ferramenta técnica, se poder considerar como programa, como
software ou como diferentes tipos de «hypermedia system designs» e portanto
dos documentos ou web sites a que dá forma e dá estrutura, nos encontramos
cada vez mais envolvidos num ambiente hipertextual pois o hipertexto é
também o princípio organizacional da estrutura do nosso espaço intelectual.
Questão da maior importância para abordar o problema das competências
culturais nas sociedades contemporâneas, como adiante veremos.
Alguns autores têm procurado encontrar pontos de referência nesta realidade de
múltiplos registos. Assim, Alberto Cadioli distingue entre hipertextos de tipo
ensaístico (que, por sua vez, Maria Augusta Babo refere como relevando da
“reconfiguração do livro-representação”) e hipertextos literário-criativos, dotado
de uma elevada função estética. (20) Os primeiros são utilizados para conectar
informações de documentos já existentes (com afinidades que o justifiquem),
com vantagens no campo da investigação ao facilitar a consulta de documentos
e livros, “não implicando que esses livros abdiquem da sua integridade e
existência física”, e que encontram enormes mais-valias ao serem digitalizados e
sobrecodificados em linguagens e protocolos hipertextuais. Basta pensarmos em
hipertextos como o projecto Perseus, as várias Webs de George Landow ou o
Rossetti Archive, para verificarmos como se tratam de trabalhos com aspectos
de absoluta inovação face aos textos impressos. Jerome McGann, responsável
pelo Rossetti Archive (21), escreve que os “hipertextos nos permitem navegar
através de grandes massas de documentos e ligar esses documentos, ou partes
deles, de modos complexos. As relações podem ser definidas previamente (como
nas várias «webs» de Landow) ou podem ser desenvolvidas «on the fly» (através
de relações criadas na marcação SGML de uma obra). (…) Estas redes
documentais podem ser organizadas de modo interactivo, permitindo inputs do
leitor/utilizador. Podem ser distribuídas de uma forma auto-contida (por exemplo,
em discos CD-ROM), ou podem ser estruturadas para transmissão através da
Rede.” (22) Referindo-se à sua experiência, acrescenta que “é importante
compreender que o projecto Rossetti é um arquivo e não uma edição. Quando
um livro é produzido, ele fecha-se literalmente em si mesmo. Se a obra tiver
continuação, têm de ser produzidas de modo similar novas edições ou outros
livros com ela relacionados. Uma obra como o Rossetti Hypermedia Archive
escapa a essa limitação bibliográfica. Foi construída de modo a que os seus
conteúdos e a sua webwork de relações (internas ou externas) possam ser
indefinidamente expandidos e desenvolvidos.” Mais ainda, ao invés das edições
tradicionais, a edição computorizada permite armazenar enormes quantidades
de documentação e pode ser construída de modo a organizar, a aceder e a
analisar esses materiais não só mais rápida e facilmente como com uma
profundidade a que nenhuma edição em papel pode aspirar.” No entanto,
McGann não deixa de esclarecer dois aspectos. Antes do mais, as suas posições
têm apenas a ver com corpos textuais que são instrumentos de conhecimento
científico. De seguida, afirma que “os entusiastas do HyperText fazem por vezes
algumas extravagantes declarações.... (...) Afirmar que um HyperText não se
encontra centralmente organizado não significa (...) que a sua estrutura não
tenha princípios directores (...). Essa estrutura tem claramente muitas partes e
secções ordenadas e está organizada para permitir pesquisas directas e
operações analíticas. Nesse sentido, o HyperText está sempre estruturado de
acordo com um conjunto inicial de planos de design que se ajustam aos
materiais específicos no HyperText e às necessidades previstas dos utilizadores
desses materiais.”(23) Este segundo ponto pode levar a pensar em alguns
teorizadores e cultores do hipertexto literário-criativo.
Este tipo de hipertexto, o literário-criativo, está virado “para a produção de obras
concebidas propositadamente para serem lidas no registo hipertextual”, e nele
“o género ficcional parece ser o grande beneficiário” devido ao desaparecimento
dos limites postos à imaginação do escritor pelo livro impresso”.
Nessa perspectiva, as tecnologias digitais proporcionariam então novas
possibilidades de criação literária e constituiriam a satisfação de um desejo
antigo dos escritores graças às suas potencialidades de escrita não linear, à
possibilidade de uma maior participação do leitor ou à inclusão, no corpo do
texto, de elementos não verbais. Jean Clément chega a afirmar que “a
generalização das técnicas hipertextuais é o resultado da conjugação de uma
mudança epistemológica e de uma técnica, sendo que a mudança
epistemológica diz respeito ao estatuto do texto na crítica contemporânea.” (24)
E, na verdade, é nesta área da reflexão sobre a escrita que encontramos as
perspectivas teóricas mais elaboradas, a propósito quer do hipertexto em geral
quer do hipertexto como instrumento para a criação literária. Essa é a opinião de
Giulio Lughi, que menciona alguns pontos de referência literária e teórica em que
se fundamenta essa reflexão, desde “os grandes experimentadores do passado
(de Rabelais e Sterne até Joyce e Borges) à vanguarda experimental
contemporânea (Robbe-Grillet, Saporta, Pavic) e aos teóricos da centralidade do
leitor (de Barthes a Iser), tudo num contexto teórico em que têm um papel
decisivo os conceitos de descentramento, segmentação e rede, remetidos para o
desconstrucionismo de Derrida. Nesta perspectiva, o hipertexto literário é
entendido como a realização de instâncias teóricas já pré-existentes no plano
filosófico e cultural, como o banco de testes em que se analisa a dissolução da
centralidade do texto, a multiplicação dos pontos de vista e a livre iniciativa do
leitor.” (25) Não admira assim que Clément, considere que o hipertexto traz uma
resposta tecnológica à problemática deleuziana.
São conhecidos os principais pontos da argumentação desenvolvida por figuras
como George Landow, Jay Bolter ou Richard Lanham: a reconcepção da
textualidade (que passa por aspectos como o abandono da linearidade, o texto
como rede, o texto aberto, a dispersão do texto, a questão da intertextualidade,
o tema dos múltiplos começos e fins e o descentramento do texto), a redefinição
do autor, a redefinição do leitor, o rompimento do cânone e os novos modos de
ler e de escrever.
Desse modo, quando se analisa o campo literário da escrita hipertextual,
convém ter em conta, para além das próprias hiperficções, estas perspectivas
teóricas. Ou seja, refere Aarseth, os pressupostos normativos das teorias iniciais
do hipertexto “devem ser compreendidas à luz de um projecto de âmbito mais
vasto no seio da sua primitiva comunidade, projecto que tentava associar a
tecno-ideologia do hipertexto aos vários paradigmas da teoria do texto.”
(26) Como escreve Rune Daalgard, “a justificação para as reivindicações
ideológicas feitas a partir do hipertexto assumem normalmente uma de duas
formas: ou uma convicção de que o hipertexto possui um novo potencial crítico e
reflexivo – para alguns, o hipertexto encontra-se mesmo explicitamente
associado a uma filosofia específica ou a uma atitude crítica - ou,
alternativemente, uma ideia, já presente no «Memex» de Bush, de que o
hipertexto se encontra mais próximo do pensamento associativo humano do que
o texto impresso.” (27)
Num artigo clássico de 1992, The End of Books, Robert Coover afirmava que “o
romance, como o conhecemos, chegou ao seu fim. E ninguém lamenta a sua
morte. Por maior que tenha sido o seu charme, o romance tradicional, que
ocupou uma posição central no mesmo momento em que surgiram as
democracias industriais – e aquilo a que Hegel chamava «a epopeia do mundo
da classe média» - é entendido pelos seus carrascos como o perigoso veículo
dos valores patriarcais, coloniais, canónicos, hierárquicos e autoritários de um
passado que já nos não acompanha”. E acrescentava que muito desse suposto
poder do romance está incrustado na linha, esse movimento compulsivo
determinado pelo autor, que vai do início de uma frase ao final do período, do
cimo ao fundo e da primeira à última página. É claro que durante a longa história
do impresso se verificaram inúmeras estratégias para reagir contra o poder da
linha, desde os comentários à margem e notas de rodapé até às inovações
criativas de romancistas como Lawrence Sterne, James Joyce, Raymond
Queneau, Julio Cortázar e Italo Calvino (...) Mas a verdadeira libertação da tirania
da linha só é percebida como realmente possível com a aparecimento do
hipertexto, escrito e lido no computador, onde a linha de facto não existe a
menos que alguém a invente e implante no texto”. (28)
Aqui se encontram confirmados quer os temas da linearidade e do poder
demiúrgico do autor ligados à tecnologia do impresso, quer uma estratégia de
legitimação que passa pelas diversas tentativas de libertação dessa prisão,
sempre frustradas porque incompletas, por parte de grandes figuras do cânone
literário e mesmo ensaístico. Basta recordar que Landow considerou a obra
“Mille Plateaux”, pela sua construção, como um “proto-hipertexto impresso” e
por outro que “muitas das qualidades que Deleuze e Guattari atribuem ao
rizoma requeriam o hipertexto para encontrar a sua primeira aproximação, se
não a sua resposta e realização completas”. (29)
A partir de 1987, com a publicação de Afternoon, de Michael Joyce, a obra
marcante do campo da hiperficção, primeiro apresentada em floppy disk e
depois transferida para o programa Storyspace em parte desenvolvido pelo
próprio autor em 1990, começam a surgir diversas experiências de narrativa
hipertextual. Para Joyce, a hyperficção “é a primeira instância do verdadeiro
texto electrónico, aquilo que um dia será concebido como a forma natural de
escrita multimodal e multissensitiva”. (...). Não tem um centro fixo nem
margens, não tem um fim ou fronteiras. O tradicional tempo linear da narrativa
desaparece numa paisagem geográfica ou num labirinto sem saída, e o começo,
o meio e o fim deixam de fazer parte da sua apresentação imediata. Em vez
disso, temos opções ramificadas, menus, link markers e redes mapeadas. Nestas
redes não existem hierarquias, nem parágrafos, capítulos ou outras tradicionais
divisões do texto, que são substituídas por janelas com blocos efémeros de texto
e gráficos que, a breve trecho, serão complementados com som, animação e
filme”.
Esta fase, que Robert Coover veio posteriormente a chamar a “idade de ouro do
hipertexto literário”, caracterizou-se por obras com múltiplos links entre écrãs de
texto numa webwork não linear de elementos poéticos ou narrativos. Os
primeiros escritores experimentais trabalhavam quase exclusivamente em texto,
tal como os estudantes dos primeiros workshops sobre hipertexto na Brown
University, em parte por opção (eram escritores do impresso a tentar
movimentar-se em direcção a este domínio radicalmente novo e trazendo
consigo o que melhor conheciam), mas em grande medida porque tal era exigido
pelas limitadas capacidades dos computadores e diskettes de então. (…) Estes
primeiros hipertextos eram na sua maior parte objectos discretos, tal como
livros, passados para floppy disks de baixa densidade e distribuídos por
pequenas empresas em arranque como Eastgate Systems e Voyager”. (30) É o
tempo de obras paradigmáticas como Its Name Was Penelope de Judy Malloy,
Victory Garden de Stuart Moulthrop ou da famosa Patchwork Girl de Shelley
Jackson.
Mas desde então algumas mutações ocorreram. Antes de mais, o aparecimento
e desenvolvimento da World Wide Web e de alguns aspectos com ela
relacionados: interfaces gráficos tipo WIMP (Windows, Icon, Menu, Pointer), a
invenção do Netscape e outros browsers, a criação de linguagens HTML, de
aplicações Java e VRML e uma rápida expansão do hipermédia. Com a
possibilidade de se “publicarem” hiperficções directamente na Web veio a
verificar-se uma progressiva diminuição da importância da palavra, cada vez
mais reduzida, diz Coover, a um ícone ou a uma legenda.
Também Christian Vandendorpe assinala que, na realidade, “a componente
verbal (...) já não representa praticamente nada nos hipermédias ficcionais... É
hoje possível empenharmo-nos numa ficção complexa sem que a linguagem
esteja presente senão no estado de epifenómeno. Este movimento de
«desverbalização» tornou-se possível devido a uma modificação radical do ponto
de vista da narração.” (31) Coover chama ainda a atenção para um outro
aspecto. Diz ele que também as “noções de arquitectura, de organização ou de
design desapareceram. O mesmo aconteceu com a genuína interactividade; o
leitor é agora frequentemente obrigado a entrar num fluxo media-rich mas
inescapável, direccionado pelo autor ou autores: num certo sentido, equivale ao
back to the movies again, a mais passiva e dominadora das formas.” (32)
Vejamos o caso da hiperficção Hegirascope publicada em 1995 por Stuart
Moulthrop (33).Nesta obra, os fragmentos textuais passam como num
ininterrupto slide show, as páginas encadeiam-se de modo automático após ter
decorrido um certo período de tempo (normalmente de 20 a 30 segundos), para
além de os nós de texto conterem os habituais links. Assim, o que muda entre
Afternoon e Hegirascope é que, enquanto aquela obra colocava, segundo Bolter,
um problema geométrico em que o leitor “tinha de adquirir uma intuição da
estrutura espacial” (34), em Hegirascope se adiciona uma figura temporal que
pode ser vista, na opinião de Aarseth, como “uma alegoria da ausência de
influência do leitor sobre o texto”. Enquanto as anteriores hiperficções podiam
ser contempladas segundo o ritmo do leitor, no fundo como qualquer outra obra
ficcional, esta obra de Moulthrop não permite essa leitura contemplativa. O
efeito acrescentado do ritmo temporal transforma Hegirascope numa paródia do
hipertexto, numa excessiva fragmentação que sobreaquece o medium, para usar
os termos de McLuhan. (35)
Hegirascope obriga a reflectir sobre alguns pontos. Por um lado, a actividade que
obras como esta propõem aproxima-se mais do visionamento de um espectáculo
que da leitura de um livro, em virtude não tanto da importância concedida ao
visual mas da falta de controlo do leitor sobre o passar da página. Por outro
lado,Aarseth chama a atenção para a diferença ontológica entre os textos da
Web como Hegirascope e os textos dos média modernos que o precedem. Antes
da Internet “a publicação significava produção em massa, fosse em papel, CD-
ROM ou diskette. Isso implicava, no codex ou no hipertexto, a cópia, para que
objectos físicos idênticos pudessem ser largamente distribuídos. Um documento
da Web, ao invés, existe inteiramente num sítio: no servidor em que o autor ou o
possuidor do documento o colocou. A obra de arte volta assim a ganhar de novo
um sentido do lugar.” (36)
Mas há ainda motivo para questionar um dos mais caros pressupostos dos
teóricos do hipertexto, a redefinição do estatuto do autor, do estatuto do leitor e
a reconcepção da sua mútua relação. O autor de Hegirascope, por exemplo,
retém o controlo total sobre o conteúdo da obra mesmo após a publicação do
texto. Pode em qualquer ponto mudar ou acrescentar partes ao texto sem o
conhecimento do leitor e é o único a ter a todo o momento uma compreensão
integral da composição do texto. Hegirascope, sendo uma experiência radical,
levanta afinal uma questão que muito provavelmente deve ser posta em relação
a qualquer outro hipertexto. Já Coover referia que “o autor não desaparecera,
como uns receavam e outros ansiavam” e Vandendorpe afirmava que “com o
hipertexto, a parte do visual no texto e a dimensão icónica estão em vias de
expansão pelo facto de o autor poder agora reapropriar-se da totalidade dos
instrumentos de edição de que tinha sido desapossado com a invenção da
imprensa. Graças ao computador pode encarregar-se da formatação tipográfica e
icónica do seu texto e, no caso de um hipertexto, determinar com precisão o
grau de interactividade que deseja conceder ao leitor”. Mais ainda, “graças à
tecnologia informática o autor pode agora retomar um certo controlo sobre o
leitor, controlo que tinha perdido na passagem da oralidade para a escrita”. Daí
que Vandendorpe considere que“invocar «o espírito de descoberta» inerente à
tecnologia do hipertexto para justificar o facto de se deixar o utilizador no
negrume mais total, equivale a infantilizar o leitor, negando-lhe o acesso a
informações esssenciais para poder gerir a sua leitura e o tempo que deseja
dedicar-lhe.” Por isso propõe que “é antes necessário procurar os meios de dar
ao leitor, graças à máquina, um domínio ainda maior sobre a sua actividade. A
leitura em écrã só poderá seduzir duradouramente os utilizadores se se apoiar
naquilo que a cultura impressa conquistou, embora libertando-se dos limites
inerentes a um suporte material.”
Talvez seja pois legítimo pensar que o aumento do poder do leitor é apenas
“uma representação idílica, que suporia que o autor de um hipertexto teria, na
realidade, renunciado a manipular o contexto de recepção do leitor”, ou que “a
liberdade aparente dada ao leitor mais não faz do que reforçar a posição
soberana do autor, que surge como o senhor de todos os desenvolvimentos
possíveis”. (37) E o facto de “os hipertextos electrónicos possibilitarem
marcações e anotações a uma meta-nível, só mostra que o hipertexto em si
mesmo, como objecto-nível, se encontra frequentemente “trancado”, como uma
colecção de ficheiros ‘read-only’. O grau de interacção criativa que os
hipertextos oferecem ao leitor continua a ser, na prática, limitado”, como
escreve Floridi. Do mesmo modo, não nos devemos deixar iludir na Web pelas
oportunidades oferecidas pelas ilimitadas possibilidades de ligação. Existe uma
enorme diferença entre um hipertexto totalmente marcado, que é uma
totalidade de nós e links, e a simples conexão com outro hipertexto que não está
directamente sob o controlo do autor”. E,muitas vezes, “os hipertextos são tão
finitos, autoritários e imutáveis como um livro e apresentam um percurso
igualmente claro em que o leitor é convidado a mover-se, no fundo uma
narrativa axial.” (38)
Talvez por isso Aarseth afirme que com as actuais diferenças entre sistemas
hipertextuais, nomeadamente os utilizados para fins poéticos, é perigoso
elaborar teorias gerais sobre hiperliteratura e que, ao invés, devemos olhar para
cada sistema como um medium técnico potencialmente diferente, com
consequências estéticas distintas. Para ele, “o hipertexto é tanto uma categoria
técnica como ideológica, construída com base na sua pressuposta diferença de,
e superioridade sobre, os média impressos e devemos ter o cuidado de não
permitir que este mito influencie subconscientemente as nossas leituras de
textos individuais.” (39)
Mark Bernstein, citado por José Augusto Mourão, a propósito da narrativa na
rede, escreve: “A Rede está permanentemente dilacerada por duas forças
poderosas, aparentemente irresistíveis e irreconciliáveis. Por em lado, a
utilização e a engenharia de interface favorecem a simplicidade, a consistência e
a clareza, um minimalismo meramente funcional. Por outro lado, os padrões e as
tecnologias da rede que estão a surgir alimentam uma eflorescência permanente
de novas abordagens ao design da rede. Por um lado, trata-se de uma estrutura
hierarquicamente rígida cunhada como Arquitectura da Informação que promete
claridade e coerência; por outro lado, essa mesma rigidez parece proporcionar
esterilidade e enfado.” E comenta Mourão: “Aí estamos. Entre um minimalismo
funcional; entre estruturas rígidas que prometem ao mesmo tempo claridade e
coerência, mas também esterilidade e aborrecimento. Enquanto as novas
tecnologias para o hipertexto e gráficos animados baseados na rede prometem
trazer à rede experiências narrativas poderosas, a realidade não é assim tão cor-
de-rosa: continua a ser difícil encontrar narrativas na rede atraentes e os
gráficos comerciais animados têm sobretudo que aliar a interacção sofisticada
com uma narracão sedutora. É verdade que as velhas ideias de design se
tornaram caducas com esta arremetida; é verdade que os antigos erros parecem
ridículos; é verdade que as abordagens anteriores ficam muito ultrapassadas.
Mas esta corrida tumultuosa, com claques de ambas as partes, ignora uma
terceira força: o poder da narrativa. Objecto perdido?” E mais adiante: “Aquilo
que a escrita electrónica «conta» não é senão a linguagem das bifurcações, das
descontinuidades e das descontextualizações: organizar a estabilidade das
relações mais do que a invenção das palavras, ir até à raiz das diferenças
imateriais que fundam a linguagem. Que linguagem – a do vazio?” (40)
Talvez por isso, a insuspeita Jane Yellowlees Douglas quase reduza agora as
características do hipertexto a “uma tecnologia que existe em grande medida
como reflexo do que pode ser entendido como crucial para criar, armazenar,
pesquisar e manipular informação.” E acrescente que o “o hipertexto se torna
um aparato pelo qual diferentes grupos fixam as qualidades que consideram
centrais para a comunicação através de palavras. Na maior parte da literatura
sobre os aspectos do design do interface e da engenharia do software do
hipertexto, os investigadores assinalam que existem praticamente tantos tipos
diferentes de sistemas hipertexto quanto utilizações óbvias para a tecnologia, e
que o próprio design do software tende a reflectir os tipos de actividades para
cujo suporte foi criado. Essas actividades são ler, escrever e aprender, elas
mesmos processos que se transformam de um contexto social para outro, de
umas tarefas, géneros e textos para outros.” (41)
Parece assim de aceitar a ideia de Floridi para quem “o hipertexto literário
entendido como um novo estilo de narrativa «aberta» permanece um fenómeno
apenas marginal.” (42) E, entre outros, talvez para isso concorra um ponto
sublinhado por João Arriscado Nunes ao afirmar que “apesar das frequentes
tentativas de assimilar o texto em suporte impresso ao texto em suporte
electrónico, a qualidade de «literário» de um dado texto parece estar
estreitamente vinculada ao suporte impresso. O livro, enquanto objecto
impresso, aparece como a forma quase «natural» de existência dos textos que
são classificados, pelos especialistas, como «literários». As formas electrónicas
de existência dos textos literários são vistas, nesta perspectiva, seja como um
recurso para alargar a difusão de um texto que, no essencial, foi definido e
fixados na(s) sua(s) versões impressas (ou para facilitar o trabalho dos
especialistas de teoria, crítica e história literária sobre o próprio texto), seja
como uma ameaça à existência e à integridade de obras que encontram no
suporte impresso a sua forma «natural» de existência física.” (43)
Também por isso Steiner pode afirmar que “é claro que os livros tal como os
conhecemos desde Gutenberg vão continuar a ser escritos, publicados,
comercializados e lidos.” E que “muito provalmente o número de títulos em
formatos tradicionais vai aumentar nos tempos mais próximos” (...) As “Belles
lettres, a literatura destinada ao prazer e à consolação irão continuar, num
futuro previsível, a aparecer no seu modo tradicional.” (44)
Apesar disso, não nos devemos deixar iludir, pois tal não impede que o livro
tenha perdido, no oceano textual, a sua hegemonia e a sua centralidade
simbólica e que a leitura e as suas práticas, bem como a nossa relação com a
escrita, se encontrem igualmente num processo de clara transformação.
Na verdade, tem-se previsto amiúde quer “a morte do livro” quer “a morte do
leitor”, referindo-se argumentos estatísticos sobre o declínio dos hábitos de
leitura, os crescentes problemas que a edição tradicional enfrenta ou ainda o
inevitável triunfo da «cultura do écrã»”. Os dados resultantes de diversos
estudos e inquéritos apontam para tendências dificilmente questionáveis, como
a explosão do universo do audiovisual e do multimédia, a generalização da
diversificação das práticas culturais (favorecida pelo uso do telecomando e do
“rato”), a diminuição do número dos «grandes leitores» ou a transferência dos
jovens leitores para o segmento das revistas, livros práticos ou profissionais.
Assiste-se ainda a uma clara revalorização do modelo a que os franceses
chamam «lecture ordinaire» que se estende agora a todas as categorias de
leitores e que, como refere Christine Détrez, “revela a rejeição dos cânones
tradicionais e dos valores que fundavam a legitimidade da leitura «clássica».”
Mais ainda, “a evolução não se situa tanto nos próprios modos de leitura que,
recorde-se, sempre coexistiram, como na sua reivindicação aberta por os que as
cultivam: se Comme un roman, de Daniel Pennac, alcançou um tal sucesso isso
deve-se sem dúvida ao facto de proclamar alto e bom som a legitimidade de um
modelo de leitura até então estigmatizado.” (45) Acresce que a leitura de livros,
agora enquadrada no mercado dos lazeres, é cada vez menos relevante no
conjunto das práticas culturais, superada pelo desporto, cinema e música, pelas
actividades viradas para os outros e para o exterior e, sobretudo, relacionadas
com fenómenos de sociabilização.
No nosso caso, ainda recentemente João Teixeira Lopes e Lina Antunes
confirmaram estes traços, salientando algumas tendências consistentes no
universo dos jovens, designadamente em relação à organização dos tempos
livres: “É avassalador, embora nada surpreendente, o peso ocupado pelo
audiovisual. Ver televisão e ouvir música são as práticas hegemónicas, apenas
acompanhadas pela cultura de diversão convivial, isto é, pela importância
atribuída a estar com os amigos, sinal que confirma algo amplamente
constatado pelos diversos estudos efectuados à(s) juventude(s) portuguesa(s): a
predominância de um ethos e de uma hexis assentes no modelo do
individualismo relacional, ou, se preferirem, no viver o quotidiano de forma
lúdica mas sócio-centrada. (...) ... O investimento dos jovens na conjugação do
paradigma audiovisual com a “cultura diversão” da sociabilidade dos grupos de
pares insere-se numa profunda modificação dos “mundos da cultura”, em
particular nas suas instâncias de legitimação e na propriedade do monopólio de
classificação de “quem é ou não culto”. (...) Paulatinamente, consagra-se um
novo paradigma de “ser-se culto” que já não é sinónimo de “ser-se cultivado” ou
de acumular referências próprias à cultura clássica, escolar e patrimonial. Aliás,
quanto mais se progride no percurso escolar menos se lê, em particular por
fruição. (...) Parece também consistente afirmar que a leitura de revistas e de
jornais suplanta, regra geral, a leitura de livros, não só porque permitem,
principalmente nas revistas uma aproximação ao paradigma audiovisual (textos
curtos, profusão de imagens), em particular nas que se dirigem aos vários
segmentos juvenis, mas também porque facilitam o zapping, a selecção rápida e
eficaz daquilo que interessa ser lido.”(46)
Como refere Armando Petrucci, pela primeira vez o livro e os outros produtos
impressos se encontram “confrontados com um público, real e potencial, que se
serve de outras técnicas de informação e que adquiriu outros métodos de
aculturação, os dos meios audiovisuais, que se habituou a ler mensagens em
movimento, que, em numerosos casos, escreve e lê mensagens por meios
electrónicos (…) e que, mais ainda, se habitua a aculturar-se através de
intrumentos e métodos não só sofisticados mas onerosos, e que os domina, os
utiliza, de um modo absolutamente diferente daquele que o processo normal de
leitura requeria.” (47)
Estas perspectivas não são muito distante das conclusões de Christian Baudelot:
“o lugar e o estatuto do livro no espaço social, as condições da sua produção, da
sua transmissão e do seu consumo, o papel da leitura na construção de si e a
elaboração de uma cultura comum modificaram-se profundamente no decurso
dos últimos decénios, em particular entre os jovens”. E não se trata de uma
ocorrência circunstancial, “mas de uma tendência de fundo, cujas causas, longe
de serem conjunturais, devem ser procuradas no âmago de vários registos de
mutações que afectaram as nossas sociedades: tecnologias dos média e dos
suportes materiais dos textos, nova configuração das diferentes componentes da
vida cultural, perturbações da instituição escolar, transformação da figura do
intelectual de referência, instauração de novos ritmos sociais impostos à vida
quotidiana pelas mutações económicas e sociais.”(48)
Essa mudança também não deriva de um determinismo do hardware e do
software, pelo que teremos muito provavelmente que aceitar que a palavra
impressa faz parte de uma ordemde que nos estamos irremediavelmente a
afastar. E isto porque, como refere Zygmunt Bauman, “o destino do livro no
nosso mundo globalizante não depende, e não pode ser explicado apenas pelas
tecnologias (...) Os livros partilham a sorte das sociedades de que fazem parte e
quando nos preocupamos com o destino dos livros e da leitura, devemos olhar
mais de perto para a sociedade e para as suas tendências”. (49) Se o fizermos,
vemos que o que estamos a abandonar é essa ordem em que «a leitura
constituía uma espécie de facto cultural total, com a obrigação de cumprir
simultaneamente todas as funções possíveis e imagináveis relacionadas com a
formação e com a informação de uma pessoa(...)”. (50) Leitura integrada num
consenso aparentemente natural, em que ler e escrever eram actos individuais
destinados a proporcionar uma compreensão sempre mais profunda de nós
próprios e de tudo o que nos rodeava, num gesto que só a intensidade de uma
relação pessoal com o texto pode permitir, como ainda a criar novos modos de
organizar a experiência e de participar e contribuir para o progresso material e
espiritual do mundo.
Mas esta literacia depende tanto da sedimentação da cultura do «impresso»
como, por exemplo, daquilo que Steiner refere como uma tríade vital constituída
pelo “espaço, pela privacidade e pelo silêncio, iconizada por S. Jerónimo no seu
estúdio ou por Montaigne na sua torre.” E essa congruência privilegiada está
relacionada inevitavelmente com as camadas emancipadas do ponto de vista
educativo e económico nas sociedades ocidentais. “Ler privadamente e em
silêncio, possuir os meios para essa leitura, o livro e a biblioteca privada, é
beneficiar, em sentido lato, das relações de poder de um ancien régime.” (51)
Estamos pois a viver a crise das estruturas institucionais e ideológicas que
tinham até agora mantido a antiga “ordem da leitura” e encontramo-nos no
dealbar de uma outra era a que por agora corresponde, na expressão de
Petrucci, uma “desordem” na leitura.
Teixeira Lopes e Antunes referem que aquela expressão de Baudelot, “o fim da
leitura como facto cultural total”, pretende salientar a crescente indiferença das
populações juvenis face às “normas culturais dominantes”. De qualquer modo
não se trata da “crise” ou da “morte” da leitura como prática em si mas,
simplesmente, de uma metamorfose num modelo outrora tido como único e
universal.” (52) Como afirma Luca Ferrieri, “nos próximos anos ler será cada vez
menos uma «obrigação» imposta pelo comércio social, por força do sucesso
escolar ou profissional. Em muitos destes âmbitos, a leitura de livros será
substituída por outras formas de comunicação: vídeo, tv, computador e outras
telemáticas massmediológicas vão tornar supérflua, para certo tipo de
informação, a consulta de obras impressas ou de livros.” (53)
Emerge assim uma nova multiliteracia dos textos electrónicos num momento
intersticial entre a leitura e a hiperleitura. Nessa passagem do livro impresso
para o livro electrónico não é possível ignorar aqueles fenómenos da
interactividade, do multimédia ou da hipertextualidade, dotados de uma força
cognitiva que não sabemos ainda quantificar ou qualificar por completo. É claro
que ler num écrã não é o mesmo que ler um livro; as pragmáticas da leitura
(para usar uma expressão de Nicholas Burbules (54)), isto é, a velocidade da
leitura, o momento das pausas, a duração da concentração, a frequência com
que saltamos texto ou voltamos atrás para reler, etc. – vão ser diferentes, e
essas diferenças vão ter efeitos no modo como compreendemos e recordamos o
que lemos.
É então necessário reflectir sobre algumas das tendências dessas novas práticas
de leitura. Brigitte Juanals refere que, interiorizada no decurso de vários séculos,
“a espacialidade da escrita na página do livro constituiu-se progressivamente
como sistema semiótico abstracto. A mudança de suporte necessitou de uma
redefinição das relações entre pensamento e espaço e o interface representa
esse novo espaço semiótico em construção. O objecto-livro desapareceu e a
espacialidade da página no suporte livro encontra-se transposta para o interface
gráfico no espaço do écrã do computador. Esta mutação decisiva coloca o leitor
face a (ou nos) ambientes virtuais que são novos espaços de lecto-escrita.” E
acrescenta que “no espaço informacional global, aberto e em rede da Internet
apresentam-se imensos depósitos de informações dispersas sob uma forma
fragmentada, muito heterogénea nos planos da sua forma, da sua qualidade, da
sua classificação e do seu acesso, instáveis a vários níveis, pouco estruturadas e
em renovação permanente, pois a lógica de rede é uma lógica de fluxos. Os
dados apresentam-se sob uma forma modular e parcelar; suportes, documentos
e dados encontram-se doravante dissociados. A dimensão das mutações
operadas na selecção, organização, apresentação e acesso a um corpus de
informações, transformado pela lógica de fluxo, assim como os meios agora
necessários para lhe aceder é especialmente significativa. Classificações
temáticas, topológicas, cronológicas, por tipos de documentos, etc., juxtapostas
ou combinadas, permitem rearranjos permanentes, calculados em tempo real
em função das necessidades do leitor. A escolha de um ou vários modos de
classificação depende do próprio leitor, em função de um objecto de pesquisa
que deve definir previamente. A multiplicidade, flexibilidade e diversidade das
escolhas de estruturação adaptáveis dos dados, assim como modos de
organização e de classificação, são característicos dos dispositivos hipermédia. O
espaço tornou-se agora movediço e semanticamente estruturante e nele
sobrepõem-se recombinações dinâmicas e diversas.”(55)
O leitor tem assim de construir o seu próprio percurso para encontrar a
informação de que necessita e é-lhe exigida a capacidade de agir, criando,
alterando ou aproveitando encontros no corpo de conhecimento que se está a
desenvolver. O que significa que tem de saber optar por percursos no metatexto,
servir-se de textos já disponíveis e ser capaz de criar ligações entre documentos
multimodais. Mas essa atitude vai mais fundo pois, no contexto de uma
economia da atenção, é-se levado a escrutinar a informação de modo muito
veloz, a fazer juízos rápidos, processando em paralelo outros materiais, de modo
a captar e utilizar sem demora o que nos interessa, e em que a contrapartida é
uma crescente fragmentação do conteúdo. Não é pois de estranhar que a leitura
hipertextual confira especial relevo a capacidades individuais como a economia,
a intuição e a destreza técnica, bem como um sentido da conectividade
intertextual, do conhecimento relacional e do pensamento lateral através de
associações.
Por outro lado, como lembra Ferrieri, qualquer mutação cultural é antes de mais
uma reclassificação da temporalidade, e “a temporalidade linear e sequencial
(mas em certos casos também circular) do livro” parece ceder agora o passo à
“temporalidade ziguezagueante da simultaneidade multimédia; o «tempo real»
dos computadores, o eterno presente da TV, cancelam aquele reenvio constante
entre passado e futuro que é uma das características típicas da cultura do livro.”
E acrescenta que “simultaneidade quer também dizer fazer muitas coisas ao
mesmo tempo: os novos média estão programados para isso. A fruição
desatenta que Benjamin indicava como característica do cinema e que Adorno
detestava, é agora o protocolo típico da utilização dos média...” (56) Na verdade,
a temporalidade dos novos média é baseada numa paroxística aceleração da
velocidade. Luc Bonneville refere-se a que, para os utilizadores da Internet,o
tempo é percebido antes do mais no quadro de um “momento presente"
constantemente actualizado. De facto, “a velocidade necessária para a
realização de uma actividade em linha assenta num tempo quantitavamente
diferente do tempo moderno, baseado nos intervalos perceptíveis entre
momentos.” Ora, “este tempo subjectivizado, vivido, implica (...) uma
valorização excessiva do momento presente, doravante concebido
independentemente do momento passado e do futuro.” E interroga-se sobre se,
no plano psicológico, essa representação da temporalidade não podererá
configurar uma patologia, tendo em conta que “o utilizador se encontra
mergulhado num tempo que é instantâneo pois sempre presentificado.” Essa
patologia poderia derivar da “valorização ou mesmo da obsessão da
produtividade individual como norma de conduta. A possibilidade de efectuar
várias actividades de modo cada vez mais rápido e ao mesmo tempo, isto é no
mesmo momento, leva de facto a uma representação da temporalidade que se
baseia simultaneamente na obsessão da velocidade, da rapidez de execução, e
na profunda aspiração de nos tornarmos senhores do nosso tempo,
desalienando-nos de um tempo objectivo constrangedor.” (57)
Umberto Eco, aAo ser interrogado recentemente sobre oque hoje distingue ainda
um livro de uma outra qualquer forma de comunicação, afirmava: “antes de
tudo, os mecanismos psicológicos da atenção. A espécie humana habituou-se a
um certo tipo de atenção que implica folhear as páginas e de nelas se deter
intencionalmente. A leitura em écrã é fatalmente diferente, mais rápida e a
velocidade com que nos deslocamos é muito maior.” (58)
A leitura é de facto uma actividade lenta, destilada, concentrada, o que significa
também, ou significa sobretudo, a possibilidade de voltar atrás, de reler. A
releitura, momento dissipativo e antieconómico por excelência, leva ao extremo
aquilo a que Luca Ferrieri chama a tendência cronófaga da leitura: ou seja,
submete-a a um conflito inevitável com a ordem temporal de uma sociedade
dominada pela pressa, pelo controlo rígido do tempo, pelas diversas formas de
taylorismo social.(59)
Como já referimos, Vandendorpe sublinha uma tendência para a
«desverbalização» dos textos electrónicos e Coover, por seu lado, refere que
esse facto tem como contraponto que a palavra, “a própria matéria da literatura
e de todo o pensamento humano, cede progressivamente o terreno ao image-
surfing, ao hipermédia, ao ícone linkado”. O que parece equivaler ao aparente
do triunfo da cultura dos média centrados na imagem e da comunicação
electrónica sobre a palavra impressa. Essa perspectiva tinha sido já detectada
por Vilém Flusser no início dos anos oitenta. Escrevia ele então, referindo-se aos
problemas relacionados com o futuro da escrita perante a crescente importância
das mensagens não escritas na nossa vida: “proponho-me analisar uma
tendência que está na base destes problemas, designadamente a tendência para
um afastamento dos códigos lineares, como a escrita, e para uma aproximação a
códigos bidimensionais como fotografias, filmes ou a televisão, tendência que
pode ser observada se prestarmos atenção, mesmo que superficialmente, ao
mundo codificado que nos rodeia. O futuro da escrita, desse gesto que alinha
símbolos para produzir textos, deve ser encarado no quadro dessa tendência.”
(60) Esta questão vai a par com uma outra a que se refere Chartier e que passa,
no fundo, pela própria noção tradicional de «livro», que a textualidade
electrónica põe em questão. Na verdade, no mundo digital “todos os textos,
sejam eles quais forem, são dados a ler num mesmo suporte (o écrã de um
computador) e nas mesmas formas. Cria-se assim um continuum que já não
diferencia os diversos géneros ou repertórios textuais, doravante semelhantes
na sua aparência e equivalentes na sua autoridade. Daí a inquietação do nosso
tempo confrontado com o desaparecimento dos critérios antigos que permitiam
distinguir, classificar e hierarquizar os discursos.” (61)
É possível que estes aspectos sejam já fruto do desvanecimento do paradigma
da literacia clássica do impresso, bem como é provável que estejamos a assistir
à passagem do livro objecto ao livro em extensão, do livro monumento ao livro
fluxo, no fundo, ao que Steiner chamou “the end of bookishness”... Ainda
Vandendorpe, reflectindo sobre a questão da convergência, afirma que “o
computador, ao disponibilizar através de um único écrã livros, música e vídeos,
tende a homogeneizar o estatuto das diferentes artes pois tudo se encontra
afinal submetido às mesmas manipulações. Os efeitos desta convergência sobre
o estatuto da actividade de leitura são já evidentes. Esta, tal como a
conhecemos no mundo físico do impresso, é por excelência uma actividade
privada, com ritmos inconstantes e incertos, tanto rápida como lenta e
meditativa. Ao invés, quando se exerce sobre um texto digital, ela é quase
obrigatoriamente definida pelo clicar do rato sobre as ligações hipertextuais, e a
estrutura fragmentada do texto e a posição rígida de leitura imposta pelo
medium convidam a saltar rapidamente de um ponto para outro. Estes
constrangimentos podem ser perfeitamente convenientes para uma leitura
orientada para uma acção ou para a pesquisa; mas são completamente
desadequados para uma leitura de fundo, que consiste em acolher em si um
pensamento novo e complexo ou em mergulhar num universo romanesco. Se a
isto acrescentarmos que, procurando seduzir o leitor, o texto se torna cintilante,
recorrendo a cores, ícones e imagens, podemos compreender como a leitura
tende a ser deportada para a ordem do espectáculo.” (62) Essa «deportação»
pode ser ainda mais complexa pois, como refere Emmanuelle Jéhanno, pode
tornar o modelo económico do livro digital dependente dos modelos aplicados
nas práticas culturais de massa, como na música e no cinema. Jéhanno que
salienta ainda que, no universo do digital, as fronteiras entre livros, filmes ou
discos tendem a abolir-se, fundindo-se num oceano binário de zeros e uns,
originando uma mistura de conteúdos que “deixa pouca margem de manobra a
produtores de conteúdos culturais como os editores de livros, mesmo que
digitais.” (63) Livros que assim acabarão por se integrar no universo da indústria
do entretenimento, podendo vir a encontrar-se submetidos aos interesses de
Hollywood ou dos grandes grupos multimédia.
Se é certo que o surto da edição electrónica tem potencialidades para introduzir
novas modalidades para o enquadramento e comunicação do conhecimento,
para a sua construção colectiva através do intercâmbio do saber, da
especialização e da compreensão (…), por outro lado a revolução electrónica
pode agravar, e não diminuir, as desigualdades. É perfeitamente possível que
nos deparemos com um novo tipo de literacia, que já não se caracteriza pelas
competências de ler e escrever, mas pela facilidade de acesso e capacidade de
manipulação dos média digitais pelos quais a escrita é agora também
transmitida. (64) Como escreve, a este propósito, Juanals, “naturalmente que as
vantagens das bases de dados hipermédia em termos de modos de
armazenamento, de organização e de acesso ao corpus, em comparação com as
versões impressas são inegáveis: multiplicação dos pontos de acesso,
automatização das ligações, utilização de filtros semânticos, cruzamento de
critérios (opções de pesquisa avançadas), utilização de operadores booleanos
para pesquisas multicritérios, imediatez e possibilidades de refinamento dos
resultados. (...) Mas se as potencialidades de automatização das ligações
calculadas e geradas pelo software torna possível o acesso em todos os pontos a
imensas bases de dados, isso acontece, no entanto, “em detrimento de um
ambiente semântico que o leitor se vai ver forçado a reconstruir. Mais ainda,
estas técnicas estavam até agora reservadas a utilizações e a públicos
profissionais e a sua disponibilização em obras destinadas ao grande público
levanta sérias questões referentes à sua utilização adequada e eficaz.” (65)
As novas materialidades que suportam a escrita não anunciam o fim do livro ou
a morte do leitor. Existirá como sempre, escreve Derrida, “coexistência e
sobrevivência estrutural de modelos passados no momento em que a génese faz
surgir novas possibilidades.” (66)
Mas essas novas materialidades pressupõem que os papéis vão ser
redistribuídos, implicando uma competição mas também certamente uma
persistente complementaridade entre os vários suportes do discurso, levando ao
aparecimento de novas relações (tanto físicas como estéticas e cognitivas) com
o universo textual, à convivência de todas as modalidades de produção,
reprodução e distribuição do livro e a complexas configurações entre diferentes
hierarquias e tipologias de leitura e entre diversas formas de literacia.
Para concluir, trata-se de reconhecer com Derrida que é uma nova economia que
se estabelece. Uma nova economia que “faz coexistir de um modo dinâmico uma
multiplicidade de modelos, de modos de arquivo e de acumulação. E que isso é,
desde sempre, a história do livro.” (67)
José Afonso Furtado
(15/11/2002)
NOTAS
1.CHARTIER, Roger - Before and After Gutenberg. A Conversation with Roger
Chartier,in The Book & The Computer, April 30, 2002. Disponível na Web em
http://www.honco.net/os/chartier.html. Acedido a 30 de Outubro de 2002.
2.BAZIN, Patrick – Vers une Métalecture, in Buletin des Bibliothèques de France,
Paris, T.41, nº1, 1996, p.8.
3.STEINER, George – The Grammars of Creation. London: Faber and Faber, 2001,
pp.235-6.
4.JOHANNOT, Yvonne – Tourner la page. Livre, rites et symboles. Jerome Millon,
1992, p.105.
5. JOHANNOT, Yvonne, cit. 4, pp.112-113.
6. LYNCH, Clifford - The Battle to Define the Future of the Book in the Digital
World, in First Monday, volume 6, number 6 (June 2001). Disponível na Web em
http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html. Acedido em 18 de Junho
de 2001.
7. BIDE, Mark; KAHN, Deborah; MAX-LINO, Richard; POTTER, Liz – The Scale of
Future Publishing in Digital and Conventional Formats. A report to British Library
Policy Unit by Mark Bide & Associates, February 2000, p.23.
8.ROMANO, Frank - E-Books and the Challenge of Preservation. (environmental
scan encomendado peloCouncil on Library and Information Resources para a
Library of Congress em Agosto de 2001, no âmbito do National Digital
Information Infrastructure and Preservation Program). Disponível
emhttp://www.digitalpreservation.gov/ndiipp/repor/repor_back_ebooks.html.
Acedido em 18 de Outbro de 2002.
9. LYNCH, Clifford - cit.6.
10.LONGO, Brunella – La Nuova editoria. Mercato, strumenti e linguaggi del libro
in Internet. Milano: Editrice Bibliografica, 2001.
11. CLÉMENT, Jean – Le e-book est-il le futur du livre?, in AA. VV, - Les Savoirs
déroutés. Experts, documents, supports, règles, valeurs et réseaux numériques.
Lyon: Les Presses de l’Enssib/Association Doc-Forum/La Biennale du savoir, 2000,
p.129.
12. CLÉMENT, Jean, cit.11, p.136.
13. CLÉMENT, Jean, cit.11, p.137.
14. CLÉMENT, Jean, cit.11, p.141.
15. AARSETH, Espen J. – Cibertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore
and London: The Johns Hopkins University Press, 1997, pp.13-14.
16.FLORIDI, Luciano – Philosophy and Computing. An introduction. London and
New York: Routledge, 1999, pp.119-120.
17. FLORIDI, Luciano, cit.16, p.121.
18.FLORIDI, Luciano, cit. 16, pp.128-129.
19. FLORIDI, Luciano, cit. 16, pp.8-9.
20.CADIOLI, Alberto – Le soglie dell’ipertesto, in BELLMAN, Patrizia Nerozzi (a
cura di) – Internet E Le Muse. La rivoluzione digitale nella cultura umanistica.
Milano: Associazone Culturale Mimesis, 1997, p.45.
21.O Rossetti Hypermedia Archive está disponível em
http://jefferson.village.virginia.edu/rossetti/. Consultado em 30 de Outubro de
2002.
22. McGANN, Jerome – Radiant Textuality. Literature after the World Wide Web.
New York: Palgrave, 2001, pp.56-57.
23. McGANN, Jerome, cit.22, pp.70-71.
24. CLÉMENT, Jean – Du livre au texte. Les implications intellectuelles de l’édition
électronique, in Sciences et techniques éducatives, volume 5, nº1, 1998.
25. LUGHI, Giulio – Parole On Line. Dall’ipertesto all’editoria multimediale. Milano:
Guerini e Associati, 2001, pp.126-127.
26. AARSETH, Espen J., cit. 15, p.25.
27.DALGAARD, Rune - Hypertext and the Scholarly Archive: Intertexts, Paratexts
and Metatexts at Work, in Proceedings of the twelfth ACM conference on
Hypertext and Hypermedia, (august 14-18, 2001, Aarhus, Denmark). New York:
ACM Press, pp.175-184.
28. COOVER, Robert - The End of Books, in The New York Times Book Review,
June 21, 1992.
29. LANDOW, George P. – Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary
Critical Theory and Technology. (A revised, amplified edition) Baltimore and
London: The Johns Hopkins University Press, 1997, pp.38-39.
30. COOVER, Robert – Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age, in Feed.
Acedido em 10 de Maio de 2000 em
http://www.feedmag.com/document/do291lofi.html. Agora disponível em
http://web.archive.org/web/20000408222333/http://www.feedmag.com/documen
t/do291lofi.html.
31. VANDENDORPE, Christian – Du Papyrus à l’Hypertexte. Essai sur les
mutations du texte et de la lecture. Paris: La Découverte, 1999, p.109.
32. COOVER, Robert, cit.30.
33. MOULTHROP, Stuart – Hegirascope. VERSION 2· OCTOBER, 1997. Disponível
em http://iat.ubalt.edu/moulthrop/hypertexts/hgs/. Acedido em 30 de Outubro de
2002.
34. BOLTER, Jay David – Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History
of Writing. Hillsdale (N.J.): Erlbaum, 1991, p.127.
35.AARSETH, Espen J., cit.15, pp.80-81
36. AARSETH, Espen J., cit.15, p.81.
37. VANDENDORPE, Christian, cit.31, pp.116-119.
38. FLORIDI, Luciano, cit. 16, p.125.
39. AARSETH, Espen J., cit.15, p.79
40. MOURÃO, José Augusto – Funambulismos: A narrativa e as formas de vida
tecnológicas, in Revista de Comunicação e Linguagens, Número Extra, Junho de
2002, p. 385.
41.DOUGLAS, J. Yellowlees – “Nature” versus “Nurture”: The Three paradoxes of
Hypertext, in GIBSON, Stephanie B; OVIEDO, Ollie (eds) – The Emerging
Cyberculture: Literary Paradigm and paradox. Cresskill (N. J.): Hampton Press,
2000. Disponível na web em http://web.new.ufl.edu/~jdouglas/readerly.pdf.
Acedido a 23 de Outubro de 2002.
42. FLORIDI, Luciano, cit.16, p.121.
43. NUNES, João Arriscado – Materialidade(s) do(s) texto(s) e práticas culturais,
in Revista de Comunicação e Linguagens, Número Extra, Junho de 2002, p. 397.
44. STEINER, George, cit.3, p.256.
45. DÉTREZ, Christine - Bien lire, in Bulletin des Bibliothèques de France, t. 46,
N°6, 2001, pp.14-23.
46. LOPES, João Teixeira; ANTUNES, Lina – Sobre a Leitura Vol.IV. Novos Hábitos
de Leitura: Análise Comparativa de Estudos de Caso. Lisboa: Instituto Português
do Livro e das Bibliotecas/Observatório das Actividades Culturais, 2001, pp. 24-
26.
47. PETRUCCI, Armando – Lire pour lire: un avenir pour la lecture, in CAVALLO,
Guglielmo; CHARTIER, Roger, dir. – Histoire de la lecture dans le monde
occidental. Paris: Éditions du Seuil, 1997, p.409.
48. BAUDELOT, Christian; CARTIER, Marie; DETREZ, Christine – Et pourtant ils
lisent… Paris: Éditions du Seuil, 1999, p.20.
49. BAUMAN, Zygmunt - Does Reading Have a Future?, in 100-Day Dialogue, The
Book & The Computer, September 11, 2000. Disponível na Web em
http://www.honco.net/100day/02/2000-0911-bauman.html. Acedido a 24 de Maio
de 2001.
50. BAUDELOT, Christian; CARTIER, Marie; DETREZ, Christine, cit.48, p.245.
51. STEINER, George, cit.3, p.240.
52. LOPES, João Teixeira; ANTUNES, Lina, cit.46, p.31 e p.35.
53. FERRIERI, Luca – Via dalla pazza folla. Prolegomeni etici, in FERRIERI, Luca;
INNOCENTI, Piero - Il Piacere di leggere. Teoria e pratica della lettura. Edizioni
Unicopli, Milano, Nuova edizione riveduta e ampliata, 1998, p.99.
54. BURBULES, Nicholas C. – Rethorics of the Web: hyperreading and critical
literacy, in SNYDER, Ilana, ed. – Page to Screen. Taking Literacy into the
Electronic Era. London and New York: Routledge, 1998, pp.107-108.
55. JUANALS, Brigitte - L'écrit et L'écran, in Captain-doc, mars 2001.Disponível na
Web em http://www.captaindoc.com/interviews/interviews08.html. Acedido a 9
de Maio de 2002.
56. FERRIERI, Luca, cit.53, pp.132-135.
57. VIDAL, Geneviève - Le temps présentifié
Entretien avec Luc Bonneville, in in Captain-doc, juin 2002. Disponível na web
em http://www.captaindoc.com/interviews/interviews09.html. Acedido em 21 de
Junho de 2002. ver ainda BONNEVILLE, Luc - La représentation de la temporalité
chez les utilisateurs d'Internet, in COMMposite, v.2000-1. Disponível na web em
http://commposite.org/2000.1/articles/bonnev.htm. Acedido em 29 de Outubro de
2001.
58. ECO, Umberto - Auteurs et autorité, in text-e,jeudi 28 février, 2002 - jeudi 14
mars, 2002. Disponível na Web em http://www.text-
e.org/conf/index.cfm?ConfText_ID=11. Acedido a 8 de Maio de 2002.
59.FERRIERI, Luca, cit.53, pp.132-135.
60. FLUSSER, Vilém – The Future of Writing, in FLUSSER, Vilém – Writings.
Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2002, p.63.
61. CHARTIER, Roger - Lecteurs et lectures à l'âge de la textualité électronique,
in text-e, lundi 15 octobre, 2001 - mercredi 31 octobre, 2001. Disponível na Web
em http://www.text-e.org/conf/index.cfm?ConfText_ID=5. Acedido a 8 de Maio de
2002.
62. VANDENDORPE, Christian - Pour une bibliothèque
universelle, in Le Débat, novembre/décembre 2001.
63. JEHANNO, Emmanuelle – Enquête sur la filière du livre numérique. Paris:
Editions 00h00, 2001, pp.105-106.
64. CHARTIER, Roger - Death of the Reader?, in 100-Day Dialogue, The Book &
The Computer, May 31, 2000. Disponível na Web em
http://www.honco.net/100day/02/2000-0531-chartier.html.
65. JUANALS, Brigitte, cit. 55.
66. DERRIDA, Jacques – Le livre à venir, in DERRIDA, Jacques – Papier Machine.
Paris: Éditions Galilée, 2001, p.30.
67. DERRIDA, Jacques, cit.66, p.29.
Você também pode gostar
- Teste de Autoconhecimento PDFDocumento5 páginasTeste de Autoconhecimento PDFClementina RibeiroAinda não há avaliações
- Os Sete Princípios Do HomemDocumento34 páginasOs Sete Princípios Do HomemLenin Campos100% (2)
- Alfabetizacao Magda Soares LivroDocumento173 páginasAlfabetizacao Magda Soares LivroKatiane Makoski100% (2)
- Homilética para EBDDocumento32 páginasHomilética para EBDStéphanas Padilha Costa SoaresAinda não há avaliações
- Níveis de EscritaDocumento11 páginasNíveis de EscritaANGELAMESFREIRE6499100% (1)
- Metodologia Do Ensino de Lingua Portuguesa para Educacao Infantil e Ensino Fundamental IDocumento63 páginasMetodologia Do Ensino de Lingua Portuguesa para Educacao Infantil e Ensino Fundamental IHeuridy BrasilAinda não há avaliações
- Percepção Social Sobre o Papel Do Idoso Nas FamíliasDocumento42 páginasPercepção Social Sobre o Papel Do Idoso Nas FamíliasSergio Alfredo Macore100% (3)
- Livro - Teoria Da Aquisicao Da Linguagem e Estudos LinguisticosDocumento149 páginasLivro - Teoria Da Aquisicao Da Linguagem e Estudos LinguisticosMaria ClaraAinda não há avaliações
- Referencial Teorico - Emília Ferreiro PDFDocumento8 páginasReferencial Teorico - Emília Ferreiro PDFFrancisco CarvalhoAinda não há avaliações
- Referencial Teorico - Emília Ferreiro PDFDocumento8 páginasReferencial Teorico - Emília Ferreiro PDFFrancisco CarvalhoAinda não há avaliações
- Metodos de Pesquisa Gerhardt e Silveira - 2009 UFRGSDocumento118 páginasMetodos de Pesquisa Gerhardt e Silveira - 2009 UFRGSManoel Augusto de Andrade80% (5)
- Metodos de Pesquisa Gerhardt e Silveira - 2009 UFRGSDocumento118 páginasMetodos de Pesquisa Gerhardt e Silveira - 2009 UFRGSManoel Augusto de Andrade80% (5)
- Simon Blackburn - PENSE Uma Introdução À Filosofia-Gradiva (2001)Documento322 páginasSimon Blackburn - PENSE Uma Introdução À Filosofia-Gradiva (2001)Frederico100% (8)
- BORIS GROYS Universalismo FracoDocumento8 páginasBORIS GROYS Universalismo FracoMarcella A. MoraesAinda não há avaliações
- A Hora Dos Ruminantes - Jose J. Veiga PDFDocumento94 páginasA Hora Dos Ruminantes - Jose J. Veiga PDFCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Col Alf - Let. 04 Leitura - Como - Processo PDFDocumento68 páginasCol Alf - Let. 04 Leitura - Como - Processo PDFMaran-EtamaAinda não há avaliações
- Elaborando Um PROJETO DE PESQUISA em SEGURANÇA PÚBLICADocumento21 páginasElaborando Um PROJETO DE PESQUISA em SEGURANÇA PÚBLICAAldair Jerônimo67% (3)
- Sônia Régis - Aproximações, Ensaios Sobre LiteraturaDocumento94 páginasSônia Régis - Aproximações, Ensaios Sobre LiteraturapoetonhoAinda não há avaliações
- Teoria Do Curriculo - Tomaz TadeuDocumento9 páginasTeoria Do Curriculo - Tomaz TadeuAdriano BarrosAinda não há avaliações
- Col-Instrumentos-06 Capacidades Atividades - Compressed PDFDocumento231 páginasCol-Instrumentos-06 Capacidades Atividades - Compressed PDFMonica RosarioAinda não há avaliações
- Vanessa Milani - Queixa EscolarDocumento101 páginasVanessa Milani - Queixa EscolarANGELAMESFREIRE6499Ainda não há avaliações
- Alfabetização - o Estado Da Arte em Periódicos CientíficosDocumento210 páginasAlfabetização - o Estado Da Arte em Periódicos CientíficosANGELAMESFREIRE6499Ainda não há avaliações
- Referencial Curricular Municipal de Salvador Educação InfantilDocumento166 páginasReferencial Curricular Municipal de Salvador Educação InfantilANGELAMESFREIRE6499Ainda não há avaliações
- Diretrizes Nacionais Atencao Saude Adolescentes Jovens Promocao SaudeDocumento132 páginasDiretrizes Nacionais Atencao Saude Adolescentes Jovens Promocao SaudeMaria Aline Gomes BarbozaAinda não há avaliações
- Unidade3aPesquisaCientifica PDFDocumento28 páginasUnidade3aPesquisaCientifica PDFMateus Silvério100% (1)
- Genetica e Personalidade PDFDocumento8 páginasGenetica e Personalidade PDFANGELAMESFREIRE6499Ainda não há avaliações
- Métodos de Alfabetização Frade PDFDocumento20 páginasMétodos de Alfabetização Frade PDFANGELAMESFREIRE6499Ainda não há avaliações
- Mary ApresentacaoDocumento34 páginasMary ApresentacaoANGELAMESFREIRE6499Ainda não há avaliações
- Caderno de Apoio A Pratica Pedagogica Contos AfricanosDocumento28 páginasCaderno de Apoio A Pratica Pedagogica Contos AfricanosAna Paula Rocha100% (1)
- A Questão Do Suporte Dos Gêneros TextuaisDocumento34 páginasA Questão Do Suporte Dos Gêneros TextuaisVálery JiménezAinda não há avaliações
- Referencial - WallonDocumento4 páginasReferencial - WallonCaio AugustoAinda não há avaliações
- Uso de Textos Na Alfabetizacao PDFDocumento9 páginasUso de Textos Na Alfabetizacao PDFlucianneAinda não há avaliações
- Livro 005Documento13 páginasLivro 005Rosana LacerdaAinda não há avaliações
- Caderno de Apoio A Pratica Pedagogica Rotulos e Embalagens e Receitas CulinariasDocumento20 páginasCaderno de Apoio A Pratica Pedagogica Rotulos e Embalagens e Receitas CulinariasMatheus Ribeiro OliveiraAinda não há avaliações
- Caderno de Apoio À Pratica Pedagógica Nomes Próprios e ListasDocumento24 páginasCaderno de Apoio À Pratica Pedagógica Nomes Próprios e ListasVinícius Adriano de FreitasAinda não há avaliações
- Concepcoes - de - AlfabetizacaoDocumento11 páginasConcepcoes - de - AlfabetizacaoUilma ProcopioAinda não há avaliações
- Col Alf - Let. 01 Alfabetizacao - LetramentoDocumento64 páginasCol Alf - Let. 01 Alfabetizacao - LetramentoRosangela MelAinda não há avaliações
- Referencial - WallonDocumento4 páginasReferencial - WallonCaio AugustoAinda não há avaliações
- Referencial - Teorico - VygostskyDocumento5 páginasReferencial - Teorico - VygostskyWilReichAinda não há avaliações
- Referencial - Teorico - PIAGETDocumento8 páginasReferencial - Teorico - PIAGETANGELAMESFREIRE64990% (1)
- O Currículo Como Instrumento Central Do Processo EducativoDocumento9 páginasO Currículo Como Instrumento Central Do Processo EducativolaripasaAinda não há avaliações
- Ramos, Bortagarai PDFDocumento7 páginasRamos, Bortagarai PDFAndré FonsecaAinda não há avaliações
- Semper Viri PDFDocumento230 páginasSemper Viri PDFVagner Vagner100% (1)
- Apanhadão de Psicologia Do Desenvolvimento-Pedagogia-2020Documento9 páginasApanhadão de Psicologia Do Desenvolvimento-Pedagogia-2020Weslla Lourrany AmericoAinda não há avaliações
- Educação e Diversidade (EDU02) 3Documento5 páginasEducação e Diversidade (EDU02) 3Shoto KoyaAinda não há avaliações
- Livreto Educacao10CineOP WEB PDFDocumento110 páginasLivreto Educacao10CineOP WEB PDFpamusicAinda não há avaliações
- A Sentinela - Junho 2015Documento16 páginasA Sentinela - Junho 2015Elailson Santos MarcelinoAinda não há avaliações
- A Crítica Da Religião Na Teologia de Karl BarthDocumento31 páginasA Crítica Da Religião Na Teologia de Karl BarthDiego HenriqueAinda não há avaliações
- Análise de Interações Discursivas em Uma Aula de Patologia ComparadaDocumento12 páginasAnálise de Interações Discursivas em Uma Aula de Patologia ComparadaReane FonsecaAinda não há avaliações
- A Realidade Do Corpo de Cristo - Watchman Nee PDFDocumento30 páginasA Realidade Do Corpo de Cristo - Watchman Nee PDFKhyashiAinda não há avaliações
- M. Ferreira Dos Santos - Enciclopédia Vol. 33 - A Sabedoria Do Ser e Do Nada, Tomo 2Documento174 páginasM. Ferreira Dos Santos - Enciclopédia Vol. 33 - A Sabedoria Do Ser e Do Nada, Tomo 2Paulo Henrique FernándesAinda não há avaliações
- 2016 CRUZ Et Al 2016 - SS Na EscolaDocumento9 páginas2016 CRUZ Et Al 2016 - SS Na EscolaDaniele BrandtAinda não há avaliações
- Cruzamento Nominativo de Fontes.Documento14 páginasCruzamento Nominativo de Fontes.Isabele Mello100% (1)
- Estratégias de Leitura - Leitura Textual Ou Literal ApresentaçãoDocumento26 páginasEstratégias de Leitura - Leitura Textual Ou Literal ApresentaçãoMaximilianoAinda não há avaliações
- BENJAMIN - A Origem Do Drama Trágico AlemãoDocumento9 páginasBENJAMIN - A Origem Do Drama Trágico AlemãowriteressAinda não há avaliações
- A-Genese Guillon PDFDocumento416 páginasA-Genese Guillon PDFValdi VâniaAinda não há avaliações
- Filosofia MedievalDocumento20 páginasFilosofia MedievalRicardo Pedro ColaçoAinda não há avaliações
- Portifólio Ludo PDFDocumento14 páginasPortifólio Ludo PDFTalita RodriguesAinda não há avaliações
- Textos Verbais e Não VerbaisDocumento2 páginasTextos Verbais e Não VerbaisGiselle Reis67% (3)