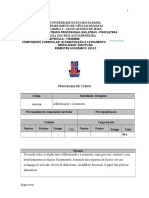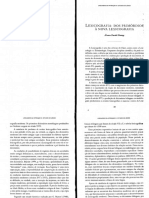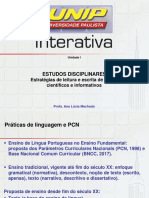Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
105 PDF
105 PDF
Enviado por
Mariana NavesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
105 PDF
105 PDF
Enviado por
Mariana NavesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
A LEXICOLOGIA E A TEORIA DOS CAMPOS LEXICAIS
Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB/UCSAL)1
celinabbade@gmail.com
1. Apresentação
Língua e cultura são indissociáveis. A língua de um povo é um de
seus mais fortes retratos culturais. Essa língua é organizada por palavras
que se organizam em frases para formar o discurso. Cada palavra sele-
cionada nesse processo acusa as características sociais, econômicas, etá-
rias, culturais... de quem a profere. Partindo dessa premissa, estudar o lé-
xico de uma língua é abrir possibilidades de conhecer a história social do
povo que a utiliza.
A lexicologia enquanto ciência do léxico estuda as suas diversas
relações com os outros sistemas da língua, e, sobretudo as relações inter-
nas do próprio léxico. Essa ciência abrange diversos domínios como a
formação de palavras, a etimologia, a criação e importação de palavras, a
estatística lexical, relacionando-se necessariamente com a fonologia, a
morfologia, a sintaxe e em particular com a semântica.
Os campos lexicais representam uma estrutura, um todo articula-
do, onde há uma relação de coordenação e hierarquia articuladas entre as
palavras que são organizadas à maneira de um mosaico: o campo léxico.
As palavras são organizadas em um campo com mútua dependência, ad-
quirindo uma determinação conceitual a partir da estrutura do todo. O
significado de cada palavra vai depender do significado de suas vizinhas
conceituais. Elas só têm sentido como parte de um todo, pois só no cam-
po terão significação. Assim, para entender a lexia individualmente é ne-
cessário observá-la no seu conjunto de campo, pois fora desse conjunto
não pode existir uma significação, uma vez que a mesma só existe nesse
conjunto e em sua razão.
A teoria dos campos lexicais, segundo a direção estrutural propos-
ta por Coseriu, propõe que um campo se estabelece através de oposições
1Doutora e Mestre em Letras pela Universidade Federal da Bahia, Professora Titular da Universida-
de do Estado da Bahia- UNEB, atuando no ensino de graduação e pós-graduação (PPGEL) e na
Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras/Português pela UAB/UNEB. Professora Adjunta
da Universidade Católica do Salvador- UCSAL, atuando no ensino de graduação. Sócia efetiva do
CIFEFIL, ABRALIN, GELNE e sócia-correspondente da ABF. celinabbade@gmail.com
Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 p. 1332
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
simples entre as palavras, e termina quando uma nova oposição exige
que o valor unitário do campo se converta em traços distintivos onde não
só as palavras se opõem entre si, mas uma oposição de ordem superior
opõe campos lexicais distintos. Os campos podem ser mais ou menos
complexos e disso vai depender a organização dos mesmos.
O presente trabalho tem como proposta demonstrar a possibilida-
de de um estudo estrutural do léxico, mesmo sabendo que ainda é muito
difícil apresentar uma teoria concisa sobre a estruturação dos campos le-
xicais, uma vez que existem ainda problemas difíceis de resolver ou até
mesmo sem solução.
2. Os estudos lexicológicos: a lexicologia
A lexicologia é uma ciência recente, mas os estudos acerca das
palavras remontam a Antiguidade Clássica. Sem o lugar merecido, os es-
tudos lexicais permaneceram em segundo plano durante um bom tempo
da história linguística. Relegados a segundo plano, os estudos lexicais fo-
ram deixados de lado para dar lugar às preocupações acerca dos estudos
fonéticos, morfológicos e sintáticos. Quase nada se fazia com as palavras
de uma língua além de organizá-las alfabeticamente e buscar suas defini-
ções a partir de sua literatura. Apenas a lexicografia tinha uma função de-
finida até o início do século XIX, pelo menos. Nos finais do século XIX,
com a marca triunfal da geografia linguística e consequentemente o flo-
rescimento da onomasiologia, o interesse linguístico passa pouco a pouco
da investigação fonética para a dos problemas lexicais. No VII Congres-
so Internacional de Linguística, em 1952, na cidade de Londres, os con-
ceitos linguísticos gerais são elaborados sobre uma base fenomenológica,
significando um sistema de referências extralinguísticas.
Algumas distinções são fundamentais para os estudos lexicológi-
cos. É o caso da distinção básica entre palavra, lexia e vocábulo. Enten-
dido por muitos como uma espécie de sinônimos, poderíamos dizer que
não haveria distinção propriamente entre eles. Na verdade, todos sabem o
que é uma palavra: é um termo genérico, tradicionalmente utilizado na
língua, fazendo parte do vocabulário de todos os falantes. Mas, se a pala-
vra é um termo que faz parte do vocabulário do falante, subtende-se que
palavra e vocabulário são conceitos distintos. Qual é essa distinção?
O vocabulário pode ser entendido como o subconjunto que se en-
contra em uso efetivo, por um determinado grupo de falantes, numa de-
p. 1333 Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
terminada situação, melhor dizendo, vocabulário é o conjunto de pala-
vras utilizadas por determinado grupo. E a lexia?
Dizer que lexias são as palavras de uma língua, estaríamos tor-
nando-a sinônimo da palavra. Então, qual a diferença entre esses termos?
É que a lexia, diferente da palavra, é a unidade significativa do léxico de
uma língua, ou seja, é uma palavra que tenha significado social.
A palavra é uma unidade significativa, mas a sua significação não
é só lexemática, pode também ser morfemática, isto é, gramatical. A le-
xia, ao contrário, tem significação externa ou referencial, ou seja, apenas
lexemática. A sua referência pode ser as coisas concretas ou abstratas.
Assim, na frase “a escada é velha”, temos quatro palavras, porém
apenas duas lexias: escada e velha. São as lexias com função apenas re-
ferencial ou lexical. Elas também são palavras, assim como o artigo a e o
verbo de ligação e, que têm função também gramatical além da função
referencial.
São exemplos de palavras gramaticais ou morfemáticas, os arti-
gos, as preposições, as conjunções. Estudam-se na gramática e são em
número limitado. As palavras lexemáticas ou referenciais, melhor dizen-
do, as lexias, constituem a maior parte do léxico de uma língua e são de
número indeterminado. Estão organizadas nos dicionários.
Há uma necessidade de se realizar um estudo estrutural do léxico,
no entanto, a lexicologia tradicional não tem sido estrutural. Os pontos de
vista funcionais ou estruturais do léxico não são vistos explicitamente
nos dicionários das línguas. Eugenio Coseriu (COSERIU, 1977) atribui
às razões para que isso ocorra ao fato de, nesse estudo, se realizar fre-
quentemente a identificação entre significado linguístico e realidade ex-
tralinguística. Além disso, considera-se como lexicologia basicamente o
que une o plano da expressão ao plano do conteúdo e o caráter diferente
que é dado ao léxico com relação à gramática. Há uma confusão entre o
conteúdo linguístico e a realidade extralinguística, uma falta de distinção
entre palavra e coisa. A esses fatos pode-se acrescentar o exemplo dado
por Coseriu para uma pergunta do tipo: – Como se designa árvore em a-
lemão? E a resposta seria simplesmente – baum. Dessa maneira, o léxico
passa a ser um sistema de nomenclatura com palavras que nomeiam coi-
sas. Mas nem sempre existe uma única palavra para cada coisa, e se a
mesma pergunta fosse feita para a língua romena, a resposta não seria tão
simples porque copac é o genérico, mas uma árvore frutífera chama-se
pom. Em certos contextos, é necessário usar o termo arbore porque não
Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 p. 1334
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
existe copac genealogica ou pom genealogica, apenas arbore genealogi-
ca.
Por outro lado, diferente da gramática que estuda expressão e con-
teúdo separadamente, no que diz respeito ao léxico é comum não haver
essa distinção, e esse vínculo vai acabar por provocar um entendimento
do léxico como uma nomenclatura. Para que a lexemática diacrônica
possa realizar-se, é necessário partir-se do conteúdo e utilizar-se da ex-
pressão exatamente como expressão, ou seja, manifestação das distin-
ções existentes para esse conteúdo.
3. A lexemática: o estudo funcional do léxico
A lexemática, ou a semântica estrutural é uma ciência cujo objeto
é o significado léxico. Nessa ciência lexicológica, só vai interessar o es-
tudo de palavras que manifestem configuração semântica do léxico. Exis-
tem palavras que não possuem significado léxico (interjeições; partículas
de afirmação ou negação; palavras morfemáticas como artigos, preposi-
ções; categoremas como pronomes), assim como os nomes próprios e os
numerais que não são estruturáveis. Essas palavras, embora participem
na maioria dos fenômenos lexicais e pertençam ao vocabulário da língua,
não são objeto da lexemática.
A lexemática não estuda o significado da palavra no texto ou dis-
curso, e sim o seu significado como conteúdo de língua. Ela não se ocupa
do que é análogo como “significado de fala”, nem das oposições do ato
de fala. Estuda sim, o significado do ponto de vista da própria língua, ou
seja, mesmo em contextos totalmente diferentes, o significado será idên-
tico.
Para a investigação lexicológica, o estudo funcional do vocabulá-
rio pode justificar-se tanto frente à lexicologia e semântica tradicionais,
como frente à gramática gerativa. Frente à lexicologia e semântica tradi-
cionais, o ponto de vista funcional justifica-se na hierarquia dos feitos
que serão investigados. A semântica trata do plano do significado na fala,
das variantes, enquanto que a lexemática trata das invariantes do signifi-
cado. As variantes do significado podem explicar-se através das invarian-
tes, porém o contrário não é possível. Frente à gramática gerativa, é na
autonomia do plano das línguas, e consequentemente também, do conte-
údo do plano léxico por elas estruturadas dentro da linguagem em geral,
p. 1335 Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
que o estudo funcional do vocabulário encontra sua justificativa e razão
de ser.
As unidades funcionais de uma língua não podem ser comprova-
das nas línguas históricas, pois não funcionam nessas línguas como tais.
Uma língua funcional é uma língua delimitada dentro de uma língua his-
tórica e homogênea, visto que a língua histórica é o conjunto de dialetos,
níveis e estilos de língua. Ela se chama funcional exatamente porque fun-
ciona imediatamente ao ato de falar. E as unidades funcionais só podem
ser identificadas na língua funcional porque essa língua funcional real-
mente existe. Assim, a língua funcional pode comprovar suas unidades e
estruturas comuns através de uma língua histórica. Em suma, a língua
funcional, suas unidades e estruturas, devem identificar-se no plano fun-
cional do sistema da língua, pois, tanto o estudo da norma, como o tipo
linguístico, supõe o plano como já conhecido.
A lexemática é composta de quatro princípios gerais que valem
não só para a lexemática, como para o estudo funcional das línguas em
geral, porque são os mesmos princípios do estudo funcional da língua.
São eles: funcionalidade, oposição, sistematicidade e neutralização.
A funcionalidade consiste na existência das unidades funcionais
como tais e está baseado na relação entre o plano do conteúdo e o plano
da expressão na linguagem em geral e nas línguas;
A oposição se refere ao modo de existir das unidades idiomáticas
desde o ponto de vista funcional, e, ao mesmo tempo, a maneira como
funcionam enquanto unidades. As unidades existem (funcionam) prima-
riamente por meio de oposições. Exemplo: jovem¹ velho¹ novo. Assim
jovem pode ser analisado como não velho, mas apenas para seres anima-
dos;
A sistematicidade se refere a uma suposição razoável e empirica-
mente justificada. Parte do princípio de que, em um sistema lingüístico,
as mesmas diferenças se apresentam sistematicamente (comumente). Pa-
ra isso, é necessário esperar a repetição de diferenças para se comprovar
se em cada caso a repetição se dá efetivamente ou não;
E a neutralização existe quando se quer expressar o genérico, o
que é comum aos termos de uma oposição. Isso significa que as oposi-
ções podem se neutralizar. Exemplo: noite / dia (oposições). Mas, quan-
do se diz: ‘Viajei oito dias’, a palavra dia será genérica para ambos.
Segundo Coseriu:
Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 p. 1336
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
La tarea fundamental de la lexemática en cuanto disciplina estructural
descriptiva consiste en deslindar dentro de las lenguas funcionales e describir
de manera sistemática y exhaustiva la paradigmática y sintagmática del voca-
bulário en el plano del contenido. Su especificidad frente al estudio funcional
de las lenguas en general de lo específico de las estructuras paradigmáticas y
sintagmáticas que considera. (COSERIU, 1987, p. 229)
Coseriu classifica as seguintes estruturas lexemáticas:
1) Estruturas paradigmáticas: primárias (campo léxico e classe
léxica) e secundárias (modificação, desenvolvimento e composição).
2) Estruturas sintagmáticas: afinidade; seleção; implicação.
Dentro dessas estruturas lexemáticas, E. Coseriu determina o
campo lexical que é caracterizado por ele da seguinte maneira:
Un campo léxico és, desde el punto de vista estructural, un paradigma lé-
xico que resulta de la repartición de un contenido léxico continuo entre dife-
rentes unidades dadas en la lengua como palabras y que se oponem de manera
inmediata unas as outras, por medio de rasgos distintivos mínimos. Así, por
ejemplo, la serie jung - neu - alt (“joven”- “nuevo”- “viejo”) es, en alemán,
um campo léxico.(COSERIU, 1987, p. 146).
O campo léxico é, pois, uma estrutura paradigmática primária do
léxico, ou melhor dizendo, é a estrutura paradigmática por excelência. As
relações internas de um campo léxico enquanto estruturas de conteúdo
são determinadas pelas oposições semânticas em que funcionam. Em
consequência, uma tipologia dos campos deve fundamentar-se em uma
classificação das oposições lexemáticas. Os tipos formais de oposições
constituem um ponto de partida necessário e um critério importante na
tipologia dos campos. Tipos de oposições formalmente diferentes podem
funcionar em um mesmo campo. Assim grand / petit constituem uma
oposição privativa, mas as oposições petit / minuscule, grand / énorme,
que funcionam no mesmo campo, são oposições graduais.
Quando se caracterizam campos inteiros (que em certo nível po-
dem ser microcampos), os tipos formais de oposição servem para distin-
guir subtipos de campos, mas não os tipos principais que englobam esses
subtipos: com efeito, numa classificação estritamente formal, o critério
dos tipos formais de oposições se revela como subordinado ao do número
de “critérios semânticos” (ou “dimensões”) que funcionam nos campos.
A estruturação e funcionamento dos campos não dependem unicamente
dos tipos formais de oposições, mas também do tipo de sua relação com
a “realidade” extralinguística, que elas organizam ou formam a partir do
ponto de vista semântico. Logo, as relações formais internas de um cam-
p. 1337 Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
po pertencem também ao tipo de relação existente entre os significados e
sua expressão.
A lexemática, apesar de ser uma disciplina muito jovem (fundada
nos anos sessenta), já pode ser considerada hoje como amplamente de-
senvolvida, pelo menos no que se refere à teoria e à metodologia. Porém,
como disciplina descritiva, como estudo sistemático do vocabulário de
diferentes línguas, a lexemática ainda está no começo. Até agora apenas
alguns domínios e pouquíssimas línguas foram estudados e descritos su-
ficientemente do ponto de vista lexemático. Os estudos realizados até en-
tão, já abrem caminhos importantes para a compreensão da estrutura das
línguas, tornando a lexemática uma disciplina indispensável para a lin-
guística Aplicada no que diz respeito principalmente ao ensino das lín-
guas, a lexicografia unilíngue e à teoria e prática da tradução.
4. Para uma semântica diacrônica estrutural: a teoria dos campos le-
xicais
Os estudos dos campos lexicais remontam ao dos campos linguís-
ticos.
A teoria dos campos linguísticos tem como um de seus precurso-
res, Jost Trier (1931). Suas ideias constituíram uma grande revolução na
semântica moderna. Trier vai estudar as palavras visando ao setor concei-
tual do entendimento, mostrando que elas constituem um conjunto estru-
turado onde uma está sob a dependência das outras. Assim as palavras se
unem como numa cadeia, onde a mudança em um conceito acarreta mo-
dificação nos conceitos vizinhos, e assim por diante. Nesse sentido, as
palavras formam um campo linguístico através de um campo conceitual
e exprimem uma visão do mundo de acordo com a reconstituição que e-
las possibilitam. A teoria proposta por Trier possibilita L. Weisgerber a
incluí-la em uma ampla teoria linguística e, nessa teoria, surge o conceito
de campo linguístico que abarca tanto os campos léxicos, quanto os cam-
pos sintáticos. Assim, desses campos linguísticos, surgem os campos le-
xicais e os campos semânticos.
Enfim, as ideias de Trier deram origem a numerosos trabalhos e a
sua noção de campo lingüístico, como qualquer coisa que é revolucioná-
ria, provocou, e continua provocando inúmeras críticas e sugestões. Es-
sas críticas vão desde a advertência para não valorizar demais a teoria do
campo, até aos seus resultados propriamente ditos. Tantas críticas existi-
Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 p. 1338
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
ram porque faltava um método para a teoria do campo, não existia uma
técnica linguística ou procedimentos linguísticos para esse estudo. As in-
vestigações estavam fundamentadas em intuições, daí tantas críticas a
respeito dessa teoria. A busca desse método é propósito de Eugenio Co-
seriu em seus esforços para criar uma semântica estrutural.
A teoria do campo lexical de Eugenio Coseriu propõe uma análise
estrutural do vocabulário, determinando o campo lexical dentro de estru-
turas lexemáticas onde os lexemas constituem um sistema de oposições.
Essa teoria do campo lexical vem desde F. de Saussure, demonstrando
que a língua é uma estrutura onde as palavras formam sistemas relacio-
nados entre si. Ferdinand Saussure no Curso de Linguística Geral
(SAUSSURE, 1970, p. 142-7) escreveu sobre a rede de associações que
se desenvolvem em torno de uma palavra, e afirma que: “Um termo dado
é como o centro de uma constelação, o ponto para o qual convergem ou-
tros termos coordenados cuja soma é indefinida”. (SAUSSURRE, 1970,
p. 146)
Assinala Horst Geckeler que o conceito de campo já se acha no
Cours de Linguistique Génerale (parte 2, cap. 4), aí estando os princípios
avant la lettre do pensamento em categorias de campo, ao tratar-se das
relações associativas (GECKLER, 1976, p. 104-5).
Enquanto Saussure partiu da relação significante/ significado, tra-
balhando com o desenvolvimento histórico dos significantes e com as
mudanças estruturais dos significados, E. Coseriu, em lugar de trabalhar
com os termos saussurianos, preferiu os termos de L. Hjelmslev, expres-
são / conteúdo.
Eugenio Coseriu nos mostra que é possível um estudo diacrônico
estrutural das significações das palavras, desde que se entenda a forma ou
substância semântica como substância linguisticamente formada. Ele
deixa isso muito claro em Para una Semántica Diacrónica Estructural
(COSERIU, 1977), através de exemplos latinos e de línguas românicas,
nos quais Coseriu vem mostrar a necessidade e a possibilidade de um es-
tudo diacrônico estrutural da significação das palavras. O problema ex-
posto é basicamente o das mudanças estruturais do léxico que, em termos
saussurianos, não diz respeito ao desenvolvimento histórico dos signifi-
cantes, nem às suas substituições ao longo das histórias das línguas. Den-
tro de um estudo diacrônico estrutural do plano do conteúdo, esse conte-
údo é entendido como a substância semântica linguisticamente formada.
Para um estudo estrutural, é necessário analisar a língua funcional, en-
p. 1339 Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
tendida como língua enquanto sistema, ou seja, uma língua até certo pon-
to unitária dentro de uma língua histórica e não aquilo que se refere a
uma língua histórica tomada em seu conjunto que geralmente compreen-
de uma série de línguas funcionais que às vezes são bastante diferentes.
As unidades funcionais de uma língua devem estabelecer-se ali onde fun-
cionaram, e mediante as oposições em que funcionam.
Em El Estudio Funcional del Vocabulário (COSERIU, 1987),
Coseriu trata da lexemática, entendida como o estudo funcional do voca-
bulário, o estudo da significação do léxico, a semântica estrutural lexical.
O conteúdo linguístico é composto de significação, designação e sentido.
A significação é o conteúdo linguístico de determinada língua, a desig-
nação, a relação com a realidade extralinguística, e o sentido é o conteú-
do especial de um texto ou de uma unidade de texto. Entende-se então
que, só há significação nas línguas e não no falar em geral. Assim como
a designação é a referência à realidade enquanto representação, feito, es-
tado de coisas, independente da estruturação de tal língua e existe no fa-
lar em geral, a significação é a estruturação em uma língua das possibili-
dades de designação. A designação é um ato de falar, é a utilização de
uma significação. A significação (significado) e a designação funcionam
como significante (signo material), com respeito ao seu significado (con-
teúdo).
Coseriu classifica a significação em cinco tipos: lexical, categori-
al, instrumental, sintática ou estrutural e ôntica.
A significação lexical diz respeito ao sentido da palavra e é o que
vai interessar aos estudos em lexicologia. A categorial refere-se à cate-
goria das palavras (substantivo, adjetivo, verbo etc.); a instrumental ao
sentido dos instrumentos gramaticais (desinências, prefixos, sufixos, a-
cento, ritmo etc.); a sintática ou estrutural ao significado das construções
gramaticais (lexemas + morfemas) que formam o singular, plural, presen-
te, pretérito etc.; e a significação ôntica que só ocorre no plano das ora-
ções, pois é o valor existencial na intuição significativa ao ‘estado de coi-
sas’ apresentado em uma oração (afirmativo, negativo, imperativo etc.).
A lexemática ocupa-se apenas da significação lexical, excluindo
os outros tipos de significação, tomando como objeto de análise uma lín-
gua particular na sua individualidade, ao estabelecerem as suas estruturas
paradigmáticas. Assim, as unidades funcionais já estão lexicalizadas, isto
é, já existem na língua.
Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 p. 1340
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
Dessa forma, Eugenio Coseriu, ao estudar a estruturação dos
campos lexicais, propõe sempre um estudo diacrônico e estrutural do lé-
xico onde se possa investigar o funcionamento de uma língua, partindo-
se da significação estrutural para a designação, ou seja, a língua é descri-
ta como estruturação de conteúdos. Coseriu lembra que um estudo dia-
crônico estrutural da língua, só terá valor quando se estuda a língua en-
quanto sistema, ou seja, a língua funcional. Ora, o funcionamento de uma
língua difere muitas vezes de sua história. Logo, toda descrição estrutural
de uma língua histórica, deve ser realizada em cada uma das línguas fun-
cionais que ela abarque. A língua funcional, suas unidades e estruturas,
devem identificar-se no plano funcional do sistema da língua, pois, tanto
o estudo da norma, como o tipo de língua, supõe o plano como já conhe-
cido.
Para que a lexemática diacrônica possa realizar-se, é necessário
partir-se do conteúdo e utilizar-se da expressão exatamente como expres-
são, ou seja, manifestação das distinções existentes para esse conteúdo.
O campo léxico é, pois, uma estrutura paradigmática primária do
léxico, ou, melhor dizendo, é a estrutura paradigmática por excelência.
As relações internas de um campo léxico enquanto estrutura de conteúdo,
são determinadas pelas oposições semânticas em que funcionam. Dessa
forma, uma tipologia dos campos deve fundamentar-se em uma classifi-
cação das oposições lexemáticas. Desse modo, tipos formais de oposi-
ções constituem um ponto de partida necessário e um critério importante
na tipologia dos campos. Quando se caracterizam campos inteiros (que
em certo nível podem ser microcampos), os tipos formais de oposição
servem para distinguir subtipos de campos, mas não os tipos principais
que englobam esses subtipos: com efeito, numa classificação estritamen-
te formal, o critério dos tipos formais de oposições se revela como su-
bordinado ao do número de “critérios semânticos” (ou “dimensões”) que
funcionam nos campos. A estruturação e funcionamento dos campos não
dependem unicamente dos tipos formais de oposições, mas também do
tipo de sua relação com a “realidade” extralinguística, que elas organi-
zam ou formam a partir do ponto de vista semântico. Logo, as relações
formais internas de um campo pertencem também ao tipo de relação e-
xistente entre os significados e sua expressão.
O fato de os sistemas serem mais numerosos no léxico do que na
gramática e na fonologia significa apenas que a descrição lexical será
mais complicada e empiricamente mais difícil. Porém, apesar das inúme-
ras diferenças de uma língua, incluindo aí a língua histórica e a funcional,
p. 1341 Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
existe um fundo lexical comum onde é possível se organizarem estrutu-
ras precisas. Nessa mesma língua existem também as estruturas impreci-
sas que, do ponto de vista estrutural proposto por Coseriu, deverão ser
apresentadas exatamente como são. Não é necessário que se imponham
estruturas “perfeitas” para que um estudo estrutural tenha valor. O impor-
tante é apresentar o funcionamento real da língua. Além do mais, muitas
estruturas aparentemente imprecisas, poderiam ter precisão se fosse pos-
sível fazer-se a distinção sistema e norma, ou estrutura e uso de uma lín-
gua.
Ainda é muito difícil apresentar uma teoria concisa sobre a estru-
turação dos campos lexicais, uma vez que existem problemas difíceis de
resolver ou até mesmo sem solução.
5. Considerações finais
A língua de um povo faz parte da sua cultura, pois ela é a expres-
são desse povo. Mesmo sabendo que a fala é individual, o seu objetivo é
socializar-se para que haja comunicação, principal função da fala. Se
comunicar é pôr em comum, falar é expressar o individual de forma soci-
al para que a comunicação se estabeleça. Com base nesses princípios, a
teoria funcionalista da linguagem visa o estudo da língua e da fala em seu
momento de uso. Conforme o próprio nome já diz, o Funcionalismo vem
tratar do funcionamento da linguagem. O enfoque principal dado ao tra-
balho foi a perspectiva proposta por Eugenio Coseriu de estruturação os
campos lexicais. Se a linguagem tem caráter dinâmico, não se pode estu-
dar a língua de um povo de maneira estática, pois se perderá de vista a
evolução da língua no sistema linguístico e social.
Um estudo estrutural do léxico deixa claro que, ainda que não se
possa abarcar todo o léxico de uma língua, pode-se começar a realizar a
estruturação desse léxico a partir de um corpus delimitado.
A teoria dos campos lexicais proposta por Eugenio Coseriu nos dá
a possibilidade de realizar um levantamento de um léxico específico e,
consequentemente, poder conhecer algum aspecto específico da socieda-
de em que se está realizando tal estudo.
Longe de se esgotar, os estudos em lexicologia necessitam de
pesquisadores que se aventurem na história de um povo a partir o seu vo-
cabulário.
Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 p. 1342
ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABBADE, Celina Márcia de Souza. Um estudo lexical o primeiro ma-
nuscrito da culinária portuguesa: o Livro e Cozinha da Infanta D. Maria
Salvador: Quarteto, 2009.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de
Janeiro: Lucerna, 1999.
COSERIU, Eugenio. Gramática, semántica, universales estudios de la
lingüística funcional. 2. ed. rev. Madrid: Gredos, 1987.
COSERIU, Eugenio. Princípios de semántica estructural. Vers. esp. de
Marcos Martinez Hernández, rev. por el autor. Madrid: Gredos, 1977.
GECKELER, Horst. Semántica estructural y teoria do campo léxico.
Vers. esp. de Marcos Martinez Hernández rev. por el autor. Madrid: Gre-
dos, 1976.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística geral. Trad. de Antônio
Chelini et al. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1970. Pref. à ed. bras. de Isaac
Nicolau Salum.
TRIER, Jost. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes,
Heidelberg, 1931.
ULMANN, Stephen. Lenguaje y estilo. Trad. do inglês por Juan Martin
Ruiz-Werner. Madrid: Aguilar, 1973.
p. 1343 Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 2. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011
Você também pode gostar
- Hermenêutica Jurídica em Crise, de Lenio Streck - RESENHADocumento4 páginasHermenêutica Jurídica em Crise, de Lenio Streck - RESENHAKessy AguiarAinda não há avaliações
- Modelo TCC AnhangueraDocumento11 páginasModelo TCC AnhangueraDanilo AlmeidaAinda não há avaliações
- Noções de Língua e Textualidade MarcuschiDocumento7 páginasNoções de Língua e Textualidade MarcuschiJulia SantosAinda não há avaliações
- Modelo de Memorial de Trajetória Acadêmica e Profissional-Esp. História Africana - URUDocumento1 páginaModelo de Memorial de Trajetória Acadêmica e Profissional-Esp. História Africana - URUAllana SousaAinda não há avaliações
- Análise de Livro Didático de PortuguêsDocumento15 páginasAnálise de Livro Didático de PortuguêsElcio Queiroz Couto60% (5)
- AD1 Resumo Critico PCN Língua PortuguesaDocumento4 páginasAD1 Resumo Critico PCN Língua PortuguesaJê OmegaAinda não há avaliações
- CARBONI, F Introdução À Linguística ResenhaDocumento6 páginasCARBONI, F Introdução À Linguística ResenhaEduardo OliveiraAinda não há avaliações
- 1 - Fichamento Miriam Lemle-Guia Teórico AlfabetizadorDocumento6 páginas1 - Fichamento Miriam Lemle-Guia Teórico AlfabetizadorFábio Amaral de Oliveira100% (1)
- PLANO BIMESTRAL 1º ARTES (1º ANO) AlineDocumento3 páginasPLANO BIMESTRAL 1º ARTES (1º ANO) AlineSamilly Santos100% (1)
- Discurso Da Escrita e Ensino SOLANGE GALLODocumento4 páginasDiscurso Da Escrita e Ensino SOLANGE GALLOAnonymous Syhm81TgraAinda não há avaliações
- Leitura ExpressivaDocumento7 páginasLeitura ExpressivaKeniaeRodrigoOliveiraAinda não há avaliações
- Ementa - Língua PortuguesaDocumento3 páginasEmenta - Língua PortuguesaRonaldo CardosoAinda não há avaliações
- Atividade de Análise Linguística IDocumento2 páginasAtividade de Análise Linguística IRenata QueirozAinda não há avaliações
- Biografia de Ruth Rocha - EbiografiaDocumento7 páginasBiografia de Ruth Rocha - EbiografiaYanka PatríciaAinda não há avaliações
- Ef1 BNCC Regular LP-MT 2ano p6Documento36 páginasEf1 BNCC Regular LP-MT 2ano p6Profa Desterro BarrosAinda não há avaliações
- Modelo Plano Anual Ceja 2022Documento4 páginasModelo Plano Anual Ceja 2022willian sousaAinda não há avaliações
- Entendendo o Que É Respeito Ao ProximoDocumento3 páginasEntendendo o Que É Respeito Ao ProximoLilia Santos100% (1)
- Apostila Present SimpleDocumento14 páginasApostila Present SimpleLucas GarridoAinda não há avaliações
- Atividade de Leitura e Interpretação de Um CordelDocumento3 páginasAtividade de Leitura e Interpretação de Um CordelMariara VieiraAinda não há avaliações
- Aula 23Documento48 páginasAula 23Alan Silus0% (1)
- A Hipótese Inatista de Aquisição Da PDFDocumento12 páginasA Hipótese Inatista de Aquisição Da PDFRafael LopesAinda não há avaliações
- Resumo LetramentoDocumento19 páginasResumo LetramentorenismagnoAinda não há avaliações
- O Ensino de Língua PortuguesaDocumento17 páginasO Ensino de Língua PortuguesaDanilo Vanessa MachadoAinda não há avaliações
- Ementa Disciplina Alfabetização e LetramentoDocumento7 páginasEmenta Disciplina Alfabetização e LetramentoAdriana MeloAinda não há avaliações
- Fichamento Topico em LibrasDocumento3 páginasFichamento Topico em LibrasArielly AlfanoAinda não há avaliações
- Oralidade e Ensino de LínguaDocumento20 páginasOralidade e Ensino de LínguaLudmila BortolozoAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Literatura e Linguagem LiterariaDocumento9 páginasFICHAMENTO Literatura e Linguagem LiterariaCamila RezendeAinda não há avaliações
- Análise Da Música Paisagem Na JanelaDocumento3 páginasAnálise Da Música Paisagem Na JanelaGivas DemoreAinda não há avaliações
- Resumo Novos Sentidos para A Ciência Capitulo IDocumento4 páginasResumo Novos Sentidos para A Ciência Capitulo IViviane Vivi0% (1)
- Variação LingüísticaDocumento4 páginasVariação Lingüísticalinenas2008100% (1)
- No Lugar Do Outro. Por Rosely SayãoDocumento2 páginasNo Lugar Do Outro. Por Rosely SayãoPsicossomática Psicanalítica I. Sedes Sapientiae0% (1)
- Modelo Conceitual Reforço EscolarDocumento4 páginasModelo Conceitual Reforço EscolarRioeduca NetAinda não há avaliações
- 27 Lexicografia - Dos Primórdios À Nova Lexicografia Hwang2010Documento7 páginas27 Lexicografia - Dos Primórdios À Nova Lexicografia Hwang2010Carla ForiniAinda não há avaliações
- Conceituando Alfabetização e Letramento (Eliana Borges Correia de Albuquerque)Documento11 páginasConceituando Alfabetização e Letramento (Eliana Borges Correia de Albuquerque)Renato MctAinda não há avaliações
- Civismo ClassicoDocumento6 páginasCivismo ClassicoAvelino AugustoAinda não há avaliações
- Fundamentos e Metodologia Do Ensino Da Língua PortuguesaDocumento3 páginasFundamentos e Metodologia Do Ensino Da Língua PortuguesaJuciléia GondimAinda não há avaliações
- Plano de Ensino Laboratorio de RádioDocumento7 páginasPlano de Ensino Laboratorio de RádioJoão RicardoAinda não há avaliações
- 1 Reflexões Sobre A Língua e A LinguagemDocumento4 páginas1 Reflexões Sobre A Língua e A LinguagemMarcos PatrícioAinda não há avaliações
- Aspectos Históricos e Socioculturais Da População SurdaDocumento1 páginaAspectos Históricos e Socioculturais Da População SurdaRodrigo XavierAinda não há avaliações
- 7 Ano Produção 3biDocumento25 páginas7 Ano Produção 3biJoaciana Pessanha0% (2)
- Análise Do Poema "O Relógio" de João CabralDocumento5 páginasAnálise Do Poema "O Relógio" de João CabralAdriano LacerdaAinda não há avaliações
- Caderno Do Aluno - Volume 1 - 8º Ano EFDocumento82 páginasCaderno Do Aluno - Volume 1 - 8º Ano EFDea Cortelazzi0% (1)
- Exercícios Sobre A História e A Evolução Do PortuguêsDocumento2 páginasExercícios Sobre A História e A Evolução Do PortuguêsSílvia AlfaiateAinda não há avaliações
- Figuras de Linguagem Nas Letras de Luiz GonzagaDocumento15 páginasFiguras de Linguagem Nas Letras de Luiz GonzagaAdriana LavoratoAinda não há avaliações
- Plano de Curso Arte - 5º AnoDocumento10 páginasPlano de Curso Arte - 5º AnoRogers NascimentoAinda não há avaliações
- Atividade de GeografiaDocumento4 páginasAtividade de GeografiaEscola Integral100% (1)
- Slides de Aula I PDFDocumento46 páginasSlides de Aula I PDFNicoleAinda não há avaliações
- Projeto Língua PortuguesaDocumento4 páginasProjeto Língua PortuguesaClarice GhisiAinda não há avaliações
- Aula 04 - Níveis de Compreensão Textual (Literal-Interpretativa-Crítica)Documento3 páginasAula 04 - Níveis de Compreensão Textual (Literal-Interpretativa-Crítica)Dieyson SoaresAinda não há avaliações
- Plano de Aula BNCCDocumento3 páginasPlano de Aula BNCCLego Dick100% (2)
- História Do Município de Lauro de FreitasDocumento8 páginasHistória Do Município de Lauro de FreitasTok DigitalAinda não há avaliações
- Plano Anual 2023 PortuguesDocumento4 páginasPlano Anual 2023 PortuguesAlderina AlvesAinda não há avaliações
- Planejamento Anual. Língua Portuguesa. 5º Ano. 2023Documento18 páginasPlanejamento Anual. Língua Portuguesa. 5º Ano. 2023Leia PrincesaAinda não há avaliações
- Kathryn Woodward - Identidade e Diferença, Uma Introdução Teórica e ConceitualDocumento3 páginasKathryn Woodward - Identidade e Diferença, Uma Introdução Teórica e ConceitualGabriel Carvalho IlAinda não há avaliações
- Leitura e Produção Do Texto Criativo 3Documento14 páginasLeitura e Produção Do Texto Criativo 3Midiã EllenAinda não há avaliações
- A análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinNo EverandA análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinAinda não há avaliações
- Epistemologias Não-CartesianasDocumento24 páginasEpistemologias Não-CartesianasAdalene SalesAinda não há avaliações
- Ebook Frases de Acao Frase de ExemploDocumento10 páginasEbook Frases de Acao Frase de ExemploBianca FasanoAinda não há avaliações
- Recensão Critica de Educação e Sociologia de DurkheimDocumento13 páginasRecensão Critica de Educação e Sociologia de DurkheimLuisa BorgesAinda não há avaliações
- Radcliffe-Brown - A Interpreta - o Dos CostumesDocumento25 páginasRadcliffe-Brown - A Interpreta - o Dos Costumeslubuchala5592Ainda não há avaliações
- Teoria e A Ascensão Dos Estudos Da GlobalizaçãoDocumento10 páginasTeoria e A Ascensão Dos Estudos Da GlobalizaçãoAccachya OlorumAinda não há avaliações
- Plano de Trabalho Docente - Enfermagem 2Documento81 páginasPlano de Trabalho Docente - Enfermagem 2Sandro Souza100% (1)
- O Arrebatamento Pre Mid Pos TribulacaoDocumento6 páginasO Arrebatamento Pre Mid Pos TribulacaoparipasuAinda não há avaliações
- Irton MilanesiDocumento19 páginasIrton MilanesiAderaldo Leite da SilvaAinda não há avaliações
- Em Direção A Um Conceito de Literacia HistóricaDocumento20 páginasEm Direção A Um Conceito de Literacia HistóricaEsdras OliveiraAinda não há avaliações
- Pentecostais No Brasil - Francisco Cartaxo RolimDocumento248 páginasPentecostais No Brasil - Francisco Cartaxo RolimRoberto JuniorAinda não há avaliações
- História, Filosofia e Ensino de Ciências: A Tendencia Atual de Reaproximação. MatthewsDocumento51 páginasHistória, Filosofia e Ensino de Ciências: A Tendencia Atual de Reaproximação. MatthewsDébora MarchesineAinda não há avaliações
- Maanual TCC Versão Do AlunoDocumento103 páginasMaanual TCC Versão Do AlunoBruno HenriqueAinda não há avaliações
- Ciência Da Informação: O Que É Borko, H.Documento5 páginasCiência Da Informação: O Que É Borko, H.Luciana PiovezanAinda não há avaliações
- A Utopia Camponesa Octavio Ianni.Documento18 páginasA Utopia Camponesa Octavio Ianni.Bruno PerezAinda não há avaliações
- Banda de Fanfarra Escola e Identidade Scio-CulturalDocumento23 páginasBanda de Fanfarra Escola e Identidade Scio-CulturalJair DemuttiAinda não há avaliações
- POCOCK A Linguagem Do Ideário PolíticoDocumento9 páginasPOCOCK A Linguagem Do Ideário PolíticoIoneide Piffano de SouzaAinda não há avaliações
- Amandio Coxito - Pedro Da Fonseca (Escolástica Portugal)Documento27 páginasAmandio Coxito - Pedro Da Fonseca (Escolástica Portugal)Tiago CardosoAinda não há avaliações
- Histeria e Fenômenos Psíquicos - As Curas Espíritas (Cairbar Schutel)Documento47 páginasHisteria e Fenômenos Psíquicos - As Curas Espíritas (Cairbar Schutel)Mauro TokuraAinda não há avaliações
- Paul Veyne. A História ConceptualizanteDocumento18 páginasPaul Veyne. A História ConceptualizanteDarcio Rundvalt50% (2)
- Sobre o Sujeito e Objeto - AdornoDocumento7 páginasSobre o Sujeito e Objeto - AdornoleandrokotzAinda não há avaliações
- Jacques Rancière. As Palavras Da Historia.Documento18 páginasJacques Rancière. As Palavras Da Historia.Luiz Bruno DantasAinda não há avaliações
- Uma Abordagem Reflexiva Na Formação e No Desenvolvimento Do Professor de Língua Estrangeira.Documento1 páginaUma Abordagem Reflexiva Na Formação e No Desenvolvimento Do Professor de Língua Estrangeira.gabrielaimbernomAinda não há avaliações
- Teoria Do Big BangDocumento2 páginasTeoria Do Big BangSilvano LimaAinda não há avaliações
- A Reinvenção Dos Direitos Humanos - Herrera-FloresDocumento232 páginasA Reinvenção Dos Direitos Humanos - Herrera-FloresHermeneuticaJuridicaAinda não há avaliações
- Aristoteles Teoria Do Conhecimento e ÉticaDocumento19 páginasAristoteles Teoria Do Conhecimento e ÉticaJules RomualdoAinda não há avaliações
- Projeto Integrador IV - 5º PeríodoDocumento11 páginasProjeto Integrador IV - 5º PeríodoGustavo PeixotoAinda não há avaliações
- TRADUÇÃO E POESIA - REVISTA 2011.19-RevistaDocumento163 páginasTRADUÇÃO E POESIA - REVISTA 2011.19-RevistaJuliana SalvadoriAinda não há avaliações
- Topificação: Metodologia Texto 8Documento4 páginasTopificação: Metodologia Texto 8Julio CdataAinda não há avaliações