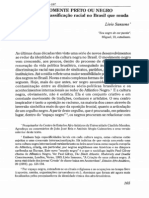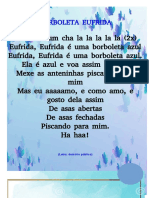Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LIMA, Ari - FUNKEIROS, TIMBALEIROS E PAGODEIROS: NOTAS SOBRE JUVENTUDE E MÚSICA NEGRA NA CIDADE DE SALVADOR
LIMA, Ari - FUNKEIROS, TIMBALEIROS E PAGODEIROS: NOTAS SOBRE JUVENTUDE E MÚSICA NEGRA NA CIDADE DE SALVADOR
Enviado por
Carolina LimaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LIMA, Ari - FUNKEIROS, TIMBALEIROS E PAGODEIROS: NOTAS SOBRE JUVENTUDE E MÚSICA NEGRA NA CIDADE DE SALVADOR
LIMA, Ari - FUNKEIROS, TIMBALEIROS E PAGODEIROS: NOTAS SOBRE JUVENTUDE E MÚSICA NEGRA NA CIDADE DE SALVADOR
Enviado por
Carolina LimaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FUNKEIROS, TIMBALEIROS E PAGODEIROS:
NOTAS SOBRE JUVENTUDE E MÚSICA NEGRA NA
CIDADE DE SALVADOR *
ARI LIMA**
RESUMO: Neste artigo, pretendo discutir como, num contex-
to racializado da associação entre juventude negra e música, sur-
gem experiências que se desenvolvem como marcas identitárias,
crítica social e ratificação de hierarquias raciais, de classe e gê-
nero. Para tanto, trabalho com as idéias de juventude e geração
como dado biológico, tanto quanto social e histórico, e com a
idéia de música como sentido compartilhado. Além disso,
rediscuto minhas notas etnográficas e de outros autores que re-
fletiram sobre a relação entre música e juventude negra, cujos
jovens observados, em contextos diversificados, são basicamente
suburbanos, pobres e “negro-mestiços” com baixo grau de es-
colaridade, alguns com baixa capacidade de consumo, outros
consumidores ansiosos. Concluo apontando para a importân-
cia da música como instrumento configurador de uma experi-
ência juvenil e negra afro-diaspórica, mas também como ins-
trumento repositor de antigas dessemelhanças que não estão nos
genes.
Palavras-chave: Juventude. Cultura negra. Bahia. África.
* Como autor, assumo a responsabilidade por todos os pontos de vista e idéias apre-
sentados neste artigo. Estou certo, entretanto, que o amadurecimento dos mesmos são
resultado da interlocução com informantes e com colegas que discutem temáticas pró-
ximas a que apresento. Neste sentido, agradeço a todos aqueles que, anonimamente,
contribuíram para a realização deste artigo e especialmente a Osmundo Pinho, pelas
críticas e comentários.
* Professor substituto do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e doutorando em Antropologia Social na Universidade de Brasília (UnB).
E-mail: ari66@ig.com.br
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 77
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
F UNKEIROS, TIMBALEIROS E PAGODEIROS :
NOTICE ABOUT YOUTH AND THE BLACK MUSIC OF S ALVADOR CITY
ABSTRACT: In this article, I intend to discuss how, in the racialized
context of the association between black youth and music, expe-
riences arise and develop as identity marks, social criticism and
the ratification of racial, class and gender hierarchies. To do so, I
work with the idea of youth and generation as not only a bio-
logical, but also a social and historical data, and with the idea of
music as a shared sense. Besides, I discuss my own ethnographi-
cal observations as well as those of other authors who reflected
on the relationship between music and black youth and have ba-
sically observed, in various contexts, young, poor, partly Negro
suburbanites with low schooling, some having a low buying power,
others being anxious consumers. I conclude pinpointing the im-
portance of music as a configuration instrument for a youthful
and black Diaspora experience, but also as an instrument that re-
news old dissimilarities that are not genetic.
Key words: Youth. Black Culture. Bahia. Africa.
F reqüentemente, o debate sobre juventude em contextos urba-
nos enfoca questões como evasão escolar, violência e crimina-
lidade, abandono social, sexualidade, inserção no mercado de
trabalho ou conflito de gerações. Temas que esboçam uma preocu-
pação em torno de desastres sociais e perspectivas de futuro para ci-
dadãos em formação. Na cidade de Salvador, capital do estado da
Bahia, estas questões aparecem num contexto onde, segundo esta-
tísticas oficiais, cerca de 80% da população é formada por negros
(pretos e pardos). Estes negros são as vítimas mais constantes da re-
pressão policial, são quase invisíveis nos meios de comunicação, são
as maiores vítimas do desemprego, exercem as funções que exigem
menor qualificação, recebem salários mais baixos e mais dificilmen-
te ascendem no emprego; têm maior dificuldade de acesso ao ensi-
no superior e público e tendem a ocupar vagas nos cursos superio-
res menos prestigiados (Castro & Barreto, 1998; Queiroz, 2000).
Neste contexto, os baianos, de um modo geral, e os jovens negros,
em particular, cultivam um sentimento positivo de diferença em re-
lação ao Brasil e ao mundo (Pinho, 1998a), assim como um senti-
mento de indiferenciação racial; evadidos da escola, propensos à vi-
olência, ao crime e ao desemprego, estes jovens negros são objeto de
imagens e representações culturais que orientam a idéia de uma ju-
ventude alegre, lasciva, musical, festiva e exótica. A perspectiva ci-
78 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
dadã desta juventude em Salvador me parece, portanto, fundamen-
talmente racializada. 1
Neste artigo, baseado em notas de vários autores (Vianna,
1988; Cecchetto, 1997; Silva, 1997; Sansone, 1997; Pinho, 1998b;
Godi, 2001) e nas minhas próprias investidas etnográficas (Lima,
1997; 2000), pretendo discutir a música,2 em seu aspecto racialista,
como configuradora de sentido para uma idéia de juventude negra
em Salvador. Acredito que, se por um lado, através da música, nos
últimos 30 anos, gerações sucessivas de jovens negros, conscientes
dos seus limites para aquisição de cidadania, elaboraram formas mu-
sicais que se transformaram em expressão de identidade juvenil, em
estratégias de afirmação étnica e racial, em projetos anti-racistas, por
outro lado, estas mesmas formas musicais serviram para reatualizar
estereótipos em relação ao negro e controlar as perspectivas de uma
juventude negra expressiva e majoritária.
Juventude e geração
A princípio, a noção de juventude se define por um aprofun-
damento biológico do processo vital de um indivíduo. Neste proces-
so, os jovens passam por notórias alterações orgânicas e anatômicas que
o distinguem de uma criança ou de um indivíduo adulto. Mas, justa-
mente, enquanto decorre este processo orgânico e anatômico, os jo-
vens costumam também sofrer uma forte pressão social. Isto porque
se manifesta na família, na escola, no segmento social de origem ou
entre os grupos de amigos uma expectativa em torno de uma consci-
ência juvenil apta à aceitação de novos papéis sociais, à aquisição de
responsabilidades e elaboração de projetos de futuro. A juventude se
torna, então, mais do que o aprofundamento biológico do processo
vital do indivíduo, um aprofundamento crítico, ritualizado, integrador
ou libertário em relação ao tempo, ao espaço e à ordem social. Histo-
ricamente determinado, este processo vital reflete injunções de classe,
raça, gênero, escolaridade e mesmo dos modelos de relações entre uma
“geração” antecedente e outra posterior.
Uma das formas de conferir unidade e maior clareza de senti-
do à noção de juventude é associá-la à idéia de geração. Marialice
M. Foracchi (1972) afirma que se define uma geração através de um
estilo de ação peculiar, uma uniformidade de locação social estranhos
a uma geração anterior. Isto significa que uma geração compartilha
experiências, situações de vida e oportunidades de trabalho, benefí-
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 79
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
cios e opressões, tensões e alegrias prefiguradas por um modo geracio-
nal de locação na estrutura social.
A análise do fenômeno da locação social permite estabelecer diferenças
entre o fenômeno das gerações e dos grupos sociais, dando a unidade das
gerações como sendo essencialmente constituída pela similaridade de lo-
cação. Só é possível, contudo, caracterizar o fenômeno da similaridade de
locação, quando se especifica a natureza da estrutura através da qual os
grupos de locação emergem na realidade histórico-social. A geração cons-
titui, assim, uma modalidade particular de localização social. Há uma “ten-
dência”, inerente a cada geração, que pode ser determinada pela natureza
particular da locação como tal, a qual é sociologicamente estabelecida pelo
tipo de relações de locação que mantém com outros membros da socieda-
de, diferentemente situados diante do processo histórico-social. (Foracchi,
1972, p. 20)
É bom lembrar que a reflexão de Foracchi sobre geração e ju-
ventude se enquadra no limite sociológico de uma juventude bran-
ca, urbana, de classe média e universitária, que protagonizou as re-
beliões estudantis no final da década de 1960. Deste modo, a autora
busca a uniformização de uma determinada geração juvenil a partir
do conflito determinado pela crítica a valores e perspectivas de ade-
são social de uma geração anterior pertencente a um mesmo grupo
de locação. Eram universitários em crise com a preservação, trans-
missão e renovação de um patrimônio cultural, preocupados com
suas possibilidades de atuação social e dinamização do sistema so-
cial mais amplo.
Ainda a propósito da noção de geração, Jean-François Sirinelli
(1996) observa que é uma tarefa complexa responder o que é uma
geração. O autor pergunta se a geração é um padrão que permite
dividir o tempo ou se seria uma espécie de metrônomo que marca
com regularidade o tempo que passa. Desse modo, por muito tem-
po, a tentativa de definir a noção de geração colocou o historiador
diante do perigo da banalidade ou generalidade do propósito. Ba-
nalidade porque todas as sociedades humanas conhecidas estabele-
cem a sucessão de faixas etárias; generalidade porque, por esta mes-
ma razão, “o uso da noção de geração fica às vezes na superfície das
coisas, sendo antes elemento de descrição do que fator de análise”
(Sirinelli, 1996, p. 132).
Sirinelli observa também que estabelecemos os limites de uma
geração como elemento de “periodização” econômica, social, políti-
ca e cultural. Só que se a noção de “periodização” remete à de regu-
80 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
laridade, os fatos inauguradores de uma geração se sucedem de ma-
neira forçosamente irregular e são de geometria variável em relação
aos registros econômico, social, político e cultural. Isto promove ge-
rações “curtas” e gerações “longas”, plásticas em relação à vertica-
lidade do tempo. Para este autor, a geração deve ser tomada então
como uma escala móvel do tempo, como uma estrutura que contribui
para reabilitar o acontecimento. Mais ainda, deve ser tomada como
uma auto-representação, uma autoproclamação diferencial dos sujei-
tos diretamente envolvidos, assim como uma reconstrução do histo-
riador que classifica e rotula.
Alba Zaluar (1997) afirma que, no Ocidente, o interesse ci-
entífico pela juventude e sua definição como categoria analítica teve
grande impulso nos anos 20, quando na cidade de Chicago, nos Es-
tados Unidos, jovens italianos, judeus, irlandeses, afro-americanos,
entre outros, formaram uma geração que se tornou objeto de estu-
dos sistemáticos que discutiam as implicações entre juventude, vio-
lência, criminalidade e desorganização social urbana. Desde então,
o trânsito zona rural versus zona urbana ou o esmaecimento de laços
tradicionais de família e vizinhança foram vistos como favorecedores
de atividades criminosas, violência e marginalização juvenil, suscita-
ram teorias que ora centradas na idéia de crise e desorganização soci-
al, revelavam um compromisso com a ordem estabelecida e com uma
forma homogênea de organização social; ora centradas na idéia de
frustração, denunciavam o caráter competitivo de uma sociedade que
não oferecia as mesmas oportunidades de ascensão para todos os gru-
pos e categorias sociais; ora centradas no processo de rotulação de jo-
vens moradores de guetos e bairros pobres como ‘delinqüentes’ pelo
governo, pela polícia e pela justiça, observavam que, a rigor, se tra-
tavam de jovens à deriva, vivendo conflitos próprios de idade
(Zaluar, 1997).
Todas essas teorias foram, em maior ou menor grau, criticadas pelo seu
compromisso com o positivismo que transformava as pessoas em objeto e
seu comportamento em fatalidade ou determinação, dificultando o en-
tendimento delas enquanto sujeitos que participariam de forma ativa nas
suas escolhas e ações, apesar das constrições e pressões de forças de várias
ordens (Jankowski, 1991; Katz, 1988; Matza, 1964). Por causa disso,
nenhuma delas poderia explicar porque percentuais tão baixos de po-
bres, números pequenos de negros e poucas pessoas pertencentes a algu-
mas minorias étnicas enveredam, de fato, em carreiras criminosas. (Zaluar,
1997, p. 20)
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 81
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
No Brasil, a complexificação que a sociedade brasileira vem al-
cançando desde as primeiras décadas do século XX, através da emer-
gência, organização e reivindicação política de novas categorias sociais
urbanas como: operários, pobres, mulheres, negros, “desviantes” da lei
ou da moral sexual, como prostitutas, homossexuais e jovens etc., em
alguma medida deslocou o pensamento social do ponto de vista das eli-
tes. Assim, se os pesquisadores necessariamente não assumiram o ponto
de vista destes novos sujeitos, defenderam ao menos a legitimidade da
inflexão dos mesmos na sociedade (Durham, 1997). Desse modo, tam-
bém a socioantropologia nacional sobre a juventude urbana, sob o im-
pacto de teorias estrangeiras, de dinâmicas sociais internas e do
surgimento de pesquisadores diretamente envolvidos com os seus obje-
tos, vem refletindo sobre pequenos grupos de identidade juvenil
circundantes e vem enfrentando a dificuldade ou a limitação de traba-
lhar com conceitos, categorias analíticas e ângulos de observação impor-
tados, muitas vezes inadequados para refletir sobre objetos, relações e
estruturas sociais geradores de dimensões simbólicas particulares.
Juventude negra e música
Ao propor refletir sobre a idéia de juventude através de sua re-
lação com a música, necessariamente, não desprezo temas ou questões
como trabalho, educação, violência ou criminalidade. Observo, entre-
tanto, que a despeito da importância de se pensar a relação entre ju-
ventude e estes temas citados, tal proposição acaba sempre repondo a
idéia de juventude e a experiência juvenil no nível da falta de sentido
em relação à sociedade civil organizada ou a estruturas sociais
hegemônicas. Ao incidir, portanto, sobre a relação entre juventude e
música negra, no âmbito da experiência de jovens negros na cidade
de Salvador, considero este nível analítico comum, mas o reposiciono
em direção a um excesso de sentido ou “excesso etnográfico”3 que esta
experiência juvenil promove em relação à sociedade civil ou estruturas
sociais hegemônicas. Considero o meio musical em Salvador uma es-
trutura social descritível, relacional, reflexiva e racializada, onde é pos-
sível identificar grupos juvenis de locação ou grupos geracionais mó-
veis autoproclamados, auto-representados e exteriormente classificados
como tal.
O binômio juventude negra e música tem despertado o interesse
analítico de diversos autores no Brasil (Sansone & Santos, 1997; Vianna,
1988; Vianna, 1997; Herschmann, 1997; Silva, 1995; Amorim, 1997;
82 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
Félix, 2000; etc.). Na Bahia, os autores que escrevem sobre o assunto
não institucionalizaram a discussão, mas dialogam entre si, influenci-
am uns aos outros, assim como absorvem também influências de estu-
dos realizados em outras regiões como o Rio de Janeiro (Sansone & San-
tos, 1997). Logo, antes de tratar mais detidamente das minhas próprias
notas etnográficas, vou me referir a alguns destes autores e estudos na
Bahia. Antes ainda, considerando as constantes e importantes corres-
pondências entre música e cultura negra que a Bahia e o Rio de Janeiro
sempre estabeleceram, refletidas no meu trabalho e no de outros auto-
res baianos ou radicados na Bahia, citados aqui, vou me referir a dois
estudos realizados no Rio de Janeiro. Distanciando-me ou aproximan-
do-me dos mesmos, pretendo então evidenciar vértices comuns que de-
terminam culturas e identidades juvenis distintas.
Depois que galeras4 de funkeiros negros, pobres e favelados re-
alizaram, em 1992, um fantástico “arrastão” nas praias cariocas, re-
percutido em todos os grandes meios de comunicação brasileiros, a
pesquisa sobre o mundo funk carioca realizada pelo antropólogo
Hermano Vianna (1988) tornou-se fonte de consulta para o gover-
no do Rio de Janeiro e aparece citada em vários autores que posteri-
ormente escreveram sobre o assunto. 5 Desde então, a dimensão da
festa, a relação entre o lúdico e a violência, é uma questão recorren-
te nos trabalhos sobre juventude e música funk no Rio de Janeiro.
Em O mundo funk carioca (1988), Vianna lembra que seu in-
teresse antropológico pelo funk e juventude funkeira surgiu casu-
almente quando, na condição de jovem da Zona Sul, simpático ao
mundo do samba carioca, visitava a quadra da escola Estácio de Sá
para ouvir samba e surpreendentemente se deparou com o “funk ele-
trônico na terra do samba”. Desde então, conheceu diversos bailes,
fez amizades, definiu seu lugar de “espectador” atuante entre os
funkeiros e “tradutor” do mundo funk carioca. Sobre o funk subur-
bano, Vianna defende que o mesmo é uma festa que se basta, que
não serve para nada, não faz sentido fora de si mesmo. Não gera iden-
tidade étnica ou racial, não serve para formar novas amizades, valo-
riza a violência como mecanismo desencadeador de euforia e êxtase,
não produz um funk brasileiro comercialmente dinâmico, não reatua-
liza a memória coletiva popular e negra das favelas e subúrbios cario-
cas, não faz crítica social.
Doze anos após a publicação desta pesquisa, o funk carioca é
um fenômeno de mercado. Possui personagens como os DJ’s, que
produzem e comandam bailes, ou personagens como “o tigrão”, “as
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 83
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
cachorras”, “as preparadas”, “as poposudas”, sexualizados e definido-
res de uma ordem de relações de gêneros em que o masculino pare-
ce ser sensual e virulento, o feminino parece ser sedutor e subordi-
nado. Domesticado pela indústria da música, propaga um discurso
de paz nos bailes, exotizado, atrai a simpatia da mídia, estimula a
liberação sexual de jovens de “boa família”, assim como contribui
para a reificação da sexualidade e o uso do corpo, como sempre fize-
ram funkeiros pobres e negros. Ou seja, contra as conclusões de
Vianna, o funk faz sentido dentro e fora de si mesmo, serve para al-
guma coisa. É possível constatar isso não só hoje, mas nas próprias
notas etnográficas do autor. Por exemplo, Vianna definiu um papel
e construiu amizades entre os funkeiros, manipulando sua identida-
de de “espectador atuante e tradutor do funk”; relata que rapazes e
moças funkeiros dispunham de um tempo e espaço extra-bailes, quan-
do ensaiavam complexas coreografias, formavam turmas e seleciona-
vam vestuário e adereços para a festa, em que o excesso de cor era
um aspecto marcante; observa também como nos bailes se executa-
vam danças quase sempre em grupo e movimentos definidos como
mais apropriados para homens ou mulheres; por fim, sugere um sen-
tido ritualístico para brigas que, embora “acontecessem por acaso”,
sempre aconteciam, eram esperadas e mesmo estimuladas.
Vianna usa também o fato de que quase todo o tempo se dan-
ça e o fato de que quase não se conversa nos bailes para reforçar seu
argumento de que o funk não serve para nada ou que não faz senti-
do fora de si mesmo. Descreve, entretanto, situações onde se esta-
beleciam relações de reciprocidade entre os dançarinos e os DJ’s,
quando, por exemplo, DJ’s ocasionalmente “puxavam” um refrão e
obtinham respostas que, mesmo quando pareciam “puro non sense”,
eram vinculadas a uma narrativa que todos conheciam. Relata algo
mais sobre as danças que também o contradiz:
Outra dança que sempre aparece nos momentos de maior intensidade
dos bailes lembra muito o samba de roda ou a dança de jongo. Os dan-
çarinos se dão as mãos e formam uma roda, abrindo espaço para um mem-
bro do grupo solar no centro dessa roda. O solista escolhe quem vai subs-
tituí-lo no centro. Esse é o único momento do baile em que aparece o
dançarino solo, mesmo assim rodeado por um grupo de amigos, que tam-
bém controla o tempo de sua dança “solitária”. Uma dança que também
está se tornando popular nos bailes cariocas é o “esfrega-esfrega”. Só as
mulheres podem participar dessa dança: pernas entrelaçadas, seios cola-
dos, várias dançarinas amontoadas nas costas “esfregando” as nádegas, o
84 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
ventre e muitas vezes simulando uma relação sexual. Essa dança só au-
menta a carga erótica que perpassa todo o baile, do começo ao fim.
(Vianna, 1988, p. 78)
Enfim, o erotismo das danças, a subdivisão dos dançarinos por
gênero, o caráter performático do evento e a interdependência entre
dança e música aparecem no funk, mas têm precedentes na memó-
ria de danças e músicas afro-descendentes no Brasil. Influenciada por
Vianna (1988), Fátima Cecchetto (1997) observa e enfatiza a rela-
ção entre o aspecto lúdico e o violento nos bailes funk cariocas. En-
tretanto, diferente deste autor, ao apontar para diferenciações de du-
ração e distribuição espacial internas aos bailes, para hierarquias
simbólicas criadas pelos próprios jovens funkeiros, identifica a for-
mação de narrativas, identidades e laços que, apesar de fluidos e tran-
sitórios, justificam e ajudam a compreender o caráter violento dos
funkeiros. Cecchetto (1997) apresenta o mundo funk do Rio de Ja-
neiro como um universo de socialização de jovens pobres, suburba-
nos ou favelados, distantes do Rio de Janeiro urbanizado e sofistica-
do. Este mundo é marcado pela presença de rapazes cuja afirmação
de identidade masculina é forjada através de um “ethos de virilida-
de”. Deste modo, a violência no funk é uma atribuição exterior
estigmatizante, mas é também um aspecto interno aos bailes,
ritualístico, que aciona a produção de territórios e identidades atra-
vés da constituição das galeras.
Com efeito, a adesão dos jovens às práticas das galeras do bairro ou do
“pedaço” pode ser compreendida como uma afirmação da identidade
grupal, que aparece associada à noção de “nós”, em contraposição ao “eles”,
os jovens de outras galeras e de outras comunidades. É preciso ressaltar,
entretanto, que essa rivalização entre nós e eles não recorta as relações
entre as classes sociais; o que se estabelece são disputas intra-classe, entre
os jovens de diferentes bairros populares, favelas e conjuntos habitacionais.
(Cecchetto, 1997, p. 98)
Assim, onde para Vianna (op. cit.) não havia a possibilidade
de formação de qualquer tipo de identidade e a festa só fazia senti-
do em si mesma, Cecchetto identifica “a representação simbólica de
processos complexos que organizam a vida social das favelas, segun-
do uma lógica antagônica, territorial e guerreira” (idem, p. 114).
Na Bahia, a dimensão da festa, do lúdico e da violência reapa-
recem nos trabalhos de Suylan Midlej e Silva (1997) e Livio Sansone
(1997). Silva, por exemplo, estudou o primeiro baile funk de Salva-
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 85
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
dor, “Black Bahia”, surgido em 1979, no bairro suburbano de
Periperi. Segundo Silva, jovens entre 15 e 28 anos, moradores de
bairros e regiões circunvizinhas, participavam todos os domingos à
noite deste baile, dançando em grupos, sozinhos, circulando pelo sa-
lão ou observando a movimentação alheia. Apoiada no argumento
de Vianna (op. cit.) de que a festa do funk não serve para nada e
não faz sentido fora de si mesma e no argumento de Sansone (1993)
de que a cultura negra juvenil aplaca o “stress racial”, 6 mas não é
um reduto de fidelidade a sentimentos étnicos e raciais e sim o re-
sultado da reinterpretação de símbolos negros norte-americanos
globalizados, Silva segue a pista de que é o lúdico, reforçado pela
ausência de violência sistemática no “Black Bahia”, que define o perfil
deste baile. Logo, estabelece como “objetivo central investigar o pa-
pel instituinte da comunicação mediática no processo de construção
de identidade dos grupos sociais emergentes na contemporaneidade”
(1997, p. 201). Defende, então, a presença de uma “etnicidade
comportamental”, sem o teor político-ideológico característico do
movimento negro instituído que nunca teria penetrado plenamente
nos bailes.
Desse modo, Silva prefere enfatizar o “contágio de euforia”, a
“pulsão afetiva”, o “estilo” como orientadores do sentimento de
pertencimento entre os participantes do “Black Bahia”:
Se é possível falar de uma “dimensão étnica” na construção da identidade
do funqueiro de Periperi, essa dimensão não passa, em absoluto, pela cons-
ciência, pela interiorização de uma ideologia da negritude, pela ação pla-
nejada e organizada em torno de símbolos e projetos étnicos. Ela se con-
figuraria, antes, pela imersão num padrão comportamental compartilha-
do, que se materializa, fundamentalmente, através do ambiente mediático
contemporâneo. (Silva, 1997, p. 211)
As notas etnográficas da autora, entretanto, parecem nos re-
velar mais do que isso. Primeiro, há sim uma identidade ou “con-
dição de classe” (Bourdieu, 1998) negada pelos informantes, mas
evidente. Os freqüentadores do “Black Bahia” são basicamente jo-
vens suburbanos, pobres e “negro-mestiços” com baixo grau de es-
colaridade e baixa capacidade de consumo. O baile tinha hora para
começar – oito horas da noite – e não por acaso hora para termi-
nar – em torno das onze horas da noite. Isto porque o sistema de
transportes urbanos é extremamente precário em Salvador, sobre-
tudo no subúrbio. Quem não volta para casa no último ônibus,
86 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
com pouco ou nenhum dinheiro, dorme na rua ou volta à pé. As
sofisticadas coreografias, os grupos de dançarinos são o resultado
de horas de ensaio, quando se “curte” o funk em casa, na casa dos
amigos, em outros bailes, festas ou eventos promovidos nos bair-
ros. Silva classificou os jovens funkeiros como negro-mestiços, mas
prefere não discutir porque estes mesmos jovens se classificam como
“brancos, pretos, azuis, de toda cor” (1997, p. 213). Esta é uma
questão importante, ao meu ver, uma vez que o “Black Bahia” ocor-
ria em um contexto onde opera um continuum de cor que trans-
forma cor em raça (Guimarães, 1999). Além disso, Silva esvazia a
história social de manifestações culturais negras juvenis na Bahia.
O caráter transnacional, a fluidez de identidades, a reatualização
de símbolos africanos, a comunicação silenciosa e alternativa aos
grandes meios de informação acontecem há um bom tempo na
Bahia (Risério, 1981; Vianna, 1988; Cunha, 1991; Vieira Filho,
1997; Godi, 2001).
Livio Sansone (1997) levanta a questão de que versões locais de
fenômenos globais como o funk relativizam o argumento de que have-
ria uma tendência homogeneizante e massificante de culturas juvenis
a partir do centro anglo-saxão. Ou seja, teríamos contemporaneamente
uma cultura juvenil globalizada, mas o consumo de música popular,
a criação de identidade negra-juvenil no Brasil, ocorreria mantendo-
se “uma série de aspectos tenazmente locais, determinados (por uma)
história cultural, tradições musicais e contextos estruturais diferentes.
Em outras palavras, a hegemonia planetária da cultura juvenil ‘anglo-
saxônica’ não é incontestável” (Sansone, 1997, p. 221).
Desse modo, afirma Sansone, no Rio de Janeiro ou na Bahia,
o funk é uma música comum, mas não caracteriza um subgrupo ou
um estilo musical, concorre com vários outros estilos musicais. Pode
servir para namorar, para agregar galeras ou turmas. Especificamen-
te no Rio de Janeiro pode servir para manifestar oposição à ordem
constituída e praticar violência. Na Bahia não existe ligação entre
funk e narcotráfico ou prática sistemática da violência. Também na
Bahia, o funk seria uma das formas de jovens pobres, “negro-mesti-
ços”, participarem da modernidade sem antagonizar a identidade
factual e diferencial de baianidade. Nos dois contextos, entretanto,
Sansone vê o consumo conspícuo como o meio para se alcançar a ci-
dadania. Vê também uma ênfase na individualidade e a recusa a uma
identidade negra diacrítica, nos moldes daquela elaborada pelo mo-
vimento negro.
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 87
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
Ao escrever sobre juventude, reggae e samba-reggae na Bahia,
Antonio J.V. dos Santos Godi (2001) discorda parcialmente de Sansone
(1997). Para Godi, de fato, o reggae jamaicano e o samba-reggae baiano
são reconstruções locais de representações culturais juvenis originaria-
mente anglo-saxãs. Entretanto, seguindo Paul Gilroy (1993), Godi
observa que considerando o fato de que negros anglo-saxãos, jamai-
canos e brasileiros compartilham o ônus de um mundo racialmente
desigual e que a música se constitui como um agente estético que man-
tém um sentimento transnacional de pertencimento, não é exato afir-
mar que os países anglo-saxãos sejam o centro irradiador destas cultu-
ras juvenis. Num contexto global, a música é, para os negros, um
símbolo afro-diaspórico que dispensa centro ou periferia, é um espaço
de representação sem fronteiras. Logo, a despeito de aspectos etno-
musicológicos locais, o reggae, o samba-reggae ou o funk poderiam ter
se originado na Jamaica, no Brasil ou em terras anglo-saxãs. Em qual-
quer um dos casos, não por acaso, há sempre alguma referência ao sím-
bolo África construído como locus mítico que promove um sentimen-
to de origem, dispersão e reagregação simbólica, inclusive, no interior
do mercado musical eletrônico.
Osmundo de Araujo Pinho (1998a) introduz um diferencial
fundamental na reflexão sobre juventude negra e música ao enfatizar
a questão do lugar como evento-território, onde são construídas iden-
tidades transitórias não essencialmente acopladas aos sujeitos,
incorporadoras de historicidade, relações de força, informações
globalizadas, constrangimentos raciais e de classe. No caso deste au-
tor, a questão do lugar surgiu a propósito do estudo que fez no Cen-
tro Histórico de Salvador (Pelourinho), quando este Centro, depois
de recuperado pelo Governo do Estado da Bahia, passou a abrigar
diversos lugares onde jovens repartidos em termos de cor e classe ou-
viam música, dançavam e paqueravam. Em dois destes lugares, o “Bar
Cultural” e o bar “Proibido Proibir”, Pinho realizou uma etnografia
comparativa.
Este autor afirma que o “Bar Cultural” era o cenário onde uma
juventude universitária, branca, de classe média forjava uma identi-
dade “alternativa” à cultura de massas popular de Salvador, ouvindo
rock e pop e trocando “informações culturais”. Neste bar, o ingresso
pago não determinava a qualidade específica da fronteira simbólica
estabelecida, mas operava uma discriminação real. No “Proibido Proi-
bir”, grande parte das atividades se desenvolvia na rua. Muitos podi-
am passar, dar uma olhada, parar um pouco e seguir. O controle so-
88 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
bre a territorialização era mínimo. A cultura espacial neste caso era
permissiva e promíscua. A música tocada e dançada era o pagode.
Ainda segundo Pinho, uma personagem típica do “Bar Cultu-
ral” seria um rapaz branco, por volta dos 20 anos, de cabelos com-
pridos nos ombros, roupas caras, brincos e tênis importado. Ia até o
Pelourinho de carro. Era o “rei”. Uma personagem típica do “Proi-
bido Proibir” seria um rapaz negro, por volta dos 18 anos, de ber-
muda jeans com cintura baixíssima, de tênis Nike preto (provavel-
mente falsificado), cabelos rentes, bonés e correntes no pescoço, este
rapaz era capaz de ter uma identidade real ou simulada com a vio-
lência e estava sempre pronto a sexualizar as relações pessoais. Era o
“brau”. Por fim, diz Pinho que:
No caso das territorializações que apresentei, a música está sendo, por um
lado, entendida como um sinalizador cultural, uma senha de identidade;
por outro, como um elemento ativo que participa da elaboração do mapa
cultural do Pelourinho. Essa música pode ser transnacional ou hiper-lo-
cal. Ao mesmo tempo que é produto de toda uma série de fatores exter-
nos ao contexto de sua audição, ela é produtora de determinadas
ambiências, tanto em um sentido concreto – pensemos nas boates que
existem no Pelourinho – como no sentido de produzirem uma espécie de
“trilha sonora” para uma comunidade interpretativa – pensemos no Bar
Cultural, onde o rock é o índice de adesão aos valores partilhados. (Pi-
nho, 1998, p. 44)
Quanto às minhas próprias notas etnográficas na cidade de Sal-
vador, venho observando e refletindo sobre relações sociais associa-
das à dança e música negra. Primeiro estudei cultura juvenil e rela-
ções raciais entre músicos da banda Timbalada, os timbaleiros (Lima,
1997). Atualmente, discuto cultura juvenil, raça e gênero através do
estudo da experiência do samba (na forma pagode) na Bahia e ob-
servo pagodeiros (Lima, 2000). Em ambos os trabalhos, faço um re-
corte que inclui jovens dos 18 aos 25 anos de idade, mais ou menos
escolarizados, bastante sexualizados e ansiosos consumidores; estes
jovens não só consomem tanto quanto produzem música e danças.
Através da música rearticulam um discurso sobre o mito da demo-
cracia racial, sobre a Bahia como reserva de autenticidade cultural
no Brasil, mobilizam consciência racial atrelada à uma consciência
corporal e conferem à música negra valor simbólico, mas também
econômico (Dantas, 1994).
A dimensão racialista da música repõe, por um lado, para os
jovens negros, a idéia da música percussiva como prática cultural “na-
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 89
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
turalmente” negra. Na medida em que, nos últimos trinta anos, a
música projetou uma imagem estereotipada, mas positivada da
Bahia, legitimou comportamentos bastante estigmatizados no pas-
sado recente, se tornou um lazer da moda, um canal de mobilização
social que dispensa a escola e o trabalho formal, atraiu muito mais
os jovens e reforçou a idéia de que negros têm uma “veia natural para
a música”. Entretanto, cresceu o número de músicos profissionais ou
semiprofissionais na Bahia, poucos têm conseguido construir uma
carreira sólida e menos ainda têm o controle da circulação do que
produzem. Ou seja, os agentes das gravadoras, os maiores produto-
res de bandas e artistas, os donos dos grandes blocos carnavalescos
não são estes músicos e não são jovens negros.
Por outro lado, muitos daqueles que ouvem, dançam e produ-
zem esta música são amigos, parentes de outros músicos ou foram so-
cializados em bairros periféricos onde muitas vezes há um terreiro de
candomblé, um bloco carnavalesco, um grupo de samba onde se apren-
de a tocar e dançar. O terreiro, o bloco ou o grupo de samba, para
além de seu caráter institucional, diversifica suas funções e significa-
do, permitindo a jovens que pouco circulam pela cidade – por esco-
lha, falta de dinheiro ou fidelidade ao território a que pertencem – o
encontro, a acomodação de papéis de gênero, a construção de amiza-
des, o aprender a tocar, a dançar, o compartilhamento de sentido para
a música e as danças associadas e a elaboração de cultura juvenil.
Através de minha inserção etnográfica, distingo três grupos de
locação e geracionais em que se elabora cultura juvenil: o primeiro
pode ser representado pelo bloco afro-carnavalesco Ilê Aiyê, surgido
em 1974, e está basicamente orientado pelo discurso da marca ne-
gra, ou seja, pela valorização da fenotipia mais negróide, pela idéia
de África como ideologia e mito (Cunha, 1986). Este bloco forma
músicos que tocam na banda Aiyê; o segundo pode ser representado
pelo Grupo Cultural Olodum, surgido em 1979, e está basicamen-
te orientado pelo discurso da origem negra, ou seja, pelo compro-
metimento político com a afirmação étnica e racial dos negros, o que
significa relativizar a realidade fenotípica da negritude e propor uma
redefinição da nação brasileira a partir deste lugar. Este bloco tam-
bém forma músicos que tocam na banda do Olodum; o terceiro pode
ser representado pela banda Timbalada, surgida em 1992, e está ba-
sicamente orientado pela conexão das noções de pessoa e indivíduo,
ou seja, quando se mitifica a força de laços comunitários, a autori-
dade dos antigos transmissores de conhecimento, mas se evita a
90 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
essencialização de identidades e a crítica racial apostando em respos-
tas geradas por indivíduos emocionalmente autônomos e capazes de
escolher de forma independente o seu destino num mercado musi-
cal globalizado, rentável para poucos e reificador da personalidade
negra como plena de estímulos primitivos. Esta banda vem forman-
do músicos que fazem muitos shows, viajam bastante, gravam discos
e tocam no bloco carnavalesco, como o mesmo nome da banda, pos-
terior ao surgimento da Timbalada.
Seguindo Sirinelli (1996), diria que estes grupos geracionais
se auto-representaram e foram proclamados como tais pela mídia,
por pesquisadores e um em relação ao outro; manipulam sentidos
que não foram forjados no período que separa os dois limites da fai-
xa etária que arbitrei acima; são objeto de, mas também têm forjado
estruturas socioeconômicas. São formados por informantes que tran-
sitam de um grupo geracional a outro, às vezes, tocando de graça na
banda Aiyê, do Ilê Aiyê, na banda do Olodum ou na Timbalada.
Outras vezes como músicos remunerados, o que permite agregar à
idéia de juventude negra não apenas valor simbólico (ser baiano, ser
da banda do Ilê Aiyê, do Olodum, da Timbalada), mas material tam-
bém (tênis importados, celulares, roupas coloridas e caras, colares,
mulheres brancas). Para este tipo de trânsito, é fundamental ser um
homem heterossexual e saber usar o próprio corpo como linguagem,
mecanismo de assimilação, sedução do outro e, muito importante,
como mercadoria.
Neste caso, acredito que pouco importa ou pouco interessa aos
jovens negros elaborar e compartilhar uma idéia de juventude em
relação ao que falta para a plena integração na sociedade civil orga-
nizada e em suas estruturas sociais hegemônicas. Ou seja, o traba-
lho, a escola, a recusa da violência e do crime são projetos alheios e
só parcialmente assimilados. É mais eficaz, neste caso, elaborar e
compartilhar uma idéia de juventude que ao invés de articulada em
torno da falta de sentido, se articula em torno de sentidos nativos
que aparecem como excessos etnográficos. Ou seja, é o corpo negro
representado como tal na música que importa e muito interessa. É
este corpo que, ao tocar e dançar, articula uma linguagem, põe e re-
põe estes jovens sujeitos em grupos de locação e geracionais relati-
vos e reflexivos.
Em outras palavras, quero dizer que se a música para os ne-
gros em geral e para a juventude negra em particular, através de
mimetismo, uso dialógico do corpo, reatualização de memória oral,
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 91
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
promove conexões virtuais e alternativas com tradicionais territórios
negros, com culturas negras várias, aponta para um pertencimento
juvenil afro-diaspórico, remete também a um mundo juvenil negro
perverso e racializado desde um longínquo estado. Funkeiros,
timbaleiros e pagodeiros, enquanto jovens, são, no meio musical
racializado, objeto de uma ideologia do erótico. Esta ideologia per-
mite a busca no corpo do prazer sexual, a expansão da construção
do desejo para além do que é visto como pecado e luxúria, a cons-
trução de uma cultura juvenil irreverente e sedutora. Entretanto,
atrelada a estruturas de poder do gênero e da raça, legitima o corpo
negro como mercadoria, torna-o um bem alternativo à ordem sexual
para aqueles que podem pagar pela transgressão das proibições. O
timbaleiro sensual, autoconsciente e assimilacionista, o pagodeiro
“mal”, “safado”, “sexualmente potente”, o funkeiro sensual e racial-
mente difuso, “num equilíbrio impossível”, se tornam uma juventu-
de que carrega a Bahia em suas cabeças (Moura, 1996), mas tam-
bém em suas genitálias.
Notas
1. Guimarães (1999) se refere a “racialismo” ou racialização quando observa a crença de
que determinados atributos morais, mentais, intelectuais, afetivos ou posições sociais
são correspondidos a uma essência biológica racial. Na medida em que esta essência é
sempre determinada pela cultura, é construída historicamente, atitudes, pensamento,
idéias ou relações sociais racializadas se referem não a um sistema de causação, não a
qualquer realidade biológica das raças, mas a ações subjetivamente intencionadas,
hierarquizantes.
2. Sobre a idéia de “música”, absorvo o ponto de vista de John Blacking (1992). Para
este autor, “música” é tanto o produto de uma ação humana observável e intencional
quanto um modo humano básico de pensamento através do qual uma ação humana
pode ser constituída. A fonte mais acessível de informação sobre a natureza da “músi-
ca”, diz Blacking, pode ser, primeiro, a variedade de sistemas musicais, estilos ou
gêneros que são correntemente performados no mundo. Segundo, registros históricos,
iconografia e descrição de performances. Terceiro, as diferentes percepções que as pes-
soas têm da música e da experiência musical, ou seja, os diferentes modos através dos
quais as pessoas dão sentido aos símbolos musicais. Este sentido só pode existir
compartilhadamente.
3. Michel De Certeau (1989) aponta o papel e o poder da escrita etnográfica em pôr os
objetos e identidades em seu devido lugar, fazendo história daquilo que se esvanece
num corte cultural de alteridade, na oralidade, na inconsciência, na espacialidade ou
quadro sincrônico de sistemas sociais sem história. Neste caso, De Certeau opõe a
escrita, “que invade o espaço e capitaliza o tempo”, à palavra, “que não vai longe e que
não retém”. Dito de outra maneira, se “a escrita isola o significante da presença, a
palavra é o corpo que significa, enunciado que não se separa do ato social de enunciação
nem de uma presença que se dá, se gasta ou se perde na nominação” (De Certeau,
1989, p. 217). Neste procedimento, a escrita produz um “resto”, um excesso
92 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
etnográfico ouvido, visto, mas não compreendido, que não se escreve, mas também
define aquele etnografado.
4. Alba Zaluar (1997) observa que se começou a falar em galeras, em francês galères, na
década de 1970, em cidades francesas e particularmente em Paris. Naquele contexto,
o problema das galeras estava associado à questão nacional e étnica e em menor grau
de classe. As galeras eram marcadas pela presença de jovens imigrantes árabes, carac-
terizados pelo sentimento comum de exclusão social, pela falta de organização interna,
pelo descompromisso com o mundo do crime e falta de objetivos políticos claros. Se
tratavam de jovens “à deriva”, “niilistas” e “autodestrutivos. No Brasil, afirma ainda
Zaluar, as galeras cariocas não evidenciam questões nacionais ou étnicas, mas, como
na França, são organizações sem chefia instituída, sem regras explicitadas ou rituais
iniciáticos, descompromissadas com o mundo organizado do crime. Possuem uma
estreita relação com os bairros de origem, com o espírito de festa e rivalidade dos
bailes funk.
5. A propósito, em 1997, quando então trabalhava como pesquisador do Projeto S .A.M. BA
(Sócio-Antropologia da Música na Bahia) da UFBA, organizamos um ciclo de seminári-
os do qual participou o antropólogo Hermano Vianna. Naquela ocasião, o mesmo nos
falou sobre o susto e incômodo que o tomou ao ser transformado pela mídia e gover-
no cariocas em intérprete de um grande “arrastão”, ocorrido no verão de 1992, quan-
do então galeras de funkeiros saíram pelas praias cariocas “arrastando” pessoas e coisas,
“agredindo”, “assustando” e “roubando” banhistas. Em todo caso, as relações do autor
com a mídia antecede o grande arrastão de 1992. O próprio autor conta na introdu-
ção do livro O mundo funk carioca (1988) que foi o primeiro, depois do fenômeno
Black Rio, em 1976, a escrever na imprensa carioca sobre as festas de jovens suburba-
nos agora embalados pelo hip hop. Já naquela ocasião, 1987, o autor confessa que seu
artigo reavivou na imprensa carioca o caráter “exótico, selvagem e desconhecido”, nor-
malmente atribuído aos suburbanos.
6. A primeira vez que ouvi a expressão “stress racial”, a mesma foi enunciada pela Profª
Drª Maria Inês da Silva Barbosa, da UFMT , em 1999, no 2º Curso Avançado sobre
Relações Raciais e Cultura Negra, promovido pelo Centro de Estudos Afro-Asiáticos.
Como se tratou de uma enunciação oral, desde então, me reapropriei da expressão e a
uso quando pretendo me referir a aspectos das relações raciais no Brasil que constran-
gem pela linguagem, pela troca de afetos, pelo contato sexualizado e assimétrico entre
brancos e negros, a rejeição e crítica ao racismo brasileiro.
Referências bibliográficas
AMORIM, L.S. Cenas de uma revolta urbana: movimento hip hop
na periferia de Brasília. 1997. 114f. Dissertação (Mestrado) –
Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília,
Brasília, DF.
BLACKING, J. Music, culture and experience. In: BYRON, R. Music,
culture and experience; selected papers of John Blacking. Chicago:
University of Chicago, 1992. p. 223-242.
BOURDIEU, P. Condição de classe e posição de classe. In: BOURDIEU, P. A
economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 3-25.
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 93
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
CASTRO, N.A.; BARRETO, V.S. (Org.). Trabalho e desigualdades raci-
ais: negros e brancos no mercado de trabalho em Salvador. São Pau-
lo: Annablume, 1998.
CECCHETTO, F. As galeras funk cariocas: entre o lúdico e o violento.
In: VIANNA, H. (Org.). Galeras cariocas: territórios de conflitos e
encontros culturais. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. p. 95-118.
CERTEAU, M. Etnografia: a oralidade ou o espaço do outro: Léry. In:
CERTEAU, M. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense-Universi-
tária, 1989. p. 211-242.
CUNHA, M.C. Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In:
CUNHA, M.C. Antropologia do Brasil. São Paulo: Brasiliense; EDUSP,
1986. p. 97-108.
CUNHA, O.M.G. Corações Rastafari: lazer, política e religião em Salva-
dor. 199l. 334f. Dissertação (Mestrado) - Programa de pós-gradu-
ação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio de Janei-
ro, Rio de Janeiro.
DANTAS, M. Olodum: de bloco afro a holding cultural. Salvador: Gru-
po Cultural Olodum/Casa de Jorge Amado, 1994.
DURHAM, E.R. A pesquisa antropológica com populações urbanas: pro-
blemas e perspectivas. In: CARDOSO, Ruth (Org.). A aventura antro-
pológica: teoria e pesquisa. São Paulo: Paz & Terra, 1997. p. 17-37.
FÉLIX, J.B.J. Chic show e Zimbabwe e a construção da identidade nos
bailes black paulistanos. 2000. 210f. Dissertação (Mestrado) – Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de
São Paulo, São Paulo.
FORACCHI, M.M. A juventude na sociedade brasileira. São Paulo: Pio-
neira; EDUSP, 1972.
GILROY, P. The black Atlantic: modernity and bouble consciousness.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.
GODI, A.J.V.S. Reggae and samba-reggae in Bahia: a case of long-distance
belonging. In: PERRONE, C.A.; DUNN, C. (Ed.). Brazilian popular
music and globalization. Gainesville: University Press of Florida,
2001. p. 207-219.
GUIMARÃES, A.S.A. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: Edi-
tora 34, 1999.
94 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
HERSCHMANN, M. (Org.). Abalando os anos 90 funk e hip-hop:
globalização, violência e estilo cultural. Rio de Janeiro: Rocco,
1997.
LIMA, A. O fenômeno timbalada: cultura musical afro-pop e juventude
baiana negro-mestiça. In: SANSONE, L.; SANTOS, J.T. (Org.). Ritmos
em trânsito: sócio-antropologia da música baiana. São Paulo:
Dynamis; Salvador: Programa A cor da Bahia e Projeto S.A.M.B.A,
1997. p. 161-180.
LIMA, A. O samba que não é carioca nem baiano. Interseções – Revista de
Estudos Interdisciplinares, Rio de Janeiro, v.2, n. 1, p. 65-84, 2000.
MOURA, M. Produtora, mercadora, mercadoria: uma cidade para o
carnaval? In: FISCHER, T. (Org.). O carnaval baiano: negócios e opor-
tunidades. Brasília, DF: SEBRAE, 1996. p. 59-71.
PINHO, O.A. Alternativos e pagodeiros: notas etnográficas sobre
territorialidade e relações raciais no Centro Histórico de Salvador.
Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, n. 34, p. 35-48, dez. 1998.
PINHO, O.A A Bahia no fundamental: notas para uma interpretação
do discurso ideológico da baianidade. Revista Brasileira de Ciências
Sociais, São Paulo, v.13, n. 36, p. 109-120, 1998.
QUEIROZ, D.M. Desigualdades raciais no ensino superior: a cor na
UFBA. In: QUEIROZ, D.M. Educação, racismo e anti-racismo. Salvador:
Novos Toques, 2000.
RISÉRIO, A. Carnaval Ijexá. Salvador: Corrupio, 1981.
SANSONE, L. Pai preto, filho negro: trabalho, cor e diferenças de gera-
ção. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, n. 29, p. 65-84, 1993.
SANSONE, L. Funk baiano: uma versão local de um fenômeno global?
In: SANSONE, L. ; SANTOS, J.T. (Org.). Ritmos em trânsito: sócio-an-
tropologia da música baiana. São Paulo: Dynamis; Salvador: Pro-
grama A cor da Bahia e Projeto S.A.M.B.A, 1997. p. 219-240.
SANSONE, L.; SANTOS, J.T. (Org.). Ritmos em trânsito: sócio-antro-
pologia da música baiana. São Paulo: Dynamis; Salvador: Programa
A cor da Bahia e Projeto S.A.M.B.A, 1997.
SILVA, C.B.R. Da terra das primaveras à ilha do amor: reggae, lazer e
identidade cultural. São Luís: EDUFMA, 1995.
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96 95
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
SILVA, S.M. O lúdico e o étnico no funk do “Black Bahia”. In: SANSONE,
L.; SANTOS, J.T. (Org.). Ritmos em trânsito: sócio-antropologia da
música baiana. São Paulo: Dynamis; Salvador: Programa cor da Bahia
e Projeto S.A.M.B.A, 1997. p. 201-217.
SIRINELLI, J.F. A geração. In: FERREIRA, M.M.; AMADO, J. (Org.). Usos
e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996. p. 131-137.
VIANNA, H. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
VIANNA, H. (Org.). Galeras cariocas: territórios de conflitos e encon-
tros culturais. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.
VIEIRA FILHO, R.R. Folguedos negros no carnaval de Salvador (1880-
1930). In: SANSONE, L.; SANTOS, J.T. (Org.). Ritmos em trânsito: sócio-
antropologia da música baiana. São Paulo: Dynamis; Salvador: Pro-
grama A cor da Bahia e Projeto S.A.M.B.A, 1997. p. 39-57.
ZALUAR, A. Gangues, galeras e quadrilhas: globalização, juventude e
violência. In: VIANNA, H. (Org.). Galeras cariocas: territórios de con-
flitos e encontros culturais. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. p. 17-58.
96 Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 57, agosto/2002, p. 77-96
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>
Você também pode gostar
- Haiti Dilemas e Fracassos InternacionaisDocumento384 páginasHaiti Dilemas e Fracassos InternacionaisJade Alcântara Lôbo100% (3)
- Cultura Negra e EducacaoDocumento11 páginasCultura Negra e EducacaoBruno ConstâncioAinda não há avaliações
- 4 - Afectos e PerceptosDocumento3 páginas4 - Afectos e PerceptosLe PaixãoAinda não há avaliações
- Resenha Mídia Consumo e Subculturas JuvenisDocumento2 páginasResenha Mídia Consumo e Subculturas Juvenisomestregames9Ainda não há avaliações
- DAYRELL, Juarez. O Rap e o Funk Na Socialização Da Juventude.Documento20 páginasDAYRELL, Juarez. O Rap e o Funk Na Socialização Da Juventude.Guilherme SoaresAinda não há avaliações
- PDF FeminismoNegro - Crítica Alice LinoDocumento16 páginasPDF FeminismoNegro - Crítica Alice LinoJoy LuaAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO FINAL (Salvo Automaticamente)Documento118 páginasDISSERTAÇÃO FINAL (Salvo Automaticamente)Gime RoqueAinda não há avaliações
- Música, Raça e Preconceito No Ensino FundamentalDocumento24 páginasMúsica, Raça e Preconceito No Ensino FundamentalRicardo RicardoAinda não há avaliações
- Mestranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas Da Faculdade de Comunicação Da Universidade Federal Da BahiaDocumento15 páginasMestranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas Da Faculdade de Comunicação Da Universidade Federal Da BahiaJosé FernandoAinda não há avaliações
- UntitledDocumento12 páginasUntitledJessica RodriguesAinda não há avaliações
- Matos Belem (2019) - Música - Formando - Tribos - Constituindo - Identidades - SociaisDocumento15 páginasMatos Belem (2019) - Música - Formando - Tribos - Constituindo - Identidades - SociaisRoberto JúniorAinda não há avaliações
- Mestrado PPGSC - 2022Documento7 páginasMestrado PPGSC - 2022Aline CamposAinda não há avaliações
- Negro, Educação e Multiculturalismo - Texto FinalDocumento109 páginasNegro, Educação e Multiculturalismo - Texto FinalrenatospgAinda não há avaliações
- Negritude Potiguar III - Cultura Popular NegraDocumento168 páginasNegritude Potiguar III - Cultura Popular Negracleyton lopesAinda não há avaliações
- Juventude, Produção Cultural e EscolaDocumento9 páginasJuventude, Produção Cultural e EscolaSimranjeet Singh KhalsaAinda não há avaliações
- CHAVES, Elisangela. Negritude, Identidade e DançaDocumento21 páginasCHAVES, Elisangela. Negritude, Identidade e DançaFabiana AmaralAinda não há avaliações
- Descolonialidade e AntirracismoDocumento22 páginasDescolonialidade e AntirracismoBEATRIZ MATTOSAinda não há avaliações
- Hoje Tem Batekoo? Análise Das Redes Sociais Do Projeto Batekoo.Documento9 páginasHoje Tem Batekoo? Análise Das Redes Sociais Do Projeto Batekoo.Saul MirandaAinda não há avaliações
- Cadernos2015!2!8 GiesbrechtDocumento16 páginasCadernos2015!2!8 GiesbrechtMauro MouraAinda não há avaliações
- No ritmo do ijexá: histórias e memórias dos afoxés cearensesNo EverandNo ritmo do ijexá: histórias e memórias dos afoxés cearensesAinda não há avaliações
- Gênero e Raça - Mary Garcia CastroDocumento12 páginasGênero e Raça - Mary Garcia CastroMurilo SouzaAinda não há avaliações
- Samba de Roda: Uma Matriz Estética Brasileira (Daniela Maria Amoroso)Documento10 páginasSamba de Roda: Uma Matriz Estética Brasileira (Daniela Maria Amoroso)Ana Raquel100% (1)
- Tribos Urbanas - Formação de Identidade Na Adolescência - ArtigoDocumento19 páginasTribos Urbanas - Formação de Identidade Na Adolescência - Artigobya rbyaAinda não há avaliações
- Artigo Neusa Gusmão - Linguagem, Cultura e Alteridade. Imagens Do OutroDocumento38 páginasArtigo Neusa Gusmão - Linguagem, Cultura e Alteridade. Imagens Do OutrogregooneAinda não há avaliações
- Tribos Urbanas Na EscolaDocumento17 páginasTribos Urbanas Na EscolaJuninhoDeAndradeAinda não há avaliações
- Nem Somente Preto Ou Negro - O Sistema de Classificacao Racial No Brasil Que Muda LIVIO SANSONEDocumento23 páginasNem Somente Preto Ou Negro - O Sistema de Classificacao Racial No Brasil Que Muda LIVIO SANSONEKaroline SantosAinda não há avaliações
- Ebook - Ciclo 3C - HumanasDocumento63 páginasEbook - Ciclo 3C - HumanasJANIELIAinda não há avaliações
- 16 Diversidade Etnicidade Identidade e Cidadania MunangaDocumento11 páginas16 Diversidade Etnicidade Identidade e Cidadania MunangaLeticia BrunoAinda não há avaliações
- Este Exercício de Pensar A Relação Da MemóriaDocumento6 páginasEste Exercício de Pensar A Relação Da MemóriaRenilda Miranda CebalhoAinda não há avaliações
- Além de Preto Bicha Uilton Júnior FinalDocumento6 páginasAlém de Preto Bicha Uilton Júnior FinalOnã Rudá CavalcantiAinda não há avaliações
- Qual É A Sua TriboDocumento6 páginasQual É A Sua TriboRafaela CarvalhoAinda não há avaliações
- 220 - 236 - Bárbara Galli de Oliveira - A Categoria Amefricanidade Como Relação de Estudo Da Identidade, Memória e Espaços de FronteiraDocumento17 páginas220 - 236 - Bárbara Galli de Oliveira - A Categoria Amefricanidade Como Relação de Estudo Da Identidade, Memória e Espaços de FronteiraCarla OdaraAinda não há avaliações
- Sobre o Slam ResistenciaDocumento25 páginasSobre o Slam ResistenciaDenis Moura de QuadrosAinda não há avaliações
- Tribos Urbanas PDFDocumento15 páginasTribos Urbanas PDFDouglas Ramos DantasAinda não há avaliações
- Resenha Woodward OficialDocumento3 páginasResenha Woodward OficialJoyce RodriguesAinda não há avaliações
- ARTIGO Diversidade Etnicidade Identidade e Cidadania MUNANGADocumento12 páginasARTIGO Diversidade Etnicidade Identidade e Cidadania MUNANGALuciano SantosAinda não há avaliações
- Força para Dançar, Força para LutarDocumento12 páginasForça para Dançar, Força para LutarFernando GarciaAinda não há avaliações
- Caderno Resumos Parte I SimposiosDocumento136 páginasCaderno Resumos Parte I SimposiosManu PortoAinda não há avaliações
- Modernização, Racialização e Branqueamento Na Musica SertanejaDocumento36 páginasModernização, Racialização e Branqueamento Na Musica SertanejaMirian CarlaAinda não há avaliações
- Facul MarcioDocumento7 páginasFacul MarciolucasroutAinda não há avaliações
- "Bar Brazil" Um Jornal Da Juventude Universitária de Juiz de ForaDocumento15 páginas"Bar Brazil" Um Jornal Da Juventude Universitária de Juiz de ForaSusana ReisAinda não há avaliações
- Fichamento CULTURAS AFRIC E AFRO-BR EM SALA DE AULA - A RELAÇÃO DO CORPO PARA A CONSTR DA ID NEGRADocumento3 páginasFichamento CULTURAS AFRIC E AFRO-BR EM SALA DE AULA - A RELAÇÃO DO CORPO PARA A CONSTR DA ID NEGRAdrpriscilamoura08Ainda não há avaliações
- Filhasda DiasporaDocumento15 páginasFilhasda DiasporaDenise Oliveira e SilvaAinda não há avaliações
- Letramentos de Reexistencia Producao deDocumento11 páginasLetramentos de Reexistencia Producao deLéo SilvaAinda não há avaliações
- O Local e o Global Na Afro-Bahia Contemporânea (-)Documento19 páginasO Local e o Global Na Afro-Bahia Contemporânea (-)Jefferson RamosAinda não há avaliações
- Anos Dourados Ou RebeldesDocumento254 páginasAnos Dourados Ou RebeldesAmábile SperandioAinda não há avaliações
- 18260-Texto Do Artigo-76385-2-10-20160503Documento32 páginas18260-Texto Do Artigo-76385-2-10-20160503Hannah BekerAinda não há avaliações
- Elizandra Souza: Escrita Periférica em Diálogo TransatlânticoDocumento27 páginasElizandra Souza: Escrita Periférica em Diálogo TransatlânticoLaeticia Jensen EbleAinda não há avaliações
- A Musica Popular Brasileira Repensa Identidade e NDocumento9 páginasA Musica Popular Brasileira Repensa Identidade e NGiovana MiglioAinda não há avaliações
- Artigo ArtemisDocumento18 páginasArtigo ArtemisErica Melo100% (1)
- Refletindo Na Folia Sobre Desigualdades Sociais e A Luta Por IgualdadeDocumento2 páginasRefletindo Na Folia Sobre Desigualdades Sociais e A Luta Por IgualdadeEMERSON DIASAinda não há avaliações
- EditorialDocumento16 páginasEditorialEduardo OkamotoAinda não há avaliações
- Retratos Da Juventude Brasileira AnaliseDocumento5 páginasRetratos Da Juventude Brasileira AnaliseLuiz Fernando RodriguesAinda não há avaliações
- Resenha Atitudes RaciaisDocumento5 páginasResenha Atitudes RaciaisJoão ViannaAinda não há avaliações
- Daniela Carvalho - II SEMIC 2013Documento16 páginasDaniela Carvalho - II SEMIC 2013gumedaAinda não há avaliações
- Culturas Juvenis Descobertas Do DialogoDocumento5 páginasCulturas Juvenis Descobertas Do DialogoMephisto PhilisAinda não há avaliações
- Bixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesNo EverandBixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesGilmaro NogueiraAinda não há avaliações
- Artigo Revista Trama Interdisciplinar Cinema Fábio, Juliana e Reginaldo 2023Documento13 páginasArtigo Revista Trama Interdisciplinar Cinema Fábio, Juliana e Reginaldo 2023Reginaldo PereiraAinda não há avaliações
- O Samba como Signo da Identidade Cultural na Música Popular Brasileira: uma memória institucionalizada a partir dos anos 1930No EverandO Samba como Signo da Identidade Cultural na Música Popular Brasileira: uma memória institucionalizada a partir dos anos 1930Ainda não há avaliações
- Somos quem podemos ser: Engenheiros do Hawaii – Jovens, rock, sensibilidades e experiências urbanas (1985-2003)No EverandSomos quem podemos ser: Engenheiros do Hawaii – Jovens, rock, sensibilidades e experiências urbanas (1985-2003)Ainda não há avaliações
- Brasileiros que retornam: o impacto de recomeçar em São PauloNo EverandBrasileiros que retornam: o impacto de recomeçar em São PauloAinda não há avaliações
- A potência das margens: Corpo, gênero, raça e decolonialidade do poderNo EverandA potência das margens: Corpo, gênero, raça e decolonialidade do poderAinda não há avaliações
- EtnoarqueologiaDocumento8 páginasEtnoarqueologiaJade Alcântara LôboAinda não há avaliações
- Arqueologia BrasilDocumento37 páginasArqueologia BrasilJade Alcântara LôboAinda não há avaliações
- As Estratégias de Resistência Dos Africanos e AfrodescendentesDocumento6 páginasAs Estratégias de Resistência Dos Africanos e AfrodescendentesJade Alcântara LôboAinda não há avaliações
- Antropologia Africana: Mito Ou RealidadeDocumento10 páginasAntropologia Africana: Mito Ou RealidadeJade Alcântara LôboAinda não há avaliações
- Turismo Sexual Análise Dos Contextos Acerca Da Teoria Da Representação SocialDocumento16 páginasTurismo Sexual Análise Dos Contextos Acerca Da Teoria Da Representação SocialJade Alcântara LôboAinda não há avaliações
- ProgramaaDocumento3 páginasProgramaaAfonso CardosoAinda não há avaliações
- Digno É o Senhor - Orquestração PDFDocumento45 páginasDigno É o Senhor - Orquestração PDFgabriel acioleAinda não há avaliações
- ING NT3 - How To Tell Someone To Be PatientDocumento4 páginasING NT3 - How To Tell Someone To Be PatientAugustoAinda não há avaliações
- Ondas (Som e Luz)Documento44 páginasOndas (Som e Luz)Asta PokemonAinda não há avaliações
- PG 0051 PDFDocumento1 páginaPG 0051 PDFMarcelo AugustoAinda não há avaliações
- Aprender Padroes Lingua Escrita Modo Reflexivo Parte I ProfDocumento88 páginasAprender Padroes Lingua Escrita Modo Reflexivo Parte I Profbrunocatu100% (2)
- Tecnica Timpanos GripDocumento3 páginasTecnica Timpanos GripDiego Silva RosaAinda não há avaliações
- Revista Educação Pública - A Importância Da UtiliDocumento2 páginasRevista Educação Pública - A Importância Da UtilicammanducaiaAinda não há avaliações
- Alberto Da Cunha Melo - Oração Pelo PoemaDocumento5 páginasAlberto Da Cunha Melo - Oração Pelo PoemaedolAinda não há avaliações
- Cláudio SantoroDocumento6 páginasCláudio SantoroMarina CachovaAinda não há avaliações
- Samba de Roda: Uma Matriz Estética Brasileira (Daniela Maria Amoroso)Documento10 páginasSamba de Roda: Uma Matriz Estética Brasileira (Daniela Maria Amoroso)Ana Raquel100% (1)
- (Luthieria) Avaliação de Madeiras Amazônicas para Utilização em Instrumentos MusicaisDocumento32 páginas(Luthieria) Avaliação de Madeiras Amazônicas para Utilização em Instrumentos Musicaismspdbrasil50% (2)
- Aproveita Gente - Luiz GonzagaDocumento3 páginasAproveita Gente - Luiz GonzagaEstevão EwaldAinda não há avaliações
- Batucada SergiuDocumento1 páginaBatucada SergiuFranck GARCIAAinda não há avaliações
- Quase Um TropicalistaDocumento5 páginasQuase Um TropicalistaGabriel Luis RosaAinda não há avaliações
- Secult Goiania Calendario Eventos 2023 PDFDocumento10 páginasSecult Goiania Calendario Eventos 2023 PDFSiq BorgAinda não há avaliações
- Medicina Legal - Caderno BlancoDocumento70 páginasMedicina Legal - Caderno BlancoFátima Cristina100% (18)
- Conhecendo Stray KidsDocumento42 páginasConhecendo Stray Kidstay ParkAinda não há avaliações
- Borboleta EufridaDocumento4 páginasBorboleta EufridaBetânia Coelho100% (1)
- (Superpartituras - Com.br) Dio Come Ti Amo Meu Deus Como Te Amo PDFDocumento2 páginas(Superpartituras - Com.br) Dio Come Ti Amo Meu Deus Como Te Amo PDFLucilia AlonsoAinda não há avaliações
- FagoteDocumento1 páginaFagoteAndré Dos SantosAinda não há avaliações
- Cuidados Com Seu Instrumento e Arco - Studio LiutaiDocumento3 páginasCuidados Com Seu Instrumento e Arco - Studio LiutaibarreniAinda não há avaliações
- 106 Especial Jimmy CliffDocumento5 páginas106 Especial Jimmy CliffGildean PassinhoAinda não há avaliações
- Musicas Do TrovadorismoDocumento5 páginasMusicas Do TrovadorismoRafael VitalAinda não há avaliações
- Josephkerman MusicologiaDocumento336 páginasJosephkerman MusicologiaMoura WandersonAinda não há avaliações
- Platão - A República - Livros III e XDocumento14 páginasPlatão - A República - Livros III e XAna Carolina FelixAinda não há avaliações
- O Comando Do Olhar William MortensenDocumento90 páginasO Comando Do Olhar William MortensenLuciano FreitasAinda não há avaliações
- Sambas PDFDocumento4 páginasSambas PDFNelson Christo Lula Da Silva FilhoAinda não há avaliações
- Apostila 1 - Trilha SonoraDocumento6 páginasApostila 1 - Trilha SonoraGustavo GoulartAinda não há avaliações