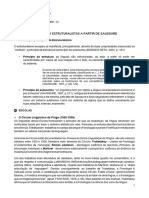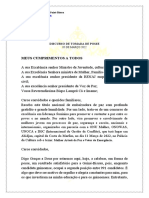Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Gerativsmo PDF
Gerativsmo PDF
Enviado por
Kafuro Daniel0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações9 páginasTítulo original
gerativsmo.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações9 páginasGerativsmo PDF
Gerativsmo PDF
Enviado por
Kafuro DanielDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
DA FONOLOGIA ESTRUTURAL AOS MODELOS NÃO-LINEARES
Nataniel dos Santos Gomes (UFRJ/UNAM/CiFEFiL)
INTRODUÇÃO
O objetivo de nosso trabalho é de dar um apanhado da fonologia,
para tal ele está dividido em 3 partes principais: estruturalismo, fonologia
gerativa e pós-gerativismo.
Por questões de espaço nosso trabalho está muito resumido, algumas
abordagens certamente que foram superficiais, mas tentamos contextualizar
os exemplos com a língua portuguesa.
(1.) Estruturalismo
O Estruturalismo foi um movimento europeu que permeou as
ciências humanas, surgindo na França durante a década de 1950. Para o
estruturalista a linguagem desempenha uma função chave. O estruturalismo
tem suas raízes na lingüística de Ferdinand de Saussure.
A Lingüística Estruturalista e Descritiva tem início do século XX
quando Ferdinand de Saussure produziu uma verdadeira revolução na
lingüística teórica com a publicação de sua obra póstuma por seus alunos,
Curso de lingüística geral. Para Saussure, a linguagem é estruturada em um
completo sistema de sinais: a língua, que, através da fala, faz-se presente em
cada uma das realizações das pessoas. Com Saussure foi fundamentada a
fonologia, desenvolvida posteriormente.
De acordo com a Enciclopédia Encarta 2000:
Na mesma época, nos Estados Unidos, foram analisados e isolados os
fundamentos das línguas indígenas e do inglês. O trabalho foi iniciado por Franz
Boas e Edward Sapir, que organizaram estes fundamentos estabelecendo
hierarquias e dependências. Graças aos princípios do Círculo de Praga,
conhecido por Sapir, foram descobertas as unidades mínimas de significação, os
fonemas. Assim, Boas e Sapir construíram o método de comutação que as
identificaria.
(2) Fonêmica Norte-Americana
Segundo Câmara Jr. (1986:167), a maior contribuição para a
lingüística norte-americana foi a partir dos estudos das línguas indígenas.
Este estudo estava inicialmente ligado à antropologia, tanto que o
antropólogo Franz Boas, teve grande importância na descrição das línguas
indígenas americanas. “Boas, de origem alemã, não tivera treinamento
prévio em lingüística e estava completamente liberto de idéias
preconcebidas sobre a linguagem com base na lingüística indo-européia”.
A influência de Boas foi decisiva para que Edward Sapir se
interessasse pelas línguas indígenas norte-americanas.
Sapir via a linguagem como uma forma auto-suficiente que fornece
ao pensamento e cultura seus canais expressivos adaptando ambos a ela. Foi
a partir deste pressuposto que ele procurou chegar a um padrão intrínseco
para os sons vocais.
Na década de 30 surgem as teorias de Bloomfield, bem diferentes
das propostas de Sapir, que focalizou a base psicológica dos fenômenos
lingüísticos, embora não estive satisfeito com correntes clássicas da
psicologia.
Em 1933, Bloomfield desenvolveu o conceito de fonema como um
feixe de traços distintivos dentro do complexo do som vocal de modo
semelhante ao conceito de Jakobson e Trubetzkoy. Ele deu base para a
fonêmica, a réplica da fonologia de Trubetzkoy.
A Fonêmica foi o termo encontrado pela Escola de Lingüística
Norte-Americana para estudar apenas o fonema, sem se preocupar com a
realidade física integral do som da fala.
(1.2) Fonologia de Praga
O lingüista Trubetzkoy foi forçado a deixar a Rússia depois da
Revolução Comunista de 1917, estabelecendo-se na Áustria, lecionando em
Viena e em Praga. Em Praga criou com alguns lingüistas russos um Círculo
Lingüístico. A aparição do grupo se deu na Europa em 1928, durante o
Primeiro Congresso Internacional de Lingüistas.
Durante o congresso, eles propuseram a criação de dois estudos
distintos: a fonética, como ciência natural, e a fonologia, como uma parte
lingüística que trata da significação dos traços fonéticos em uma língua.
A preocupação principal deles era em estender à parte sonora da
linguagem as idéias de Saussure, mantendo a dicotomia língua-fala e
estabelecendo o fonema como uma unidade mínima operacional e suas
variações fonéticas.
Para eles, o fonema é um feixe de traços distintivos, e cada traço
compõe o feixe operando em oposição a um outro traço componente de
outro fonema. A noção de sistema leva a classificar as oposições dos vários
domínios de dimensão fonológica de uma língua, tanto no eixo sintagmático
quanto no eixo paradigmático.
DIFERENÇAS NAS ESCOLAS
A principal diferença entre os foneticistas americanos e a escola de
Praga é que estes últimos aceitavam os conceitos de neutralização e
arquifonema, que não eram discutidos por Bloomfield. Ele não considerava
a fonética como uma ciência verdadeira. Isso levou a fonêmica americana a
enfatizar cada vez cada vez mais o que se chamou de distribuição de
fonemas, ao invés de definir um fonema através de seus traços fonéticos.
Através da distribuição, a neutralização podia ser evitada, restringindo o
fonema às posições parciais nas quais a sua posição não é neutralizada. Os
estudiosos americanos preferiram a superposição ou o desbordamento,
quando não ocorria o contraste entre dois fonemas.
(1.3) Aplicação
Para Câmara Jr. (1977), as consoantes da língua portuguesa, podem
ser classificadas segundo a oposição oral / nasal, oclusiva / fricativa e
articulação labial, ântero-lingual e póstero-lingual.
As oposições /p/ : /b/ ou /v/ : /f/ são oposições privativas de um
termo que foi marcado pela presença do traço de sonoridade e sua ausência.
No caso /m/ : /b/ a oposição também é privativa de um termo marcado pelo
traço de nasalidade e pela ausência. A oposição /p/ : /b/ é privativa e
bilateral, afinal são estes os únicos fonemas do português do português que
recebem a classificação de ‘oclusivas bilaterais orais’. Estas são apenas
algumas das oposições entre as consoantes, não poderemos citar todas por
questão de espaço.
No sistema de vogais do português brasileiro (/i/, /e/, /E/, /u/, /o/, /•/,
/a/) encontramos uma série de oposições graduais, já que já três graus de
abertura, com propriedades distintivas. Os graus de abertura vocálica só se
opõem plenamente em posição tônica. Em sílaba átona final, no dialeto
carioca, só ocorrem [i], [i] e [α] e na pretônica [i], [e], [u], [o], [α]. Ocorre
ainda uma neutralização da distinção de grau de abertura nas vogais e a
unidade resultante é denominada arquifonema. Esses procedimentos de
análise são aplicados aos elementos segmentais e aos supra-segmentais em
seus aspectos constrativos.
FONOLOGIA GERATIVA
(2.1) Críticas ao Estruturalismo
Se a condição de não-debordamento era a tradução do ideal da
fonêmica estruturalista norte-americana, tornando a relação entre a
representação fonética e a fonêmica recuperável, a partir dos sons
circunvizinhos para a distribuição da alofonia, sem qualquer apelo a
informações de natureza morfológica ou sintática, os gerativistas se
opuseram exatamente a esta determinação local e invariável.
A condição de linearidade, para o estruturalista, dizia que uma
seqüência dos fonemas na representação fonêmica deveria ser a mesma da
dos fones na representação fonética. O estruralismo privilegiava uma
descrição por elemento e arranjo, excluindo qualquer tipo de regra que não
fosse a expressão não-formalizada da distribuição complementar.
Com tudo isso, podemos fazer um breve resumo do modelo
estruturalista ao afirmar que o fonema era a unidade mínima de análise, por
isso tinha dificuldade em expressar generalizações, deixando de explicar o
fato de que as regras fonológicas se aplicam a classes de sons e não somente
a sons individuais.
Segundo Callou e Leite (1995:58):
O argumento principal apresentado pelos precursores da fonologia gerativa
em favor dessas modificações é que as condições de bi-univocidade,
determinação local, invariância e linearidade, levavam à atomização dos
fenômenos fonológicos, mascarando as generalizações depreensíveis de um
sistema lingüístico, generalizações que seriam psicologicamente válidas e
representativas da gramática internalizada pelo falante da língua.
(2.2) Pressupostos de Análise Gerativa
Em 1952, foi publicado Prelimaries to Speech Analysis, de
Jakonson, Fant e Halle, neste livro eles fizeram a primeira formalização de
um modelo de traços distintivos, onde o fonema já possuía um caráter
abstrato.
Em 1965, Chomsky publica Aspects of the Theory of Sintax, livro
que trata o componente fonológico apenas como parte integrante de todo o
mecanismo lingüístico, atribuindo uma interpretação fonética à descrição
sintática, foco da análise lingüística.
A partir daí surgem as noções de competência / desempenho e
recursividade. O gerativismo para estudar a linguagem humana tem uma
proposta mentalista e uma outra inatista, e postula que o falante tem um
conhecimento internalizado de sua língua, que é permitido recorrer para
auxiliá-lo em seu desempenho lingüístico.
O seu objetivo é descrever os princípios universais que regulam os
sistemas sonoros numa tentativa de entender os mecanismos que guiam a
chamada Gramática Universal, propondo um sistema revisado de traços
distintivos, que distinguindo suas funções fonéticas e fonológicas.
Existem restrições seqüências que formalizarão os processos
fonológicos, permitindo que hajam generalizações a partir da relação entre a
representação fonológicas e a produção fonética.
Na fonologia gerativa tem-se o traço como unidade mínima, com a
representação dos segmentos constituída de um feixe de traços.
As propriedades dos traços são definidas com base em duas
características exigidas para a configuração do trato vocal na ocasião da
produção dos sons da fala: posição neutra e vozeamento espontâneo.
Chomsky e Halle tentaram juntar as propriedades articulatórias e acústicas
quando elaboraram um conjunto de traços com uma feição fonética,
representando as capacidades de produção da fala do aparato vocal humano
e outra fonológica, identificando os itens lexicais das línguas e as diferenças
entre si.
(2.3) Aplicação
Gostaríamos de transcrever um exemplo de Callou e Leite (1995:58)
que ilustra bem como a fonologia gerativa trabalha:
Na gramática tradicional a formação do plural é descrita independentemente
da fonologia e as raízes e radicais dos substantivos e adjetivos têm de ser
divididos em classes a fim de que se possam acrescentar os morfemas –s e –es.
Caso bem complexo é do plural dos nomes terminados em –ão. Muitas vezes o
que se faz é listar palavra por palavra, explicando-se a idiossincrasia de cada
raiz.
O modelo gerativo recorre às alternativa em formas como leão – leões –
leonino, capitão – capitães – capitanear, mão – mãos – manual para estabelecer
representações subjacentes leon+e(+s), kapitan+e(+s), man+o(+s), a partir das
quais, através de regras ordenadas, se chegará às saídas fonéticas adequadas,
conforme se pode ver nas derivações abaixo:
leon+e leon+e+s kapitan+e kapitan+e+s
leon -- kapitan -- 1. Apócope do e
leõn leõnes kápitan kapitãnes 2. Nasalização
leõ leões kapitã kapitães 3.queda do n
leã -- -- -- 4.Desarrendondamento do õ
leãw -- kapitãw -- 5. Inserção de w
-- leõis kapitãis 6. Neutralização das
vogais átonas
-- leõys -- kapitãys 7. Assilabação do i
leãw) leõy)s kapitãw) kapitãy) 8. Assimilação da
nasalidade
leõy)s -- kapitãy)s& 9. Palatização do s
leα)w) -- kapitα)w) kapitα)y)s& 10. Alçamento da vogal nasal
A regra 10 é específica do dialeto carioca e não figurará na gramática
de outros dialetos que não palatizam.
Esse tipo de descrição torna possível a simplificação de regras de
formação de plural. As formulações são independentemente motivadas, não
restringindo o processo à formação de plural, sendo necessárias para adaptar
as generalizações de outros processos da língua portuguesa.
É importante notar que além de extrinsecamente ordenadas, as regras
são aplicadas em ciclos, obedecendo a fronteiras morfológicas e sintáticas.
O gerativista usa a expressão “representação subjacente” por
negarem a existência de um nível operacional do tipo que fica explícito na
desgnição “transcrição fonêmica”, por implicar na observância das
condições de bi-univocidade, linearidade, determinação local e invariância.
Para eles, o traço é a unidade mínima que tem uma realidade psicológica e
um valor operacional, não o feixe de traços, como concebido pelo Círculo
de Praga.
(3.) Pós-Gerativismo
(3.1) Modelos Naturais
A fonologia gerativa natural surgiu a partir das críticas às
representações fonológicas, estabelecendo como representação subjacente
uma forma igual à forma fonética. As regras fonológicas passam a ser
generalizações verdadeiras sobre a boa formação da estrutura fonética de
superfície e podem ser de dois tipos. Há regras e processos que são
motivados foneticamente e que em sua formulação contêm apenas
informação fonética, como os segmentos fonéticos, as fronteira silábica etc;
essas regras são vivas, produtivas e sem exceção. Por exemplo, no dialeto
carioca temos palatização do t diante do i no dialeto carioca. Porém, as
regras que explica a alternâncias do tipo leão – leões – leonino, não são
produtivas e essas correspondências de forma e sentido não devem
expressar pelo mesmo tipo de formalização que as regras fonológicas
produtivas, pois exprimem não mais generalizações fonéticas, mas sim
léxico-semânticas. A segunda generalização é apreendida através de para-
regras e admitem exceção e traços morfológicos e lexicais em sua
formulação, sendo processos distintos das regras fonológicas naturais.
Distingui-se formalmente regras fonológicas das regras morfológicas. Em
resumo, a fonologia gerativa natural procura estabelecer os princípios e
condições gerais que regem essas duas de formalizações.
A chamada fonologia natural também parte de uma crítica à teoria
gerativa, aproximando-se bastante da fonologia gerativa natural. O ponto
central é a naturalidade dos processos fonológicos. Para Stampe, a
faculdade fonética inata aos homens pode ser representada por meio de dois
processos gerais: 1) processos sintagmáticos, que são devidos à
contigüidade dos segmentos e que têm uma motivação assimilatória e 2)
processos paradigmáticos, que maximizam as propriedades acústicas ou
assimilatórias de um segmento.
Callou & Leite afirmam que (1995:85): “Para Stampe a
aprendizagem dos processos fonológicos não é uma aquisição, mas sim o
cancelamento de possibilidades universais que não se verificam em uma
dada língua. A finalidade da fonologia seria determinar os processos
naturais dos quais o homem é dotado.”
(3.1) Modelos Não-Lineares
A Fonologia Autossegmental permite a segmentação independente
de partes dos sons da fala. Ela entendeu que não há uma relação de um-
para-um entre o segmento e o conjunto de traços que o caracteriza.
a) os traços podem estender-se além ou aquém de um segmento;
b) o apagamento de um segmento não implica necessariamente o
desaparecimento de todos os traços que o compõem.
Goldsmith observou que em muitas línguas tonais o apagamento de
um segmento não implicava o desaparecimento do tom que recaía sobre ele,
mas que esse tom podia espraiar-se para outra unidade fonológica.
A Fonologia Autossegmental passou a defender que o segmento
apresenta uma estrutura interna, isto é, que existe uma hierarquização entre
os traços que compõem determinado segmento da língua.
Ao reconhecer uma hierarquia entre os traços, passou-se a analisar os
segmentos em camadas, ou seja, pôde dividir partes do som e tomá-las
independentemente.
A Fonologia Autossegmental caracteriza-se por tratar os traços
fonológicos como unidades cujo domínio pode ser maior ou menor que um
segmento e cuja representação, refletindo a organização hierárquica, deve
ser feita em diferentes camadas, dispostos em diferentes planos.
A geometria de traços fonológicos adotada por Clements (1985,
1991) diz que os traços que constituem os segmentos que estão no mesmo
morfema são adjacentes e formam uma representação tridimensional que
permite distingui-los.
A Geometria de Traços tem como objetivo representar a hierarquia
existente entre os traços fonológicos e o fato de que os traços podem ser
tanto manipulados isoladamente como em conjuntos isolados. Nesta
representação, os segmentos são representados com uma organização
interna a qual se mostra através de configurações de nós hierarquicamente
ordenados, em que os nós terminais são traços fonológicos e os nós
intermediários, classes de traços.
O princípio que rege a Geometria de Traços é que somente conjuntos
de traços que tenham um nó de classe em comum podem funcionar juntos
em regras fonológicas.
A estrutura arbórea possibilita expressar a naturalidade dos processos
fonológicos que ocorrem nas línguas do mundo, atendendo ao princípio de
que as regras fonológicas constituem uma única operação, seja de
desligamento de uma linha de associação ou de espraiamento de um traço.
Conseqüentemente, a estrutura apresenta, sob o mesmo nó de classe, traços
que funcionam solidariamente em processos fonológicos. Portanto, os nós
têm razão de existir quando há comprovação de que os traços que estão sob
o domínio funcionam como uma unidade em regras fonológicas.
Na fonologia Auto-Segmental, os segmentos deixaram de ser
entendidos como conjuntos desordenados de traços, e passam a ser
hierarquizados. Sendo estes traços dispostos em camadas – tiers – ligados
por uma linha de associação. A partir da nova formalização, é possível
distinguir três tipos de segmentos:
a) segmentos simples – quando se apresenta apenas um nó de raiz e
é caracterizado por, no máximo, um traço de articulação oral.
b) Segmentos complexos – é quando um nó de raiz é caracterizado
por, no mínimo, dois traços diferentes de articulação oral, ou
seja, quando o segmento apresenta duas ou mais constrições no
trato oral.
c) Segmentos de contorno – é quando contém seqüências de
diferentes traços.
Na Fonologia Auto-Segmental há princípios que delimitam a
aplicação de regras, tais limites decorrem, pelo menos em parte, das
propriedades estruturais das representações.
1O – Princípio do Não-Cruzamento de linhas de Associação.
Este princípio proíbe a associação de dois elementos de um tier a
outro tier através do cruzamento.
2O – Princípio do Contorno Obrigatório.
O princípio define que elementos adjacentes idênticos são proibidos.
3O – Princípio de Restrição de Ligação.
Restringe a aplicação de uma regra à forma que nela é representada,
de modo que, se contiver uma só linha de associação, fica bloqueada em
contextos de ligação dupla ou vice-versa.
CONCLUSÃO
Podemos concluir que o trabalho da fonologia se encontra em franco
crescimento, desde do Estruturalismo, e cada vez mais profundo em suas
análises. Muita coisa boa ainda estar por vir.
BIBLIOGRAFIA
BISOL, Leda. Introdução aos estudos de fonologia do português brasileiro.
EDIPUCRS, 1996.
CALLOU, Dinah e LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia. 5 ed.
Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1995.
CÂMARA Jr., Joaquim Mattoso. Para o estudo da fonêmica portuguesa. 2
ed. Rio de Janeiro : Padrão, 1977.
–––––. História da lingüística. 4 ed. Petrópolis : Vozes, 1986.
CATFORD, J.C. A practical introduction to phonetics. Oxford: Carendon
Press, 1988.
CHOMSKY, Noam. The sound pattern of English. New York : Holt,
Rinehart and Winston, 1968.
ELSON, Benjamin & PICKETT, Welma. Introdução à morfologia e à
sintaxe. Petrópolis : Vozes, 1973.
HYMAN, Larry. Phonology: theory and analysis. New York : Holt,
Rinehart and Winston, 1975.
ISTRE, Giles Lother. Fonologia transformacional e natural: uma
introdução crítica. Santa Catarina : UFSC.
LASS, Roger. Phonology: na introduction to basic concepts. Cambridge :
Cambridge Univ. Press, 1984.
MATTHEES, P. H. Morphology Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1974.
WETZELS, Leo. Estudos fonológicos das línguas indígenas brasileiras.
Rio de Janeiro : UFRJ, 1995.
Você também pode gostar
- Fonetica e Fonologia PDFDocumento118 páginasFonetica e Fonologia PDFNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Fonética e FonologiaDocumento52 páginasFonética e FonologiaP C100% (1)
- Manual de Estudos de Fonética e Fonologia Do Portugues Brasileiro - Unidades 1 A 10Documento82 páginasManual de Estudos de Fonética e Fonologia Do Portugues Brasileiro - Unidades 1 A 10Cami Valencia100% (2)
- Eletrônica - Unidades (Múltiplos e Submúltiplos)Documento2 páginasEletrônica - Unidades (Múltiplos e Submúltiplos)mesmerus23100% (2)
- Guia - Da - Disciplina - Fonética e FonologiaDocumento52 páginasGuia - Da - Disciplina - Fonética e FonologiaClayton2103100% (2)
- Introduçao À Magia Dos SonhosDocumento10 páginasIntroduçao À Magia Dos Sonhos333carlos333Ainda não há avaliações
- Pesquisas linguísticas em Portugal e no BrasilNo EverandPesquisas linguísticas em Portugal e no BrasilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Programa Da Creche 3 AnosDocumento101 páginasPrograma Da Creche 3 AnosKialandani juliana Nfinda NaomiAinda não há avaliações
- TeoricoDocumento20 páginasTeoricoTania VazAinda não há avaliações
- Apostila Tecnologia Grafica SenaiDocumento58 páginasApostila Tecnologia Grafica SenaiRafael FerreiraAinda não há avaliações
- Exemplo Plano de SessãoDocumento1 páginaExemplo Plano de SessãoMagno Rebelo91% (22)
- Formalismo e Funcionalismo LingüísticosDocumento4 páginasFormalismo e Funcionalismo LingüísticosLizania XavierAinda não há avaliações
- EnsaioEconomicoSobreooComerciodePortugaleSuasColonias PDFDocumento176 páginasEnsaioEconomicoSobreooComerciodePortugaleSuasColonias PDFFagner Das NevesAinda não há avaliações
- Fonética e Fonologia e EnsinoDocumento183 páginasFonética e Fonologia e EnsinoHeraldo Lopes100% (1)
- Roteiro de Estudos de Fonética e Fonologia Do Português Falado No Brasil 2015Documento65 páginasRoteiro de Estudos de Fonética e Fonologia Do Português Falado No Brasil 2015LuDambolena100% (2)
- Apostila Fonética e FonologiaDocumento32 páginasApostila Fonética e Fonologiaalinelatina100% (2)
- Os Segredos e A Arte de Contar HistoriasDocumento54 páginasOs Segredos e A Arte de Contar Historiasbrunort6100% (4)
- Fichamento Manual Da LinguísticaDocumento6 páginasFichamento Manual Da LinguísticaLuana RibeiroAinda não há avaliações
- Apontamentos LusiadasDocumento8 páginasApontamentos LusiadasNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Linguística Como CiênciaDocumento3 páginasLinguística Como CiênciarofesnetAinda não há avaliações
- Caderno Linguis Geral 2017Documento94 páginasCaderno Linguis Geral 2017Carlos MutondoAinda não há avaliações
- Exame de FoneticaDocumento4 páginasExame de Foneticaamosse sebastiao isac100% (2)
- Resumo: Linguagem, Língua, LinguísticaDocumento5 páginasResumo: Linguagem, Língua, LinguísticaLudmila MonteiroAinda não há avaliações
- Contribuiçoes LinguisticasDocumento19 páginasContribuiçoes LinguisticasRhonascy OdlinorAinda não há avaliações
- Estudos de Fonética e FonologiaDocumento16 páginasEstudos de Fonética e FonologiaElaine Miguel de QueirozAinda não há avaliações
- Resumo Do Texto de Callou e Leite em Power-PointDocumento11 páginasResumo Do Texto de Callou e Leite em Power-PointMárcio Barbalho RibeiroAinda não há avaliações
- Aula 01 Fonética e Fonologia Da Língua PortuguesaDocumento12 páginasAula 01 Fonética e Fonologia Da Língua PortuguesaLeo VelasquezAinda não há avaliações
- Trubetzkoy e SaussureDocumento6 páginasTrubetzkoy e SaussureRaquel CostaAinda não há avaliações
- Resumo Teorias LinguísticasDocumento3 páginasResumo Teorias LinguísticasKarla ThamiresAinda não há avaliações
- Modelos FonológicosDocumento12 páginasModelos FonológicosFrancielli Loss Volpatto100% (1)
- RESUMO IEL - A Linguística Do Século XX - Capítulo 4Documento5 páginasRESUMO IEL - A Linguística Do Século XX - Capítulo 4Diane da Silva RosaAinda não há avaliações
- Diferenciando Fonetica e FonologiaDocumento8 páginasDiferenciando Fonetica e FonologiaLuis ChinaiAinda não há avaliações
- Eduardo Kenedy - Topicos em FoneticaDocumento32 páginasEduardo Kenedy - Topicos em Foneticaservilio Vieira brancoAinda não há avaliações
- JoanaDocumento7 páginasJoananjemusseAinda não há avaliações
- 2 Trabalho de ElbDocumento30 páginas2 Trabalho de ElbMuxer HugoAinda não há avaliações
- Capítulo 1 - O Objeto Da Fonética e Fonologia 2Documento12 páginasCapítulo 1 - O Objeto Da Fonética e Fonologia 2Marcelo MendoncafilhoAinda não há avaliações
- Aspectos Fonológicos Segmentais Na Língua Portuguesa PDFDocumento17 páginasAspectos Fonológicos Segmentais Na Língua Portuguesa PDFPaula Janaina Meneses RodriguesAinda não há avaliações
- Escolas EstruturalistasDocumento3 páginasEscolas Estruturalistassophiatnk2005Ainda não há avaliações
- 6e50ffb8-4354-4c03-9d2c-086a5f293b3dDocumento18 páginas6e50ffb8-4354-4c03-9d2c-086a5f293b3dCinthya PinheiroAinda não há avaliações
- Historia Da LinguisticaDocumento5 páginasHistoria Da LinguisticamarcospicklerAinda não há avaliações
- Fonética e Fonologia Aplicada Ao Ensino de Língua PortuguesaDocumento5 páginasFonética e Fonologia Aplicada Ao Ensino de Língua PortuguesaAna Cátia LemosAinda não há avaliações
- O Estatuto Da Análise Acústica Nos Estudos FonicosDocumento17 páginasO Estatuto Da Análise Acústica Nos Estudos FonicosJoão Pedro LagesAinda não há avaliações
- A Estilística Do SomDocumento5 páginasA Estilística Do SomPaulo DantasAinda não há avaliações
- Estruturalismo LinguisticoDocumento5 páginasEstruturalismo LinguisticoPatricia AndreattaAinda não há avaliações
- Fone e FonemaDocumento2 páginasFone e FonemaCleusa FernandesAinda não há avaliações
- Questões Sobre o Ilari (2004)Documento5 páginasQuestões Sobre o Ilari (2004)Nathália NascimentoAinda não há avaliações
- Artigo Arteunesp Pronuncia CantoDocumento11 páginasArtigo Arteunesp Pronuncia CantoTais BressaneAinda não há avaliações
- FonologiaDocumento15 páginasFonologiaLetícia De RezendeAinda não há avaliações
- Para Explicar A Mudança Linguística - o Caso Da Mudança Sonora - JEFFERS LEHISTEDocumento16 páginasPara Explicar A Mudança Linguística - o Caso Da Mudança Sonora - JEFFERS LEHISTECarlos FrazãoAinda não há avaliações
- Da Abordagem Estrutural Ao Gerativismo ChomskyanoDocumento8 páginasDa Abordagem Estrutural Ao Gerativismo ChomskyanoEduardo MoraesAinda não há avaliações
- Viotti E. Introducao Aos Estudos Linguisticos Letras LibrasDocumento67 páginasViotti E. Introducao Aos Estudos Linguisticos Letras LibrasCharlles-e Vanessa FaquetiAinda não há avaliações
- A Linguística Não É NormativaDocumento5 páginasA Linguística Não É NormativaPriscila PrazeresAinda não há avaliações
- Linguística e LibrasDocumento22 páginasLinguística e LibrasDudu VargasAinda não há avaliações
- Resumo Cap 1 - Fonética e FonologiaDocumento4 páginasResumo Cap 1 - Fonética e FonologiaPatríciaAinda não há avaliações
- Fichamento Linguistica RomanicaDocumento3 páginasFichamento Linguistica RomanicaAmon Abrantes de LimaAinda não há avaliações
- DANES AEntoaçãoSentencialDeUmPontoDeVistaFuncional TradDocumento18 páginasDANES AEntoaçãoSentencialDeUmPontoDeVistaFuncional TradDiego XavierAinda não há avaliações
- Resenha - Mattoso Camara Jr. (Taylany Vieira)Documento4 páginasResenha - Mattoso Camara Jr. (Taylany Vieira)Taylany VieiraAinda não há avaliações
- Fonetica Beatriz RaposoDocumento9 páginasFonetica Beatriz RaposoPedro PiascentiniAinda não há avaliações
- Monografia de WellingtonDocumento30 páginasMonografia de Wellingtonnefert02Ainda não há avaliações
- A Gramatica ComparadaDocumento8 páginasA Gramatica ComparadaSilvanio AlmeidaAinda não há avaliações
- Aprendendo Sobre FoneticaDocumento2 páginasAprendendo Sobre FoneticaValciney PiresAinda não há avaliações
- FONOLOGIA TextoDocumento4 páginasFONOLOGIA TextocamilaAinda não há avaliações
- 2017 - Fonologia Apostila Graduação UFRJ - Versão 2017 - IIDocumento52 páginas2017 - Fonologia Apostila Graduação UFRJ - Versão 2017 - IIVerônica ReisAinda não há avaliações
- Teorias Linguísticas Posteriores A Ferdinand de SaussureDocumento3 páginasTeorias Linguísticas Posteriores A Ferdinand de SaussureVeriAinda não há avaliações
- Tipologia LinguisticaDocumento8 páginasTipologia LinguisticaIris IsisAinda não há avaliações
- Weedwood, História Concisa Da LinguísticaDocumento8 páginasWeedwood, História Concisa Da LinguísticaMaruana Kássia Tischer SeraglioAinda não há avaliações
- Linguagem, Contexto e Texto: Aspectos da Linguagem em uma Perspectiva Socio-Semiótica (Parte B)No EverandLinguagem, Contexto e Texto: Aspectos da Linguagem em uma Perspectiva Socio-Semiótica (Parte B)Ainda não há avaliações
- A Literatura de Cabo VerdeDocumento20 páginasA Literatura de Cabo VerdeNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- CCNCJ-GB EstatutosDocumento8 páginasCCNCJ-GB EstatutosNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Discurso de Tomada de Posse-05 de Mar - oDocumento5 páginasDiscurso de Tomada de Posse-05 de Mar - oNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Silel2013 741Documento21 páginasSilel2013 741Nico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Apostila Assistente Administrativo1605557145Documento50 páginasApostila Assistente Administrativo1605557145Nico Dafá SanháAinda não há avaliações
- CP 029Documento25 páginasCP 029Nico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Edital Programa GCUB de Mobilidade Internacional GCUB MobDocumento12 páginasEdital Programa GCUB de Mobilidade Internacional GCUB MobNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- TDRDocumento19 páginasTDRNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Transcrição FonéticaDocumento4 páginasTranscrição FonéticaNico Dafá SanháAinda não há avaliações
- Ai LP Pautas-FormativasDocumento152 páginasAi LP Pautas-FormativasCélia NunesAinda não há avaliações
- A Flor e A Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, Sob A Perspectiva Da Crítica Estilístico-Sociológica.Documento14 páginasA Flor e A Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, Sob A Perspectiva Da Crítica Estilístico-Sociológica.Gidalti OliveiraAinda não há avaliações
- Hartmann X Husserl - Jesus Vàzquez Torres PDFDocumento15 páginasHartmann X Husserl - Jesus Vàzquez Torres PDFRaphael Douglas TenorioAinda não há avaliações
- Faulkner - Guimaraes - Rosa - e - Rulfo - Entre - Modernismo e Localismo PDFDocumento24 páginasFaulkner - Guimaraes - Rosa - e - Rulfo - Entre - Modernismo e Localismo PDFEdson AvlisAinda não há avaliações
- TesteDocumento5 páginasTesteClaudia SilvaAinda não há avaliações
- Imperfeito Subj.Documento8 páginasImperfeito Subj.jannetAinda não há avaliações
- Aula 1 - Sistemas de InformaçãoDocumento7 páginasAula 1 - Sistemas de InformaçãoFernanda MarcondesAinda não há avaliações
- Samba Do ApproachDocumento25 páginasSamba Do ApproachMara Silveira DiasAinda não há avaliações
- Elisa - Poema Do FradeDocumento22 páginasElisa - Poema Do FradeElisa SeerigAinda não há avaliações
- Uso Da CraseDocumento10 páginasUso Da CraseandersonlopesdesousaAinda não há avaliações
- Criando o Hábito de Leitura - Wilson DominguetiDocumento21 páginasCriando o Hábito de Leitura - Wilson Dominguetijunior AlvesAinda não há avaliações
- A Doutrina Do CoraçãoDocumento29 páginasA Doutrina Do CoraçãoJoão Victor VilasAinda não há avaliações
- Auxiliar Do Ministerio PublicoDocumento14 páginasAuxiliar Do Ministerio PublicoKerolyn MalgorAinda não há avaliações
- Verbos - BB - Cfo 17Documento4 páginasVerbos - BB - Cfo 17João Vitor Augusto0% (1)
- Produção de Texto - Unidade 2 - AO VIVODocumento24 páginasProdução de Texto - Unidade 2 - AO VIVOJoao LimaAinda não há avaliações
- Fichas de Trabalho - Rimas2Documento2 páginasFichas de Trabalho - Rimas2Guida Maria Sousa QuaresmaAinda não há avaliações
- Ferramenta para Gerenciamento de BD FireBirdDocumento50 páginasFerramenta para Gerenciamento de BD FireBirdPablo CoelhoAinda não há avaliações
- CraseDocumento15 páginasCrasePriscila SenaAinda não há avaliações
- 2º Bimestre CF 301Documento2 páginas2º Bimestre CF 301Vânia GasparAinda não há avaliações
- Dinamica de Grupo Lider Bode ExpiatorioDocumento4 páginasDinamica de Grupo Lider Bode ExpiatorioPatrícia ZaupaAinda não há avaliações
- Slide RapportDocumento29 páginasSlide RapportAyrk ZamiskeAinda não há avaliações
- Poemas de CatuloDocumento1 páginaPoemas de CatuloFabio FortesAinda não há avaliações
- CraseDocumento3 páginasCraseymlima696Ainda não há avaliações