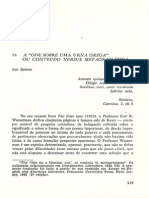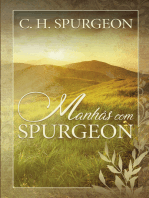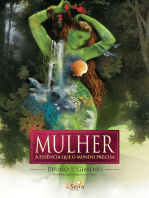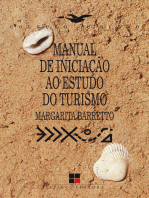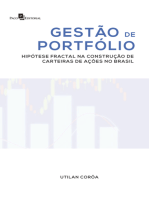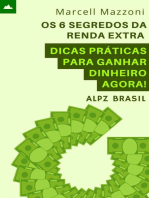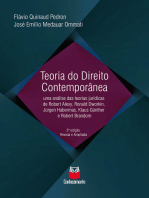Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Geontologia Elizabeth Povinelli
Enviado por
Maria Eduarda ChecaDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Geontologia Elizabeth Povinelli
Enviado por
Maria Eduarda ChecaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
http://dx.doi.org/10.
1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
ARTIGOS
Geontologia e as artes neoliberais de governo: educar os corpos para
além do imaginário do carbono 1
Geontology and the neoliberal arts of government: educating bodies
beyond the carbon imaginary
Alexandre Simão de Freitas(i)
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, PE, Brasil. https://orcid.org/0000-0003-
(i)
0982-6581, alexshiva@uol.com.br
Resumo:
Inspirado na obra Geontologies: a requiem to late liberalism, de Elizabeth Povinelli,
este texto problematiza as atuais condições do governamento neoliberal
expandindo o conceito foucaultiano de biopolítica. Procura mais amplamente
repensar os processos educativos nas margens da biontologia desdobrada pela
entrada no Antropoceno, a fim de desabilitar o chamado “imaginário do
carbono”. Trata-se de ensaio especulativo organizado em dois eixos que
articulam noções foucaultianas, tematizando as condições pelas quais certas
populações e certos corpos sofrem pela exposição diferencial a injustiças,
violência e morte. Em seguida, discute-se a possibilidade de ativar outros modos
de vida capazes de resistir no contexto das economias do abandono e das políticas
queer de migração. Ao final, busca-se evidenciar algumas razões pelas quais o
campo pedagógico inflacionou a questão da educação como empreendimento-
de-si e deflacionou a preocupação com o cuidado-de-si e dos outros, defendendo
uma abertura para outras figuras e sujeitos da educação como parte de uma
crítica potente aos excessos provocados pelo imaginário do carbono em nossos
sistemas de pensamento.
Palavras-chave: geontologia, neoliberalismo, governo da vida, corpos em fluxo
1 Normalização, preparação e revisão textual: Andressa Picosque (Tikinet)
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 1/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Abstract:
Inspired by Elizabeth Povinelli’s essay Geontologies: a requiem to late liberalism, this paper
problematizes the current conditions of neoliberal governance, through an expansion of the
Foucaultian concept of biopolitics. The intention is to rethink the educational processes on the
margins of biontology deployed by the entrance into the Anthropocene to disable the imaginary
of carbon. This is a speculative essay organized in two axes. First, the paper reflects the
conditions under which certain populations and, more specifically, certain bodies suffer from
differential exposure to injustice, violence and death. Then, discuss the possibility of activating
other ways of life capable of resisting the neoliberal arts of government. In the limit, the purpose
is to indicate some reasons why the pedagogical field has inflated the issue of education as a self-
enterprise and deflated the concern with self-care and care of the others, defending an opening of
educational theories to other figures and subjects of education as part of a powerful criticism of
the excesses caused by the imaginary of carbon in our systems of thought.
Keywords: geontology, neoliberalism, government of life, bodies in flow
“A filosofia atravessa um período de cesura epocal”.
Fabián L. Romandini
Este texto desdobra uma espécie de ficção analítica acerca das chamadas “artes
neoliberais de governo”, inspirada na obra Geontologies: a requiem to late liberalism, de Elizabeth
Povinelli, problematizando as atuais condições do governamento neoliberal mediante uma
expansão do conceito foucaultiano de biopolítica. A intenção mais ampla consiste em repensar
os processos educativos nas margens da biontologia desdobrada pela entrada no Antropoceno,2 a
fim de desabilitar o chamado “imaginário do carbono” e seus processos de marcação, distinção
e desqualificação ontológica.
2O termo “Antropoceno” foi proposto por Paul Crutzen e Eugene Stoermer em 2000, durante um encontro do
International Geosphere-Biosphere Programme. Diz respeito ao que seria uma nova época geológica que se seguiu
ao Holoceno, iniciada com a Revolução Industrial e intensificada após a Segunda Guerra Mundial (Danowski &
Viveiros de Castro, 2014; Viveiros de Castro, 2012).
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 2/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
O argumento apresenta tom intencionalmente especulativo e foi organizado em dois
eixos analíticos que se intersecionam. No primeiro, articula-se um conjunto de fragmentos
extraídos das aulas ministradas por Michel Foucault, em 1978, no curso Segurança, território,
população, a fim de mostrar como, a partir dos séculos XVI e XVII, a soberania “capitaliza um
território”, o poder disciplinar “arquiteta um espaço” e os mecanismos de segurança “criam um
ambiente” em função de uma “série de acontecimentos” que é preciso “regularizar num
contexto multivalente e transformável” (Foucault, 2008, p. 27). Com isso, no segundo eixo da
análise tematizam-se as condições pelas quais certas populações e, mais especificamente, certos
corpos sofrem pela exposição diferencial a injustiças, violência e morte. Nesse momento,
discute-se a possibilidade de ativar outros modos de vida capazes de resistir às artes de governo
neoliberal no contexto das políticas queer de migração (De Genova, 2015).
No conjunto, os dois movimentos analíticos buscam evidenciar algumas das razões pelas
quais o campo pedagógico inflacionou a questão da educação como empreendimento-de-si e
deflacionou a preocupação com o cuidado-de-si e dos outros, defendendo uma abertura das
teorias educativas para outras figuras e sujeitos da educação a fim de conspirar modos outros
de formação do humano, orientados por uma postura diferinte3 e descolonizadora dos nossos
sistemas de pensamento.
Para começar: contra os golpes de Estado para que haja sedição e
sublevação
Na aula de 11 de janeiro do curso Segurança, território, população, ministrado em 1978,
Michel Foucault, após apresentar a perspectiva global do curso e defender uma diferenciação
analítica entre os sistemas legais, os mecanismos disciplinares e os dispositivos de segurança,
passa em seguida a uma caracterização abrangente desses últimos, tomando como exemplo a
organização do espaço urbano entre os séculos XVI e XVII. Com base nisso, Foucault conclui
3 Como discutiremos mais adiante, a noção de diferinte aponta um deslocamento radical na compreensão
antropofilosófica da diferença ao levar em conta, para além dos marcadores sociais, as cosmologias que recusam a
univocidade da ontometafísica ocidental. Assim, o diferinte resguarda ou reativa uma concepção ontológica situada
para além das distinções absolutas ente vivo e não vivo. Nesse contexto, a expressão otherwise usada por Elizabeth
Povinelli (2016) foi traduzida como diferinte por Costa (2016) por sugestão de Eduardo Viveiros de Castro, Déborah
Danowski e Juliana Fausto, a propósito de uma entrevista realizada com a autora no Colóquio Internacional Os
Mil Nomes de Gaia: Do Antropoceno à Idade da Terra, em 2014.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 3/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
que a delimitação precisa de um conjunto de acontecimentos possíveis remetidos, simultaneamente,
ao âmbito do temporal e do aleatório é o que permite singularizar o espaço da segurança,
chamado por ele de “meio”. Essa noção teria emergido na biologia com Lamarck e na física
com Newton, sendo imprescindível na medida em que visa explicar a “ação à distância de um
corpo sobre outro” (Foucault, 2008, p. 27). Essa noção é, de fato, “o suporte e o elemento de
circulação de uma ação” (p. 27), indicando um certo número de efeitos que agiriam sobre todos
os que aí residem, “um elemento dentro do qual se faz um encadeamento circular dos efeitos e
das causas” (p. 28).
O meio seria um campo privilegiado de intervenção governamental, já que ao invés de
agir sobre os indivíduos, apreendidos como um conjunto de sujeitos de direito e capazes de
ação voluntária, ou mesmo como uma multiplicidade de corpos capazes de desempenho, o meio
os atingiria como população, isto é, “uma multiplicidade de indivíduos que são e que só existem
profunda, essencial, biologicamente ligados à materialidade dentro da qual existem” (Foucault,
2008, p. 28). Assim, ele articularia, por um lado, um conjunto de “dados naturais” (rios, pântanos
e morros, por exemplo), e, por outro, um conjunto de “dados artificiais” (como as aglomerações
de indivíduos), o que levanta, nos termos de Foucault, um problema técnico, pois o meio seria
inseparável da irrupção do problema da “naturalidade da espécie [humana] dentro da
artificialidade política de uma relação de poder” (p. 29).
Mas, antes de concluir essa aula, como é comum na sua retórica docente, Foucault indica
um texto e um autor, praticamente desconhecidos, que ninguém lê ou, se leu, não lhe prestou a
devida importância, mas que ele reputa ser o primeiro grande relato da biopolítica. Trata-se do
Estudos sobre a população de Moheau, em que Foucault (2008) encontra ideias tais como: “depende
do governo mudar a temperatura do ar e melhorar o clima; um curso dado às águas estagnadas
…, montanhas destruídas pelo tempo” (p. 29).
De fato, Moheau,4 apoiado em um verso de Virgílio acerca dos vinhos que congelavam
nos tonéis na Itália, defende que seria tarefa do governo intervir em uma natureza cujo meio
(geográfico, climático etc.) está em permanente associação com a espécie humana e seus
múltiplos afazeres. O governante deveria, portanto, exercer seu poder justamente “nesse ponto
de articulação em que a natureza no sentido dos elementos físicos vem interferir com a natureza
4Sobre a identidade desse autor, considerado enigmático ou mesmo mítico, ver a nota 39 dos editores do curso
Segurança, território, população (Foucault, 2008, p. 37-38).
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 4/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
no sentido da natureza da espécie humanam” (Foucault, 2008, p. 30). Esse ponto exato é aquele
em que o meio se torna um determinante constituinte de uma dada natureza, o que nos faz
tropeçar, lembra Foucault, no eixo vital dos dispositivos de segurança, os quais compõem um
projeto e uma técnica política endereçada ao meio como alvo de regulação, uma vez que a
população não se configuraria como um dado primeiro, mas dependeria antes de uma série de
variáveis.
A população varia. Varia com o clima, com o entorno material. Mas varia também com
a intensidade do comércio, com as leis a que é submetida, com os hábitos, com os valores
morais. Em síntese, o meio desdobra uma nova maneira de se colocar a questão do governo,
posto que um fenômeno natural não se pode “mudar por decreto”, o que não significa que a
“população seja uma natureza inacessível e que não seja penetrável, muito pelo contrário”
(Foucault, 2008, p. 93).5 Tem-se justamente uma população quando sua “natureza” se torna o
alvo de “procedimentos refletidos de governo”.
A população é constituída por um conjunto de elementos que, por um lado, se insere
“no regime geral dos seres vivos”, e, por outro, apresenta uma “superfície de contato para
transformações autoritárias, mas refletidas e calculadas” (Foucault, 2008, p. 98). A partir do
momento em que já não se chama os homens de “gênero humano”, mas se evoca uma “espécie
humana”, só então o homem pode “aparecer em sua inserção biológica primeira”. Mais: a
população surgiria de uma confluência sinérgica entre a espécie humana e o público. Sobre esse
último, Foucault ressalta que a palavra não é nova, mas seu uso sim, tendo em vista que, no
século XVIII, o público torna-se a “população considerada do ponto de vista de suas opiniões,
das suas maneiras de fazer, dos seus comportamentos, dos seus hábitos” (Foucault, 2008, p. 98),
entre os quais se destacam seus temores, seus preconceitos, seus descontentamentos, suas
exigências, e sobre os quais se age seja por meio da educação, seja por meio do convencimento.
A população então é tudo o se estende entre o “arraigamento biológico pela espécie” e
a superfície de contato materializada pelo público. Curiosamente, nesse ponto da análise uma
palavra volta sem cessar nas aulas de Foucault, mas que ele diz não ser algo proposital: trata-se
justamente da palavra “governo”, pensada como uma visada nova em direção a certo nível de
realidade, uma técnica nova. Em seus próprios termos, uma espécie de “inversão do governo
5 De fato, insiste Foucault (2008), a população se configura como um conjunto de elementos em que se pode
localizar “regularidades até nos acidentes” (p. 97). Essa crença possibilitou inúmeras análises por parte dos
fisiocratas e dos economistas, e toda a matriz de pensamento utilitarista.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 5/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
em relação ao reino” (Foucault, 2008, p. 99). Esse é o novo prisma reflexivo no qual aparece a
questão do Estado nas suas análises políticas.
Uma questão que seria inseparável de um contexto dramatizado, ou seja, do problema
da “prática teatral na política, ou ainda da prática teatral da razão de Estado” (Foucault, 2008,
p. 354). A teatralização seria, ela mesma, um modo de manifestação do poder estatal e do
soberano enquanto depositário legítimo do novo poder administrativo. Uma teatralização
intensa, posto que atravessada por intrigas, desgraças, traições. A governamentalização do poder
emerge então inseparável de todo um teatro político, voltado sobretudo à “representação do
golpe de Estado”. Essa dramatização é responsável por abrir uma nova governamentalidade,
que Foucault chama de governamentalidade indefinida, que se pretende infinita e que visa a
“permanência dos Estados que não terão fim nem termo” (Foucault, 2008, p. 355).
Trata-se de Estados descontínuos, sem dúvida, mas fadados a uma história sem
esperança porque se organizam segundo uma razão cuja lei não é mais a da sua legitimidade
intrínseca, mas a do imperativo de enfrentar golpes sempre incertos, ainda que detalhadamente
concertados. Golpes que visariam realizar tragicamente uma cena que é o seu próprio real. É
nesse contexto que as grandes “promessas do pastorado”, que nos faziam suportar
diligentemente todas as misérias, inclusive aquelas do próprio ascetismo, desdobram essa
“dureza teatral e trágica do Estado que pede que, em nome de sua salvação, uma salvação
sempre ameaçada, nunca certa, se aceitem as violências como a forma mais pura da razão e da
razão de Estado” (Foucault, 2008, p. 356).
Essa nova governamentalidade entrecruza duas questões seminais: a da obediência e a
das revoltas. E eis que, nesse momento de sua argumentação, surge outro daqueles textos
notáveis encontrados por Foucault: o texto do chanceler Bacon6 intitulado Ensaio sobre sedições e
distúrbios. Qual a sua importância?
Nesse texto, diz Foucault, se designa a “grande probabilidade” imanente aos cálculos da
governamentalidade sem fim em que estaríamos ainda mergulhados na atualidade: as revoltas a
evitar. As revoltas, diz Foucault (2008), repetindo Bacon, são a catástrofe do lado de toda forma
de governo – são “como as tempestades” (p. 357). Como o mar, elas crescem secretamente. São
sinais. Logo, por mais que se teatralizem, como tragédia ou farsa, os golpes de Estado, não é
6 Um texto tão “notável” que Foucault chega a dizer: “Não costumo dar conselhos quanto ao trabalho universitário,
mas se alguém de vocês quisessem estudar Bacon, creio que não perderiam seu tempo” (Foucault, 2008, p. 356).
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 6/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
possível eliminar da própria razão de Estado sua virtualidade imanente: que haja sedição e
sublevação.
Isso indica que a nova ordem governamental é incapaz de eliminar todos os efeitos
possíveis de uma tomada revoltosa da palavra pelos próprios sujeitos excluídos dos cálculos
governamentais. Daí que seja urgente atentar para uma espécie de “sinal ética” ou “semiótica da
revolta” (Foucault, 2008, p. 357), a qual permitiria entrever no próprio cerne da racionalidade
liberal e neoliberal a emergência de uma nova guerra. Uma guerra contra os corpos que
encarnam os outros da razão soberana. Uma guerra que almeja se livrar, de forma permanente,
ou ao menos neutralizar indefinidamente os ilegalismos populares que, de tempo em tempo, se
manifestam como possibilidade de retorno de um acontecimento revolucionário porvir.7 As
massas em revolta se tornariam doravante o lugar concreto de uma ameaça somática aos poderes
constituídos.
A experiência política da revolta apontaria para as mesmas verdades que repousam na
raiz de toda atividade filosófica ou pedagógica ocupadas em fazer irromper novas formas de
vida comprometidas com o trabalho, corpóreo e corporal, da liberdade. Em 1977, o próprio
Foucault já havia atentado para “algo de plebe” imanente a toda revolta. Para ele, a plebe não
designa uma parte da sociedade, como um estamento social, mas fala de “algo” que está presente
de maneira difusa e variável em todos nós.
[Algo] no corpo social, nas classes, nos grupos, nos próprios indivíduos, que escapa de certa
maneira às relações de poder; alguma coisa que é, não a matéria prima mais ou menos dócil ou
avessa, mas o movimento centrífugo, a energia inversa, a escapada. “A” plebe sem dúvida não
existe. Mas há “algo de” plebe. Há algo de plebe nos corpos e nas almas; há algo disso nos
indivíduos, no proletariado, na burguesia, mas com uma extensão, com formas, com energias e
com irredutibilidades diversas. (Foucault, 2006, p. 245)
A plebe seria menos o exterior das relações de poder que seu reverso, seu limite, seu
contraponto. Daí Foucault (2006) dizer, em uma formulação aparentemente paradoxal, que a
plebe não existe, contudo há plebe. Pois toda revolta comportaria um processo de
7 Como sabemos, desde 1978, o declínio da Revolução como chave para pensar a política conduziu Foucault para
outras direções. É possível especular que foi por meio da revolta que a subjetividade (não aquela dos grandes
homens, como ele faz questão de ressaltar) se introduz na história. As revoltas atravessariam as sociedades
modernas como algo outro; um outro cuja presença obscura permanece silenciada, embora reavivando medos e
disseminando mitos morais. Assim, na contraface do curso Nascimento da Biopolítica, de 1979, encontraremos, além
de um relato preciso da razão de Estado moderna, uma exposição inquieta acerca da emergência dos corpos
revoltados (Freitas, 2017).
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 7/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
desconstituição, uma desconjunção da relação verdade-poder-sujeito, encarnando nos corpos
em revolta um desejo radical de desvestimento, uma vontade não de fundar, mas de subtrair.
As revoltas expõem pequenas inervações corporais, sendo concebidas em um baixo material e
corporal. Pois o espírito da revolta se move na aspiração de um mundo onde caibam muitos
outros mundos, onde a igualdade seja a diferença e onde se reconheçam a multiplicidade das
formas de vida. Foucault aqui é enfático: a revolta faz retornar as dissidências plebeias e suas
heranças infernais.
A revolta de Gaia: o Antropoceno e as (des)conexões entre o matar e o
morrer
Passemos então ao segundo fio da ficção especulativa desdobrada nas margens das artes
neoliberais de governo, compreendidas por Foucault, em 1978, como uma forma de
governamentalidade que se pensa, que se quer sem fim, e que, no entanto, não tem como
expurgar de si mesma as formas revoltosas e imprevisíveis de contracondutas.
Retomamos uma ideia seminal defendida por Peter Sloterdijk (2012) segundo a qual o
chamamento para uma vida exercitante fez da Modernidade uma era técnica por excelência,
marcada por um novo imperativo metanoético. Dirigido a todos e ao qual se dão múltiplas e, às
vezes, divergentes respostas, esse imperativo mobilizaria uma extensa “coletivização e
desespiritualização de um conjunto de exercícios e técnicas para a produção do sujeito por si
mesmo, um sujeito governável” (p. 427, tradução nossa). Entre seus mediadores privilegiados
estariam “o Estado moderno e a escola adequada a ele”, que, juntos, convocam-nos para um
exercício global de fitness (p. 427, tradução nossa).
Na perspectiva ascética de Sloterdijk, a produção de sujeitos exercitantes está no centro
das disposições que atuam no controle biopolítico das populações, uma vez que o indivíduo
moderno é fundamentalmente um treinador-exercitante. Na contemporaneidade, contudo, o
imperativo vigente passou a ser a transformação permanente por ação do próprio indivíduo, o
que significa que já não se trata de um sujeito que se define em meio a identidades fixas para
reconhecer um lugar no campo social, senão um sujeito de identidades móveis e flexíveis que
se autoproduzem permanentemente por meio de técnicas que ele pode escolher.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 8/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
O problema é que na própria série exercitação-condução-empresariamento se percebem
vetores produtores de múltiplas crises (Binkley, 2009; Negri, 2016).8 Essas crises são
desencadeadas, em grande medida, pelas próprias condições atuais de governamento da vida
das populações, as quais engendram crises produzidas pelos próprios dispositivos de segurança
que almejam justamente evitá-las.
Mais recentemente, as ciências humanas e sociais se depararam com uma crise
assombrosa gestada pelas artes neoliberais de governo. Essa crise expressaria os efeitos
catastróficos provocados pela entrada no chamado “Antropoceno”. Entre outros, autores como
Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro (2014) advertem: a história humana já
conheceu várias crises, mas a assim chamada “civilização global”, um nome arrogante para a
economia capitalista baseada na tecnologia dos combustíveis fósseis, jamais enfrentou uma
ameaça como a que agora está em curso em nossas sociedades globalizadas. O ponto crítico do
diagnóstico está longe de se esgotar nos clichês acerca dos desastres ecológicos, das mudanças
climáticas etc., apontando antes para um processo de degradação intenso e acelerado das
condições que presidem a própria emergência da vida humana. Para além das distopias do
pânico (catastrofismo) e do entusiasmo (aceleracionismo), o Antropoceno indicaria uma época em
que o próprio tempo está fora do eixo, produzindo um vazamento da cultura sobre a natureza.
Como resultado, as categorias binárias e opositivas, típicas do pensamento filosófico da
modernidade, não permitiriam mais compreender e, sobretudo, intervir nas mudanças que nos
atravessam. Nos termos de Stengers (2015), a transformação dos humanos em força geológica pelo
progresso técnico-científico desregulado tem sido paga com a intrusão de uma alteridade
violenta, a intrusão de Gaia, que modificou as formas clássicas de autocompreensão do humano,
seja como sujeito histórico, agente político ou pessoa moral. A comunicação do geopolítico com o
geofísico fez desmoronar a distinção fundamental da episteme moderna – a distinção entre as
ordens cosmológica e antropológica, separadas desde pelo menos o século XVII.
Note-se que o termo “Antropoceno” não é unânime. Há aqueles, como Jason Moore
(2015) ou Donna Haraway (2016), que advogam o termo “Capitaloceno”, entendendo que a
Revolução Industrial iniciada no começo do século XIX é consequência da mutação
socioeconômica que gerou o capitalismo no chamado “longo século XVI”.
8 Em que medida vivemos efetivamente as condições de uma crise generalizada de governamento ou se as crises
se constituem, elas mesmas, em mecanismos sutis de controle biopolítico é uma questão que não vamos
problematizar neste momento (ver Comitê Invisível, 2016, p. 23-46).
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 9/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Mas o diagnóstico crítico permanece para além do debate idiomático. Isso porque o
Antropoceno, aquém e além de suas metáforas sobre o fim do mundo ou o apocalipse, é
atravessado por subentendidos filosóficos importantes. Como já destacava Günther Anders
(2007), “a derrocada da cosmologia geocêntrica se viu repentinamente compensada, no
pensamento moderno, por uma absolutização antropocêntrica da história, isto é, pelo
‘relativismo histórico’” (p. 22). Todavia, a era atômica relativizou essa absolutização: o “fim da
História” se tornando mera ocorrência “meteorológica, um acidente com dia e hora marcados”
(Anders, 2007, p. 22). Com isso, perdem-se os sentidos e as conexões entre morrer e matar, abrindo uma
inflexão abissal no debate acerca das artes neoliberais de governar.
Com efeito, o Antropoceno tornou inevitável a pergunta pelo compromisso do discurso
filosófico da modernidade com as várias catástrofes em curso. Afinal,
se o Ánthropos (bem entendido, o homem esclarecido, ocidental-europeu-branco, ou quase…)
é o “único cidadão do mundo”, o “seu próprio fim último” (Kant, 2006, p. 21), o que ele,
enquanto espécie-povo eleito, poderia temer?! Se os cientistas do clima são “catastrofistas” de
má-fé, as populações ditas tradicionais, incapazes de “ampliar a escala” do seu modo
supostamente precário de existência, os povos das ruas, vândalos a-políticos, por que o filósofo,
plenamente lúcido quanto às condições auto-fundantes de seu saber institucional, deveria
responsabilizar-se por quimeras alheias e transformar a sua própria maneira de pensar?
(Valentim, 2014, p. 4)
E mais:
se se considera o discurso filosófico moderno em vista de seu impacto imanente sobre outros
povos, humanos e não humanos, que ele desde sempre manteve excluídos e ao mesmo tempo
assujeitados à produção do sentido “em geral”, dificilmente se escapa à evidência de que o
pensamento transcendental consiste em um dispositivo espiritual de “aniquilação ontológica”
de outrem. (Valentim, 2014, p. 5)
Na análise de Marco A. Valentim (2014), “a proposição moderna exemplar … do
‘isolamento metafísico do homem’ … é, de Kant a Heidegger, tacitamente etno-eco-cida” (p.
6). O espírito do “povo cosmopolita” revelaria uma potência em si mesma catastrófica, que,
embora dissimulada em seu próprio discurso, se faz manifesta quando se pensa sob o ponto de
vista de Outrem. Nesse cenário, a modernidade revela-se como fonte explosiva do mundo
comum, o qual passa a ser regido por uma paz policialesca. O Antropoceno figura então como
espécie de duplo sobrenatural da modernidade.
Nesse sentido, levar a sério o Antropoceno significa evitar a falácia simultaneamente
especista e racista contida na ideia do homem como espécie natural ou essência metafísica,
tomado à parte dos vários povos diferentemente humanos e não humanos, problematizando o
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 10/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
dispositivo da grande divisão que contribuiu para a despolitização das relações cósmicas,
iniciando uma desenfreada “guerra dos mundos”. Uma “guerra entre guerras”, guerras de
Estado, mas também contra o Estado, como a guerra xamânica dos índios contra os brancos,
na qual se desdobram conflitos em que vivos e não vivos, espíritos e máquinas se imaginam e
contraimaginam uns aos outros.
Tropeçamos aqui em uma imagem de pensamento radicalmente outra à consciência dos
filósofos ocidentais (Costa, 2016). Lembremos nossa regra máxima de decoro acadêmico,
enunciada por Kant, segundo a qual todos os objetos da experiência têm necessariamente que
se regular pelos conceitos do entendimento humano e com eles concordar. Mas eis que, depois
de séculos de censura ativa, o Antropoceno libera a resposta dos praticantes do chamado
“pensamento selvagem” – essa figura fantasmática, entre tantas engendradas pelo racismo
filosófico europeu.9
Educar os corpos em fluxo para além do imaginário do carbono
Terá chegado, enfim, o momento de abandonar o barco, de trair a espécie? A pergunta
foi endereçada aos amigos de um “comitê” invisível e disperso, que emerge onde o mundo se
incendeia (Comitê Invisível, 2016).10 Do ponto de vista pedagógico, o questionamento nos
confronta com o fato de que as estruturas que fundam a economia política da educação foram
naturalizadas. Por mais que o tratamento dado aos chamados “direitos das minorias” tenha
incorporado aspectos que demonstram algum tipo de tolerância, reconhecimento e valorização,
o sistema normativo vigente foi muito pouco influenciado pela compreensão dessas mesmas
minorias sobre os sentidos implicados, por exemplo, no gesto de formar o humano desde a
práxis educativa. As teorias pedagógicas permanecem invisibilizando outras cosmologias ou
ontologias.
9 Por isso, enfatiza Valentim (2014), não é exagero supor que o Ánthropos moderno tentou “ignorar” ativamente
seu duplo monstruoso. Essa ignorância ativa supõe um exorcismo especulativo, que visa neutralizar a “adversidade
a fins” da natureza para submetê-la. Nessa perspectiva, Davi Kopenawa teria elaborado uma crítica ecopolítica da
razão pura/branca, baseada em um princípio inverso ao da epistemologia objetivista da modernidade ocidental
(Kopenawa: Albert, 2015).
10 O Comité Invisível é um coletivo francês que se tornou conhecido em 2009 durante o caso dos 9 de Tarnac,
quando o seu manifesto A insurreição que vem foi considerado prova do envolvimento do grupo em diversos atos de
sabotagem. Mais recentemente, sua obra Aos nossos amigos (2016), traça um diagnóstico irônico sobre o
desenvolvimento das crises do poder e do capital.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 11/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Essa situação permite inferir, conforme Vladimir Safatle (2017), que um dos eixos vitais
dos processos de governo neoliberal consiste também em gerir a invisibilidade, criando zonas
cinzentas onde vidas e corpos “desaparecem sem deixar restos” (p. 62).
Um efeito claro emerge quando cruzamos os estudos de migrações e os estudos queer.
Comumente, estudos migratórios presumem que os migrantes seriam uma massa de sujeitos
heterossexuais que migrariam apenas por questões estritamente econômicas, equiparando
migrantes a trabalhadores (Teixeira, 2015). Raramente tematiza-se o que se passa quando se
cruzam fronteiras nas chamadas migrações queer. No âmbito da legislação internacional, por
exemplo, apenas 19 países reconhecem que a orientação sexual e a identidade de gênero podem
constituir um atributo particular para os pedidos de asilo. Na maioria, inexiste qualquer
legislação específica referente à população lésbica, gay, bissexual, travesti e transgênero (LGBT)
como um grupo populacional que possa usufruir de proteção específica.
Enquanto isso, em cerca de oitenta países a homossexualidade ainda é considerada
crime, passível inclusive de ser punida com pena de morte em seis deles. Essa situação força a
mobilidade e o cruzamento de fronteiras em uma espécie de “sexílio” do qual mal temos
notícias.11 Não obstante, nesses casos
são claras as inter-relações e a interseccionalidade do gênero e da sexualidade com as identidades
nacionais, raciais, étnicas e diaspóricas, bem como os circuitos de viagem, migração e
deslocações, e com as subsequentes políticas de migração, asilo e de cidadania, [e suas conexões
com] formas de globalização hegemónica e contra hegemônica com movimentos de corpos,
ideias e capitais, [e] com os sistemas globais, nacionais e locais de inclusão/exclusão. (Vieira,
2011, p. 52)
Assim, se, por um lado, os migrantes têm sido “objetos de um crescente e insólito clima
de securitização” (De Genova, 2015, p. 47), enquanto figuras ainda “sem nome” e
fundamentalmente “inarticuláveis” de agência política, por outro, a presença dos migrantes queer
perdura invisível e inaudível, o que só amplifica uma maior regulação dos seus corpos em fluxo,
obstruindo o acesso aos bens de cidadania mais básicos, ao mesmo tempo que servem de
alimento para as redes globais do tráfico de pessoas.
11 Segundo Paul-Beatriz Preciado (2008), a sexopolítica é uma das formas dominantes da ação biopolítica no
capitalismo contemporâneo. Com ela, o sexo (os órgãos chamados “sexuais”, as práticas sexuais e também os
códigos de masculinidade e feminilidade) entra no cálculo do poder, fazendo dos discursos sobre o sexo e das
tecnologias de normalização das identidades sexuais um agente de controle da vida.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 12/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Habitando os espaços liminares do corpo, dos campos sexuais e dos Estados-nação, a
migração queer compõe linhas de fuga que permanecem inassimiladas por nossas teorias e
abordagens filosófico-educacionais das formas de governo. Uma das razões para essa situação,
lembra Beatriz Preciado (2008), é que as análises dos teóricos da biopolítica parecem parar
quando chegam à “linha da cintura”, desconsiderando a relevância da sexualidade nas dinâmicas
do tecnocapitalismo avançado, cujas formas de governamentalidade são regidas não apenas por
uma cooperação entre cérebros.
Resultado: as multidões queer permanecem sendo tratadas como uma “exceção
ontológica”, capturadas em uma espécie de limbo e submetidas, paradoxalmente, a políticas de
estabilização de sua própria invisibilidade. São corpos e vidas visíveis em sua obscuridade,
alimentando uma dinâmica de guerra civil pela generalização de um modus operandi em que governar
significa fazer desaparecer. Esse modo de governamento propriamente neoliberal emerge
inseparável de uma pretensa univocidade de uma dada ordem física e metafísica das coisas (a
sua própria), denuncia Elizabeth Povinelli (2016). É essa ordem que nos mantém prisioneiros
de uma concepção ontológica fundamentada em um tipo específico de ser: o ser vivo e, mais
especificamente, o ser que extrai sua diferença da demarcação de uma diferença absoluta entre
entes vivos e não vivos.
Elizabeth Povinelli (2016) chama de “imaginário do carbono” o conjunto de processos
metabólicos – quais sejam, nascimento, crescimento/reprodução e morte – que a epistemologia
ocidental atribuiu à vida biológica. O imaginário do carbono cria a pressuposição de que há uma
separação abissal entre o orgânico e o inorgânico, desconsiderando como mera matéria inerte
desprovida de agência e intencionalidade todos os modos de existência que não parecem passar
por aqueles processos metabólicos. A autora expande o conceito cunhado por Foucault,
afirmando que a biopolítica não é só o que busca governar sobre a vida, mas também o que cria
e mantém a divisão entre vida e não vida, pela qual os Estados neoliberais governam as
diferenças.
Segundo Povinelli (2001), a prioridade ontológica do metabolismo do carbono ancora-
se em uma ontologia definida por questões como o ser e o não ser, a finitude e a infinitude, o
uno e o múltiplo, engendrando e pressupondo um tipo específico de entidade-estado, a saber, a
vida. Assim, seja nas ciências naturais, seja nas ciências sociais e mesmo na filosofia, a noção de
vida age como uma divisão fundacional. A ontologia ocidental, na verdade, seria uma
biontologia, cujo principal poder político consiste em transformar um plano de existência
regional, isto é, a compreensão ocidental de vida, em um arranjo global com pretensões de
universalidade.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 13/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Em oposição a essa biontologia e à biopolítica que a sustenta, Povinelli (2016) propõe
o conceito de geontologia, que consiste na abertura a outras concepções de mundo que não sejam
marcadas pela dualidade entre vida e não vida e suas distinções notáveis entre humanos e animais
ou entre animais e plantas ou ainda entre plantas e rochas, concedendo dignidade ontológica a
múltiplos seres.12 Ela é enfática ao afirmar que se, durante os últimas décadas, os Estados e o
capital neoliberais se viram beneficiados pela formação de poder biontológico, a grave desordem
ecopolítica da atualidade propiciou a emergência da geontologia como formação de poder capaz
de desabilitar o imaginário do carbono. Isso acontece porque a biontologia, longe de constituir
uma universalidade organizativa, apresenta apenas um mundo, ainda que muito poderoso.
Assim, as crises atuais abririam espaço para novas concepções de conhecimento em que
vida e não vida não são os operadores-padrão de distinção ontológica. Daí o interesse de
Povinelli por uma antropologia do diferinte [otherwise]. O diferinte é uma condição de possibilidade de
alteração dos arranjos determinados de existência (Costa, 2016), evidenciando as diversas
geontologias que têm sido subjugadas pela pretensa universalidade da biontologia ocidental
centrada no imaginário do carbono.
Vários questionamentos surgem desse posicionamento excêntrico aos sistemas de
pensamento vigentes: como a não vida vai entrar no demos? Como fazemos ou deixamos falar
e/ou silenciar os vários povos (humanos e não humanos) que habitam a polis?
Todas essas questões exigem pensar a vida fora das imposições biológicas, implicando,
portanto, uma mudança do ponto de vista, especialmente sobre a morte humana. Povinelli
afirma ser preciso “desdramatizar o humano” (Costa, 2016, p. 147). Esse tipo de afirmação
almeja problematizar o modo como lidamos com as várias exclusões que atravessam nossas
sociedades, por meio de uma espécie de “eventização”, quer dizer, sua fixação enquanto
acontecimentos extraordinários que capturam espetacular e momentaneamente nossos olhares,
enquanto deixa à margem os pequenos acontecimentos de “morte lenta”, as experiências
cotidianas de deterioração a que todos os seres estão submetidos sob a ordem do sistema
político e econômico neoliberal.
12No artigo Do rocks listen? Elizabeth Povinelli começa narrando sua participação em uma audiência do processo
conhecido como Kenbi Land Claim, no qual o povo aborígene Larrakia buscava obter direito de propriedade sobre
a Península Cox, no Território do Norte australiano. Na ocasião, uma das mulheres do povo Belyuen, que habita
a área, descrevia aos representantes do governo como uma rocha chamada Old Man Rock era capaz de ouvir e
sentir o suor do seu povo, destacando a importância das interações entre humanos, ambientes e os seres totêmicos
ancestrais para a saúde e a produtividade dos seus sistemas básicos de sobrevivência. Para uma discussão profunda
desse texto, ver Costa (2016).
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 14/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Na ótica de Elizabeth Povinelli, as artes de governo neoliberal visam justamente
construir e disseminar um amplo dispositivo humanitário em torno das catástrofes e dos riscos
a que são expostas parcelas significativas da população, criando uma espécie de economia do
abandono, cuja finalidade é dramatizar as próprias políticas de invisibilização. Logo, desdramatizar
o humano significa, primeiro, que o humano enquanto forma de vida isolada dos outros
existentes é uma quimera; segundo, que os processos de exclusão nunca atingem a todos os
humanos igualmente.
Nessa direção, pensar o tipo de ação política ou pedagógica que está à altura do nosso
tempo constitui uma tarefa desafiadora. O risco é sempre o de recair, mesmo que com a melhor
das chamadas boas intenções, em práticas renovadas de colonialismo, pois ao fundamentar nossa
ação em uma biontologia que destitui de valor outros modos de existência, tanto de humanos
quanto de outros-que-humanos, acabamos por replicar, pragmaticamente, as exclusões que
denunciamos. Toda política de resistência às artes de governo neoliberais, incluindo no campo
da educação, precisa ser capaz de suspender os hábitos (maus hábitos, de fato) que nos fazem
acreditar que sabemos, em um sentido absoluto, quem somos e que possuímos o sentido
definitivo daquilo que nos faz existir.
Esse tipo de crença, raramente problematizada, começa por reduzir a agência e os
modos de existência de múltiplos seres e mundos (Latour, 2013) ao valorizar formas de
conhecimento que, historicamente, contribuíram para a dominação dos devires dos povos
menores e suas contraciências pensadas, quase sempre, como mito, folclore e literatura. Em
uma direção oposta, é urgente reaprender a pensar em termos de outras agências coletivas de
enunciação que não separam natureza e cultura, reduzindo e desqualificando as visões de mundo
exteriores ao sujeito moderno como irracionais.13
Isso significa acossar o sujeito da educação que, apesar das críticas pós-estruturalistas,
permanece sendo pensado como uma forma excepcional de autoconsciência individual
ancorada em alguma forma de identidade. No argumento aqui proposto, a subjetividade não
cobra forçosamente uma forma reconhecida como humana. Um sujeito seria constituído, antes
de tudo, pela “capacidade de tomar posição, multiplamente … um sujeito não é um corpo, não
possui um corpo, nem habita um corpo, mas antes se posiciona em um corpo que, por definição,
lhe resulta impróprio mesmo em sua momentânea apropriação” (Romandini, 2013, p. 46-47).
13Para Viveiros de Castro (2015), a metafísica ocidental tem sido pródiga em cultivar, legitimar e replicar múltiplas
formas de colonialismo ao não questionar os grandes divisores da nossa antropologia, distorcendo e restringindo
outras narrativas que carregam consigo outros saberes e conhecimentos.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 15/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Nesse contexto, educar para além do imaginário do carbono, para além da distinção
ontológica entre vida e não vida, implica um desafio inusitado para a teorização crítica da
educação. Pode a educação estar à altura desse desafio de pensamento? Talvez. Mas, sem dúvida,
um passo importante nessa direção deve começar por uma contextualização das artes neoliberais
de governo, refletindo seus efeitos concretos nos corpos colocados em fluxo mediante as
distintas relações políticas entre seres e mundos agenciadas pela perversa economia do abandono
(Povinelli, 2016), a fim de conspirar outras formas de educar e lembrar algumas coisas que ainda
não sabemos como saber, isto é, algumas coisas que se situam para além de toda vontade de saber.
Assim, para (não) concluir…
No curso Segurança, território, população, Michel Foucault fez um contraste contundente
sobre como a ideia do povo como fundação da democracia moderna teve de ceder lugar a uma
análise da população. O povo figurou durante bom tempo como o fundamento da diferença
liberal democrática, mas a gestão da população tornou-se a fonte constitutiva de sua
legitimidade. Com esse argumento, Foucault não apenas retirou o foco de seus ouvintes do
imaginário dos direitos soberanos dos reis, mas da chamada soberania popular ao contrastar o
controle da população às revoltas do povo.
Quem é o povo? – ele pergunta. O povo é aquilo que, em um dado meio, em um dado
modo de governamento, encarna o lugar de todos aqueles que são os não soberanos; o lugar
daqueles que se comportam em relação à gestão da população, no nível da população, como se
não fossem parte dela, como se se colocassem fora dela, recusando ser a população e
perturbando a racionalidade vigente no Estado (Foucault, 2008). O povo é simplesmente quem
não obedece, quem se revolta.
Em Geontologies: a requiem to late liberalism, Elizabeth Povinelli conduz essa análise
foucaultiana ao limite. Para ela, é urgente não apenas solapar o entendimento do povo como
base ideológica da diferença liberal democrática, no contexto das artes de governo neoliberais,
mas questionar sua aplicação ao longo de tempos e espaços distintos. Na esteira de autores
como Achille Mbembe (2014), ela distende as análises de Foucault sobre sexualidade, raça e
poder para compreender como, nas chamadas colônias de povoamento, o biopoder disseminou
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 16/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
técnicas específicas de extermínio, de reconhecimento ou de assimilação, culminando em uma
atuação marginal do Estado.
A violência policial no Brasil fornece um caso paradigmático dessa presença estatal
mórbida, pois, entre nós, os chamados agentes da lei operam contra a lei dentro da lei. Aqui não
há dúvidas, temos que encarar um Estado que não admite a pena de morte, mas que mata
populações inteiras, em condições que replicam com crueldade a situação colonial e mesmo
escravista, como mostram os estudos sobre as migrações queer (De Genova, 2015). Em países
como o nosso, não casualmente, vemos sobreviver formas de terror corporal sob o influxo de
uma desregulação neoconservadora, difundindo forças mórbidas de violência, ódio e horror,
por meio de tecnologias necropolíticas que persistem incólumes e naturalizadas como parte do
nosso repertório político.
Como resultado, “as modalidades de crime que este envolve não fazem nenhuma
distinção entre inimigo interno e externo. Populações inteiras são alvo do soberano …. A vida
cotidiana é militarizada.… Às execuções a céu aberto se adicionam matanças invisíveis”
(Mnembe, 2014, p. 52-3). No Brasil, a construção do “opositor” sexualizado, generificado e
racializado expõe concretamente a violência do Estado e suas políticas, manifestada sob diversas
modalidades operacionais: segregação espacial, invizibilização forçada, expulsão escolar,
epistemicídio, exposição sistemática à sujeição criminal.
No contexto atual, é difícil exagerar a magnitude do ódio social e da violência do Estado.
É importante lembrar que as formas contemporâneas de poder que subjugam a vida
reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror. Daí a noção de
biopoder precisar incorporar novos caminhos de pensamento, desdobrando topografias
reprimidas de crueldade, como também sugerem as reflexões de Judith Butler (2011) sobre a
precariedade. Precariedade designando a condição politicamente induzida pela qual certas
populações sofrem pelas fraquezas das redes sociais e econômicas de amparo e se tornam
diferencialmente expostas a violência e morte. Não obstante, a precariedade, pressupomos
saber, diz respeito exclusivamente aos seres vivos.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 17/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Por isso, ao longo deste texto, insistimos: a divisão entre a matéria geológica e a vida
biológica pode restringir os poderes práticos de alguns viventes.14 Obviamente, não se trata de
propor uma nova diferença entre geológico e biológico, muito menos seu colapso. O ponto
relevante é a pragmática discursiva na qual ser, vida e precariedade são postas em prática. Pois
nem toda pragmática discursiva é absorvível nas dinâmicas metabólicas do imaginário do
carbono enraizadas em nossas estruturas analíticas.
Para muitos coletivos, por exemplo, a vida não tem as fronteiras e os limites
fantasmagóricos que o nascimento e a morte emprestam ao que delimitamos como sendo uma
vida. Assim, um corpo morto permanece sendo um corpo. Como consequência, compreender
as artes de governo neoliberais do ponto de vista de outrem, isto é, do ponto de vista dos
múltiplos corpos em fluxo nas teias da vida, da não vida e da entrevida, exige que se repense as
próprias figuras e sujeitos da educação.
Algumas dessas figuras e sujeitos já começam a se fazer presentes em análises da teoria
educacional, como as multidões queer de Preciado (2011), a crítica da razão negra de Mbembe (2014)
e as teorias e práticas de resistência transfeministas (Butler, 2003; Koyama, 2003; Serano, 2007).
Contudo, ainda precisamos de uma analítica do biopoder que parta de uma abertura resistente
aos excessos governamentalizantes do imaginário do carbono, acolhendo além das figuras do
animista, do deserto e do vírus, analisadas por Elizabeth Povinelli,15 figuras como os terreiros e
seus orixás, a ayahuasca e suas florestas de cristais, as “drogas” e suas deambulações
ondulatórias.
Com esse gesto inaudito, talvez seja possível evidenciar como o campo pedagógico
inflacionou a questão da educação como empreendimento-de-si e deflacionou a preocupação
com o cuidado-de-si e com o cuidado-dos-outros. Nesse sentido, abrir nossas teorias filosóficas
e pedagógicas para outras figuras e sujeitos da educação pode ser parte de uma crítica radical às
artes neoliberais de governo, conspirando modos outros de formação do humano orientados
por uma postura diferinte e descolonizadora.
14 Em vários lugares, determinadas matérias geológicas são consideradas animadas, vivas – e outras matérias
geológicas também o são potencialmente. Assim, esse substrato geológico é a condição de outras formas de vida e
a medida de valor ético e social de muitas populações (Latour, 2013).
15 O animista configura uma variedade de posições contrastantes em relação ao imaginário do carbono, e recusa
não apenas a divisão hierárquica entre humanos e outros animais e a vida das plantas, mas as distinções entre
formas de existência enquanto tais. O deserto configura a existência como existente, mas não vivida ainda, um ser
que não é animado pelo Dasein – o deserto é Marte como futuro da Terra. O vírus, por sua vez, configura o
conhecimento de que o ser humano, e a própria vida, é apenas uma pequena volta de uma força muito mais ampla
do surgir e desaparecer (Povinelli, 2016).
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 18/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Referências
Anders, G. (2007). Le temps de la fin. Paris: L’Herne.
Binkley, S. (2009). The work of neoliberal governamentality: temporality and ethical substance
in the tale of two dads. Foucault Studies, (6), 60-78.
Butler, J. (2003). Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira.
Butler, J. (2011). Vida precária. Contemporânea, 1(1), 13-33.
Canguilhem, G. (2012). O conhecimento da vida. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Comitê Invisível. (2016). Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo: n-1 edições.
Costa, A. C. (2016). Virada geo(nto)lógica: reflexões sobre vida e não-vida no Antropoceno.
Analógos, 1, 140-150.
Danowski, D., Viveiros de Castro, E. (2014). Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins.
Florianópolis: Cultura e Barbárie.
De Genova, N. (2015). As políticas queer de migração: reflexões sobre “ilegalidade” e
incorrigibilidade. Revista Interdisciplinar Mobilidades Humanas, 23(45), 43-75.
Deleuze, G., Guattari, F. (1995). Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. São Paulo: Editora 34.
Foucault, M. (2006). Estratégia, poder-saber (2a ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Foucault, M. (2008). Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes.
Freitas, A. S. (2017). As lições perigosas do professor Foucault. Bagoas: Estudos gays: Gêneros e
Sexualidades, 11(16), 50-78.
Haraway, D. (2016). Antropoceno, capitaloceno, plantacionoceno, chthuluceno: generando
relaciones de parentesco. Revista Latinoamericada de Estudios Críticos Animales, 3(1), 15-26.
Kopenawa, D., Albert, B. (2015). A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo:
Companhia das Letras.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 19/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Koyama, E. (2003). The transfeminist manifesto. In R. Dicker, & A. Piepmeier (Eds.), Catching
a wave: reclaiming feminism for the 21st century (pp. 244-259). Boston: Northeastern University
Press.
Latour, B. (2013). Investigación sobre los modos de existencia. Buenos Aires: Paidós.
Mbembe, A. (2014). Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona.
Mbembe, A. (2016). Necropolítica. Arte & Ensaios, (32), 123-151.
Moore, J. (2015). Capitalism in the web of life. New York: Verso.
Negri, A. (2016). Quando e como eu li Foucault. São Paulo: n-1 edições.
Povinelli, E. A. (2001). Radical worlds: the anthropology of incommensurability and
inconceivability. Annual Review of Anthropology, 30, 319-334.
Povinelli, E. A. (2013). As quatro figuras da “sexualidade” nos colonialismos de povoamento.
Cadernos Pagu, (41), 11-18.
Povinelli, E. A. (2016). Geontologies: a requiem to late liberalism. London: Duke University Press.
Preciado, B. (2008). Testo yonqui. Madrid: Espasa.
Preciado, B. (2011). Multidões queer: notas para uma política dos “anormais”. Estudos Feministas,
19(1), 11-20.
Romandini, F. L. (2013). H. P. Lovecraft: a disjunção do ser. Florianópolis: Cultura e Bárbarie.
Safatle, V. (2017). Governar é fazer desaparecer. Cult. Recuperado de
https://revistacult.uol.com.br/home/vladimir-safatle-governar-e-fazer-desaparecer/
Serano, J. (2007). Whipping girl: a transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity.
Berkeley: Seal Press.
Sloterdijk, P. (2012). Has de cambiar tu vida: sobre antropotécnica. Valencia: Pre-Textos.
Stengers. I. (2015). No tempo das catástrofes. São Paulo: Cosac Naify.
Teixeira, M. A. A. (2015). Metronormatividades nativas: migrações homossexuais e espaços
urbanos no Brasil. Áskesis, 4(1), 23-38.
Valentim, M. A. (2014). A sobrenatureza da catástrofe. Revista Landa, 3(1), 3-25.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 20/21
http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0136
e-ISSN 1980-6248
Vieira, P. J. (2011). Mobilidades, migrações e orientações sexuais: percursos em torno das
fronteiras reais e imaginárias. Ex Æquo, (24), 45-59.
Viveiros de Castro, E. (2012). “Transformação” na antropologia, transformação da
“antropologia”. Mana, 18(1), 151-171.
Viveiros de Castro, E. (2015). Metafísicas canibais. São Paulo: Cosac Naify.
Submetido à avaliação em 17 de agosto de 2017; aceito para publicação em 6 de abril de 2018.
Pro-Posições | Campinas, SP | V. 30 | e20170136 | 2019 21/21
Você também pode gostar
- Água, sustentabilidade e direitos fundamentais: diretrizes de Estado socioambiental e cidadania ecológicaNo EverandÁgua, sustentabilidade e direitos fundamentais: diretrizes de Estado socioambiental e cidadania ecológicaAinda não há avaliações
- Resenha Sobre A Física e Suas Inerações e InterfacesDocumento4 páginasResenha Sobre A Física e Suas Inerações e InterfacesElained SilvaAinda não há avaliações
- Da Fonte da Gamboa à Água Encanada em Paranaguá: uma história de humanizaçãoNo EverandDa Fonte da Gamboa à Água Encanada em Paranaguá: uma história de humanizaçãoAinda não há avaliações
- Paradigmas Boaventura SantosDocumento3 páginasParadigmas Boaventura SantosLou FigAinda não há avaliações
- Os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos: contribuição à teoria histórico-crítica do currículoNo EverandOs conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos: contribuição à teoria histórico-crítica do currículoAinda não há avaliações
- Da Evolução Da Concepção de Natureza e de Homem Na Ambiência de Uma Educação Ambiental CríticaDocumento15 páginasDa Evolução Da Concepção de Natureza e de Homem Na Ambiência de Uma Educação Ambiental CríticajoaojosevieiraAinda não há avaliações
- CUSTODIO ResumoDocumento3 páginasCUSTODIO Resumojessica.martinshope13Ainda não há avaliações
- Costa - A Autoetnografia Como Opção Metodológica No Estudo AntropológicosDocumento22 páginasCosta - A Autoetnografia Como Opção Metodológica No Estudo AntropológicosSheila CavalcanteAinda não há avaliações
- Ontologia MarxistaDocumento22 páginasOntologia MarxistaPétis PétisAinda não há avaliações
- Vander Velden Cebolla BadieDocumento33 páginasVander Velden Cebolla BadieYaly StarAinda não há avaliações
- Artigo - Imigração, Estado de Direito e BiopolíticaDocumento16 páginasArtigo - Imigração, Estado de Direito e BiopolíticaJC CostaAinda não há avaliações
- Giménez Castaño AntropologíacomprometidaDocumento23 páginasGiménez Castaño AntropologíacomprometidaZeus SamaAinda não há avaliações
- 04 - Corrêa e Baltar. o Antinarciso No Século Xxi - A Questão Ontológica Na Filosofia e Na AntropologiaDocumento24 páginas04 - Corrêa e Baltar. o Antinarciso No Século Xxi - A Questão Ontológica Na Filosofia e Na AntropologiaJúlia GomesAinda não há avaliações
- Jean PierreDocumento12 páginasJean PierreInês CésarAinda não há avaliações
- Antropologia Cultural de Moçambique-BrochuraDocumento23 páginasAntropologia Cultural de Moçambique-Brochuramiguel60% (10)
- Os Condenados Da TerraDocumento6 páginasOs Condenados Da TerraLaurenAinda não há avaliações
- Resumo Da Obra de BoaventuraDocumento4 páginasResumo Da Obra de BoaventuraMarcio Luis Carlos100% (1)
- 2015 - Ciências Humanas O Que São, para Que ServemDocumento16 páginas2015 - Ciências Humanas O Que São, para Que ServemLília PintoAinda não há avaliações
- ALVES - Carley Rodrigues - Globalização de Culturas CientíficasDocumento7 páginasALVES - Carley Rodrigues - Globalização de Culturas CientíficasAndre BocchettiAinda não há avaliações
- Antropologia Cultural - Cultura - Um Conceito AntropológicoDocumento7 páginasAntropologia Cultural - Cultura - Um Conceito Antropológicorafell julioAinda não há avaliações
- Ensino de Biologia e Saberes Da TradiçãoDocumento13 páginasEnsino de Biologia e Saberes Da Tradiçãorenatofigueiredo2005Ainda não há avaliações
- 7201 Ione Ione Aparecida Zucchi ModaneseDocumento15 páginas7201 Ione Ione Aparecida Zucchi ModaneseDeizi CavalcanteAinda não há avaliações
- Boaventura (Wagner)Documento36 páginasBoaventura (Wagner)Rafael ArantesAinda não há avaliações
- SOMMERMAN, 2006 - Inter Ou TransdisciplinaridadeDocumento4 páginasSOMMERMAN, 2006 - Inter Ou TransdisciplinaridadeMFonseca123Ainda não há avaliações
- O Corpo Incerto - Corporeidade, Tecnologias Médicas e Cultura Contemporâneas. RESENHADocumento2 páginasO Corpo Incerto - Corporeidade, Tecnologias Médicas e Cultura Contemporâneas. RESENHALilian TerraAinda não há avaliações
- Michel Foucault e La ArquealogiagenealogiaDocumento21 páginasMichel Foucault e La ArquealogiagenealogiaJair MeloAinda não há avaliações
- Resumo - "Um Discurso Sobre As Ciências", de Boaventura Sousa Santos - Velho TrapicheDocumento6 páginasResumo - "Um Discurso Sobre As Ciências", de Boaventura Sousa Santos - Velho TrapicheDiogo G FreireAinda não há avaliações
- Sociologia 23-03Documento9 páginasSociologia 23-03Juju LaylaAinda não há avaliações
- Ta192 06032006 102834Documento16 páginasTa192 06032006 102834Rdf DfgwefeafAinda não há avaliações
- Rafael,+1 CristianedanielleoneltractenbergDocumento19 páginasRafael,+1 CristianedanielleoneltractenbergEduardo TorresAinda não há avaliações
- Capítulo 1Documento16 páginasCapítulo 1Fabio ColtroAinda não há avaliações
- Interdisciplinaridade & Ciências Ambientais A ArticulaçãoDocumento20 páginasInterdisciplinaridade & Ciências Ambientais A Articulaçãojp.refrigeracao.engenhariaAinda não há avaliações
- Herança Romantica e Ecologismo Contemporaneo - José Augusto PaduaDocumento18 páginasHerança Romantica e Ecologismo Contemporaneo - José Augusto PaduaDiego MachadoAinda não há avaliações
- BIB Bib9303 2020 - MAY PDFDocumento25 páginasBIB Bib9303 2020 - MAY PDFLuciana dos SantosAinda não há avaliações
- SafatleDocumento6 páginasSafatlewendellAinda não há avaliações
- ApontamentosDocumento30 páginasApontamentoscmsrodrigues100% (4)
- Ideologias de Linguagem - Uma Breve Discussão Acerca Da Mudança de Paradigmas Nas Ciências e No Ensino Da LinguagemDocumento21 páginasIdeologias de Linguagem - Uma Breve Discussão Acerca Da Mudança de Paradigmas Nas Ciências e No Ensino Da LinguagemWillian GonçalvesAinda não há avaliações
- resICDocumento6 páginasresICisahAinda não há avaliações
- Colonialidade e Pedagogia Decolonial PDFDocumento16 páginasColonialidade e Pedagogia Decolonial PDFJonas MagalhãesAinda não há avaliações
- A Relação Entre Natureza e CulturaDocumento33 páginasA Relação Entre Natureza e CulturaPaulo Anchieta F da CunhaAinda não há avaliações
- 1993 (Art) Gabriel Tendencias - Ped - Ef - MotrivivenciaDocumento6 páginas1993 (Art) Gabriel Tendencias - Ped - Ef - MotrivivenciaGabriel Muñoz PalafoxAinda não há avaliações
- Decolonialismo Enrique DusselDocumento16 páginasDecolonialismo Enrique DusselIsadora MartinsAinda não há avaliações
- Terrenos Incertos. Antropologia e Consciência Autor Alice CruzDocumento23 páginasTerrenos Incertos. Antropologia e Consciência Autor Alice Cruzأبومؤيد نواف العضيانيAinda não há avaliações
- ANT002Documento8 páginasANT002b bbAinda não há avaliações
- Transdisciplinaridade e Educacao - Miguel Almir Lima AraujoDocumento9 páginasTransdisciplinaridade e Educacao - Miguel Almir Lima Araujozlma225Ainda não há avaliações
- Algumas Palavras Sobre Uma Teoria Da Eco-HistóriaDocumento14 páginasAlgumas Palavras Sobre Uma Teoria Da Eco-HistóriaJanille CamposAinda não há avaliações
- Introducao As Ciencias Sociais PDFDocumento14 páginasIntroducao As Ciencias Sociais PDFEspi Sul100% (1)
- Artigo Elmo Et Al Revista RevbeaDocumento21 páginasArtigo Elmo Et Al Revista RevbeaElmo Rodrigues da SilvaAinda não há avaliações
- Arte em Tempos de Crise A Evolucao Humana e A ConsDocumento13 páginasArte em Tempos de Crise A Evolucao Humana e A Conslucas rissiAinda não há avaliações
- Antropologia, Estudos Culturais e EducaçãoDocumento36 páginasAntropologia, Estudos Culturais e EducaçãoMattvelasquesAinda não há avaliações
- Cultura em Campo SemioticoDocumento13 páginasCultura em Campo SemioticoBruno MoreiraAinda não há avaliações
- O Materialismo Histórico-Dialético Como Enfoque Metodológico para A Pesquisa Sobre Políticas EducacionaisDocumento15 páginasO Materialismo Histórico-Dialético Como Enfoque Metodológico para A Pesquisa Sobre Políticas EducacionaisGeórgia NunesAinda não há avaliações
- Corpo, Biologia e Educação FísicaDocumento14 páginasCorpo, Biologia e Educação FísicaJames GleickAinda não há avaliações
- Cap 3 - Natureza Técnica QuimicaDocumento24 páginasCap 3 - Natureza Técnica QuimicaLuís Resende de AssisAinda não há avaliações
- MotaDocumento12 páginasMotaSimone Fontoura da SilvaAinda não há avaliações
- Evolucionismo (NBR)Documento16 páginasEvolucionismo (NBR)Jefferson Francisco Ramos PoliAinda não há avaliações
- Epigênese e Epigenética: As Muitas Vidas Do Vitalismo OcidentalDocumento29 páginasEpigênese e Epigenética: As Muitas Vidas Do Vitalismo OcidentalEdu RochaAinda não há avaliações
- 008 - Sociologia Da Educação Uma Leitura Dos Novos Temas de PesquisaDocumento14 páginas008 - Sociologia Da Educação Uma Leitura Dos Novos Temas de PesquisaKaliane MaiaAinda não há avaliações
- Neoliberalismo e Pós-Modernismo - Determinantes Da Produção Da Subjetividade ContemporâneaDocumento2 páginasNeoliberalismo e Pós-Modernismo - Determinantes Da Produção Da Subjetividade ContemporâneaHabner CoelhoAinda não há avaliações
- Autopoiesis: o Que A Psicanálise Tem A Ver Com Isso?Documento14 páginasAutopoiesis: o Que A Psicanálise Tem A Ver Com Isso?clarissa100% (1)
- BUENO, Wilson. Manual de Zoofilia PDFDocumento34 páginasBUENO, Wilson. Manual de Zoofilia PDFCaroline D'Ávila100% (1)
- FOUCAULT, M. Uma Entrevista - Sexo, Poder e A Politica de IdentidadeDocumento18 páginasFOUCAULT, M. Uma Entrevista - Sexo, Poder e A Politica de IdentidadeMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- KUPPERMAN, D. Presença SensívelDocumento5 páginasKUPPERMAN, D. Presença SensívelMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- Anexo - Coletânea de Referências de Lacan Sobre A PoesiaDocumento44 páginasAnexo - Coletânea de Referências de Lacan Sobre A PoesiaMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- O Sujeito Surdo e A Psicanálise - Uma Outra Via de Escuta (Maria Cristina Petrucci Solé)Documento186 páginasO Sujeito Surdo e A Psicanálise - Uma Outra Via de Escuta (Maria Cristina Petrucci Solé)Maria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento18 páginas1 PBMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- Caderno 2022 FinalDocumento254 páginasCaderno 2022 FinalMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- CASA DO POVO. Potências Do PodreDocumento33 páginasCASA DO POVO. Potências Do PodreMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- Léia Livro Final 10Documento384 páginasLéia Livro Final 10Maria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- VisíveisDocumento115 páginasVisíveisMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- Atividade 08º AnoDocumento2 páginasAtividade 08º AnotokocioccaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento11 páginas1 PBjesseAinda não há avaliações
- Cidade de Florença Na Itália Século XVI - para o Artigo 2022Documento3 páginasCidade de Florença Na Itália Século XVI - para o Artigo 2022Edcarlos Dos SantosAinda não há avaliações
- Ensino Fundamental 9 Anos Ensino ReligiosoDocumento9 páginasEnsino Fundamental 9 Anos Ensino ReligiosoLaylla KéthullyAinda não há avaliações
- Continuum 38Documento40 páginasContinuum 38Maria Cruz LopesAinda não há avaliações
- Ensaio F. Sobre A Arte - Opinião Da MaraDocumento6 páginasEnsaio F. Sobre A Arte - Opinião Da MaraMara MirandaAinda não há avaliações
- PIAFDocumento9 páginasPIAFHenrique Paupitz NuceraAinda não há avaliações
- A DOBRA DO BARROCO em LeibnizDocumento1 páginaA DOBRA DO BARROCO em Leibnizmarcelox2Ainda não há avaliações
- Uma Historia Social FINALDocumento329 páginasUma Historia Social FINALJúlia CarvalhoAinda não há avaliações
- Renascimento 9anoDocumento3 páginasRenascimento 9anomarquesjehhAinda não há avaliações
- Catálogo de LivrosDocumento28 páginasCatálogo de LivrosVanessa Costa da SilvaAinda não há avaliações
- Estudo DirigidoDocumento8 páginasEstudo DirigidoNathan FerreiraAinda não há avaliações
- Artes-Visuais-Integrado-Completo - IfmaDocumento67 páginasArtes-Visuais-Integrado-Completo - IfmaRawan Victor De Jesus ValeAinda não há avaliações
- Filosofia, Aprendizagem, Experiência.Documento23 páginasFilosofia, Aprendizagem, Experiência.Carolyn Anderson100% (2)
- Trabalho de Serigrafia (Final)Documento14 páginasTrabalho de Serigrafia (Final)Bianca ChavesAinda não há avaliações
- ARTE MOCAMBICANA Pintura Arquitetura e e PDFDocumento26 páginasARTE MOCAMBICANA Pintura Arquitetura e e PDFJosué CampiraAinda não há avaliações
- Relatório Individual de Acordo Com A BNCCDocumento6 páginasRelatório Individual de Acordo Com A BNCCtatianisantos03Ainda não há avaliações
- Álvaro Lapa. Retrospective, Por. Visao, 22. 09.1994Documento2 páginasÁlvaro Lapa. Retrospective, Por. Visao, 22. 09.1994Ruth RosengartenAinda não há avaliações
- Plano de Estagio - 2 Lic - Artes VisuaisDocumento18 páginasPlano de Estagio - 2 Lic - Artes VisuaisSHEILA ANDRÉ ROBERTOAinda não há avaliações
- Leo Spitzer Analise Ode Sobre Uma Urna GregaDocumento18 páginasLeo Spitzer Analise Ode Sobre Uma Urna GregaLuís Adriano LimaAinda não há avaliações
- Feng ShuiDocumento86 páginasFeng Shuijcsilva da SilvaAinda não há avaliações
- Evola Julius - A Tradição HerméticaDocumento129 páginasEvola Julius - A Tradição HerméticaAnderson Porto80% (5)
- Resenha - Natacha - Quando A Forma Se Transformou em Atitude e AlémDocumento3 páginasResenha - Natacha - Quando A Forma Se Transformou em Atitude e AlémNatacha SouzaAinda não há avaliações
- O Poder de Soltar PDFDocumento29 páginasO Poder de Soltar PDFHernani Garcia83% (6)
- Personagens e Narradors Do Romance Brasileiro Contemporaneo Regina DalcastagneDocumento18 páginasPersonagens e Narradors Do Romance Brasileiro Contemporaneo Regina DalcastagneWanderlan AlvesAinda não há avaliações
- Concurso de Bolsas 6o Ano Ensino Fundamental26180227Documento17 páginasConcurso de Bolsas 6o Ano Ensino Fundamental26180227Erica Costa Viqueti GamesAinda não há avaliações
- Mmfarina, Cristiélen Ribeiro MarquesDocumento21 páginasMmfarina, Cristiélen Ribeiro MarquesJúlia AnastáciaAinda não há avaliações
- Atividade Primeira Fase Do ModernismoDocumento3 páginasAtividade Primeira Fase Do Modernismosemlimites097100% (1)
- Gilberto Felisberto Vasconcelos Machado de Assis o Crime o CriminosoDocumento27 páginasGilberto Felisberto Vasconcelos Machado de Assis o Crime o CriminosoAloma DiasAinda não há avaliações
- Mh8 Matriz 52Documento2 páginasMh8 Matriz 52Mafalda ReisAinda não há avaliações
- Racismo estrutural e aquisição da propriedadeNo EverandRacismo estrutural e aquisição da propriedadeAinda não há avaliações
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- Acordos Espirituais: O despertar da missãoNo EverandAcordos Espirituais: O despertar da missãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (13)
- Guia Prático Para Elaboração De Uma Política De PrivacidadeNo EverandGuia Prático Para Elaboração De Uma Política De PrivacidadeAinda não há avaliações
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (9)
- SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: Percepção de Docentes e DiscentesNo EverandSIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: Percepção de Docentes e DiscentesAinda não há avaliações
- O Perfeito Sacrifício: O significado espiritual do dízimo e das ofertasNo EverandO Perfeito Sacrifício: O significado espiritual do dízimo e das ofertasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Como ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralNo EverandComo ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralAinda não há avaliações
- Mulheres poderosas não esperam pela sorte: Saiba como encontrar o homem certo e fazer ele se apaixonar por vocêNo EverandMulheres poderosas não esperam pela sorte: Saiba como encontrar o homem certo e fazer ele se apaixonar por vocêNota: 4 de 5 estrelas4/5 (6)
- Ressignificando sua vida #AlimentaçãoSaudávelNo EverandRessignificando sua vida #AlimentaçãoSaudávelNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- Gestão de Portfólio: Hipótese Fractal na Construção de Carteiras de Ações no BrasilNo EverandGestão de Portfólio: Hipótese Fractal na Construção de Carteiras de Ações no BrasilNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- Os 6 Segredos Da Renda Extra - Dicas Práticas Para Ganhar Dinheiro Agora!No EverandOs 6 Segredos Da Renda Extra - Dicas Práticas Para Ganhar Dinheiro Agora!Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Teoria do Direito Contemporânea: Uma análise das teorias jurídicas de Robert Alexy, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Klaus Günther e Robert BrandomNo EverandTeoria do Direito Contemporânea: Uma análise das teorias jurídicas de Robert Alexy, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Klaus Günther e Robert BrandomAinda não há avaliações
- O que é comunismo, capitalismo, esquerda e direita?No EverandO que é comunismo, capitalismo, esquerda e direita?Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (40)
- POLÍTICAS EDUCACIONAIS, CURRÍCULO E DOCÊNCIA: DEBATES CONTEMPORÂNEOSNo EverandPOLÍTICAS EDUCACIONAIS, CURRÍCULO E DOCÊNCIA: DEBATES CONTEMPORÂNEOSNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Pense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNo EverandPense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNota: 4 de 5 estrelas4/5 (27)
- O Cristão e a Política: Descubra Como Vencer a Guerra CulturalNo EverandO Cristão e a Política: Descubra Como Vencer a Guerra CulturalNota: 4 de 5 estrelas4/5 (12)
- Método Quantico. O Código Secreto Para Ganhar Dinheiro.No EverandMétodo Quantico. O Código Secreto Para Ganhar Dinheiro.Nota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (24)
- Cadeia De Hábitos: Descubra 97 Hábitos Simples Que Podem Mudar Sua VidaNo EverandCadeia De Hábitos: Descubra 97 Hábitos Simples Que Podem Mudar Sua VidaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (10)
- Poder & Manipulação: Como entender o mundo em vinte lições extraídas de "O Príncipe", de MaquiavelNo EverandPoder & Manipulação: Como entender o mundo em vinte lições extraídas de "O Príncipe", de MaquiavelNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (11)