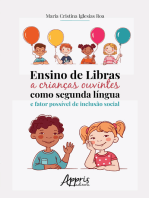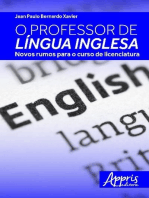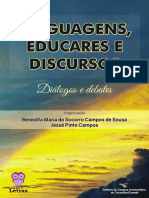Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Praticas Discursiva... Volume VI
Praticas Discursiva... Volume VI
Enviado por
Lucrécio Araújo de Sá JúniorTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Praticas Discursiva... Volume VI
Praticas Discursiva... Volume VI
Enviado por
Lucrécio Araújo de Sá JúniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Coleção Ciências da Linguagem
Aplicadas ao Ensino - Volume VI
PRÁTICAS DISCURSIVAS
E ENSINO DE LÍNGUA(GEM)
Organizadores
Lucrécio Araújo de Sá Júnior
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
Natal, 2013
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 1 28/05/2014 17:16:45
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 2 28/05/2014 17:16:45
Coleção Ciências da Linguagem
Aplicadas ao Ensino - Volume VI
PRÁTICAS DISCURSIVAS
E ENSINO DE LÍNGUA(GEM)
Organizadores
Lucrécio Araújo de Sá Júnior
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
Natal, 2013
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 3 28/05/2014 17:16:45
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
REITORA REVISORA
Ângela Maria Paiva Cruz Nara Juscely Minervino de
Carvalho Marcelino
VICE-REITORA
Maria de Fátima Freire Melo Ximenes CAPA
Ismênio Souza
DIRETORA DA EDUFRN
Margarida Maria Dias de Oliveira EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Quatro Z Dois
EDITOR
Helton Rubiano de Macedo PRÉ-IMPRESSÃO
Jimmy Free
SUPERVISÃO EDITORIAL
Alva Medeiros da Costa SUPERVISÃO EDITORIAL
Alva Medeiros da Costa
CONSELHO EDITORIAL
Cipriano Maia de Vasconcelos (Presidente) SUPERVISÃO GRÁFICA
Ana Luiza Medeiros Francisco Guilherme de Santana
Humberto Hermenegildo de Araújo
Herculano Ricardo Campos
Mônica Maria Fernandes Oliveira
Tânia Cristina Meira Garcia
Técia Maria de Oliveira Maranhão
Virgínia Maria Dantas de Araújo
Willian Eufrásio Nunes Pereira
Divisão de Serviços Técnicos
Catalogação da publicação na Fonte. UFRN/Biblioteca Central Zila Mamede
Práticas discursivas e ensino de língua(gem) / Lucrécio Araújo de Sá Júnior;
Tatyana Mabel Nobre Barbosa (Orgs). – Natal, RN : EDUFRN, 2014.
(Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino; v. VI)
249 p.
ISBN 978-85-425-0031-8
1. Práticas discursivas. 2. Ensino. 3. Linguagem
RN/UF/BCZM 2013/00 CDD 000
CDU 000.00/00
Todos os direitos desta edição reservados à EDUFRN – Editora da UFRN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 | Campus Universitário
Lagoa Nova | 59.078-970 | Natal/RN | Brasil
e-mail: edufrn@editora.ufrn.br | www.editora.ufrn.br
Telefone: 84 3215-3236 | Fax: 84 3215-3206
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 4 28/05/2014 17:16:45
APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO
Com muita satisfação, o Grupo de Estudos Linguísticos do
Nordeste (GELNE) traz a público a coleção Ciências da Linguagem
Aplicadas ao Ensino. Apresentam-se aqui reflexões no âmbito da lin-
guística teórica e aplicada e da literatura, cujo objetivo principal é discutir
questões sobre o ensino de Língua(gens).
Nos volumes desta colecão, publicam-se capítulos que materiali-
zam temas abordados pelos conferencistas e pelos expositores das mesas-
-redondas que integraram a programação da 5ª edição do Encontro das
Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino (ECLAE), realizada em
Natal no período de 11 a 15 de outubro de 2011.
Nesse contexto, importante se faz destacar que o ECLAE foi ide-
alizado e realizado, em 2001, pela diretoria do GELNE, gestão 2000-
2002, então sediada na Universidade Federal do Ceará, sob a presidência
da Profa. Dra. Maria Elias Soares. Em continuidade ao projeto, foram
realizadas mais quatro edições do Encontro: na Universidade Federal da
Paraíba, em 2003, sob a presidência do Prof. Dr. Dermeval da Hora; na
Universidade Federal de Alagoas, em 2007, sob a presidência da Profa.
Dra. Maria Denilda Moura; na Universidade Federal do Piauí, em 2009,
sob a presidência da Profa. Dra. Maria Auxiliadora Ferreira Lima; e na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2011, sob a presidência
do Prof. Dr. Marco Antonio Martins. Na sua quinta edição, o Encontro
contou com a participação de mais de mil sócios do GELNE inscritos com
apresentação de trabalho, em diferentes áreas temáticas.
A coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
constitui-se de sete volumes, assim organizados: no volume I, reú-
nem-se capítulos voltados ao Ensino de Gramática; no volume II,
discute-se o Ensino de Língua Portuguesa tendo em vista as teorias
dos gêneros textuais/discursivos; no volume III apresentam-se as con-
tribuições da Linguística Textual ao Ensino de Língua Portuguesa;
no volume IV, diferentes capítulos sistematizam ref lexões sobre o
Ensino da Leitura e da Escrita; no volume V, põem-se em tela impor-
tantes contribuições da Sociolinguística e da Linguística Histórica
para o Ensino de Língua Portuguesa; no volume VI, são abordadas
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 5 28/05/2014 17:16:45
questões sobre Práticas discursivas várias e o Ensino de Língua(gem); e, no
volume VII, congregam-se capítulos voltados ao Ensino de Literatura.
Temos certeza de que esta coleção constitui uma obra de refe-
rência na qual se apresenta um rico panorama das recentes discussões
sobre o ensino de Língua e Literatura. Trata-se de um material escrito
por pesquisadores especialistas de diferentes universidades brasileiras e
do exterior, que conduzem suas reflexões valendo-se de vertentes teó-
ricas várias consolidadas no cenário da área de Letras e Linguística. É
indubitável que estas publicações trazem uma importante contribuição
para a formação de professores nos cursos de Letras, assim como para o
exercício de professores nos ensinos Fundamental e Médio.
Natal, agosto de 2013.
Marco Antonio Martins
Maria das Graças Soares Rodrigues
Editores da coleção ECLAE
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 6 28/05/2014 17:16:45
SUMÁRIO
Apresentação ................................................................................................9
CAMINHOS PARA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
Abordagem sociológica e comunicacional do discurso,
uma proposta para análise crítica do discurso
Cleide Emília Faye Pedrosa .....................................................................15
DISCURSO, IMPRENSA E ENSINO
A análise crítica do discurso na sala de aula de graduação
Anna Elizabeth Balocco ............................................................................63
Transmutação dos gêneros: o fenômeno em editoriais de
jornal e possíveis implicações para a sala de aula
Aurea Zavam ................................................................................................83
Os gêneros na composição do jornal O Carapuceiro do
século XIX: questões de pesquisa e ensino
Valéria Severina Gomes ..........................................................................111
A imagem da mulher na imprensa paulista do século XIX:
Um estudo sobre a revista A Mensageira
Maria Lúcia da Cunha Victorio de Oliveira Andrade ......................139
LINGUAGEM E EDUCAÇÃO ESCOLAR
Relação entre língua e identidade: reflexões sobre os saberes
negociados em um contexto escolar multilíngue
Cibele Krause-Lemke ...............................................................................169
Política linguística para as línguas indígenas
Aldir Santos de Paula e Carla Maria Cunha ......................................197
Leitura e escrita em livros didáticos de língua portuguesa e de
matemática dos anos iniciais: repercussões para o ensino
Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim Noronha ...221
Narrativas do cotidiano no ambiente escolar
Lucrécio Araújo de Sá Júnior ...............................................................241
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 7 28/05/2014 17:16:46
8
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 8 28/05/2014 17:16:46
APRESENTAÇÃO
Neste livro, o leitor encontrará análises das práticas discursivas
em diferentes contextos educacionais, assim como propostas de aplica-
ção e de teorização da Análise Crítica do Discurso (ACD). Os textos
– decorrentes do V Encontro Nacional de Ciências da Linguagem, rea-
lizado pela UFRN, em 2011 - aqui se estruturam em três grandes eixos
temáticos: proposição teórica em torno da Análise Crítica do Discurso;
análises de diferentes gêneros da imprensa e de suas implicações para
o ensino de língua; estudo acerca das práticas linguísticas em diversos
contextos escolares.
O quadro de autores que compõem este volume é representa-
tivo de pesquisas desenvolvidas em sete instituições de ensino supe-
rior: Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal
do Ceará; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade
de São Paulo; Universidade Estadual do Centro-Oeste; Universidade
Federal de Alagoas e Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
de que resultam contribuições para o universo acadêmico e escolar.
Professores universitários, estudantes de graduação e professores da
educação básica encontrarão subsídios teóricos para pesquisas no
campo da ACD, de modo a conhecer caminhos de análise na área, a
partir de uma proposta sociológica e comunicacional do discurso.
No âmbito teórico-metodológico, os textos jornalísticos são
focalizados como objetos de análise sob diferentes vieses: ao serem
apresentados conceitos da ACD, considerados básicos para a sala de
aula de graduação em língua estrangeira e para a análise da notícia de
modo crítico e pertinente à formação reflexiva do professor de línguas;
a partir do estudo do conceito de transmutação dos gêneros em edito-
riais e a implicação desse fenômeno para o ensino dos gêneros textuais;
e a partir da pesquisa dos gêneros da imprensa do século XIX, seja para
apresentar, com base num estudo diacrônico, as marcas de mudança e
de permanência desses textos ao longo do tempo, a fim de analisar as
práticas sociais de leitura e de escrita da época, seja para apresentar a
imagem da mulher construída pela imprensa desse século.
Na esfera de pesquisas que focalizam a educação escolar, os tex-
tos discutem como na realidade multilíngue de ensino são construídas
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 9 28/05/2014 17:16:46
e negociadas as identidades; apresentam as políticas e planejamento
linguístico para povos indígenas; analisam o quadro sociolinguís-
tico de algumas línguas indígenas e discutem os diferentes modelos
de escola voltados para esses povos; analisam a leitura e a escrita em
livros didáticos voltados aos anos iniciais do ensino fundamental, que
são destinados a um único público de alunos e de professores, nas áreas
de língua portuguesa e de matemática, demonstrando a dificuldade
de articulação de um projeto de ensino coeso, diante de concepções
divergentes acerca da linguagem; por fim, o último trabalho discute a
narrativa como um importante instrumento de reflexão das dinâmicas
relacionais no contexto do cotidiano da escola.
Nesse sentido, esta publicação se constitui numa contribui-
ção importante na área dos estudos da linguagem, sejam pelas suas
contribuições teórico-metodológicas, pelo conjunto de dados, ou
pelas contribuições para o ensino de língua(gem).
Natal-RN, 12 de março de 2013.
Lucrécio Araújo de Sá Júnior
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 10 28/05/2014 17:16:46
CAMINHOS PARA ANÁLISE
CRÍTICA DO DISCURSO
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 11 28/05/2014 17:16:46
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 12 28/05/2014 17:16:46
ABORDAGEM SOCIOLÓGICA E COMUNICACIONAL
DO DISCURSO, UMA PROPOSTA PARA
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO1*
Cleide Emília Faye Pedrosa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
*1 Pelas leituras, sugestões e críticas, agradeço à Profa. Dra. Anna Elizabeth Balocco;
ao Prof. Dr. Orlando Vian Jr.; ao Prof. Mst Paulo Sérgio Santos; à Profa. Dra. Taysa
Damaceno e à jornalista e Ma. Leticia Gambetta.
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 13 28/05/2014 17:16:46
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 14 28/05/2014 17:16:46
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
INTRODUÇÃO
A Análise Crítica do Discurso (ACD) vem se desenvolvendo
no Brasil há mais de três décadas. Grandes contribuições – desde a
introdução dessa perspectiva entre nós por Izabel Magalhães – marcam
as pesquisas no cenário nacional e, como sinaliza a autora em nota de
rodapé (MAGALHÃES, 2004), ela introduziu esta área de estudos no
Brasil na década de 1980.
Resende e Ramalho (2011, p. 18), por outro lado, sustentam que
a ACD, na América Latina, apresentou avanços quanto a sua difusão,
à geração de abordagens próprias, aos questionamentos de abordagens
já constituídas e quanto à introdução de avanços, entre outras questões.
Vejo a contribuição da ACD no Brasil mais em termos de pes-
quisas. Falta, penso, uma contribuição teórica nacional como soma aos
já consagrados subsídios dados pelos fundadores - e mesmo seguidores
– dessa teoria em outros países.
Desse modo, o objetivo maior do presente capítulo é documen-
tar o que chamamos de “Abordagem Sociológica e Comunicacional do
Discurso” (ASCD)1, e a exposição tem por finalidades: fundamentar
a abordagem inovadora; referendar algumas áreas de base, para a sus-
tentação dessa abordagem; oferecer sugestões de caminhos de análise.
Alertamos, contudo, ao leitor, sobre o status ainda embrionário em que
se encontra nossa proposta para os estudos do discurso.
1
Este capítulo é uma espécie de documento, no qual apresentamos aspectos norteadores que
baseiam a ABORDAGEM SOCIOLÓGICA E COMUNICACIONAL DO DISCURSO,
fundada por nós dentro da linha de pesquisa Análise Crítica do Discurso, do Grupo de
Pesquisa Estudos do Texto e Discurso (GETED), da UFRN. Contribuíram com dados
para elaboração deste capítulo todos os meus orientandos, a quem agradeço (IC: Rafael
Cruz, Danielle Brito; Mestrado: Leticia Gambetta Abella, Paulo Sérgio Santos, João
Paulo Cunha, Rodrigo Slama; Doutorado: Derli Machado, Taysa Damaceno, Sílvio Luis
da Silva, João Batista Júnior e Guianezza Meira). Eles fazem parte do momento histórico
(presencial e virtual) em que foi anunciada a criação da ASCD, em 20 de outubro de
2011, na UFRN, pelo Programa de Pós-graduação e linguagem (PPgEL), na aula de
Tópico V, Linguagem e Globalização, ministrada no semestre 2011.2. Agradeço a Deus.
15
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 15 28/05/2014 17:16:46
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
As partes serão desenvolvidas atendendo a algumas discus-
sões e tomadas de posicionamentos, como: abordagem e definição
dos termos Análise Crítica do Discurso, Análise de Discurso Crítica
e Estudos Críticos do Discurso; origem da ACD; identidade da teoria;
posicionamentos e influências; as correntes; a “abordagem sociológica
e comunicacional do discurso” (ASCD) e, por fim, a proposta de orien-
tações para análise a partir desta perspectiva.
1. A TRADUÇÃO DE CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
Diferentemente da identificação de seu nome no exterior,
Critical Discourse Analysis (CDA), especialmente nos países de lín-
gua inglesa, aqui entre nós veicularam, pelo menos, duas traduções
diferentes do termo (e demarcação de territórios acadêmicos, grupos
de pesquisas) quanto ao seu uso: Análise Crítica do Discurso (ACD) e
Análise de Discurso Crítica (ADC). Recentemente, também já circula
Estudos Críticos do Discurso (ECD), por influência da tradução de
uma coletânea de artigos de van Dijk (2008), organizado por Hoffnagel
e Falcone (2008).
Todo o quadro proposto será exposto por etapas. Começaremos
pela última aqui elencada, ou seja, o termo cunhado por van Dijk (2008)
no primeiro capítulo de sua obra. No capítulo, o autor argumenta que a
mudança de Critical Discourse Analysis (CDA) para Critical Discourse
Studies (CDS) se justifica por uma série de razões consideradas óbvias
pelo analista, às quais especificaremos: os ECD não são um método
de análise; os ECD usam qualquer método considerado adequado ao
tratamento do objeto, da natureza dos dados estudados, dos interes-
ses e qualificações do pesquisador, entre outros métodos considerados
comuns aos estudos do discurso de modo geral (VAN DIJK, 2008, p.
10, 11).
A Tradução (e uso) de Análise de Discurso Crítica (ADC) será
defendida por alguns autores e algumas autoras no cenário nacional,
dos quais, indicaremos Izabel Magalhães (2004 e 2005). A pesquisa-
dora (MAGALHÃES, 2005) argumenta que, mesmo identificando o
uso da tradução Análise Crítica do Discurso em Pedro (1997), opta por
Análise de Discurso Crítica, tomando como tese o fato de a tradição
16
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 16 28/05/2014 17:16:46
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
do Brasil adotar “análise de discurso”, assim, acrescenta-se “crítica” à
nova teoria.
A expressão ACD, como preferência de tradução para a lín-
gua portuguesa do Brasil, é utilizada por Célia Magalhães (2001),
por Hoffinagel e Falcone, na tradução da obra van Dijk (2008) e por
Possenti, em tradução de Maingueneau (2010). Em tradução de portu-
guês europeu, encontramos o termo ACD nos autores que participam
da obra compilada por Pedro (1997): Gouveia, Pedro e Mattos-Parreira.
Ainda nesta linha, pode-se acrescentar (devido à proximidade dos idio-
mas) a tradução para a língua espanhola do termo por Análisis Crítico
del Discurso, em Wodak e Meyer (2003).
Essa tela de nomenclaturas nos conduz ao primeiro posiciona-
mento, ou seja, à escolha pelo uso do termo Análise Crítica do Discurso.
Utilizamos como principal argumento o fato de tanto em português
europeu quanto em uma língua irmã (Espanhol) o termo receber essa
tradução. Também poderíamos acrescentar o fato de, mesmo no por-
tuguês do Brasil, alguns tradutores preferirem essa versão. Quanto ao
aspecto da nossa tradição ser em Análise de Discurso (I. Magalhães,
2004 e 2005), deduzindo-se que o próximo estudo se anunciaria como
Análise de Discurso Crítica, creio que o próprio livro de Fairclough
([2001] 2008), em tradução para nós pela Izabel Magalhães, resolveria
a questão, pois anuncia que a AD francesa é crítica (Fairclough, 2001,
p. 51). O fato de não explicitar o termo não a torna não-crítica. Desse
modo, teríamos Análise de Discurso (Crítica) e Análise de Discurso
Crítica (?). Destaco, no entanto, que concordo com a autora (este sem-
pre foi, também, meu posicionamento), quando afirma que o uso de
um termo ou de outro não “seja problema para o crescimento da área”.
2. ORIGEM: DIÁLOGOS E INFLUÊNCIAS
As décadas de 1960 e 1970 se consagram como períodos de
grandes compromissos com a “leitura” do social. As análises sobre as
mudanças sociais passam a ser foco de estudos em que se tomavam o
discurso – e o texto – como objeto para identificar o papel da linguagem
na estruturação das relações de poder na sociedade (FAIRCLOUGH,
2008). Entre esses estudos, assinalamos a Análise de Discurso Francesa
17
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 17 28/05/2014 17:16:46
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
(AD) e a Linguística Crítica (LC). Na Grã-Bretanha, a LC se desenvol-
veu ao articular as teorias e os métodos de análise textual da Linguística
Sistêmico-Funcional (LSF), de Halliday, com teorias sobre ideologias.
Na França, a AD se firmou quando Pêcheux e Dubois desenvolveram
uma abordagem da análise de discurso, tendo por base, especialmente,
a reelaboração da teoria marxista sobre a ideologia, feita por Althusser
(PEDROSA, 2005, 2008, passim).
As duas vertentes recebem críticas de Fairclough (2008). Ele
afirma que a LC terminou por destacar a análise linguística, prejudi-
cando o tratamento dos conceitos de ideologia e de poder, enquanto a
AD, por sua vez, faz o caminho inverso: enfatiza a perspectiva social,
não contemplando a análise linguística. No posicionamento do autor,
ambas apresentam uma visão estática das relações de poder, realçando o
“papel desempenhado pelo amoldamento ideológico dos textos linguís-
ticos na reprodução das relações de poder existentes” (FAIRCLOUGH,
2008, p. 20).
Nesse quadro, a ACD se ocupa, fundamentalmente, de análi-
ses que dão conta das relações de dominação, discriminação, (abuso
de) poder e controle, na forma como elas se manifestam através da
linguagem (WODAK, 2003). Nessa perspectiva, a linguagem é um
meio de dominação e de força social, servindo para legitimar as rela-
ções de poder estabelecidas institucionalmente. Para esse campo, são
necessárias as descrições e teorizações dos processos e das estruturas
sociais, responsáveis pela produção de um texto “como uma descrição
das estruturas sociais e os processos nos quais os grupos ou indivíduos,
como sujeitos históricos, criam sentidos em sua interação com textos”
(WODAK, 2003, p. 19, tradução nossa).
Mesmo considerando os aspectos de divergências entre AD
e ACD, principalmente na fase inicial da ACD, alguns estudos apon-
tam seus pontos de encontro, como, por exemplo, no Brasil, Ruchkys
e Araújo (2001). Cremos que o grande diferencial, na atualidade, entre
AD e ACD, esteja mais focado em categorias escolhidas para a análise
do corpus de pesquisa e as áreas com as quais se estabelecem diálogos.
A julgarmos pelas referências, tanto a AD quanto a ACD rece-
bem influência de autores como Pêcheux, Althusser e Foucault. De
Pêcheux, Fairclough (2008, p. 51, 55) ressalta a relação entre discurso
18
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 18 28/05/2014 17:16:46
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
e mudança social, a combinação de uma teoria social do discurso com
método de análise textual e o fato de considerar a linguagem como
forma material da ideologia. Como característica divergente, a forma
como a AD trata os textos como evidências para hipóteses sobre
Formações Discursivas (FDs). A partir delas, Fairclough (2008, p. 55)
critica Althusser, por sustentar que os sujeitos são posicionados den-
tro das FDs como forma de dominação ideológica. No que se refere
a Foucault, Fairclough, na mesma obra, enfatiza que sua contribui-
ção para uma teoria social do discurso, relacionando discurso, poder
e sujeito, é vital para os estudos na área. No entanto, diferencia que
em uma Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), análise
defendida por Fairclough, a preocupação é com qualquer discurso: dis-
curso da sala de aula, mídia, conversação, etc; enquanto em Foucault,
a análise é mais abstrata e voltada para um tipo de discurso especifico
(medicina, psiquiatria, economia).
Pelos caminhos da LC, Fairclough ([2001], 2008) ressalta o
papel dos pesquisadores de unir um método de análise linguístico-
-textual, recorrendo à LSF, com uma teoria social do funcionamento
da linguagem articulada aos processos políticos e ideológicos. O autor
ainda destaca que, mesmo reconhecendo o compromisso da LC na
interpretação crítica de textos, seus analistas dão pouca atenção aos
processos e problemas de interpretação. Já Wodak (2003, p. 17) afirma
que os termos LC e ACD são intercambiáveis, afirmação veemente-
mente rejeitada por Gouveia (2012), quando diz que “falar de linguís-
tica crítica não é o mesmo que falar de semiótica social ou de ACD,
como, de um modo bastante confuso, fazem certos autores. Alguns
desses, com responsabilidades na ACD (cf., por exemplo, WODAK,
1996)”. Referindo-se ainda a esta articulação entre ACD e LC, o pró-
prio Gouveia, interpretando um posicionamento de van Dijk, defende:
Ao afirmar, como fizera relativamente às outras disciplinas,
que a linguística crítica e a semiótica social são linhas de in-
vestigação no interior da ACD, van Dijk legitima, mau-grado
os seus objectivos (mas muito bem, quanto a mim), a separação
dos três projectos. Van Dijk reconhece, assim, a existência de
diferenças entre eles (GOUVEIA, 2012, p. 13).
19
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 19 28/05/2014 17:16:46
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Diante disto, assumimos que, embora a LC e a ACD trabalhem
em uma esfera crítica, assim como a própria AD, elas apresentam pers-
pectivas de análises diferenciadas. Recorremos e aceitamos os argu-
mentos já expostos aqui, tendo como fonte Fairclough ([2001], 2008).
3. ASPECTOS IDENTITÁRIOS (FRAGMENTADOS) DA ACD
Muito se questiona se a ACD é um método, uma teoria, uma
metodologia, um posicionamento ou uma disciplina. Reconhecemos as
divergências quanto a esse aspecto. Por exemplo, van Dijk (2008, p. 10)
diz, tacitamente, que os Estudos Críticos do Discurso (ECD, utiliza este
termo em substituição a ACD) não são um método; reafirma que não
existe tal método, considerando que “os ECD usam qualquer método
que seja relevante para os objetivos dos seus projetos de pesquisa e tais
métodos são, em grande parte, aqueles utilizados em estudos do dis-
curso em geral”. Assim, o autor considera mais coerente afirmar que
assumimos um “posicionamento” ou “postura crítica”.
A ACD “é uma disciplina no interior das ciências humanas e
sociais”, anuncia Maingueneau (2010, p. 72), e explica: disciplina supõe
“a existência de uma comunidade de pesquisadores que partilham inte-
resses comuns, trocam informações, participam das mesmas atividades
e participam das mesmas redes de remissões bibliográficas”.
Alguns autores preferem falar em metodologia para ACD,
e não em método. Aqui no Brasil, Célia Magalhães (2001) destaca a
metodologia descritiva/interpretativa assumida pela ACD. Izabel
Magalhães resume o posicionamento quanto à questão, afirmando:
“ADC se refere à metodologia e TCD (Teoria Crítica do Discurso), à
teoria” (MAGALHÃES, 2004, s\n). Este nos parece ser um posiciona-
mento coerente.
Trago, nesse ponto, algumas das colocações de Pedrosa (2008,
pp. 152-159). Os pesquisadores em ACD “orientam para que os méto-
dos utilizados sirvam para vincular a teoria com a observação”. Porém,
destaca-se que, como vários enfoques norteiam suas pesquisas, “a
metodologia adotada, como não poderia deixar de ser, seguirá, tam-
bém, vários caminhos”.
20
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 20 28/05/2014 17:16:46
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Assim, por considerarmos a variedade de enfoques ou corren-
tes em ACD, afirmamos que não existe uma única forma de obtenção
de dados que lhe seja específica. Mesmo assim, poderíamos, resumida-
mente, apresentar os seguintes passos metodológicos (FAIRCLOUGH
in PEDROSA, 2008, p. 155):
a. primeiras seleções de dados;
b. primeiras análises;
c. identificação dos indicadores para conceitos concretos;
d. elevação dos conceitos a categorias;
e. reunião de novos dados com base nos primeiros resultados.
O passo constante na letra “d” - elevação dos conceitos a cate-
gorias - será de vital importância para a indicação das categorias para
a ASCD, objetivo primeiro deste capítulo.
A seguir, discorremos, especificamente, sobre algumas cor-
rentes e seus pesquisadores, no exterior e no Brasil, como caminho
para anunciar nossa abordagem.
4. CORRENTES DE PESQUISA: ACD E SEUS REPRESENTANTES
ESTRANGEIROS E NACIONAIS
Desde a primeira reunião, na década de 1990, em Amsterdam,
o pequeno grupo de analistas, internacional e heterogêneo, denomina-
dos de críticos - Fairclough (Lancaster); van Dijk (Amsterdam); Kress
(Londres); van Leeuwen (Londres); Wodak (Viena) – consolidou o
novo campo de investigação. Essa consolidação se deu mais pelo fruto
de um agendamento “e programa de investigação que pela existência de
teorias e metodologias comum”, defende Wodak (2003, p. 22).
Com base em alguns autores (PEDROSA, 2008, 2010;
RESENDE, 2009), podemos afirmar que Fairclough propõe uma articu-
lação entre Linguística Sistêmico-Funcional e Sociologia (Fairclough,
2003); van Dijk (1989) estabelece diálogo entre Linguística Textual e
Psicologia Social; enquanto Wodak direciona suas pesquisas para a
Sociolinguística e a História. Apoiando-nos em Meyer (2003), pode-
mos destacar as correntes que surgiram devido às escolhas do quadro
teórico-metodológico assumido por alguns pesquisadores em ACD: as
21
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 21 28/05/2014 17:16:46
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
teorias sobre a sociedade e o poder – com base na tradição de Foucault
–, com Jäger e Fairclough; a microssociológica, com Scollon; e as teo-
rias do conhecimento social, com van Dijk, entre outras.
Abaixo, traçaremos um mapa de algumas correntes e seus
representantes:
4.1. Pesquisadores internacionais
(a) Corrente microssociológica: Scollon
Engloba em seu campo de pesquisa: o discurso mediado (El
análisis mediato del discurso – AMD), o discurso multimodal, a socio-
linguística da leitura e escrita e as relações entre as tecnologias da
comunicação e a analise sociolinguística (WODAK & MEYER, 2003).
Esta corrente assume que “a prática discursiva é uma forma a mais de
prática social, e não a forma fundante ou constitutiva da prática a partir
da qual surgirá o resto da sociedade e das relações de poder resultan-
tes” (MEYER, 2003, p. 208)
(b) Corrente sociocognitiva: van Dijk
A teoria a que se filia também é conhecida por teoria do conhe-
cimento social. Nos anos 1980, centralizou suas pesquisas nos estudos
de notícias publicadas na imprensa e na reprodução do racismo, através
de vários tipos de discursos. Van Dijk e Kintsch “têm desenvolvido
um modelo cognitivo da compreensão do discurso pelos indivíduos e
o têm feito evoluir gradualmente, até convertê-lo em vários modelos
cognitivos que explicam a construção do significado no plano societal”
(WODAK, 2003, p. 25, grifo nosso). Seu foco está na tríade: discurso,
cognição e sociedade.
(c) abordagem histórico-discursiva: Ruth Wodak
Logo no início de seus trabalhos, Wodak marcou pesquisas
com a corrente sociocognitiva da linguagem. Assim como van Dijk, a
professora trabalhava com o plano sociocognitivo. Atualmente, Wodak
(e Reisigl) tem desenvolvido estratégias de análises em quatro fases:
estabelecimento dos conteúdos específicos; investigação das estraté-
gias discursivas; exame dos instrumentos linguísticos; exploração
das realizações linguísticas específicas que dependem do contexto
22
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 22 28/05/2014 17:16:46
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
(MEYER, 2003). Entre suas publicações, destaca-se a organização
do livro Métodos de análisis crítico del discurso, com Meyer, no qual
reúne nomes importantes da ACD: Meyer, Jäger, van Dijk, Fairclough e
Scollon. Na versão atualizada desse livro (WODAK & MEYER, 2009),
ela se posiciona em uma abordagem histórica, entendendo que uma
teoria do discurso crítica só seria possível em um contexto histórico.
Assim, procura aplicar ferramentas conceituais aos problemas sociais
específicos.
(d) Corrente social da linguagem: Kress
Seu interesse pela crítica em linguagem passa primeiro por
seus trabalhos em Linguística Crítica. Kress (WODAK, 2003) aponta
algumas considerações sobre essa nova perspectiva: a linguagem é um
fenômeno social; indivíduos, instituições e grupos sociais possuem sig-
nificados e valores específicos que se expressam de forma sistemática
por meio da linguagem; os textos são as unidades relevantes da lingua-
gem na comunicação; leitores ou ouvintes não são receptores passivos
em sua relação com os textos; existem semelhanças entre a linguagem
e a ciência e a linguagem de instituições (PEDRO, 1997).
(e) Corrente social da linguagem: Theo van Leeuven
Van Leeuven distingue dois tipos de relações entre o discurso
e as práticas sociais: 1º) o discurso como instrumento de poder e de
controle; 2º) o discurso como instrumento da construção social da rea-
lidade. Tem um excelente estudo sobre os atores sociais, muito refe-
rendados, apresentando uma classificação bem extensa com exemplos
elucidativos que sustentam a classificação (PEDRO, 1997).
(f) Corrente social da linguagem: Siegfried Jäger
Investiga nas áreas: atos de fala sociolinguística; teoria e aná-
lise do discurso. As temáticas abordadas, que justificam a relação
‘sociedade e poder’, englobam extremismo de direita, racismo, milita-
rismo e energias de biomassa.
(g) Corrente social da linguagem: Norman Fairclough
Norman Fairclough tem escrito extensivamente sobre a ACD.
Interessa-se pelos estudos críticos e interdisciplinares sobre a prática
discursiva e a sua relação com a mudança social e cultural. Atualmente,
23
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 23 28/05/2014 17:16:46
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
o autor trabalha com a língua do novo capitalismo, uma introdução à
análise textual e da interação para investigadores sociais, que aborda,
também, a teorização do discurso no campo do realismo crítico. Ele
define a relação entre linguagem e sociedade, de acordo com a teoria
linguística multifuncional de Halliday e com o conceito de ordem do
discurso de Foucault. Apresenta, como proposta para estudar o dis-
curso, um modelo que reúne análise linguística e teoria social - a Teoria
Social do Discurso (TSD).
Outros detalhamentos e versões sobre essas correntes também
podem ser vistas em Wodak e Meyer (2009). Apresentaremos a seguir a
figura em que esses autores demonstram as abordagens e seus vínculos
teóricos.
Estragégia de pesquisa Principal vínculo teórico
Abordagem Histórico-Discursiva
M. Foucault
(Ruth Wodak e Martin Reisigl)
Indutiva, estudos de
Abordagem Linguística de Corpus
caso detalhados
Teoria Crítica
(Gerlinde Mautner)
Abordagem de Atores Sociais
(Theo van Leeuwen) K. Marx
Análise de dispositivo
(Siegfried Jäger e Florentine Maier) S. Moscovici
perspectiva geral
Dedutiva
Abordagem Sociocognitiva Interacionismo
(Teun van Dijk) simbólico
Abordagem Dialético-Relacional
(Norman Fairclough) M.K. Halliday
Figura 1: Estratégias de pesquisa e vínculos teóricos
(WODAK & MEYER, 2009, p.20).
Em Wodak e Meyer (2009), Fairclough, referendando obras
anteriores, enquadra-se na abordagem “dialético-relacional” e assume
uma visão dialética do discurso. Este passa a ser um momento, dentre
outros, da prática social. As transformações da língua e do discurso
continuam sendo foco para o autor.
24
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 24 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
4.2 Pesquisadores nacionais
Pesquisadores do Brasil despontam para consolidar a ACD
no contexto nacional. O livro de Ramalho e Resende (2011) evidencia
alguns dos avanços que a ACD teve na América Latina e no Brasil.
O livro de Fairclough, Discourse and social change (1992),
é traduzido no Brasil por Izabel Magalhães com o título Discurso e
mudança social, em 2001, pela editora da UnB (reeditado em 2008),
passando a ser uma referência da ACD para os leitores. É através dele
que muitos pesquisadores entram em contato com as propostas desse
tipo de análise textualmente orientada e algumas aplicações começam
a surgir em nosso meio acadêmico. Da UnB, ainda se pode indicar
a forte contribuição de Denize Helena, Viviane de Melo Resende e
Viviane Ramalho, com publicações e orientações.
Da UFMG, citamos o nome de Célia Magalhães como orga-
nizadora do livro Reflexões sobre a Análise Crítica do Discurso, que
reúne alguns nomes do cenário nacional e também inclui um capítulo
de Fairclough: Pagano; Oliveira; Pimenta, entre outros. Destacamos
que essa publicação de Célia Magalhães é datada da mesma época da
tradução de Discurso e Mudança social, de Izabel Magalhães. Com
isso, evidencio o caráter inédito da obra de C. Magalhães em relação à
ACD, ainda mais que é uma organização de diversas pesquisas que já
se fazia, na época, no Brasil.
Em 2008, Caldas-Coulthard e Scliar-Cabral (UFSC) organiza-
ram o livro Desvendando discursos: conceitos básicos, mais um que
envolve pesquisadores em ACD. Dessa mesma universidade, podemos,
ainda, apontar os nomes de Malcolm Coulthard, introdutor da ACD
nesse espaço acadêmico; de José Luiz Meurer, a quem devemos a inter-
face entre ACD e LSF; de Débora de Carvalho Figueiredo que, em
2000, defende sua tese com base na análise crítica do discurso jurídico,
sob a orientação do professor Meurer – em 1995 já havia defendido
sua dissertação com o mesmo aporte teórico, sob a orientação da pro-
fessora Caldas-Coulthard. Também orientada por Caldas-Couthard,
indicamos a pesquisadora Viviane Heberle (1992 – 1997) que, na atuali-
dade, investiga ‘as representações discursivas de identidades e práticas
25
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 25 28/05/2014 17:16:47
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
de letramento em contextos multimidiáticos de ensino e de ambientes
informais’2.
Na UERJ, indicamos o nome da Profª. Drª Gisele de Carvalho
que, atualmente, “tem se dedicado a estudar gêneros opinativos vei-
culados em mídia impressa sob a perspectiva da Análise Crítica do
Discurso” (PEDROSA, 2010). Além desse, lembramos o nome da
Profa Dra. Anna Elizabeth Balocco que, para o período de 2012 - 2015,
tem o projeto Sujeito, discurso e vida urbana: estudos da mudança
social, com base na Análise Crítica do Discurso e na Linguística
Sistêmico-Funcional.
Da UNEB, apontamos o nome de Décio Bessa como pesqui-
sador nesse campo de investigação. Elencamos, também, os estudos
da pesquisadora Profa. Dra. Cleide Emilia Faye Pedrosa, marcando
o espaço discursivo da ACD na UFS e, recentemente, na UFRN. Na
UFPE, Prof. Dr. Antonio Marcuschi orientou trabalhos em ACD como
os de Pedrosa (2005) e o de Falcone (2008, co-orientação de Hoffnagel
e van Dijk).
Na UFC, a ACD é destaque no I Seminário de Análise de
Discurso Crítica, em maio de 2010. Na UECE, em outubro de 2010, os
estudos entram em evidência também com a realização do VI ALSFAL
– Congresso da Associação de Linguística Sistêmico-Funcional da
America Latina - reunindo pesquisadores em Análise Crítica do
Discurso nos cenários nacional e internacional.
Reiteramos que não foi nosso propósito listar exaustivamente
pesquisadores e universidades. Quisemos, apenas, apontar alguns
espaços da ACD. Como dito, também foi o caminho escolhido para
apresentar nossa contribuição a esse percurso nacional.
2
Agradeço ao amigo Orlando Vian Jr. por algumas das informações deste parágrafo.
26
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 26 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
5. ABORDAGEM SOCIOLÓGICA E COMUNICACIONAL
DO DISCURSO (ASCD): UM POSICIONAMENTO PARA
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
Julgamos que essa abordagem venha a ser mais uma contri-
buição nacional para a ACD3. A abordagem tem como foco a mudança
social e cultural. Tacitamente, afirmamos que não se confunde com a
corrente social de Fairclough, a qual seguimos em muitos de nossos
trabalhos – desde que fizemos o doutorado (2001 – 2005). O cruza-
mento que faremos com conceitos também advindos da corrente social
de Fairclough faz parte do contexto geral da ACD, e não exclusividade
da teoria, e, mesmo quando isso ocorrer, indicaremos tal apropriação,
pois o diálogo sempre deve ser possível.
Para começo de conversa, afirmamos que a ASCD está fun-
damentada, principalmente, em áreas da Linguística (Linguística
Sistêmico-Funcional, Linguística Textual), como compete a todas as
pesquisas em ACD, para atender à demanda da materialidade linguís-
tica; recorre à Gramática Visual, para cobrir a multimodalidade do texto.
Além disso, nasce conexa à Sociologia e mudança social (BAJOIT,
[2003] 2008) e traz para o seu quadro teórico a Comunicação para a
Mudança Social (GUMUCIO-DAGRON, 2001, 2004; NAVARRO,
2010) e os Estudos Culturais (MARTTELART, 2005; HALL, 2005).
Tudo isso para analisar as mudanças sociais e culturais promovidas e
vivenciadas pelo sujeito. Acrescentamos que novos campos poderão
ser inseridos em nossa proposta, como se justifica em toda e qualquer
abordagem transdisciplinar como essa se propõe a ser. Como também
lembramos que acompanhar as mudanças sociais e culturais faz parte
do posicionamento de diversas áreas de conhecimento, e a literatura
está repleta de exemplos de autores que apontam para essa temática e
discussão da questão, ela não é exclusividade apenas dos estudos socio-
lógicos ou, muito menos, do campo das Letras.
Diante desse dialogo aberto da ASCD, justifica indicarmos
qual será o recorte, neste capítulo. Ele contemplará os campos da
Sociologia e Comunicação (para a Mudança Social). Remetemos os
3
Várias postagens no facebook (grupo fechado) acompanharam cronologicamente os
primeiros passos da abordagem. Vide referências.
27
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 27 28/05/2014 17:16:47
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
leitores a futuras publicações4 nossas quanto aos Estudos Culturais,
à Linguística Sistêmico-Funcional e à Gramática Sistêmico-Funcional
(Sistema de Avaliatividade, por exemplo), e, principalmente, quanto
aos estudos já produzidos nesses dois campos (para Estudos Culturais:
CERTEAU, 2000; PRYSTHON, 2003; ORTIZ, 2004; MARTTELART,
2005; HALL, 2005; para a Linguística Sistêmico–Funcional e
Gramática Sistêmico-Funcional: VIAN JR, SOUZA & ALMEIDA,
2010; DROGA & HUMPHREY, 2002; MARTIN & WHITE, 2005;
GHIO & FERNANDEZ, 2005, entre outros). Esses campos dialogarão
em um trabalho transdisciplinar em ACD.
5.1. Sociologia e a mudança social
5.1.1. Mudança social e cultural
A base que seguiremos para esta discussão será, principal-
mente, o livro de Bajoit (2008)5, mas não deixaremos de recorrer a
outros autores, como, Sztompka (2005), por exemplo. Um adendo que
fazemos é que a abordagem sociológica de Bajoit defende um para-
digma identitário.
Quando falamos em mudança, estamos nos referindo a iden-
tificar (precisamente ou não) as diferenças entre “os vários estados
sucessivos de um mesmo sistema” (SZTOMPKA, 2005, p. 27). O autor
aponta três ideias básicas que caracterizam o conceito de mudança
social: “(1) diferença; (2) em instantes diversos; (03) entre estados de
um mesmo sistema” (ibidem, p. 07). Corroborando esse mesmo posi-
cionamento, Bajoit (2008) explica que
quando uma comunidade está passando por mudanças de
suas ‘maneiras de estabelecer relações sociais’, ela se encon-
tra, por definição, entre a velha maneira, que continua vigente,
mas perdendo pouco a pouco sua importância , e a manei-
ra nova, que está gradualmente se impondo. Portanto, analisar a
mudança significa, em primeiro lugar, descobrir a maneira an-
tiga, em seguida, explicar porque e como ele está transforman-
do e, finalmente, identificar as práticas que poderiam ser uma
4
Visite-nos em www.ascd.com.br
5
Guy Bajoit é Doutor em Sociologia do Instituto de Ciências Políticas e Sociais, da
Universidade Católica de Lovaina, Bélgica.
28
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 28 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
nova forma, se a evolução é confirmada (o que nunca se tem
certeza) (BAJOIT, 2008, p. 48).
Conforme Bajoit (2008, p. 173), essas mudanças (sociocultu-
rais) demarcam a coexistência de dois modelos – o antigo e o novo
– que, por sua vez, exige reflexividade dos atores sociais. E para se
ter uma concepção desses dois modelos, necessita-se dos períodos de
transição, períodos intermediários. Trago, como exemplo, um quadro
da dissertação de Meira (2012), cuja pesquisa tem como corpus as car-
tas do leitor da revista Claudia, da década de 60 até os anos 2000. A
tônica central é como os movimentos feministas recebem uma ótica
das leitoras. Vejamos o assunto casamento. O quadro traz apenas um
resumo do conteúdo das cartas.
PERÍODOS
ANTIGO TRANSIÇÃO NOVO
TEMÁTICA
O homem se Mulher dividida Esposa trabalha
diverte em entre o marido fora – gerente
bares com ami- e o ex-amor de butique.
gos e a esposa (Out/1981). (Set/1983).
não reclama.
(Fev/1967). Esposa quer
Mulher é valo-
e não quer ao
rizada e alcança
Marido trata mesmo tempo
independência
mal a esposa se separar.
econômica.
e tem amante. (Out/1981).
(Set/1983).
(Jun/1970).
CASAMENTO Marido mudou Mulher preza
Marido impõe sexualmente relação, mas não
superioridade porque a quer ficar só em
em relação mulher traba- casa. (Set/1983).
à esposa. lha. (Set/ 1983).
(Out/1981). Casamento cheio
Esposa tra- de amor, ami-
Mulher deixa balha fora, zade e cumplici-
de trabalhar por mas homens dade. (Abr/99).
causa das crian- não podem
ças. (Out/1981). entrar na loja.
(Set/1983).
Quadro 01: recorte do quadro de Meira (2012, p. 98, 99, inédito)
29
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 29 28/05/2014 17:16:47
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Meira (2012, p. 100), ao comentar o quadro, destaca que as
mulheres leitoras da revista Claudia, embora vivessem em uma socie-
dade que sustentava valores tradicionais, buscavam se posicionar em
um discurso emancipatório.
Com certeza, a sociologia moderna desreifica o caráter abso-
luto e único como sendo o responsável por mudanças. Podemos até
falar “de causas tecnológicas, culturais ou econômicas de mudança”,
porém, não restam dúvidas de que quem gera efetivamente as mudan-
ças são os agentes humanos, sustenta Sztompka (2005, p. 52).
Bajoit reafirma esse papel do sujeito quando diz que
Reconhecer que o ser humano está orientado em suas condutas,
ao menos em parte, pela intervenção de sua consciência – por
uma capacidade reflexiva que lhe permite analisar e interpretar
o mundo e conduzir-se como sujeito – significa introduzir ao
mesmo tempo a questão do sentido. Este lugar tão importante
do sentido da vida social dos seres humanos permite compre-
ender porque recorrem constantemente a referências culturais
para justificar sua conduta ante a si mesmo e ante os demais
(BAJOIT, 2008, p. 87).
Ainda, com base em Bajoit (2008, p. 252), listamos o que ele
considera como sendo mudança sociocultural:
1. a modificação de um estado das relações sociais;
2. mudança das coações pelas quais se resolvem os problemas vitais
da vida comum;
3. mudança dos princípios de sentido invocado para legitimar estas
coações;
4. mudança das identidades coletivas que resultam da prática das
relações sociais;
5. mudança das lógicas de gestão de si, pelas quais os indivíduos
resolvem as tensões que atravessam estas identidades coletivas e
constroem suas identidades pessoais;
6. mudança das lógicas de ação nas quais se comprometem, indivi-
dual ou coletivamente.
O autor afirma que os intercâmbios sociais contribuem, ao seu
modo, tanto para reproduzir quanto para mudar ou não as estruturas
das relações sociais. Ele classifica os intercâmbios em: cooperativos,
30
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 30 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
conflitivos, competitivos e contraditórios. Assim, temos (BAJOIT,
2008, p. 253-254):
• Cooperativos. As identidades coletivas conhecem poucas ten-
sões. É necessária em todas as sociedades, pois é a base para a
reprodução e a continuidade. As ações cooperativas sustentam o
interesse mútuo e o diálogo. Inova quando, juntos, buscam novas
soluções para os problemas vitais da vida comum.
• Conflitivos. Os intercâmbios conflitivos desempenham o papel
de amenizar a reprodução das relações sociais, pois o conflito
cria uma conjuntura que instiga a buscar inovações. Claro que
não se pode olvidar que há muita tensão entre os grupos sociais
e que a busca de liderança e domínio causa bastante conflito,
pois se alimenta de relações de (abuso de) poder. A liderança
conseguida por grupos hegemônicos impõe modo de fazer e
de pensar, e a entrada do grupo dos oprimidos na arena gera
mudanças socioculturais em busca de maior compartilhamento
de interesses.
• Competitivos. Entra em jogo aqui a competência dos atores
sociais como fator de seleção dos melhores (hipótese das ciên-
cias naturais que se “valida” nas ciências sociais). É a busca
do triunfo sobre o outro, a busca do vencer e do deslegitimar
ações do “inimigo”. Esta hipótese da competência influenciou
a cultura da modernidade e, também, inspirou suas ideologias,
economia e políticas; logo, norteou as condutas dos atores indi-
viduais e coletivos.
• Contraditórios. Para Bajoit, este tipo de intercâmbio segue a
mesma lógica dos competitivos, porém, sem regras e árbitro.
Por isso, o autor alerta para o perigo de morte física ou social;
alerta para o perigo que ronda a própria sobrevivência dos ato-
res sociais marginais, que estão desprovidos de “ferramentas”
de luta, de entrar no jogo da criatividade. Não podemos esquecer
que a principal causa da criatividade técnica, social e cultural
foi a luta por sobrevivência. Assim, os que não dispõem dessas
ferramentas podem ser esmagados ou deixados à margem pelas
mudanças geradas no seio da sociedade.
31
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 31 28/05/2014 17:16:47
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Já podemos perceber a importância do equilíbrio desses tipos
de intercâmbio na vida de uma sociedade. As mudanças sociais e cul-
turais são resultados de processos tensos, mas necessários. Os atores
geram e sofrem essas tensões em suas relações com o outro e com o
“inimigo”. Bajoit (2008, p. 254-257) aponta uma tipologia para as vias
da mudança social.
Apresentamos o quadro desenhado pelo autor:
Evolução
Mutação
Modalidades de Reforma
mudanças social e
cultural
Ruptura Revolta
Revolução
Quadro 2: Representação das tipologias das vias
da mudança social (BAJOIT, 2008).
O sociólogo separa as modalidades de mudança social e cul-
tural em dois grandes campos: a mutação e a ruptura. No enquadre da
mutação, incluem-se a evolução e a reforma; na ruptura, identificam-se
a revolta e a revolução. Expliquemos resumidamente:
• Evolução: tipos de mudanças geradas a partir dos intercâmbios
cooperativos e competitivos entre membros de categorias sociais
não organizadas. Logo, as tomadas de decisões são individuais
ou de interesse particular de um determinado grupo social e se
tornam ponto de partida para novas mudanças sociais.
• Reforma: a reforma é um tipo de mudança que está pautada no
intercâmbio cooperativo; é fruto de uma decisão coletiva. A base
é a negociação entre atores sociais organizados que buscam um
bem comum.
32
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 32 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
• Revolta: tipo de mudança resultante de uma mobilização espon-
tânea dos membros de uma categoria social em intercâmbios
conflitivos e contraditórios. Sua característica forte é a ausência
de organização da solidariedade entre os participantes. Trata-se
de uma forma embrionária de identidade coletiva, considerando
que vários indivíduos tomam as mesmas decisões ao mesmo
tempo, logo, se influenciam conjuntamente.
• Revolução: pautada nos intercâmbios conflitivos e contraditó-
rios. O grande diferencial em relação à “revolta” é que a “revo-
lução” é um processo de mudança sociocultural, respaldada por
ação solidária e organizada, visando inovação social.
Em síntese, seguindo a proposta de Bajoit (2008), as mudanças
sociais e culturais devem ser explicadas ponderando o papel dos atores
individuais e coletivos na gestão das tensões sociais. Estes são os res-
ponsáveis, ao construir suas subjetividades, pelos significados que se
instauram em sua relação com o outro.
5.1.2. Tipos de poder
Em nossa abordagem (ASCD), ampliaremos o conceito de
poder ou abuso de poder. Os trabalhos em ACD sempre destacaram o
papel do poder, ou de como a linguagem evoca o poder, e essas relações
são discursivas (cf. FAIRCLOUGH, 2008; WODAK, 1997; PEDROSA,
2008, VAN DIJK, 2008).
Van Dijk (2008) ressalta o “abuso do poder” social de grupos
e instituições sobre o indivíduo e sobre o discurso. Os grupos possuem
maior ou menor controle sobre os outros membros de seu grupo ou
de outros grupos. Podemos apontar que o poder não seria identificá-
vel apenas no interior dos textos, em suas formas gramaticais, mas,
sobretudo, em como as pessoas, fazendo uso do texto, exercem controle
sobre as outras. Por isso, é possível definir a ACD como uma disci-
plina que se ocupa de análises que dão conta das relações estruturais de
dominação (veladas ou não), discriminação, poder e controle, na forma
como elas se manifestam através da linguagem (WODAK, 2003).
Assim, a linguagem é um meio de dominação e de força
social e serve para legitimar as relações de poder estabelecidas
33
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 33 28/05/2014 17:16:47
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
institucionalmente. Esse tipo de análise busca uma teoria da linguagem
que coligue a dimensão do poder como condição capital da vida social.
Daí justifica-se o esforço de estudiosos da ACD para desenvolver uma
teoria da linguagem que apresente essa dimensão como uma de suas
premissas fundamentais. “A ACD se interessa pelos modos em que se
utilizam as formas linguísticas em diversas expressões e manipulações
do poder”, afirma Wodak (2003, p. 31). A autora, no entanto, explicita
o fato de o poder não existir na linguagem por si, mas só o adquire via
sujeito.
O nosso quadro teórico para analisar o poder no discurso não
o tratará de modo genérico, como fazem as outras correntes, mas assu-
mirá os diversos tipos aos quais faz referência Bajoit (2008, p. 23 - 45).
Segundo o autor, a fim de sobreviver no tempo e no espaço, as
coletividades precisam encontrar soluções para seus problemas vitais,
como: administrar a produção de riquezas; a ordem interna; a socializa-
ção de seus membros; o consenso e a solidariedade; suas relações com
outras coletividades. A partir desses tipos de relações, surgem tipos
diferentes de coerção, as quais poderemos identificar através dos dis-
cursos: potência; poder; autoridade; influência; hegemonia. Em uma
recontextualização para nossa abordagem, preferiremos utilizar os ter-
mos: Poder-potência; Poder-Estado; Poder-autoridade; Poder-influência
e Poder-hegemonia6.
(a) Modo de produção (administrar a produção de riquezas) e
a potência. O modo de produção envolve a administração da
produção e a utilização social das riquezas de uma coletivi-
dade. Como nem sempre as riquezas são suficientes, geram-se
conflitos entre as classes de gestores e de produtores (pode-se
solucionar o problema também através da colaboração): aqueles
desejam controlar a produção em benéfico próprio. Quanto ao
tipo de força exercida aqui, denomina-se PODER-POTÊNCIA.
(b) Tipo de regime político (administrar a ordem interna) e o
poder. A administração de uma ordem interna envolve: legislar
(poder legislativo) - decidir sobre o permitido e o proibido; julgar
(poder judicial) - avaliar as condutas conforme as leis; reprimir
6
Devemos ao doutorando Silvio Luiz a sugestão para essa ideia.
34
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 34 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
(poder repressivo) - aplicar a decisão do poder judicial; governar
(poder executivo) - intervir na ordem instituída. Os atores políti-
cos envolvidos são as elites estatais e os cidadãos. Neste caso, o
tipo de coerção é PODER-ESTADO.
(c) Modelo de integração social (administrar a socialização de
seus membros) e autoridade. Este modelo dá conta da socializa-
ção dos membros da coletividade de acordo com as regras que se
adotou para o corpo social, como: prescrever e incutir as regras;
garantir a autoridade da hierarquia; avaliar as condutas dos diri-
gidos e castigar o desvio social. Os atores sociais são as hierar-
quias e os dirigidos. A esta “capacidade de obrigar os membros
de uma coletividade a conformar-se com um modelo de integra-
ção” (BAJOIT, 2008, p. 38) chama-se PODER-AUTORIDADE.
(d) Tipo de contrato social (administrar o consenso e a solida-
riedade) e a influência. Tipo de relação social em que se esta-
belecem, negociam e garantem os compromissos, bem como a
existência entre os diferentes grupos. Os atores sociais envolvi-
dos são os grupos instalados e os grupos minoritários. A relação
de coerção que envolve, acima de tudo, a negociação é denomi-
nada de PODER-INFLUÊNCIA.
(e) O modelo de ordem social (administrar suas relações com
outras coletividades) e a hegemonia. Este modelo se refere
ao modo de administrar as relações entre as coletividades nos
âmbitos regional e mundial. Os atores envolvidos são: coletivi-
dades hegemônicas e coletividades dependentes. A relação de
coerção, em que a coletividade mais forte impõe (por diplomacia
ou guerra) seus interesses políticos e econômicos sobre outras,
mais fracas, chama-se PODER-HEGEMONIA.
Logo, pelo que podemos verificar na classificação acima, a
depender da esfera discursiva (no caso da ASCD) em que esteja inserida
a fala do sujeito, nomearemos o “poder” de forma diferente, seguindo
essa nomenclatura e explicação de Bajoit.
35
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 35 28/05/2014 17:16:47
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
5.1.3. Individuo, sujeito, ator - ISA
A Sociologia e mudança social (BAJOIT, 2008, 2009) contem-
pla o estudo do ISA - Indivíduo, Sujeito e Ator. Porém, neste capítulo,
isolaremos o estudo, principalmente, do sujeito, embora reconheçamos
que necessitaremos evocar o ator social e sua identidade. Para o estudo
dos atores sociais, remetemos os leitores para van Leeuwen (1997) e
Pedrosa (2008).
Seria redundante afirmar que nossa trajetória com o “sujeito”
não tem sido fácil nem pacífica. Tira-se o sujeito; inclui-se o sujeito.
Defende-se um sujeito assujeitado, critica-o. Aponta-se para um sujeito
descentrado. Indica-se um sujeito transformador (que nem sempre
existe). É, ainda nessa efervescência em relação ao sujeito e uma falta
de consenso das correntes, que a nossa abordagem assume os vários
tipos do sujeito apontados por Bajoit (2008), migrando-os para o campo
discursivo.
Nessa premissa, o sujeito é a capacidade do individuo de atuar
sobre si mesmo, para construir sua identidade pessoal; é “a capacidade
do indivíduo de questionar suas tensões existenciais” (BAJOIT, 2008,
p. 162). Com base em um fundo cultural dotado de capital social, o
indivíduo vive experiências decisivas em sua relação com outros signi-
ficativos (pais, professores, cônjuges), surgindo momentos de tensões
existenciais que ameaçam sua identidade. Essas tensões interpelam o
sujeito, com o intuito de desenvolver um trabalho de gestão de si, que
o orienta para a construção do “eu”, em um processo de eleição do
que lhe convém na atual situação, a fim de (re)modelar sua “imagem”,
confirmando ou modificando sua identidade. Sobre essa discussão, se
expressa o sociólogo: “A identidade pessoal é resultado, sempre provi-
sório e evolutivo, de um trabalho sobre si mesmo, que chamamos de
‘trabalho do sujeito’ ou ‘gestão relacional de si’ ou, também, ‘trabalho
identitário’” (BAJOIT, 2008, p. 158, grifo do autor).
De acordo com a identidade pessoal (atribuída, comprometida,
desejada)7, construída nessa gestão do sujeito, este pode ser classifi-
cado em:
7
O autor também trabalha as identidades coletivas. Não nos sobra espaço para tal. No
resumo em Bajoit (2008, p. 143), atendendo a um modelo industrial, teríamos as seguintes
identidade coletivas: 1) o individuo, em relação com o grupo, pode desenvolver: uma
36
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 36 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
IDENTIDADE IDENTIDADE IDENTIDADE
ATRIBUÍDA COMPROMETIDA DESEJADA
Sujeito conformista Sujeito consequente Sujeito altruísta
Sujeito adaptador Sujeito pragmático Sujeito estrategista
Sujeito rebelde Sujeito inovador Sujeito autêntico
Quadro 3: o sujeito e o trabalho gestacional de si (com base em BAJOIT, 2008, p. 190)
O primeiro passo para entender essa classificação de sujeito é
compreender a classificação dada pelo autor para os tipos de identidade
pessoal. Bajoit afirma que
Cada um assume diante de si mesmo compromissos identitá-
rios: tem uma certa ideia do que é, do que quer ser e do que crer
que tem que fazer para isso. Para realizar seus compromissos,
cada um necessita dos outros, deve encontrar-se em relações
sociais com eles, participar em intercâmbios e em vínculos so-
ciais. Cada um, pois, entra em lógicas de ação com os outros
para realizar sua identidade pessoal com ou contra eles, a favor
ou apesar deles (BAJOIT, 2008, p. 212).
Considerando essa lógica, mudar a identidade é mudar as
expectativas do “eu” e do “outro”. Assim, o indivíduo constitui sua
identidade e/ou a modifica de acordo com as respostas dadas às tensões
da vida diária. Podemos afirmar que as condutas sociais são resultados
da construção das identidades individuais. O processo identitário pes-
soal envolve realização e reconhecimento pessoal e consonância exis-
tencial. As identidades resultantes desse processo são as identidades
atribuída, comprometida e desejada.
identidade orgulhosa (quando valoriza as características identitárias do grupo); uma
identidade vergonhosa (quando desvaloriza as características identitárias do grupo);
uma identidade invejosa (quando não possui as características de um grupo ao qual
valoriza); uma identidade depreciante (quando desvaloriza as características de um
grupo ao qual não faz parte). Ampliando este tópico para o modelo cultural identitário
das sociedades contemporâneas ocidentais, o autor (2006, p. 167-172) fala de outras
identidades coletivas, baseadas no direito a uma ‘qualidade de vida’. São elas: identidades
dos consumidores (de bens tecnológicos, de alimentos, de saúde, de educação, de
informação, de distração, etc); identidades de usuários (consumidor dos serviços
públicos e administrativos); identidades de cidadania (respeitado em sua autonomia);
identidade ecológica; identidade de direitos adquiridos, entre outras.
37
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 37 28/05/2014 17:16:47
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
A identidade atribuída é resultante de múltiplas gestões ante-
riores de si: o individuo faz um trabalho relacional de si diante das
tensões e expectativas suas e dos outros; o sujeito se orienta pelo que
ele pensa que os outros estão esperando dele, o que é atribuição para
“eu fazer e ser”. Tal gestão constitui um penoso e delicado processo
até chegar a soluções relativamente aceitáveis, mas não satisfatórias
inteiramente.
A identidade desejada tem a ver com a imagem que o indi-
víduo quer chegar a ter: ele se compromete, mais ou menos de forma
consciente e voluntária, com a imagem que quer projetar de si, o que
ele quer chegar a ser.
A identidade comprometida é resultante do trabalho do sujeito
de equilibrar uma identidade já atribuída com uma que deseja ter: ele
se adapta diante das circunstâncias. Como diz Bajoit (2008, p. 189),
“habitualmente o individuo se adapta, mas permanece firme com suas
escolhas anteriores; segundo as circunstâncias, os obstáculos e as opor-
tunidades que encontra em seu caminho, modifica, pouco a pouco, seus
fins e meios”.
De acordo com o sociólogo belga que estamos referendando,
alguns indivíduos preferem ter um reconhecimento social, confor-
mando-se com o que a sociedade espera deles (identidade atribuída).
Já outros buscam a autorrealização, pois não creem na restauração
entre eles e o mundo social (identidade desejada). Entre esses dois
extremos estão os que pretendem fazer as duas coisas: comprometer-
-se com a sociedade e com eles mesmos (identidade comprometida).
Assim, “adaptar-se é, simplesmente, o que faz a maioria das pessoas
diariamente para tratar de conciliar o que querem com o que os outros
esperam e o que em realidade fazem. E isto, também, é ser sujeito”
(BAJOIT 2008, p. 179).
A esses três aspectos identitários ligam-se às posições que o
sujeito assume. Logo, o sujeito não é único; tudo depende da ‘gestão
relacional de si’ – “momento em que o indivíduo atualiza sua capaci-
dade para trabalhar as tensões existenciais”. Dois processos (recursos
psíquicos) definem esse posicionamento: a acomodação e o distancia-
mento. Acomodar-se, adaptar-se ao social e a si mesmo é também ser
sujeito. O processo de distanciamento envolve um trabalho reflexivo
38
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 38 28/05/2014 17:16:47
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
do sujeito. Um trabalho de questionar-se e de objetivar-se, de tomar
distância de si mesmo, de desenvolver sua capacidade de autocrítica e,
sobretudo, de “analisar e interrogar as instituições sobre seus funda-
mentos, sobre sua legitimidade da dominação social e cultural que pre-
tendem exercer sobre ele” (BAJOIT, 2008, p. 180). Como diz o autor, a
acomodação e o distanciamento são necessários para que o indivíduo
(re)construa e reforce sua identidade pessoal.
Nesse contexto, quando o sujeito, na gestão relacional de si,
trabalhando sua identidade atribuída (IA)8:
• Escolhe que é melhor submeter-se, pois não suporta a denega-
ção de um reconhecimento social ou da aprovação de seus pais,
dos outros, das instituições; quando ele prefere os valores tradi-
cionais e seguros (religiosos, étnicos, nacionais, familiares, etc),
temos o sujeito conformista (ou sobreconformista).
Exemplo 19:
“Sou casada há cinco anos, e o meu casamento atravessa uma fase difi-
cílima. Meu marido passa cada vez menos tempo comigo, enquanto se
diverte com os amigos em bares. É agora um homem totalmente dife-
rente daquele que conheci. Procuro nunca reclamar, porque tenho mêdo
que ainda piore mais a situação, mas, às vezes, sinto-me revoltada, can-
sada de ser a espôsa10 carinhosa, atenta, compreensiva e econômica”.
Sem esperança – Rio de Janeiro, GB (Revista Claudia, Fevereiro de
1967).
• Persuade-se de que o que é esperado dele não é legítimo e prefere
uma desaprovação social, opondo-se às expectativas dos outros,
temos o sujeito rebelde.
8
Todos os exemplos da Revista Claudia são da Dissertação de Guianezza Meira,
apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, UFRN, em
fevereiro de 2012. Porém, a classificação é nossa. Os exemplos de blogger é uma
contribuição de Danielle Brito, mestranda UFRN. O exemplo de música é de Rodrigo
Slama, mestrando UFRN.
9
Sublinharemos, em alguns casos, o posicionamento do sujeito que deu origem a
classificação. Quando esta envolver o texto (quase) todo, deixaremos sem ênfase.
10
As palavras foram mantidas conforme o acordo ortográfico da época na qual foram
escritas.
39
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 39 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Exemplo 2:
Não tinha medo o tal João de Santo Cristo
Era o que todos diziam quando ele se perdeu
Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda
Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu [...]
(Faroeste Caboclo, Renato Russo – Legião Urbana: Que país é este?, 1987).
• Convence-se de que é melhor se situar no meio termo, atender às
expectativas das instituições, dos pais, etc., e também o que ele
deseja para si mesmo. Esse é o caso de um sujeito adaptador.
Exemplo 3:
Eu tenho um desejo muito forte, chamando-se, assim, o desejar para
ajudar os outros, e não no sentido “convencional“ [...]. Sinto-me cons-
tantemente dividido entre a vontade de fazer a diferença e pensando
que eu deveria arrumar um emprego ‘real’. Estou sempre lutando con-
tra mim e meu desejo de seguir em frente. Eu sei que posso fazer a
diferença. Eu apenas tenho que me convencer que eu posso fazer isso!
. Eu sou um pai, solteiro, desempregado [...] Sinto-me um peso para a
sociedade e me sinto pressionado pela família e segurança social ape-
nas para “conseguir um emprego” - então eu estou indeciso entre o
meu ‘dever’ e as ‘expectativas’ e desejo de minha alma (http://www.
tap4health.com/i-want-to-help-people-but-everyone-says-i-should-get-
-a-real-job/ acesso, 20 de março de 2012).
Por sua vez, quando o sujeito, trabalhando sua identidade
desejada (ID):
• Ambiciona viver em conformidade com seus ideais, desejos, pro-
jetos. Se ele define atingir o “que é” e aonde quer chegar como
sendo prioridade em suas decisões, e querem ser verdadeiros,
temos o sujeito autêntico.
Exemplo 4:
“Tenho fé, Claudia, que não demore a cassação dos tabus do Brasil. O
do sexo em primeiro lugar. Sou professôra primária e me confrange a
ignorância em que as crianças são mantidas a respeito do amor e da
40
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 40 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
atração sexual [...]. Edna, Rio de Janeiro, GB (Revista Claudia, dezem-
bro de 1966).
• Resolve negar a si mesmo em prol do outro, então estamos diante
do caso de um sujeito altruísta.
Exemplo 5:
“Quando me casei, tinha um passado que não escondi. Sempre demos
duro na vida, e eu sempre o ajudei ao máximo. Mas meu marido sem-
pre me tratou mal e creio que nunca perdoou meu êrro. Agora, depois
de muitos anos, tem uma amante. Não o amo mais, só o suporto pelos
filhos que nós temos. Espôsa Universitária, Mato Grosso (Revista
Claudia, Junho de 1970).
• Tenta conciliar as duas situações acima descritas, ou seja, conci-
lia a autenticidade e o altruísmo, temos um sujeito estrategista.
Exemplo 6:
“Tem gente que não sai, fica horas no computador, trabalha semana
inteira, pensa q assistir tv sozinho eh um otimo fim de semana, nao
se diverte, e bem provavel, que vai viver ate 100 anos. Mas pra que
viver um seculo, se vc nao vai fazer nada??? Mas quem nao se diverte,
nao vive! Esta no mundo so pra ocupar espaco. Todo mundo tem que
curtir a vida, fazer coisas diferentes, de vez em quando fazer loucuras
e as vezes nao fazer nada e ficar so na boa, cocando e vendo o tempo
passar, afinal relaxar um pouquinho tambem faz bem.” Essa frase diz
tudo durar nao ta com nada e com a violencia desses tempos, durar vai
ser dificil. “basta estar vivo pra morrer”. Curta a vida com intensidade,
exagere de vez em quando. Acima de tudo, seja feliz!!!! Deus abencoe!
(http://brazileira.multiply.com/reviews/item/20, acesso, 20 de março de
2012)
E, finalmente, quando o sujeito, trabalhando sua identidade
comprometida (IC):
• Compromete-se com suas escolhas, assume as consequências
(mesmo extremas) até o fim do que elegeu, temos um sujeito
consequente.
41
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 41 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Exemplo 7:
Hoje em dia eu escuto Fresno, e não me envergonho disso. Muitas pes-
soas se assustam quando descobrem, mas eu costumo assumir meus
defeitos. Não tento defender nem tento convencer as pessoas a gosta-
rem de Fresno. Mas eu escuto, e eu gosto [...] (retirado do blog http://
risosponto.blogspot.com.br/2009/05/confissoes-de-um-emo.html, acesso, 20
de março de 2012).
• Assume uma atitude mais flexível. Quando ele é mais adaptável,
mais pronto para autocrítica e mais disposto a renovar seus pro-
jetos, mesmo que para isso precise voltar ao ponto zero, então
estamos diante de um sujeito inovador.
Exemplo 8:
“Estou casada há 17 anos (tenho 37). Há poucos meses comecei a tra-
balhar como gerente de uma butique. Estou me sentindo outra, mas
sou valorizada e ganhei independência econômica [...]”. N. M., Rio de
Janeiro (Revista Claudia, setembro de 1983).
• Combina esses dois extremos, isto é, adapta-se, mas também
permanece fiel as suas decisões anteriores; orientando-se pelas
circunstâncias, pelas oportunidades ou, mesmo, pelos obstácu-
los, ele pouco a pouco modifica seus fins e seus meios, tenta
viver a vida que tem e a que deseja (vivem, nas horas vagas, uma
‘segunda a vida’, em que cultivam sua vocação). Temos, nesse
caso, o sujeito pragmático. Quanto a este sujeito, Bajoit (2008,
p. 187), em sua investigação com jovens, relata o caso de jovens
que se comprometem apenas o estritamente necessário com o
que a sociedade exige deles, e investe o restante do tempo com
atividades prazerosas, ligadas à criatividade, por exemplo.
Exemplo 9:
“Vou deixar algo bem claro aqui sobre ‘trabalhar com o que gosta’.
Tenham em mente que trabalho é uma atividade que existe unicamente
pra lhe prover dinheiro, pois sem ele ninguém faz nada nesse mundo [...]
Ninguém trabalha por prazer. Você até pode contar essa mentira pra si
mesmo, mas eu te garanto: você só trabalha porque é obrigado. E não
42
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 42 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
adianta dizer que tem muita gente rica que continua trabalhando. Esses
não trabalham. Pra eles o trabalho virou lazer [...]
Engana-se quem pensa que o trabalho enobrece o homem. O trabalho
acaba com o homem. Tira, de cara, metade do seu dia. Faz ele se can-
sar, estressar e perder o ânimo pras coisas que realmente valem a pena
nesse mundo [...]
Quem “faz o que ama” vive numa ilusão de que é possível trabalhar e
ainda assim se divertir. Não é, amigos. Invariavelmente, se você aban-
donar um emprego que detesta pra “seguir seus sonhos” e fazer algo
que supostamente ama, é uma questão de tempo até que você passe a
odiar aquilo também. É como colocar sua música favorita como des-
pertador. Trabalho é algo ruim, chato, cansativo e penoso. Jamais trans-
forme seu hobby favorito em trabalho, pois você desenvolverá um ódio
diabólico por algo que supostamente deveria gostar de fazer. [...]
O segredo do sucesso é ter em mente que o trabalho é necessário para
ganhar dinheiro e, com isso, conquistar o que realmente importa.
Lazer, viagens, bens materiais também, não sejamos hipócritas. Seria
o máximo se pudéssemos viver de luz e ter todo o tempo do mundo pro
amor, pra família e pro prazer. Mas o mundo não funciona assim.
Não tenha vergonha, nojo, preguiça ou ojeriza ao trabalho. Apenas
encare-o da forma como ele deve ser encarado. Como um meio, não
como um fim. Pode ter certeza que você vai ser bem mais feliz dessa
forma, pois suas expectativas estarão sendo depositadas nos lugares
certos” (http://cademeudorflex.blogspot.com.br/2012/01/vou-trabalhar-
-com-o-que-eu-gosto.html – acesso em 08 de abril de 2012).
Lembramos que o trabalho (do sujeito) sobre si também
implica um trabalho sobre o outro e um constante vai e vem de relações
entre o eu e o outro. O resultado desse trabalho (sobre os outros) tam-
bém conduz o sujeito a reformular o trabalho sobre si (BAJOIT, 2008).
O autor ainda acrescenta:
Em efeito, os indivíduos são capazes de mudar as lógicas e sal-
tar de uma a outra, segundo as circunstâncias e os campos re-
lacionais nos quais atuam. Não se conduzem necessariamente
da mesma maneira na escola, na família ou no trabalho. Por
isso, essas lógicas estão sempre presentes ao mesmo tempo em
suas condutas e mais que escolher uma ou outra, devem me-
diar constantemente às tensões entre elas (BAJOIT, 2008, p.
200-201).
43
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 43 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Além desse quadro exposto do sujeito, Bajoit (2008) ainda des-
taca que poderia ser citado o caso do sujeito anômico, quando não entra
em nenhuma das lógicas explicadas anteriormente: ele não se conforma
com as regras impostas ou com que esperam dele, mas também não tem
desejo nem vocação para mobilizar sua criatividade e energia. É uma
perda de identidade diante das fortes mudanças sociais e culturais do
mundo moderno. O individuo se vê diante do rompimento dos valores e
referenciais tradicionais, mas sem valores substitutivos.
Diante do que conseguimos expor como recorte do que Bajoit
desenvolve em sua teoria, e que nós assumimos para ASCD, podemos
ratificar que o sujeito é resultado de sua prática de relações sociais, e
não uma essência do homem, e, acima de tudo, em nosso estudo, ele se
constroi discursivamente quando assume a linguagem nesta constante
relação linguagem-sociedade, mediada por todo um trabalho cognitivo
sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo.
5.2. Comunicação para Mudança Social (CMS)
A Comunicação para Mudança Social (CMS) será tratada,
tomando-se por base autores como Gumucio-Dagron (2001, 2004)11,
Navarro (2010), Botero e Obregón (2011), entre outros da área.
Antes de abordar a Comunicação para Mudança Social (CMS)
propriamente dita, é necessário explicar o que vem a ser “Comunicação
para o Desenvolvimento” e “Comunicação Alternativa”. O primeiro
caso, para Navarro (2011), refere-se a um tipo de comunicação que esta-
belece “fluxo de intercâmbio de conhecimento e de informação entre
as comunidades rurais e os técnicos e os expertos institucionais”. Há
uma transferência unidirecional de conhecimentos; são os expertos e
técnicos que dizem o que as comunidades rurais necessitam para se
desenvolver, não partindo deles o desenvolvimento. Já a Comunicação
Alternativa “trata do esforço contestatório de conquistar espaços de
comunicação em uma sociedade repressiva, socialmente estanques ou
submetidas a forças neocoloniais” (NAVARRO, 2010, p. 126-127).
A CMS, embora seja um tipo de comunicação também pre-
sente na Comunicação para o Desenvolvimento e na Comunicação
11
Um dos principais teóricos da Comunicação para Mudança Social.
44
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 44 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Alternativa, como alguns autores sustentam, vai adquirir formato pró-
prio a partir de 1997, quando da reunião de especialistas em comuni-
cação e participação social promovida pela Fundação Rockefeller, cujo
objetivo era discutir o papel da comunicação nas mudanças sociais
para o século que se aproximava (GUMUCIO-DAGRON, 2001). “Este
tipo de enfoque tem sido caracterizado como um processo de diálogo
e debate, baseado na tolerância, e respeito, a equidade, a justiça social
e a participação ativa de todos”, afirma Navarro (2009, p. 28). Além
do mais, essa forma de comunicação defende que o processo deve
surgir das comunidades e para atender suas necessidades. Logo, não
define, a priori, nem os meios nem as mensagens nem as técnicas. Mais
tarde, o próprio Gumucio-Dagron (2004) defende que esse não é um
novo paradigma, porém uma nova proposta que integra as anteriores.
Assim, o que se depreende, na atualidade, é que Comunicação para o
Desenvolvimento é um grande guarda chuva que engloba todas as ten-
tativas de Comunicação Participativa (GAMBETTA, 2012).
Tufte (2011) nos informa que a tradição da America Latina tem
desenvolvido um planejamento com iniciativa comunitária para sua
comunicação, a que Rodriguez (apud Tufte) chamou de mídia cidadã.
Como diz Tufte,
Mais que propor um novo paradigma alternativo, o propósito de
Rodriguez foi situar o cidadão no centro das práticas midiáticas
e comunicacionais, observando as mudanças que ocorrem pre-
cisamente ali, onde os cidadãos coletivos dão corpo à transfor-
mação por meio da comunicação (TUFTE, 2011, p. 05).
Trata-se de uma comunicação participativa, crítica, inclusiva,
que oferece condições de os cidadãos e as cidadãs influenciarem na
própria paisagem midiática, como primeiro passo ao ativar sua cida-
dania. Depois, percebemos que esses meios “estão disputando códigos
sociais, identidades legitimadas e relações sociais institucionalizadas”;
e, ainda, que “estas práticas empoderam a comunidade envolvida,
até ao ponto em que estas transformações e mudanças são possíveis”
(RODRIGUEZ, 2006, p. 774 apud TUFTE, 2011, p. 5).
Gumucio-Dagron (2001, p. 37) destaca que, quando se busca
caracterizar a Comunicação Participativa, devem-se considerar as
45
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 45 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
consequências políticas desta participação no desenvolvimento. Ele
expõe duas fortes consequências, com suas palavras:
Um problema de poder. A democratização da comunicação
tem a ver com o tema do poder. Os enfoques participativos con-
tribuem para colocar a tomada de decisões nas mãos do povo; e,
também, consolida a capacidade das comunidades de confron-
tar seus ideais sobre o desenvolvimento com o pessoal técnico
e os planejadores.
Um problema de identidade. Especialmente em comunidades
que têm sido marginalizadas, reprimidas ou, simplesmente,
postergadas durante décadas, a comunicação participativa con-
tribui a infundir autoestima e orgulho pela cultura. Reforça o
tecido social através do fortalecimento das organizações pró-
prias para a comunidade. Protege a tradição e os valores cul-
turais, ao mesmo tempo em que facilita a integração de novos
elementos.
Nessa discussão sobre tipos de comunicação participa-
tiva, cabe estabelecer a diferença entre os modelos de comunica-
ção baseados na transmissão de informação (vertical) e o modelo
horizontal, que destaca a concepção dialógica da comunicação
em que se insere a CMS (BOTERO & OBREGÓN, 2011).
A CMS defende a comunicação como “construtora de dinâmi-
cas e elaboração simbólica”, um processo vital e por excelência humano
que se manifesta em “todas as formas culturais de relação, organização
e expressão” (NAVARRO, 2010, p. 132). Esse tipo de comunicação per-
mite que comunidades esquecidas possam assumir o controle de suas
vidas, ressignificando sua história, sua vida e sua expressão, potencia-
lizando significativamente sua história, seu espaço e seu tecido social.
Navarro (2010, p. 131) traz em suas palavras, com base em
Gumucio-Dagron (2001), os aspectos sustentados pela CMS:
(a) “A sustentabilidade das mudanças sociais é mais segura quando
os indivíduos e as comunidades afetadas se apropriam do pro-
cesso e dos conteúdos comunicacionais”;
(b) “a comunicação para a mudança social, horizontal e fortale-
cedora do sentir comunitário, deve ampliar as vozes dos mais
pobres, e ter como eixo conteúdos locais e a noção de apropria-
ção do processo comunicacional”;
46
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 46 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
(c) “as comunidades devem ser agentes de sua própria mudança e
gestoras de sua própria comunicação”;
(d) “em lugar da ênfase na persuasão e na transmissão de informa-
ções e conhecimentos de fora, a comunicação para a mudança
social promove o diálogo, o debate e a negociação a partir do seio
da comunidade”;
(e) “os resultados do processo da comunicação para a mudança
social devem ir além dos comportamentos individuais e levar
em conta as normas sociais, as políticas vigentes, a cultura e o
contexto do desenvolvimento”;
(f) “a comunicação para a mudança social é diálogo e participação
com o propósito de fortalecer a identidade cultural, a confiança,
o compromisso, a apropriação da palavra e o fortalecimento
comunitário”;
(g) “a comunicação para a mudança social contesta o modelo linear
de transmissão da informação, que se inicia em um centro emis-
sor em direção a um indivíduo receptor, e promove um processo
cíclico de interações a partir do conhecimento compartilhado
pela comunidade e a partir da ação coletiva”.
Como se pode identificar, a CMS está embasada em uma
comunicação da identidade e da afirmação de valores, logo, uma comu-
nicação ética que amplifica as vozes dos perdedores, dos renegados,
dando-lhe visibilidade na esfera pública. Tornando-os cidadãos. Seu
fio condutor é o diálogo e a participação (GUMUCIO-DAGRON, 2004)
E, ainda como defende Navarro, a CMS pode levar a academia
a repensar seus paradigmas, repensar a comunicação do ponto de vista
do humano, e não simplesmente do comercial, do midiático ao elevar o
diálogo (no sentido bakhttiniano) acima de tudo.
Sobre dialogismo e comunicação, podem-se evocar Parks et
al (apud BOTERO & OBREGÓN, 2011, p. 09): “processo através do
qual as pessoas podem identificar obstáculos e desenvolver estrutu-
ras, políticas, processos e meios comunicativos ou outras ferramentas
de comunicação para lograr os objetivos que eles mesmos têm trazido
e definido”. Botero e Obregón (2011) reforçam esse posicionamento,
concordando com Jacobson e Kolluri (2006), quando argumentam que
47
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 47 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
é somente através do diálogo que uma determinada comunidade pode
identificar seus problemas e, assim, buscar solução para eles.
Nessa mesma linha do dialogismo, assim se expressa uma das
referências na Comunicação para a Mudança Social:
A Comunicação para a Mudança Social nasce como resposta
à indiferença e ao esquecimento, resgatando o mais valioso do
pensamento humanista que enriquece a teoria da comunicação:
a proposta dialógica, a soma de suas experiências participa-
tivas e a vontade de incidir em todos os níveis da sociedade
são alguns dos elementos que fazem desta proposta um desafio
(GUMUCIO-DAGRON, 2004, p. 4).
Considerar o dialogismo na Comunicação é incluir o sujeito
(plural), porque fazer CMS é refletir sobre individuo e política, demo-
craticamente, considerando o “poder horizontal”, desde “a política
do reconhecimento” (VIDAL & BALLESTEROS apud NAVARRO,
2009, p. 28). Desse modo, para se fazer CMS, não se pode ancorar em
referentes absolutos ou em verdades dogmáticas, pois nem os sujei-
tos por si podem sustentar a existência de referentes absolutos; mas
somente na relação entre os sujeitos é que a CMS encontra seu suporte
político, convertendo-se “a comunicação mesma uma ação política”
(NAVARRO, 2009, p. 42).
A propósito dessa discussão, podemos retomar alguns ‘casos’
ocorridos em Natal e que fazem parte do projeto de pesquisa de
Gambetta (2011, pp. 6–7), em que o cidadão e a cidadã se mobilizaram,
através das redes sociais, para interferir no cenário local:
(1) Movimento Fora Micarla: No começo deste ano (2011), parte
da população de Natal começou a se integrar a um movimento
social que tinha como objetivo a destituição da prefeita da
cidade: Micarla de Souza. Os argumentos utilizados referiam a
uma insatisfação em vários aspectos da administração. A mobi-
lização foi operacionalizada através das redes e mídias sociais.
Com a utilização desses recursos da internet, a população era
convocada a diversas ações de protesto como passeatas, concen-
tração em alguns locais e outros.
(2) Inspeção Veicular: Mobilização Social que surgiu nas redes e
mídias sociais, e nas cartas dos leitores nas edições online dos
48
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 48 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
jornais de Natal, no começo deste ano (2011), como resposta a
uma imposição legal de que todos os veículos do estado deviam
passar por uma inspeção que detectasse o nível de poluição que
emitia o carro.
(3) Aumento no preço da gasolina: Movimento Social que, atra-
vés das redes e mídias sociais, se expressou contra o aumento
no preço da gasolina em Natal, em abril de 2011. A mobiliza-
ção social foi executada em diversas frentes na internet: twitter,
blogs, facebook, orkut, e até um sítio foi criado para manifestar o
repúdio aos preços dos combustíveis. O Movimento tinha como
propósito incitar à população a realizar alguns boicotes de resis-
tência, como não comprar em alguns postos da cidade.
Os três casos citados acima, apesar das suas particularidades,
apresentam aspectos em comum: “surgiram e se organizaram através
das redes e mídias sociais; foram recolhidos, como notícia pelas mídias
tradicionais, em alguns casos, inclusive, pela mídia nacional; geraram
mudanças concretas por parte de grupos hegemônicos” (GAMBETTA,
2011, p. 07).
Quanto às mudanças geradas, poderíamos apontar resumida-
mente o caso 1: passeatas e concentrações em lugares públicos – reali-
zadas na sede da Câmara Municipal de Natal, durou vários dias; queda
no índice de aceitação da prefeita; o caso 2: a não implantação da ins-
peção e denuncia do escândalo que envolvia esta inspeção; o caso 3:
filas quilométricas em postos de combustível para comprar apenas uma
quantidade mínima de combustível, baixa no preço do combustível.
No próximo tópico, delinearemos o que estamos assumindo, com
base na Sociologia e mudança social, na Comunicação para a Mudança
Social, nos Estudos Culturais e na Gramática Sistêmico-Funcional.
49
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 49 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
5.3. Posicionamentos da ASCD: apropriação de conceitos e indi-
cação de categorias
Em relação à ASCD, assumiremos alguns conceitos dos cam-
pos acima estudados, apresentando algumas propostas com base nas
análises que desenvolvemos em nossas pesquisas de IC, mestrado e
doutorado, e como sugestão para os leitores que se identificarem com
nossa abordagem.
O termo “categoria” tem um campo amplo de significados e
aplicações. No campo metodológico, podemos falar em termos de “cri-
tério de seleção e organização da teoria e dos fatos a serem investi-
gados, a partir da finalidade da pesquisa, fornecendo-lhe o princípio
de sistematização que vai lhe conferir sentido, cientificidade, rigor,
importância” (CASAGRANDE, et al, 2005). Essas podem ser catego-
rias metodológicas (que dão suporte à relação entre pesquisador-objeto)
e categorias de conteúdo (responsáveis pela mediação entre o universal
e o concreto, ligadas ao objeto e à finalidade da pesquisa) (KUENZER
apud CASAGRANDE, et al, 2005).
Na perspectiva da ACD, Ramalho e Resende (2011, p. 11-12)
explicam que categorias analíticas são “formas e significados textuais
associados a maneiras particulares de representar, de (inter)agir e de
identificar(-se) em práticas sociais situadas”, e, ainda, “por meio delas,
podemos analisar textos buscando mapear conexões entre o discursivo
e o não discursivo, tendo em vista seus efeitos sociais.”
Assim é que a ASCD assume alguns conceitos e categorias
como essenciais para uma pesquisa crítica do discurso em sua trans-
disciplinaridade, nesse momento, com a Sociologia e a Comunicação,
tendo como fio condutor as mudanças sociais e culturais. Como já
sinalizamos em outros pontos do texto, também dialogaremos com os
Estudos Culturais. E como base para os aspectos linguísticos e multi-
modais do texto, dialogaremos com algumas “gramáticas” (no sentido
amplo do termo).
Nesta fase, nosso trabalho transdisciplinar sugere algumas
sugestões de análsie a depender do objeto de pesquisa e do pesquisador:
(A) A ASCD, por assumir uma interface com a Sociologia e a
Mudança Social, nos moldes como expostos resumidamente
neste capítulo, sugere, em suas análises:
50
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 50 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
1– Identificar os tipos de mudanças sociais e culturais que o objeto
de investigação sofreu historicamente, e trabalhar com o quadro:
Modalidades de mudança social e cultural:
(a) mutação: evolução e reforma;
(b) ruptura: revolta e a revolução.
2– Estabelecer diferenças entre as forças de coerção:
(a) Poder-Potência – poder exercido por classes de gestores;
(b) Poder-Estado – poder exercido pela classe representada dentro
de um regime político;
(c) Poder-Autoridade – poder exercido por quem controla a socia-
lização dos membros de uma coletividade;
(d) Poder-Influência – poder exercido por quem estabelece, nego-
cia e garante os compromissos em uma sociedade;
(e) Poder-Hegemonia – poder exercido nas relações com a coleti-
vidade externa.
3– Investir em estudos identitários, articulando as identidades
sociais e individuais:
(a) Classificação das identidades coletivas do modelo cultural
identitário12: identidades de consumidores, de usuários, de
cidadania, ecológica, de direitos adquiridos etc.
(b) Classificação das identidades pessoais: atribuída, desejada e
comprometida.
4– Classificar os sujeitos segundo as identidades pessoais:
(a) identidade atribuída: sujeito conformista; sujeito adaptador;
sujeito rebelde.
(b) identidade desejada: sujeito autêntico; sujeito estrategista;
sujeito altruísta.
(c) identidade comprometida: sujeito consequente; sujeito prag-
mático; sujeito inovador.
12
E de outros modelos culturais também porque entendemos que nossa socialização é
sempre resultados de diferentes modelos culturais que recebemos como herança.
51
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 51 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
5 – Trabalhar com atores sociais a partir das perspectivas discursi-
vas, a exemplo dos trabalhos de van Leeuwen (1997), retomado
em Pedrosa (2008) e em Resende e Ramalho (2011, p. 150).
(B) A ASCD, por assumir um trabalho transdisciplinar com a
CMS, nos moldes como expostos resumidamente neste capí-
tulo, em suas pesquisas, poderá incluir objetos de investiga-
ção que contemplem as mudanças sociais e culturais, frutos
de posicionamentos de atores sociais que se constituem como
cidadãos ativos, buscando ser ouvidos em sua comunidade.
(C) A ASCD, por assumir um diálogo com os Estudos Culturais,
em suas análises, a depender do objeto de investigação, pode
incluir conceitos advindos dos estudos culturais, como, entre
outros: identidade e sua tradução; capitalismo cognitivo
(MARTTELART, 2005); identidade e sujeito fragmentado;
identidades e globalização; cultura nacional como discurso
(HALL, 2005, MANCEBO, 2002, MEDEIROS, 2009); histo-
ricidade dos sujeitos cognoscentes e dos objetos cognoscíveis,
intersubjetividades (ARAÚJO, 2003).
(D) A ASCD, como abordagem inserida na ACD, buscará atender
às materialidades linguísticas.
(E) A ASCD, diante dos diversos recursos semióticos que caracte-
rizam a maioria dos textos da atualidade, também busca fun-
damentar suas análises respaldadas, entre outras, na Gramática
do design visual (Reading images. The grammar of visual
design), de Kress e van Leeuwen (2006).
6. APENAS PARA TENTAR FECHAR A DISCUSSÃO
A teoria crítica propõe um novo olhar sobre como estudamos o
ser humano e sua linguagem. Não é fácil articular os diversos conheci-
mentos que procuram dar conta de como utilizamos os códigos sociais
e discursivos.
Viver o exercício da linguagem é viver o dialogismo que nos
estabelece como sujeitos, mas que também constitui o outro como tal.
Nossa subjetividade se constitui necessariamente pela subjetividade do
52
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 52 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
outro. Daí necessitarmos da compreensão da intersubjetividade. Assim,
é na interlocução que se constroem os (efeitos de) sentidos necessários
para darmos conta dessas relações sociais intersubjetivas, relações pau-
tadas na historicidade e dinamismo do social.
Dessa forma, a ASCD busca um caminho de análise que não
se esgota em conceito e categorias, pois a cada objeto a ser estudado
um novo campo de conhecimento é requerido em um constante diálogo
transdisciplinar.
Como fizemos desde o início, a apresentação da abordagem
apresenta grandes limitações por questões de espaço, mas, sobretudo,
pela fase embrionária em que se encontra.
Pesquisas – nos níveis que abarcam da graduação ao douto-
rado13 - estão testando os conceitos e categorias defendidos aqui e, com
certeza, acrescentarão outros. Também propomos essa abordagem em
congressos (a exemplo do XVI Congresso Brasileiro de Linguística e
Filologia, em agosto de 2012, na UERJ, http://www.filologia.org.br/),
mesas-redondas, minicursos, oficinas e comunicações individuais com
publicações no site do evento.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, C. A. A. A ciência da informação como ciência social. Ciência da
Informação, Brasília, v. 32, n.3, p 21-27, set./dez. 2003.
BAJOIT, Guy. La tiranía del “grand ISA”. Rev Cultura y representaçoes sociales.
Ano 3, No 6, março de 2009, p. 9-24. Site: www.culturayrs.org.mx/revista/.../
Bajoit.HTML.
______. El cambio social, análisis sociológico del cambio social y cultural en
las sociedades contemporáneas. Madrid: Siglo, [2003]2008.
______. Tudo Muda: proposta teórica e análise da mudança sociocultural nas
sociedades ocidentais contemporâneas. Lisboa, Portugal: Unijaí, 2006.
Defesa de Mestrado em dezembro de 2012:
13
O discurso dos tuiteiros: uma analise critica da construcao identitaria coletiva e do
empoderamento cidadao, de leticia beatriz gambetta abella
Defesa de doutorado, em abril de 2013: Sujeitos e atores sociais nas representacoes
discursivas de docentes da rede estadual de ensino em sergipe: uma análise critica em
tempos de ideb, de taysa mércia dos santos souza damaceno
53
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 53 28/05/2014 17:16:48
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
BOTERO, Adriana Ángel; OBREGÓN, Rafael. Un análisis crítico de las
perspectivas de diálogo en la literatura sobre comunicación para el desar-
rollo y cambio social: abordajes y desafíos Signo y Pensamiento. vol. XXX,
núm. 58, enero-junio, 2011, pp. 190-205.
CALDAS_COULTHARD, Carmen Rosa; SCLIAR_CABRAL, Leonor.
Desvendando discursos: conceitos básicos. Florianopolis: Ed. Da UFSC, 2008.
CASAGRANDE, Nair; ALBUQUERQUE, Joelma; TAFFAREL, Celi. Teoria
do conhecimento: o que são categorias?. Curso de Metodologia do ensino e
pesquisa em educação física e esportes e lazer. Turma 2005.2. UFBA, http://
www.faced.ufba.br/rascunho_digital/textos/576.htm, acessado em 1º de abril
de 2012.
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano. Vol. 1. Artes de fazer. Petrópolis:
Vozes, 2000.
CHOULIARAKI, Lilie & FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in Late
Modernity: rethinkig Critical Dsicourse Analysis. Edinbourg: Edinbourg
University, 1999.
COSTA, Marisa Vorraber. SILVEIRA, Rosa Hessel. SOMMER, Luis
Henrique. Estudos culturais, educação e pedagogia. Maio/Jun/Jul/Ago 2003
Nº 23. Disponível em: http://www.scielo.br
DROGA, Louise & HUMPHREY, Sally. Getting started with functional
grammar. Berry/Australia, Target Texts, 2002.
FAIRCLOUGH, Norman. Language and globalization. London: Routledge, 2006.
______. Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de Brasília,
[2001]2008.
GAMBETTA, L.B. A Comunicação para o desenvolvimento: a participação e
o diálogo como estratégias de mudança social. Material cedido. Inédito, 2012.
______. Esfera pública e cidadania ativa: as vozes que ‘vêm de baixo’ e as
mudanças sociais. Projeto apresentado para a atividade de dissertações e teses
em andamento no ECLAE, 2011, UFRN. Material cedido. Inédito.
GHIO, Elsa & FERNANDEZ, Maria Delia. Manual de linguística sistémico-
-funcional: el enfoque de M.A.K. Halliday y R. Hasan. Alicaciones a la len-
gua española. Santa Fé, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, 2005.
GOUVEIA, A.M. Análise Crítica do Discurso: enquadramento histórico.
ww3.fl.ul.pt/pessoais/cgouveia/bc/5.pdf. Acesso em: 18 março 2012.
GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. El cuarto Mosquetero: La Comunicación
para el Cambio Social Investigación y Desarrollo, agosto, Año/Vol 12, número
001 Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. 2004, p. 2-23.
54
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 54 28/05/2014 17:16:48
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
______. Haciendo Olas: Historias de Comunicación Participativa para el
Cambio Social. La Paz, Bolivia: Plural Editores, 2001.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro:
DP&A, 2005.
HERBELE, Viviane M. Revistas para mulheres no século 21: ainda uma
prática discursiva de consolidação ou de renovação? Revista Linguagem em
(Dis)curso, volume 4, número especial, 2004, http://www3.unisul.br/paginas/
ensino/pos/linguagem/0403/04.htm
KRESS, G. & VAN LEEUWEN, T. Reading images. The grammar of visual
design. 2ed. London, Routledge, 2006.
MAGALHÃES, Célia (Org.). Reflexões sobre a análise crítica do discurso.
Belo Horizonte: Faculdade de Letras, UFMG, 2001.
MAGALHÃES, Izabel. Introdução a Análise de Discurso Crítica.
D.E.L.T.A.21: especial, 2005, p. 1-9.
______. Teoria Crítica do Discurso e Texto. Linguagem em (Dis)curso -
LemD, Tubarão, v. 4, n.esp, 2004, p. 113 – 131.
MAINGUENEAU, Dominique. Crítica (análise) – as condições de uma
análise crítica do discurso. Cap 4. In: SOUZA-E-SILVA, Maria Cecilia de;
POSSENTI, Sírio (Org). Doze conceitos em análise do discurso. São Paulo:
Parábola, 2010, p. 63 – 77.
MANCEBO, Deise. Globalização, cultura e subjetividade: discussão a partir
dos meios de comunicação de massa. In: Psicologia: Teoria e prática. set-dez
2002. Vol 18, n. 03. Disponível no site: http://buscatextual.cnpq.br/buscatex-
tual/visualizacv.jsp?id=K4728862D0 acesso em 02 de fevereiro de 2012.
MARTIN, J. R.; WHITE, P. R. R. The language of evaluation: appraisal in
Enlgish. London, Palgrave, 2005.
MARTTELART, Armand. Diversidade Cultural e Mundialização.Trad.
Marcos Marcionilo.São Paulo: Parábola, 2005.
MEDEIROS, João Luiz. A identidade em questão: Notas acerca de uma abor-
dagem complexa. In: Duarte, Maria Beatriz (org.). Mosaico de identidades.
Curitiba: Juruá, 2009.
MEIRA, Guianezza. Discurso e mudança e feminismo: estudos críticos
da construção identitária feminina nas cartas do leitor da revista Claudia.
Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem, PPgel –UFRN, 2012.
55
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 55 28/05/2014 17:16:49
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
MEYER, Michael. Entre la teoria, el método y la politica: la ubicación de los
enfoques relacionados cone l ACD. In: WODAK, Ruth y MEYER, Michel.
Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa Editorial, 2003.
NAVARRO, Luis. Aproximación a la comunicación social desde el para-
digma crítico: una mirada a la comunicación afirmadora de la diferen-
cia . En: Colombia Investigación & Desarrollo ed: Universidad del Norte
(Barranquilla) v.16 fasc.2 ,2008, p.327 – 345.
______. El hacer y el decir como acciones propias de la libertad humana. Una
mirada a la comunicación para el cambio social desde el pensamiento de Hannah
Arendt. En: Colombia Folios / Universidad de Antioquia ed: EDITORIAL
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA v.21 fasc.N/A 2009, p. 27-49.
______. Entre esferas públicas y ciudadanía, las teorías de Arendt, haber-
mas y Mouffe aplicadas a la comunicación para el cambio social. Barranquilla
(Colombia): Ediciones UNINORTE, 2010.
ORTIZ, Renato.Estudos culturais. Tempo Social — Revista de Sociologia da
USP. v. 16, n. 1, junho de 2004, p.119- 127.
PEDRO, Emília R. (Org). Análise Crítica do Discurso. Lisboa: Caminho, 1997.
PEDRO, Emília R. Análise Crítica do discurso: aspectos teóricos, metodoló-
gicos e analíticos. In: PEDRO, Emília R. (Org). Análise Crítica do Discurso.
Lisboa: Caminho, 1997, p. 19 – 46
PEDROSA, Cleide Emília Faye. Proposta teórica da análise crítica do dis-
curso: contribuição dos estudiosos na área. Mesa-redonda no I Seminário de
Análise de Discurso Crítica. UFC, Fortaleza, 27 e 28 de maio de 2010 a.
______. Urbanismo e linguagens: constituição cultural de instâncias públi-
cas. Projeto de pesquisa, PIC 700-2010, edital PROPESQ UFRN 02\2010.
Natal, RN, 2010 b.
______. Análise de Discurso Crítica: do linguístico ao social no gênero
midiático. Aracaju: EdUFS, 2008.
______. A linguagem urbana: o discurso público e privado. Disponível
www.filologia.org.br/.../A%20linguagem%20urbana %20o%20discurso%20
público, 2010 c.
______. Análise crítica do discurso: uma proposta para a análise crítica da
linguagem. In: IX Congresso nacional de lingüística e filologia – Cadernos do
CNLF, Vol.IX, nº03. – Rio de Janeiro, 2005.p.43-68.
PEDROSA, Cleide Emília Faye. Proposta da abordagem socioló-
gica e comunicacional do discurso (ASCD). http://www.facebook.com/
groups/302757813073801/, 27\10 de 2011, 16:52 e 07\11 de 2011, 15:32
56
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 56 28/05/2014 17:16:49
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
______. Abordagem sociológica e comunicacional do discurso (ASCD)
e posicionamento acerca do sujeito, 2012 a. http://www.facebook.com/
groups/302757813073801/ 22 de jan, 2012, 10:09
______. Abordagem sociológica e comunicacional do discurso (ASCD) e o qua-
dro identitário. 2012 b http://www.facebook.com/groups/302757813073801/, 6
de fev de 2012, 12:48
______. Abordagem sociológica e comunicacional do discurso (ASCD):
por uma definição dos conceitos e categorias. 2012 c. Encontro do Grupo de
Pesquisa GETED, linha: Análise Crítica do Discurso, UFRN, 29 de fevereiro
de 2012.
PEDROSA, et al,. Caminhos teóricos e práticos em análise crítica do dis-
curso. Minicurso apresentado no XIV CONGRESSO NACIONAL DE
LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, UERJ, Rio de Janeiro, 23 – 27 de agosto de
2010. Disponível em www.filologia.org.br.
PEDROSA, Cleide et al. Urbanismo e linguagens: análise crítica dos dis-
cursos privados em instâncias públicas. VI Congresso da Associação de
Linguística Sistêmico-Funcional da América Latina, UECE, outubro de 2010
c. (no prelo).
PRYSTHON, Ângela. Estudos Culturais: uma (in)disciplina? Revista
Comunicação e Espaço Público. Brasília/DF - UNB: 2003, ano VI nº 1 e 2.
RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso
(para a) crítica: o texto como material de pesquisa. Campinas, SP: Pontes
Editores, 2011.
RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise crítica do
discurso. São Paulo: Contexto. 2006.
______. Análise de Discurso Crítica, do modelo tridimensional à articula-
ção entre práticas: implicações teórico-metodológicas. Revista linguagem
em (Dis)curso, vol 5. N 1, 2004, http://www3.unisul.br/paginas/ensino/pos/
linguagem/0501/00.htm
RUCHKYS, Angélica Alves; ARAÙJO, Maria A. O. M. de. Análise do dis-
curso: em busca das (in)congruências entre as vertentes francesa e a anglo-
-saxã. In: MAGALHÃES, Célia (Org). Reflexões sobre a análise crítica do
discurso. Belo Horizonte: Faculdade de Letras, UFMG, 2001.
SZTOMPKA, Piotr. A sociologia da mudança social. 2 ed. Tradução Pedro
Jorgensem Jr. Rio De Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
57
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 57 28/05/2014 17:16:49
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
TUFTE, Thomas ¿Dónde están los medios públicos en América Latina?
Medios ciudadanos y transformación nacional en un contexto “glocalizado
“Signo y Pensamiento. vol. XXX, núm. 58, enero-junio, 2011, p. 64- 78.
VAN DIJK, Teun A. Discurso e poder. Hoffnagel, J.; Falcone, K. (Org). São
Paulo: Contexto, 2008.
VIAN JR, Orlando. SOUZA, Anderson Alves de. ALMEIDA, Fabíola A. S.
D. P. (Org.). A linguagem da avaliação em língua portuguesa. Estudos sistê-
mico-funcionais com base no sistema da avaliatividade. São Carlos: Pedro &
João Editores, 2010.
VIAN JR, Orlando. O sistema de Avaliatividade e a linguagem da avalia-
ção. In: _____ SOUZA, Anderson Alves de. ALMEIDA, Fabíola A. S. D. P.
(Org.). A linguagem da avaliação em língua portuguesa. Estudos sistêmico-
-funcionais com base no sistema da avaliatividade. São Carlos: Pedro & João
Editores, 2010.
WODAK, Ruth. De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). REsumen
de su historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollos. In: WODAK,
Ruth y MEYER, Michel. Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona:
Gedisa Editorial, 2003.
____________. Do que trata a ACD – um resumo de sua história, conceitos
importantes e seus desenvolvimentos. Revista Linguagem em (Dis) curso, v.
4, n. especial, 2004.
WODAK, Ruth; MEYER, Michael. Critical discourse analysis: history,
agenda, theory e methodology. In: WODAK, Ruth; MEYER, Michael. (Org.)
Methods of critical discourse analysis. 2 ed. (atualizada e modificada).
Londres: Sage, 2009. p. 1 - 33.
58
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 58 28/05/2014 17:16:49
DISCURSO, IMPRENSA E ENSINO
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 59 28/05/2014 17:16:49
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 60 28/05/2014 17:16:49
A ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO NA SALA
DE AULA DE GRADUAÇÃO
Anna Elizabeth Balocco
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 61 28/05/2014 17:16:49
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 62 28/05/2014 17:16:49
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
INTRODUÇÃO
Nesta apresentação, argumento pelo uso da Análise Crítica do
Discurso (doravante, ACD) no ensino de graduação, mais especifica-
mente na sala de aula de língua estrangeira. Num primeiro momento,
serão destacados os princípios e conceitos básicos da ACD considerados
pertinentes para a graduação em língua estrangeira. Em seguida, será
apresentado um enfoque discursivo à análise de uma notícia recente,
com foco no fenômeno do discurso relatado, bem como será discutido
como a análise discursiva, baseada nos preceitos da ACD, permite uma
leitura crítica daquele texto e contribui para a formação reflexiva do
professor de línguas.
1. A ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO E O CONCEITO DE
PODER
Um dos axiomas centrais da ACD é o postulado das relações
entre linguagem e poder: a linguagem não é um mero instrumento para
a comunicação, como costuma ser representada em vários livros volta-
dos para o ensino de língua estrangeira, mas um instrumento no exer-
cício e na negociação de poder entre indivíduos, nas múltiplas formas
que esse assume nas relações interpessoais na contemporaneidade.
Para a ACD, com base em Foucault (1995, p. 247), o poder na
sociedade contemporânea não é uma força central que a organiza, mate-
rializada no Estado ou em seus dispositivos, mas algo que se depreende
das inúmeras formas de disparidade social que ocorrem em diferen-
tes lugares discursivos e em diferentes tipos de relações interpessoais.
Há disparidade social nas relações entre homens e mulheres em certas
culturas ou países; entre brancos e negros; entre grupos étnicos; entre
jovens e velhos; entre grupos sociais com maior ou menor grau de inte-
gração com a cultura ou com a vida política; há disparidade de acesso
à educação ou à informação em várias culturas ou países.
63
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 63 28/05/2014 17:16:49
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Neste trabalho, abordo a disparidade social do ponto de vista
do acesso à mídia jornalística, com o objetivo de apontar uma forma
de aplicação da ACD nas salas de aula de graduação. Para tanto, elegi
o fenômeno linguístico do discurso relatado e o gênero “notícia publi-
cada em jornal digital”, como porta de entrada para o trabalho analítico
e crítico a partir dos pressupostos da ACD.
O objetivo último do trabalho com alunos de graduação em
Letras será a discussão dos conceitos de acesso à mídia e de man-
dato simbólico, fundamentais para o aprofundamento da democracia
moderna. Dessa forma, pretendo que o trajeto proposto pela ACD
seja cumprido nessas salas de aula, qual seja o de iluminar aspectos da
mudança e do poder na vida contemporânea a partir da discussão do
funcionamento da linguagem, desde os seus níveis microlinguísticos
até sua dimensão de prática social.
Na próxima seção, apresento a concepção de gênero adotada
na ACD, para, em seguida, proceder à análise de notícia sobre o massa-
cre de crianças em escola pública no Rio de Janeiro, publicada no jornal
digital inglês The Guardian, em abril de 2011.
2. O GÊNERO NOTÍCIA DE JORNAL
Consoante a proposta da ACD, uma etapa fundamental na aná-
lise da linguagem é a consideração de um texto como gênero. No con-
junto de textos de uma sociedade, qual a função de determinado gênero
e de que forma ele se relaciona com os outros gêneros reconhecidos em
determinada cultura ou grupo social?
Neste trabalho, o gênero “notícia”, fartamente estudado na
área da linguagem, é caracterizado como tendo a função precípua de
veicular ou divulgar fatos recentes, considerados relevantes para deter-
minado grupo social. Um exame das notícias de um jornal, em deter-
minado momento, proporciona um retrato da nossa vida e da nossa
cultura, a partir de determinada perspectiva. Quando se trata de um
jornal estrangeiro, que noticia fatos do nosso cotidiano e os coloca em
circulação para uma audiência globalizada, esse exame assume maior
relevância. No caso do texto específico para este artigo e levado para
a sala de aula, trata-se de notícia referente ao triste incidente em escola
64
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 64 28/05/2014 17:16:49
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
pública carioca, em abril de 2011, que culminou com o massacre de
doze crianças.
No que diz respeito às relações entre jornalista e público leitor,
notei que a autoria dessa notícia é explicitada, o que contribui para
conferir maior credibilidade à mesma, produzida a partir do relato do
correspondente estrangeiro do jornal The Guardian no Rio de Janeiro:
o jornalista Tom Phillips.
O gênero “notícia” encontra-se, do ponto de vista interdiscur-
sivo, em relação de oposição a gêneros ditos “opinativos”, esses últimos
com espaço para o posicionamento do jornalista em relação ao conte-
údo de sua matéria. Isso não significa, no entanto, que o autor do texto
não possa conferir determinada orientação argumentativa ao texto que
produz. No caso do texto em discussão, interessa justamente discutir
a orientação argumentativa dada à notícia, a partir do exame de uma
dimensão fundamental daquele gênero, que é a representação da fala
dos atores sociais envolvidos no fato relatado.
Finalmente, no que diz respeito ao modo ou características
textuais da notícia, observei que a mesma vem acompanhada tanto da
linguagem verbal quanto da visual, como frequentemente acontece no
jornalismo impresso ou digital. Contudo, apenas a linguagem verbal é
objeto de análise neste trabalho.
3. O DISCURSO RELATADO E O CONCEITO DE ACESSIBILIDADE
No trabalho de gramática em sala de aula com os alunos de
graduação em língua inglesa, costuma-se apontar a importância da
distinção entre aspectos da gramática que são passíveis de tratamento
discursivo (como o discurso relatado, em discussão neste trabalho) e
outros que podem ser considerados como “fatos” de linguagem, pois
não respondem às variáveis de discurso (como a flexão verbal, para dar
apenas um exemplo: a terceira pessoa do verbo, no inglês, exige flexão
em –s para marcar sua distinção de outras pessoas do discurso, e isto
não é afetado por variáveis discursivas).
Tendo feito essa divisão – de base puramente metodológica –
para organizar o trabalho em sala de aula, apresenta-se o fenômeno
do discurso relatado, discutem-se os aspectos formais que organizam
65
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 65 28/05/2014 17:16:49
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
esse sistema e são apresentados os seus aspectos discursivos, a partir
do exame de linguagem em uso. No caso do discurso relatado, apre-
sentam-se textos de diferentes gêneros (notícias, ensaios, resenhas,
conversas) e de diferentes domínios discursivos (discurso acadêmico,
discurso midiático, discurso oral espontâneo), para os quais são pro-
postas atividades de análise textual, cujo objetivo é estabelecer relações
entre as categorias gramaticais estudadas e os seguintes parâmetros:
“a quem é dada voz no texto: ao cidadão comum, às autoridades, aos
especialistas?”; “Qual o espaço discursivo garantido para os diferentes
tipos de participantes no discurso (autoridades, pessoas comuns, espe-
cialistas, juristas)?”; “Que padrões podem ser observados no texto no
que diz respeito às modalidades de discurso relatado (com ou sem atri-
buição das fontes da informação; com ou sem índices de assimilação
da voz do outro)?”.
O trabalho com diferentes domínios discursivos (discurso aca-
dêmico, discurso midiático, conversação) e com os diferentes gêneros
característicos desses domínios tem como objetivo levar os alunos a
reconhecerem que os parâmetros usados na caracterização de textos
não são fixos, mas variam de acordo com o gênero do texto e o domínio
discursivo em que se inserem. Assim, a ocorrência de discurso relatado
com atribuição é comum no discurso acadêmico, que tem como uma
de suas funções construir a credibilidade do pesquisador, mediante a
citação da literatura científica pertinente, como no exemplo a seguir:
Segundo Chomsky,.... No entanto, o uso excessivo de discurso rela-
tado com atribuição no discurso acadêmico pode ter efeito contrário,
impedindo que a voz do pesquisador se revele. No caso do discurso
midiático, impresso ou digital, tal prática discursiva tem função dife-
renciada: o discurso relatado sem atribuição busca preservar as fontes
da informação, enquanto aquele com marcas de atribuição constroi a
chamada “veracidade” do relato apresentado. Observamos, assim, fun-
cionalidades distintas no que diz respeito ao uso do discurso relatado,
com ou sem atribuição, em diferentes domínios discursivos.
No caso do discurso relatado com atribuição, interessa identi-
ficar a quem é dado acesso ao discurso midiático, impresso ou digital,
contribuindo para o estabelecimento de determinada visão do que é
noticiado, como será discutido adiante. Na próxima seção, apresento,
66
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 66 28/05/2014 17:16:49
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
de forma sucinta, o quadro teórico-analítico a partir do qual foi desen-
volvida a análise do discurso relatado no texto em discussão.
4. A GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E O SISTEMA
DO ENGAJAMENTO1
Para a gramática sistêmico-funcional (doravante, GSF), o prin-
cípio que organiza a língua é o sistema e não a estrutura, como na
gramática estruturalista. Mas, qual é a compreensão de ‘sistema’ no
interior daquele quadro teórico?
Entende-se o ‘sistema’, no quadro da GSF, de forma muito
específica e particular, em vista da concepção da natureza da lin-
guagem nele adotada, já que, para a gramática sistêmico-funcional, a
linguagem é um potencial semiótico, que se atualiza de forma dife-
renciada em contextos sociais – ou em situações de uso – distintos. A
partir dessa noção, o ‘sistema’ é entendido, com base em Firth (1957),
como a representação teórica de relações paradigmáticas: para uma
dada situação de uso da linguagem, postula-se uma rede sistêmica que
representa o potencial semiótico da linguagem, ou o conjunto de for-
mas de expressão potencialmente disponíveis, que se relacionam de
forma paradigmática. Há aqui, portanto, um sistema de escolhas. É
neste sentido que a gramática funcional é descrita por Halliday (1985)
como uma “gramática de escolhas”.
A noção de ‘sistema’, na linguística sistêmico-funcional, con-
trapõe-se, assim, à de ‘estrutura’, entendida como a representação teó-
rica de relações sintagmáticas ou relações de ordenamento linear na
cadeia sintática. Diferentemente do que ocorre na GSF, o foco aqui é
nas relações entre elementos da estrutura da oração.
Dentre as redes sistêmicas que representam o potencial semió-
tico da linguagem, destaquei o Engajamento como mais pertinente para
os propósitos deste trabalho. O sistema do Engajamento, localizado
1
As letras maiúsculas são usadas na GSF como referência a categorias semântico-
funcionais, de natureza abstrata, visto que se localizam no plano virtual do sistema, ou
seja, da língua enquanto potencial semântico.
67
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 67 28/05/2014 17:16:49
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
no âmbito da macrofunção interpessoal2 , recobre os recursos usados
para negociar posições valorativas no discurso e subdivide-se nas
seguintes redes sistêmicas: Atribuição, Modalidade, Discordâncias
e Proclamações. Dentre estas, focalizo, apenas, neste trabalho, a
Atribuição.
A Atribuição atualiza-se através de recursos lexicogramati-
cais de projeção3, na forma de processos verbais, mais especificamente
verbos de dizer, cujos participantes mínimos são um Dizente e uma
Verbiagem (o discurso relatado), como neste exemplo, retirado do texto
em discussão: Beltrame descreveu a matança como o “ato covarde” de
“uma pessoa doente”.
No exemplo, “Beltrame” é o Dizente e “ato covarde” e “uma
pessoa doente” são citações parciais, que funcionam como a Verbiagem.
Observa-se que não é dada a Beltrame uma fala integral na Verbiagem,
o que surpreende o leitor, como será discutido adiante. Em geral, a
Verbiagem em discurso relatado direto (em citação integral) destaca
as palavras originais de um autor, demonstrando que se trata de uma
figura respeitada em dada comunidade discursiva.
5. AS VOZES E OS DITOS
O título da matéria jornalística em discussão é “Disparos em
escola no Rio de Janeiro: são realizados os primeiros são realizados
os primeiros três funerais de vítimas”4, datada de 8 de abril de 2011.
O texto é de autoria de Tom Phillips, correspondente estrangeiro do
jornal inglês The Guardian, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma notícia
que dá continuidade à notícia anterior, que descreve o trágico incidente
do massacre de alunos numa escola pública carioca a partir de rela-
tos encontrados em jornais brasileiros, como o que se segue: “A mídia
2
Na GSF, a macrofunção interpessoal organiza a interação, o desempenho de papeis
sociais e as expressões de opinião e de atitude.
3
Na GSF, faz-se uma distinção entre oração projetada (aquela que traz o conteúdo do
dizer) e oração projetante (a oração que introduz o discurso relatado).
4
No original, em inglês: “Rio school shooting: first three funerals held for victims”. A
tradução do inglês é de responsabilidade desta pesquisadora.
68
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 68 28/05/2014 17:16:49
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
brasileira descreve a matança por ex-aluno como o pior massacre em
escola da história do país”5.
Nessa notícia (apresentada na sua integralidade no anexo), pro-
duzida inteiramente pelo próprio jornalista e não pela mídia local, o
foco é no enterro de três vítimas do massacre, como se depreende da
segunda parte do título: “são realizados os primeiros três funerais de
vítimas”, e nas reações emocionadas das pessoas diretamente envolvi-
das no trágico incidente, como indica o lead da notícia: “Garotas eram o
alvo principal do assassino, dizem alunos da escola Tasso da Silveira”6.
O jornalista dá início à matéria trazendo a voz das famílias de
três vítimas do massacre, num trecho de natureza narrativa, mas em
que se observa um verbo de dizer (em negrito): “as famílias das três
jovens reuniram-se para dizer o seu adeus vinte e quatro horas após
o pior massacre em escola da história brasileira”7. A representação da
fala dessas pessoas é codificada na forma de um sintagma nominal (“o
seu adeus [final]”8), que explicita o momento de separação de seus entes
queridos. Essa forma de codificação num sintagma nominal resumi-
tivo tem dupla função: representa a fala (“dizer”), além de atribuir-lhe,
no plano ideacional, um dito de natureza emocional (“adeus final”).
5.1. As vozes e os ditos na capela 1
Em seguida, o jornalista traz a voz da tia de uma das vítimas,
Laryssa, num trecho de discurso relatado de forma direta, sem tentativa
de assimilação da sua voz por parte do jornalista: “Ela era tão doce e
tão calma. Ela era a favorita do papai. Ela queria ir para a Marinha9”. O
dito é reproduzido, na sua integralidade, em discurso direto.
5
No original: “Brazilian media describes killing by former pupil as the worst school
massacre in the country´s history”
6
No original: “Girls were the main target of killer, say pupils from Tasso da Silveira
school”.
7
No original: “the families of three young girls gathered to say their final farewells 24
hours after the worst school massacre in Brazilian history”.
8
Cf. “their final farewells”, aqui traduzido como “seu adeus”.
9
Em inglês, no original: “She was so sweet and so calm. She was daddy´s favourite. She
wanted to be in the navy”.
69
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 69 28/05/2014 17:16:49
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
5.2. As vozes e os ditos na capela 4
Ainda na tentativa de reproduzir, sem interferência, a fala e a
emoção das pessoas presentes ao funeral, o jornalista indica uma placa
de metal azul, na capela quatro, contígua à capela 1, com os dizeres: “a
morte separa-nos de nossos entes queridos, mas Deus tem um plano”10.
Embora não haja aqui um Dizente, entende-se que a Verbiagem deve
ser atribuída a alguém: aqui, a voz é da família de Gessica, outra vítima
do massacre.
Ainda circulando pela capela quatro, o jornalista reproduz a
voz de uma amiga de Gessica, Ingrid Ribeiro, de 19 anos: “A família
está arrasada. Ela era apenas uma criança”11. Mais uma vez, a repro-
dução da fala em sua integralidade.
5.3. As vozes e o dito não verbal
Em seguida, o jornalista descreve as outras pessoas presentes
naquele recinto: “centenas de enlutados mais velhos encontravam-se
sentados, tremendo, chorando e gemendo”12. Não há propriamente um
dito nesse enunciado (ou uma Verbiagem), mas apenas a ocorrência de
verbos comportamentais (tremendo, chorando e gemendo), cuja função
é representar a fala daquelas pessoas que, naquele ambiente e naquelas
circunstâncias trágicas, assume a forma de um sentimento de desola-
ção generalizado. Um dito feito de emoção e não de palavras.
5.4. As vozes e os ditos na capela 3
Finalmente, o jornalista introduz a voz de amigos da terceira
vítima, Mariana, num enunciado em que, mais uma vez, não há um dito
(ou uma Verbiagem), mas uma tentativa do jornalista de repassar para
seu leitor os sentimentos dos presentes, na forma de uma fala constitu-
ída de lágrimas e indignação: “amigos da terceira criança reagiam com
10
Cf.: “death separates us from our loved ones but God has a plan”.
11
No original: “The family is devastated. She was just a child”.
12
Cf.: “hundreds of elderly mourners sat trembling, weeping and wailing”.
70
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 70 28/05/2014 17:16:49
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
raiva e lágrimas”13. A partir daqui, o jornalista deixa o território da dor
e adentra o território da indignação, agora na voz de Gilmar Moreira,
um pedreiro de 44 anos, pai da melhor amiga da vítima: “O governo
deveria estar envergonhado – onde está a segurança em nossas escolas?
Onde se está seguro hoje? Na lua?”14. O sentimento de indignação está
codificado não somente no epíteto “envergonhado” (“ashamed”) ende-
reçado ao governo, mas também na modalidade deôntica que aponta
para uma obrigação que não foi cumprida (“should”, ou “deveria”).
Observa-se, ainda nesse trecho, que: a) é dado um espaço discursivo
considerável para alguém, cuja categoria profissional (pedreiro) não
costuma ter acesso à mídia; e b) que sua voz não é assimilada pelo
jornalista, mas reproduzida na sua integralidade, em discurso relatado
direto.
5.5. As vozes e os ditos fora das capelas
A seguir, destaca-se, da matéria em discussão, a introdução
da voz do Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano
Beltrame, que fala sobre sua emoção para o jornal: “Nós mostramos
nossos sentimentos; é impossível controlar-se”15. Em seguida, num
enunciado com assimilação da voz do Secretário de Segurança, o jor-
nalista apresenta duas citações parciais em que Beltrame descreve o
massacre como “o ato covarde” de uma “pessoa doente”: “Beltrame
descreveu o massacre como o ‘ato covarde’ de uma ‘pessoa doente’”16.
Nesse ponto da análise, vale a pena levantar a seguinte questão, insti-
gando os alunos a refletirem sobre a acessibilidade ao discurso midiá-
tico: “o que justifica uma autoridade, como o Secretário de Segurança,
ter menos espaço discursivo nessa matéria do que um pedreiro?”
Enquanto a fala do pedreiro é citada na sua integralidade, a de Beltrame
é citada parcialmente, ou, quando citada integralmente, ocupa menos
13
Em inglês: “friends of the third child reacted with anger and tears”.
14
No original: “The government should be ashamed – where is the security in our
schools? Where is it safe anymore? The moon?”.
15
Cf.: “We show our feelings; it is uncontrolable”.
16
Em inglês, no original: “Beltrame described the shooting as the “cowardly act” of a
“sick person””.
71
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 71 28/05/2014 17:16:49
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
espaço discursivo que a do pedreiro. O que se costuma observar é que
autoridades, especialistas, representantes de órgãos públicos têm mais
espaço discursivo do que o cidadão comum.
O jornalista encerra a matéria com a voz do Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, em discurso direto, conclamando seus cole-
gas de governo a aderirem a uma “cruzada” contra o porte de armas:
“Temos que lutar de forma enérgica contra esta cultura do armamento,
contra esta cultura que leva as pessoas [...] a cometerem este tipo de
atrocidade.”17. Passamos do “ato covarde” da fala do Secretário de
Segurança para uma “cultura do armamento”, ou seja, de uma visão
local do ocorrido para uma visão mais abrangente, ou sistêmica, que
propicia esse “ato covarde” de barbárie.
6. O CONCEITO DE MANDATO SIMBÓLICO
Observa-se, assim, que as duas últimas vozes instanciam o
pronunciamento de autoridades que exercem um mandato simbólico e
que precisam, em função dele, assumir suas responsabilidades perante
o ocorrido. No âmbito local, o Secretário de Segurança descaracteriza
a natureza sistêmica da tragédia e evita o tema da segurança nas esco-
las públicas. Já o Ministro da Justiça, no âmbito nacional, aponta a
cultura do armamento como um dos fatores responsáveis pelo ocorrido.
Dessa discussão, deve-se ressaltar a importância do conceito
de lugares discursivos, que obedecem a regras de fala distintas. O uso
do pronome “nós”, na fala do Secretário de Segurança (“nós mostramos
nossos sentimentos; é impossível controlar-se” – “we show our feelings;
it is uncontrollable”), por exemplo, é marca do lugar de onde ele fala
(não como cidadão, mas como alguém que representa o povo do Rio de
Janeiro). É o reconhecimento desse lugar de fala institucional que jus-
tifica a ocorrência, no seu pronunciamento, de uma espécie de pedido
de desculpas pela expressão de emoção; “é difícil controlar a emoção”
pressupõe que a mesma deveria ser controlada por alguém que exerce
um mandato simbólico.
17
Cf.: “We have to fight strongly against this culture of armament, against this culture that
makes people [...] commit this kind of atrocity”.
72
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 72 28/05/2014 17:16:49
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Para finalizar a análise, observei que há predominância de
vozes de pessoas diretamente envolvidas na tragédia, além de lhes ser
garantido maior espaço discursivo, o que contribui para o tom emocio-
nal conferido à notícia. Colocou-se, então, para os alunos, a seguinte
questão: “como explicar o tom emocional do texto, tendo em vista
as características genéricas do gênero “notícia”, que costuma ser um
relato distanciado de fatos?”.
Em primeiro lugar, o jornalista assina a matéria, o que contri-
bui para o estabelecimento de uma relação de maior proximidade com
seus leitores. Por outro lado, o tema da notícia (o relato do funeral de
três vítimas do trágico acontecimento) sobrepõe-se às convenções do
gênero, que prescrevem relatos isentos e imparciais dos fatos noticia-
dos. O tom emocional conferido pelo jornalista à matéria parece aten-
der a uma norma cultural e discursiva que exige que nessas situações
sociais (funerais) não somente a emoção dos envolvidos seja respeitada,
mas também que os mesmos estejam no centro do evento, não havendo
outros atores sociais que a eles se sobreponham.
A imagem de leitor que se projeta nessa notícia é a de alguém
que acredita que a hora não é de politizar a questão. No entanto, com
todo o respeito à dor dos envolvidos, o jornalista apresenta, periferica-
mente, as vozes de representantes públicos, que abordam a tragédia do
ponto de vista social e institucional. Há, assim, uma forma de controle
social aqui: passamos da singularidade do evento (com seus sentidos
locais, a dor e o seu compartilhamento) para a generalidade da media-
ção de sentido através da mídia, que trabalha na redução, por assim
dizer, do sentido.
Por outras palavras, passamos do âmbito da rua (do lugar
do cidadão comum, onde há troca de sentidos em tempo real) para o
âmbito dos espaços públicos mediados: a mídia é uma instância de pro-
dução de sentidos e não de trocas interacionais imediatas. Ao retirar o
evento do seu local de inscrição simbólica imediato, a mídia trabalha na
fixação de certos sentidos e obscurecimento de outros.
Para instigar a formação reflexiva e crítica do futuro professor
de língua estrangeira, pedi aos alunos que trouxessem para sala de aula
notícias com o mesmo padrão observado no texto em discussão, ou
seja, com predominância de vozes em lugares de fala não-institucionais,
73
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 73 28/05/2014 17:16:50
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
para que fossem demarcados os territórios abertos no discurso, hoje,
para a expressão do cidadão comum. Verificamos que estes espaços
discursivos são limitados, ocorrendo geralmente nas páginas policiais
dos jornais ou revistas. Dessa forma, aprofundamos a discussão da
acessibilidade à mídia e das disparidades sociais.
Na tentativa, ainda, de se estender e aprofundar o exame das
práticas sociais, coloquei em discussão a dimensão da circulação de
sentidos de um texto: no caso deste trabalho, o texto em discussão é
uma notícia local, veiculada internacionalmente pelo jornal inglês The
Guardian. Assim, o texto universaliza uma visão particular do jorna-
lista responsável pela matéria para uma audiência global.
Essa questão fica evidente na prática discursiva usada para
referência ao tema da matéria: a codificação da tragédia carioca como
“o pior massacre acontecido em escolas no Brasil”18 coloca-a numa série
histórica, como se tivesse havido outros massacres em escolas brasilei-
ras. É possível que essa colocação da tragédia em uma série histórica,
a partir da qual ela deve ser avaliada, seja uma prática discursiva carac-
terística da cultura de origem do autor, em que se registram, no plano
simbólico, outras tragédias semelhantes. Entretanto, não faz sentido na
nossa cultura. Prova disso é a matéria do jornal O Globo online, de 08
de abril de 2011, que tem a seguinte chamada: “Imprensa estrangeira
destaca o ‘ineditismo’ da matança em escola brasileira”, seguida pelo
lead: “Para jornais, brasileiros ‘ainda estão tentando entender’ tragédia
que só parecia realidade nas manchetes internacionais”. Ou seja, não
existe uma série histórica a partir da qual o triste incidente possa ser
avaliado.
Outra interpretação possível aqui apontaria para o próprio
fenômeno de circulação de sentidos, que obrigaria o texto em análise a
uma relação de interdiscursividade, em escala global, com outros tex-
tos sobre tragédias semelhantes ao redor do mundo. Porém, mesmo
assim, a colocação desse triste incidente numa série histórica não faz
sentido, na cultura brasileira.
18
No original, em inglês: “At a sun-scorched Murundu cemetery in west Rio de Janeiro,
the families of three young girls gathered to say their final farewells 24 hours after the
worst school massacre in Brazilian history” (ênfase da pesquisadora).
74
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 74 28/05/2014 17:16:50
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
7. CONCLUSÕES: DE QUE MATÉRIA É FEITA A NOTÍCIA?
Nesse trabalho, apresentei um argumento pelo uso da Análise
Crítica do Discurso em sala de aula de língua estrangeira, através de
um exemplo de análise de uma notícia com foco no fenômeno do dis-
curso relatado.
A partir da análise de aspectos lexicogramaticais do texto (dis-
curso relatado com ou sem atribuição; com assimilação da voz (discurso
indireto) ou com citação (direto); com citações parciais ou integrais) e
levando em conta a inter-relação entre esses aspectos e variáveis como
gênero, domínio discursivo, tópico discursivo e relações interpessoais
(na dimensão das práticas discursivas), postulei a questão da acessibili-
dade à mídia como forma de abordar o texto como prática social, ligada
a questões de poder.
Para entendimento da noção de poder no que diz respeito à
mídia, levantei a discussão das disparidades sociais que regulam o
acesso à mídia, destacando-se o caráter excepcional do texto usado
como exemplo, cuja predominância de vozes do cidadão comum é
motivada pelo tópico discursivo. Tracei um paralelo entre a notícia
em discussão e aquelas encontradas nas páginas policiais, na tentativa
de abordar o texto como prática social, relacionando-o a outras práti-
cas sociais reconhecidas em nossa cultura. Nesse momento, foi dado
destaque ao fato de que o cidadão comum, em nossa sociedade, tem
lugar garantido na mídia, quando fala do lugar de “abatido”: aquele que
figura como vítima em notícias que relatam tragédias.
REFERÊNCIAS
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília. Ed. da UNB: 2001.
FIRTH, John R. Papers in linguistics 1934-1951. London, Oxford University
Press, 1957.
FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: DREYFUSS, H. & RABINOW,
P. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e
da hermenêutica. RJ. Forense Universitária: 1995.
75
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 75 28/05/2014 17:16:50
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
HALLIDAY, Michael A.K. An introduction to functional grammar. London:
Edward Arnold, 1985.
JORNAL O GLOBO. Imprensa estrangeira destaca ‘ineditismo’ de matança
em escola. Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/
imprensa-estrangeira-destaca-ineditismo-de-matanca-em-escola-carioca.
html
THE GUARDIAN. Rio school shooting: first three funerals held for victims.
Disponível em: http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/08/rio-school-
-shooting-funerals?INTCMP=SRCH. Acesso em; 08 abril 2011.
ANEXO A – TEXTO SOBRE MATANÇA EM ESCOLA BRASI-
LEIRA, PUBLICADO NO JORNAL THE GUARDIAN
Rio school shooting: first three funerals held for victims
Girls were the main target of killer say pupils from Tasso da Silveira
school
Tom Phillips in Rio de Janeiro
guardian.co.uk, Friday 8 April 2011 17.37 BST
At a sun-scorched Murundu cemetery in west Rio de Janerio,
the families of three young girls gathered to say their final farewells 24
hours after the worst school massacre in Brazilian history.
76
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 76 28/05/2014 17:16:50
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Crying relatives packed into three cramped chapels and hudd-
led around open caskets filled with white petals and the corpses of their
loved ones.
Laryssa da Silva Martins, 13, Gessica Pereira, 15, and Mariana
Rocha de Souza, 12, were among 12 students shot on Thursday when
Wellington Menezes de Oliveira, 23, burst into their school in Realengo,
western Rio, and opened fire with two handguns before killing himself
after being shot by police. The three girls were the first to be buried.
Laryssa lay in chapel one in a shiny white coffin. “She was so
sweet and so calm. She was daddy’s favourite. She wanted to be in the
navy,” said her aunt, Sandra Tavares, 52, as the coffin was closed.
Next door, in chapel four, lay Gessica. Next to her coffin a
blue metal sign was screwed into the wall. “Death separates us from
our loved ones but God has a plan,” it read. “Be strong and have faith.”
Gessica’s friend, Ingrid Ribeiro, 19, wiped tears from her eyes
with a green flannel. “The family is devastated. She was just a child.”
Around her, hundreds of elderly mourners sat trembling, weeping and
wailing.
Friends of the third child, Mariana, reacted with anger and
tears. “The government should be ashamed – where is the security
in our schools? Where is it safe anymore? The moon?” questioned
a 44-year-old bricklayer, Gilmar Moreira, father of the victim’s best
friend.
Laryssa was the first to be buried, just after 11.30am. As her
coffin was slotted into a concrete draw, mourners erupted into a round
of applause that echoed across the dusty cemetery. Gravediggers sealed
grave number 347 with grey putty. Overhead a police helicopter tossed
red and yellow petals into the wind.
Rio’s security secretary Jose Mariano Beltrame attended two
burials at the Murundu cemetery and stood in silence, wiping tears
from his eyes.
“We show our feelings,” he told the Guardian, his voice cra-
cking. “It is uncontrolable.”
Beltrame described the shooting as the “cowardly act” of a
“sick person.”
77
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 77 28/05/2014 17:16:50
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Eduardo Nascimento, whose teenage niece, Milena is to be
buried this afternoon said: “We believe she was shot in the chest. Just
one shot, but it was enough to take her.”
Edvaldo dos Santos whose daughter, Mariana was killed in the
shooting, said: “It is difficult. I never thought something like this would
happen at school.”
Students said Oliveira had entered Tasso da Silveira school at
about 8am on Thursday claiming to be giving a lecture.
After talking to a former teacher he made his way up a flight
of stairs to classroom three where students, mostly girls, were lined up.
He shot many at point-blank range in the head and chest.
Mateus Moraes, 13, told the O Dia newspaper that Oliveira had
deliberately killed a number of girls but spared the boys. “He killed the
girls with shots to the head,” Moraes said. “The boys, he just shot to
injure, in the arms or the legs.
“I asked him not to kill me and he said: ‘Relax, fatty, I’m not
going to kill you,’” added Moraes. “As he reloaded the gun I just prayed.
God saved me.”
Grisly photographs taken inside classroom three were printed
by one local newspaper and CCTV footage showing part of the ram-
page was also leaked, although editors decided most of the images were
too disturbing to publish.
The photographs showed open textbooks and backpacks scat-
tered on top of a jumble of blood-stained chairs and desks. Golden bul-
let cases littered the floor.
Jade Ramos Araújo, 12, was sitting a science test when Oliveira
burst into her classroom wearing a dark blue jacket and with an ammu-
nition belt strapped to his waist.
“He was shouting at the children: ‘Face the wall because I’m
going to kill you,’” she told the Brazilian news website IG. “The chil-
dren shouted, begging: ‘Don’t kill me, young man.’
“It was like a waterfall of blood, with blood flowing like water.
There were lots of dead people on the stairs, more girls than boys.”
Another 12-year-old student said the gunman had been well
dressed. “He came into our room and said he was going to kill everyone.
78
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 78 28/05/2014 17:16:50
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
I thought I was going to die.” Asked if she would return to the school,
the girl shook her head amd said: “I am leaving.”
Brazil’s justice minister, José Eduardo Cardozo, promised a
government “crusade” against gun ownership. “We have to fight stron-
gly against this culture of armament, against this culture that makes
people … commit this kind of atrocity,” he said.
© 2011 Guardian News and Media Limited or its affiliated
companies. All rights reserved.
79
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 79 28/05/2014 17:16:50
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 80 28/05/2014 17:16:50
TRANSMUTAÇÃO DOS GÊNEROS:
O FENÔMENO EM EDITORIAIS DE JORNAL E
POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES PARA A SALA DE AULA
Aurea Zavam
Universidade Federal do Ceará
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 81 28/05/2014 17:16:50
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 82 28/05/2014 17:16:50
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
As leis da mudança são inatas a todas as coisas que nos cercam
(Carl Jung)
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
É fato que a divulgação nos círculos acadêmicos ocidentais do
(célebre) ensaio Os gêneros do discurso, de Bakhtin, impulsionou os
estudos linguísticos nos últimos vinte anos e, consequentemente, possi-
bilitou reconhecer os gêneros como “um objeto discursivo ou enuncia-
tivo” (ROJO, 2005, p. 196). Intrinsecamente associada à concepção de
gênero como artefato que permeia todo e qualquer ato de comunicação,
está a ideia de que os gêneros são, por natureza, sujeitos à instabilidade
ou maleabilidade. Considerando essa característica prototípica dos
gêneros, Bakhtin (2005 [1929]1, p. 106) afirmou (embora referindo-se
especificamente ao gênero literário) que “o gênero sempre é e não é o
mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo”.
Quando se refere à estabilidade relativa dos enunciados, toma-
dos, no contexto de origem, como gêneros do discurso, Bakhtin (2000
[1979]2) retoma a possibilidade de os gêneros serem passíveis de reela-
boração, uma vez que suas formas são mais maleáveis e livres que as
formas da língua, mais padronizadas, condicionadas a leis normativas.
De acordo com as transformações por que passam as sociedades, os
gêneros desaparecem, migram para dentro de outros, intercalam-se,
transformam-se, num contínuo processo de evolução. É o que, por sua
vez, aponta Bronckart (1999, p. 73-74), ao se referir ao caráter tanto
histórico, quanto adaptativo das produções textuais: “alguns gêneros
tendem a desaparecer [...], mas podem, às vezes, reaparecer sob formas
parcialmente diferentes; alguns gêneros modificam-se [...]; gêneros
1
A data entre colchetes refere-se à 1ª edição da obra original.
2
O ano de publicação da edição original em russo (Estetika slovesnogo tvortchestva)
é 1979. Sobre o ensaio Os gêneros do discurso, incluído na obra em questão, Faraco,
Castro e Tezza (2001) afirmam ter sido escrito em 1952-1953.
83
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 83 28/05/2014 17:16:50
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
novos parecem [...]; em suma, os gêneros estão em perpétuo movi-
mento”. Ou, ainda, como afirma Todorov (1980, p.46), ao refletir sobre
a origem dos gêneros, “um novo gênero é sempre uma transformação
de um ou vários gêneros antigos: por inversão, por deslocamento, por
combinação”.
Como vemos, as transformações pelas quais passam os gêne-
ros receberam atenção de Bakhtin (2005, 2000), assim como de outros
estudiosos já citados, e continuam a mover o interesse dos que se
debruçam sobre o fenômeno da transmutação3, como Araújo (2006),
Lima-Neto (2009) e Costa (2010). Tal fenômeno, embora seja reconhe-
cido por todos aqueles que investigam os gêneros, ainda tem sido pouco
explorado em estudos que nos são dados a conhecer.
Tentando, então, contribuir com uma possível expansão do
conceito desse fenômeno, desenvolvemos um arcabouço teórico-meto-
dológico que permitiu compreender os diferentes processos de criação
e inovação dos gêneros (ZAVAM, 2009) e que nos servirá de aporte
para a análise que mostraremos neste estudo.
Nosso objetivo é, pois, discorrer sobre a transmutação, for-
necendo exemplos extraídos de textos jornalísticos, assim como falar
sobre as implicações que a aplicação desse conceito empresta aos estu-
dos sobre gêneros e, consequentemente, ao ensino desses artefatos dis-
cursivos na educação básica.
Para dar conta do nosso objetivo, estruturamos este texto em
três partes: na primeira, com o aporte de trabalhos anteriores, apresen-
tamos o conceito de transmutação, bem como a distinção que atribuí-
mos aos processos que percebemos diferentes; na segunda, com base
nas categorias da transmutação apresentadas, mostramos como o fenô-
meno se manifesta no editorial de jornal e como se lhe dá a recorrência
de elementos (entendidos como tradições discursivas4) de outros gêne-
ros do jornalismo impresso; e na terceira, tecemos comentários sobre
3
Estamos trabalhando com o termo “transmutação”, empregado na tradução da obra de
Bakhtin (Estética da criação verbal) feita a partir do francês, por considerarmos esta
versão a mais amplamente difundida. Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer
que o termo, ao ser substituído por “reelaboração”, em tradução feita diretamente do
russo, por Paulo Bezerra (2003), resgata a interferência dos usuários dos gêneros nesse
processo de transformação, como bem atestou Costa (2010).
4
Tradições discursivas dizem respeito às regularidades textuais, isto é, às formas
convencionais de falar ou escrever que funcionam tanto como “um intertexto no sentido
84
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 84 28/05/2014 17:16:50
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
a relevância da discussão proposta para o ensino dos gêneros textuais5,
considerando o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental.
1. O FENÔMENO DA TRANSMUTAÇÃO
Bakhtin, quando emprega o termo transmutar, o faz para falar
da transformação pela qual os gêneros primários passam ao serem
inseridos nos gêneros secundários. Para o linguista russo, os gêneros
primários (gêneros simples) são os ligados ao diálogo, à comunicação
verbal espontânea, às esferas da ideologia do cotidiano; e os secun-
dários (gêneros complexos), os que resultam de comunicação cultural
mais elaborada, principalmente escrita, ligados às esferas dos sistemas
ideológicos constituídos6. Com base nessa distinção, afirma que
Os gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros
primários (simples) de todas as espécies, que se constituíram
em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Os
gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros
secundários, transformam-se dentro destes e adquirem uma ca-
racterística particular: perdem sua relação imediata com a rea-
lidade existente e com a realidade dos enunciados alheios – por
exemplo, inseridas no romance, a réplica do diálogo cotidiano
ou a carta [...] só se integram à realidade existente através do
romance considerado como um todo, ou seja, do romance con-
cebido como fenômeno da vida literário-artística e não da vida
cotidiana (BAKHTIN, 2000, p. 281).
Ancorando-nos nessas formulações, entendemos a transmutação
como um processo constitutivo dos gêneros, já que nenhum gênero, quer
estrito de um texto que se repete” (KABATEK, 2003, p.5 – grifo do autor) quanto como
um modo reconhecido de enunciar.
Ainda que reconheçamos a distinção estabelecida por Rojo (2005), para quem os estudos
5
que se voltam para a descrição da composição e da materialidade linguística, de um
modo geral, adotam a “teoria dos gêneros textuais”; e os que se centram na descrição
da situação de enunciação e seus aspectos sócio-históricos, a “teoria dos gêneros do
discurso”. Neste trabalho estamos tomando gênero textual como equivalente a gênero
do discurso.
A propósito da distinção entre gêneros primários e gêneros secundários, basilar em
6
Bakhtin, cf. FARACO, 2003.
85
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 85 28/05/2014 17:16:50
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
seja primário, quer seja secundário, permanece inalterável no curso
de suas manifestações. Essa nossa proposição nos leva a ressaltar o
estreito imbricamento entre história da sociedade e história dos gêneros
do discurso. Se a sociedade se transforma, transformam-se também os
gêneros, não importando de que natureza sejam.
Quando um gênero absorve e transmuta outro, está concomi-
tantemente transmutando-se também. Assim, o romance (da “esfera
dos sistemas ideológicos constituídos”), ao tomar a carta (da “esfera
da ideologia do cotidiano”) como componente – para nos valermos do
exemplo de Bakhtin –, transforma não só a carta, que passa a integrar
uma nova realidade, mas também a si próprio, que passa a exibir uma
nova forma composicional. A transmutação é, pois, se assim podemos
dizer, um processo auto e hetero constitutivo dos gêneros. Dessa forma,
tanto podemos flagrar a transmutação na absorção de um gênero de
uma esfera em um outro, de outra esfera; a carta no romance, por exem-
plo, quanto à transmutação no interior do gênero que absorve outro, o
romance “inovado”.
No citado exemplo de Bakhtin, a transmutação ocorre entre
gêneros de esferas7 distintas. Paralelamente, podemos pensar que a
transmutação se dê também entre gêneros da mesma esfera; seria o
caso, por exemplo, de um romance que incorpora um poema, para con-
tinuarmos dentro da esfera literária. Agora, estamos diante de outra
proposição: a transmutação é um fenômeno que ocorre não só entre
gêneros de esferas distintas, mas também entre gêneros da mesma
esfera.
Para nós, da voz de Bakhtin transcrita anteriormente, podemos
propor com segurança que um gênero, ao migrar para outro gênero,
passa a elemento constituinte deste. No momento em que uma carta é
inserida no romance, ainda que conserve sua forma e seu significado,
passa a fazer parte de uma realidade “fabricada”, “manipulada”, pois é
fruto de uma comunicação verbal “artificialmente” espontânea, criada
7
Julgamos, nesse momento, oportuno esclarecer que, apoiando-nos na voz de Bakhtin,
estamos concebendo “esfera” como o espaço onde são engendrados e por onde circulam
gêneros determinados. Tais gêneros vão se diferenciando e se ampliando “à medida
que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa” (2000, p. 279). Essa mesma
concepção está em Marcuschi (2002), que emprega a expressão “domínio discursivo”
para designar a “esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade humana”,
que propicia “o surgimento de discursos bastante específicos” (2002, p. 23).
86
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 86 28/05/2014 17:16:50
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
pelo autor no desenvolvimento de sua obra. Integrada ao romance, “con-
cebido como fenômeno da vida literário-artística e não da vida coti-
diana” (BAKHTIN, 2000, p.281), a carta, é, nesse sentido, transmutada.
Entendemos, então, que a carta “transmutada” perde sua natu-
reza intrínseca, qual seja: a de se constituir “em circunstâncias de
comunicação verbal espontânea” (BAKHTIN, 2000, p. 281), uma vez
que passa a ser fruto da intenção de um autor que a leva para dentro de
sua obra, para uma realidade, digamos, inventada, e não para a reali-
dade existente. O gênero transmutado – a carta – compõe a realidade
da enunciação do autor e, por isso, é transmutado, ainda que do ponto
de vista da enunciação dos personagens (a enunciação dentro da obra)
venha a simular8 uma comunicação verbal espontânea, uma realidade
existente. Assim, para Bakhtin, o gênero transmutado “carta” perde
tanto a sua relação imediata com a realidade existente (já não se trata
de comunicação verdadeiramente espontânea), quanto a relação com
a realidade dos enunciados alheios, pois também não pertence à reali-
dade do romance, fenômeno da vida literário-artística. Ao migrar para
o romance, a carta não passa a gênero da esfera dos sistemas ideológi-
cos constituídos, dos gêneros secundários, no caso à esfera do romance;
a carta continua sendo gênero da esfera do cotidiano, dos gêneros sim-
ples, só que do cotidiano dos personagens.
No exemplo de Bakhtin, a incorporação se dá de um gênero que
pertence a uma esfera, a carta, por outro de outra esfera, o romance. Por
outro lado, isso não nos permite inferir que esse fenômeno só aconteça
com gêneros de esferas diferentes. O próprio Bakhtin, em outra obra,
ao discorrer sobre o plurilinguismo – “o discurso de outrem na lingua-
gem de outrem” (1988, p. 127 – grifos originais) –, fala sobre hibridi-
zação e intercalação de gêneros, duas formas de absorção de discursos.
A fim de melhor encaminharmos a defesa desta nossa proposição, qual
seja: a transmutação ocorre independentemente de mudança de esfera,
retomamos a definição bakhtiniana desses dois fenômenos decorrentes
do plurilinguismo.
Por construção híbrida, Bakhtin entende a fusão de “dois
enunciados, dois modos de falar, dois estilos, duas ‘linguagens’, duas
8
Nas palavras de Bakhtin, os gêneros secundários “simulam em princípio as várias
formas da comunicação verbal primária” (2000, p. 325 – grifo original).
87
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 87 28/05/2014 17:16:50
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
perspectivas semânticas e axiológicas”, sem que haja fronteira formal
delimitando a divisão de vozes e de linguagens, que “ocorre nos limites
de um único conjunto sintático” (1988, p.110); por gêneros intercalados,
a introdução, na composição do romance, de diferentes gêneros, “tanto
literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramá-
ticos, etc.), como extraliterários (de costumes, retóricos, científicos,
religiosos e outros)” (p.124 - grifos nossos).
A introdução de um gênero em outro pode se dar, portanto,
não só por gêneros de diferentes esferas, como também por gêneros da
mesma esfera, como é permitido se depreender das palavras e exem-
plos dados por Bakhtin.
Aceitando, então, a reestruturação e renovação como um
processo constitutivo dos gêneros e baseando-nos no que postulamos
sobre transmutação, retomamos nossas proposições, sintetizadas em
três aspectos, que julgamos inerentes à manifestação desse fenômeno:
i) o gênero incorporado (ou transmutado) é agregado à estrutura
composicional do gênero incorporante (ou transmutante);
ii) o gênero incorporante transmuta e é transmutado;
iii) o gênero incorporado e o gênero incorporante podem fazer
parte tanto de esferas diferentes quanto de uma mesma esfera.
Além desses aspectos, acrescentamos outro que, somado aos
anteriores, nos permitirá vislumbrar uma ampliação da abrangência do
conceito de transmutação: o gênero conserva, em sua estrutura compo-
sicional, tema e/ou estilo9, marcas da transmutação, que podem ser per-
cebidas em sua história, isto é, podem recordar o seu passado, recente
ou remoto.
Vista sob essa perspectiva, a transmutação, para nós, respon-
deria pela transformação por que passa um gênero (seja primário ou
secundário), tanto na absorção de um gênero por outro (quer da mesma
esfera ou de diferentes esferas), quanto na adaptação a novas contingên-
cias (históricas, sociais, entre outras). Dito de outra forma, a transmu-
tação seria o fenômeno que regeria a possibilidade de transformar
9
Tomamos aqui o gênero em sua totalidade (tema, composição e estilo), tal como propôs
Bakhtin (2000).
88
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 88 28/05/2014 17:16:50
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
e de ser transformado, à qual os gêneros do discurso estariam,
inexoravelmente, submetidos.
Ainda que saibamos o quão complexa é a tarefa de dilatação
de um conceito, sobretudo quando esse conceito é tão pouco explorado
teoricamente, mesmo sendo tão fartamente empregado em análises,
propomos a ampliação da noção que se tem desse fenômeno, baseando-
-nos na crença de que a transmutação se dá por processos distintos. Em
função dessa distinção, propomos ainda uma tipologia operacional.
Nesse sentido, numa primeira instância, a distinção se daria
entre transmutação criadora e transmutação inovadora. Com a pri-
meira, estamos nos referindo ao fato de um gênero surgir de outro(s)
(como, a mala direta10, o blog11, por exemplo); com a segunda, ao fato
de todo e qualquer gênero, mesmo os mais estandardizados, compor-
tar transformações, sem que essas o transformem em um novo gênero
(os anúncios publicitários12 , o artigo de opinião13, por exemplo). Dessa
forma, as primeiras manifestações de um gênero que “nasce” seriam
sempre flagrantes da transmutação criadora, a transmutação resultante
da atividade criadora dos gêneros, a atividade assegurada pela possibi-
lidade que, em princípio, todo gênero tem de dar origem a novos gêne-
ros; já as transformações que observamos cotidianamente nos gêneros
seriam reflexos da transmutação inovadora, a transmutação resultante
da possibilidade que todo gênero tem de passar por recriação de si
mesmo, com ou sem incorporação de outro.
Numa segunda instância, a distinção seria entre transmuta-
ção externa (transmutação intergenérica) e transmutação interna
(transmutação intragenérica). O processo é intergenérico quando há a
inserção de um gênero no outro, resultando na captação ou subver-
são, de que fala Maingueneau (2001). Assim, quando, por exemplo,
um anúncio publicitário incorpora um cartão-postal, estamos diante
de transmutação externa, isto é, transmutação intergenérica, como
veremos no exemplo a seguir:
10
Cf. Távora (2003).
11
Cf. Komesu (2004).
12
Cf. Laurindo (2005).
13
Cf. Rodrigues (2001).
89
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 89 28/05/2014 17:16:50
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
ANÚNCIO
A MÃE E A FILHA
Mamãe, não tenho vestido
E Barros & Irmão annuncia
Cretones de todas as cores
E fustões à fantasia.
Então, já sei o que queres:
Um vestido de fustão?
É cousa muito barata
Pouco mais de um patação!?
Não, mamãe, o Barroso
Tem um pandego, o caixeiro.
Vende tudo muito bem
Por muito pouco dinheiro
Pois bem, manda comprar
Um vestido deste panno
já vou à rua da Palma,
Junto a Loja do Albano
Figura 1 – Anúncio publicitário (Jornal Constituição, de 188514)
Nesse exemplo, o poema é trazido para dentro da realidade
criada pelo gênero anúncio publicitário, revelando o que Bakhtin res-
saltou, quando afirmou que os gêneros intercalados “refrangem em
diferentes graus as intenções do autor” (1998, p. 125). Com essa incor-
poração, o poema passou a elemento constituinte desse exemplar do
gênero anúncio publicitário (e não de todos), fazendo parte da realidade
simulada pelo anúncio. Em outras palavras, o poema foi transmutado,
pois passou a compor outra cena enunciativa. Por sua vez, o anúncio
publicitário também sofreu transmutação.
O fenômeno da introdução de um gênero na composição de
outro recebeu o olhar de Bakhtin no estudo sobre plurilinguismo a que
nos referimos anteriormente. O teórico da literatura se reporta a esse
14
Este e outros anúncios do século XIX encontram-se reproduzidos em Campos (1984).
Agradeço esta indicação de leitura a Hildenize Andrade Laurindo, doutoranda do
Programa de Pós-graduação em Linguística-UFC.
90
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 90 28/05/2014 17:16:51
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
fenômeno designando-o como intercalação de gêneros e lembra que, no
caso particular do romance, seu objeto de estudo, há um grupo espe-
cial de gêneros (confissão, diário, relato de viagem, biografia, carta e
alguns outros) que exercem um papel estrutural tão importante que “às
vezes chegam a determinar a estrutura do conjunto, criando variantes
particulares do gênero romanesco” (1988, p. 124). Desse modo, a intro-
dução, por exemplo, do gênero carta no romance como seu elemento
estrutural básico resultaria no gênero romance epistolar. Bakhtin res-
salta, ainda, que o papel que gêneros intercalados como esses exercem
é tão grande que pode parecer que o gênero incorporante esteja privado
da sua primeira abordagem verbal da realidade e precise de uma ela-
boração preliminar dessa realidade por intermédio de outros gêneros,
ele mesmo [o romance] sendo apenas uma unificação sincrética, em
segundo grau, desses gêneros verbais primeiros (1988).
No caso do nosso exemplo, preferimos falar em sobreposição,
ou superposição, pois o termo intercalação, por sua natureza etimoló-
gica, sugere algo que se põe “entre, no meio de”. O poema passa a com-
por a estrutura composicional do anúncio de tal forma que a estrutura
deste subsume a daquele. O mais interessante é que, mesmo que um
gênero cubra, quase que totalmente, a forma composicional de outro,
camuflando-a, ainda assim se reconhece o gênero incorporante15. Esse
“assalto”, abonado, não descaracteriza o gênero incorporante, não o
desautoriza a continuar pertencendo a sua esfera, muito menos o faz
deixar de existir como tal; apenas revela o fenômeno da transmutação,
no caso, a transmutação intergêneros16.
Nesse sentido, podemos falar em transmutação intergêneros,
isto é, em transmutação externa, quando as transformações que ocor-
rem no gênero são marcadas pela incorporação de um outro gênero,
quer seja da mesma esfera ou não (o poema não é da mesma esfera do
anúncio).
Esse fenômeno – reconfiguração de um gênero – já tinha sido
observado por Bakhtin, quando, recorrendo a uma digressão histórica
para melhor compreender e analisar a obra de Dostoiévski, identificou,
15
O gênero anúncio continua sendo reconhecido como tal, porque o propósito permanece
o mesmo: vender um produto ou oferecer um serviço.
16
Apresentando variação em sua designação – hibridização, superposição,
intertextualidade intergenérica –, o mesmo fenômeno é abordado, respectivamente, por
Marcuschi (2002); Alves Filho (2005); Koch, Bentes e Cavalcante (2007), entre outros.
91
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 91 28/05/2014 17:16:51
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
na menipeia17, a capacidade de “mudar sua forma externa (conservando
sua essência interna de gênero)” (2005, p.136).
Retomando a nossa segunda instância de distinção para o fenô-
meno da transmutação, o processo é intragenérico quando as transfor-
mações operadas dentro de um gênero não resultam da inserção de
outro, mas de fatores que condicionam e impulsionam essa transforma-
ção: a mudança de mídium18, de propósito comunicativo, esfera, época,
estilo, entre outros (os mesmos fatores que também podem condicionar
a incorporação de um gênero por outro). Em outras palavras, podemos
falar de transmutação interna, isto é, transmutação intragenérica,
quando as transformações que ocorrem no gênero não se prendem a
um outro, da mesma esfera ou não, mas a contingências de seu percurso
histórico, a adaptações a novas exigências comunicativas no curso de
suas manifestações, como podemos observar com o exemplo seguinte.
O Estadão, 20 de outubro de 1940.
Figura 2 – Anúncios publicitários de épocas distintas
17
Gênero da Antiguidade Clássica, do campo do sério-cômico, mistura “temas
especificamente filosóficos com assuntos de retórica e dialética, salpicados de
hilariedade” (REGO, 1989, p.32). A denominação sátira menipeia, ou simplesmente
menipeia, se deve a Menipo de Gádara, filósofo do século III a.C., que se opunha à sátira
romana, aquela que condena. O autor, que em sua obra deixava em aberto a condenação
ou o julgamento, deu ao gênero a forma clássica e foi, segundo Bakhtin (2005, p. 91),
quem consagrou a sátira, “gênero carnavalizado, extraordinariamente flexível e mutável
[...] capaz de penetrar em outros gêneros”.
18
Entendido como “o sistema dispositivo-suporte-procedimento de memorização,
articulado a uma rede de difusão” (DEBRAY, 1995, p.218) ou, ainda, “o midium não
é um simples ‘meio’, um instrumento para transportar uma mensagem estável: uma
mudança importante do midium modifica o conjunto de um gênero de discurso”
(MAINGUENEAU, 2001, p.71-72 – grifos originais).
92
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 92 28/05/2014 17:16:51
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Como podemos perceber, não há sobreposição de gêneros,
mas transformações de um mesmo gênero. Tais transformações, ainda
que possam, hipoteticamente, ter sido inspiradas em outro gênero, não
resultam em uma “configuração híbrida”19, como acontece no caso do
cartão-postal inserido no anúncio publicitário, visto anteriormente.
A este processo de transmutação estão submetidos todos os
gêneros, mesmo os mais inflexíveis, pois a sociedade muda, se trans-
forma, assume novas configurações, e os gêneros textuais, por sua vez,
refletem e refrangem (para empregarmos termos bakhtinianos) essas
mudanças.
A fim de tornar mais claro e sintetizar, sob outra forma de
textualização, o que estamos propondo, concebemos o esquema repre-
sentado na figura a seguir.
T ran sm u tação
C riadora
G ênero
novo
In ovadora
Extern a In tern a
Figura 3 – Categorias da transmutação (ZAVAM, 2009, p. 64)
Nesse sentido, todo gênero revelaria inicialmente marcas da
transmutação criadora, ou, nas palavras de Bakhtin, recordaria o seu
19
Termo adotado por Marcuschi quando trata da “intertextualidade inter-gêneros”. A
expressão “configuração híbrida” é sugerida, segundo o autor, por Ursula Fix (1997),
para falar de um gênero assumindo a função de outro (cf. MARCUSCHI, 2002, p. 31).
93
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 93 28/05/2014 17:16:51
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
passado e, no decorrer de seu desenvolvimento, como prática discur-
siva estabilizada numa dada esfera de comunicação, estaria sujeito a
novas transmutações, que poderiam ser de natureza criadora, vindo a
contribuir para o surgimento de novos gêneros, e/ou transmutação ino-
vadora, manifestando a sua “adaptabilidade” às novas contingências:
históricas, políticas, sociais ou culturais. A transmutação inovadora
seria externa, quando incorporasse outro gênero, e interna, quando
revelasse traços de adaptabilidade a novas demandas, sem agregação
de outro gênero.
Costa (2010), como já salientamos anteriormente, também
estudou o fenômeno do surgimento e inovação dos gêneros. Com o pro-
pósito de discutir aspectos da reelaboração de gêneros, notadamente os
audiovisuais televisivos, o autor analisou especificamente dois gêneros
discursivos: telenovela e telejornal, submetidos ao processo de migra-
ção ou transmidiação para a internet. Para tanto, centrou sua análise
em seis vídeos postados no site YouTube, os quais haviam passado por
intervenções de usuários-produtores. Partindo da tipologia desenvol-
vida por Zavam (2009), observou traços que revelavam a reelaboração
nas formas inovadora e criadora. Costa (2010) preferiu trabalhar com o
termo reelaboração – ao qual já nos referimos –, ancorado na tradução
de Paulo Bezerra, para assim aproximar-se do que defende Bakhtin
sobre a linguagem e, dessa forma, poder acentuar o protagonismo dos
sujeitos envolvidos nas práticas discursivas que engendram os gêneros
do discurso. Seus resultados revelaram que a reelaboração pode ser fla-
grada em dois níveis: inicialmente, num nível criador, a reelaboração
responderia por dar origem a outros gêneros, sejam eles mais inclina-
dos à estandardização ou mais inclinados ao que chamou de emergên-
cia, isto é, em seu estado nascedouro; num outro nível, a reelaboração
alteraria traços internos dos gêneros analisados, sem, contudo, ser sufi-
ciente para a criação de outros gêneros.
Objetivando sistematizar seu posicionamento, Costa (2010)
propõe uma ampliação do esquema das categorias de transmutação
proposto por Zavam (2009) e apresenta, então, o seguinte quadro:
94
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 94 28/05/2014 17:16:51
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Figura 4 – Modelo de reelaboração de gêneros do discurso, adaptado de
Zavam (2009), concebido por Costa (2010, p. 72)
O modelo de Costa torna mais evidente uma proposição que
também defendemos, mas que não ficou clara no esquema das catego-
rias da transmutação que havíamos concebido: nem sempre o processo
de transmutação/reelaboração de um gênero resultará em um gênero
novo, ou, como acentua Costa (2010, p. 73), os gêneros transmutados
não necessariamente dão origem a novos gêneros; estão “na verdade,
sujeitos a uma gradação entre o pólo emergente e o pólo estandardi-
zado”. Dessa forma, possibilitam fazer emergir gêneros distintos do
original, que podem ser classificados num continuum entre gêneros
emergentes e gêneros estandardizados.
No esquema de Costa (2010, p. 73), a transmutação criadora,
tal qual a transmutação inovadora, também se distingue por duas ins-
tâncias: a reelaboração criadora de gênero com inclinação emergente e
a reelaboração criadora de gênero com inclinação estandardizada.
Tendo defendido a ampliação do conceito de transmutação,
bem como a gradação que se estabelece nesse processo, ilustrado com
95
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 95 28/05/2014 17:16:51
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
exemplares do gênero anúncio, passamos, em seguida, a mostrar como
esse mesmo processo também pode ser observado no gênero editorial,
objeto deste estudo.
2. A TRANSMUTAÇÃO EM EDITORIAIS DE JORNAL
Tomamos como editorial de jornal o texto que, veiculado em
lócus próprio, possui periodicidade sistemática e destina-se à mani-
festação de opinião ligada a interesses dos segmentos empresariais/
institucionais por ele representados. Publicado, pelo menos desde um
passado recente, sem assinatura20, volta-se para assuntos locais, nacio-
nais ou internacionais, que estejam na pauta das discussões políticas,
econômicas ou sociais.
O editorial de jornal, atualmente, é um gênero de topografia
bastante regular, uma vez que tem lugar determinado para a sua anco-
ragem: uma coluna à esquerda ou ao centro em uma das páginas ini-
ciais do 1º caderno. Aliados à topografia, outros elementos contribuem
para a composição do discurso gráfico21 do editorial, ou seja, para a
sua diagramação na página impressa, conferindo-lhe identidade visual.
Vale ressaltar que o que tomamos como editorial hoje não sig-
nifica que tenha sido assim percebido pelos produtores originais, pois
não podemos nos esquecer de que, como a sociedade muda com o pas-
sar do tempo, as categorizações também não permanecem as mesmas,
tanto que, no século XIX, o editorial era reconhecido como artigo de
fundo ou introdução (GOMES, 2007). Ainda sob um viés diacrônico,
Castilho da Costa, investigando os gêneros que compunham edições de
1875 do jornal paulistano A Província de São Paulo, encontrou não só
diferenças, mas, sobretudo, semelhanças composicionais entre a carta,
a notícia e o editorial.
Em relação às mudanças, às transformações, entendidas como
traços do processo de transmutação, apontamos a seguir algumas delas,
20
Embora o editorial, hoje, não seja assinado, reconhecemos que no início do jornalismo
brasileiro essa característica ainda não tinha se firmado completamente (ZAVAM,
2009).
21
Discurso gráfico, segundo Prado (apud SILVA, 1985, p. 39), “é um conjunto de elementos
visuais de um jornal, revista, livro ou tudo que é impresso. Como discurso, ele possui a
qualidade de ser significável; [...] O discurso gráfico tem como objetivo ordenar nossa
percepção. É ele que nos dá o fio da leitura [...] é fundamentalmente subliminar”.
96
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 96 28/05/2014 17:16:51
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
todas atestando a transmutação/reelaboração inovadora interna, de que
falamos na seção anterior.
No que se refere ao discurso gráfico, facilmente podemos
constatar que o editorial, no curso de sua história, incorporou algu-
mas modificações em relação à topografia. Da fase inicial, quando as
folhas circulavam mais para dar notícia dos atos do governo, o editorial
ocupava as páginas internas, sem grande destaque; quando passou a
atender interesses dos proprietários e a servir de espaço para contendas
político-partidárias, o editorial foi alçado às suas primeiras páginas (cf.
Figura 5) e continuou a ocupar essa posição, mesmo quando a imprensa
passou a empresa jornalística, a partir do início do século XX. Além da
localização, também devido à industrialização da imprensa, passou a
ter sua extensão bem mais reduzida, concentrando-se sempre em uma
única página.
Figura 5 – Editorial do jornal O Cearense, de 11 de outubro de 1847.
No século XIX, o editorial era incluído ou em uma seção sem
denominação específica ou em uma que, geralmente, recebia o mesmo
97
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 97 28/05/2014 17:16:51
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
nome do jornal, conforme mostra a primeira página do exemplar abaixo
reproduzido:
Figura 6 – O Retirante, de 1º de julho de 1877
As novas empresas jornalísticas, dotadas de equipamentos
gráficos adquiridos para o exercício de sua função, iriam imprimir ao
plano da produção, e também ao da circulação, uma nova feição ao
jornalismo (e, consequentemente, à atividade de diagramação), a qual
afetaria as relações do jornal com o anunciante, com a política e com
os leitores.
A partir do último quartel do século XX, o editorial passou,
então, a ser publicado em uma seção própria, com título, dividindo
espaço em uma mesma página com outros gêneros, também de natu-
reza argumentativa, como o artigo de opinião e a charge, por exemplo.
98
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 98 28/05/2014 17:16:51
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Figura 7 – O Povo, de 1º de dezembro de 1975.
Identificamos, ainda, outros elementos constitutivos do edito-
rial que nos chamam a atenção, sobretudo por constituírem práticas que
se revelam particularidades da transmutação inovadora: a incorpora-
ção de tradições discursivas de outros gêneros do jornalismo impresso,
a saber: abertura e olho. Como vamos observar, não se trata da incor-
poração de outro gênero, mas de formas de enunciar típicas de outros
gêneros, respectivamente, notícia e entrevista.
A abertura – pequeno resumo do texto apresentado antes do título para
sumariar o conteúdo – constitui recurso que começou a ser observado
em editoriais do fim do século XX. Ao que tudo indica, parece desem-
penhar a função de chamar a atenção do leitor para o conteúdo do edi-
torial, uma espécie de lead22. Embora nem sempre figure em todas as
edições posteriores, ainda pode ser observado em editoriais de jornais
de alguns estados, como Ceará, Piauí, Bahia, por exemplo. A título de
ilustração, reproduzimos a parte de um editorial de 1991, do jornal O
Povo (Ceará), em que esse recurso foi empregado:
22
Parágrafo que apresenta um relato sucinto dos aspectos essenciais da notícia.
99
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 99 28/05/2014 17:16:52
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Figura 8 – Abertura do editorial do jornal O Povo, de 06 de março de 1991.
Quanto ao olho – pequeno trecho selecionado disposto no meio
do texto, utilizado para ressaltar o que se considera importante no con-
teúdo –, também este pode ser encontrado em editoriais de jornal, a
partir do final do século passado, e em exemplares dos dias atuais,
conforme podemos constatar a seguir:
Figura 8 – Editorial do jornal O Dia, de 29 de abril de 2012 (Teresina-PI)23.
23
Agradeço à Edineuda Teixeira, que, mesmo não sendo mais minha bolsista, me socorreu
de última hora e me enviou a imagem capturada.
100
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 100 28/05/2014 17:16:52
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Há algumas considerações a respeito da fixação (ou não) des-
ses elementos - abertura e olho - que merecem destaque: tais reelabo-
rações parecem quebrar a rigidez estrutural do editorial, reconhecido
por se apresentar constituído de um texto inteiro, sem outros elementos
a interromper-lhe o “fio argumentativo”. E o mais interessante: esses
recursos, prototípicos de outros gêneros do jornalismo impresso, a notí-
cia e a entrevista, parecem ter sido usados para imprimir ao editorial
uma configuração própria e, ao que tudo indica, têm sido revalidados
pelos redatores, assim como pelo seu auditório social, que parece não
contestar essa inovação. Poderíamos estar, assim, diante de uma possí-
vel incorporação de um elemento constitutivo de outro gênero discur-
sivo (a notícia e a entrevista) pelo editorial, sem falar na possibilidade
de também vermos essa inovação como um flagrante exemplo do edi-
tor de texto24 funcionando como co-enunciador a penetrar a autoria e
dela fazer parte.
A seleção de recursos de diagramação, por sua vez, aciona-
dos na materialização do gênero no suporte, funciona, também, como
vimos, como estratégia para a construção de sentidos, agindo como fio
condutor da argumentação pretendida.
Compreender as transformações por que passam os gêneros
textuais nos ajudam a melhor descrever e analisar as práticas discursi-
vas que permeiam as interações entre sujeitos. Tendo melhor compre-
ensão sobre os gêneros textuais, estaremos mais bem preparados para
trabalhar com esses artefatos enunciativos e discursivos como objeto de
ensino. Este é, pois, o foco da nossa próxima seção.
3. IMPLICAÇÕES DO FENÔMENO DA TRANSMUTAÇÃO
PARA O ENSINO DOS GÊNEROS TEXTUAIS
É sabido que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de
Língua Portuguesa, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino
Médio, sugerem o trabalho com a diversidade de gêneros, como forma
de possibilitar ao aluno a convivência não só com gêneros mais ligados
ao universo literário, mas também com aqueles da vida cotidiana, para
24
Estamos nos referindo não ao editorialista, que escreve o editorial, mas ao profissional
que responde pela edição do texto na página e pelo enfoque a ser dado.
101
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 101 28/05/2014 17:16:52
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
que assim possam ser desenvolvidas a habilidade de leitura e a compe-
tência discursiva, necessárias à ampliação da capacidade exigida de um
leitor e produtor de textos eficiente.
Atentos a essa sugestão dos PCN, e possivelmente às con-
tribuições da Linguística Textual, vários livros didáticos de Língua
Portuguesa já incluem em seu conteúdo atividades voltadas ao trabalho
com receitas, bulas, panfletos, cartas de leitor, entre outros. Aliados a
esses gêneros on paper, há também os on-line, como e-mail, blog, e,
até, fanfic25, que estão sendo trabalhados por professores nas salas de
aula.
Nossa contribuição aqui se dá, justamente, no sentido de cha-
mar a atenção para a abordagem do processo de criação e reelaboração
dos gêneros, que pode ser explorado na escola. Esse trabalho pode se
dar a partir de gêneros midiáticos, por exemplo. Sabemos que esses
gêneros constituem práticas discursivas com as quais os jovens se iden-
tificam, e é na escola que estão (ou deveriam estar) os jovens. É uma
forma de trabalhar com a geração e a compreensão de informações em
recursos multimodais, tão típicos da sociedade digital em que vivemos.
Paralelamente, a escola estaria assegurando espaço para trabalhar com
o típico hibridismo entre modalidade oral e escrita, tão marcante em
muitos desses gêneros emergentes, e, de quebra, o trabalho com esses
gêneros da Web estaria contribuindo para uma luta maior da educação:
a verdadeira apropriação social das TIC – Tecnologias de Informação e
Comunicação – que, para muitos, ainda não passou de ficção.
O professor, juntamente com os alunos, procuraria identifi-
car regularidades textuais e discursivas nesses gêneros que emergem
da internet, com o objetivo de fazê-los reconhecer que, muitas vezes,
aquilo que aparece como novo deixa marcas de “cruzamentos” que
resultaram numa constituição/reelaboração. O novo recorda o seu pas-
sado, como diria Bakhtin (2000). Ao explorar essas marcas, os alunos
perceberiam tradições discursivas na constituição dos gêneros.
O trabalho com a transmutação dos gêneros não se esgotaria
nos textos on-line. Seria alcançado também com os já referidos gêneros
on paper. Nesse contexto, a análise que esboçamos aqui com o editorial
Abreviação do termo em inglês “fan fiction” quer dizer ficção criada por fãs
25
para divulgação na internet, em sites especializados para este fim (cf. http://
coisasqueamoemcharmed.vilabol.uol.com.br/fanfics_faq.html).
102
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 102 28/05/2014 17:16:52
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
poderia ir para a sala de aula com o objetivo de fazer os alunos refle-
tirem sobre a dinamicidade e plasticidade dos gêneros. O que foi per-
cebido em relação ao editorial poderia ser estendido a outros gêneros,
quer fosse do domínio jornalístico ou não. O professor estaria, assim,
contribuindo para que os alunos pudessem reinventar os gêneros e dri-
blar suas convenções. Mas, para que obtenha êxito nessa tarefa, os alu-
nos precisam, antes de tudo, se apropriar dos gêneros e conhecer suas
convenções. Somente a subversão com propósito, praticada por um
usuário competente da língua, pode se revelar exitosa, caso contrário, o
objetivo do projeto “de dizer” não seria levado a termo, e a construção
de sentidos estaria comprometida.
O trabalho com gêneros não deve ficar circunscrito a modelos
preestabelecidos. Falar de gêneros pressupõe falar de condições de pro-
dução, de circulação e de recepção; de plurilinguismo, dialogismo, poli-
fonia; de conservação e inovação (aspectos constitutivos dos gêneros).
Os PCN articulam os conteúdos de Língua Portuguesa em
torno de dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita e a reflexão
sobre a língua e a linguagem. Entre os conteúdos das práticas que cons-
tituem o eixo uso, ligados ao processo de interlocução, encontramos a
“historicidade da linguagem e da língua” (PCN, 1998, p. 35). Nesse
contexto, o trabalho com o conceito de “tradição discursiva” é funda-
mental, pois um de seus valores reside, justamente, no fato de acentuar
a dimensão histórica dos gêneros do discurso. É olhando para a história
do gênero no curso das suas manifestações que percebemos os vestí-
gios de mudança e traços de permanência; é comparando exemplares
de épocas distintas que reconhecemos o que é peculiar nos gêneros; é
identificando tradições discursivas que compreendemos o que é proto-
típico e é o que incorporado, isto é, resultado do “diálogo” com outros
gêneros, com outras tradições discursivas.
Nesse sentido, o ensino de Língua Portuguesa deve acontecer
num espaço onde as práticas de uso da língua(gem) sejam compreendi-
das em sua dimensão histórica, e a necessária análise e sistematização
dos conhecimentos linguísticos decorra dessas mesmas práticas (PCN,
1998). Os achados, possibilitados pelo estudo diacrônico, nos ajudam,
assim, na tarefa de lançar um novo olhar para a constituição/reelabora-
ção dos gêneros.
103
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 103 28/05/2014 17:16:52
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao olharmos para o desenvolvimento de um gênero discursivo
– o editorial – nos vimos diante das sucessivas transformações pelas
quais passou. Para melhor compreendermos tais modificações, lança-
mos mão do conceito de transmutação. Entretanto, tal conceito, por
si só, não foi suficiente para que pudéssemos perceber diferenças nas
variadas formas de manifestação da reelaboração. Passamos, então, à
ampliação do conceito – para, assim, distinguirmos as modalidades em
que o fenômeno, que subjaz ao surgimento e à sobrevivência de toda e
qualquer prática discursiva mediada por gêneros textuais, se revela – e
nos fixamos em uma categoria em particular: a transmutação inova-
dora, interna e externa.
O estudo diacrônico contribuiu para revelar as transforma-
ções que se dão no interior dos gêneros, como as que observamos no
anúncio e, particularmente, no editorial de jornal, nosso foco de aná-
lise. Contribuiu também, ainda que de modo sucinto, para mostrar que
uma característica, que hoje se apresenta tão marcada em um gênero, é
resultado de uma construção histórica, bem como para evidenciar que
um aspecto caracterizador de um gênero nem sempre pode ter se mani-
festado da forma como a apreendemos em nosso tempo.
Com o estudo, pudemos evidenciar uma inovação em um
gênero reconhecido por uma (suposta) rigidez: o emprego de elemen-
tos constitutivos de outras tradições discursivas da esfera jornalística.
Como observamos em nossa análise, desde o fim do século passado,
pudemos encontrar, em editoriais de jornais, cearense ou não, a aber-
tura e o olho, elementos característicos da notícia e da entrevista. Esses
fatos serviram para reforçar o que já se conhece sobre a plasticidade e
a dinamicidade dos gêneros do discurso.
Procedemos dessa forma por acreditarmos que uma análise
de gêneros, mesmo que prioritariamente sincrônica, ganharia muito –
em uma compreensão mais detalhada do fenômeno investigado – se
buscasse considerar, entre outros, aspectos diacrônicos, pois o gênero
como se apresenta hoje é resultado de realizações desse mesmo gênero
ao longo de seu percurso histórico (ou de outros, no caso de se analisar
um gênero em seu nascedouro). Assim, estamos chamando a atenção
104
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 104 28/05/2014 17:16:52
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
para a contribuição que uma abordagem diacrônica pode dar tanto para
os estudos sobre gêneros do discurso, ainda que em sua realização
atual, quanto para o ensino-aprendizagem desses complexos artefatos
discursivos. Os alunos, certamente, ganhariam, e muito, se lhes fosse
possibilitado conhecer (e trabalhar com) a historicidade da língua e dos
textos/gêneros.
REFERÊNCIAS
ALVES FILHO, Francisco. A autoria nas colunas de opinião assinadas da
Folha de S. Paulo. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da
Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Campinas/SP, 2005.
ARAÚJO, Júlio César R. Os chats: uma constelação de gêneros na inter-
net. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós-graduação em
Linguística, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza/CE, 2006.
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance.
Tradução Aurora F. Bernadini et al. São Paulo: Unesp-Hucitec, 1988.
________________. Estética da criação verbal. Tradução Maria
Ermantina G.G. Pereira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
________________. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução Paulo
Bezerra. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um
interacionismo sócio-discursivo. Tradução Anna Rachel Machado e Péricles
Cunha. São Paulo: EDUC, 1999.
CAMPOS, Eduardo. Capítulos de história da Fortaleza do século XIX: o
social e o urbano. Fortaleza: Edições UFC, 1984.
CASTILHO DA COSTA, Alessandra. Tradições discursivas em A Província
de São Paulo (1875): gêneros textuais e sua constituição. In: Simpósio Mundial
de Estudos de Língua Portuguesa, 2008, São Paulo. Simpósio Mundial de
Estudos de Língua Portuguesa, 2008.
105
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 105 28/05/2014 17:16:52
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
COSTA, Rafael R. da. A TV na web: percursos da reelaboração de gêneros
audiovisuais na era da transmídia. Dissertação (Mestrado em Linguística) –
Programa de Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará.
Fortaleza/CE, 2010.
DEBRAY, Regis. Manifestos midiológicos. São Paulo: Vozes, 1995.
FARACO, Carlos A. Linguagem e diálogo: as ideias lingüísticas do Círculo de
Bakhtin. Curitiba: Criar Edições, 2003.
________________; CASTRO, Gilberto de; TEZZA, Cristovão (Org.).
Diálogos com Bakhtin. 3. ed. Curitiba: Ed. da UFPR, 2001.
GOMES, Valéria S. Traços de mudança e de permanência em editoriais de jor-
nais pernambucanos: da forma ao sentido. Tese (Doutorado em Linguística)
– Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco.
Recife/PE, 2007.
KABATEK, Johannes. Tradiciones discursivas y cambio lingüístico. Texto
inédito apresentado no Seminário Nuevos enfoques en la lingüística histórica.
Soria, Espanha, 7-11 jul. 2003. Disponível em: <www.kabatek.de/discurso>.
Acesso em: 12 jan. 2009.
KOCH, Ingedore G. V.; BENTES, Anna C.; CAVALCANTE, Mônica M.
Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007.
KOMESU, Fabiana C. Blogs e as práticas de escrita sobre si na Internet. In:
MARCUSCHI, Luiz A.; XAVIER, Antônio C. Hipertexto e gêneros digitais.
Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. p. 110-119.
LAURINDO, Hildenize A. Subversão – uma marca do lúdico no discurso
publicitário. In: COSTA, Nelson B. da. (Org.). Práticas discursivas: exercí-
cios analíticos. Campinas: Pontes Editores, 2005. p. 83-96.
LIMA-NETO, Vicente de. Mesclas de gêneros no Orkut: o caso do scrap.
Dissertação (Mestrado em Linguística) – Programa de Pós-graduação em
Linguística, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza/CE, 2009.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. Tradução
Cecília P. de Souza-e-Silva e Décio Rocha. São Paulo: Cortez, 2001.
MARCUSCHI, Luiz A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In:
DIONISIO, Ângela P.; MACHADO, Anna R.; BEZERRA, M. Auxiliadora
(Org.). Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p. 19-36.
REGO, Enylton de Sá. O calundu e a panacéia: a sátira menipéia e a tradição
luciânica em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.
106
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 106 28/05/2014 17:16:52
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
RODRIGUES, Rosângela H. A constituição e o funcionamento do gênero
jornalístico artigo: cronotopo e dialogismo. Tese (Doutorado em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem) – Programa de Estudos Pós-Graduados
em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001.
ROJO, Roxane. Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e
aplicadas. In: MEURER, J. L.; BONINI, Adair; MOTTA-ROTH, Desirée.
(Org.). Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial,
2005. p.184-207.
SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comu-
nicação impressa. São Paulo: Summus, 1985.
TÁVORA, Antônio D. F. Forma, função e propósito na constituição do
gênero textual mala direta. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Centro
de Humanidades, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza/CE, 2003.
TODOROV, T. Os gêneros do discurso. Tradução Elisa A. Kossovitch. São
Paulo: Martins Fontes, 1980.
ZAVAM, Aurea S. Por uma abordagem diacrônica dos gêneros do discurso
à luz da concepção de tradição discursiva: um estudo com editoriais de jor-
nais. 420f. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós-graduação em
Linguística, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza/CE, 2009.
107
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 107 28/05/2014 17:16:52
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 108 28/05/2014 17:16:52
OS GÊNEROS NA COMPOSIÇÃO DO JORNAL
O CARAPUCEIRO DO SÉCULO XIX:
QUESTÕES DE PESQUISA E ENSINO
Valéria Severina Gomes
Universidade Federal Rural de Pernambuco
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 109 28/05/2014 17:16:52
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 110 28/05/2014 17:16:52
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
INTRODUÇÃO
Mesmo com as contribuições de linguistas e filólogos brasilei-
ros que, analisando a língua, se ocuparam e se ocupam com o estudo
diacrônico do português brasileiro, e, mais recentemente, os que se
interessam pelo ponto de vista do estudo dos gêneros discursivos de
épocas passadas, em paralelo com a historicidade da língua, ainda há
uma lacuna significativa entre as pesquisas de cunho sócio-histórico
e a correlação com o ensino da língua(gem). Nem sempre o professor
se sente motivado para criar espaços de reflexão sobre a língua e o
texto de sincronias passadas no ambiente de sala de aula. Parece, mui-
tas vezes, que os propósitos comunicativos dos gêneros discursivos e
os recursos linguístico-discursivos empregados no passado ficaram lá
e nada têm a ver com os usos que se faz no presente. Um olhar mais
atento sobre essa questão revela um universo a ser explorado, tanto pelo
viés da pesquisa quanto do ensino ou dos dois juntos, sobretudo no que
diz respeito ao estudo diacrônico dos textos e da língua e suas marcas
de mudança e de permanência ao longo do tempo. O objetivo deste
artigo é, a partir da identificação dos gêneros que compõem o jornal O
Carapuceiro, analisar as práticas sociais de leitura e de escrita no con-
texto do século XIX, por meio de três gêneros discursivos específicos:
o editorial, a fábula e o gênero proverbial. O propósito das reflexões
aqui contidas é contribuir com os trabalhos que buscam uma forma de
aproximação processual e dinâmica entre os estudos diacrônicos e sin-
crônicos voltados para a historicidade da língua e do texto, sem perder
de vista as implicações para o ensino.
Em meio a esse cenário, emergem alguns questionamentos,
que têm sido levados para outros espaços de debate, concernentes às
contribuições que as pesquisas sócio-históricas podem trazer para o
desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. Essas
questões não terão respostas imediatas nos limites deste artigo, mas
podem servir para despertar o interesse de alguns leitores em verificar,
no campo da pesquisa e/ou do ensino, alguns assuntos aqui abordados
111
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 111 28/05/2014 17:16:52
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
e, consequentemente, incitar outras discussões a partir, por exemplo,
destas inquietações: “Qual o espaço destinado para a inserção dos estu-
dos sócio-históricos da língua(gem) e dos textos nos livros didáticos?”;
“A formação na graduação ou a formação continuada dos professores
tem contribuído para que esses profissionais percebam a relevância e
se sintam motivados a incluir, nas suas aulas, reflexões históricas sobre
a língua e sobre os textos?”; “Como, por que e para que o professor
pode inserir, em suas ações didáticas, componentes sócio-históricos
que auxiliem o desenvolvimento da competência comunicativa dos alu-
nos?”; “O trabalho na perspectiva sócio-histórica da língua e do texto
configura-se como mais uma possibilidade didática, em consonância
com as orientações pedagógicas interdisciplinares?”; “Que atividades,
envolvendo as reflexões sobre a língua e sobre os textos de épocas pas-
sadas, poderiam complementar as práticas escolares de leitura e de pro-
dução de texto?”.
Cada questão mencionada acima dá margem a investigações e
publicações de artigos distintos. Por esse motivo, não há aqui a pretensão
de oferecer respostas imediatas, mas colocar em evidência inquietações
que motivem o desdobramento de novos estudos e novas iniciativas.
Por enquanto, pretende-se, nos limites deste artigo, tratar apenas da
composição genérica de um periódico em circulação no século XIX, O
Carapuceiro, e das práticas sociais de leitura e de escrita, a partir de
três gêneros publicados nesse jornal. Com isso, busca-se semear algu-
mas ideias que visem a uma aproximação processual e dinâmica – e
não dicotômica – entre os estudos diacrônicos e sincrônicos na inter-
face entre a pesquisa e o ensino, o que contemplará algumas das ques-
tões postas acima e outras não, mas que consiga gerar, cedo ou tarde,
outros frutos.
Dentre esses frutos, na tentativa de fortalecer a ponte entre
o passado e o presente e entre a pesquisa e o ensino, uma parte da
equipe pernambucana do PHPB (Projeto para a História do Português
Brasileiro, com a coordenação nacional de Ataliba Teixeira de Castilho
e coordenação local de Valéria Severina Gomes), composta por Rose
Mary Fraga, Cleber Ataíde, Tarcísia Travassos, Andréa Souza e Silva
e Priscila Ferreira, aprovou, em 2012, pelo FUNCULTURA (Fundo
Pernambucano de Incentivo à Cultura), Programa de Incentivo à
112
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 112 28/05/2014 17:16:52
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Cultura da FUNDARPE, do Governo do Estado de Pernambuco, o pro-
jeto “Identidade e memória em manuscritos e impressos pernambuca-
nos: língua, história e cultura através dos textos”, vinculado ao projeto
institucional, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, intitulado
“Tradição Discursiva e Letramento: A Historicidade da Lingua(gem) e
dos Gêneros Jornalísticos do Século XIX Aplicada ao Ensino”, coorde-
nado por Valéria Severina Gomes. O resultado do projeto aprovado foi
a elaboração de uma cartilha contento abordagens linguísticas, histó-
ricas e culturais por meio de manuscritos e impressos pernambucanos
dos séculos XVIII, XIX e XX, para distribuição gratuita nas escolas
públicas do Estado de Pernambuco e a confecção de um site (www.
manuscritosimpressospe.com.br) para disponibilizar o banco de dados
da pesquisa. Entre outras iniciativas de divulgação científica espalha-
das pelo Brasil, espera-se que essa também possa contribuir, mesmo
que pontualmente, para despertar o interesse e a leitura crítica dos
estudantes acerca do seu grupo social, de sua cultura e de sua língua,
materializada nos textos de sincronias passadas.
Para fundamentar os projetos citados anteriormente, como
também a temática central deste artigo, conceitos de diferentes – mas
complementares – aportes teóricos são tomados. Parte-se, por exemplo,
de um conceito de letramento pluralizado – letramentos –, com base
em Soares (2002), ao argumentar que o confronto de diferentes tecno-
logias de leitura e de escrita, a partir de diferenças relativas ao espaço
da escrita e aos mecanismos de sua produção, reprodução e difusão,
evidencia que cada tecnologia, a exemplo da tipográfica ou digital, tem
determinados efeitos sociais, cognitivos e discursivos, o que resulta em
modalidades diferentes de letramento. É por meio do percurso histó-
rico dessas tecnologias – desde a escrita nas placas de argila, passando
pelos rolos de papiro e pergaminho, alcançando a invenção da imprensa
e o advento da internet – que são reveladas modalidades distintas de
letramento. Em pesquisa sobre o percurso histórico do livro, Bezerra
(2007) comenta alguns métodos inovadores de estruturação e organiza-
ção textual dos livros, por volta do século V da era cristã, que facilitam
a compreensão do leitor nos séculos que antecederam a invenção da
imprensa, são eles: divisão em capítulos; títulos de capítulos; gêneros
introdutórios (tema e biografia); sobrescritos e subscritos; pontuação;
113
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 113 28/05/2014 17:16:52
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
glosas, escólios, comentários, catenae e onomástica; ornamentos artís-
ticos. Com as mudanças tecnológicas e a sucessão de novos suportes
e novos recursos aos textos, ocorrem, evidentemente, alterações nas
práticas sociais de leitura e de escrita, que vão da alteração da postura
e manuseio do suporte pelo escriba e pelo leitor aos processos de cons-
trução de sentido.
Esse tipo de abordagem dos gêneros discursivos e dos suportes
como ação retórica no decorrer do tempo encontra aporte na Teoria
de Gênero, com base na nova retórica americana. A recorrência, por
exemplo, é um conceito central postulado por Miller (1984), ao consi-
derar que os gêneros vão se firmando em convenções sociais, constan-
temente reproduzidas e ritualizadas, recorrentes, que obtém os mesmos
efeitos em situações similares. Na mesma linha dessa autora, Bazerman
(2003, p. 134-135) observou que “o gênero artigo experimental muda na
medida em que se movimenta entre épocas, localidades e especialida-
des, cada um com pressuposições, dinâmicas e necessidades diferen-
tes”. Vê-se contemplada, então, nessa análise, a noção de que gêneros
são processos sócio-historicamente constituídos.
Com uma proposta voltada para a Linguística Aplicada, dedi-
cada à organização retórica dos gêneros acadêmicos em função do
ensino de segunda língua, Swales (1990) define comunidade discursiva
como uma comunidade de práticas discursivas, caracterizada por agru-
pamentos sócio-históricos, com determinação funcional do aspecto
comunicativo e que agrupa indivíduos por interesses sócio-profis-
sionais. Na dinâmica dos gêneros, as mudanças e as recorrências são
produzidas e atestadas pelos membros das diferentes comunidades dis-
cursivas e ganham proporções maiores, abrangendo toda a sociedade, a
exemplo do fazer jornalístico de O Carapuceiro, abordado neste artigo.
Para a efetivação do ato comunicativo falado ou escrito, os
indivíduos atravessam o filtro do sistema e dos recursos da língua e
o filtro do acervo cultural de sua comunidade (KABATEK, 2003).
Esses modelos sócio-histórico e culturalmente recorrentes de dizer
e de escrever, que podem ser elementos constitutivos do texto ou, de
forma mais ampla, os gêneros discursivos, são designados Tradições
Discursivas (TD).
Os autores da filologia Românica alemã que introduziram o
conceito de TD consideram que os textos são frutos das tradições cul-
turais e são portadores dessas tradições, isto é, apresentam regulari-
dades discursivas ou formas textuais já produzidas pela sociedade em
114
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 114 28/05/2014 17:16:52
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
momentos anteriores que permaneceram ou se modificaram ao longo
de sua existência. Essas regularidades configuram, em linhas gerais,
a concepção do que se denomina TD. No domínio jornalístico, por
exemplo, os mais antigos registros com aparência de jornal são as Atas
Diurnas, comunicação manuscrita com características do jornal: perio-
dicidade, atualidade e variedade (RIZZINI, 1968). Essa é uma tradição
que passou, no século XV, com a invenção da impressa por Gutemberg,
para as folhas volantes impressas e, posteriormente, no século XVII,
para as publicações periódicas regulares como prática social do jorna-
lismo (RÜDIGER, 1993).
Em terras brasileiras, as análises diacrônicas têm por base tex-
tos manuscritos, a partir do século XVI, com as primeiras escrituras
sobre o novo território, e textos impressos, a partir do século XIX, com
a chegada da imprensa juntamente com a família real ao Brasil em
1808. Em Pernambuco, muitos periódicos surgiram na primeira metade
do século XIX, circularam por um dado tempo e saíram de linha. Dos
jornais dessa época, o mais antigo em circulação na América Latina é
o Diario de Pernambuco, cujo primeiro número foi lançado em 1825.
Muitos outros periódicos foram importantes para registrar a dinâmica
cultural, política e social da cidade de Recife nesse século. Dentre eles,
O Carapuceiro, seguido do subtítulo “Periódico sempre moral e, só
per acidens político”, que teve sua primeira publicação no dia 7 de
abril de 1832. Uma particularidade d’O Carapuceiro é que foi redigido
unicamente pelo Padre Miguel do Sacramento Lopes Gama, conhe-
cido como o Padre Carapuceiro. Fazendo um paralelo dos meios de
circulação de informações do presente com a renovação dos recursos
tecnológicos da informática, pode-se dizer que O Carapuceiro é uma
versão impressa dos blogs particulares que se expandem pela internet.
Por meio desse jornal, o Padre Carapuceiro foi um “crítico de costu-
mes, analista social de seu tempo e foi, sobretudo, um retratista dos
hábitos da sociedade de sua época” (SILVA, 1983, p. 2). Torna-se, por
isso, um bom exemplo para o (re)conhecimento das práticas de leitura
e de escrita dessa época.
Para dar corpo a essa abordagem, o trabalho foi organizado
em duas partes complementares, que vão da contextualização sócio-
-histórica do jornal O Carapuceiro à sua composição genérica. Na pri-
meira, será discutida a reconstrução da performance d’O Carapuceiro
no contexto da imprensa do século XIX; na segunda, o assunto em des-
taque serão os gêneros editorial, fábula e gênero proverbial que estão
115
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 115 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
na composição do jornal, verificando a relação destes com o suporte,
a pertinência aos propósitos do jornal e analisando-os, em termos lin-
guístico-discursivos, como corpora históricos desse recorte temporal.
Os pontos discutidos nos tópicos seguintes estabelecem elos explícitos
ou implícitos com as possíveis aplicações ao ensino.
1. A IMPRENSA DO SÉCULO XIX E
O JORNAL O CARAPUCEIRO
Vários momentos da História do Brasil retratam as alte-
rações linguísticas. Pessoa (2003, p. 17-18) enumera os seguintes
acontecimentos:
(a) divisão do país em capitanias hereditárias (século XVI) – ocu-
pação com a transferência de colonos, a escravização do índio
e o tráfico de escravos africanos;
(b) descoberta do ouro nas Minas Gerais e modernização do
Estado português com as reformas pombalinas (século XVIII)
– formação de quadros para o novo Estado através da educação;
(c) transferência da família real e urbanização da sociedade brasi-
leira (século XIX) – criação de uma imprensa1, da biblioteca
nacional e de escolas. O desenvolvimento das cidades costeiras
amplia o acesso à palavra escrita e a novos pontos de contato
social (destaque nosso);
(d) fim do tráfico de escravos (século XIX) – constituição de uma
nova parcela de mão de obra urbana, que contribui para a com-
plexificação da língua portuguesa no processo de urbanização;
(e) fim do predomínio das oligarquias e surto de industrialização
(século XX) – advento da industrialização, fim da República
Velha com a Revolução de 1930 e agitos culturais, como o
movimento modernista brasileiro.
Dessas passagens históricas que influenciaram linguistica-
mente a constituição da nação brasileira, o foco da presente discussão
está no início do jornalismo impresso. O Brasil apresenta, no bojo das
atividades culturais, educativas, informativas e opinativas, jornais que
1
O termo imprensa será, ao longo deste trabalho, retomado no sentido de jornalismo
impresso.
116
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 116 28/05/2014 17:16:53
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
colaboraram para a feitura da história brasileira e para a consolida-
ção do português brasileiro. O percurso dessa produção jornalística em
diferentes épocas apresenta três tendências predominantes: o político-
-panfletário, o literário-independente e o telegráfico-informativo.
– Tendência político-panfletária – É a fase que retrata o iní-
cio do jornalismo e de uma mutação política no Brasil em meio a um
elevadíssimo analfabetismo. Os discursos eram ora áulicos e pompo-
sos, ora pasquineiros, com injúrias e grosserias que entremeavam uma
prosa extremamente clássica e beletrista.
– Tendência literário-independente – Surgiu na segunda
metade do século XIX, no momento em que a sociedade civil come-
çava a se organizar em termos intelectuais e culturais e os níveis de
alfabetização começavam a aumentar.
– Tendência telegráfico-informativa – Nessa fase, o serviço
telegráfico torna-se a base das seções noticiosas, e a informação obje-
tiva, que atende às necessidades do leitor moderno, supera a opinião.
O quadro seguinte sintetiza os traços característicos das três
tendências mencionadas.
TENDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS
- contexto inicial da imprensa, com elevadíssimo
analfabetismo;
- função essencialmente opinativa;
- discurso pomposo e veemente;
Político-panfletária - fase de polêmicas pessoais e violência física e verbal;
- linguagem marcada por vocativos, imperativos,
repetições, interjeições, subjetivismo, adjetivação e
pontuação enfática.
- contexto de organização intelectual e aumento do
nível de alfabetização;
- temáticas culturais e científicas;
Literário-
- conjunção entre os homens das letras e a imprensa;
independente
- propagação de acontecimentos sociais;
- linguagem composta de detalhes, figuras e
poeticidade.
117
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 117 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
- contexto de modernização tecnológica;
- superação da opinião pela informação objetiva;
- passagem de uma imprensa romântica para uma
Telegráfico- imprensa mercadológica;
informativa - substituição do estilo detalhista literário pelo
estilo simplista telegrafês;
- linguagem direta com mais afirmações que
demonstrações e com repetições reguladas.
Quadro 1: Síntese das tendências do jornalismo impresso
Na sucessão desses estilos, pode-se perceber que, realmente,
a forma como as pessoas escrevem hoje os diferentes textos é fruto
de uma tradição que apresenta mudanças e permanências em corre-
lação com o contexto sócio-histórico. Além disso, a análise compara-
tiva dos textos jornalísticos, nesse caso, perpassando essas diferentes
tendências, revela as marcas linguísticas, sociais, culturais e históricas
de cada época em questão e de cada gênero especificamente. No que
tange a uma possível aplicação ao ensino, esse tipo de reflexão proces-
sual dos textos, sem dúvida, enriquece a competência comunicativa dos
alunos, tanto como leitores quanto como escritores, uma vez que eles
podem ser levados a fazer uma leitura ampla, crítica e atenta do texto,
acionando ou elaborando diferentes saberes linguísticos e extralinguís-
ticos imbricados na construção de sentido dos textos jornalísticos de
sincronias passadas. Dessa forma, participam de uma atividade intera-
tiva e interdisciplinar de fato.
No que diz respeito à retrospectiva da imprensa em
Pernambuco, o primeiro periódico palaciano a circular em Recife foi
o Aurora Pernambucana, em 27 de março de 1821. Abriram-se novas
tipografias, e o primeiro jornal a ser publicado diariamente foi o Diario
de Pernambuco, em 7 de novembro de 1825, consagrado o mais antigo
em circulação na América Latina (NASCIMENTO, 1962), título que
passou a utilizar como epígrafe nas edições atuais.
Com a liberação da censura governamental, O Carapuceiro
ganha destaque em meados do século XIX, exatamente na fase político-
-panfletária. O seu único redator, cuja assinatura não se encontra nos
textos publicados no jornal, foi o Padre Miguel do Sacramento Lopes
Gama, nascido no Recife, em 29 de setembro de 1791. Conhecido como
118
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 118 28/05/2014 17:16:53
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
o Padre Carapuceiro, faleceu muito pobre, em 9 de maio de 1852, tam-
bém em Recife (SILVA, 1983). Quanto à diagramação, Nascimento
(1983), pesquisador responsável pela edição fac-similar do jornal,
apresenta um periódico com formato de 21 X 15, aproximadamente a
metade de uma folha de papel A4, com quatro páginas de duas colunas e
impresso na Tipografia Fidedigna, de José Nepomuceno de Melo, situ-
ada à rua das Flores, N. 18. Como uma espécie de xilogravura, exibia
sobre o título o desenho do interior de uma loja de chapeleiro, com cha-
péus, coroas imperiais e carapuças dispostas no balcão, encontrando-se
em atendimento um freguês de aspecto importante. Suspeita-se que a
figura do lojista seja o Padre Carapuceiro. Com periodicidade incerta
e alguns momentos de interrupção, o jornal circulou de abril de 1832
até o ano de 1847. Na figura 1, encontra-se a primeira página do pri-
meiro número do jornal.
Figura 1: Primeira página do primeiro número do Jornal O Carapuceiro.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:O_Carapuceiro_1_
de_1832.png. Acesso em: 25 março 2012.
119
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 119 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Tendo como objetivo distribuir carapuças, quer a absolutistas,
comerciantes, profissionais liberais ou ao próprio clérigo, o periódico
fazia críticas aos vícios e aos costumes sociais e retratava, através de
suas crônicas e artigos, a sociedade brasileira da época, nos mais varia-
dos temas como educação, comportamento, religião, cultura popular,
folclore, moda, literatura, culinária. Para isso, O Carapuceiro veiculava
em suas páginas diferentes gêneros discursivos.
2. OS GÊNEROS NA COMPOSIÇÃO D’O CARAPUCEIRO
A fidelidade do Padre Lopes Gama ao subtítulo do jornal não
se restringia aos temas abordados nos textos veiculados. A escolha dos
gêneros que compõem O Carapuceiro também parece seguir a mesma
orientação. Um Periódico sempre moral e, só per acidens político, sabia-
mente, seleciona para a sua composição gêneros que, de uma forma ou
de outra, se encarregam de ditar normas de conduta, de influenciar a
opinião pública, de propagar ensinamentos de boa convivência social
etc, cada um com suas peculiaridades. Seja pela via da argumenta-
ção, da sátira ou do humor, os gêneros encontrados n’O Carapuceiro
cumpriam essas finalidades comunicativas. Dentre esses gêneros, por
manterem um paralelismo com o subtítulo do jornal, serão comentados
o editorial, a fábula e o gênero proverbial. O Carapuceiro trazia, ao
final da edição de alguns exemplares, uma parte chamada Variedades,
dedicada aos comentários mais ligeiros, com gêneros como anedotas,
avisos e anúncios2, mas essa parte não será comentada neste artigo.
2.1. O editorial
O editorial jornalístico é um texto de comentário, argumenta-
tivo e com ampla utilização no contexto escolar, mas não com a mesma
frequência em suas versões iniciais do século XIX. Na prática jornalís-
tica, os editoriais, de certo modo, se destinam a agir sobre os interlocu-
tores e, como os demais gêneros discursivos, refletem o espaço-tempo
2
Levantamento feito pela bolsista de iniciação científica PIBIC/UFRPE/CNPq Carolina
Maria Bezerra Cavalcanti, para o desenvolvimento do seu plano de trabalho intitulado
“Jornal O Carapuceiro: Práticas Sociais de Leitura e Escrita a Serviço da Moral no
Século XIX e a Transposição para o Ensino”, sob a orientação da professora Valéria
Severina Gomes.
120
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 120 28/05/2014 17:16:53
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
em que foram produzidos, tanto em termos formais quanto linguístico-
-discursivos. Em vista disso, é, no mínimo, curioso verificar as práticas
de leitura e escrita desse gênero ao longo da história.
Um traço importante de mudança nos editorias do século XIX
foi a introdução e a consolidação do título, visto que, apesar de parecer
um item constante na estrutura do gênero editorial, uma observação
diacrônica, como a realizada por Gomes (2010), revela que, nas duas
primeiras décadas desse século, predominavam os editoriais sem título,
vindo, posteriormente, a se tornarem mais frequentes, especialmente
os títulos nominais, adjetivais, preposicionais, adverbiais, oracionais.
Kaufman e Rodriguez (1995) explicam que os títulos cumprem uma
dupla função: sintetizar o tema central e atrair a atenção do leitor. Ao
assumir esse papel estratégico na articulação do texto, os títulos expres-
sam a macroestrutura e facilitam a retenção do conteúdo. No caso de O
Carapuceiro, de acordo com Nascimento (1983, p. 10),
A partir do nº 4, os editoriais passaram a ter títulos, o que não
acontecia antes, mas em caixa alta ou versalete do tipo da com-
posição comum, de corpo 10, interlinhado; editoriais que, em
geral, ocupavam as quatro páginas da folha, a qual vinha circu-
lando semanalmente; editoriais que, às vezes, para não sobrar,
terminavam em tipo corpo 8 ou 7. Se sobrava algum espaço,
aparecia, na última página, uma variedade ou anedota.
No editorial de apresentação, O Carapuceiro nº 1, de 7 de abril
de 1832 (figura 1), reforça a sua linha editorial: “A Moral, oferecendo
árduo combate aos vícios”. O estilo dos editoriais apresenta semelhan-
ças com o sermão, ou seja, com um discurso feito pelo sacerdote, de
cunho religioso, no púlpito da igreja, pois o teor dos textos estava car-
regado de censura e repreensão. No entanto, um dos pontos distintivos
entre o sermão tradicional e os editoriais de O Carapuceiro é o tom
satírico empregado pelo padre Lopes Gama.
Ex.1: ... Façao de conta que | assim como há lojas de chapeos; o | meu
Periodico he fabrica de cara-|puças. As cabeças em que ellas | assenta-
rem bem, fiquem se com el-|las, se quizerem; ou rejeitem-as, | e andarão
com a calva ás moscas, | ou mudem de adarme de cabeças, | que he o
partido mais prudente.
(O Carapuceiro nº 1, 7/04/1832).
121
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 121 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Tanto as questões relacionadas com a modernização da cidade
de Recife como a cena política do país eram imperantes no contexto
do século XIX. Nesse caso, a abordagem desses temas e os conflitos
entre os periódicos eram constantes, especialmente na fase político-
-panfletária do jornalismo. Até O Carapuceiro – que preferia ficar à
margem – entrava no debate. No editorial nº 3, de 28 de abril de 1832,
sem título, a posição favorável à Liberdade Brasileira foi introduzida
da seguinte forma:
Ex.2: A pezar de ter dedicado este | meu pequeno Periodico tao so-|mente
á Moral; todavia como dis-|se, que per accidens tractaria alguma cousa
de Politica, nao de-|vo passar por alto o horrível a-|tentado da facçao
mais insolente, que tem apparecido no Brazil, quero dizer; a rebeliao
dos ingratíssimos columnas. A generosida-|de mal assente do Governo,
a de-|sassisada tolerância dos liberaes | naõ foraõ capazes de desar-
mar o | ódio desses perversos escravos à Sagrada Causa da Liberdade
Bra-|sileira.
(O Carapuceiro nº 3, 28/04/1832).
Iniciar o texto com “A pezar de” introduz o intento do autor
de justificar a quebra da linha editorial do “pequeno Periódico”. Assim
como essa, muitas outras marcas linguísticas se encarregam de dar
pistas para a construção do sentido. Em termos da organização retó-
rica, o editorial exemplificado acima segue a sequência recorrente nos
editorias (SWALES, 1990): contextualização do tema; argumentação
sobre a tese; indicação da posição do jornal. Mas há, evidentemente,
outros casos que ilustram outras formas de organização, corroborando
a flexibilidade retórica do gênero, mas com a recorrência do propósito
comunicativo como traço de continuidade.
Em termos de argumentação, a adjetivação é um dos recursos
mais presentes na organização argumentativa, como ilustra o exem-
plo 2 (pequeno, horrível, ingratíssimo, perversos etc.). A adjetivação
era usada no início da imprensa, principalmente para realçar o tom
veemente da tendência político-panfletária. Na tendência telegráfico-
-informativa, com o enxugamento dos textos, em virtude de uma
nova diagramação e demanda socioeconômica, houve uma redução
do emprego dos adjetivos. Assim, o recurso da adjetivação na consti-
tuição dos textos insultosos assume importante papel no processo de
122
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 122 28/05/2014 17:16:53
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
predicativo de qualificação e classificação dos termos, evidenciando
a relevância da seleção lexical como instrumento para a elaboração de
textos e seus distintos propósitos, conforme também evidencia a pes-
quisa realizada por Dias Júnior (2011) em Pasquins do século XIX.
Sem dúvida, esse é um tipo de reflexão linguística que, em termos
de ensino, é relevante para as práticas sociais de leitura e de escrita
dos alunos, especialmente quando se oportuniza o reconhecimento de
estratégias linguístico-discursivas de épocas diferentes na construção
de sentido do texto.
Em síntese, nos editoriais encontram-se temas sobre conflitos
internos, a independência, a abolição, além dos acontecimentos coti-
dianos do Recife do século XIX. Mesmo os jornais com outra linha
editorial declarada rendiam-se à efervescência política da época, como
ocorreu com O Carapuceiro. A tendência político-panfletária do jorna-
lismo predominou na mesma época de circulação desse periódico, e a
imprensa retratava a transformação política pela qual o Brasil passava
e os traços linguísticos característicos dessa fase.
A viabilidade de levar a abordagem diacrônica de editoriais
para a sala de aula está em colocar em análise um texto de circulação
real, um texto autêntico, onde se podem discutir verdadeiras condições
de produção (quem escreveu, quando, onde, para quem, como). É bem
certo que, em decidindo por uma análise diacrônica dos textos, cabe ao
professor, não só a tarefa de pesquisar, mas também a de selecionar o
material mais apropriado para o seu grupo, tanto em termos gráficos,
como a legibilidade, muitas vezes comprometida por conta do desgaste
do tempo, quanto em termos da temática abordada, para que o trabalho
seja verdadeiramente prazeroso, produtivo e estimulante.
2.2. A fábula3
A fábula é um gênero bastante frequente na composição de
O Carapuceiro e estava, normalmente, de acordo com o editorial que
aparecia estampado nas páginas iniciais do jornal. Ou seja, as fábulas,
Este tópico partiu das discussões realizadas com a bolsista de iniciação científica PIBIC/
3
FACEP/CNPq Samara Caroline da Silva Lima Falcão para o desenvolvimento do seu
plano de trabalho intitulado “A Fábula no Jornal O Carapuceiro: A Tradição da Moral
entre as Fábulas e Jornal”, sob a orientação da professora Valéria Severina Gomes.
123
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 123 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
boa parte das vezes, estavam de acordo com a crítica que Lopes Grama
fazia à sociedade e, dessa forma, assumiam também um caráter opi-
nativo. Portanto, além de retratarem determinados usos da língua no
século XIX, retratavam também o contexto sócio-histórico da época.
No exemplo que segue, a fábula dá continuidade ao editorial intitu-
lado “Os mentirosos”, que discute o vício da mentira, publicado em O
Carapuceiro nº 78, de 9 de novembro de 1833. Nota-se, no exemplo 3,
que a fábula, com dois gatos como personagens, reforça a crítica de um
periódico, que preza pela moral, aos que usam a mentira e a lábia para
adquirir vantagens.
Ex.3: Fabula (de Florian)
Os dous gatos
Dous gatos, que descendiao’ do fa-|mozo Róe-toucinho; e ambos dignos
| de tao’ nobre origem, differiao’ to-|davia nos respectivos corpos; porq’
| hum, que era mais velho, estava | gordo de papar toucinho, e debai-|xo
do seu felpudo arminho dava ares | de hum conego: tao’ roliço era elle,
| nedio, fresco, e bello. O outro (coi-|tadinho!) só tinha pelle, e ossos. |
Todavia assim mesmo andava a cima, | e abaixo, des de manhã até a noite
| por trapeiras, pela despensa, e co-|zinha, ora andando, ora santando |
sem nunca pilhar pitança. Hum dia | emfim, que lhe faltou a paciencia,
fal-|Lou desta maneira ao seu companhei-|ro.,, Explica-me, camarada,
qual | o motivo porque passando tu a vida | sem fazer nada, e eu a traba-
lhar, | como hum mouro, a ti regalao-te | de bons pesticos, e a mim nao’
me | dao’ de comer? A rasao’ he bem | clara, respondeo-lhe o gatorro gor-
-|do, e regalao’: tu tolinhas toda a | caza para pilhar a penas hum ratinho |
magro, e pifio. E nao’ he este o meu dever? (Tornou-lhe o quixo-|so): Sim,
nao’ ponho duvida: mas | eu nao’ me arredo de ao pé de meu | amo, e com
meus gatimanhos sei di-|vertillo: elle me admitte á sua meza, | onde lhe
agadanho os melhores bo-|cados, sem que me elle reprehenda, | pois sei
fazer me engraçado, ao pas-|so que tu, pobre tollo, só o sabes | servir bem,
e nada mais. Vai-te, | que nao” sabes viver. O segredo de | passar bem
está em ter labia, e nao | em ser util.
(O Carapuceiro nº 78, 09/11/1833).
A fábula é uma narrativa figurada, na qual os animais ganham
características humanas. No exemplo acima, dois gatos assumem o
papel dos personagens: um representando o sujeito que trabalha e não
é reconhecido, e o outro, o sujeito que usa a lábia e recebe os méritos.
Contém uma moral por sustentação, constatada no final da história. No
124
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 124 28/05/2014 17:16:53
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
caso acima, a moral “O segredo de passar bem está em ter labia e não
em ser util” reforça a crítica subjacente à narrativa, sob a perspectiva
moral que norteia o jornal. Enfim, a fábula é um gênero muito versátil,
pois permite diversas maneiras de se abordar determinado assunto e
admite diversas possibilidades de leitura (nesse caso, refere-se espe-
cialmente às condutas social e política). De acordo com Pietroforte
(2007, p. 76), essas narrativas passaram por muitos lugares ao longo do
tempo: “na Índia antiga, foram contadas em sânscrito; Esopo as contou
em grego; Fedro, em latim, e La Fontaine, em francês.”.
Nos três volumes do livro O Carapuceiro: Padre Lopes Gama
(Edição fac-similar do jornal do Padre Miguel do Sacramento Lopes
Gama), da Prefeitura da Cidade do Recife e da Secretaria de Educação
e Cultura, de 1983, foram encontradas 22 fábulas traduzidas de grandes
artistas como Florian, La Fontaine e Fénelon, e algumas escritas pelo
próprio Lopes Gama. São elas:
• A Morte (Florian; O Carapuceiro, nº 56; 1833)
• Sessao’ Extraordinaria Da Sociedade dos Pescadores do alto,
Presidencia do Sr. Coringa. (Lopes Gama; O Carapuceiro, nº
35; 1833)
• O Moço e o Velho (Florian; O Carapuceiro, nº 56; 1833)
• O mocho, o gato, o patinho e o rato (Florian; O Carapuceiro,
nº 57; 1833)
• O Rapozo Pregador (Florian; O Carapuceiro, nº 67; 1833)
• Os Dous Viageiros (Florian; O Carapuceiro, nº 68; 1833)
• O Camponez e o Rio (Florian; O Carapuceiro, nº 70; 1833)
• O Jacaré e o Camorim (Florian; O Carapuceiro, nº 71; 1833)
• Os dous gatos (Florian; O Carapuceiro, nº 78; 1833)
• O Charlatão (Florian; O Carapuceiro, nº 79; 1833)
• O Avarento e seu filho (Florian; O Carapuceiro, nº 79; 1833)
• A arvore velha e o Jardineiro (Florian; O Carapuceiro, nº 80;
1833)
• O Menino e o Espelho (Florian; O Carapuceiro, nº 84; 1833)
• O Cavalo e o Potro (Florian; O Carapuceiro, nº 84; 1833)
125
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 125 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
• A Carapeba e as Carapebinhas (Florian; O Carapuceiro, nº
60; 1837)
• Os dous Persas (Florian; O Carapuceiro, nº 67; 1837)
• O Cortezão e o Deos Protêo (Florian; O Carapuceiro, nº 67;
1837)
• Conto Persiano (Autor desconhecido; O Carapuceiro, nº 60;
1837)
• As mulheres, e o segredo (La Fontaine; O Carapuceiro, nº30;
1838)
• O macaco (Fénelon; O Carapuceiro, nº 24; 1842)
• O casamento da coelhinha com o mono (Autor desconhecido;
O Carapuceiro, nº 30; 1842)
• A árvore e o seu tutor (Lemontey; O Carapuceiro, nº 33; 1842)4
De acordo com Portella (1983),
Na evolução deste gênero literário, nota-se a inversão da impor-
tância destes dois elementos: quanto mais se avança na história
da fábula, mais se vê decrescer o caráter sentencioso e pedagó-
gico em proveito da ação. O caráter pedagógico da fábula, en-
tretanto, não poderá jamais ser obliterado por completo, pois é o
traço diferencial deste gênero literário. Explicitado no começo
ou no fim ou implícito no corpo da narrativa, é a moralidade
que diferencia a fábula das formas narrativas próximas como o
mito, a lenda e o conto popular. Sob o aspecto da moralidade,
situa-se a fábula entre o provérbio e a anedota. O provérbio é
só moralidade ao passo que a anedota é só narrativa. A fábu-
la contém ambos, sob o manto de uma alegoria (PORTELLA,
1983, p. 123).
Nesse caso, a introdução desse gênero – do domínio literário –
no domínio jornalístico vem reforçar e manter a tradição da crítica, em
consonância com o propósito inicial da fábula, que ganha reforço em
contato com o suporte e com os demais gêneros opinativos que alicer-
çam a linha editorial moralista do jornal O Carapuceiro.
Essa leitura macro do jornal, buscando a relação entre os gêne-
ros e o suporte, seja na perspectiva diacrônica ou sincrônica, contribui
4
Levantamento feito pela bolsista Samara Caroline da Silva Lima Falcão.
126
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 126 28/05/2014 17:16:53
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
efetivamente para a competência comunicativa dos estudantes. É nesse
sentindo que, na sala de aula, cabe ao leitor o reconhecimento da rela-
ção que se possa estabelecer entre as imagens empregadas na fábula e
a realidade; entre a temática da fábula em correlação com a temática do
editorial; entre a fábula e o suporte na construção do sentido dos tex-
tos. Em contrapartida, cabe ao produtor de texto conseguir retratar no
gênero fábula a sua leitura crítica do mundo real, utilizando, para isso,
o entendimento da organização retórica do gênero e seus elementos
constituintes: narração breve, com personagens animais ou inanima-
dos; intercalação entre os discursos direto e indireto; fechamento com
princípio ético; adequação de uma linguagem simples para atender ao
seu propósito didático.
Além do registro dos usos do português brasileiro da época,
a fábula, como também ocorre com a parábola, de acordo com Pessoa
(2010), concretiza a cultura oral herdada das gerações passadas, como
um dos gêneros próprios do ambiente da oralidade. De um modo
geral, o estudo desse gênero em um dos periódicos do século XIX, O
Carapuceiro, contribui com a abordagem diacrônica dos textos e dos
gêneros, considerando os aspectos linguístico-discursivos, estruturais
e socioculturais.
2.3. O gênero proverbial
De acordo com Obelkevich (1997, p. 43), para quem se dedica à
história social da linguagem, “ouvir a voz por trás do texto, invocando
a oralidade que está além da alfabetização [...], é uma de nossas prin-
cipais tarefas”. Dentre as manifestações mais evidentes e recorrentes
da tradição oral estão os provérbios, ou ditos populares. Há expressões
tradicionais, recorrentes e formulaicas que introduzem os gêneros pro-
verbiais em situações de uso da modalidade oral: Como diz o ditado...;
como diz a sabedoria popular. Percebe-se, então, como é relevante não
perder de vista a imbricada relação que se estabelece entre oralidade e
escrita, especialmente no século XIX, período ainda incipiente de aqui-
sição e aperfeiçoamento desse segundo elemento da relação.
De acordo com Obelkevich (1997), os provérbios são defini-
dos por sua função externa, expressiva, persuasiva, moral ou didá-
tica, quando são usados para dizer que atitude tomar em relação a
127
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 127 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
uma determinada situação. Sua inserção e sua função como enun-
ciado discursivo nos editoriais, por exemplo, constituem argumentos
lógicos, buscando uma aproximação com o leitor. Midier (2004 apud
FIGUEIREDO, 2012, p. 14) “assegura que os provérbios constituem
peça importante do patrimônio cultural de um povo, assim como os
mitos, as lendas, as estórias fantásticas e os contos populares fazem
parte do repertório cultural, folclórico e histórico de uma comunidade”.
Pesquisas recentes mostram que o provérbio continua sendo
bastante empregado como recurso argumentativo pela mídia atual5,
mas no período político-panfletário do século XIX havia uma utiliza-
ção ainda mais intensa, inclusive com uma sessão exclusiva para a sua
publicação, a exemplo do que ocorre com O Carapuceiro. Nesse caso,
o provérbio assume outro papel no suporte, além da utilização já men-
cionada na constituição de outros gêneros.
Da mesma forma que ocorre com o editorial em tom de sermão
e com as fábulas com seu fechamento moral e didático, O Carapuceiro
também enriqueceu suas páginas com provérbios que sugeriam refle-
xões sobre a conduta social. No exemplar de nº 31, de 17 de novem-
bro de 1832, O Padre Carapuceiro, no final da edição, fez críticas às
Gazetas que só julgam bom o que vem da França. Comenta que todos
os povos têm seus provérbios, e que apresentará os provérbios arábicos
que encontrou em um livro e que pretende comunicar aos leitores ao
longo de uma sequência de exemplares. Uma marca linguística que se
configura como uma tradição recorrente para sinalizar a continuidade
dos provérbios no número seguinte é a expressão “Continuar-se-há”.
O mesmo recurso era utilizado para indicar a continuidade dos edi-
toriais, que passavam de uma publicação à outra. Trata-se da tradição
escrita do jornalismo da época, que servia de pista para o leitor fiel que
acompanhava a continuidade dos gêneros na sequência dos números do
jornal, uma marca linguístico-discursiva que desapareceu da feitura do
jornal. No número de O Carapuceiro mencionado acima, os provérbios
publicados foram:
5
Ver a dissertação de mestrado de Rinalda Fernanda de Arruda, intitulada “Provérbios e
expressões idiomáticas como recurso de argumentação da língua na mídia”, defendida
no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, em
2012.
128
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 128 28/05/2014 17:16:53
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Ex.4: “O sabio em sua patria está como | o ouro em sua mina”
- Quem monta no carro da cubi-|ça terá por companheira a
miséria.
- O sabio conhece o ignorante; | por que já o foi; mas o ignorante |
nao conhece o sabio; por que nun-|ca o foi.
- Se o ignorante he inimigo de si | mesmo, como será amigo de
outrem?
- Quem se mette nos negócios | públicos navega pelo alto mar.
(Continuar-se-há)
(O Carapuceiro nº 31, 17/11/1832).
Próprios da linguagem mais informal, coloquial, pelo seu des-
prestígio no conceito das camadas instruídas da sociedade e com um
forte teor conotativo, os provérbios repassavam os ensinamentos morais
de forma mais tênue, com uma linguagem mais próxima da informa-
lidade, da objetividade, do uso coloquial, gerando, inclusive, um certo
tom de ironia e humor. Trata-se, também, de uma forma de envolver o
leitor, buscando aproximar-se do seu modo de falar, sem chocar as tra-
dições escritas, como comentou Preti (2000), já que são antigos, ampla-
mente usados e foram registrados em compilações impressas inglesas
desde o século XVI, conforme explicou Obelkevich (1997). Os pro-
vérbios, assim como as fábulas e os editoriais, estão entre as práticas
sociais de leitura e escrita em jornais impressos do século XIX.
Um trabalho envolvendo as práticas sociais de leitura e escrita
de provérbios empregados em jornais do século XIX possibilita a veri-
ficação da concisão como uma forma de adequação da linguagem, o
que ressalta o alto grau de significação de uma palavra na construção
de sentido desse texto e do efeito estilístico que o léxico empregado
em épocas diferentes provoca. Além disso, a reflexão sobre as funções
retóricas e funções sociais do gênero proverbial leva o aluno a perce-
ber o que o texto pode fazer, ou seja: argumentar, interrogar, ensinar,
aconselhar etc. O trabalho com os provérbios também coloca em evi-
dência a interface entre fala e escrita, valorizando, ao longo do tempo,
o repertório cultural.
129
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 129 28/05/2014 17:16:53
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando como base as implicações pedagógicas da leitura
e da escrita apresentadas por Antunes (2003), pode-se verificar que,
apesar de pouco exploradas didaticamente, as abordagens diacrônicas
corroboram com algumas implicações no eixo da escrita. A análise
de textos de épocas distintas evidencia diferentes marcas que revelam
a relação cooperativa entre os interlocutores e os conhecimentos que
eram partilhados por pessoas que viviam no mesmo contexto sócio-his-
tórico. A escrita dos três gêneros aqui comentados apresenta variação
em decorrência das diferentes funções que intentam cumprir dentro
e fora do suporte. Pela recepção adiada pelo tempo e pelo espaço, a
escrita revela, também, a variabilidade, a flexibilidade e a adequação
da gramática e dos estilos aos propósitos comunicativos. Por fim, mas
não somente, o reconhecimento de que a escrita dos gêneros e dos jor-
nais requer planejamento.
Quanto à leitura, um trabalho que envolva gêneros do passado
contribui com uma leitura de textos autênticos, uma vez que se obser-
vam objetivos interativos num dado contexto espaço-temporal. A inte-
ratividade também se estabelece quando se reconstrói a relação entre
quem escreveu e os seus possíveis leitores, numa recontextualização a
partir das condições de produção. Trata-se de uma leitura que eviden-
cia a intercomplementaridade entre a escrita e a leitura, no momento
em que, por exemplo, o conhecimento do léxico, da pontuação, dos
elementos de coesão, da estrutura sintática etc. interferem na constru-
ção de sentido do texto. A percepção dos aspectos ideológicos, as con-
cepções e os propósitos embutidos nas entrelinhas revelam diferentes
pensamentos, momentos históricos e fatos da nossa história que ficam
guardados em documentos de sincronias passadas. Uma análise com-
parativa entre textos de diferentes épocas leva os alunos a perceberem
a dinâmica que envolve a historicidade dos gêneros e da língua(gem).
Por fim, esse tipo de abordagem proporciona a diversidade dos gêneros
e o estímulo à leitura pelo prazer e pela curiosidade provocada pelo
desvelar do passado no contínuo diálogo com o presente.
Uma das contribuições que este artigo pretende deixar é sus-
citar reflexões sobre a necessidade de inserção de discussões sobre
130
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 130 28/05/2014 17:16:54
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
a concepção sócio-histórica de ensino da língua(gem), desde os cur-
sos de graduação aos cursos de formação continuada de professores,
para que eles se sintam estimulados a fazer da sala de aula um espaço
de experimentações prazerosas e produtivas, voltadas à competência
comunicativa dos alunos. O interesse em participar desse tipo de debate
visa, ainda, a contribuir com os trabalhos que procuram compreender
as práticas de sala de aula com base numa concepção de língua dinâ-
mica, plástica e processual, como a experiência humana, em conformi-
dade com o pensamento de Bakhtin (1992, p. 108) de que “a língua não
se transmite; ela dura e perdura sob forma de um processo evolutivo
contínuo”. Nessa perspectiva, entram em cena, no processo de leitura e
escrita, de acordo com Geraldi (2010, p. 109), “os sujeitos da interlocu-
ção, as condições de produção, as relações com a memória e a projeção
de horizontes de possibilidades de interpretação que um discurso abre”.
Nesse momento, é válido retomar as questões elencadas na
introdução e perceber que, ao longo deste artigo, algumas foram colo-
cadas em pauta e outras ficarão para futuros trabalhos. As questões
foram:
1) “Qual o espaço destinado à inserção dos estudos sócio-
-históricos da língua(gem) e dos gêneros nos livros didáticos?”. Para
dar conta dessa problemática, é preciso uma análise mais acurada da
questão. Esse olhar investigativo poderia partir da ideia inicial de que
há limitação ou ausência desse tipo de abordagem no material de apoio
para o professor. Nesse caso, se o professor considerar insuficiente
a abordagem diacrônica dos livros e se sentir motivado a orientar os
alunos também por essa linha de reflexão, poderá buscar alternativas
que completem essa lacuna. Mas, para que isso aconteça, é preciso ver
relevância em inserir em suas aulas questões de ordem diacrônica. Isso
remete à segunda questão.
2) “A formação na graduação ou a formação continuada dos
professores tem contribuído para que esses profissionais percebam
relevância e se sintam motivados a incluir, nas suas aulas e nas ati-
vidades de pesquisa com alunos, reflexões históricas sobre a língua
e sobre os textos?”. Essa é outra questão também carece de investiga-
ção. Por outro lado, é fato que os estudos sócio-históricos da língua
vêm ampliando as perspectivas de abordagem, do nível fonológico ao
131
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 131 28/05/2014 17:16:54
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
nível textual. Prova disso são as pesquisas desenvolvidas pelas equipes
regionais do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB),
coordenado pelo Professor Ataliba de Castilho. Essa ampliação tem
despertado o interesse de muitos estudantes de graduação e pós-gra-
duação e, consequentemente, pode contribuir para a formação de pro-
fessores/pesquisadores com interesse e motivação para fazer reflexões
históricas acerca da língua e do texto. Inicialmente, é preciso ter res-
posta para o que sugere a questão três.
3) “Como, por que e para que o professor pode inserir, em
suas ações didáticas, componentes sócio-históricos que auxiliem o
desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos?”. Ao longo
deste artigo, buscou-se apontar algumas possibilidades de abordagem
e discussão envolvendo as práticas sociais de leitura e escrita por meio
do jornal O Carapuceiro, com circulação em Recife, no século XIX.
Acredita-se que levar os alunos a perceber, refletir e discutir a dinâ-
mica da língua e dos gêneros no curso da história contribui para a
formação de leitores e escritores mais conscientes do dinamismo, da
criatividade e da riqueza da língua para atingir os diferentes propósi-
tos comunicativos. Nessa perspectiva, o estudo da linguagem é adicio-
nado a outros saberes. Essa interface entre os diversos saberes reporta
à quarta questão.
4) “O trabalho na perspectiva sócio-histórica da língua e do
texto configura-se como mais uma possibilidade didática, em conso-
nância com as orientações pedagógicas interdisciplinares?”. Na medida
em que os textos de sincronias passadas guardam as marcas linguís-
tico-discursivas, sócio-históricas e culturais de seu tempo, possibilitam
ao aluno ativar e integrar conhecimentos de diferentes áreas. É o que
acontece quando se faz a correlação entre a História do Brasil e as
variações e mudanças do português brasileiro. A atividade de leitura
e de escrita, nesse caso, favorece o reconhecimento das transforma-
ções históricas, culturais, sociais e linguísticas e o reconhecimento
dos sujeitos como agentes dessas transformações. Nesse sentindo, sem
querer buscar ou oferecer receitas prontas, inevitavelmente, a quinta
questão emerge.
5) “Que atividades envolvendo as reflexões sobre a língua e
sobre os textos de épocas passadas poderiam complementar as práticas
132
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 132 28/05/2014 17:16:54
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
escolares de leitura e de produção de texto?”. A complementação prin-
cipal está em conduzir os alunos ao reconhecimento do caráter proces-
sual e dinâmico da língua e dos textos. Assim, procurou-se contemplar
essa questão no decorrer dos comentários sobre os três gêneros presen-
tes na composição de O Carapuceiro. Não se trata de receitas, mas de
caminhos possíveis entre inúmeras possibilidades que cada professor/
pesquisador pode descobrir. De fundo, fica a convicção de que tanto
a leitura quanto a escrita precisam ser permeadas por atividades que
valorizem o prazer de ler, de pesquisar e de agir socialmente de forma
crítica e cidadã, por meio dos múltiplos gêneros discursivos que mate-
rializam a língua.
Segundo Bonini (2008), existem três formas de justificar o
estudo de um gênero: a primeira consiste no estudo dos gêneros como
forma de produzir subsídios para o ensino da língua(gem); a segunda,
como um recurso para conhecer algum aspecto importante da realidade
social; por fim, como um meio de repensar as práticas sociais existen-
tes em uma sociedade. É bem certo que nos comentários aqui presentes
não se estabeleceu nitidamente a análise de aspectos próprios do texto
ou de aspectos próprios do gênero, mas essa consciência das distintas
abordagens de um e de outro é importante, está subjacente e pode ser
mais bem compreendida por meio das reflexões propostas por Santos
et al. (2006). Para a discussão aqui apresentada partiu-se, portanto, de
uma concepção de letramento que procura se enriquecer com o diálogo
entre as práticas sociais de leitura e de escrita do passado e do presente.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, I. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
BAZERMAN, C. Formas sociais como habitats para ação. In: Investigações,
16:2 UFPE, 2003, p. 123-141.
BEZERRA, B. G. Do manuscrito ao livro impresso: investigando o suporte.
In: CAVALCANTE, M. M.; COSTA, M. H. A.; JAGUARIBE, V. M. F.;
CUSTÒDIO FILHO, V. Texto e discurso sob múltiplos olhares: gêneros e
sequências textuais. v.1. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
133
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 133 28/05/2014 17:16:54
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
BONINI, A. Suporte, Mídia e Hipergênero: os gêneros textuais e suas rela-
ções. Disponível na versão on-line em www.unisul.br\paginas\ensino\pos\lin-
guagem\...\2008. Acesso em: 11/02/2010.
DIAS JÚNIOR, J. F. O uso dos adjetivos em Pasquins do século XIX: uma
análise descritiva. 132f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Programa de
Pós-graduação em Letras, Universidade Federal de Pernambuco; Recife, 2011.
FIGUEIREDO, G. R. O gênero proverbial na imprensa: usos e funções retó-
ricas. 201f. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós-graduação
em Letras, Universidade Federal de Pernambuco; Recife, 2012.
GAMA, M. do S. L. O Carapuceiro 1832-1842. Edição fac-similar do jor-
nal. Estudo introdutório de Luis do Nascimento; Prefácio de Leonardo Dantas
Silva. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1983.
GERALDI, J. W. A aula como acontecimento. São Carlos: Pedro & João
Editores, 2010.
GOMES, V. S. Traços de mudança e de permanência em editoriais de jornais
pernambucanos: da forma ao sentido. Berlin: De Gruyter, 2010.
KABATEK, J. Tradiciones discursivas y cambio linguistico. Fundacion
Duques de Soria, Seminário de História da língua espanhola <El cambio lin-
guistico na historia española. Nuevas perspectivas, Soria, 7-11/07/2003.
KAUFMAN, A. M. & RODRÍGUEZ, M. E. Escola, leitura e produção de
textos. Tradução Inaja Rodrigues. Porto Alegre: Artes, 1995.
MILLER, C. R. Genre as social action. In: FREEDMAN, A.; MEDWAY, P. (ed.).
Genre and the new rhetoric, Londo: Bristol, Taylor & Francis, 1984, p. 23-42.
NASCIMENTO, L. do. O jornal por dentro e por fora. Recife: Arquivo
Público – Imprensa Oficial, 1962.
OBELKEVICH, J. Provérbios e história social. In: BURKE, P.; PORTER, R.
(Org.). História social da linguagem. Tradução Alvaro Hattnher. São Paulo:
Fundação Editora da UNESP, 1997, p. 43-81.
PESSOA, M. de B. Formação de uma variedade urbana e semi-oralidade: o
caso do Recife, Brasil. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2003.
______. Do oral e do escrito desde os gregos até a geografia linguística.
Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2010.
PIETROFORTE, A. V. A língua como objeto da Linguística. In: FIORIN,
J. L. (Org.). Introdução à Linguística: 1.Objetos teóricos. 5 ed. São Paulo:
Contexto, 2007.
134
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 134 28/05/2014 17:16:54
PORTELLA, O. O. A fábula. Revista Letras, n. 32, UFPR, Curitiba, 1983,
p. 119-138. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/letras/arti-
cle/view/19338/12634>. Acesso em: 25 março 2012.
PRETI, D. Sociolinguística – os níveis da fala: um estudo sociolinguístico do
diálogo na literatura brasileira. 9 ed. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2000.
RIZZINI, C. O jornalismo antes da tipografia. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1968.
RÜDIGER, F. R. Tendências do jornalismo. Porto Alegre: Editora
Universidade, UFRGS, 1993.
SANTOS, C. F.; MENDONÇA, M.; CAVALCANTE, M. C. B. Trabalhar com
texto é trabalhar com gênero? In: ______ (Org.). Diversidade textual: os
gêneros na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
SOARES, M. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. In:
Educação e Sociedade. Campinas, vol. 23, n. 81, pp 143-160, dez. 2002. Disponível
em: <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 25 março 2012.
SWALES, J. M. Genre analysis. English in academic and research settings.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 135 28/05/2014 17:16:54
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 136 28/05/2014 17:16:54
A IMAGEM DA MULHER NA IMPRENSA PAULISTA
DO SÉCULO XIX: UM ESTUDO SOBRE A
REVISTA A MENSAGEIRA
Maria Lúcia da Cunha Victorio de Oliveira Andrade
Universidade de São Paulo
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 137 28/05/2014 17:16:54
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 138 28/05/2014 17:16:54
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
[...] as nossas primeiras poetisas encontraram naqueles diários
e álbuns de capa acetinada o recurso ideal para assim regis-
trarem suas inspirações; era naquelas páginas secretas que
iam se desembrulhando em prosa e verso. Vejo assim nessas
tímidas arremetidas o nascedouro da literatura feminina, na
maioria assustados testemunhos de estados d’alma, confissões
e descobertas de moças num estilo intimista – o chamado estilo
subjetivo com suas dúvidas e esperanças espartilhadas como
elas mesmas, tentando assumir seus devaneios (Lygia Fagundes
Telles) 1.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Realizar e assumir seus “devaneios”, como diz Lygia Fagundes
Telles, e escrever sua própria história, assumindo o papel de protago-
nista. Essa é a meta da mulher paulista do final do século XIX. Nessa
época, tanto na Europa quanto nas Américas, um grande número de
mulheres começa a escrever e publicar. Entretanto, para conseguir
esse feito, as mulheres precisaram, primeiramente, ter acesso à palavra
escrita. Nessa perspectiva, segundo Telles (2008, p. 403), a mulher –
que era vista como a auxiliar do homem, a educadora dos filhos ou o
anjo do lar – necessitava ter condições de continuar sendo a reprodu-
tora da espécie e de sua nutrição, mas precisava, também, marcar seu
espaço e, para isso, era preciso lidar com a palavra escrita:
Difícil em uma época em que se valorizava a erudição, mas lhes
era negada educação superior, ou mesmo qualquer educação,
a não ser a das prendas domésticas; tiveram de ler o que sobre
elas se escreveu, tanto nos romances quanto nos livros de mo-
ral, etiqueta ou catecismo. A seguir, de um modo ou de outro,
tiveram de rever o que se dizia e rever a própria socialização.
Tudo isso tornava difícil a formulação do eu, necessária e ante-
rior à expressão ficcional.
1
Retirado do texto intitulado Mulher, Mulheres. In: Del PRIORE, Mary (Org.) (2008).
História das mulheres no Brasil, 9 ed. São Paulo: Contexto/Editora da UNESP, p. 671.
139
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 139 28/05/2014 17:16:54
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Este estudo traz uma reflexão da história das mulheres na
sociedade paulista do final do século XIX, e como eram representa-
das nas cartas da editora. A percepção dessa representação realiza-se
através da análise de textos divulgados na revista A Mensageira, obser-
vando as normas de civilidade que instituíam a comunidade da época,
especificamente, a vida das mulheres.
Por meio da leitura dos textos, podemos perceber a posição que
as mulheres ocupavam na família e na sociedade brasileira no final de
século XIX. Devemos olhar essa mulher como sujeito de seu tempo,
suas limitações, desafios e possibilidades, ditados por uma sociedade
que impunha às mulheres o que era o significado de felicidade.
As análises estão relacionadas às cartas da editora da referida
revista, especificamente as apresentadas nos exemplares de número 4
e 6, que, inclusive, recebem o mesmo título “A Nossa Condição”2. As
cartas selecionadas revelam um espaço em que a editora, Presciliana
Duarte de Almeida, escrevia para as leitoras, estabelecendo um diá-
logo entre amigas ou confidentes, com o intuito de esclarecer qual o
papel da mulher na sociedade paulistana e como deveria ser o compor-
tamento feminino.
A partir dessas cartas, resgataremos os discursos que fun-
damentam e prescrevem o sentir, o fazer e o saber do sujeito mulher
do final do século XIX na sociedade paulista e que determinam suas
formas de ser no desempenho de diferentes papeis, seja como esposa,
como dona de casa ou mãe, e como mulher que agora tem uma profis-
são e se projeta na sociedade por desempenhar mais essa função.
1. IMPRENSA FEMININA
Sabe-se que a busca das mulheres por independência e auto-
nomia é antiga e, ao mesmo tempo, pouco reconhecida. Por meio da
imprensa, verificamos que as mulheres que pretendiam ser indepen-
dentes eram criticadas e desvalorizadas no meio social, pois eram vis-
tas como seres sem voz ativa, sem direito a tomar decisões, já que sua
função era ser esposa, mãe e dona de casa.
2
As cartas são apresentadas integralmente na seção Anexos.
140
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 140 28/05/2014 17:16:54
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Na visão de Martins (2008),
Os textos produzidos por mulheres e a elas dirigidos resultam
em documentos preciosos, que as surpreendem como sujeitos
de sua reprimida história, veiculando sentimentos secularmente
ocultos e posturas recônditas, mas também desvendando con-
dutas que se confrontavam com aquela tradicional e aceita da
Rainha do Lar (MARTINS, 2008, p. 371).
A Mensageira, revista literária publicada no final do século
XIX (outubro de 1897 a janeiro de 1900), dirigida por Presciliana
Duarte de Almeida, objeto de análise deste trabalho, é a primeira
revista feminina publicada em São Paulo. Centrada em questões refe-
rentes à mulher, tem como ponto principal evidenciar a necessidade da
educação feminina, visando ao ideal de felicidade e marcando a con-
dição feminina da época. Apesar de revelar posições conservadoras na
defesa de uma educação da mulher que não interfira em seu papel de
esposa e mãe, apresenta artigos mais avançados que defendem o voto
feminino e o trabalho como instrumentos de independência econômica.
Publica em agosto de 1899, por exemplo, por ocasião do encerramento
do Congresso Internacional das Mulheres, em Londres, um artigo da
escritora portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho:
A`hora em que escrevo (dia 4 de Julho), está se encerrando em
Londres o Congresso Internacional das Mulheres, o qual desta
vez teve uma importância muito maior do que nunca tivera, pela
qualidade e representação das pessoas que a elle adherirão ou
nelle figurárão. [...]
Vê-se, portanto, que a onda do feminismo tem engrossado e está
já em torrente; vê-se que esta reunião já não é uma assembléa
de declassés a reclamar cousas irrealizaveis ou ridiclas e a re-
clamar pomposas e vãs theorias.
Os trabalhos do Congresso, dividios em cinco sessões, cons-
tarão dos seguintes assumptos: Educação, Profissões liberaes,
Legislação, Industria, Questões politicas e sociaes.
Bastão os titulos acima enunciados para denunciar a importan-
cia que está hoje tendo no mundo esta questão feminista que
ha pouco tempo se prestava ainda a tanto epigramma, a tanto
calemburg, a tanta brincadeira de máo gosto. (exemplar nº. 31)
141
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 141 28/05/2014 17:16:54
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
A importância dessa revista no periodismo brasileiro
deve-se, sobretudo, à preocupação com a formação de um grupo
ativo de intelectuais e artistas que buscavam construir um con-
texto de cultura literária. E, na visão de Gotlib (2002):
Os textos aí publicados tendem, na maioria, para a feição ar-
tística, na linha de um sentimentalismo romântico, por vezes
eloqüente, em sonetos e demais poemas das escritoras; e, na
linha de estilo leve de crônicas, alertas ao cotidiano da vida bra-
sileira e, ao mesmo tempo, à literatura e ao feminismo interna-
cional. Essa visão dupla causa, por vezes, contrastes curiosos.
Em seção intitulada “Carta do Rio”, uma colaboradora lamenta,
em tom solene, a morte do grande escritor francês Alphonse
Daudet e, em seguida, comenta o aparecimento de uma “onça
pintada lá para os lados do Irajá”… (http://www.amulhernalit-
eratura.ufsc.br/artigo_Nadia_Gotlib.htm - _ftn42)
A Mensageira revela a existência de um público feminino não
radical, que mantém na revista colaboradores do sexo masculino, auto-
res de textos literários e artigos de opinião. Além disso, evidencia a
existência de um grupo de intelectuais e artistas colaboradores que
informam a leitora sobre a literatura feminina que se fazia nas várias
regiões do Brasil da época, funcionando como uma espécie de divulga-
dor de informação a respeito da situação da, então, literatura feminina3.
O estilo da revista é o da literatura da belle-époque brasi-
leira: leve, descontraído, mas, por vezes, crítico e, até, polêmico, dei-
xando transparecer uma ironia sutil. Os textos literários traduzem esse
mesmo tom da época, que se situa entre um sentimentalismo de tradi-
ção romântica, um rigor formal parnasiano e uma pureza diáfana, típica
dos simbolistas. Quanto ao campo político das reivindicações, mostra
a mulher entre os ‘novos’ rumos trazidos pelos movimentos emancipa-
tórios liberais, com o abolicionismo e o republicanismo, embora que
ainda presa aos laços fortes de uma tradição burguesa fixada no exclu-
sivismo dos seus papeis sociais domésticos.
Colaboram na publicação tanto escritoras da segunda metade
do século XIX, provenientes da era romântica, como Narcisa Amália,
quanto escritoras que continuaram a escrever até a segunda década do
3
http://www.amulhernaliteratura.ufs.br/artigo_Nadia_Gotlib.htm_-_ftn43
142
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 142 28/05/2014 17:16:54
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
século XX, na fase do pré-modernismo brasileiro, como Júlia Lopes de
Almeida.
Assim, nesse momento relativo à segunda metade do século
XIX, as mulheres ganham progressivamente espaço cultural, ainda que
de modo um tanto tímido e quase sem repercussão nacional, sobre-
tudo se se encontram em regiões afastadas em relação à região sudeste.
Além disso, a maioria das mulheres escritoras da época acumula à ati-
vidade da escrita um trabalho didático, mais ou menos profissionali-
zado, e um trabalho jornalístico, na divulgação das propostas de teor
feminista, mais ou menos politicamente engajado.
A revista tinha como propósito compartilhar com as leitoras
as novas ideias em curso ou uma possível criação literária, conforme
podemos constatar nas palavras de Presciliana Duarte de Almeida, na
abertura do exemplar número 1, publicado em 15 de outubro de 1897:
Estabelecer entre as brazileiras uma sympatia espiritual, pela
comunhão das mesmas ideias, levando-lhes de quinze em quin-
ze dias, ao remansoso lar, algum pensamento novo – sonho de
poeta ou fructo de observação acurada, eis o fim que, modesta-
mente, nos propomos.
Será recebida com indifferença a Mensageira – portadora feliz
da prosa amena e discreta de Julia Lopes de Almeida e dos ver-
sos artísticos e sentidos das mais festejadas e conhecidas poeti-
sas brazileiras? Não o cremos! E é por isto que nos arrojamos a
uma empreza desta ordem.
Em seus artigos deixa transparecer a admissão, ainda que indi-
reta, da igualdade entre os sexos no que diz respeito à produção lite-
rária; delineia a tendência positivista que exaltava a superioridade da
mulher proveniente de sua capacidade de subordinação e obediência;
abre espaço para os textos de caráter feminista, como se observa no
trecho a seguir, publicado no exemplar n. 1:
Esta revista, dedicada ás mulheres, parece-me dever dirigir-se
especialmente ás mulheres, incitando-as ao progresso, ao es-
tudo, á reflexão, ao trabalho e a um ideal puro que as nobilite
e as enriqueça, avolumando os seus dotes naturaes, ensinará
que, sendo o nosso, um povo pobre, as nossas aptidões podem e
devem ser aproveitadas em variadas profissões remuneradas e
que auxiliem a família, sem detrimento do trabalho do homem.
143
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 143 28/05/2014 17:16:54
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Cabe destacar que nas páginas da revista desfilaram múltiplas
posturas, muitas delas contraditórias e, segundo Martins (2008, p. 375),
isto a torna “um espelho de seu tempo”. Presciliana fez de sua publica-
ção o espaço da mulher escritora do final do século XIX, a julgar por
seu quadro de redatoras, considerado bastante expressivo: Andradina
de Oliveira, Áurea Pires, Anália Franco, Delminda Silveira, Francisca
Júlia, Georgina Teixeira, Ibrantina Cardona, Julia Cortines Laxe, Julia
Lopes de Almeida, Maria Amélia Vaz de Carvalho, Maria Clara Cunha
Santos, Narcisa Amália, entre outras.
“Aberta a todo o País, percebida como o mais importante veí-
culo de divulgação da poesia feminina, divulgava a opinião e a cola-
boração das mulheres envolvidas com as letras”, com essas palavras
Martins (2008, p. 375) conclui seus comentários sobre a referida revista
e anuncia um novo caminho para a formação de uma atividade de lei-
tura folhetinesca, aleatória, em pedaços, conduzida pela variedade
de seções que acaba definindo um novo tipo de consumo do material
impresso, que faz surgir uma nova leitora: a leitora consumidora.
No século XIX, os salões desempenharam uma função fun-
damental na vida em sociedade, pois estimulavam as práticas de lei-
tura, complementando, assim, as atividades de natureza intelectual.
Considerando-se que as culturas ocidentais têm as suas raízes histó-
ricas centradas na invenção da escrita, tanto a leitura quanto a escrita
estavam restritas ao mundo de transformações vividas que davam
acesso às outras esferas de poder. O domínio dessas práticas era impor-
tante para a vida burguesa e encontrava na escola o polo irradiador e
de crescimento do público leitor, consequentemente, influenciando as
práticas da leitura.
Para Chartier (1989), a vida familiar, a sociabilidade do con-
vívio e o isolamento individual constituem os três polos da vida oci-
dental, em que a leitura é de vital importância. Desse modo, a leitura
perpassa todos os três, formando a esfera onde a presença feminina é
constante.
Nos salões, a leitura era praticada, e a mulher conduzia essa
atividade de estímulo ao hábito de ler. A leitura como processo de inte-
ração entre o leitor e o autor empresta ao texto uma função mediadora.
Enquanto o autor imagina a postura de um receptor como interlocutor
144
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 144 28/05/2014 17:16:54
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
imbuído de uma compreensão adequada e autorizada do seu texto, o
leitor, por sua vez, exerce a sua função fazendo da leitura uma prá-
tica criadora. Nessa relação, o editor tem a função de mediador dessa
tensão, de maneira significativa, se utilizadas as fórmulas tipográficas
adequadas.
As práticas de leitura são relevantes para a vida cotidiana.
Entre tais práticas, a leitura em voz alta utilizada nos salões reforçava
um aspecto importante da vida privada, que era a vida familiar. Assim,
tanto a leitura em voz alta – em grupo, como atividade de lazer –,
quanto a leitura solitária são práticas de grande relevância na época.
Segundo Bicalho (1988), no Brasil, as origens da leitura se
misturam às próprias origens da nossa história colonial. Ela era pri-
vilégio de um grupo reduzido de pessoas, devido às condições des-
favoráveis resultantes do analfabetismo, do baixo poder aquisitivo da
população e da sua dispersão nas zonas rurais. Essa situação precá-
ria persistiu, embora em outro nível, apesar de todas as tentativas e,
mesmo, de novas medidas que foram introduzidas a partir dos anos 20,
quando a leitura exercida nas reuniões sociais, nos salões, alternava-se
entre a poesia e a prosa. Entretanto, a sua importância estava na função
multiplicadora das leituras que aprofundavam e difundiam a informa-
ção e a transmissão de conhecimento.
Ao referir-se à leitura de romances em voz alta nos saraus lite-
rários, Habermas (1984, p. 62) relaciona a leitura à publicitação da sub-
jetividade. Os salões representavam o espaço público no qual pessoas
privadas se aglutinavam em grupos. Desse modo, os salões representa-
vam o espaço de mediação entre a esfera privada e a esfera pública, e a
leitura em questão funcionava como mediadora entre as duas esferas.
Para tanto, Habermas resgata a importância dos romances europeus
que, no século XVIII, se desenvolveram como forma de literatura cor-
respondente ao desenvolvimento do indivíduo moderno.
O romantismo, vindo da Europa, encontrou, em terras brasilei-
ras, um ambiente propício. A veiculação de romances passou a ser rea-
lizada na grande imprensa, inclusive a dedicada à mulher, que ganhou
espaços expressivos nos jornais e revistas. O público leitor dessas
publicações, sempre crescente, chegou aos primeiros anos do século
XX com bastante representatividade. A presença feminina tornou-se
145
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 145 28/05/2014 17:16:54
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
significativa. Enquanto consumidora, a mulher estimulava a leitura, e
as frequentes seções se voltavam para concursos e sugestões das últi-
mas obras publicadas ou recém-chegadas da Europa. Entretanto, não
era somente a leitura em voz alta que era importante nos salões. Vale
ressaltar que a leitura silenciosa desencadeava o processo de trabalho
intelectual individual que influenciava a socialização do livro como
objeto cultural de relevância para a vida do indivíduo.
A revista feminina estava a serviço da nova mulher, cuja pre-
sença na sociedade estava em processo de mudança e, ao mesmo tempo,
atendia aos interesses dos intelectuais que buscavam novos espaços de
expressão. Além da função de informar à mulher sobre assuntos femi-
ninos, enfatizava as notícias sobre moda, literatura, poesia, folhetins.
A publicação desejada pela mulher era aquela que, além de representar
o seu grupo social, permitia o acesso à informação sobre assuntos que
ajudassem a sua convivência nesse novo espaço social. O que a diferen-
ciava das demais revistas era a abordagem essencialmente feminina,
pouco politizada, enfatizando a preocupação com a família e trazendo
as discussões da esfera pública para a esfera privada, onde eram dadas
as soluções.
Observa-se nos textos de A Mensageira uma visão mais agu-
çada, conduzindo sua leitora ao universo de interesses firmados nas
páginas da revista que traduziam a representação, ou seja, a ótica de
um grupo social preocupado em elaborar uma nova subjetividade para
a mulher que surgia. Vejamos o trecho a seguir, presente no exemplar
de n.7, publicado em janeiro de 1898, da autoria de Xavier de Carvalho,
no artigo introdutório da revista.
É com o maior prazer que vemos o triumpho da litteratura fe-
minina do Brasil na brilhante revista A Mensageira. A mulher
da maior republica da America do Sul não podia ficar atraz do
grande movimento iniciador da Europa e dos Estados Unidos. O
interesse quinzenario da illustre poetiza D. Presciliana Duarte
d´Almeida vae resurgir energias adormecidas e acalentar entre-
sonhadas esperanças. Será o glorioso rebate para o combate da
paz e do amor!... Benvindo seja esse signal amigo para todas as
almas que aspiram á luminosa alleluia da Noa Nova!
A mulher é ainda hoje considerada, quase por toda a parte,
como um ser physica e socialmente incompleto. Além dos que
por aberração cerebral a detestam, há a ferocidade dos Códigos,
146
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 146 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
há a hypocrisia dos costumes, ha umas certas convenções ana-
chronicas a que philosophos impotentes chamam a moral, ha o
grande abysmo dos preconceitos confessionaes de todas as re-
ligiões e seitas e ha sobretudo a opposição estúpida e, digamos
interessada, do homem que receia a concurrencia da mulher nas
artes, na sciencia, no commercio e na industria. É o homem
que nos parlamentos fabrica os códigos injustos e as leis op-
pressivas; é o homem que se oppõe na questão econômica á rei-
vindicação tão sensata das mulheres nos centros industriaes: a
trabalho egual, salário egual; é o homem que impede a entrada
da mulher nas academias e foro, como se viu há pouco em Paris,
na questão com M.slle. Chauvin; é o homem que lhe cria todos
os embaraços e obstáculos nas carreiras chamadas liberaes; é o
homem que, depois de a conspurcar e depravar, a arregimenta
no quadro infecto da prostituição; é o homem que lhe nega toda
a auctoridade nos actos da vida civil e que a colloca em lugar
inferior no casamento; é o homem que creou a incapacidade
legal da mulher casada; é o homem que, enfim, fabricou esse
absurdo artigo do Código Penal que em caso de flagrante delic-
to, no adultério, só elle o marido, elle, o senhor absoluto, tem o
direito de fazer justiça pelas suas próprias mãos!.
Mas, após tantos e tantos séculos d´escravidão, a Eterna Menor
revolta-se!
E revolta-se, não por sentimentalismo, mas com firme convicção
dos seus direitos sagrados de Mãe, de Esposa e de Mulher, parte
integrante do Individuo e da Humanidade. Revolta-se pelas exi-
gencias do seu Cerebro, do seu Coração e do seu Sexo. [...]
Collaborando hoje n´esta bella revista brazileira, nós protesta-
mos mais uma vez o nosso amor pela causa da Eterna Menor,
saudando a Eva Futura que será a verdadeira companheira do
homem e não a sua escrava de hoje.
O texto de Xavier de Carvalho deixa transparecer uma nova
percepção do mundo e do papel feminino. O desenvolvimento femi-
nino questionava o papel principal da procriação e da submissão, até
então padrão feminino inquestionável. Sugeria, com sutileza, um outro
perfil de mulher, que era avançado para o momento.
Embora as mulheres representassem um segmento expressivo
do público leitor dessa época, com raras exceções, participavam, da
mesma forma, do grupo de autores e colaboradores da produção cultu-
ral brasileira. Por intermédio da imprensa periódica, a mulher realiza a
147
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 147 28/05/2014 17:16:55
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
publicitação do seu espaço privado. Assim, as funções femininas exer-
cidas no núcleo familiar e geradas no cotidiano influenciam a formação
de uma verdadeira rede de informações que se estrutura de modo a sub-
sidiar os serviços necessários à complexa estrutura familiar. A mulher
controla esse sistema aparentemente sem importância, e que se irradia
para o mundo exterior. A acessibilidade à informação transformou os
espaços, e surgiram novos modelos comportamentais e culturais.
O sistema de informação cultural, a partir da figura feminina,
encontrava, na imprensa periódica, o veículo difusor da informação
produzida, segundo a ótica própria da mulher. Desse modo, a informa-
ção gerada para o cotidiano encontrava nessa revista o seu espaço ideal
e, portanto, precursor da informação utilitária. Conforme denominação
mais recente absorvida pelas revistas femininas, tinha o objetivo de
fornecer informações úteis relativas à saúde, educação, conselhos para
realizar tarefas caseiras, culinária, entre outros.
Segundo De Luca (1999), o feminismo presente na revista A
Mensageira é uma forma de percepção e elaboração da realidade inte-
grada ao pensamento de uma época. Ao produzirem seus textos, as
escritoras acabam fazendo da literatura um instrumento de reflexão
sobre a condição feminina na virada do século XIX. Ainda na visão
da referida autora, o feminismo presente no trabalho dessas escritoras
apresenta-se como:
Um projeto feminista sereno (baseado principalmente na uni-
versalização da instrução e no livre exercício das profissões,
em todos os níveis), preocupando-se ainda com a construção de
um panteão nacionalista e com a adoção de uma estética essen-
cialmente neo-romântica, anti-elitista e espontânea, em harmo-
nia com as raízes populares brasileiras (p.11).
2. O ESTILO DE A MENSAGEIRA
Durante o período em que foi editada a revista A Mensageira
(de 1897 a 1900), os seus 36 exemplares foram impressos com elegante
padrão de impressão, em formato in-4º, de fácil manuseio. A edição
fac-similar, coeditada pela Secretaria de Estado da Cultura e Imprensa
Oficial do Estado, apresenta comentários de Zuleika Alambert,
148
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 148 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Esta publica-
ção, feita em 1987, foi composta de dois volumes correspondentes aos
dois anos de circulação da revista: os 24 primeiros fascículos (relativos
à fase quinzenal, de 15 de outubro de 1897 a 30 de setembro de 1898),
formando o volume I; os 12 últimos fascículos (relativos à fase men-
sal, de fevereiro de 1899 a janeiro de 1900), compondo o volume II.
A interrupção de sua circulação por quatro meses (outubro de 1898 a
janeiro de 1999) corresponde ao período em que a editora Presciliana
Duarte de Almeida guardou luto pela morte de seu filho caçula, fale-
cido em outubro de 1898, conforme explicações publicadas:
Com o presente numero entra a Mensageira em seu 2º. Anno
de existência.
Esse Facto – que attesta a estima e merecimento desta folha –
por si só deveria encher de jubilo o coração de sua illustre direc-
tora, se elle não estivesse, como está, sangrando ainda de dor!
A perda, quase que repentina, de seu ultimo filhinho, o ado-
rável Bolívar – formoso lyrio que enchia de alegria o seu lar
e de esperanças o seu coração – abalou-a fortemente, como é
fácil de imaginar. Por esse motivo, aliás muito justo, esta revista
suspendeu por 4 mezes, sua publicação. E se hoje reapparece,
vem provar a força de vontade, a digna energia de sua direc-
tora, que continua a trabalhar e a luctar, tendo embora o cora-
ção dilacerado de dor, pela magua sem consolo, pela saudade
inextinguível, da separação eterna de um filhinho idolatrado
(EXEMPLAR n. 25).
O elemento mais marcante de A Mensageira é o tom “instru-
tivo”, repleto de “intenções de catequese feminista”, segundo De Luca
(1999), embora nem sempre evidenciado em uma leitura rápida e super-
ficial, costumeiramente realizada por nós, leitores do século XXI. A
publicação busca cumprir seu papel: informar a leitora a respeito da
condição feminina e a luta por sua emancipação intelectual, como se
pode conferir nas palavras de Ibrantina Cardona:
[...] a vós pertence um logar entre aquellas que bem mostram ser
a mulher apta para todos os arrojos do engenho humano.
E para confirmar esta asserção, aqui está, sobre a minha mesa
de trabalho, A Mensageira, cujo programma revela o mais lou-
vável tentamen de um espírito superior, em favor da instrucção;
aqui estão os preciosos fructos intellctuaes das pensadoras que
149
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 149 28/05/2014 17:16:55
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
acompanham a marcha do progresso, sob o lábaro triumphal
da Arte.
Julia Lopes de Almeida, na sua prosa adoravel, disse-nos que:
“se não temos medicas e escriptoras de mais, tambem não te-
mos de menos; que a mulher brazileira conhece que póde querer
mais do que até aqui tem querido; que póde fazer mais do que
até aqui tem feito” (EXEMPLAR n. 3).
Segundo De Luca, em sua pesquisa de mestrado, intitulada
A Mensageira: uma revista de mulheres escritoras na modernização
brasileira, não existem dados precisos a respeito da tiragem da referida
revista. É provável que ela estivesse entre os 500 e os 1000 exemplares.
Com base em comentário de Afonso Schmidt, a pesquisadora afirma
que era comum, na época, a tiragem mínima de 500 exemplares para
periódicos do mesmo gênero.
Ainda na visão da autora, a abrangência da área de circulação
do periódico, inferida a partir do registro de jornais e revistas recebidos
pela redação de A Mensageira no sistema de permuta, permite afirmar
que a revista circulava do Nordeste ao Sul do país. Também, é provável
que a visibilização de sua edição regular dependesse do fluxo de caixa
proporcionado pelas assinaturas anuais. Contudo, exemplares avulsos
também eram colocados, em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo preço
de um mil reis, à disposição de interessados. Há, ainda, a menção de
que a revista circulava em Lisboa e de sua remessa ao Chile. Além
disso, de acordo com uma nota inserida no exemplar de número 35
de A Mensageira, uma coleção completa do periódico foi exibida na
Exposição Universal de Paris em 1900:
A literatura feminista na exposição de 1900. – É com desvane-
cimento que registramos o honroso pedido que nos dirigiu de
Amsterdam a illustre Dra. Aletta H. Jacobs solicitando a col-
leção completa de A Mensageira para figurar na exposição de
Paris em 1900.
A revista tem um aspecto elegante que é dado, em parte, pela
escolha de vinhetas – que apresentam motivos geométricos abstratos,
bem como motivos florais, querubins, pássaros, borboletas, libélulas,
entre outros – que separam os textos e seções distribuídos em duas
colunas por página. Segundo De Luca (1999, 45), “tais vinhetas, que
150
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 150 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
associadas à sobriedade e à leveza dos tipos utilizados, conferem Á
Mensageira o aspecto típico de uma publicação desenvolvida sob a
estética “art noveau” – uma revista para ser lida ao som de Fauré...”.
Ao ler os textos da publicação, a leitora encontra-se diante de
textos sérios que convidam à reflexão e não ao simples entretenimento.
Não há na revista, como era o costume em outros periódicos na época,
a presença de piadas, advinhas ou charadas de rodapé. Um tom irô-
nico, se houver, advém do próprio conteúdo das crônicas escritas por
Maria Emília Lemos e Maria Clara da Cunha Santos. Também, não há
informes sobre eventos sociais, esportivos ou que tratem das diferen-
tes modalidades de diversão pública. No entanto, atividades relacio-
nadas a exposições de artes plásticas ou a concertos de música erudita
devem-se, quase exclusivamente, à afinidade pessoal de Maria Clara
por assuntos dessa ordem.
O mais importante acontecimento artístico da quinzena foi,
sem duvida, a exposição de pintura da “Escola ao ar livre”, dos
alumnos do paysagista Parreiras. São 4 os expositores, entre
elles uma senhora, e 60 quadros. Álvaro Cautanheda expõe 25
telas. Elle é o mais adiantado dos discípulos de Parreiras. De
seus quadros destaco o de no. 24 – Rua em ladeira – que me
agradou muito pela correção do desenho e verdade das cores
(EXEMPLAR n. 3).
Os concertos symphonicos, no salão do Instituto Nacional de
Musica, organisados pelo Centro Artistico, estiveram magní-
ficos. Não se pode imanigar goso de espirito mais fino e mais
elevado do que ouvir esses concertos, em bôa hora confiados
ao exímio professor que com tanto brilho e auctoridade exerce
o importante cargo de Director de Nosso Instituto. A musica
eleva a alma e ennobrece o coração (EXEMPLAR n. 25)
Também não se encontra nessa revista assuntos classificados
ainda hoje como “coisas de mulher”, dentre eles: conselhos sentimen-
tais, receitas culinárias, trabalhos manuais, moda, boas maneiras,
organização do lar, noções elementares de puericultura. Por sua vez,
questões relacionadas à educação infantil são discutidas somente no
plano teórico-pedagógico.
De modo geral, a tônica da revista recai sobre as cartas da edi-
tora ou artigos assinados, mas de caráter manifestamente programático
151
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 151 28/05/2014 17:16:55
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
e editorialístico, sobre a crítica literária, voltada, de preferência, para
lançamentos de livros escritos por mulheres sobre crônicas, contos e
poesia. Cabe, ainda, ressaltar a seção “Notas Pequenas”, a cargo de
Presciliana Duarte de Almeida, que busca apresentar as conquis-
tas femininas nacionais e internacionais, nas mais variadas áreas
profissionais.
Pharmaceutica – São do Paíz as seguintes linhas: “Há na
Policlínica de Nitheroy uma pharmacia e esse estabelecimento é
hábil e caprichosamente dirigido por dona Maria Luiz Torrezão
Sue Surville, diplomada em pharmacia pela nossa Faculdade,
desde 1887”.
Folgamos de registrar esse facto que muito hora as senhoras
brazileiras, e especialmente quem sans bruit et sens éclat, há 8
annos se exercita em tão elevada função (EXEMPLAR n. 19).
A revista não apresenta uma seção regular de cartas da leitora,
visando a estimular o diálogo entre a redação e as leitoras da revista.
Esse tipo de coluna, muito comum nas revistas femininas do século
XX, era visto com certa desconfiança, segundo De Luca (1999), “pelas
famílias das consulentes, na medida em que acabaria expondo as sig-
natárias das cartas remetidas à curiosidade ou à reprovação pública”
(p. 47). De modo geral, as poucas cartas reproduzidas correspondem
a intervenções de escritoras renomadas. Tais textos, geralmente, são
utilizados como ponto de apoio por Presciliana Duarte de Almeida para
a expansão dos horizontes geográficos e ideológicos da própria revista.
À primeira vista, a revista não apresentava espaço para a publi-
cidade, conforme o levantamento feito por De Luca. Entretanto, na
seção de notas, sob a responsabilidade direta de Prescilina Duarte de
Almeida, veiculava uma publicidade velada e sutil, já que era impossí-
vel remunerar as entidades das quais recebiam apoio. Então, de tempos
em tempos, destacava-se alguma novidade sobre partituras musicais,
que contribuíam para a divulgação dos lançamentos mais recentes da
loja musical carioca da Viúva Filippone.
Julia Filippone. – Desta conhecida editora, que tem a sua
conceituada casa de musicas á rua Moreira Cesar, 93, no Rio
de Janeiro, recebemos as seguintes bonitas valsas, que agra-
decemos penhoradas: Amo-te muito, por Marianna Barroso da
152
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 152 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Silveira; Maria Lourdes e Baby, por Alexandre Veissmann.
(EXEMPLAR n. 5)
Recebemos – e agradecemos – as seguintes musicas editadas
pela conhecida casa Filippne: Mimosa e Faceira valsas, de
Aurélio Cavalcanti; Doutora, valsa de Américo da Costa; e Pás
de quadre schottisch por Alexandre Weissman. (EXEMPLAR
n. 13)
Para finalizar a caracterização da revista, podemos dizer que
A Mensageira representa um marco na história da imprensa paulista
e revela aspectos socioculturais muito importantes da vida social da
mulher no final do século XIX.
3. CARTAS DA EDITORA
As Cartas da Editora, que abrem os exemplares das revistas
de número 4 e 6, apresentam o mesmo título “A Nossa Condição”, pois
visam a discutir o papel da mulher, sua maneira de pensar e ser mulher,
na sociedade do final do século XIX. Os dois textos são assinados por
M.P.C.D, que, segundo De Luca (1999), trata-se da própria editora da
publicação Presciliana Duarte de Almeida, e caracterizam de forma
eficaz o objetivo da revista na sociedade paulista do século XIX: atuar
como uma mensageira que informa suas leitoras dos principais fatos da
sociedade da época. E nas palavras de De Luca (1999):
Longe de se apresentar simplesmente como uma revista de
amenidades ou de entretenimento, A Mensageira possui carac-
terísticas de uma publicação cultural, voltada para o objetivo
precípuo de instrumentar a leitora brasileira para o desempenho
de suas funções cívicas e sociais (chegando mesmo a esboçar
reflexões acerca da questão da cidadania feminina) (DE LUCA,
1999, p. 232).
Cabe ressaltar que o fato de a carta da editora apresentar assi-
natura – ainda que por meio das iniciais do nome – revela, talvez, o
início do que seria hoje o artigo de opinião, que, diferentemente do
editorial (texto que representa a voz do grupo editorial, não apre-
senta assinatura e trata sempre do assunto mais importante vigente no
153
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 153 28/05/2014 17:16:55
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
momento da publicação), evidencia o caráter pessoal e indica quem é
seu enunciador.
Segundo Pessoa (2002, p. 202), a carta evidencia “a transfor-
mação do gênero [...]. À medida que as condições históricas favore-
cem essa evolução, o gênero vai sendo adaptado ou até simplificado”.
Em relação às cartas da editora de revistas femininas contemporâneas,
como, por exemplo “Claudia”, “Maire Claire” ou “Criativa, verifi-
camos que essas revistas apresentam a carta da editora sempre assi-
nada pela editora-chefe ou pela diretora de redação, e seu conteúdo
é muito mais uma apresentação das matérias que serão encontradas
na revista, funcionando como uma espécie de convite à leitura, já que
destaca, resumidamente, algumas reportagens ou artigos considerados
relevantes. Desse modo, há uma distinção em relação às cartas de A
Mensageira, que estariam muito mais próxima do que hoje denomi-
namos de editorial, e pode ser encontrado em jornais como Folha de
S. Paulo ou, ainda, na revista mensal Veja, ambos apresentam textos
argumentativos em que há a tomada de posição, por meio de um texto
argumentativo, por parte do veículo de comunicação em relação ao
tema apresentado.
Os textos surgem em situações sociais particulares e são cons-
truídos com finalidades específicas pelos escritores e, também, por seus
leitores. O sentido encontra a sua expressão no texto e ali é negociado,
a partir de uma situação concreta de relações sociais estabelecidas na
interação. Ao se analisar as cartas da editora, portanto, há que se desta-
car a relação com o seu processo de produção e interpretação, ou seja,
com a prática discursiva que lhe dá origem. Nessa ótica, o texto resulta
do processo de produção e do meio, no qual o método de interpretação
é realizado. Quando se trata das condições sociais de produção e inter-
pretação de textos, é necessário tratar das práticas socioculturais que as
propiciam, as influenciam e acabam interferindo no texto.
Na análise das cartas da editora, os textos podem ser conside-
rados o produto de um processo, porque é por meio das estruturas dis-
cursivas (narrativa, descritiva, argumentativa, entre outras), expostas
na carta, que a instituição (no caso, a revista) tenta persuadir suas lei-
toras. Nesse processo, a editora (diretora de redação) formula opiniões
em função do que a sociedade determina, ou seja, em função daqueles
154
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 154 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
assuntos que as pessoas estão discutindo, daqueles artigos que são do
interesse da leitora, dos fatos que a editora julga como os mais impor-
tantes para serem mencionados naquela edição.
Em decorrência disso, a análise desse discurso numa perspec-
tiva crítica 4 engloba o levantamento microestrutural do texto, através
dos elementos linguísticos que o formam, e o levantamento macroes-
trutural, por meio da análise das relações que se estabelecem entre os
participantes no discurso, envolvidos no processo de produção e con-
sumo desses mesmos textos.
A revista A Mensageira procura estabelecer uma relação de
intimidade com as leitoras e, para tanto, cria um certo envolvimento –
ou mesmo cumplicidade –, camuflando a ideologia que se instaura por
meio de uma relação de poder e dominação. A editora, com sua equipe
de colaboradoras, busca tratar assuntos que interessam ao público femi-
nino, escapa da armadilha de focar em “assuntos de mulher” e trata de
temas que interessam à mulher: saúde, educação, profissão, funções da
mulher na sociedade, direitos da mulher, entre outros, como se pode
verificar no trecho a seguir, retirado da carta da editora, do exemplar
n. 6, de A Mensageira:
Si lançarmos um relance da vista sobre a actual condição da
mulher, ficaremos tristes diante do desequilíbrio social que ain-
da reina e dos direitos que lhe são usurpados pela outra metade
do genero humano.
Mas, si compararmos o seu estado de hoje com o que era a um
século atraz, ficaremos alegres e esperançosas. O seculo deze-
nove traz consigo um facho luminoso, que dissipa as trevas do
egoísmo! As bellas paginas de Legouvé, Pelletan, Aimé Martin,
Jacolliot e tantos outros, ahi estão, despersas aos quatro ventos
como o prenuncio de reivindicações futuras!
A historia da mulher nas primitivas eras é uma historia toda de
lucto (EXEMPLAR n. 06).
Na visão de Bakhtin (1992, p. 334), “o ato humano é um texto
em potencial e não pode ser compreendido (na qualidade de ato humano
Para Faircloug (2001, pp. 90-91), o termo discurso compreende a linguagem não como
4
algo estático e de manifestação individual, mas como uma forma de prática social e de
ação das pessoas sobre o mundo e, especialmente, sobre as outras pessoas. Sob essa
perspectiva, o discurso é definido pelo autor “como uma interação entre os participantes
de um evento comunicativo em situações reais de comunicação” (1995, p. 18)
155
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 155 28/05/2014 17:16:55
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
distinto da ação física) fora do contexto dialógico de seu tempo (em
que figura como réplica, posição de sentido, sistema de motivação)”.
Nessa linha de raciocínio, consideramos, como característica básica da
linguagem enquanto texto, a possibilidade de o interlocutor entender
que todo enunciado é passível de réplica e permite uma resposta. Essa
especificidade da linguagem pode ser entendida como uma atividade
“responsiva”, ou seja, a propriedade dialógica do texto, conforme o
referido autor. Assim, a linguagem utilizada, quando é compreendida
pelo interlocutor, encerra uma relação de diálogo entre o locutor e o
interlocutor.
Bakhtin propõe dois critérios básicos para o entendimento
da linguagem enquanto texto: delimitação e unidade. A delimitação
está relacionada à possibilidade de responder ou adotar uma atitude
responsiva diante da linguagem, por exemplo: a indignação da editora
diante da situação da mulher na sociedade, para que a leitora leia a
carta intitulada “A nossa condição”, que abre o exemplar de número 4.
Observe-se que a editora mostra, empregando o pronome nós (inclu-
sivo), que a sociedade brasileira precisa de uma reforma total no que diz
respeito à educação da mulher. Esta (incluindo a leitora) precisa saber
sua posição, seu espaço, sua função social. Observemos o segmento
abaixo:
É demais; a tolerância tem attingido o seu ultimo grau!
Precisamos de uma completa reforma na educação moral da
mulher. Ella precisa saber que tendo intelligencia e nobres aspi-
rações não deve opprimir e limitar seu pensamento. Não basta
que lhe arda no cérebro o fogo da inspiração e a comprehen-
são do bello; é necessário que patenteie, em linguagem clara
e precisa, esses sentimentos e essas inspirações. É mister que
a suma maneira seja francamente apresentada, e que a crença
tradicional e sem fundamento algum que julga que a mulher se
affastando da limitada esphera intellectual que lhe circumscre-
ve o egoísmo da metade da humanidade não seja boa esposa e
boa mãe, seja lançada ao olvido (EXEMPLAR n. 4).
A unidade, por sua vez, diz respeito à totalidade do enun-
ciado e pode ser reconhecida a partir de três fatores indissociáveis: 1)
tratamento exaustivo do objeto do sentido; 2) intuito, isto é, o propó-
sito ou o querer-dizer do locutor; 3) formas típicas de estruturação do
texto. O tratamento exaustivo do objeto de sentido é o que possibilita a
156
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 156 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
alternância entre os falantes, pois um dos participantes, ao dizer o que
queria, esgota a sua participação, dando a possibilidade para o outro
responder. Isso é considerado como atitude responsiva em relação a um
enunciado, que ocorre, por exemplo, no momento em que se executa
uma ordem ou um pedido (p. 299-300). O propósito discursivo ou o
querer-dizer do locutor determina o todo do enunciado: sua amplitude
e suas fronteiras. Por meio desse intuito, o enunciador revela para o seu
leitor como o texto deve ser visto (fronteiras), a partir de suas intenções
implícitas ou explícitas (amplitude). Assim, o que o enunciador pretende
dizer deve estar claro no texto, para que o leitor perceba exatamente as
suas intenções. As formas típicas de estruturação permitem que o texto
seja visto, através de sua totalidade, em formas relativamente estáveis
chamadas de gêneros. Para realizar o seu propósito, o enunciador deve
fazer escolhas adequadas para aquela determinada prática social. Tais
escolhas são realizadas em função da especificidade de cada esfera de
comunicação. A utilização de gêneros varia porque, para cada intuito
de comunicação, há um gênero que a ele melhor se adapta. Ao escrever
uma carta da editora, um artigo de opinião, uma crônica, uma carta
da leitora, dentre outras formas recorrentes de linguagem, as pessoas
estão utilizando o que lhes parece ser a melhor forma de comunicação
para atingir o objetivo pretendido.
Como se pode verificar nas cartas do editor sob análise, os
três fatores citados representam a totalidade de cada um desses textos,
isto é, conferem ao enunciador (editora) a possibilidade de manter com
sua leitora uma relação dialógica, quer seja pela adesão, quer seja pela
negação das ideias expostas. Possibilitam ao leitor, também, perceber
o que o enunciador (editora) quis dizer e como isso pode ser visto pelo
público de modo geral, dado que as revistas também apresentam uma
seção de Cartas do Rio, em que a escritora responsável, Maria Clara
da Cunha Santos, responde ao público em relação às manifestações ou
solicitações recebidas, revelando sua adesão ou reclamação, no que diz
respeito aos textos expostos na revista no mês anterior.
Mais adiante, a enunciadora explica porque seleciona o termo
“creação dos filhos” e não “educação”, já que só pode educar os filhos
a mulher que também recebeu educação. Constamos que as escolhas
157
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 157 28/05/2014 17:16:55
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
lexicais feitas pela enunciadora visam a estabelecer um efeito de persu-
asão de suas leitoras. Vejamos um trecho:
Para os espíritos frivolos, a mulher instruída não póde ser boa
esposa, porque julgam que o estudo lhe rouba o tempo destina-
do aos arranjos domésticos e á creação dos filhos. Empregamos
aqui o termo creação em vez de educação, porque esta só pode-
rá ser dada por quem a tiver, e a mulher que satisfizer a esses
espíritos frívolos, há de necessariamente não ter educação, e,
portanto, não poderá dispensar a seus filhos mais que a crea-
ção, a qual sem a educação nos colloca ao nível dos irracionais
(EXEMPLAR n. 4).
A enunciadora destaca-se como alguém que recebeu educação
e fala por conhecimento de causa, buscando enriquecer seus argumen-
tos ao usar a estratégia polifônica de citar a voz de uma autoridade:
A mulher instruída será melhor mãe que a ignorante, prova-nos
a experiência e attesta-nos a razão. Seria mais fácil contermos
com a fragilidade de nossos braços a impetuosidade de uma
corrente, que negarmos esta verdade! Citaremos aqui um pen-
samento do Márquez de Marica, comprovando a nossa asser-
ção: “Pode-se avaliar a civilisação de um povo, pela attenção,
decência, consideração com que as mulheres são educadas, tra-
tadas e protegidas” (EXEMPLAR n. 4).
Mais adiante, faz uso de pergunta retórica para questionar a
posição dos homens que não permitem que as mulheres de sua famí-
lia recebam instrução, causando, desse modo, transtornos a toda uma
geração:
Mas, perguntamos, esses homens merecem a consideração da
sociedade e o nome de bons cidadãos? Não, de certo. Elles
devem ser estigmatizados porque para ella cavam uma ruína,
descuindando-se da educação de suas filhas, que amanhã serão
esposas e mães, e como taes, responsáveis pela prosperidade de
uma geração (EXEMPLAR n. 4).
A enunciadora cita exemplos de mulheres que, embora sejam
intelectuais ou escritoras, não deixam de se dedicar à família. Busca,
ainda, evidenciar a importância da participação de todas as mulhe-
res, para que a família e a pátria também se desenvolvam. Para fina-
lizar, informa que algumas capitais brasileiras, dentre elas São Paulo,
158
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 158 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
já possui estabelecimentos de educação, onde a mulher pode receber
ensinamentos.
Por sua vez, na carta da editora publicada no exemplar de
número 6, com o mesmo título “A nossa condição”, a enunciadora con-
tinua tratando do desequilíbrio social relativo aos direitos da mulher.
Faz uma comparação do século XIX com a mulher de outras eras e
revela que algo já se modificou e existe esperança.
A historia da mulher nas primitivas eras é uma historia toda de
lucto.
No Egypto, em que a mulher era mais considerada do que na
Pérsia e na Assyria, lá mesmo era ella tratada com muita infe-
rioridade ao homem e até mesmo com barbaria!
Hoje, felizmente, já não vemos as selvagerias do Japão nem os
horrores praticados universalmente contra a mãe do home! Não
tardará muito o tempo da verdadeira igualdade; já vem perto
esse futuro tão justamente ambicionado (EXEMPLAR n. 6).
Termina o texto com palavras positivas, evidenciando que o
presente promete “a igualdade na differença”, isto é, mulheres e homens
merecem ser tratados com igualdade social, mas sem deixar de consi-
derar a identidade de cada gênero humano e sua função na sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da caracterização da revista A Mensageira, e mais
especificamente da seção Cartas da editora, podemos estabelecer uma
relação com o espaço ocupado pela mulher e sua importância no desen-
volvimento da imprensa. A manifestação das mulheres que colabora-
ram na elaboração e produção da revista, referindo-se, prioritariamente,
ao modo de ser mulher – mãe e esposa – na relação com a sociedade e
seus direitos e deveres, buscando encontrar sua identidade, é reflexo do
contexto histórico vivenciado no final do século XIX.
Percebemos, portanto, que é de suma importância refletir
sobre a história da mulher como um todo, em sua vida familiar e nos
espaços sociais, pois é através de reflexões como as apresentadas na
revista que poderemos compreender mais sobre a mulher nos dias de
159
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 159 28/05/2014 17:16:55
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
hoje, dado que vemos que muitas práticas permaneceram iguais às do
passado. Além disso, a educação deveria servir como meio não só de
reprodução e continuidade das relações sociais, mas também como um
incentivo à reflexão crítica para possíveis transformações, ou seja, a
educação deveria ser geradora de autonomia.
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. O bello sexo: a imprensa, identidade
feminina no Rio de Janeiro em fins do século XIX e início do século XX.
Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Rio de Janeiro: Museu
Nacional – UFRJ, 1988.
CHARTIER, Roger. As práticas da escrita. In: ARIÉS, Philipe, DUBY,
George (Org.). História da vida privada. Trad. De Hildegard Feist. São Paulo:
Companhia das Letras, 1974. p. 113-162.
______. A história cultura: entre práticas e representações. Lisboa: Difel;
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no Brasil. 9. ed. São Paulo:
Contexto/Editora da UNESP, 2008.
DE LUCA, Leonora. A Mensageira: uma revista de mulheres escritoras na
modernização brasileira. Dissertação de Mestrado. IFCH/UNICAMP, 1999.
FAIRCLOUGH, Norman. Media discourse. New York: Edward Arnold, 1995.
______. Discurso e mudança social. Brasília: da UnB, 2001.
GOTLIB, Nádia Battella. A literatura feita por mulheres http://www.amu-
lhernaliteratura.ufsc.br/artigo_Nadia_Gotlib.htm, 2002. (acesso em: 20
janeiro 2010).
HABERMAS, Jürge. Mudança estrutural da esfera pública: investigações
quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Trad. de Flávio R. Kothe. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro. (Biblioteca Tempo Universitário,76. Estudos
Alemães), 1984.
MARTINS, Ana Luiza. Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em
tempo de República. São Paulo (1890-1922). São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2001.
MEAD, Margareth. Macho e fêmea. Petrópolis: Vozes, 1977. p. 23-26.
PESSOA, Marlos de Barros. Da carta a outros gêneros textuais. In:
160
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 160 28/05/2014 17:16:55
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia e CALLOU, Dinah (Org.) Para a História
do PortuguêsBbrasileiro. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Letras e FAPERJ,
2002, p. 197-205.
TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: DEL PRIORE, Mary
(Org.) (2008) História das mulheres no Brasil. 9. ed. São Paulo: Contexto/
Editora da UNESP 2008, p.401-442.
FONTE
A Mensageira: revista literária dedicada à mulher brasileira. São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado: Secretaria Estadual de Cultura, 1987, 2 volumes
(edição fac-similar).
ANEXOS
É demais; a tolerância tem attingido o seu ultimo grau!
Precisamos de uma completa reforma na educação moral da
mulher. Ella precisa saber que tendo intelligencia e nobres aspirações
não deve opprimir e limitar seu pensamento. Não basta que lhe arda o
cérebro o fogo da inspiração e a comprehensão do bello, é necessário
que patenteie, em linguagem clara e precisa, esses sentimentos e essas
inspirações. É mister que a suma maneira seja francamente apresen-
tada, e que a crença tradicional e sem fundamento algum que julga
que a mulher se affastando da limitada esphera intellectual que lhe
circumscreve o egoísmo da metade da humanidade não seja boa esposa
e boa mãe, seja lançada ao olvido.
Para os espíritos frivolos, a mulher instruída não póde ser boa
esposa, porque julgam que o estudo lhe rouba o tempo destinado aos
arranjos domésticos e á creação dos filhos. Empregamos aqui o termo
creação em vez de educação, porque esta só poderá ser dada por quem
a tiver, e a mulher que satisfizer a esses espíritos frívolos, há de neces-
sariamente não ter educação, e, portanto, não poderá dispensar a seus
filhos mais que a creação, a qual sem a educação nos colloca ao nível
dos irracionaes.
A mulher instruída será melhor mãe que a ignorante, prova-
-nos a experiência e attesta-nos a razão. Seria mais fácil contermos
161
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 161 28/05/2014 17:16:56
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
com a fragilidade de nossos braços a impetuosidade de uma cor-
rente, que negarmos esta verdade! Citaremos aqui um pensamento do
Márquez de Marica, comprovando a nossa asserção: “Pode-se avaliar
a civilisação de um povo, pela attenção, decência, consideração com
que as mulheres são educadas, tratadas e protegidas”.
Não adimittimos o egoismo nesta questão – a instrucção. Um
home civilisado e intelligente deve instruir e educar suas filhas, pela
melhor fórma que lhe permittirem as suas circumstancias.
Há, entretanto, homens doutos, cujas filhas são quase
analphabetas!.
Mas, perguntamos, esses homens merecem a consideração da
sociedade e o nome de bons cidadãos? Não, de certo. Elles devem ser
estigmatizados porque para ella cavam uma ruína, descuindando-se
da educação de suas filhas, que amanhã serão esposas e mães, e como
taes, responsáveis pela prosperidade de uma geração.
Seria inconveniente, e até mesmo detestável, uma mulher que
entregue completamente a seus estudos, não se lembrasse de que seus
filhos, ao cuidado da creada, almoçaram doces em vez de bifes e que
em pleno mez de Janeiro, na força do calor, dormiram de camisola de
flanella; que a sala de visitas não foi varriada e que os moveis conser-
vam-se cheios de pó! Isso não seria só atrazo para toda a família. Mas,
afastemos de nosso espírito esse typo de mulher inútil e pensemos em
uma Mme. Fr Sevigné, que ao mesmo tempo que escrevia suas cartas,
que são flores da literatura universal, escrevia e assignava receitas de
doces, fazendo-os ella mesma, com admirável perfeição.
Não basta que comprehendamos a utilidade e os attractivos do
espírito cultiado, é mister que façamos de nossa parte o maior esforço
possível, procurando instruir-nos e desenolver-nos a bem da pátria e
da família.
Quanto mais illustrada e intelligente for uma mulher, tanto
mais zelosa e cumpridora de seus deveres será. E ainda há quem receie
esclarece-la com a luz da verdade temendo um futuro de trevas!3 Oh!
É preciso que se arranque do espírito de certos homens essa crença
retrogada, que é a brônzea cadêa que nos opprime. E como romper
essa prisão que anniquila o pensamento e esterilisa a intelligencia?
Estudando, e estudando muito.
162
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 162 28/05/2014 17:16:56
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Negar a instrucção a uma filha é um attentado revoltante, é
negar a não ao cego que vacillante circumda o abysmo, é negar o pão
ao mendigo que desfallece e morre de fraqueza.
Em algumas capitaes do Brazil, como em S. Paulo, já se
encontram estabelecimentos de educação onde a mulher póde elucidar
e prover a sua intelligencia dignamente; e amanhã, quando os lyceus
e gymnasios se acharem pelo interior dos Estados, dissipando a igno-
rância e elevando o nível intellectual da mulher, uma alegria profunda
virá nos animar, compensando as indisposições que acarretamos,
agora que francamente reclamamos a instrucção para a mulher.
M.P.C.D.
(2) A nossa condição - exemplar n. 6 (Anno I – 30 de
dezembro de 1897)
Si lançarmos um relance da vista sobre a actual condição
da mulher ficaremos tristes diante do desequilíbrio social que ainda
reina e dos direitos que lhe são usurpados pela outra metade do genero
humano.
Mas, si compararmos o seu estado de hoje com o que era a
um século atraz, ficaremos alegres e esperançosas. O seculo dezenove
traz consigo um facho luminoso, que dissipa as trevas do egoísmo! As
bellas paginas de Legouvé, Pelletan, Aimé Martin, Jacolliot e tantos
outros, ahi estão, despersas aos quatro ventos como o prenuncio de
reivindicações futuras!
A historia da mulher nas primitivas eras é uma historia toda
de lucto.
No Egypto, em que a mulher era mais considerada do que na
Pérsia e na Asyria, lá mesmo era ella tratada com muita inferioridade
ao homem e até mesmo com barbaria!.
Hoje, felizmente, já não vemos as selvagerias do Japão nem os
horrores praticados universalmente contra a mãe do home! Não tardará
muito o tempo da verdadeira igualdade; já vem perto esse futuro tão
justamente ambicionado!
A esse passado tenebroso, a esse egoísmo revoltante, o esque-
cimento completo: ao presente, que promette a igualdade na differença,
animo e perseverança; e a esse risonho futuro que trará a emancipação
moral da mulher, uma chuva de palmas e uma salva de ovações!
M. P. C. D
163
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 163 28/05/2014 17:16:56
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 164 28/05/2014 17:16:56
LINGUAGEM E
EDUCAÇÃO ESCOLAR
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 165 28/05/2014 17:16:56
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 166 28/05/2014 17:16:56
RELAÇÃO ENTRE LÍNGUA E IDENTIDADE:
REFLEXÕES SOBRE OS SABERES NEGOCIADOS EM UM
CONTEXTO ESCOLAR MULTILÍNGUE
Cibele Krause-Lemke
Universidade Estadual do Centro-Oeste
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 167 28/05/2014 17:16:56
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 168 28/05/2014 17:16:56
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
INTRODUÇÃO
Este trabalho parte da realidade multilíngue da região centro-
-sul do estado do Paraná, na qual convergem as línguas do contexto – o
português e o ucraniano como línguas veiculares – e a língua estran-
geira ensinada na escola – o espanhol. A partir das práticas linguísti-
cas escolares desencadeadas nas aulas de língua espanhola, investigo
como se dá a construção e a negociação de identidades nesse contexto.
Assim, este artigo tem como objetivo central trazer à tona o debate
sobre a construção de identidades e a aprendizagem de línguas estran-
geiras. Ele está composto de três partes: na primeira, analiso o conceito
de identidade, subdividindo a discussão em identidade étnica e linguís-
tica; na segunda parte, a partir da análise de fragmentos de aulas de
língua espanhola, gravados em duas escolas: uma localizada em região
considerada rural e, outra, em região urbana, lócus em que alunos e
professores manejam com o tema identidade, elaboro algumas refle-
xões sobre tal. Por fim, nas considerações finais, esboço alguns desdo-
bramentos do presente estudo para a didática de ensino de línguas, ao
pontuar a necessidade de fomentar políticas de formação de professores
orientadas ao desenvolvimento de saberes multilíngues.
1. DO CONCEITO DE IDENTIDADE
Nas práticas linguísticas que se dão em uma sala de aula, mais
do que a mobilização de conhecimentos, agenciam-se, também, dife-
rentes formas de percepção sobre si mesmo e sobre o outro. Tendo em
vista esse fato, a noção teórica de identidade elaborada neste trabalho
a considera como um processo em constante mutação e construção, o
qual se dá via diferentes práticas e discursos. Essa concepção apoia-se
na perspectiva dos estudos culturais de Hall (2006) e nos estudos dis-
cursivos (CORACINI, 2003; REVUZ, 1998), que alertam para o fato de
que, mesmo na construção das identidades, nos quais o sujeito poderia
169
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 169 28/05/2014 17:16:56
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
assumir-se como dono do seu dizer, ele é, ainda assim, interpelado pelo
outro.
Hall (2006), ao reportar-se à faceta da condição humana, des-
creve três concepções de identidade: i) a do sujeito do iluminismo; ii)
a do sujeito sociológico; iii) a do sujeito pós-moderno. Na primeira, ele
apresenta a concepção de um indivíduo centrado, cujas capacidades
de consciência e de ação emergiam no seu nascimento e com ele se
desenvolvia, permanecendo sempre o mesmo. Já a segunda está vincu-
lada a uma concepção mais interativa do sujeito. Desconstroi-se a ideia
do sujeito individualista, aos moldes do essencialismo, para uma cons-
trução de identidade fundada em relação ao outro, através de valores,
sentidos e símbolos manifestos pela cultura. Mas, ao estabelecer essa
relação dialógica entre o que é interno – o eu – e o que é externo – a
cultura, o sujeito tende a internalizar determinadas visões, na expecta-
tiva de estabelecer uma correlação direta entre elas, estabilizando-as,
ou seja, tornando próprio o que poderia ser alheio. A terceira concep-
ção, por sua vez, postula a desestabilização da identidade construída. A
identidade do sujeito pós-moderno torna-se uma “‘celebração móvel’:
formada e transformada continuamente em relação às formas pelas
quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que
nos rodeiam” (HALL, 1987 apud HALL, 2006, p. 13). Portanto, ela se
funda mais em razões históricas que biológicas.
Por esses fatos, o estudo do conceito de identidade e sua rela-
ção com práticas linguísticas são importantes, já que são elementos que
estão implicados diretamente. Se a língua e suas práticas são constru-
ções históricas e simbólicas – sendo o sujeito concebido na e pela lin-
guagem –, não há como postular, nos dias de hoje, uma identidade que
não seja interferida pela história e pela cultura. Nesse sentido, detenho-
-me, nas duas partes seguintes, na análise de dois conceitos: a identi-
dade étnica e a identidade linguística.
1.1. Da identidade étnica
Para o desenvolvimento desta discussão, mobilizarei estudos
que tratam da identidade étnica, tais como o de Seyferth (2009) e o de
Dufour (2005). Primeiramente, procuro discutir o conceito de identi-
dade étnica, partindo de um exercício de leitura de uma das obras de
170
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 170 28/05/2014 17:16:56
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Dufour (2005), intitulada “A arte de reduzir as cabeças”. Cabe, antes,
ressaltar que este trabalho é fruto de um outro, mais amplo, no qual
analisei as línguas de imigração do sul do Brasil, entre elas: o alemão,
o italiano e o ucraniano. As reflexões esboçadas a seguir atrelam-se,
efetivamente, à região centro-sul do Paraná, conforme descrito na aber-
tura deste artigo.
Ao elaborar o histórico da imigração ucraniana, bem como da
manutenção de sua língua no estado do Paraná, percebi que era neces-
sário construir algumas redes de significação a respeito do que pode-
ria representar morar no Brasil para esses imigrantes ucranianos. O
que favoreceria a manutenção e a (re)construção de sua identidade, de
sua cultura e de seus ritos? A posse da terra? O pertencer a gerações
consanguíneas ucranianas? A língua? O que permitiria a cada um dos
imigrantes nomearem-se como ucraniano ou brasileiro?
Ao deter-me sobre a compreensão das perguntas levantadas
acima – a partir da leitura de A arte de reduzir cabeças, de Dufour
(2005) –, foi possível compreender, em primeiro lugar, um pouco do
como minha própria identidade foi sendo construída. Até algum tempo
atrás, se perguntassem ‘o que você é?’, diria, com a maior certeza, que,
antes de ser pelotense, de ser brasileira, era alemã, pois essa foi a noção
de identidade construída no âmbito familiar. Tal afirmação permeia a
coletividade da família e é considerada por todos como uma herança e,
portanto, um construto fixo.
Essa noção de identidade estava ligada, pois, ao pertencimento
étnico. Nesse sentido, é interessante observar o que postula Reis (2004)
sobre a designação de uma nacionalidade, sobretudo nas lógicas fran-
cesa e alemã:
Não existem critérios “lógicos” ou “naturais” para decidir sobre
a composição da nacionalidade. De um modo geral, há duas tra-
dições para estabelecer tais critérios – uma baseada no contrato
político, outra, na cultura. Essas tradições são também conhe-
cidas como a francesa e a alemã, respectivamente, por serem
historicamente identificáveis com esses dois países, embora
nenhum deles tenha políticas que correspondam exatamente
ao paradigma ao qual emprestam o nome. A nacionalidade se-
ria uma escolha no ponto de vista francês, e, do ponto de vista
alemão, um destino. Segundo a tradição republicana francesa,
171
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 171 28/05/2014 17:16:56
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
a nacionalidade baseia-se na adesão voluntária do indivíduo à
nação. [...] A tradição alemã, originada no período romântico,
repousa numa concepção étnica e cultural do povo, e considera
como “nacionais” apenas as pessoas que pertencem à cultura
dominante do país, cultura essa transmitida pelo sangue. A na-
ção, nesse caso, seria uma espécie de comunidade de sangue e
de idioma (REIS, 2004, p. 155).
Para exemplificar, meus pais costumam falar em pomerano1
entre si e entre seus irmãos, sempre como resgate do que já viveram.
Falar em pomerano os aproxima, os faz reviver sensações, momentos e
presenças. A língua, nesse caso, funciona como o elemento propulsor
desse retorno ao que viveram, embora, com o passar do tempo, o uso
dessa língua materna tenha diminuído, restando, apenas, a utilização
de certas expressões, num processo de alternância linguística.
A citação anterior, ao identificar a relação entre sangue-língua
e os atributos necessários para designar-se pertencente a uma nação,
elucida a construção de pertença desenvolvida no núcleo familiar. Em
outras palavras, quando me designava pertencente a uma determinada
etnia, estava reproduzindo a noção de pertença construída através dos
anos, revelando, assim, um exemplo de assujeitamento à cultura.
Retomando os aspectos que podem determinar a manutenção
da identidade, tendo por base a definição proposta por Reis (2004),
que é ampliada por Dufour (2005), o autor, ao escrever sobre o Estado-
Nação, postula que esta ‘instituição’ mobiliza-se a partir de dois refer-
entes distintos: a terra e o sangue.
Para o autor, o primeiro referente – terra – é designado pela
seguinte afirmação: quem nasce em solo francês é francês (DUFOUR,
2005, p. 63). O significante, desse modo, conta mais que a realidade. Se
for francês pelos pés, já que estou em solo francês, sou francês. A lín-
gua, o espírito e os costumes são apenas elementos acessórios. O inter-
essante é observar que em Bhabha (2003) também é retomada a ideia
de suplementaridade de alguns elementos que marcam e constituem a
identidade em contextos de migração.
O segundo referente – sangue – é designado pela seguinte afir-
mação: todos os que podem provar que possuem ascendentes alemães
1
Considerado, por alguns pesquisadores, um dialeto do alemão; por outros, uma língua
baixo-saxônica.
172
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 172 28/05/2014 17:16:56
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
são alemães (DUFOUR, 2005, p. 63). Se houver a possibilidade de pro-
var que existe a presença de sangue alemão, então podem habitar as
terras da Alemanha. Assim, a comprovação da origem, a pertença (o
que pode ser entendido como a ‘fixação’ de uma identidade) pode ser
substituída por outro elemento que prove tal pertença a uma etnia: o
sangue.
Como é bem improvável – ou até mesmo impossível – que se
verifique a pertença a alguma nacionalidade pelo exame sanguíneo,
os critérios mudam. Esses critérios passam de concretos a simbólicos:
a língua (op. cit, p. 64). Qualquer um que comprove que “fala” deter-
minada língua ou que tenha parentes que um dia a falaram poderá ser
classificado como pertencente a uma determinada nacionalidade ou
etnia. Nesse caso, o exemplo alemão é bastante forte, sobretudo por
causa da relação sangue-língua-raça, que congrega a ideia do purismo.
No que se refere à imigração ucraniana, o que se encontra
relatado na história é que, mesmo estando em terras brasileiras, a sua
identidade permaneceu ligada à sua terra de origem, bem como a sua
língua, o seu espírito e os seus costumes. As terras brasileiras passaram
a representar um pedaço de sua pátria-mãe. A partir dessas reflexões, é
possível afirmar, então, que o critério que define a pertença é a língua.
Seyferth (2009), pesquisadora da imigração europeia no Brasil
em relação ao critério língua, salienta:
O uso cotidiano da língua materna talvez seja a característica
mais evidente e persistente da fronteira étnica. Hábitos alimen-
tares, formas de organização social e sociabilidade, associações
recreativas e culturais, estilos arquitetônicos, modos de ocupa-
ção do espaço, entre outras coisas, também contribuíram para
a coesão grupal e elaboração das identidades étnicas. Termos
como germanidade, polonidade e italianidade apareceram
nos discursos de imigrantes e descendentes para assinalar uma
vinculação cultural à nação de origem, elaborados de maneiras
diversas. (SEYFERTH, 2009, p.06) [Grifos da autora].
Além da língua, outro critério levantado por pesquisadores
para a criação e fortalecimento de identidades étnicas é o da religião:
de um lado, italianos, poloneses e ucranianos afirmaram-se a partir
do rito católico romano e ortodoxo e, de outro, os alemães, a partir
da igreja evangélica luterana (cf. SEYFERTH, 2009). Em vista disso,
173
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 173 28/05/2014 17:16:56
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
a afirmação de identidades étnicas causou grande impacto no movi-
mento nacionalista brasileiro na era Vargas, e foi, portanto, fortemente
coibida.
Esse processo de nacionalização pode ser relacionado ao con-
ceito de assimilação postulado por Landowski (2002), ou seja, para que
se instaure o que é nacional e o que unifica uma nação, o “outro”, o
“estrangeiro” que deseja viver em determinado território, deve apren-
der a ser como todos. Nesse sentido, o pesquisador faz alusão à adoção
de um modo de ser que pode facilmente ser reconhecido como uni-
versal ou típico de um lugar. Em um projeto de assimilação, portanto,
a ideia da diferença é excluída, e o ‘eu’ deve ser igual ao ‘outro’. Isso
possibilita a consideração, uma vez mais, de que a identidade étnica se
forja a partir de referentes bastante específicos, os quais são marcados
pela lealdade a um grupo e pelo compartilhamento de características
específicas, tais como língua e religião.
Ao apresentar essas ideias, Landowski (2002) elabora uma crí-
tica à construção da sociedade francesa ou daquilo que significa “ser
francês”, a qual legisla em prol de processos assimilacionistas. Em con-
trapartida, estabelece que a noção de identidade só pode ser construída
a partir da diferença, ou seja, a partir do conceito de alteridade. Ele
escreve:
Com efeito, o que dá forma à minha própria identidade não é
só a maneira pela qual, reflexivamente, eu me defino (ou tento
me definir) em relação à imagem que outrem me envia de mim
mesmo; é também a maneira pela qual, transitivamente, objeti-
vo a alteridade do outro, atribuindo a um conteúdo específico
a diferença que me separa dele. Assim, quer a encaremos no
plano da vivência individual ou – como será o caso aqui – da
consciência coletiva, a emergência do sentimento de “identida-
de” parece passar necessariamente pela intermediação de uma
alteridade a ser construída (LANDOWSKI, 2002, p. 04).
Uma importante contribuição dos estudos da sociolinguística
foi desconstruir as categorizações pelas quais os indivíduos poderiam
ser enquadrados. A noção de identidade, portanto, adquire um cará-
ter fluído, como na perspectiva defendida por Bauman (2005), enten-
dida como um processo sempre em construção. Desse modo, são essas
174
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 174 28/05/2014 17:16:56
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
considerações que servem de mote para o tópico seguinte: a construção
da identidade linguística.
1.2. Da identidade linguística
Como discutido, a identidade étnica tende a ser construída
sobre pilares e referentes bastante específicos e, geralmente, as pes-
soas, dependendo das etnias, carregam os traços de sua pertença.
Sejam quais forem esses traços, tanto podem servir de status quanto de
estigma para aquele que os detém.
A identidade linguística, como discutirei a seguir, manifesta-se
atrelada a diferentes configurações, porém mais opacas. Se o atributo
‘identidade’ fosse passível de homogeneização, assim como o é o da
nacionalidade, por exemplo, muitas pessoas em situação de entre-lugar
teriam que abdicar dos traços que as identificam como pertencentes a
um grupo, para filiar-se a outro2.
No que tange à definição de uma identidade linguística,
Rajagopalan (1998) afirma que os problemas começam quando se tenta
definir o que é uma língua, bem como o que significa ser falante de
uma língua:
Os linguistas como os leigos, frequentemente, se referem a “fa-
lantes da língua x” como se não houvesse nenhum problema
de qualquer espécie para decidir quem pertence e quem não
pertence ao grupo que eles assim querem identificar ou discri-
minar (RAJAGOPALAN, 1998, p. 25).
Destaco, a partir de Rajagopalan, que esses dois grandes obje-
tivos dos estudos linguísticos levam em conta contextos monolíngues,
por meio dos quais se tenta captar a genealogia do falante nativo (Ibid.,
p. 31) o que, por sua vez, nega o plurilinguismo, predominante na maio-
ria das sociedades. Porém, ao levarmos em conta a noção pluralista
de língua e de contexto, compreendemos que a tentativa de definir
2
Um exemplo disso são os filhos de imigrantes que nascem em território europeu: para
ganhar cidadania europeia, devem abdicar da nacionalidade de origem. Para muitos, tal
decisão representa um impasse: se, de um lado, garante-se o acesso a toda uma carga
simbólica atrelada à cidadania europeia, de outro, pode representar traição às suas
origens.
175
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 175 28/05/2014 17:16:56
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
identidades linguísticas pelo critério língua parece ser bastante ilusó-
rio, se não, impossível.
É interessante observar que, ao considerar a impossibilidade
de fixação de uma identidade linguística através da noção de lín-
gua, ocorre um deslocamento na concepção de sujeito. Se nos estu-
dos estruturais o sujeito era uno e indivisível, com o reconhecimento
da pluralidade, a noção de sujeito também muda. É nesse sentido que
Rajagopalan (1998) faz menção às teorias marxistas de língua: nelas o
sujeito passa de “indivíduo individual” para um “indivíduo coletivo”.
Assim, a noção de identidade linguística é atravessada por
uma dupla articulação: i) língua como um ‘objeto’ plural, permeada
de contatos, variantes, variedades; e ii) a própria constituição subjetiva
dos sujeitos.
Tal como poderá ser observado mais adiante, a noção de iden-
tidade discutida pelos alunos é confrontada por estes dois aspectos: a
concepção de que a identidade deva ser homogênea, ao mesmo tempo
em que revelam a necessidade de caracterizá-la como em constante
estado de fluxo, ou construída de forma heterogênea.
Assim, Wald (1989), ao debater sobre os significados da lín-
gua materna e da construção de uma identidade linguística, destaca
que, ainda que esses dois conceitos sejam dimanados, o sujeito é inves-
tido de poder para gerenciá-los em direção ao que o autor chama de
unilinguismo:
De fato, o plurilinguismo generalizado – e seu próprio pluri-
linguismo [do sujeito] – não o impede, necessariamente, de
construir opções de categorização que marginalizam, de uma
maneira mais ou menos transitória, setores inteiros de um re-
pertório comum. Graças a esta marginalização de uma parte do
repertório plurilíngue, certos procedimentos de categorização
receptíveis chegam, então, a afirmar identidades linguísticas
alternativas e, por vezes, contraditórias, atualizando categorias
(“nós”, “eles”) que se apresentam como unilíngues (WALD,
1989, p. 107).
Ao tratar do imaginário linguístico, Charaudeau (2009) pos-
tula que a identidade linguística é permeada pela crença de que a língua
de um povo é o que o constitui, concepção que perdura através da his-
tória. Para o autor, é evidente que a língua atua para a constituição de
176
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 176 28/05/2014 17:16:56
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
uma identidade coletiva, a qual garante a coesão social e, além disso,
constitui a base em que essa comunidade se sustenta. Por outro lado,
questiona se é a língua que possui uma função identitária ou é o dis-
curso. Charaudeau (2009) é partidário da ideia de que é preciso disso-
ciar língua e cultura e, em vez disso, associar cultura e discurso. De
não ser assim, correr-se-ia o risco de tornar idênticas, por exemplo, a
cultura brasileira e a portuguesa, com o pretexto de que existiria uma
mesma comunidade linguística.
É nesse sentido da diferença que Revuz (1998), ao tratar da
aprendizagem de uma língua estrangeira, postula que este aprendizado
provoca a desestabilização de uma identidade previamente construída
e tida como fixa. Para a autora, “a língua estrangeira vem questionar
a relação que está instaurada entre o sujeito e sua língua. Essa relação
é complexa e estruturante da relação que o sujeito mantém com ele
mesmo, com os outros e com o saber” (op.cit., 1998, p. 220).
Tanto o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira
quanto as práticas linguísticas experimentadas em contextos multilín-
gues colocam em confronto o sujeito e a forma como este encara a
relação com os diferentes objetos. A abordagem que fundamenta os
estudos de Revuz (1998) é baseada nos debates da psicanálise a respeito
da constituição do sujeito e da sua identidade. Nessa área de estudos, a
identidade está ligada ao conceito de identificação, tal como discutido
por SUGYIAMA (2009):
A identidade de um sujeito só pode vir a se constituir pelo pro-
cesso de identificação, realizado em três estágios: primeira-
mente, estabelece-se um laço social entre o sujeito e um objeto,
tornando o sujeito parte do mundo; posteriormente, passa-se
pela introjeção do objeto no ego, que permite a vinculação de
um objeto libidinal. Finalmente, o processo se dá pela instala-
ção de um processo identificatório com outros objetos (op. cit.;
2009, p. 36).
Em seu trabalho, Sugyiama (2009) detém-se na forma como a
psicanálise define a identidade. No entanto, ao trazer essa contribuição
da psicanálise, interessa-me destacar, especialmente, a proposta defen-
dida por Revuz (1998), pois creio que as discussões empreendidas pela
pesquisadora incorporam com propriedade a relação entre uso e apren-
dizagem de línguas e a construção de identidades, na medida em que
177
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 177 28/05/2014 17:16:56
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
a autora atrela a aprendizagem de línguas a um engajamento subjetivo
entre aprendiz e objeto.
Como será discutido na parte de análise dos registros das aulas,
as proposições de modelos homogêneos de identidade, bem como o
exercício de aprender outra língua, além das línguas do contexto, pode
desencadear conflitos entre o que se sabe e o que não se sabe da língua
e sobre a língua, o que demarcará, também, lugares e sentimentos de
pertença.
Esse conflito, nem sempre pacífico, é descrito por Giampapa
(2001), ao estudar as identidades linguísticas de imigrantes italianos
no Canadá. A pesquisadora denomina esse conflito através do termo
identidades hifenizadas3, tais como as por ela estudadas, de base
ítalo-canadenses.
Em seu estudo, a partir da análise de práticas discursivas, a
autora conclui que jovens imigrantes desenvolvem distintas estratégias
para, de um lado, construir tanto uma identidade linguística quanto
uma identidade étnica, e, de outro, tentar assimilar traços da cultura
local canadense – o que ela nomeia performance de identidades. A
autora afirma que a construção da identidade não se faz a partir de
um exercício isolado, mas constitui-se de uma atividade dialógica por
natureza (GIAMPAPA, 2001, p. 42).
Como debatido neste trabalho, a construção de uma identi-
dade linguística é forjada pelo sujeito, não de forma fixa nem homo-
gênea, mas a partir de referentes híbridos e multiculturais. Conforme
Nahachewsky (2010)4, há a prevalência, no caso deste estudo, de uma
etnicidade imigrante – aquela que é ainda o modelo trazido do país de
origem e perpetuado de geração em geração, em detrimento de uma
nova etnicidade –, que é desenvolvida em contexto familiar com ele-
mentos que mesclam a cultura de origem com a cultura do contextual
atual, e que está ligada, portanto, ao peso simbólico da etnicidade; em
3
No original: Hyphenated identities.
4
Dados obtidos a partir da palestra “Aspectos teóricos e práticos da Imigração
Ucraniana no Brasil e no Canadá”, ministrada por Andriy Nahachewsky, pesquisador da
Universidade de Alberta – Canadá, por ocasião do 1º Colóquio Internacional de Estudos
Eslavos, realizado na Universidade Estadual do Centro-Oeste – PR, em maio de 2009.
178
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 178 28/05/2014 17:16:56
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
outras palavras, a pessoa pode escolher quando e em que momentos
quer ver-se atrelada à cultura de origem.
Em relação às práticas linguísticas que serão analisadas, pro-
ponho uma interpretação híbrida do conceito. As identidades em nego-
ciação devem ser tomadas desde a sua heterogeneidade para, a partir
disso, observar como ela é construída pelos alunos, professores e mate-
riais didáticos.
Tomando como eixo a sala de aula e para dar sequência à pro-
posta deste estudo, no item seguinte, apresento e discuto excertos reti-
rados dos registros de aulas de língua espanhola, nas quais alunos e
professores questionam(-se) sobre o conceito de identidade.
2. IDENTIDADES: DA HOMOGENEIDADE AO “PÕE MISTO
AÍ, PROFESSORA”
Como afirmado na apresentação deste estudo, as interações
que se realizam em uma sala de aula, além de revelar as diferentes for-
mas com as quais os alunos se relacionam com as línguas, podem reve-
lar diferentes agenciamentos identitários. Portanto, não postulo que
esses agenciamentos se materializem de forma homogênea. Tal como
pontua Chauradeau (2009), seria uma ilusão pensar que a identidade
se baseia em um construto homogêneo ou único; postulo a identidade
como um processo em constante construção.
Deste modo, analisarei alguns segmentos nos quais se revelam
os conflitos entre a afirmação de uma identidade homogênea e a que
advém de processos mesclados – tal como definem os alunos em rela-
ção às suas práticas linguísticas.
O primeiro segmento analisado desenvolveu-se a partir de uma
atividade proveniente do livro didático de língua espanhola5, a qual
tinha como título a seguinte pergunta: ¿Latinoamericano o brasileño?
¿Cómo te sientes?. Esse tema, portanto, permeia as sequências intera-
cionais a seguir:
5
Trata-se de uma coletânea publicada pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná,
intitulada Livro Didático Público de Língua Espanhola e Língua Inglesa, SEED – PR,
2006.
179
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 179 28/05/2014 17:16:56
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Segmento 1
[EU6 - 23.10.2008]
1. Profa. ↑gente, então assim, éh (:) antes da página 24, ali,
2. vocês têm a abertura do capítulo, então olhem lá: a pergunta
3.que está sendo feita, nesta primeira parte, é: ((¿Latinoamericano
4. o brasileño? ¿cómo te sientes?))
5. Aluno 1: brasileño (a professora não escuta a intervenção do
6. aluno)
7. Profa: então pensem gente, esta pergunta, assim... é uma pergunta
8. que vocês podem ter(..) várias interpretações, certo? Por quê? O
9. que será que leva uma pessoa a ser ¿latino-americano o
brasileño
10. (escreve no quadro as duas expressões) certo?/ esta é a pergunta
11. que está fazendo no capítulo. Só que trazendo esta pergunta
para a
12. nossa realidade, eu vou fazer esta pergunta: ¿cómo te sientes?
13. Brasileño/
14. A 2- [que calor
15. Profa. qué, ¿hace mucho calor? (a professora,
enquanto isso,
16. escreve no quadro várias situações de identificação: brasileiro,
17. ucraniano, italiano, polonês)
18. A 2 - põe misto aí professora
19. Profa: como? misto?
20. A 2: isso, põe de tudo um pouco aí professora.
No segmento 1, o foco do trabalho em sala de aula recai sobre
a noção de pertença dos alunos. Porém, subjacente a essa discussão,
está o conceito de identidade. A professora, tendo como pano de fundo
a temática tratada no livro de língua espanhola, através das perguntas
Escola Urbana
6
180
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 180 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
¿Latinoamericano o brasileño? ¿Cómo te sientes?, problematiza o que
poderia ser considerada a raiz sócio-cultural dos alunos.
No turno 5, um dos alunos se autosseleciona para responder
à pergunta feita pela professora, mas ela parece não ter notado a sua
intervenção. A pergunta gira em torno de escolha objetiva entre dois
elementos somente. Como tentativa de aproximar a proposta da uni-
dade didática com as vivências dos alunos, a docente escreve no quadro
diferentes nomes de etnias ou nacionalidades. Tal fato propicia que, na
linha 18, o aluno sugira à professora a noção de ‘mescla’. Tal asserção
parece desestabilizar a docente no que tange às escolhas a serem efe-
tuadas pelos alunos, como se pode observar na linha 19. Ao mesmo
tempo, lança a pergunta de volta para o aluno. Na sequência, o aluno
reforça a sua ideia de padrões menos concretos para o tratamento da
temática. Neste caso, há um rompimento em relação à suposição de
que os processos identificatórios poderiam ser unos, através da ideia de
mescla, ou seja, de identidades forjadas a partir de distintos referentes.
Desse modo, a ideia da homogeneidade desfaz-se, o que poderia exigir
da professora a reelaboração de sua pergunta.
Segmento 2
[EU - 23.10.2008]
1. Aluno 5: qual que é a pergunta?
2. Profa: ¿cómo te sientes?
3. Aluno 5: muy bien,¿y tu? (risadas geral)
4. Profa: más o menos, hoy no estoy muy bien, hace mucho calor.
5. Aluno 5: polonÊs, psora, polonês
6. (ela marca no quadro e segue adiante e dirige a pergunta para um
7. dos alunos mais tímidos e que, notadamente, sabe a língua
8. ucraniana).
9. Profa: e você?
10. Aluno 6: o primeiro.
11. Profa: o primeiro? ¿Brasileño? (O aluno apenas concorda
12. sinalizando com a cabeça que sim)
181
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 181 28/05/2014 17:16:57
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
13. Aluno 6: eu sô os dois professora:: Sô ucraniano e brasileiro.
14. Profa: então vamos marcar os dois, pode ser? (A professora em
15. seguida aponta com o dedo para o aluno seguinte)
16. Aluno 7: [ yo soy turista (os alunos riem)
17. Profa: ah??? pense bem, pense bem...
18. Aluno 5: ihhhhhh, tem sujeira nesta pergunta
19. Aluno 7: é... psora, tem segundas intenções (risadas)
20. Profa: não tem nada, é só a título de curiosidade (fica olhando
21. para o aluno e espera a resposta dele)
22. Aluno 7: é polonês mesmo↓, psora
No segmento 2, acima, observa-se que a mesma pergunta se
mantém, conforme a proposta do livro. Porém, o aluno toma o turno
(linha 1) e solicita que a professora repita ou refaça a pergunta, ao que
o aluno responde, com ironia, à professora, ao manifestar-se positiva-
mente sobre o seu ‘estado de ânimo’, conforme a linha 3. A professora
acolhe a ironia do aluno, sendo que, na linha seguinte (5), o aluno dá
nova resposta, tal como estava sendo solicitado pela docente. Enquanto
os alunos respondiam, a professora ia marcando no quadro as respos-
tas relacionadas a sentimentos de pertença a alguma das etnias por ela
elencadas. Logicamente, a atividade proposta pelo livro didático dire-
cionava os alunos para filiarem-se a determinadas pertenças, embora
tivesse como objetivo problematizá-las.
Na linha seguinte (10) o aluno em questão nem ousa enun-
ciar a sua filiação identitária, apenas reproduz a ordem na qual estava
elencada a sua escolha. Assim, a atividade levava para uma “escolha”
de identidades e não exatamente para a problematização do conceito,
assim como pontuado anteriormente. O aluno aponta para ‘brasileiro’,
primeiramente, como forma de escapar do estigma a que muitas vezes
está relacionada a decisão de filiar-se a algum grupo étnico em espe-
cífico. Este aluno sabe que, a qualquer momento, podem questioná-lo
sobre a sua escolha. Sabe-se que ele pertence ao grupo étnico majori-
tário na região que, fatalmente, utiliza a língua ucraniana em suas prá-
ticas linguísticas. Portanto, a sua resposta é questionada pela docente,
ao que, na linha 13, diz pertencer a uma dupla formação identitária,
182
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 182 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
fato que é descrito por Giampapa (2001) ao tratar das identidades hife-
nizadas. Já na linha 16, uma vez mais a professora recebe uma resposta
irônica. O aluno, ao referir-se à qualidade de turista, deixa entrever
uma identidade heterogênea, não passível de uma única formação. Por
fim, na linha 22, ele acaba respondendo ao que a professora solicita.
Além do tema em discussão, pode-se observar um jogo dis-
cursivo interessante: tomadas de turno efetuadas pelos alunos, ironias,
questionamentos em relação à proposta de trabalho, elementos que, por
vezes, desestabilizam o papel do professor na sala de aula, o que exige
constantes processos de reformulações e rearranjos na dinâmica da
interação.
Nos segmentos seguintes, (3) e (4), são articuladas outras ima-
gens a respeito das formações identitárias.
Segmento 3
[EU – 23.10.2008]
1. Profa: Então vamos XXX aqui com o Jorge. (.) o Jorge que é o
2. aluno mais estudiOSO, né? (o aluno, muito timidamente, sinaliza
3. com a cabeça que não...)
4. As: é sim psora, ESSE piá...
5. Profa: então você vai responder para só para mim ¿cómo te
6. sientes? Brasileño, ucraniano, polonês o latinoamericano?
7. (apontando para as expressões no quadro)
8. Jorge: Latinoamericano
9. Profa: ¿por qué?
10. Alunos: ihhhhh
11. Jorge: não sei
12. A 1: ele não sabe porque é parente dos índio.
13. Profa: bueno, ya es un empiezo
14. A 3 - é bugre
15. Profa - e você, Marcia, ¿cómo te sientes? (direcionando sua
16. pergunta para uma aluna)
183
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 183 28/05/2014 17:16:57
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
17. Marcia: brasileña
18. Profa. brasileña, bien, brasileña ¿ y tu? (direciona a pergunta
a outro
19. aluno)
20. A 3- brasileño
No segmento 3 são acionadas outras identidades. Há a menção
a latino-americano e, também, ao bugre, definição que é dada pelos
alunos como sendo índio (segmento 3, linhas 12 e 14). Nesse segmento,
são os alunos que vinculam a imagem do aluno (Jorge) a uma etnia
indígena, pelos traços que carrega. São afirmações que evidenciam que
a identidade se constroi pela diferença (LANDOWSKI, 2002), sendo
que a designação de ‘bugre’, muitas vezes, parece estar atrelada aos tra-
ços indígenas, consideração que também poderia ser analisada desde a
perspectiva de Goffman (1988), ao tratar do estigma.
Os turnos seguintes apontam para identificações majoritárias,
nesse caso, relacionadas ao ser “brasileiro”, o que, no caso de tal ativi-
dade, não representaria nenhum problema, sendo considerado ‘normal’.
Os turnos de 17 a 20 deixam entrever esta posição, já que os alunos
começam a apenas nomear a sua nacionalidade.
Segmento 4
[ER7 – 24.05.2009]
1. Profa: ¿De dónde ha venido su familia?
2. Aluno 2: °Da Ucrania°
3. Profa: ¿Bisabuelo?
4. Aluno 2: Da Ucrânia
5. Profa: ¿Y cómo era la vida cuándo ellos llegaron hasta ahí?
(...)
6. Aluno 2: Difícil
7. Profa: Difícil.
8. Aluna 2: °Não tinham nada°
7
Escola Rural
184
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 184 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
9. Profa: Eso, no tenían nada.
10. Aluno 3: xxx
11. Profa: Ah! Com certeza, com moto serra (Risos). ¿Y cómo ellos
12. poblaron esta región?
13. Aluno 4: Com >(?Gripe)<
14. Profa: ¿Cómo? (? Engraçado) ¿Tenían muchos recursos?
¿Cómo era?
15. Aluno 4?: °Eles tinham moto serra°.
16. Aluno 2?: (? Eles foram destruindo aí).
(...)
17. Aluno 3: Serra de XXX (O aluno faz um gesto imitando o
movimento
18. da serra).
19. Profa: Ah!
20. Aluno 4: Ô aquela serra (..) de dois (xxx)
21. Profa: [Creo que muchos,
22. Aluno 4: [a dois cavalo
23. Profa: [Comían né, o que se alimentaban de
24. cosas que eran peligrosas, que no podían comer, muchas
crianças,
25. niños morrían.
26. Aluna?: °Morriam°
27. Aluno 4?: °Morriam de dor de barriga°
28. Profa: ¿Y cómo era la comunicación entre los inmigrantes
y la
29. gente que ya vivía aquí? Que aquí vivían né, los (:) ( A
30. professora faz um gesto, como que procurando a palavra mais
31. adequada) bugres, né?, como dizem por aqui, índios.
32. Aluno?: xxx
33. Profa: ¿Cómo que ellos se comunicaban?
34. Aluno 3?: com gestos?
185
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 185 28/05/2014 17:16:57
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
35. Profa: Eso. Creo que a través de gestos, né? É:(:) una tía mía
36. contaba que los (:) los bugres né, não sei se é assim o nome,
37. ellos destruían todo que ellos construían durante el día, o
sea,
38. ellos levantaban una cabana, una un casa, y los bugres
vinham
39. por la noche y destruían todo, no se entendían a caso que
40. estaban tomando pose de algo que era de ellos. Casi salía
41. muerte./ Muy bien, entonces ahora ustedes van a recibir un
texto
42. sobre Migraciones.
43. Alunos?: °Nã(:)o°
44. Profa: Sí
45. Alunos?: No(::)
O segmento (4), acima, trata de um enquadre interacional que
tem como foco uma atividade sobre “Relatos de Inmigrantes”. A pro-
fessora pergunta sobre a origem das famílias, do trabalho para a cons-
trução de suas casas e de sua adaptação à nova terra, a partir do resgate
de histórias de vida dos alunos e da própria professora. Assim, alunos
e professora compartilham conhecimento sobre como foi a vida dos
primeiros imigrantes. É nesse ínterim, que aparece uma vez mais a
designação aos bugres (linha 31) como etnia que também faz parte do
universo dos alunos e da professora. A narração que a docente recupera
sobre os embates entre índios e colonos recém chegados é discutida por
Seyferth (2009). Segundo a pesquisadora:
Os indígenas, ou bugres, estavam situados na natureza a ser
desbravada, conforme imagem contida no discurso oficial e na
retórica dos colonos, que eram vistos pelas autoridades e por
si mesmos como agentes da civilização. A marginalização dos
caboclos, ou “nacionais”, por sua vez, ocorreu por força dos
princípios que nortearam a colonização. A baixa densidade
populacional na maior parte do sul que, nos primórdios, mo-
tivou os investimentos na imigração, e o fato da colonização
ocorrer em áreas florestais, em grande parte inexploradas, in-
dicam que esse segmento da população não era numericamente
186
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 186 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
significativo, mas estava presente em algumas colônias. A ex-
clusão dos “nacionais”, de certo modo, contribuiu para vincu-
lar a categoria colono ao imigrante, pressuposto que perdura
até hoje na conformação (simbólica) das identidades étnicas.
(SEYFERTH, 2009, p.04)
Observa-se, portanto, que o debate a respeito das identidades
torna-se mais profícuo, quando se confrontam as representações sobre
quem são os ‘imigrantes’ e o ‘bugres’ e sobre o estigma em torno da
relação entre eles. Os primeiros como detentores oficiais das terras,
e os segundos como os ‘alheios’. Nem a língua nem a posse de terras
funcionavam como elemento de coesão social, tal como relatado pela
professora nas linhas 37 e 39.
Nesse sentido, o confronto entre o que é ‘próprio’ e o que é
‘alheio’ também é pauta de discussão em outro enquadre interacional,
tal como no segmento a seguir:
Segmento 5
[EU – 23.10.2008]
1. Aluno 5: é(::) o Brasil é o país dos colono, né, psora?
2. Profa: é, ele é considerado:: na verdade, é aquilo que a gente
3. colocou naquele quadro a vez passada, o Brasil é considerado
4. que? /o país do samba, do futebol, da mulata, das praias, das
5. mulher pelada, da prostituição, das drogas:::
6. Alunos: u-hu (risadas)
7. Aluno 1: [ lá fora
8. Profa: lá fora, né! só que nós brasileiros temos que mudar
9. esta ideia, que o Brasil, que o pessoal do exterior/
10. Aluno: [até no desenho do Piu-Piu
11. apareceu ele lá dando a volta ao mundo, aí mostrou o Brasil, ô
12. loco, mostrou que era assim... ô louco!
13. Profa: [...] Então, pensem, gente, olhe, nós temos que
14. valorizar muito a nossa cultura gente, a nossa cultura é
15. maravilhosa, e quem é descendente, gente, não precisa ter
187
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 187 28/05/2014 17:16:57
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
16. vergonha de falar da sua cultura, de mostrar a sua cultura,
17. que é MARAvilhosa, Maravilhosa/
18. Aluno 5: [que cultura?
19. Profa: [o quê?
20. Aluno 5: fale:: pode falar o que você ia falar
21. Profa: ah? falar do quê?
22. Aluno 5: (xxx) mas que cultu::ra:: que você tá falando?
23. Profa: a cultura de quem é descendente:: qualquer descendência::
24. por exemplo, a dos poloneses, a dos ucranianos, a/os, os
25. italianos, também, né?!↓
No segmento acima, (5), logo na primeira linha, é o aluno quem
domina o turno ao levantar a noção de ‘colonos’. Ao mesmo tempo em
que o aluno faz uma pergunta, faz também uma constatação, para a
qual espera contar com o aceite da professora. A professora, na linha 2,
acolhe a intervenção do aluno como pergunta e elenca outras imagens
construídas a respeito do que é ser brasileiro ou de imagens do Brasil.
Essa relação vai sendo construída na alteridade. Em outras palavras,
os estereótipos relacionados ao Brasil na concepção daqueles que são
alheios, tal como revelam as linhas 7 e 8, ao usarem a expressão “lá
fora”. A professora, por sua vez, alinha-se à diferença que vai sendo
construída entre o ‘nós’ e o ‘eles’.
Nesse caso, existe uma noção de identidade sendo proposta
pela professora, ao enunciar, na linha 19, a expressão “nós brasileiros”.
Até, então, os alunos parecem acolher a ideia de coletividade que está
sendo construída, ao reclamarem, também, da visão estereotipada que
se faz do Brasil (linhas 10 a 12). Assim, a professora faz alusão à valo-
rização da cultura, uma em sentido amplo, podendo ser interpretada
como coletiva “nossa cultura é maravilhosa” (linhas 14 e 15), e outra
cultura relacionada ao outro: “não precisa ter vergonha de falar da sua
cultura, de mostrar a sua cultura” (linha 16).
Tal asserção, construída pela diferença entre o “nosso” e o
“seu”, mobiliza a participação de outro aluno, o qual questiona sobre
que cultura estava sendo definida (linha 18). Esta pergunta, ao ser colo-
cada, exige uma reorganização dos conceitos que estavam tentando ser
188
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 188 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
expostos pela professora, bem como uma reorganização no enquadre
interacional. Como já foi tratado, o próprio conceito de identidade é
concebido em torno de um processo de negociação e de ruptura. Os
alunos questionavam os conceitos, tentavam formas menos homogê-
neas de nomear-se uma ou outra coisa, mas, sempre colaborativos, coo-
peravam para que o processo interacional tivesse sequência.
A pergunta feita na linha 18 é reelaborada na linha 22 e sua
resposta vem ligada à cultura dos imigrantes, a qual evidencia que a
cultura que deve ser valorizada está mais alheia do que incorporada ou
presente nas vivências daquele contexto.
Segmento 6
[EU – 23.10.2008]
1. Profa: y quien ha contestado ucraniano? ¿Por qué?
2. Aluno 1: porque conozco
3. Aluno 2: porque adoro
4. Aluno 3: sei lá, porque é nossa língua, porque conheço
5. Aluno 4: [porque a família é
6. ucraniana
7. Profa: muy bien, porque sé algo de la lengua, bien
8. Aluno 4: [lenda?
9. Aluno 5: LENGUA, LENGUA
10. Profa: [polonés, ¿por qué?
11. Alunos: (em alvoroço) é porque bebe vinho e não apaga
12. Aluno 5: tomam muita (?chepa)
13. Profa: [como é que é?
14. Aluno 5: falam que é porque gostam de fazer muita festa
15. Profa: ah sí, ¿por qué les gusta la fiesta?
16. Aluno 5: é sim, professora, é só nos gole xxx!
No segmento 6 são problematizadas algumas das respostas
dadas pelos alunos. Assim, essa sequência interacional produz um
fechamento no tópico. Agora as respostas aparecem vinculadas a uma
189
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 189 28/05/2014 17:16:57
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
coletividade, tal como podemos evidenciar na linha 4: “é nossa lín-
gua”; “porque conheço”; e, na linha 5, “porque a família é ucraniana”.
Nesse caso, surgem filiações relacionadas tanto à língua quanto à ori-
gem familiar. A professora, como estratégia de manter a língua da
atividade, repete as respostas em língua espanhola. No entanto, tal
estratégia implícita não é percebida ou acolhida pelos alunos. Na linha
10, a pergunta feita pela professora dá margem para que novos estereó-
tipos, agora em relação à etnia polonesa, sejam verbalizados, tal como
na linha 11.
As atividades desenvolvidas em relação à pertença a certos
grupos étnicos ou nacionalidades também deixam entrever diferentes
estereótipos, sendo negociados, especialmente, a respeito de outros paí-
ses da América Latina: ora enfatizam questões de ordem social, ora
questões de ordem cultural relacionadas à tradição culinária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dessas práticas linguísticas, depreendi que
a construção da identidade etno-linguística passa por uma aborda-
gem bastante dicotômica. Enquanto as propostas contidas em ativida-
des do material didático encaminham para debates essencialistas do
conceito, os alunos tentam negociar a identidade por propostas mais
amplas. Assim, desencadeiam-se embates entre o que é ser brasileiro,
bugre, ucraniano, polonês, ora acolhendo determinados estereótipos,
ora problematizando-os.
Como pontua Maher (2007), o que ocorre em uma sala de aula
não são simples justaposição de culturas ou de línguas, mas, as identi-
dades nela presentes estão em constante processo de mudança, influen-
ciando-se continuamente. Assim, ao trazer à tona esses conflitos, que
seguramente ocorrem no dia a dia das salas de aulas, e ao analisá-los,
trabalhei na perspectiva elucidar como se configuram as interações em
contextos multilíngues, bem como problematizar as práticas linguís-
ticas desses contextos - nos quais o intercultural e o multilíngue são
traços do cotidiano.
As práticas analisadas desvelam uma parcela da complexa rea-
lidade linguística brasileira no que tange à compreensão e ao estudo
190
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 190 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
dos contextos multilíngues. Observei que, embora essas realidades
estejam estabelecidas há bastante tempo, elas permanecem, em sua
maioria, invisíveis àqueles setores que se encarregam - ou, pelos menos,
deveriam se encarregar - de estudá-las. Assim, o que se depreende a
partir das situações de ensino aqui apresentadas é que a produção e
a formação acadêmica, existentes hoje em dia, não causam impactos
suficientes, capazes de ressignificar práticas e estabelecer formas mais
harmoniosas para convivência e para o uso das línguas.
É nesse sentido que acredito ser necessária a transformação
de certas tendências didáticas que insistem na implantação de um
monolinguismo, seja em português, seja nas línguas estrangeiras que
se ensinam nas escolas. Essa perspectiva durante anos esteve atrelada
às abordagens ditas comunicativas, as quais, ainda hoje, guiam parcela
das dinâmicas escolares. Tais perspectivas, fatalmente, acabam sempre
por silenciar e ocultar as vozes multilíngues que povoam as sociedades
e as salas de aulas.
Essa transformação deve ser direcionada para a criação de
outros procedimentos didáticos que, em vez de uma didática mono-
língue, aportem os conhecimentos dos alunos no desenvolvimento de
saberes multilíngues e multiculturais, e que, portanto, gerem diferentes
relações com o seu saber sobre as línguas e sobre as suas identidades.
REFERÊNCIAS
BAUMAN, Z. Identidade. Rio de Janeiro/RJ: Jorge Zahar, 2005.
BHABHA, H. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima
Reis, Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte/MG: Editora UFMG, 2003.
CHARAUDEAU, P. Identidad lingüística, identidad cultural: una relación
paradójica. In: BUSTOS, J. J. & IGLESIAS, S. Identidad sociales e identida-
des lingüísticas. Madrid: Editorial Complutense, 2009.
CORACINI, M. J. Identidade e Discurso: (Des)construindo subjetividades.
Campinas/SP: Ed. da Unicamp; Chapecó, Editora Universitária, 2003.
DUFOUR, D. R. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na socie-
dade ultraliberal. Rio de Janeiro/RJ: Companhia de Freud, 2005.
191
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 191 28/05/2014 17:16:57
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
GIAMPAPA, F. Hyphenated identities: Italian-Canadian youth and the
negotiation of ethnic identities. In: TORONTO. International Journal of
Bilingualism.Vl. 5, Num. 3, 279-315, 2001.
GOFFMAN, E. Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deterio-
rada. 4ª ed. Guanaba Koogan: Rio de Janeiro, 1988.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro/RJ:
DP&A, 2006.
LANDOWSKI, E. Presenças do outro. São Paulo/SP, Ed. Perspectiva, 2002.
MAHER, T. M. Do casulo ao movimento: suspensão das certezas na educa-
ção bilíngue e intercultural. In: CAVALCANTI, M. & BORTONI-RICARDO
(Org). Transculturalidade, linguagem e educação. Campinas/SP: Mercado
das Letras, 2007.
RAJAGOPALAN, K. O conceito de identidade em linguística: é chegada
a hora para uma reconsideração radical. In: SIGNORINI, I. Língua(gem) e
identidade. Campinas/SP: Mercado de Letras, 1998.
REIS, R. R. Soberania, direitos humanos e migrações internacionais: Revista
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo/SP, v. 19, p. 149-163, 2004.
REVUZ, J. A língua estrangeira: entre o desejo de um outro lugar e o risco do
exílio. In: SIGNORINI, I. Língua(gem) e identidade. Campinas/SP: Mercado
de Letras, 1998.
SEYFERTH, G. Memória Coletiva, identidade e colonização: representações
da diferença cultural no sul do Brasil. Anais do XIV Congresso Brasileiro de
Sociologia. Rio de Janeiro, p. 1-26, 2009.
SUGYIAMA JUNIOR. E. Identidades construídas e comercializadas: Um
estudo sobre a construção da identidade do japonês. Dissertação. (Mestrado
em Filologia e Língua Portuguesa) Programa de Pós-Graduação em Filologia
e Língua Portuguesa. Universidade de São Paulo/SP, 2009. 131f.
WALD, P. Língua materna: produto de caracterização social. In.: VERMES,
G. & BOUTET, J. Multilinguismo. Campinas/SP: Ed. da Unicamp, 1989.
192
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 192 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Convenções usadas para a transcrição dos registros8:
DESCRIÇÃO SÍMBOLO
Entonação ascendente ↑
Entonação descendente ↓
Entonação mantida _
Pausa curta (.)
Pausa média (..) mais de meio segundo
Pausa longa (nº de segundos)
Alargamento silábico (:)(::)(:::)
Fala simultânea [texto
Interrupção Texto -
Intensidade “piano” ° texto °
Intensidade forte TEXTO
Fala acelerada >texto<
Fala lenta <texto>
Enunciados lidos ((texto))
Comentários de quem transcreve (comentário)
Falas em língua espanhola negrito
Falas em ucraniano Sublinhado
Transcrição fonética aproximada [texto]
Fragmentos incompreensíveis XXX
Fragmentos duvidosos (?texto)
Supressão de linhas (…)
8
Essas convenções foram adaptadas a partir da proposta desenvolvida pelo GREIP:
http://greip.uab.cat/.
193
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 193 28/05/2014 17:16:57
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 194 28/05/2014 17:16:57
POLÍTICA LINGUÍSTICA PARA AS
LÍNGUAS INDÍGENAS
Aldir Santos de Paula
Universidade Federal de Alagoas
Carla Maria Cunha
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 195 28/05/2014 17:16:57
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 196 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
INTRODUÇÃO
O Brasil tem cerca de oitocentos mil índios (FUNAI, 2012)
remanescentes de uma população que pode ter sido de mais de cinco
milhões. Essa população está distribuída entre os duzentos povos indí-
genas, que falam cento e oitenta línguas. Mesmo sem levar em consi-
deração o decréscimo populacional dos povos indígenas desde o início
da colonização, a atual diferença entre o número de povos e línguas é
resultante da perda linguística vivenciada por um número significativo
de povos.
Este trabalho tem por objetivo discutir como as políticas lin-
guísticas devem nortear o trabalho com esses povos, de forma a atender
as expectativas oriundas do próprio povo, ao tempo em que reconhece
a diversidade e aos processos sócio-históricos vivenciados pelos mes-
mos. É um artigo que está dividido em três partes: a primeira apresen-
tará algumas ideias a respeito da política e planejamento linguístico; a
segunda exibirá o quadro sociolinguístico vivido pelos povos indígenas
nos estados do Acre e de Pernambuco, discutindo os efeitos do tempo
de contato sobre o grau de perda linguística; por fim, na terceira parte
serão discutidas a relação entre planejamento linguístico e educação
escolar indígena e as eventuais estratégias para o fortalecimento das
culturas e línguas indígenas.
1. POLÍTICA E PLANIFICAÇÃO LINGUÍSTICAS
Embora o Brasil – ao menos em termos oficiais - seja conside-
rado um país monolíngue, tendo o Português como a língua oficial e
majoritária, frente às línguas indígenas brasileiras que aqui florescem,
desde tempos imemoriais, e às outras línguas de imigração, de entrada
mais recente, como o japonês, o italiano, o alemão, entre outras, o
plurilinguismo não poderia ser encoberto. No entanto, poucos são os
trabalhos que têm dedicado atenção aos problemas de fricção cultural
197
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 197 28/05/2014 17:16:57
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
entre esses povos e aos resultados do processo para as línguas faladas
pelos indígenas, não só pelo escasso número de falantes, mas também
pelo pouco - ou nenhum - prestígio político carreado por essas línguas
e seus falantes, desde o período colonial.
Se, de um lado, existe o monolinguismo oficial e ideológico
da nação brasileira, de outro, o multilinguismo e sua gestão exigem
cada vez mais um olhar diferenciado, de forma a responder às questões
de ordem teórica e metodológica que emergem desse quadro. Dessa
forma, é fundamental a definição de uma política linguística que ultra-
passe as eventuais políticas do estado brasileiro e que, sem prescindir
das mesmas, tenha uma sistemática que incorpore as discussões e deci-
sões políticas dos povos envolvidos e consiga traçar políticas amplas
que contemplem a maioria dos povos, ao tempo em que foca as ques-
tões locais de cada povo ou comunidade.
O conceito de política linguística exige uma delimitação espe-
cífica em decorrência do termo ‘planejamento linguístico’. Para Calvet
(2007, p. 11), política linguística pressupõe ‘a determinação das grandes
decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade’, enquanto
o planejamento linguístico é a sua implementação, de forma que este
deriva daquela, embora o inverso não seja verdadeiro. Certamente, os
termos podem ser confundidos, mas, para além dos eventuais problemas
em suas delimitações, tendo em vista as forças políticas, sociais, cul-
turais e de prestígio linguístico, presentes na fricção interétnica, é fun-
damental pensar uma política colocando o povo – ou o falante – diante
de alternativas, em que, deliberadamente, possa escolher uma frente
a outras disponíveis. Tais escolhas englobam não apenas os aspectos
públicos da interação, mas dizem respeito também às situações infor-
mais de comunicação diária e ao valor linguístico e cultural atribuído
pelo povo/falante à sua língua e às suas práticas socioculturais, que têm
uma dinâmica complexa e onde a perspectiva individual ou até familiar
pode ter uma grande repercussão no conjunto da população.
Dessa forma, baseados em Cooper (1989, p. 45), entendemos
o planejamento linguístico como os esforços deliberados para influen-
ciar o comportamento de outros em relação à aquisição, estrutura ou
colocação funcional de códigos linguísticos, que podem abranger o
Estado e suas instituições como também uma comunidade linguística
198
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 198 28/05/2014 17:16:57
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
bilíngue, como é o caso de significativa parcela dos povos indígenas
apresentados neste trabalho.
Além desse aspecto, é crucial – ao estabelecer o que Cooper
denomina de planejamento de corpus, planejamento do status e plane-
jamento da aquisição – ter em perspectiva a relação entre as línguas
indígenas e o Português desde o período colonial, tendo em vista que
a política do estado brasileiro sempre favoreceu o monolinguismo em
língua portuguesa em detrimento das línguas indígenas.
Cada um desses tipos de planejamento poderia ser sintetizado
em uma palavra-chave, de forma que o planejamento de corpus tem por
base a estandardização da língua; o planejamento de status promove a
língua a um uso específico, e o planejamento de aquisição incide sobre
a necessidade de ampliação do número de usuários da língua. Dito de
outra forma, podemos dizer que o planejamento de corpus diz respeito
às intervenções na forma da língua, enquanto o planejamento de status
relaciona-se às intervenções nas funções da língua, seu status social e
suas relações com outras línguas. Forma e função da língua caminham
juntas, nos efeitos do planejamento linguístico.
Se de um lado o planejamento linguístico, independentemente
de sua possível tipologia, busca encontrar soluções para problemas
linguísticos específicos, definidos a partir de uma análise realista da
situação em que se encontra cada povo ou comunidade, as mudanças
planejadas e alcançadas podem ter repercussões positivas na vida social
do povo que a planejou e executou.
Consideramos que o planejamento linguístico – e sua conse-
quente implementação – deve estar lastreado nas decisões políticas
de um povo e em função das relações entre língua e sociedade, e que
não deve ser pensado apenas como resultante das políticas linguísticas
emanadas do Estado. O planejamento linguístico deve ser visto como
um processo, através do qual, ações pontuais ou globais, gestadas e
geridas pelos povos, são efetivadas, no sentido da manutenção linguís-
tica, quando pertinente, ou do retardamento do processo, sempre que
possível, da perda linguística frente à língua majoritária.
No quadro atual, a definição de políticas linguísticas e seu pla-
nejamento devem envolver parcerias multidisciplinares de elementos
alóctones ao povo, entre os quais: antropólogos, linguistas, pedagogos,
199
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 199 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
historiadores e outros, que, em parceria com os povos indígenas (lide-
ranças, professores, falantes, etc.), potencializem as ações delimitadas
a partir de um quadro realista de cada povo.
2. QUADRO SOCIOLINGUÍSTICO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS
Antes de traçarmos um panorama da realidade sociolinguística
experimentada pelos povos indígenas no Brasil e nos estados do Acre e
Pernambuco, em particular, apresentaremos alguns dados referentes à
diversidade linguística existente no planeta.
Atualmente, estima-se existir cerca de seis mil línguas
(CRYSTAL, 1997). Essa contagem é sempre problemática, pois envolve
questões relativas à delimitação conceitual ou política entre o que é lín-
gua ou variedade da mesma ou, ainda, quem determina que uma língua
possui esse status ou não. De qualquer forma, estudos sinalizam que,
em um prazo de cem anos, cinquenta por cento dessas línguas desapa-
recerão, isto quando a avaliação é feita de uma perspectiva otimista.
Em uma perspectiva pessimista, noventa por cento dessas línguas des-
parecerão. Isto quer dizer que, em 2100 – ou até mesmo antes – teremos
apenas três mil línguas, ou ainda um número menor em todo o planeta,
de acordo com as estimativas otimista e pessimista, respectivamente.
O mais grave de todo esse quadro é que a perda linguística
não apenas compromete a compreensão sobre a estrutura linguística
da língua em perigo de extinção, mas, e principalmente, o conheci-
mento do mundo natural e cultural codificado pela mesma, de forma
que perdemos, também, os modos e os caminhos de compreensão, de
interação e de transformação do mundo, um pouco da história daquele
povo específico e, com isso, muito da experiência humana.
A estatística, que entrevê um futuro sombrio para a diversi-
dade linguística, também nos faz lembrar como a perda linguística já
nos afetou e, de certa forma, nos lembra que o processo engatilhado
há cerca de quinhentos anos ainda não chegou ao término. Segundo
Rodrigues (1993), existia, no que atualmente é considerado o territó-
rio brasileiro, cerca de mil e trezentas línguas indígenas e, atualmente,
existem apenas cento e oitenta delas. Esses números apontam para um
violento processo de perda linguística: cerca de oitenta e cinco por
200
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 200 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
cento, acontecendo de forma mais aguda no nordeste brasileiro, por
onde começaram as frentes de expansão colonial.
No nordeste brasileiro, atualmente, dos vinte e sete povos indí-
genas, apenas sete falam suas línguas ancestrais, um em Pernambuco
e os demais no Maranhão, em uma população de mais de duzentos mil
índios (FUNAI, 2012). Os demais povos falam exclusivamente a língua
portuguesa e, não raro, são cobrados por não terem uma língua indí-
gena funcional em seu cotidiano. Dessa forma, podemos dizer que o
nordeste brasileiro abriga uma significativa parcela da população indí-
gena que fala majoritariamente a língua portuguesa e onde, salvo entre
os povos citados, o quadro monolíngue está definitivamente instalado.
Com isso, o estado de Pernambuco é o ícone do que acontece(u)
aos povos indígenas no nordeste e, até mesmo, em outras regiões bra-
sileiras, que, por conta dos processos sócio-históricos engatilhados
pela presença do colonizador, a extinção linguística acometeu à quase
totalidade das línguas indígenas faladas pelos povos situados na região
sertaneja do estado. A pressão colonizadora extinguiu todos os povos
habitantes do litoral. A atual população indígena, de mais de cinquenta
mil pessoas, dos povos Atikum, Kambiwá, Kapinawá, Pankararú,
Truká, Tuxá, Xucuru é falante exclusiva da língua portuguesa. Tal pro-
cesso de extinção linguística não atingiu os Fulni-ô, índios da cidade de
Águas Belas que, apesar de uma prolongada e quase belicosa convivên-
cia, conseguiu manter viva a sua língua. Atualmente, os Fulni-ô são
bilíngues Ya:thê-Português, e a língua indígena faz parte do currículo
escolar do povo.
Esse quadro de perda linguística não é vivenciado exclusi-
vamente na região nordeste do Brasil. Se nessa região o grau desse
prejuízo é agudo, em outras regiões, por conta da colonização tardia
e dos processos de produção recentemente incorporados, tal perda
merece atenção. No Acre, por exemplo, onde a exploração inicia-se de
forma consistente no último quartel do século XIX, com a entrada de
uma população não-indígena oriunda de outros estados brasileiros (cf.
MENDONÇA, 1989) - cerca de trezentos anos após a colonização da
região nordeste do país, iniciada em meados do século XVI – a perda
linguística já se faz sentir de forma bastante acentuada.
201
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 201 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
O estado do Acre, nesses cem últimos anos de expropriação
capitalista, possui um número crescente de povos que falam exclusi-
vamente a língua portuguesa e um quadro de deslocamento linguís-
tico importante. A população indígena acriana corresponde a cerca de
quinze mil índios, dos quais deve ser subtraído o número de dois mil
indígenas falantes da língua portuguesa. Os cerca de treze mil falantes
de doze línguas, pertencentes às famílias linguísticas Pano (Apolima-
Arara, Jamináwa, Katukina, Kaxinawá, Náwa, Nukini, Puyanáwa,
Saynáwa, Shawãdáwa, Shanenawá, Yawãnawá), Aruák (Asheninka,
Manxinéri) e Arawá (Madiha) estão distribuídos em todas as regiões
do estado e vivenciam diferentes situações sociolinguísticas derivadas
da experiência do contato com a sociedade nacional.
Por um lado, em alguns povos há um número crescente de pes-
soas que só falam o português e, consequentemente, as gerações mais
jovens entendem e falam cada vez menos a língua indígena; por outro
lado, em algumas terras indígenas, a maior parte da população acima
dos 30 anos tem a língua indígena como primeira língua; contudo, a
língua portuguesa assume, cada vez mais, o lugar de língua preferida
nas interações, mesmo na inexistência de um interlocutor não indígena.
Nas duas situações, o que está em jogo é a transmissão linguís-
tica intergeracional, que está francamente prejudicada, tendo em vista
que os usos funcionais da língua indígena vão cedendo espaço, cada
vez maior, à língua portuguesa e estão, portanto, fortemente ameaça-
dos. Certamente, esse quadro é comum a algumas línguas indígenas
faladas em outros estados brasileiros. Porém, o que destacamos é a
velocidade do processo, a voracidade da língua majoritária e o curto
espaço de tempo em que os eventos de deslocamento acontecem.
As línguas indígenas faladas em território acreano vivenciam
situações sociolinguísticas bastante diversas, que vão de um monolin-
guismo em língua indígena a um bilinguismo gradual em que a língua
indígena encontra-se mais ou menos ameaçada, frente à presença da
língua portuguesa. Dessa forma, as várias situações sociolinguísti-
cas podem ser sistematizadas, tomando por base o número de falantes
monolíngues em língua indígena e o processo de transmissão linguís-
tica intergeracional experimentado por cada povo.
202
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 202 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Baseados nos critérios acima, consideramos que os povos
Asheninka, Manxinéri e Madiha atravessam uma situação sociolin-
guística privilegiada, tendo em vista que a transmissão intergeracional,
por hora, está garantida, e o número de indivíduos bilíngues é bastante
restrito, sendo, em sua maioria, formado por homens adultos, que, pelos
mais variados motivos, mantêm contato com a sociedade não indígena.
Embora esses povos habitem em regiões de difícil acesso,
quase sempre nas fronteiras interestaduais e internacionais, e, portanto,
longe de centros populacionais do estado, esse, certamente, não deve
ser um critério relevante para a manutenção linguística desses povos,
sendo razoável atribuir tal situação a alguma regulação interna de cada
povo, que dificulta a entrada da língua portuguesa e de outros aspectos
culturais da sociedade do entorno das aldeias.
Assim, Manxinéri e Ashenika, filiados à família linguística
Aruák, atravessam, da mesma forma que os Madiha (família Arawá),
uma situação linguística em que a língua indígena possui um lugar de
centralidade em suas interações; logo, os eventuais efeitos do desloca-
mento linguístico estão sendo retardados ou minimizados pela forte
transmissão intergeracional verificada nesses povos.
Entre os Pano, as situações linguísticas são muito comple-
xas. Existem aqueles em que a língua indígena é transmitida interge-
racionalmente e os que são falantes exclusivos da língua portuguesa.
Embora algumas subdivisões sejam admitidas, os povos indígenas da
família Pano serão reunidos, para efeito deste trabalho, em três grupos:
no grupo I, os povos agrupados correspondem àqueles em a língua indí-
gena é predominante nas interações, e a transmissão intergeracional é
significativa, embora exista um grande número de falantes bilíngues,
especialmente entre os homens adultos; no grupo II encontram-se os
povos em que a língua portuguesa é predominante, mesmo que ainda
seja possível encontrar falantes da língua indígena, com idade superior
aos cinquenta anos e em número que, dependendo da aldeia, não ultra-
passa a dezena. Nesse grupo se revelam os ‘guardiões da tradição’, e
os povos passam a ser cada vez mais valorizados, tendo em vista que
fazem a ponte entre a idealização da tradição e a modernidade e são
um dos principais agentes avivadores da cultura e da língua indígena.
203
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 203 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
No grupo III, encontram-se os povos que falam exclusiva-
mente a língua portuguesa e, embora ainda existam ‘lembradores’ de
itens lexicais e de algumas poucas estruturas gramaticais da língua
ou de frases funcionais cristalizadas pelo uso, a língua indígena não é
mais utilizada nas interações, mesmo entre os mais velhos, pelos mais
variados motivos, entre os quais se destaca a desvalorização da língua
indígena por parte dos mais jovens, que não veem sentido em continuar
falando uma língua que não é usada nas interações fora da aldeia.
Grupo I Grupo II Grupo III
Apolima-Arara
Jamináwa Náwa
Shawãdáwa
Kaxinawá Nukini
Yawãnawá
Katukina Saynáwa
Shanenawá
Puyanáwa
Quadro I - Situação sociolinguística dos povos indígenas acreanos
Alguns comentários são pertinentes em relação específica a
alguns povos. Os Kaxinawá podem ser classificados como grupo I ou
II, dependendo da terra indígena focalizada. Nas terras indígenas do
Purus, Breu e Jordão, a língua Kaxinawá tem um lugar de centralidade
e, portanto, o agrupamento no primeiro grupo é adequado, tendo em
vista os critérios adotados em tal classificação; enquanto os Kaxinawá
do Caucho, do Humaitá e do Paroá, pelas características apresentadas,
devem ser incluídos no Grupo II. Nessas terras, embora o movimento
pró-cultura indígena seja cada vez mais forte e, com isso, a língua seja
valorizada, ao menos em termos discursivos, ainda ocorre a predomi-
nância da língua portuguesa.
Entre os povos do grupo II, o número de falantes bilíngues é
alto na faixa de idade acima dos cinquenta anos, e, mesmo que o uso da
língua indígena, em maior ou menor grau, seja regulado pelo prestígio
ou não que a língua carreia no seio familiar, a língua portuguesa é a
mais utilizada no cotidiano da aldeia. Entre os Yawãnawá, por exem-
plo, a língua indígena está seriamente ameaçada, pois fica circunscrita
a alguns poucos usos funcionais: na presença de interlocutores externos
ao povo, como uma forma de ‘manutenção dos segredos’ da aldeia.
204
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 204 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Os povos desses grupos têm em comum, além dos aspectos
linguísticos já citados, a localização de seus territórios na região do
vale do rio Juruá, local que, desde o final do século dezenove, atraves-
sou, de forma mais aguda, todos os ciclos extrativistas, fazendo com
que as populações indígenas fossem incorporadas gradativamente aos
processos capitalistas de produção. Nessa empreitada, a língua indí-
gena era considerada como um entrave, tendo em vista que impossibi-
litava a comunicação entre os ‘patrões’ e os índios. Dessa forma, caiu
em desuso por conta desse ‘esquecimento’ forçado a que seus falan-
tes foram submetidos, sob pena de castigo e, até, de extermínio físico,
como registram os relatos feitos pelos índios sobre a história do contato
(DE PAULA, 1992).
O processo de contato resultou, portanto, em uma gradativa
perda das manifestações culturais características desses povos e, em
alguns casos, até da língua indígena, proibida pelos patrões seringalis-
tas, o que ocasionou uma situação desastrosa de deslocamento linguís-
tico, que, de certa forma, perdura como uma memória de sofrimento,
visto que ainda podem ser encontrados muitos índios que viveram tal
processo.
A diminuição do número de povos e línguas indígenas, quadro
conhecido como etnocídio e glotocídio, respectivamente, teve início
com a colonização e, de certa forma, perdura até hoje. Para os povos
e línguas sobreviventes, resta uma luta permanente contra o desloca-
mento de suas línguas substituídas pela língua portuguesa.
3. PLANEJAMENTO LINGUÍSTICO E EDUCAÇÃO ESCOLAR
Como apresentado no item anterior, o quadro sociolinguístico
vivido pelos povos indígenas acreanos e pernambucanos é bastante
complexo, e, por esse fato, políticas linguísticas devem nortear as ações
nos planos macro ou micro linguísticos.
Para entender a situação sociolinguística dessas comunidades,
é preciso conhecer seu repertório linguístico, as variedades linguísticas
e a funcionalidade que cada uma possui, as atitudes linguísticas que
são vivenciadas nas respectivas comunidades e, ainda, quando possí-
vel, caracterizar a relação que os falantes dessas variedades mantêm
205
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 205 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
entre si. Certamente, essa é uma tarefa que demanda um esforço muito
grande, tendo em vista a dispersão geográfica dos povos e a carência
de estudos nas mais variadas áreas sobre os povos indígenas e suas
respectivas línguas.
Embora a questão da política linguística necessite de um qua-
dro profissional multidisciplinar, o linguista, dentre outras tarefas,
pode contribuir – apoiando tecnicamente as demandas políticas e cul-
turais do povo – com a descrição e análise das línguas indígenas; com
a descrição de seu grau de vitalidade; com a proposição e discussão
de convenções ortográficas e com a investigação dos eventuais impac-
tos resultantes da introdução da escrita nessas sociedades de tradição
ágrafa.
A necessidade de aquisição de códigos alfabéticos e numéricos
para serem utilizados na escola e/ou fora dela é um tema complexo,
pois, além de envolver o estabelecimento escolar como agenciador do
processo, busca compreender os reais significados que essa aquisição
vai assumindo, na medida em que é incorporada aos vários contextos
sociais em que é utilizada. Por outro lado, compreender o processo da
passagem da modalidade oral para a escrita, bem como as questões
envolvidas com a padronização da escrita ou as regras utilizadas para
o estabelecimento da convenção é fundamental na busca de descrições
e explicações para o processo.
No caso acreano, além das questões diretamente ligadas ao
tema, apresentou-se uma situação peculiar em que algumas línguas
indígenas – também faladas no Peru e na Bolívia, países vizinhos – já
possuíam sistemas ortográficos nos seus países. Essa situação exigiu
uma tomada de posição bastante desafiadora, pois, em vez de incorpo-
rarem os sistemas já adotados, os professores indígenas e seus consulto-
res buscaram desenvolver sistemas de escrita que fossem o resultado de
suas demandas e descobertas com a escola e com a escrita, por conse-
quência. Por conta dessa situação, algumas línguas indígenas possuem
convenções ortográficas diferentes em cada lado da fronteira política,
o que, até o momento, não se configurou em uma dificuldade no inter-
câmbio escrito entre os vários falantes, especialmente os que habitam
as regiões fronteiriças e se utilizam da língua escrita na comunicação.
206
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 206 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
As pesquisas realizadas possibilitam um conhecimento,
ainda que parcial, sobre as línguas indígenas, de forma que grande
parte das línguas acreanas e o Ya:thê, em Pernambuco, possuem con-
venções ortográficas, com uso e difusão, de uma forma geral, ainda
bastante vinculados ao meio escolar, mesmo aquelas em o que número
de falantes é alto.
Nesse contexto, a escola assume o lugar de implantação e vei-
culação dos sistemas de escrita desses povos, ao mesmo tempo em que
debate a sua função e é o canal de produção de material didático. Por
isso, ela tem um papel relevante na tomada de decisões sobre a polí-
tica linguística, da mesma forma que, para alguns povos, pode ser o
centro de irradiação de projetos de reavivamento linguístico, tendo em
vista que reúne, além das principais lideranças da comunidade, crian-
ças e jovens que podem garantir a transmissão linguística para além
da escola. Essa estratégia é adotada em países como Canadá e Estados
Unidos, por exemplo (DE KORNE, 2010).
Do ponto de vista histórico, a implantação de escolas nas
sociedades indígenas ocorreu, quase que paralelamente, à implantação
do projeto de expansão colonial e decorreu da necessidade de fixar um
modelo que estivesse a serviço do projeto do colonizador, de forma
que, além de instrumento de catequese e de ‘civilização’, fosse uma
porta de entrada para os valores não indígenas. Se considerarmos esse
modelo de escola, a língua indígena era vista apenas como um meio
para que esses valores pudessem ser paulatinamente incorporados à
vida do povo indígena. Essa perspectiva encarava o índio como um
elemento transitório no cenário étnico nacional.
Em linhas gerais, tal modelo pode ser classificado como a
escola de ‘fora’, à qual, em oposição, ao menos em termos retóricos,
surge a escola de ‘dentro’, aquela em que os projetos educacionais são
gestados e geridos pelos povos indígenas, em consonância com seus
anseios e perspectivas de mundo. Essa nova perspectiva tanto adota a
interculturalidade e o bilinguismo como motes, como destaca a escola
como lugar de interlocução entre os vários conhecimentos produzidos
pela humanidade e garante um lugar de centralidade para os conheci-
mentos e práticas indígenas.
207
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 207 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
A situação dicotômica entre escola de ‘fora’ e escola de ‘den-
tro’, em maior ou menor grau, foi vivida pela maioria dos povos indíge-
nas que foram sendo, gradativamente, incorporados à cultura ‘de fora’.
A situação vivida pelos Puyanáwa ilustra claramente essa situação edu-
cacional. O contato desse povo com a sociedade nacional aconteceu
em 1913 e, já em 1914, o ‘governo prefeitural’ criou uma escola primá-
ria para o ensino do português (DE PAULA, 1992, p. 20), modelo esco-
lar que perdurou até o início da década de sessenta e se baseava numa
relação de “dominação e desapropriação fundiária e cultural, impostas
pelas empresas seringalistas” (MONTE, 1987, p. 11). Em escolas desse
modelo, a língua indígena não era nem fim nem meio do modelo educa-
cional implantado, somado ao fato de que a transmissão intergeracional
se configurava problemática desde os anos de 1930. Certamente, além
do quadro de violência vivido pelo povo, esse modelo de escola pode
ser uma das justificativas para o rápido deslocamento linguístico veri-
ficado em tão curto espaço de tempo.
No quadro brasileiro atual, ao menos de ponto de vista legal, a
adoção do modelo de escola ‘de fora’ está superada. Embora a legisla-
ção, que traça diretrizes para a educação escolar indígena, seja federal,
da mesma forma que grande parte do financiamento, a gestão escolar
fica sob a responsabilidade das secretarias estaduais de educação, com
seus núcleos específicos, e tem os índios como gestores locais e pro-
fessores, sendo este um dos aspectos mais relevantes para a seleção da
escola indígena como o lócus primário de programas relacionados à
política linguística.
A escola indígena é pública, e seus gestores locais e professores
conhecem mais de perto a realidade linguística e sociocultural de seu
povo, podendo atuar efetivamente nos processos envolvidos na manuten-
ção ou no reavivamento linguístico. Em virtude disso, têm mais chances
de alcançar o sucesso em seus objetivos.
Na atual conjuntura da educação escolar indígena, todos os
professores são indicados por suas comunidades, o que, de certa forma,
‘legitima’ o seu trabalho e lhe garante uma visibilidade razoável. Além
disso, esses professores, na maioria dos casos, são oriundos ou fazem
parte dos grupos ou famílias hegemônicas de suas comunidades.
208
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 208 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Por sua origem e eventual liderança, os professores conhecem
algumas particularidades e o ‘modus operandi’ da sociedade não indí-
gena, conhecimento decorrente não só do processo individual de cada
um, mas também do diálogo estabelecido com outros professores indí-
genas, com suas experiências e respectivas realidades socioculturais e
linguísticas e, também, com os agentes externos às suas comunidades,
tais como: técnicos governamentais, consultores, professores e pesqui-
sadores das mais variadas áreas durante os cursos de formação de pro-
fessores indígenas.
A escola indígena, entre outros, é um forte instrumento em
favor da manutenção ou reavivamento da cultura e da língua nativa
e deve incorporar aos seus quadros os mais ‘velhos’ da comunidade,
considerados os ‘arquivos’ e os ‘doutores da cultura’, para que se sin-
tam engajados nas decisões e nas soluções que envolvem as políticas
linguísticas a serem desenvolvidas por cada povo. Além disso, a par-
ticipação dos mais velhos no ensino escolar da aldeia amplia a prática
de transmissão oral dos conhecimentos tradicionais do povo, que, se
bem planejado, pode aumentar as expectativas positivas em relação ao
ensino de línguas e aos movimentos de cultura da sociedade.
Para Calvet (2007, p. 64), um importante passo para o planeja-
mento linguístico é “uma descrição precisa da língua; em seguida, por
uma reflexão sobre o que se espera de um sistema de escrita”. Nesse
sentido, a maioria das línguas já possui descrições linguísticas que
possibilitem a introdução de convenções ortográficas. As descrições
linguísticas desenvolvidas por pesquisadores brasileiros de diversos
centros acadêmicos ampliaram consideravelmente o conhecimento
sobre essas línguas.
Essa produção está relacionada aos seguintes povos: Katukina
(BARROS, 1987 / AGUIAR, 1988, 1994); Kaxinawá (CAMARGO,
1991 / LIMA KAXINAWÁ, 2011); Puyanáwa (DE PAULA, 1992);
Shawadáwa (CUNHA, 1993); Shanenawá (CÂNDIDO, 1998, 2004);
Yawanawá (DE PAULA, 2007), Saynáwa (COUTO, 2010), entre os
Pano. Em relação aos Aruák, há o trabalho de Silva (2008) sobre a
língua Manxinéri, e em relação aos Arawá, foram publicadas duas
gramáticas sobre a língua Madijá: Montserrat & Silva (1986) e Tiss
(2004). No Acre, a língua falada pelos Apolima-Arara ainda não possui
209
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 209 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
descrição linguística. Em Pernambuco, alguns trabalhos relacionados
à língua Ya:thê foram publicados por Lapenda (2005 [1965]) e Costa
(1999).
Apesar da crescente produção acadêmica dirigida às línguas
indígenas nos últimos anos, ainda há uma lacuna considerável relacio-
nada a estudos sociolinguísticos, que tratem da língua portuguesa uti-
lizada pelos demais povos, das variações na língua indígena e, ainda,
sobre os impactos do deslocamento linguístico nos povos falantes das
línguas indígenas.
Como dito anteriormente, o planejamento de corpus intervém
sobre a forma da língua na criação de uma escrita, na estandardização
e na normatização. Tendo em vista que a maioria das línguas apresen-
tadas já possui convenções ortográficas em pleno uso, devem ser pla-
nejadas estratégias que visibilizem a língua indígena. Uma das formas
pode ser, por exemplo, o seu uso em placas que sinalizem ou indiquem
o nome da terra indígena ou os pontos importantes para a comunidade,
como rios, igarapés, arenas de lazer, além, ainda, de poderem ser con-
feccionados cartazes informativos, etc.
A presença ‘simbólica’ (CALVET, 2007, p. 73) da língua indí-
gena aponta para dois aspectos importantes: a necessidade de mani-
festação identitária, revelada pelo uso dessa língua, e a delimitação de
território. Essa atitude, além de simbólica por parte do índio, podendo
ocasionar um estranhamento nos potenciais leitores das placas e dos
cartazes, indica uma escolha política por parte do povo indígena, ao
mesmo tempo em que delimita um uso funcional para a escrita dessa
língua indígena, pois ‘de nada adianta, na realidade, prover uma lín-
gua de um alfabeto, se ele não aparece na vida cotidiana dos falantes
dessa língua’ (op.cit, p. 72). Tal prática é bastante salutar nesse caso,
pois, além da ascensão desse uso linguístico específico, permite aos
povos indígenas – que por suas características ambientais e culturais
não dispõem de muitos espaços fora de sua comunidade – a promoção
e a divulgação de sua língua.
Outro espaço a ser ocupado é o da produção de material escrito
em língua indígena, que pode corresponder à publicação de material
didático, das histórias do povo, das crônicas diárias, das piadas e de
todo gênero textual passível de circulação nas aldeias que, como nos
210
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 210 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
cartazes e placas, possibilite o uso funcional da escrita para além dos
muros escolares. Essa experiência possibilita o alargamento do conhe-
cimento de autoria, serve de registro e documentação dos fatos cotidia-
nos da aldeia, além de prover a língua de material escrito, que pode ser
consultado, refeito e divulgado.
Medidas para apoiar e incentivar a produção de material didá-
tico específico para as línguas indígenas têm sido adotadas pelo MEC,
com vistas a valorizar e ampliar o uso dessas línguas. Entretanto, tais
medidas, embora garantam a produção de material de boa qualidade
gráfica e estética, ampliam ainda mais o intervalo entre a produção do
material e sua recepção na aldeia, o que pode concorrer para o deses-
tímulo na produção de outros materiais de mesma natureza ou não, de
forma que inviabiliza a circulação fora da escola indígena, principal
destinatário dessas produções.
Para contornar tal situação, seria conveniente dotar as escolas
indígenas de máquina reprográfica ou qualquer outro meio de repro-
dução, que garantisse a multiplicação imediata dos materiais produzi-
dos, a recepção imediata após a produção e a consequente circulação
no meio da comunidade de potenciais leitores. Além dessas medidas,
seria conveniente a circulação de gêneros textuais não vinculados
diretamente à escola, como forma de garantir a emergência de outros
gêneros, como receitas culinárias, medicinais ou de outros aspectos
relacionados à cultura do povo.
Tais estratégias visam a promover o uso da língua indígena
escrita e buscam atribuir à forma caligráfica dessa língua finalidades
expressivas e recreativas, não só pela vinculação da educação esco-
lar, com atividades educativas e culturais dirigidas à comunidade, mas
também para que essa mesma comunidade participe da aprendizagem,
do uso e do desenvolvimento, no nível escrito, de sua própria língua. O
objetivo dessa estratégia é transformar a comunicação escrita da língua
indígena numa prática social difundida e num instrumento intencio-
nalmente usado para a salvaguarda e o desenvolvimento da autonomia
sociocultural.
Embora a estandardização já tenha sido alcançada em grande
parte das línguas indígenas, a promoção de status, bem como a amplia-
ção do número de falantes devem ser alcançados. No caso das línguas
211
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 211 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
indígenas, atuar sobre o status é intervir sobre as funções da língua,
seu status social e as relações com as outras línguas, o que corresponde,
entre outros aspectos, a garantir as condições para sua introdução efe-
tiva na escola e implementar as medidas necessárias para sua defesa,
manutenção, desenvolvimento e reavivamento, quando possível.
Conforme Monserrat (2001, p.154), para a elevação do status
cultural das línguas indígenas devem ser adotadas uma série de medi-
das, que incluem ‘a divulgação, na mídia falada e escrita (rádio, jornais
e outros periódicos, televisão, cinema, exposições, eventos públicos),
da música, da língua e de outras manifestações culturais e artísticas
indígenas’, bem como a publicação de materiais escritos que expressem
opiniões e posicionamentos das comunidades em relação a assuntos de
mais variada natureza.
Para a autora, pode-se elevar o status das línguas e culturas
indígenas promovendo, em determinadas situações institucionais, a uti-
lização das línguas indígenas com a presença de um intérprete. Outra
estratégia a ser adotada é a renomeação dos nomes próprios pessoais e
do povo junto aos órgãos oficiais, como uma forma de atender à revalo-
rização simbólica das formas linguísticas e das dimensões identitárias.
A valorização das línguas pode se dar, ainda, através do intercâmbio e
da circulação, tanto nas escolas indígenas quanto nas não indígenas, de
materiais escritos produzidos em diferentes línguas indígenas.
Como apresentado, algumas ações podem ser desenvolvidas
para que a língua indígena seja respeitada e prestigiada, ocasionando
elevação em seu status. Embora algumas dessas ações possam ser
desencadeadas por forças exógenas ao povo, como pelo Estado e suas
instituições, por organizações não governamentais e, até, pelas uni-
versidades, os processos de manutenção ou reavivamento linguístico
devem partir do seio das próprias comunidades indígenas, de forma
que seja, primeiramente, o falante que deseja manter, conservar e con-
tinuar utilizando a sua língua indígena.
Certamente, esse desejo de manutenção linguística é um
caminho de mão dupla, no sentido de haver uma política pública de
reconhecimento e o respeito pelos direitos das sociedades indíge-
nas, sociedades estas em que esteja inserida uma política linguística
apoiada por recursos legais e financeiros que desencadeiem ações de
212
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 212 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
manutenção linguística, para além de uma avançada legislação sobre
educação escolar e direitos indígenas, minimamente refletida no coti-
diano dos povos indígenas. Obviamente, para que isso aconteça, as
sociedades indígenas como um todo, e não apenas suas línguas, devem
ser respeitadas e prestigiadas e devem poder alcançar um status mais
elevado frente à sociedade majoritária.
CONCLUSÃO
Este trabalho, ao focar a diversidade etnolinguística brasileira
e a realidade sociolinguística vivida pelos povos indígenas nos estados
do Acre e Pernambuco, teve como objetivo discutir como as políticas
e os planejamentos linguísticos devem nortear o trabalho com esses
povos, de forma a atender às suas expectativas, ao tempo em que reco-
nhece a diversidade e os processos sócio-históricos vivenciados pelos
mesmos.
A escolha pelos estados do Acre e Pernambuco é decorrente da
visão de que ambos ilustram, categoricamente, as experiências vividas
pelos povos indígenas. O estado de Pernambuco, no nordeste, foi esco-
lhido por representar os estados brasileiros em que os povos indígenas
vivenciam situações sociolinguísticas semelhantes entre si, decorren-
tes do processo de expansão colonial, promotora da evidente extinção
linguística. O quadro de monolinguismo em língua portuguesa está
definitivamente instalado, excetuando-se, em parte, os Fulni-ô, tendo
em vista que é o único povo que mantém o uso funcional de sua língua
indígena e, portanto, nada pode ser feito no sentido de retornar a um
tempo anterior, em que as línguas indígenas eram funcionais, embora
esse desejo seja verbalizado por algumas lideranças indígenas e exis-
tam alguns projetos em curso que, mesmo subliminarmente, têm tal
foco.
O Acre, por sua vez, foi escolhido por ter tardiamente ingres-
sado no projeto de colonização liderado pelo Estado brasileiro e por
demonstrar que, em um espaço de cem anos, os processos de desloca-
mento e extinção linguística foram agudos. Apesar da grande diversi-
dade etnolinguística, tendo em vista que o estado abriga três famílias
linguísticas, e do número de povos em que a transmissão intergeracional
213
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 213 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
é grande, quando comparada ao estado de Pernambuco, o número de
povos falantes exclusivos da língua portuguesa é significativo. Tal situ-
ação tende a se agravar, caso não seja delineado um projeto para estan-
car esse deslocamento. Inclusive, é bom atentar que a execução de um
projeto como esse necessita da atuação dos falantes e dos ‘lembradores’
das línguas.
A atual diversidade etnolinguística que o Acre abriga em seu
território difere bem da que abrigava no passado. Segundo Mendonça
(1989, p. 80), ao explorar o vale do rio Juruá, em 1775, R. Sampaio
registrou “77 tribus silvecolas” como habitantes da região. Se consi-
derarmos que o vale do Juruá corresponde à metade do território acre-
ano, se multiplicarmos por dois, tendo em vista que a outra metade não
foi contabilizada, o número de ‘tribus’ chegaria perto de cento e cin-
quenta. Certamente, tal número deve ser visto de forma relativizada,
pois não sabemos se corresponde a aldeias de mesmo povo ou a aldeias
de povos distintos. Ainda assim, mesmo considerando apenas a quanti-
dade proposta pelo explorador, o número de povos ou aldeias é bastante
significativo e em nada se compara ao número atual de catorze povos.
Uma das explicações – talvez a mais importante – para a exis-
tência de uma política linguística no Brasil é a necessidade de regula-
ção das relações entre a língua majoritária e as línguas indígenas, pois,
enquanto o Português, como língua oficial, dispõe de um forte aparato
institucional, jurídico e midiático, as línguas indígenas possuem fun-
cionalidades restritas aos povos que a falam e veiculam culturas fun-
dadas na oralidade.
Dessa forma, embora gradativamente as línguas estejam incor-
porando a escrita como recurso linguístico, como já dito, essa novidade
não está completamente disseminada no tecido social, sendo, portanto,
a escola a principal agenciadora da aquisição de códigos alfabéticos
e numéricos. Ainda é função da escola buscar soluções para alguns
problemas decorrentes dos contextos sociais de uso e das questões rela-
cionadas à padronização da escrita, o que faz com que, de certa forma,
a escrita ainda seja um produto escolar.
Além do papel de promotora da escrita, a escola indígena
pode assumir outros papéis: por seu lugar estratégico de interlocu-
ção, pode reivindicar o lugar de reflexão sobre as possíveis políticas
214
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 214 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
de manutenção e reavivamento linguísticos em seus projetos de edu-
cação; como a educação escolar indígena está presente em todos os
povos, pode, de acordo com a realidade sociolinguística de cada povo
ou comunidade, focar o tema das políticas e planejamento linguísticos
implementando as discussões no âmbito escolar.
Com isso, esperamos que, apesar dos eventuais problemas, a
escola indígena e todos os seus atores, em parceria com seus povos e
comunidades, possa, de fato, promover a vitalidade, a manutenção ou o
reavivamento linguísticos.
REFERÊNCIAS
AGUIAR, M. S. Elementos de descrição sintática para uma gramática do
Katukina. 78 f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Campinas: IEL/
Unicamp 1988.
AGUIAR, M. S. Análise descritiva e teórica do Katukina-Pano. 308 f. Tese
(Doutorado em Linguística). Campinas: IEL/Unicamp, 1994.
ALFARO, C. As políticas lingüísticas e as línguas ameríndias. Liames, 1:
31- 41, 2001.
CALVET, L-J. As políticas linguísticas. São Paulo: Editora Parábola; Ipol, 2007.
BARROS, L.G. A nasalização vocálica e fonologia introdutória à língua
Katukina (Pano). 112 f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Campinas:
IEL / Unicamp, 1987.
CAMARGO, E. Phonologie, Morphologie et Syntaxe: Étude Descriptive de
le Langue Caxinawa (Pano). 448 f. Tese (Doutorado em Linguística). Paris:
Université Paris IV, 1991.
CÂNDIDO, G.V. Aspectos fonológicos da língua Shanenáwa (Pano). 139 f.
Dissertação (Mestrado em Linguística). Campinas: IEL / Unicamp, 1998.
CÂNDIDO, G.V. Descrição morfossintática da lingua Shanenawá (Pano).
264 f. Tese (Doutorado em Linguística). Campinas: IEL / Unicamp, 2004.
COOPER, R.L. Language planning and social change. Cambridge: CUP, 1989.
COSTA, J. F. Ya:thê, a última língua nativa no nordeste do Brasil. Aspectos
morfo-fonológicos e morfo-sintáticos. 365 f. Tese (Doutorado em Linguística).
Recife: UFPE, 1999.
215
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 215 28/05/2014 17:16:58
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
COUTO, C.A.C. Análise fonológica do Saynáwa (Pano): a língua dos
índios da T. I. Jamináwa do Igarapé Preto. 221 f. Dissertação (Mestrado em
Linguística). Recife: UFPE, 2010.
CRYSTAL, D. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: CUP, 1997.
CUNHA, C.M. A morfossintaxe da Língua Arara (Pano) do Acre. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Linguística). Recife: UFPE, 1993.
CUNHA, R. B. Políticas de línguas e educação escolar indígena no Brasil.
Educar, 32: 143-159, 2008.
DE KORNE, H. Indigenous language education policy: supporting communi-
ty-controlled immersion in Canada and the US. Language Policy 9: 115-141, 2010.
DE PAULA, A.S. A língua dos índios da aldeia Barão: aspectos fonológicos e
morfológicos. 132 f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Recife: UFPE, 1992.
DE PAULA, A.S. Uma proposta de alfabeto para a língua Poyanáwa. In:
MOURA. D. (Org.). Os múltiplos usos da língua. Maceió: EDUFAL, 1999.
DE PAULA, A.S. Poyanáwa e Yawanawá: suas línguas e seus percursos esco-
lares. In: MOURA. D. (Org.). Oralidade e escrita: estudos sobre os usos da
língua. Maceió: EDUFAL, 2003.
DE PAULA, A.S. A língua dos índios Yawanawá do Acre. Maceió: EDUFAL, 2007.
DE PAULA, A.S. Processos de manutenção e avivamento lingüístico; o caso
do Acre. In: HORA, D. & LUCENA, R.M. Política lingüística na América
Latina. João Pessoa: Idéia, 2008.
FREITAS, D. B. A. P. Bilingüismo do grupo Arara (Pano) do Acre: suges-
tões para alfabetização na língua indígena. 286 f. Dissertação (Mestrado em
Linguística). Recife: UFPE. 1995.
HINTON, L. Como manter sua língua viva: uma abordagem da aprendiza-
gem baseada no bom senso. Brasília: MEC/SECAD; UNESCO, 2007.
HINTON, L. & HALE, K (ed). The green book of language revitalization em
practice. San Diego: Academic Press, 2001.
HORNBERGER, N. H. Language policy, language education, language
rigths: indigenous, immigrant and international perspectives. Language in
Society 27: 439–458, 1998.
LAPENDA, G.C. Estrutura da língua Iatê. Recife: EdUFPE, 2005 [1965].
LIMA KAXINAWÁ, J. P. Confrontando registros e memórias sobre a lín-
gua e a cultura Kaxinawá: de Capistrano de Abreu aos dias atuais. 194 f.
Dissertação (Mestrado em Linguística). Brasília: UnB, 2011.
216
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 216 28/05/2014 17:16:58
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
MAHER, T.M. Ser professor sendo índio: questões de língua(gem) e identidade.
261 f. Tese (Doutorado em Linguística). Campinas: IEL / Unicamp, 1996.
MENDONÇA, B. Reconhecimento do rio Juruá, 1905. Belo Horizonte; Itatiaia;
Acre: Fundação Cultural do Estado do Acre, 1989. (Coleção Reconquista do
Brasil, 152).
MONTE, N. L. Escolas formais - Agências mediadoras. In: CABRAL, A.
S. A. C. et al. Por uma educação indígena diferenciada. Brasília: C.N.R.J. /
FNPM, 1987.
MONTE, N.L. Escola da floresta: entre o passado oral e o presente letrado.
Rio de Janeiro: Multiletra, 1996.
MONSERRAT, R.M.F. Política e planejamento linguístico nas socieda-
des indígenas do Brasil hoje: o espaço e o futuro das línguas indígenas. In.
VEIGA, Juracilda & SALANOVA, Andrés (Org.). Questões de educação
escolar indígena: da formação do professor ao projeto de escola. Brasília:
FUNAI/DEDOC, Campinas/ALB, 2001.
MONSERRAT, R.M.F. & SILVA, A. O. Gramática da língua Kulina. Dialeto
do Igarapé do Anjo. 1986.
RODRIGUES, A. D. Línguas Brasileiras: para o conhecimento das línguas
indígenas. São Paulo: Loyola, 1986.
RODRIGUES, A. D. Línguas indígenas: 500 anos de descobertas e perdas.
DELTA vol. 9 (1): 83-103. São Paulo, 1993.
RODRIGUES, A. D. Biodiversidade e diversidade etnolinguística na
Amazônia. In: SIMÕES, M. S. (Org.). Cultura e biodiversidade entre o rio e
a floresta. Belém: UFPA, 2001, v. 1, p. 269-278.
SILVA, E.S. Fonética e análise fonológica preliminar da língua Manxinéri.
33 f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Brasília: UnB, 2008.
SPOLSKY, B. Language policy. Cambridge: CUP, 2004.
TISS, F. Gramática da língua Madiha (Kulina). São Leopoldo – RS: Oikos, 2004.
TASTEVIN, R.P. Chez les indiens du haut-Jurua (Rio Gregório). Missions
Catoliques, LVI, 1924.
OLIVEIRA, G.M. Política Lingüística na e para além da Educação Formal. Estudos
Lingüísticos XXXIV, p. 87-94, 2005.
http://www.funai.gov.br/indios/fr_conteudo.htm 2012. Acesso em: 18 abril 2012.
217
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 217 28/05/2014 17:16:59
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 218 28/05/2014 17:16:59
LEITURA E ESCRITA EM LIVROS DIDÁTICOS DE
LÍNGUA PORTUGUESA E DE MATEMÁTICA DOS ANOS
INICIAIS: REPERCUSSÕES PARA O ENSINO
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Claudianny Amorim Noronha
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 219 28/05/2014 17:16:59
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 220 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
INTRODUÇÃO
A educação básica é um lugar de encontro privilegiado entre
as áreas e, mais especificamente, a sala de aula dos anos iniciais do
Ensino Fundamental (EF), em que os diferentes componentes disci-
plinares têm um só profissional como mediador didático: o pedagogo.
Utilizados em sala de aula pelo mesmo grupo de alunos e professor dos
anos iniciais do ensino fundamental, os livros didáticos de matemática
e de língua portuguesa têm evidenciado abordagens divergentes e con-
traditórias no ensino do/a partir do texto. Desse modo, ao analisarmos
as práticas de linguagem dos livros didáticos de língua portuguesa e
de matemática, partimos da preocupação com a necessidade de arti-
culação entre essas áreas, como forma de refletir um projeto coeso de
ensino. Não se trata de exigir uma uniformidade das concepções de
linguagem neles subjacentes. Preocupam-nos as abordagens excluden-
tes da linguagem, tendo em vista a fragmentação do próprio projeto de
aprendizagem na escolaridade básica.
Desse modo, analisamos o livro didático (LD) e o manual do
professor (MP) de três coleções das áreas de língua portuguesa e de
matemática1, aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD, 2010), do Ministério da Educação, e adotadas por sete escolas
municipais de Natal-RN para o 4º e 5º anos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Além disso, para triangulação dos dados, adotaremos,
ainda, documentos oficiais para orientações pedagógicas (Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN, diretrizes curriculares, guias dos livros
didáticos, descritores da Prova Brasil), a fim de reunir elementos que
nos permitam compreender as especificidades de trabalho com a lingua-
gem requerida em cada área, assim como suas possíveis divergências.
1
Os livros foram obtios graças à disponibilização pelo Memorial do Programa Nacional
do Livro Didático, sediado na UFRN e coordenado pela professora Margarida Dias
(Departamento de História-UFRN), e dos exemplares físicos, encaminhados ao nosso
projeto pela Secretaria Municipal de Educação para pesquisa. O Memorial tem um
acervo de cerca de onze mil livros didáticos digitalizados, acessíveis aos grupo de
pesquisa e comunidade escolar.
221
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 221 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Apoiamo-nos teórico-metodologicamente em três eixos: os
estudos da linguagem direcionados, principalmente, ao ensino, desen-
volvidos por grupos de pesquisa que estudam a área de língua portu-
guesa e a aprendizagem da matemática na educação básica. Adotamos,
portanto, os trabalhos de Dionísio (2005), Freire (2003), Kleiman
(2003a, 2003b) e Rojo (2000), para compreender a linguagem como
interação, e o ensino da leitura e escrita na escola como atividades que
devem tomar como unidade os gêneros, textos autênticos, e as práti-
cas socio culturalmente partilhadas. Além disso, trabalhos como os de
Cândido (2001), Chica (2001), Diniz (2001), que se voltam à leitura e
escrita na área de matemática, nos permitem compreender a importân-
cia da sua articulação com a língua materna, a fim de viabilizar um
ensino em que o aluno domine os processos de resolução de proble-
mas e de comunicação do seu conhecimento na área. O segundo eixo é
aquele direcionado aos estudos sobre os livros didáticos, como os tra-
balhos de Dionísio (2003), Rojo (2003), Val (2005), que nos permitiram
observar os processos de orientação para a transposição escolar dos
conteúdos curriculares e o modo como as concepções de linguagem
estão normalmente situadas historicamente nas coleções dos livros
didáticos. Por fim, o terceiro eixo refere-se à leitura dos documentos
oficiais dirigidos aos profissionais da educação básica. Essa leitura nos
possibilitou analisar os eventuais vínculos e dissonâncias entre as polí-
ticas de ensino, as tendências teóricas das áreas e o que efetivamente
está sendo incorporado aos materiais didáticos para chegar às escolas.
1. A LINGUAGEM E A APRENDIZAGEM ESCOLAR: O QUE
NOS DIZEM OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES OFICIAIS?
A aprendizagem da leitura, da escrita e do raciocínio lógico
matemático tem sido apontada como um dos principais problemas da
educação básica, segundo os indicadores oficiais. Paradoxalmente,
ler, produzir textos e resolver problemas matemáticos estão dentre os
objetivos centrais da escola, por serem competências socio linguístico-
-cognitivas, essenciais aos demais componentes curriculares da esco-
laridade obrigatória e às demandas sociais. Nesse sentido, a assimetria
existente entre a avaliação dessas competências e o lugar que ocupam
222
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 222 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
no projeto pedagógico escolar aponta para a necessidade de uma refle-
xão mais vertical.
Ao observar os indicadores oficiais, verificamos que a média
nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB,
2009) é de 4,6 para os anos iniciais do ensino fundamental (EF), 4,0
para os anos finais e 3,6 para o ensino médio. Para a Rede Municipal
de Natal-RN, o IDEB foi de 3,7 nos 4º e 5º anos do EF, aquém da
média nacional para o mesmo nível de ensino. Esse resultado faz com
que o município figure, nacionalmente, no antepenúltimo lugar (IDEB,
2009).
Na prova Brasil/Saeb para os anos iniciais do EF, em língua
portuguesa a média nacional foi de 184,3; já em matemática, chegou
a 204,3. Nas duas disciplinas, foram as menores notas, quando com-
paradas às demais etapas de escolaridade (anos finais do EF e ensino
médio). No município de Natal-RN, nas provas de língua portuguesa e
de matemática, as médias se situam abaixo das nacionais, sendo, res-
pectivamente, 154,00 e 162,20 em cada uma das disciplinas.
De acordo com esses indicadores oficiais, o contexto global
das escolas da Rede Municipal de Natal-RN demanda políticas de
investimento em pesquisa e em ações de intervenção contínua que per-
mitam identificar as causas da permanência da média dos índices de
desenvolvimento para a maioria dessas escolas nos anos iniciais do EF.
Tal quadro suscita questões voltadas à educação básica do município e
exige reflexões acerca das concepções de linguagem, orientadoras das
práticas de leitura e de escrita, prevalentes em cada área e que respon-
dem, em parte, pelas médias obtidas. Nesse sentido, focalizaremos os
livros didáticos, tendo em vista sua centralidade no contexto escolar.
Nosso objetivo é analisar as concepções de linguagem desse material e
compreender como orientam a formação do aluno no uso da linguagem
com finalidades escolares.
No âmbito das políticas educacionais, a década de 90 abriu um
novo espaço para a linguagem como objeto de ensino e aprendizagem
nas diferentes áreas. De uma forma geral, nos Parâmetros Curriculares
Nacionais dos Anos Iniciais (PCN), nos Guias dos Livros Didáticos
(GLD, 2011) e nos parâmetros de avaliações institucionais (IDEB,
SAEB, Prova Brasil), o texto ganha relevo como unidade de ensino
223
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 223 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
e de aprendizagem. Há uma preocupação de cada uma das áreas em
destacar as habilidades de leitura e de escrita a serem desenvolvidas, os
gêneros textuais e/ou as competências leitoras principais para o ensino
em cada área, bem como as orientações gerais para o trabalho do pro-
fessor como mediador da leitura em sala de aula.
As propostas institucionais iniciadas na década de 90 indica-
vam mudanças qualitativas para o conjunto da escolaridade obrigató-
ria nas diferentes áreas, prevendo, no âmbito da linguagem, o trabalho
com a argumentação, a seleção de informação, a síntese, a associação
entre as áreas etc. Desse modo, as escolas vivem um cenário ainda
recente de mudanças de paradigmas, em que a perspectiva do trabalho
sistematizado com a linguagem, que deixa de ser requisito exclusivo
da aula de português para integrar as ações do pedagogo nas diferentes
disciplinas em que atua, ainda se acomoda, com relativa dificuldade,
na prática docente.
Por outro lado, o ensino fundamental tem como objetivo cen-
tral a necessidade do trabalho com diversas linguagens, o que sinaliza
uma mudança mais do que metodológica, de paradigma educacional:
Utilizar as diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica,
plástica e corporal - como meio para produzir, expressar e co-
municar suas ideias, interpretar e usufruir das produções cultu-
rais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes
intenções e situações de comunicação (BRASIL, 1997, p. 15).
Nossas pesquisas anteriores2, acerca das orientações institucio-
nais para a leitura e escrita, apontam que os PCN das diferentes áreas
dos anos iniciais tomam o texto como elemento nuclear da aprendiza-
gem, considerando os diversos objetivos disciplinares. De modo geral,
os PCN visam a favorecer um letramento ideológico (KLEIMAN,
2003), com base na heterogeneidade linguística, na atenção ao con-
texto cultural do aluno e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento de
práticas de leitura e de escrita que ampliem seu repertório discursivo.
Esse esforço é evidenciado nos PCN, para cada uma das disciplinas
2 Referimo-nos aos projetos “Ler, escrever e resolver problemas: pesquisa e ensino para
uma prática interdisciplinar em matemática e português” (NORONHA; BARBOSA,
2009) e “Com quais gêneros e linguagens se faz uma sala de aula? O papel do pedagogo
como mediador de múltiplas linguagens na sala de aula multidisciplinar” (BARBOSA,
NORONHA; 2009).
224
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 224 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
dos anos iniciais do EF, da seguinte forma: ao se elencar os gêneros
que consideram peculiares ao ensino; ao orientar que as aprendizagens
estejam vinculadas às especificidades linguístico-discursivas e ao grau
de letramento dos grupos e realidades, objeto do estudo em cada área;
ao situar o pedagogo como mediador de leitura; ao evidenciar os con-
ceitos de leitura e escrita como competências implicadas aos objetivos
curriculares para cada área.
Também nos critérios de análise e seleção de livros didáticos,
são itens comuns a todas as áreas nos Guias dos Livros Didáticos dos
Anos Iniciais (GLD, 2010): o estímulo à leitura e indicações bibliográ-
ficas de fontes variadas e presentes em diferentes meios de comunica-
ção; a consideração do grupo de origem do aluno e, necessariamente,
das suas variantes linguísticas, do seu grau de letramento e leituras
prévias; a leitura e produção de textos multimodais; o tratamento tex-
tual dos conceitos e conteúdos de cada área, de modo adequado aos
objetivos curriculares e à idade dos alunos; a apropriação dos gêneros
(orais, escritos, multimodais, entre outros), que são fontes relevantes à
pesquisa e construção do conhecimento escolar em cada área.
2. LEITURA E ESCRITA: DOS DOCUMENTOS OFICIAIS
AOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA
A escrita nas aulas de matemática pode aproximar-se ainda
mais da aprendizagem da língua materna através da proposição
de textos mais elaborados nas aulas de matemática. Exemplos
disso são escrever um problema no formato de um poema, ela-
borar uma história de ficção envolvendo figuras geométricas,
organizar um dicionário de termos matemáticos, produzir um
resumo dos conceitos matemáticos [...] (CÂNDIDO, 2001, p.
24-27).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática
(BRASIL, 1997a) apontam elementos referentes à leitura/escrita como
fundamentais à aprendizagem dos seus conteúdos: comunicar-se mate-
maticamente; estabelecer as intraconexões e as interconexões matemá-
ticas com as demais áreas do conhecimento; interagir adequadamente
com seus pares; desenvolver no aluno da capacidade de compreender
225
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 225 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
e transformar o mundo à sua volta; estabelecer relações qualitativas e
quantitativas; ler e resolver situações-problema.
No Guia do Livro Didático de Matemática para os anos ini-
ciais de ensino (2010), vários outros elementos ligados à linguagem se
somam aos Parâmetros como critérios para seleção e análise dos livros
didáticos da área: a necessidade de trabalho com representações sim-
bólicas diversas (sinais matemáticos, desenhos, gráficos, diagramas e
outros); a mobilização de atividades presentes no livro didático, que
permitam compreender e transmitir ideias por escrito ou oralmente; a
comunicação através das diferentes formas de linguagem; a relação da
matemática com atividades estéticas e lúdicas; a utilização de textos de
diferentes gêneros e presentes em diversas mídias.
Nessa perspectiva, analisamos três coleções de LD, adotadas
em sete escolas do município de Natal, às quais trataremos aqui como:
Coleção 1, Coleção 2 e Coleção 3, cujos resultados apresentamos a
seguir:
A Coleção 1, acerca das representações simbólicas diversas,
previstas nas orientações do Guia do Livro Didático, se preocupa em
explorar termos matemáticos em diferentes contextos, destacando
aqueles em que esses apresentam diferentes significados e formas de
representação. A exemplo das diferentes funções do número: medir,
contar, codificar, ordenar; dos diferentes espaços e situações em que
as formas geométricas são utilizadas; das diferentes formas de apre-
sentação da linguagem, considerando os instrumentos que a utilizam
(escrita digital, cursiva e tipográfica), além da leitura de gráficos, tabe-
las, mapas e outros.
Há, ainda na coleção, a presença de atividades que estimulam,
entre os alunos, a troca de estratégias de resoluções adotadas e dos
resultados obtidos nas atividades, o que caminha para o desenvolvi-
mento da habilidade de comunicar-se matematicamente e estimula o
estudante a pensar sobre a sua forma de resolver e de explicar e criar
argumentos que justifiquem a resolução encontrada. Isso caracteriza
o desenvolvimento da metacognição. Entretanto, esse tipo de comu-
nicação ainda é restrito, tanto no comando das atividades do livro,
quanto nas orientações previstas no Manual do Professor, na medida
em que os alunos não são estimulados a manifestar seu entendimento,
226
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 226 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
utilizando-se, por exemplo, de diferentes gêneros textuais, apesar de
esses serem usados para o tratamento de variados conteúdos no LD. A
esse respeito, nas sugestões complementares – previstas no Manual do
professor – há uma única proposta de estímulo à produção de “algum
texto” pelos alunos, mas essa não é acompanhada de uma orientação
mais específica a respeito da produção.
A relação da matemática com atividades estéticas e lúdicas está
relacionada à abordagem de brincadeiras infantis e de obras artísticas,
estas últimas bem exploradas nos livros analisados da coleção, com
atividades que permitem interpretá-las, identificar suas características,
bem como suas relações com conteúdos matemáticos. O tratamento
de outros conteúdos que permitem uma articulação interdisciplinar
também é visualizado, no entanto, observamos a ausência de orienta-
ções quanto à efetivação dessa articulação. Alguns temas, a exemplo
do meio ambiente: lixo, água, densidade demográfica e outros, apesar
de estarem entre os conteúdos de outras áreas de conhecimento, são
tratados como temas transversais, sem orientações para o professor a
respeito da relação com outras disciplinas.
Quanto ao trabalho com diferentes gêneros textuais, verifica-
mos a abordagem dos conteúdos matemáticos a partir de gêneros tex-
tuais diversificados, dentre eles: textos jornalísticos, artigos, encarte/
cartaz de evento, mapas, plantas, xilogravuras, biografias, gráficos,
tabelas, tirinhas, ficha técnica de filmes, diário, cartaz de propaganda e
outros. Entretanto, observamos, nas atividades e Manual do Professor,
poucos casos voltados para o conhecimento das características desses
gêneros, bem como atividades que estimulem a produção dos mesmos
pelos estudantes. A leitura de gráficos e tabelas e a resolução de situa-
ções problema, que norteiam os LD e se fazem constantes em todos os
capítulos, por exemplo, não são trabalhados no sentido de incentivar os
alunos a produzi-los.
De modo geral, o Manual do Professor apresenta orientações ao
docente acerca da discussão/introdução de um dado conteúdo, a neces-
sidade de explicação de um procedimento, as expectativas em relação
às respostas dos estudantes a determinadas atividades. Contudo, não
observamos orientações específicas referentes ao trabalho da leitura e
da escrita na aprendizagem da matemática.
227
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 227 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Na Coleção 2, por sua vez, vimos a mesma preocupação da
Coleção 1 em relação à introdução dos conteúdos matemáticos em
diferentes contextos. Entretanto, com exceção das atividades de reso-
lução de problemas, as demais não priorizam a contextualização. Há
a preocupação em representar os significados de termos matemáticos
em diferentes situações, como por exemplo, as diferentes funções do
número: medir, contar, codificar, ordenar; dos diferentes espaços e
situações em que as formas geométricas são utilizadas; das variadas
formas de apresentação de termos matemáticos, considerando os ins-
trumentos que a utilizam (escrita digital, cursiva e tipográfica).
O estímulo à interação com seus pares, de modo a propor-
cionar melhor compreensão, assim como a transmissão de ideias e a
criação de argumentos que as justifiquem são proporcionadas, como
na coleção anterior, por atividades que estimulam a troca, entre os alu-
nos, das estratégias de resolução e dos resultados obtidos. Entretanto, o
estímulo às atividades em grupo, como a exemplo dos jogos, é restrito.
Apesar de o Manual do Professor especificar a importância do trabalho
com jogos, há poucas opções/exemplos para uso pelo professor.
A variedade de gêneros textuais utilizados para o trabalho dos
conteúdos matemáticos nos LD analisados é restrita, e a produção des-
ses pelos alunos, para o registro e comunicação de resultados e proce-
dimentos de resolução, não é estimulada. A associação da matemática
com atividades estéticas e lúdicas está relacionada a obras artísticas,
estas últimas, exploradas superficialmente, sem ênfase no conheci-
mento das características das obras ou do seu autor, mas, apenas, na
observação das formas geométricas presentes na pintura.
Quanto à utilização de textos de diferentes gêneros e presen-
tes em diversas mídias, não os encontramos nessa coleção. Da mesma
forma, vimos que não há estímulo à representação da resolução de pro-
blemas por meio da produção de diferentes gêneros textuais. Os grá-
ficos e tabelas, utilizados com predominância nos LD de Matemática,
são utilizados com destaque na interpretação dos dados quantitativos
e sem estímulo à sua produção pelo estudante, o mesmo que ocorre na
utilização de outros gêneros textuais, como receitas e mapas, por exem-
plo. Não notamos, também, a preocupação com a caracterização dos
gêneros, de modo a facilitar na identificação e reprodução dos mesmos,
228
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 228 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
o que demonstra um enfraquecimento de um trabalho articulado com
a Língua Portuguesa.
Apesar de temáticas variadas que permitem a contextualiza-
ção, elas são apresentadas resumidamente e sem nenhuma orientação
adicional para o aprofundamento do docente. O mesmo ocorre em rela-
ção a alguns textos ilustrativos, como o referente à história dos núme-
ros, utilizado nos LD de 4o e 5o ano da coleção, cujo conteúdo não foi
considerado para debate e interpretação, sendo, o seu uso, restrito aos
valores dos símbolos numéricos das civilizações neles representadas.
Apesar da presença de um glossário, não identificamos nas
atividades e nas orientações para o professor uma preocupação em tra-
balhar com o estudante a relação entre matemática e língua materna,
ou um trabalho mais direcionado aos significados de termos/palavras
novas para o vocabulário do aluno.
A Coleção 3 se destaca por manifestar o trabalho com a lin-
guagem entre seus objetivos. Nas orientações previstas no Manual do
Professor, percebemos uma preocupação das autoras que, além das res-
postas das atividades, situa o professor quanto aos objetivos do capí-
tulo e contextualiza o potencial que este apresenta. Em especial, nessas
orientações, reconhecemos que há um direcionamento para a relação
entre a matemática e a língua materna, como forma de oferecer ao aluno
uma compreensão ampliada dos termos matemáticos apresentados e
da representação desses em atividades cotidianas. Demonstrou-se, ao
longo dos livros, preocupação em orientar o professor quanto ao traba-
lho dos significados dos termos matemáticos.
Entre as orientações previstas no decorrer do Manual do
Professor está, além daquelas a respeito das possibilidades de respostas
dos estudantes a algumas atividades, a necessidade de registro das con-
clusões dos alunos, textualmente ou por meio de desenhos. As várias
atividades do tipo “Explique” incentivam o aluno a refletir sobre o que
pensou e a tentar comunicar seus pensamentos, além de outras que os
estimulam a socializar suas estratégias de resolução e resultados, bem
como a criar argumentos que os justifiquem. O desenho é uma das for-
mas de registro indicada no decorrer o LD para responder a uma dada
atividade.
229
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 229 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Para a contextualização, são utilizados diferentes gêneros tex-
tuais, entre os quais: parlendas, adivinhações, tirinhas, poemas, textos
informativos e jornalísticos, mapas, gráficos e tabelas, artigos, encarte/
cartaz de evento, plantas, biografias, tirinhas, ficha técnica de filmes,
diário, cartaz de propaganda e outros. As autoras estimulam o profes-
sor a trabalhar com informações e curiosidade de interesse dos estu-
dantes dessa faixa etária. Da mesma forma, estimulam a realização de
pesquisa e produção de textos com esse gênero/conteúdo.
A relação da matemática com atividades estéticas e lúdicas
está relacionada à abordagem de brincadeiras infantis, jogos e obras
artísticas, essas últimas, bem exploradas nos livros analisados da cole-
ção apontada pelas autoras, em citação aos PCN de Arte (BRASIL,
1997), como uma experiência rica que desenvolve os sentidos, articu-
lando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão
ao realizar e fruir produções artísticas. Nesse sentido, o professor é
orientado a deixar que os alunos observem as obras; que falem sobre o
que veem; que estimule-os a falar sobre as cores, as formas, a relação
entre luz e sombra etc. Orienta, ainda, que o professor apresente outras
obras do autor ou de autores com perfil diferenciado, para que façam
comparações.
Apesar de ter objetivos acerca da linguagem, a preocupação
em caracterizar alguns dos gêneros textuais abordados e de incentivar
a produção desses pelos alunos – ainda que seja um incentivo mais
forte na orientação dos professores e pouco frequente no comando das
atividades –, não há orientações claras quanto ao trabalho articulado
com a Língua Portuguesa.
Assim como nas coleções anteriores, o LD finaliza com um
Glossário e indicações de leituras (literatura e paradidáticos), sendo
que nessa é enfatizada a importância de um trabalho atento aos signi-
ficados de termos considerados novos para os estudantes, inclusive os
matemáticos. Quanto às indicações de leitura, não foram observadas
orientação a respeito de como abordá-las, de modo a complementar as
atividades e temáticas trabalhadas no LD.
Nas coleções analisadas, observamos que, apesar dos avanços
no trabalho com a linguagem, um problema de caráter teórico-meto-
dológico se impõe: a ausência de trabalhos multi e interdisciplinares
230
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 230 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
entre as áreas de língua portuguesa e matemática que deem base para a
atuação docente do pedagogo nos anos iniciais e mesmo para o devido
trabalho com/a partir da linguagem nos livros didáticos de matemática.
De modo geral, em nossas análises, observamos cinco aspec-
tos básicos do tratamento da linguagem nos LD de matemática, que,
em certa medida, distanciamos das orientações institucionais: a pouca
utilização de textos autênticos, uma vez que vários dos textos adotados
são fragmentos ou resumos do original, que contemplam informações
numéricas; o uso de gêneros variados, que permitiriam aos alunos o
acesso ao conhecimento matemático a partir dos diferentes suportes
e formas de comunicação circulantes em seu cotidiano; o enfoque no
ensino da matemática desvinculado de práticas discursivas, acompa-
nhando uma tradição já questionada do ensino da matemática pura,
com foco no conteúdo e em detrimento de aspectos mais questionado-
res e reflexivos; a ausência de orientações, comum às três coleções, que
subsidiem a prática do professor quanto a articulação com outras áreas;
a falta de incentivo à produção escrita.
Entretanto, não podemos deixar de registrar que identificamos,
em todas as coleções analisadas, um avanço no sentido do investimento
à comunicação, ainda que restrito no que tange à variedade de formas
de comunicação, um diferencial aos antigos livros didáticos de mate-
mática da época da Matemática Moderna e, fundamental, numa cultura
letrada como a nossa.
3. LEITURA E ESCRITA: DOS DOCUMENTOS OFICIAIS AOS
LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa para os
anos iniciais do EF e o Guia do Livro didático focalizam, entre outros:
a linguagem como participação social; a necessidade de um ensino vol-
tado à variedade de gêneros; a valorização da oralidade; a gramática
situada no texto; a leitura como prática significativa, além da decodifi-
cação; a leitura como campo de polissemias, considerando a fruição, a
capacidade de argumentar e localizar no texto elementos que justificam
sua interpretação.
231
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 231 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Por outro lado, em ambos os materiais, é sugerida, com imensa
timidez, a interseção entre o conhecimento de leitura e escrita, mobili-
zado no ensino de língua portuguesa, com outras áreas e, mais particu-
larmente, com a matemática. Não configura, em nenhum dos critérios
de avaliação e seleção de livros didáticos, a multi ou interdisciplinari-
dade da língua portuguesa com as demais áreas nas quais o pedagogo
atua – com a mesma turma de alunos – em sala de aula. Tal desenho,
para nós, reforça o ideário da aula de português como apartada dos
demais componentes, mesmo diante de um contexto escolar que tem
os mesmos sujeitos. Mais complexa fica essa situação, quando lembra-
mos que nos anos iniciais do ensino fundamental temos um professor
polivalente.
Em nossas pesquisas, temos encontrado o seguinte cenário
de publicações na área: a) estudos na área do ensino da matemática,
voltados para a leitura na educação básica e para a formação de pro-
fessores; b) estudos na área de língua portuguesa, voltados para a edu-
cação básica, que focalizam os anos finais do EF, e para ensino médio,
em função da vinculação dos linguístas aos grupos de trabalho e às
associações de pesquisa que emanam dos departamentos de Letras
das IES e que têm, como prioridade, a formação e o campo de atua-
ção do graduado em língua portuguesa; c) uma vasta bibliografia na
área da linguagem que se volta para a alfabetização, pela centralidade
que essa habilitação profissional tinha para o curso de Pedagogia até
recentemente.
A produção científica nacional ainda é tímida quando o recorte
de pesquisa é a leitura/escrita nas diferentes áreas dos anos iniciais
do EF, como se pode consultar nos anais do Congresso de Leitura do
Brasil (COLE), nos Grupos de Trabalho (GTs) da Anped, da Anpoll e
de eventos da Educação Matemática, organizados, entre outros, pela
Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM).
Na Coleção 1, os gêneros textuais são variados, o livro didático
é organizado por abordagem temática e as atividades são pouco orien-
tadoras dos objetivos do trabalho, o que exige do professor o efetivo
direcionamento das etapas de leitura ou de produção a serem imple-
mentadas. Observamos poucas orientações para a produção coletiva
e a inexistência de atividades de planejamento e reescrita. A ênfase se
232
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 232 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
dá na etapa de produção sem enfoque em textos referência. No manual,
o professor disporá de poucas alternativas de trabalho, resumindo-se
mais na proposição de respostas às questões do LD.
Na Coleção 2, as atividades remontam várias etapas de escrita
e leitura, mas ainda não conseguem uma articulação entre si, de modo
que o trabalho ainda é abordado de forma fragmentada em relação ao
estudo do texto, havendo um relativo isolamento entre leitura, escrita,
gramática e oralidade. Observamos, também, pouca clareza na seleção
dos gêneros abordados, porque não é informado no manual do profes-
sor e reforça a dificuldade de compreensão – ou estabelecimento de
articulação – entre as unidades, de modo a transferir o conhecimento
de um gênero para auxiliar no conhecimento daquele outro, abordado
na unidade seguinte.
A Coleção 3 organiza-se em sequencia de unidades, com gêne-
ros textuais com predomínio na mesma tipologia. As seções internas de
cada unidade são organizadas a partir dos eixos de ensino, e todas se
direcionam ao mesmo texto, objeto das atividades. Apesar disso, não
observamos aproveitamento das aprendizagens de uma seção para a
outra. O manual do professor focaliza mais as respostas às atividades
e direciona algumas leituras complementares para o professor. Não há,
no entanto, discussão nem contextualização das atividades propostas
no LD.
Em todas as coleções, observamos um esvaziamento do ensino
da linguagem dirigido às possibilidades de interação com outras áreas
de conhecimento. Os manuais do professor também não sinalizam ele-
mentos dessa ordem, embora, tanto os manuais como os LD sejam diri-
gidos para o mesmo público de alunos e para professores polivalentes,
que atuam no ensino de diferentes áreas. De modo geral, as coleções
abordam a linguagem como instrumento de comunicação ou como
interação e, embora não valorize todas as etapas de escrita e produção,
e tenham dificuldade em articular os eixos do ensino, já conseguem
propor atividades direcionadas a contextos reais de linguagem, assim
como procuram, majoritariamente, usar textos autênticos, mesmo com
consideráveis números de fragmentos.
Nas análises das três coleções de livros didáticos de língua
portuguesa e dos seus respectivos manuais do professor, observamos
233
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 233 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
que as práticas de leitura e escrita eram orientadas a partir de três dire-
trizes: retomada de textos e gêneros diversos, como tentativa de inse-
rir na esfera escolar as rotinas de interação e comunicação cotidianas;
fragmentação do trabalho com a linguagem, a partir da segmentação e
da falta de unidade entre o trabalho com os diferentes eixos do ensino;
ausência de remissão ao trabalho da leitura ou escrita de modo articu-
lado entre as áreas.
RESULTADOS
A universalização da educação básica comunga de uma meta:
garantir a formação de cidadãos capazes de desenvolver com compe-
tência o seu papel social. Entretanto, para isso, a abertura de novas
vagas na Educação Básica não é suficiente. Necessita-se, dentre outros,
de contar com profissionais qualificados para atuar nesse contexto.
De fato, ainda é observada uma lacuna na formação inicial e continu-
ada dos docentes da educação e, nesse contexto, o livro didático – em
especial o Manual ou Livro do Professor – tem se destacado como um
recurso valioso, por oferecer orientações e sugestões diversas para a
sua atuação, embora nem sempre assuma esse papel.
O professor dos anos iniciais se vê, portanto, diante de um
grande desafio: ensinar a partir de coleções de livros didáticos que não
têm, em sua gênese, uma articulação nem uma abordagem comum no
tratamento da linguagem, com vistas ao mesmo projeto pedagógico.
Sua elaboração, claramente realizada de forma isolada, passa ao largo
de sinalizar possibilidades interdisciplinares e, ainda menos, de manter
as mesmas concepções de linguagem. O resultado é uma espécie de
desacordo pedagógico, em que, mesmo diante de ponderações acerca
do atendimento aos objetivos de cada área, as orientações de leitura e
escrita seguem passos, muitas vezes, antagônicos.
Não queremos com isso afirmar que o LD deva ser a solu-
ção para proporcionar um ensino de qualidade, principalmente porque
temos ciência de que essa qualidade só pode ser estabelecida no con-
texto em que ele será utilizado. Mas, não podemos, também, deixar de
considerar que o LD é, muitas vezes, o único recurso utilizado para
o ensino, podendo induzir a práticas mais elaboradas, no sentido de
234
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 234 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
alcançar os objetivos de ensino, previstos nos documentos oficiais, e
permitindo avanço nos índices obtidos nas avaliações.
Para um projeto de ensino articulado, torna-se importante
que os LD se baseiem numa concepção de linguagem a ser conside-
rada no contexto escolar, que justifica a interface que aqui buscamos
entre as áreas de língua portuguesa e matemática. A aprendizagem da
linguagem está, hoje, apontando para demandas muito mais voltadas
para o uso da língua em diferentes contextos e para as interações e a
apropriação dos domínios de funcionamento do texto do que para os
conhecimentos estritamente metalinguísticos, daí sua possibilidade de
ser considerada, sob um mesmo viés, nas diferentes áreas que integram
a educação básica em livros didáticos dos anos iniciais e que têm como
destino o mesmo grupo de alunos.
Esse conjunto de documentos oficiais e livros didáticos sinali-
zam elementos comuns a serem considerados no campo da linguagem
para todas as áreas e coloca-se como fundamental para compreender-
mos as práticas de linguagem esperadas dos livros didáticos de língua
portuguesa e de matemática.
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Maria
Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Hucitec, 1988.
______. Estética e criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão Gomes
Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
BATISTA, Antonio Augusto. Aula de português: discurso e saberes escolares.
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa. – 3. ed. – Brasília: A
Secretaria, 2001.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Objetivos Gerais dos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. 1997 (p. 15).
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Guia do livro didático 2010: Língua
Portuguesa: séries/anos iniciais do ensino fundamental / Secretaria de Educação
Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica.
235
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 235 28/05/2014 17:16:59
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
CÂNDIDO, Patrícia T. Comunicação em Matemática. In: SMOLE, Kátia
Stocco; Diniz, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
CARVALHO, Mercedes. (Org.). Ensino Fundamental: práticas docentes nas
séries iniciais. Petrópolis/RJ: Vozes, 2006.
CAYSER, Elisane Regina. Livro Didático: os descaminhos da interpretação
textual. UPF: 2001.
CHICA, Cristiane. Por que formular problemas?. In: SMOLE, Kátia
Stocco; Diniz, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
CORACINI, Maria José. (Org.). Interpretação, autoria e legitimação do livro
didático. Campinas/SP: Pontes, 1991.
DINIZ, Maria Ignez. Resolução de problemas e comunicação. In: SMOLE,
Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas. Porto
Alegre: Artmed, 2001.
DIONÍSIO, Ângela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora B. (Org.) Livro didá-
tico de português: múltiplos olhares. 3. ed. Rio de Janeiro/RJ: Lucerna, 2003.
DIONÍSIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria
auxiliadora (Org.). Gêneros textuais & ensino. 3. ed. Rio de Janeiro/RJ:
Lucerna, 2005.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2003.
KLEIMAN, Ângela (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspec-
tiva sobre a prática social da escrita. Campinas/SP: Mercado de letras, 2008.
(Coleção letramento, educação e sociedade).
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita: atividades de retextua-
lização. 5. ed. São Paulo/SP: Cortez, 2004.
NEVES, Iara Conceição Bitencourt et al. (Org.). Ler e escrever: compromisso
de todas as áreas. 7. ed. Porto Alegre/RS: EDUFRGS, 2006.
NEVES, Maria Helena de M. Que gramática cabe à escola ensinar?. São
Paulo/SP: Contexto, 2003.
ROJO, Roxane; BATISTA, Antônio (Org.). Livro didático de língua portu-
guesa, letramento e cultura escrita. Campinas/SP: 2003.
ROJO, Roxane. (Org.). A prática de linguagem em sala de aula: praticando
os PCNs. São Paulo/SP: Mercado das Letras, 2000. (As faces da Linguística
Aplicada).
236
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 236 28/05/2014 17:16:59
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
ROJO, Roxane; BATISTA, Antônio (Org.). Livro didático de língua portu-
guesa, letramento e cultura escrita. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2003.
SMOLE, Kátia Stocco; Diniz, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver proble-
mas. Porto Alegre/RS: Artmed, 2001.
VAL, Maria da Graça Costa; ROCHA, Gladys (Org.). Reflexões sobre prá-
ticas escolares de produção de texto: o sujeito autor. Belo Horizonte/MG:
Autêntica, 2003.
_______________________; MARCUSCHI, Beth. (Org.). Livros didáti-
cos de língua portuguesa: letramento e cidadania. Belo Horizonte/MG: Ceale;
Autêntica, 2005. (Linguagem e Educação).
237
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 237 28/05/2014 17:17:00
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 238 28/05/2014 17:17:00
NARRATIVAS DO COTIDIANO
NO AMBIENTE ESCOLAR
Lucrécio Araújo de Sá Júnior
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 239 28/05/2014 17:17:00
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 240 28/05/2014 17:17:00
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
INTRODUÇÃO
Ao longo da história, observamos que, nas escolas, são pou-
cas as situações em que se dá voz aos sujeitos, a fim de que estes se
expressem com descompromisso conteudista. Assim, sem se aper-
ceber das relações sociais e situações de vida, se praticam os modos
de cumprir o currículo oficial. Esses modos dificilmente permitem a
experimentação‐problematização, com os quais os sujeitos do discurso
menor (DELEUZE, 1992) da educação se afirmam como protagonis-
tas da cena educacional. Dessa forma, revelam-se muitos momentos de
comportamentos extremamente desinteressados, transgressores, senti-
mentos de impotência e de não pertencimento, daí várias situações fatí-
dicas, dentre elas, a violência escolar em suas diversas manifestações.
Neste trabalho, pretendo observar que o objetivo pedagógico
do Currículo Escolar no Ensino Médio deve estar centrado no aperfei-
çoamento intelectual do aluno, não na exposição dos saberes produzi-
dos no campo científico, mas, sobretudo, nos usos atuais dos saberes
cotidianos que o aluno possui, ou seja, em perspectiva indisciplinar,
como pensamento e linguagem. Deve-se ouvir a voz dos alunos, uma
vez que eles se fazem como sujeitos da interação social e suas narrati-
vas podem expressar os saberes formais já adquiridos ao longo do seu
percurso escolar. Dessa forma, se poderá testar a pertinência dos sabe-
res, suas interpretações do mundo, de compartilhamento de conceitos,
de informações e de atitude crítica. Saber utilizar as variadas possibi-
lidades de construção conceitual da Narrativa em função dos objetivos
comunicativos é fundamental para o ensino-aprendizagem na escola,
assim penso que esse tipo de intervenção pedagógica poderá contribuir
para que o aluno, ampliando seu domínio conceitual e discursivo, possa
expressar os saberes que o situam ativamente no espaço social em que
vive.
241
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 241 28/05/2014 17:17:00
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
1. A PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA
A etnografia tem por objetivo compreender as dimensões
sociais implícitas, involuntárias e ocultas que mediam as interações
entre as pessoas. Em outras palavras, investiga a influencia do “cur-
rículo oculto”, o qual produz ações que patrocinam ou bloqueiam a
aprendizagem em relação ao “conteúdo manifesto”.
Os pressupostos das pesquisas etnográficas voltadas ao ensino
se fundamentam no entendimento de que as relações pedagógicas
também admitem valores, significados, relações de poder e atitudes
de resistência. Tudo isso pode ser exemplificado na postura de alguns
alunos ao confrontar o professor, pois entendem que o docente repre-
senta uma figura de autoridade – ou autoritária – que tenta impor sua
visão de mundo ao aluno, abalizado na cultura daquele, e, por vezes,
tenta moldar o comportamento dos discentes de acordo com padrões
aceitáveis para a escola ou para a sociedade. Quando isso não coaduna
com os interesses ou a realidade do discente, resulta numa postura de
indiferença ou confronto ao ensino/aprendizagem, transmitido pela efi-
gie desse processo – o professor.
Na relação aluno-professor – ou entre os próprios alunos –,
pode-se notar a existência de diferentes culturas, posições, posturas
morais, linguagens, representações de realidade e etc. Com base nisso,
a etnografia desvela a esfera simbólica que está introjetada nas intera-
ções entre os atores participantes do ambiente escolar, e descreve os
frágeis arranjos sociais, que permitem reunir ou afastar pessoas muni-
das de contradições e dos interesses conflitantes.
A etnografia tem como principais desafios contrabalancear as
relações sociais existentes na cultura escolar, permeadas por conflitos
latentes, e, por outro lado, introduzir métodos que se chocam contra as
práticas pedagógicas que cristalizam conteúdos, por meio da reprodu-
ção acrítica de saberes escolares e de prescrições de comportamentos
sociais desejáveis.
Na escola, o ensino deve promover a democracia de saberes, os
conhecimentos devem ser partilhados, ou melhor, compartilhados em
um ambiente que gere a liberdade de expressão, que traga a pauta dos
momentos de discussão em sala, os conhecimentos prévios dos alunos,
242
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 242 28/05/2014 17:17:00
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
juntamente com os conteúdos escolares e a crítica entre esses dois ele-
mentos em um processo de desconstrução-reconstrução de conceitos e
significados.
A Educação, também, deve facilitar a reflexão crítica sobre os
modelos estabelecidos, ao analisar se há problemas de ordem teórica e
pragmática nos padrões postos, estabelecendo relações entre tudo o que
veio antes e o que virá depois, em termos de construções científicas e
sociais, e colocar esses saberes e práticas em constantes discussões.
Segundo o socio interacionismo, os instrumentos intelectuais
dos indivíduos se desenvolvem graças às atividades do sujeito quando
interagem com o meio físico e social que os cercam, por meio de todo o
modo de inter-relacionamentos com tais ambientes em que a linguagem
é fator preponderante no processo, o que indica que, em sua maioria, as
relações são construídas autonomamente, mas também se desenvolvem
no andamento de atividades de aprendizagem.
O construtivismo aplicado a educação defende que a inteligên-
cia dos alunos se (re)constroi a partir de suas concepções iniciais, mas
que vai evoluindo para os conceitos mais elaborados através de ativi-
dades de ensino, nas quais situações problemáticas de interesse dos
alunos são colocadas à serviço da aprendizagem.
Conformando as duas teorias que abordam as teorizações da
aprendizagem – o socio interacionismo e o construtivismo –, percebe-
-se que as interações sociais e a construção são formas de como o ser
humano consegue construir o próprio conhecimento de maneira autô-
noma. Porém, para isso, necessita de um meio que fomente a interação
entre os outros alunos e de circunstâncias que possibilitem a recons-
trução de concepções e, consequentemente, na elaboração dos próprios
conceitos, que serão confrontados com os paradigmas conceituais anti-
gos. Visto isso, os procedimentos metodológicos atitudinais devem ser
baseados no trabalho da valorização/problematização das experiências
de vida, porque, desse modo, todos os sujeitos podem discutir suas
ideias com os pares e com o professor, favorecendo, dessa maneira, o
desenvolvimento das habilidades de raciocínio, argumentação, além da
necessidade de refletir e respeitar as ideias/compreensões dos demais
alunos.
243
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 243 28/05/2014 17:17:00
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
Buscando um método que colabore com uma postura coerente
quanto ao exercício da cidadania, não é suficiente apresentar conheci-
mentos engessados e fora do contexto moderno. É preciso fazer com
que os alunos tornem-se pessoas capazes de enfrentar situações dife-
rentes dentro de contextos diversificados.
Nesse contexto, o ambiente escolar deve ser imbuído do sen-
timento pautado na liberdade de expressão do estudante, pois esse
aspecto comunga com o fato de estarmos inseridos num ambiente
democrático, no que diz respeito à responsabilidade das ações autôno-
mas. Conforme, Paulo Freire:
[...] gostaria, mais uma vez, de deixar expresso o quanto apos-
to na liberdade, o quanto me parece fundamental que ela se
exercite assumindo decisões. A liberdade sem limite é tão ne-
gada quanto à liberdade asfixiada ou castrada (FREIRE, 1996,
p.103).
Paulo Freire acrescenta que o exercício da liberdade de decidir,
por meio das inúmeras experiências, no que diz respeito às escolhas,
é essencial à construção da autonomia. O ambiente de ensino pode
convergir para propiciar experiências estimuladoras da decisão e da
responsabilidade.
A didática, baseada em situações do cotidiano, está de acordo
com os modos de como o ser humano constroi seu próprio conheci-
mento e com os aspectos políticos do exercício de vida em sociedade,
em função da busca da consolidação e ampliação da atividade cidadã
emancipatória.
2. NARRATIVAS DO COTIDIANO NO CONTEXTO ESCOLAR
As operações de uso dos sujeitos das escolas, em relação aos
currículos oficiais, e as maneiras de marcar, social e politicamente, os
desvios nesses usos constituem, para Certeau (1994), redes de anti-
disciplinas que expressam diferentes modos de pensar, investidos de
diferentes modos de agir e que, ao mesmo tempo, criam, fabricam,
reproduzem, negociam, enfim, tecem conhecimentos (cf. Ferraço,
2012). Para Ferraço (2012) é preciso que se discuta a importância de se
244
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 244 28/05/2014 17:17:00
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
pensar epistemologicamente o cotidiano, considerando a indissociabili-
dade entre os campos político e epistemológico. Nesse sentido, Oliveira
(2008) observa,
Isso significa que, se desejamos trabalhar por e reconhecer as
experiências de emancipação social, precisamos associá‐las à
crítica e à possível formulação de novas premissas epistemoló-
gicas que incorporem a validade e a legitimidade de diferentes
saberes, práticas e modos de estar no mundo, superando a hie-
rarquização, hoje dominante, entre uns e outros e viabilizando
processos interativos entre os diferentes que não os tornem de-
siguais (OLIVEIRA, 2008, p. 68).
Segundo Larrosa (1994), a formação de cada sujeito é perme-
ada pelas histórias de vida, pelas relações sociais que significam e for-
mam, a cada instante, um pedaço da história de cada um:
[...] O sentido do que somos depende das histórias que contamos
a nós mesmos [...], em particular das construções narrativas nas
quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador
e o personagem principal [...]. Talvez, os homens não sejamos
outra coisa que um modo particular de contarmos o que somos
(LARROSA, 1994, p. 43).
Larrosa acrescenta que o conhecimento sempre é partilhado,
cada indivíduo se forma no mundo e pelo mundo, no qual um indivíduo
forma ao outro. Sobre essa Máxima, Paulo Freire já havia tecido suas
considerações. No ambiente escolar, a narrativa reflexiva possibilita,
além de contar a experiência vivida, adentrar nas situações e refletir
sobre elas, compreendendo a si e ao outro, no diálogo constante entre
as situações/teorias/novos aprendizados carregados pela bagagem de
vivência de cada sujeito, de cada professor que possui um repertório
de experiências vividas, que são ressignificadas e que formam parte
daquilo que acredita/desenvolve/problematiza no cotidiano da escola.
Seguindo essa perspectiva, Lacerda observa,
Contar o que se faz, no âmbito educativo, é a forma simples e
autêntica de devolver ao outro aquilo que só é possível existir de
modo compartilhado. O ato educativo, por si só, atitude e postu-
ra diante da vida, precisa ser narrado, repartido, transformado
em estórias de se contar. Aprende quem conta, quem escuta,
quem escreve, quem lê. Aprendem todos os que sabem o valor
245
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 245 28/05/2014 17:17:00
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
de restituir ao outro um saber que não resulta de pertencimen-
tos ou apropriações, mas de envolvimento. A prática educativa
passa a ser, assim, um desdobramento da prática da vida em
sua cotidianidade, nos afetos que provoca, no entendimento das
coisas que nos tocam (LACERDA, 2009, p. 11).
Nessa perspectiva, de acordo com Santos Reis (2012), as nar-
rativas, por serem práticas espontâneas, se classificam na denomina-
ção de conhecimento prazeroso e vivo, encontrado pelo “currículo
em ação”, em que o ensino não está pautado somente no que é ins-
titucionalmente prescrito pela escola, mas que se constrói de acordo
com situações típicas e contraditórias da escola, como mostra o olhar
de Geraldi (1994, p.117) em relação ao “currículo em ação”: conjunto
das aprendizagens vivenciadas pelos alunos, planejadas ou não pela
escola, dentro ou fora da aula e da escola, mas sob a responsabilidade
desta, ao longo de sua trajetória escolar.
3. MUITAS NARRATIVAS, MUITAS CONSTITUIÇÕES...
Observando a narrativa como um espaço de encontro entre o
professor, os alunos, a escola e o seu contexto, há o diálogo entre os
diferentes olhares, escutas, sensibilidades apreendidas no cotidiano da
escola e que revelam a tessitura do processo educativo. Nessa troca, a
narrativa não apenas fornece a possibilidade de apresentar-se a si e ao
outro, mas se instala como também formadora do processo de vivên-
cia. O professor, autor de suas narrativas e mediador das narrativas
dos outros: saberes e experiências de vidas trazidas para o ambiente
escolar, interage e concebe a interlocução entre a polifonia das vozes
desses personagens em busca de possibilitar a reiteração de sentidos e
significados. Nesse aspecto, Santos Reis (2012) nos indica,
Reiterada a significação de tais sentidos, permite-se elucidar
o professor reflexivo como aquele que problematiza, reflete e
dialoga sobre sua prática, suas teorias e todo o seu contexto de
vivência. Com a reflexão, permite o desabrochar de novas práti-
cas, questionamentos, teorias, olhares, escutas e sensibilidades
ao ato educativo (SANTOS REIS, p. 9 2012).
246
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 246 28/05/2014 17:17:00
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
Assim, o professor busca apontamentos relativos ao processo
de ensino e reflexões sobre sua trajetória na escola, o que possibilita
o acesso a indicadores da dinâmica relacional vivida e do processo de
apropriação e de reinvenção (CERTEAU, 2003) das práticas de ensino
e dos sentidos dessa atuação, bem como tenta estabelecer relações e
diálogos em relação às vivências produzidas neste espaço/tempo (cf.
SANTOS REIS 2012).
A constituição de cada indivíduo forma-se pelas muitas partes
de experiências e conhecimentos que são agregados ao longo de sua
vivência. A escola deve abrir espaço para que sejam postas em cena, a
cada momento de atuação, a partilha de saberes, de reflexões e de olha-
res em relação ao mundo, as histórias de vida, os estar no mundo de
cada um; o ambiente da sala de aula não pode se fazer alheio ao diálogo
coletivo dos muitos sujeitos que se formam e são formados uns pelos
outros. Nesse sentido, Michel de Certeau (1994) observa
Para explicitar a relação da teoria com os procedimentos dos
quais é feito com aqueles que aborda, oferece-se uma ‘possibi-
lidade’: um discurso em histórias. A narrativização das práticas
seria uma ‘maneira de fazer’ textual, com seus procedimentos
e táticas próprios. A partir de Marx e Freud (para não remon-
tar mais acima), não faltam exemplos autorizados. Foucault de-
clara, aliás, que está escrevendo apenas histórias ou ‘relatos’.
Por seu lado, Bourdieu toma relatos como a vanguarda e a re-
ferência de seu sistema. [...] Não seria necessário reconhecer a
legitimidade ‘científica’, supondo que em vez de ser um resto
ineliminável ou, ainda, a eliminar do discurso, a narratividade
tem ali uma função necessária, e supondo que ‘uma teoria do
relato é indissociável de uma teoria das práticas’, como a sua
condição, ao mesmo tempo, que sua produção? [...] Isto seria,
sobretudo, restituir importância ‘científica’ ao gesto tradicio-
nal (é também uma gesta) que sempre ‘narra’ as práticas. Neste
caso, o conto popular fornece ao discurso científico um modelo,
e não somente objetos textuais a tratar. Não tem mais o estatuto
de um documento que não sabe o que diz, citado à frente de e
pela análise que o sabe. Pelo contrário, é um ‘saber-dizer’ exa-
tamente ajustado a seu objeto e, a este título, não mais o outro
do saber, mas uma variante do discurso que sabe e uma autori-
dade em matéria de teoria (p. 152/153).
247
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 247 28/05/2014 17:17:00
Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe ao professor estimular o desenvolvimento de um pensa-
mento conceitual, crítico, para que o aluno se sinta integrado em um
mundo que exige participação efetiva e consciente diante dos inúmeros
desafios e acontecimentos que fazem parte do seu cotidiano.
As narrativas na sala de aula podem estimular o desenvolvi-
mento de habilidades de observar, pensar e criar conceitos; podem ser
a base consistente para a aquisição de conhecimentos indispensáveis
ao pleno exercício da cidadania. O aluno deve, assim, ser orientado a
entender que não poderá se distanciar da reflexão para as atividades
que o levem a exercitar uma atitude protagonista socialmente.
Seguindo tais orientações, podemos pensar numa mediação
junto aos jovens das escolas da educação básica, através de atividades
que propiciem oportunidades de observar, pensar, refletir e criar con-
ceitos sobre o seu dia a dia, levantando problemas vivenciados em suas
experiências. Isso poderá levar os alunos a assumirem uma postura de
amadurecimento intelectual, de autonomia, a fim de que possam com-
preender o mundo, posicionar-se, de modo emancipatório, diante dele
e transformá-lo.
REFERÊNCIAS
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: Artes de fazer. 9 ed.
Petrópolis: Vozes, 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática edu-
cativa. 30 Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FERRAÇO, Carlos Eduardo. Currículos, cotidianos e culturas em narrativas
e imagens. ESPAÇO DO CURRÍCULO, v. 4, nº 2, pp.138-148, Setembro de
2011 a março de 2012.
LACERDA, Mitsi Pinheiro de. (Org.). A escrita inscrita na formação do
docente.: Rio de Janeiro: Rovelle, 2009.
LARROSA, J. Tecnologias do eu e educação. In: SILVA, T. T. (Org.). O sujeito
da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p.35-85.
248
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 248 28/05/2014 17:17:00
Práticas discursivas e ensino de língua(gem)
OLIVEIRA, Inés Barbosa; ALVES, Nilda (Org.). Pesquisa no/do cotidiano
das escolas: sobre redes de Saberes. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
SANTOS REIS, Marciene Aparecida. Professores iniciantes: narrativa como
experiência de constituição no cotidiano da escolar. IX ANPED SUL, 2012.
249
PRATICAS DISCURSIVAS_FINAL.indd 249 28/05/2014 17:17:00
Você também pode gostar
- Ensino de Libras a Crianças Ouvintes como Segunda Língua e Fator Possível de Inclusão SocialNo EverandEnsino de Libras a Crianças Ouvintes como Segunda Língua e Fator Possível de Inclusão SocialAinda não há avaliações
- Ensino e Formação de Professores de Línguas Estrangeiras para Crianças no BrasilNo EverandEnsino e Formação de Professores de Línguas Estrangeiras para Crianças no BrasilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O professor de língua inglesa: novos rumos para o curso de licenciaturaNo EverandO professor de língua inglesa: novos rumos para o curso de licenciaturaAinda não há avaliações
- William Sargant Luta Pela Mente PDFDocumento134 páginasWilliam Sargant Luta Pela Mente PDFElcimarjorgeAinda não há avaliações
- Letras. EstilísticaDocumento44 páginasLetras. EstilísticaEdgley Tavares100% (2)
- Libras (Apostila de Libras Upe)Documento56 páginasLibras (Apostila de Libras Upe)Paula Magno100% (3)
- Laudo de Verificação de Patologias Construtivas Causadas Por Obra LindeiraDocumento21 páginasLaudo de Verificação de Patologias Construtivas Causadas Por Obra LindeiraClarel Da Cruz RietAinda não há avaliações
- Fono EscolarDocumento208 páginasFono EscolarAzazel Oculto100% (2)
- Aula 07 - Manifesto Dos Pioneiros Da Escola NovaDocumento16 páginasAula 07 - Manifesto Dos Pioneiros Da Escola NovaSergio Gaudencio100% (1)
- Da Educação Básica ao Ensino Superior: Reflexões Sobre a Formação de Professores e o Ensino da EscritaNo EverandDa Educação Básica ao Ensino Superior: Reflexões Sobre a Formação de Professores e o Ensino da EscritaAinda não há avaliações
- Livro - LibrasDocumento91 páginasLivro - LibrasJedson PereiraAinda não há avaliações
- Livro Sobre DialeticaDocumento28 páginasLivro Sobre DialeticaMaria Rita GonçalvesAinda não há avaliações
- Língua Brasileira SinaisDocumento349 páginasLíngua Brasileira SinaisClaudio Barros Filho100% (1)
- Diretrizes Curriculares para o CEL - Versão 2021Documento145 páginasDiretrizes Curriculares para o CEL - Versão 2021Natashe LeskovAinda não há avaliações
- Leituras Cartograficas e Interpretações Estatisticas I PDFDocumento312 páginasLeituras Cartograficas e Interpretações Estatisticas I PDFÉrick LimaAinda não há avaliações
- E-Book Formação, Pesquisa e Prática DocenteDocumento239 páginasE-Book Formação, Pesquisa e Prática DocenteSara PinheiroAinda não há avaliações
- UFS - Lingua Portuguesa IDocumento85 páginasUFS - Lingua Portuguesa IAmancio Neto100% (4)
- Aprendizagem Colaborativa Na Formação DocenteDocumento115 páginasAprendizagem Colaborativa Na Formação DocenteAdriane ElisaAinda não há avaliações
- Literatura e Ensino - VOLUME VIIDocumento315 páginasLiteratura e Ensino - VOLUME VIILucrécio Araújo de Sá JúniorAinda não há avaliações
- 13461003122015espanhol Instrumental Aula 1 PDFDocumento12 páginas13461003122015espanhol Instrumental Aula 1 PDFEliara FAinda não há avaliações
- Instrumentação Ensino Biologia IIDocumento190 páginasInstrumentação Ensino Biologia IIDerli LucieneAinda não há avaliações
- Leitura, Interpretação e Produção de TextosDocumento328 páginasLeitura, Interpretação e Produção de TextossecmsbvistaAinda não há avaliações
- E Book Ao Reflexiva No Ensino de Portugus. Agosto.2020 1Documento299 páginasE Book Ao Reflexiva No Ensino de Portugus. Agosto.2020 1Avila CruzAinda não há avaliações
- Caderno Da Política de Ensino Do Recife - EnsinoFundamentalDocumento374 páginasCaderno Da Política de Ensino Do Recife - EnsinoFundamentalGUTEMBERG DOS SANTOS CAVALCANTIAinda não há avaliações
- 17282216022012linguistica Aplicada Ao Ensino Da Lingua Materna Aula 1Documento17 páginas17282216022012linguistica Aplicada Ao Ensino Da Lingua Materna Aula 1Pamella SilvaAinda não há avaliações
- 1168 306 PBDocumento142 páginas1168 306 PBErick OliveiraAinda não há avaliações
- In en QII A10Documento16 páginasIn en QII A10zehejahAinda não há avaliações
- TCF Tatiane Alves Chaves (Fim)Documento75 páginasTCF Tatiane Alves Chaves (Fim)Secretaria de EducaçãoAinda não há avaliações
- AEE No Brasil-Relatos Da Experiência de ProfessoresDocumento176 páginasAEE No Brasil-Relatos Da Experiência de ProfessoresTais MarangonAinda não há avaliações
- Geografia Metodologia Do EnsinoDocumento134 páginasGeografia Metodologia Do EnsinojoyAinda não há avaliações
- Caderno 1Documento26 páginasCaderno 1Helton Mendes de PaivaAinda não há avaliações
- Alfabetização - Conteúdo e FormaDocumento159 páginasAlfabetização - Conteúdo e FormaSandra Braz AyresAinda não há avaliações
- 2015 - Do Texto Ao Contexto Historia, Literatura e EducacaoDocumento264 páginas2015 - Do Texto Ao Contexto Historia, Literatura e EducacaoTatiane AlmeidaAinda não há avaliações
- Curso - ÁfricaDocumento269 páginasCurso - ÁfricatataotuajoAinda não há avaliações
- Mbaraete Anhetegua Mbya ArandúDocumento56 páginasMbaraete Anhetegua Mbya ArandúAndreza GeraldiAinda não há avaliações
- Apostila História Do PRDocumento112 páginasApostila História Do PRManoel Salvador NetoAinda não há avaliações
- Cartilha Biguaçu - 2 - PDF WebDocumento52 páginasCartilha Biguaçu - 2 - PDF WebGustavo Felipe Moreira NevesAinda não há avaliações
- 2019 LeituraematemáticaDocumento198 páginas2019 LeituraematemáticaAngelaRezendeAinda não há avaliações
- Di en Geo A02 MZ GR 291208 PDFDocumento24 páginasDi en Geo A02 MZ GR 291208 PDFcarlosAinda não há avaliações
- AlfabetizandoDocumento62 páginasAlfabetizandoEterninha Araújo100% (1)
- Caderno IV PDFDocumento52 páginasCaderno IV PDFthotAinda não há avaliações
- Estudos em PLE (Um Panorama Da Área)Documento337 páginasEstudos em PLE (Um Panorama Da Área)Flavio PereiraAinda não há avaliações
- Nao Assuncao Responsabilidade - Estevam - 2019Documento150 páginasNao Assuncao Responsabilidade - Estevam - 2019Willian GonçalvesAinda não há avaliações
- Universidade Cruzeiro Do Sul Programa de Pós-Graduação Mestrado em LinguísticaDocumento115 páginasUniversidade Cruzeiro Do Sul Programa de Pós-Graduação Mestrado em LinguísticaIvana OliveiraAinda não há avaliações
- Compreensao de Texto Escrito em Lingua Inglesa I Aula 1Documento19 páginasCompreensao de Texto Escrito em Lingua Inglesa I Aula 1telmacastro191333Ainda não há avaliações
- Anais Do II Colóquio de Letramento Linguagem e EnsinoDocumento370 páginasAnais Do II Colóquio de Letramento Linguagem e EnsinoJorge Viana de MoraesAinda não há avaliações
- Letramentoeducaçãoescolar Pereira 2019Documento173 páginasLetramentoeducaçãoescolar Pereira 2019cleyton lopesAinda não há avaliações
- Concepções Alternativas Dos Estudantes PDFDocumento16 páginasConcepções Alternativas Dos Estudantes PDFFlaviaSouzaAinda não há avaliações
- Prática de Ensino IV - Didatica GeralDocumento52 páginasPrática de Ensino IV - Didatica GeralfalastraoAinda não há avaliações
- Caderno - de - Resumos - Encontro de Egressos - 2021 - UFCATDocumento113 páginasCaderno - de - Resumos - Encontro de Egressos - 2021 - UFCATNathan Bastos de SouzaAinda não há avaliações
- LIVRO Saberes Docentes e Prat - Form - ProfessoresDocumento120 páginasLIVRO Saberes Docentes e Prat - Form - ProfessoresBruna CaroliniAinda não há avaliações
- CarlotabotoDocumento253 páginasCarlotabotolilianstaAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos - Viii PlerjDocumento82 páginasCaderno de Resumos - Viii PlerjAndre Aguiar100% (1)
- Política Nacional de Educação InclusivaDocumento240 páginasPolítica Nacional de Educação Inclusivadenise neivaAinda não há avaliações
- 7º Ano Caderno 4Documento108 páginas7º Ano Caderno 4cirleide nascimentoAinda não há avaliações
- Anais X Edicao Quintas Academicas 2020Documento330 páginasAnais X Edicao Quintas Academicas 2020Raiza CanutaAinda não há avaliações
- Eliana Menossi Da Silva FlorianoDocumento240 páginasEliana Menossi Da Silva FlorianoYkaro FelipheAinda não há avaliações
- Tese M.catarinaP - Repoles 2019Documento227 páginasTese M.catarinaP - Repoles 2019carlos mendesAinda não há avaliações
- Livro Linguagens Educares DiscursosDocumento356 páginasLivro Linguagens Educares DiscursosRaquel CostaAinda não há avaliações
- 20 SEMID 6 Resumo ExpandidoDocumento5 páginas20 SEMID 6 Resumo ExpandidoValdenice PrazeresAinda não há avaliações
- 02 COSTA-VAL VIEIRA 2005 Lingua Texto InteracaoDocumento46 páginas02 COSTA-VAL VIEIRA 2005 Lingua Texto InteracaoMarco MachadoAinda não há avaliações
- Instrumentacao para o Ensino de Quimica II Aula 01 646Documento16 páginasInstrumentacao para o Ensino de Quimica II Aula 01 646Graviola KarenAinda não há avaliações
- Métodos de PesquisaDocumento120 páginasMétodos de PesquisaIzenete NobreAinda não há avaliações
- Projecto Armando - 1Documento25 páginasProjecto Armando - 1helton chicoteAinda não há avaliações
- Discutindo Natureza Da Ciência A Partir Do Esquema de Toulmin: Contribuições para o Ensino de FísicaDocumento9 páginasDiscutindo Natureza Da Ciência A Partir Do Esquema de Toulmin: Contribuições para o Ensino de FísicaLuanna Silva de Pires Campos AlvesAinda não há avaliações
- Afetividade - WallonDocumento15 páginasAfetividade - WallonrevertiluanaAinda não há avaliações
- Mario de Andrade NegroDocumento16 páginasMario de Andrade NegroliviapjAinda não há avaliações
- Protótipo Educacional para Atividades Experimentais de Mecânica Dos SólidosDocumento8 páginasProtótipo Educacional para Atividades Experimentais de Mecânica Dos SólidosBeatriz BrielAinda não há avaliações
- Afetos Políticos - Um Estudo Sobre o Debate NMDocumento51 páginasAfetos Políticos - Um Estudo Sobre o Debate NMtaffarel fernandesAinda não há avaliações
- A Educação Dos Meninos Desvalidos Da AmazoniaDocumento453 páginasA Educação Dos Meninos Desvalidos Da AmazoniaTarcisio NormandoAinda não há avaliações
- A Ciência Cidadã Pode Melhorar A Compreensão Pública Da CiênciaDocumento15 páginasA Ciência Cidadã Pode Melhorar A Compreensão Pública Da Ciênciajerreluna.ptAinda não há avaliações
- Caosgrafia Do Amor DocenteDocumento249 páginasCaosgrafia Do Amor DocenteEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- ADOLFO LUTZ Benchimol-9788575412381 PDFDocumento389 páginasADOLFO LUTZ Benchimol-9788575412381 PDFRenata AmaralAinda não há avaliações
- Artigo Dasein AnaliseDocumento13 páginasArtigo Dasein AnaliseMarcela SeixasAinda não há avaliações
- FICHAMENTO 1 - A Dinâmica de GrupoDocumento4 páginasFICHAMENTO 1 - A Dinâmica de GrupoGiovanna de Souza QuaglioAinda não há avaliações
- Modelo TCC 3Documento15 páginasModelo TCC 3mylena fernandesAinda não há avaliações
- A Experiência Participativa No Amapá: Análise Do Plano Diretor de Laranjal Do JariDocumento13 páginasA Experiência Participativa No Amapá: Análise Do Plano Diretor de Laranjal Do Jarigttoledo25990Ainda não há avaliações
- Metodologias Ativas de Aprendizagem No Ensino de Ciências - Práticas Pedagógicas e Autonomia DiscenteDocumento4 páginasMetodologias Ativas de Aprendizagem No Ensino de Ciências - Práticas Pedagógicas e Autonomia DiscenteVera LucyaAinda não há avaliações
- 3621dissertacao Leandro GamificacaoDocumento105 páginas3621dissertacao Leandro GamificacaoAdilson SantosAinda não há avaliações
- Etnografando A Red de Ananse': Política, Pesquisa e Espiritualidade Afro-Colombianas.Documento150 páginasEtnografando A Red de Ananse': Política, Pesquisa e Espiritualidade Afro-Colombianas.María RossiAinda não há avaliações
- Cópia de 03 - O Legado de Paul B. Baltes À Psicologia Do Desenvolvimento e Do EnvelhecimentoDocumento18 páginasCópia de 03 - O Legado de Paul B. Baltes À Psicologia Do Desenvolvimento e Do EnvelhecimentoPaula RochaAinda não há avaliações
- Daniel Raviolo 2010 - Guia Do Jornal EscolarDocumento38 páginasDaniel Raviolo 2010 - Guia Do Jornal Escolarluiz carvalhoAinda não há avaliações
- Bem Vindo Ao Sistema Online de Ensino Da DisciplinaDocumento51 páginasBem Vindo Ao Sistema Online de Ensino Da DisciplinaEdição Dna3 PublicidadeAinda não há avaliações
- Edital de Credenciamento para Pareceristas 2015-2016Documento13 páginasEdital de Credenciamento para Pareceristas 2015-2016Thiago EngelsAinda não há avaliações
- Projeto Dia Do Soldado Educ Inf e Fund 1Documento14 páginasProjeto Dia Do Soldado Educ Inf e Fund 1Luciana Moreira de AraujoAinda não há avaliações
- Mic Ii-1Documento12 páginasMic Ii-1Stélio MucavelAinda não há avaliações
- Fabulas Da Modernidade No Acre - Sergio RobertoDocumento136 páginasFabulas Da Modernidade No Acre - Sergio RobertoJanainasouzasilvaAinda não há avaliações
- Arquivo Nacional - 2006 - NceDocumento15 páginasArquivo Nacional - 2006 - NceMaria Rosa SilvaAinda não há avaliações
- Projeto Pedagógico Psicologia UnivasfDocumento93 páginasProjeto Pedagógico Psicologia UnivasfGustavo OliveiraAinda não há avaliações