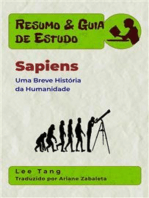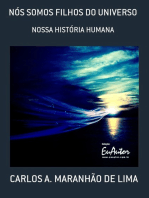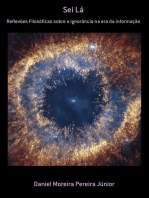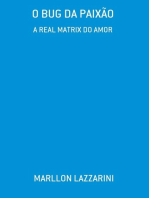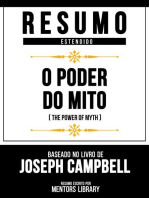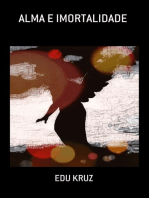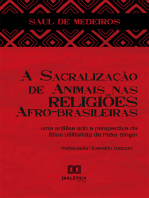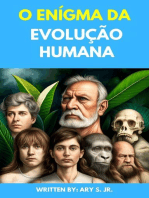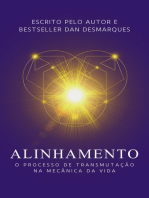Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sobre A Natureza e A Crise Da Moralidade
Enviado por
Rick Rocker0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
22 visualizações170 páginasTítulo original
Sobre a Natureza e a Crise Da Moralidade
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
22 visualizações170 páginasSobre A Natureza e A Crise Da Moralidade
Enviado por
Rick RockerDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 170
SOBRE A
NATUREZA E A
CRISE DA
MORALIDADE
por Alessandro Loiola
Copyright © 2019 ManhoodBrasil
www.manhoodbrasil.com.br
Sobre a obra:
O que é Moralidade? Como determinamos o que é Bom e
Correto? Ter convicções Morais é uma exclusividade da espécie
humana? Existe uma Moralidade superior às demais? Por que
falhamos em seguir nossas próprias diretrizes éticas? Será que
algum dia conseguiremos desenvolver um sistema Moral
perfeito?
“SOBRE A NATUREZA E A CRISE DA MORALIDADE”,
lançamento exclusivo de ManhoodBrasil Edições, reúne os 5
volumes da série Moralidade escritos pelo médico e filósofo
capixaba Alessandro Loiola. Esta é uma leitura essencial para
professores, religiosos, formadores de opinião, influenciadores
digitais, amantes de filosofia e livres pensadores com interesse e
coragem suficiente para aprofundar-se em estudos sérios sobre as
raízes da Ética e da Moral.
Caso tenha interesse em conhecer outros conteúdos produzidos
por ManhoodBrasil, teremos grande prazer em receber sua visita:
Site: www.manhoodbrasil.com.br
Facebook: https://web.facebook.com/manhoodbrasil/
Instagram: https://www.instagram.com/manhoodbrasil/
Para contato com o autor:
Email: alessandroloiola@gmail.com
Facebook: https://web.facebook.com/alessandro.loiola.9
Índice Geral:
PARTE I – MORALIDADADE: o que é, como funciona e
de onde vem?
PARTE II – O REALISMO MORAL
PARTE III – O CETICISMO MORAL
PARTE IV – O RELATIVISMO MORAL
PARTE V – A CRISE DA MORALIDADE
PARTE I
MORALIDADE:
o que é, de onde vem
e como funciona?
O que é Moralidade? Como determinamos o que é Bom e
Correto? Ter convicções Morais é uma exclusividade da espécie
humana? Existem verdades Morais superiores às outras? Se
positivo, então como identificá-las?
Índice deste Capítulo:
1.1. Introdução da Parte I
1.2. Definindo Moralidade
1.3. As Bases Biológicas
1.4. Animais e Bebês
1.5. Razão versus Instintos
1.6. O Papel da Seleção Natural
1.7. Em busca do Bom e Correto
1.8. Os Julgamentos Morais
1.9. Sob a Jurisdição da Empatia
1.10. O Papel da Impulsividade
1.11. Conclusão da Parte I: um Alerta Sobre o Cérebro
Humano
1.1. INTRODUÇÃO DA PARTE I
Após décadas trabalhando em diversas áreas da medicina e
tendo participado da vida de milhares de pacientes, senti que
algo parece não estar dando muito certo com nossa espécie – ou
está dando certo de um modo que, à primeira vista, parece um
ledo engano. Talvez até você tenha percebido isso: é como se o
mundo estivesse virando de ponta cabeça. Os níveis de ansiedade
ultrapassaram a estratosfera, os discursos de vitimização
colonizaram nossas interações e a tolerância está cada vez mais
em palavras e menos em atitudes.
Se realmente estamos sofrendo algum tipo de inversão dos
polos socioculturais, de onde esse desajuste teria se originado?
Recapitulando na pilha dos indícios, concluí que o problema – se
podemos chamá-lo de problema – fundamenta-se na
Moralidade.
A atribulação Moral que nos aflige não decorreu apenas de
ecos da Razão do Iluminismo, ou do Ceticismo de Nietzsche, ou
do Relativismo de Foucault e Derrida, ou do Niilismo difuso da
Pós-Modernidade. Ela remonta a tempos ancestrais: esta
tempestade nos persegue desde a transição do Paleolítico para o
Neolítico, e hoje sentimos na pele cada um de seus raios.
Qualquer sociedade precisa de algum tipo de Moralidade
para sobreviver. Sem este recurso, descambaríamos para o caos e,
eventualmente, para a extinção, pois os humanos sofrem desse
desassossego crônico em querer uma voz que lhes diga o que
fazer. Então, durante mais de 300 mil anos, entre a ameaça de
uma fera e o churrasco de outra, degustamos a vida em
grupamentos de caçadores-coletores com 20 a 50 indivíduos.
Levávamos uma dieta bem variada, aperfeiçoávamos nossas
ferramentas de pedra, nossas laringes, nosso vocabulário, nossos
protótipos de arte, nossos ritos funerários e nossos credos
religiosos1,2. Começamos a domesticar os cães e elaborar artefatos
de ossos, aprendemos a utilizar calendários, construímos abrigos
temporários que nos protegiam dos elementos, e aos poucos nos
espalhamos pelo planeta: os primeiros humanos chegaram à
Austrália por volta de 50 mil a.C. Em 45 mil a.C., atingimos o
norte Europa; em 30 mil a.C., o Japão; em 27 mil a.C., a Sibéria;
e em 15 mil a.C. estávamos cruzando a Ponte Terrestre de Bering
em direção às Américas3.
Mais ou menos nessa época, em uma região dos vales dos
grandes rios do Oriente Próximo chamada Crescente Fértil – que
compreende atualmente os estados da Palestina, Israel, Jordânia,
Kuwait, Líbano e Chipre, além de partes da Síria, do Iraque, do
Egito, do sudeste da Turquia e sudoeste do Irã –, alguém teve a
brilhante ideia de não ir mais atrás da caça e das plantas, mas
criá-las por perto. Por volta do final da última Era do Gelo,
enquanto o nível dos oceanos se elevava 100 metros, o
nomadismo Paleolítico encontrou seu fim com a descoberta da
Agricultura – um evento tachado por alguns estudiosos como um
dos maiores equívocos da humanidade4.
O giro de 180 graus no estilo de vida pré-histórico despertou
a necessidade de manter nossos víveres e nossas plantações
protegidos de qualquer outra fome que não fosse a nossa própria
ou de nossos entes e amigos queridos. Inventamos então
cercados para as plantações e cercados para os animais
domesticados, e a inevitabilidade de estar por perto para vigiá-los
nos fez inventar cercados para nós mesmos. A esta coleção de
cercas demos o nome de propriedade. Ao surgimento do hábito
de construí-las para arrimar nosso tenro sedentarismo, demos o
nome de Revolução Agrícola ou Revolução do Neolítico. E isto
ocorreu há 12 mil anos.
Doze mil anos podem parecer uma eternidade a partir da
retina de um único indivíduo, mas, se resumíssemos a história do
Homo sapiens em um período de 24 horas, os cercadinhos que
chamamos de propriedades estariam espremidos nos 60 minutos
mais recentes. Nessa última hora, deixamos de partir pedras e
passamos a poli-las. Desenvolvemos cerâmicas, metais,
arquiteturas, tecnologias, sistemas cooperativos de trabalho;
aumentamos nossos assentamentos para grupos com várias
centenas ou milhares indivíduos, e celebramos nossos progressos
com cidades como Çatal Hüyük, Ur e Jericó. Entretanto, a cola
que nos aglutinava – os princípios ancestrais de Moralidade
encastoados em nossos genes por milênios de imponentes
pressões evolucionárias durante todo o Paleolítico – não foi capaz
de avançar no mesmo ritmo.
Assim como ocorreu com nossos corpos, que permaneceram
os mesmos desde o desenlace da Idade da Pedra Lascada, os
mecanismos de elaboração e adoção da Moral foram atropelados
pelo progresso que fabricamos. Habitamos agora um mundo dito
civilizado que construímos fora de sincronia com os animais que
fomos desde sempre. Os dogmas que mantinham a harmonia nos
pequenos bandos de caçadores-coletores não conseguem mais ser
aplicados ao orbe de 7 bilhões de vontades, cérebros e crenças
que povoam o globo terrestre.
Sim, nosso problema está na Moralidade, e seu vetor de
transmissão primária é a Ignorância: a falta de conhecimento do
que é Moralidade permite que sejamos manipulados como
cobaias de laboratório ante as marés culturais e as convicções de
condicionamento pavloviano apresentadas desde a infância.
Caminhamos agora atordoados por entre fragmentos de valores e
sussurros de nossa ética Paleolítica, que não encontram mais
aplicação entre os cercados que engendramos.
Compreender a Moralidade, sua natureza intrínseca e as
nuances externas de sua crise é a saída mais inteligente para
evitar a consumação de nossa ruína ou, pelo menos, acalmar
qualquer expectativa angustiante acerca das nuvens de
tempestade que se apresentam no horizonte. Mais uma vez,
apenas o Conhecimento oferece uma chance honesta de salvação
nessa desordem – e deveríamos nos agarrar a ele enquanto há
tempo.
1.2. DEFININDO MORALIDADE
Existem dezenas de maneiras de definir Moralidade, mas
poderíamos começar dizendo que Moralidade é a tentativa de
determinar um conjunto de códigos universais capazes de
governar nossas atitudes para salvar-nos da selvageria inata de
nossa espécie: se acaso permitíssemos que os humanos
seguissem sua inclinação natural, preocupando-se unicamente
com seu próprio bem-estar, conforto, prazer e a busca pela
felicidade, eles logo descobririam que assassinato, crueldade,
saque, roubo e mentiras podem servir como uma luva aos seus
auto-interesses primitivos.
Nós trapaceamos, traímos, matamos e somos egocêntricos
com o objetivo de manter nosso próprio pool genético vivo5.
Contudo, temos uma área do cérebro bem robusta – o córtex pré-
frontal – de onde tiramos forças para agir contra esses instintos e
fazer escolhas Moralmente melhores, levando à contemporização
das diferenças, à especialização do trabalho e a uma infinidade de
avanços materiais, sociais e culturais.
A palavra Moralidade encontra-se carregada de premissas
sobre padrões sensatos de ação, consciência e identidade,
podendo ser traduzida como sinônimo de ética, princípios,
virtude e bondade. Malgrado todos estes entendimentos, a
compreensão exata do que é Bom e Correto se tornou uma tarefa
difícil no mundo tecnológico, multicultural e hiperconectado que
vivemos.
Do ponto de vista do córtex pré-frontal, a Moralidade é um
construto que demonstra nossa capacidade biológica para
combinar Emoção e Raciocínio, produzindo Empatia – definida
como “um sentimento natural que modera em cada indivíduo a
atividade de seu amor próprio, concorrendo para a mútua
conservação de toda a espécie” por Rousseau60, como “uma vaga
imagem da totalidade de que somos parte e da solidariedade
que nos prende a ela” por Durkheim47, e como “um amor que
afeta um humano de modo que ele se importe como bem de
outrem e sinta-se consternado com o mal de outrem”, por
Spinoza67.
Em um primeiro momento, não é a Razão, mas a emoção que
nos leva a sentir culpa quando agimos de modo imoral; ou raiva
quando alguém age de modo imoral conosco; ou gratidão quando
somos beneficiados pela Moralidade de terceiros. Esta faculdade
de despertar juízos instantâneos poderia sugerir que as emoções
seriam guias confiáveis para a elaboração de códigos Morais, mas
este é um engano colossal: quando as emoções assumem o
comando absoluto de nossos arbítrios, nos tornamos presas
fáceis de nossos auto-interesses ou dos auto-interesses de
terceiro.
Por exemplo: é possível – e até frequente – sentir culpa pelos
motivos errados. Um monge com impulsos sexuais naturais pode
penitenciar-se por reconhecer-se lascivo; uma pessoa infeliz em
seu relacionamento pode desejar terminar tudo, mas evita fazê-
lo, pois se sente presa em um sentimento prévio de remorso pela
possibilidade de causar sofrimento ao outro; um vegetariano
emotivo experimenta culpa por não aceitar que a Vida não é um
lugar inofensivo – afinal, para sobrevivermos, devemos consumir
outros seres vivos, sejam eles vegetais ou não.
A doutrina da culpa é um dispositivo Moralizante que
milhares de religiões, seitas, ideologias e governos souberam
explorar muito bem nos últimos milhares de anos, e sua
percepção nem sempre é insuspeita.
Além das influências dos costumes, das semelhanças que
geram benevolências e do adestramento por um mosaico de
códigos Morais, as emoções humanas também estão sujeitas às
misérias do organismo: retire dos humanos a segurança, a
comida e o abrigo e você verá quão rapidamente nos tornamos
selvagens em nossas urgências e maleáveis em nossa ética66. Por
tudo isso, fiar-se às emoções como parâmetro exclusivo para
calibrar nossas bússolas Morais não é uma atitude prudente.
Se os sentimentos são uma ferramenta ruim para discernir
entre o certo e o errado, então qual seria a fonte de nossa
habilidade em estabelecer o que é Bom e Correto? Foi o
aprimoramento do raciocínio que permitiu atravessar as
ambiguidades das situações mais emocionais, mantendo os
sentimentos sob controle e certificando que a sofisticação de
nossas escolhas representasse a melhor opção concebível. Uma
boa Moralidade deve ser tão racional quanto congruente – e
estritamente emocional apenas no mínimo necessário, como
veremos adiante.
1.3. AS BASES BIOLÓGICAS
A questão de onde se origina a Moralidade humana tem
complicado a vida de filósofos, sociólogos, cientistas e teólogos
desde tempos imemoriais. Esta dúvida foi sendo elucidada aos
pedaços, utilizando conhecimentos oriundos da neurociência, da
genética, da psicologia, da antropologia, da sociologia e de outras
disciplinas. A soma destes entendimentos e a constatação de que
somos animais talhados na bigorna da Seleção Natural
fatalmente conduziu à pergunta: até que ponto as marteladas da
biologia moldaram nossa consciência Moral?
Observando traços comportamentais de outros animais – tais
como o apetite por comida e sexo, as respostas de luta ou fuga, os
vínculos familiares e os padrões de agressão, cooperação e
retribuição –, fica claro que estas ações podem ser explicadas
como adaptações biológicas, atributos organogenéticos que
evoluíram por meio da Seleção Natural e se perpetuaram devido
suas vantagens evidentes para a sobrevivência. Não parece ilógico
presumir que a Moralidade humana encontra-se submetida a
estas mesmas forças.
John Broadus Watson, fundador do behaviorismo, e Burrhus
Frederic Skinner, o seguidor mais radical desta filosofia,
consideravam a Moralidade como um comportamento
socialmente condicionado: dentro de um determinado jogo de
reforços positivos e negativos, qualquer pessoa poderia ser
conduzida a julgar qualquer coisa como sendo Boa e Correta29,30.
Os trabalhos do psicólogo Jonathan Haidt27 também
destacaram o papel sociocultural na elaboração da Moralidade.
De acordo com Haidt, as crenças Morais podem ser divididas em
uma série de subdomínios (que ele denomina fundamentos), tais
como aversão ao dano, justiça, respeito à autoridade, lealdade,
tradição, liberdade e pureza. As diferenças de dogmas entre
diferentes culturas refletem divergências na ênfase destes
fundamentos: sociedades industrializadas, por exemplo, parecem
enfatizar quase o fundamento de aversão ao dano e justiça acima
de todos os demais. Mas os condicionantes sociológicos não
parecem ser suficientes para explicar toda nossa Moralidade.
Ao contrário do proposto por Haidt, Skinner e Watson, para
o entomologista Edward Osborne Wilson a Moralidade humana
seria biologicamente determinada, sendo a cultura, as tradições
e os axiomas sociais meras consequências dessas influências
fisiológicas28. De acordo com Wilson, a Moralidade surgiu como
uma extensão dos sistemas biológicos ligados ao reconhecimento
e cuidado de parceiros sexuais e da prole. Estes circuitos,
embutidos em nosso genoma e programados em nossos cérebros,
associaram-se à capacidade de prever as consequências futuras
de nossas ações, permitindo-nos fazer escolhas para maximizar
tanto os ganhos de curto prazo quanto os de longo prazo6.
Mas… se Wilson está errado e Watson, Skinner e Haidt estão
certos, e a Moralidade é peculiar de cada cultura e sociedade,
então por que sentimos como se ela fosse universal? Isso ocorre
porque a consciência e o julgamento Moral emergem de conexões
neurais primitivas associadas à emoção. Princípios como
empatia, confiança e lealdade atuam na promoção deste
resultado, ligando-se a circuitos que percebemos na forma de
felicidade ou prazer. Princípios Morais como desprezo,
derrotismo e traição atuam sabotando a sobrevivência, ligando-se
a circuitos que percebemos na forma de dor ou desconforto.
Nosso aspecto social não é somente uma particularidade da
espécie. Ele é, antes de tudo, uma necessidade. Fisicamente,
somos animais frágeis e indefesos. Para perdurar, não podemos
contar com nossas presas, garras, faro, visão e velocidade:
precisamos contar acima de tudo uns com os outros. Isso fez com
que a Moralidade evoluísse a partir de sistemas ligados à
limitação e ao controle do comportamento, protegendo e
fomentando a coexistência.
A despeito do que postulam os partidários da Moral
socialmente construída, considero que entomólogo Wilson
aproximou-se mais da Verdade substantiva em sua dedução: a
inteligência humana biológica é de fato suficiente para
desenvolver a Moralidade, explicando com destreza a enorme
similaridade dos dogmas éticos em diferentes culturas7. Até
mesmo a maneira que inventamos deuses ajustados às nossas
expectativas éticas pode ser explicada de um modo biológico,
sugerindo que as convicções Morais são bem mais concretas do
que supúnhamos, fundando-se em genes e outras entidades
naturais, não em mensagens abstratas enviadas de algum reino
espiritual subjetivo8.
Para Sam Harris, filósofo evolucionista e PhD em
neurociência pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, o
discernimento do que é Bom e Correto pode perfeitamente
derivar da biologia, sem qualquer necessidade de apelar para
misticismos do além9. Mais ou menos como Wilson, Harris
afirma que as pressões biológicas e evolutivas explicariam porque
restrições Morais a assassinatos, adultérios, roubos e mentiras
seriam consideradas ruins e proibidas em praticamente todas as
sociedades, pois estes são comportamentos que tendem a
desestabilizar a coesão dos grupos. Uma vez estabelecido o
benefício dessas convicções, a Seleção Natural faria o restante do
serviço, disseminando a notícia – com ou sem o envolvimento de
deuses.
1.4. ANIMAIS E BEBÊS
Apesar de emoções, vontades e desejos serem vitais para a
sobrevivência e reprodução de todos os mamíferos – e quiçá de
aves e repteis –, a maioria de nós considera os animais não-
humanos inferiores. Isso decorre do fato de boa parte de nossas
tradições culturais terem sido criadas milhares de anos após o
fim do Paleolítico, durante um período em que a sedutora
narrativa teísta Abraâmica posicionou o Homo sapiens como
centro de tudo que há no Cosmos31. Mas existiria alguma
justificativa para a ideia de que a Moralidade é uma qualidade
exclusivamente humana?
Diferentes características especiesistas foram propostas –
tais como estreitamento de laços familiares, solução de
problemas sociais, apreciação pela justiça, repulsa pela traição,
desejo de punição dos culpados, expressão de emoções, guerrear,
fazer sexo por prazer, utilização da linguagem e habilidade de
pensar de modo abstrato, entre outras –, mas nenhuma delas
mostrou um grau suficiente de peculiaridade para justificar a
alegação de que apenas os humanos possuem Moral. As
capacidades que poderíamos listar para declarar os humanos
seres Moralmente superiores foram observadas e descritas –
ainda que de forma menos elaborada – em diversos animais não-
humanos.
Por exemplo: a expressão de arrependimento nos olhos de
um cachorro é uma prova quase incontestável de que ele sabe que
aprontou algo errado – e ser capaz de reconhecer o que é Bom e
Correto seria básico para dizer se há uma Moralidade na mente
do cachorro ou não.
Os mais céticos poderiam afirmar que aquilo que
interpretamos no cachorro como um sentimento de culpa não
representaria uma Moralidade ipso facto, mas um despretensioso
medo de antecipação: com o convívio e a incrível capacidade de
transmissão de informações presentes na linguagem corporal,
seu fiel amigo de estimação percebe que será punido de alguma
forma tão logo você descubra que ele fez algo que você desaprova.
Mas o medo de antecipação não seria uma explicação aplicável
também para a expressão de culpa no rosto de um bebê quando
ele é pego fazendo algo que não devia? Será que existe uma
diferença tão grande assim entre a natureza desta expressão e
aquela do cachorro?
Tanto o cão quanto as crianças parecem compreender que
existem coisas permitidas e proibidas, porém isso não é suficiente
para determinar se ambos possuem qualquer senso de
Moralidade. A distinção, aqui, reside no fato de que você pode
esperar que a criança se torne um adulto autônomo, com um bom
conjunto de valores sobre os quais será capaz de refletir, ao passo
que o cachorro continuará fazendo as cachorradas de sempre. A
expectativa de amadurecimento desta ponderação sobre que é
Bom e Correto é o que separa o bebê do cachorro.
A percepção de exclusividade de nossa Moralidade talvez
resida no fato de ela operar em um modo consciente, enquanto
que nos animais ditos irracionais ela funcionaria de maneira
subconsciente – ou pelo menos assim nossa aspiração
geoantropocêntrica nos condicionou a acreditar. Mas a suposição
de que seu cachorro é uma peste inconsciente não basta para
descartar as esperanças em relação à Moralidade no restante do
reino animal: se considerarmos a Moralidade como um órgão –
como o nariz de um elefante, que assume a forma de uma tromba
enorme –, nosso órgão Moral pode simplesmente apresentar
feições diferentes daquelas de outros animais. E as evidências
sugerem que é bem isto que ocorre.
Os sistemas Morais dos animais não são apenas análogos aos
nossos – ou seja, superficialmente parecidos devido a alguns
poucos fatores coincidentes –, mas homólogos aos nossos: são
similares por possuírem uma origem em comum e expressarem
generosidade, gentileza, gratidão e altruísmo10,11. Em nossas
tentativas de estudar os animais evitando antropomorfizá-los a
todo custo, algumas vezes deixamos de enxergar as profundas
semelhanças que compartilhamos: muitas habilidades cognitivas
superiores não estão limitadas aos humanos, e temos apenas que
educar-nos um pouco mais para descobri-las em outras espécies.
Diversos cientistas avaliando animais em seus ambientes
sociais encontraram provas contundentes de que eles são capazes
de pensar e sentir exatamente como nós. Por exemplo: o
entomologista Nigel Franks descobriu que as formigas podem
ensinar outras formigas por meio do exemplo, demonstrando
uma incrível paciência com seus aprendizes12. O ecologista Marc
Bekoff também demonstrou a maneira como os cérebros dos
mamíferos são programados para fornecer uma cola social que
permite que animais agressivos e competitivos vivam juntos13.
Vejamos sete exemplos coletados por Bekoff:
(1) Lobos: os lobos vivem em grupos sociais coesos e
regulados por normas bem determinadas. Se uma matilha fica
grande demais para ser gerenciada, os líderes impedem que os
membros criem vínculos fortes entre si e o grupo se divide.
Quando brincam uns com os outros, o macho alfa assume uma
posição submissa e permite que membros hierarquicamente
inferiores o mordam – desde que a mordida não seja muito forte.
Quando ocorre de um lobo beta morder o alfa com força
excessiva, o subalterno imediatamente deita de barriga para
cima, pedindo perdão antes de reiniciar a brincadeira. Segundo
Bekoff, sem um código Moral governando suas ações, estes
comportamentos não seriam possíveis.
(2) Coiotes: os jogos dos coiotes são controlados por regras
similares às dos lobos. Os filhotes que brincam mordendo forte
demais costumam ser colocados de lado pelo resto do grupo e,
eventualmente, são exilados – o que significa uma sentença de
morte, uma vez que a taxa de mortalidade fora do bando é cinco
vezes maior que dentro dele.
(3) Elefantes: vídeos e relatos de elefantes ajudando
semelhantes feridos ou doentes – e até mesmo antílopes presos
em armadilhas – oferecem provas encantadoras da capacidade de
compaixão desses animais.
(4) Chimpanzés: nossos primos mais próximos
demonstram condescendência com membros mentalmente
menos capazes em seus grupos, além de possuírem um senso de
justiça que inclui a punição de transgressores.
(5) Macacos Rhesus: indivíduos desta espécie se recusam
a receber alimentos durante semanas quando percebem que
aceitar comida resulta em fazer outro macaco levar um choque
elétrico. Eles preferem passar fome a ver um semelhante sofrer
por suas atitudes.
(6) Roedores: assim como observado em experimentos
com macacos Rhesus, ratos são capazes de recusar alimento
quando sabem que sua ação irá causar dor em outros ratos. Além
disso, eles reagem mais fortemente a estímulos dolorosos após
terem visto outro rato em sofrimento, e são capazes de ajudar
ratos não aparentados, especialmente quando foram beneficiados
pela caridade anteriormente – uma reciprocidade que se
acreditava estar restrita aos primatas.
(7) Baleias: em nível celular, o cérebro das baleias está tão
capacitado para empatia quanto o cérebro dos humanos e de
outros grandes primatas. Os cérebros de algumas espécies
chegam a possuir uma adaptação neste sentido três vezes maior
que a nossa, sem contar que as baleias são bem mais antigas que
os humanos: de acordo com registros fósseis, o primeiro
ancestral do Homo sapiens afastou-se dos Australopitecos há
cerca de 2,3 milhões de anos. O Pakicetus, primeiro ancestral
direto da baleia, surgiu há 50 milhões.
Visto que baleias, lobos, coiotes, elefantes, chimpanzés, e até
mesmo ratos e formigas, conseguem ser éticos, será que os bebês
humanos possuem uma noção inata de Moralidade? Ainda que o
homem não seja naturalmente bom como proposto por
Rousseau, nossa natureza Moral pelo menos parece se inclinar
um pouco mais na direção da bondade ao invés da maldade e da
injustiça.
Domando nossos auto-interesses e todos os possíveis Genes
Egoístas, o córtex pré-frontal e a Razão fizeram um bom trabalho
no desenvolvimento de ideais auto-preservacionistas e
socializantes. Todavia, a dúvida plantada por Skinner, Watson e
Haidt permanece: nossa capacidade de reconhecer o Bom e o
Correto é 100% congênita ou depende da aquisição de valores
culturais?
Crianças bem novas, antes mesmo de aprenderem a falar,
preferem optar por comportamentos que auxiliem ao invés de
comportamentos que criem dificuldades. Ainda que isto não
denote uma Moralidade completamente formada, a observação
sugere que alguns de nossos valores emergem de preferências
inatas.
Pesquisas adicionais confirmaram ainda que os bebês julgam
Moralmente as ações de outras pessoas antes de oferecer auxílio:
em um experimento utilizando brincadeiras com fantoches, os
cientistas verificaram que os bebês escolhiam quem iriam ajudar
e quem reprovariam, mostrando uma clara preferência por
socorrer os personagens bonzinhos e punir os malvados15-17.
Ao contrário do sugerido por Watson, Skinner, Haidt e pela
Tábula Rasa de John Locke, chegamos a este planeta com uma
programação para Moralidade que não advém somente de
urgências culturais externas, mas de demandas internas
hereditárias e cultivadas nos primeiros meses e anos de nossas
vidas. Não é apenas leite que o bebê adquire de sua mãe:
colocado ao seio, ele vai ativando seu DNA Moral enquanto sorve
os primeiros contatos com nutrientes humanos como afinidade,
compaixão e doçura.
Um pouco de ética e senso de justiça nascem junto com
nossos ossos, e esta é uma boa notícia, mas a Moralidade que
começa nos genes não termina neles: a natureza humana encobre
um lado mais sombrio.
Os indícios mostram que até os bebês abordam o mundo com
uma filosofia de nós versus eles – e agem de modo ostensivo para
privilegiar o nós. Neste sentido, quando Thomas Hobbes
escreveu que “o homem é o lobo do próprio homem”, ele estava
mais próximo da verdade que o virginal “bom selvagem” de
Rousseau ou o otimismo empírico, tolerante e liberal de
Locke18,22.
Bebês, como os adultos que eles se tornarão mais tarde, são
seres tribais, e seus genes não expressam pura gentileza: a
hereditariedade oferece uma carga imensa de potencial para o
barbarismo. Favorecemos aqueles que se parecem conosco e
somos frios e desconfiados com estranhos, e apenas utilizando
conscientemente a Razão, a Inteligência e a Vontade nos
tornamos aptos para viabilizar algum equilíbrio à egocêntrica
programação humana.
1.5. RAZÃO VERSUS INSTINTOS
Na década de 1960, o psicólogo Stanley Milgram recrutou 40
homens com idades entre 20 e 50 anos para investigar como
pessoas desconhecidas reagiriam a uma instrução se esta
envolvesse ferir outra pessoa32. Grosso modo, a questão
escrutinada determinaria até que ponto somos superiores a ratos
e macacos Rhesus.
No início do experimento, os recrutados eram apresentados a
outro participante que, na verdade, era um cúmplice de Milgram.
No sorteio para ver qual personagem seria exercida por quem (o
de “aluno” ou o de “professor”), o cúmplice acabava sempre
sendo o “aluno”, e ao recrutado era designada a posição do
“professor”. No local do teste havia também um "pesquisador"
vestido com um jaleco cinza, interpretado por um ator. Após o
sorteio, o “aluno-cúmplice” era amarrado a uma cadeira com
eletrodos e recebia uma lista de pares de palavras que deveriam
ser memorizadas. O “pesquisador” então o testava, falando o
nome de uma palavra e pedindo para o aluno lembrar qual era
seu par de uma lista de quatro possíveis escolhas. Cada vez que o
aluno errava, o “recrutado-professor” era orientado a
administrar-lhe um choque elétrico variando de 15 volts (choque
leve) a 450 volts (choque grave).
Propositalmente, o aluno errava a resposta na maioria das
vezes, recebendo do “recrutado-professor” um choque elétrico
conforme orientado pelo “pesquisador”. Quando o recrutado se
recusava a administrar o choque, o pesquisador repetia uma série
de frases de estímulo para garantir que seguisse em frente. Se a
primeira frase de estímulo não fosse seguida, o pesquisador lia a
segunda frase, e assim por diante.
O Estímulo 1 consistia em dizer “Por favor, continue”; o
Estímulo 2, “O experimento requer que você continue”; o
Estímulo 3, “É absolutamente essencial que você continue”; e o
Estímulo 4, “Você não tem outra escolha a não ser continuar”.
Caso o recrutado se negasse a fazê-lo depois da quarta frase, o
experimento era interrompido. Do contrário, o experimento só
era interrompido ao alcançar a voltagem mais alta.
Todos os recrutados continuaram aplicando choques até 300
volts e 65% continuaram até o nível máximo de 450 volts. Onde
estava a supervalorizada Razão humana durante o Experimento
Milgram?
René Descartes (1596–1650), fundador da filosofia moderna,
foi um matemático criativo e um metafísico de primeira estirpe.
Seus trabalhos deram origem à geometria analítica, e veio dele
também da ideia de um mundo constituído por matéria com
algumas poucas propriedades fundamentais, interagindo
segundo um conjunto de leis universais. Contudo, para o genial
Descartes, os animais não-humanos não passavam de máquinas
sem consciência.
A maioria dos pensadores do Iluminismo também negava
que os animais pudessem ter qualquer forma rudimentar de
Moralidade, uma vez que não possuíam a sofisticação cognitivo-
emocional necessária para tanto. Muitos animais podem ter
comportamentos pró-sociais, mas, como os categorizamos como
destituídos da capacidade de deliberação racional, não os
consideramos criaturas Morais. Em contrapartida, é
surpreendente como podemos ser tão facilmente convencidos da
retidão de caráter de nossa própria espécie47.
Ainda em defesa das criaturas não-humanas, vale dizer que
uma parcela incômoda das pessoas que vive em sociedade apenas
segue seus instintos sem dedicar um minuto sequer de suas vidas
deliberando sobre o significado de Bom e Correto. Se
considerarmos a intelectualização por meio da Razão como a
régua mais adequada para medir a Moralidade, a maioria dos
humanos não passaria nesta aferição tanto quanto a maioria das
criaturas deste planeta. Além disso, a intelectualização excessiva
conduziria à resignação paralítica, à “petrificação mecanizada” de
Max Weber33, ao ceticismo radical, ao niilismo caótico e, na pior
das hipóteses, à relativização de valores importantes para nossa
sobrevivência como sociedade e espécie.
O escocês David Hume terminou de escrever sua obra prima,
o Tratado da Natureza Humana, em 1740, aos 27 anos de idade.
Apesar de considerar-se um cético, Hume havia depositado
grandes esperanças na obra e ficou decepcionado com sua
repercussão, chegando a dizer que “o livro já saiu da gráfica
natimorto”. Profético, antecipou-se ao nosso cenário de
irracionalidades impulsivas escrevendo que “a Razão é e sempre
será uma serva das paixões”14.
Por si mesma, a Razão dificilmente motiva uma ação – ainda
que desempenhe uma função importante em nos ajudar a
descobrir meios de satisfazer nossos desejos. Para Hume, ser
Moral não era apenas uma questão de racionalidade, mas de
estar motivado pelos sentimentos apropriados: “a Razão só
consegue influenciar nossa conduta de duas maneiras:
despertando nossa paixão ou descobrindo uma conexão de
causa-efeito”, escreveu ele14. Em algumas situações, ser Moral
requer que você não exerça qualquer requinte de raciocínio –
apenas aja instintivamente.
Por exemplo: imagine que você está vendo um bebê
engatinhando na direção de uma avenida movimentada. Se,
naquele instante, você parar para refletir acerca de todos os
pormenores de sua ética, testemunhará uma criança sendo
massacrada por um ônibus – e pouco há de Bom e Correto em
agir dessa forma. A pessoa verdadeiramente Moral simplesmente
sairia correndo sem pestanejar e pegaria a criança no colo,
trazendo-a de volta para a segurança da calçada.
Quando heróis do mundo real são entrevistados, eles em
geral dizem que, ao se depararem com uma determinada
situação, não tiveram a opção de agir de outro modo: foram
compelidos a fazer o que fizeram. E agiram corretamente. Por
instinto.
Se a Moralidade mais apropriada pode depender de não
pensarmos muito, então como defender que a única Moralidade
verdadeira deriva da Razão reflexiva e consciente? Segundo o
psicólogo e sociólogo ateniense Platão, “ninguém é justo por sua
vontade: quando cada um julga que lhe é possível cometer
injustiças, comete-as”, pois “o suprassumo da justiça não é
exatamente ser justo, mas parecer justo sem o ser”34,45. Mais de
dois mil anos após a morte de Platão, o famoso Experimento do
Aprisionamento de Stanford ofereceu um exemplo bem
contundente de como o grego estava certo:
Em 1971, uma equipe de pesquisadores da Universidade de
Stanford liderada pelo professor Philip Zimbardo simulou as
condições de uma prisão para investigar o comportamento
humano em uma sociedade na qual os indivíduos são definidos
apenas pelo grupo35. O experimento envolveu 24 participantes
recrutados através de um anúncio de jornal. Após serem
divididos em dois grupos de igual número (“guardas” e
“prisioneiros”), os guardas receberam bastões de madeira,
uniformes de estilo militar e óculos de sol espelhados para evitar
contato visual. Os prisioneiros receberam números em vez de
nomes; roupões ao estilo do oriente médio (sem roupas de
baixo); chinelos de borracha; meias-calças apertadas que
deveriam colocar em suas cabeças para simular que seus cabelos
estivessem raspados; e eram obrigados a usar correntes
amarradas em seus tornozelos.
A “prisão” localizava-se no subsolo do Departamento de
Psicologia de Stanford, readaptado para esse propósito. Um
assistente de pesquisa atuava como o "Diretor" e Zimbardo, o
"Superintendente". Todas as condições e rotinas haviam sido
formatadas para que os “prisioneiros” ficassem desorientados e
despersonalizados. Zimbardo planejava conduzir o experimento
durante duas semanas, mas o crescente grau de sadismo dos
guardas e o surgimento de severos distúrbios emocionais entre os
prisioneiros deixou a experiência fora de controle, levando à sua
conclusão após apenas seis dias de duração.
Justiça deveria significar restituir a cada um o que lhe
convém segundo o que lhe é devido, mas, na prática, o conceito
Moral de justiça foi internalizado como “fazer bem aos amigos e
mal aos inimigos”. A justiça, sejamos sinceros, não é outra coisa
senão essa sublime credulidade para sujeitar o fraco à eterna
conveniência do mais forte – e, em uma sociedade, quem detém a
maior força senão o Estado?
De um lado, justiça consiste em premiar com conveniências e
bondades aqueles que são amigos do Estado – ou do
superintendente, ou do diretor, ou dos guardas, ou de quem
ostente poder. Do outro lado, aqueles que criticam a injustiça da
autoridade não a censuram por recearem praticá-la, mas por
temerem sofrê-la.
Ainda que seja reprovável inferir sofrimento a uma pessoa
inocente em nome do Estado, de um professor ou de quem quer
que seja, o argumento de uma autoridade oferece uma proteção
psicológica para dobrarmos nossa Moralidade até o ponto em que
ela se torna imoral, mas pessoalmente aceitável. Os humanos
tendem a sossegar quando sentem estar agindo com justiça. A
aparência, como a conveniência, tem essa incrível faculdade de
subjugar nossas deliberações.
Muitos daqueles que acreditam que a Moralidade seja
exclusiva dos humanos estão interessados apenas em desculpar
certas práticas que temos com outros animais – ações que
causam dor, desconforto, sofrimento e morte. Estes indivíduos
esperam que, ao nos apropriarmos da Moralidade de um modo
bem particular, garantiremos padrões de consideração com
outros humanos que não serão obrigatórios quando lidarmos
com animais não-humanos.
Gostamos de pensar que somos extremamente evoluídos – o
que de fato somos, em certos aspectos –, mas isso não significa
que os animais à nossa volta não sejam evoluídos ao seu próprio
modo. Levada com seriedade, esta observação – nada
revolucionária tampouco inédita – resultaria em uma
classificação mais humilde de nosso lugar na Natureza. Afinal,
aceitar que animais não-humanos podem tecer e expressar
conceitos éticos significa dizer que estes seres vivos expressam
uma Moralidade que nós, seres ditos superiores e adoradores da
Razão antes dos instintos, deveríamos ter a obrigação de
reconhecer.
1.6. O PAPEL DA SELEÇÃO NATURAL
Charles Darwin pouco sabia dos pormenores da genética de
Mendel, da deriva dos continentes ou da idade de nosso planeta,
mas era um observador atentíssimo e um pensador franco. Em A
Origem das Espécies (1859), Darwin apresentou o resultado de
anos de estudo minucioso e detalhadas pesquisas de campo,
concluindo que todos os seres vivos evoluíram a partir de um
ancestral comum e foram se especializando sob as pressões de
uma competição malthusiana48 – uma dinâmica que ele intitulou
Seleção Natural.
A consequência inevitável da dedução de Darwin significava
tirar o humano do pedestal que antes ocupava. Obviamente, uma
afronta dessas não passaria ilesa, ainda mais em pleno
imperialismo da Era Vitoriana, e durante várias décadas os
ataques à Seleção Natural se sucederam.
O sociólogo Émile Durkheim considerava a Teoria de Darwin
um conceito sugestivo e fértil, mas nem de perto um método,
uma ciência ou um axioma47. Acredito que Durkheim apreciaria
cantar as estrofes de Lulu Santos para dizer que as percepções de
Darwin eram “como uma ideia que existe na cabeça e não tem a
menor obrigação de acontecer”, mas Lulu Santos só gravaria
estas estrofes 75 anos após o velório de Émile49.
Ernst Chain, ganhador do Nobel de Medicina em 1945 pela
descoberta da estrutura da penicilina, foi outro que disse que
preferia acreditar em fadas que em uma especulação parva como
a Teoria da Evolução50.
Em pleno desenrolar do século XXI, vários cientistas seguem
os passos de Durkheim e Chain, mantend0-se céticos quanto às
conclusões de Darwin: em 2001, o Discovery Institute, um think
tank conservador norte-americano conhecido pela sua defesa do
design inteligente, lançou uma lista chamada Dissidência
Científica do Darwinismo (Scientific Dissent From Darwinism),
cujo objetivo era angariar assinaturas de pesquisadores
renomados que discordassem da capacidade de mutações
aleatórias e da Seleção Natural serem responsáveis pela
complexidade da vida. Atualmente, a lista contém mais de 500
assinaturas, incluindo cientistas da Academia Nacional de
Ciência dos EUA, da Rússia e da Hungria, e pesquisadores de
universidades prestigiadas como Yale, Princeton, Stanford, MIT,
Berkeley, UCLA51.
Contra estes dissidentes pesa o fato de que as provas a favor
de Darwin vêm se acumulando em um volume cada vez maior em
campos como anatomia, fisiologia, paleontologia, zoologia e
biologia molecular56-59. Mais recentemente, a incorporação oficial
do Reino do DNA à Teoria de Darwin deu origem à Síntese
Evolutiva Estendida, que adiciona temperos oriundos da
genômica, da herança epigenética, do lamarckismo e da biologia
do desenvolvimento ao extraordinário caldo da Seleção
Natural52,53.
Uma vez aceita sua legitimidade científica, seria de esperar
que o princípio da Seleção Natural resultasse na perpetuação de
comportamentos capazes de minimizar os conflitos e estimular os
laços sociais de uma espécie. A característica hereditária de “coce
minhas costas e então eu coço as suas” pode ser observada
claramente entre os chimpanzés, por exemplo: vínculos fortes
entre os indivíduos em um grupo aumentam as chances de um
prognóstico melhor para cada um desses indivíduos. Mas seres
humanos não são chimpanzés, então negociamos nossos conflitos
não apenas com sessões de cafuné, mas utilizando elaborados
filtros Morais.
Sempre constatamos com perplexidade como homens jovens
se mostram dispostos a ir para a guerra e morrer em nome da
pátria ou algum outro dogma – algo que não faz muito sentido
quando pensamos que a Seleção Natural deveria impulsionar o
indivíduo na direção de seus auto-interesses. A resposta para este
paradoxo foi dada pelo próprio Darwin: se um grupo possuísse
mais indivíduos altruístas que o outro, ele seria capaz de vencer
mais conflitos e impor com mais eficácia sua linhagem
reprodutiva. O grupo com menos altruístas teria menos
sobreviventes, e sua carga genética não seria espalhada de
maneira eficaz. Foi assim que o altruísmo venceu o egocentrismo,
enviando jovens para a guerra.
O método de Darwin para abordar a escolha criteriosa de
nossos valores Morais é um sintoma de seu cientificismo. Esta
tendência intelectual, filha legítima do Positivismo, acompanhou
o raiar do Iluminismo na França no começo do século XIX.
Exalando o hálito das ideias de Augusto Comte e John Stuart
Mill, o cientificismo propunha, entre outras coisas, a existência
de valores Morais essencialmente biológicos, afastando a teologia
e a metafísica da elaboração de nossa Moralidade – algo com que
Edward Osborne Wilson e Sam Harris concordariam.
Os defensores da autoridade indisputável do método
científico foram definidos pelo físico teórico Stephen Barr – um
católico convicto – como “pessoas que acreditam que todas as
questões objetivas importantes podem ser reduzidas a
questionamentos explicáveis por meio da Razão”19. Os críticos
dizem que os adeptos do cientificismo deveriam reconhecer que
os códigos Morais, assim como a beleza, o pensamento, o amor, a
arte e a cultura, não se prestam à abordagem do método
científico. Estes assuntos, segundo eles, deveriam ser poupados
pela ciência sob o risco de perdermos o potencial de nossa
genialidade humana.
Não hesito em dizer que esses críticos parecem não ter
recebido seu devido quinhão de genialidade, e deveriam se
contentar em venerar profecias, almas, santíssimas trindades,
ressurreição de pessoas crucificadas, virgens perpétuas
parturientes, infalibilidade papal, intercessões angelicais,
existência de inferno e paraíso, dia do juízo final e vida eterna –
entre outras especulações verídicas de suas sagacidades
fabulosas.
Em uma carta escrita em 1954, Albert Einstein sumarizou a
questão entre Moralidade, biologia e religião da seguinte
maneira: “A palavra deus, para mim, não é mais que uma
expressão e um produto da fraqueza humana; e a bíblia, uma
honorável coleção de lendas primitivas e infantis... Quanto mais
a evolução espiritual da humanidade avançar, mais certo
parecerá para mim que o caminho da verdadeira religiosidade
não passará pelo medo da vida, pelo medo da morte, ou pela fé
cega, mas pela busca incessante do Conhecimento racional” 20.
Stephen Barr e seus partidários, com suas opiniões nada
favoráveis sobre a alegada arrogância cientificista de Darwin,
provavelmente torceriam os narizes romanescos às palavras do
velho Albert.
1.7. EM BUSCA DO BOM E CORRETO
Será que, algum dia, saberemos – ou pelo menos teremos
alguma razão para acreditar que sabemos – por que alguma coisa
é certa ou errada, boa ou ruim, justa ou injusta, virtuosa ou
maledicente? Quais são os objetivos mais nobres que devemos
perseguir? Como resolver os conflitos entre estes objetivos?
Como uma sociedade justa é organizada? Qual o formato de uma
boa vida humana e como atingi-lo?
Para responder a estas perguntas, seria ideal que
conhecêssemos a Verdade substantiva dos fatos Morais. Isto nos
permitiria definir códigos universais respaldados em um
conhecimento irretocável sobre o que é Bom e Correto.
Na média, as pessoas consideram assassinatos e estupros
comportamentos reprováveis; os filhos adoram suas mães; e as
mães sacrificariam suas vidas para salvar seus filhos, e não
importa se essas pessoas acreditam em deidades, em um ciclo
cármico de purificação da alma ou em um processo evolucionário
cartesiano que vem se arrastando há Eras. Ao final da equação, as
opiniões e as atitudes resultantes são bem parecidas e passam a
impressão que existe uma Verdade substantiva impressa nas
entrelinhas de nossa existência.
Infelizmente, não somos capazes de enxergar esta Verdade
substantiva da mesma maneira como vemos uma parede na
nossa frente; ou senti-la da mesma maneira que sentimos fome
ou sede; ou compreendê-la como compreendemos que todo
quadrúpede tem quatro patas ou que um cavalo morto é um
animal sem vida.
Schopenhauer referiu-se a esta limitação dizendo que jamais
perceberemos a Verdade como ela é, pois tudo que apreendemos
dela traz consigo as marcas indeléveis de nossa própria
subjetividade21. Talvez devêssemos empregar o cientificismo para
descrever esta Verdade e estipular de uma vez por todas o que é
Bom e Correto, mas isso resultaria no risco de fragmentar a vida
humana em uma sequência mecânica de vicissitudes, dissociando
a Moral de qualquer emoção36.
Na falta de um registro lavrado em cartório testificando o
conjunto das Verdades substantivas, ninguém em sã consciência
poderia prometer que agir em concordância com um
determinado código Moral impediria atitudes equivocadas. Ainda
assim, a incapacidade em definir princípios que seriam benéficos
caso fossem seguidos à risca pela humanidade como um todo não
impediu que idealizássemos padrões Descritivos e Normativos
para o que concebemos como Bom e Correto.
Descritivamente, a Moralidade representa os arquétipos de
conduta que utilizamos para ratificar nosso próprio
comportamento. A Moralidade Descritiva é o conceito mais
utilizado por antropólogos, sociólogos, psicólogos evolucionários
e filósofos Pós-Modernos. Ela espelha costumes e tradições,
descrevendo como as coisas são, e por isso pode ser
considerada essencialmente Relativista.
Normativamente, a Moralidade se refere a um código
específico de condutas sobre como as coisas deveriam ser, e
por isso pode ser considerada essencialmente Realista. Esta é a
forma de Moralidade mais empregada por religiões, governos,
legisladores, ideologias políticas e guias de moda. As 282 leis de
Hamurabi encontradas na Mesopotâmia em 1901, as elegias
filosóficas de Sólon, os mandamentos do Deuteronômio, a Ética
de Aristóteles, os Imperativos Categóricos de Kant, o Código
Penal, a Constituição Federal e as regras do futebol de botão
estão todos vinculados à Moralidade Normativa.
Teoricamente, a Moralidade Normativa poderia ser
compreendida por qualquer pessoa inteligente, a despeito de sua
colonização prévia pelo relativismo de uma Moralidade
Descritiva qualquer. Mas o sentido Normativo terminou sendo
chutado para escanteio a partir de meados do século XX, e isso
não é difícil de entender: A Moralidade Descritiva tem a
peculiaridade de se moldar ao dinamismo das relações
interpessoais e ao colorido fértil das certezas suscetíveis. A
Moralidade Normativa, em contrapartida, é uma escrava de seus
postulados.
Por exemplo: segundo o Relativismo da Moralidade
Descritiva, se um indivíduo não pertence a um grupo ou
sociedade, responsabilizá-lo por agir contra a Moralidade vigente
não tem sentido e seu comportamento pode, até certo ponto, ser
tolerado devido à sua ignorância das convenções. Para um
seguidor da Moralidade Normativa, este tipo de comiseração
seria inimaginável.
Para atrapalhar ainda mais a prática Moral, muitos princípios
Descritivos se vestem com roupas Normativas, tentando se
passar por Verdades substantivas descobertas pela Razão ao
invés de meras convenções transitórias – o que de fato são. E
muitos princípios Normativos não passam de convicções
Descritivas apoiadas em meia dúzia de evidências frágeis.
Se o uso excessivo da Moralidade Normativa pode tornar o
sujeito um proselitista chato, a preocupação obsessiva com a
Moralidade Descritiva como um fim em si mesma é um indício da
falência na tentativa de preencher o vácuo deixado pela
incapacidade de assumir responsabilidades, obedecendo à ética
apenas quando esta lhe favorece. Na disputa entre os dois times,
os Descritivos usufruem grande liberdade de espírito, mas
carecem de disciplina; os Normativos têm disciplina, mas estão
presos na proibição de qualquer discordância37.
O que carecemos com urgência são indivíduos que saibam
conciliar a reverência ao poder Normativo ao entendimento da
acepção Descritiva do que é Bom e Correto. Pessoalmente, não
tenho esperança de que isso vá acontecer antes do final da Era
Cenozoica.
1.8. OS JULGAMENTOS MORAIS
Fundados pelo instinto ou pela Razão, motivados pelas
emoções ou pela ciência, uma vez municiados com os valores de
nossas Moralidades Descritivas e Normativas, o que fazer com
eles? Simples: disparar vereditos a torto e a direito.
Quantas vezes você ouviu dizer “Não julgue um livro pela
capa!” ou “Não é certo julgar os outros...”? Mas julgamos livros
pelas capas, o tempo todo. Julgamos os outros também, e muitas
vezes sem ao menos saber a cor de suas capas ou o teor de suas
linhas, pois a Moralidade íntima de cada um de nós é vigilante e
furiosa como um déspota paranoico. Com grande lamento, o
frenesi julgador raramente baseia-se na virtude do raciocínio,
mas em crenças ficcionais que submetem a realidade aos
convencimentos que formamos com o tempo31.
A autoridade, a simpatia, os costumes e a familiaridade
afetam quase todas as nossas opiniões. Quando optamos por um
argumento sobre outro, não estamos fazendo mais que decidir, a
partir de nossas emoções, qual deles deve ter superioridade sobre
nossas preferências. Em geral, os julgamentos Morais não
representam um entendimento racional do assunto em pauta,
mas aquilo que mais nos comove: como a mente encontra
satisfação e conforto no que está acostumada, preferimos o que
nos é mais familiar, mesmo quando o não-familiar possui maior
valor intrínseco.
A natureza do cérebro consiste em conectar as ideias entre si,
facilitando a transição de uma emoção para a sua convicção
correlata. Como Hume e Thomas Sowell postularam, nutrimos
afeto ou aversão na proporção direta do prazer ou do desprazer
que recebemos, e os elogios dos outros nunca são bem vindos
quando não coincidem com a nossa própria opinião sobre as
qualidades que achamos possuir14.
Décadas antes de Cristo, Cícero e Sêneca falavam dessa
faculdade como “a voz interior que acusa e defende nossa
conduta no que diz respeito às suas qualidades”. Por meio da
Moralidade, nos avaliamos em relação aos outros e avaliamos os
outros em relação ao ideal que fazemos de nós mesmos. Com
uma frequência constrangedora, cometemos erros primários em
ambos os sentidos, pois agimos pensando como as coisas
deveriam ser ao invés de agir levando em conta como as coisas
de fato são. Observamos a Moralidade Normativa soprando as
trombetas de suas doutrinas lá do incrível reino da fantasia de
Como As Coisas Deveriam Ser e fingimos não perceber o quanto
seus pareceres raramente se encontram em sintonia com o
mundo cru e sólido do lado de cá. A Moralidade Normativa do
Deveria, quando contraposta à truculência Descritiva do Mundo
que É, mostra-se débil e frágil.
Lamentavelmente, a ciência pouco pode fazer para acomodar
os julgamentos rígidos da Moralidade Normativa às sinuosidades
da Moralidade Descritiva: fatos científicos não trazem conclusões
Morais impressas na barriga, pelo menos não ainda. Devido a
esta diferença de idiomas, pode ser um erro monumental revisar
nossas crenças Normativas apenas porque um fato Descritivo as
contradiz, assim como o oposto disso também é um erro do
mesmo tamanho.
Por exemplo: vamos supor que, em um experimento
utilizando um voluntário e imagens de ressonância nuclear
magnética, uma área X do cérebro se mostre bastante ativa
quando apresentamos ao nosso paciente a imagem de algo
Moralmente errado (um assalto à mão armada, digamos).
Deduzimos, então, que a ativação da área X está associada a um
julgamento sobre o que é errado. Em seguida, mostramos ao
mesmo indivíduo a imagem de um coelho comendo uma cenoura
e, surpreendentemente, a área X é ativada! Então podemos
concluir, com base nas evidências científicas (informação
descritiva), que um coelho comendo uma cenoura é algo
Moralmente condenável (informação normativa)?
Descrições fisiológicas e psicológicas sobre o aparato mental
podem ser interessantes, mas não alcançam o terreno da
ponderação Moral onde você toma suas decisões. Para complicar,
algumas vezes nossas intuições, como equipamentos defeituosos
em um laboratório barato de análises clínicas, falham
miseravelmente. Na luta para degustar os prazeres e evitar os
sofrimentos da vida, terminamos sendo indulgentes com nossos
arbítrios38.
Como mencionado, para Durkheim o julgamento Moral não
era um sistema de regras abstratas que as pessoas traziam
gravadas em sua consciência, mas uma função social formada e
consolidada sob a pressão das necessidades coletivas, da Religião,
dos costumes e do meio físico47. O equívoco parcial de Durkheim
pode ser perdoado pelo seu desconhecimento da poderosa
influência dos genes sobre o comportamento humano.
Muitas justificativas Morais que tecemos não passam de
roupas que vestimos sobre as ascendências hereditárias, as
cargas evolutivas, os impactos hormonais e as variações
emocionais a que estamos sujeitos – e temos ainda a candura de
chamar esta racionalização de autonomia de pensamento.
O excesso de confiança na racionalidade dos julgamentos
Morais pode ser creditado a Descartes, Hume e Schopenhauer.
Um depois do outro, os três questionaram com insistência a
capacidade dos sentidos do corpo em revelar a Verdade
substantiva: os sentidos do corpo são úteis para detectar
benefícios e riscos para o corpo, e pronto. Do mundo real, estes
sentidos fornecem nada além de imagens desproporcionais39.
Para eles, a consciência humana era capaz de perceber a natureza
da realidade apenas através da inteligência operando de modo
independente aos sentidos. Entretanto, inteligência e consciência
podem apresentar uma proposta como sendo verdadeira, mas,
como nem tudo que vem desta fonte é puro, o intelecto humano
instantâneo por si só não é capaz de afirmar ou negar uma
Verdade substantiva. Para Descartes e Schopenhauer, esta
função pertencia à Razão. Para Hume, à Vontade. Para Hobbes, à
Disciplina – ninguém chega ao conhecimento do que é Bom e
Correto sem grandes e prolongados estudos, anotou ele18.
Sem embargo, nosso senso de Moralidade é influenciado
pelas contingências da ecologia humana: se criaturas com
ecologias diferentes – como as abelhas – se tornassem racionais,
fabricariam uma Moralidade adaptada à sua bionomia. Neste
caso, qual desses códigos – dos homens ou das abelhas – seria o
representante mais fiel da Verdade substantiva? A resposta
parece ser: nenhum deles, a menos que relativizássemos estas
Verdades, ajustando-as simultaneamente aos homens e às
abelhas.
Por honestidade, devemos assumir que a ciência não é capaz
de dizer qual julgamento Moral corresponde ao Bom e Correto
acima de qualquer dúvida. Em uma aposta arriscada, dependerá
de nós, os juízes de nós mesmos, determinar o que diferencia a
Moralidade autêntica de uma mera intuição contaminada por
crenças infundadas e modismos.
À primeira vista, o processo de encontrar soluções para
problemas de natureza Moral (conhecidos como dilemas) parece
bastante simples: os fatores-chave são identificados, assim como
as pessoas envolvidas, seus valores e princípios. O tomador de
decisões guia-se então por um conjunto de diretrizes até chegar a
uma conclusão consolidada. O problema é que este processo pode
se tornar cheio de complexidades quando o árbitro Moral decide
tomar ciência de todos os detalhes envolvidos: procurar todos os
contextos possíveis imagináveis e colocá-los na balança para
produzir a melhor decisão é o mesmo que abdicar de encontrar o
que é Bom e Correto. Como em um cheque em partida de xadrez,
se optarmos por considerar o julgamento Moral Normativo exato
e confiável, nos arriscamos a ser totalitários e facciosos. Se
optarmos pela Moralidade Descritiva, arriscamo-nos a ser
frouxos e inconsistentes.
Pense o seguinte: de acordo com o IBGE, o salário médio de
um brasileiro é de 1.792 reais por mês. Se você fosse um desses
brasileiros, estivesse andando pela rua e visse uma moeda caída
na sarjeta, qual seria o valor mínimo impresso na moeda que
faria você se abaixar para pegá-la? Digamos que uma moeda de 5
ou 10 centavos não faria você colocar sua mão na sujeira. Uma
moeda de 25 centavos poderia até lhe tentar um pouco, mas uma
moeda de 50 centavos certamente valeria o esforço! Muito bem,
50 centavos seria então o valor mínimo de dinheiro na sarjeta
que faria você se abaixar para pegar o que não lhe pertence.
Qualquer coisa abaixo de 50 centavos, você provavelmente
deixaria para lá.
Segundo o site de notícias Business Insider, Bill Gates fatura
cerca de 100 milhões de reais por mês. Proporcionalmente à
renda, seus 50 centavos correspondem a 25 mil reais para Bill
Gates. Se Bill Gates estivesse andando pela rua e tropeçasse em
25 mil reais jogados na sarjeta, ele não se abaixaria para pegar o
dinheiro. Para Bill Gates, 25 mil reais não valem o preço de sujar
a ponta dos dedos... Você deixaria esses 25 mil para lá? Não
pegar os 25 mil reais faz Bill Gates ser mais ou menos Moral que
você?
1.9. SOB A JURISDIÇÃO DA EMPATIA
A história de nossa Moralidade se iniciou na época em que
insetos, ratos e macacos aprenderam as vantagens de trabalhar
em cooperação. Quando os humanos surgiram na superfície do
planeta, os rudimentos da Moralidade já estavam forjados, do
mesmo modo que o paladar, a audição, o tato, a visão e o olfato.
Entretanto, como abordado, esta pré-programação Moral não
tornou as pessoas naturalmente Boas e corretas: se você der um
doce para uma criança de 3 anos de idade e perguntar se ela topa
dividir o brinde com outra criança, a resposta quase certamente
será “Não!”. A logicidade completa do compartilhamento só nos
atinge por volta dos sete ou oito anos de idade. Nascemos
equipados para entender justiça, gentileza, temperança e outras
virtudes, mas isso não significa que estes princípios serão
alcançados: esta tarefa dependerá do modo como nos sentimos
em relação a eles.
Surpreendentemente, Platão menosprezou a importância dos
sentimentos. Mais tarde, Kant levou esta desvalorização a
extremos, caracterizando as emoções como corruptoras do
processo de julgamento Moral. Para a filosofia kantiana, os
sentimentos são parciais, discricionários e apaixonados,
enquanto que a Moralidade deve ser imparcial, bem
fundamentada e independente das emoções40. Contudo, não
somos máquinas frias e calculistas, e seria uma ingenuidade
negar que nossos julgamentos variam segundo o nível social de
quem julga e é julgado, e o quanto essas impressões modulam a
ética de nossas relações interpessoais e sociais.
As emoções são uma realidade da mente, mas por sorte não
são imunes à articulação racional, sendo até desejável incluí=las
incluí-las no processo de julgamento Moral: as emoções podem
auxiliar o raciocínio como um agente centralizador, focando a
atenção e os recursos cognitivos do indivíduo no problema que se
apresenta. Sem as emoções, os princípios Morais não possuem
força suficiente para fazer com que as pessoas se preocupem com
terceiros, é preciso reconhecer isto. E, de todas as emoções, a
empatia é a mais fundamental para que vejamos qualquer
situação sob um ponto de vista Moral23.
Apesar de haver uma relação direta entre Moralidade e
empatia, diversas evidências biológicas, comportamentais e da
neurociência mostram que a segunda parece influenciar mais a
primeira que o contrário24. A empatia, com suas raízes de culpa e
remorso retrocedendo aos mecanismos de simbiose que fizeram
surgir os primeiros organismos multicelulares há 700 milhões de
anos, evoluiu para desempenhar um papel basilar nas relações
humanas. Quando escassa, conduz à desumanidade do
Utilitarismo pragmático; quando nenhuma, à sociopatia pura e
simples.
Com efeito, a evolução formatou o cérebro dos mamíferos
para ser sensível e responsivo ao estado emocional de outros,
especialmente sua prole e demais membros do grupo familiar.
Por motivos darwinianos óbvios, não demonstramos empatia
para todas as pessoas de modo igualitário – um hábito que se
inicia ainda na infância.
A empatia afeta as decisões que tomamos, interferindo na
intuição de um modo nem sempre acessível à consciência, e
atrapalhando o arbitramento racional com inclinações egoístas
disfarçadas de altruísmo, humildade ou isonomia. Por isso, ter
empatia nem sempre é garantia de estar em uma rodovia direta
para o Bom e Correto: muitas vezes, ela interfere negativamente
no julgamento Moral, racionalizando violações ultrajantes como
exposto nos Experimentos Milgram e Stanford.
Confiar na empatia como uma bússola absoluta para o
estabelecimento de direitos, normas, dogmas, justiça, valores e
princípios é tão perigoso quanto descartar – com arrogância
suprema – sua profunda ascendência.
Devido à empatia, um determinado grau de adversidade
produz desprezo, mas um grau a mais desperta compaixão:
quando nos deparamos com uma pessoa que sofre um infortúnio,
somos afetados pela piedade ao mesmo tempo em que
direcionamos ao autor do contratempo – quando o há – um ódio
profundo. Em um primeiro momento instintivo, tendemos a
julgar a vítima como de certo modo coautora de sua própria
tribulação: afinal, sem a sua participação, ela não seria a vítima.
Nosso julgamento Moral imediato, então, envolve perpetrador e
vítima em um só pacote e declara ambos mais ou menos culpados
pelo ocorrido.
Quando as engrenagens mais conscientes da empatia
começam a girar, aprimoramos este arbítrio e nos dedicamos
com mais afinco à tarefa de identificar o perpetrador (ou
“executor”) e o destinatário (ou “receptor”) do sucedido. Dado o
hábito do cérebro em estabelecer padrões de causa-efeito, o
discernimento das atribuições de executor e receptor é
imprescindível para que completemos Moralmente a cena em
nossa cabeça: se um determinado evento ocorreu, então deve
existir um receptor-destinatário e deve existir um perpetrador-
executor. A este mecanismo de distribuição de culpas e
responsabilidades chamamos Teoria da Díade Moral43,46.
De acordo com esta teoria, o poder envolvido em cada evento
pode ser dividido em duas categorias: Experiência e Direção. A
categoria Experiência consiste na capacidade de sentir, de
experimentar sentimentos como fome, dor, constrangimento e
alegria. A categoria Direção consiste na capacidade de planejar,
raciocinar e contrair responsabilidades Morais.
Tendemos a apontar um perpetrador-executor mais
rapidamente quando percebemos algo ou alguém com capacidade
maior para ser Direção que Experiência. Em outras palavras:
julgamos as pessoas mais merecedoras de punição quando elas
apresentam atributos de força (Direção); e tendemos a isentá-las
da culpa quando apresentam um predomínio de traços de
vulnerabilidade (Experiência). E isto nos leva à Teoria da
Impressão do Personagem, segundo a qual temos a propensão de
generalizar os papéis de uma interação específica para todas as
demais interações subsequentes.
Se alguém é um receptor em um caso, temos dificuldade para
identificá-lo como perpetrador em outro caso. Se uma pessoa é
perpetradora, temos dificuldade em pensar nela como uma
receptora. Esta dinâmica implica em que um perpetrador
dificilmente será visto como um receptor, e vice-versa: uma vez
distribuídos os papeis de vítimas e algozes, não toleramos mais
qualquer alteração neste elenco – ainda que os relatos e os
cenários mudem.
As atitudes hostis e intransigentes manifestadas pela Teoria
da Impressão de Personagem derivam de mecanismos
hiperativos de detecção de agentes Morais embutidos em nossa
espécie desde muito antes do Paleolítico e que podem ter sido
benéficos do ponto de vista evolucionário: nossos ancestrais que
frequentemente detectavam um agente executor onde não havia
qualquer agente possuíam uma maior chance de sobrevida que
aqueles que não detectavam um agente quando ele estava
presente. Por exemplo: ao ouvir um barulho na escuridão da
noite, era mais vantajoso para sua saúde preocupar-se com o
tigre que não estava lá que deixar de preocupar-se com o tigre
que efetivamente estava. Como resumiu o francês Teóphile
Gautier: “em todos os tempos, os prudentes sempre venceram os
audazes” 44.
A Teoria da Díade Moral e a Teoria da Impressão de
Personagem ajudam a explicar o modo como a empatia distribui
nossos arbítrios e porque costumamos eximir certos indivíduos e
nós mesmos de qualquer responsabilidade pelas consequências
negativas de nossas escolhas. Os relacionamentos humanos são
construídos a partir destes mecanismos básicos de expressão de
afeto, vínculos sociais e cuidados familiares, e talvez isso elucide
de que maneira a empatia pode ajudar ou atrapalhar nossos
Julgamentos Morais, a despeito de nossa suposta complexidade
intelectual47.
1.10. O PAPEL DA IMPULSIVIDADE
Se você esbarra em mim de propósito, isso é uma afronta que
deve ser resolvida, negociada ou revidada; mas, se você esbarra
em mim sem querer, posso considerar aquilo apenas como um
mau jeito e deixamos o ocorrido para lá.
No momento do esbarrão, a avaliação de intencionalidade
precede o julgamento Moral do evento: sempre que avaliamos a
Moralidade de uma situação importante, primeiro definimos se a
pessoa agiu de modo intencional ou não. Uma vez processadas as
variáveis da Díade Moral e da Impressão do Personagem,
utilizamos o resultado para determinar se aquilo foi Moralmente
errado, e se pode ser perdoado ou merece alguma punição14.
O impulso de responsabilizar alguém também dependerá de
sua crença no determinismo: é bastante complicado emitir um
julgamento sobre uma atitude quando você acredita em um
universo onde um ser supremo deixou tudo escrito e pré-
estabelecido. Se esta for a verdade normativa em que você vive,
então somos marionetes sem consciência de nossa falta de opções
e é injusto sermos responsabilizados por uma vontade que está
acima de nossas intenções ou de nossa capacidade de negociação.
Por outro lado, quando descartamos o determinismo e
assumimos o livre arbítrio como uma faculdade humana
primordial, deixamos de acreditar na obediência a um roteiro, e a
validade do julgamento a partir da intencionalidade dos outros
volta à tona.
Essas capacidades reflexivas nos permitem e ao mesmo
tempo nos obrigam a segurar nossos impulsos para determinar
como, quando e se devemos agir sobre eles. Somos nós que
decidimos se devemos tratar os desejos como motivações para
agir, com base nas percepções que temos a partir da identidade
pessoal. Esta cognição – tão nobre quanto mais rara a cada dia –
confere uma responsabilidade ímpar às escolhas que fazemos,
evitando a hipocrisia fácil dos impulsos biológicos como
justificativa para o mau-caratismo. Ou pelo menos deveria ser
assim.
Durante os anos 1970 e 1980, as pesquisas sobre a psicologia
da Moral foram dominadas pelos trabalhos de Lawrence
Kohlberg, que defendia um conceito fortemente racionalista para
a Moralidade. De acordo com Kohlberg, a Moralidade madura
demonstra uma enorme preocupação em empregar a Razão como
forma de navegar por entre as regras sociais abstratas41.
Nas últimas décadas, talvez inspirados em Hume, os
psicólogos têm diminuído a ênfase da Razão nos julgamentos
Morais. O ponto de virada para esta nova abordagem foi a
publicação do artigo The emotional dog and its rational tail (O
Cão Emocional e sua Cauda Racional), de Jonathan Haidt, em
2001. Nele, Haidt apresentou um fenômeno que batizou de
Estupefação Moral: em um estudo, os participantes receberam
uma série de histórias provocativas, tais como uma mulher que se
envolvia em um incesto deliberado com seu irmão, e um homem
que comia seu cão morto acidentalmente. Quando questionados
para explicar por que condenavam os personagens das histórias,
os participantes citavam razões que eram descartadas na própria
descrição dos casos42.
Por exemplo: alguns participantes disseram que o incesto era
errado, pois poderia produzir descendentes com malformações
congênitas – ainda que a história original tivesse deixado bem
claro que os irmãos haviam tomado todas as precauções
necessárias para evitar a concepção. Quando lembrados desse
detalhe, os participantes não desistiam de seu julgamento Moral.
Pelo contrário, reafirmavam seu ponto de vista, dizendo
estupefatos: “não consigo explicar, mas isso é errado, simples
assim”.
A pesquisa de Haidt confirmou que a Estupefação Moral faz
com que nem todos os nossos julgamentos passem pelo crivo da
Razão, sendo emitidos em rompantes despidos de qualquer
meditação prévia. Para desânimo de Kohlberg e felicidade de
Hume, a Razão costuma não passar de uma desculpa utilizada
mais tarde para fundamentar a opinião que brotou em nós como
um impulso.
Nossos atos e palavras são julgados, um a um e então
conjuntamente, pelo seu teor Moral objetivo e pela conexão
hipotética com a Moralidade vigente – e isto nem sempre implica
o emprego de fundamentos racionais meritórios ou imparciais.
Ostentamos sapiens no sobrenome, mas seguimos primatas
hiperemocionais em nossa ascendência. O julgamento Moral
impaciente, irrestrito e incessante é um fato. O que nos resta são
duas tarefas:
Primeiro: procurar sintonizar seu julgamento de maneira que
ele corresponda à sua identidade (self) ou à persona que você
deseja exibir. Todos querem uma validação que nos faça crer
termos sido absolvidos pelo Tribunal dos Bons e Virtuosos –
ainda que isso custe simular ser alguém que você nunca foi.
Todavia, o fingimento não é Moralmente mais certo ou errado:
ele é apenas mais custoso. A concentração de energias mentais
necessária para sustentar uma mentira será sempre maior que
aquela consumida na apresentação de uma verdade.
Segundo: empenhar-se para elaborar julgamentos
congruentes com pessoas cujas identidades você considera
virtuosas, fugindo das projeções de suas próprias expectativas. Já
é tolo o suficiente ter que fingir ser alguém que você não é. Pior
ainda é comprar outras pessoas a preço de ouro pelo que elas
nunca foram.
Em ambas as situações, a atmosfera que nos envolve é aquela
da esperança por reconhecimento e dignidade. Em qualquer
construção possível, é inegável que a aspiração por um mundo
mais justo está na base da Moralidade humana – mesmo quando
agimos impulsivamente.
1.11. CONCLUSÃO DA PARTE I: UM ALERTA SOBRE O
CÉREBRO HUMANO
Considerando que a Moral humana sofisticada é um artefato
de nossa inteligência, vale refletir sobre como mensuramos a
qualidade da inteligência que nosso cérebro é capaz de produzir.
Vejamos como isso ocorre:
Nicolau Copérnico foi cônego da Igreja Católica, governador,
jurista, matemático, astrônomo e médico. Coube a ele o posto de
Pai da Teoria Heliocêntrica do Sistema Solar, que seria corrigida
por Tycho Brahe e Johannes Kepler25.
Foi inspirado nas dicas dadas por Copérnico que Galileu
Galilei publicou o Diálogo Sobre os Dois Principais Sistemas do
Mundo, em 1632, recebido com grande apoio dos clérigos
proeminentes de sua época. Não obstante, as ideias de Galileu se
tornaram alvo de ataques por parte de segment0s da Igreja,
levando à condenação do astrônomo por desobediência ao
sistema cosmológico mais aceito até aquele momento.
Tudo bem que existem textos védicos mais antigos que
Copérnico sugerindo que a Terra girava em torno do Sol e não o
contrário: a primeira pessoa a apresentar um argumento para o
sistema heliocêntrico não foi Copérnico, mas Aristarco de Samos,
por volta de 270 a.C. – uma proposta que seria apoiada 100 anos
depois pelo mesopotâmico Selêuco. Não obstante, apenas por
volta de 1700 a Teoria Heliocêntrica passou a ser ensinada de
modo rotineiro nas escolas junto à Teoria Geocêntrica. Em 1822,
o ensino da Teoria Geocêntrica seria abandonado no Ocidente,
mas somente em 1924, a partir da publicação dos estudos de um
jovem astrônomo de 35 anos de idade chamado Edwin Hubble,
descobriríamos que a Via Láctea não compreendia o Universo
todo, sendo uma entre bilhões e bilhões de galáxias espalhadas
por toda parte.
Apesar dos esforços de gênios como Aristarco, Selêuco,
Copérnico, Galileu, Hubble e outros, a noção de que de alguma
forma a Terra é o “centro do universo” e o homem, o “centro da
Terra”, parece persistir em nosso inconsciente até hoje. A frase
creditada ao sofista grego Protágoras (“O Homem é a medida de
todas as coisas”) segue firme e forte, e uma das maiores provas
disso é nossa insistência em procurar réguas e cálculos que
testifiquem que somos, sim, a espécie mais inteligente do
ecossistema local.
Inicialmente, partimos do raciocínio de que deveríamos ser
os animais mais inteligentes do pedaço, pois, afinal de contas,
temos cérebros grandes! O cérebro humano pesa 1,5 kg em
média, sendo um peso pesado perto do cérebro de um chimpanzé
(384 g), de um gorila (406 g), de uma vaca (420 g), de um cavalo
(655 g) ou mesmo de uma girafa (680 g), e um verdadeiro lutador
de sumô quando comparado ao cérebro de um gato (25 g), de um
canguru (46 g), de um cão doméstico (72 g) ou de um porco (180
g).
Infelizmente, em termos absolutos, nossa massa cerebral é
esmagada pelo cérebro de um elefante (5 kg), de uma orca (6,8
kg) ou de um cachalote (8 kg). Dependendo do cetáceo que você
escolher como adversário é possível perder até para um sobrinho-
neto do Flipper: o cérebro de um golfinho nariz de garrafa pesa
em média 1,5 a 1,7 kg.
À vista disso, tentamos outro recurso, baseando nossa
inteligência a partir da razão entre o peso médio de uma
determinada espécie e o peso médio do cérebro desta mesma
espécie. Agora tínhamos um número mais favorável: os humanos
possuem uma razão peso corporal / peso cerebral de 1:50, o que
nos coloca à frente de gatos (1:110), cães (1:125), esquilos (1:150),
sapos (1:172), leões (1:550), cavalos (1:600), tubarões (1:2.496) e
hipopótamos (1:2.789). Entretanto, uma vez que a razão simples
entre peso corporal e peso do cérebro também nos coloca
desconfortavelmente atrás de ratos (1:40), alguns pássaros (1:14)
e formigas (1:7), fomos atrás de outras contas que garantissem o
trono de Espécie Mais Inteligente da Terra com maior segurança
– e pensamos no córtex cerebral.
O córtex cerebral corresponde à camada mais externa do
cérebro dos vertebrados. Nos humanos, tem cerca de 4 mm de
espessura e uma área de 0,22 m². O córtex é central para funções
complexas como memória, atenção, consciência, linguagem e
percepção. É nele que as informações recebidas pelo corpo são
processadas e integradas, e é também nele que ocorrem as
representações simbólicas, o entendimento, a consciência e a
Razão. Por isso, não surpreende que associemos o nível de
inteligência ao tamanho do córtex cerebral, e tenhamos decidido
substituir a divisão do peso do corpo pelo peso do cérebro por
uma contagem direta da quantidade de neurônios que existem
nesta região específica.
Não tinha como dar errado: quanto mais neurônios no
córtex, mais inteligente uma espécie deve ser, certo? Esta pareceu
uma ótima ideia a princípio: os humanos têm cerca de 16 bilhões
de neurônios corticais à sua disposição – uma goleada quando
nos comparamos a ratos (14 milhões), gatos (250 milhões),
porcos domésticos (425 milhões), cães (530 milhões), leões (545
milhões), girafas (1,7 bilhões), araras (1,9 bilhões), elefantes (5,6
bilhões), chimpanzés (6 bilhões), orangotangos (8,9 bilhões) e
gorilas (9,1 bilhões).
Contudo, a competição começa a ficar apertada quando
apreciamos a Falsa-Orca (10 bilhões de neurônios corticais), a
baleia Minke (12,8 bilhões), a toninha comum (14,9 bilhões) e a
baleia-Fin (15 bilhões); e o jogo vira de vez quando nos
confrontamos à baleia-piloto de aleta longa: este magnífico
animal da família dos delfinídeos possui nada menos que 37,2
bilhões de neurônios em seu córtex – mais que o dobro de
neurônios corticais encontrados nos humanos.
Talvez por causa disto tenhamos concluído que a contagem
simples de neurônios corticais não iria dar muito certo, então
voltamos para o que havia funcionado anteriormente: a razão
entre peso corporal e massa cerebral. Mas, desta vez, para evitar
contratempos, engendramos uma matemática um pouco mais
complexa batizada de Coeficiente de Encefalização
(Encephalization Quotient, ou EQ)54,55.
O EQ consiste em um cálculo intrincado entre massa corporal
e massa cerebral para predizer o nível de inteligência de uma
espécie. Por meio deste índice, conseguimos fugir das ameaças de
insignificância e recuperar alguma sublimidade: o Homo
sapiens possui um EQ entre 7.4 e 7.8 pontos. Para efeito de
comparação, vale dizer que os golfinhos possuem um EQ de 4.5;
orcas, 3.3; chimpanzés, 2.5; elefantes, 2.3; cães, 1.2; esquilos, 1.1;
gatos, 1.0; cavalos, 0.9; ovelhas, 0.8; e ratos, 0.5.
O EQ parece ter restabelecido o trono inquietado pelas ideias
da turma de Aristarco, Copérnico, Galileu e Hubble, mas a
Neurociência é uma arte perita em desbancar nosso
geoantropocentrismo com grande eficiência e cinismo. E o que
ela vem apontando é algo bem diferente da coroa concedida pela
matemática do Coeficiente.
Conforme mencionado, muitos animais apresentam traços
nobres de caráter como lealdade, cooperação, paciência e
altruísmo; dispõem de linguagens elaboradas; velam seus
mortos; ajudam estranhos (mesmo estranhos de outra espécie);
demonstram engenhosidade criando armas, ferramentas e
soluções absolutamente inusitadas (e, porque não,
inteligentes ipso facto); aprendem seletivamente e por
associação; e demonstram capacidade de memorização e
localização supra-humanas65. Estudos mais recentes sugerem que
alguns animais possuem uma profunda consciência de si
mesmos: grandes primatas, golfinhos e macacos Rhesus são
capazes de monitorar seus estados mentais e utilizar “Eu não sei”
para evitar responder perguntas capciosas26.
Com tudo isto, é de se pensar se as escalas de inteligência que
fabricamos mensuram inteligência ou apenas reverberam nossa
eterna necessidade de corroborar o Homo sapiens como a espécie
mais genial e talentosa deste planeta; e nossa Moralidade, como
superior a todas as demais.
A inteligência pode ter múltiplas formas, incluindo a
capacidade de utilizar o corpo para realizar certos movimentos, e
de lidar com palavras ou com estímulos visuais e espaciais61.
Todavia, se definirmos inteligência como sendo a aferição da
qualidade de deliberação que antecede a ação, parece evidente
que ainda não atingimos níveis muito excepcionais de
sagacidade.
Quatrocentos anos antes Cristo, Sófocles registrou que, “de
todos os prodígios da natureza, nenhum é maior que o
homem”62. Ele tinha alguma razão, mas não completamente. O
valor intrínseco do humano é uma inclinação facciosa, precária e
sentimental, decretada quando decidimos situar nossa natureza
em um plano ilusoriamente superior ao do meio em que
vivemos63,64. Pelo menos a Ciência vem oferecendo uma luz
judiciosa neste caminho e, com alguma sorte, nos tornará menos
pretensiosos quanto a neutralidade de nossos processos cerebrais
e da inteligência daí oriunda.
Se formos afortunados, este progresso da sabedoria nos
conduzirá também à elaboração de convencimentos menos
segmentários, mais próximos da Verdade substantiva sobre o
que é Bom e Correto, e, porque não dizer, mais ajustados àquilo
que deveria ser considerado genuinamente Moral.
PARTE II
REALISMO MORAL
Dos vários sistemas éticos que existem, o Realismo Moral tem
sido um dos mais populares há milênios. Mas o que é o Realismo
Moral? Seria ele uma filosofia superior ao Relativismo e ao
Ceticismo?
Índice deste Capítulo:
2.1. Introdução da Parte II
2.2. O Absolutismo Moral
2.3. O Consequencialismo Utilitarista
2.4. A Deontologia
2.5. A Ética das Virtudes
2.6. O Objetivismo
2.7. O Naturalismo
2.8. Conclusão da Parte II
2.1. INTRODUÇÃO DA PARTE II
Desde a invenção da agricultura, ou talvez muitos milhares
de anos antes da Revolução do Neolítico, fomos assediados pela
necessidade de elaborar códigos capazes de manter a estabilidade
de nossos núcleos familiares e sociais em crescimento: sem um
padrão comunitário para a verdade, os conflitos se instalariam
em meio a uma guerra infinita de autoridades locais e desejos
individuais, comprometendo nosso progresso e nossa
sobrevivência.
Unindo o condicionamento genético, as pressões da Seleção
Natural, as Teorias da Díade Moral e de Impressão do
Personagem, além do desejo por viver em paz, os aglomerados
humanos que surgiam em toda parte negociaram suas opiniões
pessoais em prol de um grande denominador comum. A estes
princípios coletivos de conduta – acompanhados da imposição de
sua obediência –, demos o nome de Realismo Moral1.2.
O Realismo Moral defende que existem Verdades
substantivas que correspondem ao que é Bom e Correto, e que
independem de nossa percepção do mundo, de nossas crenças e
dos sentimentos que temos por elas – ou seja: o Realismo Moral
vê a si mesmo, simultaneamente, como uma Moralidade
Descritiva e Normativa, descrevendo as “verdades” interceptadas
pela intuição e normatizando o mundo em heróis e vilões, nós e
eles3,4.
Um Realista Moral acredita que seus valores são tão infalíveis
quanto o resultado de uma operação matemática. Curiosamente,
esta mesma matemática é capaz de nos conduzir a uma dedução
assombrosa: se partirmos da premissa que só existe um único
mundo real, precisamos aceitar neste mesmo cálculo a
possibilidade de infinitos mundos virtuais. Consequentemente, a
probabilidade de habitarmos o único mundo real que há sugere –
pelo menos a princípio – que a legitimidade de qualquer
Realismo Moral é quase nula34.
Não obstante este risco de esquizofrenia, a suposta precisão
cirúrgica do Realismo Moral convenceu seus adeptos que
qualquer doutrina diferente não seria capaz de satisfazer nossos
dilemas Morais, e talvez por isso o Realismo seja tão longevo:
séculos antes de Cristo, Platão afirmou que “Existe o belo em si e
o bom em si”35. Com o sumiço das Cidades-estados gregas e o
desaparecimento do Império Romano, Platão mergulharia em
um ostracismo que seria quebrado no Ocidente apenas com a
Renascença.
A herança platônica inspirou o Realismo Moral dos primeiros
escolásticos que pregava que existe, sim, algo como uma Verdade
substantiva pura, direta e inquestionável. Aristóteles, Santo
Agostinho e Karl Marx também podem ser considerados
Realistas Morais, assim como pensadores mais contemporâneos
como George Edward Moore e Ayn Rand, além dos brasileiros
Olavo de Carvalho e Mário Sérgio Cortella.
O Realismo Moral está no tutano de convenções e adágios
clássicos como: seja honesto; fale sempre a verdade; não preste
falso testemunho; respeite a propriedade; não roube; não
pratique sexo fora do casamento; honre suas promessas; trate os
outros como gostaria que eles lhe tratassem; os fins justificam os
meios; deus há de prover; Brasil: ame-o ou deixe-o; todo ser
humano nasce livre; a saúde é um direito do cidadão e um dever
do Estado, e muitos outros.
Até mesmo nas antiquíssimas fábulas Esopo (620–564 a.C.)
podemos detectar sinais de Realismo Moral: as aparências
enganam (O lobo em pele de cordeiro); evite um remédio que é
pior que a doença (O falcão e o rouxinol); seja grato a quem lhe
faz bem (O homem e o leão); não desampare seus amigos (As
aves e o morcego); a traição volta-se contra o traidor (O rato e a
rã); aprenda a reconhecer o que é importante (O galo e as
pérolas); seja prudente com seus recursos (A rã e o touro); esteja
preparado para os dias de necessidade (A Formiga e a Cigarra);
nunca subestime seus adversários (A águia e a raposa); o
verdadeiro altruísmo é sempre voluntário e não espera
reconhecimento (O homem e a doninha); e não troque uma
satisfação duradoura por um prazer imediato (O ladrão e o cão
da casa) 5.
Apesar de seu apelo à lógica e ao Direito Natural, o Realismo
Moral parece esquecer-se de um detalhe: a Natureza não é
normativa – nossa Moralidade que é. A Natureza não possui leis.
As leis da Natureza são apenas ferramentas intelectivas que
encontramos para explicar como as coisas acontecem e sua
fragmentada previsibilidade6. Se existe uma Moral universal, ela
não é autoexplicativa, e nosso ônus é seguir aos tropeços
tentando deduzir as Verdades substantivas ocultas na Natureza.
“Torturar bebês é errado” ou “Estuprar é errado”, por exemplo,
parecem afirmações irrefutáveis demais para não
corresponderem a amostras dessa verdade . 46
Muito mais que do amor à Razão, nossa afinidade com o
Realismo Moral nasceu – e principalmente se sustenta –
motivada pelo medo do abandono, pela necessidade de
reconhecimento e pela sensação de segurança interior quando
nos apercebemos parte de uma autoridade mais poderosa que
nossa solidão.
2.2. O ABSOLUTISMO MORAL
O Absolutismo Moral é o Realismo Moral levado ao extremo.
Ele alega que existem mandamentos inerentes ao universo, à
natureza da humanidade, à vontade de deus ou a alguma outra
fonte fundamental, e estes mandamentos possuem a faculdade de
classificar as ações como Boas e Corretas ou condenáveis a
despeito do contexto em que ocorrem, e qualquer herege que
questione este monopólio deve ser condenado ao exílio obsceno
da imoralidade1,2,4,7.
Historicamente, o Absolutismo Moral sempre teve seu espaço
reservado na Moralidade humana por facilitar a criação de leis e
simplificar a imposição de sistemas jurídicos. Pelos mesmos
motivos, muitas Religiões o utilizaram: um Absolutista Moral
nutre convicções profundas sobre suas verdades – ele necessita
dessa convicção, de seus objetivos e seus métodos –, e preocupa-
se em agir sempre de modo a servir à causa das verdades que
adotou.
A favor do Absolutismo Moral, vale dizer que não possuir
padrões soberanos para emitir julgamentos pode ser
problemático. O Absolutismo Moral inspira-se na tradição, na
repetição de um determinado costume sem adicionar a ele
qualquer novo raciocínio ou conclusão. Como o costume não
depende de uma deliberação, ele age de modo instantâneo, sem
dar tempo à reflexão, e isso pode ser útil: quando se torna difícil
qualificar os desdobramentos de uma determinada atitude,
desfrutar de uma coleção de diretrizes claramente assertivas
desonera o processo de identificar a ação com maiores chances de
decência37.
Os famosos ataques de Platão e Aristóteles ao Relativismo
dos Sofistas podem ser citados como bons exemplos de como o
Absolutismo Moral atua. Mas aqui cabe um parêntese quanto aos
Sofistas – do meu ponto de vista, um exército de grandes
pensadores injustiçados por milênios:
A imensa maioria dos “filósofos clássicos” era composta por
despreocupados ou aristocratas, homens de posses, terras e
escravos. Assim como os Iluministas Voltaire e Lavoisier eram
milionários, o mesmo pode ser dito de Platão e Sêneca – este
último, um agiota que se autoproclamava Estoico.
Sócrates (469-399 a.C.) era filho de um escultor e uma
parteira, e começou a vida trabalhando no comércio do pai, que
já possuía alguma fama e clientes no ramo. Com duas fontes de
renda em casa, é de se deduzir que sua infância não conheceu
muitas necessidades. Após servir o exército, Sócrates desposou
Xântipe, que se queixava de que a atividade “filosófica” do
marido não era muito útil para a família.
Casada com um sujeito feio que lhe fizera três filhos e não
queria saber nem dela, nem das crianças, e menos ainda do
sustento da casa, não admira que Xântipe tenha sido descrita
como “desagradável” pelos seguidores do ateniense. Dos
discípulos de Sócrates, merecem destaque o sociopsicopata
Alcibíades (uma das figuras mais loucas da Grécia antiga!) e
Platão, o puritano.
Arístocles, mais conhecido como Platão (427–347 a.C.)
nasceu em uma família com excelentes conexões políticas.
Durante a juventude, apreciava passar seu tempo escrevendo
peças teatrais e alguma poesia; e dos 20 aos 28 anos de idade foi
aluno de Sócrates. Apesar de seus contemporâneos terem
deixado relatos imprecisos sobre sua vida, sabemos que, em 387
a.C., quando em viagem por Egina, Platão foi reconhecido como
ateniense e vendido como escravo – condição de que se livraria
mais tarde graças à benevolência de Anniceris de Cirena.
Voltando a Atenas, recebeu um dinheiro de Díon para
indenizar Anniceris, mas desviou a verba para comprar um
pequeno jardim próximo ao ginásio de Academo. Ali, construiu
pórticos, uma capela dedicada às Musas e alguns alojamentos,
fixando o lugar de suas reuniões mensais que viriam a se
transformar na célebre Academia, que ele comandou entre uma
viagem e outra até falecer aos 80 anos de idade.
Nicômaco, pai de Aristóteles (384-322 a.C.), trabalhava como
médico pessoal de Amintas III, imperador da Macedônia.
Quando Nicômaco faleceu, Aristóteles foi adotado por Proxeno
de Atarneu e passou sua infância brincando no palácio
macedônico. Depois de uma passagem de vinte anos pela
Academia, onde foi aluno direto de Platão, Aristóteles fez valer
seu networking e, aos 41 anos de idade, conseguiu um cabide
como professor de Alexandre o Grande, neto de Amintas III.
Quando Alexandre assumiu o trono aos 13 anos de idade,
Aristóteles retornou a Atenas e fundou o Liceu – ele tinha 49
anos, nenhuma esposa e nenhum filho.
Com a morte de Alexandre, um pandemônio anti-
macedônico se apossou de Atenas. Aristóteles não quis arriscar
um destino parecido com o de Sócrates e, em 322 a.C., fugiu para
uma casa que sua mãe possuía em Cálcides. Ironicamente,
faleceria de causas naturais no mesmo ano, mas não se pode
dizer sua vida tenha sido precária...
Em comparação a estes três “gigantes clássicos”, podemos
citar alguns sofistas. Comecemos por Protágoras: apontado por
Platão como o maior dos Sofistas, Protágoras ganhava a vida
fazendo carretos transportando madeira quando Demócrito o
“descobriu” e lhe ensinou filosofia. Górgias, outro sofista, foi um
professor de oratória criativo e um diplomata habilidoso.
Licofron, um anti-aristocrata aluno de Górgias, produziu os
primeiros rascunhos do que seria um Contrato Social,
recomendando que a justiça deveria atuar evitando que as
pessoas violassem o corpo e a propriedade dos terceiros.
O sofista Hípias de Élis ganhou bastante dinheiro ensinando
matemática e literatura. Isócrates de Atenas – chamado de Pai da
Oratória – fez fortuna escrevendo discursos. Trasímaco era um
advogado bem sucedido. Todos estes sofistas possuíam profissões
bem determinadas e mercantilizavam seus conhecimentos para
colocar comida em seus estômagos. Eram professores
particulares que ensinavam a arte da Oratória e da Erística, mas
sua ideologia “capitalista” era vista como uma blasfêmia pelos
abnegados Sócrates, Platão e seus santos seguidores.
Voltando ao Absolutismo Moral: atualmente, Russ Shafer-
Landau, professor de Filosofia na Universidade de Carolina do
Norte, é considerado um dos grandes nomes desta linha de
pensamento. Particularmente, considero Landau um Relativista,
mas esta é uma discussão foge ao escopo deste livro. Por
enquanto, vamos tratá-lo como um Realista, como ele próprio se
denomina3.
Assim como defendido por Platão, para Shafer-Landau o
mundo contém uma série de Verdades substantivas que não
dependem da consciência e que não podem ser reduzidas em
termos Naturalistas3. Infelizmente, contra os argumentos de
Landau pesam séculos de evidências mostrando que os humanos
desenvolveram uma infinidade de sistemas Morais sofisticados
para atender às suas carências. Sejamos sinceros: nossos
propósitos ao longo da história nem sempre honraram o
pressuposto do Bom e Correto. A impressão nítida que o
Absolutismo Moral passa é de que tudo que as pessoas procuram
é uma espécie de prisão bonita onde possam viver sem nenhuma
consciência ou auto-responsabilidade pelas consequências de
suas escolhas41.
Ao abordar a Moralidade com doses inflexíveis de ortodoxia,
o Absolutismo Moral padece das mesmas enfermidades do
Realismo Moral, porém com febres mais altas. Primeiramente,
nossa intuição e nosso bom senso frequentemente são
ludibriados por auto-interesses e pela opinião popular. Quando
afirmamos que “brutalizar pessoas é ruim”, isso pode ser porque
nutrimos empatia uns pelos outros ou porque preferimos assumir
um contrato que evite que um dia o brutalizado seja você42.
O segundo problema é o excesso de fé pública associada à
lealdade extrema aos dogmas: qualquer ideologia Moral
absolutista exige de seus seguidores uma obediência exclusiva.
Mas como podemos saber, acima de qualquer dúvida, que
estamos nos sujeitando à verdadeira Verdade substantiva?
A Verdade pode estar ao alcance da capacidade humana, mas
esperar alcançá-la sem grande esforço, enquanto os maiores
gênios falharam mesmo ao cabo das maiores dificuldades, é uma
atitude que deve ser considerada no mínimo presunçosa37. Para
atingir este nível, a verdade em consideração deveria vir de uma
fonte, uma interpretação e uma autoridade inquestionáveis –
algo que é praticamente impossível. Por isso, quando um dogma
absolutista é violado, seus seguidores procuram explicar o
ocorrido como um ato de ignorância, irracionalidade ou
depravação, sem jamais considerar a possibilidade de uma
desinteligência em suas próprias premissas.
Por último, o Absolutismo Moral pode fazer com que ajamos
uns com os outros de um modo bem mais cruel que qualquer
outro animal faria com aqueles de sua própria espécie. Observe o
papel que as ideologias baseadas nesta doutrina desempenharam
nas piores atrocidades da história humana: como relevar a
truculência e as perversidades cometidas pelas Cruzadas, pela
Inquisição, pela Revolução Francesa, pelo Bonapartismo, pelo
Nazismo, pelo Fascismo e pelo Comunismo – todos estes
movimentos com sólidos esteios de Absolutismo Moral?
Não há dúvida de que os conceitos que temos sobre
Absolutismo Moral tendem a ser simples e diretos, facilitando
sua obediência. Por exemplo: não mentir, não roubar e não
trapacear são consideradas virtudes Morais Absolutas, e desde a
tenra infância somos ensinados a reconhecer estas atitudes como
pouco éticas. Contudo, quando tentamos aplicar estes axiomas de
maneira monolítica no dia a dia, os problemas começam a surgir.
Por exemplo: suponha que você está na França em 1942 e
escondeu uma família judia no seu sótão. Um oficial alemão entra
pela porta e lhe pergunta se há mais alguém na casa. Seria
correto responder ao nazista: “Sim, tenho 6 judeus escondidos lá
em cima, mas você poderia fazer a gentileza de ignorar esta
informação e não executá-los”? Falar a verdade e não trapacear,
entregando os judeus, seria perdoável neste caso? Como Hobbes
bem disse: “O desconhecimento das causas e das regras não
afasta tanto os homens de seu caminho como a confiança em
falsas regras”40.
Em outra situação hipotética, você está frente a frente com a
necessidade de ter que roubar água e comida para alimentar uma
criança que está morrendo de desnutrição. Seu roubo não
colocará qualquer pessoa em risco, mas irá salvar uma vida.
Neste caso, roubar torna-se Moralmente aceitável?
Quando confrontada com dilemas assim, a maioria das
pessoas afirma que mentir, roubar e trapacear não são apenas
atitudes aceitáveis, mas ações desejáveis – e proceder ao
contrário disso (entregar os judeus ou permitir que a criança
morresse de fome) seria, na verdade, imoral.
Se a Moralidade deve ser absoluta, e mentir, roubar e
trapacear são comportamentos antiéticos, como resolver os
contextos acima? Como violar princípios Morais absolutos pode
ser uma maneira de garantir ações Moralmente corretas?
A resposta é que a Moralidade não pode ser definida a partir
de construções metafísicas sagradas. Ela deve fundamentar-se
para além da teoria, para além das ideias como objetos em si e da
confiança em valores determinados por Estados, escrituras
sagradas, religiões, profetas ou líderes. Ela deve fundamentar-se
em algo chamado mundo real. Do contrário, a Moralidade
adotada não irá apenas oprimir com a possibilidade de punir
vícios e crimes: ele os criará a partir da tirania daqueles que se
acham o derradeiros guardiões da Verdade substantiva7,43,44.
Justamente por isso, uma das peculiaridades dos sistemas
Morais absolutistas é o fato de que, apesar de apregoarem
desígnios supostamente nobres, eles tendem a impor seus
cânones por uso da força e da violência. Ao aderirmos de modo
intransigente a um determinado conjunto de dogmas, arriscamos
nossa humanidade e a coexistência em grandes grupos,
fragmentando nossos recursos e nosso potencial como espécie em
uma miríade de retalhos muitas vezes alicerçados em
convencimentos irracionais e ilusórios.
Com as hordas bárbaras da dúvida, da soberba e da tirania
ameaçando suas fronteiras, o Realismo Moral decidiu dar um
tempo no Absolutismo e aventurar-se no cassino da Pós-
Modernidade, lançando mão de quatro teorias recondicionadas
para manter-se vivo na mesa de apostas: o Consequencialismo, a
Deontologia, a Ética das Virtudes e o Objetivismo.
2.3. O CONSEQUENCIALISMO UTILITARISTA
Rejeitado por Kant, mas defendido pelos ingleses Jeremy
Bentham e Henry Sidgwick, e os escoceses James Mill e seu filho
John Stuart, o Consequencialismo – termo criado por Elizabeth
Anscombe – tentou selar o casamento da intuição com a
racionalidade, afirmando que as ações são boas quando tendem a
promover a felicidade e más quando fazem o oposto a isto.
Rousseau se referia a esta forma de Realismo Moral como um
método honesto para economizar sangue e administrar melhor a
democracia e o mérito14,47.
O lema do Consequencialismo poderia ser descrito como:
“moralmente digno é tudo aquilo que leva o máximo de felicidade
possível ao maior número possível de pessoas”8-12. Este tipo de
sabedoria popular já havia sido documentado por Spinoza que
registrou que “de dois bens, procuramos sempre o maior; e de
dois males, o menor – e preferimos sempre um bem maior
futuro a um menor presente, e um mal menor presente a um
maior futuro”52.
Expandindo a recomendação de Spinoza, o
Consequencialismo afirma que Bom e Correto é quando as
consequências de nossas ações – intencionais ou não – são as
melhores possíveis, e esta deveria ser a Verdade substantiva de
nossa Moralidade: preferir as virtudes segundo sua tendência
para promover o bem da humanidade37.
Este é um dos grandes méritos do Consequencialismo: uma
vez que nossos dogmas derivam de acordos engendrados por
genes e contextos sociais, sendo influenciados por convicções,
percepções, interesses e antagonismos, apenas quando
assumimos a premissa da realidade podemos agir de fato como
seres virtuosos. E a realidade é recheada de consequências. Ponto
para o Consequencialismo.
Sam Harris aborda o Consequencialismo de modo bastante
elegante: devido à praticidade do Realismo Moral, muitas
pessoas acreditam que uma concepção universal de Moralidade
requer que encontremos um princípio Moral que não admita
qualquer exceção13. Por exemplo: se Mentir é errado, então
mentir deve ser sempre considerado uma ação errada. Caso
alguém encontre uma exceção a esta regra, ela deveria ser
abandonada.
Não obstante, para Harris, a existência de uma conexão entre
como pensamos (e nos comportamos) e nosso bem-estar não
exige que a Moralidade seja definida em termos inegociáveis:
ainda que sejam guias valiosos, os princípios Morais devem ser
aplicados de modo genérico e admitir exceções.
Por exemplo: se você tenciona ser um bom jogador de xadrez,
“Não Perca Sua Rainha” quase sempre é uma dica que vale à pena
ser seguida. Mas ela admite exceções: algumas vezes, sacrificar
sua Rainha é uma jogada brilhante! E ocasionalmente pode ser a
única coisa que lhe resta fazer. Mas uma verdade permanece:
qualquer que seja o momento da partida de xadrez, sempre
haverá movimentos objetivamente bons e objetivamente ruins13.
Para lutar em defesa do dogma “os fins justificam os meios”,
o Consequencialismo entregou o comando de suas tropas a um
general chamado Utilitarismo, mas não sem gerar sequelas: ao
rejeitar que a retidão Moral dependa de qualquer outra coisa
além das consequências, o Utilitarismo anotou em seu mapa que
o prazer é intrinsecamente bom e que a dor é intrinsecamente
ruim, e passou a galantear um garoto de programa chamado
Hedonismo. Nesta jogatina de frágeis Verdades substantivas, se
eu estiver triste, por exemplo, posso comer lasanha, ou viver
décadas à custa de meus pais, ou martirizar uma pessoa inocente
– se a consequência de qualquer uma dessas ações for prazer
para mim, então esta opção está valendo, certo?
Em oposição ao crescente individualismo hedonista do
Utilitarismo, Kant defendeu a Moralidade como uma expressão
genuína de disciplina, liberdade e autonomia fundamentadas no
exercício da Razão. O contra-ataque do Consequencialismo para
os Imperativos Categóricos kantianos consistiu em adotar uma
teoria pluralista de valor: para algo ser Bom e Correto, este algo
deveria estar associado a méritos positivos como beleza, verdade,
amizade, equilíbrio, serenidade, amor, habilidade, liberdade,
igualdade, fraternidade e daí em diante. Apesar desta
amortização, as possibilidades de interpretação do
Consequencialismo margeiam incongruências que voltam a
flertar com o Hedonismo e seu bordel de relatividades.
Por exemplo: suponha que o governo de um país está
pensando em fornecer contraceptivos grátis para evitar uma
explosão demográfica. Sem os contraceptivos, o número total de
pessoas que nasceriam para sofrer com fome, doenças, provações
e dissabores iria aumentar. Contudo, esses indivíduos também
experimentariam saciedade, alegria e saúde em termos
numéricos equivalentes. O Utilitarismo da teoria pluralista
declararia que o controle populacional não faz sentido: ora essa,
quanto mais pessoas nascidas, maior a possibilidade de
felicidade! E esta asserção utilitarista é o que reside na base da
visão que o catolicismo alimenta em relação ao sexo.
Um Utilitarismo mais precavido contra as armadilhas da
teoria pluralista rebateria dizendo que um ato só pode ser
considerado errado quando suas consequências produzem mais
dor que a alternativa a este ato, e isto justificaria distribuir
contraceptivos em massa. Todavia, quando os Consequencialistas
preconizam que o objetivo da Moralidade é maximizar o bem-
estar e reduzir o sofrimento desnecessário, penso com meus
botões: se uma sociedade escravocrata tiver apenas alguns
escravos insatisfeitos e muitos senhorios felizes, isto torna a
escravidão Moralmente legítima?
Conduzido a extremos, o raciocínio Utilitário pode levar à
conclusão de que o governo deveria assassinar de modo indolor o
maior número possível de pessoas, pois isso diminuiria a
quantidade de pobreza, desarmonia e sofrimento no mundo.
Além de ter sido empregada pelo Nazismo, pelo Comunismo e
por vários outros regimes tirânicos, esta proposição fria e
assustadora está na raiz do temor que as tecnologias de
Inteligência Artificial têm despertado.
Mesmo empregando subterfúgios que parecem fazer do
interesse coletivo a base de sua Moralidade, o Consequencialismo
tende a absolver a injustiça e a violação dos direitos individuais
em algumas circunstâncias. Uma história pode ilustrar bem isso:
Em 18 de março de 1841, sob o comando do capitão George
Harris, o navio William Brown partiu de Liverpool com destino à
Filadélfia levando dezessete marinheiros e sessenta e cinco
passageiros – em sua maioria, imigrantes escoceses e irlandeses
pobres. Por volta das dez horas da noite de 19 de abril, a
embarcação colidiu com um iceberg 400 km ao sul de Terra Nova
e naufragou.
O capitão, oito marinheiros e um passageiro conseguiram se
salvar em um escaler pequeno, ao passo que nove marinheiros e
outros trinta e dois passageiros se salvaram utilizando um
segundo escaler, um pouco maior. Os demais faleceram com o
afundamento do navio46.
Antes que os dois barcos se separassem para aumentar as
chances de resgate, Harris nomeou seu primeiro imediato,
Francis Rhodes, comandante do escaler maior. Superlotado, o
barco de Rhodes foi fustigado pelo vento, pelas ondas e por uma
tempestade incessante. Vendo a água entrar em profusão, ele
gritou em desespero com seus marinheiros: “Isso... não vai
funcionar. Ajude-me, meu deus... Homens! Façam o seu
trabalho”. Mas os tripulantes nada fizeram. Rhodes ordenou
novamente: “Homens, façam o seu trabalho ou iremos todos
morrer!”. Os marinheiros então jogaram doze homens para fora
do barco e para dentro do mar gelado.
Todos os passageiros do sexo masculino – com exceção de
dois homens que acompanhavam suas esposas e um menino –
foram sacrificados, ao passo que todos os marinheiros
permaneceram a bordo. Os sobreviventes seriam resgatados no
dia seguinte pelo navio Crescent, de bandeira americana.
O dilema Consequencialista do naufrágio do William Brown
propõe o seguinte: quando a única hipótese de sobrevivência de
muitos está no sacrifício de outros, como você define suas
escolhas?
Ao defender que as melhores consequências são aquelas com
a maior média de utilidade, o Utilitarismo torna o uso de
contraceptivos em massa uma medida plausível, assim como
oferece um pretexto Moral para a decisão de Rhodes e ratifica o
ato de matar as piores pessoas da sociedade. Contudo, uma vez
eliminados os mais inúteis, outro grupo assumiria a posição no
final da fila – e o Utilitarismo justificaria matá-los também, em
uma regressão genocida infinita.
Em todas as versões possíveis, o Consequencialismo deve
enfrentar o monstro que o define: como permitir que o Bom e
Correto leve o máximo de felicidade possível ao maior número
possível de pessoas impedindo, ao mesmo tempo, que seus
princípios degenerem para uma tirania desumana?
Hume expôs a fragilidade do axioma Utilitário ao dividir a
Razão em três classes: conhecimento, provas e probabilidade37.
Conhecimento são ideias verificadas por ideias. Provas são
fatos verificados por fatos e estão isentas de dúvida.
Probabilidade são fatos verificados por ideias e vice-versa, e, por
isso, ainda se fazem acompanhar de alguma incerteza.
Embora os raciocínios baseados em provas sejam diferentes
dos raciocínios baseados em probabilidades, eles quase sempre se
decompõem nestes últimos. Muitos Utilitaristas começam
fundamentados em evidências, mas com o tempo – ou mais
rapidamente do que seria desejável – terminam postulando
dogmas que refletem meras possibilidades, não fatos.
Além do risco de determinar condutas inspiradas em mundos
possíveis e não no mundo real, o Consequencialismo sofre de
uma impossibilidade matemática. Aristóteles afirmou que
“voluntário é tudo aquilo que um homem tem o poder de fazer e
que faz com conhecimento de causa – isto é, sem ignorar qual a
pessoa afetada por seu ato, qual o instrumento usado, e qual o
fim a ser alcançado”20.
Se o Consequencialismo é praticável, como faríamos para
determinar com exatidão todas essas variáveis – pessoas,
instrumentos e fins?
Uma medida voluntária pode produzir – e com frequência
produzirá – uma miríade resultados involuntários. Como calcular
a medida de justiça em um sistema baseado em tantos efeitos
possíveis que nem sempre podem ser percebidos de imediato,
estimando todas as consequências de todos os atos a todas as
pessoas o tempo todo? E quais condições seriam necessárias e
suficientes para que este cálculo pudesse ser feito, definindo o
que é Bom e Correto? Até aqui, esta é uma contabilidade
impossível para os humanos.
Segundo Maquiavel, “a prudência consiste em saber
conhecer a qualidade dos inconvenientes e tomar o caminho
menos pior como melhor”38. Porém, a maioria das pessoas, na
maioria das circunstâncias, não é capaz de estipular a maior
média de utilidade ou discernir com isenção a qualidade dos
inconvenientes que suas decisões podem acarretar. Nas palavras
de Durkheim, “os resultados de nossas ações sempre avançam
muito além dos motivos”46.
Ao aplicarmos o recurso Consequencialista sob o viés de
nossas intuições, em geral priorizamos ações que reduzem a
utilidade ao invés de aumentá-la. Para empregar de maneira
eficiente o princípio da maior média de utilidade como padrão
determinante da Moralidade, necessitaríamos uma elite capaz de
fazer estes cálculos – algo como a classe dos Reis Filósofos da
República de Platão –, trazendo de volta o risco de tiranias
autocráticas. Omitindo o papel desta elite, ficaríamos com o fardo
de ninguém ser qualificado o bastante para indicar qual padrão
Moral levaria à maior média de utilidade, e o general Utilitarismo
conduziria os dogmas do Consequencialismo na direção dos
brejos do Ceticismo Moral.
Se considerarmos a Sociedade como um organismo que tem
vida e identidade própria, torna-se fácil aceitar que o
Consequencialismo é a Moralidade mais adaptada ao seu
progresso. Sim, se o Utilitarismo estivesse sempre correto, a vida
seria mais lógica e simples46. Mas a vida não tem qualquer
obrigação de ser lógica ou simples, e a Moral Utilitária não está
isenta de obscenidades.
Em nome da empatia e do bom senso, o Consequencialismo
deveria ser empregado apenas como um critério para julgar
alguns poucos certos e errados, mas não como um procedimento
absoluto para tomada de decisões. Ainda que seja capaz de
acomodar ou explicar muitas intuições Morais, sua ênfase
coletivista oferece bons motivos para não elevá-lo à categoria de
Moralidade universal.
2.4. A DEONTOLOGIA
A Deontologia, um termo criado pelo jurista Jeremy
Bentham, se refere à ciência ou estudo dos deveres (Deon).
Existe uma tensão profunda entre a Deontologia e o
Consequencialismo, pois a primeira assume que certas ações são
intrinsecamente Boas e Corretas e devem ser tomadas a despeito
de suas consequências, enquanto que para o segundo as ações a
serem tomadas dependem de uma ponderação sobre seus
possíveis desdobramentos12,15.
Na Deontologia, o que vale é o mantra do mestre Jedi Yoda
para o jovem Luke nos pântanos de Dagobah: “Faça ou não faça!
Tentar não há”45. É bem isso. Na Deontologia, meios-direitos e
meias-obrigações são considerados absurdos: os dogmas
deontológicos não são vagos nem indeterminados, e não admitem
graus de aplicação37,46.
A filosofia religiosa de Agostinho de Hipona, a tolerância de
John Locke e os Imperativos Categóricos de Kant são boas
amostras da Moralidade Deontológica. “Age como se a máxima
de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei
universal”, enunciou Kant, sugerindo que a dor e sofrimento, se
houverem, são irrelevantes na prática deontológica16,17.
De acordo com os Imperativos, seria errado matar uma
pessoa ainda que isso fosse necessário para salvar outras duas.
Esta premissa está na matriz de expressões como In dubio pro
reo (na dúvida, a favor do réu; um princípio citado no meio
jurídico para expressar a presunção de inocência) e Primum non
nocere (primeiro não prejudicar; uma norma da não-
maleficência bastante aplicada na área de bioética).
Classicamente, a Deontologia é dividida em duas teorias
principais: uma centrada no agente (aquele que faz uma ação) e
outra centrada na vítima (aquele que é alvo passivo de uma
ação).
A Deontologia centrada no agente baseia-se em deveres. Por
exemplo: por ser pai ou mãe, você tem deveres especiais com seu
filho ou filha que não são extensivos para outras pessoas. Se seu
filho e outras crianças estiverem se afogando, e for necessário
escolher apenas uma delas para salvar, é considerado aceitável
resgatar apenas sua prole. Sua obrigação é com seus amigos, sua
família, suas promessas.
A Deontologia centrada na vítima baseia-se em direitos. Por
exemplo: você não tem o direito de usar o corpo, ou o trabalho ou
o talento de outra pessoa sem o consentimento da mesma – ainda
que sinta possuir alguma obrigação ou permissão especial para
tanto18.
Não é difícil perceber como as duas vertentes deontológicas
podem resultar em soluções opostas para um mesmo dilema. Por
exemplo: no escaler de Rhodes, a Deontologia centrada no
agente diria que a morte de apenas uma pessoa é um ato
legítimo, ao passo que a Deontologia centrada na vítima diria
que mesmo a morte de um único indivíduo deve ser considerada
uma ação inaceitável.
O paradoxo Deontológico fica ainda mais evidente quando
consideramos a seguinte questão: Maria, grávida de dez semanas,
tem o direito do uso exclusivo de seus talentos, de sua força de
trabalho, de seu corpo e de sua vida, e temos o dever de respeitar
isso. Portanto, Maria tem o direito de fazer um aborto caso
queira. Não obstante, o feto de Maria está igualmente imbuído do
direito do uso exclusivo de seus talentos, do potencial de sua
força de trabalho, de seu corpo em formação e de sua vida.
O direito ao aborto de Maria fere o direito à vida do feto, e
vice-versa. Dentro de uma Deontologia ciente e equilibrada, é
impossível defender Maria e o feto ao mesmo tempo.
Exatamente por isso, apesar de oferecer uma consideração
especial à família, aos amigos e aos nossos projetos pessoais, a
Deontologia não está livre de críticas e da expectativa de tornar-
se um paradoxo grotesco de si mesma: ao recomendar de
maneira ambígua que aquilo que deveria ser feito é o mesmo que
deveria ser evitado, ela arrisca-se a tornar o mundo pior.
De um lado, a Deontologia centrada no agente parece
esquecer que os humanos não são governados pela Razão, mas
por suas emoções37. Do outro lado, embora a Deontologia
centrada na vítima pareça ter o poder de estimular a
generosidade de espírito, ela é impotente para incutir nobreza e
bondade na maior parte das pessoas: por natureza, não
obedecemos a sentimentos de honra, nobreza ou coragem, mas
principalmente ao medo. Não evitamos más ações porque elas
são desprezíveis, e sim porque tememos o castigo20. No embate
entre a Deontologia e o mundo real, fica claro que tentar
estabelecer um direito ou tentar forçar a uma obrigação não
passam de vácuos de intenção37.
Extrapolando a tragédia de Rhodes, vamos supor que, a
menos que você viole seu dever de não torturar uma pessoa
inocente, milhares de pessoas irão morrer na detonação de uma
enorme carga explosiva escondida em algum lugar da cidade. O
que fazer? Os Deontologistas sugerem quatro maneiras diferentes
para lidar com este dilema.
Primeiro: aceitar que, algumas vezes, fazer o que é certo
produz resultados trágicos, mas permitir que estes resultados
trágicos ocorram é o Bom e Correto a ser feito.
Segundo: determinar um limite para a Deontologia. Quando
as consequências do dilema ultrapassam este limite, torna-se
permitido fazer vista grossa às normas. Flagelar um inocente
para salvar duas vidas seria errado, mas seria certo a partir de mil
vidas. Neste caso, a Deontologia estaria cedendo seu trono para o
bom e velho Consequencialismo Utilitarista – e colocando meio
pé no Relativismo subjetivista.
Terceiro: agir sem pensar. Isso presume aceitar que a
Moralidade pode nos abandonar quando o parafuso aperta o
suficiente, e que eventualmente seguir seus instintos resulta em
ações mais decentes que agir por algum raciocínio longamente
deliberado.
Por último: aceitar a dualidade da situação e declarar que
torturar alguém pode ser ao mesmo tempo certo e errado.
Observando as fraquezas da Deontologia, seus defensores
propuseram reconciliá-la ao Consequencialismo produzindo uma
teoria mista onde os fins justificam os meios desde que os meios
e os fins respeitem os deveres e os direitos de cada pessoa. Como
de hábito, é mais fácil propor tal mixagem que levá-la a cabo.
2.5. A ÉTICA DAS VIRTUDES
A Ética das Virtudes afirma que a Moralidade deve ser capaz
de ir além da satisfação de expectativas lógicas ou teóricas: ela
deve atender às demandas de senso, sentimento e intuição Moral.
O que distingue esta forma de Realismo Moral do
Consequencialismo e da Deontologia é o papel central
desempenhado pela Virtude: enquanto os Consequencialistas
definem Virtude como traços que produzem boas consequências;
e os Deontologistas, como características daqueles que são
confiáveis no cumprimento de suas obrigações e justos na
imposição de seus deveres; os adeptos da Ética das Virtudes
resistem à tentativa de definir Virtude em termos de algum outro
conceito menos fundamental que o próprio vocábulo em si19.
Para entender melhor estas diferenças, vamos supor que você
vê alguém que, sem dúvida alguma, necessita de ajuda. Um
Consequencialista, munido de seu Utilitarismo, apontaria para o
fato de que as consequências de ajudar aquela pessoa
potencializariam o bem-estar geral. Um Deontologista diria que,
ao ajudar, você estaria alinhado ao seu dever de ajudar e ao
direito do outro em ser ajudado. Um adepto da Ética das Virtudes
diria que ajudar alguém é uma demonstração de honra e
benevolência. Não são as consequências ou o senso de dever e
direito que importam, mas a expressão genuína da Virtude que
(teoricamente) carregamos dentro de nós.
No Ocidente, a Ética das Virtudes tem como patronos Platão
e Aristóteles, além de divulgadores como Epicuro, Montaigne,
Spinoza e Diderot, tendo sido a filosofia Moral dominante até a
chegada do Iluminismo. No Oriente, ela retrocede aos
ensinamentos de Confúcio e Mêncio.
Apesar da Ética das Virtudes moderna não ser um clone do
clássico proposto por Aristóteles há mais de 2.300 anos, ela
manteve os três pilares da versão original: a excelência (ou
virtude), a sabedoria (ou Moral prática) e a felicidade (ou
florescimento).
Aristóteles definia Excelência como uma disposição para
perceber, valorizar, sentir, desejar, optar, agir e reagir de uma
maneira característica. Quem possui excelência não age
honestamente apenas porque pensa que a honestidade é a melhor
política ou por recear ser pego com a boca na botija. A pessoa
excelente pratica a honestidade porque a voz intuitiva de sua
Razão lhe aconselha a ser assim, sem ceder a tentações ou
negociações alternativas – nem mesmo mentais20. A excelência
de Aristóteles pode ser bem exemplificada no aforismo creditado
a Henry Ford: “Qualidade significa fazer certo quando ninguém
está olhando”.
A Sabedoria é o conhecimento ou compreensão que capacita
o agente Moral a agir de modo independente da situação: por
compaixão, alguém pode contar uma mentira para evitar ferir os
sentimentos de outra pessoa. Por desespero, alguém pode
demonstrar um nível de coragem que de outra maneira jamais
atingiria. Nesses casos, compaixão e coragem, apesar de serem
virtudes, surgiriam como falhas de caráter – elas não estariam
impregnadas de modo prático na sabedoria intuitiva do
indivíduo, mas se manifestariam como adaptações convenientes
ao contexto. Por isso, a Sabedoria proposta por Aristóteles exige
uma ampla experiência de vida: apenas a bagagem dos anos
acumulados nos capacita reconhecer certos aspectos de uma
situação como mais importantes que outros, assumindo um
padrão nobre de comportamento a despeito do cenário.
Finalmente, a Felicidade, referida pelos gregos como
Eudaimonia, significava “o estado de ser habitado por um bom
daemon, um bom gênio”. Em uma adaptação mais atualizada,
Eudaimonia poderia ser traduzida como sendo um florescimento
do Caráter humano resultando em um senso de bem estar.
Segundo Aristóteles, todos os seres humanos buscam florescer,
sendo esta a finalidade e o desejo de todas as nossas ações20.
A Ética das Virtudes e a Eudaimonia aristotélica foram
representada de modo magistral nas palavras de Martin Luther
King Jr: "o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos,
dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O
que me preocupa é o silêncio dos bons"21. Quem diz estar ao lado
do Bem, mas coloca-se nesta posição por tradição, conveniência
ou hábito, abstendo-se de revigorar suas crenças por meio da
busca ativa da Verdade, está consciente ou inconscientemente
colaborando para o mal.
Como pode ser percebido, o caminho tumultuado que conduz
à Moralidade da Ética das Virtudes não é uma flor delicada que se
colhe com tesouras estéreis de prata, mas uma montanha de
rochas ásperas que se escala com mãos nuas e sujas.
Ao contrapor o Hedonismo, a Ética das Virtudes fomentou o
surgimento do Estoicismo, uma escola filosófica fundada em
Atenas por Zenão de Cítio cerca de 20 anos após a morte de
Aristóteles. O Estoicismo se desenvolveu como um sistema
integrado pela lógica, pela física e pela ética, e seus seguidores
pensavam que a melhor avaliação de um indivíduo não estava em
suas palavras, mas em seu comportamento. Estes princípios
Morais influenciariam profundamente os primórdios do
Cristianismo22.
O calcanhar de Aquiles da Ética das Virtudes está no fato de
que ela parece mais preocupada com o Ser em detrimento do
Fazer: ela pergunta “Que tipo de pessoa eu deveria ser?” e não “O
quê eu deveria fazer?”
Uma vez que a lista de virtudes é pequena e a lista de vícios,
longa, boa parte das diretrizes normativas da Ética aristotélica
contém recomendações para evitar ações irresponsáveis,
preguiçosas, não-cooperativas, frias, presunçosas, arrogantes,
rudes, hipócritas, autoindulgentes, intolerantes, egocêntricas,
mercenárias, materialistas, vingativas, ingratas, brutais, desleais,
e daí por diante. Entretanto, se você está diante do caixa na fila
da lanchonete e começa a dizer tudo que não quer, isso não
informa ao atendente o que você deseja.
Outra fraqueza da Ética das Virtudes reside no fardo do
Relativismo cultural: como devemos proceder quando diferentes
culturas apresentam diferentes conceitos de virtude? Uma vez
que a Deontologia e o Consequencialismo estão expostos a este
mesmo problema – e com a mesma intensidade –, em quê a Ética
das Virtudes seria superior a eles?
A Ética das Virtudes lida com o Relativismo de modo
semelhante à Deontologia e ao Consequencialismo: ao demandar
que um valor Moral leve em consideração visões subjetivas e
objetivas, enfatizando tanto a escolha quanto o cenário e o
caráter do indivíduo, ela se transforma em mais uma tentativa de
sincronizar as ações de uma pessoa com aquilo que ela mesma
considera Bom e Correto.
Os últimos cinquenta anos assistiram a uma ressurreição do
interesse na Ética de Aristóteles, particularmente após a
publicação de Depois da Virtude (1981), de Alisdair McIntyre,
onde o autor oferece uma série de alternativas ao Niilismo ácido
da filosofia de Nietzsche. Mesmo assim, a Eudaimonia continua
sendo uma voz miúda no teatro da Moralidade aplicada. Isso
ocorre porque a maioria dos debates em torno do Realismo Moral
se desenrola em torno do dualismo Deontológico e
Consequencialista, não deixando muito espaço para um terceiro
ou quarto personagem no palco.
Sem embargo, o grande atrativo da Ética das Virtudes reside
em sua praticidade e simplicidade. Seu conjunto de princípios
pode ser formulado em termos bem elementares, ensinado em
escolas e incorporado aos códigos de condutas das empresas
independente das crenças religiosas, além de apresentar soluções
construtivas às nossas preocupações existenciais.
Pessoalmente, consideraria extraordinário ver uma
ressurreição da Moralidade de Aristóteles, com toda sua ênfase
no treinamento disciplinado do Caráter – um compromisso que
se tornou quase extinto em nossos tempos.
2.6. O OBJETIVISMO
Nascida Alissa Zinovievna Rosenbaum, Ayn Rand (1905–
1982) foi uma escritora e filósofa norte-americana de origem
judaico-russa famosa por seus entendimentos de Moralidade que
alcançaram nível mundial após a publicação dos livros A
Nascente (1943) e A Revolta de Atlas (1957). Segundo Rand, o
propósito de sua literatura era criar um mundo que representasse
a perfeição humana.
Em seus escritos de não-ficção, Rand desenvolveu juízos
contundentes sobre metafísica, racionalidade, egoísmo, direitos
individuais e livre mercado23. Ela considerava a vida o único
fenômeno que possui um valor em si, um valor ganho e mantido
por um constante processo de ações. A sobrevivência seria o
intuito derradeiro de todo organismo, o objetivo final para o qual
todos os demais são apenas meios. O que prolonga a vida, é bom;
o que a ameaça, é mau. Este é o cerne do Objetivismo24-26.
Apesar das ideias de Rand terem conquistado grande
popularidade, o meio acadêmico sempre torceu o nariz para suas
concepções. Seus ensaios filosóficos – polêmicos e dogmáticos –
não possuem o estilo autocrítico e analítico valorizado pelo
academicismo, e muitos de seus argumentos não oferecem
suportes adequados para suas conclusões. Além dessas
incongruências, para compreender os pontos de vista de Rand é
necessário ler suas obras de ficção – que não são apreciáveis por
todo mundo.
Examinado com atenção, o Objetivismo se apresenta como
um eco capitalista da Eudaimonia de Aristóteles: o bom deve
sempre ser bom para algo. A virtude é considerada apenas um
meio para um valor, e o trabalho produtivo é o propósito central
da vida racional de um homem. A Razão é a fonte, o pré-requisito
para o trabalho produtivo, do qual o orgulho é o resultado. Os
atributos centrais do Objetivismo incluem racionalidade,
integridade, honestidade (consigo e com os outros), justiça,
independência e produtividade, que atuam em conjunto e são
recíprocos.
Curiosamente, a lista das virtudes Objetivistas não contém
traços como gentileza, caridade, generosidade, compaixão e
perdão. Nesta forma de Realismo Moral, o quanto deveríamos
ajudar-nos uns aos outros depende das circunstâncias e da
hierarquia de valores da racionalidade de cada um: a necessidade
Moral é ditada pela nossa natureza como criaturas que devem
pensar e produzir para sobreviver.
O grande lapso do Objetivismo está em não reconhecer que o
capitalismo, livre de amarras, pode levar a uma concentração de
renda e poder nas mãos de alguns poucos. Para um Objetivista, a
instituição do livre mercado imunizaria a sociedade contra a
depravação em uma plutocracia metacapitalista, mas isso, como é
fácil perceber, é de uma ingenuidade sem tamanho: o
Darwinismo corporativista predatório está bem representado
pelo colapso de gigantes como Enron, WorldCom, MySpace,
Atari, Blackberry, Grupo Manchete, Mappin, Mesbla, Arapuã,
VASP, Varig, Blockbuster, Banco Bamerindus e Banco PAN; pelo
domínio implacável de companhias como Cisco, General Motors,
Ford, General Electric, Proctor & Gamble, Chase Manhattan
Bank, Dell, Sony, Dupont, UPS, Facebook, Google e Instagram;
pelo desaparecimento de marcas como Kolynos, Intelig, BCP
Telecomunicações e Sun Microsystems; pela corrupção sem
precedentes em empresas como Petrobrás, JBS, Camargo Corrêa,
Andrade Gutierrez, GDK, OAS e Odebrecht, e por incontáveis
fraudes em licitações públicas.
A plutocracia metacapitalista, desdenhada pelo Objetivismo,
não é um bicho papão imaginário à espreita debaixo da cama: é
uma ameaça viva, real e com potenciais terríveis.
A segunda falha do Objetivismo está no seu argumento
central da sobrevivência: animais de várias espécies arriscam
suas vidas para reproduzir ou para proteger seu bando. Se a
sobrevivência do indivíduo está na base da Moral, como defende
o Objetivismo, então o comportamento destes seres poderia ser
considerado imoral?
Ainda que o desejo de sobrevivência integre a essência de
todos os nossos princípios Morais, isto não significa que a
sobrevivência represente a meta para a qual todos os demais
valores sejam apenas meios. Por exemplo: a fonte do desejo
sexual é nossa capacidade de reproduzir. Contudo, isso não
significa que devamos procurar sexo apenas com a intenção de
produzir descendentes.
A visão Objetivista transforma a felicidade em uma mera
ferramenta para a sobrevivência, sugerindo que uma existência
longa e infeliz é melhor que uma curta e feliz, e tão boa quanto
uma longa e feliz – um raciocínio que não corresponde nem de
perto aos nossos anseios para esta vida.
2.7. O NATURALISMO
Antes de discorrer sobre o Naturalismo Moral, precisamos
diferenciar Amoral de Imoral.
Alguém age de modo Amoral quando desconhece a diferença
entre certo e errado, ou baseia suas ações em princípios que não
estão diretamente relacionados à Moralidade.
Por exemplo: em um bate papo, você pode afirmar que “doar
dinheiro para a caridade é correto” – e jamais doar qualquer
dinheiro para caridade. No fundo, você não acha errado não doar
dinheiro para obras de caridade, tampouco faz questão de abrir
mão de seu dinheiro para doá-lo aos necessitados. A verdade é
que doar dinheiro para a caridade nunca foi uma considerada
uma obrigação para você, e sua opinião manifestada em público
não passava de um desejo em sentir-se bem no conforto de sua
nobreza epidérmica, sendo socialmente bem-visto.
O Amoral não saberia julgar a diferença entre doar e não
doar, ou racionalizaria pensando que sua ação não faria qualquer
diferença no montante final. Um sujeito Imoral, por outro lado, é
alguém que sabe a diferença entre certo e errado e, mesmo assim,
escolhe seguir o que é errado. A imoralidade é, portanto, uma
liberdade negativa e pervertida da Moralidade vigente.
Se aquiescermos que o Realismo Moral é um representante
fidedigno dos fatos Morais, mas aceitarmos que a fé mística e a
consciência humana são ferramentas ruins para discernir entre o
certo e o errado, como poderíamos estabelecer com confiança o
que é Bom e Correto?
Quando, sob o peso de suas evidências, a Ciência chutou a
religião e as superstições para escanteio e assumiu a paternidade
do Conhecimento humano moderno, fomos levados a uma
doutrina metafísica (as únicas coisas que existem são as coisas
da Natureza) e epistemológica (tudo que podemos saber acerca
da realidade do mundo vem de aplicações do método científico)
que transformou o Realismo Moral tradicional em algo que
passamos a chamar de Naturalismo. A despeito deste viés de
modernidade, as origens do Naturalismo retrocedem à filosofia
clássica da Índia, vários séculos antes de Cristo48-50.
Não importa como você fatie a Moralidade, não existe uma
maneira científica indiscutível para provar por que alguém
deveria optar pelo que é Bom e Correto: fazemos nossas escolhas
por medo de reprovação ou punição, ou pelo desejo de aprovação
e valorização de quem somos, mas nenhum desses é uma
evidência científica. Escolhemos o que é Bom e Correto movidos
por auto-interesses, não em nome da Ciência51. Exatamente por
isso as coisas podem dar muito errado – e foi desta ausência de
validações que surgiu o Naturalismo.
O Naturalismo foi a maneira que o Realismo encontrou para
romper o cordão umbilical que o prendia à necessidade de um
teísmo que o validasse, imprimindo aos princípios Aristotélicos,
Deontológicos, Consequencialistas e Objetivistas um tom mais
cientificista.
O termo foi popularizado a partir da primeira metade do
século XX, quando a filosofia procurou alinhar-se à biologia,
primatologia, antropologia, psicologia e neurociência, alegando
que a realidade está saturada pela Natureza e nada existe de
sobrenatural: somos capazes de emitir julgamentos Morais sem a
necessidade de nos apoiarmos em autoridades externas como reis
ou deuses.
Tomando-se alguma liberdade, Tales de Mileto, Anaxágoras,
Demócrito, Aristóteles, Francis Bacon, Voltaire, Laplace, Diderot,
Alexander von Humboldt, Auguste Comte e os comunistas
Mikhail Bakunin e Thomas More podem ser considerados
Naturalistas.
More, em particular, escreveu que “a virtude é uma vida
conforme a natureza, e a natureza recomenda ser bom para
com o próximo e levar uma vida feliz, tendo o prazer como o fim
de todas as nossas ações”, completando que “a Natureza
convida todos os homens a se ajudarem mutuamente em vista
de uma vida mais alegre”39. Curiosamente, para More e
Aristóteles, os escravos – cruelmente desumanizados – não
estariam incluídos no direito a esta “vida mais alegre”.
Entre os pensadores Naturalistas mais atuais, merecem
destaque Willard Van Orman Quine, George Santayana, Edward
Osborne Wilson, Carl Sagan, Noah Yuval Harari e Paul Kurtz
(considerado Pai do Humanismo Secular).
Os críticos mais ferozes do Naturalismo defendem que
conhecemos as Verdades substantivas a partir de uma “intuição
Moral” que nos oferece um acesso direto ao Reino da Moralidade.
Todavia, admitir este misticismo não configura um exercício de
raciocínio, mas uma embaraçosa demonstração de fé em
entidades ou propriedades transcendentais. O Naturalismo, em
contrapartida, apela para uma explicação mais simples que isto,
aceitando que nossa Moralidade deriva de hereditariedade,
emoções, crenças, tradições e costumes, não obstante
transformando-a em um tipo de conhecimento prático que pode
ser aprimorado com doses de inteligência, Lógica e Razão.
Como defendeu Hobbes, a Moral, como a Razão, não nasce
conosco de modo completo, nem é adquirida apenas pela
experiência, como a prudência, mas obtida com esforço e
observação40.
Um pouco mais detalhado que Hobbes, Comte descreveu que
a Moralidade percorre três estados teóricos diferentes: o
teológico ou fictício; o metafísico ou abstrato; e o científico ou
positivo – que poderia muito bem ser chamado de Naturalista33.
Neste último estágio, a observância do mundo natural amplia
nosso conhecimento Moral da mesma forma que aumenta nosso
conhecimento científico.
Modernamente, o Naturalismo tem ganhado adeptos graças
ao seu robusto senso de objetividade, permitindo que a
Moralidade seja testada quando à sua legitimidade, salvando o
Realismo Moral dos mistérios metafísicos que cercavam suas
premissas.
Ao afirmar somos capazes de reavaliar a Moralidade sem
qualquer aconselhamento sobrenatural, o Naturalismo nos
libertou para discordar dos dogmas religiosos sem contradizê-los.
Ele apenas assumiu que as culturas religiosas são uma das várias
fontes de conhecimento Moral, contendo um grande acúmulo de
experiências humanas sobre o que compõe uma vida Boa e
Correta, mas que estas culturas não representam a melhor
Moralidade possível.
Uma vez que boa parte de nossas crenças resultam de
etiologias evolucionárias e não de fatos Morais per se, o primeiro
desafio do Naturalismo foi definir o que é ser Bom e Correto.
A Natureza não é explicitamente normativa; ela não rotula
suas Verdades substantivas: o que é bom ou mau, ou certo ou
errado, não está escrito em árvores, desenhado no céu ou
perceptível em análises do solo36. Então como os Naturalistas
determinaram o que poderia ser considerado Bom e Correto?
O grande passo neste sentido foi dado nos anos 1980 pelos
pesquisadores Richard Boyd, Nicholas Sturgeon e David Brink,
da Universidade de Cornell (EUA)27-32. Eles sugeriram o seguinte:
imagine por um instante o conceito de saudável. Estar saudável
não é sinônimo de estar corado ou caminhar com passos firmes, e
estes sinais visuais tampouco são suficientes para considerar
alguém saudável: eles são apenas indicadores de alguém
saudável. Desfrutar de saúde é um estado complexo que envolve
um funcionamento adequado do organismo como um todo, e a
ausência ou presença de muitas coisas (alimento, água, doenças,
etc.) pode causar ou impedir a saúde. Portanto, estar corado ou
caminhar com passos firmes são indicadores de alguém saudável,
pois são propriedades causadas pela saúde.
Boyd, Sturgeon e Brink consideraram que o conceito de Bom
e Correto assemelha-se ao conceito que temos de saudável: não é
algo diretamente observável ou um sinônimo de sinais simples,
mas uma propriedade complexa que resulta de causas e em
consequências peculiares. Muitas coisas podem ajudar ou
impedir alguém de agir de modo Bom e Correto – como dor,
honestidade ou desconfiança –, e muitas coisas ocorrem quando
agimos de modo Bom e Correto – como aprimoramento do
caráter com progresso do conhecimento, florescimento humano,
entendimento político e paz; e podemos observar a presença do
que é Bom e Correto a partir destes indicadores.
Seguindo o raciocínio dos pensadores de Cornell, é fácil
perceber que a premissa fundamental do Naturalismo é uma
forma de Neo-Aristotelismo. Como discutido anteriormente, de
acordo com Aristóteles, a Virtude corresponde ao que é Bom e
Correto, e o virtuosismo é uma correspondência à função: todas
as coisas vivas possuem uma função determinada pela Natureza;
quando elas operam em concordância com suas funções, estão
agindo com Virtude e podem ser consideradas boas.
Por exemplo: a função mais importante de um relógio é
marcar o tempo. Não interessa muito o material de que ele é feito
ou sua aparência. Desde que seja capaz de marcar o tempo com
precisão, então pode ser considerado um bom relógio. Se o
relógio não é capaz de realizar sua função com eficiência, ele pode
ser considerado um mau relógio.
Os órgãos do corpo também podem ser definidos pelo seu
funcionamento: o coração é um órgão cuja função é bombear o
sangue. Os pulmões são órgãos que servem para respirar. Se seu
coração e seus pulmões cumprem essas funções com eficiência,
então podemos dizer que você tem um bom coração e bons
pulmões. Porém, quando o coração não é capaz de realizar sua
função com eficiência, ele pode ser considerado um mau coração.
E o mesmo vale para os pulmões e demais órgãos em seu corpo.
Pessoas que trabalham podem ser igualmente definidas
segundo seu funcionamento: um professor é um profissional que
ensina. Se os alunos de um professor de fato aprendem o que ele
está ensinando, então o professor está cumprindo sua função e
pode ser considerado um bom professor. Porém, quando um
professor não é capaz de realizar sua função com eficiência, ele
pode ser considerado um mau professor. Se uma goiabeira dá
goiabas, então ela é uma boa goiabeira. Se uma abelha melífera
produz mel, então ela é uma boa abelha. Finalmente, se um
humano age segundo sua função neste mundo, então ele é um
bom humano.
A partir destes axiomas aristotélicos de Virtude, o
Naturalismo Moral postula que um humano age de modo Bom e
Correto quando (1) suas partes e operações contribuem de modo
característico para a sobrevivência e reprodução de sua espécie;
(2) ele completa esta tarefa usufruindo prazer e contentamento,
sem empregar violência ou causar danos ou dor a si mesmo ou a
outrem; e (3) funciona adequadamente dentro do grupo a que
pertence.
Está bem claro que nem a consciência humana, tampouco a
natureza humana per se, são guias úteis para a Moralidade, pois
não possuímos apenas capacidade para cooperação e filantropia,
mas também tendências egoístas e mesquinhas. Então quais
aptidões devem ser incentivadas ou desencorajadas? E em que
intensidade? A resposta está no estudo da história, no diálogo, no
debate e na lembrança permanente de que somos todos
humanos, com necessidades, vontades, personalidades, intuições,
e Identidades Pessoais mais ou menos parecidas – e mais ou
menos diversas.
Ao venerar dados e evidências, ao invés de deuses ou líderes
humanos, a autoridade contida no Naturalismo é um tanto
temporal: apesar de Realista e Normativo com uma boa pitada de
Consequencialismo Utilitário, o Naturalismo não garante quais
consensos irão perdurar, e este é o preço a se pagar por não
possuir um garantidor externo da Moralidade34.
2.8. CONCLUSÃO DA PARTE II
O fato de os humanos terem consciência da Moralidade é por
si só surpreendente, mas o futuro das sociedades livres coloca-se
em risco quando abdicamos de debater com clareza nossas
premissas e nossos objetivos éticos – que se tornam mais
complexos quanto mais intricada vai se tornando a civilização
que engendramos. A Moralidade é um farol-guia, orientando
nossa motricidade consciente pela vida. Quando fora de foco,
todo o restante se torna impreciso e ameaçador.
De um modo geral, a lógica do desenvolvimento da
Moralidade sugere que a instrução básica de nossa espécie
consiste em desempacotar e aprimorar as potencialidades da
personalidade, esperando que o ambiente seja hospitaleiro às
expressões de nossos “talentos”. Como sugerido por Erich
Fromm, qualquer sociedade tende a configurar a Moralidade de
seus membros de modo a induzi-los a desejar fazer aquilo que
deveriam para manter a integridade do organismo social53.
Lamentavelmente, esta dinâmica de autopreservação torna-se
autodestrutiva quando, em nome de fins elevados, elegemos e
empregamos axiomas nocivos ao florescimento humano.
Os problemas associados ao Realismo Moral não são frutos
de coincidências. A teoria, em si, é repleta de furos. A ideia de
que pode existir um código moral universal parece ser de uma
candura comovente: existem tantos desacordos com assuntos
relevantes como sexualidade, aborto, eutanásia, direitos
humanos, pena de morte, justiça social e meritocracia que o
abismo entre as culturas se apresenta como um abismo
insuperável.
Consideremos como ponto de partida o Absolutismo Moral:
uma Moralidade mantida coesa por meio de uma autoridade
externa produz uma miragem de segurança e é útil para diminuir
nossa ansiedade frente aos dilemas da vida. Entretanto, tão logo
essa autoridade é colocada em dúvida ou removida, o sistema
desmorona sobre sua própria fragilidade. Qualquer mecanismo
que vise controlar o comportamento humano através da força
deve ser considerado, na melhor das hipóteses, a última opção
para fundamentar uma sociedade realmente civilizada.
Ainda assim, boa parte do poder do Absolutismo Moral
reside em seu vínculo à espiritualidade. Segundo seus defensores,
sem a tutela da religião, o Estado, o governo, a honestidade, a
estrutura familiar, os laços de amizade e a obediência ao que é
Bom e Correto estariam condenados55. No entanto, a
consequência desta abordagem não é uma elevação do padrão
ético, mas uma usurpação da autoridade Moral por parte
daqueles que expressam subserviência aos dogmas defendidos
por sua espiritualidade preferida. A maioria dos que vivem nesta
versão idealizada de mundo vivem, na verdade, uma versão do
mundo customizada para suas preferências individuais – vivem
na caverna e não parecem ter se dado conta disso ainda. Como
ponto final inevitável de suas ideologias perfeccionistas, cedo ou
tarde desaguarão no fanatismo.
Com a Deontologia não ocorre algo diferente. Primeiro, ela
diz-se auto-justificável, mas suas justificativas nem sempre são
adequadas. Segundo, insiste em apoiar-se em pressões externas
(obrigações) e não em motivações internas (busca da virtude)
para atingir seus propósitos. Por fim, a aspiração à santidade
Deontológica que habita em nós é rivalizada por vários
demônios: as atrações materialistas são obstinadas; os dogmas
indulgentes são convincentes; as distrações mentais são
incessantes; as luxúrias e hostilidades do ambiente são inúmeras;
e a natureza do corpo humano tornou-se inadequada à sociedade
que criamos. Construir uma Deontologia irretocável exigiria a
eliminação de todos estes impedimentos.
Nutrimos intuições conflitantes sobre o que é Bom e Correto,
e a resposta para quais princípios Morais correspondem à
Verdade substantiva está longe de ser encontrada. Algumas
destas respostas não podem ser acessadas exclusivamente pela
ciência e talvez jamais sejam determinadas com um grau
inquestionável de certeza e precisão, mas isso não quer dizer que
elas não existam. Acredito que as gerações no futuro olharão para
as idiossincrasias pueris de nossos sistemas Morais e sofrerão a
tentação de classificar os últimos 2.000 anos da presente Era
como uma curiosa adolescência Pós-Paleolítica, um período
instigante acometido por epidemias febris de alucinação coletiva
– muitas vezes nada benéficas. Estarão equivocados apenas na
medida em que subestimam a sabedoria do Paleolítico e caem na
armadilha de sobrevalorizar o obscurantismo crédulo das
experiências culturais que aceitamos patrocinar a partir do
advento da Revolução da Agricultura.
Questionar os valores que orientam suas ações é uma
recomendação saudável, mas questioná-los sem oferecer uma
contrapartida superior é o mesmo que trocar o "nada bom" pela
chance de um "muito ruim". Quando destronamos a Moralidade
sacramentada por séculos de pressões sociais, aceitamos como
válido o risco de preencher o hiato Moral com os impulsos mais
recentes do desejo social – que frequentemente não possuem a
vivência de mundo necessária, tampouco o quilate de sabedoria
das convicções que dizem renovar. O resultado mínimo disso é
uma crise convulsiva subentrante da ética; o máximo, revoluções
acompanhadas de doses exageradas de sofrimento.
O escritor irlandês Clive Staples Lewis (1898-1963) defendia
a existência de princípios morais que transcendiam civilizações,
culturas e filosofias. Lewis abordou com insistência a necessidade
de possuirmos pelo menos um Realismo Moral – ao qual ele se
referia como Tao 54. Entretanto, nesta Era de Hiperconectividade,
as certezas locais estão sendo substituídas por opiniões globais, e
a maioria das culturas não pode mais se conformar com as
respostas tradicionais para sua Moralidade. O raciocínio e o
julgamento Moral devem se expandir para abranger esta nova
situação planetária. Mas o risco é iminente.
Substituir a Moral religiosa pela Moral Darwiniana
Naturalista pode resultar na troca de uma subserviência ao divino
por uma subserviência à genética. Mudam-se as origens, mas não
se altera o papel de inimputabilidade da vontade humana
consciente: sobrepomos o destino escrito por deus com o destino
estabelecido pela hereditariedade. Em nenhuma destas versões
deterministas o humano responderia pelas suas escolhas Morais:
os padrões estariam previstos por forças de antes e para além de
sua existência.
É bastante provável que os valores Morais inexperientes que
estão sendo paridos mantenham discernimentos anteriores já
validados pela Seleção Natural, mas também é provável que eles
resultem em quebras desconcertantes de arquétipos que
considerávamos inatacáveis. De uma maneira ou de outra,
resistir a este processo é tão fútil quanto esconder-se debaixo da
mesa para proteger-se da queda de um asteroide do tamanho do
Monte Everest.
O futuro da crise moral parece apontar para um hibridismo
fundamentado no retorno da Ética das Virtudes. A ênfase no
desenvolvimento do caráter, como proposto por Aristóteles, tem
tudo para encontrar um terreno fértil na personalidade
Subjetivista, elevando-a na direção de uma Moralidade mais
construtiva, positiva e inclusiva. Assim como na Democracia há
uma divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário,
seria ideal desfrutar de uma Moralidade similarmente tripartite
composta por uma expressão de 49% de Realismo Moral, 36% de
Relativismo e 15% de Ceticismo: o Realismo representando a
capacidade de executar ações e atingir metas com determinação e
eficiência; o Relativismo, a habilidade de legislar com
temperança; e o Ceticismo, a faculdade de emitir julgamentos
Morais navegando com dúvidas isentas por entre todos os
dogmas.
Para mim, a solução para crise atual do Realismo Moral exige
a adoção de um sistema baseado, focado, determinado a alcançar
a Virtude em cada um de seus componentes. E isso não passa
apenas pela educação formal: passa por uma reformatação
abrangente da consciência coletiva, que exige mídia, Estado,
escolas e, acima de tudo, comprometimento pessoal. Em vista
deste último item, não interessa se os outros estão fazendo ou
não a parte que lhes cabe. A pergunta é se você está fazendo a
sua. É assim que a História começa.
PARTE III
CETICISMO MORAL
Se a capacidade de raciocínio humano fomentou crenças éticas,
ela também produziu dúvidas Morais quase na mesma medida e
intensidade. Mas o que seria este modo de “acreditar
desacreditando”? É possível explicar sua origem e lhe dar alguma
utilidade? Ser cético é uma vantagem ou uma desvantagem?
Índice desde Capítulo:
3.1. Introdução da Parte III
3.2. Um pouco de Ceticismo Doxográfico
3.3. As raízes Pirrônicas de Nietzsche e suas
ramificações
3.4. Do Ceticismo ao Niilismo
3.5. Em defesa do Ceticismo
3.6. Desvantagens do Ceticismo
3.7. Ceticismo e Religião
3.8. Conclusão da Parte III
3.1. INTRODUÇÃO DA PARTE III
O Ceticismo Moral consiste na proposição de que ninguém
detém o conhecimento definitivo da Verdade substantiva, sendo
impossível saber quando uma convicção corresponde à Verdade
ou não passa de uma convenção sedimentada pelas forças da
biologia, da cultura ou do hábito1-3. Um Cético Moral é aquele
sujeito que questiona tudo e vive nos testando com a pergunta:
“mas como você pode provar isso?”.
Devido a esta iconoclastia, o Ceticismo costuma despertar
sentimentos bipolares: alguns o aprovam com louvor,
considerando-o uma demonstração de sinceridade, pois aceitam
que ninguém é capaz de ter um conhecimento real das Verdades
substantivas; outros o desaprovam como um absurdo sem
tamanho, e devolvem as provocações dos céticos perguntando:
“como você pode sequer pensar que o estupro e a pedofilia não
sejam monstruosidades?!”, e coisas do tipo.
Infelizmente – e por motivos óbvios –, os Céticos são vistos
pelos Realistas Morais e por muitos Relativistas como potenciais
psicopatas, e a estridência e a facilidade com que estes rótulos
são colados revelam o tamanho de suas incompreensões mútuas.
O dilema Moral denunciado pelo Ceticismo foi bem exposto
no Paradoxo de Wittgenstein: “nenhum curso de ação pode ser
determinado por uma regra, pois todo curso de ação pode ser
conformado para ficar de acordo com a regra”4. É triste
reconhecer, mas um humano é essencialmente um oceano de
desejos e simulacros de racionalidade, e no momento em que
julgamos uma ação Boa e Correta uma pergunta tende a
permanecer no ar: aquela ação é fundamentalmente certa ou foi
tornada certa porque movemos a linha Moral de maneira a
incluí-la no terreno do eticamente aceitável?
Quando a Moralidade não regula nossos impulsos, as
emoções tiranizam por completo a Razão e corremos o risco de
nos tornarmos presas fáceis de todo tipo de imediatismo
individualista.
Um Absolutista Moral acharia esta possibilidade uma
blasfêmia. Um Cético a veria como honesta e estimulante.
3.2. UM POUCO DE CETICISMO DOXOGRÁFICO
As primeiras pistas do Ceticismo podem ser identificadas nos
filósofos pré-Socráticos Empédocles (aquele que dizem ter
estabelecido os quatro elementos essenciais: terra, água, ar e
fogo) e Parmênides (aquele que dizem ter afirmado que “não
existe convicção verdadeira”). Em consonância com Parmênides,
o orador e político ateniense Demóstenes (371-322 a.C.) registrou
ainda que “estamos sempre inclinados a acreditar naquilo que
desejamos”13,30.
Mas aqui cabe um parêntese importante.
Costuma-se dividir a Filosofia em 4 períodos distintos:
Antiga (subdividida em Pré-Socrática, Clássica e Helenística);
Medieval; Moderna (subdividida em Renascimento,
Racionalismo Clássico e Iluminismo); e Contemporânea.
Na Filosofia Antiga, dentre os Pré-Socráticos, 6 merecem
destaque: Tales de Mileto (624-556 a.C.), Anaximandro (610-547
a.C.), Pitágoras (580-497 a.C.), Heráclito (540-470 a.C.),
Protágoras (485-415 a.C.), e os citados Parmênides (530-460
a.C.) e Empédocles (490-430 a.C.)31.
Bem, Sócrates nasceu em 469 a.C., quando Parmênides tinha
61 anos de idade; Empédocles, 21; e Protágoras, 16. Portanto,
Parmênides, Empédocles e Protágoras não são exatamente “Pré-
Socráticos”, mas por conveniência considera-se assim. O
problema central com os pensadores Pré-Socráticos é a absoluta
falta de registros que levem sua própria autoria.
Nenhum dos escritos de Tales de Mileto sobreviveu até
nossos dias. Ainda assim, existem fatos geométricos cujas
demonstrações são atribuídas a ele, bem como a dedução de que
“o mundo evoluiu da água por processos naturais”, a previsão de
eclipses solares e experiências com magnetismo.
Anaximandro, discípulo de Tales, escreveu um livro
intitulado Sobre a Natureza, contudo esta obra se perdeu. A ele
são atribuídas a confecção de um mapa do mundo habitado, a
introdução na Grécia do uso do relógio solar, e a medição das
distâncias entre as estrelas e o cálculo de sua magnitude.
Também se diz que Anaximandro acreditava que o princípio de
tudo era o ápeiron – uma matéria da qual todas as demais
derivariam –, e que o mundo é constituído de contrários que se
auto-excluem o tempo todo.
Tudo que sabemos de Pitágoras também se deve à tradição
oral, e outorgamos a ele a criação do nome Matemática e o
argumento de que “a essência, que é o princípio fundamental que
forma todas as coisas, é o número”.
Heráclito, que dizem ter morrido após tentar se tratar de uma
possível insuficiência cardíaca congestiva mergulhando em um
monte de esterco por orientação de um curandeiro, é creditado
pelo aforismo “Panta Rei” (tudo flui) – que não é atestado nos
fragmentos conhecidos da obra dele mesmo, podendo mais
razoavelmente ser atribuído ao seu discípulo Crátilo.
O único trabalho conhecido de Parmênides é um poema,
também chamado Sobre a Natureza como o livro perdido de
Anaximandro. Dos pedaços que restaram da obra, pode-se
concluir que Parmênides defendia (1) a Unidade e a imobilidade
do Ser (o Ser é uno, eterno, não-gerado e imutável); (2) que o
mundo sensível é uma ilusão e não se deve confiar no que se vê;
(3) e que a essência das coisas não muda.
De Empédocles, sobraram migalhas de dois poemas:
Purificações e Sobre a Natureza – os Pré-Socráticos adoravam
este título...
Finalmente, sabemos de Protágoras mais pelo que Platão
disse e de algumas referências de Aristóteles aos seus
ensinamentos que dele mesmo. Existem notícias de que deixou
escritos dois livros – As Antilogias e A Verdade –, dos quais
encontramos apenas citações e longas discussões a respeito.
Todos estes filósofos receberam os créditos de suas ideias
através de registros chamados Doxográficos, que consistem
basicamente na opinião de terceiros. E um terceiro pode creditar
à fonte a opinião que bem entender – algo que é bastante prático.
Imagine só: caso a opinião seja considerada estúpida, o
descrédito não é seu, mas de quem você está falando a respeito. E
se a opinião for condenável segundo alguma lei vigente, você
pode se safar exigindo que matem o morto de quem você era
apenas um singelo porta-voz. A culpa pela heresia nunca foi sua,
ora.
Pela ótica do Ceticismo, a filosofia Pré-Socrática se assemelha
a uma coletânea de mitologias. Algumas com fundamentos
aproveitáveis, mas a maioria com valor apenas como registro de
que alguém – cuja identidade real deve ser considerada obscura
por uma questão de honestidade intelectual – pensou certas
coisas.
Por tudo isso, estudar os Pré-Socráticos não significa estudá-
los per se, mas conjecturar a respeito do que foi conjecturado a
respeito deles por terceiras ou quartas partes. Algo como fofocar
a fofoca que você ouviu fofocarem algum dia, em algum lugar.
Caso você tenha algum interesse pelas percepções Pré-
Socráticas, parece mais apropriado debatê-las como conceitos
gerais e não especificamente como pareceres emitidos por um ou
outro autor, visto que acreditar em Doxografia e considerar cada
pensador deste período como instituidor legítimo dos
entendimentos que lhes são atribuídos está mais para um ato de
credulidade espiritual que qualquer outra coisa.
Como afirmou Hume, “os humanos possuem uma memória
frágil e um conhecido gosto pelo exagero”32. Uma vez reunidos,
estes fatores habitualmente deturpam a história, resultando em
relatos que alcançam a posteridade com argumentos e raciocínios
que nem de longe evocam a verdade que pretendiam narrar.
Acreditar que Parmênides ou Pitágoras disse isso ou aquilo é
como debater sobre a análise sintática das frases ditas pela cobra
que conversou com Adão no paraíso. Não é um exercício de
filosofia como ciência, mas de filosofia como uma profissão de fé.
3.3. AS RAÍZES PIRRÔNICAS DE NIETZSCHE E SUAS
RAMIFICAÇÕES
Oficialmente, considera-se que o Ceticismo Moral teve
origem a partir do Pirronismo, uma corrente filosófica inspirada
em Pirro de Élis (360-270 a.C.) e registrada por Sexto Empírico6.
Os Céticos Pirrônicos negavam que qualquer fato Moral fosse
evidente e permaneciam em um estado de inquirição perpétua.
Entretanto, para um pirrônico, a ausência de evidências não
constituía evidência da ausência, e este conceito de falta de
crença é profundamente diferente de uma descrença legítima.
Por exemplo: segundo a Equação de Drake, estima-se que
existam cerca de 140 mil civilizações na Via Láctea tão
tecnologicamente avançadas quanto a nossa – ou ainda mais
avançadas7. Entretanto, o Paradoxo de Fermi diz que, se Drake
estivesse certo, e considerando os 2 trilhões de galáxias no
universo observável, as antenas do SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence) deveriam estar captando uma
barulheira dos diabos, mas tudo que ouvimos até hoje é ruído de
energia estática8.
A ausência de evidências de vida extraterrestre no SETI não
seria uma evidência de sua ausência? O escritor de ficção-
científica Arthur Charles Clarke respondeu a esta pergunta de
modo refinado, dizendo que “existem duas possibilidades: ou
estamos sozinhos no universo ou não estamos. Ambas são
igualmente aterrorizantes"9.
Ainda que não estivessem procurando alienígenas, mas
escrutinando a Verdade, os Céticos Pirrônicos assumiam que a
incerteza é tão grande que não é possível definir qualquer posição
a respeito da existência ou inexistência de fatos Morais – ou ETs.
Depois de séculos de ostracismo, o pirronismo voltou a
ganhar influência a partir da publicação do livro Novo Organum
(1620), de Francis Bacon, e o surgimento de uma visão mais
científica do mundo, fundada nas teorias de Copérnico, Kepler e
Galileu.
Entre os séculos XVIII e XIX, a riqueza tornou a Europa
relativamente segura e confortável e toda a estrutura filosófica,
política, religiosa e Moral de 2 mil anos de idade começou a
colapsar sob o Iluminismo, fornecendo o pano de fundo ideal
para derradeira dispersão das ideias contestadoras de Montaigne,
Ockham, Descartes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot,
D'Alembert, Locke, Berkeley e Hume10,11.
Mais tarde, esta mesma onda formataria questionadores de
relevância como Bertrand Russell, Karl Popper, Isaac Asimov,
Richard Dawkins, Carl Sagan, Christopher Hitchens e Sam
Harris, entre outros. Mas caberia a Friedrich Nietzsche o trono de
Arauto mais Famoso do Pirronismo: a violência herética de suas
críticas era proporcional àquilo que ele procurava desprestigiar e
desmantelar.
Nietzsche nasceu em uma pequena cidade próxima de
Leipzig, em 1844. Quando tinha 4 anos de idade, seu pai faleceu
de um problema cerebral aos 36 anos. Pouco tempo depois,
Nietzsche perderia também o irmão, Joseph, e estas mortes lhe
atormentariam daí em diante.
O fato de Nietzsche descender de uma longa e ilustre
linhagem de ministros luteranos é uma grande ironia: ele foi
admitido na Universidade de Bonn como estudante de Teologia e
Filologia – uma disciplina centrada na interpretação de textos
bíblicos clássicos. Durante os anos universitários, Nietzsche
descobriu O Mundo Como Vontade e Representação (1819), de
Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, falecido quando Nietzsche
ainda era um adolescente, seria uma influência profunda em toda
a obra do filósofo, assim como Wagner e Goethe.
Em 1869, a Universidade de Basel ofereceu-lhe a cátedra de
Filologia, que ele assumiu e onde lecionou por algum tempo.
Contudo, alegando problemas de saúde, Nietzsche afastou-se da
vida acadêmica em 1879 e passou a década seguinte viajando por
várias cidades na Europa, elaborando boa parte de seus escritos.
Em 1888, aos 44 anos, sofreu algum tipo de transtorno
neurológico agudo e passou a morar com a irmã. A doença
misteriosa – que alguns dizem ter sido sífilis terciária ou uma
doença neurodegenerativa ainda não esclarecida – causaria sua
morte doze anos depois12.
O Pirronismo de Nietzsche foi precedido e instigado pelo
realismo cru de Soren Kierkegaard – precursor do
Existencialismo –, pelo pessimismo de Schopenhauer e pela
filosofia psicológica de Dostoiévsky, deixando como herdeiros os
existencialistas Ortega y Gasset, Martin Buber, Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir, Karl Jaspers e Albert Camus; e o Pós-
Modernismo relativista de Lyotard, Foucault, Derrida,
Baudrillard, Richard Rorty e Fredric Jameson.
Dentro do clube dos Céticos Morais, também merecem
destaque Friedrich Heinrich Jacobi (o primeiro a utilizar o termo
Niilismo), Martin Heidegger (uma das mais importantes
influências para o desconstrucionismo de Derrida) e John Leslie
Mackie (um dos maiores propagandistas da Teoria do Erro e que
afirmava, sem papas na língua, que a Moralidade deve ser
inventada, não descoberta)21.
3.4. DO CETICISMO AO NIILISMO
Assim como o Realismo e o Relativismo Moral tiveram filhos
rebeldes – respectivamente, o Absolutismo e o Subjetivismo –, o
Ceticismo produziu uma ovelha desgarrada chamada Niilismo.
O Niilismo (do Latim nihil, que significa “nada”) difere do
Ceticismo no sentido em que defende que toda reivindicação
Moral é essencialmente falsa. O Ceticismo não-niilista assume
que não é possível diferenciar uma Moralidade descritiva (a
modo de como pensamos que o mundo é) de uma Moralidade
normativa (a expectativa de como gostaríamos que o mundo
fosse).
Um Niilista autêntico acredita em nada, não deve lealdade a
coisa alguma, e não vê ordem ou propósito na existência14. Talvez
por isso eles sejam tratados com enorme desconfiança: com uma
Moralidade assim, o que os impediria de manipular o mundo e as
pessoas nele como objetos de exploração, degradação e
destruição?15
Para o Niilismo, os fatos são reais, mas os valores que
atribuímos a eles, não. Os fatos são ocorrências do mundo que
independem de nossas mentes. Os valores estão todos apenas na
sua cabeça. Niilistas e Relativistas concordam entre si quanto à
inexistência de uma Verdade substantiva, mas os Relativistas
pelo menos aceitam a validade parcial de algumas verdades
adaptadas – uma conduta inadmissível para um Niilista.
Durante boa parte do século XX, o Niilismo esteve associado
à crença de que a vida não tem um objetivo deliberado. Nas
décadas de 1940 e 1950, Jean-Paul Sartre definiu bem o espírito
Niilista como sendo “a existência que precede a essência”28.
Segundo Sartre, quando abandonamos nossas ilusões,
alcançamos um nada que não apenas é a fonte da liberdade mais
absoluta como também de profundo horror e angústia emocional.
Este seria o privilégio do caos Niilista: a dúvida é útil justamente
por não apresentar uma resposta em si mesma, e o mundo
Niilista representaria o ápice cristalino da Natureza. Não há
certezas, não há Moral; há apenas a vida e suas experiências.
Com uma descrição dessas, é fácil perceber quão relevante foi
o papel desempenhado pelo Niilismo na tradição intelectual do
Ocidente16,17.
Apesar de podermos identificar algumas sementes de
Niilismo no viés Progressista da Tolerância de John Locke, o
primeiro grande pop-star do Niilismo não foi Locke, mas
Nietzsche, cujas convicções éticas, religiosas e metafísicas
precipitaram uma crise Moral sem precedentes.
Nietzsche acreditava que, se fôssemos capazes de encontrar
uma saída para o apocalipse Niilista, sobrevivendo ao processo de
destruição de todas as interpretações do mundo, poderíamos
finalmente idealizar um uso mais apropriado para a humanidade.
Como você pode observar conferindo as manchetes nos jornais
do dia, ainda não descobrimos a resposta para isso, e as
metanarrativas com as quais nos iludimos continuam firmes e
fortes.
Nietzsche jamais sustentou o Niilismo como um modo
prático de levar a vida e quase sempre era um crítico ferrenho
desta maneira de pensar. Ele defendia que a Razão, a Lógica e a
Ciência não eram suficientes para conduzir-nos à Verdade
substantiva, mas não desconsiderava a existência de algo assim18.
De modo análogo, o Desconstrucionista Jacques Derrida – outro
a receber o rótulo de Niilista sem achar-se um – também não
negava a Verdade substantiva, mas nossa capacidade de
desvendá-la19.
Niilistas mais amenos e sensatos, como Jacobi, Kierkegaard e
Heidegger, talvez acreditassem que poderia existir algo passível
de crença, apenas não havíamos descoberto este algo ainda. Os
Niilistas extremados, como Derrida, Lyotard e Baudrillard,
cavalgando orgulhosos em sua Teoria do Erro, foram além e
afirmaram categoricamente que (1) todas as regras Morais são
falsas, (2) temos razões para acreditar que elas são falsas, e (3)
não existe justificativa para acreditar em qualquer norma sobre a
qual exista alguma dúvida. Portanto, não existe justificativa para
crer em qualquer Moralidade21.
Por volta do final do século XX, o Niilismo passou a ser
utilizado para caracterizar mentalidades típicas da Pós-
Modernidade, como o conformismo alienado (contemporizo
quase tudo porque não quero a responsabilidade de assumir as
consequências de minhas escolhas), a tolerância narcisista
(aceito o fato de você estar certo desde que concorde comigo), a
erudição ignorante (tenho interesse por vários assuntos, mas
não sou capaz de emitir uma opinião embasada sobre coisa
alguma) e um ressentimento muitas vezes violento com os
dogmas, as instituições e os ídolos sedimentados pela tradição (se
não é da minha época, provavelmente está errado; se for da
minha época, também)20. Como observado pelo personagem
Arquiteto no clássico Matrix, de 1999, "a negação é a mais
previsível de todas as reações humanas”. E a reação Niilista,
previsível e resistente, chegou para ficar.
No cenário de banalização de tudo, as ideias vanguardistas –
mesmo as mais estúpidas – adquiriram a incrível habilidade de
serem impostas contra um mínimo de resistência. Com admirável
disposição, isto é o que Niilismo nos oferece: que, de nada em
nada, avancemos um zero à esquerda de cada vez.
3.5. EM DEFESA DO CETICISMO
Tradicionalmente, o Ceticismo questiona – mas não
necessariamente nega – a validade de nossas crenças cotidianas,
apelando para a ciência como uma ferramenta para determinar o
que é verdadeiro: se uma proposição tem o apoio de pesquisas
confiáveis e evidências sólidas, então ela é considerada mais
válida que outra sustentada apenas por adeptos do espiritismo ou
estudiosos de OVNIs22.
Ainda assim, um bom Cético admite que mesmo as
evidências científicas podem ser temporárias e devem sujeitar-se
a questionamentos: a ciência não representa o limite definitivo,
mas a fronteira do Conhecimento. É sempre possível que algo que
consideramos verídico seja algum dia provado ser uma falácia
provinciana digna de deboche – e a História está repleta desses
deslizes.
Por exemplo: Isaac Newton passou décadas obcecado com a
Alquimia; Darwin não compreendeu corretamente o padrão de
herança Mendeliana; William Thompson – o famoso Lord Kelvin
– errou em mais de 50 vezes a estimativa da idade da Terra;
Linus Carl Pauling (considerado Pai da Ligação Química e duas
vezes vencedor do Prêmio Nobel) publicou uma teoria sobre o
DNA desenhando-o como 3 cadeias paralelas de nucleotídeos ao
invés de duas, e por aí vai23.
Sem embargo, o Ceticismo oferece a oportunidade de avaliar
nossos princípios sob a ótica fria do pragmatismo. Por exemplo:
digamos que um determinado credo afirme que comer carne é
uma transgressão Moral. Um Cético não engoliria essa premissa
de imediato, mas utilizaria indícios consistentes para avaliar se
comer carne realmente afeta sua longevidade, ou provoca danos
físicos a terceiros ou à propriedade de outrem. A validade da
recomendação Moral dependeria das respostas para estas
indagações e, ainda assim, estaria sujeita à verificação periódica
por meio das evidências mais recentes.
O Ceticismo trata a Moralidade como um regulamento
perpetuamente questionável: a Moral ocupa sempre o banco dos
réus e jamais tem sua palavra aceita na ausência de provas
sólidas. A evidência a seu favor ou contra nem sempre precisa ser
conclusiva ou representar um saber inabalável, mas deve oferecer
motivos razoáveis para que o veredito seja enunciado com uma
dose de dúvida dentro de um limite aceitável.
Por exemplo: você está conversando com uma pessoa que
considera o homossexualismo antinatural e, portanto, errado e
digno de condenação. Ao abordar esta opinião de modo Cético,
sua primeira medida seria recusar o valor Moral intrínseco da
premissa, pois na Natureza não existe algo normativamente certo
ou errado. Estas são qualidades criadas pelos humanos24.
Na sequência, você poderia recorrer à ciência: se a atividade
homossexual estiver presente em outras espécies além da
humana, a opinião de que a homossexualidade é uma prática
antinatural e, por este motivo, moralmente condenável se torna
ilógica e, por conseguinte, nula.
E sim, práticas homossexuais já foram observadas em vários
mamíferos, incluindo bisões, bois, cabras, cães, caribus carneiros,
cavalos, chimpanzés, cisnes, coalas, elefantes, gatos, girafas,
golfinhos, guaxinins, leões, pandas, patos, orcas, raposas e ursos.
E práticas homossexuais também foram relatadas em diversos
pássaros, peixes, répteis, anfíbios, insetos e outros invertebrados,
tornando relacionamentos entre espécimes do mesmo sexo algo
relativamente comum na natureza e absolutamente não exclusivo
dos primatas humanos25,34.
Apesar de rigoroso e atrevido, o Ceticismo não visa
exatamente aniquilar os valores Morais: ele apenas recomenda
que você aborde a Moralidade com uma dose de desconfiança,
evitando dogmatismos inconsistentes. Afinal de contas, além da
adesão cega a axiomas equivocados, seu julgamento pode ser
afetado por fatores que são Moralmente irrelevantes como fome,
sono, palavras utilizadas para descrever o contexto do ocorrido, e
a limpeza e a organização do ambiente à sua volta. Todos estes
podem comprometer a qualidade e a confiabilidade de suas
opiniões.
A teoria do Ceticismo consiste em abrir mão da credulidade
nos julgamentos Morais de terceiros até que você tenha a chance
de elaborar seus próprios arbítrios através de pesquisa racional e
deliberação imparcial. A prática do Ceticismo requer que você
não apele para autoridades ou espantalhos ao defender seu ponto
de vista; que considere todas as vertentes de pensamento
possíveis; e que não se deixe levar por considerações parciais (o
peso de uma amizade, por exemplo) ao emitir seu parecer. Isso
certamente é um comportamento mental saudável e digno.
3.6. AS DESVANTAGENS DO CETICISMO
A detecção de uma Verdade substantiva ocorre quando o
conteúdo de uma proposição pode ser percebido com tal clareza
que a concordância com o proposto não é abalada por qualquer
questionamento persistente. Por temperamento, um Cético leal à
sua causa está isento deste risco: ele duvida de tudo, pois duvidar
é a sua natureza. No caminho de suas incredulidades
sistemáticas, sai desmerecendo e atropelando um punhado de
Verdades válidas – algumas por ignorância, muitas por pura
birra.
Ainda que essa seja uma forma drástica para pensar fora da
caixa, ela conduz a acepções como “escravidão não é
fundamentalmente errado” ou “terrorismo não é
fundamentalmente errado” ou “preconceito racial não é
fundamentalmente errado” ou “pedofilia não é
fundamentalmente errado”. Afinal, o dever do Cético é suspeitar
de toda Moralidade corrente, certo?
Alguns acusam o Ceticismo de ir contra o senso comum
devido ao seu conflito com o modo como usualmente pensamos
sobre justiça e por posicionar-se de modo indefinido em assuntos
controversos. O Ceticismo Moral normativo é, de fato, uma
maneira tosca de levar a vida: se é para ser cético com tudo, deve-
se aceitar o fardo de ser cético até mesmo com o Ceticismo.
E aqui temos um paradoxo curioso: ao demolir todos os
fundamentos, o Ceticismo implode a própria base em que se
sustenta.
Com efeito, não admira que seus defensores, quando
encurralados, frequentemente tentem direcionar o ônus da prova
para seus oponentes: para os Céticos, quem disser que a tortura
ou a violação dos direitos humanos são Moralmente
inadmissíveis deve provar seu ponto de vista sem sombra de
dúvidas – assim como aquele que disser que existe vida em Marte
deve oferecer evidências incontestáveis a respeito disso.
Utilizando-se deste estratagema, os Céticos podem criticar
qualquer valor Moral sem nunca oferecer um único argumento
que sancione seu Ceticismo. Como definiu Bertrand Russell: “O
ceticismo é a consolação do preguiçoso, pois mostra que o
ignorante é tão sábio como o homem de saber”27.
Em termos Céticos, se você não é capaz de eliminar a
possibilidade de haver outra explicação plausível para uma
determinada certeza, então esta certeza não pode ser considerada
uma amostra da Verdade substantiva. O mesmo vale para os
princípios Morais: se uma Moralidade pode ser questionada por
um oposto tão lógico quanto ela, então a crença em um
determinado fato Moral não pode ser justificada.
Tomemos como exemplo o absoluto Moral “roubar é errado”:
quando você sonega impostos, está roubando para si as taxas que
deveria recolher para o Governo. Se em sua defesa você afirma
sentir-se injustiçado pelos altos encargos do Estado, que lhe dá
um retorno pífio pelo dinheiro arrecadado, então está admitindo
que o princípio Moral “roubar é errado” pode ser questionado por
um oposto que, do seu ponto de vista, é tão Lógico quanto ele – e
a crença no princípio Moral de que “roubar é errado” perde a
faculdade ser plenamente justificada.
Para um Cético praticante, seria impossível definir apenas
pela Razão se roubar é uma atitude certa ou não. Seguindo neste
rumo de dubiedades contínuas, fico imaginando como ele
abordaria a escravidão, a violência doméstica, o aborto, a
eutanásia e a eugenia...
Se as várias visões de Moralidade apresentam problemas,
adotar o Ceticismo não oferece exatamente uma saída para essas
dificuldades. O Ceticismo pode apresentar-se como uma posição
filosófica confortável e fácil de ser defendida, mas qualquer
pessoa mentalmente sã recusaria colocar-se exclusivamente à sua
sombra pelo resto da vida: no momento em que algo atinge ou
ofende a vida de um Cético, ele normalmente se precipita na
direção de alguma Moralidade mais impositiva.
Para testemunhar uma destas transformações, solicite a um
Cético que descreva como educaria uma criança: ele estabeleceria
padrões inegociáveis de comportamento ou permitiria que todas
as normas da casa fossem questionadas todo o tempo? Como um
pai ou uma mãe, ele possuiria o poder de fazer sua opinião mais
experiente prevalecer, então por que relutaria em utilizar esta
ferramenta de comando para o florescimento de seus pupilos?
Mais ainda: para quê cuidar das crianças, afinal de contas?
Sabendo que todo humano irá morrer cedo ou tarde, onde estaria
a evidência irrefutável de que prolongar a vida e o sofrimento das
crianças seja algo Bom e Correto? De repente, afogá-las de uma
vez na banheira seja o mais sensato a ser feito...
Na distância de um degrau acima (ou abaixo) desse tipo de
posicionamento surreal, encontra-se o Niilismo. Como o Niilismo
defende que nada é Moralmente errado, ele não lida com o que é
semântica ou metafisicamente possível: ele solenemente afirma
de que não existe coisa alguma que seja condenável – desde
sonegar impostos, praticar atentados terroristas ou torturar
bebês.
O Niilismo não oferece um ponto de partida para argumentar
sobre a Moralidade, uma vez ele considera o conceito de
Moralidade um equívoco inato. E Justamente por isso é um
sistema autocondenado: uma vez que o Niilismo é avesso a
qualquer hipótese de Verdade substantiva, não seria o caso de
ser contrário a si mesmo? Ademais, preconizar a negação de toda
Verdade e de toda Moral não seria uma verdade e uma forma
Moralidade em si?
Um Cético não-niilista diria que “sim, se o Niilismo pode ser
questionado por um oposto tão lógico quanto ele, então a crença
neste princípio não pode ser justificada”. Divertidamente,
contemplar um Niilista é como observar um cão correndo em
círculos para morder o próprio rabo.
Tanto o Ceticismo quanto o Niilismo sofrem dessa
enfermidade de regressão infinita: eles são ótimos para construir
perguntas e fustigar certezas sem assumir qualquer
compromisso, mas são quase inúteis para outro emprego além
deste.
A filosofia nos informa que tudo que aparece à mente não é
senão percepção e possui uma existência descontínua da
realidade24. Os preguiçosos de raciocínio confundem percepções
com Verdades substantivas, atribuindo um peso enorme às
interpretações equivocadas que engendram, e não constatam que
há uma grande diferença entre as convicções que abraçamos após
uma reflexão profunda e aquelas em que nos jogamos por
impulso ou emoção.
Isto deveria bastar para legitimar as teimosias do Ceticismo
moderado como uma excelente vacina contra a estupidez22.
Porém, quando constante e ilimitado, o Ceticismo torna-se aquilo
que deveria rechaçar: uma forma de Relativismo implacável que
não nos deixa com nenhuma sugestão produtiva. Afinal, quem
lhe garante que, ao abandonar todas as opiniões estabelecidas,
você está seguindo alguma Verdade?
3.7. CETICISMO E RELIGIÃO
Segundo Hume, um fundamento comum a praticamente
todas as religiões consiste em declarar que só a sua Moralidade
pode obter o favor divino, e que esta Moralidade só pode ser
representada pelos pronunciamentos de seus líderes e instituída
pela obediência aos seus dogmas32. O poder de persuasão destas
superstições sobre os “espíritos vacilantes dos mortais” tornou a
reverência de muitas pessoas a esses sermões e dogmas uma
parte central de suas vidas, de tal maneira que elas passaram a
considerar a religião fundamental para qualquer expressão de
Moralidade5,29.
Não obstante, desde meados do século XIX os dogmas
religiosos têm sido atacados de maneira implacável pelo
Ceticismo. Entre outras coisas, os Céticos denunciam que a
Religião é utilizada como um providencial manto de piedade para
disfarçar nossa perene crueldade, eximindo seus seguidores do
uso da Razão. As religiões continuam a falar de amor e tudo o que
elas fazem neste mundo é criar mais e mais ódio.
É difícil acreditar que alguém seja capaz de levar sua loucura
até ao ponto de pretender que suas próprias interpretações de
“textos sagrados” sejam inspirações divinas passíveis de serem
colocadas no mesmo nível da autoridade do Estado ou do direito
de outros humanos à vida e à dignidade. É difícil, mas acontece –
e com uma frequência e intensidade assustadoras.
Por exemplo: considere o que Tomás de Aquino teorizou em
sua Suma Teológica sobre o tratamento que devemos dar aos
heréticos. Diz Aquino: “Ora, se os príncipes seculares logo
condenam justamente à morte os falsificadores de moedas ou
outros malfeitores, com maior razão os heréticos, desde que são
convencidos de heresia, podem logo ser, não só excomungados,
mas também justamente condenados à morte. A Igreja porém
usa de misericórdia, para obter a conversão dos errados. Por
isso, não condena imediatamente, senão só depois da primeira e
segunda correção; como ensina o Apóstolo. Se porém depois
disso, permanecer o herético pertinaz, a Igreja, não mais lhe
esperando a conversão, provê à salvação dos outros,
separando-o do seu grêmio por sentença de excomunhão. E
ulteriormente, abandona-o ao juízo secular para exterminá-lo
do mundo pela morte”.
Em outras palavras: a Religião lhe dará várias chances de
aceitar a Religião ou receber a pena capital, certificando-se de
que a pena capital será devidamente aplicada caso você seja
muito insistente em não ceder.
Os adeptos das religiões atuais afirmam ser quase impossível
que algum povo tenha algum dia acreditado em absurdos tão
grandes quanto o paganismo grego, egípcio e finlandês; ou o
atenismo, o mistraísmo, o maniqueísmo, o tengriismo, o
ashurismo, o vedismo; ou nos dogmas das religiões cananeia,
minoica, sumérica, asteca e olmeca. O que nossos
contemporâneos não percebem é que, segundo a série histórica, o
mesmo eventualmente ocorrerá com as teias de significados do
espiritismo (aproximadamente 13 milhões de adeptos no
mundo), do judaísmo (20 milhões), do sikhismo (20 milhões), do
budismo (376 milhões), da religião tradicional chinesa (400
milhões), do hinduísmo (900 milhões), do islamismo (1,6 bilhão)
e do cristianismo (2,2 bilhões).
Os conceitos e teorias Morais de uma determinada religião
em geral refletem a realidade de uma época: eles expressam, com
graus variados de sucesso, as principais manifestações da cultura
coletiva à Moralidade vigente. E isto raramente equivale à
Verdade substantiva.
Para Hobbes, “caso desaparecesse esse temor supersticioso
dos espíritos, e com ele as ideias tiradas dos sonhos, as falsas
profecias e muitas outras coisas dele decorrente, graças às quais
as pessoas ambiciosas e astutas abusam da credulidade da
gente simples, os homens estariam melhor preparados para a
sabedoria”. Ao que ele completou, anotando que “aqueles que
pouca ou nenhuma investigação fazem das causas naturais das
coisas tendem a supor e imaginar por eles mesmos várias
espécies de poderes invisíveis e a se encher de admiração e
respeito por suas próprias fantasias”33. E não há outra maneira
de diferenciar as causa naturais da senão por meio da dúvida.
Pessoas religiosas não sabem, mas apenas acreditam que
suas “escrituras sagradas” são uma tradução literal das palavras
da divindade de sua preferência. Ademais, como Hobbes
observou, ao citar suas escrituras os religiosos são “hábeis em
evitar trechos de interpretação obscura ou controvertida,
ficando apenas com aqueles cujo sentido é mais agradável à
harmonia e finalidade de seus propósitos”33. O ser humano tem
essa tendência de colocar deuses fantásticos nos hiatos de seus
medos e incertezas infinitos. Isso não representa uma busca pela
Verdade substantiva, mas um recurso desonesto para sustentar
vantagens afinadas aos seus auto-interesses.
Vivemos uma guerra cultural para determinar os novos
padrões da Moralidade hegemônica, de onde brotarão as
diretrizes ideológicas, políticas e econômicas das sociedades do
futuro. Não conseguiremos fazer isso sem renunciar à ideia de
que a Moralidade proposta pelos axiomas religiosos é um resumo
fiel de todas as Verdades substantivas ao nosso alcance – ou
mesmo que suas verdades são incontestáveis.
Para os Céticos, assim como para os Positivistas, o progresso
da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos,
e todo conhecimento ligado às crenças, superstições ou outros
expedientes imunes à comprovação científica deveria ser
descartado como imprestável. Mas, como visto anteriormente, o
cientificismo não está isento de suspeitas, e o mesmo se aplica ao
Ceticismo.
Se existe algo que a história nos ensinou é que, quando velhas
ideias morrem, outras correm apressadas para ocupar o vácuo. Se
ideias criativas e sensíveis não forem produzidas por meio de
reflexões concretas e executáveis, podemos ter certeza de que
ideias perigosas e destrutivas logo surgirão para clamar seu lugar.
Quando Céticos e Niilistas jogam pela janela as tradições
codificadas pela religião, o que têm para oferecer em seu lugar
além de desrespeito, desespero e depressão?
Para esta pergunta, as crenças religiosas possuem respostas
muito mais competitivas que aquelas vendidas pelo rabugento
Ceticismo.
3.8. CONCLUSÃO DA PARTE III
Porque os Céticos se dedicam tanto para denunciar a
estupidez e expor a ignorância alheia de um adulto que opta
voluntariamente por tratamentos alternativos que podem causar
danos a ninguém mais além de si próprio? Por que deveríamos
nos preocupar com a venda de pulseiras mágicas capazes de
modular a energia vibracional do seu humor? Ou xampus
rejuvenescedores? Ou chás, ou cristais, ou reike, ou qualquer
forma de tratamento alternativo sem embasamento científico?
Por que deveríamos proibir isso? A obstinação dos Céticos em
denunciar estas escolhas e outras Morais talvez esteja naquilo
que podemos chamar de “Fardo do Adulto Racional”.
Fumantes, motoristas e alpinistas não ignoram os perigos a
que estão se expondo. Eles sabem do risco de câncer associado ao
fumo; que a velocidade, o álcool e a distração podem resultar em
sua própria morte e na de terceiros; e que a gravidade não é
exatamente amiga de quem se aventura verticalmente segurando-
se em nada além de uma corda, a ponta dos dedos e um pouco de
esperança. A diferença destas situações com a pseudociência está
no fato de que a ineficácia e o risco da pseudociência são negados
e ignorados tanto pelos vendedores quanto pelos consumidores –
e, Moralmente, os Céticos se colocam na obrigação de esclarecer
isso, em nome do Fardo do Adulto Racional.
Na crônica Os Céticos26, o escritor mineiro Affonso Romano
de Sant'Anna apregoou que “o ceticismo é o barateamento de
uma certa filosofia. O cético não vive, desconfia. Não participa,
espia. Não faz, assiste. O cético (em não fazendo nada) se julga
melhor que todos os que fazem”. Para não classificar a afirmação
de Sant´Anna como uma calúnia ressentida, prefiro matutar que
se trata de um reducionismo pueril com liberdades românticas
por parte do autor: quando um Cético ataca um determinado
valor Moral, defendendo uma visão apoiada em evidências e
argumentos lógicos, ele está agindo em oposição às crenças
vagas, respaldadas por provas testemunhais místicas e anedóticas
que fazem com que as pessoas respeitem uma crença tola como
se fosse uma entidade inexpugnável.
Alguns princípios Morais podem ser explicados pela biologia,
pela psicologia evolucionária, pela sociologia ou pela
antropologia, mas a busca por boa parte destas respostas jamais
teria sido iniciada se não fossem os incômodos beliscões dos
Céticos. Por isso, para o Ceticismo, o silêncio não é uma opção,
tampouco parecer impopular lhe incomoda. Seu objetivo não é
fornecer as respostas, mas questionar princípios e
comportamentos doutrinários aceitos como padrões de
normalidade.
Dentro deste entendimento, o Ceticismo não se torna apenas
mandatório: ele adquire ares de necessidade para nossa
sobrevivência como espécie. Nas palavras de Hume3: “Nada é
mais adequado à Razão que uma dose pelo menos modesta de
ceticismo e uma franca confissão da ignorância a respeito de
assuntos que ultrapassam a capacidade humana de
entendimento”. Mas isso não soluciona completamente nosso
problema Moral.
Os humanos não são inerentemente bons. Tampouco são
inerentemente maus. Eles precisam ser educados sobre o que é
Bom e Correto: uma parcela considerável de nossos
comportamentos são ações condicionadas pela biologia, mas
outra parcela do mesmo tamanho necessita da doutrinação de
alguma Moralidade. O Ceticismo é útil para evitar que burrices
passadas se repitam travestidas de fabulosos insights no futuro,
mas ele não garante que trocaremos velhas burrices Morais por
novas inteligências éticas.
Não raramente, a dúvida nova e viçosa é tão ou mais deletéria
que a credulidade antiga. E este é o teste pelo qual o Ceticismo
deverá passar repetidas vezes antes de provar seu valor como
uma estrada para a Moralidade Boa e Correta. Não será fácil, e
acredito que até seus seguidores duvidem do sucesso na
empreitada.
Até porque, se não duvidarem, não são Céticos.
PARTE IV
RELATIVISMO
MORAL
A tarefa mais difícil para um humano não é conquistar a
liberdade ou alcançar a felicidade, mas desenvolver
integralmente sua Moralidade. Infelizmente, a sociedade
contemporânea deixou de estimular esta evolução, pois nos
tornamos todos Relativistas. Mas o que seria esse tal Relativismo
Moral? De onde ele veio e para onde nos levará? Podemos extrair
algo de positivo dele?
Índice deste Capítulo:
4.1. Introdução da Parte IV
4.2. A Ressurreição do Peculiar
4.3. Relativismo Descritivo e Normativo
4.4. Subjetivismo e Intuicionismo
4.5. Vantagens e Desvantagens do Relativismo
4.6. O Paradoxo de Popper
4.7. A Grande Inconsistência com a Razão e a Virtude
4.8. Conclusão da Parte IV
4.1. INTRODUÇÃO DA PARTE IV
O Relativismo Moral consiste na proposição de que aquilo
que consideramos fatos Morais não reflete as Verdades
substantivas, mas circunstâncias culturais, econômicas,
históricas ou pessoais. Basicamente, o Relativismo traduz a
Moralidade em um acordo ao mesmo tempo atraente e asqueroso
de como as tradições podem servir aos propósitos de socialização
e governança1-4.
Desta definição, derivam duas conclusões: primeiro, que
nossos julgamentos podem ser considerados certos ou errados
dependendo do ponto de vista de quem os avalia; segundo, que é
impossível comprovar acima de qualquer dúvida se um ponto de
vista é superior o outro, pois os valores que prezamos não passam
de tons de “verdade” sujeitos à moda.
Os primeiros vestígios de Relativismo de que temos notícia
foram fornecidos pelo retórico grego Górgias (485-380 a.C.).
Górgias considerava que havia uma Verdade substantiva, porém
variável para cada situação: a Moralidade derivava de convenções
e não de uma “lei divina transcendental”, como proposto por
Platão40,41.
Ainda Platão fosse um Realista Moral até os ossos, ele
afirmava que a noção humana de lei e costumes (o nomos)
contradiz o que é correto de acordo com a Natureza e sua ordem
(o physis). Este ponto de vista é bem expresso por Trasímaco –
personagem sofista em A República42 – de acordo com quem “a
justiça é nada além da vantagem do mais forte”. De modo
semelhante, Aristóteles escreveu que “cada disposição de caráter
tem sua ideia própria acerca do nobre e do agradável”42.
Cientes disso ou não, Platão e Aristóteles sustentavam o
proposto por Górgias, de que aquilo que chamamos de
Moralidade não passa de um pretexto utilizado pelos mais aptos
para justificar os sistemas que melhor satisfaçam seus interesses.
Ou seja: na maioria das vezes, a Moral parece mesmo ser
Relativa, e Górgias estava mais próximo da verdade que os
discípulos de Sócrates.
Entre os séculos II e III d.C., o médico e filósofo grego Sexto
Empírico explorou o Relativismo com alguma curiosidade, mas
esta investida logo daria lugar ao Absolutismo Moral propagando
pelo Cristianismo, e o Relativismo se tornaria dormente no
Ocidente por mais de mil anos – um período durante o qual o
dualismo espiritualista de Platão e a Ética das Virtudes de
Aristóteles reinariam absolutos7.
4.2. A RESSURREIÇÃO DO PECULIAR
No século XIX, o declínio da importância da religião nas
sociedades modernizadas, uma atitude progressivamente crítica
contra o colonialismo, o questionamento da presunção de
superioridade ética dos europeus e um ceticismo crescente sobre
qualquer forma de Absolutismo Moral convergiram para tornar o
Relativismo mais palatável. Não obstante, muitos assinalam seu
ressurgimento alguns séculos antes do Iluminismo, mais
exatamente a partir da publicação dos trabalhos de Michel de
Montaigne (1533-1592).
Nascido em uma família abastada, Montaigne teve uma vida
agitada de estudos e política. Certa feita, cansado de tudo,
refugiou-se em sua cidadela – uma torre construída nos fundos
do castelo de seu pai –, passando uma década em reclusão
voluntária. Rodeado por mais de 1.500 livros e motivado pelas
publicações das traduções de Sexto Empírico, sofisticou o ensaio
como técnica de escrita, criticando a educação mnemônica e
propondo um ensino voltado para a experiência e para a ação.
Segundo Montaigne, as leis da consciência que dizemos “nascidas
da Natureza” não passam de hábitos.
Catorze anos antes ser vitimado por um abscesso nas
amígdalas, Montaigne exaltou a bravura na batalha, a
simplicidade natural da Moralidade e a estrutura social
descomplicada dos “bárbaros” do Novo Mundo: “tudo isso não é
tão mau assim: mas ora! eles não usam calças”, anotou ele8,
zombando do etnocentrismo daqueles se achavam culturalmente
superiores aos ameríndios.
Indo além, Montaigne explorou a teoria Relativista
“gorgiana”, escrevendo que “cada um chama de barbárie o que
não é seu costume. Assim como, de fato, não temos outro critério
de Verdade e de Razão além do exemplo e da forma das opiniões
e usos do país em que estamos”8.
O Renascimento retomava então o longuíssimo trabalho de
parto do Relativismo.
Seguindo trilha de Montaigne, o holandês Baruch Espinoza
(1632-1677) elaborou uma filosofia singular de tolerância e
benevolência.
Espinoza pagava suas contas trabalhando como polidor de
lentes e faleceu jovem, aos 44 anos de idade, provavelmente em
decorrência de problemas pulmonares relacionados à sua
atividade profissional. Felizmente, teve tempo de terminar sua
opera magni, A Ética, em 1674, mas não viveria o suficiente para
vê-la publicada. Baruch defendia que deus e Natureza eram dois
nomes para a mesma realidade, e considerava que nada era
inerentemente bom ou ruim9.
Apesar do Relativismo de Montaigne e Espinoza, caberia ao
escocês David Hume (1711-1776) o título de Pai do Relativismo
Moderno – ainda que ele mesmo não se visse como um
relativista. Hume distinguia fatos de valores e sugeriu que os
julgamentos Morais pertenciam ao segundo grupo, uma vez que
não lidavam a realidade, mas com sentimentos e paixões10.
Hume negava que a Moralidade tivesse qualquer padrão
objetivo e afirmava que o Universo mantinha-se absolutamente
indiferente às preferências e aos problemas da humanidade10.
Assim como outros antes dele, Hume foi profundamente
influenciado pelo antigo Ceticismo grego e postulava que as
normas de conduta que determinam como devemos agir não
derivam da Lógica ou da realidade de como as coisas são.
De modo similar, o positivista Auguste Comte – criador da
Sociologia –, ainda que concordasse com a presença de leis
naturais imutáveis e defendesse o caráter “definitivo” da etapa
científica, afirmou que mesmo neste estágio o espírito humano é
incapaz de reconhecer ou conceber as Verdades substantivas11.
As opiniões de Comte forneceram os elementos necessários para
o retorno do Relativismo durante o progresso da ciência no
século XIX.
Décadas mais tarde, os entendimentos de Górgias,
Protágoras, Sexto Empírico, Montaigne, Espinoza, Hume e
Comte seriam desenvolvidos por filósofos como Charles L.
Stevenson e R. M. Hare, que defenderam que a principal função
da Moral não era descrever os fatos, mas expressar sentimentos
de aprovação ou desaprovação acerca de uma ação ou influenciar
as atitudes e ações de outros – algo como um “prescritivismo
utilitário”12,13. Ou seja: puro Relativismo.
Nietzsche também escreveu bastante sobre Moralidade. Seu
pronunciamento de que “deus está morto”14 implicava, entre
outras coisas, que uma justificativa transcendente para os valores
Morais não era mais necessária ou viável. Segundo Nietzsche,
não existem fenômenos Morais: apenas interpretações Morais
dos fenômenos. Para qualquer um que soubesse de Górgias e seus
herdeiros da Renascença e do Iluminismo, essa afirmação não
soaria nem um pouco inovadora.
Contemporâneo de Nietzsche, o cientista social americano
William Graham Sumner (1849-1910) também saqueou as ideias
dos antigos céticos gregos.
Sumner afirmou que as noções sobre o que é Bom e Correto
estavam ligadas aos costumes, às práticas e às instituições de
uma sociedade, tornando o conceito de retidão Moral um mero
estado de conformidade às regras locais. Com grande
propriedade, diagnosticou que os membros de uma determinada
cultura tendem a generalizar sua Moralidade em princípios
absolutos que passam a reconhecer como a única bússola ética
aceitável15.
O trabalho de parto do Relativismo foi concluído pela
Modernidade com o auxílio de pensadores como Sumner, Franz
Boas, Edward Westermarck, Ruth Benedict, Margaret Mead,
Johanna "Hannah" Arendt, Jacques Derrida e Michel Foucault,
entre outros.
Longe de ser uma discussão abstrata de interesse de
desocupados profissionais, esta filosofia Moral possui
repercussões significativas sobre as nossas interações sociais.
Por exemplo: vários políticos no Brasil e em outros países
defendem com unhas e dentes o estabelecimento de um padrão
de valores nacionais derivados de sua própria cultura religiosa-
familiar, e quem quer que ouse postular crenças diferentes é
automaticamente declarado um “não-cidadão”. Através dos
argumentos de Sumner e outros notáveis, esse tipo de
Absolutismo Moral pode ser confrontando, dando ao indivíduo o
direito de tornar-se tão livre quanto a sociedade lhe permitir ser.
Não é muito, mas é alguma coisa.
4.3. RELATIVISMO DESCRITIVO E NORMATIVO
O Relativismo Descritivo consiste na simples observação da
convicção contida em diferentes crenças17-20. Por exemplo: a
Cultura 1 acredita que a mutilação genital de mulheres é boa; a
Cultura 2, não. A Cultura 1 acredita que mulheres não deveriam
votar; a Cultura 2 não tem restrição alguma a isto.
De acordo como Relativismo Descritivo, as diferenças entre
as Culturas 1 e 2 não refletem divergências conceituais no valor
Moral em si, mas no preço a se pagar pela violação deste valor: o
tabu contra a orgasmo feminino deriva da crença de que o prazer
sexual é “errado e perigoso” e sua prática corromperia a estrutura
familiar; o tabu contra o voto feminino deriva da crença de que
mulheres são intelectualmente inferiores aos homens e o sufrágio
universal causaria uma deterioração no desempenho político-
econômico da nação.
Em ambos os casos, o ponto de conflito não diz respeito ao
conceito de “certo ou errado” do orgasmo ou do voto feminino,
mas ao fato de acreditar que haverá alguma forma de castigo caso
estas situações ocorram.
O Relativismo Descritivo não declara que uma cultura esteja
mais certa ou mais errada que outra: ele simplesmente aceita que
as divergências podem e devem existir, recomendando cuidado
quando concluímos que valores Morais diferentes são
diametralmente opostos. Muitas vezes, eles expressam a mesma
convicção, apenas de maneiras distintas.
Não obstante, examinado com mais critério, ao negar a
existência de qualquer forma de Verdade substantiva universal,
o Relativismo Descritivo assemelha-se ao que há de pior no
Ceticismo.
Por exemplo: para que uma sociedade sobreviva, devemos
nos preocupar com o bem estar das crianças. Uma sociedade cujo
Relativismo Descritivo optasse por não defender com afinco uma
Verdade substantiva como esta provavelmente estaria extinta
após umas poucas gerações.
Em contraposição ao tipo descritivo, o Relativismo
Normativo consiste na ideia de que há uma Verdade substantiva
bem determinada, mas ela é relativa para cada sociedade ou
indivíduo17-20. Ou seja: como defendido por Górgias, não existe
um padrão objetivo universal para a Moralidade e nenhuma
cultura está objetivamente errada, pois cada cultura cria sua
própria Moralidade.
O Relativismo Normativo não apenas assume que duas
culturas podem ser discordantes, mas também que elas podem
estar corretas em suas versões particulares de Moralidade e seria
arrogante qualificar uma premissa qualquer sob a ótica de uma
versão oposta.
Por exemplo: no antigo seriado A Família Dinossauro, Zilda,
a mãe de Fran (esposa de Dino) vai fazer 72 anos, e Dino está
radiante por poder seguir a antiga tradição do Dia do Arremesso
da Sogra. Na sociedade dos dinossauros, matar um parente idoso
era um ato nobre para livrá-lo de seu sofrimento. Contudo, esta
prática poderia ser julgada errada por outra cultura, e ambos os
pontos de vista – de que jogar sua sogra do alto de um abismo é
um procedimento tanto misericordioso quanto condenável –
estão corretos, cada um em seu próprio contexto.
Segundo o Relativismo Normativo, uma sociedade só deveria
ser julgada pelas normas dela própria. Portanto, se você não é um
habitante da Era Mesozoica, não lhe cabe condenar Dino por ter
intenções homicidas com relação a Sra. Zilda.
O Relativismo Normativo ocupa o cerne da recorrente
discussão sobre infanticídio em algumas tribos indígenas no
Brasil50-54. Para Durkheim, cada nação tem sua própria Moral,
que se relaciona apenas consigo mesma: as pessoas têm deveres e
obrigações com seus concidadãos e mais ninguém39. Algo
semelhante foi sustentado pelo antropólogo Louis Dumont, para
quem as instituições só têm sentido dentro das sociedades que as
criaram: enquanto em algumas comunidades a referência
fundamental é o individuo, em outras é o conjunto16. Some-se a
essas concepções Relativistas o fato de que a Constituição Federal
Brasileira de 1988 assegura às nações indígenas o direito de
assassinar bebês que nascem com problemas graves de saúde45.
Outras tribos sacrificam um bebê gêmeo por considerar que a
alma da criança está dividida entre dois corpos: matando um dos
irmãos, a alma poderá se reunir por inteiro no sobrevivente.
Assim como no Dia do Arremesso da Sogra, para os índios
estas “verdades auto-evidentes” equivalem a gestos de amor e
proteção. Neste caso, até que ponto devemos intervir? É
admissível relativizar da vida humana para assegurar o respeito à
cultura de um povo?
Em resumo: se para um Relativista descritivo não existe uma
Verdade substantiva universal, mas apenas diferentes tradições
retratadas como se fossem verdades, para um Relativista
descritivo existem, sim, várias Verdades substantivas,
incontáveis delas, até mesmo opostas entre si, e nenhuma
superior a qualquer outra.
4.4. SUBJETIVISMO E INTUICIONISMO
Quando foram ressuscitados no século XX, os Relativistas
receberam a alcunha de Subjetivistas21-25.
O Subjetivismo consiste na visão de que um ato é
Moralmente bom porque você o aprova, pois ele corresponde aos
seus desejos e expectativas; e mau quando lhe contraria, é
inconveniente ou causa aversão. Isto coloca o Subjetivismo mais
próximo do tipo de Verdades substantivas tuteladas pelo
Relativismo Normativo.
O Subjetivismo defende que é possível partir da ignorância e
chegar à iluminação por meio dos sentimentos que associamos às
nossas experiências. Essa noção pode ser encontrada em
Rousseau, que afirmou ter encontrado a “verdadeira” filosofia da
vida “no fundo de seu coração, escritas pela natureza em
caracteres indeléveis. Basta consultar-me acerca do que quero
fazer: tudo o que sinto ser bem é bem, tudo o que sinto ser mal é
mal – o melhor de todos os casuístas é a consciência”29.
Para um Subjetivista, os fatos Morais são reais, mas variam
de acordo com a percepção de cada pessoa. Na prática, isto
impede a existência de um código universal pelo qual poderíamos
julgar a Moralidade de terceiros. Mas que mal poderia haver
nisso, não? Afinal, somos Homo sapiens e, de acordo com
Bakunin, “o homem é o último e o mais perfeito animal dessa
Terra”46...
O fato é que, levado a cabo, o arrebatamento Subjetivista
tornaria o indivíduo infalível: ninguém poderia julgar
Moralmente as ações de qualquer pessoa, porque estas ações já
conteriam embutidas a sua própria outorga prévia. Nas palavras
de Cícero: “Unus sustineo três Personas: Mei, Adversarii et
Judicis” – “sou portador de três personalidades: eu, meu
adversário e o juiz”43.
Um Subjetivista levaria Cícero muito a sério: se algo o faz
sentir-se bem, então esse algo é Moralmente direito. Se você está
demonstrando seus sentimentos com sinceridade quando diz que
“torturar bebês é correto”, então, segundo o Subjetivismo, você
pode fazer isso sem sentir-se culpado.
Podemos até acreditar que a Moralidade seja subjetiva e que
nenhuma opinião Moral seja incorreta, mas parece ilógico
assumir que não existam Verdades substantivas simplesmente
porque existem divergências culturais entre os povos: em Mein
Kampf, Hitler afirmou que sua vontade era “a dona inimputável
da situação, e agora o destino pode submeter-me aos testes
finais sem o desfalecimento de meus nervos ou a perda de minha
razão”45. É difícil concordar que ele estivesse com razão ao
comandar o extermínio frio e sistemático de milhões de
humanos. Se consultarmos o caderno de regras do Subjetivismo,
ele estava.
No Subjetivismo, “a consciência é apresentada como uma
justificação suficiente e uma expressão imediata de princípios
inatos no coração do homem”47. Todavia, se o Subjetivismo está
certo e toda autoridade emana dos sentimentos individuais, como
conciliar experiências contraditórias que legitimam selvagerias?
No momento em que defendemos a tolerância em nome da
empatia, podemos invocar esta mesma empatia para defender os
dogmatismos mais terríveis: com as bênçãos do Subjetivismo
poderíamos considerar que, como os atos originados de um
estado de cólera não são premeditados, mas motivados por um
estímulo externo agudo, a causa de um sujeito se comportar de
maneira violenta sob o impulso da cólera não cabe a ele, mas
àquele que o deixou com raiva.
Dado que as premissas que não se opõem aos auto-interesses
ou aos prazeres sempre recebem uma hospitalidade maior da
nossa parte, o Subjetivismo tende a chamar a opinião dos amigos
de temperança, e aquela dos não-amigos de burrice, heresia ou
incompetência. Isso não é Moralidade, mas um passatempo
sórdido onde aprovamos como Bom e Correto apenas o que
parece aceitável para nós mesmos e nosso pequeno clube de
afiliados.
Foi exatamente para tentar contornar estas incoerências que
os Relativistas mergulharam ainda mais fundo no misticismo
platônico e se reeditaram sob uma corrente apelidada de
Intuicionismo. Na teoria, Subjetivismo e Intuicionismo diferem
em alguns enfeites. Na prática, são a mesma coisa.
O Intuicionismo predominou na Inglaterra do começo do
século XVIII até o final da década de 1930, caindo em desuso a
partir dos anos 1940. Nos estertores do século XX, voltou a
ganhar alguma notoriedade, principalmente a partir da
disseminação das ideias de filósofos como Harold Arthur
Prichard, George Edward Moore, William David Ross e Russ
Shafer-Landau25-28.
Apesar de seu viés Realista e Consequencialista, o
Intuicionismo é, nu e cru, um tipo de Relativismo paternalista
construído para enfrentar o Utilitarismo de John Stuart Mill, a
Deontologia de Kant, o Naturalismo de Comte e o Ceticismo de
Nietzsche.
Ao confrontar-se com a possibilidade aterradora de um
Cosmos destituído de significados, o Intuicionista deseja
encontrar propósitos acima de tudo. Ele quer um sentido, não
propriamente uma origem – e menos ainda um regulamento.
Este foi o mandamento primário que o Intuicionismo anunciou:
criem um significado para um mundo sem significado. Digam “o
eleitor está com a razão!” e “se lhe parece bom, faça-o!”, pois “a
beleza está nos olhos de quem vê” e “o que vale é ser feliz!”.
O Intuicionismo tornou-se um refúgio para a geração das
metanarrativas autovitimizantes, que prega que a Moralidade
não pode ser completamente explicada em termos de
propriedades Naturais. Os fatos Morais – as Verdades
substantivas – são auto-evidentes e acompanham-se de uma
intuição clara o suficiente para justificar a crença. Para acreditar
em um fato Moral, basta a premonição de que tal arbítrio
constitui um fato Moral Bom e Correto. Esta é a sandice
professada pelos mestres do Intuicionismo.
Duvida? Vejamos:
O filósofo inglês H.A. Prichard (1871-1947) assegurou que
toda a filosofia Moral repousa em uma sequência de erros, pois o
Bom e Correto não depende exatamente do que deduzimos ser
Bom e Correto34. As obrigações Morais não podem ser alcançadas
por meio de alegações submetidas ao desejo ou à busca abnegada
pela Virtude, ou mesmo através de raciocínios não-Morais como
a Ciência.
O também britânico George Edward Moore (1873-1958)
defendeu igualmente que o Bom e Correto é apenas uma ideia,
assim como a cor amarela é apenas uma ideia. Não é possível
explicar o que é a cor amarela para alguém que não a conheça de
antemão. Da mesma maneira, para entender o é que Bom e
Correto, já devemos saber antecipadamente o que Bom e Correto
representa – e esta conceituação pode ser apreendida
consultando-se a intuição35,38. Em outras palavras: Bom e
Correto significa Bom e Correto e isto é tudo que precisa ser dito
com respeito a este fato Moral.
Moore considerava o Naturalismo uma falácia, pois o
Naturalismo propunha que os fatos Morais poderiam ser
analisados em termos de propriedades físicas ou psicológicas que
existem no mundo Natural. Para ele, em caso de dúvida, consulte
a “voz interior” de sua intuição e ela lhe dará a resposta sobre o
que é ou não uma Verdade substantiva. Moore era um professor
universitário e suas ideias sobre o que é Bom e Correto
limitavam-se à sua tranquila vida acadêmica. Suas teorias nem de
perto são úteis quando precisamos lidar com dilemas Morais
sérios.
Um pouco mais Deontológico, o escocês William David Ross
postulou que a “ordem Moral é tanto uma parte fundamental da
natureza do Universo como sua própria estrutura especial e
numérica expressa nos axiomas de geometria e aritmética”36.
Apesar desse início sólido, Ross se uniu ao coro dos intuicionistas
ao concordar que todos os fatos Morais podem ser conhecidos
sem necessidade de qualquer outra argumentação, indício ou
justificativa: a dedução do fato Moral não passa de uma sensação
que ocorre após sua imediata e automática apreensão pela
consciência. Contudo, para Ross, esta intuição difere de uma
crença, estando mais para uma percepção convicta: somos
dotados de uma enigmática capacidade de perceber a obviedade
de uma Verdade substantiva tão logo ela se apresenta diante de
nós.
Finalmente, temos Shafer-Landau, um dos maiores
defensores do Intuicionismo na atualidade. Como seus
antecessores, Shafer-Landau insiste que os fatos Morais não
podem ser reduzidos em termos Naturais: o Bom e Correto não
pode ser descrito em unidades de prazer ou dor, tampouco por
meio da física, da biologia ou de qualquer outra ciência. Para
discerni-lo, basta a revelação que ocorre por meio do faro
hermético da intuição37.
Intuitivamente, os intuicionistas aparentam estar certos:
nossas investigações podem nos informar muitas coisas sobre o
mundo, mas são incapazes de dizer se alguns atos são bons ou
ruins. Por exemplo: tudo que a ciência pode nos dizer é que o
sistema nervoso das lagostas é desenvolvido o suficiente para que
elas sintam dor. O julgamento se é certo ou errado fervê-las vivas
não cabe à Ciência. Como isso não pode ser determinado
empiricamente, o melhor a fazer seria inquirir a intuição.
O problema é que os princípios Morais dos Intuicionistas
Pós-Modernos, por serem considerados auto-evidentes,
prescindem de evidências – pelo menos segundo eles mesmos.
Todavia, existem muitas verdades óbvias que não são auto-
evidentes: a água é composta por dois átomos de hidrogênio e um
de oxigênio; o calor refere-se à intensidade de movimento das
moléculas em um corpo; nosso sistema Solar é um entre bilhões
de outros sistemas estelares em nossa galáxia; etc.
Nenhuma dessas verdades é acessível por arroubos intuição,
mas através de estudos disciplinados.
Embora as intuições ofereçam boas justificativas para muitas
coisas, elas não são capazes de fazer o mesmo com a Moralidade.
Sem a validação por provas concretas, os equívocos Intuicionistas
tendem a se acumular assustadoramente: o fato de você ter uma
tendência intuitiva para acreditar em algo não torna aquele algo
verdadeiro. Se você tem dúvidas quanto a isto, converse por
alguns minutos com alguém em surto esquizofrênico. Ademais,
em termos de julgamento Moral, a cultura nos levou a considerar
algumas coisas como Boas e Corretas, mas isso não ocorre
porque elas são Boas e Corretas per se, mas porque fomos
influenciados pelo meio a considerá-las dessa forma.
Ao canonizar a vontade humana, o Intuicionismo – assim
como o Subjetivismo –, pede que sigamos as instruções da tal
“voz interior”. Não obstante, este mantra produziu flagelos
medonhos quando foi seguido por pessoas desequilibradas,
imaturas ou com problemas neurológicos: movidos pela intuição
da “voz interior” de um líder maluco, os nazistas acharam óbvio
que sufocar crianças e mulheres em câmaras de gás era uma
conduta justificável; e, por ser justificável, era crível; e por ser
crível, justificável e óbvio poderia ser considerada Moralmente
aceitável.
Os crimes do nazismo mostraram com clareza que não é a
Razão que nos conquista, mas a eloquência dos sentimentos
inflamados, e ninguém precisa ter receio de não encontrar
seguidores para suas hipóteses maníacas: basta que o moralista
seja hábil o suficiente para pintá-las em cores atraentes10. Por
meio da vontade podemos sempre persuadir a “voz interior” a
dizer algo mais alinhado às utilidades que desejamos e aos
excessos que cometemos.
Como animais, os humanos vêm “montados de fábrica” com
um conjunto de percepções Morais que podem ser inicialmente
consultadas por meio da intuição, mas o progresso Moral
depende de uma sofisticação nesta configuração original. Confiar
este progresso à “voz interior” – e não a um método específico de
ponderações suplementares como o proposto pelo Naturalismo –
afunda o Intuicionismo em uma infância de preguiças
hedonistas39.
No momento em que envolvemos os fatos Morais em uma
cortina de mistérios, pressupomos a existência de uma faculdade
quase mística que nos permite apreender as Verdades
substantivas: a intuição seria um sexto sentido capaz de nos
conduzir à boa Moralidade. Com efeito, o Intuicionismo é
insuficiente para explicar discordâncias éticas simples: se eu
penso que comer carne é Moralmente errado, como posso
convencer alguém que pensa exatamente o contrário e que
também se sente justificado em acreditar nisso baseado em seu
próprio instinto?
Uma réplica Intuicionista é que só deveríamos levar em
consideração a impressão de pessoas ponderadas e bem
educadas, pois somente essas intuições seriam confiáveis. Mais
uma vez, a disfunção deste argumento é seu caráter nitidamente
circular: afinal, quem deve ser considerado “ponderado e bem
educado”? Aqueles que aprovam minha “voz interior”? Se nos
conduzirmos dessa maneira, acusaremos de cegueira Moral
qualquer um que esteja em desacordo conosco.
Quando um Intuicionista pondera sobre um assunto, a única
coisa que ele tira de sua caixa de ferramentas intelectivas são seus
sentimentos: sua noção de certo e errado corresponde a estados
emocionais internos de aprovação ou desaprovação. Se a balança
que será utilizada para averiguar a precisão do que é Bom e
Correto é algo tão etéreo, permissivo e variável quanto a
premonição individual, como separar as Verdades substantivas
de nossos medos, paixões, vontades e vieses culturais? A intuição
nem sempre é clara e perfeita. Muitas vezes, é turva e obscura, e
pode só tornar-se confiável a partir de certo ponto de maturidade
intelectual e Moral.
O fato de haver tanta discordância entre os povos sobre o que
é uma Verdade substantiva sugere que a intuição é um método
no mínimo falho por sua imensa versatilidade. Além disso, a ideia
de que nosso entendimento de uma proposição auto-evidente é
suficiente para acreditar de modo pragmático nela é de um
Relativismo tão egocentrado que beira um transtorno
psiquiátrico.
O humano é desonesto, manipulador, ingenuamente
sentimental, fantasiosamente ébrio, inconstante em suas
vontades e sem grandes tendências para a misericórdia. Traz
consigo uma consciência perturbada que emprega todas as forças
e narrativas possíveis para adaptar a realidade às suas próprias
certezas – para então reclamar quando as dores do mundo lhe
atropelam, mostrando que o que deveria ter sido feito era
exatamente o oposto disso. Pois é a Realidade quem contém as
Verdades substantivas e o Universo nunca existiu para satisfazer
expectativas humanas.
Nossa voracidade imaginativa é uma piada ruim ou uma má
poesia, e aceitar o pluralismo Intuicionista é uma aposta
temerosa para blindar nossos dogmas favoritos do escrutínio pela
Razão, pela Lógica e pela Ciência.
4.5. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO
RELATIVISMO
Cada sociedade desenvolve padrões mais ou menos
peculiares para distinguir quais comportamentos serão
considerados aceitáveis ou inaceitáveis, e cada julgamento entre
certo e errado pressupõe o conhecimento destes padrões. Assim,
se a prática do homossexualismo, do ateísmo, da poligamia, do
apedrejamento de infiéis, do infanticídio ou do Arremesso da
Sogra é considerada correta em uma sociedade, pode ser que ela
seja considerada correta apenas naquela sociedade e errada em
outras – tudo dependerá do contrato social de uma ou outra
cultura.
Historicamente, as questões Morais sempre apresentaram
(ou, antes, necessitaram de) respostas claras e objetivas. Em
quase sua totalidade, os humanos pressupõem a existência de
Verdades substantivas que representam fatos Morais óbvios:
consideramos a covardia uma característica ruim; o incesto,
errado; que os heróis merecem respeito; que devemos proteger
nossas crianças, etc. Contudo, não somos omniscientes e
repetidas vezes agimos de maneira implacável, motivados por
uma verdade que, mais tarde, se mostrou mais do que
questionável. O maior mérito do Relativismo Moral está em
expor estes excessos, encorajando a tolerância entre as
divergências
Ao diminuir a arrogância sobre a probidade dos costumes,
aumentando a sensibilidade aos contextos culturais antes de
emitirmos nossos julgamentos Morais, o Relativismo apresenta
uma saída para combatermos a misógina, a misandria, o racismo,
o fascismo e várias outras formas de preconceito e
discriminação25,27. Não obstante, é impossível negar que o
Relativismo Moral, ao abandonar padrões absolutos para o que é
Bom e correto e renunciar ao dever de estabelecer limites para a
cultura de uma sociedade, arrisca-se a produzir doses excessivas
de imoralidade e barbárie.
Em um exercício de contemporização, você pode até se
perguntar: que mal há se as mulheres vestem calças em uma
sociedade e burcas em outra? Qual o problema se prestamos
respeito aos mortos acendendo velas, ou os enterrando, ou
incinerando seus corpos – qual a importância destes contrastes?
O Relativismo suscita respeito por culturas diferentes da nossa e
isto é bom, certo?
Mas... e quanto à aplicação deste mesmo respeito às
sociedades que praticam escravidão, genocídios, apedrejamentos
de infiéis, mutilação de mulheres e assassinatos de crianças em
nome da honra, praxes religiosas ou preceitos sociais? Seu
Relativismo Moral brindaria essas ações com a mesma dose de
indulgência?
Se o Relativismo for sua filosofia, você não pode dizer que
uma atrocidade é errada, independente de quem a pratica: uma
vez que cada cultura inventa sua própria Moralidade, uma
maldade pode ser considerada correta dependendo de qual
sociedade a está realizando. Remover o clitóris de uma menina de
5 anos com uma navalha e sem anestesia pode ser errado na sua
sociedade, mas, como um Relativista, você não teria o direito de
condenar o mesmo ato sendo praticado por uma parteira na
Somália32.
É fácil perceber que a civilização moderna não foi fundada
sobre o Relativismo Moral. Propor e aprovar leis, fazendo valer o
Estado de Direito, sugere a faculdade de estipular um padrão
bem determinado de comportamento ao qual todos deveriam
aderir, doa a quem doer. Todavia, à medida que o conceito de
Bom e Correto vai se tornando uma questão de opinião popular,
o Relativismo sabota este tipo de equilíbrio no tecido social28.
É preciso haver algum padrão pelo qual comparar duas
premissas para determinar qual delas é a mais correta: uma faca
não pode ser amolada e cega ao mesmo tempo. Quando um
Relativista declara que “padrões fixos são impraticáveis”, ele
torna difícil – quiçá utópico – condenar qualquer ação, e
qualquer debate sobre Bom e Correto se torna incoerente.
Ao enfraquecer a conexão entre um paradigma de
Moralidade e as normas de comportamento, o Relativismo envia
um convite aberto ao mau-caratismo e à catástrofe humana.
4.6. O PARADOXO DE POPPER
Via de regra, os princípios expressos nas codificações Morais
ocorrem de maneira sobreposta na maioria das sociedades: existe
um compartilhamento quase universal sobre valores como
confiança, amizade, compaixão, respeito, disciplina e coragem,
aliados a proibições contra assassinato, roubo e incesto, por
exemplo. Versões da Regra de Ouro (trate os outros como
gostaria de ser tratado) podem ser encontradas em praticamente
todas as culturas.
A existência desses “valores universais” é fácil de ser
explicada: eles viabilizam o florescimento de uma sociedade, e
sua ausência diminuiria consideravelmente as chances de
sobrevivência de um grupo. O fato de que compartilhamos alguns
compromissos básicos sinaliza a existência de uma Moralidade
evolucionária, desmontando a fábula de um Relativismo cultural
infinito entre os humanos.
Ao mesmo tempo em que exagera a diversidade entre as
culturas, o Relativismo também ignora a presença de
diversidades dentro de uma mesma cultura: quando um
Relativista afirma que a verdade de um princípio Moral é relativa
às normas do local onde ocorre, ele presume que todos os
membros daquele local concordam 100% com a matriz Moral
vigorante. Este nem sempre é o caso: muitas culturas possuem
sub-comunidades que divergem profundamente em assuntos
como aborto, pena de morte, porte de armas, eutanásia,
poligamia, liberdade das mulheres, direitos de homossexuais e
uso de drogas.
Nestas situações, qual conjunto de normas e valores
deveríamos utilizar para emitir nossos julgamentos Morais e
legais? O conjunto das normas majoritárias ou o conjunto das
normas de nossa sub-comunidade?
Apesar de seus predicados, o Relativismo não é
necessariamente um apoiador intrépido da tolerância: se não
existe um padrão consolidado para emitir julgamentos Morais,
como poderíamos afirmar que uma sociedade é intolerante e, ao
mesmo tempo, manter-nos consistentes com o Relativismo? Se
você defende o Relativismo pleno, então deve demonstrar
concordância com os massacres das Cruzadas, as fogueiras
humanas da Santa Inquisição Cristã, as técnicas de tortura
preconizadas no Malleus Maleficarum, os atentados de
fundamentalistas como o Boko Haram e os genocídios dos
regimes comunistas e fascistas.
De acordo com o princípio universal de tolerância do
Relativismo, estaríamos condenados à anomalia de “qualquer
coisa está valendo”. Até que ponto isso seria tolerável para você?
O Relativismo não pode defender a condescendência e, ao
mesmo tempo, manter para si o título de Relativismo, pois
defender a tolerância é defender um valor Moral objetivo. Porém,
se a tolerância é um valor Moral objetivo e universal, então o
Relativismo é falso, uma vez que ele afirma que não existem
“valores objetivos e universais”. Karl Popper abordou esse
paradoxo utilizando uma abordagem tão criativa quanto
perturbadora31.
De acordo com Popper, a tolerância exige instrução: não
nascemos tolerantes, mas podemos aprender a sê-lo. Assim, em
uma sociedade baseada em tolerância irrestrita, teríamos de
aprender a ser tolerantes inclusive com a intolerância. Porém,
logo os intolerantes fariam valer sua filosofia e exterminariam os
tolerantes (os regimes teocráticos absolutistas do Islã são um
bom exemplo disso). Para que uma sociedade Relativista
prosperasse, ela teria de ser intolerante com a intolerância – e o
dogma da tolerância seria tudo, menos um valor universal.
Para que a compreensão prevaleça e proteja o progresso e a
liberdade, devemos ser intolerantes com a intolerância – e nos
tornamos então todos intolerantes em certo sentido.
É óbvio que a tolerância é um valor central nas civilizações
mais avançadas. Contudo, de acordo com o ponto de vista de um
Relativista, os membros de outras sociedades onde este atributo
não é considerado um traço positivo não devem sentir-se
obrigados a aceitar a ideia de que deveriam praticá-lo. Por isso, a
afirmação de que “Relativistas promovem a tolerância” é pueril e
inócuo. Na verdade, o Relativismo torna a Moralidade um
resultado de pesquisas de opinião onde perdemos o direito de
denunciar os equívocos de nossa própria cultura.
Por exemplo: suponha que todo mundo na sua cidade
acredite que a escravidão é admissível, mas você não compartilha
dessa opinião. Se você se acha um praticante do Relativismo
Moral, então deve respeitar e seguir em silêncio o
posicionamento do rebanho, pois todos vocês estão certos ao
mesmo tempo. A única saída para manifestar seu
descontentamento seria rejeitar sua condição de Relativista e
adotar o ceticismo, o niilismo, o realismo, o objetivismo, o
naturalismo ou qualquer outra Moralidade diferente do
Relativismo.
O fato de não poder provar que um valor Moral seja superior
a outro não significa que um valor específico não seja melhor que
os demais. O Consequencialismo e o Utilitarismo anulam o
Relativismo: uma Moralidade pode ser considerada superior à
outra quando atende melhor às necessidades e aos propósitos
humanos, independente da cultura em que estão inseridos. Por
exemplo: em termos de sobrevivência de uma sociedade,
“proteger as gestantes” é um o valor mais inteligente que – e
superior a – “cada um por si e as grávidas que se virem”.
Finalmente, como exposto, o Relativismo refuta a si mesmo:
se tudo é relativo, até o Relativismo é relativo e, portanto, não-
relativo, pois comunica uma norma ímpar que deve ser seguida.
Quando você grita pedindo silêncio, está fazendo barulho.
Quando tem por princípio desapegar-se de tudo, está
apegado à noção de desapego.
Quando não escolhe, está escolhendo não escolher.
Quando tudo é diferente, nada mais é diferente.
Quando tudo é relativo, nada mais é relativo.
No final, a ausência de um padrão transforma-se em um
padrão em si.
4.7. A GRANDE INCONSISTÊNCIA COM A RAZÃO E A
VIRTUDE
O Relativismo luta contra o Absolutismo Moral, mas deseja
que sua Moral seja absoluta, esquecendo-se que, para que o
princípio “tudo é relativo” seja válido, ele não pode ser relativo
em si, mas absoluto per se, e isto estabeleceria que nem tudo é
relativo, violando seu próprio axioma.
Um bom raciocínio Moral requer a construção de argumentos
sólidos baseados nas melhores evidências disponíveis, apelando
para os elementos mais eternos e universais da natureza humana.
Em sua transigência sem fronteiras, o Relativismo Moral torna-se
uma doutrina de aceitação robotizada de qualquer hábito em
andamento, a despeito das tradições e de qualquer evidência.
Ainda que não sejamos capazes de descobrir todas as
Verdades substantivas da Moralidade, a prática consistente da
Razão e da Ciência nos permite aproximar quais valores devem
ser considerados superiores aos demais. É por este caminho que
procuramos chegar a uma prescrição universal: desejamos que
situações similares não estejam sujeitas ao regimento de
Moralidades diferentes – a mutilação genital de uma menina
deve ser considerada imoral não importa o país ou a época onde
isso ocorreu. Todavia, é bem sabido que falhamos de modo
recorrente nessa universalidade: em nossos momentos de
fraqueza, tentamos arrumar desculpas para nossas próprias
derrapadas Morais – desculpas que, em geral, não permitiríamos
a outros.
Nossos julgamentos Morais são diferentes quando nos
imaginamos dentro da situação. Você provavelmente não admite
estas diferenças, mas vamos ser sinceros: isso é bem o que
ocorre. Um deputado que pratica o nepotismo está roubando
tanto dinheiro público quanto você quando sonega impostos ou
estaciona em local proibido esperando não ser multado por essas
violações – mas você certamente torceu o nariz e utilizou padrões
de julgamento diferentes para o mesmo princípio Moral de
honestidade quando leu isso. A dissonância é óbvia e fácil de ser
demonstrada, ainda você que tente racionalizá-la com uma
sequência de subterfúgios furiosos, todos eles Relativistas por
natureza. Se pretendemos imprimir congruência à nossa
Moralidade pessoal, devemos estar alertas para essas armadilhas
e corrigi-las.
De acordo com o psicólogo norte-americano Jonathan Haidt,
o Relativismo Moral sofre ainda com uma desconexão entre a
Razão consciente e nossas respostas às situações do mundo33.
Um robô ou um animal são capazes de reagir, mas um agente
racional deve ser capaz de refletir sobre seus motivos e chegar a
uma conclusão deliberada sobre o que deve ou não fazer.
Contudo, nossa racionalidade não tem uma conexão muito boa
com nossas reações. Achamos saber por que e como emitimos um
julgamento Moral, mas na verdade a Razão que empregamos é
uma camuflagem póstuma de estupefação feita sob medida para
vontades prévias, um faz-de-conta costurado com capricho para
legitimar nossa coleção de hábitos, gostos e prioridades.
Outra objeção ao Relativismo está no fato de que ele implica
na aceitação de que erros Morais notórios podem ser ações
corretas. Se considerarmos que nossas crenças e ações são certas
ou erradas apenas a partir de um determinado ponto de vista,
então seremos forçados a abandonar a ideia de que algo seja
intrinsecamente errado. Ao colocar todos os costumes em uma
mesma prateleira, e aceitar como digna a livre escolha por
qualquer um deles, eliminamos a possibilidade de uma sociedade
acusar a si mesma.
Se a retidão ou o equívoco de nossas ações, práticas e
instituições só podem ser julgados segundo as normas da cultura
onde foram forjadas ou segundo nossa “voz interior”, então como
os membros desta sociedade poderiam argumentar sobre qual
norma deveria ser mudada? Se uma sociedade vive em um
regime de castas onde uma casta usufrui de grandes privilégios e
outra é condenada a trabalhos forçados, este sistema parecerá
sempre justo de acordo com seus próprios termos, e nunca
haverá coisa alguma que possa ser criticada de modo justificado.
O principal entrave na aplicação ilimitada do Relativismo
está nesta possibilidade de regressão infinita: cada tentativa de
estabelecer um único ponto de referência Moral é seguida por
uma infinidade de objeções que paralisam qualquer
desenvolvimento efetivo, impedindo o progresso Moral.
Uma rápida consulta à Opinião, Razão e Intuição de Espinoza
é suficiente para perceber o quanto os argumentos do
Relativismo são equivocados. O fato de os conceitos de “certo
versus errado” e “bom versus mau” terem sido sequestrados por
etnias, temporalidades, contextos, nacionalidades, grupos com
interesses específicos e ideais coletivistas, não elimina a
possibilidade de que existam Verdades substantivas sobre o que
é Bom e Correto.
O Relativismo é impregnado da ideia tresloucada de que é
possível ter Moralidade sem julgamento, e de que podemos
emitir julgamentos sem Moralidade. Essa frouxidão Moral vem se
degenerando em sandices ideológicas dispensáveis e, muitas
vezes, danosas à mesma causa que propõe defender.
Talvez sejamos condescendentes com o Relativismo porque
os humanos “têm gostos tão diferentes, seu humor é por vezes tão
deplorável, seu caráter tão difícil e seus juízos tão falsos”30 que
parece mais prudente ficar acomodado que se desgastar somente
para evidenciar o que é mesmo Bom e Correto. Sem embargo,
observe a indiferença para com a opressão dos regimes
totalitários; o ensurdecedor silêncio histórico para com as
matanças no Camboja, na Rússia, na China, em Cuba e em
Ruanda; e a ausência de oposição ferrenha por parte dos
defensores dos direitos humanos com relação aos ditadores mais
sanguinários de nossos tempos e à violação da dignidade de
pessoas vivendo sob teocracias muçulmanas.
Todas estas aberrações de conduta derivam de nossa
benevolência com o Relativismo Moral.
Alguns dizem que a Intuição encontra-se em uma posição
intermediária entre a ignorância e a sabedoria42. Ela nos
permitiria compreender as Verdades substantivas que os
sentidos não conseguem, contornando as deficiências da Lógica,
da Razão e da Ciência49. Isso parece muito bonito, mas, para
mim, não passa de uma aposta maquiavélica e insolente: nossas
impressões, necessidades, paixões e desejos são anteriores à
Razão e é pouco provável que encontrar uma Verdade
substantiva seja tão simples quanto “consultar sua voz
interior”10,40.
Não é a Razão ou a Ciência, mas a Paixão, quem governa os
rótulos desse Mundo. Por isso, quando dizemos estar ouvindo a
“voz interior”, será que estamos realmente sintonizados no canal
certo? Quando convocamos o arbítrio da Intuição, estamos
procurando que a Moralidade seja determinada pela Razão ou
por nossos próprios apetites não revelados? Quando ignoramos
as qualidades das coisas tangíveis, trocando-as pelas
intepretações subjetivas de nossa “voz interior”, cedo ou tarde
passamos da realidade ao seu contrário sem perceber. Do lado de
fora da busca cerimoniosa pela Verdade substantiva, tudo é
opinião ou apenas ridículo.
Aristóteles e Platão afirmaram que a experiência subjetiva e a
intuição são ilusórias e jamais poderiam ser empregadas para
aferir a grandeza de uma Verdade substantiva40-42. Independente
desta aparente lucidez, Aristóteles também escreveu que “agir
injustamente não implica necessariamente em ser injusto: um
homem poderia até deitar-se com uma mulher sabendo quem
ela é, sem que a origem do seu ato fosse sua escolha própria,
mas da paixão. Esse homem age injustamente, mas não é
injusto. E um homem pode não ser ladrão embora tenha
roubado, nem adúltero apesar de ter cometido adultério, e
assim por diante em todos os outros casos”42.
Ao aceitar a paixão como justificativa legítima para qualquer
desvio de caráter, Aristóteles validou a banalização da Moral tão
em voga entre os Relativistas da atualidade.
Hume foi um pouco mais escrupuloso, dizendo que “não
somos simplesmente seres que raciocinam, mas também um dos
objetos acerca dos quais raciocinamos: somos, ao mesmo
tempo, escultores e mármore”10. Acrescente-se a isso a dedução
de Hobbes de que “as doutrinas que pregam que todo indivíduo
particular é juiz das boas e más ações podem ser verdadeiras na
condição de simples natureza, pois não existem leis civis, mas
elas são incompatíveis com a vida em sociedade”43, e não se
torna difícil inferir que, se cada um de nós tomasse a liberdade de
agir com respeito às leis da sociedade por meio de nossos juízos
particulares – como se cada humano estivesse autorizado a ser as
três personas de Cícero ao mesmo tempo –, teríamos uma
confusão dos diabos.
Lamentavelmente, é bem isso que estamos fazendo, e foi
precisamente esta a crise Moral desencadeada pela insensatez
Relativista.
4.8. CONCLUSÃO DA PARTE IV
Imaginar a Moralidade como algo estático é equivocar-se
acerca da natureza da vida humana, e nisto os Relativistas têm
toda razão. O cotidiano é uma mistura do repetitivo com o
previsível, levado adiante pelo hábito e interrompido aqui e ali
por eventos aleatórios que classificamos arbitrariamente como
bons ou ruins.
Nesta dança, nossas escolhas por um ou outro tipo de
Moralidade bailam segundo a situação – esta foi uma exigência
evolucionária que nossos cérebros sempre honraram.
Abandonamos e adquirimos convicções ao longo de nossa
existência, e o mesmo ocorre com as sociedades e civilizações.
Isso ocorre porque cada estágio da vida não abre portas apenas
para o aprendizado e o fortalecimento do Caráter, mas também
descerra abismos para regressões e a desintegração completa
dele.
Entretanto, a Moralidade não é modificada apenas pela lógica
e pelos julgamentos, mas também por necessidades emocionais,
fatores inconscientes, racionalizações e outros mecanismos de
defesa do ego. Para que a Moralidade represente Decência e
Sabedoria, é preciso obter conhecimento, desenvolver um
pensamento livre, assumir o controle sobre as emoções e
investigar as motivações do inconsciente – todas estas, tarefas
laboriosas e arriscadas: uma vez que os valores morais guiam
nossas atitudes, uma Moralidade ruim quase sempre é pior que
nenhuma Moralidade.
Assim como quem atira uma pedra é responsável pelo dano
que ela irá causar, cada um de nós é o agente Moral responsável
por aquilo que fazemos de nós mesmos e o que nos tornamos em
consequência disso. De tão perceptível, não deveria haver
hesitação quanto a isto. Por infelicidade, vivemos um tempo onde
eximir-se desta incumbência virou o passatempo predileto das
crianças-adultas que abdicam dos encargos de suas escolhas. A
sociedade está atingindo um ponto onde aceita como normais
comportamentos que deveriam ser proibidos. A tolerância se
tornou sacrossanta e, ante ela, toda e qualquer Moralidade social
deve prestar reverência.
Somado a isto, temos bilhões de pessoas ansiosas por um
indulto Relativista para suas mancadas recorrentes. Em pleno
século XXI, parece que alcançamos um clímax onde tudo que um
ser humano crescido precisa para ser genuinamente feliz é de
alguém que tenha pena dele.
Para infelicidade dos adeptos do Realismo Moral, a
renovação que está em andamento não é capaz de retornar aos
valores Morais da época do Paleolítico, ou mesmo àqueles do
século XIX ou XX. Mas nem tudo está perdido: se o Relativismo
nos tornou menos honrados de um lado, ele nos brindou com a
chance de lustrar os princípios que valorizamos e a liberdade de
utilizar cada dilema como uma oportunidade para deliberação,
revisão e construção de valores Morais verdadeiramente
sublimes.
PARTE V
A CRISE DA
MORALIDADE
Temos falhado miseravelmente em seguir os códigos de decência
que nós mesmos edificamos. Por que isso acontece? Por que
nossa Moralidade parece estar em crise? Existe uma saída para
este declínio?
Índice deste Capítulo:
5.1. Introdução da Parte V
5.2. A Crise do Realismo Moral
5.3. A Crise do Ceticismo Moral
5.4. A Crise do Relativismo Moral
5.5. O Fantasma do Pós-Modernismo
5.6. Conclusão Final
5.1. INTRODUÇÃO DA PARTE V
Chamamos a Moralidade por vários nomes. Além dos
fundamentais Realismo, Ceticismo e Relativismo e seus
descendentes diretos, temos as variantes cognitivismo,
antirrealismo, não-naturalismo, humanismo, determinismo,
construtivismo, dentre outras. A despeito das diferenças sutis nas
premissas de cada uma delas, todas se dedicam a um mesmo
propósito: apontar as regras para uma existência humana mais
virtuosa e em harmonia com o mundo ao nosso redor.
Ao longo de nossa história neste planeta, estas regras foram
escritas por forças militares, pelo autoritarismo do dueto Igreja-
Estado, por segmentos da sociedade organizada ou por algum
outro tipo de instituição que assumia a interpretação e gerência
de nossos destinos.
Com o advento do Iluminismo, da ampla industrialização
Ocidental no século XIX e a explosão populacional do século
passado, os reformadores rabiscaram todos os livros escritos por
essas autoridades e transgrediram a maioria das tradições
guardadas por elas. Isto não poderia ter outro resultado senão a
colisão em massa dos mosaicos de séculos de diretrizes éticas,
configurando a Crise da Moralidade que você tem sentido
diariamente na pele e em toda parte.
O fato é que, nos primórdios de nossa epopeia, esculpimos
uma canoa no tronco sólido do Realismo Moral e navegamos até
uma terra prometida – o Absolutismo Moral – onde seria
possível cultivar os termos de nosso convívio. Durante milhares
de anos, a fórmula funcionou e prosperamos. Mas o progresso
tornou a imensa ilha Absolutista anacrônica e paralisante, e
decidimos escavar alguns lotes para melhorá-la.
Infelizmente, quando pensamos que seríamos capazes de
fazer isso sem grandes problemas, o cataclismo de nossas
ambições nos arremessou no rio turbulento repleto de pedras
cortantes do Ceticismo. Exasperados e perplexos, tomamos a
resolução de nos agarrarmos a qualquer coisa que pudesse
funcionar: sob o risco iminente de morte por afogamento, você
não quer testar um novo colete salva-vidas inflável high-tech
ultraleve de última geração. Você quer de volta aquele bom e
velho barco, resistente e confiável. Mas aquele barco – o
Realismo Moral – foi irremediavelmente perdido. Então inflamos
um bote chamado Relativismo e cedo demais respiramos
aliviados: após o embarque, o Relativismo não nos colocou
exatamente em segurança. Ele é um transporte frágil e, logo
abaixo de seu revestimento delgado, as pedras céticas continuam
cortando a estabilidade social.
Aturdidos e sem vestígio das montanhas Absolutistas no
horizonte, constatamos que o naufrágio do Relativismo não é um
risco: ele está em andamento. Quem poderá nos salvar?
Vale observar que toda esta confusão não é exatamente
“típica da atualidade”, mas cíclica. O que anda perturbando sua
paz é meramente o detalhe de estar experimentando o ciclo
vigente. Isto faz com que você considere esta Crise Moral única e
especial – algo que ela é, mas não do modo como enxergamos a
partir da finitude de nossas existências.
Acreditamos que o aumento nos índices de violência e do
abuso de drogas, por exemplo, sejam consequências adversas da
refutação da boa e velha Moralidade de antigamente. “Se
tivéssemos deixado o Absolutismo Moral quieto, nada disso teria
acontecido”, você pode pensar. Mas não seriam a disseminação
da violência urbana e a escalada das drogas representantes das
mesmas forças que nos obrigam a rever as fronteiras de nossa
Moralidade? Neste caso, estas mazelas – e muitas outras –
seriam tanto consequência como causa do aperfeiçoamento de
nossos padrões Morais.
Algumas das verdades que adotamos nos parecem eternas:
transmitidas de geração a geração, elas foram submetidas a
guerras, fomes, catástrofes, genocídios, crises financeiras,
modismos, revoluções científicas, modificações do núcleo
familiar e influências de mídias de massa, e todos estes filtros
fizeram com que algumas convenções se perpetuassem no
inconsciente coletivo. A sensação de baderna que nos atinge
agora vem do fato de estarmos assistindo estas convenções
herdadas sendo assaltadas sem clemência em todos os seus
bolsos, e a hiperconsciência proporcionada pela Internet
descarrega diariamente os vídeos dessas ocorrências em seu
celular, em tempo real.
Imbuídos da missão de restaurar o equilíbrio, filósofos,
sociólogos, antropólogos, psicólogos, neurocientistas,
economistas, ideólogos radicais, cidadãos comuns, tiranos e
sociopatas de toda ordem têm explorado novos formatos para a
Moralidade. Eventualmente, estes esforços resultam em algo que
pode ser considerado um progresso, como a condenação da
escravidão, o respeito pelos direitos humanos, a severidade
contra a discriminação, o espaço para a emancipação feminina, a
concordância com o sufrágio universal, as revisões das funções e
dos poderes do Estado, o fomento de valores democráticos e a
promoção da tolerância para com religiões cuja prática não inclua
ostentações gratuitas de violência. Entretanto, a decisão de
implodir tradições milenares não é uma garantia de sucesso na
melhoria de nossos valores: muitas vezes, deixamos tesouros sob
aqueles destroços apenas para redescobri-los mais tarde com ares
de surpresa e cinismo.
O primeiro obstáculo neste processo reside na constatação de
que levamos a doutrina Moral tão a sério que não enxergamos
seus paradoxos. Recusamos aceitar que a farsa não é apenas uma
possibilidade, mas um adorno indispensável no tabuleiro Moral,
e muitos serão punidos por terem agido de modo “abominável”
contra regras essencialmente hipócritas.
Por isso, não admira que no meio deste gigantesco naufrágio
alguns desejem o retorno de uma Moralidade categórica que lhes
seja familiar. Buscam notícias dela nos relatos dos anos de
juventude de seus pais e avós; acham que a regressão
incondicional ao bote arcaico de outrora proverá alguma
garantia. Mas isto é uma ilusão.
O bote não existe mais e a metamorfose que bate à nossa
porta é implacável.
5.2. A CRISE DO REALISMO MORAL
Os ensinamentos de Aristóteles e Platão prevaleceram no
Ocidente por mais de mil anos, e duvidar de seus postulados era
no mínimo arriscado. Leonardo da Vinci, Giordano Bruno,
Galileu Galilei e William Harvey passaram por maus bocados
quando decidiram bater boca com as verdades propostas pelos
antigos gregos: questionar o Realismo Moral de Aristóteles, de
deus ou da igreja neoplatônica acarretava punições como
censura, prisão, torturas e morte.
Graças à dedicação de um sem-número de pensadores
destemidos (seguidos de perto pela ascensão da Ciência, duas
guerras mundiais, movimentos sociais anti-paradigmáticos,
transição de blocos políticos hegemônicos e hiperconectividade
de opiniões), os rombos no casco do Realismo Moral clássico
foram se acumulando:
Na década de 1920, a Geração Perdida Americana,
entrincheirada em Paris sob o comando de Gertrude Stein,
reuniu nomes como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald e T. S.
Eliot, ocasionando a Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil,
a apologia ao Individualismo, grandes obras da literatura e do
jazz mundial, e rompimentos comportamentais que culminaram
com a Grande Depressão nos EUA.
Na década de 1950, tivemos a Geração Beatnik e o
surgimento do rock; nos anos 1960, a contracultura hippie, a
decolagem do feminismo e a greve geral de Maio de 1968 na
França; nos anos 1970, o Black Power, o terrorismo mundial e a
Guerra Fria; e nos anos 1980, os Yuppies engravatados,
estressados e com cifrões tatuados nos olhos.
Na década de 1990, a convulsão do “politicamente correto”
selou o destino do Realismo despótico. Cambaleante, ele se
tornou alvo de snipers de elite como George Carlin, Sam Harris,
Ben Shapiro, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Camille
Paglia e Jordan Peterson. Ao final do século XX, esses golpes
haviam sido suficientes para expor as entranhas incongruentes
do Realismo Moral.
Por sermos seres tão sociais, quando nossas imaginações
coincidem com a disposição das vontades de outros tendemos a
batizar este sincronismo de Razão – mesmo quando ela
representa um encadeamento de ideias inadequadas.
Ulteriormente, imaginamos a Realidade muito mais que a
conhecemos e julgamos a ética segundo aquilo que mais nos
agrada ou menos nos ofenda14. Foi assim que por muito tempo o
Realismo Moral nos convenceu que seus dogmas expressavam
algo Bom e Correto. Após o bombardeio, vimos que muitos
desses “algos” divergiam da Verdade substantiva.
Contudo, a evolução do pensamento crítico permitiu perceber
que quando questionamos as motivações e os objetivos por trás
de agendas aparentemente opostas elas não divergem tanto
assim: a maioria das pessoas anseia por justiça, oportunidade,
prosperidade e paz; e valoriza o mérito, a lealdade, a integridade,
a honestidade, a prudência, o amor, o altruísmo, a família e o
trabalho em equipe. Se temos alguma esperança em progredir em
nossas convicções éticas absolutas, precisamos entender melhor
o motivo de estarmos divididos em nome de supostas Verdades
substantivas.
Por exemplo: o Realismo Moral do conservadorismo judaico-
cristão enfatiza a obrigação de prestar respeito a uma autoridade
superior; e sua Deontologia considera cada cidadão dotado da
prerrogativa de escolher entre certo e errado, e do dever de sofrer
as consequências de suas opções.
Do outro lado da cerca, o Realismo Moral do marxismo
ateísta rejeita as definições judaico-cristãs de Bom e Correto,
enfatizando o materialismo, a equalização das potências sociais e
o Coletivismo.
Protegidos em suas barricadas argumentativas, um grupo
censura o outro por ser a favor ou contra práticas como aborto,
preconceito, desumanização, estatismo, ganância, limpeza étnica,
pena capital e desigualdades econômicas. As legiões de
conservadores Abraâmicos acusam seus antagonistas de não
reconhecerem a profanação de seus dogmas como pecados, e de
violar direitos individuais em prol de objetivos da coletividade.
Curiosamente, os termos das delações podem ser trocados de
lado e continuarão fazendo sentido.
Os Realismos Morais da Esquerda e da Direita, do marxismo
e do conservadorismo, do comunismo e do capitalismo, todos
eles possuem castelos absolutos com fossas e jardins de rosas. E
todas as suas fossas e todas as suas flores, do começo ao fim,
emanam fedores e ostentam espinhos de obscurantismos
recíprocos. Para confirmar isto, basta conferir as violações da
dignidade e a amputação do espírito empreendedor humano que
reinam de um lado, e o totalitarismo metacapitalista e os
suplícios do Império do Sucesso e da Religiosidade irrestrita que
brotam do outro.
Por tudo isso, nossa geração não deveria surpreender-se ao
dar de cara com o desmantelamento do Realismo Moral
ancestral: esta ruína vinha sendo preparada nos últimos
trezentos anos. Sob os lamentos melancólicos dos órfãos, uma
“nova” Moralidade está surgindo, apoiada nas ruínas do passado
e germinada pelas tecnologias possíveis do futuro. Mas ninguém
sabe ao certo que bicho novo será este – ou mesmo se seremos
protegidos ou devorados por ele.
5.3. A CRISE DO CETICISMO MORAL
Percorrendo o circuito oval da Crise da Moralidade, a curva
seguinte ao desmanche do Realismo não poderia ser outra senão
o ziguezague do Ceticismo.
Quando iniciamos nossa jornada ética, descobrimos na
religião uma ferramenta eficaz para promover coesões viscerais
em torno de uma unanimidade Moral. Não obstante,
aproveitando-se de um momento de distração, o Ceticismo, como
uma criança travessa, colocou o pé no caminho do Realismo,
fazendo-nos tropeçar em indagações que sinalizavam a
fragilidade de nossos consensos. A fratura foi enorme.
Eventualmente, uma das soluções encontradas para tentar
restaurar o estrago cético consistiu em aumentar o conjunto de
leis até o infinito: no Brasil, por exemplo, a Constituição Federal
promulgada em 05 de outubro de 1988 possui cerca de 250
artigos1. Até 2016, foram aditadas 101 alterações, sendo 95
emendas constitucionais e o restante, alterações à revisão
constitucional2. Além do texto da Constituição, temos nada
menos que outras 181 mil normas legais – e ninguém sabe ao
certo quantas já foram revogadas e quantas ainda estão em
vigor3,4.
Apesar dessas intervenções, as avarias provocadas pelo
Ceticismo não foram passíveis de conserto.
Boa parte do combustível Cético decorre do fato de o
Realismo Moral não ser suficientemente distinto da religião:
aqueles que acreditam que os homens foram criados por deus e
devem obedecer à sua vontade, desejam e aceitam bem uma
quota considerável da Moralidade normativa absolutista. Mas o
que fazer com os discordantes? Excomungá-los? Executá-los?
Bani-los? Para onde?
A religião frequentemente descreveu a si mesma como uma
fonte de valores Morais, mas os Céticos mostraram como isto era
uma alegação falsificada: a Moralidade é mais antiga que as
religiões, sendo até mais antiga aos animais que somos.
Com a diminuição da convicção de que um fato Moral
indicava uma Verdade substantiva alinhada à vontade de deus,
da Lógica, da Razão, da Intuição ou de alguma outra autoridade,
as performances empolgantes do Ceticismo ganharam plateias
cada vez maiores. Afinal, como demonstrar quais fatos Morais
deveriam fundamentar nossos julgamentos? Como provar que a
felicidade ou algum outro direito individual deveria ser a garantia
primária da Moralidade?
Ainda que as várias correntes de Realismo Moral tenham
falhado em acordar sobre qual de seus sistemas deveria ser
declarado superior aos demais, o martelo do Ceticismo não
obteve sucesso muito maior na geração de progressos Morais5,12.
Ele frustrou, ainda no berço, a mesma esperança que o trouxe ao
mundo. Afora a verborragia de Nietzsche e o Humanismo
elegante de Thomas Paine e Bertrand Russell, a sociedade
continuou ágil em gratificar o progresso material na mesma
medida em que negligenciava o debate da Moralidade.
Dos seis prêmios Nobel concedidos anualmente, apenas um –
o da Paz – possui uma dimensão Moral. As grades curriculares
nas escolas e universidades permanecem fortemente embasadas
em princípios científicos, mas dão pouquíssima atenção aos
rudimentos da ética. A Justiça gasta uma energia enorme lidando
com as consequências dos problemas Morais, mas praticamente
não se empenha em investigar suas causas com seriedade:
penalizamos as ofensas, porém não sabemos como dissuadi-las.
Com o Ceticismo, nos tornamos uma sociedade repleta de
questionamentos engenhosos, mas nenhum deles possui um
campo gravitacional muito forte, pois lhes falta uma motivação
inerente. Sem este incentivo, as regras se tornam apenas desafios
para encontrar uma oportunidade de driblar seus preceitos.
O Ceticismo teceu uma colcha de retalhos com incontáveis
hiatos que não avaliavam nem tampouco ofereciam orientações
suficientes sobre qual Moralidade deveria ser aplicada – ou
como. Apesar do alarde revolucionário, ele não teve competência
para solucionar o que denunciou e, antes que nos déssemos
conta, o escândalo de jogar os tabus na parede se transformou em
um espetáculo banal: nossa capacidade de promover e aplaudir
bizarrices já havia ultrapassado em muito qualquer delírio
possível aos herdeiros do Niilismo.
O iceberg que afundou o transatlântico abarrotado de Céticos
tem o mesmo tamanho das perplexidades que eles espalharam:
como negar as Verdades substantivas sem abrir espaço para o
retorno de uma Moralidade ególatra e desagregadora ou de um
Absolutismo tirânico e hostil?
Como mencionado, quando confrontados com essa
ambiguidade, os Céticos rapidamente começam a pular do navio,
aninhando-se no escaler do Realismo Moral. E este tem sido um
dos fenômenos mais burlescos dos últimos dois séculos – uma
tendência reforçada pela aparente disparidade entre Ciência e
Moralidade.
Acreditamos que a Ciência é um dispositivo para descrever a
realidade de modo objetivo e independente, utilizando
metodologias similares, dados, teorias e conclusões. Todavia,
cada avanço da Ciência não produziu convergências equivalentes
na Moralidade, mas serviu de pretexto para que clãs Morais
específicos aprofundassem suas trincheiras, escavando-as com
suas pás de minicertezas “embasadas”. Isso foi verdade até certo
ponto: derradeiramente, a marcha obstinada da Ciência solapou
o escudo de invencibilidade romântica do Ceticismo, ameaçando
reduzi-lo a uma revista em quadrinhos de quinta categoria para
pré-adolescentes.
Quando o barulho da máquina científica avisou ao Ceticismo
que o mundo nos recompensa mais pelas decisões que tomamos
do que pelas indecisões que nos vestem, ele deu um chilique, saiu
correndo e finalmente aceitou desposar o Relativismo8.
5.4. A CRISE DO RELATIVISMO MORAL
Ao maridar-se com o Relativismo, o Ceticismo pretendia
restaurar a confiança de que seríamos capazes de reduzir nossas
desavenças Morais. Contudo, bastaram algumas décadas de
conflitos armados e demonstrações agressivas de fanatismo para
evidenciar que esta convicção precipitada era um formidável mal-
entendido.
Entre Relativistas e Céticos, a concepção de fatos Morais
inegociáveis é inaceitável: para eles, a Verdade substantiva não é
uma estimativa binária, mas uma equação composta por
variáveis abstratas previamente formatadas para direcionar
nossas escolhas11. No caso dos Relativistas, essa maleabilidade vai
além, e qualquer ideia pode ser considerada Boa e Correta se for
útil para sustentar um ponto de vista que lhe conforta e ratifica14.
Assim, o efeito do casamento entre o Ceticismo e o Relativismo
foi a divisão da sociedade em dois polos:
(1) Um mundo Secular, que abraçou um Utilitarismo
destrambelhado, simultaneamente coletivista e subjetivista, onde
não existe bom ou ruim e todos os atos devem ser julgados
segundo suas consequências, ao mesmo tempo em que se
promoveu a figura do Indivíduo ao árbitro final de suas ações,
capaz de viver em uma espécie de vácuo, pensando e escolhendo
sem relações com qualquer outra pessoa na sociedade. Isso
transformou as discussões éticas em uma animada feira de
palpites subjetivos11;
(2) Um mundo Religioso sincrético, que acredita que as ações
podem ser classificadas como boas ou más segundo os ditames de
um ser supremo transdimensional que nos brindou com um
conjunto nítido de regras para uma vida limpa e uma intuição
sobrenatural para acessá-las em caso de dúvidas.
O mundo Religioso afirma que o secularismo é um arranjo
perigoso que pode ser facilmente customizado para se adequar às
necessidades e desejos da ocasião – uma constatação válida até a
última letra e bem exposta pelo Paradoxo de Wittgenstein. Em
contrapartida, o mundo Secular acusa o Realismo religioso de
carecer da racionalidade e dos embasamentos científicos
obrigatórios para fazer algum sentido – uma constatação válida
na mesma proporção da anterior.
A adoção do Relativismo e seus critérios ajustáveis sobre o
que é Bom e Correto não representou uma reversão ao Realismo
Moral Normativo que conhecíamos no passado ou um avanço
organizador no vácuo da desestabilização Cética: ao invés de
centrar-se na obediência à família, às instituições, à Razão, ao
Estado ou à religião, o novo código passou a orbitar um
hibridismo de tolerância, respeito e inclusão social, criando uma
conjuntura insólita onde tudo é tolerável exceto a intolerância, e
onde tudo deve ser assimilado exceto o preconceito.
Não obstante, basta uma inspeção superficial para perceber
que os princípios Relativistas são nada mais que uma reedição
ruim de fragmentos Morais prévios. Eles falam sobre direitos e
deveres sem apreender a noção Deontológica que essas palavras
tiveram um dia: especialistas em si mesmos, os Relativistas
tomaram sua imaginação por entendimento.
Neste aspecto, a potência de sua criatividade é mais
admirável que aquela dos Realistas Morais: os Realistas pelo
menos consideram que o entendimento está restrito a uma única
forma de imaginação, quase sempre aquela que ostenta algum
selo “divino”. Para os Relativistas, o entendimento se refere a
todas as imaginações possíveis, e é permitido – e até
recomendável – passar de uma imaginação à outra segundo sua
conveniência.
Os valores Relativistas não simbolizam sentidos racionais ou
cognitivos, mas representações de emoções, refletindo a falência
das tentativas anteriores em atingir um epílogo satisfatório. A
averiguação disso é fácil de ser obtida: qualquer estudante médio
do século XXI parece eticamente subdesenvolvido e incapaz de
emitir meia dúzia de reflexões congruentes. O simples conceito
de Bom e Correto já o confunde sobremaneira: “onde está escrito
que isso é bom e aquilo é ruim?”, ele parece retrucar com os
olhos. “E quem você acha que é para se achar no direito de julgar
outra pessoa?”, ele completa, emitindo seu julgamento.
O Relativismo pariu gerações que amam confessar a
admiração que têm da própria ignorância mascarada na forma de
“opiniões”. Eles são espertos o suficiente para compreender que
tolerar as escolhas ruins de outras pessoas significa que eles
poderão, cedo ou tarde, exigir a mesma condescendência por suas
próprias escolhas ruins – um esquema mutuamente benéfico
onde o auto-interesse camuflado é utilizado para absolvição de
atitudes reprováveis.
O bote de plástico do Relativismo Moral é corroído de dentro
para fora precisamente por estes cânones “politicamente
corretos”. Ao defender que qualquer coisa pode estar certa em
qualquer estação, ele aumenta o senso de incerteza Cética que
deveria combater. Sua maleabilidade e vocação para antíteses,
que se mostraram trunfos no princípio, tornaram-no intolerável
no final, e a Moralidade Relativista dificilmente resistirá aos
ataques das Verdades substantivas dos Naturalistas ou à massa
falida dos Céticos de plantão.
As pessoas deveriam ser livres para fazer mais ou menos o
que bem entendessem, nisso concordo com os Relativistas. Mas,
lamentavelmente, essa liberdade jamais será plena, e talvez esta
seja a parte do contrato que os Relativistas não entenderam
ainda. Enquanto se balançam entre um precipício e outro, os
Relativistas são martelados com insuspeita trivialidade pelos
Consequencialistas Utilitários, que perguntam em coro com os
Realistas: “até que ponto vocês estarão dispostos a aceitar e
privilegiar as minorias quando elas finalmente trombarem com
os valores da cultura majoritária?”.
Como resposta, o Relativismo vem tentando copiar em
desespero três ferramentas do Realismo Moral: a Razão, os
especialistas e deus.
Provavelmente, a Razão dos Intuicionistas e dos Subjetivistas
não é exatamente igual ao conceito de Razão que você traz
consigo. A razão Relativista é rica em misticismos e devaneios da
Nova Era, concedendo relevância para horóscopos, carmas, tarô,
espíritos, práticas de medicina alternativa e uma enorme fé na
falácia do Mundo Justo, onde tudo acontece por um motivo.
Em uma tentativa de legitimar sua forma de razão, os
Relativistas adicionaram o poder dos Especialistas ao seu
discurso, lançando avisos sobre o aquecimento global, o
esfriamento do global, o fim da camada de ozônio, o perigo do
colesterol, o risco das espécies em extinção, da guerra nuclear,
das tempestades solares, dos asteroides em rota de colisão, dos
transtornos psicológicos, das tecnologias alienantes, das teorias
de conspiração, da Nova Ordem Mundial, das comidas que
causam câncer e toda sorte de conselhos sobre como deveríamos
conduzir nossas vidas de modo a morrermos com toda saúde
possível.
Uma vez que a falta de credibilidade da razão Relativista e a
diversidade de pareceres do seu elenco de Especialistas
dificilmente será capaz de produzir uma Moralidade uníssona,
muitos adeptos – inclusive alguns seguidores do Mundo Secular
– decidiram apelar para o Mundo Religioso e tomar a “palavra de
deus” como a homologação final para suas certezas.
Neste ponto, o primeiro desafio é ter disposição para
acreditar na existência de um ser supremo. O desafio seguinte é
determinar se você está acreditando no ser supremo correto: a
Moralidade relativa pregada pelo deus de um celta, um cristão,
um judeu, um hindu, um islâmico, um viking, um inuíte e um
índio botocudo pode apresentar discrepâncias de um local para
outro – e de uma data para outra. Quais deuses merecem crédito?
E de que maneira deliberaremos isso? Por meio de livros
sagrados, surias, quiromancia, búzios, gnosticismo, alquimia,
sufismo, feitiçaria, sortilégios, rezas, numerologia, mapas astrais,
cristais encantados, misticismo quântico, contemplação
espiritual, experiências extracorpóreas, chás alucinógenos,
pentagramas invertidos, possessões demoníacas, terapias de
vidas passadas, sessões mediúnicas ou revelações de homens
iluminados?
As vozes da Razão, os especialistas subscritos e todos os
deuses não poderiam imaginar uma ocupação melhor para suas
faculdades.
5.5. O FANTASMA DO PÓS-MODERNISMO
A etiologia da crise Moral que acomete sincronicamente o
Realismo, o Ceticismo e o Relativismo pode ser resumida em um
único agente: o Pós-Modernismo.
Em 1784, Kant escreveu que “o Iluminismo representa a
saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se
impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram
incapazes de fazer uso da própria razão independentemente da
direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem para fazer uso
da tua própria Razão! – esse é o lema do iluminismo” 6. Quase
três séculos mais tarde, estas palavras poderiam ser aplicadas
letra por letra apenas trocando-se “Iluminismo” por “Pós-
Modernismo”: assim como o Iluminismo representou um
desmantelamento dos dogmas predominantes até o século XVII,
o Pós-Modernismo atacou o que restava da Moralidade
agonizante a partir do século XX.
Modernidade vem do latim “modo”, que significa
“exatamente agora”. Pós-Modernismo seria, então, literalmente
“depois de exatamente agora”. A Era Pré-Moderna caracterizou-
se pela religião como fonte primária da verdade, sendo a
existência de deus e suas revelações amplamente aceitas como
legítimas. Com a Renascença e o Iluminismo, as paragens que
antes eram administradas pelo monopólio teísta foram invadidas
por pensadores que afirmavam que existe uma dignidade
inseparável das capacidades humanas e que a Verdade
substantiva pode ser alcançada pela Razão. Avançando o relógio,
chegamos à Era Pós-Moderna, onde Religião e Ciência cederam o
lugar mais alto do pódio para as Preferências Pessoais.
O Pós-Modernismo não ocorreu após o Modernismo, mas em
resposta a ele, como uma negação da maneira como o
Modernismo viu e descreveu o mundo. O Pós-Modernismo
afirma que os fatos Morais são construtos vulgares e tudo aquilo
que afirmamos sobre a humanidade não passa de metanarrativas
contingentes. Isto colocou a Moralidade em um pêndulo livre que
vai do “Realismo Relativista” até o Niilismo mais alarmante.
Em uma análise microscópica, é possível perceber que a crise
Moral desencadeada pelo vírus da Pós-Modernidade foi
precipitada por uma dupla heresia: primeiro, a amplitude das
referências Morais disponíveis levou a uma eliminação da
certeza, uma vez que cada passo Cético problematiza o anterior.
Segundo – e mais importante –, todas as fontes Morais passaram
a sofrer de uma instabilidade Relativista, tanto com relação à sua
validade quanto à sua suficiência. A Verdade e a Realidade
tornaram-se argamassas talhadas por fábulas pessoais, classe
social, gênero, cultura e religião; e a Moral, uma fantasia
destituída de polivalência.
O produto da obsessão pelo desmanche das antigas tradições
poderia ser a construção de uma única Ciência, uma única Ética e
uma única Política, válidas para todas as pessoas em todas as
Eras. Contudo, na fogueira do Pós-Modernismo, a Moralidade
não passa de um devaneio prestes a tombar sobre o próprio peso.
Seus oráculos acreditam que atingimos um ponto onde as
“verdades” devem ser reconhecidas apenas como tradições
particulares, úteis a propósitos particulares em tempos e lugares
particulares; e o desejo por uma Verdade substantiva universal é
uma caçada pelo pote de ouro no final do arco-íris.
De relance, o Pós-Modernismo é como qualquer outra
Moralidade: ao negar que qualquer fato Moral possa ser aplicado
a todas as pessoas em todos os tempos, ele assume a
metanarrativa de que não existem metanarrativas. A Moral Pós-
Moderna proclama que não existe Moral – um paradoxo
semelhante àquele observado no Ceticismo e no Relativismo.
Ainda assim, como aplicados Niilistas, os Pós-Modernistas
sugerem que deveríamos rejeitar toda e qualquer noção de
Moralidade, pois nascemos e vivemos aprisionados em nossa
cultura e nas pequenas histórias enviesadas que habitamos e que
habitam em nós, constituindo, portanto, uma corja de inaptos no
que diz respeito a estipular o que é Bom e Correto. Os
embriagados representantes dessa seita estão tão afundados em
contemplar seu próprio situacionismo que ninguém mais é capaz
de defender objetivamente qualquer valor objetivo.
Como observado, ao negar a existência de Verdades
substantivas, o Pós-Modernista veste a fantasia de um Relativista
Descritivo que anseia tornar-se um Realista Normativo:
Quando reitera que “não existem Verdades, apenas
interpretações”, o Pós-Modernismo não está oferecendo uma
metanarrativa e uma Verdade em si? Se a Verdade substantiva é
socialmente contingente, não seria esta afirmação uma amostra
da mesma contingência?
Nas décadas de 1960 e 1970, as atitudes Pós-Modernas
contra a autoridade e as instituições produziram alguns efeitos
positivos, é preciso admitir, mas outros nem tanto. Pastores,
clérigos, psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas e cônjuges
foram levados ao limite da paciência enquanto tentavam lidar
com um número impossível de pessoas buscando juntar os cacos
de suas vidas partidas para produzir alguma coisa completa.
Muitos desses conselheiros estavam igualmente perdidos, pois
haviam comprado a grande lorota de que não existem Verdades
substantivas. Negar noções absolutas de Bom e Correto é muito
poético em teoria, mas infrutífero na prática.
O Pós-Modernismo então se converteu em uma religião de
indulgências: ele critica a inconsistência do Modernismo, mas
recusa-se a oferecer suas próprias regras de coerência. Sua ênfase
está em formas seletivas de tolerância repletas de absurdos.
Por exemplo: o acordo absoluto é de que nenhum acordo
absoluto existe; o embasamento teórico é o de neutralizar todos
os embasamentos teóricos; e as diferenças são impostas como
uma maneira de resistir às diferenças. A proposta dogmática
consiste em revogar todas as propostas em troca de um vazio
filosófico: não temos mais padrões confiáveis e nenhum critério
de escolha além da ausência de critérios. Ironicamente, isto não
se traduziu em mais liberdade, ou mais paz ou mais
entendimento entre os humanos.
A Moralidade da Pós-Modernidade não conduz a uma
sociedade mais estável e segura. Pelo contrário: ela abandonou o
otimismo da Modernidade (fundamentado em certezas científicas
e progresso tecnológico) em nome de um estado de desilusão
infantil patrocinado pelas tensões das dessemelhanças,
parecendo divertir-se em provocar duelos entre o conhecimento
local e o conhecimento global. Os Pós-Modernos nutrem uma
suspeita imensa por qualquer um que tente ditar uma Verdade
substantiva, e todo discurso com este viés é rotulado como um
eco do “patriarcado imperialista opressor”.
Vivendo na crença de que não existem Verdades
substantivas, o truque de mágica do Pós-Modernismo permitiu
que seus apreciadores traduzissem “a capacidade de fazer algo”
como sendo “o direito de fazê-lo”. Ao recusar qualquer lei ou
autoridade, os novos Intuicionistas e Subjetivistas acreditam
piamente que Bom e Correto são rótulos que colamos em
situações aleatórias, e levam suas existências em um universo
paralelo onde os únicos princípios aceitos são aqueles dobráveis a
seu favor. Uma tradição antiga pode ser considerada aceitável
caso sirva às ocupações do momento – caso contrário, ela é
“opressora e fascista”. Eles consideram que “meus valores são tão
bons quanto os seus valores” e que “isso é importante para mim
porque eu escolhi e me dá prazer”, concluindo de modo tácito:
“ninguém deveria impor seus valores às outras pessoas” –
enquanto tentam, eles mesmos, impor este mandamento
cabalístico a quem quer que seja.
O universo Pós-Modernista é inventado pelo seu próprio
“eu”, seus próprios valores e preferências. Fundamentado na
Identidade Pessoal, sua Moralidade vai sendo construída à
medida que é planejada. Isso seria aceitável se os valores Morais
fossem apenas sentimentos, preferências arbitrárias, opiniões,
gostos e escolhas. Mas a Moralidade não representa unicamente
sentimentos, preferências, opiniões, gostos ou escolhas: ela deve
ser composta por princípios objetivos, incluindo aqueles que
sobreviveram à seleção da psicologia evolucionária e quase
sempre são aplicáveis de modo universal, quer isso seja do seu
gosto ou não. Como escreveu Machado de Assis: "A opinião, meu
caro, não é mais do que uma opinião; não é a verdade. Acerta
às vezes; outras calunia, e quer a desgraça que mais vezes
calunie do que acerte"13.
Insaciáveis, os Pós-Modernistas levaram a arte da
desonestidade a outro nível: eles exigem o direito de serem livres
de qualquer responsabilização Moral e de descartar na lata de
lixo da história qualquer dogma que cause o mínimo de
desconforto. Esta é a diferença mais óbvia entre o Pós-
Modernismo e a maioria das outras épocas da humanidade:
antes, a preocupação era desvendar o Mundo; atualmente, o foco
resume-se em como regular as narrativas disponíveis no Mundo
para que elas atendam às minhas demandas emocionais – uma
visão distorcida da realidade tem sequelas significativas.
Primeiro: sim, a totalidade da realidade é inescrutável.
Parmênides e Demóstenes já haviam sugerido isso, e
Schopenhauer discorreu sobre o tema em O Mundo como
Vontade e Representação (1819). Nosso situacionismo nos
impede de acessar a totalidade da realidade ou ter um
conhecimento pleno da Verdade substantiva oculta nela, mas
isso não significa dizer que o mundo real não existe – apenas que
dificilmente conseguiremos nos livrar de nossos vieses humanos
para alcançá-lo por inteiro.
Não obstante este revés, vez ou outra conseguimos mordiscar
nacos do mundo real e deveríamos valorizar sobremaneira cada
uma dessas dentadas. Entretanto, a dissolução da Moralidade
tradicional corrompeu a Razão e deixamos de perseguir o Bom e
Correto, legalizando a busca intuitiva pelo contentamento de
todas as nossas urgências afetivas. Ao exigir nenhum sofrimento
e acesso desimpedido a todos os prazeres físicos e biológicos que
podemos desfrutar, o Pós-Modernismo não viabilizou a
Eudaimonia Aristotélica, mas o Hedonismo7.
Segundo: quando rotulamos a Verdade e o Conhecimento
como simples construções de linguagem, deixamos para trás a
chance de acessar a Realidade para além de nossas
interpretações. Isso elimina a possibilidade de descobrirmos e
aplicarmos qualquer Verdade substantiva, elevando a loucura de
uns ao dever de todos.
Por último: o Pós-Modernismo tornou o progresso da
Moralidade uma ilusão, guilhotinando o otimismo e a confiança
da objetividade. Os Pós-Modernistas falam dos costumes e das
tradições não com Ceticismo ou Relativismo, mas com desprezo:
princípios como força, liberdade, honra, coragem, disciplina,
justiça, mérito, sabedoria, ordem e progresso são construtos
sociais, restos de bagagens dispensáveis que deveriam ser
defenestrados. Se assumirmos que a noção Pós-Moderna da
Moralidade é irrepreensível, estamos condenados a jamais
avançarmos um passo além de nós mesmos.
Como consequência, a Modernidade era confiante. A Pós-
Modernidade é ansiosa. A Modernidade procurava as respostas
definitivas. A Pós-Modernidade contenta-se em se empanturrar
com deleites transitivos. A Modernidade cavalgava destemida a
Razão, a ciência e as capacidades humanas. A Pós-Modernidade
patina angustiada sobre o gelo fino do misticismo, do
Subjetivismo Intuicionista e da incapacidade de ter certeza sobre
qualquer coisa. Aflitas em um mundo cheio de opções e sem
habilidade para prestar atenção ao que estão escolhendo, as
pessoas Pós-Modernas não querem respostas ou curas8: o que
elas querem é alguém que as ouça e demonstre simpatia para
com seus medos frívolos.
Profeticamente, Hume já havia previsto qual seria o destino
do Pós-Modernismo quando escreveu que “nada é mais usual e
mais natural, para aqueles que pretendem oferecer ao mundo
novas descobertas, que insinuar elogios ao seu próprio sistema,
depreciando todos os que foram propostos anteriormente. Mas
todo novo sistema sofre do mesmo excesso de confiança nos
princípios colhidos dedutivamente, na falta de coerência entre
as partes e dos defeitos das evidências como um todo”9.
Qualquer que seja a tragédia Moral da humanidade, ela pode
ser resumida em sequências de “crianças sapiens” assombradas
com um espetáculo que jamais compreendem.
5.6. CONCLUSÃO FINAL
Segundo Kant, os humanos são tanto parte do mundo
Natural quanto do mundo da Razão. Nossos impulsos e desejos
pertencem à nossa natureza animal, e nenhum padrão Moral se
aplica a eles: pouco importa se alguém aprova ou não o fato de
você estar com sono ou fome – isso não diminui seu sono,
tampouco aplaca sua fome. Grandes frases éticas de efeito não
são capazes de alterar os estados naturais de modo notável, e não
podemos suprimi-los apenas por que os rejeitamos. Mas isso não
nos impede de tentar: por meio de nossa teimosia e raciocínio,
apostamos na criação de incontáveis princípios arbitrários para
apaziguar nossa existência.
A Moralidade é o grande retrato desta busca por uma
explicação e uma imposição daquilo que consideramos Bom e
Correto – ou assim deveria ser. Seu objetivo seria o de encontrar
um conjunto de regras de conduta que poderia ser aplicado a
qualquer situação social com precisão científica. No entanto, esta
tarefa aparentemente simples mostrou ser um dos maiores de
todos os nossos desafios como espécie.
Inicialmente, enveredamos por um Realismo Moral que se
colocou distante demais da antropologia. Por meio dele,
organizamos as sociedades e formas equivalentes para manter a
produção de alimentos, promover a reprodução familiar,
desenvolver tecnologias e distribuir a autoridade política.
Nenhum deus foi responsável por estas medidas: todas foram
elaboradas por nossas próprias mãos.
Cientes disso, em um segundo momento, passamos a
questionar e rejeitar violentamente as ideias de progresso, as
religiões, os mitos, os ídolos, os princípios e as tradições que por
muito tempo haviam sido bússolas civilizatórias preciosas para
nós. Ao final da devastação causada pelo Ceticismo, os campos
sociais estavam colonizados com toda sorte de angústia e
desesperança. Era óbvio que não iríamos muito longe se
seguíssemos aquele rumo. Então decidimos juntar todas as
convicções em uma cesta, afirmando que Realistas e Céticos
estavam certos ao mesmo tempo. Exasperados, aceitamos a
sombra do Relativismo Moral.
O Relativismo pode ser divertido, mas é socialmente
desconfortável e insustentável no médio ou longo prazo: se a
Moralidade não está na obediência a um conjunto específico de
deveres e direitos, de que ela nos serve? Os conflitos produzidos
pela frouxidão axiomática do Relativismo nos atingiram
profundamente, mas, abrigados em nossas zonas de conforto,
prolongamos o sofrimento. Ficamos ali, passivos, esperançosos,
aguardando que o conflito se resolvesse por si só com o tempo, ou
que alguém – o governo, os políticos, os advogados, os médicos,
os engenheiros, os profetas, a história ou deus – solucionasse o
dilema em nosso nome. Como de hábito, eles fizeram o que
sempre fizeram: não resolveram coisa alguma.
Enquanto aguardávamos uma pista para nossa redenção, nos
afundamos em uma perversão Deontológica. Tornamo-nos
especialistas em ouvir sem escutar, em captar sem absorver,
vivendo em um mundo de recíprocos parciais, emoções
desnutridas e sensibilidades nada solidárias. O cidadão do
Relativismo Pós-Moderno tem direito a todos os direitos, e
apenas quando todos estes direitos forem satisfeitos – de
preferência, mais de uma vez –, correrá o risco de lembrar que
também possui deveres. Na maioria dos casos, não lembrará.
Mas certamente, ah, certamente reclamará que não está sendo
desejado, apreciado, reconhecido, valorizado, amado, seguido e
curtido o suficiente. Esta é relíquia Relativista Pós-Moderna que
estamos vivendo. E ela também não nos serve mais.
A Moralidade está em crise. Depois de tantos ciclos, os
valores tradicionais de antes não equivalem em dimensão aos
desafios e oportunidades que o mundo de oferece hoje. Todavia
sabemos bem que pouco adianta trocar dogmas por achismos
emocionais e sem fundamentos. A solução da tempestade de
mudanças que atravessamos requer uma reflexão mais enérgica
das estradas que ligarão a sociedade que temos à sociedade que
queremos – talvez uma sociedade mais racional, mais justa, mais
honesta, mais meritocrática, mais legítima e livre, e também mais
competitiva, e um tanto mais sóbria e chata que antes. Qualquer
que seja a direção, precisamos urgentemente de uma nova
bússola.
Para o cientista político norte-americano Eugene F. Miller, “o
que é essencial para nossa evolução como espécie não é mais a
seleção ou a transmissão de características físicas, mas a
seleção e a transmissão de novos valores e regras de conduta”15.
Minha proposta para estes novos valores e regras seria algo que
denomino Teoria Moral Unificada. Vejamos:
Largura, altura e profundidade são expressões
compartilhadas de uma grandeza chamada “espaço”. De modo
similar, os objetivos, as ações e as ideias dos indivíduos podem
ser expressos de modo compartilhado em uma única grandeza,
chamada Sociedade10.
Seguindo esta linha de raciocínio, considero o Realismo, o
Relativismo e o Ceticismo como medidas distintas de um corpo
consentâneo, a que chamamos Moralidade. O universo moral
tridimensional poderia ser explicado, em sua integralidade, por
uma Teoria onde Realismo, Relativismo e Ceticismo seriam não
escalas separadas para aferição de um mesmo fenômeno, mas
como três vértices de um triângulo.
Do meu ponto de vista, a solução para a Crise Moral consiste
em transcender seus conceitos filosóficos incompletos,
reconhecendo a interdependência de todos com tudo, abraçando
a necessidade da existência simultânea destes três vértices. Não
devemos substituir o Relativismo pelo Realismo, ou fazer uma
escolha entre um dos dois e o Ceticismo. Nossa missão é agregar
todos eles em um só entendimento para a existência.
Sem embargo, esta Moral não será ofertada por um deus
criador ou revelada em textos sagrados ou entregue por líderes
dedicados: ela deverá ser alcançada por meio do
autopertencimento, da reflexão acerca de nossas limitações e
possibilidades, uma pessoa de cada vez. Sem este nível de
consciência, qualquer conjunto de valores Morais continuará
sendo uma fonte permanente de contradições improdutivas.
O desenvolvimento de tal Teoria Moral Unificada requer
maturidade emocional suficiente para sentir-se culpado quando
você erra; maturidade social suficiente para aceitar suas
responsabilidades para com o grupo ao qual você pertence; e
maturidade cognitiva suficiente para ser capaz de acolher e
externar empatia.
Todas as classes de Moralidade foram, são e serão revistas
em algum momento, mas não sem discussões acaloradas e até
mesmo algum caos. Mas a revisão ocorrerá. Alguns valores serão
reescritos, outros serão abandonados, e uns poucos sobreviverão
ao filtro da Seleção Natural filosófica. No final, teremos uma
Moralidade imperfeita, mas sem dúvida alguma superior a de
agora.
Aos que lerem este livro no futuro distante, espero que
saibam a sorte que têm de serem espectadores da solução Moral
que encontramos. Eu não a testemunhei, embora a cobiçasse
mais que tudo. E espero que saibam também que em breve serão
acometidos com dúvidas igualmente intensas com relação ao
sistema que desenvolveram. Mas nada temam: já passamos por
isso antes. Após tantos eventos de extinção em massa nessas
redondezas, se a Vida mostrou alguma coisa é que a Vida sempre
encontra uma maneira. Vocês também encontrarão a sua,
novamente.
______________________
Referências:
PARTE I: MORALIDADE – o que é, de onde vem e como
funciona?
1. Brian Adams e Brooke Blades. Lithic Materials and Paleolithic Societies. Wiley-
Blackwell (2009).
2. Yuval Noah Harari. Sapiens: Uma Breve História da Humanidade. L&PM (2015).
3. Goebel T, Waters MR, O'Rourke DH. The Late Pleistocene Dispersal of Modern
Humans in the Americas. Science, 2008 Mar 14; 319(5869):1497-502.
4. Jared Diamond, Armas, Germes e Aço: Os Destinos Das Sociedades Humanas. Editora
Record (2017).
5. Richard Dawkins. O Gene Egoísta. Companhia das Letras (2007).
6. Patricia Smith Churchland. Braintrust – What Neuroscience Tells Us about Morality.
Princeton University Press (2012).
7. Robert Wright. A Evolução de Deus. Editora Record (2012).
8. Christopher Boehm. Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism, and Shame.
Basic Books (2012).
9. Sam Harris. The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason. W. W. Norton
& Company (2005).
10. Dale Peterson. The Moral Lives of Animals. Bloomsbury Press (2011).
11. Frans de Waal. The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism Among the
Primates. W. W. Norton & Company (2013).
12. Virginia Morell. Animal Wise: The Thoughts and Emotions of Our Fellow Creatures. Old
Street Publishing (2013).
13. Marc Bekoff. The Emotional Lives of Animals: A Leading Scientist Explores Animal Joy,
Sorrow, and Empathy — and Why They Matter. New World Library (2008)
14. David Hume. Tratado da Natureza Humana (1740). Editora Unesp, 2ª edição (2000).
15. Salvadori E, Blazsekova T, Volein A, Karap Z, Tatone D, Mascaro O, et al.
Probing the Strength of Infants' Preference for Helpers over Hinderers. PLoS ONE, 2011;
10(11):e0140570.
16. Petersen MB, Sznycer D, Cosmides L, Tooby J. Who Deserves Help? Evolutionary
Psychology, Social Emotions, and Public Opinion about Welfare. Polit Psychol, 2012 Jun 1;
33(3): 395–418.
17. Paul Bloom. Just Babies: The Origins of Good and Evil. Crown (2013).
18. Thomas Hobbes. Leviatã. Martin Claret (2007).
19. Stephen Barr. Science and Religion: The Myth of Conflict. Catholic Truth Society (2017).
20. Albert Einstein. In Letters of Note: the word God is a product of human weakness.
Acessado em http://www.lettersofnote.com/2009/10/word-god-is-product-of-human-
weakness.html.
21. Arthur Schopenhauer. O Mundo Como Vontade e Representação (1819). Contraponto
(2001).
22. John Locke. Carta sobre a tolerância (1689). Coleção Textos Filosóficos – Edições 70
(1965).
23. Podolskiy O. Investigating new Ways to Study Adolescent Moral Competence. Europe’s
Journal of Psychology, 2005; 1(4).
24. Decety J, Cowell JM. Friends or foes: Is empathy necessary for moral behavior?
PerspectPsychol Sci, 2014 Sep; 9(4): 525–537.
25. Nicolau Copérnico. As Revoluções dos Orbes Celestes. Fundação Calouste Gulbenkian
(1984).
26. Couchman JJ, Coutinho MV, Beran MJ, Smith JD. Beyond stimulus cues and
reinforcement signals: a new approach to animal metacognition. J Comp Psychol, 2010 Nov;
124(4):356-68.
27. Graham J, Haidt J, Koleva S, Motyl M, Iyer R, Wojcik SP, Ditto PH. Moral
Foundations Theory: The Pragmatic Validity of Moral Pluralism. Advances in Experimental
Social Psychology 2012. Acessado em http://www-
bcf.usc.edu/~jessegra/papers/GHKMIWD.inpress.MFT.AESP.pdf
28. Edward Osborne Wilson. Sociobiology – the abridged edition. Belknap Press & Harvard
University Press (1998).
29. John Broadus Watson. Psychology From the Standpoint of a Behaviorist. Andesite
Press (2017).
30. Burrhus Frederic Skinner. Sobre o Behaviorismo. Cultrix (2006).
31. Yuval Noah Harari. Homo Deus – uma breve história do amanhã. Ed. Companhia das
Letras (2015).
32. Milgram S. Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology,
1963; 67:371-378.
33. Max Weber. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Martin Claret (2006).
34. Platão. A República. Martin Claret (2000).
35. Philip G. Zimbardo. Stanford Prison Experiment – Social Psychology Network.
Disponível em http://www.prisonexp.org/
36. Zygmunt Bauman. Ética Pós-moderna. Editora Paulus (1997).
37. André Comnte-Sponville. O Capitalismo é Moral? Editora Wmf Martins Fontes (2005).
38. Aristóteles. Ética a Nicômaco. Martin Claret, 6ª edição (2001).
39. René Descartes. Meditações sobre Filosofia Primeira (1641). Editora Unicamp (2004).
40. Immanuel Kant. A Metafísica dos Costumes. Editora Folha de São Paulo (2010).
41. Lawrence Kohlberg, Ann Colby. The Measurement of Moral Judgment. Editora
Cambridge (2011).
42. Haidt J. The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral
judgment. Psychol Rev, 2001 Oct;108(4):814-34.
43. Daniel M. Wegner, Kurt Gray. The Mind Club: Who Thinks, What Feels, and Why It
Matters. Penguin Books (2016).
44. Teóphile Gautier. Baudelaire. Editora Boitempo (2001).
45. Platão. Fedro. Martin Claret (2007).
46. Antônio R. Damásio. E o cérebro criou o homem. Companhia das Letras (2011).
47. Émile Durkheim. Ética e Sociologia da Moral (1887). Martin Claret (2016).
48. Thomas Malthus. Princípios de Economia Política – Ensaio Sobre a População (1798).
Nova Cultural (1996).
49. Lulu Santos. Apenas Mais Uma de Amor. Faixa número 5 do álbum Mondo Cane.
Gravadora Philips (1992).
50. Ronald A Clark. The Life of Ernst Chain: Penicillin and Beyond. Palgrave Macmillan
(1986).
51. Scientific Dissent From Darwinism. Acessado em
https://dissentfromdarwin.org/about/
52. Luiz Felipe Reversi. Síntese Estendida – uma investigação Histórico-
Filosófica. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Educação para a
Ciência, UNESP (2015). Disponível em
https://alsafi.ead.unesp.br/bitstream/handle/11449/132673/000852390.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
53. Cíntia Graziela Santos. Da teoria sintética da evolução à síntese estendida: o papel da
plasticidade fenotípica. Tese de Doutorado – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, USP (2015). Disponível em
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59139/tde-05112015-100804/pt-br.php
54. Jerison HJ. The theory of encephalization. Ann N Y Acad Sci, 1977 Sep 30; 299:146-60.
55. Osvaldo Cairό. External Measures of Cognition. Front Hum Neurosci, 2011; 5:108.
56. National Academy of Sciences. Science and Creationism: A View from the National
Academy of Sciences. The National Academies Press (1999).
57. Alan R. Rogers. The Evidence for Evolution. University of Chicago Press (2011).
58. Daniel J. Fairbanks. Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in Human
DNA. Prometheus Books (2010).
59. Richard Dawkins. O Espetáculo da Vida – a Prova da Evolução. Casa das Letras (2009).
60. Jean-Jacques Rousseau. O Contrato Social e outros escritos (1762). Cultrix (1965).
61. Gardner H. Taking a multiple intelligences (MI) perspective. Behav Brain Sci, 2017
Jan;40:e203.
62. Sófocles. Antígone. Editora Scipione (2004).
63. Umberto Eco e Carlo Maria Martine. Em que creem os que não creem? Editora Record
(2001).
64. Eduardo Ramalho Rabenhorst. Dignidade Humana e Moralidade
Democrática. Editora Brasília Jurídica (2001).
65. Jared Diamond. O Terceiro Chimpanzé – a evolução e o futuro do ser humano. Editora
Record (2010).
66. Baltasar Gracián. A Arte da Prudência (1647). Martin Claret (2002).
67. Baruch Spinoza. Ética (1677). Ediouro (s/d).
PARTE II: O REALISMO MORAL
1. Torbjorn Tannsjo. Moral Realism. Rowman & Littlefield Publishers (1989).
2. Pekka Vayrynen. Moral Realism, in Encyclopedia of Philosophy, 2ª edição, Macmillan
(2005).
3. Russ Shafer-Landau. Moral Realism: A Defence. Clarendon Press (2003).
4. Finlay S. Four Faces of Moral Realism. Philosophy Compass, 2007; 2:10. Acessado em
http://www-bcf.usc.edu/~finlay/Moral%20Realism.pdf.
5. Esopo. Fábulas Completas. Cosac & Naify (2013).
6. Sami Pihlström. Pragmatic Moral Realism – A Transcendental Defense. Editions
Rodopi BV (2005).
7. Kevin DeLapp. Moral Realism. Bloomsbury Academic (2013).
8. Jeremy Bentham. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Abril
Cultural (1984).
9. John Stuart Mill. Utilitarismo. Escala (2009).
10. Cummiskey D. Consequentialism, Egoism, and the Moral Law. Philosophical Studies: An
International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 1989 Oct; 57(2):111-134.
11. Sachs B. Reasons Consequentialism. Journal of Moral Philosophy 2013; 10:671–682.
12. Thomas AJ. Deontology, Consequentialism and Moral Realism. Minerva – An Open
Access Journal of Philosophy, 2015; 19:1-24.
13. Sam Harris. A Paisagem Moral. Cia das Letras (2013).
14. Anscombe E. Modern Moral Philosophy. Philosopy, 1958 Jan; 22(124):1-16.
15. Joshua May. Moral Judgment and Deontology: Empirical Developments. Philosophy
Compass, 2014; 9(11):745-755.
16. Immanuel Kant. A Metafísica dos Costumes. Editora Folha de São Paulo (2010).
17. Misselbrook D. Duty, Kant, and Deontology. British Journal of General Practice, 2013
Apr; 63(609):211.
18. David A McNaughton, J. Piers Rawling. Deontology. In Ethics in Practice, Oxford
Blackwell, 3ª edição (2007).
19. Robert A Heineman. Aristotle And Moral Realism. Westview Press (1995).
20. Aristóteles. Ética a Nicômaco. Martin Claret (2001).
21. Martin Luther King Jr. Letter from Birmingham Jail (1963). Acessado em
https://web.cn.edu/kwheeler/documents/Letter_Birmingham_Jail.pdf.
22. Bertrand Russell. História da Filosofia Ocidental. Nova Fronteira (2015).
23. Ayn Rand. A Revolta de Atlas. Arqueiro (2017).
24. Ayn Rand, Leonard Peikoff, Leonard Oeikoff. Introduction to Objectivist
Epistemology: Expanded Second Edition. Plume Books (1990).
25. Leonard Peikoff. Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand. Meridian (1993).
26. William Thomas, David Kelley. The Logical structure of objectivism (1999). Acessado
em https://atlassociety.org/sites/default/files/LSO%20Binder.pdf
27. Boyd R. Scientific Realism and Naturalistic Epistemology. PSA: Proceedings of the
Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 1980; 613-662.
28. Boyd R. Howtobe a Moral Realist. In G. Sayre-McCord (ed.), Essays on Moral Realism.
Cornell University Press, 1988; 181-228.
29. Sturgeon NL. Ethical Naturalism, in The Oxford Handbook of Ethical Theory (2007).
30. Sturgeon NL. Naturalism in Ethics, In Routledge Encyclopedia of Philosophy. Routledge
(1998).
31. Brink DO. Realism, Naturalism, and Moral Semantics. Social Philosophy & Policy, 2001;
18:154-76.
32. Brink DO. Aristotelian Naturalism in the History of Ethics. Journal of the History of
Philosophy, 2014; 52: 813-33.
33. Augusto Comte. Princípios de Filosofia Positiva (1875). Acessado em
www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/principios-de-filosofia-positiva/
34. Yuval Noah Harari. Homo Deus – uma breve história do amanhã. Ed. Companhia das
Letras (2015).
35. Platão. A República. Martin Claret (2000).
36. Émile Durkheim. Ética e Sociologia da Moral. Martin Claret (2016)
37. David Hume. Tratado da Natureza Humana (1739-1740). Editora Unifesp (2000).
38. Nicolau Maquiavel. O Príncipe (1513). Vozes (2011).
39. Thomas More. Utopia (1516). Escala Educacional (2006).
40. Thomas Hobbes. Leviatã. Martin Claret (2007).
41. Osho. Coragem – a arte de viver perigosamente. Cultrix (2015).
42. John Locke. Carta sobre a tolerância (1689). Coleção Textos Filosóficos – Edições 70
(1965).
43. Mikhail Bakunin. Deus e o Estado (1871). Hedra (2011).
44. André Comnte-Sponville. O Capitalismo é Moral? Editora Wmf Martins Fontes (2005).
45. Guerra Nas Estrelas. Episódio V – O Império Contra-Ataca (1980).
46. Émile Durkheim. Ética e Sociologia da Moral (1887). Martin Claret (2016).
47. Jean-Jacques Rousseau. O Contrato Social e outros escritos (1762). Cultrix (1965).
48. Dale Riepe. Naturalistic Tradition in Indian Thought. Motilal Banarsidass (1964).
49. Oliver Leaman. Key Concepts in Eastern Philosophy. Routledge (1999).
50. Jonardon Ganeri. The Self: Naturalism, Consciousness, and the First-Person Stance.
Oxford University Press (2015).
51. Robert F. Almeder. Human Happiness and Morality. Prometheus Press (2000).
52. Baruch Spinoza. Ética (1677). Ediouro (s/d).
53. Erich Fromm. A Análise do Homem (1947). Zahar (1981)
54. Clive Staples Lewis. A Abolição do Homem (1943). WMF Martins (2019).
55. Richard Bentley. The Folly And Unreasonableness Of Atheism: Demonstrated From The
Advantage And Pleasure Of A Religious Life (1699). Kessinger Publishing, LLC (2010)
PARTE III: O CETICISMO MORAL
1. Richard Joyce. The Evolution of Morality. MIT Press (2007).
2. Morton J. A New Evolutionary Debunking Argument Against Moral Realism. Journal of
the American Philosophical Association, 2016; 2(2):233-253.
3. David Hume. Tratado da Natureza Humana (1740). Editora Unifesp (2000).
4. Massimo M. Sobre o Paradoxo do Cético de Wittgenstein enunciado por Saul Kripke.
Pólemos, Dezembro de 2012; 1(2):191-209.
5. Platão. A República. Martin Claret (2000).
6. Sexto Empírico. Outlines Of Pyrrhonism. Prometheus Books (1990).
7. The Drake Equation. Acessado https://www.seti.org/drake-equation
8. Seth Shostak. Our Galaxy Should Be Teeming With Civilizations, But Where Are They?
Acessado em https://www.seti.org/seti-institute/project/fermi-paradox
9. Arthur Charles Clarke. Sir Arthur´s Quotations. Acessado em
https://www.clarkefoundation.org/about-sir-arthur/sir-arthurs-quotations/
10. Benson Mates. The Skeptic Way: Sextus Empiricus' Outlines of Pyrrhonism. Oup USA
(1996).
11. Stanley Cavell. The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy.
Oxford University Press (1999).
12. Julian Young. Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography. Cambridge University
Press (2010).
13. Super Interessante. Seção Dito & Feito, 1992; 6(5):30.
14. Brett Stevens. Nihilism: A Philosophy Based In Nothingness And Eternity. Manticore
Press (2016).
15. Emanuele Severino. The Essence of Nihilism. Verso (2016).
16. Alan Pratt. The Dark Side: Thoughts on the Futility of Life. Citadel Press (1994).
17. Diego E. Machuca. Moral Skepticism: New Essays. Routledge (2017).
18. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Aurora. Escala (2008).
19. Jacques Derrida. Gramatologia. Perspectiva (1973).
20. Seraphim Rose, Eugene Rose. Nihilism: The Root of the Revolution of the Modern Age.
St Herman Press (2001).
21. John Leslie Mackie. Ethics: Inventing Right and Wrong (1977). Penguin Books (1991).
22. Michael Shermer. The Moral Arc. Macmillan Usa (2015).
23. Mario Livio. Brilliant Blunders: From Darwin to Einstein – Colossal Mistakes by Great
Scientists That Changed Our Understanding of Life and the Universe. Simon & Schuster
(2013).
24. Walter Sinnott-Armstrong. Moral Skepticisms. Oxford University Press (2006).
25. Bruce Bagemihl. Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity.
Stonewall Inn Editions (2000).
26. Affonso Romano de Sant'Anna. Os Céticos. Acessado em
http://clubecetico.org/forum/index.php?topic=21293.0
27. Bertrand Russell. História da filosofia ocidental (1946). Nova Fronteira (2010).
28. Jean-paul Sartre. O Ser e o Nada. Vozes (1997).
29. C. S. Lewis. Cristianismo Puro e Simples (1952). Martins Fontes (2014).
30. Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia. Jorge Zahar (2005).
31. Gerd Bornheim. Os Filósofos Pré-socráticos. Cultrix (2005).
32. David Hume. História Natural da Religião. Editora Unesp (2004).
33. Thomas Hobbes. Leviatã. Martin Claret (2007).
34. Ciani ACC et al. Human Homosexuality: A Paradigmatic Arena for Sexually Antagonistic
Selection? Cold Spring Harb Perspect Biol. 2015 Apr; 7(4): a017657.
PARTE IV: O RELATIVISMO MORAL
1. Paul Boghossian. What is Relativism? in Patrick Greenough & Michael Lynch (eds.),
Truth and Relativism. Clarendon Press 2006;13-37.
2. Steven Lukes. Moral Relativism: Big Ideas/Small Books. Picador (2008).
3. Robert Streiffer. Moral Relativism and Reasons for Action. Routledge (2003).
4. Gilbert Harman. Moral Relativism Explained. Acessado em
https://www.princeton.edu/~harman/Papers/Moral%20Relativism%20Explained.pdf
5. Max Kolbel. Moral Relativism. Lectures on Relativism, Göteborg 2005, 51-72.
6. J. David Velleman. Foundations for Moral Relativism. Open Book Publishers (2013).
7. Bertrand Russell. História da Filosofia Ocidental. Nova Fronteira (2015).
8. Michel de Montaigne. The Essays of Montaigne, Complete. Ed. William Carew Hazlitt
(1877) e Project Gutenberg. Acessado em https://www.gutenberg.org/files/3600/3600-
h/3600-h.htm
9. Benedictus de Spinoza. Ética (1677). Autêntica Editora (2009).
10. David Hume. Tratado da Natureza Humana (1740). Editora Unesp (2000).
11. Augusto Comte. Princípios de Filosofia Positiva (1875). Disponível em
www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/principios-de-filosofia-positiva/
12. Charles Leslie Stevenson. Facts and Values: Studies in Ethical Analysis. Praeger (1975).
13. Richard Mervyn Hare. The Language of Morals (1952). Oxford University Press;
Reprint edition (1991).
14. Friedrich Nietzsche. A Gaia da Ciência (1882). Companhia de Bolso (2016).
15. William Graham Sumner. Folkways (1906). Acessado em
http://www.gutenberg.org/files/24253/24253-h/24253-h.htm
16. Louis Dumont. Homo Hierarchicus: o Sistema das Castas e Suas Implicações. Edusp
(2009).
17. Neil Levy. Descriptive Relativism: Assessing the Evidence. The Journal of Value Inquiry,
2003;37: 165–177.
18. David B. Wong. Cultural Relativism. In Institutional Issues Involving Ethics and Justice
– Vol. I, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Acessado em
https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-37-01-03.pdf
19. Ragnar Francé. Methaethical Relativism – Against the Single Analysis Assumption.
Doctoral dissertation in practical philosophy Göteborg University (2008). Acessado em
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/8505/3/gupea_2077_8505_3.pdf
20. Quintelier KJP, Fessler DMT. Varying versions of moral relativism: the philosophy and
psychology of normative relativism. Biol Philos (2012) 27:95–113.
21. James Rachels. Subjectivism in Ethics. Acessado em
http://www.rci.rutgers.edu/~stich/104_Master_File/104_Readings/Rachels/Subjectivism
%20in%20Ethics.pdf
22. Russs Shaefer-Landau. Ethical Subjetivism. In Reason and Responsability, Part V –
The Claims of Morality and Justice. Wadsworth (2001).
23. James Rachels, Stuart Rachels. Subjectivism in Ethics. In The Elements of Moral
Philosophy, Chapter 3. McGraw-Hill Higher Education (2009).
24. Philippa Foot. Does Moral Subjectivism Reston a Mistake? Oxford Journal of Legal
Studies1995;15(1).
25. Gilbert Harman. Moral Relativism Defended. In Ethical Theory: An Anthology, John
Wiley& Sons (2013).
26. Alexandra Howson. Cultural Relativism. In EBSCO Research Starters, EBSCO
Publishing (2009). Acessado em https://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-
dbTopic-1247.pdf
27. Ruth Benedict. A Defense of Ethical Relativism. In Anthropology and the Abnormal,
Journal of General Psychology, 1934; 10.
28. Stein Z, Dawson-Tunik TL. “It's all good”: Moral relativism and the Millennial Mind.
Developmental Testing Service (2004). Acessado em
https://dts.lectica.org/PDF/ItsAllGood.pdf
29. Jean-Jacques Rousseau. Emílio ou Da Educação. Difel (1979).
30. Thomas More. Utopia (1516). Escala Educacional (2006).
31. Karl Raimund Popper. A Sociedade Aberta e Seus Inimigos (1945). Ed. Itatiaia Edusp
(1987).
32. Mohamud OA. Female circumcision and child mortality in urban Somalia. Genus, 1991
Jul-Dec;47(3-4):203-23.
33. Graham J, Haidt J, Koleva S, Motyl M, Iyer R, Wojcik SP, Ditto PH. Moral
Foundations Theory: The Pragmatic Validity of Moral Pluralism. Advances in Experimental
Social Psychology 2012. Acessado em http://www-
bcf.usc.edu/~jessegra/papers/GHKMIWD.inpress.MFT.AESP.pdf
34. Prichard HA. Does Moral Philosophy Reston a Mistake? Mind. 1912 Jan; 21(81):21-37.
35. George Edward Moore. Principia Ethica (1902). Disponível em http://fair-use.org/g-e-
moore/principia-ethica
36. David Ross. The Right and the Good. Claredon Press (1930).
37. Russ Shafer-Landau. Moral Realism: A Defence. Claredon Press (2003).
38. Matheus Martins Silva. Moore e os intuicionistas contra o naturalismo. Ética, Julho de
2006. Disponível em https://criticanarede.com/eti_aqa.html
39. Émile Durkheim. Ética e Sociologia da Moral (1887). Martin Claret (2016).
40. Platão. Fedro. Martin Claret (2007).
41. Platão. A República. Martin Claret (2000).
42. Aristóteles. Ética a Nicômaco. Martin Claret (2001).
43. Thomas Hobbes. Leviatã. Martin Claret (2007).
44. Novaes SC. Nações indígenas – pensando o Brasil, desafio Constituinte. Lua Nova, Sept
1985;2(2):21-22.
45. Yuval Noah Harari. Homo Deus – uma breve história do amanhã. Companhia das
Letras (2015).
46. Mikhail Bakunin. Deus e o Estado (1871). Hedra (2011).
47. John Locke. Ensaio acerca do Entendimento Humano (1689). Nova Cultural (1997).
48. Andrew Newberg, Mark Robert Waldman. Why We Believe What We Believe:
Uncovering Our Biological Need for Meaning, Spirituality, and Truth. Scribner (2006)
49. Erick Fromm. Análise do Homem. Zahar (1978).
50. Santos-Granero F. Hakani e a campanha contra o infanticídio indígena: percepções
contrastantes de humanidade e pessoa na Amazônia brasileira. Mana, Apr 2011;17(1).
51. Pinezi AKM. Infanticídio indígena, relativismo cultural e direitos humanos: elementos
para reflexão. Aurora 2010; 8.
52. Camacho WAB. Infanticídio Indígena: um dilema entre a travessia e o permanecer a
margem de si mesmo. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais, Unisinos (2011). Acessado em
http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/4640/21d.pdf?sequen
ce=1
53. Santos NF. O infanticídio indígena no Brasil: o universalismo dos direitos humanos em
face do relativismo cultural. Acessado em
https://www.derechoycambiosocial.com/revista025/infanticidio_y_derechos_humanos.pd
f
54. Do Reis JB. O Infanticídio Indígena: um conflito entre a diversidade cultural e os direitos
humanos. Acessado em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ab28ad5cc818e94c
PARTE V: A CRISE DA MORALIDADE
1. Constituição Federal Brasileira. Legislação Informatizada – Publicação Original.
Acessado em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-
outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html
2. Presidência da República e Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos.
Emendas Constitucionais. Acessado em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm
3. José Celso Cardoso Jr. A Constituição brasileira de 1988 revisitada: recuperação
histórica e desafios atuais das políticas públicas nas áreas econômica e social. Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2009). Acessado em
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/Livro_ConstituicaoBrasileira1988_Vol1.pd
f
4. Rudolfo Lago. O Brasil das 181 mil leis. Revista IstoÉ. Acessado em
https://istoe.com.br/3144_O+BRASIL+DAS+181+MIL+LEIS/
5. Friedrich Wilhelm Nietzsche. A Genealogia da Moral. Escala (2013).
6. Immanuel Kant. What Is Enlightenment? Acessado em
http://www.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/etscc/kant.html
7. Nicolau Maquiavel. O Príncipe (1513). Vozes (2011).
8. Yuval Noah Harari. Homo Deus – uma breve história do amanhã. Companhia das
Letras (2015).
9. David Hume. Tratado da Natureza Humana (1740). Editora Unifesp (2000).
10. Émile Durkheim. Ética e Sociologia da Moral (1887). Martin Claret (2016).
11. Eduardo Ramalho Rabenhorst. Dignidade Humana e Moralidade Democrática.
Brasília Jurídica (2001).
12. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Humano, Demasiado Humano. Escala (2013).
13. Machado de Assis. O Anjo Rafael (1869). - Acessado em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000104pdf.pdf
14. Baruch Spinoza. Ética (1677). Ediouro (s/d).
15. Eugene F. Miller. Hayek’s The Constitution of Liberty - An Account of Its Argument.
Institute of Economic Affairs Monographs, 2010; Occasional Paper No. 144.
Você também pode gostar
- Caminhos do Conhecimento: fragmentos de uma longa viagemNo EverandCaminhos do Conhecimento: fragmentos de uma longa viagemAinda não há avaliações
- A Condição HumanaDocumento7 páginasA Condição HumanaCanício SchererAinda não há avaliações
- Resumo & Guia De Estudo - Sapiens: Uma Breve História Da HumanidadeNo EverandResumo & Guia De Estudo - Sapiens: Uma Breve História Da HumanidadeAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1 (Alanis Medeiros Teixeira)Documento4 páginasEstudo Dirigido 1 (Alanis Medeiros Teixeira)alanis.medeirosAinda não há avaliações
- A CRISE +ëTICO MORAL EM NOSSA SOCIEDADEDocumento10 páginasA CRISE +ëTICO MORAL EM NOSSA SOCIEDADELeandro FidelisAinda não há avaliações
- Quem É Deus? Uma Força Do Universo, Ou Um Ser Pessoal?No EverandQuem É Deus? Uma Força Do Universo, Ou Um Ser Pessoal?Ainda não há avaliações
- Resumo Estendido - O Poder Do Mito (The Power Of Myth) - Baseado No Livro De Joseph CampbellNo EverandResumo Estendido - O Poder Do Mito (The Power Of Myth) - Baseado No Livro De Joseph CampbellAinda não há avaliações
- Sociedade hipócrita e corrupta: Decadência dos valores éticos e moraisNo EverandSociedade hipócrita e corrupta: Decadência dos valores éticos e moraisAinda não há avaliações
- Os Trabalhos de HerculesDocumento78 páginasOs Trabalhos de HerculesSabrina Lyrio100% (1)
- Antropologia e Sociologia da EducaçãoDocumento12 páginasAntropologia e Sociologia da EducaçãoFabio PavanAinda não há avaliações
- Bioética: Cuidar da vida e do meio ambienteNo EverandBioética: Cuidar da vida e do meio ambienteAinda não há avaliações
- Homem e Sociedade - UNIPDocumento83 páginasHomem e Sociedade - UNIPMarcio Oliveira67% (3)
- A Busca Do SaberDocumento10 páginasA Busca Do SaberMaria GobbiAinda não há avaliações
- Fundamentos de Filosofia - Aula - O Ser HumanoDocumento24 páginasFundamentos de Filosofia - Aula - O Ser HumanoMarcus Vinicios P da SilvaAinda não há avaliações
- O conceito de religião e seu desenvolvimento históricoDocumento47 páginasO conceito de religião e seu desenvolvimento históricoOhh SátiroAinda não há avaliações
- Filosofia 1º AnoDocumento9 páginasFilosofia 1º AnoHugo AlvesAinda não há avaliações
- A Sacralização de Animais nas Religiões Afro-brasileiras: uma análise sob a perspectiva da ética utilitarista de Peter SingerNo EverandA Sacralização de Animais nas Religiões Afro-brasileiras: uma análise sob a perspectiva da ética utilitarista de Peter SingerNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Ciencia Do Costume Ruth BenedictDocumento14 páginasA Ciencia Do Costume Ruth BenedictfabiolbitarAinda não há avaliações
- O Que É Religião - Rubem AlvesDocumento61 páginasO Que É Religião - Rubem AlvesMoabe TomazAinda não há avaliações
- Tudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNo EverandTudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- O Sistema Límbico e as EmoçõesDocumento35 páginasO Sistema Límbico e as EmoçõesJoteko TekoAinda não há avaliações
- 45 - Deus Não É, e Nunca Foi Grande.Documento6 páginas45 - Deus Não É, e Nunca Foi Grande.Oiced MocamAinda não há avaliações
- O Futuro de Uma Ilusão ResumoDocumento4 páginasO Futuro de Uma Ilusão ResumoDenise CoutinhoAinda não há avaliações
- A origem das crenças religiosasDocumento143 páginasA origem das crenças religiosasJulianaAinda não há avaliações
- Fundamentos sociais da saúdeDocumento6 páginasFundamentos sociais da saúderozateodosio_1798291Ainda não há avaliações
- Da Sombra para A LuzDocumento31 páginasDa Sombra para A LuzMarcelo Alexandrino da Costa SantosAinda não há avaliações
- Fundamentos Sócio-Antropológicos e Da Saúde 1Documento8 páginasFundamentos Sócio-Antropológicos e Da Saúde 1Adilson JuniorAinda não há avaliações
- Sexualidade e Espiritismo (Alcione Moreno)Documento20 páginasSexualidade e Espiritismo (Alcione Moreno)chimbila-63Ainda não há avaliações
- Introdução à Filosofia da PermaculturaDocumento4 páginasIntrodução à Filosofia da PermaculturaÍndio BrancoAinda não há avaliações
- OS TRABALHOS DE HÉRCULES AstrologiaDocumento192 páginasOS TRABALHOS DE HÉRCULES AstrologiaAlberto Schmith Xymith100% (3)
- Obsessores E O Mundo Invisível Das TrevasNo EverandObsessores E O Mundo Invisível Das TrevasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Alinhamento: O Processo de Transmutação na Mecânica da VidaNo EverandAlinhamento: O Processo de Transmutação na Mecânica da VidaAinda não há avaliações
- Espiritismo e MaçonariaDocumento23 páginasEspiritismo e MaçonariaWagner Cruz da CruzAinda não há avaliações
- E1_MCEGDocumento72 páginasE1_MCEGGustavo EmbalarAinda não há avaliações
- FILOSOFIA – DIREITOS ANIMAISDocumento2 páginasFILOSOFIA – DIREITOS ANIMAISAndré CâmaraAinda não há avaliações
- O Mundo Politeista Do Monoteismo PDFDocumento21 páginasO Mundo Politeista Do Monoteismo PDFIouchabel FalcãoAinda não há avaliações
- Psicologia EvolucionistaDocumento103 páginasPsicologia Evolucionistadwain santeeAinda não há avaliações
- Evolução Natural X Evolução ConscienteDocumento10 páginasEvolução Natural X Evolução ConscienteRubens MazziniAinda não há avaliações
- 7 - Cérebro Social, Mentalização e Psicopatologia EvolutivaDocumento27 páginas7 - Cérebro Social, Mentalização e Psicopatologia EvolutivaSuelen de SáAinda não há avaliações
- Biologia, esquerda e direita - o bem comumDocumento13 páginasBiologia, esquerda e direita - o bem comumolandinaAinda não há avaliações
- Evolução HumanaDocumento10 páginasEvolução HumanaCamila de QuadrosAinda não há avaliações
- A Lenda Do PreguiçosoDocumento6 páginasA Lenda Do PreguiçosoFabricia VicentiniAinda não há avaliações
- Lista de ExercíciosDocumento5 páginasLista de Exercíciosluiza meloAinda não há avaliações
- Resumo Historia - Processo de Hominização - 7anoDocumento9 páginasResumo Historia - Processo de Hominização - 7anoTanita E Mateus100% (1)
- O Macaco NuDocumento2 páginasO Macaco NujoanasjAinda não há avaliações
- Como Nos Tornamos Humanos (2010)Documento159 páginasComo Nos Tornamos Humanos (2010)luquinhasonceAinda não há avaliações
- A Inteligência Dos AnimaisDocumento12 páginasA Inteligência Dos Animaispsicologia b100% (2)
- Convict Conditioning 2 - PegadasDocumento56 páginasConvict Conditioning 2 - PegadasMárcio H L Reis100% (1)
- E No Principio Era o Macaco WALTER A. NEVESDocumento37 páginasE No Principio Era o Macaco WALTER A. NEVESIssao ReisAinda não há avaliações
- O Que É Um Primata - o Que É Um Macaco - o Que É Um Símio Antropomorfo - o Que É Ser HumanoDocumento14 páginasO Que É Um Primata - o Que É Um Macaco - o Que É Um Símio Antropomorfo - o Que É Ser HumanoHelvecio SantospAinda não há avaliações
- Fichas de Trabalho - GramáticaDocumento24 páginasFichas de Trabalho - GramáticaAna_moreira20% (5)
- Atividade 12 - 06 - Biologia 3m1 e 3m2Documento2 páginasAtividade 12 - 06 - Biologia 3m1 e 3m2ANA CLAUDIA PINTO DO NASCIMENTO GUEDESAinda não há avaliações
- O Macaco NuDocumento148 páginasO Macaco NuSueli RaulAinda não há avaliações
- Linguagem Humana vs AnimalDocumento9 páginasLinguagem Humana vs AnimalAlana SantanaAinda não há avaliações
- Neuropsicopedagogia Da Cognição HumanaDocumento132 páginasNeuropsicopedagogia Da Cognição HumanaVitória NascimentoAinda não há avaliações
- Evolução Humana e Aspectos SocioDocumento21 páginasEvolução Humana e Aspectos SocioPaola RibeiroAinda não há avaliações
- Enriquecimento ambiental: Ideias para colocar em práticaDocumento100 páginasEnriquecimento ambiental: Ideias para colocar em práticaNatália LoureiroAinda não há avaliações
- Conhecer o Conhecer - Maturana e VarelaDocumento3 páginasConhecer o Conhecer - Maturana e VarelaCristiane MouraAinda não há avaliações
- Cérebro humano maior devido ao cozimentoDocumento3 páginasCérebro humano maior devido ao cozimentoAline SantosAinda não há avaliações
- Anais Congresso SZB 2017Documento271 páginasAnais Congresso SZB 2017Lúcia MatiasAinda não há avaliações
- Lúcio de Sousa - Antropologia Cultural - Caderno de ApoioDocumento138 páginasLúcio de Sousa - Antropologia Cultural - Caderno de ApoioRoz Krakra100% (2)
- Evolução Pré-HistóriaDocumento2 páginasEvolução Pré-HistóriaJoão SilvaAinda não há avaliações
- Biologia - Lista 24 - Atividade de Revisão IiDocumento7 páginasBiologia - Lista 24 - Atividade de Revisão IiLucas VieiraAinda não há avaliações
- Desmistificando - SetealémDocumento101 páginasDesmistificando - Setealémadriandmx0Ainda não há avaliações
- A História Da AlimentaçãoDocumento13 páginasA História Da AlimentaçãoAlbertoAlecioAinda não há avaliações
- Os diversos tipos de autoconsciênciaDocumento10 páginasOs diversos tipos de autoconsciênciacesaralcara4238Ainda não há avaliações
- L. Portuguesa - D3 (9º Ano)Documento4 páginasL. Portuguesa - D3 (9º Ano)viniciusmatosntAinda não há avaliações
- A evolução humana através da alimentaçãoDocumento3 páginasA evolução humana através da alimentaçãoPriscila MunhozAinda não há avaliações