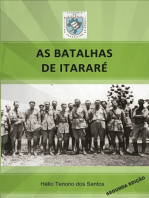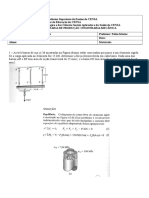Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro Historia Da Expansao e Do Imperio Portugues
Enviado por
Vixey The VixenTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livro Historia Da Expansao e Do Imperio Portugues
Enviado por
Vixey The VixenDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Hist-da-Expansao_4as.
indd 1 24/Out/2014 17:16
Hist-da-Expansao_4as.indd 2 24/Out/2014 17:16
HISTÓRIA DA EXPANSÃO
E
DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Hist-da-Expansao_4as.indd 3 24/Out/2014 17:16
Hist-da-Expansao_4as.indd 4 24/Out/2014 17:16
João Paulo Oliveira e Costa (coordenador)
José Damião Rodrigues
Pedro Aires Oliveira
HISTÓRIA DA EXPANSÃO
E
DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Hist-da-Expansao_4as.indd 5 24/Out/2014 17:16
A Esfera dos Livros
Rua Barata Salgueiro, n.o 30, 1.o esq.
1269‑056 Lisboa – Portugal
Tel. 213 404 060
Fax 213 404 069
www.esferadoslivros.pt
Distribuidora de Livros Bertrand, Lda.
Rua Professor Jorge da Silva Horta, n.o 1
1500‑499 Lisboa
Tel. 21 762 60 00 (geral) / 21 762 61 96
Fax 21 760 95 92
distribuidora@bertrand.pt
Reservados todos os direitos
de acordo com a legislação em vigor
© João Paulo Oliveira e Costa, 2014
© José Damião Rodrigues, 2014
© Pedro Aires Oliveira, 2014
© A Esfera dos Livros, 2014
1.a edição: Novembro de 2014
Capa: Compañia
Imagem da capa: AGE / Fotobanco
Paginação: Segundo Capítulo
Impressão e acabamento: Publito
Depósito legal n.° 382 348/14
ISBN 978-989-626-627-1
Hist-da-Expansao_4as.indd 6 24/Out/2014 17:16
ÍNDICE
INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PARTE I – OS PRIMÓRDIOS, por João Paulo Oliveira e Costa . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO
(1415‑1443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. A POSSE DO MAR OCEANO
(1422-1460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA
(1455‑1494) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5. A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO
(1481‑1502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
PARTE II – O IMPÉRIO MARÍTIMO, por João Paulo Oliveira e Costa . . . . . . . . . . 99
6. O DESLUMBRAMENTO MANUELINO
(1495‑1521) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7. O REALISMO JOANINO
(1521‑1557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
8. AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE
(1549‑1580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Hist-da-Expansao_4as.indd 7 24/Out/2014 17:16
9. CRISE E RECONFIGURAÇÃO
(1580‑1640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
10. A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA
(1640‑1668) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
PARTE III – O IMPÉRIO TERRITORIAL, por José Damião Rodrigues . . . . . . . . . . . 201
11. EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO
(c. 1650‑c. 1700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
12. SOB O SIGNO DO OURO
(c. 1695‑1750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
13. UM TEMPO DE RUPTURA?
(1750‑1778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
14. CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS
(1777‑1807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
15. A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA
(1808‑1822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
PARTE IV – O CICLO AFRICANO, por Pedro Aires Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . 341
16. UM IMPÉRIO VACILANTE
(c. 1820‑c. 1870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
17. A FEBRE DA PARTILHA
(c. 1870‑1890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
18. UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES
(c. 1890‑1910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
19. UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? A REPÚBLICA E O IMPÉRIO
(1910‑1926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
20. UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO?
(1926‑1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
21. UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS
(1961‑1975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
CONCLUSÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Hist-da-Expansao_4as.indd 8 24/Out/2014 17:16
MAPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
NOTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
ÍNDICE ONOMÁSTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
ÍNDICE TEMÁTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
ÍNDICE TOPONÍMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
Hist-da-Expansao_4as.indd 9 24/Out/2014 17:16
Hist-da-Expansao_4as.indd 10 24/Out/2014 17:16
INTRODUÇÃO
A Expansão Portuguesa é um processo histórico que se confunde com a
própria História de Portugal. Se o primeiro alargamento da autoridade
da Coroa portuguesa para fora do território peninsular só ocorreu em 1415,
a verdade é que o reino luso nasceu no século xii no âmbito da Reconquista,
ou seja, num período em que a cristandade hispânica conseguiu recuperar
paulatinamente as terras que haviam sido dominadas pelos exércitos islâmi‑
cos no século viii. Além disso, os reis de Portugal começaram a cobiçar as
terras de Além‑Mar muito antes de a armada de D. João I tomar a cidade de
Ceuta. De facto, a presença dos Portugueses por diversas áreas do Mundo
durante s éculos constitui um traço identitário da nação que não deixa nin‑
guém indiferente.
Este processo foi desencadeado por diferentes motivações que se comple‑
mentavam e que inspiravam de modo diferente cada agente oficial ou privado
que actuava fora do país. Causas políticas, sociais, económicas e religiosas
sempre estiveram presentes em cada avanço dos navios, dos exploradores, dos
militares, dos diplomatas, dos clérigos, dos comerciantes ou dos aventureiros
que se derramaram pelo Mundo.
Em cada região, a presença portuguesa teve características próprias e
podemos estabelecer cronologias diversas conforme estudamos o caso de
Marrocos, das ilhas atlânticas, do Brasil, da África Ocidental ou da Ásia, e
dentro desta ainda podemos esmiuçar ritmos diferentes consoante falamos
da Índia, do Sueste Asiático, da China ou do Japão, por exemplo. Também
se podem distinguir conjunturas diferentes se falarmos especificamente das
navegações, do comércio, da guerra, das tecnologias, da colonização ou da
missionação. Na verdade, a Expansão Portuguesa é como que um calei‑
doscópio multiforme e de cores sempre em mudança conforme o ponto de
Hist-da-Expansao_4as.indd 11 24/Out/2014 17:16
12 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
observação, que hoje tem inúmeras leituras possíveis, fruto do extraordinário
desenvolvimento historiográfico ocorrido nas últimas décadas por todo o
Mundo, e muito em particular em Portugal e no Brasil.
Este livro tem como objectivo apresentar uma síntese geral do que foi
este processo histórico. O nosso objecto de estudo é o império – o conjunto
planetário de possessões ultramarinas vinculadas à Coroa ou ao Estado portu‑
guês entre 1415 e 1999. Sendo uma obra de síntese, não procuramos analisar
detalhadamente as características da presença portuguesa em cada recanto
do Mundo, nem esmiuçar a acção dos indivíduos que mais se destacaram e
ganharam fama. O nosso propósito é, pois, distinguir a evolução geral da
Expansão Portuguesa, vendo o império como uma entidade una, ainda que
dispersa por três oceanos e três continentes.
Dividida em quatro partes, esta obra distingue, a esse nível, as caracte‑
rísticas mais gerais – as dinâmicas da longa duração, ou seja, os comporta‑
mentos que foram mais constantes durante décadas ou mesmo séculos a fio.
Os capítulos, por sua vez, assinalam as conjunturas – o ritmo das mudanças
mais significativas que foram alterando a configuração do império nas suas
características gerais. E em cada capítulo estarão sempre presentes todas as
áreas geográficas, todos os níveis de acção – comércio, conquista, acomoda‑
ção, missionação e outros, bem como os povos ultramarinos, com as suas
civilizações e as suas organizações políticas, sociais e económicas, a que
os Portugueses tiveram de se adaptar; e também serão tidos em conta os
outros europeus que rivalizaram com os Portugueses no domínio do Mundo.
Procura‑se, assim, explicar as principais dinâmicas da acção dos Portugueses
dentro dos contextos que sempre a condicionaram.
Compreenda, por isso, o leitor que não encontrará neste livro descrições
detalhadas nem de navegações, nem de batalhas, nem de negócios; tam‑
pouco obterá aqui grandes resenhas biográficas ou descrições das socieda‑
des coloniais e dos seus quotidianos. Neste livro de centenas de páginas
temos, afinal, de resumir uma história de séculos, multifacetada e dispersa
pelo Mundo. Apresentamos, pois, como que um guião – uma história de
enquadramento que poderá ajudar os interessados a perceber o conjunto
quando quiserem aprofundar um assunto, uma região ou uma época da
Expansão Portuguesa.
Como já referimos, a historiografia progrediu extraordinariamente nas
últimas décadas, e sendo a Expansão Portuguesa um tema da História Uni‑
versal, é estudada por investigadores de todo o Mundo. Por isso, não temos
a veleidade de dominar toda a bibliografia disponível, até porque se o ten‑
tássemos estaríamos permanentemente desactualizados pelo aparecimento
sistemático de novos estudos. Em contrapartida, nós, os autores destas linhas,
temos mais de 20 anos de experiência de ensino e de investigação, e um
Hist-da-Expansao_4as.indd 12 24/Out/2014 17:16
INTRODUÇÃO 13
conhecimento exaustivo de muitos fundos documentais, que são a base deste
trabalho. Foi com base nessa experiência que preparámos este livro.
A bibliografia apresentada no final não é exaustiva, pois nem um segundo
volume possibilitaria a citação de todos os documentos que ilustram a Histó‑
ria da Expansão Portuguesa e de todos os estudos de qualidade que abordam
este fenómeno ao longo dos séculos. Citamos tão‑só os textos principais,
que usámos e seguimos mais de perto, incluindo dissertações de mestrado e
de doutoramento ainda inéditas, que assinalam os progressos mais recentes
da historiografia. Realce‑se que a historiografia brasileira despertou recen‑
temente para a dimensão multicontinental da sua própria história e que nos
últimos anos, além do crescimento exponencial dos estudos sobre o território
entre 1500 e 1822, começaram a surgir novos olhares integradores do Brasil
no Império Português. Uma vez mais, insista‑se, trata‑se de uma bibliografia
incontrolável. Assim, esta síntese, que procura distinguir os paradigmas mais
gerais do Império Português e os ritmos da sua evolução como um todo, não
tem em atenção os particularismos que estudos monográficos detectarão para
cada região em cada cronologia.
Por este livro se tratar de uma síntese destinada ao grande público, tam‑
bém não é um exercício de polémica, pelo que não confrontamos, em regra,
o leitor com as diferentes teorias interpretativas que existem, seja para
a História geral do império, seja para os diferentes tópicos particulares.
Em cada momento, fazemos as opções e apresentamos as nossas interpreta‑
ções. Procuramos, como dissemos, orientar o leitor e proporcionar‑lhe uma
chave interpretativa para a compreensão de um fenómeno longo no tempo,
geograficamente disperso e complexo, sem o confundir com os debates his‑
toriográficos que persistem. Apresentamos, pois, a nossa interpretação dos
factos, baseada no conhecimento da documentação e na leitura da nossa
bibliografia de referência.
Os autores gostariam de agradecer a todos aqueles que, com o seu apoio
e amizade, leituras, discussões e sugestões críticas, os ajudaram a condu‑
zir este barco a bom porto, com destaque para Alexandra Pelúcia, Bruno
Cardoso Reis, Carla Alferes Pinto, Eugénia Rodrigues, Francisco Contente
Domingues, Helena Ferreira Santos Lopes, Joaquim Romero Magalhães,
José Cutileiro, Margarita Rodríguez García, Maria Margarida Lopes, Nuno
Gonçalo Monteiro, Roberta Stumpf, Teresa Lacerda, Tiago C. P. dos Reis
Miranda e Vitor Rodrigues.
Hist-da-Expansao_4as.indd 13 24/Out/2014 17:16
Hist-da-Expansao_4as.indd 14 24/Out/2014 17:16
PARTE I
OS PRIMÓRDIOS
Hist-da-Expansao_4as.indd 15 24/Out/2014 17:16
Hist-da-Expansao_4as.indd 16 24/Out/2014 17:16
A expansão ultramarina portuguesa iniciou‑se com a conquista de Ceuta,
a 21 de Agosto de 1415. Momento singular da História portuguesa, pre‑
nunciador de uma nova era, esta operação militar concretizou uma tendência
que se manifestava havia muitos anos. País nascido da guerra santa, Portugal
conservara sempre pulsões que o empurravam contra os mouros da Península
e de África, mesmo depois da conclusão da conquista do Algarve, em 1249, e
da fixação da fronteira terrestre, em 1297. Além disso, a expedição de 1415
enquadrava‑se em práticas ancestrais da Cristandade na sua luta contra o
Islão pelo domínio do Mediterrâneo1. No entusiasmo da vitória, o rei e os seus
súbditos admitiam a realização de novas campanhas contra o mouro, mas
ninguém adivinhava, por certo, que a este movimento natural de expansão
em direcção ao estreito de Gibraltar e a África se viria a acrescentar um outro
processo expansionista, bem diferente, de cariz revolucionário, que romperia
os limites milenares dos povos europeus e mediterrânicos e que lançaria os
Portugueses pelo Mundo, levando atrás de si os demais reinos do Ocidente.
Nessa tarde eufórica de Agosto de 1415, por certo nem pela cabeça do infante
D. Henrique passava a ideia de que, poucos anos mais tarde, navios sob as
suas ordens iriam desafiar e vencer o mar oceano, iniciando a aventura dos
Descobrimentos2.
A campanha de Ceuta foi, sem dúvida, o primeiro passo de um pro‑
cesso multissecular, complexo e multifacetado que marcou profundamente
a História de Portugal e também o devir da Humanidade, mas que tardou
a ganhar forma. De facto, foi preciso tempo para que da ideia de conquistar
o reino de Fez, em Marrocos, e de dominar a navegação do estreito se pas‑
sasse para a ambição de dominar o mar, ocupar as suas ilhas e criar novas
rotas oceânicas. A entrega ao infante D. Henrique do governo de Ceuta, em
Hist-da-Expansao_4as.indd 17 24/Out/2014 17:16
18 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
1416, e da Ordem de Cristo, em 1420, aproximou o príncipe visionário do
mar, e a sua sede de acrescentamento de honra e de fazenda despertou‑lhe
o interesse pelo desconhecido. Depois, o seu espírito paciente e persuasivo
acabou por convencer um punhado de homens a passar o cabo Bojador,
em 14343.
Todavia, só em 1443, 28 anos depois da jornada de Ceuta, é que a Coroa
assumiu uma doutrina de hegemonia marítima, durante a regência de
D. Pedro, transformando, assim, as iniciativas privadas de D. Henrique numa
causa nacional; depois D. Afonso V levou a cabo uma política de avanços
sistemáticos em todas as direcções, que permitiu finalmente que D. João II
concebesse um plano para o império; este acabou por ser concretizado por
D. Manuel I que, no início do seu reinado, assistiu ao rasgar dos horizontes
e ganhou acesso a desvairadas partes, umas há muito desejadas, outras até
então desconhecidas4. Os Descobrimentos inventaram, com efeito, uma nova
geografia, de carácter planetário, bem diferente da que era conhecida ao
tempo da conquista de Ceuta, que era reduzida e compartimentada5. Sinto‑
maticamente, escrevia‑se em Lisboa, no ano de 1502, que se vivia numa «era
maravilhosa»6. O mundo mudara irreversivelmente por causa das navegações
dos portugueses.
*
A primeira parte deste livro pretende, assim, analisar, por um lado, os
antecedentes da expansão e, por outro, os seus primeiros decénios, até que
as hesitações e a aprendizagem deram lugar a uma política imperial à escala
de quatro continentes e três oceanos. No primeiro caso (que corresponde
ao capítulo 1) buscamos principalmente dinâmicas estruturais – os compor‑
tamentos colectivos que se repetiram ao longo de séculos e que moldaram
gradualmente Portugal como uma potência marítima da Cristandade. Nos
capítulos seguintes atendemos mais à acção individualizada dos homens e
aos acontecimentos que foram gerando sucessivas novidades, rompendo com
hábitos e conhecimentos milenares.
Hist-da-Expansao_4as.indd 18 24/Out/2014 17:16
1
UM PAÍS PERIFÉRICO,
CRISTÃO, MARÍTIMO1
Quando Portugal se tornou num reino independente, o seu território
correspondia a um finisterra – o extremo sudoeste da Eurásia. O mar
que bordejava a sua costa era misterioso e para lá do horizonte era o fim do
mundo. O oceano era navegado timidamente junto à costa, mas de resto era
uma barreira. Na verdade, ao contrário do Índico e mesmo do Pacífico, o
Atlântico era um oceano virgem que não servia de meio de ligação entre os
continentes que lhe davam forma. Apesar disto, o mar foi desde sempre um
elemento constitutivo da identidade portuguesa, enquanto país periférico da
Cristandade.
E neste confim euro‑asiático, Portugal fazia fronteira também com a
civilização inimiga da Cristandade, o Islão. D. Afonso Henriques obtivera a
independência do seu reino escapando à tutela leonesa, mas fora no sucesso
da guerra santa que afirmara a viabilidade do novo reino. Até reza a lenda
que o conde de Portucale foi aclamado rex pela primeira vez no rescaldo da
célebre vitória em Ourique contra um exército muçulmano2.
O mar e o confronto com os islamitas foram, pois, dois elementos estrutu‑
rantes da identidade portuguesa que viriam a ser igualmente dois dos elemen‑
tos básicos do processo expansionista iniciado no século xv. Vejamos, pois,
ao longo deste primeiro capítulo, o processo secular que criou as condições
estruturais propícias ao desencadear da expansão ultramarina portuguesa.
Um reino à beira do mar tenebroso3
Como dissemos atrás, o Atlântico foi a última barreira natural à circulação
do Homem pelo Mundo.
Hist-da-Expansao_4as.indd 19 24/Out/2014 17:16
20 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Apesar da sua grandeza, o Pacífico era percorrido pelo Homem desde
tempos imemoriais, e a maior parte das suas ilhas eram habitadas. É certo
que as grandes civilizações da Ásia Oriental, especialmente a China e o Japão,
nunca se interessaram pela exploração do oceano, mas isso não resultava de
um impedimento, mas tão‑só do facto de que os Nipónicos sempre privile‑
giaram uma política de isolamento e de que os Chineses se interessaram pre‑
ferencialmente pelos contactos com o Ocidente de onde vinham as ameaças
militares e onde existiam mercados possuidores de produtos muito deseja‑
dos pelos consumidores chineses. Na verdade, o desinteresse pelo mar dos
povos americanos, mesmo dos construtores de grandes civilizações urbanas,
contribuiu para que o Pacífico fosse pouco navegado e não fosse entendido
como um eixo de comunicação e de comércio até à chegada dos Europeus.
O oceano Índico, por sua vez, era atravessado por rotas oceânicas inter‑
continentais desde os alvores da nossa era. A emergência de grandes impérios
no Mediterrâneo Oriental, na bacia do Nilo, na Mesopotâmia, no planalto
iraniano e nos vales do Indo e do Ganges, a Ocidente, e na China, a Oriente,
contribuíram para que a comunicação e o jogo das trocas se intensificassem
e para que os mais aventureiros fossem experimentando os caminhos do mar.
Assim, por volta do século i ad, numa época de apogeu simultâneo do Impé‑
rio Romano e da China dos Han, os navegadores começaram a atravessar
o Índico usando os ventos da monção. E à semelhança do Mediterrâneo, o
Índico era um espaço fervilhante de comércio, e as trocas nunca pararam,
embora os senhores do comércio fossem mudando ao longo do tempo.
No início do século xv, a China dos Ming tentou impor a sua autoridade
sobre todo o oceano, mas depois voltou a fechar‑se sobre si própria e o Índico
tornou‑se como que num lago muçulmano4.
O Atlântico constituía uma realidade diferente. As suas características
geoclimáticas tornavam a navegação em mar alto muito mais difícil do que
num espaço fechado, como o Mediterrâneo, ou mesmo do que numa área
semifechada como o Índico. Além disso, a inexistência do fenómeno da mon‑
ção (alternância da direcção dos ventos) tornava a navegação mais complexa.
A utilização das ilhas setentrionais do oceano levou os Vikingues ao conti‑
nente americano, mas os rigores do clima, as dificuldades da navegação e a
falta de uma civilização rica para roubar ou com quem comerciar fizeram com
que a notícia não circulasse e que a Cristandade não se apercebesse sequer da
existência da América. Da mesma maneira que a China sempre vira no mar
um meio de comunicação com o Ocidente, os povos do Extremo Ocidente só
entendiam o mar como um meio de comunicarem entre si e com o Oriente.
No tempo em que Portugal se tornou independente, a navegação atlân‑
tica ainda era incipiente e mesmo a ligação entre o Atlântico Norte e o
Mediterrâneo era pouco frequente, até porque o Sul da Península Ibérica
Hist-da-Expansao_4as.indd 20 24/Out/2014 17:16
UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO 21
ainda estava nas mãos dos muçulmanos (desde Valência a Lisboa), o que
dificultava a travessia do estreito de Gibraltar. E nessa época em que predo‑
minava a navegação de cabotagem, sempre à vista da costa, não se podiam
estabelecer rotas de navegação a fazer escala em território hostil. Por isso,
o comércio entre os cristãos do Sul e do Norte fazia‑se predominantemente
por via terrestre.
A cartografia do tempo testemunha‑nos a convicção de que o oceano
escondia ilhas, e até corriam lendas de que alguns desses espaços insulares
teriam servido de refúgio a amantes ou a fugitivos da invasão islâmica, mas a
braveza do mar e o lento crescimento demográfico não estimulavam a busca
desses territórios. As representações da Terra feitas por cristãos e muçulmanos
identificavam o mundo euro‑asiático e norte‑africano, e por vezes mostra‑
vam também o espaço transaariano tão desconhecido como o mar oceano
e, por isso, tão efabulado quanto o outro. E criaturas fantásticas como os
monstros marinhos preenchiam as terras da Guiné. A própria narrativa de
viagens alimentava essa visão imaginária, de que é exemplo bem marcante
o livro de Marco Pólo, que refere a existência de inúmeros seres fantásticos
no interior da Ásia.
Seguindo uma tradição que remontava a Paulo Osório, Pompónio Mela
ou Santo Agostinho, o modelo TO era a base da concepção da Terra, em que
os territórios conhecidos eram rodeados por água. Supunha‑se que as terras
emersas eram mais extensas que a superfície das águas, mas nos séculos xii,
xiii e xiv ninguém arriscava a possibilidade de buscar as terras das especia‑
rias, dos tecidos suaves e dos perfumes exóticos navegando para ocidente.
Refira‑se desde já que esta crença no fantástico continuou a alimentar
o imaginário dos pioneiros das Descobertas. E se não temos conhecimento
de que portugueses tenham andado em busca da fonte da juventude, veja‑se
que Duarte Pacheco Pereira, um dos mais célebres navegadores do final do
século xv, considerado, aliás, um experimentalista apegado à força da obser‑
vação para a produção de conhecimento, referiu no seu Esmeraldo de Situ
Orbis a existência de homens com cara de cão e de cobras com um quarto
de légua de comprido5, e até D. Manuel I escreveu aos Reis Católicos, em
1501, dizendo que o ouro levado para Sofala era transportado «por homens
que têm quatro olhos, dois diante e dois atrás»6.
Por isso, quando sentiu ter força suficiente para tentar alargar os seus
territórios, a Cristandade, incapaz de explorar o mar oceano, virou‑se antes
para o Mediterrâneo e lançou a cruzada contra a Terra Santa. E mesmo
depois da perda de Jerusalém e do colapso dos reinos cristãos do Oriente,
os príncipes cristãos continuaram sempre a sonhar com o ataque directo ao
mundo islâmico pelo Mediterrâneo. E assim também fez D. João I em 1415.
E assim continuaram a sonhar muitos dos grandes reis tardo‑medievais, como
Hist-da-Expansao_4as.indd 21 24/Out/2014 17:16
22 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Henrique IV de Inglaterra, Carlos VIII e Luís XII de França, Fernando II de
Aragão, o Católico, e D. Manuel I de Portugal.
O desconhecimento do limite do mar oceano tornava‑o numa massa
líquida interminável, em que uma tripulação podia ser arrastada para longe
da costa e ser incapaz de regressar. Como bem se percebe, a ignorância suscita
o medo e, por isso, para lá do horizonte situava‑se o mar tenebroso, habitado
por monstros. E se para ocidente era a incógnita, e a falta de ilhas próximas
alimentava a lenda, também a navegação para sul era tolhida por mitos.
Sabendo‑se que o calor aumentava conforme os territórios se situavam mais
próximos dos trópicos, julgava‑se que o ambiente era insuportável para a
vida humana, tanto em terra como no mar; e neste caso acreditava‑se que
a partir de certo ponto a água fervia. Por isso, o limite das navegações dos
povos euro‑mediterrânicos situava‑se no cabo Bojador, pequeno acidente
geográfico, hoje situado na Mauritânia. Alguns marinheiros mais aventureiros
aproximavam‑se ocasionalmente desse ponto e observavam a espuma das
ondas, que aí se estendiam pelo mar adentro, por causa de ser uma zona de
recifes. E assim, a observação do real alimentava o mito.
Embora existissem centros piscatórios ao longo da costa, a localiza‑
ção das principais vilas e cidades portuguesas próximas do litoral, nos
séculos xii e xiii, não se situava sobre o mar. Castro Marim, Silves, Alcácer
do Sal, Palmela, Lisboa, Sintra, Óbidos, Montemor, o Porto, Viana do Cas‑
telo ou Caminha são bons exemplos deste fenómeno, e cidades importantes
da actualidade como Portimão, Setúbal ou a Figueira da Foz só ganharam
notoriedade muito mais tarde. No século xii, o mar era uma realidade
importante no contexto do nascente reino de Portugal, mas a circulação
comercial ainda era diminuta e a fronteira marítima era guardada à distân‑
cia. Aliás, o próprio centro político do reino estava sedeado em Coimbra,
no interior, e Lisboa foi uma cidade periférica durante o primeiro século
da monarquia portuguesa.
No final do século xiii, finalmente, o mar tenebroso foi desafiado. Com
efeito, em 1291, uma embarcação genovesa, comandada pelos irmãos Vivaldi,
deixou o Mediterrâneo e seguiu para sul com o propósito de circum‑navegar
o continente africano. Esta foi a primeira tentativa documentada de vencer o
mito. Desde os tempos do Império Romano que o mundo euro‑mediterrânico
consumia avidamente os produtos vindos do Oriente; eram raros e caros
e a sua ligação entre a Ásia distante e a Cristandade era controlada pelos
muçulmanos. Fracassada a cruzada, tendo os venezianos ganho a hegemonia
sobre o trato com os islamitas, é natural que na cidade rival tenha surgido a
possibilidade de buscar uma rota alternativa. Uma tripulação corajosa par‑
tiu e passou o Bojador, mas nunca mais voltou e a lenda do mar tenebroso
ganhou contornos mais fortes.
Hist-da-Expansao_4as.indd 22 24/Out/2014 17:16
UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO 23
Cruzada e diplomacia atlântica7
Apesar do medo do mar, Portugal afirmou‑se desde a sua fundação como
uma potência marítima, e assim foi entendido pelos demais príncipes da
Cristandade. Além disso, teve a sua génese na guerra santa.
Curiosamente, a única grande conquista da 2.ª Cruzada foi precisamente
a tomada de Lisboa, em 1147, e noutras ocasiões hostes de cruzados cola‑
boraram na ocupação de Silves, em 1190, e na de Alcácer do Sal, em 1217.
A Reconquista cristã sempre se enquadrou no espírito da guerra santa, pelo
que a luta contra o muçulmano constituiu‑se como um elemento identitário
português que perdurou até aos nossos dias na bandeira nacional, seja pela
representação de castelos conquistados aos mouros, seja pela alusão ao mila‑
gre de Ourique. De facto, a luta pela independência travou‑se contra o rei de
Leão e Castela, mas a primeira vez que D. Afonso Henriques foi aclamado
rei terá sido no rescaldo da Batalha de Ourique, que foi travada contra os
muçulmanos. Quer isto dizer que Portugal se moldou na guerra contra o
mouro. Com a conquista do Algarve, em 1249, a luta contra o islamita em
território peninsular terminou, embora D. Afonso IV tenha depois acorrido
ao Salado, em 1340. Travados pelo mar, os Portugueses (como os demais
povos da cristandade hispânica) entendiam que a cruzada podia e devia
prosseguir em África. A expansão ultramarina tinha, assim, uma motivação
inequívoca ao nível da geoestratégia e da ideologia, pois o sonho de conquista
em África era legitimado por se considerar que a luta contra os mouros era
justa. Afinal, fora o sucesso contra os mouros que possibilitara a existência
do próprio reino.
A afirmação de Portugal como reino independente dependia não só da
capacidade de vencer as hostes islâmicas, mas também da força para resistir
aos apetites hegemónicos, primeiro do reino de Leão, e depois dos de Cas‑
tela. Assim, a diplomacia portuguesa concentrou‑se prioritariamente nas
relações ibéricas, e na afirmação do reino como uma peça indispensável do
complexo puzzle hispânico. A política de casamentos seguida por D. Afonso
Henriques é paradigmática dessa habilidade, pois casou a sua filha mais velha,
D. Urraca, com Fernando II, o rei de Leão, enquanto o seu herdeiro, D. Sancho,
se consorciou com D. Dulce, da Casa de Aragão. No entanto, desde logo
Portugal procurou alargar a sua rede de alianças, e sempre que sobejavam
infantes, a Coroa colocou‑os em reinos e principados exteriores à Península
Ibérica. Assim, D. Teresa, a filha mais nova de D. Afonso Henriques, casou‑se
com Filipe da Alsácia, conde da Flandres.
Na geração seguinte, repetiu‑se a mesma política: os infantes mais velhos
casaram na Península – D. Teresa com Afonso IX de Leão, e D. Afonso II
com D. Urraca de Castela, mas entre os filhos mais novos de D. Sancho I,
Hist-da-Expansao_4as.indd 23 24/Out/2014 17:16
24 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
o infante D. Fernando casou‑se com Joana, condessa da Flandres, e D. Beren‑
gária consorciou‑se com Valdemar II, rei da Dinamarca. O mesmo modelo
ainda foi seguido no caso dos filhos de D. Afonso II, pois a infanta D. Leonor
uniu‑se a Valdemar III, rei da Dinamarca, e o infante D. Afonso (o futuro
D. Afonso III) casou‑se com Matilde, condessa de Boulogne. Houve, pois,
um esforço de aproximação a potências da fachada atlântica da Cristan‑
dade e sabe‑se também que João Sem‑Terra, rei de Inglaterra, enviou uma
embaixada a Portugal em 1199 a fim de tentar estabelecer uma aliança
matrimonial.
Desde a sua fundação Portugal era, pois, uma potência marítima, e com
a subida ao trono de D. Afonso III essa realidade foi acentuada. Sintoma‑
ticamente, o Bolonhês contou com o apoio das cidades e vilas marítimas,
e sobretudo de Lisboa, aquando da sua entrada no reino para disputar o
trono contra o irmão, D. Sancho II, que se refugiou em Coimbra. Vindo da
sua experiência francesa, o monarca concluiu a conquista do Algarve, em
1249, e porfiou nos anos seguintes para assegurar a posse do território, o que
só seria aceite por Castela em 1267, com o Tratado de Badajoz. A extensão
do reino português até ao Algarve era crucial para que o país se projectasse
para o Sul e para o Mediterrâneo, e o Bolonhês enfrentou tenazmente o rei
castelhano até obter o território algarvio. Ao mesmo tempo estimulava o
desenvolvimento do comércio externo e, em 1253, promulgou uma lei deter‑
minando que o comércio externo devia ser feito pelo mar e não por terra.
Enquanto as vias terrestres estavam condicionadas pelos humores dos reinos
vizinhos, as rotas marítimas podiam ser usadas com maior liberdade. Assim,
na política de D. Afonso III percebe‑se que o monarca se preocupava com
o cerco a que Portugal estava sujeito, «entre o mar e o muro de Castela»,
como diria mais tarde o cronista Gomes Eanes de Zurara8. E nessa circuns‑
tância o mar era a saída de Portugal, e Lisboa ganhou inevitavelmente um
novo protagonismo.
O despontar de um grande porto internacional
O segundo terço do século xiii assistiu ao avanço rápido da Reconquista
cristã na Península: o domínio das Baleares foi concluído em 1235 com a
tomada de Ibiza, a que se seguiu Córdova (1236), Valência (1238), Múrcia
(1244), Jaen (1246), Sevilha (1248), Niebla (1262), Jerez de la Frontera
(1264) e Cádis (1265). A linha de costa hispânica nas mãos dos mouros
ficou muito reduzida, estendendo‑se, grosso modo, de Almeria a Gibraltar.
As águas do Mediterrâneo Ocidental ficaram mais seguras para os cristãos e
os grandes mercadores aproveitaram a oportunidade; o comércio marítimo
Hist-da-Expansao_4as.indd 24 24/Out/2014 17:16
UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO 25
entre o Norte e o Sul da Europa cresceu extraordinariamente e a navegação
entre o Mediterrâneo e o Atlântico Norte vulgarizou‑se, a partir de 1270.
O transporte de mercadorias pelo mar era muito mais rendoso, mas as
rotas de longo curso necessitavam de muitos portos de apoio, fosse para
diversificar os negócios, fosse para garantir a segurança e o refresco das
tripulações, pelo que o Guadalquivir e o Tejo, com as suas cidades, logo
se transformaram em escalas de referência dos novos circuitos comerciais.
O estuário do Tejo reunia condições excepcionais e Lisboa atraiu rapidamente
mercadores de variadas partes da Europa. Porto exportador de sal, de frutos e
de peixes secos, tornava‑se também um estaleiro apto a reparar avarias e um
centro fornecedor de víveres. Em torno da cidade surgiram as indústrias de
apoio, como a produção de biscoito, e aumentou o fabrico de cordas e enxár‑
cias, panos de vela, roldanas, âncoras e muitos outros apetrechos náuticos.
A intensificação do comércio também estimulou a intervenção portuguesa
nos mercados do Norte, e os comerciantes lusos são citados em muitos por‑
tos atlânticos ao longo do século xiv. Além da marinha mercante, também a
armada de guerra foi desenvolvida, sendo célebre a concessão do almirantado
ao genovês Manuel Pessanha, a 1 de Fevereiro de 1317. Esta medida não se
inseria numa política defensiva destinada a proteger a costa do reino, mas
visava o ataque ao litoral africano, num primeiro movimento de tendência
expansionista. Ao mesmo tempo que reorganizava a sua Marinha de guerra,
D. Dinis manifestava a sua determinação belicista junto da Santa Sé, pois a
7 de Maio de 1320 o papa João XXII concedeu‑lhe uma bula de cruzada,
doando‑lhe rendas eclesiásticas para serem usadas na organização de uma
armada de galés para fazer a guerra aos mouros em África9. Tratava‑se, por
então, apenas da realização de manobras de flagelação do território inimigo,
mas estava implícita uma pulsão expansionista. A fragilização do Islão His‑
pânico abria o apetite das monarquias cristãs, e em 1292 os reis Sancho IV
de Castela e Jaime II de Aragão haviam celebrado o Tratado de Soria, em que
estipulavam os territórios de África que caberiam a cada um dos seus reinos
no prosseguimento da Reconquista, mas esse acordo não fazia referência à
fachada atlântica, a oeste de Ceuta10.
Tendo acertado definitivamente a sua fronteira terrestre pelo Tratado de
Alcanizes, em 1297, Portugal começava a assumir a sua condição de potência
marítima e definia uma área de intervenção que o projectava para a conquista
do reino de Fez, sob a bênção da Santa Sé e com a aparente aquiescência dos
reis de Castela e de Aragão. Além disso, a Coroa deixava claro que a sua área
de intervenção não se confinava às águas próximas da sua costa, mas que se
alargava em direcção ao estreito de Gibraltar. País banhado exclusivamente
pelo Atlântico, Portugal começava a sua afirmação como entidade de vocação
mediterrânica.
Hist-da-Expansao_4as.indd 25 24/Out/2014 17:16
26 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Foi nesta conjuntura expansionista, de crescimento do comércio e de
expectativa de expansão militar, que coincidiu com a perda da última posição
cristã na Terra Santa, com a queda de São João de Acre, em 1290, que se deu
a expedição dos irmãos Vivaldi, que navegaram para lá do Bojador. Toda
a Cristandade do Mediterrâneo Ocidental partilhava a mesma vontade de
alargamento da sua área de influência, mas os aventureiros genoveses não
voltaram e os interesses da Cristandade fixaram‑se momentaneamente nas
Canárias, arquipélago bem localizado mas ainda fora da sua influência.
Em Lisboa instalavam‑se, entretanto, algumas comunidades estrangeiras,
beneficiando de privilégios concedidos pela Coroa, e a capacidade de resposta
da cidade foi crescendo. O reinado de D. Fernando representou um momento
de aceleração deste desenvolvimento, pois o monarca promulgou várias leis
que estimulavam a construção naval, e Fernão Lopes, no prólogo da crónica
fernandina, evoca a grandeza do porto de Lisboa:
«Havia outrossim mais em Lisboa estantes de muitas terras não em uma só
casa, mas muitas casas de uma nação, assim como de genoveses e prasentins
e lombardos e catalães de Aragão e de Maiorca e de Milão que chamavam
milaneses, e corcins e biscainhos e assim doutras nações. […] E portanto
vinham de desvairadas partes muitos navios a ela, em guisa que com aqueles
que vinham de fora e com os que no reino havia, jaziam muitas vezes ante a
cidade quatrocentos a quinhentos navios de carregação: e estavam à carga
no rio de Sacavém e à ponta do Montijo da parte do Ribatejo sessenta a
setenta navios em cada lugar, carregando de sal e de vinhos; e por a grande
espessura de muitos navios que assim jaziam ante a cidade iam as barcas de
Almada aportar a Santos que é um grande espaço da cidade, não podendo
marear entre eles.»
Uma doutrina expansionista para o Além‑Mar11
Como vimos, depois de os primeiros reis terem alargado o horizonte
político português ao Atlântico Norte, através de uma política coerente
de casamentos, D. Afonso III e D. Dinis tomaram as primeiras medidas de
intervenção no mar, alargando assim a fronteira do reino para águas cada vez
mais distantes. Depois, com D. Afonso IV, Portugal afirmou‑se definitivamente
como uma potência marítima, pois o monarca definiu uma doutrina que viria
a ser a base institucional da expansão ultramarina iniciada pelos seus netos
e bisnetos na primeira metade do século xv12.
Em 1336 a Cristandade peninsular passou por um derradeiro sobressalto,
quando os Merínidas unificaram o Noroeste Africano e se lançaram contra a
Hispânia. A ameaça moura foi sustida na Batalha do Salado, a 30 de Outubro
Hist-da-Expansao_4as.indd 26 24/Out/2014 17:16
UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO 27
de 1340, tendo o monarca luso participado no combate, e no rescaldo dessa
vitória retumbante os sonhos de conquista ganharam contornos mais nítidos.
Assim, a diplomacia lusa logo pressionou a Cúria Pontifícia, pois a 30 de
Maio de 1341 o papa Bento XII promulgou a bula Gaudemus et exultamus,
em que reconhecia o direito da Coroa portuguesa à conquista do reino de
Fez. Esta bula foi renovada em 1345, 1355, 1376 e 1377, o que demonstra
o empenhamento de Portugal em obter repetidamente o reconhecimento
internacional dos seus direitos de reconquista em Marrocos. D. Afonso IV
nunca organizou uma expedição, o que pode ser explicado pela grave crise
que a Europa enfrentou a partir de 1348 com o advento da Peste Negra, mas
é certo que estas bulas tinham um significado político e diplomático impor‑
tantíssimo – aos olhos da Cristandade, o reino de Portugal devia prolongar‑se
pelo Algarve d’Além‑Mar, como viria de facto a suceder, a partir de 1415.
No entanto, D. Afonso IV não apontava apenas em direcção ao reino de
Fez; o olhar do monarca abarcava todo o mar oceano que rodeava Portugal e
que ele entendia como seu. No final dos anos 30 saiu de Lisboa uma expedição
luso‑genovesa, sob o patrocínio régio, com a missão de ocupar algumas das
ilhas Canárias; esta tentativa fracassou, mas o objectivo estava claramente
definido. Entretanto, o papa Clemente VI concedeu o senhorio deste arqui‑
pélago a D. Luís de Lacerda, um bisneto do rei Afonso X de Castela, e exor‑
tou os monarcas hispânicos a apoiarem o novo «soberano» daquelas ilhas.
D. Afonso IV reagiu negativamente à mensagem papal. Embora acatasse a
decisão do sumo pontífice, o monarca recusava‑se a ajudar o Lacerda, pois
entendia que o arquipélago pertencia a Portugal; em carta de 12 de Fevereiro
de 1345, o rei invocava a primazia na exploração das ilhas e sobretudo
o facto de estas estarem «mais perto de nós que de nenhum outro príncipe»;
e o monarca concluía a missiva afirmando que «tanto pela nossa vizinhança
com aquelas ilhas, como pela facilidade e oportunidade que nós temos, mais
que ninguém de as conquistar, e ainda por termos nós já começado com
felicidade esta empresa, deveríamos ser, primeiro que quaisquer outros, con‑
vidados por Vossa Santidade para lhe dar louvável conclusão»13.
Em meados do século xiv a Coroa portuguesa tinha, pois, uma doutrina
oficial sobre o Além‑Mar – proclamava o direito a alargar os seus domínios
continentais ao território africano nas mãos dos mouros e o direito a ocu‑
par as ilhas adjacentes. A turbulência da segunda metade do século xiv e as
quatro guerras com Castela impediram a concretização de qualquer aventura
expansionista, mas, do mesmo modo que os reis de Portugal continuaram a
pedir bulas de cruzada para a conquista do reino de Fez, D. Fernando doou
as ilhas de Lanzarote e de Gomera a Lançarote da Franca, que aceitou ser seu
súbdito; e quando este morreu em combate nas ilhas, em 1385, logo D. João I
renovou a doação no filho do falecido.
Hist-da-Expansao_4as.indd 27 24/Out/2014 17:16
28 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
O reinado de D. Fernando foi marcado pelas tentativas desastrosas de
intervenção lusa em Castela, que puseram em risco a própria existência
de Portugal como monarquia independente, e os primeiros anos do governo de
D. João I foram consagrados à neutralização da ameaça castelhana. O rei
de Boa Memória logrou derrotar as pretensões hegemónicas do reino vizinho
vencendo a guerra, em que sobressai a grande vitória de Aljubarrota; o seu
triunfo foi, simultaneamente, a consagração de Portugal como uma potência
marítima europeia.
A aliança com a Inglaterra
Portugal possui a mais antiga fronteira do Mundo, pelo que os seus limi‑
tes territoriais peninsulares são estáveis desde 1297. O mar que bordejava a
costa, pelo contrário, era indefinido e vasto, e a monarquia portuguesa cedo
percebeu que os seus interesses estratégicos iam muito mais além da foz dos
rios Minho e Guadiana. Como vimos, o oceano era temido e ninguém o
disputava, pelo que era no contorno europeu que se tinham de estabelecer
os limites e aí, ao contrário do domínio da terra, várias potências podiam
interferir nas mesmas águas. Como referiu Vitorino Magalhães Godinho,
«estamos num Mundo que vai do estreito de Gibraltar ao Norte da Irlanda,
construído à volta do golfo da Gasconha, da Mancha ocidental, do canal de
São Jorge e do mar da Irlanda, abrangendo a Andaluzia, Portugal, a Galiza,
a marisma asturiano‑biscainha, as regiões de Bayonne e do Bordelais, inte‑
grando a Bretanha, a Cornualha e o Devonshire, o País de Gales e a Irlanda,
estendendo‑se no século xv às Canárias e à Madeira»14.
A sul, cedo ficou claro que os interesses de Portugal se estendiam até ao
estreito de Gibraltar, e logo em tempo d’el‑rei D. Afonso Henriques, uma
esquadra lusa terá combatido na zona de Ceuta, sob o comando do lendário
D. Fuas Roupinho. O estreito era um ponto nevrálgico na ligação entre o
Mediterrâneo e o Atlântico Norte e era um alvo óbvio para um reino que
tinha a aspiração de conquistar Marrocos.
A norte, a área sensível era o canal da Mancha, e os comerciantes precisa‑
vam de ter boas relações, pelo menos, com um dos reinos que controlavam a
passagem. Assim, além de entabular relações com a Flandres, o grande mer‑
cado intermediário entre o Sul e o Báltico, Portugal começou por privilegiar as
relações com a França, e chegou a haver laços de parentesco próximos entre
as duas casas reais por via feminina, pois D. Afonso II casou com D. Urraca
de Castela, cuja irmã, Branca, se casou, em 1200, com Luís, o herdeiro do rei
Filipe Augusto, que veio a ser Luís VIII. Assim, D. Sancho II e D. Afonso III
eram primos co‑irmãos de Luís IX. D. Afonso III, aliás, passou a sua juventude
Hist-da-Expansao_4as.indd 28 24/Out/2014 17:16
UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO 29
em França, sob a protecção da tia, e só abandonou o condado de Boulogne
devido à incapacidade do irmão para manter em paz o reino de Portugal.
Entre meados dos séculos xiii e xiv, a diplomacia portuguesa fechou‑se mais
sobre os equilíbrios peninsulares e não teve tantos infantes excedentários
como no início e a relação com a França diminuiu de intensidade, e foi em
Génova que D. Dinis recrutou o primeiro almirante da armada lusitana.
Entretanto, a França estreitava relações com Castela, o que contribuiu para
que Portugal procurasse uma aliança preferencial com a Inglaterra. A Guerra
dos Cem Anos levou à emergência de blocos de aliados, e as monarquias de
vocação marítima acabaram por se aproximar.
No reinado de D. Afonso IV, a diplomacia portuguesa tentou por duas
vezes promover casamentos entre a dinastia de Borgonha e os Plantagenetas,
e em 1344‑1345 houve negociações para que a infanta D. Leonor casasse com
Eduardo, o príncipe de Gales, herdeiro do rei Eduardo III15. As conversações
fracassaram, mas são demonstrativas da nova diplomacia da Coroa lusa em
relação à sua fronteira marítima setentrional. A guerra alastrou à Península,
quando João de Gant, também filho de Eduardo III, se candidatou ao trono
castelhano, como genro de Pedro I, o rei assassinado, em 1369. Portugal
apoiou o inglês contra Henrique II de Castela, e a 16 de Junho de 1373 foi
assinado o Tratado de Westminster, que celebrava a aliança anglo‑lusa16.
As duas monarquias asseguravam apoio militar recíproco e protecção aos
seus mercadores; os Ingleses garantiam uma zona de apoio na sua navegação
para sul, e os Portugueses o mesmo nas suas rotas para norte, e formavam
um bloco que se opunha naturalmente à aliança franco‑castelhana, numa
dinâmica que se prolongaria até ao século xix.
A 14 de Agosto de 1385, os arqueiros ingleses tiveram um papel impor‑
tante na decisão da Batalha de Aljubarrota, e a 2 de Fevereiro de 1387
celebrou‑se a primeira união matrimonial entre as duas casas reais, com o
casamento de D. João I com D. Filipa de Lencastre, filha de João de Gant.
No ano anterior, o Tratado de Westminster fora ratificado pelo Tratado de
Windsor, e na década de 90 uma armada de galés portuguesa colaborou na
defesa da costa inglesa.
Ao vencer a guerra contra Castela e ao consolidar a aliança com a Ingla‑
terra, D. João I tinha o reino estabilizado. No início do século xv, Portugal,
situado no extremo sudoeste da Cristandade, era um país centralizado e
pacificado, com a fronteira terrestre controlada mas bloqueada a qualquer
aventureirismo de expansão territorial contra o reino vizinho; era um reino
vocacionado para a guerra contra os mouros e desejoso de incorporar nos
seus domínios as ilhas adjacentes, nomeadamente as Canárias, e também a
Madeira, já bem localizada; era, finalmente, uma monarquia que desejava
manter‑se neutral no contexto da Cristandade, ciente da sua pequenez e do
Hist-da-Expansao_4as.indd 29 24/Out/2014 17:16
30 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
seu carácter periférico; além disso, a sua economia era deficitária, pelo que
tinha de ir buscar no exterior a riqueza de que carecia. Assim, nos primeiros
anos de Quatrocentos, a expansão ultramarina prefigurava‑se como uma
solução para as limitações de Portugal e, com a celebração das tréguas com
Castela em 1411, Ceuta tornou‑se no primeiro alvo.
*
Vimos, deste modo, em breves linhas, o modo como o reino fundado por
D. Afonso Henriques, situado nos confins do Velho Mundo, soube afirmar‑se
e sobreviver num meio adverso e como soube encontrar um destino próprio
como potência marítima. Vimos, pois, o que podemos qualificar como os
antecedentes da Expansão Portuguesa.
Ao apresentarmos este processo de uma forma sucinta poderemos dar
a ilusão de que tudo aconteceu depressa; ao enunciarmos um conjunto de
datas, saltitando pelo tempo, poderemos fazer crer que se tratou de um pro‑
cesso rápido, mas foi exactamente o contrário. De facto, vimos em poucas
páginas um processo que demorou 268 anos, desde que o Tratado de Zamora
confirmou a independência lusa, até que a paz de 1411 pôs fim à guerra
luso‑castelhana iniciada em 1383. A definição das condições estruturais
que sustentaram a expansão ultramarina dos Portugueses foi‑se compondo
passo a passo, como se se tratasse de um puzzle, cujas peças foram sendo
colocadas no tabuleiro separadas, mas que acabaram por se unir num todo
coerente. No entanto, nada disto foi planeado, mas foi antes o resultado de
intuições e até de fracassos. A configuração de Portugal talvez fosse diferente,
se D. Afonso Henriques tivesse sido bem‑sucedido em 1169 e pela conquista
de Badajoz tivesse aberto a Andaluzia às armas lusas; o reino podia ter‑se
desagregado nas guerras civis da primeira metade do século xiii, travadas
perante os olhos cobiçosos das monarquias de Leão e de Castela; ou podia
ter‑se expandido para o interior peninsular, como ensaiou D. Dinis ou como
tentou desastradamente D. Fernando; e tudo teria sido diferente se o cali‑
fado almóada tivesse mantido a coesão ou se a invasão merínida não tivesse
sido travada no Salado; e simplesmente a aventura lusitana poderia ter sido
interrompida se o próprio Portugal tivesse soçobrado em Aljubarrota, às
mãos da cavalaria castelhana. Em cada momento, a resposta aos perigos e
às oportunidades obedeceu sobretudo à resolução de problemas imediatos;
o deslizar do centro político do reino de Coimbra para Lisboa teria tardado
se a Reconquista não tivesse submergido repentinamente grande parte do
Sul da Hispânia, e as alianças externas estiveram sempre dependentes, por
um lado, da existência de príncipes em idade casadoira na altura certa e,
por outro, da própria vontade dos soberanos.
Hist-da-Expansao_4as.indd 30 24/Out/2014 17:16
UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO 31
Há, ainda assim, uma linha que parece ter tido um dinamismo suficien‑
temente forte para que estivesse sempre presente no espírito dos governan‑
tes portugueses e dos seus principais agentes económicos, enquanto iam
moldando o destino do país – a importância crucial da fronteira marítima.
Por isso, o reino apetrechou‑se; viu crescer um porto capaz de construir e
abastecer muitos navios e integrou‑se em redes de negócios internacionais
que se estendiam do Báltico ao Mediterrâneo Oriental; organizou canais
por todo o país que fizessem chegar à costa os produtos necessários para o
comércio e para a indústria naval; estendeu a sua intervenção diplomática
até às águas do estreito de Gibraltar e do canal da Mancha e desenvolveu
uma doutrina diplomática que encarava o mar oceano como uma área de
intervenção privilegiada e mesmo de hegemonia. E no Além‑Mar estavam as
ilhas que podiam ser ocupadas e as terras de África em que se podia prolongar
a guerra santa que estivera na génese de Portugal.
Assim, quando a paz foi firmada, em 1411, o reino estava organizado
política e administrativamente, e pacificado internamente; era pequeno e
queria crescer em terras e em negócios, e a solução estava no mar. D. João I
compreendeu‑o e encaminhou Portugal para uma nova era.
Hist-da-Expansao_4as.indd 31 24/Out/2014 17:16
2
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO
(1415‑1443)1
A pesar da derrota em Aljubarrota, a Coroa castelhana não abdicara das
suas aspirações à conquista de Portugal e a guerra reacendera‑se várias
vezes. A morte precoce dos reis João I, em 1390, e Henrique III, em 1406,
gerou crises internas que afrouxaram as aspirações hegemónicas do reino
vizinho, mas D. João I tinha de manter sempre as suas forças preparadas para
enfrentar qualquer invasão. Significa isto que a lenta formação de condições
estruturais para que Portugal se lançasse numa aventura ultramarina não era
suficiente para que a Coroa pudesse desencadear uma operação de grande
envergadura, pois a manutenção da independência exigia que a hoste não se
ausentasse do reino.
Em 1411, estava sentado no trono castelhano o rei João II, ainda menino
de 6 anos, e a regência estava nas mãos de seu tio, o infante Fernando, irmão
mais novo do falecido Henrique III. Sucedeu, porém, que a 31 de Maio de
1410 morreu o rei Martinho I de Aragão, que não tinha herdeiro directo.
Iniciou‑se então uma batalha jurídica pela sucessão e Fernando de Trastâmara
candidatou‑se, pois era neto do rei Pedro IV. Fernando foi reconhecido
pela assembleia que deliberou sobre a contenda, em Caspe, a 24 de Junho
de 1412, mas teve depois de se impor pelas armas ao seu rival, o conde de
Urgel. O conflito adivinhava‑se assim que Martinho I expirou, pelo que o
Trastâmara precisava de assegurar a tranquilidade da fronteira portuguesa
para poder lutar pelo trono aragonês. Este episódio mostra‑nos, assim, como
a História portuguesa está ligada umbilicalmente à evolução global da Penín‑
sula Ibérica; de facto, é na Hispânia que está a explicação para muitos dos
acontecimentos que marcaram a História de Portugal.
Hist-da-Expansao_4as.indd 32 24/Out/2014 17:16
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415‑1443) 33
O primeiro impulso
Historiador perspicaz, Gomes Eanes de Zurara começou precisamente a
sua narrativa da Crónica da Tomada de Ceuta pelo estabelecimento da paz
luso‑castelhana em 1411 e pela identificação do problema social que o fim
da guerra representava. Diz‑nos o cronista que os mais velhos festejaram
o acordo, mas que os jovens nobres se lamentavam por deixarem de ter
um palco onde pudessem demonstrar a sua razão de ser como bellatores; e
entre essa juventude bloqueada contavam‑se os próprios infantes, filhos de
D. João I, o herói de Aljubarrota2.
Muito se escreveu sobre as causas que levaram os Portugueses a Ceuta
em 1415, e muitos autores cultivaram longas polémicas entre si; não sendo
este o espaço próprio para uma discussão historiográfica, limitamo‑nos a
apresentar a interpretação que se nos afigura mais ajustada ao que a Histó‑
ria nos mostra. Uma coisa é certa – não procuramos uma razão única para
justificar a expedição, mas antes um feixe de motivações que tocavam os
indivíduos de formas diversas, mas que os empurravam a todos no mesmo
sentido: o assalto a uma cidade muçulmana através de uma operação
naval. Em nosso entender, não vale sequer a pena tentar valorizar umas
causas relativamente às outras; ao expô‑las neste livro temos de as referir
uma a uma, mas pedimos ao leitor que não veja na ordem de citação uma
hierarquização.
Firme no extremo ocidente peninsular, Portugal buscava novas fontes
de riqueza e novos negócios; queria alargar o território sob domínio da
Coroa e dilatar o espaço da Cristandade e precisava de um território onde a
nobreza pudesse mostrar as suas competências guerreiras sem ser no espaço
peninsular ou mesmo europeu. A guerra com os mouros era tida por natural
entre os cristãos e não obrigava Portugal a ganhar inimizades perigosas no
Ocidente Cristão. Enclausurado entre o mar e o muro de Castela, o reino
tinha de encontrar uma forma de se valorizar sem pôr em risco a segurança
da fronteira terrestre.
Como vimos, o país nascera e afirmara‑se pela guerra santa. O recomeço
dos combates contra os mouros era prestigiante para a nova dinastia, até
porque D. João I, mesmo sentado no trono, carregava sempre o estigma da
bastardia e só empunhara o ceptro porque as Cortes de Coimbra, de Abril de
1385, haviam declarado previamente que o trono estava vacante. Na verdade,
D. João I não sucedera pela via hereditária tradicional ao seu meio‑irmão, o
rei D. Fernando; o soberano subira ao trono por via de uma eleição. A vitó‑
ria extraordinária de Aljubarrota cobrira‑o de uma aura de prestígio, mas
a mácula da bastardia não estava esquecida e o rei de Boa Memória via no
reinício da guerra aos mouros uma forma de limpar definitivamente o seu
Hist-da-Expansao_4as.indd 33 24/Out/2014 17:16
34 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
nome3. Esta vontade pessoal não era suficiente para que um reino se empe‑
nhasse numa expedição militar como a de 1415, mas neste caso o desejo do
monarca encontrava eco entre a grande maioria dos seus súbditos, a começar
pelos infantes seus filhos.
D. João I teve seis filhos varões legítimos, de que cinco chegaram à idade
adulta, pois o primogénito, D. Afonso, faleceu em 1400, com 10 anos de
idade. Em 1411, os três mais velhos (D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique)
tinham 20, 19 e 17 anos. O mais velho começava a ser associado à governa‑
ção, na sua condição de herdeiro do trono, e os dois mais novos receberam
nesse ano grandes senhorios: o de Coimbra para D. Pedro, e o de Viseu para
D. Henrique. Filhos do herói de Aljubarrota, contavam entre a nobreza, que
lhes obedecia e respeitava pelo seu sangue real, todos os cavaleiros que tinham
estado ao lado do seu pai na batalha real, a começar pelo conde D. Nuno
Álvares Pereira, o condestável do reino. Por um acaso raro nesses tempos,
a maior parte dos nomes sonantes da juventude que rodeava D. João I em
1385 ainda estava viva passados mais de 25 anos, e todos estavam aureolados
pela sua participação na batalha que ia ganhando contornos miraculosos que
impregnavam os protagonistas do combate4.
Filhos de rei, faltava aos três infantes a afirmação no local próprio, que
era precisamente o campo de batalha. Diz‑nos o cronista que D. João I terá
pensado organizar um grande torneio para a cerimónia de investidura dos
filhos na cavalaria e que estes não teriam gostado da ideia. A narrativa de
Zurara não é segura, mas é verosímil, pois a referência ao desinteresse dos
infantes por esta forma de serem armados cavaleiros percebe‑se facilmente.
Com efeito, não só estavam rodeados pelos heróis de Aljubarrota, como o seu
meio‑irmão D. Afonso, filho natural do rei, nascido quando este era apenas
o mestre de Avis, ganhara a cavalaria no final da conquista de Tui, em 1398.
Não sabemos quando é que a rivalidade começou a minar a relação entre
D. Afonso e os seus irmãos até descambar na inimizade que os dividiu nos
anos 40 do século xv, mas é compreensível que os infantes não quisessem ser
subalternizados pelo bastardo que, aliás, era genro do condestável e ostentava
os títulos de conde de Neiva e conde de Barcelos5.
O desejo de D. João I em prestigiar o reino e a dinastia que ele iniciava, e
a vontade dos seus filhos em obter a cavalaria através de uma acção militar,
eram igualmente sentidos por todos os jovens nobres. Esta vontade persistente
da nobreza em afirmar‑se pelo serviço ao rei, e particularmente pela guerra,
seria uma das principais dinâmicas em que se sustentaria a expansão ultrama‑
rina portuguesa durante mais de um século. Uma expedição militar vitoriosa
significava não só o enobrecimento dos sobreviventes pelos feitos praticados
em combate, mas também o enriquecimento, fosse pelo saque, fosse pela
obtenção de novos postos militares ou ofícios político‑administrativos; e, num
Hist-da-Expansao_4as.indd 34 24/Out/2014 17:16
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415‑1443) 35
reino de dimensões reduzidas, a conquista de novos territórios aumentava
o número de cargos financiados pela Coroa e podia ainda criar espaço para
novos senhorios.
Percebe‑se assim que a nobreza tenha aderido naturalmente à empresa de
Ceuta. E também os grandes mercadores apoiaram a expedição.
Além de concitar motivações políticas e sociais, o arranque da expansão
ultramarina obedeceu igualmente a fortes motivações económicas, pois a
ocupação de cidades na zona do estreito de Gibraltar enfraquecia o poder do
corso muçulmano e reforçava a segurança da navegação cristã. Numa área
onde predominava ainda o poder islamita, a conquista de um porto repre‑
sentava a abertura de um abrigo para os comerciantes da Cristandade – um
apoio que naturalmente não seria oferecido, mas antes vendido, fossem os
direitos de ancoragem, fossem os víveres para reabastecimento. Como bem
disse Zurara, Ceuta era «a chave do Mediterrâneo»6. Assim, não eram só os
comerciantes portugueses que ganhavam com o sucesso da expedição; com
efeito, todos os participantes nas ligações entre o Mediterrâneo e o Atlântico
Norte seriam beneficiados pelo sucesso português.
Esta era a verdadeira mais‑valia de uma cidade muçulmana no estreito
de Gibraltar. Como veremos a seguir, D. João I hesitou muito sobre o alvo
do seu ataque, mas nunca teve dúvidas de que seria uma cidade muçulmana
na zona do estreito. É certo que Portugal aspirava à conquista do reino
de Fez desde meados do século anterior, mas no caso concreto da expedi‑
ção de 1415 não se pode afirmar peremptoriamente que ela foi concebida
como sendo o primeiro passo para a conquista sistemática do reino africano.
Se assim fosse, o monarca nunca teria posto a hipótese de atacar cidades do
reino de Granada. O que é certo, porém, é que as motivações económicas
subjacentes à aventura de 1415 têm de ser vistas sobretudo no plano do
comércio marítimo, devendo‑se acrescentar o interesse dos algarvios, pois a
intervenção militar portuguesa nas águas vizinhas fez diminuir drasticamente
o número de ataques muçulmanos à costa do Algarve e permitiu aumentar
a actividade pesqueira nessas águas.
O facto de Ceuta ser o término de uma rota caravaneira oriunda da África
negra terá feito crescer a cobiça pela sua conquista e pelo seu saque, mas não
faz sentido crer que D. João I acreditasse que a cidade continuaria a ser um
centro activo de trocas com os mouros depois de a ter conquistado. Após
a sua ocupação pelos Portugueses, Ceuta tornou‑se numa grande escápula
do comércio marítimo cristão, mas deixou de ser um pólo exportador dos
produtos vindos do interior de África. A conquista de Ceuta também é per‑
sistentemente associada ao desejo dos Portugueses obterem em África o trigo
de que eram carentes; é aceitável pensar que a conquista de Marrocos teria
colocado nas mãos da Coroa lusa as searas africanas, mas estas localizavam‑se
Hist-da-Expansao_4as.indd 35 24/Out/2014 17:16
36 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
a dezenas de léguas de Ceuta, para lá das montanhas do Rife, pelo que não
era este decerto um objectivo da expedição de 1415.
Finalmente, deve‑se referir que a Igreja apoiava a expedição. Nestes tem‑
pos, a maioria dos cristãos acreditava na justeza da guerra contra os mouros
e a Cristandade tinha um desejo congénito de se dilatar. Neste caso, a recon‑
quista de territórios que já haviam sido cristãos e que tinham sido perdidos
para o Islão era ainda menos questionada.
Em suma, o estabelecimento da paz com Castela, em 1411, coincidiu com
um momento em que o reino de Portugal reunia todas as condições para
desencadear uma expansão ultramarina assente na guerra e no comércio,
sustentada por uma nobreza sequiosa de honra e riqueza, e por agentes
económicos empreendedores, e legitimada pela Igreja. D. João I apercebeu‑se
deste dinamismo e canalizou‑o para uma expedição militar.
O papel de Portugal no contexto da Cristandade começava a mudar.
Uma expedição feliz7
Os preparativos da expedição de 1415 foram aparatosos e deram brado
por boa parte da Cristandade, tendo despertado a inquietação sobretudo
dos potentados islâmicos do Mediterrâneo Ocidental. O alvo da armada foi
mantido secreto, o que fez crescer a expectativa, mas todos tinham por mais
provável que o assalto fosse dirigido contra uma cidade muçulmana. Aliás,
a grande novidade era o facto de pela primeira vez o reino de Portugal estar
a preparar uma armada para atacar presumivelmente o Islão mediterrânico,
pois a Cristandade realizava frequentemente este tipo de ataques, e a própria
monarquia castelhana atacara Tetuão em 1399.
Sabemos hoje que a principal hesitação foi sobre se se devia atacar o reino
de Fez ou o de Granada. Curiosamente, entre a fidalguia havia um número
considerável de defensores do ataque ao sultanato hispânico, o que se enqua‑
drava igualmente na lógica da Reconquista. Tratava‑se, porém, de um reino
cuja conquista cabia a Castela, pelo que a ocupação das suas cidades abriria
novo conflito com o vizinho castelhano. Apesar do melindre diplomático, a
questão foi colocada persistentemente durante décadas, o que nos mostra a
complexidade das relações entre os reinos peninsulares nesta época. Tendo,
finalmente, optado pelo reino de Fez, Ceuta era a escolha mais óbvia, por ser
a cidade do estreito e o seu domínio proporcionar uma grande capacidade de
interferência nas rotas navais que passavam nas suas imediações.
Pouco antes da partida da armada, faleceu a rainha D. Filipa de Lencastre,
a 19 de Julho de 1415, mas já nada fazia parar a grande máquina de guerra
e o grosso dos navios zarpou de Lisboa a 25 de Julho. Nada se sabe ao certo
Hist-da-Expansao_4as.indd 36 24/Out/2014 17:16
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415‑1443) 37
sobre os números da expedição, pelo que só podemos afirmar com toda a
certeza que seriam mais de cem embarcações e mais de 10 000 homens,
embora devam ter sido muitos mais navios e muitos mais soldados. Também
é certo que a Coroa de Portugal nunca organizara armada tão numerosa.
Os navios fizeram escala em Lagos e foi aí, a 28 de Julho, que, finalmente,
foi anunciado que o ataque seria lançado contra Ceuta. A inexperiência
dos comandantes e os caprichos da Natureza retardaram a chegada da
armada às imediações do seu objectivo e só a 13 de Agosto é que uma parte
da esquadra surgiu nas imediações da cidade, mas acabou por ir reagrupar
nas imediações de Algeciras. Chegou a colocar‑se a hipótese de a expedi‑
ção abortar, até porque o efeito‑surpresa parecia estar perdido, mas o rei
ordenou nova aproximação à cidade inimiga. Foi determinado que se faria
um desembarque a 21 de Agosto para obter uma posição em terra para o
prosseguimento das operações militares.
No entanto, na manhã do dia 21 tudo se precipitou. A força de assalto
comandada inicialmente pelo infante D. Henrique, e depois por D. Duarte,
lançou um ataque impetuoso e logrou entrar pela cidade dentro, antes que
os defensores fossem capazes de cerrar as portas. A cidade foi tomada nesse
mesmo dia e a guarnição da cidadela acabou por fugir na noite seguinte.
Apesar das hesitações e de uma notória desorganização, uma simples arran‑
cada pelo areal possibilitou a entrada dos guerreiros portugueses em Ceuta.
Tudo pareceu fácil. De facto, a entrada na cidade sucedeu sem que o rei,
comandante supremo da expedição, se apercebesse do que se estava a passar.
E depois o soberano ficou do lado de fora das muralhas, junto a uma porta,
aguardando que os filhos e os seus súbditos tomassem a cidade.
Seguiu‑se a consagração dos conquistadores, com a investidura dos infan‑
tes como cavaleiros seguida pela de muitos outros nobres que tinham comba‑
tido pelas ruelas de Ceuta. No rescaldo da conquista voltaram as hesitações,
pois o monarca não decidira previamente se ocuparia a cidade ou se se limi‑
tava a saqueá‑la e arrasá‑la. Acabou por optar pela ocupação, mas depois
houve novo impasse, na medida em que não foi fácil encontrar um fidalgo
importante que estivesse disponível para ficar a comandar a cidade, até que
D. João I pôde nomear D. Pedro de Meneses, filho de um dos portugueses que
tombaram em Aljubarrota do lado castelhano e para quem Ceuta também
representou uma redenção.
Quando D. João I partiu de volta para o reino ainda eram muitas as
incertezas. Provavelmente ninguém estaria certo de que os mouros seriam
incapazes de reconquistar Ceuta. Parece‑nos, por isso, importante ressaltar,
a propósito deste acto inaugural da expansão portuguesa, que foi marcado
por sucessivas hesitações. Não houve uma planificação, apenas se seguiu um
impulso.
Hist-da-Expansao_4as.indd 37 24/Out/2014 17:16
38 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A formação de um espaço vital em tempo de incertezas8
O consenso que existiu em torno do ataque a Ceuta desfez‑se logo a
seguir à glorificação dos vencedores da jornada de 21 de Agosto, pois muitos
discordaram da decisão régia de manter a posse da cidade. Nobres e plebeus
tinham aceitado facilmente correr o risco de um combate na mira da glória
e do esbulho, mas queriam voltar às suas casas. Defender Ceuta do contra
‑ataque muçulmano era missão arriscada e sem grande proveito económico,
pelo que a maioria dos que ficaram com D. Pedro de Meneses foram forçados
a fazê‑lo.
D. João I, por sua vez, quis regressar a África e em 1418 obteve um
imposto extraordinário destinado a organizar nova armada. No entanto,
antes de começar a preparar essa expedição enviou uma embaixada a Cas‑
tela a pedir a confirmação da paz, mas os Castelhanos foram evasivos, pois
aproximava‑se o momento em que João II atingiria a idade própria para
assumir o poder, e o partido antiportuguês estava mais forte. Perante esta
reacção do reino vizinho, o monarca canalizou o dinheiro obtido para o
reparo e reforço dos castelos fronteiriços. Este episódio é um bom testemunho
do peso que Castela sempre teve na política portuguesa, e do modo como
condicionou particularmente a política marroquina da Coroa lusa. Falhada
esta hipótese, D. João I, já sexagenário, não voltou a tentar o regresso a África.
No entanto, no seio da família real, bem como entre os principais cortesãos,
havia quem defendesse a realização de novas campanhas contra o reino de
Fez, pelo que nos anos subsequentes à conquista de Ceuta, esta foi entendida
como o ponto de partida para o velho sonho da conquista de Marrocos;
o infante D. Henrique era o maior defensor desta política, e contava com
o apoio quer do rei, quer do herdeiro, mas as limitações económicas e logís‑
ticas do reino, aliadas à turbulência castelhana, retardaram o desencadear
de novas operações.
Ceuta, entretanto, cumpria a sua missão de base de apoio à navegação
cristã, de protecção à costa portuguesa e de sede de armadas de corso que
flagelavam o sistema mercantil muçulmano. Sofreu dois ataques perigosos
em 1418 e 1419, e nesse ano Lisboa enviou mesmo uma armada de socorro
sob o comando do infante D. Henrique, mas os assaltantes foram derrotados
antes da chegada dos reforços.
A documentação mostra‑nos que Ceuta tinha receitas avultadas e que
entrava ouro nos cofres da Coroa9. Não era o metal vindo do interior de
África, mas o que era deixado pelos mercadores que faziam escala na cidade,
mais o que se obtinha pelo corso. A posse de Ceuta pelos Portugueses satis‑
fazia vários grupos sociais e económicos no país e no estrangeiro, como seria
evidente na crise de 1437‑1438. No entanto, ia ganhando força uma corrente
Hist-da-Expansao_4as.indd 38 24/Out/2014 17:16
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415‑1443) 39
de opinião que criticava a manutenção da cidade. A guarnição numerosa em
permanente estado de alerta exigia um recrutamento contínuo de homens e
de armas e os povos do interior não apreciavam naturalmente a ida de jovens
para uma guerra que não lhes trazia benefício directo.
Ficou célebre uma carta que o infante D. Pedro escreveu em 1426, na qual
afirmava que Ceuta era um «sumidoiro de gentes, armas e dinheiro» e se
manifestava contra a forma como a praça era mantida. Esta frase tem sido
considerada como uma verdade indiscutível, mas é, na verdade, a opinião de
um agente político; D. Duarte e D. Henrique, pelo menos, sendo seus irmãos,
não diriam o mesmo. Havia, de facto, muitas fugas ao embarque compulsivo
para Ceuta e queixas contra o imposto extraordinário que todo o país pagava
para o seu sustento; o reino dividia‑se quanto à importância da cidade, mas
a afirmação de D. Pedro não nos dá um retrato fiel do que se passava. Com
efeito, a posse de Ceuta proporcionava ganhos chorudos a muitos agentes
comerciais, com repercussões na vida económica de Lisboa e do Porto, e
possibilitara a revitalização da economia algarvia, menos fustigada pelas
incursões inimigas, na terra e no mar.
Assim, nos anos 20 do século xv havia quem defendesse a continuidade da
empresa marroquina, mas também existiam outros que preferiam o abandono
da cidade. A guerra permanente aos mouros em África não era uma causa
mobilizadora, apesar de o reino se encontrar bloqueado; sendo interessante
para os nobres que queriam mostrar as suas qualidades guerreiras e para o
reino poder interferir no estreito de Gibraltar, não abria a possibilidade de
dominar novos territórios, pois os portugueses só estavam seguros dentro
das muralhas da cidade, e as populações vizinhas mantinham uma luta
encarniçada contra o invasor e não estavam interessadas em se integrarem
na Cristandade.
No entanto, a posse de Ceuta provocou uma intensificação da navegação
nas águas a sul do Algarve, e vários súbditos da Coroa ganharam novo
apetite relativamente aos territórios insulares mais próximos. As ilhas Caná‑
rias eram o alvo mais cobiçado, mas algumas das ilhas eram povoadas por
uma população aguerrida e persistia a rivalidade com Castela. Em 1424, o
infante D. Henrique enviou uma grande armada ao arquipélago canarino,
mas foi mal‑sucedida, pelo que aumentou o interesse pelas outras ilhas
adjacentes ao reino. A Madeira e o Porto Santo já estavam bem localizadas
no século xiv, e o seu povoamento terá começado por volta de 1419‑1420
e intensificou‑se a partir de 1425. Muitos dos primeiros povoadores per‑
tenciam à Casa do infante D. Henrique, mas a ocupação das ilhas decorreu
sob a autoridade da Coroa. Uma vez mais, não estamos perante um plano
amadurecido previamente, e neste caso nem temos notícia da partida de
uma grande frota com os primeiros habitantes das ilhas, mas é certo que
Hist-da-Expansao_4as.indd 39 24/Out/2014 17:16
40 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
no final dos anos 20 estavam claramente na posse de Portugal e que Cas‑
tela não reclamou10. Há muito que havia a percepção da existência de um
outro arquipélago mais para o interior do oceano, que era imprecisamente
assinalado na cartografia europeia, e em 1427 as ilhas dos Açores come‑
çaram a ser localizadas com precisão. O seu povoamento tardou mais de
um decénio, mas no final dos anos 20 o arquipélago açoriano estava sob
a alçada do reino de Portugal11.
A ocupação destes dois arquipélagos não deve ser vista como as primeiras
acções dos Descobrimentos que estavam então na forja. Na verdade, estas
ilhas já eram conhecidas da Cristandade e tinham permanecido despovoadas
porque eram demasiado periféricas no âmbito da geopolítica europeia dos
séculos anteriores. Agora, porém, Portugal procurava novos territórios, ao
mesmo tempo que se ia afirmando de forma cada vez mais clara como uma
potência marítima. Assim, embora se vivesse num período de incertezas, o
reino foi definindo o seu espaço vital – o de um país que se compunha de um
território continental e de arquipélagos adjacentes. O avanço para as ilhas
parece ter sido particularmente influenciado pelo infante D. Henrique, que
era o governador de Ceuta, cabendo‑lhe assegurar o provimento permanente
da praça, e que se interessava, pelo menos desde 1422, pela exploração do
mar oceano, como veremos no capítulo seguinte. No entanto, não se pode
atribuir só ao infante nem a responsabilidade da integração dos arquipélagos
na Coroa portuguesa, nem o envio dos primeiros povoadores.
Tal como no caso da expedição de 1415, pressentimos um impulso, uma
dinâmica colectiva do país, que possibilitava que alguns dos seus habitantes
colonizassem territórios desabitados e os integrassem naturalmente numa
única entidade política. E uma vez mais encontramos um feixe de razões a
coincidir neste movimento: as ilhas atraíam a baixa nobreza, algum clero, e
gente do povo desejosa de se tornar proprietária fundiária; a sua ocupação
gerava novos negócios, quer para os que se instalavam lá, quer para os que
lhes forneciam materiais a partir do continente. Por isso, apesar de a Coroa
não ter um plano para a expansão, esta ia acontecendo quase espontanea‑
mente, quando o tempo amadurecia as oportunidades.
À morte de D. João I, em 1433, Portugal já tinha, pois, definido o seu
espaço vital e já se afirmara perante a Cristandade como uma potência marí‑
tima, capaz de fazer a guerra em paragens distantes e capaz de alargar o seu
território avançando pelo mar conhecido. Faltava enfrentar o desconhecido,
o mar tenebroso, e faltava definir uma estratégia para a guerra contra os
mouros. A paz definitiva com Castela, celebrada a 27 de Janeiro de 1432,
sossegou a fronteira, e a cruzada voltou a ser discutida.
Hist-da-Expansao_4as.indd 40 24/Out/2014 17:16
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415‑1443) 41
Uma expedição infeliz12
Poucos meses depois de o novo tratado ter sido assinado, D. Duarte pediu
aos irmãos e aos sobrinhos maiores que se pronunciassem por escrito sobre
a guerra aos mouros. Não conhecemos os pareceres dos infantes D. Pedro
e D. Fernando, mas sabemos que o primeiro era contra a continuidade das
campanhas em África e que o segundo desejava ir combater os muçulmanos.
Dos restantes, só temos um testemunho de uma vontade inequívoca – a do
infante D. Henrique, que entendia que era obrigação de todos os príncipes
cristãos guerrear os islamitas. Os demais mostram‑se hesitantes, quer quanto
à oportunidade, quer em relação ao alvo de uma eventual campanha, pois não
descartavam a hipótese de atacar Granada. Enquanto a Coroa só admitia
o assalto a Marrocos, para os grandes senhores a possibilidade de combater o
mouro em benefício de Castela era interessante. De qualquer forma, registe‑se
que, uma vez mais, a guerra aos mouros foi equacionada assim que a fronteira
terrestre voltou a ficar totalmente pacificada.
O sossego do reino dava força à pulsão expansionista, mas a sua pequenez
dificultava a organização de uma grande expedição. Além disso, a morte de
D. João I, a 13 de Agosto de 1433, obrigou D. Duarte a proceder a todas as
diligências habituais do início de um reinado de confirmação de fidelidades
e de acerto na governação. Entretanto, logo a seguir à sua subida ao trono,
doou as ilhas da Madeira e de Porto Santo ao infante D. Henrique e deu,
assim, início ao sistema das donatarias. Por esta via, a Coroa confiava as
tarefas de povoamento dos territórios insulares a privados, e estes deviam
administrá‑los exercendo a justiça e estabelecendo os impostos; o rei, por
sua vez, conservava poderes de soberania, nomeadamente a aplicação da
pena de morte e a circulação da moeda. A Casa de Viseu assumiu então a
governação, e recebeu depois a doação das ilhas dos Açores e de Cabo Verde.
Cabia ao donatário ainda nomear os seus representantes locais, de que o mais
importante era o capitão. Por isso, o sistema de governação dos arquipélagos
ficou conhecido como o das capitanias‑donatarias. As capitanias eram heredi‑
tárias e formaram‑se algumas dinastias notáveis, de que a mais relevante foi,
sem dúvida, a dos capitães do Funchal, iniciada por João Gonçalves Zarco.
Os capitães da Madeira já estavam à frente das suas jurisdições quando o
rei doou o arquipélago ao infante D. Henrique, mas as cartas de nomeação
só foram assinadas uns anos mais tarde, o que era prática comum na época.
Ao doar as ilhas, a Coroa evitava consumir energias no alargamento terri‑
torial, mas ganhava o mar, e ainda assegurava benefícios para a economia do
reino, pois as novas sociedades insulares geravam novas produções e novas
trocas que engrandeciam a actividade económica do reino. Nas décadas
seguintes tornar‑se‑ia clara a importância estratégica das ilhas atlânticas, que
Hist-da-Expansao_4as.indd 41 24/Out/2014 17:16
42 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
seriam cruciais para o sucesso da navegação oceânica e para a afirmação de
Portugal como uma potência marítima.
Em 1434, o infante enviou nova grande expedição às Canárias com o
apoio do rei, mas os seus homens voltaram a fracassar. O infante realizaria
novas tentativas nos anos seguintes e a própria Coroa portuguesa continuou
a reclamar a posse das ilhas, mas nunca teve capacidade para as dominar.
D. Duarte, entretanto, desejava prosseguir as conquistas em África, e
deixou‑nos um texto em que elencou as 13 razões que o levaram a enviar
a expedição de 143713. O soberano deixa‑nos nessas linhas o pensamento
político que norteou a política externa do seu reinado e que nos remete basi‑
camente para a necessidade de o reino ter uma guerra contra os mouros como
forma de se manter neutral no contexto europeu, o que foi uma doutrina
diplomática seguida quase sempre pelos monarcas de Avis. Desde esta altura,
a expansão ultramarina serviu de argumento para que a Coroa portuguesa
não se envolvesse nos conflitos que continuavam a dilacerar a Cristandade e
que não interessavam a um pequeno reino periférico como Portugal.
Ao mesmo tempo que procurava criar as condições internas para orga‑
nizar a grande armada, o monarca tinha também que prosseguir uma acção
diplomática junto da Santa Sé, devido a novas interferências castelhanas. Nos
anos de 1435 e 1436, Portugueses e Castelhanos pediram ao papa que reco‑
nhecesse os seus direitos de conquista relativamente às Canárias e ao reino de
Fez. Quer isto dizer que depois de ter reconhecido definitivamente a indepen‑
dência portuguesa, 47 anos após Aljubarrota, Castela logo empreendeu uma
campanha diplomática externa para cercar Portugal, tentando que a Santa
Sé não reconhecesse à Coroa lusa nenhum direito de expansão ultramarina.
Indeciso, sob a pressão de uns e de outros, o papa Eugénio IV começou por
satisfazer as pretensões portuguesas, no verão de 1436, mas a 6 de Novembro
revogou essas bulas e mostrou‑se disposto a aceitar as reclamações castelha‑
nas de que o seu reino era o único com direito a prosseguir a Reconquista
em África e, a 30 de Abril de 1437, o papa rompeu com uma prática quase
secular ao deixar de reconhecer o direito de Portugal à conquista do reino de
Fez, o que pressupunha mesmo a entrega de Ceuta a Castela; a reacção do rei
português foi rapidíssima, pois a 16 de Maio escreveu ao papa ameaçando
entrar em guerra com Castela para defender a cidade que ele próprio ajudara
a conquistar: «E finalmente dizei ao Santo Padre que, dando a isto lugar, a
nós caberia apelar dele [o papa] para o Senhor Deus e prosseguir a apelação
com a espada na mão e trabalharmos para isto defender, segundo o que fez
el‑rei meu senhor e padre e nossos antecessores. Cá bem certo somos que
se tal cousa se fizer que a guerra não se poderá escusar entre nós. E assim
entrariam em ela nossos aliados e tudo seria per azo do Santo Padre, se tal
cousa outorgasse.»14
Hist-da-Expansao_4as.indd 42 24/Out/2014 17:16
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415‑1443) 43
O papa recuou perante a firmeza de D. Duarte, mas a situação era tensa.
O monarca anunciara, nas Cortes de Évora de 1436, a sua intenção de
enviar uma expedição a África, sob o comando supremo do infante D. Hen‑
rique e com a participação certa do infante D. Fernando. Foi previsto o
envio de uma força de 14 000 homens, mas no Verão seguinte só estavam
arregimentados cerca de 6000. Ainda assim, a armada partiu. D. Henrique
tinha ordens para permanecer em Ceuta até receber reforços, que deveriam
chegar nos meses seguintes. Sendo uma hoste insuficiente para poder atacar
uma cidade com boas probabilidades de sucesso, era um corpo armado sufi‑
cientemente numeroso para mostrar a Castela que Portugal iria continuar
em África. O cronista Rui de Pina, mais tarde, diria que a expedição contra
Tânger foi realizada «mais por apetição do que por razão»15, mas ao fazê‑lo
ignorou a pressão diplomática castelhana. No entanto, como temos visto,
Castela foi sempre um factor incontornável nas tomadas de decisão dos reis
de Portugal relativamente à sua política expansionista e o episódio de 1437
não foge à regra, apesar do silêncio do cronista.
Se o envio da expedição para África se compreende, quer pelas motiva‑
ções que há muito a Coroa portuguesa sentia em relação ao reino de Fez,
quer pela ameaça diplomática desencadeada pelo reino vizinho, o desastre
militar que se seguiu não tem justificação e foi o resultado da impetuosidade
incompetente do chefe do exército, o infante D. Henrique.
O duque de Viseu teve, de facto, uma actuação desastrada como coman‑
dante da hoste invasora e decidiu atacar Tânger com as poucas forças que
o acompanhavam, apesar das ordens em contrário que recebera do irmão.
Inábil nas manobras realizadas, moroso na deslocação das forças entre Ceuta
e Tânger, impulsivo na forma de atacar mas sem cuidar da logística, o seu
ímpeto atacante esbarrou nas muralhas da cidade inimiga e na tenacidade
dos defensores. Imprevidente, o infante deixou‑se envolver pelo contra
‑ataque muçulmano e o sitiador ficou cercado, ao perder o acesso à praia
e ficar sem comunicação com a armada que estava fundeada defronte de
Tânger. Encurralado no palanque, D. Henrique teve de negociar com os
mouros e estes pediam a devolução de Ceuta para deixar partir os portu‑
gueses. O infante não tinha poderes para tomar decisão tão grave, e deixou
o seu irmão, D. Fernando, por refém, mas, assim que se viu livre do aperto,
logo defendeu a manutenção de Ceuta, ao mesmo tempo que congeminava
soluções alternativas para salvar o irmão.
O rei e o reino viram‑se então a braços com uma crise grave. O que valia
mais: a cidade de Ceuta ou a vida do infante D. Fernando?
Hist-da-Expansao_4as.indd 43 24/Out/2014 17:16
44 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Uma expedição abortada
O fracasso de Tânger apanhou de surpresa o rei e os seus súbditos.
Ao sucesso fácil, quase miraculoso, de Aljubarrota e de Ceuta sucedia agora
uma derrota humilhante que gerava um dilema insolúvel. D. Henrique
salvara‑se a si próprio e ao que restava das suas forças arriscando a vida do
irmão mais novo e hipotecando Ceuta, e deixou‑se ficar em África nos meses
seguintes. Obedeceu à ordem do rei para regressar a Portugal, mas D. Duarte
não o quis na corte e o duque de Viseu permaneceu como que exilado no
Algarve durante o ano de 1438.
A devolução de Ceuta era inimaginável para muita gente e o rei convocou
as Cortes em busca de apoios para a decisão final. Como sucedia desde o
dia 22 de Agosto de 1415, as forças vivas do reino dividiram‑se, a propósito
desta pendência. O que estava em causa não era o infante D. Fernando, mas
Ceuta. Todos desejavam, naturalmente, a salvação do infante desamparado,
mas uma boa parte dos súbditos da monarquia opunha‑se à perda da cidade
africana, apesar do sacrifício do irmão mais novo de D. Duarte. A linha de
fractura entre os partidários das duas hipóteses é elucidativa dos interesses
que estavam em jogo naquele transe:
– Um punhado de fidalgos, encabeçados pelos infantes D. Pedro e D. João,
defendia a devolução de Ceuta e contava com o apoio dos representantes
dos concelhos do interior do país. Os fidalgos eram talvez os únicos que
colocavam a vida de D. Fernando acima dos interesses da Coroa, enquanto
as populações da maioria das vilas e cidades do reino manifestavam o seu
desinteresse por uma cidade que lhes representava custos e vidas humanas,
sem que tirassem proveito imediato da sua manutenção;
– Muitos outros fidalgos, sob a égide do ausente infante D. Henrique e
do conde de Arraiolos, e com o apoio tácito do próprio rei, entendiam que
Ceuta não podia ser entregue aos mouros e que tinha de se encontrar uma
outra forma de resgatar o infeliz D. Fernando. Este partido contava com o
apoio quase unânime dos eclesiásticos, pois parecia‑lhes impensável entre‑
gar voluntariamente uma cidade cristã aos infiéis. Nada se podia fazer sem
a autorização do papa, o que significava um adiamento e um bloqueio da
decisão régia. Várias vozes do povo juntavam‑se nesta opinião: por um lado,
os concelhos algarvios, que eram beneficiários directos do domínio de Ceuta,
pois os assaltos mouros à costa haviam diminuído e a liberdade para pescar
aumentara; por outro, os concelhos de Lisboa e do Porto, ligados ao grande
comércio internacional da Cristandade que tanto beneficiara da existência
de um porto cristão no estreito de Gibraltar.
Perdido entre as suas próprias hesitações e as opiniões contraditórias dos
seus conselheiros, entre a memória da jornada gloriosa em que tomara Ceuta e
Hist-da-Expansao_4as.indd 44 24/Out/2014 17:16
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415‑1443) 45
ganhara a honra da cavalaria, e a lembrança do irmão abandonado, D. Duarte
foi incapaz de resolver o assunto e subitamente foi levado pela peste.
A morte do rei D. Duarte abriu uma nova crise política que se sobrepôs
à questão de Ceuta, pois o seu sucessor, el‑rei D. Afonso V, tinha apenas
6 anos e havia que se estabelecer uma regência. O monarca falecido deixou
em testamento que a governação devia ser exercida pela sua esposa, a rai‑
nha D. Leonor, mas os infantes de Avis opuseram‑se à vontade do irmão.
D. Pedro contou com o apoio dos infantes D. Henrique e D. João e lutou
contra a entrega da regência à princesa Trastâmara. D. Leonor era irmã dos
reis de Navarra e de Aragão e tinha outros dois irmãos permanentemente
envolvidos nas guerras intestinas de Castela. Os infantes de Avis receavam,
pois, que os tios maternos de D. Afonso V viessem para Portugal e quisessem
eles próprios dominar o reino de Portugal. Após uma longa crise política, o
infante D. Pedro assumiu a regência sozinho em 1440, com o apoio decisivo
de D. Henrique e da sua hoste.
Assim que ganhou a governação do reino, D. Pedro tentou resolver a
questão de Ceuta de acordo com a sua vontade e, logo em Abril de 1440,
enviou uma expedição chefiada por D. Fernando de Castro com a missão
de proceder à entrega da cidade africana e ao resgate do infante D. Fer‑
nando. A esquadra saiu de Lisboa, mas antes de chegar ao destino foi atacada
por uma armada genovesa e D. Fernando de Castro pereceu nos combates.
Génova era uma aliada secular de Portugal, e as próprias autoridades da
cidade foram incapazes, depois, de apresentar uma explicação lógica para o
incidente16, mas é certo que após este estranho acontecimento a devolução
de Ceuta não se realizou.
Em nosso entender, o ataque à armada do Castro resultou de uma cons‑
piração dos grandes mercadores do Mediterrâneo Ocidental que tinham,
evidentemente, associados em Lisboa e grandes interesses na conservação
de Ceuta. D. Pedro acabara de ser alçado à regência com o apoio de D. Hen‑
rique e do concelho de Lisboa e o incidente que foi fatal para D. Fernando
de Castro demonstrou‑lhe que o poder tem um preço; no entanto, quem o
pagou não foi D. Pedro, mas antes o seu desditoso irmão. De facto, o regente
cedeu perante o sucedido e desistiu da ideia de entregar Ceuta, deixando
D. Fernando definitivamente perdido nos calabouços de Fez até que a morte o
levou, a 5 de Junho de 1443. Confirmava‑se, assim, a verdadeira importância
de Ceuta, como «a chave do Mediterrâneo».
Hist-da-Expansao_4as.indd 45 24/Out/2014 17:16
3
A POSSE DO MAR OCEANO
(1422-1460)1
A intervenção em África e a ocupação dos arquipélagos adjacentes foram
movimentos expansionistas que se integravam, como vimos, na evolução
natural do reino português, desde as suas origens. Ceuta proporcionava olha‑
res simultâneos sobre o Mediterrâneo e sobre o reino de Fez e a posse das ilhas
alargava o país até aos confins do extremo ocidente. Embora se tratassem
de acções novas no contexto da História secular lusitana e representassem
mesmo uma certa novidade na evolução da Cristandade, este alargamento
das possessões da monarquia portuguesa inseria‑se dentro dos limites naturais
da civilização ocidental; avançando mar adentro até à Madeira e aos Açores,
os Portugueses estavam a atingir os limites do conhecido.
Entretanto, a Europa recuperava da crise profunda em que mergulhara
por meados do século xiv. O Velho Continente continuava dilacerado por
guerras infindáveis, as sequelas do Grande Cisma faziam‑se sentir, e os episco‑
pados e o papado caíam nas mãos das casas reinantes e dos grandes nobres e
magnates; entretanto, a Leste, os Otomanos avançavam invencíveis e a mou‑
rama mantinha a Cristandade separada dos mercados asiáticos e africanos.
No entanto, despontavam sinais de mudança aqui e ali. Os governantes
ganhavam autoridade e começavam a desenvolver estruturas burocráticas
organizadas, ao mesmo tempo que se divulgava o papel, o que facilitava a
emergência de sistemas administrativos complexos; as armas de fogo ganha‑
vam cada vez mais importância num mundo ainda submetido à lógica cava‑
leiresca e a guerra tornava‑se mais sofisticada e mais cara; nos Países Baixos,
no final do primeiro terço de Quatrocentos já se tornava habitual reproduzir
a realidade em pintura com perspectiva e os grandes começam a ser retrata‑
dos amiúde; o pensamento humanista ganhava força nas universidades e a
Hist-da-Expansao_4as.indd 46 24/Out/2014 17:16
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 47
sociedade europeia dava passos lentos mas seguros para a laicização. Viviam
‑se os anos fulgurantes e transformadores do Renascimento2.
Portugal foi um dos primeiros reinos europeus a desenvolver um processo
sistemático de centralização régia, que foi iniciado por D. João I e que foi
continuado persistentemente pelos monarcas da dinastia de Avis. Entalados
entre o mar e Castela, os Portugueses tinham no oceano um desafio suple‑
mentar e, sob o impulso do infante D. Henrique, enfrentaram o medo do
mar tenebroso e mudaram o curso da História, acelerando‑a e dando início
ao processo de globalização. Os Descobrimentos moldaram o país e deram
‑lhe uma nova dimensão, mas não foram apenas um episódio da História de
Portugal; na verdade, as Descobertas constituem um dos traços marcantes
da Modernidade que mudava lentamente a Europa.
A vontade do infante D. Henrique
O duque de Viseu era, como vimos, o maior defensor da continuação da
Cruzada em África. No parecer que escreveu em 1436 afirmava mesmo que
até no Evangelho se encontravam argumentos favoráveis à guerra santa.
Obstinado, sempre à espreita de uma oportunidade para voltar e enfren‑
tar o mouro, o infante era, contudo, um homem multifacetado. Duque
de Viseu e governador da Ordem de Cristo, senhor da Madeira, detentor de
monopólios como o da produção e venda de sabão e o da pesca do atum no
Algarve, administrava as terras dos seus senhorios e interessava‑se muito pela
sua dimensão económica. O sonho da cruzada e a sua vivência intensa do
Cristianismo não o impediam de dar também atenção aos negócios da sua
Casa e de estar sempre interessado em melhorá‑los e aumentá‑los. O infante
D. Henrique tinha uma personalidade sedutora e persuasiva; conciliador por
natureza, foi durante décadas o elo de ligação mais estável entre os diferentes
membros da família real.
Enquanto a Coroa se via bloqueada pela pressão castelhana e os seus
irmãos se entretinham com o poder e a riqueza que lhes havia sido dado
pelo pai, D. Henrique não se conformava, embora fosse, sem dúvida, o
mais poderoso. Ainda assim, queria mais – mais poder, mais riqueza e mais
conhecimento. Impedido de passar a Marrocos, congeminou alternativas
e resolveu tentar achar o célebre Preste João, um rei cristão que se cria
poderosíssimo e que se supunha existir a sul do Magrebe islâmico. Exis‑
tia, de facto, uma cristandade nas costas dos mouros, mas tratava‑se da
Etiópia, que era capaz de se defender das investidas dos muçulmanos, mas
que não era o aliado desejado pelos cristãos para a cruzada. O desconheci‑
mento espicaçou a curiosidade e, a partir de 1422, o infante D. Henrique
Hist-da-Expansao_4as.indd 47 24/Out/2014 17:16
48 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
começou a ordenar a alguns dos seus marinheiros que tentassem passar
o cabo Bojador.
Como vimos, este cabo representava o limite das terras conhecidas pelos
habitantes do Velho Mundo. Para lá ficava o mar tenebroso, habitado por
monstros e cuja água fervia. As lendas que hoje nos fazem sorrir eram tidas
como verdade certa há seis séculos, pelo que a ordem do infante correspondia
a uma viagem para a morte. Era coisa sem sentido, que gerou murmúrios de
estranheza entre a população, segundo João de Barros3. E as primeiras tripu‑
lações que receberam tal ordem não a tentaram cumprir, pois o medo impôs
a sua lei. D. Henrique, por sua vez, foi paciente. Ano após ano ordenava o
descobrimento e os seus homens foram‑se aproximando do cabo. Acabaram
por perceber que a água não aquecia e que os monstros não apareciam e,
em 1434, uma barca comandada por Gil Eanes passou o Bojador e os seus
homens regressaram sãos e salvos.
Nas últimas décadas, muitos autores discutiram acerca das razões que
levaram o infante D. Henrique a desencadear os Descobrimentos, tendo
muitas vezes tentado explicar a motivação do Navegador de uma forma
redutora buscando uma única causa, fosse de cariz económico, fosse reli‑
giosa. No entanto, o assunto foi bem resolvido por Gomes Eanes de Zurara
na sua Crónica da Guiné, pois o cronista indicou um feixe complexo de
razões para explicar a ideia henriquina, em que se contavam tanto o desejo
de enriquecer a Casa de Viseu, como o de buscar um aliado para a guerra
santa, como a curiosidade pelo que existia nessas paragens distantes e mis‑
teriosas e a vontade de alargar a Cristandade4. Em suma, um conjunto de
razões que se ajustam bem à personalidade versátil e complexa do infante
D. Henrique.
A passagem do Bojador representou, sem dúvida, o princípio de uma
era nova, pois jamais um acidente geográfico voltou a causar tanto medo
aos exploradores que foram desbravando o desconhecido. Esse é o mérito
extraordinário da viagem de Gil Eanes, que podemos considerar como uma
expedição revolucionária. Com efeito, o mito do mar tenebroso desfez‑se
no dia em que Gil Eanes regressou a Portugal e o sucesso daquele punhado
de homens repercutiu‑se por toda a Europa. E se coube a esses homens
a coragem de vencer o medo e o mérito de abrir novos caminhos para toda
a Cristandade, a verdade é que a sua aventura se realizou devido à pertinácia
de D. Henrique.
Como o leitor decerto compreenderá, a exploração do oceano pelos Euro‑
peus era uma inevitabilidade, mas, após séculos de hesitações e de receios,
foi D. Henrique quem abriu o caminho que transformou o oceano Atlân‑
tico de uma barreira intransponível no principal eixo de comunicação da
Humanidade. A existência de condições técnicas favoráveis, o crescimento
Hist-da-Expansao_4as.indd 48 24/Out/2014 17:16
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 49
e o bloqueio da Cristandade em geral, e de Portugal em particular, favore‑
ceram o espírito irrequieto de D. Henrique, mas este infante podia, afinal,
ter o mesmo temperamento que os seus irmãos e ter‑se contentado com as
inúmeras riquezas com que a Coroa o cumulou.
O episódio da passagem do Bojador, pelo seu significado extraordinário
na História Universal, é um bom exemplo da articulação inevitável entre os
fenómenos do tempo longo que moldam as sociedades e o papel crucial do
indivíduo cuja acção pessoal tem o poder de mudar o curso dos aconteci‑
mentos e de alterar o rumo da longa duração.
Em 1434, os Portugueses criaram uma dinâmica nova. Começava a era
dos Descobrimentos; Portugal mudou, e o Mundo também.
*
No século xx correram teses que defendiam o protagonismo do infante
D. Pedro como o verdadeiro inventor dos Descobrimentos5. Sem provas
objectivas, assentes apenas em preconceitos que elevavam as qualidades
intelectuais de D. Pedro aos píncaros e que negavam a valia de D. Henrique
e na existência de uma crónica perdida que teria sido redigida por Afonso
Cerveira, uma série de autores embarcou numa teoria da conspiração defen‑
dendo que a nossa memória colectiva fora alterada deliberadamente depois
da derrota do duque de Coimbra na Batalha de Alfarrobeira. A morte trágica
de D. Pedro nesse recontro envolveu‑o numa aura de simpatia que detur‑
pou até o seu próprio legado, confundindo‑o com um príncipe moderno e
centralizador, quando, afinal, o duque de Coimbra foi um regente que tudo
fez para enfeudar o jovem rei à sua Casa, e assim que perdeu o poder logo
foi pedir auxílio ao condestável de Castela, para tentar recuperar o mando
sobre o reino6.
D. Pedro foi um governante que ajudou a definir Portugal como uma
potência marítima, como veremos a seguir, mas não foi o responsável pelo
desencadear dos Descobrimentos. Aliás, toda a documentação do segundo
quartel quatrocentista, incluindo a que foi assinada pelo próprio D. Pedro,
testemunha‑nos que as navegações «por mares nunca dantes navegados»
resultaram do espírito pertinaz do infante D. Henrique, como é o caso da
carta de doação do exclusivo da navegação a sul do Bojador, assinada pelo
regente, a 22 de Outubro de 14437. Quanto a Afonso Cerveira, o cronista
que o próprio Zurara cita como tendo sido o primeiro a coligir a informa‑
ção para a Crónica da Guiné, tratava‑se de um secretário de D. Henrique,
que redigiu documentos assinados pelo infante, por exemplo, em 14488. Por
desinteligências com o duque de Viseu ou por ter ficado incapaz, ou mesmo ter
falecido, Cerveira foi substituído por Zurara na tarefa de compor a crónica,
Hist-da-Expansao_4as.indd 49 24/Out/2014 17:16
50 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
mas não há nenhum indício credível de que esse texto inicial seria um relato
de feitos patrocinados pelo infante D. Pedro.
Da barca à caravela9
A navegação europeia, quer no Mediterrâneo, quer no Atlântico, era
feita quase sempre à vista de costa e com muitas escalas. Embora existissem
navios de carga relativamente grandes, a exploração da costa africana e do
mar oceano tinha de ser feita por embarcações ligeiras. Gil Eanes passou o
Bojador a bordo de uma barca. Tratava‑se de um navio pequeno apenas com
uma coberta, sem estruturas relevantes à proa e à popa, e que dispunha de um
mastro com uma vela quadrada. Apropriado para a navegação costeira em
águas de ventos variáveis, cedo se revelou pouco adequado para as viagens
ordenadas pelo infante D. Henrique.
Com efeito, por alturas do Bojador sopravam os ventos alísios correndo
para sul durante todo o ano, o que dificultava a torna‑viagem. Não tendo
encontrado nem o Preste João nem as fontes do ouro da Guiné, os navega‑
dores portugueses começaram por caçar lobos‑marinhos, cuja gordura era
particularmente interessante para o infante que detinha o monopólio das
saboarias. O navio tinha, pois, de ter capacidade para carregar mercadorias,
e com o avanço para sul tinha de transportar mais víveres. Além disso, o
regresso ao reino só era possível bolinando, ou seja, navegando contra a
direcção do vento, o que exigia um outro tipo de velame, bem como um casco
mais resistente para a navegação no mar alto. Nos anos de 1435 e 1436, os
marinheiros da Casa de Viseu voltaram a passar o Bojador, mas depois as
viagens foram interrompidas.
D. Henrique envolveu‑se então nos preparativos da empresa de Tânger,
mas não descurou a nova frente de expansão. Enquanto encabeçava a hoste
real em África, alguns dos seus oficiais trabalhavam na Flandres, juntamente
com artesãos dos Países Baixos10. Esta região fazia parte dos domínios do
duque da Borgonha, que era casado com a infanta D. Isabel de Portugal.
Com o apoio da irmã, D. Henrique buscava a construção de um novo pro‑
tótipo que se adequasse melhor às condições difíceis do mar oceano e aos
interesses comerciais que estavam subjacentes às viagens. Depois de várias
experiências nos canais entre Bruxelas e Antuérpia e de algumas viagens
pelo mar do Norte, surgiu a caravela. Na verdade, já existiam embarcações
com este nome, mas a que agora sulcava os mares era diferente: tinha dois
ou três mastros equipados com velas triangulares próprias para a bolina,
tinha uma arqueação maior capaz de transportar mais mercadorias e mais
homens, dispunha de um castelo de popa que podia abrigar os membros
Hist-da-Expansao_4as.indd 50 24/Out/2014 17:16
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 51
mais proeminentes da tripulação. Conjugando a versatilidade da vela trian‑
gular com a experiência dos mareantes do Norte da Europa, a Casa de
Viseu criava o navio que seria responsável pela exploração sistemática do
oceano Atlântico.
D. Henrique raramente teve pouso certo. Estanciou predominantemente
em Viseu na segunda década quatrocentista, preferiu Tomar depois de se
tornar governador da Ordem de Cristo, seguiu amiúde a itinerância da corte,
durante o reinado de D. Duarte e no início da regência de D. Pedro, para
depois começar a procurar cada vez mais o Algarve, a partir de 1443. Esta sua
vida errática não impediu que criasse uma base para o controlo das viagens
de descobrimento, que se localizava em Lagos. Foi daí que zarpou Gil Eanes,
e a documentação coeva mostra claramente que esta vila foi o centro das acti‑
vidades náuticas da Casa de Viseu. O modo como as navegações henriquinas
deixaram de ser feitas por barcas e barinéis e passaram a ser realizadas pelas
novas caravelas é um bom exemplo dos cuidados com que o infante tratava
da expansão marítima. Os problemas criados pela Natureza eram analisados
e buscavam‑se soluções com o recurso aos melhores especialistas que podiam
ser recrutados pela Cristandade.
Não há muitos documentos desses anos que nos mostrem com rigor quais
foram os especialistas que serviram o infante, e as crónicas cedo envolve‑
ram a figura de D. Henrique num discurso lendário pouco rigoroso. Ainda
assim, é certo que Lagos foi o centro dos negócios ultramarinos do duque de
Viseu e que foi o ponto de partida da maior parte dos navios henriquinos,
e terá sido aí que carpinteiros, pilotos, cartógrafos, mestres e outros oficiais
conjugaram esforços para o sucesso da empresa. Como é sabido, a tradição
logo lançada pelos cronistas quinhentistas localizou a base principal dos
Descobrimentos em Sagres, mas não foi assim. A lenda da Escola de Sagres
perdura ainda hoje, embora seja destituída de fundamento. Basta notar que
o promontório de Sagres era um ermo até 1443, e que D. Henrique só come‑
çou a edificar o seu paço aí nos anos seguintes. O documento mais antigo
assinado em Sagres data de 1 de Novembro de 1446, doze anos depois da
viagem pioneira de Gil Eanes e 24 anos depois de o infante ter começado a
tentar vencer o Bojador.
D. Henrique afeiçoou‑se a Sagres e passou aí os últimos dias da sua vida,
num complexo a que ele chamava «a minha vila», onde recebeu D. Afonso V,
em 1458, aquando da expedição que foi conquistar Alcácer Ceguer.
No entanto, pouco mais existia aí, em 1460, do que o solar do infante e
algumas estruturas de apoio e de defesa; além disso, não se formara aí uma
povoação, e não estavam aí nem a feitoria nem os estaleiros. A ligação final do
infante a Sagres confundiu os cronistas e deu azo à lenda, mas todos os dados
disponíveis mostram‑nos que o centro nevrálgico da empresa henriquina foi
Hist-da-Expansao_4as.indd 51 24/Out/2014 17:16
52 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
sempre Lagos, onde, aliás, o seu corpo foi sepultado antes da trasladação
para o Mosteiro da Batalha.
Inicialmente, as viagens de descobrimento foram levadas a cabo apenas
por membros da Casa de Viseu. O comando das caravelas coube sempre a
membros da pequena nobreza ligados ao ducado ou à Ordem de Cristo,
fossem escudeiros ou cavaleiros11. Quando as expedições recomeçaram, em
1441, as tripulações incluíam vários nobres e o ambiente a bordo era seme‑
lhante ao de uma cruzada. Buscavam‑se localidades junto à costa, habitadas
por muçulmanos, que se tornavam, por isso, em alvos legítimos para o assalto
em que os principais tentavam ganhar a honra pelas armas. Os cativos então
obtidos, bem como o saque, eram tidos como presas de guerra justa. A venda
dos prisioneiros, reduzidos à escravidão, e dos bens tomados reforçou de
imediato a dimensão económica da empresa, e fez crescer o interesse pelas
navegações. Em Agosto de 1443 um carregamento de 250 cativos foi desem‑
barcado em Lagos e D. Henrique presidiu à sua venda, depois de recolher o
quinto que lhe cabia12. Logo correu fama dos ganhos avultados que se podiam
fazer, pelo que o duque de Viseu e a Coroa perceberam que urgia regular o
acesso às águas a sul do Bojador.
Dou, logo possuo
A exploração da costa ocidental africana e a abertura das novas rotas de
navegação resultaram, como vimos, da vontade pessoal do infante D. Hen‑
rique. A Casa de Viseu e a Ordem de Cristo, já detentoras do arquipélago
madeirense, estendiam a sua influência para regiões que não estavam sob
a alçada de nenhum poder da Cristandade. Este movimento expansionista
não era tutelado nem por uma monarquia nem pela Igreja e os mareantes
e o seu mandante não tinham nenhum direito especial sobre as águas e as
terras que desbravavam. Ao contrário das expedições militares contra os
mouros, a Coroa portuguesa não interveio relativamente às primeiras viagens
henriquinas.
A matança de lobos‑marinhos e o reconhecimento de uma orla costeira
árida, que não despertaram muito interesse no reino, e a falta inicial de um
navio adequado foram factores que contribuíram decerto para o alheamento,
tanto da Coroa como das demais casas nobres e dos mercadores de grosso
trato. A partir de 1441 tudo começou a alterar‑se rapidamente: as caravelas
criaram uma nova dinâmica na navegação e na expectativa de um avanço
rápido mais para sul, e a captura de muçulmanos e os primeiros sinais de ouro
despertaram a atenção de outros agentes privados, a começar pelos moradores
de Lagos. O sucesso da operação de 1443 deixou claro que era preciso regular
Hist-da-Expansao_4as.indd 52 24/Out/2014 17:16
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 53
o acesso e o controlo das terras recém‑descobertas. Na verdade, o infante
D. Henrique não tinha autoridade para impedir que outros navegadores
demandassem o Sul, pois não tinha nenhum direito sobre as águas para lá do
Bojador, mas estava desejoso de poder beneficiar em regime de exclusividade
das benesses económicas que as navegações começavam a proporcionar.
Nesta altura, as novidades foram logo propagandeadas pela Europa,
particularmente em Itália, pois em 1442 D. Henrique anunciou ao papa que
esperava reatar rapidamente a guerra em África, e a 8 de Janeiro de 1443
Eugénio IV promulgou o breve Etsi suscepti, pelo qual confiava à Ordem
de Cristo a tutela espiritual das terras a sul do Bojador13. Foi o primeiro
documento emitido por um poder da Cristandade relacionado com os Des‑
cobrimentos. No entanto, o sucesso das caravelas gerava apetites noutros
agentes económicos e políticos; em Castela, e particularmente na Andaluzia,
desejava‑se seguir os Portugueses e buscavam‑se argumentos para defender os
direitos castelhanos sobre aquelas águas, e mesmo em Portugal havia quem
quisesse ir por conta própria até região tão promissora.
D. Henrique foi sempre um barão pragmático, salvo quando empunhou
a espada contra os mouros, pelo que percebeu que só acautelaria os seus
interesses se permitisse a intervenção de um poder acima de si. Principal con‑
selheiro de D. Duarte, tornara‑se no esteio da regência de D. Pedro desde que
o Eloquente falecera; na década de 40 do século xv, D. Pedro e D. Henrique
apoiaram‑se mutuamente até à rebeldia do duque de Coimbra14, e em 1443
ambos tiraram partido da nova situação. Assim, a 22 de Outubro de 1443, a
Coroa de Portugal, pelas mãos do regente, concedeu ao infante D. Henrique
o exclusivo da navegação e do comércio a sul do Bojador, a título vitalício.
O duque de Viseu passava a estar protegido pela monarquia na explora‑
ção do mar oceano; podia continuar a enviar os seus navios, agora sob
uma autoridade superior que o impunha aos outros agentes que desejassem
demandar a Guiné, e que só o podiam fazer com a sua autorização e desde
que lhe pagassem.
No entanto, esta doação de 1443 tinha um significado muito mais
profundo, pois configurava simultaneamente um acto de posse da Coroa
portuguesa sobre o mar oceano. Ao dar a sua exploração em regime de
exclusividade a um seu súbdito, a monarquia lusa assumia perante a Cris‑
tandade a sua vontade de se assenhorear desta região que escapara até
então à jurisdição dos príncipes cristãos. Na verdade, a ordem régia não
respeitava apenas aos mercadores portugueses, mas destinava‑se a todos os
navegantes e foi com base nesta autorização que nos anos seguintes cara‑
velas de D. Henrique e da própria Coroa perseguiram e capturaram navios
estrangeiros, nomeadamente castelhanos, que ousaram desafiar o monopólio
e que se aventuraram por águas a sul do Bojador. Além disso, ao conceder
Hist-da-Expansao_4as.indd 53 24/Out/2014 17:16
54 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
o exclusivo ao duque de Viseu a título vitalício, a Coroa estava igualmente
a preparar‑se para assumir o controlo directo dos Descobrimentos assim
que o infante falecesse, o que viria a suceder 17 anos mais tarde, a 13 de
Novembro de 1460.
Assim, através desta doação, a Coroa portuguesa tomou posse do Atlân‑
tico e encarou o grande oceano como um mare nostrum quase até final da
centúria quatrocentista.
A exploração da costa africana
Como referimos, as primeiras viagens foram organizadas por escudeiros e
cavaleiros da Casa de Viseu e da Ordem de Cristo que ambicionavam, sobre‑
tudo, mostrar as suas capacidades guerreiras ao seu senhor. O contacto com
as populações costeiras era marcado pela violência dentro da lógica de cru‑
zada e no rescaldo de alguns combates houve quem fosse armado cavaleiro.
A riqueza dos esbulhos e a crescente possibilidade de passar da rapina para
as trocas fez crescer o interesse dos Portugueses pelas águas a sul do Bojador.
As características da costa africana mudaram entretanto, com a chegada
à foz do rio Senegal, em 1444. Até então, os navegadores andavam ao largo
da costa saariana, inóspita e pouco habitada, pelo que as caravelas progre‑
diram rapidamente para sul. Depois, porém, tudo se alterou: o deserto deu
lugar à savana e à floresta habitadas por inúmeras comunidades humanas.
A região era rica e as populações belicosas; os primeiros assaltos contra os
negros redundaram em fracassos, com a morte de muitos portugueses, sur‑
preendidos por emboscadas, incapazes de perscrutar o interior da vegetação
e deparando‑se com homens de maior compleição física e aguerridos, que
contrastavam muito com as populações desamparadas da costa saariana.
Ao mesmo tempo, sucederam os primeiros contactos pacíficos que possibi‑
litaram o início do comércio.
Ouro e escravos, a par de objectos exóticos, passaram a encher os porões
das caravelas na torna‑viagem, sendo obtidos a troco de produtos baratos:
inicialmente mantas e tecidos obtidos em África, depois cavalos e, mais
para sul, quinquilharia. Do lado português tratava‑se de um negócio muito
lucrativo, pois os produtos vendidos eram de custo baixo e as mercadorias
africanas tinham um valor elevado na Cristandade. Importa notar, contudo,
que os negros tinham exactamente a mesma opinião sobre o negócio, pois
também eles davam àqueles estranhos visitantes coisas pouco valiosas (o ouro
não tinha valor entre eles e os cativos eram um despojo de guerra facilmente
renovável) em troca de objectos ou de animais inexistentes ou raros e que,
por isso, eram de grande valia, dando prestígio a quem os possuía.
Hist-da-Expansao_4as.indd 54 24/Out/2014 17:16
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 55
O mercado africano não era monetarizado, pelo que os negócios eram
realizados por troca directa, mas o jogo das trocas estava sujeito às regras da
oferta e da procura, tal e qual como no sistema capitalista emergente em que
Portugal se integrava. Com efeito, os preços das mercadorias foram sempre
controlados pelos negros, pelo que a partir de meados de Quatrocentos o
valor das mercadorias levadas pelas caravelas foi baixando sistematicamente.
Por volta de 1450 um cavalo podia ser trocado por 15 cativos, e no final
da centúria dificilmente valia mais que três ou quatro. Ao deixar de ser um
produto raro, o cavalo perdeu valor rapidamente enquanto a capacidade do
mercado europeu (e depois do colonial) para absorver a oferta de escravos
persistiu, pelo que os negros perceberam que os podiam vender por um valor
menor do que o inicial, tendo em conta que a procura era estável e tendia
a crescer.
Assim, embora na longa duração o negócio euro‑africano levado a cabo
pelos Portugueses tenha sido particularmente vantajoso para a Europa, sobre‑
tudo pela aquisição do ouro a baixo custo, naquele tempo foi uma fonte de
enriquecimento e de ganho de poder tanto para os mercadores portugueses
e para a Coroa lusa como para os chefes africanos seus interlocutores15.
Aliás, a documentação coeva deixa bem claro que só havia negócio com as
populações que estavam disponíveis para se relacionar com as tripulações das
caravelas. Nada foi imposto à força pelos Europeus naquela época. Na ver‑
dade, os Portugueses não tinham capacidade para dominar as multidões com
que negociavam e só dispunham de escravos negros porque estes lhes eram
fornecidos pelos seus próprios captores.
Sempre pragmático, o infante D. Henrique cedo compreendeu a situação e
em 1448 deu ordens para que acabassem os assaltos às populações africanas
e determinou que se reduzisse o relacionamento com os negros ao comércio
pacífico. Não tendo sido achado o Preste João, os Descobrimentos ganhavam
uma dimensão essencialmente comercial, embora o discurso político pudesse
sempre evocar que as navegações estavam a contribuir para a dilatação da
Cristandade. O alargamento não era verdadeiramente territorial, pois não
houve conquistas a sul do Bojador, mas havia um novo canal de comunica‑
ção entre os cristãos e populações gentias superficialmente islamizadas ou
completamente desligadas do Al‑Corão, e o cronista pôde ainda invocar que
os cativos desembarcados em Portugal acabavam por se converter ao Cris‑
tianismo16. No entanto, as caravelas não levavam ainda missionários para a
Guiné, mas apenas mercadores.
O fim dos combates levou Gomes Eanes de Zurara a interromper a sua
Crónica da Guiné, pelo facto de já não ter feitos honrosos para relatar, pelo
que o período correspondente aos últimos 12 anos de vida de D. Henrique
está menos documentado. Dispomos, porém, de uma fonte preciosa que
Hist-da-Expansao_4as.indd 55 24/Out/2014 17:17
56 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
serve de ilustração para toda esta fase das Descobertas. Trata‑se do relato
de Alvise Cadamosto, um mercador veneziano, que foi à Guiné em 1455 e
em 1456 em associação com o duque de Viseu. Anos mais tarde, Cadamosto
recordou as suas viagens numa narrativa viva e muito descritiva que enviou
às autoridades da Senhoria em 1464. O seu texto pode ser visto como o guião
de um filme e nele estão explicadas as principais características das viagens
henriquinas nesses anos17.
Comerciante ligado aos negócios entre o Mediterrâneo e o Atlântico
Norte, Cadamosto foi convidado por D. Henrique a ir experimentar a Guiné
numa parceria comercial com a Casa de Viseu. O veneziano aceitou e fez duas
viagens. Repete muitas das informações dadas por Zurara, com a vantagem de
serem escritas, neste caso, por um protagonista das navegações, que escrevia
sem as preocupações e as obrigações de um cronista. Cadamosto reafirma a
grande surpresa causada nos negros pela aparição de navios de grande porte
nas suas praias, a dimensão exclusivamente pacífica das viagens, em que
mesmo a resposta aos ataques dos indígenas era contida, os lucros enormes
que se podiam obter pela articulação de dois mercados regionais que não
comunicavam directamente entre si, a curiosidade dos negros pelos homens
recém‑chegados, o desejo dos próprios mercadores em tentar atrair os seus
interlocutores negros, especialmente os chefes, para a religião cristã, e a con‑
tinuação da exploração sistemática da costa africana cada vez mais para sul.
O testemunho do veneziano, quando recorda que os negros «tocavam
‑me nas mãos e nos braços [e] com cuspo esfregavam‑me, para ver se a
minha brancura era tinta ou carne; e vendo que era carne branca ficavam
em admiração», é um dos melhores exemplos da dimensão revolucionária
dos Descobrimentos. Este choque perante a existência de raças e civilizações
muito distintas repetir‑se‑ia vezes sem conta nos encontros ocorridos nas mais
desvairadas partes do Mundo, e muitos anos depois, em 1581, seria a vez
de um senhor da guerra japonês pedir que um negro se despisse da cintura
para cima para se certificar igualmente de que a cor da pele do escravo era
natural em vez de pintada18.
A progressão dos Descobrimentos na década de 50 foi mais lenta do que
na anterior, o que se justifica pela diferença substancial das características
da orla costeira africana. À rápida progressão ao longo da costa do deserto
sucedeu o desbravamento de um litoral que oferecia uma miríade de mer‑
cados novos que tinham de ser avaliados um a um; além disso, a região era
habitada por dezenas de etnias diferentes, cada uma com a sua língua, e não
convinha ir mais além enquanto não soubessem comunicar com as popula‑
ções recém‑descobertas. Em nosso entender, o que é notável nestes anos é o
facto de o avanço para sul ter continuado paulatinamente, o que decorria
da esperança de se encontrar mercados ainda mais promissores e da vontade
Hist-da-Expansao_4as.indd 56 24/Out/2014 17:17
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 57
do infante D. Henrique em conhecer (e dominar) cada vez mais. Por certo
o infante nunca perdeu a esperança de encontrar o aliado militar que tanto
desejava para a guerra santa e no final da sua vida talvez tenha sonhado com
a Índia. A circum‑navegação da Guiné começou a ser admitida como uma
possibilidade e os mercados das especiarias seduziam há muito os Europeus.
Sintomaticamente, nesses anos 50, o célebre cartógrafo Fra Mauro produ‑
ziu vários mapas em que juntava pela primeira vez a informação disponível
sobre os mercados do Oriente com os resultados dos Descobrimentos henri‑
quinos. Esses mapas são um testemunho das expectativas então existentes e
da crença que se foi formando de que a exploração do mar oceano poderia
levar os Portugueses até aos mares da Índia19.
Foi o movimento sistemático para sul que levou ao achamento das ilhas de
Cabo Verde no final da década de 5020. A navegação para sul fazia‑se ao longo
da costa, mas o regresso realizava‑se pelo mar alto, buscando os Açores para
aí encontrar os ventos favoráveis de oeste que empurravam as caravelas para o
reino. Isto significa que nos anos 30‑40, além de ter criado o tipo de navio
adequado à exploração do oceano, a Casa de Viseu também criou condições
para que a navegação fosse mais segura e capaz de sulcar o interior do mar,
com as tripulações a navegarem semanas sem avistarem terra. A utilização
do quadrante como instrumento de medição da latitude, através da altura
da estrela polar, foi a principal inovação, ao mesmo tempo que também era
aperfeiçoada a cartografia21. Não nos chegaram às mãos muitos mapas deste
tempo, o que se justifica sobretudo pelo seu carácter prático e experimental.
O avistamento das ilhas de Cabo Verde é um sinal do avanço contínuo das
caravelas para sul, pois só com a chegada à costa da Serra Leoa é que a torna
‑viagem levou a cruzar as águas desse arquipélago que se situa à latitude do
cabo Verde, acidente costeiro que tinha sido descoberto por volta de 1444.
Em 1448, D. Afonso V assumiu a governação do reino e logo confirmou
os privilégios que a Coroa outorgara ao duque de Viseu. No entanto, apesar
de o seu tio manter o exclusivo da navegação a sul do Bojador e o respectivo
comércio, sabemos que o monarca enviou navios à Guiné nos anos 50. Por
certo estava a avaliar directamente o potencial da região e a preparar‑se para
tomar conta dos Descobrimentos, assim que o infante D. Henrique fechasse
os olhos22.
*
Enquanto prosseguia a exploração do mar oceano, a Casa de Viseu reali‑
zava simultaneamente a ocupação dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.
O povoamento da ilha de São Miguel contou com o empenho pessoal do
regente D. Pedro, que determinou mesmo que as penas de degredo fossem
Hist-da-Expansao_4as.indd 57 24/Out/2014 17:17
58 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
executadas naquela ilha como forma de acelerar a sua ocupação. A posse
das ilhas era crucial para o sucesso das navegações e nos anos 40 já se sabia
que os Açores eram uma peça fundamental nas rotas oceânicas, pelo que o
seu domínio se tornou ainda mais premente.
O povoamento dos espaços insulares possibilitou a ascensão social de
membros da baixa nobreza que se tornaram nos notáveis locais, e deu azo
ao florescimento de novas áreas produtoras de bens comerciais. A Madeira
começou por produzir trigo em abundância, beneficiando da virgindade
dos terrenos para a prática agrícola, mas no início dos anos 50 começou a
ser experimentado aí o cultivo da cana‑de‑açúcar por iniciativa do infante
D. Henrique. O sucesso desta operação viria a tornar a ilha num território
rico muito rapidamente e faria a fortuna da Casa de Viseu nas décadas
seguintes. Os Açores, entretanto, especializaram‑se na produção de cereal, a
que se acrescentou depois o cultivo do pastel, uma planta tintureira muito
procurada pelos mercados do Norte da Europa.
A ocupação das ilhas da Madeira e do Porto Santo parece ter sido rela‑
tivamente fácil, no que respeita à capacidade de recrutamento de gente dis‑
posta a trocar a segurança do reino por um espaço desconhecido e selvagem.
O mesmo não sucedeu com os Açores: ilhas mais distantes, demoraram
décadas até serem todas povoadas e beneficiaram da vinda de centenas ou
milhares de flamengos. Como referimos, Portugal tinha relações privilegia‑
das com a Borgonha, pelo que D. Henrique e D. Pedro terão beneficiado
da ajuda da sua irmã no recrutamento de voluntários para a ocupação das
ilhas açorianas. Em 1450, D. Henrique outorgou a carta de capitania da ilha
Terceira a um flamengo, chamado Jácome de Bruges, e outros seguiram‑no,
tendo‑se tornado proprietários ou até capitães de outras ilhas, como os Dutra,
que ganharam a capitania do Faial e do Pico.
As ilhas foram, pois, de grande valia estratégica para o reino e uma mais
‑valia económica para a Casa de Viseu desde os primórdios da Expansão
Ultramarina. Por meados do século xv, a economia do reino já beneficiava
grandemente das navegações e da conquista: o Algarve e os mercadores de
longo curso tiravam partido da posse de Ceuta, a exploração da costa africana
permitia a introdução nos mercados da Cristandade, por via de Portugal,
de produtos raros obtidos até então apenas pela intermediação dos muçul‑
manos e as ilhas produziam bens de que todo o país carecia e começavam a
experimentar culturas de exportação. A exiguidade do território continental
encontrava compensações e complementaridades no mar e a Coroa pressen‑
tia já que se aproximavam tempos de riqueza, que por então engrandeciam
especialmente a Casa de Viseu.
Hist-da-Expansao_4as.indd 58 24/Out/2014 17:17
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 59
A bula Romanus pontifex
Aventura de um senhor privado transformada em empresa de um reino,
as navegações dos Portugueses abriram as portas do Mundo à Cristandade.
Como vimos, os Flamengos cedo colaboraram no processo, pois contribuíram
para a produção do protótipo da caravela, ajudaram a povoar os Açores,
usaram logo nos anos 40 o teixo da Madeira para a produção de arcos de
guerra23 e cedo entraram no negócio dos produtos insulares, nomeadamente
o do açúcar e o do pastel. Os Castelhanos, pelo contrário, foram comple‑
tamente arredados do processo e tentaram concorrer com os navegadores
portugueses pelo domínio das águas do Sul, mas foram derrotados sucessi‑
vamente. O rei João II, que não conseguira afastar os Portugueses de Ceuta,
também se opunha à apropriação do mar oceano pelo reino vizinho e nunca
deixou de protestar contra as operações militares com que Portugal defendia
o seu novo monopólio; no entanto, a Guiné ainda não valia uma guerra e
a instabilidade política que perturbava a cena política castelhana impedia
o monarca de tomar medidas de força contra o reino vizinho; ainda assim,
a diplomacia de João II conseguiu adiar o reconhecimento internacional da
hegemonia lusa sobre as águas a sul do Bojador.
A riqueza do trato oceânico cresceu de tal forma que em 1460 o infante
D. Fernando, irmão de D. Afonso V e 2.º duque de Viseu, invocava a pirataria
francesa como uma ameaça grave no contexto da geoestratégia da Coroa
portuguesa24.
De um modo geral, a elite europeia tomou conhecimento muito depressa
da grande novidade decorrente da passagem do cabo Bojador. O colapso da
lenda do mar tenebroso espalhou‑se por toda a Cristandade em ondas de
choque que tocaram zonas tão distantes como a Escandinávia e que logo
impressionaram a Cúria Romana. Em 1447, Valarte, um dinamarquês, chegou
a Lisboa desejoso de ir ver a Guiné, e teve a permissão de D. Henrique, mas
morreu num acidente. O aparecimento deste homem em Portugal significa que
pelo menos um ano antes já corria pela Dinamarca a notícia de que um povo
da Cristandade abrira uma saída para a civilização que estava cercada pelos
mouros e pelo mar. Ou seja, assim que as navegações saíram do núcleo restrito
da Casa de Viseu e que os negócios ultramarinos cresceram e se alargaram a
Lisboa, logo a importância da novidade foi percebida por muitos europeus.
A revolução geográfica alastrava‑se timoratamente, mas começava a rasgar
o horizonte e a mudar a concepção do Mundo na mente dos ocidentais.
Tanto a Casa de Viseu como a Coroa portuguesa propagandearam os
feitos dos seus navegadores em Itália e, principalmente, junto da Santa Sé.
Ao contrário do que sucederia anos mais tarde, como veremos adiante,
nesta altura os Portugueses sentiam necessidade de anunciar os resultados
Hist-da-Expansao_4as.indd 59 24/Out/2014 17:17
60 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
da sua aventura pelo mar oceano. Na verdade, nesta ocasião nenhuma outra
potência europeia tinha meios técnicos capazes de prejudicar a navegação
lusa; a principal fonte de preocupação do infante e do rei eram os próprios
portugueses – os homens que estavam a par das novas práticas do mar e que
desejavam ludibriar o monopólio da Coroa para obter ganhos chorudos
numa única viagem.
Os ecos de mudanças tão extraordinárias, e da existência de uma reali‑
dade impensável até então, fascinaram vários humanistas, entre eles Poggio
Bracciolini, que escreveu uma carta de elogio ao infante D. Henrique, em data
incerta, no ano de 1448 ou 1449. Nessa missiva o antigo secretário de papas
elogiava o duque de Viseu precisamente pelo facto de ter provocado uma
dinâmica nova e de ter alcançado terras que os heróis da Antiguidade nunca
haviam atingido. Ou seja, já em meados do século xv um autor entendia
que a gesta dos Portugueses se sobrepunha aos feitos de Gregos e de Roma‑
nos, tema que seria recuperado amiúde nas décadas seguintes. Poucos anos
depois, como referimos, agentes da Coroa de Portugal e da Casa de Viseu
conseguiram que Fra Mauro, um dos cartógrafos mais conceituados do seu
tempo, introduzisse referências geográficas oriundas dos Descobrimentos
aos mapas‑mundo que desenhava. Ainda não era tempo de ocultar as terras
recém‑achadas, mas antes de as divulgar, tal como D. Henrique também fez
quando atraiu alguns mercadores italianos para as águas da Guiné.
A divulgação e glorificação dos feitos das caravelas tinha um objectivo
especial, que foi alcançado, finalmente, a 8 de Janeiro de 1455. Desde 1443,
os Portugueses tinham tomado para si as águas a sul do Bojador e atacavam
todos os que passavam o cabo sem a autorização do infante. Era uma atitude
baseada apenas na superioridade náutica e militar que tinham nessa região,
que beneficiava do facto de a Cristandade ter sido apanhada de surpresa pela
novidade e da ausência de acordos internacionais sobre essa região. Embora
fossem capazes de preservar o exclusivo, o rei e o duque queriam obter o
reconhecimento internacional da soberania proclamada unilateralmente.
A solução natural era obter uma concessão assinada pela maior autoridade
da Cristandade, o papa. Desde os anos 40 que os méritos dos Descobrimentos
eram proclamados na Cúria Pontifícia, mas só a 8 de Janeiro de 1455 é que
o papa Nicolau V promulgou a bula Romanus pontifex, em que reconhecia
à Coroa portuguesa e ao infante D. Henrique o exclusivo da navegação para
lá do cabo Bojador25. A Santa Sé como que ratificava, assim, a carta emitida
pelo infante D. Pedro a 22 de Outubro de 1443.
A data da emissão do documento pontifício é particularmente significativa
da evolução das relações luso‑castelhanas ao longo da centúria quatrocen‑
tista. Como vimos, o rei João II opôs‑se persistentemente à emergência de
um Portugal transpeninsular, e, embora tenha sido incapaz de afastar o reino
Hist-da-Expansao_4as.indd 60 24/Out/2014 17:17
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460) 61
vizinho de África e de lhe fazer frente no mar oceano, teve força suficiente
para impedir que a Santa Sé consagrasse os Descobrimentos portugueses.
O monarca castelhano faleceu a 20 de Julho de 1454 e bastaram cinco meses e
meio para que Roma cedesse, finalmente, aos desejos da Coroa lusa. No trono
de Castela estava agora Henrique IV, que no mês de Maio seguinte se casa‑
ria com a infanta D. Joana, irmã de D. Afonso V, e que seria um soberano
politicamente frágil, sempre necessitado do apoio do cunhado. Durante os
vinte anos do reinado de Henrique IV, Portugal pôde avançar pelo mar sem
oposição e fortalecer a sua posição no oceano, e logo no primeiro semestre
da governação henriquina obteve a bula que João II sempre evitara.
Depois, todos os papas que sucederam a Nicolau V, na segunda metade do
século xv, emitiram nova bula no início dos seus pontificados confirmando
a Romanus pontifex26. Era, pois, a própria Santa Sé que admitia que o mar
oceano era um mare nostrum dos Portugueses.
Hist-da-Expansao_4as.indd 61 24/Out/2014 17:17
4
A AFIRMAÇÃO DE UMA
POTÊNCIA MARÍTIMA
(1455‑1494)1
E ntre 1455 e 1494, Portugal foi a grande potência do Atlântico; a super‑
fície das águas sob seu controlo foi crescendo desmesuradamente sem
que outra monarquia desafiasse o senhorio até que a força de um indivíduo,
apoiada pela perspicácia de uma rainha, forçou a Coroa lusa a partilhar o
mar oceano com Castela. Ainda assim, depois de 1494, o reino de Portugal
continuava a ser a grande potência hegemónica do Atlântico e foi o grande
dominador do Atlântico Sul durante quase todo o século xvi. Esse poder
foi forjado nesta segunda metade de Quatrocentos devido a uma política
persistente e consistente dos dois soberanos que se sentaram então no trono
de Portugal, D. Afonso V e D. João II.
Sob a sua égide, cresceu a influência lusa em África, consolidou‑se e
alargou‑se o domínio das ilhas atlânticas, descobriu‑se e controlou‑se o acesso
a uma fonte de ouro por então inesgotável e prosseguiu a exploração da costa
ocidental africana até se encontrar a passagem para as águas do Oriente e
se vislumbrar a Índia das especiarias. Tratou‑se de um projecto que só se
compreende cabalmente se o entendermos como a obra harmoniosa de pai e
filho, ambos irmanados no desejo de afirmar Portugal em Marrocos e no mar.
O Algarve d’Além‑Mar
A morte precoce de D. Duarte colocou no trono um menino de 6 anos,
e o novo rei logo se viu envolto pelas discórdias familiares que opuseram
os seus tios à mãe e ao duque de Bragança e que o levaram a separar‑se
definitivamente da progenitora numa noite invernosa, decerto inesquecível2.
Tutelado por D. Pedro, foi ouvindo os ecos da guerra civil latente que nunca
Hist-da-Expansao_4as.indd 62 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 63
chegou a devastar o reino e apercebeu‑se da reconciliação entre os tios desa‑
vindos; depois, assistiu aos esforços do duque de Coimbra para reforçar o
poder da sua Casa privada em conflito com a Casa de Bragança. Foi o pro‑
tagonista dessa política do regente quando este o fez desposar a sua prima
D. Isabel, filha do próprio D. Pedro, mas foi decisão que lhe aprouve, pois
deu sempre mostras de gostar verdadeiramente da rainha, mesmo depois
de o pai cair em desgraça. Viu também D. Pedro tentar aumentar o poder
da Casa de Coimbra pela outorga do governo da Ordem de Avis e do título
de condestável ao seu próprio herdeiro. Foi então que D. Afonso, conde de
Ourém, filho maior do duque de Bragança, se indispôs com o regente, pois
entendia que o título de condestável lhe cabia a ele, que era neto do grande
herói, D. Nuno Álvares Pereira.
Quando recebeu o poder das mãos do tio, ao completar 16 anos,
D. Afonso V viu‑se envolvido numa teia conspirativa3, em que o conde de
Ourém e seus aliados acusavam o duque de Coimbra de se preparar para
tomar o reino para si, e D. Pedro dava, de facto, sinais de rebeldia, ao ir a
Castela pedir auxílio ao condestável D. Álvaro de Luna. O jovem rei viu
também que a maioria dos cargos importantes da administração pública
estava nas mãos de apaniguados dos seus tios, os duques de Coimbra e de
Viseu. Os indícios eram graves e havia o exemplo da instabilidade política
em Castela e noutras monarquias da Cristandade. O rei quis confirmar as
nomeações e as doações feitas pelo regente e D. Henrique logo acatou a
ordem régia, e tudo lhe foi confirmado de imediato, mas D. Pedro reagiu mal e
começou a manifestar dificuldade em aceitar as ordens régias. Tudo terminou,
como é sabido, na Batalha de Alfarrobeira, com a derrota da hoste rebelde do
duque de Coimbra; o herdeiro do duque, primo e cunhado do rei, também
caiu em desgraça e fugiu para Castela, mas o título de condestável foi dado
ao infante D. Fernando, irmão do monarca, em vez de ser entregue ao altivo
D. Afonso, conde de Ourém. Em Alfarrobeira não houve nenhum vencedor
absoluto, a não ser talvez o próprio rei, pois nunca mais foi desafiado pelos
seus súbditos nos restantes 32 anos de reinado, embora viesse a desenvolver
uma política de reforço do poder da Coroa.
A nossa memória colectiva guardou um retrato de D. Afonso V como um
rei fraco, sempre em cedência aos interesses da nobreza, obcecado pelas ideias
de cavalaria e pela guerra contra os mouros e desinteressado pelos Desco‑
brimentos. No entanto, a documentação do tempo mostra precisamente o
contrário, sobretudo no que respeita à exploração dos mares – o rei teve uma
política coerente e consistente de alargamento da influência de Portugal em
todas as direcções. Ao assumir a governação, a condução dos Descobrimentos
continuava nas mãos do infante D. Henrique, de acordo com os termos da
doação feita pelo regente em 1443, que o rei logo confirmou, como referimos.
Hist-da-Expansao_4as.indd 63 24/Out/2014 17:17
64 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Por isso, embora se tenha mantido informado sobre as navegações e o comér‑
cio da Guiné, o monarca começou por se focar na guerra contra os mouros,
o que se adequava à sede juvenil de se cobrir de glória e de se afirmar sobre
os seus súbditos pelos feitos de armas, como havia sucedido com o seu avô
e com o seu pai e tios.
Além disso, a Cristandade vivia os dias difíceis em que o velho Império
Bizantino se aproximava do seu estertor, esmagado pela máquina de guerra
dos Turcos Otomanos e pela incapacidade dos cristãos do Ocidente de derro‑
tar o inimigo e de impedir o seu avanço pelos Balcãs. O desastre consumou‑se
a 29 de Maio de 1453, quando as armas otomanas penetraram no interior
da Roma do Oriente e os tambores da guerra ressoaram por toda a Europa,
apelando à cruzada para resgatar a cidade perdida. No entanto, os príncipes
estavam embrenhados em guerras e questiúnculas e nunca se dispuseram
verdadeiramente a organizar um exército para enfrentar os Turcos. Apenas
um rei se empenhou genuinamente nessa tarefa; tratava‑se, como é sabido,
de D. Afonso V de Portugal, o único que não tinha conflitos com os vizinhos
e que, ao mesmo tempo, tinha o reino pacificado.
O jovem monarca reagiu prontamente ao apelo da Santa Sé, arrecadou
impostos extraordinários e tentou arrastar outros príncipes para o combate
ao turco, particularmente o seu tio, o rei Afonso V de Aragão, que era então
a figura cimeira da realeza hispânica e o grande potentado do Mediterrâneo
Ocidental, senhor da Sicília e do reino de Nápoles. O Africano demorou
a aceitar que mais ninguém seguia o chamamento do papa, mas, quando
se conformou com a situação, decidiu canalizar os meios que pudera arre‑
gimentar para combater o mouro em Marrocos. Em 1458, partiu à frente
de uma grande armada; desejava atacar Tânger, para vingar o fracasso dos
seus tios, havia 21 anos, mas respeitou a opinião dos seus conselheiros e
dirigiu a sua armada contra Alcácer Ceguer, posição mais pequena, situada
a meio caminho entre Ceuta e Tânger. As forças lusas eram desmesuradas
para praça tão pequena e a sua guarnição rendeu‑se logo após os primeiros
confrontos – 43 anos depois da jornada de Ceuta, Portugal reforçava o seu
domínio no estreito de Gibraltar.
Este sucesso despertou grande entusiasmo em D. Afonso V. Estando o
reino tranquilo, o monarca ponderou mesmo instalar‑se em Ceuta para
combater sistematicamente o reino de Fez, mas, uma vez mais, deu ouvidos
aos seus conselheiros e desistiu. O velho sonho de conquista de Marrocos
continuava a seduzir a Coroa portuguesa e a gerar um razoável consenso
entre a população; a ausência prolongada do monarca não era desejada, mas
o reino estava disponível para novos ataques. Em 1463, D. Afonso V e o seu
irmão regressaram a África na esperança de conseguirem entrar em Tânger
por um ardil, mas o assalto conduzido pelo infante redundou num fracasso.
Hist-da-Expansao_4as.indd 64 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 65
O rei permaneceu alguns meses em Ceuta e realizou uma cavalgada até às
imediações de Arzila, na esperança de que a vila se lhe entregasse. Com efeito,
apesar da resistência de Tânger, as forças portuguesas tinham prestígio e entre
os mouros despontava uma corrente que admitia a submissão política ao rei
de Portugal. No entanto, não tinha capacidade para convencer a população
de Arzila a aceitar a suserania dos cristãos. No regresso a Ceuta, D. Afonso V
foi surpreendido por uma hoste marroquina que o atacou perigosamente e o
monarca só escapou com vida devido ao sacrifício de D. Duarte de Meneses,
conde de Viana e capitão de Alcácer Ceguer.
O rei acabou por regressar a Portugal, mas não esquecia Tânger. Em 1469,
o seu irmão organizou uma armada para atacar Anafé, actual Casablanca,
mas quando se acercou da povoação encontrou‑a deserta. Os seus habitantes
não ousaram enfrentar os assaltantes, mas o duque de Viseu e de Beja, por
sua vez, também não se arriscou a ocupá‑la, ciente da enorme dificuldade que
teria em a manter. Poderosos nos recontros militares, nesta época os Portu‑
gueses não se sentiam fortes para ocupar posições numa zona tão distante.
Em 1471, D. Afonso V comandou a sua terceira expedição a África
levando consigo o seu herdeiro, o príncipe D. João, que tinha então 16 anos.
Uma vez mais, era Tânger a cidade desejada, mas o monarca acedeu de novo
aos pareceres dos seus conselheiros e atacou Arzila, tendo‑a conquistado
após duros combates, em que perderam a vida os condes de Monsanto e de
Marialva. Tal como sucedera em Ceuta, o combate serviu para armar cava‑
leiro o herdeiro da coroa e para glorificar a dinastia de Avis. Com a queda de
Arzila, a população de Tânger percebeu que o cerco se tornava insuportável
e abandonou a cidade, e D. Afonso V acabou por a ocupar sem luta.
No verão de 1471, D. Afonso V tinha 39 anos; tinha cerca de 20 000 homens
desembarcados em África e o reino de Fez estava em guerra civil. Era, pois,
a grande oportunidade para o monarca prosseguir as conquistas ou, pelo
menos, realizar uma grande arrancada pelo território islamita, ao modo de
fossado. Em vez disso, porém, o soberano estabeleceu uma trégua com Fez por
vinte anos. No rescaldo da ocupação de Tânger, D. Afonso V manifestava a
sua intenção de não regressar a Marrocos senão depois de atingir os 59 anos.
Esta atitude do monarca deve questionar‑nos sobre a imagem tradicional
que se criou sobre si, nomeadamente o seu cognome de o Africano, que nos
transmite a ideia de que a sua prioridade foram as conquistas em Marrocos.
Como veremos nas linhas seguintes, D. Afonso V não estava obcecado pela
guerra contra os mouros e esteve sempre empenhado no sucesso da expansão
marítima. A sua decisão de 1471 dá a entender que o seu grande objectivo,
relativamente ao reino de Fez, era Tânger, quiçá o seu trauma de infância,
pois assistira com 5 anos à tragédia dos seus tios e à angústia mortal do
pai. Na posse de Tânger, o rei adiou a guerra em África por vinte anos, o
Hist-da-Expansao_4as.indd 65 24/Out/2014 17:17
66 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
que significava que não pensava verdadeiramente em voltar a este teatro de
operações.
Ainda assim, o monarca tentou reforçar o domínio do território mar‑
roquino, tendo concedido a nobres portugueses as vilas fronteiriças que
os mouros tinham abandonado, nomeadamente Tetuão, Larache e Anafé.
No entanto, os donatários não honraram a confiança d’el‑rei e nunca colo‑
caram guarnições nessas praças. Havia, naturalmente, a consciência de que se
tratava de operações demasiado arriscadas, em que os ocupantes estariam na
primeira linha da reacção muçulmana, e o fracasso desta ideia de D. Afonso V
demonstra bem o problema que se colocava. Havia uma vontade de prolon‑
gar Portugal em África, mas o reino não tinha força para o concretizar; em
certos momentos conseguia organizar expedições militares triunfantes, mas
a população muçulmana não aderia à Cristandade e não havia condições
para colocar colonos em terras permanentemente sujeitas à devastação da
guerra. Ainda assim, a vontade de conquista persistiria, tanto no espírito
da monarquia como na opinião da maioria dos seus súbditos.
Apesar da espectacularidade das expedições conduzidas por D. Afonso V,
a sua política expansionista não pode ser reduzida a um olhar permanente
sobre África. Os triunfos em Marrocos levaram‑no a recompor o seu título e
a assinar como senhor de Portugal e do Algarve d’Aquém e d’Além‑Mar, mas,
como veremos de seguida, o Africano foi muito mais o Atlântico, o soberano
que concretizou a hegemonia portuguesa nas águas tropicais.
O domínio do mar
Os autores do século xvi criaram uma imagem falsa acerca da política
expansionista de D. Afonso V que foi sendo aceite acriticamente pela grande
maioria dos que se lhes seguiram e que está ainda inculcada na memória
colectiva dos Portugueses. No entanto, a documentação coeva e os autores do
século xv desmentem essa construção quinhentista e deixam‑nos um quadro
que está certamente muito mais próximo do que foi a realidade dos factos.
Sabemos, em primeiro lugar, que o rei enviou emissários à Guiné nos
anos 50, apesar de o monopólio do comércio estar nas mãos do seu tio, o
infante D. Henrique. Mesmo antes de tomar posse do trato ultramarino,
o monarca desejava inteirar‑se das suas características e quando o infante
faleceu, a 13 de Novembro de 1460, a navegação atlântica e os negócios da
Guiné ficaram de imediato sob a alçada da Coroa. O herdeiro de D. Hen‑
rique era o infante D. Fernando, filho adoptivo do Navegador e irmão de
D. Afonso V. Era já duque de Beja, condestável do reino e governador da
Ordem de Santiago, e juntou então o título de duque de Viseu, o senhorio dos
Hist-da-Expansao_4as.indd 66 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 67
arquipélagos da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, e seis meses mais tarde
obteve ainda o governo da Ordem de Cristo, contra a vontade do seu irmão.
D. Fernando recebeu também todos os benefícios económicos que a Coroa
concedera a D. Henrique, salvo o exclusivo da navegação a sul do Bojador.
Sintomaticamente, alguns dos navegadores henriquinos que pertenciam à
Casa de Viseu passaram por essa altura a integrar a Casa Real.
A exploração da costa ocidental africana não progrediu nos anos seguin‑
tes, o que se deveu, por um lado, à reorganização do empreendimento, agora
sob a tutela da Coroa, o que levou, por exemplo, a que a feitoria de Arguim
transitasse de Lagos para Lisboa, por ordem régia de 4 de Julho de 1463.
Além disso, as caravelas tinham‑se aproximado do equador e o desapareci‑
mento da estrela polar criou dificuldades que demoraram a ser superadas, o
que sucedeu com a adaptação do astrolábio à medição da latitude pela altura
do Sol. E se a descoberta de novas terras esteve interrompida, a década de
60 foi marcada pela consolidação da hegemonia marítima lusa nas águas já
conhecidas.
Em primeiro lugar, a Coroa criou uma estrutura administrativa com a
criação de diversos cargos4, como o de tesoureiro da Guiné, em 1461, o de
vedor da Fazenda das cousas do mar, em 1462, o de feitor do trato de Arguim,
em 1463, o de recebedor do trato de Arguim, em 1464, o de juiz dos feitos
da Guiné, antes de 1466. E estes cargos eram completados com a nomeação
de escrivães, almoxarifes e guardas. A quase totalidade dos oficiais nomeados
para estes cargos eram nobres da Casa Real, o que é mais um sinal do modo
como a expansão quatrocentista beneficiou especialmente a baixa nobreza,
que encontrou novas formas de protagonismo social, fosse na guerra em
África, fosse no comando das caravelas, fosse no povoamento das ilhas, fosse
ainda na máquina administrativa que começava a despontar.
D. Afonso V foi confrontado, entretanto, com uma intromissão do papado
nos assuntos ultramarinos, pois em 1462 o papa Pio II nomeou um francis‑
cano catalão para chefiar a evangelização da Guiné. O rei português reagiu
prontamente e impediu que essa missão partisse para as terras de África.
A Santa Sé mostrava, assim, o seu empenho em que a cristianização dos
povos ultramarinos se realizasse depressa, mas acabou por constatar a sua
incapacidade de intervir directamente na região. El‑rei de Portugal tinha o
monopólio da navegação para as terras de missão e não estava interessado
em que a Igreja actuasse livremente nesses territórios. Os direitos de padroado
davam‑lhe a possibilidade de enviar e custear os clérigos da sua confiança, ou
seja, aqueles que seriam coniventes com os interesses políticos e comerciais
da Coroa lusa; a evangelização ficava subordinada à vontade dos príncipes.
Manietada a Igreja, o monarca deparou‑se com outra dificuldade. Numa
altura em que o povoamento dos Açores prosseguia lentamente, com o
Hist-da-Expansao_4as.indd 67 24/Out/2014 17:17
68 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
desenvolvimento ainda incipiente da capitania micaelense e com demoras
na ocupação das ilhas do grupo central, não havia gente interessada em ir
colonizar as ilhas de Cabo Verde. Este arquipélago estava ainda mais distante
e sabia‑se que o seu clima, embora não fosse tão doentio quanto o da costa
africana, era muito mais árido que o do reino e das ilhas do Norte, o que
significava que não se podia reproduzir aí o tipo de alimentação tradicional
senão pela importação maciça de bens. O povoamento das ilhas era uma
obrigação do donatário, neste caso o infante D. Fernando, que seria tam‑
bém o beneficiário do desenvolvimento económico suscitado pela coloniza‑
ção. Numa lógica mais imediatista poder‑se‑ia dizer que a incapacidade de
povoar o território significava que o seu donatário perdia uma receita fiscal.
No entanto, D. Afonso V percebeu que o problema era muito mais grave e
que o maior prejudicado pelo falhanço do donatário era a própria Coroa.
De facto, o domínio do arquipélago era vital para o controlo das rotas
de navegação luso‑africanas, pelo que não bastava invocar a bula Romanus
pontifex para garantir que nenhuma potência concorrente se apossava das
ilhas. Assim, a incapacidade de povoar o arquipélago podia levar à perda
dos negócios da Guiné, que eram monopólio da Coroa e dos quais a monar‑
quia já retirava proveitos chorudos. Foi neste contexto que, a 12 de Junho
de 1466, o rei abriu o comércio da costa da Guiné aos moradores da ilha
de Santiago. O que pode ser referido como uma cedência aos interesses
do poderoso duque de Viseu e de Beja foi afinal uma medida de reforço do
poder da Coroa que viria a revelar‑se decisiva para o domínio do oceano na
década seguinte, quando eclodiu a primeira guerra ultramarina. O cheiro
do trato da Guiné atraiu rapidamente colonos a Cabo Verde e, passados
seis anos, o monarca pôde restringir os direitos concedidos. Por carta de
8 de Fevereiro de 1472, a Coroa limitava a área geográfica em que os mora‑
dores de Santiago podiam comerciar e restringia igualmente as mercadorias
que podiam vender aos guineenses, que passavam a ser apenas os frutos da
terra. Assim, depois de ter criado condições para o povoamento da ilha, o
monarca favoreceu o comércio da Coroa ao impedir que os moradores de
Santiago negociassem com produtos oriundos de Portugal que voltavam,
deste modo, a ser monopólio régio; ao mesmo tempo, D. Afonso V estava a
fomentar o desenvolvimento económico da ilha, obrigando os seus habitantes
a tornarem‑na num pólo produtivo em vez de ser um mero ponto de passagem
de mercadorias. A criação de cavalos e o cultivo de algodão tornaram‑se nas
principais produções para o mercado africano, ao mesmo tempo que a ilha
servia de posto de abastecimento das caravelas que circulavam pelo oceano
e exportava urzela e couros directamente para o reino.
Criada a máquina administrativa, neutralizada a investida da Igreja e
eventuais interesses catalães, assegurada a ocupação do arquipélago de
Hist-da-Expansao_4as.indd 68 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 69
Cabo Verde e resolvidos os problemas técnicos que tinham dificultado
a navegação para sul, era tempo de retomar as viagens de exploração e
D. Afonso V ordenou o recomeço dos Descobrimentos em 1468. Nesse
mesmo ano, o monarca arrendou o comércio da Guiné a Fernão Gomes,
um nobre há muito ligado a operações financeiras e ao comércio, ao mesmo
tempo que enviava os seus cavaleiros e escudeiros em exploração da orla
costeira do continente africano. Passadas sete décadas, João de Barros afir‑
mou que a realização destas viagens de exploração fazia parte do próprio
contrato celebrado entre a Coroa e Fernão Gomes5, mas a documentação
anterior desmente o cronista. Com efeito, tanto Rui de Pina como Duarte
Pacheco Pereira, que escreveram nos primeiros anos do século xvi, referem
o arrendamento, mas ambos afirmam que as Descobertas continuaram a
ser da iniciativa régia6 e, de facto, os capitães das caravelas eram nobres
da Casa Real, que não poderiam ser assalariados do arrendatário do trato
da Guiné. É certo que Fernão Gomes passava a beneficiar do exclusivo das
áreas exploradas pelas caravelas d’el‑rei, e é possível que até financiasse
essas viagens (embora nenhum documento coevo existente o diga), mas a
liderança da exploração da costa da Guiné nunca saiu da alçada da Coroa.
E quando o contrato foi renovado por um ano, em Junho de 1473, nada
foi dito sobre os Descobrimentos, ou seja, a Coroa nem obrigava Fernão
Gomes a prossegui‑los nem a interrompê‑los; se fosse uma obrigação estipu‑
lada no primeiro contrato, certamente que seria mencionada na respectiva
renovação7.
Muitas vezes apresentado como uma demonstração do desinteresse de
D. Afonso V pelos Descobrimentos, este contrato, que vigorou entre Junho
de 1468 e Junho de 1474, revela, pelo contrário, o profundo interesse do
monarca pela expansão marítima. A descoberta da costa da malagueta, por
exemplo, valeu uma adenda ao contrato e um pagamento suplementar pelo
arrendatário, enquanto a nova orientação da costa no golfo da Guiné, a correr
para leste, em vez de ser para sul, fez aumentar a esperança de que se estivesse
prestes a descobrir os mares do Oriente e os portos da Índia das especiarias,
como se adivinhava no mapa de Fra Mauro. Atento a este pormenor, o rei
assinou uma carta, a 19 de Outubro de 1470, em que estabelecia o monopólio
régio sobre o pau‑brasil, o lacre e pedras preciosas8. Ora, nessa época em
que ainda se desconhecia o continente americano, o pau‑brasil só existia nos
mercados asiáticos, pelo que é de crer que a Índia, já pressentida pelo infante
D. Henrique nos seus últimos documentos, em que se falava no progresso
das caravelas «usque ad indos» (até aos índios)9, era agora vislumbrada por
D. Afonso V. No ano seguinte, como vimos, o monarca partiu para a sua
derradeira campanha africana, mas apercebemo‑nos, assim, de que o seu
espírito não estava focado apenas na guerra santa.
Hist-da-Expansao_4as.indd 69 24/Out/2014 17:17
70 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Depois, a costa flectiu de novo para sul e a busca da Índia entrou numa fase
polémica, pois apareceram vários autores a defender que seria mais fácil che‑
gar à zona das especiarias navegando para ocidente em vez de circum‑navegar
a África, até porque ganhava fama uma velha teoria do geógrafo alexandrino
Ptolomeu, que julgava não existir comunicação marítima entre o mar oceano
e as águas orientais. Adiada a descoberta das especiarias, a Coroa beneficiou
de uma outra descoberta extraordinária quando as caravelas chegaram ao
actual Gana. Encontraram aí um mercado de ouro em que o metal precioso
estava disponível em quantidade abundante – estava descoberta a mina de
ouro10. Monopólio régio, este negócio ficou nas mãos dos oficiais d’el‑rei,
iniciando‑se então o primeiro grande ciclo do ouro da economia portuguesa,
que estaria na base da política centralizadora e da intensidade construtiva e
decorativa que caracterizou os reinados de D. João II e D. Manuel I.
Ao mesmo tempo que controlava directamente o desbravamento da linha
costeira do continente africano, D. Afonso V estimulava os seus súbditos a
explorarem o interior do oceano. A Coroa continuava ciente da necessidade
imperiosa de dominar os espaços insulares que permanecessem ocultos pelo
oceano, pois cada um deles podia ser um ponto de apoio às rotas oceânicas,
se fossem subordinados à monarquia portuguesa, como podiam tornar‑se
em bases de flagelação da navegação lusa, se fossem tomados pelos príncipes
rivais. Por isso, o rei concedeu cartas de doação de ilhas por descobrir a todos
os que se dispunham a explorar o oceano e nos anos 70 já era salvaguardado
que a doação não tinha efeito se a descoberta ocorresse nas imediações da
costa africana, onde operavam as caravelas d’el‑rei. O interesse do monarca
era, pois, o de promover a exploração de águas mais distantes recorrendo ao
interesse de agentes privados. Esse esforço foi inglório, na medida em que o
único arquipélago descoberto nesta época foi o de São Tomé e Príncipe, por
capitães da Casa Real durante a exploração do golfo da Guiné, mas o esforço
desses navegadores privados e o apoio político que lhes foi concedido pelo
rei mostram‑nos como D. Afonso V tinha uma política global e coerente
para o oceano e que foi durante o seu reinado que Portugal consolidou a
sua posição de potência hegemónica no Atlântico e de senhor absoluto do
Atlântico Sul.
Quando rebentou a guerra com Castela, em 1474, a política expansionista
de D. Afonso V foi posta à prova de imediato, pois os seus inimigos logo
atacaram as águas da Guiné. O primeiro conflito internacional de Portugal
após a viagem pioneira de Gil Eanes teve, inevitavelmente, o mar oceano
como um dos teatros de operações.
Hist-da-Expansao_4as.indd 70 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 71
Enquanto a Coroa prosseguia a sua política de hegemonia marítima, a
Casa de Viseu enriquecia com as suas donatarias insulares, e com o próprio
comércio africano. Desde 1457, a Ordem de Cristo, governada pelo duque
de Viseu, recebia a vintena do trato da Guiné, ou seja, 5% do negócio. Além
disso, a ilha da Madeira tornou‑se nos anos 60 e 70 num grande exportador
de açúcar, com vendas já significativas no mercado flamengo, o que fazia a
fortuna de muitos, incluindo o duque e os seus colaboradores mais próximos.
D. Fernando faleceu em 1470, quando tinha apenas 37 anos, e o seu primo‑
génito, o duque D. João, seguiu‑o no túmulo pouco depois, pelo que em 1472
estava na posse do título D. Diogo, ainda criança. Durante mais de dez anos,
o ducado foi governado pela mãe, a infanta D. Beatriz; a sua governação
foi marcada pela prosperidade do açúcar madeirense e pela consolidação do
povoamento dos Açores, com a reorganização de várias capitanias e a subs‑
tituição de alguns capitães11. Este arquipélago já desempenhava um papel
crucial no apoio às rotas oceânicas, pois era ponto de passagem obrigatório
na viagem de regresso e a sua economia desenvolveu‑se, particularmente com
a produção de trigo.
As receitas obtidas pela cobrança de impostos nas ilhas era uma das prin‑
cipais fontes de receita do ducado e a Casa de Viseu era, então, um potentado
atlântico, a par da própria Coroa de Portugal. Por isso, a duquesa D. Beatriz
haveria de ter um papel decisivo na resolução da primeira guerra europeia
em águas tropicais.
A primeira guerra ultramarina
A morte do rei Henrique IV de Castela abriu uma nova crise, pois o trono
castelhano foi disputado pela princesa Joana, filha da rainha e reconhecida
como legítima pelo monarca, e pela infanta Isabel, meia‑irmã do falecido.
Um olhar breve ao problema poderá fazer crer que se tratava de uma ques‑
tiúncula dinástica relativamente banal, mas o que estava em causa era muito
mais do que a honra da rainha e a questão técnica sobre quem era o verda‑
deiro progenitor da princesa: o rei ou Beltran de la Cueva? A dinastia dos
Trastâmara, iniciada em 1369, vivera em constante instabilidade política e a
fragilidade da monarquia acentuara‑se desde o início do reinado de João II,
em 1406. Em 1474, Castela parecia perdida e foi, na verdade, disputada
pelos seus dois vizinhos.
D. Afonso V defendeu os direitos sucessórios da sua sobrinha, a princesa
Joana, que coincidiam com os interesses políticos da monarquia portuguesa,
procurando, assim, assegurar a continuação de uma certa preponderância
lusa sobre os assuntos do reino vizinho, e a sua neutralização na concorrência
Hist-da-Expansao_4as.indd 71 24/Out/2014 17:17
72 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
pelo mar oceano. Fernando, o herdeiro de Aragão, defendeu a posição da
sua esposa e apoiou a sua candidatura, procurando, assim, criar uma tutela
política aragonesa sobre a monarquia castelhana.
O rei de Portugal invadiu Castela, mas não obteve o apoio esperado e
depois da batalha inconclusiva de Toro, a 2 de Março de 1476, ficou derro‑
tado politicamente. A guerra terrestre, travada ao longo da fronteira luso
‑castelhana, foi vencida pelas forças leais a Isabel. Esta, porém, abriu uma
outra frente de guerra, assim que estalou o conflito, ao retomar as orientações
diplomáticas do seu pai, o rei João II, tendo reacendido a disputa pelo mar
oceano. Isabel reclamou o direito do seu reino às águas a sul do Bojador e
particularmente ao ouro da Mina e enviou várias armadas às águas tropicais.
As guerras europeias passavam a ferir‑se não só no Velho Continente, mas
também em locais distantes, nas partes de Além. No mar, ao contrário do
que sucedeu na frente terrestre, os Portugueses levaram de vencida o inimigo.
Os Castelhanos atacaram a ilha de Santiago e tentaram intrometer‑se no
trato do ouro, mas as suas armadas foram derrotadas pelas caravelas lusas.
A vitória portuguesa deveu‑se, sem dúvida, à experiência acumulada pelos
seus navegadores e pelos técnicos que os apoiavam, que conheciam bem
ventos e correntes, bem como os acidentes da costa e as suas populações.
O triunfo ultramarino foi também a consagração da política marítima de
D. Afonso V. O assalto a Cabo Verde, até hoje mal estudado, não logrou
colocar essas ilhas sob domínio castelhano e ajuda a compreender o empenho
particular que o rei português colocou na ocupação do arquipélago.
A partir de 1478, a guerra entrou num impasse, mas as armadas caste‑
lhanas, embora fossem incapazes de desalojar os inimigos das suas posições
na Guiné, tinham capacidade para atacar a navegação lusa e para realizar
acções de rapina em todas as ilhas. A maior parte desses territórios pertencia,
como vimos, à Casa de Viseu, e foi precisamente a duquesa D. Beatriz quem
procurou Isabel para negociar a paz. O encontro entre as duas teve lugar em
Abril de 1479, na vila de Alcântara, a umas três léguas da fronteira portu‑
guesa. D. Beatriz era cunhada e prima co‑irmã de D. Afonso V, era sogra do
príncipe D. João, herdeiro do trono luso; era também prima co‑irmã e sogra
do duque de Bragança e tia de Isabel de Castela que, por sua vez, era filha
da sua irmã Isabel, que fora a segunda esposa do rei João II. Pelo seu paren‑
tesco com os principais rivais, D. Beatriz podia servir de intermediária, mas
o seu empenho na pacificação das relações luso‑castelhanas tem um outro
significado – a defesa do património da Casa de Viseu.
Com a perda de apoios entre a fidalguia castelhana, a causa da princesa
Joana estava perdida, mas D. Afonso V teimava em defender os direitos da
sobrinha; casara‑se inclusive com Joana, mas Roma nunca lhe concedeu a dis‑
pensa que lhe permitiria consumar o consórcio, o que favoreceu obviamente
Hist-da-Expansao_4as.indd 72 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 73
a causa de Isabel. A evidência da derrota não demovia o rei português dos
seus propósitos, o que permitia a continuação das hostilidades em terra e
no mar, o que era particularmente gravoso para a Casa de D. Beatriz e de
D. Diogo. Como vimos atrás, a riqueza gerada pelas ilhas estava em grande
crescimento, pelo que o seu donatário desejava alcançar a paz para poder usu‑
fruir dos seus rendimentos e para evitar o risco de sofrer perdas territoriais.
Assim, nas negociações de Alcântara, Isabel procurava sobretudo garantir o
trono castelhano, enquanto D. Beatriz estava particularmente interessada em
salvaguardar os domínios ultramarinos da sua Casa e, consequentemente, a
hegemonia marítima da própria Coroa de Portugal.
O acordo estabelecido então reconhecia Isabel como a rainha de Castela,
mas consagrava simultaneamente o domínio quase absoluto do mar oceano
pelos Portugueses, como corolário da política afonsina. Castela ficava apenas
com o direito à conquista das ilhas Canárias, arquipélago que deixara de ser
relevante no contexto das rotas oceânicas lusas, e reconhecia agora os direitos
exclusivos de Portugal às águas a sul do Bojador. O entendimento alcançado
em Alcântara foi vertido em texto pelo Tratado das Alcáçovas‑Toledo de
1479‑1480 e da sua leitura deduz‑se que Castela se afastava de uma política
atlântica12. Nos anos seguintes, a Coroa portuguesa continuou a emitir cartas
de doação de ilhas por descobrir, sem fazer nenhuma salvaguarda que essa
dádiva só tinha efeito a sul do Bojador. Enquanto a monarquia castelhana se
deixava envolver pelos interesses da diplomacia aragonesa e pela sua estra‑
tégia mediterrânica, a Coroa de Portugal continuava a encarar o Atlântico
como um mare nostrum.
A Boa Esperança
Quando terminou o sexto ano do arrendamento do comércio da costa
da Guiné a Fernão Gomes, a Coroa retomou o controlo total das águas tro‑
picais. A crise sucessória em Castela avizinhava‑se e talvez já se adivinhasse
que Isabel iria retomar as pretensões do seu pai e que iria envolver o mar
oceano na disputa pelo trono castelhano. Mesmo que a ameaça de uma
guerra ultramarina não tenha pesado na decisão, é certo que em meados
de 1474 D. Afonso V confiou o governo dos assuntos da Guiné ao príncipe
D. João, então com 19 anos. Ouviam‑se por então várias vozes, nomeada‑
mente vindas de Itália, que alvitravam a busca do caminho marítimo para a
Índia pelo ocidente, o que significa que, nesta altura, ganhava força a ideia
de que os Descobrimentos levariam a Cristandade aos mares da Índia, e o
príncipe amadureceu um plano ao longo dos últimos anos da década de 70,
ao mesmo tempo que os seus capitães ganhavam a guerra ultramarina, e que
Hist-da-Expansao_4as.indd 73 24/Out/2014 17:17
74 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
ele próprio voltava às lides militares para «ganhar» a sua parte da Batalha
de Toro, facto que celebraria com pompa e circunstância enquanto viveu.
A 4 de Maio de 1481, D. Afonso V doou os territórios da Guiné ao prín‑
cipe, enquanto este solicitava ao papa indulgência plenária para todos os
que viessem a falecer durante a construção da fortaleza que ia ser erguida na
costa da Mina. O rei faleceu de doença breve e inesperada, a 28 de Agosto
desse mesmo ano, mas em Maio nada fazia prever tão súbito desenlace.
Percebemos, assim, que a política expansionista de D. João II teria come‑
çado a ser aplicada nesse ano de 1481, mesmo que o Príncipe Perfeito não
tivesse subido ao trono no final do verão, e que o plano da Índia aplicado
por D. João II, logo que empunhou o ceptro, tenha sido gizado pelo príncipe
em articulação com o pai; a harmonia que sempre caracterizou as relações
entre os dois e a óbvia concordância de D. Afonso V com as ideias do filho
levaram o monarca a reforçar os poderes do seu herdeiro sobre a Guiné
para que este pudesse executar o seu plano mais livremente. Quis o destino
que o Africano fechasse os olhos antes que o príncipe desencadeasse a nova
etapa dos Descobrimentos, mas é certo que o plano da Índia contou com a
participação e a aquiescência de D. Afonso V.
Assim, ao contrário do que uma certa tradição apregoa, D. João II não
recebeu do pai apenas as estradas do reino; na verdade, contava também com
o governo das ordens militares de Santiago e de Avis, com várias vilas do
país e mais o monopólio do trato ultramarino, em que se incluía o comércio
fabuloso do ouro da Mina. No reinado de D. Afonso V, incluindo a regência
de D. Pedro, a Coroa desenvolveu uma doutrina de hegemonia marítima e
aplicou‑a sistematicamente, em todas as direcções, ao mesmo tempo que
mantinha o reino de Fez sob pressão. Depois, D. João II desenvolveu um
plano com objectivos bem definidos13, aproveitando assim o extraordinário
legado que lhe foi deixado pelo progenitor.
*
A política expansionista de D. João II dividiu‑se em três dinâmicas dife‑
rentes:
a) A mais visível, e a que lhe valeu a admiração das gerações vindouras,
foi o seu empenho na exploração do mar oceano, procurando a ligação aos
mares do Oriente e a melhor rota para alcançar o ponto mais meridional do
continente africano sempre com vento favorável.
O rei desejava, assim, criar uma nova rota das especiarias, ligando a
Índia directamente a Lisboa, o que enriqueceria o reino, ao mesmo tempo
que retirava o negócio às redes mercantis muçulmanas que controlavam o
acesso da pimenta e da canela ao Mediterrâneo Oriental. O sucesso desta
Hist-da-Expansao_4as.indd 74 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 75
política provocaria também graves prejuízos a Veneza e, sintomaticamente,
os propósitos do monarca eram apoiados por genoveses e florentinos, velhos
inimigos da Senhoria. Através dos Descobrimentos dos Portugueses buscava
‑se um ajuste de contas em Itália.
Em todos os objectivos perseguidos o monarca revelou um carácter metó‑
dico, que mais se realçou neste caso, pois as navegações de descobrimento
mudaram na sua organização. Até então, as caravelas progrediam umas léguas
e voltavam para trás. No entanto, a distância era cada vez maior e agora o
propósito não era o da exploração sistemática de todos os mercados existen‑
tes ao longo da orla costeira africana, nem o mapeamento detalhado da linha
litorânea – era antes o de descobrir a passagem para o Oriente. Assim, a Coroa
organizou expedições com várias unidades navais, que tinham por missão
avançar o mais possível. Diogo Cão foi o primeiro capitão dessas viagens e
em 1487 foi substituído por Bartolomeu Dias, que finalmente encontrou a
passagem tão desejada. Ao promontório mais próximo do extremo meridional
de África chamou cabo das Tormentas, mas D. João II preferiu uma denomi‑
nação mais auspiciosa e deu‑lhe o nome de Boa Esperança. O monarca pas‑
sou a assinalar o progresso dos seus navegadores pela colocação de padrões
(colunas de pedra encimadas pelas armas de Portugal), o que nos demonstra
que a Coroa sentia a necessidade de afirmar o seu domínio perante eventuais
concorrentes europeus.
A Índia estava à vista, mas o rei não enviou de imediato uma expedição
à terra das especiarias. Faltava ainda descobrir a rota ideal no Atlântico Sul
para que os navios circulassem sempre com ventos favoráveis. Por volta de
1492 esse conhecimento estaria já adquirido, mas o génio pertinaz de Cris‑
tóvão Colombo complicou os planos d’el‑rei, ao trazer de novo Castela para
o Atlântico.
b) O monarca desejava igualmente encontrar o Preste João, esse suposto
rei poderoso que existiria a sul da mourama. O infante D. Henrique pro‑
curara‑o, como vimos; D. Afonso V limitara‑se a ordenar a exploração do
desconhecido sem orientar alguns dos seus oficiais para esta busca específica;
agora D. João II voltava a empenhar meios humanos nesta demanda.
O Preste João era procurado pela sua fama como rei com grande poderio
militar. Nessa altura, cria‑se que a Índia era maioritariamente cristã, pelo que
a busca de um aliado para a guerra contra os mouros não se pode relacionar
com a busca do caminho marítimo para a Índia. Assim, temos de admitir que
D. João II estava interessado na cruzada. Não voltou a Marrocos depois da
jornada de Arzila e empenhou‑se sobretudo no aumento da influência lusa
sobre as cidades do Sul marroquino, tendo mesmo obtido a submissão de
Azamor e de Safim, mas em 1489 enviou uma expedição para construir uma
nova fortaleza no interior, a sul de Arzila. A campanha foi mal‑sucedida e
Hist-da-Expansao_4as.indd 75 24/Out/2014 17:17
76 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
evidenciou a debilidade dos Portugueses quando se afastavam do mar, mas foi
o primeiro sinal de que também o Príncipe Perfeito alimentava a esperança
de alargar o domínio luso em África. No entanto, a sua vida foi breve e o
turbilhão em que foi envolvido nos poucos anos que lhe restavam afastou‑o
do cenário marroquino.
Resta saber qual teria sido a política do monarca se tivesse encontrado
um aliado africano para a cruzada e o que teria feito após o fim das tréguas
de 20 anos acordadas pelo pai, se o ano de 1491 não tivesse coincidido com
o início da crise política motivada pela morte súbita do seu único filho, o
príncipe D. Afonso, e o princípio da doença que lhe foi minando o corpo até
o matar. Uma coisa é certa, porém: D. João II partilhava os mesmos ideais
de cruzada que os seus antecessores e que seriam também alimentados inten‑
samente por D. Manuel I.
Refira‑se, finalmente, que o primeiro contacto de um emissário da Coroa
portuguesa com o rei da Etiópia resultou de uma iniciativa de D. João II,
mas de que este nunca teve notícia. Em 1487, ao mesmo tempo que enviou
Bartolomeu Dias para a vitória sobre o Adamastor, o monarca despachou
dois espiões para o Oriente pelo Mediterrâneo Oriental: Afonso de Paiva
e Pêro da Covilhã. O primeiro tinha por destino o negus, enquanto o
segundo devia tomar conhecimento do sistema mercantil dos mares da
Índia. Os dois agentes separaram‑se no Cairo, e Afonso de Paiva mor‑
reu pouco depois. Pêro da Covilhã terá realizado um périplo por portos
do oceano Índico e ao regressar ao Egipto enviou um relatório do que
observara e empreendeu a viagem até ao reino do Preste João. Conseguiu
chegar à Etiópia, pelo que foi o primeiro português a encontrar o rei que
era procurado ansiosamente há mais de meio século. Foi, no entanto,
impedido de regressar a Portugal, e por lá ficou sem poder anunciar a sua
descoberta até que assistiu à chegada da primeira embaixada do Estado
da Índia à corte etíope em 1520.
As notícias de que dispomos sobre Pêro da Covilhã são pouco claras, no
que respeita à sua viagem pelos portos do Índico Ocidental. Como é sabido, a
estratégia montada por D. Manuel I, aquando do envio da expedição pioneira
de Vasco da Gama, não contava nem com o sistema de ventos da monção
nem com a hegemonia muçulmana sobre os mares do Oriente, factos que
não podem ter passado desapercebidos a Pêro da Covilhã; e também custa
a crer que o espião não se tivesse apercebido que a religião maioritária na
Índia não era o Cristianismo. Assim, resta saber se este agente da Coroa fez
de facto a viagem pelos portos da África Oriental e da Índia, e, se a fez, o
que sucedeu ao seu relatório: perdeu‑se antes de chegar a Portugal, ou foi
destruído por conter informação desencorajante? Uma coisa é certa – Pêro
da Covilhã, apesar de ter sido o primeiro agente da Coroa portuguesa a
Hist-da-Expansao_4as.indd 76 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 77
navegar pelo Índico e a contactar com o reino da Etiópia, não teve nenhuma
influência na descoberta do caminho marítimo para a Índia.
c) D. João II empenhou‑se ainda sistematicamente na cristianização de
África. Era uma dinâmica claramente separada das outras duas, em que
lhe distinguimos alguns contornos inovadores, como veremos no capítulo
seguinte.
Concluindo, importa notar que o plano joanino abarcava vários teatros
de operações bem diferentes e subordinados a lógicas distintas:
– O oceano Atlântico, que começava então a ganhar forma na mente dos
Europeus, como eixo fundamental de acesso à Ásia das especiarias, e que
era também uma área de negócios importantíssima, com o fluxo crescente
de ouro vindo da Mina e as taxas que eram aplicadas ao trato dos escravos.
– A Índia, que era procurada para fazer de Lisboa o novo centro reexpor‑
tador de especiarias para a Cristandade.
– O Mediterrâneo, em geral, e o reino de Fez, em particular, como área
para retomar a guerra santa, especialmente com o apoio do Preste João.
– A África negra, como área de propagação do Cristianismo e de criação de
reinos‑satélites, irmanados com a Coroa de Portugal pela fé e cujo potencial
económico era entusiasmante, embora prejudicado pela enorme dificuldade
dos Portugueses (e demais europeus) em suportar o clima africano.
A partição do mar oceano
O Tratado das Alcáçovas‑Toledo, de 1479‑1480, tinha feito do rei de Por‑
tugal o senhor do mar – o dominador hegemónico dessa massa de água ainda
informe que se prolongava sempre para lá do horizonte. Corriam já boatos
sobre avistamentos de terra firme a ocidente e talvez algumas tripulações já
tivessem pisado, ou só observado, o território americano, mas não haviam
sido capazes de regressar e nenhum europeu admitia, então, a existência de
um Novo Mundo entre a Europa e o Extremo Oriente da Ásia.
Após os anos de propaganda internacional dos Descobrimentos, no tempo
do infante D. Henrique, a informação sobre as águas a sul do Bojador come‑
çou a ser controlada conforme se acentuou a ocorrência de viagens de parti‑
culares às regiões de monopólio régio; passo a passo, foi‑se montando uma
política de sigilo que se institucionalizou com a guerra e com o advento da
governação joanina. Quando D. João II subiu ao trono, só os Portugueses
tinham acesso permanente e livre à zona do equador. Alguns astrólogos foram
enviados para essa região a fim de fazerem medidas astronómicas mais acer‑
tadas, e os oficiais da Coroa portuguesa puderam estimar a medida do raio
terrestre com grande aproximação da realidade14.
Hist-da-Expansao_4as.indd 77 24/Out/2014 17:17
78 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Dispondo desta informação, o monarca luso tinha uma noção da gran‑
deza da esfericidade da Terra e sabia que a viagem pelo Ocidente era muito
arriscada, pois não se sabia se o mar oceano tinha aí terras emersas sufi‑
cientes para apoio à navegação; pelo contrário, a circum‑navegação do
continente africano era viável e a Índia seria alcançada desde que existisse a
passagem. Além disso, era mais fácil para a Coroa portuguesa manter o seu
exclusivo ao longo da orla costeira africana do que no interior do oceano.
Por isso, D. João II optou pelo plano de prosseguir os Descobrimentos para
sul e descartou a hipótese de buscar a Índia enviando navios em direcção
a ocidente.
No entanto, esta via alternativa tinha adeptos, e entre eles um homem
pertinaz, com um espírito tão teimoso e determinado quanto o que animara
o infante D. Henrique. Não tinha títulos e terras como o infante, mas tinha
acesso às cortes europeias e porfiou até levar a sua ideia avante. Figura célebre
da História da Humanidade, Cristóvão Colombo continua a ser uma perso‑
nagem semilendária sobre quem muito se especula e pouco se sabe quanto às
suas origens15. Apresentado como um mercador genovês de origens humildes,
foi, sem dúvida, casado com Filipa Moniz, filha de Bartolomeu Perestrelo,
o capitão da ilha de Porto Santo e membro da nobreza da Casa de Viseu.
As regras do tempo mostram‑nos que um plebeu nunca se casava com uma
nobre, pelo que a origem de Colombo é assaz duvidosa.
Muitos autores têm defendido que era português e apontam algumas pro‑
vas interessantes, que não são suficientemente evidentes, mas que permitem
a sobrevivência da tese como uma hipótese plausível. O próprio Colombo
encarregou‑se de deixar pistas enigmáticas sobre si e este não é o espaço
adequado para discutir a sua identidade. Importa registar que era um homem
próximo da Casa de Viseu, que viveu na ilha de Porto Santo e que estava a par
das navegações até ao golfo da Guiné. Visionário, sonhador, entusiasmou‑se
com a descrição da ilha de Cipango por Marco Pólo; esta referência deturpada
ao Japão no texto do aventureiro veneziano dizia que era uma ilha com muito
ouro e localizava‑a oceano adentro ao largo do Cataio, nos confins da Ásia.
Colombo acreditava que o ouro do Cipango seria suficiente para organizar
a cruzada que resgataria Jerusalém e engendrou um plano que começou por
apresentar a D. João II.
O desinteresse do monarca luso não o demoveu e andou pelas cortes de
Castela, de França e da Inglaterra com o mesmo propósito. Finalmente, a
rainha Isabel interessou‑se pela sua ideia. A soberana tinha pouco a perder e
muito a ganhar. Certamente se apercebia que a sua vitória contra a Beltraneja
tivera um preço elevado, pois ficara subordinada aos interesses estratégicos
do seu marido, rei de Aragão desde 1479. O velho aliado de Castela, a
França, era agora o arqui‑inimigo dos Reis Católicos, e Castela alimentava
Hist-da-Expansao_4as.indd 78 24/Out/2014 17:17
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455‑1494) 79
o expansionismo aragonês pelo Mediterrâneo Ocidental. Colombo oferecia
à rainha a possibilidade de Castela voltar a intervir no Atlântico.
Percebe‑se, assim, que a tese defensora da hipótese de Cristóvão Colombo
ser um espião de D. João II, e que o seu oferecimento a Castela fazia parte
de uma artimanha do rei de Portugal para afastar o reino vizinho da Índia, é
um enorme disparate. Desde 1479, Castela deixara de ser um rival pela posse
do Atlântico e não tinha condições para disputar o acesso aos mercados das
especiarias com os Portugueses pelo cabo da Boa Esperança. Colombo actuou
por sua iniciativa pessoal e foi a sua ambição e pertinácia que recolocaram
a monarquia castelhana no Atlântico, o que obrigou o rei de Portugal a par‑
tilhar o que até então era só seu.
De facto, o sucesso da viagem colombina de 1492 obrigou Portugal e
Castela a voltarem à mesa das negociações. Isabel queria tomar posse das
ilhas a ocidente e D. João II sabia que Portugal não tinha meios para domi‑
nar todo o mar oceano e, além disso, não estava interessado em entrar em
guerra com o reino vizinho. A crise suscitada pela descoberta das Caraíbas
permitiu reforçar a hegemonia portuguesa sobre as águas que eram sulcadas
pelas caravelas há décadas e preservar melhor o monopólio das águas do
Atlântico Sul. A Coroa deixava de poder dar cartas de ilhas por descobrir
para zonas indefinidas, pois deixava de poder olhar para o Atlântico como
um mare nostrum, mas passava a dispor de um enorme mare clausum dentro
da imensidão oceânica.
A conjugação dos interesses das duas monarquias levou a que acordas‑
sem a divisão do oceano por um meridiano e que se previsse que essa linha
imaginária se prolongaria em redor do planeta – pela primeira vez, dois
estados partilhavam o Mundo em duas zonas de influência a uma escala
global. O Tratado de Tordesilhas representa, assim, uma nova era na His‑
tória da expansão europeia e da globalização; a partição do Mundo entre
os dois reinos hispânicos assinalava o crescimento da importância do mar
como via de engrandecimento das monarquias da Cristandade e pelo menos
a Inglaterra de Henrique VII já olhava com apetite para as águas a ocidente,
depois de ter abdicado de desafiar o monopólio português na Guiné16.
Tordesilhas é também um símbolo do advento do imperialismo europeu.
Embora Portugal não tivesse criado colónias em territórios habitados até
então, este acordo demonstra que ambas as monarquias entendiam que
tinham legitimidade para fazer a guerra a povos ainda desconhecidos e de
lhes impor a sua autoridade.
D. João II foi obrigado a negociar o Tratado de Tordesilhas devido à ini‑
ciativa inoportuna (do ponto de vista da Coroa lusa) de Cristóvão Colombo,
mas soube tirar benefício do incidente. Como é sabido, o detalhe que atrasou
o entendimento entre as duas partes prendeu‑se com a zona do oceano por
Hist-da-Expansao_4as.indd 79 24/Out/2014 17:17
80 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
onde passaria a linha divisória. A sugestão castelhana, com a bênção do papa
Alexandre VI, apontava para que o meridiano fosse calculado 100 léguas
a ocidente dos arquipélagos de Cabo Verde e dos Açores. Era uma medida
muito vaga, mas suficiente para os meios (muito imperfeitos) de medição da
longitude desses tempos. Como é sabido, D. João II recusou a proposta e
apontou para uma zona mais a ocidente, situada a 370 léguas das referidas
ilhas, o que foi aceite pelos Reis Católicos.
O Príncipe Perfeito garantia, assim, uma rota de acesso à Índia sempre
com ventos favoráveis no Atlântico. Depois da descoberta do cabo da Boa
Esperança, as caravelas tinham continuado a explorar o oceano e tinham
aprendido o sistema de ventos do Atlântico Sul. À semelhança do que ocor‑
ria no Hemisfério Norte, também aqui sopravam ventos constantes durante
todo o ano, pelo que a viagem ideal para a Índia exigia que se navegasse
para ocidente antes de apontar ao Cabo. Descoberta esta realidade, tudo
o que existisse nessa zona ocidental do Atlântico Sul tinha de pertencer a
Portugal para que a viagem não sofresse constrangimentos por potências
rivais. O Tratado de Tordesilhas, só por si, não prova que D. João II e os seus
navegadores já conheciam o Brasil, mas tão‑só que sabiam bem qual era o
sistema de ventos do Atlântico Sul. Para Castela esta alteração da linha divi‑
sória era indiferente, desde que salvaguardasse a posse das ilhas encontradas
por Colombo; os Castelhanos, ao contrário dos Portugueses, pouco sabiam
sobre o que estavam a negociar.
Na década de 90 do século xv, o Atlântico começou a ganhar contornos
e a ter uma margem a ocidente. O processo desencadeado pela vontade do
infante D. Henrique e pela viagem temerária de Gil Eanes ganhava agora uma
maior visibilidade perante a Cristandade. Portugal estava agora em condições
para enviar uma expedição em busca do caminho marítimo para a Índia, mas
entretanto já lançara os alicerces do seu futuro império ultramarino.
Hist-da-Expansao_4as.indd 80 24/Out/2014 17:17
5
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO
(1481‑1502)1
C omo vimos nos capítulos anteriores, Portugal foi‑se definindo como
uma grande potência marítima ao longo do século xv: conquistou uma
posição no estreito de Gibraltar e passou a intervir nas rotas de longo curso
da Cristandade, ocupou as ilhas adjacentes que estavam desertas e impôs
o monopólio sobre a navegação e o comércio a sul do Bojador, ao mesmo
tempo que explorava o oceano tendo por objectivo dominar todos os espaços
insulares existentes. A guerra em África visava a conquista e a submissão
dos mouros, mas significara apenas um ganho territorial minúsculo sem o
domínio de populações muçulmanas, embora fosse acompanhado de um
reforço da hegemonia marítima em toda a zona entre os Algarves d’Aquém e
d’Além‑Mar com grande benefício para as pescas. O conflito com os mouros
inseria‑se na velha lógica da Reconquista, pelo que inicialmente a Coroa por‑
tuguesa dominou os mares e ocupou arquipélagos, movendo os seus súbditos
por zonas inabitadas ou sem circulação naval e os portugueses limitaram‑se
a fazer comércio com as populações que os acolhiam sem qualquer tipo de
imposição pela força, salvo os assaltos dos primeiros anos contra os azenegues
da costa da Mauritânia, que devem ser vistos como uma continuidade dos
antigos fossados. Como referimos, até a flutuação dos preços dependia da
vontade dos negros. A sul do cabo Bojador só foi construída uma fortaleza,
em Arguim, que servia para proteger o comércio português mas que não era
vista como o ponto de partida para uma futura conquista ou submissão das
zonas envolventes.
Com a subida de D. João II ao trono, a política expansionista ganhou
novas características, com a aplicação de um plano pré‑determinado. Neste
reinado, a Coroa portuguesa continuou a não realizar conquistas nem a impor
a sua vontade às populações indígenas com que contactava, mas proclamou
Hist-da-Expansao_4as.indd 81 24/Out/2014 17:17
82 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
na Europa direitos sobre as terras da Guiné e tentou estabelecer alianças com
chefes africanos que se manifestaram disponíveis para se tornarem cristãos
a troco de ajuda militar, e ao assinar o Tratado de Tordesilhas a Coroa acen‑
tuava a sua disposição para vir a impor‑se a outros povos. D. Manuel I iniciou
o seu governo acreditando que seria possível alargar aos mares da Índia o
mesmo relacionamento que mantinha com os povos africanos, mas logo
compreendeu que o trato das especiarias só seria possível a tiros de canhão,
e em 1502 optou definitivamente por uma política imperialista.
O senhorio da Guiné
Pouco depois de subir ao trono, D. João II enviou uma grande armada
com o objectivo de construir uma fortaleza na Mina e a seguir despachou
Diogo Cão para a demanda da passagem para o Oriente.
O novo forte era uma construção destinada a albergar uma guarnição de
60 indivíduos, já incluídas quatro degredadas para todo o serviço. À seme‑
lhança da de Arguim, a fortaleza de São Jorge da Mina não fazia parte de
uma política colonialista, mas tão‑só de um esforço para salvaguardar o
exclusivo do comércio do ouro atlântico. Não havia nenhum propósito de
conquista territorial e nem sequer espiritual, pois o forte nunca foi encarado
como um foco irradiador do Cristianismo em África, e, embora o monarca
tenha patrocinado uma dinâmica proselitista inovadora, não a implementou
na Mina. Como o monopólio régio era desafiado quer por portugueses quer
por estrangeiros, convinha envolver o principal entreposto do ouro com uma
guarnição militar mínima, que bastasse para manter a região pacífica, para
guardar o metal precioso antes do seu transporte para o reino e para impedir
o trato dos particulares.
A edificação da fortaleza, sob o comando de Diogo de Azambuja, foi um
sucesso e o ouro continuou a jorrar para Portugal em quantidades extraordi‑
nárias; o seu encaixe na economia do reino proporcionou liquidez à Coroa e
contribuiu para que crescesse muito a Casa Real e para que D. João II e os seus
sucessores não tivessem de pedir impostos extraordinários às Cortes, o que
reforçou a centralização régia e contribuiu, por exemplo, para que as Cortes
quase deixassem de ser convocadas, tendo ficado reduzidas praticamente ao
papel de legitimação dos herdeiros da coroa a partir de 1499. O ouro da
Mina tornou os reis de Portugal mais absolutos, pois deixaram de ouvir as
queixas dos povos e porque tinham dinheiro para dar à nobreza – tenças
anuais, em vez de terras, o que lhes dava um maior poder sobre os seus súb‑
ditos, pois aos que caíssem em desgraça era mais fácil cortar um pagamento
do que reaver um território.
Hist-da-Expansao_4as.indd 82 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 83
A fundação de São Jorge da Mina integrou‑se, assim, no processo de apro‑
priação do mar oceano e dos novos negócios das Descobertas, que estava em
curso há meio século. No entanto, D. João II acrescentou‑lhe um significado
político que prenunciava uma nova atitude da Coroa em relação à expansão
ultramarina. Quando Diogo de Azambuja completou o seu triénio como
capitão da fortaleza, o monarca assinalou o seu regresso com a atribuição
de brasão de armas ao seu vassalo e com duas proclamações: acrescentou ao
seu título real a expressão «senhor da Guiné» e elevou a pequena fortaleza
à categoria de cidade.
Desde 1415, o título d’el‑rei de Portugal fora mudado duas vezes: D. João I
acrescentou‑lhe a sua conquista e passou a ser designado como «rei de Portu‑
gal e do Algarve e senhor de Ceuta», e D. Afonso V, em 1471, no rescaldo das
suas últimas conquistas, passou a intitular‑se «rei de Portugal e dos Algarves
d’Aquém e d’Além‑Mar». Em ambos os casos, a mudança da titulatura régia
assinalava a incorporação de novos territórios conquistados pela Coroa,
sendo que no caso de 1471 o monarca vincava o sonho da conquista do reino
de Fez, embora acabasse de abdicar de prosseguir a conquista nos vinte anos
seguintes, como vimos. Mais tarde, D. Manuel I voltou a alterar o título logo
a seguir ao regresso de Vasco da Gama, em 1499, mas o rei fez‑se proclamar
«senhor da conquista, da navegação e do comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia
e Índia»; tratava‑se de um título imperialista, pois concebia o direito de con‑
quistar terras sujeitas a outras autoridades, mas que reconhecia o seu carácter
programático, na medida em que o rei, de facto, não tinha então senhorios
nesses territórios nem planeava fazer conquistas nessas terras longínquas, mas
desejava apropriar‑se da navegação e do comércio das especiarias. Abrindo
caminho à política imperial e colonial da Coroa portuguesa, a declaração de
D. Manuel I, em 1499, foi sobretudo um acto político para consumo europeu,
como forma de vincar o monopólio luso sobre a Rota do Cabo.
Ao intitular‑se «senhor da Guiné», D. João II rompeu com a prática do
seu bisavô e do seu pai e foi mais ousado do que o seu sucessor, embora na
prática nunca tenha tentado conquistar territórios na África negra. O dado
novo, em 1486, era a existência de uma cidade portuguesa no golfo da Guiné.
Nessa altura, as cidades eram as sedes de dioceses, correspondendo a centros
urbanos relevantes, que em nada se podiam comparar com a exiguidade da
feitoria fortificada da Mina; aí não havia sequer uma família, muito menos
um bispo. Podemos admitir que ao chamar‑se «senhor da Guiné», o monarca
tinha em mente reafirmar o monopólio luso sobre o mar oceano, mas, se assim
foi, o modo como o fez tem laivos de uma nova política que não se interes‑
sava apenas pela hegemonia naval e, de facto, D. João II tentou alargar a sua
influência no continente africano pela dilatação da fé e pelo estabelecimento
de alianças militares com chefes locais.
Hist-da-Expansao_4as.indd 83 24/Out/2014 17:17
84 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A propagação do Cristianismo foi sempre uma das razões invocadas
por todos os agentes da Expansão Portuguesa para justificar a sua acção
e até o mercador Alvise Cadamosto referiu no seu relato de 1464 que ele
próprio tentara convencer um chefe da região dos Rios da Guiné a tornar
‑se cristão. No entanto, nos primeiros cinquenta anos dos Descobrimentos
não se registaram movimentações de clérigos em direcção às terras recém
‑descobertas; pelo contrário, houve mesmo o impedimento de deixar passar
para a Guiné o grupo de frades catalães que fora idealizado pelo papa, em
1462. D. João II também não enviou religiosos com a missão de anunciarem
espontaneamente o Evangelho pelas terras de África, mas promoveu a criação
de novas cristandades.
A conversão da Europa ao Cristianismo começara pela diáspora dos após‑
tolos e dos seus discípulos e irradiara por todo o Império Romano pelo carisma
de quem dava testemunho. Nos primeiros séculos foi uma religião das cata‑
cumbas, perseguida pelo poder, mas acabou por se tornar na religião oficial
de Roma e de beneficiar do apoio das instituições imperiais. Ao avançar para
lá do limes, a religião cristã voltou a depender do carisma dos missionários,
mas o sucesso final em cada território dependeu quase sempre da aceitação
dos reis, e a própria memória colectiva associa a conversão de certos povos
ao baptismo de um soberano2. A institucionalização da guerra santa, na
sequência das invasões muçulmanas, consagrada no espírito da cruzada,
reforçou esta ideia de que a conversão dos povos devia ser antecedida pela
adesão de um chefe – um território começava por ser politicamente cristão,
antes de os seus habitantes integrarem a comunidade dos baptizados. Por isso,
D. Afonso V, absorvido pela construção da hegemonia naval e pela guerra em
África, não promoveu a dilatação da fé nos territórios a sul do Bojador, mas
agora D. João II, «senhor da Guiné», mudou de atitude.
Como referimos no capítulo anterior, a par do seu enorme empenho na
descoberta do caminho marítimo para a Índia e no achamento do Preste João,
o Príncipe Perfeito procurou desencadear a cristianização da África negra,
seguindo o modelo tradicional de alargamento da Cristandade. Enquanto
prosseguiam o comércio com os negros, os oficiais da Coroa procuravam
sensibilizar os seus interlocutores para as vantagens de terem uma religião
comum. O que era apresentado não era o Evangelho, mas as armas poderosas
d’el‑rei de Portugal, que ele estaria na disposição de partilhar com os seus
aliados, mas o monarca só se aliava a príncipes cristãos.
O imperialismo joanino só podia ser aplicado através de alianças, pois, nas
palavras de João de Barros, o território africano estava protegido por «um
anjo percuciente com uma espada de fogo de mortais febres»3, onde a maio‑
ria dos portugueses e dos outros europeus morria num ápice devido a uma
doença ainda desconhecida, a malária. O rei que queria ser senhor da Guiné
Hist-da-Expansao_4as.indd 84 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 85
só podia ser suserano de reis locais, pois a sua hoste nunca poderia forçar nem
a implantação de uma colónia, nem a conquista de um território, até porque,
além do clima doentio, os negros eram inúmeros e grandes guerreiros. No seu
breve reinado, D. João II ensaiou três alianças com chefes africanos através
da ligação religiosa: com um chefe do Benim, com o Bemoim, candidato à
chefia dos Jalofos, e com o rei do Congo, mas só esta última foi bem‑sucedida.
Pouco se sabe sobre o caso do Benim. João de Barros limita‑se a informar
que um chefe quis aliar‑se ao rei de Portugal e que aceitou tornar‑se cristão,
pelo que a Coroa enviou um grupo de clérigos. Estes, quando se aperceberam
que afinal o chefe não estava verdadeiramente interessado em acatar as nor‑
mas de vivência cristã, regressaram de imediato ao reino. É particularmente
significativo este pormenor, que se repetiria, aliás, no caso da aliança com o
jalofo – os religiosos não ficavam em território de chefes gentios, pois estava
esquecido o espírito inicial do proselitismo cristão; agora não importava o
carisma do padre, mas antes a tutela de um senhor.
O episódio do jalofo merece atenção por várias razões. Trata‑se de um
caso em que a presença dos Portugueses no mar da Guiné esteve prestes a
transformar‑se num factor de desestabilização política da região, pois um
dos aspirantes à chefia da nação jalofa pediu auxílio aos brancos. Recebido
com aparato por D. João II, aceitou o baptismo em cerimónia pública e
logo regressou à sua terra com uma armada de apoio; em troca do auxílio,
autorizava os Portugueses a construir uma fortificação na foz do rio Senegal.
A empresa fracassou porque o capitão da esquadra assassinou o Bemoim,
interrompeu a construção da fortaleza e retornou ao reino, o que se deveu,
por certo, ao medo das febres e à constatação de que a posição seria insus‑
tentável se D. João Bemoim não vencesse a guerra4.
Constatamos, assim, uma vez mais, a enorme dificuldade do Portugal
tardo‑medieval em empreender uma expansão de conquista, salvo nas ilhas
desabitadas. Estamos em crer, porém, que o detalhe mais relevante deste epi‑
sódio é a data em que ocorreu – o ano de 1489, o mesmo em que D. João II
tentou construir uma fortaleza no sertão marroquino, a algumas léguas de
Arzila e de Larache. Estes acontecimentos são a melhor prova de que o plano
joanino não se resumia à busca da Índia das especiarias; como se vê, no
momento em que acabava de transformar as Tormentas em Boa Esperança,
por ter conseguido abrir a porta de acesso aos mares do Oriente, o monarca
não descurava as outras frentes da expansão e tentava forjar uma cristan‑
dade em África, ao mesmo tempo que procurava dar espessura territorial à
presença lusa em Marrocos.
Finalmente, em 1490, o rei logrou encontrar um chefe disposto a abraçar
o Cristianismo. Tratava‑se do rei do Congo, que na sequência do baptismo
logo recebeu o apoio de uma hoste que o apoiou na guerra5. No entanto, a
Hist-da-Expansao_4as.indd 85 24/Out/2014 17:17
86 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
natureza do clima africano continuou a impedir os Portugueses de desen‑
cadearem uma política de intervenção sistemática no continente africano.
D. Manuel I continuou a apoiar a cristandade do Congo e enviou mesmo
algumas expedições destinadas a tentar desenvolver aí uma sociedade mais
próxima à europeia, mas essas tentativas fracassaram6 e a ligação do reino do
Congo ao Cristianismo e a Portugal foi esmorecendo, ao longo do século xvi.
As primeiras sociedades luso‑africanas despontaram, assim, nos arqui‑
pélagos de Cabo Verde e de São Tomé. Este último foi descoberto em 1471,
mas o seu povoamento só foi tentado no reinado de D. João II. Tal como
sucedia nos Açores e na Madeira, as sociedades insulares tinham uma forte
componente de população escrava. Nas ilhas do Norte eram mouros vindos
do reino de Fez, que acabaram por se diluir na população, enquanto nas do
Sul eram negros das terras continentais fronteiras. Os brancos chegavam e
morriam, ou voltavam para o reino assim que podiam, e na terra ficavam os
negros, escravos ou forros, mais os descendentes dos europeus. Os lugares
de topo dessas sociedades eram ocupados por reinóis que apenas queriam
sobreviver às comissões, mas a aristocracia local, que ocupou mesmo a
câmara municipal e os cargos eclesiásticos até à conezia, eram gente da terra,
uns mulatos, outros negros.
Desde a primeira hora, o Império Português assentava numa estrutura
hierarquizada em que o reinol de pele branca ocupava o topo; aliás, os des‑
cendentes dos negros que haviam sido os primeiros povoadores de São Tomé
chamavam‑se a si próprios «brancos» para realçarem a sua primazia pela
ancestralidade. Esta superioridade do reinol não impediu, contudo, que o
Império Português viesse a registar níveis de miscigenação e de participação
de indígenas e mestiços na vida pública muito superiores aos dos demais
impérios criados pelos Europeus nos séculos seguintes.
D. João II introduziu uma novidade no processo de ocupação das ilhas
atlânticas, pois não promoveu novas donatarias. A Casa de Viseu‑Beja con‑
servou todos os privilégios que detinha desde que D. Duarte criou o sistema,
em 1433, mas a ilha de São Tomé permaneceu sob a tutela da Coroa e o rei
nomeou membros da Casa Real para o cargo de capitão da ilha, ao mesmo
tempo que na emissão de cartas de ilhas por descobrir prometia a capitania
dos territórios que viessem a ser achados, em vez de se comprometer com a
doação dos mesmos, como fizera D. Afonso V.
*
O reinado do Príncipe Perfeito foi breve e marcado por uma persistente
tensão interna, primeiro por causa da má relação entre a Casa Real e a Casa
de Bragança mais o duque de Viseu (1481‑1484), e depois devido à morte
Hist-da-Expansao_4as.indd 86 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 87
do príncipe D. Afonso e a previsível extinção da descendência legítima de
D. Afonso V perante o agravamento da doença de D. João II (1491‑1495).
Nas suas linhas gerais, a política joanina não se alterou com a chegada ao
poder do seu sucessor, mas foi o venturoso D. Manuel quem concretizou os
sonhos acalentados pela Coroa portuguesa no quarto de século que antecedeu
a sua entronização.
A realeza do duque de Beja
D. Manuel, duque de Beja, começou a vislumbrar o trono no dia em
que o sobrinho caiu do cavalo, mas nunca contou com o apoio do rei.
No entanto, não manifestou desagrado público pelos esforços de D. João II
para legitimar o bastardo D. Jorge. Inamovível, esperando pelo triunfo do
Direito, D. Manuel subiu ao trono a 25 de Outubro de 1495 e a formação
do império seguiu o seu rumo já imparável, e o horizonte rasgou‑se em cinco
anos com a chegada à Índia e a descoberta do Brasil.
Deve‑se referir, contudo, que os domínios ultramarinos da Coroa portu‑
guesa se reforçaram assim que o duque de Beja cingiu a coroa, pois as suas
terras passaram a integrar o património da Coroa. D. Manuel era senhor
dos arquipélagos da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde e era também
governador da Ordem de Cristo. Recebia, por isso, a totalidade das rendas
das produções daquelas ilhas, como duque de Beja, mais a vintena (5%) do
comércio do ouro da Guiné, pela Ordem de Cristo. Governante reformador
e centralizador, D. Manuel I empenhou‑se no reforço do poder da Coroa e,
por isso, não abriu mão dos territórios de que dispusera enquanto principal
aristocrata do reino e os rendimentos da Coroa aumentaram imediatamente,
calculando‑se que só o açúcar da Madeira passou a valer 5% das receitas
da monarquia7.
Como é sabido, não foi essa a última vontade de D. João II que, no seu
testamento, solicitava ao herdeiro que doasse a D. Jorge, já governador das
ordens de Santiago e de Avis, o ducado de Coimbra, a ilha da Madeira e
o governo da Ordem de Cristo. Lembrado sempre como um monarca cen‑
tralizador, capaz de esmagar as casas ducais que não acatavam o seu poder
absoluto, afinal D. João II despedia‑se do mundo desejando que o reino
se partisse em dois com a emergência de uma grande Casa privada capaz
de fazer sombra ao próprio rei. No entanto, D. Manuel limitou‑se a dar a
D. Jorge o ducado de Coimbra, e aumentou, assim, o poder da Coroa no
Atlântico.
Nos meses seguintes à tomada do poder, D. Manuel I aplicou logo o plano
reformista que decerto arquitectara enquanto via o cunhado a definhar:
Hist-da-Expansao_4as.indd 87 24/Out/2014 17:17
88 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
promoveu a reforma dos forais, das comarcas, dos hospitais e dos pesos e
medidas; reorganizou os arquivos da monarquia com a Leitura Nova, pro‑
mulgou as novas ordenações e renovou muitas das cidades e vilas do país,
ao mesmo tempo que polvilhava o reino e as suas dependências ultramarinas
com uma vasta obra arquitectónica que hoje designamos por manuelino.
Ao mesmo tempo prosseguiu a política expansionista dos seus antecessores,
continuando a promover a exploração do Atlântico e o povoamento das suas
ilhas, a cobiçar o reino de Fez e a sonhar com a aliança com o Preste João,
enquanto preparava a expedição que havia de ir buscar a Índia, decisão que
ele comunicou aos membros do Conselho logo nos primeiros meses do seu
reinado.
Importa notar, porém, que, nas vésperas de alargar desmesuradamente
a área sob a influência da Coroa portuguesa, o monarca já dispunha das
principais fontes de riqueza que lhe permitiram realizar uma política abso‑
lutista com uma decoração homogénea, ao ponto de o seu símbolo pessoal,
a esfera armilar, vir a tornar‑se num dos símbolos de Portugal até aos nossos
dias. Com efeito, a riqueza da Coroa não seria alcançada pelo comércio das
especiarias, pois os ganhos extraordinários que gerou foram absorvidos em
grande parte pelos custos elevadíssimos das armadas da Índia. Na verdade, a
riqueza de Portugal estava no Atlântico: no açúcar da Madeira, nos impostos
(quarto e vintena) sobre o comércio de escravos e, sobretudo, no ouro da
Mina. O metal jorrava persistentemente desde o golfo da Guiné, adquirido
por uma bagatela e transportado em pequenas caravelas sem escolta, uma
vez por mês, sendo que raras foram as que se perderam. A Índia estava
prestes a ofuscar e a deslumbrar, mas nunca foi o sustentáculo do Império
Português.
Em busca de cristãos e de especiarias
A 8 de Julho de 1497, partiu de Lisboa a armada de Vasco da Gama8;
foram precisos dois anos para que os sobreviventes regressassem com a
notícia de que tinham estado em Calicute e com os porões cheios das tão
desejadas especiarias; aparentemente, os Indianos eram maioritariamente
cristãos, mas o comércio marítimo estava nas mãos dos mouros.
Entretanto, a 24 de Junho de 1497, ainda antes da partida do Gama,
Caboto, um veneziano ao serviço da Inglaterra, desembarcou na América,
convencido, tal como Colombo, de que estava num território do extremo
oriente asiático. Os Tudor pareciam estar em condições de rivalizar com
Portugueses e Castelhanos no comércio oceânico, mas a segunda expedi‑
ção de Caboto ao Ocidente redundou no desaparecimento de toda a frota.
Hist-da-Expansao_4as.indd 88 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 89
A configuração do Mundo permanecia incerta, mas a geografia favorecia
el‑rei de Portugal na corrida aos mercados orientais9.
A viagem de Vasco da Gama permitiu a definição da Rota do Cabo:
ficou definido o trajecto a seguir pelas naus, os pontos de apoio essenciais e
a data mais propícia para a partida quer de Lisboa, quer da Índia, em fun‑
ção dos ventos de monção que determinam a navegação à vela no oceano
Índico. O desconhecimento quase absoluto do sistema mercantil oriental e
das civilizações que ocupavam a Índia provocou vários equívocos, pois nem
sequer traziam prendas para o samorim adequadas às práticas diplomáticas
da região. A expedição foi organizada na expectativa de que se poderia
alargar à Índia o modelo de comércio pacífico que era praticado ao longo
da costa ocidental africana e desconhecendo o elevado grau de sofisticação
e de luxo das cortes asiáticas.
O relato escrito por um dos membros da expedição, presumivelmente
Álvaro Velho, deixou bem claro tanto a impreparação dos navegadores para
actuarem no meio asiático como os equívocos ocorridos, que permitiram
mesmo que o Gama e os seus companheiros julgassem ter visitado uma igreja
quando entraram num templo hindu, apesar de os «santos» serem pintados
«em diversa maneira, porque os dentes eram tão grandes que saíam da boca
uma polegada, e cada santo tinha quatro e cinco braços»10.
Ainda assim, o resultado económico da viagem foi promissor e D. Manuel I
exultou com o regresso do Gama e, como dissemos atrás, logo proclamou
os seus novos domínios: pelo menos desde 25 de Agosto de 1499 passou a
intitular‑se, como vimos, «senhor da conquista, da navegação e do comércio
da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia». Não reclamava direitos sobre terras mais
a oriente, embora a súmula de portos asiáticos trazida por Vasco da Gama
já alargasse o horizonte até ao estreito de Malaca. Esta aparente estreiteza
da ambição manuelina, em 1499, mostra‑nos como o império estava a ser
construído a uma escala intercontinental, mas continuava a ser idealizado
dentro de uma geoestratégia centrada no Mediterrâneo – eram as regiões
que comerciavam e se relacionavam directamente com o mundo mediter‑
rânico há mais de um milénio que interessavam ao monarca português e à
Cristandade11. As terras mais distantes ainda não despertavam a atenção da
Coroa lusa, nem sequer o Cipango que atraíra Colombo ao Ocidente, nem
tampouco o Cataio que maravilhara o imaginário dos Europeus através das
descrições de Marco Pólo. No entanto, as primeiras expedições à Índia logo
notaram as referências a um povo poderosíssimo, os «chins», e a uma louça
ainda mal conhecida na Europa, que logo começou a ser embarcada nas naus
da Índia. Pouco depois, D. Manuel I oferecia peças de porcelana aos sogros,
sem saber, por certo, que este produto viria a ser um dos negócios que ali‑
mentariam a Carreira quando o trato das especiarias perdesse fulgor. Assim,
Hist-da-Expansao_4as.indd 89 24/Out/2014 17:17
90 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
neste ano de 1499, o rei de Portugal deixava clara a sua política imperialista
que continuava a ver o Mundo como o mapa de Fra Mauro o idealizara,
mas que não admitia a concorrência dos outros príncipes da Cristandade.
Estava criada, assim, a primeira rota marítima directa entre a Europa e
a Índia – a mais difícil das viagens criadas pelos Europeus na primeira fase
da globalização. Com efeito, era a travessia mais longa e a mais dura, com
mudanças de clima muito pronunciadas ao longo do trajecto, pois a seguir ao
início da Primavera do Hemisfério Norte seguia‑se o calor tórrido e húmido
das águas equatoriais, passando depois para o Inverno austral, para reentrar
finalmente no clima tropical e na humidade opressiva do Sudoeste Indiano.
A viagem durava cerca de cinco a seis meses, se não houvesse incidentes
graves, o que exigia uma operação logística complexa para assegurar que a
tripulação tinha víveres e água para todo o percurso. Eram poucas as escalas:
Moçambique à ida, e os Açores à volta, com o apoio das ilhas de Cabo Verde
em ambos os sentidos e da ilha de Santa Helena na torna‑viagem, a partir da
sua descoberta, em 1502.
No entanto, em 1499‑1500, o conhecimento do Atlântico Sul ainda pre‑
cisava de uns ajustes, o que foi resolvido com a segunda armada da Índia,
que zarpou em Março de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral.
A riqueza do mercado asiático e a oposição dos muçulmanos levaram o rei
a enviar uma esquadra muito mais numerosa, composta por 13 navios: dez
navios destinados à Índia para a carga de especiarias e com capacidade para
guerrear os inimigos; mais dois navios destinados a explorar a costa oriental
africana, sob o comando de Bartolomeu Dias, o vencedor do Adamastor;
finalmente, um navio de apoio, cuja missão se completou ainda no Atlântico,
como veremos a seguir12.
Cabral reforçou os laços com o rei de Melinde, na costa oriental africana,
e levou os seus navios até Calicute. Foi autorizado pelo samorim a erguer
uma feitoria, mas os muçulmanos provocaram a sua destruição e o massacre
da guarnição. Cabral ripostou com violência e fez destruir muitos navios dos
mouros, demonstrando a superioridade militar das suas naus e caravelas.
Estava lançado o mote para uma guerra secular entre Portugueses e mouros
no Índico13. O comércio das especiarias ficou em risco, mas os Portugueses
logo se aperceberam de que a fragmentação política de toda a orla costeira
afro‑asiática jogava a seu favor. Com efeito, assim que soaram as notícias
do conflito em Calicute, logo surgiu o convite do rei de Cochim (vizinho e
rival do samorim) para que a armada lusa o visitasse e se abastecesse aí das
especiarias. Estabeleceu‑se, assim, uma aliança duradoura entre Portugal e
Cochim que permitiu a afirmação de Portugal como potência dos mares da
Ásia. E estando em Cochim, Cabral recebeu o convite do rei de Cananor,
outro rival de Calicute.
Hist-da-Expansao_4as.indd 90 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 91
A segunda armada da Índia sofreu perdas consideráveis, devido a acidentes
no mar, mas regressou com pimenta suficiente para recuperar o investimento
e com a garantia de que o negócio poderia continuar, pois o mercado indiano
podia satisfazer a procura, mas também trouxe a certeza de que o jogo das
trocas não se regularia apenas pelas regras da economia. Era preciso impor
a presença lusa pela força e havia pretextos suficientes para atacar as linhas
de comércio muçulmanas e para tentar o bloqueio do mar Vermelho. Era
sabido que ao impedir o fluxo das especiarias até ao Egipto se estaria a ferir
de morte o Império Mameluco, senhor do Cairo, da Síria, da Palestina e da
Arábia, guardião de Meca e de Jerusalém. Subsistia a velha ideia de cruzada,
e persistiam também outras rivalidades mediterrânicas que se agitaram e
revigoraram com a viagem do Gama14.
Voltamos, assim, a falar do Mediterrâneo a propósito da criação da Rota
do Cabo, na medida em que a abertura deste novo circuito intercontinental
enquadra‑se também nas velhas lutas entre as repúblicas italianas. Com
efeito, entre os principais apoiantes e financiadores de D. Manuel I nestes
últimos anos da centúria de Quatrocentos contavam‑se banqueiros genove‑
ses e florentinos, que ambicionavam ver Veneza transformada num porto
de pescadores, pois era a Senhoria quem detinha o monopólio da venda das
especiarias à Cristandade15.
Em 1500, Pedro Álvares Cabral deixou um punhado de homens em
Cochim e recebeu ainda, como vimos, a manifestação de interesse do rei de
Cananor. Os vizinhos de Calicute viram na chegada dos portugueses uma
excelente oportunidade para alterar (a seu favor) o equilíbrio de forças que
durava há décadas na província do Malabar. Pedro Álvares Cabral regressou
a Portugal no final de Julho de 1501, e trazia mais uma notícia importante:
havia, de facto, cristãos na Índia, mas não passavam de uma pequena minoria,
e o samorim, como a maioria dos indianos, professava uma outra religião,
até então desconhecida. Os Portugueses tinham de fazer a guerra pelos seus
próprios meios, se queriam ser os novos redistribuidores das especiarias na
Europa.
Entretanto, na Primavera de 1501, D. Manuel I enviou uma nova armada,
sob o comando de João da Nova. Tinha apenas quatro navios, como a de
Vasco da Gama, e seguiu viagem tendo por certo que a esquadra cabralina
havia criado boas condições para o negócio das especiarias. Mensagens
deixadas por Pedro Álvares Cabral na costa oriental africana permitiram
que João da Nova rumasse a Cochim, em vez de se dirigir a Calicute, e que
comprasse as especiarias aí e em Cananor16.
Com o regresso de Cabral a Portugal, em Julho de 1501, a corte portu‑
guesa ficou finalmente esclarecida sobre a realidade indiana. D. Manuel I
não hesitou e ordenou o envio de uma grande armada no ano seguinte.
Hist-da-Expansao_4as.indd 91 24/Out/2014 17:17
92 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Na Primavera de 1502, partiram vinte navios para a Índia com cerca de
2000 homens, sob o comando de Vasco da Gama. Iniciou‑se, então, a polí‑
tica de imperialismo marítimo luso no Índico. O regimento da esquadra de
1502 visava a imposição da autoridade do rei de Portugal nessas paragens
longínquas, através de mecanismos imperialistas, nomeadamente a imposição
de tributos a soberanos locais e a proibição de circulação nos mares aos seus
inimigos, iniciando a emissão de salvos‑condutos para os aliados e assumindo
o direito de afundar a navegação da mourama17. E o âmbito de actuação dos
capitães d’el‑rei alargava‑se a todo o Índico Ocidental – não se limitavam a
defender os interesses portugueses na Índia, mas deviam também atacar as
linhas mercantis que alimentavam o mar Vermelho. E tudo foi feito de um
modo eficaz e impiedoso: o sultanato de Quíloa pagou páreas a Portugal, tal
como tinha sido prática entre cristãos e muçulmanos na Hispânia nos tempos
da Reconquista; Vasco da Gama interceptou um navio com peregrinos vindos
de Meca e massacrou todos os peregrinos, atacou Calicute e os seus aliados
islamitas, negociou com Cochim e Cananor, e deixou na Índia cinco navios
para defender os reinos aliados e para atacar a navegação muçulmana.
Com o triunfo dos Portugueses, o eixo Calicute‑Alexandria‑Veneza tre‑
meu; os mercadores alemães instalados na cidade italiana perceberam que as
relações económicas euro‑asiáticas estavam em transformação e buscaram
novo poiso em Lisboa18. Nascia o Império Português… um império que
não tinha colónias, que por enquanto não dominava territórios, excepto os
arquipélagos atlânticos, mas que impunha a vontade d’el‑rei de Portugal em
desvairadas partes do Mundo e que fazia do oceano Atlântico o novo grande
eixo de comunicação da Humanidade.
A Terra de Vera Cruz19
Ao mesmo tempo que explorava, em regime de monopólio, os mares da
Ásia, a Coroa portuguesa continuou as acções de reconhecimento do Atlân‑
tico, o mar oceano que finalmente ganhava forma, com o aparecimento de
terras a ocidente – primeiro umas ilhas, mas depois linhas de costa intermi‑
náveis de uma terra firme que afinal não pertencia à Ásia. Assim, enquanto
os Portugueses se assenhoreavam do trato das especiarias, a Cristandade
assistia, estupefacta, ao aparecimento de um Novo Mundo, o continente
americano. Portugal e Castela haviam partilhado o oceano em 1494, mas
outras monarquias atlânticas, nomeadamente a Inglaterra e a França, cedo
se interessaram por esses territórios mais acessíveis.
D. Manuel I estava atento e continuou a explorar as águas a ocidente da
linha divisória acordada em Tordesilhas, de norte a sul. Nos últimos anos
Hist-da-Expansao_4as.indd 92 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 93
do século xv, os irmãos Corte‑Real rumaram a noroeste e reconheceram a
região da Terra Nova e andaram, pelo menos, pela orla costeira do actual
Canadá, de onde chegaram a enviar indígenas para serem vistos pelo rei.
Tratava‑se de fidalgos da mais estrita confiança do monarca, pois perten‑
ciam a uma linhagem que servia há décadas a Casa de Viseu e cujo pai fora
vedor da Fazenda de D. Manuel enquanto duque, além de ser o capitão de
Angra e da ilha de São Jorge. Os irmãos ficaram perdidos por essas terras
geladas e a Coroa lusa desligou‑se do Atlântico Norte e concentrou‑se nas
águas meridionais, mas foram conhecidas então as zonas pesqueiras do
bacalhau, que passaram a ser frequentadas sistematicamente pelos navios
portugueses.
O Inverno rigoroso aliado à falta de civilizações economicamente interes‑
santes, e conjugado com a concorrência europeia, que obrigaria a dispersar
as forças militares da Coroa, fez com que o monarca não tenha enviado mais
navios para a Terra Nova. Sabia, além disso, que no Sul tinha outras terras
para explorar e que podiam ser de grande importância para o próprio sucesso
da Rota do Cabo. Por isso, a armada da Índia de 1500 tinha objectivos a
cumprir ainda no Atlântico. Pedro Álvares Cabral, o capitão‑mor, era da sua
estrita confiança, com ligações pessoais e dos seus antepassados quer à Casa
Real, quer à Casa de Viseu‑Beja, era cavaleiro da Ordem de Cristo e tinha
ainda um meio‑irmão que era capelão d’el‑rei (como sucedia, aliás, com Vasco
da Gama20). A missão de Cabral no Atlântico foi decerto a mais bem‑sucedida
operação secreta da História da Expansão Portuguesa.
O Tratado de Tordesilhas previa a realização de uma armada conjunta
luso‑castelhana que navegasse ao longo da linha divisória acordada, para
reconhecer quais as terras que cabiam a cada reino. Os Reis Católicos sem‑
pre manifestaram vontade de organizar essa expedição, mas D. Manuel I
esquivou‑se sistematicamente. Ao mesmo tempo que enviou os seus homens
de confiança para o Norte, outros navegadores continuaram a explorar o
Atlântico Sul21 e foi‑se formando a convicção de que existiam aí terras den‑
tro da área de jurisdição portuguesa. Nesses anos de formação do império
marítimo, o que interessava era a salvaguarda das rotas oceânicas; a urgência
era a mesma que levara D. Afonso V, em 1466, a abdicar de rendas da Coroa
para assegurar a ocupação da ilha de Santiago. A definição da Carreira da
Índia como uma rota que obrigava a atravessar o Sudoeste do Atlântico exigia
que Portugal controlasse quaisquer terras que existissem nas proximidades, a
fim de evitar que uma potência rival as ocupasse e pudesse criar dificuldades
às naus das especiarias.
A 22 de Abril de 1500, a armada da Índia, comandada por Pedro Álvares
Cabral, fundeou à vista de uma praia e aí permaneceu dez dias. O capitão
‑mor chamou‑lhe Terra de Vera Cruz, mas seria a madeira dos negócios,
Hist-da-Expansao_4as.indd 93 24/Out/2014 17:17
94 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
o pau‑brasil, que viria a dar o nome ao território. As fontes mostram que
os navios buscaram deliberadamente terra naquela zona, interrompendo o
caminho directo para o Índico. Antes de retomar a viagem, Cabral enviou
o navio mais pequeno da armada de volta para o reino com as novas do
achamento. Não há notícia da chegada do navio de Gaspar de Lemos a
Lisboa, nem da difusão desta notícia; não há tampouco referência ao envio
de indígenas e de animais exóticos para el‑rei, como era habitual e até os
Corte‑Real haviam feito desde o Canadá. O achamento continuava a ser
desconhecido quando em Março de 1501 D. Manuel I enviou uma frota de
três caravelas a explorar as terras achadas no ano anterior. Assim, o Brasil
só começou a ser falado quando chegou a Lisboa a primeira nau da armada
cabralina, a 24 de Junho de 1501. D. Manuel I ainda retardou por mais um
mês a preciosa informação e só no final de Julho, após a chegada do capitão
‑mor, é que notificou a rainha de Castela da descoberta. Nessa altura, os seus
oficiais já exploravam tranquilamente o novo território e confirmavam que
não se tratava de uma ilha, mas de um espaço vasto que parecia configurar
um Novo Mundo.
Os factos que acabámos de referir só têm uma explicação: o rei ordenou
a busca de terras no Atlântico antes de a armada passar o Cabo e estipulou
que as notícias dessa missão deviam chegar a Portugal de forma discreta e
sem o aparato tradicional com que eram anunciadas as descobertas. Só uma
ordem específica do monarca justifica que Pedro Álvares Cabral não tenha
enviado indígenas, papagaios e araras para Portugal, e só a mesma ordem
torna compreensível que a tripulação de Gaspar de Lemos tenha mantido
um silêncio absoluto sobre o que havia visto do outro lado do oceano. Com
esta manobra sigilosa bem‑sucedida, D. Manuel I pôde explorar as terras do
Brasil sozinho, ao arrepio do que fora acordado em Tordesilhas.
D. Manuel I não acrescentou o seu título por causa do achamento de 1500,
do mesmo modo que pouco investiu nessas novas terras. Deslumbrado com
as especiarias, esperançoso nas conquistas em Marrocos, enriquecido pelos
negócios do Atlântico, limitou‑se a neutralizar as terras do Sudoeste, evitando
que estas se tornassem na base de um rival, e arrendou o comércio do pau
‑brasil, aproveitando o interesse das manufacturas tintureiras por aquela
madeira22. Ofuscado por uma geoestratégia imperial ainda condicionada pela
geografia que vemos no mapa de Fra Mauro, o Brasil tardou umas décadas
a tornar‑se numa peça importante do Império Português.
Entretanto, os descobrimentos quatrocentistas haviam tornado a geogra‑
fia medieval obsoleta e um novo Mundo começava a poder ser desenhado.
O planisfério mais antigo que se conhece foi desenhado em Lisboa, no Outono
de 1502, no mesmo ano em que nasceu D. João III. A civilização cristã,
embora continuasse perdida no labirinto de intermináveis lutas pelo poder,
Hist-da-Expansao_4as.indd 94 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 95
ganhava consciência das novidades extraordinárias que lhe chegavam por
via de Lisboa; os Descobrimentos continuavam a ser uma das facetas dinâ‑
micas desse processo fascinante da renovação europeia que denominamos
de Renascimento23.
Uma era maravilhosa
Nesse mesmo ano de 1502, Valentim Fernandes, um tipógrafo alemão esta‑
belecido em Portugal há anos, imprimiu uma tradução em português do Livro
de Marco Pólo. Antecedeu‑o de uma introdução em que usou repetidamente a
palavra «maravilhoso» para se referir a este tempo de descobertas. Nos anos
que se seguiram, dezenas de textos sobre os territórios ultramarinos foram
impressos por toda a Europa, alguns com várias reedições e com tradução
em várias línguas24. As novidades do Além‑Mar interessavam à Europa culta
e mesmo aos príncipes que faziam a guerra, mas que, em regra, também se
empenhavam na promoção do conhecimento e se esforçavam por fazer das
suas cidades espaços modernos e desenvolvidos, entendendo‑as, assim, como
centros culturais e artísticos. Lembre‑se que o planisfério de 1502 é conhecido
como mapa de Cantino, que é o nome do espião que o obteve ilicitamente
em Lisboa por encomenda do duque de Ferrara.
O maravilhamento de Valentim Fernandes reflecte, sem dúvida, o entu‑
siasmo de uma civilização por esta verdadeira revolução por que passava a
sua concepção da geografia e da Natureza. Já Zurara proclamara a grandeza
do infante D. Henrique que tinha à sua mesa ovos de ema, ao mesmo tempo
que dava testemunho de uma fauna nova ao descrever, por exemplo, os «cága‑
dos do mar»; e o cronista também deu conta da surpresa dos nativos africanos
pelo aparecimento de grandes navios no mar, confundidos inicialmente com
peixes gigantes, porque não eram só os Europeus que viam no oceano um
espaço propício para a existência de seres estranhos e ameaçadores. Depois
Cadamosto dera novos testemunhos de maravilhamento; também notou,
como vimos, a incredulidade dos negros por verem homens de pele branca
(porque o descobrimento era recíproco) e procurou descrever um grande
animal ainda desconhecido dos Europeus, que tinha quatro patas, o corpo
de uma vaca, o focinho de um cavalo e os dentes de um javali, mas que o
veneziano julgou ser um peixe, pois nenhum mamífero do Velho Mundo
passa tanto tempo dentro de água como os hipopótamos25. Ao lado dos
produtos que faziam o grande negócio euro‑africano circulavam animais
exóticos, como macacos e cobras, para serem vendidos ou mostrados a el‑rei
ou a algum senhor poderoso e curioso. Outros objectos e adornos também
circulariam sem que a documentação os registasse, mas que iam criando
Hist-da-Expansao_4as.indd 95 24/Out/2014 17:17
96 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
novos hábitos de consumo e de decoração, como é o caso da esteira africana,
provavelmente originária do Congo, que foi pintada por Jorge Afonso num
quadro da Anunciação que integrava um retábulo do Mosteiro da Madre
de Deus, em Lisboa, e que foi produzido por volta de 151526. E por onde
passavam, os Portugueses também continuavam a maravilhar, tendo sido
imortalizados, por exemplo, com as suas armaduras, barbas e cruzes, mais o
escudo com as cinco quinas e a cruz de Cristo em peças de marfim do Benim27.
No oceano, os navegadores podiam observar as águas repletas de baleias
ou admirar o salto dos peixes‑voadores28, atemorizar‑se com os tubarões ou
deliciar‑se com a carne de tartaruga; em terra viam uma fauna e uma flora
prodigiosas, e já D. João II tinha uma série de animais exóticos enjaulados
no Paço da Alcáçova, em Lisboa. O avistamento de bestas tão diversas e, por
vezes, inesperadas levava à convicção de que outras ainda mais bizarras ou
descomunais poderiam existir pelo sertão adentro. No início do século xvi,
Duarte Pacheco Pereira escreveu o Esmeraldo de Situ Orbis, obra em que
descrevia a costa ocidental africana, baseado nas suas próprias aventuras ao
longo das duas últimas décadas quatrocentistas. A par do rigor das descrições
das terras e das gentes que havia observado, o autor fala‑nos, como vimos, da
existência de homens com cara de cão, que não viu mas que ouviu, e refere
umas cobras raras que teriam um quarto de légua de comprimento. E Duarte
Pacheco rematava as suas referências a animais fantásticos argumentando
que a experiência que adquirira ao ver tanta coisa inimaginável o levava
a acreditar na existência dessas cobras gigantescas: «e isto é duro de crer
a quem não tem a prática destas cousas como nós temos»29.
Os homens do século xvi viviam, de facto, num mundo em construção:
a configuração da terra e do mar estava a ser reaprendida e a Natureza
revelava‑se prodigiosa. Sucedia‑se de modo vertiginoso a descoberta de
novas espécies animais e vegetais, e o exótico tornou‑se, então, numa forma
de a Coroa de Portugal realizar ofertas prestigiantes, que maravilhavam o
receptor, e logo começaram a despontar coleccionistas de exótico por toda
a Europa30. De todos os animais que surpreenderam nestes primeiros anos
de Quinhentos, o que teve maior impacto na Europa foi, sem dúvida, o
rinoceronte. A besta quadrúpede com um chifre, que se sabia existir na Índia
desde os tempos de Gregos e Romanos, fora transformada pelos artistas
ocidentais num elegante equídeo, o unicórnio, mas em 1514 chegou a Lisboa
um rinoceronte que fora oferecido pelo rei do Guzerate a D. Manuel I31.
Pela primeira vez na História o verdadeiro unicórnio era visto pelos Euro‑
peus; o rei português, maravilhado, tentou repetir o fausto da Roma dos
Césares e organizou uma luta entre o rinoceronte e um dos seus elefantes, a
1 de Maio de 1515, mas este último recusou combater e fugiu pelas ruas de
Lisboa. A fama do rinoceronte não resultou, porém, de ter afugentado um
Hist-da-Expansao_4as.indd 96 24/Out/2014 17:17
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481‑1502) 97
elefante no actual Cais do Sodré, mas antes de uma gravura que Albrecht
Dürer desenhou e fez imprimir e que se difundiu pela Europa nesse ano de
1515, como prova do enorme interesse que os Descobrimentos suscitavam
entre a elite culta europeia. Este caso específico demonstra‑nos que já havia
canais de comunicação que difundiam rapidamente as principais novidades
que iam chegando ao Tejo, mantendo algumas personagens sempre a par do
que se passava em Lisboa.
O tempo dos Descobrimentos foi, pois, uma época de aprendizagem
intensa e recíproca. Neste olhar pelo maravilhamento dos homens deve‑se
evocar ainda a carta de Pêro Vaz de Caminha, que narra os dias em que a
armada de Pedro Álvares Cabral se deteve no Brasil. Caminha dá‑nos teste‑
munho dos sentimentos dos membros da armada em relação aos indígenas
aí encontrados. Fascinado, verdadeiramente maravilhado, o autor reconhece
que naquele ambiente não teve vergonha de estar lado a lado com mulhe‑
res nuas. Estavam numa terra diferente em que não se aplicavam as regras
sociais da Cristandade, o que despertou a esperança de terem encontrado
uma sociedade quase perfeita, por viver numa inocência em que os cristãos
só encontravam paralelo no Paraíso, antes de Adão e Eva terem trincado a
maçã do conhecimento e do pecado.
As sociedades ameríndias não viviam, de facto, nessa inocência, mas o
homem renascentista tinha a esperança de encontrar resquícios de outros
tempos menos violentos, e uma terra perdida do outro lado do oceano era um
local adequado para encontrar gente mais primitiva e mais pura. D. Manuel I
faz menção à inocência dos índios brasileiros, como gente que parecia não ter
sido manchada pelo pecado original, na carta que escreveu aos Reis Católicos
em Julho de 1501, o que nos mostra que a visão de Caminha foi acolhida pelo
monarca: «chegou uma terra que novamente descobriu a que pôs o nome
de Santa Cruz, na qual achou as gentes nuas como na primeira inocência,
mansas e pacíficas»32. E talvez tenha passado mais além, pois Jerónimo Bosch
pintou anos mais tarde o célebre Jardim das Delícias, onde há marcas claras
de influência da Expansão Portuguesa. No volante da esquerda a fauna do
Paraíso tem elementos africanos, ao contrário do habitual, incluindo a melhor
representação de um elefante na pintura europeia do primeiro quartel do
século xvi, só possível se o artista dispusesse de esboços vindos de Lisboa,
e Bosch morava, de facto, em Antuérpia, na mesma rua em que se situava
a feitoria de Portugal. Além deste pormenor, olhe‑se para o painel central
em que homens e mulheres, brancos e negros, convivem harmoniosamente,
nus, mas sem qualquer tipo de práticas sexuais; somos confrontados com
a nudez, mas não com a luxúria e, muito menos, com o deboche. Faltam, é
certo, índios nessa pintura, mas a descrição dos indígenas feita por Pêro Vaz
de Caminha pode ser ilustrada pos esta pintura de Bosch, pois remete‑nos
Hist-da-Expansao_4as.indd 97 24/Out/2014 17:17
98 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
para o mesmo ambiente de paz e harmonia que perpassa pelo quadro, e
interpretações recentes entendem que se trata de uma recriação do que seria
o mundo sem o pecado original – precisamente a utopia que Cabral, Caminha
e os seus companheiros, mais o seu rei, quiseram crer que existia do outro
lado do oceano33.
Hist-da-Expansao_4as.indd 98 24/Out/2014 17:17
PARTE II
O IMPÉRIO MARÍTIMO
Hist-da-Expansao_4as.indd 99 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 100 24/Out/2014 17:17
D epois de quase três séculos a moldar a sua natureza, como reino perifé‑
rico na Europa, mas central no mar, Portugal viveu um período frenético
de rápidas transformações, a partir de 1415, quando essa centralidade marí‑
tima se pôde manifestar em toda a sua plenitude. Foram, como vimos, anos
de aprendizagem, em que os próprios objectivos começaram por ser vagos,
embora animados pela vontade persistente de querer sempre mais. A aventura
marítima permitiu que o país encontrasse a sua configuração definitiva e obti‑
vesse a riqueza que o seu exíguo território continental não lhe dava, enquanto
muitos dos seus habitantes apostavam no mar como solução alternativa à
pobreza e ao bloqueio social, ou como forma de resolução de problemas ou
de ambições pessoais. As perspectivas de um saque, de um bom negócio ou
da glória das armas foram motivações que atraíram muitos portugueses ao
mar, além dos que buscavam uma nova terra para recomeçar a vida.
No início do século xvi, a aprendizagem do mundo não estava concluída,
mas a conjuntura era muito diferente da inicial. A Coroa lusa tinha agora
um programa imperial explícito, que tinha dois palcos principais, o Norte
de África e a Índia, que era suportado economicamente por uma outra área
geográfica, o Atlântico e a costa da Guiné, e que era defendido por uma
outra região, qual zona‑tampão, que confirmava a hegemonia marítima no
Atlântico Sul, o Brasil.
O império nascente tinha, assim, uma dimensão africana ligada à velha
cruzada mediterrânica, pois muitos meios da Coroa foram canalizados para
a guerra aos mouros em Marrocos, e os anos de 1505 a 1515 assistiram
a um período de triunfos consecutivos que chegaram a dar a ilusão que o
imperialismo manuelino venceria em África. Para lá do Bojador, o império
era então exclusivamente marítimo, na medida em que não se ambicionava
Hist-da-Expansao_4as.indd 101 24/Out/2014 17:17
102 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
conquistar territórios nem criar colónias, como as que Castela já estava a
organizar nas Antilhas, mas tão‑só dominar as principais rotas de navegação
oceânicas. Até ao final do reinado de D. Manuel I, o império enquadrava
‑se integralmente nesta dinâmica, e o domínio dos mares continuou a ser o
paradigma predominante no resto do século xvi e continuou a ser a principal
opção estratégica e ideológica da Coroa até à Guerra da Restauração.
A partir do segundo terço quinhentista, porém, um outro paradigma
começou a desenvolver‑se no seio do império, relacionado com a ocupação de
espaços e a criação de colónias, tendo começado pelo Brasil e pela Província
do Norte, na Índia. Os dois paradigmas conviveram ao longo do século xvi,
pois o expansionismo marítimo e os grandes negócios oceânicos continuaram
a crescer e a proporcionar grandes ganhos para os cofres da Coroa, ao mesmo
tempo que se alargavam os territórios ultramarinos sob administração directa
da monarquia. Neste período, em que pouquíssimas mulheres deixavam
Portugal, a fixação dos portugueses por todo o Mundo fez‑se através do
cruzamento com as mulheres da terra, fosse em zonas ocupadas, como na
Índia e no Brasil, fosse em áreas sob a influência lusa, como o vale do Cuanza,
ou o do Zambeze ou a região de Sofala, o que gerou uma mestiçagem e um
bilinguismo que perdurou como força principal da afirmação de Portugal
enquanto não se formavam aí verdadeiras colónias, o que só sucederia, no
caso do Brasil, no século xviii, e mais tarde em África.
Portugal tornou‑se rapidamente numa potência asiática ao mesmo tempo
que dominava o Atlântico Sul. Com a união das coroas ibéricas, viu‑se arras‑
tado para a geoestratégia de Filipe II e foi incapaz de suportar o ataque
simultâneo de Ingleses e Neerlandeses, seus velhos aliados, mas encarniçados
inimigos de Madrid. O final do século xvi assistiu ao colapso do império
marítimo e à fatal convicção de que o império estava em decadência, mas
foi precisamente nas últimas décadas de Quinhentos e nas primeiras de
Seiscentos, enquanto as naus soçobravam e se perdiam os negócios da prata
japonesa, das especiarias asiáticas ou o que restava do ouro da Mina, que
o império se recompôs e se reconfigurou, agora subordinado ao paradigma
da territorialidade, que se afirmou como a nova dinâmica imperial, e que se
revelou suficientemente pujante para derrotar os Holandeses no Brasil e em
Angola, para conservar a costa oriental africana e todos os portos com hin‑
terland na Ásia, e para pagar a Guerra da Restauração. As primeiras décadas
do século xvii assistiram, assim, à reconfiguração do império, o que, errada‑
mente, é confundido muitas vezes com uma terrível e traumática decadência.
Hist-da-Expansao_4as.indd 102 24/Out/2014 17:17
O IMPÉRIO MARÍTIMO 103
A segunda parte desta obra pretende analisar o período que medeia entre
o início do século xvi e meados do xvii – o tempo em que o paradigma do
império marítimo foi entendido pela Coroa como a essência do próprio
império, mas também o tempo em que o novo paradigma da territorialidade
se foi formando até ganhar a predominância e ser o garante da sobrevivência
de Portugal como reino independente.
Hist-da-Expansao_4as.indd 103 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 104 24/Out/2014 17:17
6
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO
(1495‑1521)1
D. Manuel I subiu ao trono de forma inesperada, pois só uma série
de esterilidades e de mortes precoces é que o tornaram no sucessor
de D. João II. Ligado às correntes místicas do franciscanismo, o novo rei
pressentiu no seu destino um providencialismo divino e acreditou que Deus
lhe reservara um papel crucial na História. Ficou célebre por ter atraído
a Lisboa o trato das especiarias e por os seus súbditos terem realizado
conquistas no Oriente longínquo, e a nossa memória colectiva recorda‑o
principalmente como um monarca do império e dos oceanos. Esquece,
assim, o extraordinário trabalho que o rei levou a cabo na reforma da
administração pública e tende a não aceitar, e muito menos a compreen‑
der, que o objectivo final do empreendimento manuelino se centrava na
cruzada a Jerusalém2.
Príncipe renascentista, D. Manuel I carrega as ambiguidades próprias do
seu tempo, pelo que o seu governo espelha laivos de modernidade em muitas
das suas reformas administrativas, bem como na organização do império e
na arte da guerra, mas o monarca nunca se libertou de concepções antigas.
Senhor da navegação de mares longínquos, dominador hegemónico do Atlân‑
tico Sul, olhava para essas terras distantes, como referimos, pelo mapa de Fra
Mauro, ou seja, através do Mediterrâneo. Os seus súbditos circum‑navegavam
o continente africano para chegar à Índia, mas ele acalentava o velho sonho
da Cristandade de vencer o Islão no Mediterrâneo Oriental e de recuperar
a ligação ao mundo das especiarias pelo Próximo Oriente e pelas rotas do
mar Vermelho e do golfo Pérsico. E quando morreu subitamente, a 13 de
Dezembro de 1521, D. Manuel I estava muito esperançoso de que o seu sonho
viria a ser alcançado. Afinal não chegou a erguer a espada contra o mouro,
mas quando morreu tinha oficiais às suas ordens em quatro continentes e três
Hist-da-Expansao_4as.indd 105 24/Out/2014 17:17
106 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
oceanos, feito nunca alcançado antes por nenhum soberano da Terra, nem
pelos mais poderosos senhores dos grandes impérios territoriais.
Mais longe que Alexandre
A partir de 1502, a estratégia portuguesa no Índico obedeceu ao duplo
objectivo de ganhar o comércio das especiarias e de bloquear as rotas dos
muçulmanos. A derrota dos mouros aumentava o valor do negócio de Lis‑
boa e fragilizava o poder político sedeado no Cairo. Na Índia, o samorim de
Calicute e os seus aliados islamitas desesperavam. O aparecimento do Gama
apanhou‑os de surpresa e a reacção foi ténue, por certo na esperança de que
os forasteiros não voltassem. A monção seguinte não trouxe os cristãos de
novo, mas depois nunca mais pararam de chegar, ano após ano; para deses‑
pero dos senhores do trato da pimenta, os Portugueses pareciam imbatíveis
e, como vimos, logo dispuseram de aliados locais que os acolheram, que
lhes permitiram a instalação de feitorias e que lhes encheram as naus com
as especiarias.
Ao mesmo tempo que revolucionavam o conhecimento geográfico por
todo o Mundo, os Portugueses também provocaram uma revolução na
guerra naval, pois foram os primeiros a conceber batalhas navais baseadas
no fogo de artilharia. O modelo começou por ser experimentado no Atlântico,
teve os seus primeiros sucessos na guerra de 1474‑1479 e na perseguição
aos aventureiros que desafiavam o monopólio português a sul do Bojador,
e visava destruir os navios inimigos à distância, evitando que o combate se
decidisse através da abordagem e da luta corpo a corpo. A colocação de peças
de artilharia na coberta permitia um tiro rasante que tinha grandes proba‑
bilidades de provocar rombos graves no casco das embarcações inimigas e
de as afundar3.
Tendo em conta o seu número diminuto no Índico perante uma multidão
incontável de inimigos, os Portugueses só podiam triunfar se dispusessem de
uma grande vantagem tecnológica e táctica, como de facto sucedeu. A boa
capacidade de manobra dos navios e o bom desempenho dos artilheiros pos‑
sibilitavam sucessivos disparos sobre os inimigos; além disso, os portugueses
combatiam com armaduras completas, o que seria decerto sufocante, mas
que lhes permitia sobreviver às setas que atingiam os seus navios. E mesmo
quando houve manobras de abordagem ou quando lutaram em terra, as
armaduras foram muito eficazes, até porque os indianos combatiam sem
grandes protecções, pelo que eram feridos gravemente com alguma facilidade.
Embora os nobres que participavam nestas campanhas ainda estivessem
ligados a formas mais tradicionais de combate, entre os homens de armas
Hist-da-Expansao_4as.indd 106 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 107
contavam‑se já muitos espingardeiros que faziam razias nas forças inimigas.
Para se perceber o carácter revolucionário da estratégia naval portuguesa,
lembre‑se apenas que o célebre Mary Rose, grande navio de guerra de Hen‑
rique VIII que se afundou durante uma batalha contra os franceses em 1545,
embora dispusesse de até 91 peças de artilharia, contava com uma guarnição
em que cerca de três quartos dos homens eram arqueiros4.
Novas armadas seguiram para a Índia em 15035 e 15046 e esta última
derrotou definitivamente as forças de Calicute numa batalha naval no pri‑
meiro dia de 1505, depois de Duarte Pacheco Pereira ter defendido heroica‑
mente a cidade de Cochim das investidas do samorim no primeiro semestre
de 15047. Do ponto de vista local, o rei de Cochim foi o grande beneficiário
do aparecimento dos Portugueses, pois ganhou um novo protagonismo na
venda da pimenta e obteve um aliado militar que lhe permitiu até recuperar
territórios que havia perdido para o samorim. Este, incapaz de vencer os
Portugueses, apelou ao sultão do Cairo que, por sua vez, ameaçou Roma
de que perseguiria os peregrinos cristãos em Jerusalém se as esquadras lusas
continuassem a atacar o Islão nos mares do Oriente, ao mesmo tempo que
organizava uma armada para enfrentar os portugueses. D. Manuel I, por seu
lado, compreendeu que a grande distância que separava a Índia de Portugal
e o facto de uma viagem de ida e volta demorar pelo menos uns 15 meses
impediam‑no de dar ordens actualizadas quando os capitães zarpavam do
Tejo, e nomeou D. Francisco de Almeida o primeiro vice‑rei da Índia em 1505.
Nascia o Estado Português da Índia.
Nos três anos que se seguiram o vice‑rei alargou o domínio luso a todo o
Índico Ocidental. A logística da Carreira da Índia exigia um porto de apoio
na costa oriental africana, que começou por ser Melinde, mas que teve de
ser transferido mais para sul, tendo sido escolhida a ilha de Moçambique.
Foi construída outra fortaleza em Sofala para controlar o comércio do ouro
vindo do sertão africano. Com efeito, os negócios do Índico eram muito mais
complexos que os do Atlântico, e as especiarias não eram obtidas a troco
de quinquilharia, mas antes pagas em ouro, pelo que urgia obter o metal
nos mercados da África Oriental. Nessa região também se obtinha marfim e
escravos. O ouro, por sua vez, podia ser comprado com tecidos de algodão
produzidos no Guzerate, pelo que os navios da Coroa começaram a frequen‑
tar os portos do Noroeste da Índia para obter esse produto. Estabeleceu‑se,
assim, um comércio triangular que permitia reduzir os custos da operação
comercial indiana pela diminuição das remessas de ouro a partir do reino.
Se ao custo das especiarias juntarmos o valor dos salários que deviam ser
pagos a todos os tripulantes das armadas, de que temos um raro exemplo para
naus da esquadra de 15068, mais as verbas despendidas na construção dos
navios e no seu apetrechamento9, compreendemos que o negócio da pimenta
Hist-da-Expansao_4as.indd 107 24/Out/2014 17:17
108 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
implicava um investimento enorme, de recuperação demorada. Interessava,
ainda assim, ao rei pelo prestígio que lhe dava, pois nenhum outro príncipe
europeu jamais dispusera de soldados e oficiais em paragens tão longínquas.
Seguindo a lógica de um império marítimo, o Estado da Índia não possuía
nenhum território, mas apenas um pequeno conjunto de fortalezas (inicial‑
mente Sofala, Moçambique, Quíloa, Socotorá, Angediva, Cananor, Cochim
e Coulão) em territórios aliados ou submetidos. Durante o vice‑reinado de
D. Francisco, seu filho, D. Lourenço de Almeida, visitou a ilha de Ceilão, pro‑
dutora de canela, exportadora de elefantes domésticos para a Índia e de pedras
preciosas. Não se estabeleceu, porém, nenhuma base, pois as preocupações
focavam‑se na ameaça que vinha do mar Vermelho – a armada dos rumes.
Os mercenários turcos ao serviço do sultão do Cairo entraram no oceano em
1508 e surpreenderam uma frota comandada por D. Lourenço de Almeida, no
interior do rio de Chaul, numa expedição para adquirir os panos de Cambaia.
Durante a manobra de saída para o mar, o leme do navio de D. Lourenço ficou
preso numas redes de pesca e a embarcação encalhou, tendo a sua tripulação
sido massacrada pelo inimigo. Era a primeira derrota dos Portugueses no
Índico, o que encheu de esperança os seus inimigos, mas a 9 de Fevereiro de
1509 D. Francisco de Almeida vingou a morte do filho afundando a esquadra
dos rumes à vista de Diu. Estava consolidada a hegemonia lusa no Índico
Ocidental, e o sultanato do Cairo aproximava‑se do colapso.
Entretanto, os embaixadores de D. Manuel I já haviam percorrido algumas
das cortes europeias mais proeminentes, incluindo Roma, na esperança de
mobilizar a cruzada contra Jerusalém, mas os graves problemas internos da
Cristandade, mais o egoísmo de cada príncipe, bloqueavam a vontade d’el‑rei
de Portugal. Na verdade, nenhum outro reino europeu tinha as suas fronteiras
suficientemente tranquilas para poder pensar numa ofensiva mediterrânica.
Portugal desenvolvia uma política inteligente de neutralidade há mais de
cem anos, mas podia fazê‑lo porque beneficiava da sua localização perifé‑
rica, no contexto europeu. Parceiro activo no comércio marítimo do Velho
Continente, potência militar sempre tida em conta nos jogos de alianças que
se faziam e desfaziam a ocidente dos Alpes, Portugal ainda não tinha peso
para ser o mentor de uma grande armada europeia.
O ano de 1509 foi marcado na Índia, não só pela vitória retumbante de
Diu, mas também pela crise sucessória. Na governação do reino, D. Manuel I
teve de enfrentar muitas intrigas e jogos de bastidores; era rei absoluto, mas
não podia actuar despoticamente, pelo que tinha de preservar o equilíbrio
entre as várias facções da corte. Os estudos das últimas décadas detectaram
várias linhas de tensão, de que sobressaem duas:
– Por um lado, a existência de um sector da nobreza mais próximo a
D. Jorge, o filho bastardo de D. João II, que este se esforçou por tornar seu
Hist-da-Expansao_4as.indd 108 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 109
herdeiro. D. Jorge nunca disputou o trono a D. Manuel, mas contava com a
simpatia de várias linhagens, muito em especial a dos Almeida. Além disso,
durante sete anos, o monarca governou sem dispor de um herdeiro jurado em
Cortes e residente em Portugal. Antes e depois da vida do príncipe D. Miguel
da Paz (1498‑1500), o sucessor natural de D. Manuel I, se este falecesse,
seria o seu sobrinho, D. Jaime, duque de Bragança, mas os partidários de
D. Jorge poderiam apoiar o bastardo contra o filho do duque decapitado.
O protagonismo inicial de muitos cavaleiros da Ordem de Santiago, cujo
governador era D. Jorge, pode ser visto como uma forma de o rei contem‑
porizar com este grupo de pressão. Refira‑se, aliás, que quando andou por
Castela e Aragão para ser jurado herdeiro destes reinos, o monarca levou
consigo D. Jorge e deixou D. Jaime em Portugal. Terá procurado, deste
modo, assegurar a subida ao trono do sobrinho, se a morte o surpreendesse
durante a viagem.
– Por outro, uma oposição entre um grupo mais próximo do rei, partidá‑
rio da cruzada e do expansionismo militar, que exigia uma grande dedicação
da fidalguia ao serviço do rei, e outro mais liberalizante, que via no império
sobretudo uma possibilidade de criar focos de negócio interessantes, mas que
não desejava o alargamento excessivo da rede de fortalezas do império e
que não apoiava o rei no seu sonho de conduzir a cruzada contra Jerusalém.
Note‑se, finalmente, que, a par destas divergências, existiam inúmeras ini‑
mizades pessoais e rivalidades entre linhagens que tornam o posicionamento
de cada nobre na Índia num verdadeiro quebra‑cabeças, pois as lealdades
pessoais e linhagísticas sobrepunham‑se quase sempre às lutas políticas.
A título de exemplo, citem‑se dois casos:
– Simão de Andrade, fidalgo individualista, foi um dos principais capi‑
tães de Afonso de Albuquerque, embora o contestasse sempre que entendia
que o governador não respeitava os foros da nobreza. Desagradado com
Albuquerque, foi o primeiro a anunciar a Lopo Soares de Albergaria que
o Terríbil falecera em Goa, e logo recebeu por mercê uma viagem a Ormuz,
mas passados poucos meses já estava indisposto com o novo governador, que
era um adversário político de Albuquerque10.
– D. Aleixo de Meneses, por sua vez, foi capitão‑mor do mar da Índia
dos governadores Lopo Soares de Albergaria (1515‑1518) e Diogo Lopes de
Sequeira (1518‑1521), partidários de linhas políticas opostas, mas que eram
ambos seus tios, pelo que neste caso a solidariedade familiar se sobrepôs à
opinião política11.
Estes fidalgos são, assim, dois casos que nos mostram a enorme comple‑
xidade das relações no seio da nobreza construtora do Estado da Índia e
desta com os governadores. Outro caso muito significativo é o de Lourenço
Moreno, um dos maiores inimigos de Afonso de Albuquerque, mas que este
Hist-da-Expansao_4as.indd 109 24/Out/2014 17:17
110 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
nunca expulsou da Índia. Embora se odiassem, eram ambos da parcialidade
do rei, e Lourenço Moreno servia D. Manuel desde os tempos em que o
monarca era apenas o duque de Beja. Esta relação estreitíssima com o sobe‑
rano tornava‑o imune à fúria do governador12.
Foi neste contexto complexo, e impossível de explicar circunstanciada‑
mente nestas linhas, que a passagem de poderes entre D. Francisco de Almeida
e o seu sucessor (Afonso de Albuquerque, 1509‑1515) não correu bem.
O Almeida era amigo pessoal do rei, mas era irmão do conde de Abrantes,
em cuja Casa crescera D. Jorge, e em 1508 viu o priorado do Crato passar
do seu irmão para D. João de Meneses, conde de Tarouca e um dos favoritos
reais. Pior do que tudo isto, D. Francisco incompatibilizou‑se com Afonso de
Albuquerque, que zarpou de Lisboa em 1506 com uma carta secreta que lhe
dava o governo da Índia a partir de 1508, e recusou‑se a cumprir as ordens
régias. Albuquerque era um cavaleiro da Ordem de Santiago mas partidá‑
rio da Grande Cruzada; já tinha fama de ser um chefe duro, pois entrara
em conflito com três dos seus capitães quando tentava submeter Ormuz, em
1507, o que levara esses três fidalgos a abandoná‑lo e a rumarem à Índia,
impossibilitando a submissão da cidade do golfo Pérsico.
O caso foi resolvido com a chegada à Índia de D. Fernando Coutinho,
o marechal do reino, que impôs a vontade de D. Manuel I. D. Francisco de
Almeida morreu pouco depois num combate com indígenas na costa sul
‑africana, e o marechal pereceu num ataque desastrado a Calicute, a 2 de
Janeiro de 1510. Naufragara, entretanto, Jorge Aguiar, a quem o rei confiara
o governo da costa da Arábia, e o seu sucessor, Duarte de Lemos, não conse‑
guiu obter os meios navais suficientes para a sua missão junto de Albuquer‑
que. Embora tivesse criado o Estado da Índia em 1505, só em 1518 é que
D. Manuel I se conformou com a existência de um comando unificado para
toda a região a leste do cabo da Boa Esperança, depois de ter ensaiado por
três vezes, em 1506, 1508 e 1515, a existência de dois governos separados, um
vocacionado para a guerra aos mouros da Arábia e ao bloqueio do mar Ver‑
melho e outro destinado ao controlo da Índia e à defesa da Carreira da Índia.
O rei também queria chegar a Malaca, pois, além da fama que a cidade
tinha como empório comercial, pensava‑se que poderia ser o limite oriental da
zona sujeita à influência lusa pelo Tratado de Tordesilhas. Plataforma redis‑
tribuidora do comércio asiático, começou por ser idealizada por D. Manuel I
como a barricada onde se poderia travar o eventual aparecimento de caste‑
lhanos na Ásia, vindos da América. É bom recordar que até 1513 subsistiu a
hipótese de ser possível navegar a partir das Antilhas até ao extremo oriente
asiático. D. Manuel I enviou duas expedições directas a Malaca, em 1508
e 1510, mas a primeira teve de se retirar devido à oposição dos mouros e a
segunda foi interceptada por Albuquerque na Índia.
Hist-da-Expansao_4as.indd 110 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 111
*
Entre o final de 1509 e 1515, o Estado da Índia foi governado por Afonso
de Albuquerque e ganhou uma nova dinâmica. Até então, os progressos dos
Portugueses nos mares da Ásia tinham sido orientados no sentido de viabi‑
lizar a Rota do Cabo e de apertar o cerco ao sultão do Cairo, ou seja, esta‑
vam subordinados aos interesses europeus e mediterrânicos da Coroa lusa.
Ao tomar o poder, Albuquerque tinha como obrigação principal o ataque
ao mar Vermelho, e em Janeiro de 1510 organizou em Cochim uma armada
que oficialmente teria essa missão. No entanto, o governador tinha outros
planos. Estivera pela primeira vez na Índia em 1503‑1504 e rodeara‑se de con‑
selheiros que lhe tinham explicado o sistema do comércio do oceano Índico.
Embora partilhasse o sonho de cruzada com o rei, Albuquerque entendia que
os Portugueses tinham de ter uma presença mais sólida nos mares do Oriente
para poderem atacar o Islão no seu próprio centro. Na óptica do Terríbil, o
Estado da Índia devia ganhar as seguintes características:
– tinha de ter as suas bases principais em cidades conquistadas, ou seja,
onde o poder fosse exercido totalmente por oficiais d’el‑rei de Portugal;
– tinha de ser auto‑suficiente economicamente, através da sua penetração
em redes de comércio asiáticas que se destinassem a alimentar o próprio
Estado da Índia, sem benefício directo para o reino;
– tinha de ter uma população asiática cristã, seguindo o modelo de infiltra‑
ção que era usado pelos muçulmanos há alguns séculos, ou seja, o casamento
com as mulheres locais.
Em suma, o Estado Português da Índia tinha de ser uma potência asiática,
e nos seis anos em que se manteve no poder Albuquerque alcançou estes
desideratos, através da conquista de Goa (1510)13 e Malaca (1511)14, e da
dominação de Ormuz (1515)15.
A conquista de Goa e de Malaca proporcionou duas bases em que os Por‑
tugueses não estavam dependentes da vontade dos aliados que lhes empres‑
tavam uma parcela do seu território. Goa e Malaca não representam o início
da territorialização do império, mas apenas que este passava a dispor do
senhorio sobre vários portos. A ocupação de Goa e de Ormuz permitiu que
os Portugueses se apropriassem de um negócio asiático – a venda de cavalos
árabes e persas aos potentados do Hindustão a troco de ouro –, enquanto a
tomada de Malaca abriu as portas a uma miríade de negócios e ao mar da
China. E ao mesmo tempo que os negócios interasiáticos se multiplicavam,
começavam a nascer as primeiras crianças luso‑asiáticas. O que sucedera
pontualmente nas feitorias e fortalezas do Malabar ganhou um novo fôlego
com a promoção dos casamentos mistos por Albuquerque, que desta forma
sedentarizou uma parte dos seus homens em Goa; o Estado da Índia também
Hist-da-Expansao_4as.indd 111 24/Out/2014 17:17
112 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
deixava de estar apenas dependente da migração vinda da Europa, pois
começava a gerar a sua própria população, naturalmente mestiça, bilingue e
profundamente enquadrada com as culturas locais, mas formalmente cristã
e fiel à Coroa portuguesa.
Depois das jornadas triunfais de 1510 e 1511 e de ter consolidado o
domínio de Goa em 1512, Afonso de Albuquerque avançou finalmente para
o mar Vermelho, em 1513, mas a expedição redundou num fracasso, pois o
governador não conseguiu tomar Adém. O sultanato do Cairo agonizava,
mas o Terríbil foi incapaz de lhe vibrar o golpe de misericórdia, nem con‑
seguiu realizar nenhuma acção flageladora no interior do mar Vermelho.
Em 1512, D. Manuel I renovou o mandato de Albuquerque por mais três
anos, mas em 1514 a notícia do falhanço de Adém e as inúmeras queixas
que vinham da Índia sobre o comportamento quase despótico do governador
levaram D. Manuel a hesitar e a nomear um novo governador da Índia em
1515. Afonso de Albuquerque ainda submeteu Ormuz, no Verão de 1515, e
faleceu à vista de Goa, antes de passar pela humilhação de entregar o poder
a Lopo Soares de Albergaria. Deixava o Estado da Índia com os pés assentes
na Ásia e, enquanto o seu legado político e estratégico perdurou, a Índia Por‑
tuguesa foi uma entidade asiática poderosa, tanto do ponto de vista militar
como do económico.
*
As notícias das sucessivas vitórias alcançadas nos mares do Oriente gera‑
ram um entusiasmo e um deslumbramento compreensíveis na corte portu‑
guesa e o seu rei era olhado como o Venturoso, o antigo duque de Beja que
ganhara o ducado devido à morte de todos os seus irmãos mais velhos,
que subira ao trono porque se extinguira subitamente a descendência de seu
tio, D. Afonso V, e que vira consumar‑se nos primeiros anos do seu reinado
o rasgar de horizontes que tinha sido preparado pacientemente pelo seu
antecessor, o rei D. João II. E a sua glória parecia não ter fim, pois os seus
homens de armas e a sua nobreza alcançavam vitórias em territórios que
jamais haviam sido alcançados pelos Europeus… nem o grande Alexandre
fora além do Indo, nem os Césares de Roma tinham colocado a águia impe‑
rial em terras indianas, mas os Portugueses faziam conquistas, na Índia e na
Malásia, e em 1515 el‑rei D. Manuel I enviou uma embaixada à China16.
Os homens das Letras exaltavam, e antes de Camões cantar «Cessem do
sábio grego e do troiano / as navegações grandes que fizeram / cale‑se de
Alexandre e de Trajano / a fama das vitórias que tiveram» já Duarte Pacheco
Pereira exaltava o seu César Manuel, afirmando no prólogo do Esmeraldo
de Situ Orbis: «Mas qual eloquência terá tanta perfeição, que perfeitamente
Hist-da-Expansao_4as.indd 112 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 113
possa dizer o peso de tão grandes feitos como os do nosso César Manuel?
Cá Marco Túlio, o mais excelente dos latinos, e Homero e Demóstenes, os
principais oradores dos gregos, que por excelência sua eloquência entre todos
os mortais até agora floresceu, certamente suas mãos tremeram [de] escrever
feitos de tamanha gravidade.»17
Nunca um soberano exercera o poder em tão ampla parcela do Mundo.
Quase não tinha territórios sob o governo dos seus capitães, mas controlava
uma rede intercontinental de negócios e impunha a sua vontade em regiões
tão distantes como a Malásia, fruto de uma capacidade bélica inovadora, que
fizera dos conquistadores de Malaca, em 1511, o corpo expedicionário
que realizara a operação militar mais desapoiada de sempre.
Com efeito, as forças que atacaram Malaca não tinham condições para
se retirarem, caso a operação tivesse fracassado. Era preciso esperar alguns
meses para que a monção mudasse e os ventos voltassem a soprar em direcção
a ocidente. Os homens de Albuquerque sabiam que não podiam contar com
reforços e não podiam sequer iniciar de imediato a viagem em direcção ao
local de onde haviam partido, o que nunca sucedera neste tipo de expedições
desde os tempos antigos.
No início do século xvi, os parques tipográficos já estavam difundidos por
mais de duas centenas de cidades europeias e o texto impresso deixava de ser
uma raridade para se tornar num grande negócio. As notícias surpreendentes
tinham público assegurado e se os feitos dos Portugueses no Oriente causa‑
vam admiração, a constatação da existência de um Novo Mundo a ocidente
provocou uma verdadeira comoção na Europa. Em 1503, um folheto com um
relato de Américo Vespúcio sobre a exploração do litoral brasileiro tornou‑se
num verdadeiro best‑seller, com mais de 60 edições até 1529, impressas em
diferentes cidades e com traduções para francês, alemão, latim, flamengo e
checo, algumas com menções explícitas ao rei de Portugal, como a tradução
latina feita em Estrasburgo em 1505, intitulada De ora antarctica per regem
Portugalliie pridem inuenta. A primeira colectânea com vários textos de via‑
gens portuguesas quatrocentistas e com narrativas das viagens do Gama e de
Cabral foi dada à estampa em Vicenza, em 1507, pela mão de Francescano
Montalbodo e teve 17 edições até 1528, incluindo traduções para latim,
francês e alemão18.
O rei, que nunca foi à guerra, era representado numa edição da carta de
Vespúcio, em 1508, de armadura completa, e a sua faustosa embaixada a
Roma de 1513 espantou a Cristandade, pois todos os príncipes da Europa
tinham os seus olheiros a ver o desfile grandioso de Tristão da Cunha, que,
para lá da riqueza demonstrada, trazia um elefante para gáudio da população
e apreço do próprio papa Leão X19. E D. Manuel I tinha mais quatro paqui‑
dermes em Lisboa, a que se juntou depois o célebre rinoceronte. O exótico e
Hist-da-Expansao_4as.indd 113 24/Out/2014 17:17
114 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
as vitórias militares da Índia mais o espanto do Novo Mundo prestigiaram,
pois, o nome d’el‑rei de Portugal pela Europa.
Além dos textos impressos que anunciavam descobertas inesperadas e
feitos militares surpreendentes, alguns dos portugueses que andavam pela
Ásia compilavam súmulas sobre essas terras e os seus povos. Esses textos
constituem hoje fontes preciosas para o conhecimento do mundo afro‑asiático
nos alvores do século xvi. Merecem referência particular o Livro de Duarte
Barbosa e a Suma Oriental de Tomé Pires.
Entretanto, a sumptuária manuelina, com o seu gosto artístico e o seu
programa político de se fazer presente por todo o reino e império, levava
ao engrandecimento de inúmeras cidades, à criação de novos concelhos nas
ilhas já povoadas e de novos esforços de povoamento das que permaneciam
desertas, como era o caso das Flores e do Corvo, só ocupadas definitivamente
na primeira década quinhentista.
E enquanto a Índia deslumbrava e tornava o monarca luso num soberano
especial no seio da Cristandade, o ouro da Mina continuava a alimentar os
cofres régios, e os impostos sobre o comércio dos escravos e sobre o açúcar
da Madeira engrossavam as receitas da Coroa. E ao mesmo tempo que o
Almeida e o Albuquerque erguiam o Estado da Índia, crescia o poder dos
Portugueses em Marrocos.
«Emanuel Malik»
Como referimos, o desvio do comércio das especiarias para Lisboa ser‑
via simultaneamente para enriquecer Portugal e para enfraquecer o Islão, e
enquadrava‑se na estratégia mediterrânica de empreender a cruzada para
resgatar Jerusalém com o apoio do Preste João. A chegada ao Índico abriu,
pois, uma nova frente de guerra contra os mouros e deixava a perspectiva
de vir a criar‑se um outro teatro de operações, mas, entretanto, a frente mar‑
roquina não estava esquecida. Curiosamente, D. Manuel I foi o primeiro rei
da dinastia de Avis que não lutou no Norte de África, embora tenha sido o
que esteve mais próximo de se tornar senhor de grande parte do território
marroquino. De facto, a riqueza do Atlântico e o deslumbramento da Índia
não distraíram o monarca do velho sonho dos seus antepassados, e, ao mesmo
tempo que organizava as armadas da Índia, também despachava anualmente
milhares de homens para a guerra ao mouro em África, como é bem realçado
por Damião de Góis na sua crónica sobre o reinado manuelino.
Recordado sobretudo pela afamada gesta lusitana nos mares do Oriente,
D. Manuel I estava, no final de 1500, a organizar uma grande armada para
invadir o reino de Fez no verão seguinte. Havia passado ano e meio desde
Hist-da-Expansao_4as.indd 114 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 115
que o Gama retornara a Lisboa e Pedro Álvares Cabral estava a negociar no
Sul da Índia, mas o rei concentrava as suas energias na passagem a África.
Ochoa Isasaga, enviado de Castela à corte manuelina, deixou‑nos um relato
detalhado das festas celebradas no dia de Natal desse ano; no salão princi‑
pal do Paço da Alcáçova apareceu um «horto de encantamento» com uma
árvore «com muitos ramos espessos cheios de velas ardendo e em cima da
árvore um dragão espantoso com três cabeças ferozes e seis mãos grandes»
que se deslocava pelo salão; depois um gigante anunciou que o rei estava
«em determinação de fazer guerra aos seus inimigos»; e depois oito romeiros
«que vão a Santiago com seus bordões e conchas, em um bergantim feito
artificialmente»; e os romeiros proclamaram: «as novas vão tão crescidas,
rei santo, da tua passagem, que sendo por nós sabidas, feita a peregrinação,
oferecemos as nossas vidas, a seguirmos a tua viagem»20.
Vemos, assim, que, nesse tempo de euforia pela descoberta do caminho
marítimo para a Índia, D. Manuel I anunciava publicamente a sua intenção
de atacar o reino de Fez no Verão seguinte. Esta expedição não se concretizou
devido a dificuldades na reunião de tudo o que era necessário para deslocar
umas dezenas de milhares de homens até ao Algarve d’Além‑Mar. Além disso,
os Reis Católicos opunham‑se ao ataque português e tentavam demover o
genro. Na verdade, Isabel, que já retomara políticas contra a expansão marí‑
tima lusa tentadas primeiro pelo seu pai, voltava agora a ensaiar outra das
medidas contrárias aos interesses de Portugal ao buscar da Santa Sé, uma vez
mais, o reconhecimento de que Castela era a única herdeira da monarquia
visigoda e, consequentemente, o único reino hispânico com direito a prosse‑
guir a Reconquista em África.
A rainha de Castela morreu a 26 de Novembro de 1504, e a ofensiva
portuguesa em Marrocos começou em 1505; a documentação não nos mos‑
tra razões explícitas que tenham condicionado D. Manuel I a não atacar até
então. Com a morte de Isabel, o reino de Castela entrou num longo período
de convulsão, pois o trono da nova rainha, Joana de Trastâmara, a Louca,
foi controlado primeiro pelo marido, Filipe, o Belo, e depois pelo pai, o rei
Fernando de Aragão. Um e outro precisavam de manter boas relações com
Portugal e nenhum estava preocupado com a estratégia africana do monarca
luso; absorvidos pelo controlo de Joana, não tinham capacidade ou interesse
para cobiçar o reino de Fez. D. Manuel I aproveitou bem a apatia castelhana
e Portugal tornou‑se num poder influente em Marrocos.
Entre 1505 e 1515, os Portugueses ocuparam quase todas as vilas existen‑
tes ao longo da costa atlântica marroquina até Santa Cruz do Cabo de Gué.
As novas posições foram construídas de raiz, ou tomadas habilidosamente,
com o apoio de parte das populações e sem o envolvimento de grandes meios
militares, salvo no caso de Azamor, em 1513. Em 1508 saiu uma primeira
Hist-da-Expansao_4as.indd 115 24/Out/2014 17:17
116 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
expedição destinada a atacar esta vila, mas os efectivos não eram suficientes
e a armada acabou por ser útil em manobras defensivas, pois nesse mesmo
ano o sultão de Fez atacou Arzila e chegou a penetrar no casario, mas não
conseguiu vencer a resistência tenaz do conde D. Vasco Coutinho, que segurou
o castelo até à chegada de socorros. Foi o mais grave sobressalto que os Por‑
tugueses sofreram até 1515, e até o rei passou à pressa de Évora para Tavira,
mas não chegou a embarcar. Embora o inimigo tenha sido derrotado, este é
um dos muitos exemplos das dificuldades estruturais por que os Portugueses
passavam no Norte de Marrocos.
A queda do reino de Granada, em 1492, provocou uma migração maciça
de mouros para África; era gente aguerrida e sedenta de vingança que se insta‑
lou em antigas praças, como Tetuão e Xexuão, que haviam sido abandonadas
devido aos ataques sistemáticos e poderosos dos Portugueses. O desenvol‑
vimento das armas de fogo tornou esta mourama mais perigosa e as praças
do Norte estiveram sob grande pressão durante todo o reinado manuelino.
O monarca ordenou, por isso, grandes reformas das muralhas das quatro
posições lusas nessa zona, que hoje ainda podemos apreciar, particularmente
no caso de Arzila. O melhor símbolo da insegurança em que se encontravam
as guarnições do Norte é a couraça que fora edificada em Alcácer Ceguer logo
a seguir à conquista da praça. Tratava‑se de um canal que permitia que os
navios chegassem à porta da fortaleza sempre sob a protecção de muralhas,
o que evidencia a incapacidade de criar uma área de segurança mínima fora
das fortalezas. Encurralados em Ceuta, Tânger, Arzila e Alcácer Ceguer, os
Portugueses mantinham, contudo, uma aura de invencibilidade, que fora
reforçada pela defesa heróica de Arzila, em 1508. No Sul, pelo contrário, os
súbditos de D. Manuel I chegaram a ser senhores do campo.
O poderio luso ganhou mais força com as campanhas desencadeadas
por Nuno Fernandes de Ataíde, quando se tornou capitão de Safim, em
151021. A hoste do Ataíde era composta por homens de armas e fidalgos
portugueses e por uns poucos milhares de «mouros de pazes» – muçulmanos
que aceitavam a suserania d’el‑rei de Portugal, que se colocavam sob a sua
protecção e autoridade e que apoiavam o capitão cristão nas suas investidas
pelo sertão. Nuno Fernandes chegou a dominar o território em redor da sua
praça num raio superior a 20 léguas e as populações desse território passa‑
ram a pagar tributo à Coroa lusa. E assim, por uns poucos anos, Marrocos
forneceu trigo a Portugal. O alargamento da zona dos mouros de pazes fez
a influência portuguesa chegar às imediações de Marráquexe, numa época
em que D. Manuel I fazia cunhar ceitis com a inscrição «Emanuel Malik»
em caracteres árabes. O rei de Portugal punha a circular moeda em língua
árabe, aumentando, assim, a impressão de que se podia assenhorear do país,
até porque dava sinais de aceitar ser suserano de fiéis do Al‑Corão, tal como
Hist-da-Expansao_4as.indd 116 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 117
sucedera com o rei de Quíloa, que pagara páreas em 1502, e que se repetiria
com o rei de Ormuz, a partir de 1515, quando este soberano se submeteu à
soberania lusa a troco do pagamento de páreas e da instalação de uma guar‑
nição portuguesa na cidade. E Ormuz seria sempre uma cidade impermeável
ao Cristianismo, apesar dos esforços dos missionários na segunda metade
quinhentista.
A 1 de Setembro de 1513, a hoste real, comandada por D. Jaime, duque de
Bragança e sobrinho de D. Manuel I, conquistou Azamor. O rei de Fez enviou
um exército em socorro do emir de Marráquexe, mas as suas forças foram
desbaratadas pelo exército português na Batalha dos Alcaides, a 14 de Abril
de 1514. Foi a primeira grande batalha campal ferida em Marrocos, ao cabo
de cem anos de presença lusa nos campos norte‑africanos, tendo envolvido
cerca de 4000 homens do lado português, incluindo mouros de pazes, e mais
de 7000 homens no campo inimigo22.
Um ano mais tarde uma hoste luso‑marroquina chegou às portas de Mar‑
ráquexe, numa altura em que chegavam cartas a Lisboa dizendo a D. Manuel
que se cria que o emir estava prestes a ceder e a aceitar submeter‑se ao rei de
Portugal. O brilho manuelino atingia o seu máximo esplendor em Marrocos,
na mesma ocasião em que Afonso de Albuquerque criava as bases asiáticas
do Estado da Índia.
Enquanto não se consumava a rendição do emir, D. Manuel I tentou com‑
pletar o domínio da costa, enviando uma grande armada com o objectivo
de construir uma nova fortaleza na foz do rio Cebu. A expedição, porém,
foi um fracasso, pois o seu comandante, D. António de Noronha, irmão do
marquês de Vila Real e antigo capitão de Ceuta, escolheu mal a localização
da fortificação. Os mouros cercaram‑na e ganharam posições em cotas mais
altas que os inimigos e, a 10 de Agosto de 1515, o Noronha abandonou a
posição desastradamente e uma parte dos militares e dos colonos que tinham
sido enviados para a nova praça foram massacrados pelos muçulmanos. Foi a
primeira grande derrota dos Portugueses no Norte de África, tendo‑se perdido
uma centena de navios e morrido umas 5000 pessoas, mas foi o suficiente
para reanimar os mouros e o sonho de conquista manuelino esfumou‑se nos
anos seguintes.
Portugal era capaz de exercer uma hegemonia imperial à escala de dois
oceanos, mas não tinha condições para realizar uma conquista sistemática
em Marrocos. Durante a Reconquista, as monarquias cristãs hispânicas
tinham beneficiado do facto de a maioria dos habitantes da Península ter
permanecido cristã – os moçárabes –, mas neste início de Quinhentos o
domínio do antigo reino de Granada já não era tão simples. No Norte de
África, os Portugueses já não encontraram sequer resquícios de cristãos e o
controlo de vilas amuralhadas junto ao mar não promovia a propagação do
Hist-da-Expansao_4as.indd 117 24/Out/2014 17:17
118 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Evangelho. A expectativa de dominar a região passava pelo compromisso
de D. Manuel I aceitar que os seus súbditos africanos permaneceriam na fé
do Al‑Corão, mas, ao não comungarem da mesma fé do rei português, os
marroquinos só aceitavam a sua suserania enquanto fosse preferível estar
sob o seu poder militar do que enfrentá‑lo. Ao primeiro sinal de fraqueza,
que foi dado pelo desastre da Mamora, os mouros reagiram e abandonaram
rapidamente o campo de «Emanuel Malik».
Sobressaltos
Nos primeiros vinte anos do seu reinado, D. Manuel I aproveitou a con‑
tinuidade de uma conjuntura externa ao império extremamente favorável
para construir uma rede de interesses que se espalhava do Brasil até à China.
Era um império cujas posições terrestres não eram uniformes, pois eram
compostas por fortalezas e vilas ou cidades amuralhadas que tinham sido
conquistadas ou construídas com a autorização das populações locais, em
certos casos configurando‑se como bases militares em reinos aliados; incluía
protectorados submetidos à força, que mantinham o seu soberano, mas
pagavam tributo a el‑rei de Portugal e estavam sujeitos a uma guarnição
lusitana; dispunha ainda de feitorias que funcionavam sem a protecção das
armas lusas. O que interessava era a funcionalidade de cada um desses pontos
para o sistema mercantil transoceânico; nas ilhas e nos pequenos territórios
ocupados despontavam populações mestiças. Luís Filipe Thomaz teorizou
este modelo para o caso específico do Estado da Índia23, mas este adapta‑se
a todo o império manuelino, que se configurava como uma vasta rede de
entrepostos comerciais e de bases militares.
A partir de 1515, a conjuntura externa ao império começou a alterar‑se.
Até aí, os Portugueses tinham avançado pelo oceano Atlântico quase sem
oposição e tinham desbaratado facilmente os inimigos no Índico. No entanto,
estas facilidades não se podiam eternizar, até porque a fama das riquezas que
circulavam a bordo das caravelas e das naus portuguesas atraía inevitavel‑
mente a pirataria. Com efeito, a costa peninsular portuguesa e o mar dos
Açores começaram a estar infestados de piratas, o que é um óbvio sinal da
prosperidade do império. No entanto, o sucesso do comércio intercontinental
português começou a ter mais custos para a Coroa, na medida em que o rei
começou a organizar armadas com missões estritamente defensivas. A partir
de 1518 passou a existir a Armada das Ilhas, que tinha por missão ir esperar
as naus da Índia aos Açores para as escoltar no troço final da sua rota24.
Na ilha Terceira foi criada a provedoria das armadas, sedeada em Angra,
com o objectivo de apoiar os navios que protegiam a Carreira da Índia25.
Hist-da-Expansao_4as.indd 118 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 119
Ao longo da centúria quinhentista também os galeões das Índias de Castela
buscaram amiúde a protecção das esquadras lusas para realizarem o último
troço da travessia do Atlântico com mais segurança26.
As especiarias continuavam a chegar a Lisboa incólumes, mas o seu preço
ficava mais caro, e os Portugueses começavam a sentir‑se acossados. Entre‑
tanto, as águas da costa algarvia e do estreito de Gibraltar eram patrulhadas
regularmente, devido ao recrudescimento da navegação dos mouros nessas
águas27. Passado um século sobre a conquista de Ceuta, Portugal já não con‑
seguia dominar tão eficazmente a costa norte marroquina, o que se devia, em
grande medida, ao êxodo de granadinos para o reino de Fez. Assim, aumen‑
tavam os gastos da Coroa e crescia a inquietação dos Portugueses.
Antes de a pressão sobre os interesses portugueses se acentuar, sobreveio
uma crise política, quando D. Manuel I afastou Afonso de Albuquerque do
governo da Índia, pois o novo governador, Lopo Soares de Albergaria, não
respeitou a política cruzadística do monarca e permitiu que a fidalguia se dedi‑
casse ao comércio, ao arrepio dos desejos da Coroa. Os acontecimentos de
1515 já foram analisados detalhadamente noutras obras, registemos apenas
que a intriga política sempre condicionou a nomeação dos oficiais superiores
do império e que nem sempre a Coroa conseguiu impor cabalmente a sua
vontade. E no Oriente, a par do governo laxista de Lopo Soares de Alber‑
garia, verificou‑se que os muçulmanos foram capazes de criar uma segunda
rede fornecedora das especiarias ao mar Vermelho, depois de os Portugueses
se terem assenhoreado da que detinham no início do século. A nova rota
ligava Samatra às Maldivas e estas ilhas ao Egipto, o que obrigou o Estado
da Índia a reagir.
Entretanto, em Marrocos, o desastre da Mamora foi seguido por novo
desaire em 1516, quando Nuno Fernandes de Ataíde morreu em combate.
Logo no calor da refrega, muitos dos mouros de pazes que lutavam sob as
ordens do Ataíde mudaram de campo perante a morte do caudilho que eles
serviam e temiam, e toda a zona de mouros de pazes em torno de Safim se
desfez. Emergia, por essa altura, uma nova chefia, a dos Saadidas; vindos do
Sul de Marrocos, proclamaram a guerra santa contra os Portugueses e come‑
çaram a agregar em torno de si as populações da região. A partir de 1517, a
Coroa lusa passou a estar simplesmente numa posição defensiva em África.
Entretanto, no Atlântico o comércio de açúcar da Madeira perdia fulgor,
ao mesmo tempo que o trato negreiro controlado pelas ilhas de Cabo Verde
entrava em crise. Neste caso, sucedia apenas que o mercado consumidor de
escravos do Sul da Europa estava saturado e que o próprio preço de cada
escravo subira consideravelmente no mercado da Guiné, pois as mercadorias
que os portugueses levavam eram sempre as mesmas há mais de 50 anos,
pelo que não tinham a mesma raridade dos primeiros anos; por isso, o seu
Hist-da-Expansao_4as.indd 119 24/Out/2014 17:17
120 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
valor baixara inevitavelmente, de acordo com as leis da oferta e da pro‑
cura que também regulavam os mercados africanos, como vimos. Em 1518,
D. Manuel I ordenou a suspensão do negócio, mas pouco depois despontou
um novo mercado do outro lado do oceano28, e o comércio de escravos entrou
numa escalada que atingiria proporções desmesuradas no século xviii. Note
‑se, pois, que as rendas do Atlântico fraquejaram momentaneamente nestes
anos, embora o ouro da Mina continuasse a chegar a Lisboa em quantidades
muito apreciáveis.
O Brasil, por sua vez, continuava a fornecer a madeira tintureira que lhe
dava o nome e começava também a despertar a cobiça de outras potências
europeias, o que levou o rei a criar as capitanias da terra e do mar, com a
missão de defender a orla costeira das investidas dos estrangeiros. Não havia
nenhum plano de ocupação territorial e o monarca não queria sequer que se
experimentasse o plantio das especiarias na Terra de Vera Cruz. Esta decisão
régia mostra‑nos como as questões ideológicas se sobrepunham às de natu‑
reza estritamente económica. Do ponto de vista do lucro, se as especiarias
se acomodassem ao solo brasileiro, o seu preço de aquisição e de colocação
em Lisboa baixaria extraordinariamente, pois a Coroa deixava de ter de
pagar as grandes armadas da Índia e o produto chegava a Portugal em muito
melhores condições. No entanto, D. Manuel I via o trato da pimenta como
uma peça de um puzzle maior que apontava para a Grande Cruzada, e sem
a luta pelas especiarias asiáticas deixava de conseguir motivar a sua nobreza
para ir combater os mouros na Ásia.
Os acontecimentos atrás mencionados tinham pouco impacto na vida
do império como um todo e, sobretudo, ninguém podia adivinhar que pre‑
nunciavam novos comportamentos estruturais – novas linhas de força que
se mostrariam irreversíveis e que viriam a provocar uma reformulação do
próprio império. Para D. Manuel I não passaram de contratempos que pare‑
ciam ultrapassáveis.
Em 1517, sucedeu um outro acontecimento de consequências notáveis que
alterou bruscamente o equilíbrio estratégico do Mediterrâneo e do mundo
islâmico, com a conquista do Império Mameluco pelos Otomanos. Estes
tinham dominado a Anatólia no século xiii e depois tinham avançado pelos
Balcãs e extinguido o Império Bizantino com a conquista de Constantinopla,
e agora tornavam‑se também senhores da Síria e do Líbano, da Palestina e do
Egipto e das cidades santas do Islão na Arábia29. E a razão desta conquista
prendia‑se com a expansão portuguesa. De facto, este ano de 1517 assina‑
lou a concretização de um dos sonhos de D. Manuel I – a queda do sultão
do Cairo, enfraquecido pelo bloqueio da rota das especiarias para o mar
Vermelho. No entanto, o colapso dos Mamelucos não foi aproveitado pela
Cristandade e os Turcos avançaram pelo desejo natural de engrandecimento
Hist-da-Expansao_4as.indd 120 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 121
do seu império e também como forma de se anteciparem ao Império Persa,
da dinastia xiita dos Safávidas, que também ambicionava apropriar‑se de
Medina e de Meca. Nesta ocasião, a convulsão por que passou o Mediter‑
râneo Oriental (que seria completada pela conquista da ilha de Rodes pelos
Otomanos, em 1522) não terá apoquentado D. Manuel I que não desistiu,
por isso, do seu sonho de organizar a Grande Cruzada. Todavia, o mundo
mediterrânico mudava e entrava numa época de hegemonia otomana que foi
facilitada, paradoxalmente, pelo sucesso dos Portugueses no Índico.
O triunfo efémero do Venturoso
Os anos de 1515 a 1518 foram marcados por uma certa debilidade política
de D. Manuel I que teve os momentos mais dramáticos na nomeação de Lopo
Soares de Albergaria, em 1515, e com a morte da rainha D. Maria, a 7 de
Março de 1517, que deixou o monarca em grande abatimento, tendo estado
alheado da vida pública semanas a fio. No entanto, qual fénix renascida, o
rei retomou uma governação enérgica em 1518, aquando do seu terceiro
casamento, que o fez cunhado de Carlos V, o que se reflectiu na condução
do próprio império.
O ano de 1518 assinala, precisamente, o recomeço da política mais centrali‑
zadora e cruzadística no Estado da Índia, com a nomeação de Diogo Lopes de
Sequeira como governador. As listas dos capitães das naus da Índia mostram
‑nos que entre 1518 e 1521 o número de cavaleiros da Ordem de Cristo no
comando das naus cresceu muito, em sinal de uma política mais autoritária do
monarca, então mais determinado a contemporizar menos e a impor mais a sua
vontade30. Foi Diogo Lopes de Sequeira quem descobriu a cristandade etíope,
em 1520, e que enviou para Portugal a notícia do achamento do Preste João.
Antes de receber esta notícia por que tanto ansiava, D. Manuel I prosse‑
guia a sua política global que tinha uma ténue dimensão religiosa. Embora a
dilatação da fé fosse um dos propósitos sempre referidos, o carácter marítimo
do império não dava muito espaço de actuação para os clérigos, dado que
estes continuavam indisponíveis para trabalhar para lá dos limites da juris‑
dição de um potentado cristão. Refira‑se, aliás, que a conversão de gentios
não era um exclusivo dos eclesiásticos. O rei tentou, por exemplo, que o rei
de Cochim se tornasse cristão, mas não enviou para a Índia um grande pre‑
gador, preferindo antes exortar Afonso de Albuquerque a tentar convencer
o soberano indiano31.
Ainda assim, D. Manuel I fez criar a primeira diocese fora do reino, que
foi instituída no Funchal, em 1514, com jurisdição sobre todos os territó‑
rios ultramarinos sujeitos à Coroa de Portugal. Depois, em 1518, obteve a
Hist-da-Expansao_4as.indd 121 24/Out/2014 17:17
122 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
consagração episcopal de D. Henrique, um príncipe negro, filho do rei do
Congo. Foi difícil persuadir a Santa Sé a conceder a mitra a um nativo do
Congo e este foi, de facto, o único prelado negro da Igreja durante muitos
anos. Já D. João II ensaiara a formação de clero negro para tentar dinamizar
a evangelização do continente africano, mas D. Manuel I dava um passo mais
ousado ao alcançar o episcopado para o jovem príncipe. Esta medida acabou
por ser inconsequente, por o Cristianismo ter sido incapaz de se impor entre
as gentes do Congo, mas é um dado revelador da abrangência da política
régia e da continuação do interesse na propagação do Cristianismo na África
negra, para lá de todos os planos que o monarca tinha para os oceanos e para
os territórios da América, Ásia e Norte de África.
D. Manuel I recuperou a sua autoridade, em grande medida, pela sua
aliança estreita com Carlos V, selada pelo seu terceiro casamento com D. Leo‑
nor, irmã do Áustria. O rei bloqueou assim qualquer grupo dissidente, pois
contava com o apoio directo de Carlos, ao mesmo tempo que era o garante
do poder hispânico de Carlos, como se comprovou na crise dos Comuneros,
em 1520‑1521. Com efeito, quando os castelhanos se rebelaram contra Car‑
los, o imperador só sobreviveu porque o rei de Portugal recusou apoiar os
rebeldes e emprestou dinheiro à fidalguia castelhana para que esta pudesse
repor a autoridade do rei de Castela. Faltava apenas selar o ascendente de
D. Manuel na Hispânia pelo casamento da infanta D. Isabel com o imperador,
o que só sucedeu em 1526.
Forte na Península, D. Manuel I voltou a sonhar com a Grande Cruzada
quando chegou a notícia da descoberta do Preste João. No segundo semes‑
tre de 1521 foi impresso um pequeno opúsculo em língua portuguesa, cujo
título começava por Carta das Novas, destinado a divulgar por todo o reino
o achamento do célebre rei africano. Tratava‑se decerto de uma forma de
o monarca mobilizar todo o reino para a guerra santa, mas o livrinho não
chegou a circular e hoje só se conhece um exemplar32. Falaremos mais adiante
sobre a eliminação desta obra; registe‑se, de momento, o entusiasmo que
assaltou o espírito do rei, ao receber a notícia de que havia sido encontrado
finalmente o soberano que já fora demandado pelo infante D. Henrique
há praticamente um século. Continuando sem saber qual era o verdadeiro
potencial dessa cristandade africana, o rei de Portugal mantinha‑se agarrado
à lenda como se fosse a realidade e acreditaria, por isso, que estaria para
muito breve o ataque ao Mediterrâneo Oriental.
Nesta nova fase do seu reinado, o próprio monarca alargou os seus hori‑
zontes no contexto asiático. Desde 1515, interessou‑se pelo avanço em direc‑
ção ao mar da China. O seu primeiro embaixador desembarcou em Cantão,
em 1517, mas a missão quedou‑se por um impasse. Com a ocupação de
Malaca, os Portugueses aperceberam‑se de que a China consumia ainda mais
Hist-da-Expansao_4as.indd 122 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 123
especiarias que a Europa, e tentaram dominar as rotas entre Samatra e o Sul
do Império do Meio. Em 1521, a armada da Índia levava uma esquadra de
quatro navios destinada a erguer uma fortaleza na costa da China, na mesma
altura em que partia como governador da Índia D. Duarte de Meneses,
herdeiro do conde de Tarouca e capitão de Tânger. O envio de um veterano
da guerra de África para o governo da Índia mostra‑nos que D. Manuel I
esperava intensificar a guerra contra os mouros do Mediterrâneo Oriental,
pelo que o envio de uma armada à China na mesma ocasião revela‑nos que
o monarca começava a apreender o legado de Albuquerque e a encarar a
presença lusa na Ásia como um empreendimento mais vasto do que a cru‑
zada. Ordenou então também a construção de fortalezas em Madagáscar, nas
Maldivas e em Samatra, tentando assim bloquear a nova rede de comércio
islâmico das especiarias. Portugal, todavia, não tinha dimensão para mono‑
polizar a venda de especiarias à Europa e à China simultaneamente, e nos
anos seguintes tornou‑se num importante fornecedor das especiarias a esses
dois mercados, mas sem a exclusividade.
Entretanto, em Outubro de 1521, uma embaixada veneziana a Londres
fez escala no Tejo e houve tempo para visitas de cortesia a el‑rei de Portugal,
e, por entre juras de amizade, o veneziano informou o monarca de que a
Senhoria estava interessada em comprar por atacado a especiaria que chegava
anualmente a Lisboa33. Depois de ter feito cair o sultão do Cairo, D. Manuel I
tinha Veneza a seus pés, mas a morte levou‑o passados dois meses. Com o fale‑
cimento do Venturoso encerrou‑se um ciclo da política imperial portuguesa.
E o destino foi decerto benigno com o rei afortunado, pois poupou‑o à
profunda desilusão de ter de constatar que afinal o mítico reino do Preste
João não passava de um território montanhoso incapaz de apoiar a cristan‑
dade europeia. Além disso, a conjuntura internacional continuava a mudar e
a conquista do Império Mameluco pelos Otomanos iria lançar estes últimos
sobre o oceano Índico em guerra aberta contra os Portugueses. Finalmente, o
próprio Estado da Índia, na configuração idealizada por Albuquerque, vendia
especiarias na Ásia e, perante a capacidade dos mercados asiáticos para pro‑
duzir mais especiarias, os Portugueses não conseguiram manter o bloqueio ao
mar Vermelho e também deixavam passar especiarias por Ormuz, ao mesmo
tempo que continuavam a transportar grandes cargas pela Rota do Cabo.
Assim, o que parecia ser uma conjuntura difícil dos últimos anos do
reinado manuelino transformou‑se numa viragem estrutural das condições
externas do Império Português, que se tornaram muito mais difíceis do que
até aí, com a emergência de novos rivais a Oriente e a Ocidente. Coube a
D. João III enfrentar as dificuldades.
Hist-da-Expansao_4as.indd 123 24/Out/2014 17:17
124 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Os construtores do império
Vimos nos últimos capítulos o modo como o Império Português nasceu
e se foi moldando sob um paradigma de hegemonia marítima, ao longo de
cem anos, desde a conquista de Ceuta. Todos sabemos os nomes de alguns
dos maiores protagonistas e a documentação conserva mais umas centenas de
nomes, mas nestes cem anos, seguramente, mais de um milhão de indivíduos
participou activamente neste processo: no reino, gerações de agricultores e
artesãos contribuíram para o apresto das armadas, em víveres, munições,
armas e instrumentos náuticos; lembrem‑se também os inúmeros carpinteiros,
calafates e outros oficiais que eram responsáveis pela construção de navios e
as muitas costureiras que cosiam o pano das velas, cujos serviços são recor‑
dados, por exemplo, no Regimento da Casa da Índia34. Referimo‑nos, pois,
a gente anónima, cujos nomes terão ficado registados na documentação da
administração pública, mas que a voragem do tempo engoliu para sempre.
Veja‑se, por exemplo, que dos 1500 homens que participaram na armada de
Pedro Álvares Cabral não temos mais que umas duas dúzias de nomes35, e
que de muitas outras viagens não temos qualquer nome; diga‑se mesmo que
um número indeterminado de expedições do último quartel do século xv que‑
dam completamente desconhecidas, restando‑nos indícios esparsos que não
permitem sequer estabelecer uma cronologia, como sucede até no caso das
viagens de Diogo Cão. Nos reinados de D. João II e de D. Manuel I, centenas
e depois milhares de homens estavam sempre em navegação ao serviço da
Coroa, fosse em missões de exploração, fosse em viagens de comércio, fosse
a bordo das armadas reais. Aos oficiais d’el‑rei acrescentava‑se a navegação
privada que demandava as ilhas ou Marrocos.
As grandes armadas, que permitiram a conquista das praças marroquinas,
envolveram dezenas de milhares de homens cada uma, e depois estabeleceram
‑se aí populações deslocadas do reino. A defesa dessas vilas e cidades era
assegurada por centenas de homens que serviam a Coroa por certos perío‑
dos de tempo, muitas das vezes cumprindo penas como degredados, pois
os construtores do império não eram necessariamente gente voluntária.
O degredo também foi uma forma de povoar a ilha de São Miguel, nos
anos 40 do século xv, e mais tarde a ilha de São Tomé, para onde D. João II
enviou 2000 crianças judias de uma assentada. Foi também um degredado o
primeiro português a desembarcar em Calicute, por exemplo. O povoamento
das ilhas era, como vimos, crucial para o domínio dos mares, e, no caso dos
Açores, a ocupação das ilhas contou, como referimos, com a colaboração de
colonos flamengos. Nos arquipélagos de Cabo Verde e de São Tomé sempre
predominou o elemento africano, que condicionou muitos aspectos da vida
quotidiana das ilhas, como a alimentação. A elite reinol ocupava os cargos
Hist-da-Expansao_4as.indd 124 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 125
de topo enquanto resistia ao clima, mas o controlo da terra estava nas mãos
dos naturais, mestiços ou negros.
No caso das praças marroquinas, as do Norte estiveram muitas vezes
confiadas a casas titulares, como a de Vila Real para Ceuta ou a de Redondo/
Borba para Arzila, mas genericamente a capitania das praças estava nas mãos
de fidalgos da Casa Real. A atribuição de um comando envolvia de imediato
familiares e criados do nomeado. Por exemplo, muitos dos que acompanha‑
ram Martim Afonso de Melo Coutinho à China, em 1521, já tinham estado
com ele em Marrocos, entre 1514 e 1517, enquanto o fidalgo comandou a
praça de Mazagão. As capitanias da Ásia, bem como o governo do Estado da
Índia, eram também asseguradas por redes familiares, relativamente coesas.
A importância destas solidariedades é notória nas estruturas de comando de
todos os governadores da Índia manuelinos e persistiria nas décadas seguintes,
o que foi demonstrado em vários estudos recentes36.
Desde o reinado de D. Afonso V, a Casa Real cresceu significativamente e
já foi no seu seio que este monarca recrutou a quase totalidade dos titulares
da administração ultramarina37. Os primeiros descobridores pertenciam à
Casa de Viseu, pois eram súbditos do infante D. Henrique; juntaram‑se‑lhes
depois agentes privados, mas nos anos 50, quando D. Afonso V começou
a avaliar os negócios da Guiné, os membros da Casa Real entraram nas
caravelas e tomaram‑nas para si, depois da morte de D. Henrique, em 1460.
Há mesmo o caso de um indivíduo que é referenciado, em 147838, como
tendo sido feito escudeiro da Casa Real para ir comandar uma caravela de
descobrimento, o que nos mostra que pertencia a este corpo social a tarefa
das Descobertas.
Escudeiros, cavaleiros ou fidalgos, conforme a importância do cargo ou da
missão, estes membros da Casa Real participavam no comércio como capi‑
tães, feitores, escrivães ou almoxarifes sem entenderem que estavam a praticar
uma função vil, pois não estavam a actuar como mercadores privados, mas
antes como agentes da Coroa, ou seja, estavam a prestar auxilium ao seu rei,
como era próprio de um nobre. Como grande parte dos negócios ultramari‑
nos era de monopólio régio, nomeadamente o do ouro e o das especiarias, a
expansão ultramarina permitiu a sobrevivência de amplos sectores da nobreza
sem terem de se reconverter socialmente para outras funções menos honrosas.
Desde Ceuta que os filhos segundos da nobreza viam nas partes de Além
‑Mar uma oportunidade para mostrarem as suas capacidades militares e de
poderem sobressair perante a Coroa, enquanto os plebeus tinham mais pos‑
sibilidades de melhorar as suas condições participando no povoamento das
ilhas ou entrando para as tripulações das caravelas. No tempo de D. João II
alguns pilotos ganharam privilégios próprios da nobreza, enquanto alguns
nobres viam reforçada a sua posição no seio da hierarquia nobiliárquica.
Hist-da-Expansao_4as.indd 125 24/Out/2014 17:17
126 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Vale a pena enfatizar que, de facto, os primogénitos da nobreza passa‑
ram pouco pelo império. Ainda os encontramos com alguma facilidade nas
praças de Marrocos em passagens curtas destinadas a ganhar experiência
guerreira, mas dificilmente os topamos na Guiné ou na Índia. Os herdeiros
de morgados, senhorios e títulos tinham a sua vida garantida e só partiam
por amor ao risco e à aventura, o que era pouco comum. Veja‑se, apenas a
título de exemplo, que todos os filhos de Vasco da Gama foram à Índia, onde
desempenharam cargos de relevo, como a capitania de Malaca, ou mesmo o
governo do Estado da Índia, no caso de D. Estêvão da Gama (1540‑1542).
Apenas um dos filhos do Gama não saiu de Portugal – D. Francisco da Gama,
o herdeiro, que foi o 2.º conde da Vidigueira.
Os combates travados em África, como depois os feridos na Índia, valeram
a obtenção do grau da cavalaria para milhares de indivíduos, a começar pelos
próprios filhos de D. João I; também D. João II recebeu essa honra de seu
pai, no rescaldo da conquista de Arzila, em 1471. Quer em Marrocos, quer
no Oriente, a fidalguia encabeçava a hoste e os seus membros revelavam,
as mais das vezes, uma temeridade excessiva, pois buscavam a honra onde
pairava a morte, e muitos obtiveram, de facto, uma morte honrada. Desde o
assalto a Ceuta, em 1415, as campanhas militares conduzidas pelos portu‑
gueses nunca primaram pela táctica, mas assentaram principalmente na força
bruta e na ousadia dos seus cavaleiros. As conquistas de Ceuta e de Goa,
separadas por 95 anos, decorreram no mesmo ambiente impetuoso e confuso
e foram bem‑sucedidas, enquanto outras, como o ataque a Adém, em 1513,
fracassaram devido à indisciplina dos capitães, que sobrecarregaram desne‑
cessariamente as escadas na escalada e partiram‑nas39. A criação do império
foi uma gesta de bravos imprevidentes em que as vitórias se sobrepuseram
às derrotas devido ao mérito individual dos combatentes, ao seu armamento
superior, nomeadamente o uso sistemático de armas de fogo, e, sem dúvida,
ao desenvolvimento de uma nova táctica de guerra naval que revolucionou
a luta no mar. A maior parte das derrotas deveu‑se à temeridade excessiva,
ao menosprezo pelos inimigos e à indisciplina, quer da soldadesca, quer da
fidalguia. As expedições de Ceuta (1415) e de Tânger (1437) ilustraram, desde
logo, o verso e o reverso desta realidade secular.
Percebe‑se, assim, que o grupo social que conduziu o processo expansio‑
nista neste período foi a nobreza. Todas as tarefas de responsabilidade eram
cometidas aos seus membros: o comando dos navios; a diplomacia; a condu‑
ção da guerra; o controlo dos negócios da Coroa; o registo administrativo;
a manutenção de víveres, armas e apetrechos. Eram secundados por mari‑
nheiros e homens de armas, em que se destacavam, normalmente, os bom‑
bardeiros, na sua maioria recrutados no estrangeiro, sobretudo na Flandres
e na Alemanha40. Os cargos ultramarinos mais importantes, nomeadamente
Hist-da-Expansao_4as.indd 126 24/Out/2014 17:17
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495‑1521) 127
governo de regiões, capitania de fortalezas, chefia de feitorias, de escrivani‑
nhas e de almoxarifados, eram atribuídos a um oficial por períodos de três
anos, renováveis. Só as capitanias de Ceuta, Tânger e Arzila estiveram pre‑
dominantemente na mão de linhagens senhoriais. Era uma forma de evitar
a corrupção e de a Coroa poder diversificar a redistribuição de benesses por
entre os seus vassalos. Esta rotação dos oficiais levantava críticas, por causa
da falta de tempo para poderem desenvolver um trabalho estruturado, mas
o modelo perdurou durante séculos, embora com algumas excepções, de que
a primeira foi Afonso de Albuquerque, que governou a Índia durante dois
triénios consecutivos.
A nobreza que ergueu o império cresceu num ambiente ainda pouco roti‑
nado com as armas de fogo em combate terrestre, e mesmo os capitães que
participaram na fundação do Estado da Índia tinham nascido, quase todos,
antes de 1475‑1480, o que provocou uma situação contraditória, pois os
mesmos oficiais que se impunham aos mouros de Meca pela utilização de
uma táctica revolucionária no mar construíam fortalezas desajustadas à nova
guerra. Com efeito, todas as fortificações construídas nas partes de Além até
à morte de D. Manuel I mantinham a existência de uma torre de menagem,
que era uma construção mais vulnerável ao tiro de artilharia41. O desastre
da Mamora terá resultado, em grande medida, do facto de o capitão‑mor
da expedição, D. António de Noronha, ter começado a edificar a fortaleza
numa posição que não estava suficientemente distante de uma colina, pelo
que a posição portuguesa ficou ao alcance do fogo inimigo, o que se revelou
catastrófico. Tal como o próprio rei D. Manuel I, também a sua nobreza era
produto deste tempo de mudança, o Renascimento, pródigo em contradições
e equívocos, pelo que os fundadores da guerra naval moderna continuavam
a seleccionar locais para fortalezas desajustados às novas armas de fogo.
Nesses anos, alguns aventureiros começaram a escapar à autoridade régia
e a criar as suas próprias ligações aos territórios e às gentes do Continente
Negro ou da Ásia. Muitas vezes tornaram‑se concorrentes dos oficiais da
Coroa e até se disponibilizavam para negociar com outros agentes privados
que procuravam ludibriar o monopólio régio. Eram os lançados, que, apesar
disso, representaram quase sempre uma certa difusão da civilização europeia
e do nome de Portugal pelos territórios por onde andavam. Encontramo‑los,
então, principalmente nos Rios da Guiné42, no golfo de Bengala43 e no mar
da China, que eram zonas menos patrulhadas pelos oficiais d’el‑rei. Estes
indivíduos podem ser vistos como o prenúncio de uma das novas dinâmicas
expansionistas que se afirmariam no seio do Império Português durante o
reinado de D. João III. Embora veiculassem o nome de Portugal, agiam em
nome próprio e afrontavam os interesses da Coroa sempre que necessário,
e em Bengala, em 1521, um grupo destes homens convenceu as autoridades
Hist-da-Expansao_4as.indd 127 24/Out/2014 17:17
128 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
locais de que uma embaixada oficial, enviada pelo governador da Índia, não
passava de um bando de impostores44.
*
Além dos homens que forjaram o império, merece particular destaque a
cidade de Lisboa. Urbe principal do reino, era então um espaço cosmopolita
e populoso, que foi sempre capaz de responder à procura crescente da nave‑
gação. O estuário do Tejo albergava estaleiros, fornos de biscoito, armazéns
para guardar armas, apetrechos náuticos, alimentos secos e salgados, mais a
criação e o gado que eram embarcados vivos nas grandes armadas. Lisboa
era a porta de acesso aos mundos exóticos e D. Manuel I renovou‑a, viu‑a
crescer para fora da velha cerca fernandina e embelezou‑a. Todos os serviços
ligados à administração ultramarina foram reforçados, ao mesmo tempo que
o rei deixava o seu paço no castelo e se mudava para outro que ele próprio
construiu junto ao rio e à Casa da Índia45. O esforço de apresto das armadas
que estavam a construir o novo império tinha uma dimensão nacional, com
a madeira para os navios a vir de toda a bacia do Tejo e da região de Leiria,
os víveres a virem sobretudo do Alentejo e do Algarve, e as velas a serem
produzidas com linho oriundo da bacia do Douro e transformado em pano
em Vila do Conde46; os navegantes, por sua vez, eram naturais de todas as
comarcas do reino e das ilhas. O império que estava a nascer não colocou
Lisboa de costas voltadas para o país, mas antes fez de Lisboa a principal
porta de entrada e saída para a aventura oceânica. Refira‑se, a propósito, que
o estuário do Tejo era o ponto de partida e de chegada obrigatório de todas
as armadas reais, mas os demais portos do reino também participavam no
comércio atlântico, aproveitando produtos e regiões que não estavam sob
a alçada do monopólio régio.
Hist-da-Expansao_4as.indd 128 24/Out/2014 17:17
7
O REALISMO JOANINO
(1521‑1557)1
A corte manuelina viveu quase sempre sob tensão, pois cruzaram‑se aí
correntes de opinião contraditórias, que alimentavam rivalidades entre
linhagens e indivíduos e que opunham, como referimos, diferentes formas
de entender o império. Nos últimos anos do reinado do Venturoso abriu‑se
uma nova fissura que opôs o monarca ao próprio herdeiro. Não se sabe bem
quando surgiram os primeiros sinais de desacordo, mas é certo que o príncipe
se foi aproximando dos sectores que se opunham à cruzada, e terá pairado
nos bastidores do paço a possibilidade de D. João encabeçar uma revolta.
O caso foi suficientemente grave para que em 1517, na sequência da sua
segunda viuvez, D. Manuel I tenha alterado o plano que urdia há anos para
casar o seu primogénito com Leonor de Áustria; esta princesa era filha de
Joana, a Louca e irmã de Carlos, o arquiduque da Borgonha, herdeiro
de Castela e de Aragão e candidato natural ao título de imperador que estava
nas mãos de seu avô, o velho Maximiliano I. Numa decisão inesperada,
que colheu todos de surpresa (e particularmente o príncipe), o rei tornou‑se
noivo de Leonor, afrontando o filho mas reforçando o seu poder, enquanto
os borgonheses se asseguravam de que o rei de Portugal não ficava livre para
ajudar Joana, a rainha de Castela incapaz de governar que estava presa em
Tordesilhas. O terceiro casamento de D. Manuel I representou, sem dúvida,
uma humilhação para D. João, o que o terá aproximado ainda mais dos
sectores oposicionistas. O desacordo do príncipe não impediu o rei de lançar
uma nova grande ofensiva na Ásia a partir de 1518, mas, quando a morte o
surpreendeu inesperadamente, tudo mudou num ápice.
A expansão marítima lusa conheceu a sua primeira inflexão profunda com
o governo de D. João III. A personalidade do novo monarca e a nova con‑
juntura externa contribuíram decisivamente para essas mudanças estruturais,
Hist-da-Expansao_4as.indd 129 24/Out/2014 17:17
130 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
mas afigura‑se‑nos que se deve acrescentar um terceiro elemento para com‑
preender bem as rupturas desencadeadas pelo rei. Ao contrário de seu pai,
D. João III formou o seu espírito estando ciente da existência dos grandes
oceanos, que ainda eram mal percebidos ou mesmo desconhecidos durante
toda a juventude de D. João II e de D. Manuel I e dos soberanos seus con‑
temporâneos, em especial os Reis Católicos. Quando se assenhorearam do
Atlântico, os antecessores do Piedoso continuaram presos ao eixo centenário
da geoestratégia da Cristandade – o Mediterrâneo; D. João III, porém, nas‑
cera, como referimos, no mesmo ano em que foi desenhado o planisfério de
Cantino e sempre viu que o planeta afinal tinha uma superfície predominan‑
temente azul. D. João III e Carlos V, este nascido em 1500, foram os primeiros
monarcas que gizaram políticas oceânicas num contraste sintomático com o
seu tio Henrique VIII de Inglaterra. Todavia, Carlos não vivia apenas para a
sua herança castelhana e passou a vida embrenhado nos conflitos europeus.
Foi, pois, D. João III o primeiro rei europeu a conceber uma política imperial
que tinha o domínio dos oceanos como paradigma principal, tendo, por isso,
apostado na colonização do Brasil e no alargamento do Estado da Índia, ao
mesmo tempo que abandonava os sonhos de conquista em África e que se
desligava quase totalmente das guerras mediterrânicas.
A viradeira e uma nova geopolítica mundial
Assim, D. João III alterou drasticamente a política do pai e, passado um
mês sobre a sua entronização, logo despachou um navio para a Índia com
ordens para suspender a construção das novas fortalezas que D. Manuel
mandara edificar recentemente. A Carta das Novas, por sua vez, não chegou
a circular, presumindo‑se que a edição foi destruída para que o livrinho não
agitasse a opinião pública em favor da cruzada.
E os homens da confiança de D. Manuel I foram afrontados e acusados
de corrupção. Diogo Lopes de Sequeira, governador da Índia entre 1518 e
1521, foi alvo de devassa humilhante; o velho Duarte Pacheco Pereira veio
agrilhoado da Mina e D. Duarte de Meneses, o último governador da Índia
nomeado por D. Manuel I (1521‑1524), foi encarcerado no castelo de Lisboa
durante sete anos sem culpa formada, até que foi libertado e reposto na sua
capitania de Tânger, sem que a Coroa justificasse as razões da prisão e sem que
o ilibasse ou condenasse. Entretanto, alguns dos fidalgos que tinham perdido
o favor real regressavam à corte, com particular destaque para D. Vasco da
Gama, que seria o primeiro vice‑rei da Índia nomeado por D. João III, em
1524. Esta viradeira política consubstanciou‑se, como se disse, no abandono
do sonho da cruzada mediterrânica, mas teve um efeito pernicioso que viria a
Hist-da-Expansao_4as.indd 130 24/Out/2014 17:17
O REALISMO JOANINO (1521‑1557) 131
corroer a percepção do império pelos Portugueses. Com efeito, os apoiantes
de D. João não se contentaram com o afastamento dos rivais e a imposição
das suas ideias, e convenceram o jovem rei a lançar o descrédito sobre os
agentes do império. Ao insinuarem que os oficiais manuelinos eram corruptos,
os novos senhores da corte abriram como que uma caixa de Pandora que
jamais conseguiram fechar.
A riqueza extraordinária do trato ultramarino permitia o enriquecimento
de muitos agentes da Coroa sem prejuízo dos negócios régios, mas as acusa
ções de 1522‑1525 lançaram uma suspeição generalizada sobre todos os
oficiais do império que regressavam com um bom pecúlio, e os ganhos de
quem arriscava a vida anos a fio a bordo das armadas reais passaram a ser
vistos com redobrada inveja e sempre com suspeição, o que persistiu, aliás,
pelos séculos afora nas crónicas e na historiografia. A mudança de paradigma
imperial era uma inevitabilidade, como veremos de seguida, mas a luta
política e as rivalidades entre oficiais foi‑se amesquinhando e criando uma
memória desconfortada, as mais das vezes sem razão, pois muitas das acusa‑
ções que foram lançadas sobre uns e outros não passavam de lutas pessoais
entre muitos indivíduos, que aproveitavam a existência de uma suspeição
generalizada para prejudicar os rivais.
*
Nos anos 20 do século xvi acentuaram‑se as mudanças pressentidas nos
últimos anos do reinado de D. Manuel I. Os Otomanos consolidaram a sua
hegemonia no Mediterrâneo Oriental, consagrada com a tomada de Rodes,
em 1522, e começaram a espreitar o Índico; em breve tornar‑se‑iam no grande
rival dos Portugueses nos mares da Ásia. Os mouros do Oriente conseguiram,
entretanto, estabelecer uma nova rota fornecedora de especiarias vindas
da Insulíndia, que chegava ao mar Vermelho com apoio nas Maldivas, e o
Estado da Índia, como vimos, não teve meios para a bloquear. Nos anos 20,
o corso luso ainda interceptou muita da navegação muçulmana que fluía para
o Egipto, mas Ormuz também vendia pimenta. A capacidade do mercado
asiático para aumentar a produção de especiarias, aliada à elasticidade do
mercado europeu para absorver o dobro da oferta daquele produto, levou a
que ambas as rotas concorrentes sobrevivessem, até porque tanto Portugueses
como mouros eram incapazes de aniquilar o rival.
Entretanto, em Marrocos, os Saadidas apossaram‑se do emirado de Mar‑
ráquexe, em 1524, e colocavam tanto os Portugueses como o reino de Fez
na defensiva. Todas as posições lusas tinham sido criadas há séculos, quando
as armas de fogo não existiam; assim, algumas das fortalezas começaram
a tornar‑se indefensáveis, apesar das reformas empreendidas no tempo de
Hist-da-Expansao_4as.indd 131 24/Out/2014 17:17
132 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
D. Manuel I, nomeadamente pela sua localização próxima de elevações. É o
caso de Alcácer Ceguer, que tinha sobranceiro o monte Seinal, inofensivo no
tempo das armas de arremesso, mas que se tornou numa posição ameaçadora
conforme a artilharia ganhava mais eficácia. E apesar de estar logo do outro
lado do rio que desagua no mar encostado à fortaleza, os Portugueses foram
incapazes de o dominar.
Com o controlo do emirado de Marráquexe, os Saadidas começaram a
cobiçar o reino de Fez, ao mesmo tempo que atacavam as posições portu‑
guesas. Em 1541, a fortaleza de Santa Cruz de Cabo de Gué (actual Agadir)
não conseguiu resistir a nova investida e caiu às mãos dos mouros. Era o
sinal óbvio da fragilidade das fortificações face aos novos armamentos. O rei,
que estava ciente do perigo e que já tentara obter apoio da fidalguia para
a evacuação das praças mais vulneráveis, tomou então medidas drásticas e
ordenou o abandono das posições indefensáveis: primeiro Safim e Azamor,
logo em 1541, e depois Arzila e Alcácer Ceguer, em 1550. Ao mesmo tempo
promoveu a construção de novas muralhas nas três praças que permanece‑
ram sob a sua autoridade, Ceuta, Tânger e Mazagão. Construídas segundo
o novo modelo da arquitectura militar, já adaptado à artilharia, e que foi
então também aplicado na nova fortaleza de Diu, estas revelaram‑se bastiões
inexpugnáveis que os muçulmanos jamais lograram conquistar.
A decisão do monarca era ajustada à realidade geoestratégica vivida no
Norte de África, mas foi mal recebida pelos fidalgos, pelos clérigos e pela
opinião pública. O recuo, ainda que muito limitado, foi entendido como uma
crise grave, independentemente de todas as dinâmicas que faziam o império
crescer em todas as outras frentes. D. João III percebeu que Portugal não
tinha condições para conquistar Marrocos e que devia empenhar os meios
da Coroa em acções mais relevantes para a economia do império, mas os
seus súbditos não o compreenderam, e quando o monarca faleceu e deixou
no trono o neto de 3 anos logo muitos sonharam em fazer do rei menino o
vingador do abandono – o «terror da maura lança», como cantou Camões.
Entretanto, mais a sul, o negócio do ouro da Mina também perdia fulgor,
pois as remessas do metal diminuíam significativamente. Este decréscimo era
irreversível, e prolongou‑se pelas décadas seguintes, pois os Portugueses evita‑
vam vender ferro aos africanos e persistiam na venda dos mesmos produtos
que eram negociados desde o século xv, o que levou à sua desvalorização e
à aquisição de menos ouro. Além disso, crescia o número de aventureiros
que desafiavam o monopólio português e que surgiam nas praias do golfo
da Guiné com mercadorias mais atraentes para os nativos, o que provocou
o aparecimento de novas rotas que desviavam o metal do velho caminho
para São Jorge da Mina. Os Portugueses mantinham a hegemonia naval
a sul do equador, mas eram impotentes para travar a navegação de outros
Hist-da-Expansao_4as.indd 132 24/Out/2014 17:17
O REALISMO JOANINO (1521‑1557) 133
europeus pela costa da Guiné. A França tentou mesmo, várias vezes, intervir
no Brasil, mas os agentes dos Valois foram batidos sistematicamente nas
praias brasileiras. O rei Francisco I contestava o exclusivo ibérico que havia
sido consagrado pelo Tratado de Tordesilhas, mas nunca declarou guerra a
Portugal, pois convinha‑lhe muito que os Portugueses se mantivessem neutrais
nos conflitos europeus e que não se aliassem a Carlos V, o arqui‑inimigo da
monarquia gaulesa.
As mudanças no Atlântico foram profundas nestes anos. A conquista do
México por Cortez, em 1522, e o desenvolvimento da sociedade colonial nas
Índias de Castela geraram uma nova realidade económica, com um novo fluxo
significativo de ouro e de prata aos mercados hispânicos e com uma nova
demanda de mão‑de‑obra na América que possibilitou o ressurgimento do
comércio de escravos, com a emergência das primeiras rotas afro‑americanas
sob o controlo dos Portugueses, particularmente dos moradores da ilha
de Santiago. As perdas do ouro da Mina eram compensadas pelo metal
americano que chegava a Lisboa em pagamento das primícias do êxodo de
africanos para o Novo Mundo2, ao mesmo tempo que o declínio do açúcar
madeirense era resolvido com os bons resultados da produção são‑tomense,
a que se seguiria o triunfo do açúcar brasileiro.
Versátil e dinâmico, o Império Português acomodava‑se aos ventos da
História, ao mesmo tempo que enfrentava um outro desafio difícil. No ano
de 1522 chegou à Andaluzia um navio comandado por Sebastião del Cano,
que trazia os poucos sobreviventes da primeira viagem de circum‑navegação
à Terra, que fora idealizada por Fernão de Magalhães. Este descobriu a
ligação entre o Atlântico e o Pacífico, mas morreu em combate nas Filipinas.
A expedição de Magalhães permitiu ganhar uma melhor noção do oceano
Pacífico e abriu um novo contencioso luso‑castelhano a propósito da posse
das Molucas. Entretanto, Sevilha ganhava mais protagonismo e, sintomatica‑
mente, a comunidade de mercadores alemães que trocara Veneza por Lisboa,
pelo ano de 1502, mudava‑se agora para a Andaluzia3.
A disputa pelas Molucas perdurou durante sete anos, até que as coroas de
Portugal e de Castela assinaram o Tratado de Saragoça, em 1529. Portugal
reconhecia, então, que as ilhas do cravo se situavam a oriente da linha do
antemeridiano de Tordesilhas, pelo que estavam na esfera de influência de
Castela; esta, por sua vez, reconhecia a sua incapacidade para aproveitar
economicamente as ilhas, pois não lhes podia aceder pela Rota do Cabo, e a
navegação pelo estreito de Magalhães não era favorável ao estabelecimento
de uma linha comercial. Venceu, assim, o pragmatismo e Portugal comprou
por 350 000 ducados de ouro o direito a manter as Molucas no seio do
Estado da Índia. Sabe‑se hoje que, afinal, aquelas ilhas se localizavam na
zona que pertencia a Portugal, de acordo com o que fora estabelecido em
Hist-da-Expansao_4as.indd 133 24/Out/2014 17:17
134 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Tordesilhas, mas os homens de Quinhentos não dispunham de aparelhos
que lhes permitissem medir a longitude com precisão, o que possibilitou o
equívoco. Deve‑se dizer, porém, que D. João III tomou uma decisão acertada,
à luz da informação de que dispunha. O trato das Molucas era vital para a
sobrevivência de Malaca e o contencioso com Carlos V não podia descambar
num conflito militar de consequências seguramente trágicas para Portugal;
assim, a solução alcançada em Saragoça foi a melhor possível e contribuiu
para a viabilidade do Estado da Índia, mesmo que às custas de um esforço
suplementar dos cofres da Coroa.
Nestes anos 20 de Quinhentos ocorreram de certeza os primeiros contac‑
tos de navegadores portugueses com a Austrália. Existem evidências arqueo‑
lógicas, nomeadamente canhões que ali foram perdidos, e tradições orais de
tribos do Noroeste do território referem que uns viajantes estranhos chegaram
ali, vindos do mar. Como seria inevitável, os Portugueses foram os primeiros
europeus a chegar à Austrália, mas não houve propriamente um «descobri‑
mento», porque esses contactos não foram repetidos e não geraram uma
consciência da existência dessa grande ilha. As razões para o desinteresse
dos Portugueses são múltiplas: as terras encontradas, na costa ocidental, são
áridas e as populações não tinham riquezas interessantes; os aventureiros que
circulavam pelos portos riquíssimos das margens da Ásia nunca iriam perder
tempo nem arriscar a vida não tendo ali nada interessante, nem para negociar
nem para pilhar; além disso, nesses tempos de tensão com Castela, o território
australiano, além de desinteressante economicamente, constituía uma área
movediça diplomaticamente. Dispondo de uma área para criar uma grande
colónia, o Brasil, e de outra onde os negócios eram inesgotáveis e lucrativos,
os Portugueses passaram pela Austrália com indiferença.
Os primórdios de um novo paradigma
A crise luso‑castelhana gerada pela posse das Molucas tolheu a política
imperial joanina ao longo dos anos 20 do século xvi. Persistiam outras
hesitações, como a conservação ou não de Goa, e o governo do Estado da
Índia conheceu uma instabilidade inusitada nesses mesmos anos. D. Vasco
da Gama chegou ao Índico em Outubro de 1524, mas morreu no Natal
seguinte e o seu sucessor, D. Henrique de Meneses (1525‑1526), faleceu
passados 13 meses. Na segunda via de sucessão estava o nome de Pêro de
Mascarenhas, o capitão de Malaca, e como este se encontrava longe abriu‑se
a terceira via para obter um governador interino, mas o indigitado, Lopo
Vaz de Sampaio, quis ganhar o cargo e a Índia Portuguesa esteve quase em
guerra civil, e o conflito só foi sanado com a chegada de Nuno da Cunha,
Hist-da-Expansao_4as.indd 134 24/Out/2014 17:17
O REALISMO JOANINO (1521‑1557) 135
o novo governador nomeado pelo rei (1529‑1538). Seria então que Goa se
tornaria na capital do Estado da Índia4.
Do Oriente chegavam mais notícias perturbadoras, pois as posições lusas
foram alvo de um ataque simultâneo, de Ormuz a Malaca, em 1522, e a
tentativa de aproximação à China fracassou no ano seguinte. O Guzerate
tornou‑se no principal rival a dominar, e Diu na praça mais cobiçada.
Como vimos, até 1521 o império estava subordinado quase totalmente
a uma lógica de hegemonia marítima, mas durante o reinado de D. João III
começou a mudar de paradigma, passando a incluir também políticas de
ocupação territorial. Na Ásia, esta nova realidade ganhou forma, com a
ocupação da denominada Província do Norte, que tinha por centro político
a cidade de Baçaim, ocupada em 1534. Além da cidade, os Portugueses obti‑
veram então uma faixa territorial, a que se acrescentou a região de Damão,
após a conquista desta cidade, em 1559. Entretanto, as terras contíguas a
Goa, Bardez e Salsete foram definitivamente sujeitas à Coroa portuguesa
durante o governo de D. João de Castro (1545‑1548). A ocupação destas
áreas possibilitou o enraizamento de nobres portugueses, que se tornavam
terratenentes, e provocou uma diversificação das receitas da Coroa, que se
acentuaria nos anos seguintes. Neste caso, não se tratou de uma política
idealizada pela Coroa, mas de um simples aproveitamento da superioridade
militar dos Portugueses, mas não deixa de ser uma alteração de fundo na
política imperial portuguesa que antecedeu os futuros planos de conquista
que se gizaram para o vale do Zambeze ou para a ilha de Ceilão. Embora se
tratassem de territórios periféricos e relativamente pequenos, representavam,
pois, uma novidade no processo expansionista português já centenário e eram
coincidentes com práticas semelhantes, mas de maior alcance, que começa‑
ram a ser empreendidas no Brasil, a partir de 1534. Antes, o rei enviou uma
esquadra comandada por Martim Afonso de Sousa, que entre 1530 e 1532
impôs a autoridade da Coroa lusa nas águas brasileiras. O triunfo do Sousa
levou o monarca a crer que a costa americana estava pacificada e apostou
na iniciativa privada para levar a cabo a colonização do Brasil.
Com efeito, a criação de domínios territoriais na Índia decorreu no mesmo
momento em que D. João III iniciou a ocupação sistemática dos seus territó‑
rios americanos. Neste caso, porém, havia o desejo claro da Coroa de dominar
terras. Depois de três décadas de mero controlo da orla costeira brasileira e
de extracção do pau‑brasil, o rei apostava na ocupação de grandes espaços
alargando para o Atlântico Sul o sistema das capitanias‑donatarias, que tinha
sido o modelo adoptado com sucesso para o povoamento dos arquipélagos
atlânticos. Mudava a estratégia, despontava um novo paradigma imperial,
mas ainda subsistia a experiência antiga e o monarca tentou aplicar o velho
modelo quatrocentista ao Brasil.
Hist-da-Expansao_4as.indd 135 24/Out/2014 17:17
136 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Assim, cabia aos particulares assumirem a ocupação do território, a troco
da sua posse, tal como sucedera no século anterior, quando se povoaram as
ilhas. No entanto, o tempo e o espaço eram outros e o sucesso da centúria
anterior não se repetiu. Ao contrário dos espaços insulares, a nova colónia
estava habitada, pelo que a fundação de povoados e a criação de áreas de pro‑
dução agrícola geravam inevitáveis conflitos com os indígenas. Conhecedores
do terreno, muito superiores em número, os índios dificultaram a instalação
dos colonos, salvo quando os capitães tiveram a perspicácia suficiente para
estabelecer acordos e alianças com as tribos locais. À luta pela posse da terra
juntava‑se a disputa pelos mares, pois a ameaça francesa persistiu até aos
anos 60. Era muito difícil conseguir criar unidades económicas produtivas
e estruturas políticas estáveis, ao mesmo tempo que se disputava a posse da
terra com os indígenas e que se defendia a hegemonia marítima contra rivais
europeus. A maioria dos donatários tinham cabedal relativamente limitado
e foram incapazes de fazer vingar os seus projectos, salvo nas capitanias de
Pernambuco e de São Vicente.
No final dos anos 40 a situação era grave e a Coroa estava em risco de
perder o Brasil, devido à incapacidade da maioria dos capitães para desen‑
volver os seus territórios como unidades políticas e económicas. Foi então
que D. João III tomou uma das decisões mais importantes do seu reinado,
ao criar o governo‑geral do Brasil. O monarca reconhecia a importância
crucial das terras brasileiras e decidiu completar o esforço dos particulares
com o envolvimento das forças régias. Competia ao governador zelar pelo
conjunto das capitanias e usar os meios da Coroa para apoiar as zonas que
enfrentassem maiores dificuldades. A territorialidade ganhava maior expres‑
são na estratégia d’el‑rei. Quando Tomé de Sousa iniciou o seu mandato
como governador, em 1549, o novo paradigma entranhou‑se definitivamente
e foi‑se afirmando lentamente como a solução mais duradoura para o império
ultramarino português.
No entanto, o paradigma do imperialismo marítimo era ainda o elemento
predominante e continuava mesmo a crescer nestes anos do meado do século.
Com efeito, a consolidação da presença lusa no Brasil desenrolou‑se ao
mesmo tempo que os Portugueses, no Índico, dominavam o mar de Ceilão5
e derrotavam os Turcos nas imediações do golfo Pérsico, em 1554, anulando
definitivamente as aspirações otomanas de hegemonia sobre o Índico Oci‑
dental. Entretanto, os aventureiros que haviam persistido no mar da China,
mal‑grado a hostilidade dos mandarins, tinham chegado em 1543 ao Japão6
e descobriram um novo negócio baseado na troca de prata nipónica por
seda chinesa. Bem aceites no País do Sol Nascente7, acabaram por despertar
o interesse junto das autoridades chinesas; em 1550 a Coroa portuguesa
decretou o monopólio desse comércio e em 1557 a nau do trato passou a
Hist-da-Expansao_4as.indd 136 24/Out/2014 17:17
O REALISMO JOANINO (1521‑1557) 137
fundear regularmente em Macau8, e o comércio do Extremo Oriente Asiático
tornou‑se num dos novos sustentáculos das finanças do Estado da Índia.
O império vivia, então, um dos momentos de maior vitalidade e de
mudança. Por um lado, verificava‑se o arranque de um novo modelo de
expansão, ao mesmo tempo que o antigo persistia pujante; por outro, novos
corpos sociais (os missionários e os mercadores privados) ganhavam força e
eram responsáveis pelo crescimento das áreas sob influência portuguesa, ao
mesmo tempo que novos negócios recompunham as dinâmicas comerciais,
quer do Atlântico, quer do Oriente.
*
A partir de meados de Quinhentos, o império passava a ter duas áreas de
intervenção prioritária, o Estado da Índia e o Brasil, o que representava tam‑
bém uma alteração ao modelo manuelino, em que as preocupações da Coroa
estavam focalizadas, como vimos, no Oriente e em Marrocos. A novidade
sul‑americana parece ter provocado uma alteração na representação simbó‑
lica do rei nas partes ultramarinas. Apesar de o Brasil ganhar então uma nova
importância na constelação imperial, a Índia continuava a ser a área mais
prestigiada e a que atraía mais a fidalguia. A titulatura dos representantes da
monarquia tinha de reflectir precisamente essa hierarquia.
Entre 1505 e 1548, o Estado da Índia foi governado quase sempre por
fidalgos com o título de governador. As três excepções foram D. Francisco
de Almeida (1505‑1509), D. Vasco da Gama (1524) e D. Garcia de Noro‑
nha (1538‑1540). Em 1548, D. João III renovou o mandato do governador
D. João de Castro e tomou uma medida que nunca se repetiu, ao elevar o
estatuto do Castro para vice‑rei. A partir de então, todos os governantes
da Índia nomeados directamente pela Coroa receberam sempre o título de
vice‑rei, enquanto o de governador ficou reservado para os que sucediam
na Índia, em caso de morte ou impedimento do vice‑rei, através do sistema
das cartas de sucessão. É indiscutível que na segunda metade quinhentista a
maioria dos vice‑reis foram fidalgos com maior estatuto que os governadores
dos primeiros anos, mas a razão para esta mudança foi decerto a criação do
governo‑geral do Brasil, precisamente em 1548.
A importância simbólica deste território era muito menor do que a do
Oriente, e assim continuou a ser durante muito tempo, como veremos nos
capítulos seguintes. Por isso, o representante d’el‑rei na América não podia
ter o mesmo título do que a cabeça do Estado da Índia. Só muito mais tarde,
em 1640, é que o Brasil teve pela primeira vez um vice‑rei, e o território só
se tornou definitivamente num vice‑reinado em 1714.
Hist-da-Expansao_4as.indd 137 24/Out/2014 17:17
138 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Novos protagonistas
A expansão portuguesa assentou sempre no comércio, desde a conquista
de Ceuta e a ocupação das ilhas atlânticas. Até ao reinado de D. João III, a
maioria dos negócios ultramarinos estava sob monopólio régio9, salvo o trato
das ilhas, que era controlado pelos donatários, à excepção da ilha de São Tomé,
que ficou sempre sob a alçada régia. O facto de D. Manuel, duque de Beja e
donatário da Madeira, Açores e Cabo Verde, ter subido ao trono em 1495
acentuou o exclusivismo régio no comércio ultramarino. É certo que muitos
mercadores privados andaram pelos oceanos nesse período, mas eram, em
regra, contratadores que tinham arrendado segmentos desse comércio à Coroa.
As viagens de exploração oceânica eram comandadas pela Coroa e os negócios
eram conduzidos pelos feitores d’el‑rei, salvo nas situações de arrendamento.
Como referimos, alguns desses negócios estavam em crise em meados de
Quinhentos, como era o caso do açúcar da Madeira, do ouro da Mina ou a
revenda das especiarias na Europa. No entanto, estas dificuldades foram supe‑
radas com a emergência de novos circuitos alimentados por velhos ou novos
produtos. Como já referimos atrás, a produção de açúcar no Atlântico, por
exemplo, esteve sempre em crescimento ao longo do século xvi, pois quando
as vendas madeirenses baixaram, foram compensadas pelo crescimento da
produção são‑tomense, e quando esta entrou em crise já o Brasil assegurava
remessas cada vez maiores do produto. O ouro da Mina, por sua vez, foi sendo
compensado pelas vendas de escravos às Índias de Castela, como já referimos.
O trato negreiro foi, aliás, um dos negócios em grande ascensão ao longo da
centúria quinhentista. Quer a venda de cativos, quer a do açúcar, nunca foram
exclusivo régio. A Coroa cobrava impostos sobre o comércio, mas eram os
mercadores privados que levavam a cabo as viagens e os negócios e eram eles,
e não os oficiais da Coroa, quem descobria novos mercados fornecedores e
importadores e quem definia preços. E apesar de o governo‑geral do Brasil
assegurar a presença dos oficiais régios no território sul‑americano e uma
condução mais eficaz da guerra, eram os privados que avançavam pelo sertão
e que ocupavam as terras em que despontavam os engenhos, como foram os
particulares que subiram a serra e fundaram a vila de São Paulo de Piratininga,
o primeiro núcleo populacional do Império Português distante do mar.
Também nos mares do Oriente aumentavam as rotas a cargo de privados.
Embora a maioria dos circuitos estivesse sob monopólio da Coroa, esta foi
deixando de controlar esse jogo de trocas. Um número crescente de rotas
era concedido anualmente a um fidalgo que se distinguira no serviço a el‑rei.
Em vez de arcar com os riscos e com os custos da operação, a Coroa passava
para o concessionário esses mesmos riscos e custos e evitava ainda dar‑lhe uma
outra recompensa que sobrecarregaria o erário régio. Os fidalgos, possuidores
Hist-da-Expansao_4as.indd 138 24/Out/2014 17:17
O REALISMO JOANINO (1521‑1557) 139
do ethos da cavalaria, viam‑se assim na necessidade de mercadejar para
obterem a recompensa pelos seus serviços à Coroa, que tinham passado,
em regra, por acções militares ou diplomáticas. Inaptos para o negócio, que
tinham por vil, vendiam os seus direitos a outros indivíduos, nobres ou não,
que assumiam o ofício de mercador e concretizavam as ligações comerciais.
Além disso, os circuitos multiplicavam‑se, particularmente no golfo de
Bengala, nos mares da Insulíndia e no mar da China, sob o impulso dos
privados, cuja vida arriscada está tão bem retratada na Peregrinação de
Fernão Mendes Pinto. Não eram capitães d’el‑rei, à semelhança do Gama e
de Cabral, que buscavam novos portos e novos negócios, de acordo com as
escolhas prévias do monarca. Agora eram aventureiros, muitos deles antigos
soldados, nobres ou não, que exploravam os mercados asiáticos na mira de
um lucro, deslocando‑se ao sabor das circunstâncias até descobrirem negó‑
cios interessantes. O achado mais espectacular foi, sem dúvida, o do trato
sino‑nipónico, que canalizou ganhos significativos para a alfândega de Goa.
O circuito que sustentava este comércio mostra‑nos como o paradigma
do imperialismo marítimo continuava activo, nesta fase em que o modelo
da ocupação de territórios começava a moldar a configuração do império.
A grande nau saía de Goa carregada sobretudo com tecidos do Guzerate;
trocava‑os por pimenta em Samatra ou na região de Banda, na Insulíndia;
depois, em Macau adquiria a seda que levava para o Japão, onde obtinha
a prata. Pela primeira vez na História, a Índia e o Japão estavam unidos
por uma rota comercial. De volta a Macau, vendiam a prata e obtinham
principalmente cobre e porcelana. De Macau, a nau seguia directa para Goa
e proporcionava receitas chorudas à alfândega real. À sombra destes grandes
negócios circulava uma miríade de outros produtos que enriqueciam peque‑
nos mercadores e que contribuíam para que a globalização alastrasse a partir
dos portos tocados por este navio.
Ao Japão chegavam objectos variados como instrumentos musicais, livros
impressos, mapas de todas as partes do Mundo, quadros e imagens religio‑
sas, cadeiras e mesas altas, alfaias litúrgicas. Também animais de todos os
continentes eram desembarcados nos portos nipónicos e os escravos negros
e os próprios europeus, com os seus trajes, causavam igualmente admiração.
No sentido contrário, as lacas começaram a despertar interesse e acabaram
por se tornar num negócio discreto mas contínuo entre o País do Sol Nas‑
cente e a Europa10.
A Carreira da Índia também beneficiou com estas mudanças, pois a ligação
à China permitiu a aquisição de porcelana em grandes quantidades e estas
louças ocuparam um espaço cada vez maior nos porões das naus da Rota do
Cabo, numa prova da vitalidade do sistema mercantil do império, que era
capaz de compensar as perdas nuns negócios com o crescimento de outros.
Hist-da-Expansao_4as.indd 139 24/Out/2014 17:17
140 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A incapacidade de ser o único redistribuidor de especiarias na Europa levou
mesmo ao encerramento da feitoria da Flandres, em 1549, mas as naus da
Índia continuavam a fazer a torna‑viagem carregadas. A Carreira passou,
aliás, por uma crise momentânea nos anos 50, com a ocorrência de uma
série inusitada de naufrágios na viagem para Portugal, que foram atribuídos,
nalguns casos, ao excesso de carga a bordo11.
Embora a Coroa conseguisse interferir e se apropriasse de alguns negó‑
cios, como foi o caso do Japão, a iniciativa não era sua e o alargamento das
áreas sob influência lusa não obedecia a um planeamento pelos dirigentes do
império. Como disse Sanjay Subrahmanyam, agora era «a cauda que abanava
o cão»12. E a par dos aventureiros mercadores, um outro grupo começou a
distinguir‑se e a arrastar o nome de Portugal, e por vezes mesmo o império,
para novos territórios e novas gentes – os missionários.
Como vimos noutros capítulos, a Expansão Portuguesa foi um pro‑
cesso multifacetado em que se manifestou sempre uma dimensão religiosa.
No entanto, o papel da Igreja ficou reservado quase só ao acompanhamento
das guarnições lusas espalhadas pelo Mundo. A expansão era entendida como
uma oportunidade para o alargamento da Cristandade, mas poucos clérigos se
interessaram por ir além dos limites do império, o mesmo sucedendo no caso
das Índias de Castela. É sintomático desta concepção pouco activa o facto de
em 1526‑1527 D. João III ter reformulado os regimentos das fortalezas e ter
atribuído então a responsabilidade de tentar a conversão dos povos vizinhos
ao capitão em vez do capelão. A propagação do Cristianismo continuava,
pois, perspectivada pela lógica da cruzada.
Todavia, por meados do século, esta situação alterou‑se drasticamente.
Em 1540 foi fundada a Companhia de Jesus, em Roma, e o rei de Portugal
logo se interessou pela nova congregação13. Dois dos fundadores, Fran‑
cisco Xavier e Simão Rodrigues, vieram prestes ao reino e Xavier partiu
para a Índia, em 1541, na armada do governador Martim Afonso de Sousa
(1542‑1545). Na Ásia, o jesuíta distinguiu‑se pelo seu voluntarismo e pela
forma como circulou pelos territórios exteriores ao Estado da Índia. A 15 de
Agosto de 1549, desembarcou em Kagoshima, dando início à missão do
Japão que se viria a revelar a mais frutuosa da segunda metade quinhentista.
Xavier chegou às ilhas nipónicas a bordo de um navio de mercadores; aliás,
os aventureiros do mar da China já tinham tentado atraí‑lo ao Japão em
1547, quando o padre estava em Malaca, mas este preferira ir primeiro a Goa,
para reorganizar a missão e preparar melhor a aventura japonesa. O sucesso
dos missionários no Japão reforçou a operação comercial, e foram mesmo
os Jesuítas os responsáveis pela procura de um porto na costa ocidental da
ilha de Kyushu que pudesse tornar‑se na base permanente da nau do trato.
Esta busca foi condicionada pela guerra civil japonesa e pela hostilidade de
Hist-da-Expansao_4as.indd 140 24/Out/2014 17:17
O REALISMO JOANINO (1521‑1557) 141
alguns senhores feudais ao Cristianismo, mas acabou por ser bem‑sucedida
com a fundação de Nagasaki, em 157014.
Nagasaki nunca foi uma cidade colonial, mas foi durante décadas a
escápula mais oriental da rede de negócios tutelada pelo Império Português15.
Nunca esteve aí um soldado luso nem nenhuma autoridade colonial, cabendo
ao capitão da nau do trato zelar pelos interesses portugueses enquanto perma‑
necia na cidade. Os mercadores e os missionários foram, pois, os responsáveis
pela fixação das rotas lusas no Extremo Oriente, pois também em Macau os
Jesuítas colaboraram activamente nas negociações que levaram à autorização
definitiva para a fixação portuguesa, que ocorreu nos anos 6016.
O exemplo de Xavier e os novos ventos de militância que marcaram a
Igreja tridentina motivaram as outras ordens religiosas e o número de clérigos
dispersos pelo Mundo cresceu rapidamente na segunda metade quinhentista.
No Brasil e em Goa, os missionários apoiavam os esforços da Coroa de
consolidação territorial pela conversão das populações e aí eram um braço
do poder imperial; no Brasil, a acção dos padres foi decisiva para que várias
tribos índias se aliassem aos Portugueses e para que os seus guerreiros inte‑
grassem as forças militares da Coroa lusa.
Em meados do século xvi, o império passava, pois, por mudanças de
fundo importantes e, embora o velho modelo persistisse, afirmava‑se simul‑
taneamente um novo paradigma, o que era próprio de uma entidade viva
e dinâmica que continuava dotada de energia própria e que, por isso, se ia
adaptando aos desafios que o mundo lhe colocava. No entanto, a opinião
pública encarava estas mudanças com grande desconforto e desconfiança
e as suas manifestações de desagrado ficaram gravadas na documentação.
Um sentimento de decadência
O final do reinado de D. João III deve ser encarado como o tempo destas
transformações profundas e decisivas do império, que viriam a ter conse‑
quências extraordinárias passado um século, quando o Brasil, a grande
aposta do Piedoso, se tornou no sustentáculo económico da causa da Res‑
tauração. No entanto, o que prevalecia nesses anos era uma grande sensação
de crise17.
A crise dinástica perturbava a família real e os súbditos. A morte de quase
todos os irmãos mais novos do rei e de todos os seus filhos deixou a dinastia
de Avis à beira do colapso. Quando D. João III morreu viviam três varões com
direito indiscutível à sucessão: D. Sebastião, o único neto do soberano, filho
do príncipe D. João; o cardeal D. Henrique, irmão do rei falecido; e D. Duarte,
então com 16 anos, o duque de Guimarães, sobrinho de D. João III e filho
Hist-da-Expansao_4as.indd 141 24/Out/2014 17:17
142 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
do infante D. Duarte e neto, por via varonil, de D. Manuel I. Vivia ainda em
Portugal a infanta D. Maria, filha de D. Manuel I que permanecia solteira e
que estava no final da sua idade fértil, pois tinha 36 anos. Como D. Henrique
era clérigo e a corte nunca teve o cuidado de providenciar o casamento do
duque de Guimarães, a continuidade dos Avis no trono estava dependente
do rei D. Sebastião, que subiu ao trono com 3 anos de idade.
A razia na descendência de D. João III e de D. Manuel I, articulada com
a nova militância religiosa, marcada pela intolerância e pela entrada em
Portugal da Inquisição, tingiu de negro a vida política do reino. Entretanto,
o império crescera e ganhara concorrência; resistia aos adversários, vencia
‑os muitas vezes, mas sofria reveses, como era inevitável, mas em Lisboa os
fracassos valiam muito mais que os sucessos.
Como referimos, o abandono das fortalezas indefensáveis de Marrocos foi
muito mal aceite pela opinião pública e terá contribuído para que D. Sebas‑
tião fosse particularmente sensibilizado para a questão africana. No mar, além
do recuo do açúcar madeirense e da crise do ouro da Mina, o corso europeu,
particularmente o francês, flagelava sistematicamente a navegação portuguesa
e centenas de embarcações foram perdidas para os rivais18. No entanto, estes
ataques visavam quase só as embarcações pequenas, na maioria de agentes
privados; as naus da Carreira da Índia tinham de ser escoltadas a partir dos
Açores, mas só por duas vezes é que foram tomadas por inimigos. Cada navio
que era tomado por corsários gerava um rol de cartas para o rei, com queixas
e pedidos de ajuda, mas nem a Coroa nem os mercadores se organizaram
(como sucederia no século xvii) a fim de que a navegação privada passasse a
circular em comboio ou sob escolta de esquadras da Coroa ou de associações
particulares. Ou seja, apesar do alarido que ressoa na documentação, as per‑
das eram suportáveis, pois o comércio luso no Atlântico não afrouxou; pelo
contrário, continuou a crescer indiscutivelmente e a proporcionar grandes
receitas, tanto à Coroa como aos privados que operavam nestes circuitos.
Este é, aliás, um dos tópicos fundamentais para se compreender a verda‑
deira dimensão da suposta decadência de meados de Quinhentos. Como hoje,
a documentação do tempo valoriza as catástrofes e as desgraças – quem perde
reclama e pede ajuda, quem ganha cala‑se e usufrui dos proveitos. O sucesso
comercial raramente é notícia… ontem como hoje.
A este pormenor acrescenta‑se o facto de os cargos ultramarinos serem
exercidos, em regra, por mandatos de três anos. Sucedia que o novo capi‑
tão ou o novo feitor (ontem como hoje) tendia a pintar de negro a herança
recebida, como forma de se desresponsabilizar e de valorizar a sua própria
comissão. É difícil encontrar uma carta que diga ao rei que um oficial recém
‑chegado está satisfeito com a situação da praça em que vai servir a Coroa.
Ora, se levássemos a sério toda a documentação o império teria sido sempre
Hist-da-Expansao_4as.indd 142 24/Out/2014 17:17
O REALISMO JOANINO (1521‑1557) 143
um caos e não se perceberia como podia crescer e resistir aos adversários
de todos os continentes. A documentação catastrofista tem de ser lida como
sendo peças de uma luta política e não como um retrato da realidade.
Como vimos atrás, embora a estrutura político‑administrativa do império
continuasse nas mãos dos fidalgos, e da nobreza em geral, a condução dos
destinos do império resvalava para as mãos de outros grupos sociais e mesmo
a nobreza começava a ser remunerada com negócios em vez de tenças e novos
cargos. Por isso, encontramos muitos textos que referem estas mudanças
como um sinal de decadência quando, na verdade, se tratava de uma queixa
de um corpo social específico que estava a perder influência. As rivalidades
que grassavam no seio da nobreza aumentavam o tom crítico de muitas vozes.
Embora o império continuasse a crescer em todas as direcções, salvo no caso
concreto de Marrocos, a fidalguia e a opinião pública começavam a olhar
com saudosismo para os primeiros anos do século, que já então começaram
a ser olhados como uma idade de ouro perdida. Com efeito, nos anos 50
começaram a ser publicadas as crónicas que narravam a criação do Estado
da Índia, as Décadas da Ásia de João de Barros e a História da Conquista
da Índia pelos Portugueses de Fernão Lopes de Castanheda. Nesta década
foram dados à estampa também os Comentários de Afonso de Albuquerque,
editados pelo seu filho que, na introdução, dizia explicitamente que a obra
procurava recordar uma outra época heróica que já terminara.
Assim, o sentimento de decadência foi‑se entranhando estranhamente,
sem que correspondesse à realidade.
Hist-da-Expansao_4as.indd 143 24/Out/2014 17:17
8
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO
PLURICONTINENTAL PUJANTE
(1549‑1580)
A ideia mais comum acerca do Império Português na segunda metade do
século xvi é a de que este vivia numa crise profunda que o conduziria
inevitavelmente ao desastre fatal de Alcácer Quibir e ao colapso sob a admi‑
nistração filipina. As próprias fontes deixaram‑nos abundantes testemunhos
que nos mostram que estes sentimentos foram experimentados por muitos
dos homens que viveram os acontecimentos desses anos. No entanto, os
factos objectivos que sucederam no período em análise desmentem essa
mesma opinião.
No prólogo aos Comentários Brás de Albuquerque comentava que nes‑
ses anos 50 os Portugueses viviam acomodados às conquistas de outrora e
entretidos com os negócios, em vez de continuarem a expandir o império.
Esta ideia está subjacente na epopeia de Camões, não só na sua dedicatória,
como já referimos, mas também no episódio do Velho do Restelo, em que
o poeta dava voz aos que criticavam a aventura da Índia e que defendiam a
concentração dos esforços expansionistas em Marrocos.
Este desconforto colectivo mostra‑nos um reino e um povo confundidos
com os seus próprios feitos. O deslumbramento dos tempos manuelinos dava
lugar a uma depressão inexplicável e infundada, mas que era real. O argu‑
mento de Brás de Albuquerque é erróneo, na medida em que nenhum império
pode expandir‑se indefinidamente, mas o ethos da fidalguia reclamava por
mais guerras, onde se pudessem repetir as façanhas de outrora, e continuava a
encarar com desprezo o comércio privado. Como dissemos atrás, a emergên‑
cia de novos protagonismos sociais na condução das linhas de expansão do
império confundia e irritava os velhos agentes, mas cabe ao historiador evitar
que as visões parciais de certos grupos sociais ou políticos ganhem foros de
fonte certa para a compreensão dos acontecimentos. O mais extraordinário,
Hist-da-Expansao_4as.indd 144 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 145
porém, é que o texto de Brás de Albuquerque (que sintetiza de modo perfeito
a ideia tradicional acerca do império neste período) não contém apenas uma
visão distorcida da realidade do tempo, mas antes uma visão errada dos
factos. Ou seja, embora pudesse partilhar do desconforto dos que criticavam
D. João III pela sua política marroquina, o autor não podia afirmar que as
armas lusas estavam guardadas, pois o império continuava a crescer, fruto
da dinâmica de mercadores e de missionários, mas também devido à acção
das forças militares da Coroa que continuavam a alargar as áreas sujeitas à
monarquia portuguesa, tanto na Ásia, como em África e na América.
E se no próprio tempo já se erguiam vozes proclamando a decadência,
o desfecho trágico de Alcácer Quibir, com a morte do jovem rei e a subse‑
quente extinção da dinastia, tornou mais premente a visão catastrofista, que
justificava a perda da independência. Assim, os autores posteriores ficaram
reféns deste acontecimento inaudito e a derrota do exército português em
Marrocos foi entendida como a conclusão lógica de uma longa deriva, como
foi logo enfatizado pelo padre Amador Rebelo, na Crónica d’el‑rei Dom
Sebastião. Valorizaram, por isso, preferencialmente, todas as informações
e opiniões sobre os anos anteriores que se adequassem ao resultado final;
esqueceram que o império não se desmoronou por causa da tragédia africana
e que a maior parte das dinâmicas que sustentavam a presença lusa em três
continentes e outros tantos oceanos não foram afectadas pelo desastre de
4 de Agosto de 1578.
A derrota de Alcácer Quibir foi, afinal, um acidente que teve consequências
graves e que resultou de uma concepção deficiente da expedição e de um mau
comando durante as operações militares, mas devemos colocar a pergunta:
se D. Sebastião tivesse saído vitorioso dessa jornada, os anos anteriores
teriam sido vistos como o prenúncio da desgraça e a certeza da decadência?
E, como veremos no final deste capítulo, o monarca foi inábil, mas esteve
muito próximo do triunfo e, apesar da grandeza das forças em presença, o
desfecho foi condicionado por acontecimentos fortuitos.
Expansão territorial e hegemonia marítima
A reorganização do sistema militar em Marrocos, realizada nos anos 40,
mostrou‑se eficaz. As novas muralhas de Ceuta, que ainda hoje podemos
admirar, e de Tânger, bem como a nova fortaleza de Mazagão, que também
perdura, foram obras de engenharia notáveis, com recurso aos métodos mais
modernos da época, e estas fortalezas revelaram‑se, de facto, inexpugnáveis.
Mazagão sofreu um ataque de grande dimensão em 1562, mas resistiu. Vale
a pena lembrar que a chegada das novas de que a praça estava sob ataque
Hist-da-Expansao_4as.indd 145 24/Out/2014 17:17
146 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
gerou tamanha comoção no reino que D. Catarina, a regente, teve de dar
ordens para impedir a partida de uma armada espontânea de particulares
que se organizou rapidamente para ir socorrer a posição ameaçada1. Este
episódio mostra como, de facto, a manutenção dos domínios marroquinos era
defendida pela opinião pública, e com maior expressão nas grandes cidades
e vilas do litoral.
Entretanto, a chegada ao Brasil do primeiro governador‑geral, Tomé
de Sousa, em 1549, permitiu a consolidação da presença lusa na América
do Sul e, finalmente, o nascimento da colónia. Como referimos, a primeira
experiência da Coroa com recurso aos particulares, através do sistema das
capitanias‑donatarias, revelara‑se insuficiente, devido à resistência dos índios,
às acometidas dos franceses e à falta de capital dos capitães. Com a entrada
dos oficiais da Coroa e dos missionários tudo se alterou. Os jesuítas, chefiados
por Manuel da Nóbrega, desempenharam um papel crucial, na medida em
que conseguiram criar alianças com algumas tribos índias, que passaram a
auxiliar as forças da Coroa. Com efeito, o exército português que conquistou
gradualmente toda a orla costeira brasileira, desde São Vicente, no Sul, até à
foz do Amazonas (1549‑1621), era composto maioritariamente por índios2.
No reino, esta expansão não era vista com o mesmo empolgamento do que
os triunfos do Oriente, mas o império cresceu extraordinariamente ao longo
da segunda metade quinhentista devido à ocupação sistemática deste territó‑
rio, ao mesmo tempo que se iniciava o avanço para o sertão, cujo primeiro
grande sucesso foi a fundação da vila de São Paulo de Piratininga, para lá
das montanhas, a cerca de 10 léguas da costa, no ano de 1554.
Além de conseguir penetrar na terra dos indígenas, os Portugueses anu‑
laram a concorrência francesa. O principal enfrentamento decorreu na baía
da Guanabara, onde a expedição de Villegagnon fundou uma colónia, que
pretendia ser o início da França Antárctica. Coube a Mem de Sá, terceiro
governador do Brasil (1557‑1572), atacar o inimigo. A primeira campanha,
em 1560, isolou os franceses e permitiu a fundação de um povoado português
junto ao Pão de Açúcar, e os confrontos de 1565 terminaram com a derrota
total dos rivais e a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Também neste caso,
os índios aliados foram decisivos para o sucesso português.
Portugal e França mantiveram uma relação tensa no Atlântico durante
quase todo o século xvi, que passou por inúmeros combates e que se carac‑
terizou pela capacidade gaulesa de flagelar persistentemente as posições e os
navios lusos, mas também pela sua incapacidade para desalojar os rivais. Neste
conflito, Portugal usou sempre as forças da Coroa, mais bem organizadas,
enquanto a monarquia francesa se limitou a apoiar grupos de particulares.
Embora desejasse criar o seu próprio império ultramarino, a França, inimiga
da Inglaterra, de Castela e do Império, tinha de garantir sempre a neutralidade
Hist-da-Expansao_4as.indd 146 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 147
de Portugal nos conflitos europeus, pois de outra forma as suas forças navais
teriam enormes dificuldades para se movimentar nas águas costeiras do Velho
Continente. Por isso, o rei de França não podia enviar os seus soldados para
o Brasil, o que tornou mais fácil a tarefa dos homens de Mem de Sá.
O crescimento do domínio territorial português na América levou ao
desenvolvimento da produção açucareira e a colónia foi‑se tornando num
sustentáculo económico do reino3. Inicialmente, os colonos recorriam à escra‑
vização dos índios como forma de obter a mão‑de‑obra necessária. Tirando
partido da inimizade entre as tribos, os colonos cativavam tranquilamente os
inimigos dos seus aliados, embora fossem sofrendo uma oposição cada vez
mais encarniçada dos Jesuítas, que defendiam a liberdade dos índios e que
procuravam agrupá‑los em aldeias separadas das vilas coloniais. A escraviza‑
ção dos índios prosseguiu nas décadas seguintes, mas a partir de 1570 as capi‑
tanias do Nordeste começaram a importar maciçamente escravos africanos, o
que gerou novos circuitos florescentes do trato negreiro. Os Africanos tinham
uma capacidade quase inesgotável de vender prisioneiros aos Europeus e as
sociedades coloniais americanas atraíram milhões de escravos ao longo do
tempo, gerando um dos mais intensos êxodos humanos da História, a par
do próprio fluxo de europeus para o Novo Mundo.
Pouco depois, a produção açucareira gerou novos produtos para o trato
oceânico, pois, além do açúcar que adoçava o paladar dos Europeus, come‑
çou a ser enviada aguardente para África, numa diversificação dos géneros
que compravam os cativos e iniciando uma ligação directa afro‑americana,
que se intensificou nas décadas seguintes e que seria enriquecida, mais tarde,
com a venda de tabaco, produto que teve grande sucesso por todo o Mundo.
O sucesso no Brasil acabou por intensificar os contactos lusos com o con‑
tinente africano. A partir de 1560 cresceu o interesse em criar uma colónia
que controlasse a bacia do Cuanza e a Coroa criou a capitania de Angola, e
em 1576 foi fundada a vila de Luanda. Aumentavam as fontes de escravos,
mas despontava simultaneamente uma rede de interesses que se iria imis‑
cuindo no sertão africano; embora a criação da capitania se relacionasse
predominantemente com a velha lógica do imperialismo marítimo e a busca
de novas rotas oceânicas, cedo a presença lusa em Luanda extravasou este
objectivo inicial e os Portugueses começaram a intervir na bacia do Cuanza,
entrando em negócios da terra e fixando entrepostos, depois transformados
em pequenas posições militares ao longo do curso do rio. Assim, a chegada
dos Portugueses a Angola, na segunda metade quinhentista, espelha bem as
transformações por que passava o império, com a gradual emergência do
paradigma da territorialidade.
O mesmo se passava na costa oriental africana, pois, além das fortale‑
zas principais de Moçambique e de Sofala e de outras posições costeiras
Hist-da-Expansao_4as.indd 147 24/Out/2014 17:17
148 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
secundárias, os Portugueses começaram também a penetrar pelo vale do
Zambeze, e estabeleceram‑se no sertão em Rios de Sena4. Quer no caso
brasileiro de Piratininga, quer no angolano e no moçambicano, esta pene‑
tração lenta e discreta pelo sertão era protagonizada pelos aventureiros que
conseguiam negociar os seus avanços com os indígenas. Em nenhum dos
casos a fundação dessas vilas resultou de uma acção militar de conquista, o
que justifica o desconsolo dos fidalgos representados no queixume de Brás
de Albuquerque. No entanto, o império crescia, mesmo do ponto de vista
institucional e militar, pois todos estes avanços que acabámos de referir foram
seguidos pela estrutura político‑militar da Coroa, que acabou por se instalar
nessas vilas e entrepostos.
Vemos, assim, que a ideia de um império frágil ou imóvel não se coaduna
com o que se passava na América ou em África. Os Portugueses não avança‑
vam a seu bel‑prazer pelo sertão adentro, mas eram capazes de fazer alastrar
a sua presença obtendo apoios, estabelecendo alianças e não revelando um
poder atemorizador. A estrutura político‑militar era frágil face às populações
com que contactavam, mas tinha a sabedoria e a persistência que faziam da
fraqueza uma verdadeira força.
Ao mesmo tempo, Portugal era capaz de manter a hegemonia sobre o
Atlântico Sul e o monopólio indiscutível da Rota do Cabo. Embora os navios
lusos pudessem sucumbir a acções de corso e fossem incapazes de bloquear as
actividades de mercadores privados na costa da Guiné, e sofressem ataques
mais graves, como o saque do Funchal por corsários franceses em 1566,
nenhuma outra monarquia europeia tentou fundar feitorias ou erguer for‑
talezas nas águas do Atlântico tropical nesse terceiro quartel quinhentista.
Também não ocorreu nenhuma tentativa de conquista dos arquipélagos
dominados por Portugal, apesar de o corso rondar as ilhas frequentemente.
O caso do projecto da França Antárctica, que a Coroa gaulesa apoiou tacita‑
mente, foi a única excepção e foi neutralizado militarmente pelos Portugueses.
Nesses anos, a Inglaterra de Isabel I recuperou o interesse pelos mares que
havia sido cultivado por Henrique VII, o avô da rainha, mas os corsários
da Tudor focaram a sua atenção sobretudo no Império Castelhano, dada a
inimizade entre as duas monarquias. O despertar do interesse inglês pelo mar
levou alguns comerciantes a desejarem participar no comércio asiático, mas
nesses anos não surgiram planos para tentar alcançar a Índia pela Rota do
Cabo. E como a rota do estreito de Magalhães era impraticável, os Ingleses
dedicaram‑se ao estudo das rotas do Noroeste e do Nordeste, na esperança
de que pudessem chegar aos mares da Ásia pelo Atlântico Norte5, o que
nos mostra como o Império Português era respeitado pelas demais potên‑
cias europeias, especialmente pelos inimigos dos Áustria, que necessitavam
da neutralidade lusa no contexto europeu. Apesar da sua pequenez, o reino
Hist-da-Expansao_4as.indd 148 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 149
de Portugal tinha uma posição estratégica importantíssima que jogou a favor
da prosperidade do seu império ultramarino.
Também na Ásia os Portugueses continuavam a dilatar os seus domínios e
zonas de influência, quase sempre por via de feitos militares, o que contradiz,
uma vez mais, a tão propalada ideia da decadência. Note‑se, a propósito, que
este período, correspondente ao final do reinado de D. João III e ao governo
de D. Sebastião, assistiu a mudanças dramáticas na configuração político
‑militar do subcontinente indiano, a que o Estado da Índia se ajustou tanto
do ponto de vista militar como do económico, o que só foi possível por se
tratar de uma entidade dinâmica que, apesar de óbvias fraquezas pontuais,
dispunha de uma enorme força colectiva.
Esses anos assistiram à grande ofensiva otomana nos mares da Ásia, na
sequência da chegada das forças turcas ao golfo Pérsico, com a tomada de
Baçorá, em 1547. Senhores do mar Vermelho desde os anos 20, os Otomanos
tentaram catalisar o espírito antiportuguês da mourama asiática e tentaram
aniquilar a presença lusa na região. Depois do fracasso em Diu, os Turcos
foram derrotados definitivamente, como referimos, em 1554, quando uma
armada portuguesa obteve uma vitória decisiva nas imediações de Ormuz.
Embora as esquadras otomanas não tenham voltado a ameaçar directa‑
mente as posições portuguesas, os Turcos incentivavam a guerra contra as
dependências de Goa, desde a Arábia até Samatra, mas foram incapazes de
derrubar a resistência portuguesa. Entretanto, o Norte da Índia ia sendo
absorvido pelos novos senhores de Deli, os Mogores, que em 1572 anexaram
o reino do Guzerate e entraram em contacto directo com o Estado da Índia.
No entanto, como se tratava de um império desligado das rotas oceânicas, tal
como o Império Persa dos Safávidas, o relacionamento com os Portugueses
não descambou em guerra.
O caso mais grave para o Estado da Índia foi a queda do grande Império
Hindu de Vijayanagar, após a vitória dos muçulmanos na Batalha de Tali‑
cota, em 1565. Vijayanagar era o grande potentado do Sul da Índia que se
formara no século xiv contra os conquistadores muçulmanos. Encabeçara a
luta contra os potentados islâmicos do Norte durante mais de dois séculos,
mas entrou então em colapso. A sua desagregação foi motivo de dupla preo
cupação para os Portugueses, na medida em que perderam um aliado militar
e comercial, pois os domínios de Goa ficaram mais expostos aos inimigos, e
os Portugueses perderam também um dos seus negócios mais rendosos – a
venda de cavalos árabes e persas aos hindus. No entanto, o Estado da Índia
resistiu à ofensiva de uma grande coligação muçulmana e compensou a perda
deste negócio com a obtenção de outros. Com efeito, em 1570, os Turcos e
os seus aliados lançaram um grande ataque contra as posições portuguesas
desde Ormuz até Malaca, mas só caiu a pequena fortaleza de Chalé, junto
Hist-da-Expansao_4as.indd 149 24/Out/2014 17:17
150 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
a Calicute. Na sequência desses combates, muitas das fortificações foram
reconstruídas ou melhoradas6. De um ponto de vista militar, os Portugueses
na Ásia mostravam estar aptos para enfrentar os seus inimigos e, entretanto,
continuavam na senda das conquistas7.
Nesses anos houve dois momentos de avanços assinaláveis, o primeiro no
vice‑reinado de D. Constantino de Bragança (1558‑1561) e o segundo sob o
vice‑rei D. Luís de Ataíde (1568‑1571). D. Constantino conquistou Damão
e os seus territórios adjacentes em 1558. Com este triunfo, os Portugueses
alargaram a Província do Norte, aumentando o território sob o seu domínio.
Sintomaticamente, as receitas fiscais oriundas da produção agrícola ganharam
expressão nos orçamentos do Estado da Índia8, o que se acentuaria com o
passar do tempo. O Bragança (irmão do duque D. Teodósio) lançou depois
uma ofensiva bem‑sucedida na ilha de Ceilão. Os Portugueses já tinham
estado em Colombo anteriormente, e haviam erguido uma fortaleza em
Colombo, que tinha sido depois abandonada. Agora iniciava‑se uma tentativa
de conquista de toda a ilha, que se prolongaria durante oito décadas9. Tal
como sucedia no Brasil, também aqui os conquistadores faziam‑se acompa‑
nhar dos missionários, na mira de conseguir uma aproximação mais fácil
à população. Seguindo uma prática da Coroa portuguesa de atribuir cada
região a uma única ordem religiosa, a missionação do território foi confiada
aos Franciscanos. Embora nunca dominasse a totalidade do território, Goa
chegou a controlar boa parte da ilha, e a iniciativa de D. Constantino mostra
‑nos que o Estado da Índia continuava a recorrer às armas para aumentar
os seus domínios, embora direccionasse os ataques, preferencialmente, para
a concretização de uma política de territorialidade.
O segundo surto de conquistas decorreu entre 1568 e 1569, com a tomada
de três praças na Costa do Canará: Barcelor, Onor e Mangalor. Neste caso,
os assaltos visaram fundamentalmente impedir que estas antigas cidades
costeiras do Império de Vijayanagar caíssem nas mãos dos muçulmanos, e
uma vez mais notamos a capacidade do Estado da Índia se ajustar à evolução
da conjuntura político‑militar asiática.
Vemos, assim, que o reforço da rede de fortalezas e de territórios sujei‑
tos ao Estado da Índia na área do Índico Ocidental resultou sempre de
acções militares bem‑sucedidas. Noutras regiões da Ásia, o crescimento da
influência portuguesa decorreu de forma mais pacífica. A leste de Ceilão, a
presença dos oficiais da Coroa era menor e estava concentrada sobretudo
em Malaca e nas Molucas. Malaca era a placa giratória que articulava os
circuitos mercantis do golfo de Bengala, da Insulíndia e do mar da China e
muitos aventureiros portugueses dispersaram‑se por esses mercados fervi‑
lhantes, e quando descobriam novas oportunidades interagiam o suficiente
entre eles para que novos povoados portugueses despontassem nos portos
Hist-da-Expansao_4as.indd 150 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 151
mais interessantes. Várias dessas posições no golfo de Bengala acabaram
por ser integradas na estrutura político‑administrativa do Estado da Índia,
como foi o caso de Paleacte e Masulipatão, no Sul, e de Ugolim, no Norte.
Neste caso, tratava‑se do velho paradigma do domínio de rotas do comércio
marítimo, mas desenvolvido pelos particulares e não pelos oficiais régios.
No arquipélago malaio começou a sobressair a ilha de Timor10, produtora de
sândalo, que ainda não fora atingida pela vaga islâmica que estava a cobrir
todo o Sueste Asiático marítimo. Os missionários dominicanos começaram
a trabalhar em Timor no ano de 1556, mas nas últimas décadas de Quinhen‑
tos nenhuma estrutura imperial se estendeu até este território. O sândalo
timorense saía para Malaca, mas o seu destino principal cedo passou a ser
Macau, o novo grande porto do comércio oceânico português no Extremo
Oriente da Eurásia.
Encravada entre a floresta equatorial e os sultanatos muçulmanos, Malaca
era o grande bastião do Estado da Índia nesta vasta região entre dois ocea‑
nos11. A cidade continuou a fazer a articulação entre toda a Ásia Oriental e
o mundo ocidental, mas na segunda metade quinhentista o sistema mercantil
português ganhou um novo centro operacional na China com a fundação de
Macau12. Vimos atrás que a fixação dos Portugueses aí resultou da combina‑
ção do voluntarismo dos aventureiros que descobriram o comércio do Japão
com a superioridade militar de que os Portugueses continuavam a desfrutar
nos mares da Ásia, mesmo no caso dos particulares. Foi, de facto, a capacidade
militar lusa que convenceu os mandarins a deixarem que Macau deixasse de
ser um porto de habitações provisórias e precárias e se transformasse numa
cidade desenvolvida e abastada. Ao lutarem com sucesso contra os piratas que
infestavam a região, e ao terem colaborado com o exército chinês na repres‑
são de uma guarnição revoltada, os fundadores de Macau fizeram História,
pois foi a primeira vez que as autoridades chinesas permitiram a criação de
uma cidade controlada por estrangeiros dentro das fronteiras do império.
Assim, ao mesmo tempo que o paradigma da territorialização dava pas‑
sos significativos e lançava as raízes do que seria o Império Português a
partir de meados do século xvii, o modelo da hegemonia marítima também
contribuía para o alargamento da influência lusa pelo Mundo. Em 1570, o
processo concluiu‑se com a fundação de Nagasaki no Japão, o que permitiu
a estabilização da rota sino‑nipónica. O binómio mercador/missionário foi
decisivo para o sucesso deste processo, mas as negociações com os mandarins
de Cantão, no início dos anos 50, foram conduzidas por Leonel de Sousa, um
enviado da Coroa. Vemos, deste modo, que o dinamismo do império permitia
inclusive uma articulação eficaz entre oficiais da Coroa e particulares. Isto
não significa que a relação entre uns e outros era harmoniosa; na maior parte
das vezes, evidentemente, era conflituosa e competitiva, mas o resultado final
Hist-da-Expansao_4as.indd 151 24/Out/2014 17:17
152 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
das acções concertadas ou desgarradas de uns e de outros contribuiu para
um crescimento do império e das suas áreas de influência.
Importa realçar que a grande nau do trato, que ligava a Índia ao Japão,
navegava sem escolta, apesar das grandes riquezas que carregava. Ao longo
da segunda metade quinhentista perderam‑se apenas três destes navios, e
sempre por acidentes resultantes de tempestades13. Os poderes asiáticos
poderiam cobiçar a riqueza que circulava a bordo da nau, mas não tinham
meios militares para a capturarem. O Estado da Índia foi, sem dúvida, o
maior poder naval nos mares da Ásia no século xvi. Os Portugueses não
tinham nestas águas o mesmo monopólio quase absoluto de que desfru‑
tavam no Atlântico Sul; muitas potências orientais dominavam circuitos
importantes e a navegação lusa sofria perdas pontuais, mas a maior parte
dos potentados da Ásia continuou a pedir cartazes a Goa. Este pedido de
salvos‑condutos é um testemunho desse reconhecimento da supremacia
das esquadras lusas.
A situação dos Portugueses era de tal forma tranquila que Goa acabou
por deixar de dispor de uma armada de alto bordo. Tinham sido os grandes
navios que haviam assegurado as vitórias iniciais contra os mouros de Meca
e os rumes, mas, com a derrota dos primeiros rivais, a circulação pelo oceano
estava garantida e a armada portuguesa adaptou‑se aos desafios quotidianos
que continuavam a ser colocados pelos inimigos. Não era no mar alto que
a força dos Portugueses era desafiada, mas antes na circulação ao longo da
costa, pelo que as naus e os galeões deram lugar a fustas, galeotas e outros
navios de baixo calado e de tripulações reduzidas que combatiam a guer‑
rilha dos mouros e dos seus aliados14. No final do século xvi, o dispositivo
militar do Estado da Índia estava perfeitamente adaptado ao mundo asiático
e assegurava o controlo dos negócios e a segurança militar dos entrepostos
sujeitos à Coroa de Portugal.
Finalmente, parece‑nos pertinente realçar que entre 1554 e 1576, dentre os
muitos avanços registados, os Portugueses fundaram cinco cidades importan‑
tes em três continentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Luanda, Macau e Nagasaki.
Como vimos, no início do século, a estratégia dos capitães manuelinos fora
a de se introduzirem nos circuitos preexistentes, obtendo autorização para
instalar feitorias ou conquistando portos que já eram escápulas da navegação
oceânica. Passado meio século, o império ganhara força criativa e punha‑a
ao serviço tanto da política de hegemonia marítima como da estratégia de
ocupação de territórios. E nesta amplitude pluricontinental, o crescimento
do império estruturava‑se também pela difusão de instituições de governo
local, e cada posição importante do império tinha uma câmara municipal e
uma Misericórdia15. Apropriadas pelas elites locais, desempenharam um papel
relevante na sustentabilidade do império, e a Misericórdia estendeu‑se até ao
Hist-da-Expansao_4as.indd 152 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 153
Japão. Em Nagasaki, a irmandade também serviu para a consolidação dos
principais cidadãos, embora neste caso fossem todos japoneses16.
Nestes anos, o Império Nipónico passava por uma grande mudança
política; ao cabo de mais de um século de anarquia política, um senhor da
guerra, Oda Nobunaga, apoderou‑se da capital e desencadeou um processo
de reunificação política que viria a ser concluído em 1590 por um dos seus
generais, Toyotomi Hideyoshi, e depois consolidado por Tokugawa Ieyasu,
que dominou o arquipélago em 1600 e fundou uma nova dinastia xogunal
em 1603. Esta transformação de um país caótico num Estado centralizado
e pacificado deveu‑se à introdução das espingardas nos campos de bata‑
lha17. Génio da História Militar, Nobunaga foi o primeiro a compreender
como é que esta arma podia ser decisiva, ao separar os seus espingardeiros
e dotar o seu exército de tiro contínuo. A espingarda era desconhecida no
Japão até à chegada dos Portugueses, e terá sido apresentada logo nos pri‑
meiros encontros, tal como refere a tradição nipónica e é dito também por
Fernão Mendes Pinto na sua Peregrinação18. Aliás, a crónica japonesa que
relata o aparecimento dos portugueses na ilha de Tanegashima intitula‑se,
sintomaticamente, Teppo‑ki – A Crónica da Espingarda. O Japão era um
país semi‑isolado até ao aparecimento dos Portugueses; a relação luso
‑nipónica contribuiu para uma significativa actualização dos conhecimentos
da civilização japonesa e muito especialmente para a transformação de uma
sociedade feudal num Estado centralizado. O Japão foi, sem dúvida, o país
asiático que sofreu o maior impacto e as maiores transformações por causa
da Expansão Portuguesa.
Um episcopado imperial
A Igreja desempenhava agora um papel importante na expansão, quer na
consolidação da autoridade da Coroa, quer no alargamento dos negócios.
Na maior parte das situações, os missionários eram ainda arautos da civi‑
lização ocidental, o que lhes dava uma aura de civilizadores que ajudava a
justificar o próprio império.
O expansionismo primitivo não carecera, como vimos, de uma grande
estrutura eclesiástica, pois controlava apenas uma série de pequenas guar‑
nições, à excepção das sociedades insulares, que eram apoiadas por clero
em número apropriado. Baseado numa lógica de conquista e de ocupação
de espaços, o Império Castelhano cedo montou uma estrutura diocesana de
enquadramento, e em 1531 já existiam 12 bispados nas Índias de Castela,
enquanto o império de matriz marítima dos Portugueses tinha apenas um,
o do Funchal, criado em 1514. Depois, em 1533, D. João III promoveu a
Hist-da-Expansao_4as.indd 153 24/Out/2014 17:17
154 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
criação de quatro novas dioceses: Angra, Cabo Verde, São Tomé e Goa.
O rei reconhecia, assim, a especificidade dos arquipélagos atlânticos, espa‑
ços antigos de territorialização, e encarava ainda as ilhas africanas como
possíveis pólos de coordenação da evangelização do continente africano;
ao mesmo tempo dotava o Estado da Índia de uma indispensável autono‑
mia para a celebração plena dos sacramentos pelos seus súbditos a leste
do cabo da Boa Esperança. A Índia fora visitada por bispos desde o final
do reinado de D. Manuel I, mas a sua passagem breve pelos mares do
Oriente tivera pouco efeito. O crescimento do número de cristãos exigia
uma solução permanente.
Nos últimos anos do seu reinado, o monarca obteve a fundação do pri‑
meiro bispado brasileiro (Salvador), em 1551. O envio de um prelado para
o Brasil era a confirmação da importância que o soberano atribuía à colónia
sul‑americana e a sua consolidação impunha a fundação da diocese. Foi ainda
D. João III que tratou do processo que levou à elevação de Goa à dignidade
metropolita, passando a ter como bispados sufragâneos o de Cochim e o
de Malaca, cujas bulas de criação foram assinadas em 1558, já depois do
falecimento do monarca.
Ainda incipiente, contando então com oito dioceses, quando as Índias de
Castela já tinham 25, a estrutura episcopal ultramarina criada por D. João III
é, ainda assim, mais um testemunho das mudanças estruturais por que passou
o Império Português durante este reinado. Foi, de facto, neste período que
a Coroa passou a ter súbditos ultramarinos em número significativo; além
disso, a partir dos anos 50, as dioceses de Além‑Mar também começaram
a ser encaradas como potenciais pólos difusores do Evangelho. Assim, o
sucesso da evangelização do Japão, onde os jesuítas contabilizavam mais de
30 000 baptizados em 1570, aliado às esperanças de se conseguir novas áreas
de missão nos territórios em torno do mar da China, levou a Coroa a obter
da Santa Sé uma nova sede diocesana para Macau, em 1576. O crescimento
acentuado da cristandade nipónica, já com mais de 150 000 baptizados
em 1582, levou mesmo a Santa Sé a criar uma diocese do Japão em 1588.
O bispado do Japão atingiu os 300 000 baptizados no final do século xvi,
e o bispo D. Luís Cerqueira foi o único prelado que tinha a sua sede numa
cidade sem qualquer apoio de forças europeias e foi também o único que
trabalhou com clero diocesano exclusivamente nativo19.
A par dos esforços de missionação, D. João III ainda conseguiu negociar
com Roma o envio de um patriarca para a Etiópia. O reino do mítico Preste
João tornara‑se num aliado dos Portugueses, mas não dispunha de produtos
interessantes para o jogo das trocas e até tivera necessidade de pedir auxílio
a Goa perante a ameaça otomana. O corpo expedicionário luso fora coman‑
dado por D. Cristóvão da Gama, filho de Vasco da Gama, que perdera a vida
Hist-da-Expansao_4as.indd 154 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 155
nos combates. Em 1554 saíram de Lisboa três bispos jesuítas destinados
à Etiópia: o patriarca João Nunes Barreto e os bispos auxiliares D. André
Oviedo e D. Melchior Carneiro. No entanto, o patriarca faleceu antes de
chegar ao seu rebanho, e foi D. André que trabalhou com os etíopes. Estes
eram cristãos, mas pertenciam à Igreja Monofisita, e quando a intolerância
católica apertou expulsaram os padres de Goa em 1634. O terceiro bispo
desta companhia, D. Melchior Carneiro, partiu para Macau, e exerceu aí
o seu ofício, antes de o porto chinês ser consagrado como sede diocesana.
Os bispos ultramarinos distinguem‑se razoavelmente dos prelados que
tutelavam as dioceses no reino. Deixando de lado, por terem especificidade
própria, os casos do Funchal e de Angra, as demais dioceses foram atribuídas,
em regra, a membros do clero regular, ao contrário do que sucedia no reino,
onde predominavam os bispos ligados à fidalguia que pertenciam ao clero secu‑
lar20. Embora haja casos extraordinários, como o de D. Frei Aleixo de Meneses,
clérigo agostinho que foi arcebispo de Goa (1595‑1612) mas que terminou os
seus dias como arcebispo de Braga, a quase totalidade dos bispos ultramarinos
nunca voltaram ao reino, embora por vezes mudassem de diocese, tendo sido
frequente o bispo de Cochim ser promovido a arcebispo de Goa. Refira‑se
que D. Frei Aleixo de Meneses era filho de D. Aleixo de Meneses, que fora
capitão‑mor do mar da Índia (1515‑1521) e aio de D. Sebastião, e era neto do
1.º conde de Cantanhede. Tinha, pois, uma posição social bem diferente da da
maioria dos prelados ultramarinos, o que justifica o seu (excepcional) regresso
ao reino, onde, além da mitra bracarense, também foi vice‑rei de Portugal.
A maior parte dos cristãos sujeitos a estes prelados vivia dentro dos
domínios do império e a sua adesão ao Cristianismo está, em boa medida,
relacionada com a aceitação pública e formal da religião dos ocupantes, mas
as gerações seguintes formaram, em regra, comunidades cristãs convictas,
como se pode ver hoje em dia na Índia ou em Malaca, além do caso mais
evidente do Brasil. Persiste nos nossos dias uma discussão sobre a convicção
dos «convertidos», mas essa é uma falsa questão. Seja nos territórios ultra‑
marinos, seja em terras antigas de cristãos (ou de qualquer outra religião), o
historiador raramente pode aferir o modo como cada fiel crê; a experiência
ensina‑nos que os seguidores de uma religião raramente compreendem os
enunciados teológicos mais complexos e que as concepções ou percepções
sobre a divindade, o transcendente e a vida post mortem variam de indiví‑
duo para indivíduo. Na história das religiões não há fiéis de primeira e de
segunda – há pessoas que aceitam publicamente pertencer a uma determinada
comunidade religiosa e que procuram acertar os seus comportamentos sociais
e religiosos pela norma estabelecida pelas respectivas autoridades.
Foi assim que a Igreja serviu de instituição de enquadramento do império.
Em muitos casos ocorreram mesmo «conversões forçadas», mas na maior
Hist-da-Expansao_4as.indd 155 24/Out/2014 17:17
156 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
parte dos casos os seus descendentes tornaram‑se cristãos tradicionais, tendo
até chegado ao martírio, como sucedeu no Japão.
A missionação contribuiu também para um enriquecimento dos conheci‑
mentos dos Europeus sobre as civilizações ultramarinas. Vários aventureiros
e exploradores tinham descrito as terras de Além e, desde os primórdios do
século xvi, foram sendo impressos pela Europa várias obras dedicadas ao
mundo ultramarino, de que as mais célebres foram reimpressas e traduzidas
em várias línguas. Em Portugal, a publicação deste tipo de textos tardou, o
que se percebe, na medida em que a novidade era menor, pois Lisboa e as
demais cidades e vilas do litoral estavam acostumadas a receber o exótico.
Além disso, o mercado português, com poucos leitores, era pouco aliciante
para o negócio. As crónicas da Índia começaram a ser dadas à estampa nos
anos 50, e pela mesma altura iniciou‑se a publicação das cartas dos missio‑
nários, primeiro em castelhano para chegar a um público mais numeroso, e
mais tarde em português.
As missivas dos padres eram lidas com interesse, pois continham muita
informação sobre as terras e as gentes desses mundos distantes, além de
páginas edificantes sobre a dedicação dos religiosos e a conversão dos gen‑
tios. Para as ordens religiosas era uma maneira de fazer propaganda, que
podia valer esmolas e novas vocações, além de as valorizar perante os reis
e as autoridades supremas da Igreja. A recém‑fundada Companhia de Jesus
teve um papel especial no arranque desta nova literatura, mas acabou por
ser seguida pelas outras ordens religiosas21.
A expansão da estrutura clerical pelo império levou também ao alas‑
tramento da Inquisição e ao estabelecimento de um tribunal autónomo em
Goa. As possessões do Atlântico eram visitadas a partir de Lisboa, enquanto
as posições do Estado da Índia eram controladas pelos inquisidores de Goa.
Esta instituição exercia o seu poder exclusivamente sobre os baptizados,
pelo que nunca afectou a vida das comunidades não‑cristãs sujeitas à Coroa
de Portugal. Tal como sucedia no reino, a Inquisição atacou especialmente
os cristãos‑novos e foi útil para as autoridades civis e eclesiásticas imporem
uma certa uniformidade das práticas cristãs, o que contribuía, naturalmente,
para reforçar o poder dos oficiais do império. Olhando para a História do
império na sua globalidade, a Inquisição tem pouco significado, pois não
alterou de forma evidente a evolução da Expansão Portuguesa. Acrescentou
‑lhe intolerância, perseguiu alguns milhares de indivíduos durante cerca de
dois séculos, mas teve um peso irrelevante no modo como se propagou o
Cristianismo e como a maioria das comunidades que foram incorporadas na
Cristandade pela Igreja portuguesa se acomodou à vida cristã, salvo na área
de Goa; aí, a Inquisição foi uma indiscutível arma da Coroa, não só para
perseguir os cristãos‑novos, mas também para controlar os baptizados e os
Hist-da-Expansao_4as.indd 156 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 157
seus descendentes. Apesar disto, mesmo na região de Goa, as práticas cristãs
assimilaram muitas tradições da religiosidade hindu22.
Exotismos e novas formas de identidade
Desde o início dos Descobrimentos, tanto os Europeus como os indiví‑
duos com quem contactaram por todo o Mundo tiveram a noção do carácter
extraordinário das experiências por que passaram, quer nos primeiros encon‑
tros, quer nos casos em que os contactos se aprofundaram. Como vimos, o
exótico foi desde logo um trunfo até nas relações comerciais, pois a venda de
cavalos aos povos da Guiné nos anos 40 do século xv beneficiava do interesse
em terem as caudas dos animais como objecto decorativo raro. Cadamosto,
na década seguinte, refere que os negros julgaram que a sua pele era branca
por ter sido pintada, e as fontes portuguesas e europeias registam as surpre‑
sas e o espanto dos ocidentais; infelizmente, não dispomos das reacções dos
povos ultramarinos, salvo raras excepções.
É certo, porém, que as novidades vindas do mundo ultramarino foram
usadas como formas de propaganda política. Como vimos, Zurara elogiou o
infante D. Henrique por este ter à sua mesa ovos de ema, caso único entre os
príncipes da Cristandade; D. Afonso V ofereceu um elefante a René, conde
de Anjou; D. João II tinha um pequeno zoo em Lisboa, que mostrava aos
visitantes estrangeiros, como nos refere Jerónimo Munzer; e D. Manuel I
usou o exótico como forma de afirmação na Cristandade. Também D. João III
usou um elefante como prenda, à semelhança do tio‑avô e do pai, enquanto a
rainha D. Catarina usava igualmente os objectos raros vindos de Além‑Mar
como ofertas aos seus parentes espalhados pela Europa.
O exótico começou, pois, por ser sobretudo uma dinâmica da apreensão
do mundo pelos europeus, mas a partir da segunda metade do século xvi o
exotismo também se globalizou. Com efeito, os próprios Portugueses e os seus
objectos (fossem de origem europeia ou fossem oriundos de outras partes do
Mundo) tornaram‑se em elementos de maravilhamento nas cortes sofisticadas
da Ásia. É particularmente célebre o caso do Japão, que ficou eternizado nos
biombos namban23, em que a chegada da nau dos portugueses, com os seus
trajes estranhos, com os animais inexistentes no Japão, com tripulantes negros
e com hábitos despropositados, foi fixada pelos artistas nipónicos. E Oda
Nobunaga, o primeiro unificador do Império do Sol Nascente, que se deixou
fascinar pelo mundo revelado pelos jesuítas, usou tanto os padres como os
seus objectos para acentuar a sua singularidade. É célebre o cortejo em que o
guerreiro se fez passear sentado numa cadeira, objecto inexistente no Japão
até à chegada dos Portugueses. E durante o desfile, os jesuítas encontravam‑se
Hist-da-Expansao_4as.indd 157 24/Out/2014 17:17
158 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
em lugar de destaque24. Também na China ou na corte do Grão‑Mogol as
maravilhas do mundo fizeram tanto furor quanto faziam na Europa.
O mundo dava, de facto, os primeiros passos significativos para a globa‑
lização, numa altura em que plantas e animais já experimentavam habitats
novos por todos os continentes. Por meados de Quinhentos, o mundo estava
em movimento, na feliz expressão de John Russell‑Wood25.
Um bom exemplo desta nova realidade foi‑nos dado a conhecer recen‑
temente por um projecto de investigação coordenado por Jessica Hallett,
em que foi analisado o inventário dos bens existentes no paço ducal de Vila
Viçosa à morte de D. Teodósio (1507?‑1563), o 5.º duque de Bragança.
Fidalgo alentejano, que passou quase toda a sua vida entre Évora e Vila
Viçosa, com passagens esporádicas por Lisboa, o duque tinha, por exemplo,
um cozinheiro especialista em culinária indiana e possuía peças de quase
todas as partes do Mundo26. Ou seja, mesmo quem não viajava estava agora
em condições de conhecer melhor o mundo em que vivia.
*
Por meados do século xvi, os próprios portugueses que davam corpo ao
império começavam a ser um testemunho destes novos tempos em que gentes
outrora separadas começavam a conviver duradouramente.
A experiência colonial lusa só se efectivou seriamente com a criação das
capitanias‑donatarias no Brasil, mas mesmo nessa ocasião poucas mulheres
cruzaram o oceano em direcção às cidades do império. Aquando da primeira
conquista, com a ocupação de Goa, Afonso de Albuquerque apostara nos
casamentos com as mulheres da terra como forma de criar uma população
de origem portuguesa na Ásia. Estes homens e os seus descendentes são
designados na documentação como os «casados», e constituíram a massa
agregradora que deu forma e força à expansão dos Portugueses, e viviam
muitas vezes em conflito com os oficiais do império, na medida em que ten‑
diam a sobrepor os seus interesses privados e regionais às directivas vindas
do reino e às estratégias globais da Coroa.
Na segunda metade quinhentista, muitos dos portugueses adultos que
combatiam e que comerciavam pelos mares do Oriente nunca haviam estado
em Portugal, eram bilingues ou trilingues e tinham uma compleição física
mestiçada, embora fossem cristãos e se vestissem, muitas das vezes, à portu‑
guesa. O império luso cresceu sem que o potencial reprodutivo do reino fosse
afectado, pois as mulheres ficavam e mesmo as que eram casadas com os que
iam e vinham iam gerando filhos após as passagens dos maridos por casa.
Isto significa que a massa humana que sustentava o império era composta por
reinóis, por indígenas submetidos ou aliados, e também pelos mestiços, fruto
Hist-da-Expansao_4as.indd 158 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 159
das relações entre os portugueses e as mulheres da terra, fossem as esposas,
fossem as escravas ou fossem simplesmente as amantes.
Entenda‑se que a gente mais proeminente do Brasil e da Índia, ou mais
tarde de Macau, preferia, em regra, que os seus filhos casassem com mulheres
brancas, vindas do reino. Na hierarquia da sociedade colonial, o português
nascido no reino tinha sempre a primazia, mesmo em relação aos portugueses
filhos de pai e mãe branca mas nascidos nas terras ultramarinas, à semelhança
do que sucedia nas Índias de Castela. Alguns anos mais tarde, a Coroa come‑
çou a enviar para Goa as «órfãs d’el‑rei», donzelas destinadas a casarem‑se
com a elite branca da Índia Portuguesa. Estas mulheres eram, porém, uma
raridade destinada à fidalguia, pelo que a maioria dos portugueses que se
fixavam nas partes ultramarinas unia‑se com as únicas mulheres que estavam
disponíveis. Note‑se ainda que mesmo os filhos de casais brancos nascidos
no império eram culturalmente mestiçados, pois cresceram nas mãos de
amas da terra que lhes falavam nas suas línguas locais e que lhes contavam
as lendas dos seus povos.
As referências a Portugal, ao rei e à religião eram os elementos agregado‑
res de todos os súbditos da Coroa, mas o crescimento do império deveu‑se,
em grande medida, à sua face mestiça. Com efeito, a união a uma indígena
significava o estabelecimento de laços solidários com a sua família ou mesmo
com a sua tribo. Esta ligação foi decisiva, por exemplo, na luta contra os
Franceses pela baía da Guanabara, pois os Portugueses contaram com o
apoio dos seus parentes índios – um trunfo de que os homens de Villegagnon,
sujeitos a ordens segregadoras, não dispunham.
Também a penetração pelos vales do Cuanza e do Zambeze contou com
este tipo de solidariedade. E nas ilhas de Cabo Verde e de São Tomé, por
meados do século, negros e mestiços já integravam mesmo a elite local,
com posições destacadas nas vereações e na Igreja. Nesses tempos da Idade
Moderna, os Portugueses, e os Europeus em geral, tinham condições para
dominar os oceanos, mas não tinham capacidade para se imporem nas terras
distantes sem a ajuda de uma parte da população de cada lugar.
Assim, a mestiçagem não representa uma política deliberada da Coroa
de Portugal, nem sequer uma abertura especial da cultura lusa ao «outro»,
mas mostra‑nos, sem dúvida, uma grande capacidade de adaptação. A mes‑
tiçagem foi, pois, a solução encontrada pelos portugueses espalhados pelo
Mundo para consolidarem a sua posição, além de ter sido para muitos a única
hipótese de constituir família e ter descendência legítima27. A primeira capi‑
tania brasileira que se afirmou economicamente foi a de Pernambuco, cujo
capitão, Duarte Coelho, promoveu uma política sistemática de casamentos
dos seus homens com as índias. Mais tarde, no início do século xvii, no Rio
de Janeiro, o filho do capitão ligou‑se à filha de um dos índios aliados mais
Hist-da-Expansao_4as.indd 159 24/Out/2014 17:17
160 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
proeminentes28. Também em São Paulo, a fixação dos invasores só foi possível
com a complacência dos indígenas, e os mais bem‑sucedidos foram os que
souberam unir‑se às populações locais, contando assim com uma enorme
capacidade de recrutamento de homens para a guerra.
A mestiçagem foi, sem dúvida, um processo contínuo, com maior visibili‑
dade que noutras experiências coloniais europeias, como a dos Holandeses na
África do Sul ou a de Holandeses e Ingleses na América do Norte ou na Índia.
E vale a pena insistir no facto de esta mestiçagem não se resumir a uma ques‑
tão de sangue; tinha uma grande dimensão cultural, pois integrou expressões
religiosas e práticas alimentares e gerou comunidades bilingues. Mais tarde,
já no século xviii, os jesuítas ainda informavam que os portugueses do sertão
se confessavam em «linguagem geral» (tupi) e não em português29, o que é
bem demonstrativo dos processos mentais miscigenados dos protagonistas
do alargamento territorial luso pelo sertão americano. E se isto era notado
nos anos de Setecentos, percebe‑se que no século anterior, antes da migração
maciça suscitada pelo ouro, esta realidade fosse ainda mais notória.
Além disso, os mestiços do Império Português foram sempre um corpo
que defendia, genericamente, os interesses do império e nunca foi encarado
com desconfiança pelos oficiais da Coroa, ao contrário do que sucedeu na
América Espanhola, onde os mestiços chegaram a ser encarados como uma
ameaça, como sucedeu no México e no Peru, e chegaram mesmo a integrar
as fileiras indígenas em ataques a posições espanholas.
No caso português, só no século xviii é que a colonização acelerada do Bra‑
sil levaria a uma política régia de envio sistemático de famílias completas para
a América. Finalmente, deve‑se reconhecer que, apesar de não ter resultado de
uma «vocação inata» dos Portugueses, a mestiçagem se tornou numa parte da
identidade lusíada com o passar do tempo, o que também resultou da vinda
para Portugal de dezenas de milhares de africanos ao longo deste período30.
Este é um tema sensível, que tem sido usado em combates ideológicos
pela sociedade contemporânea, mas se nos cingirmos ao legado da História
é indiscutível que a evolução do Império Português a partir de meados de
Quinhentos foi marcada pela participação activa e decisiva de milhares
de mestiços que eram vistos pelos outros como portugueses, independente‑
mente da posição hierárquica que ocupavam no seio do mundo luso.
O reformismo de D. Sebastião
Como referimos no início deste capítulo, a memória sobre D. Sebastião
está condicionada pela sua morte trágica e pelo seu desejo persistente (e
imprevidente) de lutar em Marrocos. No entanto, o reinado do Desejado não
Hist-da-Expansao_4as.indd 160 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 161
se resume a uma caminhada para Alcácer Quibir. Quer no tempo da regência,
quer no período de governo pessoal do monarca, a Coroa teve uma política
activa em relação ao império na sua globalidade e o indiscutível interesse do
rei por África não o levou a negligenciar as outras áreas da Expansão.
Já vimos como a estrutura militar se ajustou às necessidades, tanto no
Brasil como na Ásia, o que permitiu progressos significativos nas duas regiões,
e vimos também que as perdas económicas foram sempre compensadas com
novos negócios. O silêncio dos lucros e o clamor dos prejuízos dão‑nos,
contudo, uma visão distorcida do que se passava, o que se repete a propósito
da administração.
O crescimento da rede de fortalezas e de feitorias, associada ao alarga‑
mento territorial do império, exigia o aumento da máquina administrativa
que controlava as dependências da Coroa. O número de oficiais também
cresceu significativamente. A maioria dos postos ultramarinos continuava
a ser desempenhada por mandatos de três anos, raramente renovados. Era
a forma de a monarquia poder distribuir a graça régia pelas diferentes facções
da nobreza, que continuava a ser o corpo social encarregue da administração
ultramarina. No entanto, o tempo curto de cada mandato impedia o capitão,
o feitor ou o governador de desenvolverem políticas baseadas na experiên‑
cia da terra. Esta foi uma questão sempre debatida, sempre criticada, mas a
Coroa jamais alterou a sua prática. E à corte continuava a chegar com muita
frequência um rol de críticas enviadas pela maior parte dos oficiais quando
tomavam posse dos seus postos. Podia ser o resultado de rivalidades pessoais,
mas era seguramente uma forma de baixar as expectativas em relação ao
próprio mandato, devido a uma «pesada herança».
Com centenas de postos espalhados pelo Mundo, a Coroa tinha uma
enorme dificuldade em distinguir as críticas justas das jogadas políticas, e a
historiografia sempre se deparou com o mesmo problema. Às críticas político
‑administrativas juntam‑se os textos de muitos nobres que criticavam, como
referimos, a deriva mercantil do império e a falta de disciplina. O Soldado
Prático de Diogo do Couto é uma obra de referência neste contexto, mas o
cronista chega ao ponto de afirmar que as fortalezas da Índia estavam aban‑
donadas pela soldadesca que se dedicava ao negócio. O que é certo, porém,
é que as fortalezas não foram perdidas para os inimigos; significa isto que,
mesmo que houvesse desleixo e cupidez, a estrutura militar cumpria as suas
funções – defendia as praças em caso de perigo e, pelos vistos, criara uma forte
relação de confiança com as populações. E vale a pena insistir neste ponto –
sem o apoio e a solidariedade das gentes da terra, nenhuma posição (nem
Goa, nem o Rio de Janeiro quinhentista) era defensável duradouramente.
Há que reconhecer, todavia, que a correspondência crítica e catastrofista
que chegava à corte, embora não revelasse a realidade do império, criava
Hist-da-Expansao_4as.indd 161 24/Out/2014 17:17
162 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
uma imagem desfocada mas que era tomada como certa pela maioria das
pessoas. A corrupção e o desvio de receitas da Coroa para os bolsos de
privados existiam, mas os mesmos que lesavam a Coroa eram mal pagos;
e quando as posições militares ficavam em perigo, os mesmos que tenta‑
vam ludibriar a alfândega pagavam o esforço militar do seu próprio bolso,
prática que prosseguiria nos séculos seguintes31. Começavam então as
queixas pela morosidade dos processos administrativos, nomeadamente a
verificação dos procedimentos pelos oficiais que tinham concluído as suas
funções32. Nesta matéria, a grandeza do império nunca foi acompanhada
pelo alargamento necessário da máquina de fiscalização. Genericamente, os
organismos da administração régia funcionavam mal, mas o império crescia
e os negócios prosperavam. Coroa e privados mantinham, pois, um jogo
do gato e do rato que beneficiava uns e outros, mas dificilmente poderia ter
sido diferente – o Império Português era a primeira entidade a espalhar‑se
por cerca de 180 graus de longitude, cuja comunicação interna se fazia
por via marítima, com alguns locais a mais de dois anos de distância para
a chegada de uma carta e cerca de cinco anos para obter uma resposta33.
Organizar uma máquina burocrática capaz de controlar em tempo útil
tamanha dispersão era uma tarefa ciclópica que, por isso mesmo, nunca
foi concretizada numa forma ideal.
Apesar das dificuldades, além do alargamento e gradual reconfiguração do
império, há que registar melhorias e, principalmente, um esforço reformista
por parte do jovem rei. Um dos dados mais relevantes deste reinado é que
as décadas de 60 e de 70 registaram os melhores resultados da Carreira da
Índia. Após um número excessivo de naufrágios nos anos 50, a Rota do Cabo
teve então o seu melhor desempenho, com a conclusão de mais de 90% das
viagens, quer à ida quer à volta. A partir de 1570, a Coroa passou a arrendar
a privados a gestão das naus da Índia.
O reinado de D. Sebastião foi marcado por uma forte produção legis‑
lativa, como é próprio de um período reformista, em que se incluiu a pro‑
mulgação de novas leis relativas ao império. Parece‑nos relevante assinalar
as leis de 1570 que proibiam a escravização de chineses, japoneses e índios
do Brasil. Embora o comércio de escravos fosse uma das principais fontes
de receita da Coroa, esta manifestava algum respeito para com os povos
com que os seus súbditos conviviam, deixando a escravatura confinada
basicamente aos negros de África. Vislumbra‑se nesta legislação a influência
dos Jesuítas, que defendiam particularmente a liberdade dos índios, mas
tanto os mercadores do mar da China como os colonos do sertão brasileiro
desrespeitaram a legislação régia. E se a escravização dos índios era um
fenómeno localizado no Brasil, temos notícia até da existência pontual de
escravos chineses e japoneses no reino.
Hist-da-Expansao_4as.indd 162 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 163
Ao chegar ao poder, em 1568, o jovem monarca estava ciente da grandeza
dos seus domínios ultramarinos e reconhecia a necessidade de reorganizar
o modelo de governação do Brasil e do Estado da Índia, dividindo‑os em
entidades de menor amplitude geográfica. No caso da Índia, os ventos de
monção condicionavam a navegação, e a comunicação de Goa, quer com
a costa oriental africana, quer com Malaca, era muito demorada. Por isso,
o rei determinou que o Estado da Índia fosse dividido em três entidades
autónomas: o vice‑reinado da Índia, que ficava circunscrito às possessões
entre Ormuz e o Ceilão, mais os governos da costa oriental africana, com
sede em Moçambique, e da Ásia Oriental, com sede em Malaca. Ao mesmo
tempo, D. Sebastião dividia o Brasil em duas jurisdições separadas, sendo a
parte meridional confiada a um governador instalado no Rio de Janeiro. Estas
alterações eram o resultado do crescimento recente do império: o sucesso do
governo‑geral do Brasil, as conquistas na Índia e no Ceilão, o alargamento
dos negócios até ao Japão e os sonhos de domínio na África Oriental exigiam
uma orgânica mais complexa, e o rei tentou criá‑la.
Estas reformas fracassaram, devido à oposição e às intrigas da própria
fidalguia, mas mostram‑nos que a capacidade de reformulação quase ins‑
tintiva do império era acompanhada pela vontade do rei em modernizá‑lo.
D. Sebastião promoveu igualmente uma reorganização do sistema militar,
com a introdução das ordenanças, que já tinham sido ensaiadas na Índia
por Afonso de Albuquerque e por D. João de Castro. O sistema das orde‑
nanças correspondia à formação de corpos disciplinados e hierarquizados
por patentes que escapavam à velha lógica da hoste. O rei queria dispor de
um exército que não estivesse dependente da capacidade de mobilização
da fidalguia e queria que as suas forças obedecessem às novas tácticas dos
campos de batalha, que já não se compadeciam com as proezas de cavalaria
e os desempenhos individuais. Num tempo de revolução na arte da guerra,
com a afirmação das armas de fogo, os batalhões de infantaria disciplinada
eram cruciais.
Tanto no caso da reformulação administrativa do império como no
da reorganização militar, o rei enfrentou os interesses instalados da velha
nobreza. O seu espírito renovador esbarrou na resistência inicial dos seus
súbditos, mas resta saber se não teria acabado por ser bem‑sucedido se o seu
reinado tivesse sido mais longo e a conjuntura externa do Império Português
não se tivesse alterado dramaticamente a partir de 1580.
O que é certo, pois, é que o império estava em renovação, ajustando‑se
às conjunturas locais e promovendo reformas internas que procuravam
adaptá‑lo à sua nova grandeza e aos ventos da própria História. O desastre
de Alcácer Quibir interrompeu bruscamente esta evolução harmoniosa.
Hist-da-Expansao_4as.indd 163 24/Out/2014 17:17
164 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Alcácer Quibir34
Governante atento às vicissitudes do seu vasto império, D. Sebastião
tinha uma indiscutível atracção pelo Norte de África. Com a morte do avô
e o desaparecimento da geração do seu pai, o pequeno rei foi educado pelos
representantes da fidalguia que sempre se opôs ao abandono das praças
marroquinas. Vale a pena notar que se repetia a mesma tendência que se
manifestara em D. Afonso V, o outro rei menino da dinastia de Avis, que
também chegara ao trono no rescaldo de um insucesso africano (a expedição
a Tânger de 1437) e que nunca descansou enquanto não obteve a desforra.
D. Sebastião incorporou na sua formação os sentimentos mais profundos do
velho Portugal, que se forjara nas campanhas da Reconquista.
O império crescia, como vimos, mas sob um manto de suspeições sobre o
desempenho dos seus oficiais e com uma valorização desmedida dos inciden‑
tes que penalizavam a Coroa e os seus súbditos. Além disso, o rico comércio
que circulava nas naus e caravelas portuguesas atraía a pirataria e o corso, os
grandes parasitas que só apareciam junto da riqueza. O império continuava a
ser acossado por uma chusma de aventureiros, o que era um sinal inequívoco
do sucesso, mas a pressão desgastava e aumentava muito os custos das opera‑
ções, na medida em que a Coroa tinha de mobilizar dezenas de navios só para
armadas de patrulhamento e defesa, como já sucedia no reinado de D. João III.
O império pujante era comandado por um pequeno reino flagelado e
acossado, com uma família real desestruturada, composta por dois idosos, o
cardeal D. Henrique e a rainha D. Catarina, por uma infanta solteira e sem
capacidade reprodutora (D. Maria), por um jovem duque que nunca casou
e pelo pequeno rei, cujo consórcio nunca foi resolvido. À sua volta pululava
uma aristocracia serôdia, que beneficiava das riquezas ultramarinas mas que
pouco se interessava pelas cousas do Além‑Mar. Esta era a verdadeira fragi‑
lidade do reino neste terceiro quartel quinhentista e D. Sebastião acreditou
que poderia libertar‑se deste colete‑de‑forças, que lhe tolhia, inclusive, as
reformas do império, com o regresso da monarquia portuguesa à guerra. Nem
o avô nem o bisavô tinham comandado a hoste régia, e tampouco D. João II
a encabeçara depois de subir ao trono. Embora os monarcas europeus come‑
çassem a afastar‑se dos campos de batalha, como sucedia com o tio, Filipe II,
o paradigma do rei guerreiro subsistia, como se percebe pelo modo distorcido
como Damião de Góis elaborou a sua crónica de D. Manuel I, dedicando
metade dos capítulos aos sucessos da Índia e um quarto às lutas em Marro‑
cos, deixando, assim, a impressão de que o rei vivera quase só em função da
expansão ultramarina e valorizando a guerra face à política reformista e à
diplomacia hispânica e europeia do Venturoso35. E a guerra santa contra os
mouros continuava a ser apoiada pela maioria da população.
Hist-da-Expansao_4as.indd 164 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 165
Acresce ainda que o reino começava a sentir‑se cercado. Portugal mantinha
a sua habilidosa política de neutralidade europeia, mas o casamento do rei
era um problema muito complicado. O cisma protestante eliminara uma série
de hipóteses, em especial a Inglaterra, e a concentração dos Países Baixos, do
Império e das monarquias hispânicas na Casa de Áustria arrastava a dinastia
de Avis para a tutela de Filipe II. Sobrava a França, que tinha uma princesa em
idade ajustável a D. Sebastião, mas a crise dos Valois e as guerras de religião
em França perturbaram as negociações, que também foram prejudicadas pelo
ataque gaulês à ilha da Madeira e, sobretudo, pelas diligências da diplomacia
filipina36. A dinastia de Avis encontrava‑se num beco só com uma porta para
a Espanha, mas recusou‑se a abri‑la numa condição de subalternidade. Pre‑
cisava de ganhar espaço político, ao mesmo tempo que queria manter uma
posição forte na zona nevrálgica do estreito de Gibraltar.
Na busca da sua afirmação pessoal, D. Sebastião viu na ameaça turca
o pretexto para mobilizar o exército. Os Otomanos tinham dominado a
Anatólia no século xiii, tinham conquistado os Balcãs nos séculos xiv e xv,
e tinham ganhado o Próximo e o Médio Oriente nos anos de Quinhentos.
Entre 1520 e 1566 foram governados por Soleimão, o Magnífico, e os seus
domínios estendiam‑se do Danúbio ao Tigre e Eufrates e do mar Negro à
Argélia. Travados às portas de Viena, ameaçaram a Cristandade pelo sul, e
em 1565 os cavaleiros de Rodes impediram o seu progresso com a defesa
heróica de Malta. O conflito continuou e atingiu o clímax em 1571, quando
uma armada cristã destruiu a esquadra turca em Lepanto37. Sabemos hoje
que os Otomanos nunca conseguiram recuperar das perdas sofridas nessa
batalha, e que o seu poder naval no Mediterrâneo foi enfraquecendo, mas
nos anos imediatamente a seguir essa fraqueza estrutural ainda não era
perceptível, pois o colosso continuava forte e foi capaz de recuperar Chipre,
em 1572, de conquistar Tunes, em 1574, e impor um novo sultão no reino
de Fez, em 1576.
D. Sebastião visitara Ceuta e Tânger em 1574, mas não tivera oportuni‑
dade de enfrentar o inimigo. No ano de 1576, o conflito pelo poder no seio
da dinastia saadida levou a que Mulei Abdelmeleque (Mawlay ‘Abd al‑Malik)
tomasse o poder, afastando o seu tio Mulei Mahamet (Mawlay Muhammad
al‑Muta Wakkil). Este tentou recuperar o trono com a ajuda dos cristãos,
com o argumento de que o novo sultão de Fez era um aliado da Sublime
Porta, o que significava o alargamento da influência otomana até ao Garb.
Filipe II, ciente das dificuldades por que passava o Império Otomano, não se
interessou pelo caso, mas D. Sebastião acolheu de seguida o sultão deposto.
O rei de Portugal comprometeu‑se a ajudar Mulei Mahamet a recuperar
o trono de Fez, a troco de posições no litoral, o que levou à reocupação de
Arzila. A vitória significava prestígio e uma presença mais forte em África,
Hist-da-Expansao_4as.indd 165 24/Out/2014 17:17
166 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
decerto na mira de uma outra vitória posterior. Foi neste contexto que se
organizou a expedição de 1578, contra a qual se insurgiram poucas vozes.
A guerra em África continuava a ser popular e os preparativos decorreram
num ambiente optimista. Os titulares acompanhavam o monarca, e o duque
de Bragança, que se encontrava adoentado, enviou o seu herdeiro, D. Teo‑
dósio, que tinha 10 anos. Este exemplo mostra bem o espírito de confiança
que envolveu a campanha.
No contexto da História da Expansão Portuguesa, a expedição de 1578
representava uma espécie de regresso às origens. Totalmente desligada da
geoestratégia oceânica que a Coroa privilegiava desde 1522, estava mais
associada ao contexto político e estratégico do próprio reino e às fragilidades
da dinastia. Por isso, a derrota de Alcácer Quibir, embora tenha ocorrido
num teatro de operações ultramarino, teve graves consequências para o reino
e não para o império propriamente dito, que nem sequer sofreu perdas em
Marrocos no rescaldo do desastre.
Os detalhes da expedição e da batalha são sobejamente conhecidos e não
cabe retomá‑los nestas linhas. O que nos parece mais relevante notar é
o seguinte:
O exército foi mal comandado, pois o rei era corajoso mas inexperiente
e os oficiais que o rodeavam nunca souberam substituí‑lo na coordenação
da batalha. Apesar da organização deficiente da estrutura militar, as forças
portuguesas estiveram em vantagem na fase inicial do combate, numa altura
em que Mulei Abdelmeleque acabara de falecer na sua liteira. Só o sangue
‑frio dos que rodeavam o cadáver do sultão é que impediu que a notícia se
difundisse e que as tropas mouras desmoralizassem e se desmobilizassem.
E no ardor da luta, quando os mouros pareciam estar a ser vencidos, mesmo
sem saber da morte do seu soberano, alguém gritou «Sus!» e a soldadesca
portuguesa perdeu o élan, hesitou e foi incapaz de suster o contra‑ataque
do inimigo.
Quer isto dizer que em Alcácer Quibir, como em tantas outras batalhas,
uma série de factores imponderáveis contribuiu para o desenlace final.
A derrota do exército português não espelha, só por si, uma decadência há
muito anunciada. Aliás, o grande drama político daquele dia não foi a morte
de cerca de 5000 homens, pois a Coroa sofreu perdas em igual número em
1515, no desastre da Mamora, sem que isso tivesse sequer grande impacto
na opinião pública e na memória colectiva, então anestesiada pelos sucessos
da Índia. O acontecimento fortuito de 4 de Agosto de 1578 que fez desta
batalha um momento‑chave da História de Portugal foi o facto de o rei
ter desaparecido nos combates. É certo que a sua morte era evitável, e que
durante muito tempo D. Sebastião teve condições para se retirar do campo
de batalha, ou mesmo para se render. Mas o jovem rei que buscava a glória
Hist-da-Expansao_4as.indd 166 24/Out/2014 17:17
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO PLURICONTINENTAL PUJANTE 167
preferiu a lenda, e os que o rodeavam não conseguiram alterar o rumo dos
acontecimentos.
A perda do rei teria sido evitável, assim como o colapso da dinastia foi faci‑
litado pela inutilização de dois dos seus varões, o infante D. Luís e D. Duarte,
duque de Guimarães, filho e neto de D. Manuel I, respectivamente, que nunca
casaram e que não puderam gerar descendência legítima. Notamos aqui, de
facto, uma debilidade política que o desfecho da Batalha de Alcácer Quibir
pôs a nu, e que teve como consequência a perda da independência, passados
dois anos, depois da morte do último rei de Avis, o velho cardeal D. Henrique.
O império não se ressentiu do desastre africano, mas a incorporação de
Portugal na Monarquia Católica dos Áustria, em 1580, trouxe‑lhe alterações
substanciais.
Hist-da-Expansao_4as.indd 167 24/Out/2014 17:17
9
CRISE E RECONFIGURAÇÃO
(1580‑1640)
D. Henrique sucedeu ao sobrinho‑neto e logo tratou de pedir a passagem
ao estado laico para tentar gerar um herdeiro da Coroa, mas o papado
e a diplomacia filipina não lhe facilitaram a vida1. Os 17 meses do reinado
henriquino foram consumidos com a questão sucessória e o império manteve
as suas dinâmicas evolutivas, como que indiferente à crise dinástica.
Filipe II fez‑se aclamar rei de Portugal, em Abril de 1581, pelas Cortes
de Tomar. Foi um processo complexo, em que o monarca compreendeu que
só dominaria o reino e o seu império sem o uso permanente da força, se
respeitasse a individualidade lusitana. Por isso, o Prudente jurou que todos
os cargos públicos da Coroa de Portugal seriam desempenhados por por‑
tugueses, bem como todos os postos do império coordenados por Lisboa,
utilizando, assim, a mesma fórmula a que D. Manuel I recorrera em 1499
quando fizera jurar herdeiro de Portugal seu filho D. Miguel da Paz, que era
simultaneamente herdeiro das coroas de Castela e de Aragão.
Iniciava‑se então um período único na História de Portugal, marcado pela
ausência do rei. No entanto, estes 60 anos da dinastia filipina contribuíram
para um acentuar da individualidade portuguesa e o império desempenhou
um papel relevante nesse processo. Com efeito, todos os domínios que esta‑
vam sujeitos à dinastia de Avis continuaram separados dos que dependiam
da monarquia castelhana, mesmo em zonas de fronteira, fosse no continente
americano, fosse no Extremo Oriente asiático. E todos os postos de comando,
desde os feitores e escrivães até aos governadores e vice‑reis, foram sempre
confiados a súbditos portugueses. Ao mesmo tempo, os dois impérios expe‑
rimentaram formas de articulação, especialmente nas zonas de contacto, e
a administração portuguesa foi contaminada pelo modelo dos conselhos
da monarquia dos Áustria2. Estes 60 anos assistiram, pois, à tensão entre a
Hist-da-Expansao_4as.indd 168 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 169
afirmação da autonomia portuguesa num quadro de articulação dos interesses
particulares da Coroa lusa com os do Império Castelhano e os da Monarquia
Católica.
Salvo a resistência da ilha Terceira, que se manteve fiel ao prior do Crato
até ser tomada pela força, em 1583, os domínios do império ultramarino
português aceitaram pacificamente a realeza do Áustria. Sensação de inevi‑
tabilidade? Ausência de alternativas? Sentimento de unidade em relação a
Portugal? Passados 60 anos, todo o império, à excepção de Ceuta, aderiu facil‑
mente à Restauração, pelo que parece certo que os portugueses espalhados
pelo Mundo queriam permanecer ligados ao seu reino, independentemente
de quem o governava.
Uma geopolítica ilógica
D. Filipe I residiu cerca de dois anos em Lisboa, e só a deixou quando a
morte do príncipe D. Diogo, seu herdeiro, exigiu a sua presença em Castela
para garantir os direitos sucessórios do seu filho mais novo, D. Filipe. Este
foi jurado herdeiro de Portugal, pelas Cortes lusas, ainda antes de o Prudente
partir para Madrid. Quando o monarca saiu, deixou o arquiduque Alberto,
seu sobrinho, como vice‑rei, mantendo assim um membro da família real no
reino, o que aquietou a população.
O início do reinado filipino não provocou nenhuma alteração no Império
Português. A perda da independência resultara de um acidente num cenário
ultramarino, mas a estrutura do Além‑Mar manteve todas as dinâmicas que
assinalámos para os anos do reinado de D. Sebastião: as praças marroquinas
inexpugnáveis, o comércio africano do ouro em perda, mas a venda de cativos
para as Índias de Castela e para o Brasil em crescimento; a exportação de
açúcar brasileiro para a Europa em crescendo, ao mesmo tempo que a Coroa
aumentava o domínio territorial com a conquista das capitanias do Paraná,
em 1587, e do Rio Grande do Norte, em 1597; como sempre, a estrutura
militar responsável por estes sucessos era composta maioritariamente por
índios aliados. Por exemplo, uma força militar enviada para o Rio Grande,
sob o comando de Feliciano Coelho, era composta por 178 combatentes
oriundos de Pernambuco e da Paraíba (em que se contavam decerto muitos
mestiços) e mais de 800 índios3.
O Estado da Índia, por sua vez, continuava estável, com uma actividade
comercial intensa, com progressos lentos na conquista da ilha de Ceilão e na
penetração pacífica pelo vale do Zambeze, e um comércio pujante no mar da
China, onde se registava o crescimento acelerado do número de baptizados
no Japão, mesmo depois da promulgação do primeiro édito anticristão à
Hist-da-Expansao_4as.indd 169 24/Out/2014 17:17
170 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
escala nacional, em 1587, e se verificava, finalmente, a entrada dos Jesuítas
no Império Chinês, o que levou Mateus Ricci a chegar a Pequim, em 16014.
O Livro das Cidades e Fortalezas, elaborado precisamente para dar ao rei
uma imagem geral da situação da Índia Portuguesa, é um excelente testemu‑
nho do forte dinamismo que caracterizava a presença lusa no Oriente.
Ao ganhar a coroa portuguesa, D. Filipe I procurou retomar uma política
do seu avô D. Manuel I, ao tentar usar o Estado da Índia como uma arma
da sua política mediterrânica. O Prudente esmagara a armada otomana em
Lepanto, mas os Turcos continuavam a ser um adversário perigoso e ameaça‑
dor. Por isso, o rei deu ordens aos governantes da Índia para que atacassem
o mar Vermelho, ao mesmo tempo que tentava avaliar as potencialidades
militares da Etiópia cristã. O rei desejava, assim, abrir uma nova frente de
guerra, que dividisse as forças otomanas e que aliviasse a pressão turca sobre
o Mediterrâneo. Era um sinal de que o respeito pela individualidade lusa não
impedia o monarca de encarar os seus novos domínios como peças de uma
estratégia maior, em que o Império Português podia ser usado, e sacrificado,
em prol dos interesses maiores da Monarquia Católica. No entanto, as auto‑
ridades de Goa não acataram a ordem régia e nunca reataram a guerra contra
os Turcos no mar Vermelho5. Os interesses do Estado da Índia, enquanto
potência asiática, sobrepuseram‑se naturalmente às maquinações mundiais
do monarca, o que se repetiu no reinado seguinte, quando D. Filipe II ten‑
tou a aliança com os Persas, também para tentar enfraquecer a posição do
inimigo otomano6.
Os orçamentos do Estado da Índia conhecidos para estes anos, nomea‑
damente os de 1571, 1574, 1581, 1588, 1607, 1609 e 1620, apresentavam
sempre saldos positivos7, sendo de realçar que a receita proveniente da terra,
como referimos, ia crescendo lentamente, num testemunho óbvio do peso
crescente da territorialidade. Observamos também que o Estado gastava
cerca de 20% do seu orçamento no sustento da Igreja, o que reflecte bem a
importância que as missões tinham ganhado na estrutura do império. Estes
documentos apresentavam uma expectativa sobre o modo como as finan‑
ças públicas seriam executadas no ano seguinte, o que tem levado alguns
autores a encará‑los com algumas dúvidas, por crerem que são demasiado
optimistas, e é sabido que muitos dos pagamentos previstos eram feitos com
grande atraso. É certo, contudo, que a elaboração do orçamento se baseava
na experiência do ano anterior, pelo que este tipo de documento nos mostra,
sem dúvida, a auto‑suficiência económica estrutural do Estado da Índia,
independentemente das crises financeiras ou de tesouraria por que passava.
Integrado num sistema político complexo, o reino de Portugal e os seus
domínios ultramarinos exigiram a criação de novos órgãos pela Monarquia
Católica. Governando coroas dispersas pela Europa e domínios à escala
Hist-da-Expansao_4as.indd 170 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 171
planetária, o rei D. Filipe tinha aperfeiçoado um modelo de governação
assente em conselhos. Cada Coroa tinha o seu conselho próprio, que apre‑
ciava os assuntos relacionados com o seu território, pelo que em 1581
o monarca criou o Conselho de Portugal. Depois, à semelhança do que
sucedia com a América, que dispunha do Conselho das Índias, foi criado
o Conselho da Índia, em 1591, que servia de órgão consultivo para todos
os assuntos do ultramar português. Parece‑nos significativo que, nesse final
da centúria quinhentista, uma instituição ligada ao império tinha por nome
uma das regiões, como se a parte representasse o todo. Apercebemo‑nos,
assim, do prestígio de que o Oriente continuava a desfrutar no imaginário
dos Portugueses e também do seu novo rei, e que ainda ofuscava o Brasil.
A individualidade portuguesa, jurada por D. Filipe em Tomar, era salvaguar‑
dada e confirmada com a criação destes conselhos, cujos membros eram
exclusivamente súbditos portugueses.
Entretanto, se olharmos para cada uma das regiões onde agiam repre‑
sentantes da Coroa lusa, encontraremos decerto um número considerável de
dificuldades, principalmente conflitos entre os interesses dos agentes privados
e os oficiais d’el‑rei, bem como queixas destes mesmos oficiais, por não serem
pagos a horas ou por não conseguirem impedir a fuga aos impostos de muitos
dos privados. E persistiam as acusações de que os próprios oficiais régios des‑
viavam verbas importantes dos cofres do Estado. De facto, não restam dúvi‑
das de que a máquina político‑administrativa funcionava com deficiências.
No entanto, era capaz de resolver os grandes desafios que se iam colocando
e, globalmente, o império continuava em expansão territorial e comercial.
D. Filipe I, senhor de um império onde o Sol nunca se punha, mostrava
que sabia distinguir os interesses dos súbditos de cada uma das suas coroas.
Assim, no Atlântico manteve o acesso aos mercados fornecedores de cativos,
na Guiné, nas mãos dos portugueses8; e no Pacífico emitiu ordens sucessivas
proibindo as gentes de Manila de passarem para a China ou para o Japão9.
O império luso mantinha a sua unidade e a sua identidade próprias, no con‑
texto da Monarquia Católica, e muitos portugueses foram penetrando nas
Índias de Castela. A realeza d’el‑rei D. Filipe terá parecido um bom negócio
para a maioria dos portugueses, e quando o prior do Crato desembarcou em
Peniche, no ano de 1589, e marchou sobre Lisboa apoiado por mercenários
ingleses, não despertou um levantamento popular e a capital não lhe abriu
as portas.
A fidelidade ao rei católico era preferível a uma guerra com indesejados
hereges por aliados, e a bastardia de D. António sempre lhe limitara o apoio
entre os Portugueses. Mais tarde, outra geração viria a suportar a guerra
mais longa da História de Portugal para se separar da Espanha, mas a con‑
juntura que deu força aos conjurados de 1640 era outra muito diferente da
Hist-da-Expansao_4as.indd 171 24/Out/2014 17:17
172 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
dos anos 80 do século xvi; meio século depois, a ausência do rei desgastara
a imagem da monarquia madrilena, a política do conde‑duque de Olivares
punha em causa a autonomia lusa, as perdas ultramarinas ganhavam con‑
tornos catastróficos, e o reino dispôs de um candidato credível ao trono na
pessoa de D. João, 8.º duque de Bragança. A revolta de 1640 tinha parte das
suas raízes na solução política de 1581, pois, apesar do respeito pelo rei da
Casa de Áustria, a literatura e a correspondência da época demonstram que
houve sempre um mal‑estar pela perda da independência. Este sentimento
agravou‑se, naturalmente, quando a ligação a Madrid começou a dar sinais
de que era um mau negócio10.
A historiografia recente tem demonstrado à saciedade que os anos da
dinastia filipina assistiram a um desenvolvimento natural do reino, mas, no
que respeita aos seus domínios ultramarinos, a submissão a Madrid provo‑
cou mudanças substanciais, tendo acelerado o processo de reconfiguração
do império que, como vimos, fora desencadeado por D. João III. A novidade
filipina foi a mudança da conjuntura externa ao império. D. Filipe I enfrentava
a revolta dos territórios protestantes dos Países Baixos e estava em guerra com
a Inglaterra. Ora, como é sabido, a monarquia inglesa era o aliado principal
dos Portugueses desde o século xiv, e os Holandeses encontravam‑se entre os
principais compradores das especiarias que passavam por Lisboa. A opção
protestante de Henrique VIII e de Isabel I provocou um afrouxamento das
relações entre os velhos aliados, mas, como referimos, embora os Ingleses
cobiçassem o comércio asiático, nunca quiseram desafiar o monopólio da
dinastia de Avis sobre a Rota do Cabo. Vimos também que Portugal criara o
seu império ultramarino mantendo uma política de neutralidade no contexto
europeu. Com a realeza do Áustria, o reino português viu‑se arrastado para
conflitos que não eram seus, e para os quais não estava preparado, nem no
Atlântico, nem no mundo oriental.
Numa fase inicial, esta nova geoestratégia global hostil não terá preo‑
cupado os Portugueses, na medida em que a Monarquia Católica detinha o
maior poder naval da Europa, mas tudo se alterou a partir de 1588, quando
a Invencível Armada se desfez à vista da Inglaterra. A derrota da esquadra
hispano‑portuguesa teve, de facto, consequências graves para Portugal, e
em particular para o seu sistema imperial. O afundamento de uma dúzia
de navios de alto bordo e a morte de uns milhares de homens evidenciaram
debilidades, fizeram perder a hegemonia marítima no Atlântico Sul e fizeram
crescer os sentimentos decadentistas entre os Portugueses, incapazes de ana‑
lisar as dinâmicas gerais do seu império.
Além da perda da Invencível Armada, D. Filipe I não conseguia dominar os
rebeldes holandeses, o que o levou a proibir que estes comprassem especiarias
em Lisboa, na esperança de provocar uma crise económica no inimigo, mas
Hist-da-Expansao_4as.indd 172 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 173
o feitiço virou‑se contra o feiticeiro e os Neerlandeses entenderam que tinha
chegado a hora de acederem directamente aos produtos exóticos da Ásia.
O colapso do império marítimo
Vimos anteriormente que os anos 60 e 70 assistiram ao melhor desem‑
penho da Carreira da Índia, que teve então pouquíssimas perdas, ao mesmo
tempo que a nau do trato atravessava as águas do mundo asiático, entre a
Índia e o Japão, sem sequer ser desafiada pelos potentados da região, apesar
de se saber que transportava cargas valiosíssimas. Estas duas rotas foram
severamente atacadas a partir dos anos 90, primeiro a Carreira no Atlântico,
e depois a nau do Japão, logo nos primeiros anos de Seiscentos. As perdas
materiais e económicas foram avultadas e os Portugueses foram incapazes
de repelir os inimigos, tendo perdido boa parte do comércio marítimo que
tinham controlado ao longo da centúria quinhentista.
Após a consternação pela derrota de 1588, os primeiros sinais de alarme
surgiram logo de seguida, quando a Coroa e as autoridades de Lisboa come‑
çaram a discutir a necessidade de fortificar a ilha de Santa Helena. Descoberta
em 1502, por João da Nova, esta ilha era usada frequentemente pelas naus
da Carreira da Índia como ponto de escala na torna‑viagem. Apesar desta
importância estratégica, nunca fora colocada aí uma guarnição, pois era um
espaço muito distante, tanto da costa africana como da americana, pelo que
não podia servir como ponto de apoio para o comércio com esses continen‑
tes, ao contrário dos arquipélagos de Cabo Verde e de São Tomé. Como se
situava em águas que não eram frequentadas pelos rivais, nunca fora ocupada.
Os predadores da Rota do Cabo não se atreviam a ir tão longe e esperavam
pelas presas na região dos Açores, o que obrigara, como vimos, a Coroa a
organizar anualmente a Armada das Ilhas.
A partir de 1588, os inimigos da Casa de Áustria não tinham nenhum
impedimento para aumentar a área de flagelação das rotas dos impérios
ibéricos, e os Portugueses não tiveram tempo para fortificar Santa Helena.
A mudança brusca da geoestratégia global a que Portugal passou a estar
associado, aliada à fragilização da Marinha hispânica, criou uma lógica
completamente diferente da que sustentara a diplomacia portuguesa e o seu
império durante a dinastia de Avis.
Assim, nos anos 90 o corso inglês e holandês pressionou brutalmente a
Rota do Cabo e a Carreira sofreu perdas elevadíssimas, uma parte por assal‑
tos, outra parte por naufrágios resultantes de opções náuticas arriscadas, na
tentativa de fugir aos novos senhores das águas do Atlântico Sul11. Também
a costa brasileira foi fustigada por ataques dos inimigos europeus, como foi o
Hist-da-Expansao_4as.indd 173 24/Out/2014 17:17
174 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
caso dos saques de Santos, em 1590, e do Recife, em 1595, pelos Ingleses, ou
dos ataques holandeses ao Rio de Janeiro, em 1599, ou a Salvador em 1595,
1600 e 1604. Não se tratava de acções de conquista, mas simplesmente de
ataques de rapina da nova hegemonia marítima.
Para esta fragilização do império contribuíram também outras dificuldades
estruturais do reino de Portugal que se vinham manifestando lentamente,
desde meados de Quinhentos. Com efeito, a floresta portuguesa começava
a não ter capacidade de resposta para a construção naval intensiva que
cresceu desmesuradamente ao longo dos séculos xv e xvi. As naus da Índia
dificilmente faziam mais de três viagens de ida e volta, quando eram bem
‑sucedidas, e o seu volume cresceu imenso ao longo da centúria quinhentista,
pelo que as necessidades de madeira pelos estaleiros nacionais cresceram
exponencialmente durante esses anos. Ora, a capacidade de renovação da
floresta era limitada e nos últimos anos de Quinhentos os navios começaram
a ser construídos com recurso a madeira de árvores demasiado jovens, que
proporcionavam peças mais curtas, o que exigia mais juntas e gerava uma
estrutura mais frágil12. A pequenez do reino era evidente e ao cabo de um
século de construção naval intensa já não desfrutava das mesmas boas condi‑
ções do início da centúria. A coincidência desta debilidade da Natureza com
a emergência de novos inimigos tornou a crise muito mais profunda do que
se Portugal tivesse enfrentado apenas um destes problemas naquele período.
Ingleses e Holandeses não se contentaram com as acções predadoras do
comércio português e foram em busca do trato asiático. A Inglaterra não se
empenhou politicamente nesta demanda, que ficou nas mãos de privados.
A primeira esquadra apareceu no Índico em 1592, e em 1600 foi criada a
East India Company (EIC), mas o número de velas inglesas nos mares da
Ásia continuou a ser limitado. Os Holandeses, pelo contrário, usaram a
empresa oriental como uma peça essencial da sua guerra pela independência.
A primeira esquadra chegou a Samatra em 1596, e várias cidades criaram
rapidamente companhias comerciais para os negócios da Ásia. Cedo se aper‑
ceberam que necessitavam de unidade para triunfar e fundaram a Companhia
das Índias Orientais (VOC), em 160213. Significativamente, a correspondência
enviada da Índia para Lisboa e para Madrid passou a estar pejada da pala‑
vra «socorro», reflectindo a sensação de insegurança que se generalizou aos
portugueses da Índia.
Aliados tradicionais dos Portugueses e seus parceiros comerciais há muito,
os Neerlandeses conheciam bem a configuração do Estado da Índia, assim
como as dinâmicas comerciais da Ásia. Estavam cientes de que a estrutura
militar lusa no Índico Ocidental (que os Portugueses haviam montado para
enfrentar os muçulmanos do Médio Oriente e os seus aliados indianos) era
poderosa e, por então, imbatível; em contrapartida, Goa só controlava duas
Hist-da-Expansao_4as.indd 174 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 175
cidades a leste da Índia (Malaca e Macau), e tinha alguns estabelecimentos
menores como a fortaleza de Ternate, nas Molucas, e o controlo do comér‑
cio do sândalo, a partir de Timor. Era uma estrutura militar muito limitada,
mas perfeitamente ajustada às necessidades asiáticas do Estado da Índia.
Desde 1498 até ao início dos anos 90, nenhum estratega português poderia
ter ponderado que a rede de fortalezas e o sistema naval do Estado da Índia
deviam ser organizados para enfrentar o ataque holandês.
O Sueste Asiático exerceu, pois, uma dupla atracção para os Holandeses:
por um lado, tinham acesso aos mercados da pimenta e da canela de Samatra
sem terem de sofrer a oposição de esquadras portuguesas; por outro, podiam
atacar a veia jugular do Estado da Índia (a nau do trato do Japão), que era
suficientemente forte para navegar livremente entre a navegação asiática, mas
não tinha meios para se defender do assalto do novo inimigo europeu, cuja
Marinha era muito mais evoluída que a dos asiáticos. Enfraquecendo o novo
inimigo, ganhavam melhores condições para se expandirem pelos mares da
Ásia. De facto, a captura de naus do trato em 1601, 1603 e 1604 causou de
imediato grande impacto na economia da Índia Portuguesa. E além das perdas
directas, houve outras ocasiões em que as viagens mais importantes não se
realizaram devido a bloqueios dos Neerlandeses, nomeadamente os que foram
impostos a Macau e a Goa, ou por simples receio dos mercadores portugue‑
ses. Deve notar‑se, contudo, que o bloqueio da capital do Estado da Índia só
impediu o normal funcionamento da navegação oceânica, especialmente a
Carreira da Índia. Com efeito, as armadas de alto bordo holandesas não se
podiam aproximar demasiado da costa, para não se colocarem à mercê do
poder de fogo das fortalezas que defendiam foz do Mandovi, pelo que a nave‑
gação costeira que circulava ao longo da costa indiana, ligando as diferentes
posições lusas desde o Guzerate até ao Malabar, continuou a funcionar sem
grandes sobressaltos. De facto, os Portugueses ainda resistiam e controlavam
a navegação costeira na Índia, mas perderam rapidamente o domínio no mar
alto, pois foram incapazes de travar a expansão holandesa na sua fase inicial.
Apanhados de surpresa, os Portugueses reagiram e Goa organizou uma
grande armada que partiu para Malaca, sob o comando do vice‑rei. Era a
primeira vez que o representante supremo da Coroa lusa ia da Índia para
a Malásia, desde que Afonso de Albuquerque ali estivera em 1511, o que
nos dá uma ideia clara da emergência. Após alguma hesitação, as armadas
portuguesa e holandesa enfrentaram‑se em dois combates inconclusivos, mas
que serviram os interesses dos Neerlandeses, na medida em que o desgaste
da armada lusa e a sua incapacidade para anulá‑los permitiu que os Holan‑
deses continuassem a estender a sua teia pelos mares da Insulíndia, tendo
conquistado Ternate, em 1605, no que foi a sua primeira conquista de uma
base portuguesa na Ásia. Nesta primeira década seiscentista os Portugueses
Hist-da-Expansao_4as.indd 175 24/Out/2014 17:17
176 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
dispunham de muitos mais navios e homens de armas na Ásia do que os
Holandeses, mas, enquanto estes tinham as suas forças concentradas em
objectivos muito limitados, os Portugueses estavam dispersos por uma área
vastíssima do cabo da Boa Esperança ao Japão e tinham que enfrentar outros
adversários além dos Neerlandeses, pelo que não puderam lutar sistematica‑
mente contra o inimigo europeu nestes anos cruciais.
A chegada dos Holandeses ao mundo asiático assemelha‑se ao processo
decorrido um século antes, quando Vasco da Gama apareceu em Calicute.
Ao longo do século xvi, os Portugueses haviam‑se adaptado à região e
tinham‑se organizado como uma potência asiática. A armada lusa na Ásia
estava adequada aos desafios colocados pelos potentados orientais e, por isso,
tinha abandonado a orgânica e as práticas com que se tinha assenhoreado
das rotas asiáticas no início do século xvi. O aparecimento deste poderoso
inimigo dos Portugueses despertou o interesse dos velhos inimigos de Goa,
que logo se tentaram aliar aos Neerlandeses, como sucedeu com o samorim
de Calicute, ou o rei de Kotte, em Ceilão, e interessou também aos novos
opositores, como os Tokugawa do Japão. À semelhança do que os Portugueses
tinham feito havia um século, os Neerlandeses foram criando feitorias, mas
acabaram por conquistar uma posição que lhes servisse de base principal,
o que sucedeu em 1619, com a tomada de Jacarta, então rebaptizada com o
nome de Batávia. Tal como os Holandeses, os Ingleses também se interessaram
inicialmente pelos circuitos mercantis da Ásia Oriental, embora com menos
enfrentamentos com os Portugueses, até que os próprios Neerlandeses os
afastaram da região, após um incidente nas Molucas, em 1623.
No caso da Ásia, a própria conjuntura política alterava‑se nessa altura,
com a emergência de grandes poderes regionais com um novo interesse pelo
comércio marítimo. Foi o caso da dinastia safávida, que governava a Pérsia,
então sob o xá Abbas I, e da dinastia dos Mogores, agora sob o governo
de Akbar, cujo sultanato se ia tornando no poder hegemónico na Índia14.
No Japão, no início de Seiscentos o caos político do século anterior, que tinha
facilitado a penetração dos mercadores e dos missionários portugueses, deu
lugar, como vimos, a uma reunificação política, com a emergência de uma
nova dinastia xogunal, a dos Tokugawa, que desenvolveu uma sistemática
política anticristã. Quer isto dizer que, mesmo sem a chegada dos Holandeses,
a vida dos Portugueses na Ásia iria sofrer dificuldades redobradas pela evo‑
lução da conjuntura política do próprio continente. A presença neerlandesa,
conjugada com esta evolução, levou a uma inevitável alteração da estrutura
do Estado da Índia, marcada sobretudo por uma redução significativa da
sua rede de rotas oceânicas e pela perda de quase todas as bases que esta‑
vam relacionadas apenas com o comércio marítimo, de que só sobreviveu
Macau. Em contrapartida, todas as posições com hinterland, que estavam
Hist-da-Expansao_4as.indd 176 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 177
associadas a domínios territoriais, viriam a sobreviver ao ataque conjugado
de holandeses, ingleses e inimigos asiáticos, excepto o Ceilão. A importância
da territorialidade foi‑se afirmando nos primeiros anos de Seiscentos, não só
por contribuir para a resistência militar à ofensiva protestante, mas também
por ter assegurado que os orçamentos do Estado da Índia continuavam a ter
um balanço positivo nas duas primeiras décadas do século, o que se alteraria
depois da queda de Ormuz, em 1622.
Os Ingleses também rivalizavam com o Estado da Índia, mas não o ata‑
caram sistematicamente como os Holandeses. Tendo perdido para estes as
redes comerciais do Sueste Asiático e do mar da China, concentraram‑se
prioritariamente no Índico Ocidental e evitaram o confronto sistemático com
as dependências de Goa. Ganharam o interesse do Grão‑Mogol e puderam
instalar‑se em Surate, em 1612, o que representou uma contrariedade para
os Portugueses, por lhes afectar o negócio na região.
Vinte e nove anos depois da entrada da primeira armada dos «inimigos
do Norte» no Índico, os Portugueses sofreram a primeira perda grave, com
a tomada de Ormuz pelos Persas, com o auxílio de uma armada inglesa. Nos
anos seguintes, Goa continuou a intervir na região através da fortaleza de
Mascate15, mas o comércio marítimo entrou em perda e nos anos seguintes
surgiram os primeiros orçamentos deficitários do Estado da Índia. Nesse
mesmo ano, os Holandeses assaltaram Macau, mas foram repelidos pelos
defensores. Este duplo ataque mostra‑nos bem a dificuldade que se colocava
a uma entidade de uma dimensão tão vasta como o Estado da Índia. No caso
de Macau, os Neerlandeses não contaram com o apoio tácito dos Chineses
e fracassaram; tal facto mostra‑nos que, em regra, só ataques realizados
por coligações euro‑asiáticas eram capazes de desalojar os Portugueses das
posições obtidas ao longo do século xvi.
Até 1639 o Estado da Índia manteve praticamente a mesma configuração
territorial que tinha em 1588, tendo registado somente as perdas de Ternate e
Ormuz. Não perdera área dominada, que até crescera na África Oriental, mas
o volume de negócios caíra enormemente. Goa resistia, mas estava asfixiada,
e nos anos 30 parte da navegação lusa era feita em navios ingleses, nomeada‑
mente para o mar da China, aproveitando o restabelecimento da paz entre a
Inglaterra e a Monarquia Católica. As tentativas de criar companhias comer‑
ciais para recuperar a Carreira da Índia foram mal‑sucedidas16 e o colapso das
redes oceânicas orientais tornou‑se uma inevitabilidade. O desgaste causado
por décadas de ataques neerlandeses e pela hostilidade de muitos inimigos
asiáticos provocou finalmente a ruptura do velho sistema. Em Ceilão, os
Holandeses começaram a conquistar posições portuguesas em 1638.
Em 1640 os mercadores de Macau perderam definitivamente o comércio
do Japão. A chegada dos primeiros holandeses, em 1600, tinha despertado
Hist-da-Expansao_4as.indd 177 24/Out/2014 17:17
178 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
o interesse de Tokugawa Ieyasu, o senhor da guerra que se apropriou do
Império do Sol Nascente nesse mesmo ano. Os Holandeses instalaram‑se em
Hirado, em 1609, e os Ingleses mantiveram uma feitoria nesse mesmo porto
entre 1613 e 1622. Apesar da pressão neerlandesa, e da perseguição anticristã
lançada pelo xogunato em 1614, os Portugueses continuaram a dominar o
negócio da prata e da seda17 até que, em 1636, os Holandeses conseguiram
colocar mercadorias de qualidade no mercado nipónico. No ano seguinte,
deu‑se uma revolta camponesa em Shimabara que, apesar do seu carácter
social, se revestiu também de uma dimensão religiosa, pois os revoltosos eram
todos cristãos. Os Holandeses ajudaram a abafar a rebelião e os Portugue‑
ses foram acusados de terem instigado os protestos. Em 1639 os Japoneses
recusaram negociar com os Portugueses, o que levou os macaenses a enviar
uma embaixada apaziguadora no ano seguinte, mas as autoridades nipónicas
marcaram bem a sua posição executando quase todos os tripulantes do navio.
A perda do comércio do Japão evidenciou o enfraquecimento do Estado
da Índia, a que se seguiu a queda de Malaca, a 1 de Janeiro de 1641, às mãos
de uma coligação de forças do Achém e da VOC. O comércio oceânico inter
asiático dos Portugueses estava praticamente eliminado, pelo que uma série
de posições se tornaram inúteis no contexto da nova realidade lusa na Ásia.
Consumado o colapso, os anos seguintes assistiriam ao acerto da relação
entre Portugueses e Holandeses. Entretanto, Portugal recuperou a indepen‑
dência, o que não impediu a reconfiguração do império, com o quase total
desaparecimento do paradigma do comércio marítimo. A sobrevivência do
império e a restauração da independência do reino resultaram dessa mesma
reconfiguração e da afirmação do paradigma da territorialidade que conti‑
nuou a desenvolver‑se nos anos do domínio filipino, como veremos adiante.
Os limites da expansão missionária
Neste período, os missionários continuaram a ser um dos grupos dina‑
mizadores da Expansão Portuguesa. Colaboravam na consolidação das
sociedades coloniais emergentes e continuavam a explorar novas fronteiras.
No Brasil, eram muitas vezes os responsáveis pela atracção de novas tribos
índias para a esfera de influência da Coroa, e alguns religiosos aventureiros
atingiram terras nunca antes exploradas pelos Europeus, como foi o caso do
irmão Bento de Góis, que seguiu pelos trilhos da Rota da Seda e chegou à
China pela via terrestre, ou o padre António Andrade, que andou pelo Tibete
nos anos 1624 a 1635. No início de Seiscentos, os jesuítas alcançaram a corte
imperial chinesa, onde viriam a ter um papel relevante durante um século;
recorrendo a conhecimentos superiores em matemática, impressionaram os
Hist-da-Expansao_4as.indd 178 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 179
mandarins e alguns padres da Companhia chegaram a ocupar o cargo de
presidente do Tribunal de Astronomia. Por esta via protegiam os seus compa‑
nheiros que missionavam no interior do Celeste Império e garantiam também
a continuidade de Macau como porto chinês administrado pelos Portugueses.
No entanto, as dinâmicas missionárias também sofreram fracassos e limi‑
tações nestes anos de crise. O caso mais relevante foi o do Japão. O extraor‑
dinário sucesso verificado na segunda metade do século xvi provocou uma
reacção de oposição pelos novos senhores do Império do Sol Nascente. O pri‑
meiro unificador do Japão, Oda Nobunaga, cultivou uma relação cordial com
os Jesuítas e apoiou a propagação do Cristianismo nos seus domínios, mas os
seus sucessores não se interessaram nem pelo exotismo dos padres nem pela
religião cristã, e o Cristianismo começou a ser hostilizado em 1587, quando
Toyotomi Hideyoshi promulgou o primeiro édito anticristão. No entanto,
os senhores do Japão não queriam perder os ganhos proporcionados pela
nau do trato, pelo que continuaram a aceitar a presença dos missionários no
país. A chegada dos espanhóis, vindos das Filipinas, não alterou a situação,
pois os mercadores vindos de Manila também se faziam acompanhar por
missionários. Desiludido, Hideyoshi pôs fim à primeira missão dos francis‑
canos de Manila com o martírio de 5 de Fevereiro de 1597, em Nagasaki18.
A separação dos dois impérios exasperava os colonos de Manila, que sem‑
pre forçaram as ordens régias e as determinações papais; ao mesmo tempo,
os Jesuítas teimavam em manter o monopólio das missões da China e do
Japão, o que gerou conflitos persistentes entre as ordens religiosas e entre
Macau e Manila, embora as duas cidades comerciassem entre si. A rivalidade
luso‑castelhana foi intensa no Japão, após a reentrada dos mendicantes no
arquipélago, a partir de 1599; as críticas mútuas persistiram, mesmo no tempo
da perseguição e quando a missão já estava moribunda. Este conflito é um
bom estudo de caso, quer para a compreensão das diferenças missionológicas
que separavam os Jesuítas dos mendicantes, quer a rivalidade luso‑castelhana,
que persistiu do outro lado do Mundo durante os anos da dinastia filipina.
Depois, o aparecimento dos protestantes na região alterou a situação,
pois o xogunato ganhou novas alternativas aos comerciantes católicos. Com
a criação das feitorias de Hirado da VOC e da EIC, os Tokugawa puderam
pressionar os Portugueses, e em 1614 Ieyasu decretou a expulsão definitiva
dos missionários e ordenou que os seus súbditos abandonassem o Cristia‑
nismo. No entanto, o xógum queria continuar a comerciar com Macau. Nos
anos seguintes, os mercadores macaenses apoiaram os Jesuítas, transportando
religiosos, que se introduziam clandestinamente no Japão, assim como a cor‑
respondência da missão. A população cristã manteve‑se fiel à sua fé e escondeu
os missionários enquanto pôde, e alguns lograram escapar aos perseguidores
até à morte, como sucedeu com os padres Juan Batista Baeza e Mateus de
Hist-da-Expansao_4as.indd 179 24/Out/2014 17:17
180 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Couros; no entanto, a perseguição sistemática acabou por impedir a entrada
de novos clérigos e levou à captura de quase todos os restantes. Em 1632, o
jesuíta Cristóvão Ferreira apostatou e a partir de então a população cristã
de Nagasaki passou a vincular‑se oficialmente aos templos budistas, embora
muitos perseverassem clandestinamente na fé cristã, tendo algumas comu‑
nidades de criptocristãos sobrevivido até à segunda metade do século xix,
quando o Japão finalmente se reabriu ao mundo. Em 1637‑1638, como vimos,
o massacre de Shimabara, quando uns 37 000 revoltosos cristãos foram
chacinados, tornou a relação luso‑nipónica inviável. Neste caso, a dinâmica
missionária acabou por provocar a perda de um dos maiores negócios que
os Portugueses haviam dominado.
Entretanto, no rescaldo do exílio de dezenas de jesuítas para Macau, a
Companhia abriu novas missões no Vietname, no Camboja e no Sião. Repetia
‑se o modelo de associação entre mercadores e missionários, mas a concorrên‑
cia holandesa dificultou a acção dos comerciantes e a religião predominante,
o Budismo do Pequeno Veículo, era pouco permeável ao Cristianismo.
Com efeito, os países em que os religiosos obtiveram mais baptismos
foram os que eram habitados por populações animistas ou pelos adeptos do
Budismo do Grande Veículo, como era o caso da China e do Japão. O mundo
islâmico foi sempre impermeável à propagação do Evangelho, assim como,
em regra, os hindus e os budistas do Pequeno Veículo (mais purista e mais
próximo da mensagem original do Buda). O elevado número de baptismos
obtidos na região de Goa só foi possível devido à ocupação do território e à
conversão das castas em grupo, mas o mesmo não se verificou na Província
do Norte. Em contrapartida, a primeira metade de Seiscentos assistiu ao
crescimento do número de baptizados na ilha de Ceilão, na sequência da
conquista territorial. A evangelização deixou raízes, pois a comunidade cató‑
lica sobreviveu à conquista holandesa e à posterior ocupação da ilha pelos
Ingleses, tendo continuado a receber assistência espiritual de Goa.
Além de ter perdido a missão japonesa, o Padroado Português do Oriente
também deixou de actuar na Etiópia, neste caso porque a tentativa de impor
o Catolicismo aos cristãos etíopes fracassou, pois estes preferiram continuar
ligados à Igreja Monofisita. Nesta época, a Igreja pós‑tridentina procurava
latinizar igrejas afastadas, o que também sucedeu na Índia, quando o arce‑
bispo D. frei Aleixo de Meneses promoveu o Concílio de Diamper, em 1599,
com o objectivo de dominar a Igreja Siro‑Malabar. Esta era uma comunidade
cristã que vivia no Sudoeste da Índia desde a Antiguidade, mas que estava
ligada a um patriarcado de rito nestoriano, sedeado em Bagdad, que enviava
regularmente bispos para a governação dos cristãos indianos19. Esta Igreja
uniu‑se a Roma no pontificado de Júlio III (1550‑1555), mas as autoridades
eclesiásticas de Goa queriam dominar e latinizar aquela cristandade, fruto
Hist-da-Expansao_4as.indd 180 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 181
dos rigores característicos da reforma tridentina, mas também na esperança
de Goa ganhar uma nova fonte de recrutamento militar. Todavia, os cristãos
de São Tomé reagiram ao autoritarismo e poucos anos depois uma parte da
comunidade cindiu‑se e um grupo afastou‑se da comunhão com Roma20.
Os missionários ganharam acesso às cortes de reis muçulmanos podero‑
sos, como o xá da Pérsia ou o Grão‑Mogol, mas o espírito curioso e algo
tolerante dos soberanos não foi suficiente para que os religiosos pudessem
anunciar livremente o Evangelho nos seus domínios, comprovando‑se a
impermeabilidade do mundo islâmico ao contacto com os cristãos, como
os Portugueses experimentavam desde que tinham ocupado as primeiras
fortalezas marroquinas.
No início de Seiscentos o velho sonho de uma cristandade no Congo
também se esfumava. Apesar do interesse dos reis em manter a ligação com
Portugal, o Cristianismo nunca vingara, pois o clero não abundara, devido
à dispersão do império, com solicitações simultâneas para meio mundo,
sendo que o clima africano era o mais mortífero, e a maioria dos clérigos
que iam para África morria passado pouco tempo. A deslocação dos interes‑
ses dos Portugueses para a região de Angola ajudou, naturalmente, a que o
afastamento entre Portugal e o Congo se consumasse nas primeiras décadas
seiscentistas.
A evangelização da Guiné foi também um projecto fracassado nesses anos.
Os Jesuítas estiveram em Cabo Verde entre 1604 e 1642, mas não conseguiram
instalar‑se nos territórios continentais21. Seguiram‑se outras ordens religiosas,
nomeadamente os Capuchinhos, mas sempre sem resultados significativos e
sem que os missionários conseguissem criar bases, a não ser nos entrepostos
criados pelos oficiais da Coroa. É particularmente interessante notar que o
esforço de evangelização da Guiné foi sempre conduzido pelo reino, e nunca
pela igreja cabo‑verdiana. O clero local era quase totalmente mestiço, nomea‑
damente os cónegos, e estava ligado profundamente à sociedade crioula.
A sua função era assegurar o enquadramento religioso da população insular,
pelo que estava fechado nos interesses da sociedade local e as sociedades
africanas do continente eram‑lhe estranhas. A evangelização era uma estra‑
tégia imperial, pelo que não coincidia com os interesses dos cabo‑verdianos.
No reino discutia‑se a possibilidade de se criar um seminário em Cabo Verde
para preparar aí clero africano, mas o projecto nunca se concretizou; e deve
‑se dizer que era de difícil execução, pois as diferenças étnicas dos povos da
Guiné, acentuadas por inimizades ferozes, não permitiam a formação de um
«clero negro geral»22.
Hist-da-Expansao_4as.indd 181 24/Out/2014 17:17
182 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A afirmação do paradigma da territorialidade
Ao mesmo tempo que deixava de ser uma potência hegemónica nos ocea‑
nos, Portugal continuou a alargar as áreas sob seu domínio nas partes do
Além‑Mar.
Veja‑se, em primeiro lugar, o caso do Estado da Índia, em que a navegação
lusa foi quase aniquilada. Deve‑se notar desde logo que a vitória neerlandesa
nos mares não afectou, como referimos, as regiões onde os Portugueses domi‑
navam territórios; a excepção foi a ilha de Ceilão, mas neste caso a territo‑
rialidade era exercida sobre uma ilha, e Goa foi incapaz de manter as rotas
que a ligavam à Índia, o que levou ao isolamento das posições e à sua perda,
mais tarde, para os Holandeses com o apoio dos inimigos locais. Nos outros
casos, especialmente a Província do Norte e a área em torno de Goa deno‑
minada das «Velhas Conquistas», não houve perdas, e nem sequer ataques
dos Holandeses. Focados no desenvolvimento de uma hegemonia marítima
igual à que os Portugueses tinham montado havia um século, os agentes da
VOC não queriam submeter áreas territoriais cuja produção agrária não
alimentava as grandes redes mercantis do Oriente e as rotas euro‑asiáticas.
O grande objectivo dos bloqueios a Goa era impedir a circulação das naus
da Carreira da Índia. Além disso, a ilha de Moçambique resistiu a dois cercos
consecutivos, em 1606 e 1607. Em ambos os ataques, os Neerlandeses foram
incapazes de fechar o cerco, devido ao bom relacionamento da guarnição
portuguesa com as populações costeiras, que a apoiaram e asseguraram o
fornecimento de víveres durante os assédios. A presença lusa na África Orien‑
tal consolidou‑se então no vale do Zambeze, e a Coroa começou a emitir
cartas de doação conhecidas como os «prazos da Zambézia». Portugueses
ou, sobretudo, luso‑asiáticos penetravam pelo vale do grande rio e obtinham
territórios juntando‑se, as mais das vezes, com negras da terra23. Não criavam
colónias brancas, mas aumentavam o número dos súbditos d’el‑rei de Portu‑
gal, actuando em seu nome… tanto para o bem como para o mal.
Na costa ocidental africana, a influência lusa foi crescendo em torno de
Luanda e Cuanza acima, e em 1610 foi fundada uma nova praça em Benguela,
enquanto na Guiné despontava a praça de Cacheu24. Todas estas posições,
como as do Zambeze, estavam completamente dependentes da capacidade
de negociação com as populações locais, pois a superioridade tecnológica
era insuficiente para compensar a desproporção numérica entre portugueses
e africanos.
No entanto, o grande progresso do paradigma da territorialidade resultou
do alargamento da fronteira do Brasil entre 1580 e 1622. Já vimos que a flage‑
lação da orla costeira pelos inimigos europeus não era seguida por tentativas
de conquista das praças lusas na América. Assim, apesar da fragilidade no
Hist-da-Expansao_4as.indd 182 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 183
mar, a hoste portuguesa logrou dominar toda a linha da costa até à foz do
Amazonas. Depois da conquista da Paraíba, em 1587, de Sergipe, em 1589,
e do Rio Grande do Norte, em 1597, seguiu‑se o Ceará, entre 1607 e 1612;
na sua caminhada para norte, os portugueses derrotaram os franceses em
1614, na luta por São Luís do Maranhão, e depois escorraçaram os holan‑
deses da boca do Amazonas, em 162025. No sentido inverso, os Portugueses
começaram a cobiçar os territórios a sul da capitania de São Vicente, por
volta de 1624, mas a fronteira só avançaria cerca de trinta anos mais tarde.
A conquista foi efectuada pelos exércitos mistos de colonos e índios, que
eram comuns no Brasil desde a criação do governo‑geral, mas não era alimen‑
tada por exércitos coloniais saídos de Lisboa. Como notou João Fragoso, a
ocupação de novos territórios foi alimentada pelo crescimento das famílias
das primeiras gerações de colonos, que precisavam de novas terras para os
seus descendentes26.
Além de alargarem o domínio da costa, os Portugueses exploravam o
sertão, tendo São Paulo como principal centro coordenador das expedições
de reconhecimento do interior do território. As bandeiras proporcionavam
receitas valiosas, através da captura de índios que eram depois vendidos
como escravos, o que suscitou atritos frequentes entre os colonos e os Jesuí‑
tas. Estas expedições eram estimuladas pela Coroa, na mira da descoberta
de novas minas de metais ou de jazidas de pedras preciosas. Depois, Belém
do Pará também assumiu um papel relevante na exploração do sertão, atra‑
vés do rio Amazonas. Uma grande expedição, com cerca de 2500 pessoas,
partiu desta localidade em 1637, tendo chegado a Quito no ano seguinte, e
retornado depois a Belém. Apesar das reclamações do Conselho das Índias,
os Portugueses aproveitaram o desinteresse de Madrid pelo caso para se
assenhorearem de toda a bacia amazónica, avançando muito para ocidente
do meridiano de Tordesilhas.
A importância do Nordeste levou mesmo a Coroa a criar o Estado do
Maranhão, separado do resto do Brasil, em 1621. Entre 1609 e 1612, Madrid
voltara a ensaiar a criação de um governo‑geral separado para as capitanias
do Sul, mas a experiência abortou de novo. Além do progresso da conquista
ao longo da costa, estes anos assistiram também ao reforço da exporta‑
ção de açúcar para a Europa, estimando‑se que por volta de 1580 saíram
350 000 arrobas anuais, e que em 1600 as exportações atingiram a cifra de
1 200 000 arrobas anuais27. Este crescimento da produção açucareira era a
consequência da consolidação da conquista territorial e da gradual penetra‑
ção dos colonos para o sertão, a única forma de aumentar a área produtiva.
Vemos, assim, que a hecatombe nos mares constituiu apenas uma
parte da realidade do Império Português nos reinados de D. Filipe I e de
D. Filipe II. Apesar dos desastres que causaram tanta comoção, o império
Hist-da-Expansao_4as.indd 183 24/Out/2014 17:17
184 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
evoluiu favoravelmente como entidade planetária, tendo sido capaz de
compensar as perdas num continente com ganhos noutros. E nesses anos
mudou de configuração logrando, assim, sobreviver. Na época, porém, os
ganhos territoriais não despertaram grande entusiasmo, pois faltava‑lhes o
esplendor das grandes vitórias militares e a guerra do Brasil continuava a
ser desvalorizada; além disso, os sucessos eram completamente ofuscados
pelas perdas no mar.
Nos anos do reinado de D. Filipe III a crise agravou‑se e o império sofreu
perdas territoriais graves, mas que foram apenas momentâneas. O período
que medeia entre 1625 e 1654 foi, pois, decisivo para a sobrevivência do
império e do próprio reino.
À beira do abismo
Enquanto o Estado da Índia asfixiava lentamente, o Brasil passou por
modificações relativamente rápidas ao longo das primeiras décadas seiscentis‑
tas. Assim, depois de terem alargado a sua influência até à boca do Amazonas,
os Portugueses perderam toda a linha de costa de Pernambuco para norte, na
década de 30. Antes os Holandeses tomaram Salvador, em 1624, mas foram
incapazes de resistir ao contra‑ataque de uma armada luso‑espanhola no
ano seguinte. Ao contrário do que sucedera em relação ao Oriente, que fora
sempre considerado por Madrid como um problema de Lisboa, o Brasil tinha
uma outra importância no contexto da estratégia mundial da Monarquia
Católica, pelo que as forças castelhanas se juntaram aos portugueses para
recuperar a cidade de Salvador28. No entanto, a continuação da Guerra dos
Trinta Anos forçava uma tal dispersão dos exércitos de Madrid, que nos
anos seguintes não sobraram unidades para o Atlântico Sul, e os Portugueses
tiveram de enfrentar sozinhos a nova ofensiva holandesa. A partir de 1623,
a Companhia das Índias Ocidentais (WIC) capturou centenas de navios
portugueses e castelhanos, o que nos mostra a superioridade naval de que
os Neerlandeses desfrutavam nesses anos.
Em 1630, a WIC organizou uma expedição mais consistente e deu início
ao denominado período do Brasil holandês (1630‑1654), com a tomada de
Recife e Olinda, seguida pelo domínio de terras da capitania de Pernambuco,
volvidos dois anos. Em 1637, a WIC nomeou Maurício Nassau governador
‑geral das suas possessões sul‑americanas e este obteve no ano seguinte a
conquista de Sergipe e do Ceará, enquanto esquadras da Companhia tomaram
sucessivamente a Mina e Arguim em 1637‑1638, e Luanda e a ilha de São
Tomé em 1641; neste mesmo ano, os Neerlandeses assenhorearam‑se também
do Maranhão. A expansão da WIC no Atlântico Sul atingia o seu apogeu,
Hist-da-Expansao_4as.indd 184 24/Out/2014 17:17
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580‑1640) 185
mas o refluxo seria rápido, como veremos no capítulo seguinte. Entretanto,
em 1638, Nassau tentou a conquista de Salvador, mas a cidade resistiu, no
que talvez tenha sido o momento decisivo do conflito, pois evitou uma fra‑
gilização quiçá irreversível da colónia portuguesa.
A queda de Pernambuco significava a perda da capitania com maior
produção açucareira e um grave abaixamento do negócio na Europa, mas
teve como consequência o aumento do número de engenhos nas capitanias
meridionais, até porque uma parte dos portugueses da capitania fugiu para o
Sul. Uma vez mais, o império mostrava a sua capacidade de sobrevivência e de
regeneração, como sucedera na Ásia na crise de 1565‑1575. Nestes anos difí‑
ceis, a queda de Luanda representava a perda da principal rota fornecedora
de mão‑de‑obra escrava e punha em risco a sociedade colonial emergente.
Os Portugueses não perderam o controlo dos Rios da Guiné e do arquipélago
de Cabo Verde, mas aí o trato negreiro estava orientado principalmente para
as Índias de Castela. Sem uma parte do território e com o fornecimento de
escravos bloqueado, o Brasil estava em risco de ser asfixiado pelo inimigo.
No entanto, a WIC nunca teve nem a solidez financeira nem o prestígio
interno de que a VOC desfrutou. Na Holanda, como em Portugal, a Ásia exer‑
cia um maior fascínio, e os Holandeses valorizaram mais as especiarias que o
açúcar e, à semelhança do que sucedera com D. Manuel I, no seu deslumbra‑
mento por ganharem no Oriente, não pensaram em experimentar de imediato
o plantio da pimenta ou da canela nas terras brasileiras. Embora operassem de
um modo diferente, baseado numa lógica mais empresarial, os Neerlandeses
não tentaram inovar do ponto de vista da estratégia ultramarina, mas pro‑
curaram simplesmente apropriar‑se do Império Português. Distinguiram‑se
depois pelo modo como ocuparam todo o arquipélago malaio, adquirindo
uma extensão territorial na Ásia nunca tentada pelos Portugueses. Seriam os
Ingleses (derrotados inicialmente pelos Holandeses e, por isso, afastados dos
circuitos intercontinentais tradicionais) que viriam a introduzir novidades no
comércio euro‑asiático ao longo do século xvii, através de produtos como
os tecidos de algodão e o chá.
Enclausurados nas cidades e vilas portuárias, os oficiais da WIC nunca
conseguiram ganhar o sertão, salvo na região de Pernambuco. Os meios
envolvidos foram sempre limitados e a maioria dos seus homens não que‑
ria instalar‑se no país29. Além disso, o Calvinismo impunha um rigorismo
que não tinha paralelo na vivência do Catolicismo; com efeito, o culto dos
santos sempre fora um meio de acomodar no seio da Igreja as divindades
pré‑cristãs, e voltara a sê‑lo em terras brasileiras, pelo que índios e mestiços,
na sua maioria, preferiram resistir no campo aos novos senhores das cidades.
A amputação do Nordeste brasileiro foi decerto o maior desafio que o
Império Português enfrentou nesta conjuntura traumática, e a sua existência
Hist-da-Expansao_4as.indd 185 24/Out/2014 17:17
186 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
como entidade dinâmica esteve em risco. Em 1640 estava confinado aos
arquipélagos atlânticos, às capitanias sobreviventes no Brasil, da Baía a São
Vicente, e às possessões do Estado da Índia privadas do grosso do comércio
oceânico. A vaga holandesa parecia capaz de submergir o que restava e, a
comprová‑lo, no ano seguinte obteria, como referimos, o Maranhão, São
Tomé, Luanda e Malaca.
O reino, por sua vez, estava sujeito à política «castelhanizante» do conde
‑duque de Olivares e corria o risco de perder identidade no contexto da
Monarquia Católica30. As revoltas subiram de tom nos anos 30, mas o poder
de Madrid parecia sólido e contava com o apoio da maioria dos grandes do
reino. Imperava a descrença. No entanto, o país reagiu e, com a lealdade
e o auxílio do império, logrou inverter a situação, restaurando a indepen‑
dência e recuperando todos os seus domínios no Atlântico Sul, ao mesmo
tempo que perdia definitivamente muitos estabelecimentos no Oriente e as
fortalezas de Arguim e da Mina no Atlântico. O império, agora caracteri‑
zado apenas pelo paradigma da territorialidade, ganhou uma nova vida no
rescaldo da Restauração.
Hist-da-Expansao_4as.indd 186 24/Out/2014 17:17
10
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA
(1640‑1668)
T al como sucedera na crise de 1383‑1385, e como viria a repetir‑se no
futuro, a mudança de poder em 1640 foi provocada pela elite intermédia,
que estava insatisfeita com a sua situação corporativa e que foi capaz de dar
voz ao descontentamento da população. Neste caso, a fidalguia segundogénita
soube aproveitar o sentimento nacional para se alcandorar ao poder, em torno
do duque de Bragança feito rei1. No entanto, apesar de não podermos ignorar
os interesses particulares dos principais actores do golpe da Restauração,
temos de reconhecer que o seu sucesso se deveu a uma vontade colectiva, à
escala mundial.
O golpe perpetrado a 1 de Dezembro resultou de uma acção simples e
quase inofensiva; tratou‑se, afinal, de uma cavalgada de umas dezenas de
homens por Lisboa, seguida pela invasão de um palácio quase vazio, a defe‑
nestração de um infeliz, a prisão de uma mulher e uma gritaria. O ataque
ao Paço da Ribeira alvoroçou os lisboetas, que logo começaram a aclamar
o duque de Bragança como el‑rei D. João IV de Portugal. Não houve um
combate e a guarnição castelhana do Castelo de São Jorge rendeu‑se sem
disparar um tiro. A notícia correu célere pelo reino, e as manifestações de
júbilo sucederam‑se, mesmo nas terras de fronteira que entravam de imediato
em guerra. O novo monarca não teve de armar um exército para ganhar o
trono; apenas teve de se mudar de Vila Viçosa para Lisboa e enviar umas
cartas urbi et orbi.
Podemos ter a tentação de ver as revoltas que antecederam a Restauração,
e especialmente as alterações de 1637 em Évora e no Algarve, sobretudo
como fenómenos sociais em que as populações se manifestavam contra a
sobrecarga de impostos que era decretada pela corte madrilena. No entanto,
nos 28 anos seguintes a mesma gente suportou as agruras e os custos de
Hist-da-Expansao_4as.indd 187 24/Out/2014 17:17
188 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
uma guerra sem que eclodissem protestos da mesma envergadura e sem que
ocorressem manifestações importantes defendendo o regresso à Monarquia
Católica. Além disso, as conspirações contra D. João IV reduziram‑se sempre
à iniciativa de indivíduos ou de pequenos grupos sem expressão nacional.
Esta unanimidade quase absoluta em torno da Restauração repetiu‑se
por todo o império.
*
O período entre 1640 e 1668 representou, pois, sem dúvida, um dos
momentos cruciais da História de Portugal: o reino suportou uma longa
guerra de fronteira, rechaçando invasões consecutivas, ao mesmo tempo que
mantinha uma verdadeira guerra mundial contra a Holanda e que tinha no
trono um rei frágil desde 1656. A monarquia lusa suportou dois golpes de
Estado enquanto vencia a Espanha e derrotava a Holanda no Atlântico Sul
e se afirmava definitivamente na cena internacional como um reino inde‑
pendente com uma ligação estreitíssima à sua grande colónia sul‑americana.
A partir de 1640 começou a escrever‑se, de facto, uma história luso‑brasileira.
Os ecos da Restauração
A notícia propagou‑se rapidamente por todo o país. O novo rei foi acla‑
mado em Santarém no dia 3, em Coimbra no dia 4, em Lagos e Olivença
a 5, e a 6 no Porto, no mesmo dia em que o monarca entrou em Lisboa.
Seguiram‑se, entre outras localidades, Vila Viçosa a 7, Guimarães no dia 10 e
Bragança e Viseu no dia 16 de Dezembro. A 19 de Dezembro todo o reino já
tinha aderido ao golpe, e seguiram nesse dia as primeiras cartas oficiais para
a Madeira, depois de um primeiro emissário ter zarpado para os Açores no
dia 17. Por todo o país a notícia gerou a adesão pronta da quase totalidade
da população, pelo que os mais calculistas não tiveram oportunidade de arre‑
fecer os ânimos e a nova dinastia impôs‑se pacificamente. Entretanto, o corte
com a Monarquia Católica fora sabido em Madrid, logo a 7 de Dezembro,
e em Janeiro a notícia começou a difundir‑se pela Europa. A diplomacia da
Restauração foi activada rapidamente, e entre Janeiro e Fevereiro de 1641
seguiram emissários para a Catalunha, a França, a Inglaterra e a Holanda.
D. João IV foi jurado solenemente no Funchal, a 13 de Janeiro de 1641,
e a 5 de Fevereiro na ilha de Porto Santo e na de Santiago, em Cabo Verde.
Também o fora em Mazagão, mas não foi reconhecido pelos capitães de
Ceuta e de Tânger; Ceuta ficaria ligada definitivamente a Espanha, enquanto
o capitão de Tânger, o 1.º conde de Sarzedas, acabou por mudar para
Hist-da-Expansao_4as.indd 188 24/Out/2014 17:17
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA (1640‑1668) 189
o campo português em 1643. Nos Açores, a aclamação tardou até Março
de 1641, nas ilhas centrais, onde a guarnição castelhana de Angra resistiu,
tendo permanecido cercada até à sua rendição a 16 de Março de 1642; a ilha
de São Miguel aderiu ao golpe em Abril de 1641. A realeza de D. João IV
foi confirmada depressa nos domínios atlânticos, pois a aclamação da nova
dinastia teve lugar em Salvador da Baía na segunda quinzena de Fevereiro, tal
como nas praças da Guiné, e o Rio de Janeiro aderiu à Restauração a 10 de
Março. Os sucessos de Lisboa também foram festejados no Recife, nesse mês;
embora a cidade estivesse ocupada pelos Holandeses, os portugueses que
lutavam no interior contra a WIC escreveram a D. João IV pedindo auxílio
e manifestando a sua lealdade à Coroa lusa. Depois, o triunfo do Bragança
foi celebrado em São Paulo, a 3 de Abril, e poucos dias depois em Luanda,
quatro meses antes de a cidade cair nas mãos dos Neerlandeses.
Em todos estas localidades, a população aderiu à nova dinastia facil‑
mente, e o mesmo se repetiu quando a notícia passou para lá do cabo da
Boa Esperança.
A armada da Índia que levava a novidade zarpou do Tejo a 30 de Março
e D. João IV começou por ser aclamado na ilha de Moçambique, a 2 de
Agosto, e foi jurado solenemente pela população de Goa, a 11 de Setembro,
tendo‑se seguido as demais praças do Estado da Índia até ao final do ano.
À aclamação do monarca seguiu‑se, em cerimónias separadas, o juramento
do herdeiro, o príncipe D. Teodósio. A notícia tardou a chegar aos recantos
mais remotos do império, mas também Macau aderiu prontamente às novas
de Lisboa, a 31 de Maio de 1642.
Tal como sucedera em 1581‑1582, o império aceitou disciplinadamente
o novo rumo escolhido pelo reino, com a excepção das praças do estreito de
Gibraltar, cuja localização estratégica e proximidade à Andaluzia ajudam a
compreender a opção dos seus principais oficiais. O que ressalta, contudo, é que
tanto em Ceuta e Tânger, como em todas as outras zonas sujeitas à Coroa de
Portugal, a população aderiu espontaneamente à causa nacional, e que mesmo
comunidades que estavam sob a ocupação de uma outra potência, como sucedia
nas capitanias setentrionais do Brasil, se entusiasmaram com a Restauração e
acabaram mesmo por conseguir regressar ao seio do Império Português. Esta
adesão genuína à escala mundial não pode ser ignorada e remete‑nos para
uma indiscutível consciência de nação que já medrava há muito e que agora
se manifestava de forma clara. É provável que em muitos desses lugares, dis‑
persos por três continentes, a causa do Bragança parecesse mais maleável aos
interesses locais do que a autoridade de Madrid, mas a unanimidade revela
‑nos um óbvio sentir colectivo. Neste caso, os súbditos da Coroa de Portugal
tiveram a possibilidade de escolher entre dois soberanos (ou até três, no caso
das capitanias do Norte do Brasil), mas todos tomaram a mesma decisão.
Hist-da-Expansao_4as.indd 189 24/Out/2014 17:17
190 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Deve‑se realçar o caso de Macau, pois o porto chinês estava isolado e
acabava de perder a ligação ao Japão e a Malaca. A ruptura com Madrid
significava a suspensão do comércio com Manila, o que deixava a cidade
em maiores dificuldades, mas nem esta situação específica fez esmorecer o
sentimento de lealdade com a Coroa de Portugal entre os seus habitantes.
Também no Cacheu, o corte com a Espanha punha em perigo a sobrevivência
da praça, pois esta vivia do envio de cativos para as Índias de Castela, e o Rio
de Janeiro também suspendeu os negócios muito rendosos com Buenos Aires.
Em todos estes casos, o comércio foi restabelecido antes do fim da guerra, num
sinal de pragmatismo das respectivas comunidades, o que não retira a carga
dramática e o risco que foi assumido por esses portugueses em 1641‑1642.
Refira‑se ainda que a adesão ao golpe restaurador representou um grande
risco para os principais oficiais do império, sobretudo os que se encontravam
mais distantes do reino. De facto, a recepção da notícia vários meses depois
do 1.º de Dezembro não garantia que a causa brigantina continuasse então
a ser bem‑sucedida no reino. Na verdade, quando as novas chegaram a Goa,
D. João IV já havia enfrentado uma primeira conjura, e se os conspiradores
tivessem triunfado, a aclamação em Goa teria ocorrido num momento em
que o regime voltara a mudar em Portugal. A documentação mostra‑nos
que o vice‑rei hesitou momentaneamente, o que é compreensível2. D. João
da Silva Telo só terá sossegado quando a armada seguinte assegurou que o
novo monarca continuava sentado no trono.
Assim, a Restauração não provocou nenhuma alteração de fundo, nem
nas dinâmicas globais do império ou na relação dos oficiais da Coroa e dos
agentes particulares com os povos e as regiões onde viviam, nem nas suas
relações com o reino ou com outras partes do império. Mudava, porém, o
relacionamento com as outras potências europeias e Portugal logo tentou
retomar as velhas práticas diplomáticas dos tempos da dinastia de Avis,
ao mesmo tempo que procurava tirar partido das inimizades da Espanha,
envolvida na Guerra dos Trinta Anos. Por isso, foi assinada uma primeira
trégua com a Holanda, a 17 de Maio de 1641, seguida por um tratado de
paz e de comércio, a 12 de Junho, que foi ratificado por D. João IV a 18 de
Novembro3. O entendimento luso‑holandês na Europa não impediu, contudo,
que a guerra ultramarina prosseguisse no Atlântico Sul, e que recomeçasse
mais tarde no Índico, a partir de 1652.
Entretanto, a 14 de Junho de 1643 foi criado o Conselho Ultramarino4.
A ruptura com Madrid não obrigava a abandonar o modelo de governo
à distância criado pelos Áustria, e a Coroa necessitava de um órgão con‑
sultivo que zelasse pela vida administrativa do império. Passou a ser este
conselho o responsável pelas nomeações dos milhares de oficiais que ser‑
viam o rei de Portugal por todo o Além‑Mar, e o alargamento territorial
Hist-da-Expansao_4as.indd 190 24/Out/2014 17:17
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA (1640‑1668) 191
dos domínios ultramarinos levava a um consequente aumento do número
de funcionários régios.
A recuperação do Atlântico Sul
A diplomacia da Restauração apostou, naturalmente, na busca dos apoios
e das solidariedades que fossem mais favoráveis à guerra contra a Espanha;
este era o conflito crucial, de que dependia o sucesso do golpe do 1.º de
Dezembro. Por isso, os diplomatas portugueses não podiam defender intran‑
sigentemente os interesses das possessões ultramarinas quando negociavam
com as potências europeias que também se haviam espalhado pelos oceanos,
e muito em particular com a Holanda. Neste processo, assaz complexo, o
Brasil era a fonte de riqueza que alimentava as finanças da Coroa, possibili‑
tando a organização do exército que defendia o reino e a construção de novas
estruturas defensivas na linha da fronteira, mas era simultaneamente uma das
frentes do diferendo luso‑holandês. Por tudo isto, D. João IV não organizou
uma expedição para recuperar as capitanias brasileiras perdidas para a WIC.
Com efeito, o monarca não tinha os meios financeiros capazes de suportar
duas frentes de guerra simultâneas e não queria ganhar um novo inimigo
no conflito europeu. Em 1648, nas negociações com a Holanda chegou a
admitir‑se a possibilidade de Portugal reconhecer o domínio neerlandês sobre
a região de Pernambuco; este poderia ter sido o preço da paz, até porque as
capitanias do Sul tinham sido capazes de aumentar a produção açucareira
de forma a compensar a perda do Nordeste, como referimos5. No entanto,
os luso‑brasileiros encarregaram‑se de forjar a sua própria História.
Em 1641‑1642, o poder neerlandês no Atlântico Sul parecia em crescendo,
mas, entretanto, o preço do açúcar baixara nos mercados de Amesterdão em
1640. A operação da WIC começou a ser menos interessante para os investi‑
dores, que continuavam a preferir os negócios asiáticos, pois a VOC estava
em alta. E a expansão militar da WIC não foi seguida de uma ocupação
consistente dos territórios ocupados. Neste meado de Seiscentos, a expansão
holandesa continuava a seguir uma estratégia muito semelhante à que fora
seguida pelos Portugueses no século anterior, privilegiando o paradigma
da expansão marítima. Como sucedera com os Portugueses tantas vezes ao
longo da centúria quinhentista, agora eram os Holandeses que pareciam
peixes, não sendo capazes de sobreviver longe do mar. Assim, a força nos
oceanos não conseguia vencer a implantação territorial lusa; como vimos, a
VOC não conseguiu sequer dominar as possessões do Estado da Índia com
hinterland, e no Atlântico Sul acabaram por fracassar, por serem incapazes
de avançar para o sertão.
Hist-da-Expansao_4as.indd 191 24/Out/2014 17:17
192 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Em 1643 abandonaram o Maranhão, a capitania mais distante, e nesse
mesmo ano a guarnição de Natal foi massacrada pelos índios, e a WIC desistiu
do Ceará no ano seguinte. Ao mesmo tempo recrudescia a guerrilha no sertão
pernambucano e as forças holandesas foram derrotadas na primeira batalha
de Guararapes, em 1644. A WIC ficava confinada quase só ao Recife, onde
uma amálgama de mercenários nunca pôde ser o embrião de um projecto
colonial duradouro6; a rebeldia das populações conquistadas e a sua estra‑
nheza perante o Calvinismo fragilizaram ainda mais a causa neerlandesa
no Atlântico Sul. Os oficiais holandeses fizeram uma segunda tentativa de
submissão do sertão, mas voltaram a ser batidos em Guararapes, em 1648,
o que os remeteu definitivamente ao isolamento nas cidades costeiras.
Nesse ano, porém, terminou a Guerra dos Trinta Anos e a Holanda esta‑
beleceu a paz com a Espanha. Obtido o reconhecimento definitivo da sua
independência, os Holandeses podiam empenhar‑se mais afincadamente nas
questões ultramarinas. Foi nesta conjuntura que a diplomacia portuguesa,
receosa de ter de enfrentar a Holanda na Europa, chegou a admitir o reco‑
nhecimento do Brasil Holandês, mas tanto a persistência dos luso‑brasileiros
como a evolução da conjuntura europeia impediram que esse acordo fosse
concretizado. No Velho Continente a guerra entre a Inglaterra e a Holanda,
iniciada em 1650, obrigou os Holandeses a redefinir as suas prioridades, e a
anemia da WIC fazia desta companhia o elo mais fraco do puzzle mundial
neerlandês. Ao mesmo tempo, as gentes das capitanias meridionais continua‑
vam determinadas na restauração do sistema luso no Atlântico Sul.
Em 1645, partiu uma expedição para Angola, sob o comando de Salvador
Correia de Sá e Benevides. A viabilidade económica de Portugal dependia do
Brasil, mas a economia brasileira necessitava do mercado africano; como é
bem sabido, a produção açucareira necessitava de se abastecer permanente‑
mente de mão‑de‑obra escrava negra; além disso, a costa africana também
era o destino de exportações das capitanias sul‑americanas, nomeadamente
tabaco e aguardente que iam ganhando peso no jogo das trocas, começando
a contrariar o sistema triangular original, quando os produtos de baixo custo
europeus eram as únicas vendas dos portugueses em África, e as mercadorias
brasileiras apenas seguiam para a Europa. O crescimento do comércio directo
afro‑americano no Atlântico Sul contribuiu decisivamente para o empenha‑
mento dos luso‑brasileiros na recuperação de Angola e de São Tomé para os
domínios da Coroa portuguesa.
Tal como no Brasil, os Holandeses não tinham conseguido aniquilar a
presença portuguesa na região, e os oficiais da Coroa estavam instalados em
Massangano, no interior da bacia do Cuanza. O império que começara por
ser marítimo resistia e contra‑atacava a partir do sertão e com o auxílio de
forças vindas de outras partes desse mesmo império, enquanto o reino lutava
Hist-da-Expansao_4as.indd 192 24/Out/2014 17:17
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA (1640‑1668) 193
pela sobrevivência contra a Espanha e os seus aliados. O facto de esta expe‑
dição ter sido decidida e organizada pelas gentes das capitanias brasileiras
mostra‑nos que a ligação estreita das partes ultramarinas a Portugal, tão
bem demonstrada em 1580 e em 1640, não as reduzia a meras dependências
de um grande centro imperial; a sua fidelidade à Coroa não as impedia de
serem agentes autónomos participantes no crescimento e na consolidação
do império; este era, verdadeiramente, uma entidade global. A mudança
de paradigma, que temos vindo a assinalar, estava praticamente concluída,
mas, paradoxalmente, não era compreendida pelos seus protagonistas, como
veremos no final deste capítulo.
Ainda assim, esta força própria das capitanias era um trunfo para os diplo‑
matas portugueses nas negociações com os Holandeses. A trégua vivida entre
os dois países na Europa, que permitiu até a colaboração de forças aliadas
holandesas no conflito peninsular, como sucedeu na Batalha do Montijo, em
1644, não foi comprometida porque os Portugueses podiam argumentar que
o conflito que persistia no Atlântico Sul era um «fenómeno local».
As forças de Salvador Correia de Sá isolaram rapidamente os holandeses
em Luanda, e estes renderam‑se no ano de 1648. À WIC restava o Recife.
Assoberbada pela grandeza do seu império mundial recém‑construído, a
Holanda também teve de se sujeitar à sua pequenez, pois não conseguia man‑
ter três frentes de guerra simultâneas. Tal como Portugal, logrou afirmar‑se
como Estado independente no rescaldo da Guerra dos Trinta Anos, o primeiro
grande conflito pan‑europeu, e, tal como o reino peninsular, teve de abdicar
de um dos seus objectivos imperiais para ganhar o outro. Perdido o Brasil
do açúcar, ganhou a Ásia das especiarias. A guerra mundial luso‑holandesa
acabou, pois, num empate. Os Holandeses ganharam um pouco mais nos
bastidores da diplomacia, pois ganharam direito a uma indemnização de
4 milhões de cruzados pelas perdas no Brasil, sem que houvesse qualquer nego‑
ciação semelhante no caso asiático. Nos anos 60 do século xvii, quando foi
negociada a paz definitiva entre Portugueses e Neerlandeses, Portugal estava
ainda em guerra com a Espanha e atravessava a crise política complexa que
marcou o reinado de D. Afonso VI7; estava, pois, numa situação mais frágil
que a Holanda e pagou para assegurar a Restauração e a integridade do Brasil.
O último assalto holandês
O Estado da Índia agonizava como potência marítima desde a perda de
Ormuz e do declínio do comércio do Japão, associados à superioridade naval
da VOC nas regiões em que operava. Ao mesmo tempo, os seus domínios
territoriais não eram ameaçados pelos Holandeses, salvo a ilha de Ceilão,
Hist-da-Expansao_4as.indd 193 24/Out/2014 17:17
194 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
onde a aliança do rei de Cândia com os Holandeses foi fatal para os inte‑
resses lusos.
Entre 1642 e 1652 foi mantida uma trégua entre Goa e a VOC, mas as
dependências portuguesas associadas exclusivamente ao trato marítimo
foram‑se tornando peças inadequadas ao Estado da Índia – sem os negócios
oceânicos eram entrepostos que consumiam uma fatia elevada do orçamento
geral sem gerarem proveitos e sem desempenharem sequer um papel estra‑
tégico relevante. A inércia e a incapacidade de assumir a mudança própria
do tempo levavam os Portugueses a manter essa herança de uma época que
já passara. Com o reacender das hostilidades entre Portugal e a Holanda, a
nova grande potência marítima dos mares da Ásia tomou todas as posições
que lhe faziam falta e que, diga‑se a verdade, do ponto de vista de Goa eram
perfeitamente dispensáveis.
Assim, a VOC tomou a costa do Canará entre 1652 e 1654 e concluiu a
conquista de Ceilão entre 1656 e 1658; neste ano também tomou Negapatão
na costa do Choromândel e, finalmente, atacou o Malabar em 1658. Primeiro
ocupou Coulão, logo em 1658, depois Cranganor, em 1662 e, finalmente,
Cochim e Cananor, em 16638. Registe‑se a lentidão do processo, apesar da
fragilidade das forças portuguesas empenhadas no conflito, o que se relaciona
certamente com a crescente dificuldade da VOC em alargar sistematicamente
os seus domínios, na medida em que estas conquistas exigiam uma maior
mobilização de meios humanos e uma dispersão das forças militares. Além
disso, o centro económico e militar da VOC estava em Java, na Ásia do
Sueste, pelo que a extensão da sua rede de fortalezas para a Índia e o Cei‑
lão foi difícil; mais tarde, todas estas posições passariam para as mãos dos
Ingleses. Com o tratado luso‑holandês de 1669 terminou o conflito, com
o reconhecimento do novo mapa político dos mares da Ásia por ambas as
partes. Os inimigos asiáticos também aproveitavam a fraqueza de Goa, e o
sultanato de Omã apoderou‑se de Mascate em 1650, pondo fim à presença
lusa no golfo Pérsico, e o sultão de Golconda tomou Meliapor, em 16629.
Afastados do domínio dos portos, os Portugueses continuaram a comerciar
por todo o oceano como agentes privados, e a memória da primeira hege‑
monia europeia sobre os mares da Ásia tardou a ser esquecida, pois durante
décadas o português continuou a ser a língua franca das cidades marítimas e
muitos dos primeiros acordos que a VOC celebrou com as potências asiáticas
foram redigidos em português.
O Estado da Índia concluía, assim, o seu primeiro reajustamento, e passava
a assentar nos domínios territoriais em torno de Goa e de Baçaim, com a sua
produção agrícola, e no aprofundamento da presença na África Oriental e no
seu comércio com a Índia, especialmente com Diu. A perda de mais de uma
dezena de praças inúteis e deficitárias facilitou a gestão orçamental, embora
Hist-da-Expansao_4as.indd 194 24/Out/2014 17:17
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA (1640‑1668) 195
tivesse representado a perda de inúmeros postos de comando que tanto
interessavam à fidalguia10. Mais para oriente, Macau e Timor resistiram à
vaga holandesa, mas tinham vida económica autónoma de Goa, no que era
o último resquício da expansão marítima de outrora.
*
Entretanto, a própria Coroa abdicou de mais um pequeno território ao
incluir a ilha de Bombaim (situada no extremo sul da Província do Norte)
no dote da infanta D. Catarina, quando esta se casou com Carlos II, rei de
Inglaterra, em 1662. Se dez anos antes os diplomatas da Restauração e o rei
chegaram a admitir a perda do Nordeste brasileiro para assegurar a indepen‑
dência do reino, compreende‑se que o minúsculo território em questão não
levantasse grandes dificuldades aos negociadores, que precisavam desespe‑
radamente do auxílio inglês nos anos em que recrescia a ofensiva espanhola.
Para os Ingleses, pelo contrário, Bombaim representava o primeiro entreposto
na costa ocidental da península hindustânica11.
Juntamente com o território indiano, os Portugueses cederam também
Tânger, outra das peças obsoletas do seu império. Talvez os Ingleses julgassem
que essa cidade lhes daria algum controlo sobre o estreito de Gibraltar, mas
acabaram por a abandonar, ainda antes de ganharem o rochedo de Gibraltar.
A singularidade de Macau
Em 1667, o Estado da Índia estava, assim, confinado a um número
reduzido de praças, em regra articuladas com o seu hinterland, e mantinha
poucas rotas oceânicas. Os territórios da Índia estavam sob a pressão dos
reinos vizinhos, e a manutenção da Província do Norte e das conquistas em
redor de Goa resultou da capacidade do exército português para defender
essas regiões. As outras praças que sobreviveram, pelo contrário, estavam
dependentes da capacidade de negociação dos oficiais da Coroa e dos par‑
ticulares que se acantonavam nas fortalezas ou que penetravam no sertão,
estabelecendo ligações familiares com as comunidades indígenas. A solida‑
riedade do sangue foi, sem dúvida, a grande muralha que permitiu que os
Portugueses mantivessem toda a costa do actual Moçambique, quando só
dispunham de meia dúzia de fortalezas, de que a única posição militarmente
defensável era, precisamente, a ilha de Moçambique. A fortaleza de Sofala,
por exemplo, foi abandonada no início da centúria seiscentista devido a uma
mudança do curso do rio, que a inundou, o que não impediu os portugueses
de continuar na região12.
Hist-da-Expansao_4as.indd 195 24/Out/2014 17:17
196 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Embora as praças da África Oriental continuassem a alimentar algumas
das poucas rotas do Estado da Índia, eram ao mesmo tempo pólos dessa
penetração discreta e mestiçada dos portugueses pelo sertão adentro. Quase
todos estes homens nunca tinham visto a Europa, mas tinham um nome
cristão, e actuavam em nome d’el‑rei de Portugal, independentemente da
vontade desse monarca distante e estranho, mas que lhes era conveniente e
era, também, fonte de identidade.
Como referimos, a quase totalidade das praças ligadas a Goa estava
agora no Índico Ocidental, pois a leste só restavam duas possessões, Timor
e Macau.
A presença lusa na região de Timor tivera como primeiro pólo de fixa‑
ção a ilha das Flores e depois a de Larantuca. Só em 1646 os Portugueses
ergueram uma primeira posição na ilha de Timor – Cupão, no seu extremo
ocidental. Passados seis anos, os Holandeses dominaram o porto, o que
levou à instalação em Lifau, e mais tarde em Díli. Ao longo do século xvii,
os missionários e os capitães conseguiram a aliança com a confederação de
povos que dominava a parte oriental da ilha, estando aí as origens do actual
Estado de Timor‑Leste13. Uma vez mais, a persistência dos Portugueses na
região resultava da sua aceitação pelos nativos, enquanto a sobrevivência
económica era assegurada pelo comércio do sândalo, que tinha como prin‑
cipal receptor o porto de Macau.
A continuidade da ligação deste porto chinês a Portugal na conjuntura
seiscentista é um caso excepcional, na medida em que a cidade logrou sobre‑
viver como escápula do comércio marítimo, apesar da mudança de paradigma
do Império Português e de todo o restante sistema de rotas que controlava
no século xvi ter sido perdido, particularmente o trato do Japão e a ligação
a Malaca. Além de ter sido capaz de resistir à vaga holandesa na região,
Macau conseguiu ainda conservar o seu estatuto no contexto do Império
Chinês, apesar de este ter passado por uma mudança dinástica, com a queda
dos Ming e o advento dos Manchus em 1644.
A expulsão dos missionários do Japão, em 1614, levara os mercadores
de Macau a tentar diversificar as suas redes mercantis, recorrendo, uma vez
mais, à colaboração dos clérigos. As dezenas de jesuítas exilados do Japão
que chegaram à cidade foram usadas para tentar criar novas ligações com
o Tonquim, o Camboja e a Cochinchina. Tratava‑se de linhas de comércio
regional, mas as missões nunca ganharam grande dimensão e os Holande‑
ses pressionavam as autoridades locais, pelo que os negócios foram sempre
limitados, embora decerto bem mais proveitosos do que as fontes nos infor‑
mam. Há que realçar o facto de que o comércio de Macau era levado a cabo
por comerciantes privados, cuja contabilidade não chegou aos nossos dias,
pelo que as informações veiculadas por esses mesmos mercadores têm de ser
Hist-da-Expansao_4as.indd 196 24/Out/2014 17:17
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA (1640‑1668) 197
analisadas com muita cautela, pois mesmo quando anunciavam que a cidade
(e eles próprios) estava pobre conseguiam sempre arrecadar verbas elevadas
para agradar aos mandarins que garantiam a sobrevivência de Macau.
Perdido o Japão, em 1640, e interrompido o trato com Manila, em 1642,
Macau logo deu um sinal de vitalidade, ao passar a obter a prata em Macassar,
sultanato situado nas Celebes. Em 1651, viviam aí cerca de 3000 católicos;
Macassar era também o elo de ligação a Timor e tornara‑se num centro
redistribuidor de especiarias. Entre 1662 e 1666, porém, a VOC impôs a sua
autoridade sobre o sultanato e os Portugueses tiveram de abandoná‑lo, mas
logo reataram os seus circuitos regionais através do sultanato de Bantém,
localizado no extremo ocidental da ilha de Java. Uma vez mais, os macaenses
obtinham aí a prata de Manila, além de especiarias. Em 1682, a VOC con‑
quistou também este sultanato, mas nessa ocasião já estava restabelecida a
paz luso‑holandesa e os navios de Macau podiam circular livremente pelos
mares da Ásia, e viriam a apostar pouco depois na exportação de ópio da
Índia para a China14.
O equilíbrio entre as diferentes potências europeias foi permitindo um
ajuste dos interesses de cada uma, e a VOC acabou por reduzir as suas opera‑
ções com o Celeste Império; este, por sua vez, só negociava com os Europeus
através de Macau e mantinha a escolha dos Portugueses como seus parceiros
preferenciais.
No entanto, a sobrevivência de Macau também enfrentou dificuldades
vindas da terra. Em 1644, os Manchus conquistaram Pequim e derrubaram
a dinastia Ming. Começava a era dos Qin, que tomaram Cantão em 1647.
Os últimos generais Ming refugiaram‑se no Sul e particularmente em Taiwan,
de onde desferiam ataques contra o continente, depois de terem expulsado
os holandeses da ilha. Em 1662, Pequim decretou o ermamento da costa,
ordenando que todos os seus súbditos se afastassem cerca de 25 km do mar,
o que foi, de facto, realizado nas províncias do Sul, incluindo o Guangdong,
onde se situa Macau. Os chineses que viviam aí também deixaram a cidade,
que terá ficado momentaneamente reduzida a uns 2500 habitantes. Macau
dependia dos territórios vizinhos para se alimentar e os víveres escassearam
perigosamente, e passaram a ser vendidos a preços especulativos. Na mesma
altura, o império hostilizava os Jesuítas; os padres da Companhia estavam
em Pequim desde 1601 e já tinham alcançado lugares de destaque na corte,
mas nesse momento de crise estiveram prestes a ser expulsos ou executados.
Entre 1665 e 1667 os portugueses pagaram vários subornos elevadíssimos aos
mandarins, o que nos mostra que, apesar de tudo, a cidade tinha recursos, e
a pressão terminou em Agosto de 1667, quando subiu ao trono o imperador
Kangxi, que se revelou uma pessoa interessada pela cultura ocidental, pro‑
tegeu os jesuítas e permitiu a continuidade de Macau15.
Hist-da-Expansao_4as.indd 197 24/Out/2014 17:17
198 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Nos anos seguintes, Macau afirmou‑se como a base dos europeus que
negociavam com a China e como escápula de novos negócios com Batávia e
com a Índia. O seu hinterland não era um domínio colonial, mas antes uma
capacidade pertinaz de negociação. Talvez os Portugueses fossem os estran‑
geiros menos perigosos do ponto de vista chinês, ou mesmo os mais débeis;
mas também eram os que estavam mais associados à terra, fosse por serem
mestiços na sua maioria, fosse por terem arquitectado redes de confiança
depois de porfiarem décadas a fio na região16. Foi, pois, nos Portugueses que
o Império Chinês confiou então como interlocutor dos povos do Ocidente,
tanto quanto era governado por uma dinastia nativa, os Ming, como quando
foi subjugado por um povo estrangeiro, os Manchus. Esta opção perduraria
durante muitas décadas, e mesmo quando os Ingleses puderam instalar‑se em
Cantão, o único entreposto controlado por europeus continuou a ser Macau,
até que a China foi vergada pelo poder militar britânico e cedeu Hong Kong,
já em meados do século xix, quase 200 anos depois de Macau ter sobrevivido
ao turbilhão de meados de Seiscentos.
O mito da «Idade de Ouro»
Como se percebe, o período da Guerra da Restauração (1640‑1668) cor‑
responde a um tempo extraordinário na História de Portugal. No entanto, os
seus protagonistas não se entusiasmaram com feitos de tamanha dificuldade
nem se aperceberam de que os domínios ultramarinos sujeitos à Coroa portu‑
guesa não paravam de crescer no seu conjunto. Também não se conscienciali‑
zaram da poderosa força autónoma de muitas dessas comunidades espalhadas
pelo Mundo, que se solidarizaram com o golpe restaurador e que souberam
inventar as condições para sobreviver ligadas a Portugal com viabilidade
económica. O império recompôs‑se por si próprio e ajudou a pagar a guerra
contra a Espanha. Estranhamente, os homens da Restauração e a maioria dos
autores que se lhes seguiram valorizaram mais as perdas do que os ganhos e
não compreenderam, por isso, que o saldo foi francamente positivo.
O fim do monopólio da Rota do Cabo (como se este pudesse ter sido
eterno) e a perda do controlo dos negócios das especiarias e de muitas posições
na Ásia foram sempre vistos como uma catástrofe irreparável. Compreende‑se
que as gentes daquele tempo assim tenham pensado, pois era um sentimento
generalizado aos europeus. Com efeito, o trato secular da pimenta e de outras
espécies dos mares do Oriente continuava a ser o negócio mais prestigiado
no século xvii. Os Holandeses comprovam este pensamento, pois também
eles preferiram ganhar as especiarias asiáticas em vez do açúcar brasileiro, e
acabaram por valorizar a vitória nas águas asiáticas «esquecendo» a derrota
Hist-da-Expansao_4as.indd 198 24/Out/2014 17:17
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA (1640‑1668) 199
total que sofreram no Atlântico Sul. O fatalismo típico dos Portugueses ajuda
a perceber por que tendo ganhado os dois, cada um em seu teatro de opera‑
ções, e empatado os dois à escala mundial, a memória neerlandesa olhe com
mais satisfação para este período do que a portuguesa quando, afinal, ambos
os países consolidaram então a sua (difícil) independência.
O saudosismo focado nos «anos dourados» dos alvores de Quinhentos
estava bem presente, inclusive, nos próprios diplomatas da Restauração, o
que nos ajuda a compreender como esta perspectiva errada se entranhou na
memória colectiva dos Portugueses. Uma troca de correspondência entre o
padre António Vieira e Duarte Ribeiro de Macedo dá‑nos conta de que estes
diplomatas da Restauração discutiram a possibilidade de experimentar o
cultivo das especiarias asiáticas em solo brasileiro. Se a experiência fosse
bem‑sucedida o negócio mudava radicalmente, pois a pimenta, o gengibre
ou a canela produzidos na América do Sul chegariam aos mercados europeus
em melhores condições e a um preço mais baixo, pelo que suplantariam a
oferta vinda da Ásia. Até aqui estamos perante um plano de cariz comercial
perfeitamente lógico e que fazia sentido, pois representaria uma valorização
do Brasil e aumentaria a riqueza de Portugal. Além disso, o padre António
Vieira esperava que o sucesso da operação levasse à falência da VOC (tal
como no início do século xvi os Portugueses arruinaram o sultanato dos
Mamelucos), o que facilitaria o negócio e teria o sabor especial da desforra.
O sonho de Vieira, porém, não era o abatimento dos rivais europeus –
o que ele esperava, de facto, era que, por esta via, Portugal aproveitasse o
colapso dos Neerlandeses e restaurasse o Estado da Índia na sua configura‑
ção quinhentista17. Ou seja, nem sequer Vieira, diplomata da Restauração,
missionário no Brasil e gigante das Letras e da alma lusitana, compreendeu
a grandeza do novo império de meados de Seiscentos e o papel central do
Brasil no universo português. Inexplicavelmente, cem anos depois, o velho
discurso da «decadência» continuava a sobrepor‑se à realidade.
No entanto, o império continuou a desenvolver‑se de acordo com o seu
novo paradigma, indiferente aos olhares dos que o concretizavam, conti‑
nuando cegos à realidade presente por se deixarem ofuscar por um passado
que maravilhara as gentes de outrora, mas que fora forjado em condições
muito mais favoráveis das que existiam nesta época difícil em que o reino de
Portugal e o seu império se separaram da Monarquia Católica.
Hist-da-Expansao_4as.indd 199 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 200 24/Out/2014 17:17
PARTE III
O IMPÉRIO TERRITORIAL
Hist-da-Expansao_4as.indd 201 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 202 24/Out/2014 17:17
D urante a dinastia de Bragança, no arco cronológico que se estende desde a
Guerra da Restauração até à independência do Brasil, uma análise prelimi‑
nar das dinâmicas que caracterizaram o Império Português permite constatar
a existência de várias linhas de força que, atravessando distintas conjunturas,
se constituíram como tendências estruturantes dos séculos em análise.
Num quadro geopolítico de competição entre as várias formações imperiais
europeias e de choque entre os projectos destas e as entidades políticas e as
sociedades não‑europeias, o desenvolvimento de uma teoria relativa à existência
de esferas internacionais autónomas permitiu às partes negociar ou estar em
paz na Europa e conduzir a guerra no Atlântico ou no Índico. As relações de
Portugal com as Províncias Unidas no século xvii podem bem ser perspectiva‑
das à luz daquelas formulações. As chamadas potências marítimas, Províncias
Unidas e Inglaterra, afirmaram o seu poder naval e militar e, neste contexto, a
dependência de Portugal face aos Ingleses foi assinalada em diversos momentos.
Por outro lado, convirá recordar que, entre 1680 e 1778, as relações entre as
monarquias ibéricas conheceram um foco de tensão na América do Sul, com
a fundação da Nova Colónia do Sacramento. De qualquer modo, importa
sublinhar que, desde o final das guerras do século xvii, a monarquia portu‑
guesa optou por uma política de neutralidade em relação às nações europeias,
que, com a excepção da Guerra da Sucessão de Espanha e outros pequenos
enfrentamentos com a monarquia bourbónica, foi continuada no século xviii.
Uma das linhas de força que identificamos nestes séculos é, sem dúvida,
a ocidentalização do Império Português, coincidente com a secundarização
do espaço asiático e a afirmação do lugar central que o Brasil veio a ocupar
no quadro da monarquia pluricontinental portuguesa. Este movimento de
basculação deslocou o centro de gravidade do Império Português para o
Hist-da-Expansao_4as.indd 203 24/Out/2014 17:17
204 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
espaço luso‑brasileiro ou atlântico‑brasileiro, mas convirá não esquecer que
os domínios da Coroa ainda se espalhavam por outros continentes e que,
quer para a monarquia, quer para os contemporâneos, os sucessos que tinham
lugar em espaços tão distantes como África ou a Índia mereceram também
a sua atenção, não obstante ser o Brasil o «núcleo» do império. De igual
modo, nas tendências que se detectam depois da Restauração, destacamos
no longo prazo a implementação gradual de uma nova territorialidade impe‑
rial. Durante largas décadas, o Império Português fora essencialmente um
império marítimo caracterizado pela descontinuidade espacial, feito de ilhas
e enclaves costeiros, justificando assim a afirmação de frei Vicente do Salva‑
dor, cerca de 1627, de que os Portugueses eram como os caranguejos, nunca
se afastando muito da linha da maré. Agora, embora a dimensão naval e a
partição política e geográfica se mantivessem, detectamos um movimento
de sentido land‑bound, que empurrou as fronteiras do império mais para o
interior dos continentes, abrindo o repertório das modalidades de expansão1.
A reconfiguração que se consolidou neste período confirma o processo de
territorialização iniciado no século anterior, tendo sido o resultado da acção
de diversos agentes que, actuando de forma concertada ou em competição
entre si, prolongaram dinâmicas que vinham de trás, em alguns casos (Brasil,
Angola, Moçambique), ou responderam a conjunturas regionais, em outros.
Se é certo que estas e outras linhas de força emergiam de forma algo descon‑
tínua, não deixaram de estar presentes ao longo do tempo e de caracterizar
as políticas imperiais portuguesas no período em questão.
A monarquia pluricontinental portuguesa viveu também momentos dra‑
máticos. A perda da Província do Norte, em 1739, assinalou o auge de um
período crítico vivido no Estado da Índia, mas constituiu, de igual modo,
o momento que marcou uma viragem para a reconfiguração territorial do
império na Ásia. Na década de 1750, a expulsão da Companhia de Jesus, se
não produziu um vazio em termos de missionação, abalou as relações entre
a Coroa e a Igreja e deixou sequelas. Por fim, a transferência da corte por‑
tuguesa para o Brasil, em 1807, consequência da primeira invasão francesa,
que transformou as hierarquias no mundo atlântico luso‑brasileiro.
Melhor ou pior, o império resistiu aos choques e aos traumas. Através das
flutuações conjunturais, para além da identificação das tendências apontadas,
sublinhamos ainda que, de forma mais visível do que no passado, continuou
presente a diversidade de experiências, interacções e modalidades da expan‑
são nos distintos tempos e espaços, com uma clara fragmentação espacial e
jurídica, não se produzindo um campo de homogeneidade. As páginas que
se seguem procuram ilustrar, em linhas gerais, o que caracterizou a presença
portuguesa, até à independência do Brasil, nas múltiplas e variadas frentes
de um «mundo em movimento».
Hist-da-Expansao_4as.indd 204 24/Out/2014 17:17
11
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO
(c. 1650‑c. 1700)
A nova dinastia saída da Restauração, além da necessidade de se legitimar
perante as demais formações políticas europeias, teve de responder a
contextos de guerra em vários dos domínios ultramarinos, sempre numa arti‑
culação delicada entre os contextos externos e a política interna. Aos inimigos
locais somava‑se a competição dos Europeus do Norte, que procuravam
substituir os Ibéricos nos diferentes espaços de actuação. A guerra foi, assim,
uma presença constante em diversos domínios da monarquia portuguesa, do
Brasil ao Índico, e os resultados obtidos espelham as dificuldades da Coroa
responder a várias frentes num quadro, por vezes, de grande pressão militar.
Findos os conflitos que se arrastavam há décadas, o final da década de 1660
e a década seguinte testemunharam um esforço de implementação de refor‑
mas e de reorganização dos domínios ultramarinos. No espaço atlântico,
diversos capítulos dos regimentos do governador de Angola e do governador
de Cabo Verde, ambos de 1676, do governador do Brasil, de 1677, e do Rio
de Janeiro, de 1679, parecem denunciar a intenção da monarquia de actuar
de forma mais rigorosa e em controlar melhor – ou tentar – a actuação dos
governadores e a situação nos territórios das periferias ultramarinas. De igual
modo, e apesar do contexto menos favorável, no Estado da Índia assinalam‑se
as reformas implementadas pelo 1.º conde de Lavradio entre 1671 e 1677.
No final do século, a instalação da Nova Colónia do Sacramento (1680) e a
descoberta do ouro posicionariam o Estado do Brasil no centro do mundo
imperial português.
Hist-da-Expansao_4as.indd 205 24/Out/2014 17:17
206 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Anos crepusculares: à procura da paz
Como foi já amplamente comentado, a realidade do Império Português
de Seiscentos apresenta‑se sob um claro‑escuro contrastante quando con‑
templamos a História da presença portuguesa de ambos os lados do cabo da
Boa Esperança. E isso significa, em parte, acompanhar a complexa relação
de guerra e diplomacia entre Portugal e as Províncias Unidas. Com efeito,
a História dos dois impérios está de tal forma interligada neste período
que podemos falar de uma História entrelaçada ou misturada. O projecto
holandês de conquista das posições portuguesas no Índico e no Atlântico foi
conduzido a uma escala transcontinental, levando mesmo a que se falasse na
primeira «guerra global». A capitulação holandesa no Brasil, assinada a 26
de Janeiro de 1654, abalou temporariamente o ímpeto das Províncias Unidas
e concedeu a Portugal um compasso de espera. Porém, logo na Primavera de
1657, os Estados Gerais retomaram a pressão naval e a guerra, declarada a
23 de Outubro, prolongou‑se até 1661; ao mesmo tempo, a guerra prosseguiu
continuamente na Ásia, indiferente à diplomacia europeia. O conflito preju‑
dicou o lucrativo e vital – para os Holandeses – comércio do sal de Setúbal,
mas, por outro lado, constituiu uma oportunidade para, na Ásia, a máquina
de guerra da VOC avançar contra as posições portuguesas, que enfrentavam
ainda outros inimigos.
Na década de 1650, a situação do poder vice‑reinal em Goa não era a
mais favorável para organizar a defesa e, porventura, responder à pressão
neerlandesa. Entre finais de 1652 e 1658, motins e revoltas tornaram visível
um clima de conspiração, incerteza e luta entre facções que caracterizava a
geometria dos poderes no coração do Estado da Índia. Os conflitos registados
em Baçaim em 1657 e 1658 entre o governador e magistrados régios demons‑
tram bem a instabilidade que se vivia em partes da Ásia Portuguesa1. Com
este pano de fundo, a culminar a vaga de conquistas holandesas, Colombo
capitulou depois de um longo cerco, a 12 de Maio de 1656. Dois anos mais
tarde, caíram as praças de Manar e Jafanapatão, marcando esse ano o fim
do domínio português no Ceilão e a perda do controlo do lucrativo mercado
cingalês da canela, gemas e elefantes.
No reino, em 1658‑1659, registamos o cerco e a batalha das Linhas de
Elvas. O horizonte de expectativas da monarquia portuguesa ainda ficou
mais cinzento quando, a 7 de Novembro de 1659, foi assinada a Paz dos Pire‑
néus entre a França e os Habsburgo de Castela. A partir de então, o esforço
militar da monarquia hispânica orientou‑se decisivamente para o território
português, que conheceria então a fase decisiva da guerra, correspondendo
ao período de 1662‑1665. As movimentações políticas na corte e a guerra
no território reinol obstavam a uma mobilização de recursos para responder
Hist-da-Expansao_4as.indd 206 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 207
à situação de crise que a monarquia portuguesa enfrentava no Oriente.
Porém, do outro lado do Atlântico também chegavam à corte notícias pouco
tranquilizadoras. Com efeito, no dia 8 de Novembro de 1660 teve início no
Rio de Janeiro a «revolta da cachaça», movimento que envolveu milhares de
pessoas e constituiu um momento perturbador para as autoridades. Um dos
visados pelos protestos foi o influente governador e capitão‑general da
Repartição Sul, o célebre Salvador Correia de Sá e Benevides, que impusera
um novo tributo e que, além de ser talvez o mais rico senhor de engenho
fluminense, era acusado de ambição e tirania. De facto, Salvador Correia
de Sá foi objecto de uma lista de 34 denúncias por parte dos revoltosos,
que exigiram a sua expulsão. O motim prolongou‑se durante cinco meses.
Salvador Correia de Sá não lhe atribuiu grande importância. Todavia, este
episódio marcou uma viragem e o início do esvaziamento do poder dos Sá2.
Dado este quadro geral de convulsão e de aperto financeiro devido aos
custos de uma guerra conduzida em diversas frentes3, a diplomacia portu‑
guesa movimentou‑se, procurando alcançar de novo a paz com as Províncias
Unidas e reforçar a ligação com a Inglaterra, conseguindo‑se a assinatura de
dois tratados em 1661, o de 23 de Junho com a Inglaterra e o de 6 de Agosto
com as Províncias Unidas. A opção por reforçar os laços com a Inglaterra
representava uma tentativa de encontrar um aliado que contivesse o poderio
holandês. No seguimento dos tratados de 29 de Janeiro de 1642 e de 10 de
Julho de 16544 – este um tratado de aliança ofensiva e defensiva, inicial‑
mente recusado pelo rei de Portugal, mas assinado por pressão de Oliver
Cromwell –, a tradicional aliança com a Inglaterra foi renovada. O tratado
de 1661, celebrado após a subida de Carlos II ao trono inglês, incluiu impor‑
tantes cláusulas militares e envolveu ainda a entrega de Tânger e de Bombaim
aos Ingleses, possessões que fizeram parte do dote da infanta D. Catarina de
Bragança, para cujo dote contribuíram cidades e vilas do reino, ilhas e con‑
quistas5. O casamento de D. Catarina com Carlos II fazia parte da estratégia
portuguesa de estreitamento dos laços entre as duas monarquias, visando
conseguir o apoio inglês para a defesa do Estado da Índia, em particular
contra a VOC. Após alguma relutância dos moradores portugueses, a qual
acompanhou a cronologia dos eventos, a entrega de Bombaim teve lugar a
18 de Fevereiro de 1665. Anos volvidos, Carlos II entregaria Bombaim à East
India Company, que aí instalou o seu quartel‑general em 1678, seguindo o
modelo de Batávia e de Goa6. Numa óptica mais alargada, deve ser relevado
que os tratados celebrados com a Inglaterra, ao mesmo tempo que concediam
importantes privilégios aos mercadores ingleses com negócios nos territórios
da monarquia portuguesa, favoreciam a participação inglesa no comércio
de produtos portugueses. Criaram‑se assim as condições que permitiram a
instalação de mercadores ingleses no reino e suas parcelas. Os pólos de maior
Hist-da-Expansao_4as.indd 207 24/Out/2014 17:17
208 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
concentração de súbditos ingleses foram o Porto, a Madeira e algumas ilhas
dos Açores (Terceira, São Miguel, Faial e São Jorge). Depois da conquista
da Jamaica (1655), o Navigation Act de 1663, interditando a entrada nas
colónias americanas de mercadorias que não fossem inglesas, excepção feita
aos vinhos da Madeira e dos Açores, que, além disso, ficavam isentos do
pagamento de certos direitos, potenciou o comércio entre estes dois arqui‑
pélagos e as possessões inglesas na América, atraindo ao mesmo tempo mais
mercadores ingleses para as ilhas.
Paralelamente ao tratado firmado com a Inglaterra, em Haia, a embai‑
xada liderada desde Dezembro de 1659 pelo conde de Miranda conseguiu
igualmente, depois de duras negociações, acordar com os Estados Gerais
das Províncias Unidas um tratado, assinado a 6 de Agosto de 1661 e que,
diga‑se, teve a oposição das províncias da Zelândia e da Guéldria e ainda
a da restabelecida dinastia Stuart. Portugal ficava obrigado a pagar a soma
de 4 milhões de cruzados em numerário num prazo de 16 anos a troco da
desistência holandesa em relação aos territórios que a república calvinista
tinha perdido no Brasil e em África; tinha de devolver a artilharia holan‑
desa capturada no Nordeste do Brasil; concedia aos mercadores holandeses
liberdades comerciais idênticas às que os Ingleses gozavam nos domínios
portugueses. De igual modo, foi fixado o preço do sal de Setúbal, principal
exportação do reino português e produto essencial para os Holandeses. Por
fim, foi estabelecido que o conflito entre os signatários terminaria na Europa
dois meses depois da assinatura do tratado e, no império, quando fosse
publicado. Os territórios ultramarinos e os navios capturados ficavam sob o
domínio de quem os possuía, mas as conquistas posteriores à publicação do
acordo seriam restituídas. Caso Portugal rompesse o tratado, as Províncias
Unidas tinham o direito de reclamar a restituição do Nordeste7.
As condições do tratado luso‑holandês de 1661 foram pesadas para Por‑
tugal, mas a margem de manobra da Coroa portuguesa era reduzida, face
à urgência de travar a ofensiva holandesa. Ratificado pelos Estados Gerais
apenas a 4 de Novembro de 1662, o tratado foi publicado a 14 de Março de
1663. Deste modo, a situação nem chegou a ser de «paz fingida». No Índico,
a VOC ganhou tempo para manter a pressão sobre as posições que os Por‑
tugueses ainda detinham no Malabar, tendo concluído a sua conquista em
1663 com a tomada de Cochim; e, no Atlântico, a WIC ocupou posições na
Costa do Ouro. No Oriente, a rede de núcleos costeiros onde os Portugueses
estavam instalados desde o século xvi fora conquistada pelos Holandeses
e estes conseguiram ainda que os mercadores portugueses fossem expulsos
de Macassar, nas Celebes. Na visão pessimista do jesuíta Manuel Godinho,
o Estado da Índia, se não se extinguira, era então uma ruína, um pigmeu,
lastimando o religioso, com notório exagero, a perda de «oito mil léguas
Hist-da-Expansao_4as.indd 208 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 209
de senhorio». Perante este cenário, outro membro da Companhia, o padre
António Vieira, afirmou em carta ao marquês de Gouveia, de 8 de Dezem‑
bro de 1664: «Quem agora for restaurar a Índia, também lhe é necessário
o conquistá‑la de novo; mas temo que não sejam tão fáceis de vencer os
Holandeses como os Canarins.»8
Nessa década de 1660, Portugal encontrava‑se numa situação difícil e
complexa. Por entre os jogos das facções e os golpes palacianos, de um lado,
e a pressão política, diplomática e militar inglesa, holandesa, francesa e hispâ‑
nica, do outro, a monarquia portuguesa conseguiu ganhar algum espaço com
as vitórias militares obtidas contra as tropas castelhanas e com a redefinição
conjuntural das prioridades neerlandesas, que se voltavam para a segunda
guerra anglo‑holandesa (1665‑1667), as lutas internas pelo poder em que
participaram a Casa de Orange e os seus apoiantes e, na Ásia, a conquista de
Macassar (1667). Os Estados Gerais acabaram por se decidir a retomar as
negociações com a Coroa portuguesa, que conduziram ao segundo tratado
de Haia, selado a 30 de Junho de 1669. Portugal cedeu em definitivo Cochim
e Cananor e aceitou pagar a dívida atrasada em sal de Setúbal; em contra‑
partida, confirmou o senhorio do Nordeste brasileiro. A partir de 1669, as
relações entre a monarquia portuguesa e as Províncias Unidas estabilizaram.
Compreende‑se assim que, celebrada a paz com a monarquia hispânica em
1668, encerrando a Guerra da Restauração, e estabelecido um acordo com a
república holandesa, a monarquia portuguesa tenha optado por seguir uma
política de neutralidade em relação às nações europeias, tradição continuada
em Setecentos, com a excepção da Guerra da Sucessão de Espanha e de
pequenos confrontos com a monarquia bourbónica.
A consciência das limitações dos meios impunha‑se aos sonhos gran‑
diosos e reclamava prudência. Disso mesmo dá testemunho, já no final do
século, uma carta do próprio D. Pedro II dirigida ao vice‑rei da Índia, com
data de 21 de Março de 1693, na qual o rei se referia às guerras travadas na
Europa e à fragilidade da neutralidade que a Coroa de Portugal mantinha
com os demais príncipes, extensível aos espaços ultramarinos, pelo que
mandava que as naus que viessem do Estado da Índia fossem escalar a Baía
para seguirem incorporadas nas frotas9. No último quartel do século xvii,
D. Pedro, regente e, depois de 1683, rei, recorrendo ao «governo dos conse‑
lhos» e apoiando‑se em várias figuras da primeira nobreza da corte, algumas
das quais ocupando posições em órgãos com jurisdição sobre os assuntos
ultramarinos10, pôde começar a pensar na recuperação do reino e dos seus
domínios e nas reformas que havia a fazer para promover a defesa e o bom
governo das conquistas.
Hist-da-Expansao_4as.indd 209 24/Out/2014 17:17
210 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A primeira restauração do Oriente: guerra, diplomacia e reformas
A explicação para o recuo do Estado da Índia assenta numa conjugação
de factores – guerra simultânea em teatros de operações longínquos, escassez
de recursos humanos e financeiros, rivalidade entre as formações políticas
europeias que disputavam a supremacia militar e naval entre si11 – que per‑
mite compreender melhor os problemas de controlo de um tão vasto espaço
e as difíceis opções que se colocavam à nova dinastia brigantina; os debates
conduzidos nos órgãos que decidiam sobre o governo do império, entre os
quais o Conselho Ultramarino; e o modo como as soluções encontradas
para os distintos espaços geoestratégicos se foram construindo por entre a
articulação de contextos externos e política interna.
Após os anos difíceis das décadas de 1640 e 1650, afigurava‑se como uma
das prioridades da monarquia portuguesa refazer ou reinventar o Estado da
Índia, objectivo que foi defendido por vários membros do Conselho Ultrama‑
rino12. Os esforços nesse sentido podem ser balizados entre o final da década
de 1660 e o início da década de 172013. O objectivo perseguido de restaurar
o orgulho imperial não era fácil de concretizar e, para além da ilusão e da
retórica de alguns textos, a realidade impôs‑se, por vezes de forma brutal.
O Estado da Índia confrontava‑se com os outros europeus e, sobretudo,
com os reis vizinhos, entre os quais avultavam sistemas imperiais poderosos,
como o grande Império Mogol, e os expansionismos emergentes de Omanitas,
muçulmanos, e Maratas, hindus. Em relação ao Grão‑Mogol, importa reter
que, apesar dos projectos de Aurangzeb (1618‑1707), que ocupou o trono
em 1658, o balanço geral foi de equilíbrio. Apesar de algumas perturbações
ocasionais, a paz prolongou‑se pelas décadas de 1670 e 1680, já que favorecia
Portugueses e Mogóis face a opositores comuns, como os Maratas14. De facto,
olhados inicialmente como um possível contrapeso na Índia Ocidental‑Central
face aos Mogóis, os Maratas afirmaram‑se como um inimigo a ter em conta,
sobretudo a partir de 1657‑1659. Em 1664, saquearam o porto mogol de Sur‑
rate, apenas se salvando a feitoria inglesa, defendida por mercadores e agentes
da East India Company. O primeiro conflito com os Portugueses ocorreu em
1667, com a invasão do território de Goa pelas forças de Shivaji. A emergência
do poder marata mereceu à data uma atenta leitura por parte do 1.º conde de
Lavradio e a memória do impacto do primeiro governante marata perdurou
entre os Portugueses15. Goa assinou um tratado de paz com os Maratas, a 5 de
Dezembro de 1667, mas o acordo não evitou um novo ataque a Bardez e a
Salsete, em 1669, o que conduziu a mais negociações e ao tratado de 10 de
Fevereiro de 1670, que revalidou o anterior. E como os Portugueses buscavam
jogar no tabuleiro do equilíbrio de forças regional, apoiando os inimigos dos
seus inimigos, quando a fortaleza de Pondá foi cercada pelos Maratas em 1675
Hist-da-Expansao_4as.indd 210 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 211
e foram enviados socorros portugueses para auxiliar os sitiados, o resultado
traduziu‑se na reabertura da frente bélica marata.
Quanto aos Omanitas, que inicialmente contaram com o apoio neerlan‑
dês, até à década de 1720 constituíram o nosso principal inimigo no Índico
Ocidental e no golfo Pérsico. O eixo de actuação omanita foi a costa suaíli,
onde detinham Zanzibar, Quíloa e Pate. Depois da conquista de Mascate, em
1650, e de ataques às feitorias de Pemba e de Pate, em 1652, os Omanitas
assenhorearam‑se temporariamente da fortaleza de Mombaça (1660). Nos
anos seguintes, enviaram expedições contra Bombaim e Mombaça, ataca‑
ram Diu e chegaram até Moçambique (1669‑1670). A resposta portuguesa
foi essencialmente defensiva, procurando‑se proteger a armada que ligava
o Guzerate a Goa. Houve sucessos, como o da batalha naval do cabo Mus‑
sadão, perto de Ormuz, a 29 e 30 de Agosto de 1669, na qual D. Jerónimo
Manuel derrotou a frota omanita, ou as expedições portuguesas de 1672 e
1673. Todavia, no longo prazo, apesar dos navios enviados periodicamente
de Goa para apoiar as posições na África Oriental, não foi possível aliviar
ou afastar a pressão. A disputa pelo controlo da costa terminou com o êxito
omanita da conquista de Mombaça em Dezembro de 1698.
Face a estes e a outros inimigos, como os sultanatos de Bijapur, vizinho
de Goa e conquistado pelos Mogóis em 1686, ou o de Golconda, igualmente
derrotado e anexado por Aurangzeb no ano seguinte, era urgente tentar
reconstituir e reafirmar o poderio militar e naval português e também rea‑
nimar o comércio, fonte de receitas. Nesse sentido, o período da regência de
D. Pedro foi marcado por uma clara aposta na recuperação do prestígio e
da influência de Portugal no Oriente. Uma das vias seguidas foi a da diplo‑
macia, através da realização de embaixadas. Guerra e diplomacia eram as
duas faces de um mesmo processo de comunicação entre sistemas políticos
estranhos uns aos outros e que, por esse motivo, precisavam de recorrer a
intermediários culturais e tradutores, que estabeleciam a ponte, nem sempre
fácil, entre universos culturais diferentes. A diplomacia portuguesa, decidida
ao nível do Conselho Ultramarino ou partindo da iniciativa dos vice‑reis e
de outros pólos de poder com maior autonomia, como era o caso do senado
de Macau, jogava também com a rivalidade entre os potentados regionais e
tentava solucionar problemas que condicionassem a margem de manobra da
acção política, económica ou missionária dos súbditos portugueses. Assim
se pode entender a complexa relação do Estado da Índia com o sultanato
de Golconda, vizinho inimigo mas que constituía um reino‑tampão entre os
territórios portugueses no litoral e o Império Mogol. Além destas iniciativas,
destacamos também embaixadas à China e ao Sião, acções que buscavam
obter solução para diferendos comerciais ou para bloquear a entrada de
outros missionários europeus nos reinos asiáticos16.
Hist-da-Expansao_4as.indd 211 24/Out/2014 17:17
212 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Se a actividade diplomática mereceu a atenção da Coroa e dos seus repre‑
sentantes, a razão de Estado reclamava que se atendesse a problemas que
bloqueavam ou prejudicavam o exercício do governo. Deste modo, houve
também uma tentativa de reformar o Estado da Índia ou, pelo menos, de
atender em parte às suas carências. Para além da experiência de alguns dos
vice‑reis, havia que contar com o saber dos «casados», presentes nas câmaras
e nas Misericórdias17, e com os conselheiros do Estado. Destes, uns quantos
tiveram papel de relevo nos conselhos de governo, onde, apesar de nem
sempre votarem de acordo com os vice‑reis ou governadores, colocaram o
seu conhecimento do terreno ao serviço da monarquia. Foram homens expe‑
rientes e conhecedores do Estado da Índia que impediram uma degradação
do poder português, criando as condições para as reformas que o 1.º conde
de Lavradio implementou entre 1671 e 1677 nos planos militar e comercial.
Em 1671, foi celebrado um acordo entre Somashker Nayaka e o governo
do Estado da Índia para a restituição de Barcelor, Mangalor e Onor, onde as
feitorias portuguesas seriam protegidas somente por muros e não por bastiões.
Nos anos seguintes, obteve‑se um acordo com o governador de Meca e a
confirmação de privilégios comerciais por parte do xá da Pérsia. Anos depois,
durante o governo de António Paes de Sande, procedeu‑se à consolidação das
reformas administrativas e fiscais, com um maior controlo da Ribeira das
Naus e da Casa da Pólvora de Goa. O «orçamento» do Estado da Índia de
1680 mostrava já um saldo positivo de 271 164 xerafins e, em 1681, António
Paes de Sande legou ao seu sucessor mais de 202 000 xerafins, 12 navios de
alto bordo, 20 navios de remos e um terço com salários pagos.
Todavia, não obstante todo este ímpeto reformista, a reorganização do
Estado da Índia estava a ser conduzida num contexto menos favorável
do que em períodos anteriores. A pressão dos inimigos asiáticos não diminuiu
e a concorrência europeia, mormente dos Holandeses, criou novas dificul‑
dades. Em 1682, a VOC ocupou Bantém e proibiu todo o comércio que não
fosse exercido por holandeses. Em 1683, Chaul, que vinha perdendo a sua
importância económica e financeira no contexto do Estado da Índia, foi
cercado pelos Maratas, que também atacaram Goa, salva devido ao ataque
do exército mogol à retaguarda hindu. No ano seguinte, o Tratado de Pondá
selou a paz entre os Portugueses e os Maratas, mas o perigo que esta ofensiva
representou para a capital do Estado da Índia, com um território limitado,
colocou na ordem do dia a questão da transferência da sede do poder da ilha
de Goa para Mormugão, um assunto que mereceu a atenção de D. Pedro II,
que o recomendou ao conde de Vila Verde18.
Entre 1668 e 1688, num contexto de adopção de medidas proteccionis‑
tas por parte das nações mais poderosas, a economia atlântica conheceu
um período de depressão e assistiu‑se à queda dos preços dos produtos
Hist-da-Expansao_4as.indd 212 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 213
ultramarinos (açúcar, tabaco, mas também o cravo)19. Porém, em contraciclo,
a circulação de navios na Carreira da Índia sugere que a situação do Estado
da Índia atingira então um patamar de maior estabilidade. Entre 1668 e 1682
realizaram‑se 28 viagens de Goa para Lisboa, tendo 23 navios efectuado o
percurso com sucesso, e o fornecimento regular de pimenta, não se podendo
comparar as quantidades com as do século anterior, voltou a constar dos
registos da Fazenda Real. Os navios da Carreira da Índia escalavam a Baía
e o comércio do tabaco brasileiro, em alta no último quartel de Seiscentos e
exportado também para a Índia, contribuiu para as receitas da Coroa, ape‑
sar de não compensar a queda global da Rota do Cabo20. Neste contexto,
a exemplo do praticado no Atlântico, D. Pedro II promoveu a instituição
de uma companhia de comércio para o Índico. Em 1685, o rei solicitou ao
vice‑rei da Índia, então o conde de Alvor, informações sobre a formação de
uma companhia. O vice‑rei foi crítico, mas, antes de partir de Goa, instituiu
a Companhia de Comércio dos Baneanes, também conhecida como dos
Mazanes, com o exclusivo do comércio entre Diu e Moçambique. Mas a
Coroa pretendia criar uma companhia monopolista a partir do reino. A Com‑
panhia Geral do Comércio das Índias Orientais, com primeiros estatutos de
1687, demorou a arrancar e teve vida curta (1695‑1699). Coube ao conde
de Vila Verde promover a companhia de comércio, cooptando financiadores
e dinamizando a articulação entre diferentes territórios do Estado da Índia.
Mas não o conseguiu. Alguns dos moradores que tinham prometido apoiar
a companhia recuaram; o senado de Macau protestou; e a companhia teve
ainda de enfrentar a resistência dos moradores de Moçambique e dos mer‑
cadores baneanes, que articulavam o trato de Diu com a África Oriental21.
Apesar deste insucesso e das repetidas queixas quanto à escassez de capital,
uma análise das finanças do Estado da Índia em finais de Seiscentos revela
que, contra a ideia de decadência antes tão difundida, o império no Oriente
conseguira sobreviver à investida neerlandesa e aos ataques dos potentados
regionais. Se é certo que os «orçamentos» de 1687 e de 1709 apresentaram
um saldo negativo e as despesas aumentaram de um para outro ano, devidas
sobretudo ao peso do aparelho militar e da corte e administração vice‑reinal,
responsável pelo desnível entre receita e despesa que se registava em Goa22,
o quadro geral parecia justificar a orientação da política de D. Pedro seguida
desde a regência. No final do século xvii e na viragem para o século xviii, a
actuação de vice‑reis como D. Pedro António de Noronha de Albuquerque,
2.º conde de Vila Verde (1692‑1698), ou Caetano de Melo de Castro permi‑
tiu ao Estado da Índia continuar a reconstruir‑se enquanto espaço político
e económico.
Hist-da-Expansao_4as.indd 213 24/Out/2014 17:17
214 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Nas margens do império oriental: autonomia e mestiçagem
O quadro geral que vimos esboçando não ficaria completo sem uma
referência aos extremos geográficos do Estado da Índia e à sua situação
neste período. Com efeito, importa lembrar que, nas franjas, a capacidade de
actuação do centro político era bem menor e, consequentemente, o controlo
efectivo dos poderes e agentes locais e a imposição de um domínio de jure e
de facto estavam longe de assegurados, sendo possível falar, como para outros
espaços, de uma «autoridade negociada». Além do mais, o crónico problema
da escassez de efectivos demográficos oriundos da Europa, sobretudo do
género feminino, estava sempre presente. Se os brancos eram uma minoria
étnica em centros como Goa ou Baçaim, nessas sociedades de fronteira a sua
presença era ainda mais ténue. Neste contexto, em função das circunstân‑
cias e da relação de forças à escala local, a mestiçagem foi uma das formas
de responder aos problemas da ocupação do espaço. Na África Oriental,
a presença portuguesa no sertão tinha sido conseguida graças à acção dos
Dominicanos, presentes no vale do Zambeze desde 1580, e à assinatura
dos tratados de 1607 e 1629 com o reino do Monomotapa23. No seguimento
deste tratado, o diploma de 6 de Fevereiro de 1608 regulou num primeiro
momento o sistema dos prazos, um modelo de colonização que implicava
a distribuição de terras pela Coroa portuguesa, seguindo‑se a provisão de
3 de Março de 1670 e legislação subsequente, não identificada24. Porém, os
projectos de colonização e exploração com contingentes de colonos europeus
(1635, 1677, 1682) falharam ou tiveram resultados limitados, persistindo
a reduzida dimensão de população branca. Todavia, esta região, pelas suas
riquezas e potencial, era central para a Coroa e para os privados. Assim,
por um lado, edificaram‑se fortalezas e, por outro, a expansão portuguesa
continuou em direcção ao interior a partir de Quelimane, Sena e Tete, ao
longo do Zambeze, rumo às minas e aos reinos do interior e, mais além, à
ambicionada ligação com a costa ocidental25.
O processo de territorialização nessa região tinha como base as fortifica‑
ções e o sistema dos prazos. Um tópico recorrente em documentação coeva
e na historiografia é o facto de os senhores dos prazos, que lutavam com
frequência entre si, se africanizarem em duas ou três gerações. Os prazos
coincidiam com as chefaturas africanas e a africanização destas instituições
também se manifestou ao nível das produções agrícolas (sorgo, milho
‑painço e milho‑maís). A resposta da Coroa portuguesa para evitar a perda
do controlo sobre estas terras estratégicas foi a mudança no sistema de atri‑
buição dos prazos, que desde a década de 1670 passaram a ser concedidos
a mulheres nascidas de progenitores portugueses, que teriam de casar com
brancos. A sucessão seria por via feminina e, passadas três gerações, a doação
Hist-da-Expansao_4as.indd 214 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 215
devia reverter para a Coroa. Esta foi uma decisão que teve consequências
no longo prazo.
No entanto, a partir da década de 1680, a entrada em cena dos Rozvi de
Butua sob o comando do changamira Dombo, que culminou com a tutela
sobre os mutapa e colocou vários reinos na sua esfera de influência, represen‑
tou um duro golpe para os interesses portugueses na região. Em 1693, os tem‑
plos dominicanos existentes no sertão foram destruídos, os prazos invadidos e
os portugueses expulsos de Dambarare, de Chicova e de Sofala e das feiras de
Manica e de Ongué, no planalto karanga, onde se obtinha a maior parte das
mercadorias destinadas à Índia, em particular o ouro do Monomotapa, ouro
que também se podia encontrar no reino Teve, e ainda o marfim. Muitos dos
assentamentos portugueses no sertão não foram recuperados e instituíram‑se
novos estabelecimentos na zona do Zambeze. A instabilidade prolongou‑se
pelos anos seguintes até à derrota do changamira, já na segunda década de
Setecentos. Se a este clima de guerra somarmos a perda de Mascate, em 1650,
e a presença francesa em Madagáscar desde 1655, podemos visualizar um
panorama geral de dificuldades na costa oriental africana, embora mereça
ser sublinhado que os concorrentes europeus de Portugal não conseguiram
instalar‑se entre Moçambique e a baía de Lourenço Marques. No contexto
finissecular, a criação de uma Junta do Comércio, de pouca duração, e de
companhias de comércio constituiu uma tentativa de dinamizar a economia
de acordo com os modelos então dominantes. Mas a derrota da Companhia
Geral atesta quer as diferenças de perspectiva entre Lisboa e Goa, quer a
impossibilidade de se aplicar e defender um exclusivo face à concorrência e ao
contrabando. Em contrapartida, e apesar das queixas dos afro‑portugueses,
a continuidade dos baneanes e da sua sociedade comercial até 1777 revela
bem a importância das redes locais e familiares para o sucesso das rotas e
dos subsistemas de comércio costeiros e no Índico.
No pólo oposto do Estado da Índia, em Macau, o advento da dinastia
Manchu reflectiu‑se no maior controlo do comércio por parte do poder
imperial e dos seus representantes, o que afectou a actividade dos armadores
e mercadores instalados nesse porto, que constituía um complemento do
de Cantão. Os anos finais do século xvii e os primeiros do século seguinte
foram marcados por dificuldades económicas e fiscais para os portugueses
de Macau. No entanto, os mercadores portugueses de Macau, com o apoio
do senado, participaram activamente nos circuitos comerciais do mar da
China, ampliando mesmo a sua intervenção em mercados até então menos
procurados e concorrendo com a VOC, como sucedeu em Banjarmassin, no
Sul do Bornéu26. Por fim, e apesar das rivalidades, também se encontravam
homens de negócio portugueses em Batávia, transportando cargas suas ou de
mercadores de Cantão em chalupas e em barcos de semelhante tonelagem.
Hist-da-Expansao_4as.indd 215 24/Out/2014 17:17
216 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Em Batávia, no arco cronológico que vai de 1648 a 1754, os portugueses
foram, juntamente com os chineses, a comunidade mercantil mais dinâ‑
mica, vendendo chá, sedas, zinco e outras mercadorias e levando no regresso
pimenta e canela, esta oriunda do Ceilão e destinada ao comércio com Manila.
Foi a importância da canela, de resto, que esteve na origem do regresso dos
Portugueses ao Ceilão na viragem do século.
O senado da câmara da Cidade do Nome de Deus apoiava este dinamismo
mercantil, que contribuía para recuperar a economia macaense. E quando,
no início de Setecentos, os mercadores portugueses de Macau começaram a
frequentar o porto de Surrate e o vice‑rei ordenou que os oficiais da câmara
cobrassem os direitos devidos à Fazenda Real, o senado de Macau recusou
cobrar direitos aos barcos locais que não escalavam Goa, a não ser que a
tal fossem obrigados por decisão régia. O Conselho Ultramarino decidiu
que os direitos alfandegários deviam ser pagos, e esta decisão contribuiu
para agravar a divergência de interesses entre Goa e Macau, que protestava
contra a intervenção da Coroa na actividade comercial. De facto, devido
à distância e ao que isso representava em termos de comunicação política,
Macau gozava de uma autonomia face a Goa que os seus moradores e, em
particular, as elites envolvidas nos circuitos mercantis não pretendiam ver
reduzida. Pelo facto de Macau ser um importante entreposto comercial e
porta de ligação com a China, era o senado que, de facto, controlava a nave‑
gação e o comércio, não obstante o governador, desde 1689, participar na
administração da cidade, embora apenas no tocante ao controlo das entra‑
das e saídas de navios do porto. Assim, dada a centralidade da mercancia
para a cidade, compreende‑se a estreita relação do corpo político de Macau
com o comércio, revelando como as identidades de estatuto e as fronteiras
corporativas eram porosas, para mais quando consideradas no contexto dos
fluxos e dinâmicas imperiais27. O senado era cioso das suas liberdades e dos
seus privilégios. Daí as acusações e os atritos com os governadores, num jogo
que oscilava entre a colaboração e a oposição. Mas, apesar desta clivagem e
de outras vozes acusarem os moradores de Macau de serem maus vassalos
do rei de Portugal, a Coroa não actuou contra a câmara. Não era apenas a
distância, era também a consciência de que as elites que governavam a cidade
detinham um papel essencial na articulação de Macau com o Estado da Índia
e, a partir daí, com a monarquia. Embora os oficiais da câmara não tenham
recebido os privilégios de cidadãos do porto, viram as suas competências e
os privilégios concedidos em 1586 serem confirmados na década de 1690 e
depois, por mais de uma vez, no início do século xviii28.
Por fim, em Solor e em Timor, a posição portuguesa vira‑se fragilizada
pela ofensiva neerlandesa. Após a conquista de Malaca, vários principados
de Timor iniciaram campanhas contra os Portugueses. A guerra, conflitos de
Hist-da-Expansao_4as.indd 216 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 217
jurisdição entre os Portugueses e disputas entre clãs pautaram o quotidiano
dessas partes ao longo da segunda metade de Seiscentos e primeiros anos de
Setecentos, entrecruzando‑se com a rivalidade neerlandesa e a sombra dos
potentados muçulmanos da região. Graças ao esforço dos Dominicanos e dos
mestiços, os Topazes, a presença informal portuguesa resistiu aos embates e
consolidou‑se no lado ocidental da ilha de Timor. Mas se os Topazes se iden‑
tificavam com os Portugueses, tal não significava que obedeciam à autoridade
sedeada em Lisboa ou em Goa. De facto, as famílias e parcialidades agiam
de acordo com as suas estratégias e face à evolução do xadrez político local.
Neste contexto, merece referência a disputa entre as famílias Hornay e Costa,
sendo de sublinhar que os Hornay eram de origem holandesa. Depois de Jan
de Hornay, o filho Gonçalo e os netos António e Francisco tornaram‑se impor‑
tantes chefes locais. Após a morte de António de Hornay, o seu exemplo foi
seguido por Domingos da Costa, filho do grande rival daquele. Com efeito,
a partir de Larantuca, também Domingos da Costa se perpetuou no poder e
exerceu influência nas ilhas até falecer, em 1722. A presença oficial portuguesa
era débil e o número de brancos muito reduzido – fontes holandesas indicam
que em 1689 haveria um total de trinta brancos em Larantuca e em Lifau,
no enclave de Oecússi. Romain Bertrand lembrou que todas as formas de
dominação imperial foram invariavelmente mestiças29. Assim, se é certo que
a monarquia portuguesa não dispunha dos recursos para impor o império
formal e a sua soberania em todas as partes, sobretudo nas mais distantes e
onde a resistência era mais forte, também é verdade que o império informal
foi assegurado por vias diversas, que constituíram outras tantas manifestações
da Expansão Portuguesa nessas sociedades de fronteira.
Em simultâneo com a política oficial, uma rede de agentes mercantis e
intermediários culturais, actuando por iniciativa própria ou em representação
de alguma autoridade, contribuía para a consolidação do império informal e
ligava, de outro modo, a Expansão Portuguesa a outras sociedades e culturas.
À margem do comércio oficial, formas de organização como associações entre
mercadores portugueses e ingleses, por vezes através de contratos, permitiram
a partilha do investimento e do risco e a continuidade dos Portugueses no
comércio intra‑asiático em circuitos que os Holandeses reclamavam como
seus. No delta do rio Ganges, em Hugli, uma comunidade portuguesa conti‑
nuou presente no decurso da segunda metade de Seiscentos e a participar no
comércio do golfo de Bengala. No final do século, a instalação dos Ingleses
em Calcutá e conflitos internos entre os Portugueses, com uma contribuição
dos Agostinhos, contribuiu para a perda de dinamismo do trato português
em Hugli. Em contrapartida, a colaboração entre mercadores portugueses e
ingleses manifestou‑se de forma positiva na costa do Choromândel, onde os
Ingleses estavam instalados em Fort St. George, em Fort St. David e em Porto
Hist-da-Expansao_4as.indd 217 24/Out/2014 17:17
218 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Novo desde a primeira metade de Seiscentos, seguindo‑se os Franceses em
Pondichéry entre 1672 e 1693 e de novo a partir de 1698. A partir dos seus
centros, os mercadores ingleses e os associados indo‑portugueses conduziram
um trato no golfo de Bengala que minou a pretensão holandesa do monopólio
e conheceu um crescimento sustentado até aos começos do século xviii. Mais
a sul, a partir de Madrasta, os Portugueses envolveram‑se no comércio com
Manila e nas redes de crédito, contribuindo, com as suas actividades, para a
dinâmica mercantil inter‑regional30.
Por fim, uma ironia da História. O português servira como língua franca
durante décadas nas trocas e nas negociações. Os Ingleses descobriram isso
mesmo quando se instalaram em Bombaim e usaram o português até ao
século xviii. Mas também os Holandeses, vencedores dos Portugueses, tive‑
ram de se socorrer da língua e da colaboração dos vencidos para o estabele‑
cimento dos seus contactos no Japão, em Malaca, no Ceilão ou no Malabar,
quer para efeitos de comércio, quer, de modo mais prosaico, para lidarem com
os seus próprios escravos31. Se as populações asiáticas se iam apercebendo das
diferenças que existiam entre os firangis, os «Francos», por outro lado esta
situação revela‑nos que as dinâmicas políticas e socioculturais da presença
europeia na Ásia, como em outras partes do Mundo, passaram também pelas
heranças e pela formação de estratos de conhecimento local que facilitaram
a instalação dos Europeus em territórios novos.
Os Brasis
Apesar da atenção concedida pela Coroa ao Estado da Índia, foi no Atlân‑
tico e, em particular, na América do Sul que a monarquia portuguesa mais
se empenhou nas décadas finais do século xvii. Expulsos os Holandeses do
Nordeste brasileiro e finda a guerra com a monarquia hispânica, era impe‑
rioso consolidar as posições portuguesas, solucionar conflitos de natureza
jurisdicional que envolviam os próprios agentes da Coroa e recuperar a
dinâmica económica. Jaime Cortesão considerou que, após 1640, a América
Portuguesa viveu uma situação de «polarização colonial» em torno do Estado
do Brasil e do Estado do Maranhão32. Se esta afirmação pode ser matizada,
não deixa de remeter para o que já se sabia no século xvii, ou seja, que
eram difíceis as ligações entre o Maranhão e o «Brasil», constituindo um
alerta contra a generalização de uma perspectiva uniforme sobre a América
Portuguesa e a sua integração territorial em meados de Seiscentos, ao definir
a existência de dois clusters ou «arquipélagos» de colonização33, e também
para uma representação homogénea do que seria a «sociedade colonial
brasileira», esquecendo a coexistência de múltiplos «Brasis», resultantes de
Hist-da-Expansao_4as.indd 218 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 219
distintas cronologias e sedimentos de interacção entre populações americanas,
europeias e africanas.
No caso dos territórios a norte, importa recordar como é que o padre
António Vieira definiu o Maranhão e o Pará em meados de Seiscentos.
Em carta dirigida a D. João IV, escrita no Maranhão e datada de 4 de Abril
de 1654, afirmou, numa referência explícita à situação vivida em La Rochelle
durante os conflitos religiosos em França: «O Maranhão e o Pará é uma
Rochela de Portugal, e uma conquista por conquistar, e uma terra onde
V. M. é nomeado, mas não obedecido.»34 De facto, na segunda metade do
século xvii as regiões setentrionais estavam ainda escassamente povoadas
pelos Portugueses e a conquista não estava verdadeiramente integrada na
monarquia portuguesa. Perante o reduzido número de brancos e a evidente
falta de mulheres no Maranhão, desde a expulsão dos Franceses que a solução
encontrada consistiu no recurso a gentes das ilhas dos Açores e da Madeira,
o que tornaria a acontecer nos séculos seguintes. Os açorianos, cuja leva
original partiu dos Açores em 1618, continuaram a fornecer gente para a
colonização da bacia amazónica após a Restauração e os núcleos originais
de povoadores foram reforçados em 1648‑1649 e em 1666‑1667 com novos
contingentes oriundos de Santa Maria, São Miguel e Faial. Todavia, em mea‑
dos do século existiam somente nove povoações portuguesas, com menos
de 3000 moradores brancos. Por esse motivo, e face à apetência europeia
pelas riquezas das terras do Maranhão, Paulo da Silva Nunes, representante
dos moradores, afirmou que para a defesa daquele Estado eram necessários
«muitos mil moradores brancos», pelo que a solução estaria em povoar o
Estado do Maranhão com casais da Madeira35. No Pará, o cenário era ainda
pior. Em 1674, uma carta do governador do Estado informava que o número
de moradores não ultrapassava os duzentos casais e que as três companhias
pagas aí existentes não atingiam os sessenta homens. Face a este panorama,
o Conselho Ultramarino emitiu um parecer acerca do «quanto convinha,
que V. A. mandasse casais das Ilhas, para povoarem aquela Conquista»36.
Ao longo do último quartel de Seiscentos, os problemas da colonização
portuguesa da bacia amazónica permaneciam os mesmos de décadas antes.
Face à menor dinâmica da economia portuguesa nessas décadas, num con‑
texto de adopção de políticas proteccionistas por parte das nações europeias,
as medidas que foram então pensadas para o Estado do Maranhão devem ser
colocadas no quadro mais geral de uma resposta à crise do comércio luso
‑atlântico por via de reformas e do fomento económico. No seguimento de
propostas de nomes como Duarte Gomes Solis, Duarte Ribeiro de Macedo ou
o padre António Vieira, e à semelhança do que faziam os Jesuítas no seu colé‑
gio da Baía, a Coroa portuguesa apoiou a introdução e aclimatação de plantas
asiáticas (gengibre, canela, pimenta, noz‑moscada) na região do Amazonas,
Hist-da-Expansao_4as.indd 219 24/Out/2014 17:17
220 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
como forma de diversificar a economia regional e reanimar o trato atlântico.
No entanto, apesar dos esforços da Coroa, os resultados alcançados podem
ser considerados frustrantes. O Maranhão e o Pará permaneciam espaços
marginais no contexto da América Portuguesa e continuaram a apresentar
um baixo índice de povoamento branco e de controlo do território, embora
fossem reconhecidos como fazendo parte dos domínios portugueses.
Às dificuldades da geografia, do clima e da demografia veio acrescentar‑se
uma nova, apesar de ancorada no tempo: o interesse francês pela ocupação
das terras do Cabo do Norte a partir da Caiena. Desde 1679, com a nomeação
do marquês de Ferroles, as tentativas francesas de avanço em direcção à foz
do rio Amazonas sucederam‑se de forma mais sistemática. Devido à pressão
dos Franceses, Francisco da Mota Falcão construiu quatro fortins em 1685,
o que não impediu a investida francesa em direcção às terras situadas entre
os rios Amazonas e Orenoco, iniciada em 1688 e que se traduziu no ataque
em 1697 às posições portuguesas em Macapá e em Paru. As respostas para
as dificuldades continuaram a incidir no transporte anual para a conquista
de ilhéus e, no final da centúria, no recrutamento de soldados na Madeira.
O conflito fronteiriço luso‑francês foi objecto de um tratado em 1697 e de
outro, provisório, em 1700, ratificado a 18 de Julho de 1701, mas com o
estabelecimento de limites que não eram do agrado dos Franceses. A Guerra
da Sucessão de Espanha e as suas sequelas reabriram a contenda em torno
das fronteiras na região do Amazonas. Se a Paz de Utrecht confirmou de
novo a demarcação defendida por Portugal, merece ser relevado que a dis‑
puta territorial nesta região se arrastou por longos anos, vindo somente a ser
encerrada em definitivo em 1900, com arbitragem internacional.
Se as entradas, à semelhança das bandeiras, e a distribuição de terras em
regime de sesmaria – cerca de 90 registos de doações entre 1665 e 170537 –
contribuíram para a difícil, mas gradual, ocupação e exploração económica
do território, por via da agro‑pecuária, no contexto da expansão portu‑
guesa na periferia amazónica e em face das dificuldades antes enunciadas,
as missões, enquanto «instituição de fronteira»38, afirmaram‑se como um
instrumento da maior importância na exploração da rede fluvial amazónica,
na ocupação do espaço e no estabelecimento de relações com as populações
locais. O alargamento da «fronteira missionária» significou que várias ordens
religiosas foram chamadas a actuar na região amazónica: Franciscanos, Mer‑
cedários, Jesuítas e Carmelitas. Presentes no território maranhense antes da
instituição do Comissariado da Província de Santo António de Portugal no
Maranhão e Pará, em 1617, os Franciscanos Capuchos actuaram desde cedo
no sentido de conquistar almas, entrando em choque com os Jesuítas, pois as
duas ordens competiam pelo mesmo objectivo e ambas pretendiam deter a
«antiguidade» da presença em terras amazónicas39. O rio Negro foi atingido
Hist-da-Expansao_4as.indd 220 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 221
em 1657 pelos Jesuítas, encarregados de catequizar os grupos indígenas aí
instalados pelas cartas régias de 1688, 1691 e 1693. Os Inacianos recebe‑
riam também a responsabilidade de assegurar a conversão e catequização
dos povos indígenas na zona do rio Madeira, que se tornara um importante
eixo de exploração no final do século xvii. Em 1694, nova decisão régia
ordenou que, nos rios Negro e Solimões, fossem os Carmelitas a conduzir as
actividades missionárias. A presença de ordens religiosas concorrentes, com
choques de práticas, interesses e jurisdições, a que se somava um outro pólo
de poder, o do bispo do Maranhão, levou a Coroa a intervir. Em 1655, foi
criada a Junta das Missões, instituição que seria replicada em outras capita‑
nias – Pernambuco (1681), Baía (1702) –, e o Regimento de 1686, merecedor
depois de alguns reparos e observações, procurou regulamentar a actividade
e a organização das missões e das aldeias.
Os missionários, actuando ao serviço da fé, não deixavam de ser agentes
do império e assim a actividade missionária constituía‑se como uma ver‑
tente essencial da política expansionista portuguesa, fosse em Timor40 ou
na Amazónia, convertendo populações, concentrando‑as em novos locais e
procurando integrá‑las no quadro formal da monarquia portuguesa. Mas
havia o outro lado do espelho e não podemos esquecer que os missionários,
com algum relevo para a Companhia de Jesus, defendiam os índios brasilei‑
ros do cativeiro, o que os situava em campo oposto face aos interesses dos
colonos, que, com base em diversos argumentos, pretendiam entrar pelo
sertão a partir dos centros de irradiação que eram Belém e São Luís, procu‑
rar escravos fugidos e, principalmente, apresar os grupos indígenas e usar a
sua força braçal. A oposição missionária gerou a animosidade de colonos e
de autoridades locais – por exemplo, a câmara de Belém – e esteve na ori‑
gem de tumultos, dos quais resultou a expulsão temporária dos padres da
Companhia de Jesus. Em 1661, em São Luís, espalhando‑se depois ao Pará,
e em 1684, em Belém, registaram‑se motins contra os Jesuítas devido à falta
de escravos. Estes dois momentos de tensão e os conflitos de jurisdição em
torno da Junta das Missões no Maranhão, opondo o governador ao bispo,
revelam bem que, no contexto da Expansão Portuguesa, os interesses de todos
os actores envolvidos continuavam a não ser coincidentes e que o resultado
final decorria dos recursos de indivíduos e grupos, das circunstâncias que
caracterizavam as dinâmicas locais e regionais e da relação negociada entre
governantes e governados41.
Para lá do rio Parnaíba, erguia‑se a serra de Ibiapaba, onde se encontra‑
vam os índios Tabajara e vários grupos designados pelos Portugueses como
«tapuias», considerados hostis. A partir do litoral das capitanias do Ceará e
do Rio Grande, mas também da Baía, seguindo o rio São Francisco, partiam
expedições rumo ao sertão. A pecuária fez avançar a fronteira e a colonização
Hist-da-Expansao_4as.indd 221 24/Out/2014 17:17
222 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
para o interior, mas em boa medida este continuou por dominar. A actividade
pecuária passou por períodos extremamente duros, quer devido às condições
climatéricas que dificultam a ocupação de largas parcelas do território, quer
devido à oposição indígena. A chamada «Guerra dos Bárbaros» marcou
durante anos a vida do sertão nordestino42. Prolongando‑se de 1651 a 1720,
as várias campanhas englobadas sob aquela designação inscrevem‑se no pro‑
cesso de abertura das fronteiras interiores e corresponderam a uma procura
de novos espaços para a actividade económica no Nordeste, que empurrou
as populações indígenas para fora dos seus territórios. As guerras contra os
grupos tapuias e outras populações «bárbaras» do «sertão de dentro» resul‑
taram quer da necessidade de defender a distribuição de terras em regime de
sesmaria desde a década de 1670, quer da expansão da criação de gado e das
fazendas associadas à pecuária. Com efeito, no final do século xvii o sertão
das capitanias do Nordeste foi procurado para criação de gado, sobretudo
após a publicação da provisão régia de 20 de Junho de 1698, que ordenou que
os criadores conduzissem os gados para o interior, para não devastarem os
terrenos dedicados à lavoura. De qualquer modo, a busca de novas áreas para
a criação e circulação da pecuária desenvolveu‑se desde a década de 1670.
A concessão de sesmarias na capitania do Ceará confirma‑o amplamente:
entre 1679 e 1709 foram distribuídas 837 dadas para a pecuária, 19 para
uma actividade agro‑pecuária e nenhuma para a agricultura43.
Esta actividade escapava parcialmente da lógica da economia de planta‑
ção, pois a pecuária e a pastorícia não dependiam da mão‑de‑obra escrava.
Todavia, havia recurso a trabalho indígena, sobretudo para conduzir as
boiadas, e uma parte do gado era destinada ao mundo dos engenhos, como
força motriz e alimento. Mas se o açúcar era o produto dominante, outras
produções tinham também lugar assegurado nos circuitos do trato, como o
tabaco, cultivado no Pará, no Maranhão, em Pernambuco e na Baía, situando
‑se as zonas produtoras mais importantes a sul e a oeste de São Salvador.
Menos prestigiosa e mais barata do que a economia do açúcar, a agricul‑
tura do tabaco estava também firmemente ancorada no trabalho escravo.
O tabaco produzido no recôncavo baiano era um produto‑chave, quer no
tráfico que os homens de negócio e os armadores da Baía desenvolviam na
Costa da Mina, quer nas reexportações do tabaco de melhor qualidade para
as principais praças europeias a partir de Lisboa. Os dados conhecidos con‑
firmam o crescimento do comércio do tabaco, contribuindo para revitalizar
a economia portuguesa, em particular no espaço atlântico. Entre 1687 e
1695, as receitas do monopólio do tabaco cresceram e o papel da Junta da
Administração do Tabaco, criada em 1674, reforçou‑se, controlando uma
parte do comércio com a Índia. O facto de o poderoso duque de Cadaval
presidir à Junta contribuiu certamente para que esta aguentasse os embates
Hist-da-Expansao_4as.indd 222 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 223
com outras instituições que lhe disputavam a jurisdição. Na década de 1690
foram tomadas medidas para aumentar a arrecadação dos proventos resul‑
tantes do comércio do tabaco, estabeleceu‑se o peso máximo de cada rolo
de fumo que embarcava nas frotas do Brasil e regulamentou‑se para tentar
reduzir o contrabando. Depois de o duque de Cadaval se retirar da Junta, em
Dezembro de 1698, D. António Luís de Sousa, 2.º marquês de Minas, assu‑
miu a presidência da Junta do Tabaco, elaborou um parecer que submeteu a
D. Pedro II e colocou em prática mais medidas relativas a este lucrativo ramo
do comércio. A centralidade do tabaco e da Junta no quadro da economia
luso‑atlântica ficaria confirmada com a criação de extensões periféricas – a
Superintendência da Arrecadação do Tabaco, na Baía, em 1698‑1699, e a
Superintendência do Tabaco de Pernambuco, pouco depois – que tinham
como missão controlar o embarque do tabaco e evitar os descaminhos que
prejudicavam a Fazenda Real44.
Globalmente, a produção e o comércio do tabaco permitiram suportar os
efeitos resultantes da crise do açúcar, mas não impediram que, na década de
1680, a economia açucareira atingisse o ponto mais baixo, em particular no
recôncavo baiano. A seca fez sentir os seus efeitos nos anos de 1681 a 1684 e a
febre‑amarela – a «bicha» de que se queixava o padre António Vieira – flagelou
o Recife e a Baía, causando elevada mortandade entre 1686 e 1691 em gente
de todas as condições. Na Baía, em meados de 1686, o contágio já causara
a morte de vários desembargadores da Relação, do arcebispo e, tal como em
Pernambuco, de padres jesuítas que atenderam aos doentes45. Na Baía terão
morrido 900 pessoas, mas em Pernambuco, na primeira metade de 1687,
registaram‑se mais de 3000 óbitos. A economia luso‑brasileira foi afectada
pela crise do comércio atlântico que se manifestou depois de 1670‑1680 e
pela concorrência do açúcar de outras regiões produtoras nos mercados tra‑
dicionais, como a Inglaterra. O preço da arroba de açúcar na praça de Lisboa
caiu de 3800 réis em 1654 para 1300 réis em 1688 e, apesar de uma breve
recuperação nos anos de 1690, até ao fim da Guerra da Sucessão de Espanha
os preços flutuaram com alguma amplitude. Terá sido devido a esta instabi‑
lidade que, em contexto de depreciação da moeda portuguesa determinada
pela lei de 4 de Agosto de 1688, com aplicação no reino e nas conquistas, os
homens mais ricos e os mercadores da Baía não apoiaram com o entusiasmo
esperado a criação da Junta de Comércio na Índia, isto apesar das diligências
de António Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, governador‑geral do Brasil,
que, em carta dirigida a D. Pedro II, informou o rei da sua actuação. Face
à resistência das câmaras em aplicar a lei régia e ao descontentamento dos
senhores de engenho e dos plantadores de tabaco, foi o mesmo governador
‑geral quem defendeu, em 1692 e 1693, a necessidade de uma moeda colonial
e de uma resposta adequada por parte da Coroa para o problema da falta de
Hist-da-Expansao_4as.indd 223 24/Out/2014 17:17
224 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
moeda no Brasil. A ordem régia de 18 de Março de 1694 elevou em 10% a
moeda no Brasil. Foi instalada uma Casa da Moeda na Baía, que se mudou
pouco depois para o Rio de Janeiro, onde já funcionava em 1699. Quanto a
António Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, recebeu versos e um lugar na
memória dos beneficiados com a decisão régia46.
Este episódio coloca‑nos perante as relações entre o máximo representante
da Coroa no Brasil e as elites locais e serve para lembrar que, paralelamente
às questões fiscais e económicas, a atenção da dinastia brigantina dirigiu‑se
igualmente para a resolução de problemas de natureza institucional e, tal
como no Estado da Índia, para uma tentativa de reforçar o poder dos repre‑
sentantes da Coroa. É neste quadro que se explica o regimento outorgado ao
governador‑geral do Brasil Roque da Costa Barreto pelo príncipe D. Pedro
e datado de 23 de Janeiro de 1677. Não havendo para o Brasil «Regimento
certo», o documento resultou de uma pesquisa que abarcou regimentos anti‑
gos e ordens régias emanadas através dos Conselhos Ultramarino e de Estado
e de juntas particulares. Na mesma linha, o governador‑geral, depois de se
instalar na Baía, devia mandar copiar todos os regimentos, ordens e mais
documentação relativa ao governo do Estado do Brasil, remetendo os trasla‑
dos ao Conselho Ultramarino no espaço de um ano. Seria com este órgão que
o governador‑geral se corresponderia no tocante a negócios de justiça, guerra
e fazenda e apenas devia executar as ordens recebidas daquele Conselho, da
Secretaria de Estado e da Mesa da Consciência e Ordens quando se tratasse
de assuntos que diziam respeito a eclesiásticos ou a defuntos e ausentes.
Este regimento definiu as traves‑mestras da acção dos governadores‑gerais e
constituiu o modelo dos regimentos subsequentes47.
Como dissemos, a crise do açúcar terá sido particularmente sentida na
Baía de finais de Seiscentos e o cenário que aí encontramos apresenta algumas
diferenças face aos outros pólos da economia de plantação. Em Pernambuco,
depois da expulsão dos Holandeses, a recuperação da economia fez‑se de
forma lenta, mas consistente. Ao longo da segunda metade do século xvii,
diversos pedidos de isenção de tributos pelo período de dez anos para enge‑
nhos reconstruídos ou erguidos de raiz por senhores de engenho foram
objecto de análise por parte do Conselho Ultramarino e funcionam como
indicadores de uma economia que procurava sair da crise dos anos de guerra.
Em Pernambuco, o final da década de 1670 e a década seguinte conheceram
um crescimento significativo. Além do mais, é preciso não esquecer que, no
período terminal da centúria, outros produtos, como o tabaco, os couros e
mesmo as madeiras, contribuíram também para estimular a recuperação,
favorecida ainda por uma subida dos preços na década de 169048. A economia
fluminense conheceu igualmente um crescimento, atestado pelo aumento do
número de engenhos – de 110 em 1639 para 136 em 1710 –, para o qual terá
Hist-da-Expansao_4as.indd 224 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 225
contribuído a produção de cachaça, exportada ao longo de Seiscentos. Mas,
mais importante para os interesses e a dinâmica da praça fluminense foi a
fundação da Nova Colónia do Sacramento, em 1680, na margem norte do
rio da Prata, que garantiu o incremento das relações entre o porto do Rio de
Janeiro e a região do Rio da Prata e representou uma etapa importante no
processo de afirmação do Rio de Janeiro no contexto do Império Português49.
Com efeito, para o Sul, colocava‑se o problema da defesa da costa como
forma de proteger a actividade mercantil. Quer por iniciativa da Coroa, quer
por acção de particulares, na segunda metade do século xvii o avanço em
direcção ao território do Prata traduziu‑se no povoamento e colonização das
regiões costeiras. No seguimento da criação de novos núcleos portugueses na
costa meridional do Brasil – São Francisco do Sul, Laguna, Nossa Senhora
do Desterro –, a fundação da Colónia do Sacramento assinalou uma inflexão
na política portuguesa na região. Comprovava‑se a importância estratégica
que a Coroa portuguesa atribuía à bacia platina, com a decisão de edificar
uma posição fortificada e respondia‑se de forma positiva aos interesses dos
homens de negócio do Rio de Janeiro, desejosos de aceder ao trato com o
Peru e ao gado que abundava na região. Com a instalação de uma colónia
portuguesa nas margens do Prata, em frente a Buenos Aires, abriu‑se um foco
de tensão acerca dos limites dos territórios ibéricos na América do Sul que
marcou a política americana das monarquias portuguesa e espanhola entre
os finais do século xvii e a década de 1770.
Mas o grande acontecimento nesses anos foi a descoberta de ouro no
interior de São Paulo, no «reino dos Cataguás», na década de 1690, uma
consequência da exploração sertaneja e da actividade bandeirante, de que é
exemplo a expedição de Fernão Dias Pais (1674‑1681). A data da descoberta
do ouro – ouro de aluvião, mas abundante – não é certa e a cronologia varia
com os autores, mas tal apenas significa que foi o fruto da acção porfiada
dos muitos que correram o sertão em busca de riquezas, tendo a própria
Coroa fomentado a exploração do interior50. A notícia do achado originou
um afluxo de gente de todas as condições à região mineradora, indivíduos
que se juntaram em arraiais espontâneos, por vezes de efémera existência.
Em estreita relação com a mineração que se desenvolveu nas chamadas
«minas», outras actividades promoveram a circulação de gentes e de bens:
gado, cavalgaduras, fazendas, víveres diversos e, claro, escravos, aumentando
o preço destes. A vida não era fácil nas zonas de garimpo e logo em 1697
‑1698 se assinala uma crise de fome. A urgência de ligação entre a região
mineradora e o litoral reclamava a abertura de novas vias, que permitissem
escoar a produção de ouro vinda das Minas, por um lado, mas também a
entrada de produtos chegados aos portos costeiros a partir de outras posses‑
sões portuguesas. Assim, em 1698 teve início a abertura do Caminho Novo
Hist-da-Expansao_4as.indd 225 24/Out/2014 17:17
226 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
do Rio de Janeiro para as Minas Gerais por Garcia Rodrigues Pais. Com
o estabelecimento de uma ligação directa entre o Rio de Janeiro e a região
mineira, São Paulo perdeu a sua posição de «porta de entrada» para as Gerais,
que assim ficaram na zona de influência do Rio de Janeiro51. Além do Rio
de Janeiro, também a vila de Parati beneficiou do surto mineiro enquanto
porto por onde se cruzavam bens e tratos que uniam as Minas ao Atlântico
e ao império. Em 1699, pela carta régia de 20 de Janeiro, foi criado o ofício
de juiz nas freguesias do sertão. Era a constatação por parte das autorida‑
des de que a multidão que se ia dispersando pelas Gerais precisava de estar
enquadrada e sujeita às leis e à justiça, como forma de tentar travar situações
de conflito ou ilegalidade. As décadas iniciais do século xviii demonstraram
que, apesar da produção legislativa e da nomeação de oficiais de justiça, não
era fácil impor a lei e a autoridade no sertão brasileiro.
A costa africana: ilhas, enclaves e conquistas
Ancoradas no oceano, entaladas entre a auto‑suficiência e a procura
externa, a realidade das ilhas atlânticas na segunda metade do século xvii
e no início do século xviii conheceu quadros divergentes, mas sempre com
dificuldades presentes e o espectro da escassez no horizonte. A geografia acen‑
tuava as debilidades estruturais de uma agricultura tradicional. Nas ilhas de
Cabo Verde e do golfo da Guiné, prejudicadas pela legislação que eliminara
a obrigatoriedade do pagamento de direitos sobre os produtos resgatados na
costa africana nas alfândegas insulares e pela navegação das nações europeias,
o seu estado e as representações de moradores e de governadores mereceram
a atenção da Coroa, que procurou atender à crise que as afectava.
No caso de Cabo Verde, as cartas régias de 13 de Março de 1700 e de 12 de
Abril de 1703 autorizaram a abertura dos portos a navios estrangeiros e con‑
cederam a liberdade de comércio. Todavia, o panorama geral não beneficiou
grandemente com as medidas que foram tomadas e os constrangimentos que
bloqueavam uma retoma não foram eliminados. A agro‑pecuária local ali‑
mentava os resgates na costa africana – algodão em Santiago e no Fogo; carne
e couros das ilhas de pastoreio, como Boavista e Maio; algodão, gengibre e
açúcar em São Tomé – e alguma troca com navios que procuravam refresco
e víveres, mas o movimento registado estava distante dos níveis atingidos
no auge da participação destas ilhas no trato negreiro52. Contribuindo para
agravar a crise vivida em Cabo Verde, o exclusivo da compra da panaria
de algodão foi concedido aos homens de negócio reinóis e sucessivamente
confirmado, privando assim as ilhas de valorizarem a produção de panos
no trato com os estrangeiros. As consequências do declínio do comércio de
Hist-da-Expansao_4as.indd 226 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 227
escravos nas ilhas e da legislação régia traduziram‑se numa desurbanização e
na reconversão das actividades económicas, com o trato mercantil orientado
para o «comércio miúdo» e o apoio aos navios que escalavam as ilhas em
busca de aguada53.
As divisões internas entre bandos e famílias rivais que disputavam o
poder, por um lado, e os frequentes conflitos com os oficiais régios, fossem
estes os governadores ou os corregedores, ou envolvendo eclesiásticos, por
outro, também não permitiram criar a estabilidade necessária para iniciar
uma retoma económica. Em Santiago, nos séculos xvii e xviii, a câmara da
Ribeira Grande assumiu interinamente o governo da ilha por diversas oca‑
siões, geralmente após a morte dos governadores e enquanto não chegava um
novo representante do longínquo poder central, e, em São Tomé, os senhores
de engenho, que dominavam os ofícios camarários, e os homens do clero
estiveram no centro de conflitos entre facções ou com os oficiais da Coroa54.
Uma tal situação aumentava a capacidade de resistência dos concelhos aos
agentes régios, tendo‑se verificado, em ambos os arquipélagos, a deposição e
prisão de governadores. Este quadro só se alterou, pelo menos formalmente,
no reinado de D. José, com o decreto de 12 de Dezembro de 1770, que excluiu
as câmaras da sucessão no governo das ilhas55.
Na região dos Rios da Guiné, a presença portuguesa nunca atingiu os
mesmos patamares de consolidação que em outras partes. Apesar da funda‑
ção de novos pólos de presença oficial no período pós‑Restauração, mais do
que devido ao império formal, foi sobretudo graças à actuação de mestiços e
lançados e à existência de comunidades de cristãos‑novos e de luso‑africanos
situadas na «Pequena Costa» – entre o cabo Verde e o rio Gâmbia, balizada
a norte pela comunidade de Portudal e, a sul, por Joal – que se preservou
no litoral da Senegâmbia um espaço de acção que se manteve na esfera de
influência de Portugal. Na «Pequena Costa», a importância da mestiçagem
biológica e cultural revelou‑se essencial. Os moradores actuavam como
intermediários entre os Europeus e os povos locais e a sua colaboração foi
essencial para a continuidade de algum trato português e a sobrevivência de
uma base cultural partilhada até ao século xix56. Já nas «vilas» fundadas por
iniciativa da Coroa, defendidas por paliçadas, o quotidiano revelou‑se difícil.
O clima hostil para os Europeus e a escassez de recursos humanos, materiais
e financeiros ajudavam às deserções de soldados, e a tentativa de impedir
os navios franceses, ingleses ou de outra nação de tratar com as populações
ribeirinhas constituía uma missão impossível para os governadores de Cabo
Verde ou para os capitães‑mores de Cacheu. No final do século xvii e início
do século xviii, de acordo com a descrição de Jean Barbot, existiam quatro
edifícios religiosos na vila de Cacheu, dos quais um era um convento capu‑
chinho e outro uma residência jesuíta; por seu lado, a vila de Bissau, onde
Hist-da-Expansao_4as.indd 227 24/Out/2014 17:17
228 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
residiam cerca de 150 famílias portuguesas, tinha uma igreja paroquial e
um convento de recolectos57. Este cenário, no geral, prolongar‑se‑ia até ao
século xix. Neste contexto, o papel dos mestiços revelou‑se crucial, o
cupando
uma posição de charneira entre as autoridades portuguesas e o pequeno
grupo branco, de um lado, e as populações, do outro. As redes de parentesco
eram mobilizadas sempre que necessário e as mulheres desempenhavam um
papel de relevo na vida social, mas também política, destes enclaves. Sirva
de exemplo a figura de Bibiana (ou Viviana) Vaz, que se casara com um
antigo oficial português e ocupava um lugar central nas redes de poder e de
influência à escala local. De tal modo a sua posição era dominante que foi
ela quem liderou a revolta de 1684‑1685 contra o governador Gonçalves
de Oliveira. No plano económico, com o objectivo de solucionar a crise e
tentar recuperar o comércio português nos Rios da Guiné, revitalizando o
tráfico negreiro, a Coroa portuguesa patrocinou a criação de companhias
comerciais desde a década de 1660, seguindo a prática instituída por outras
potências europeias. De um modo geral, porém, as companhias de comércio
criadas neste período não conseguiram retirar os Rios da Guiné da situação
de crise em que se encontravam e contribuir assim para a entrada de réditos
nos cofres da Fazenda Real portuguesa.
No golfo da Guiné, em 1657, era somente no porto de Oere que os mora‑
dores de São Tomé comerciavam, mas a falta de lucros levou ao abandono
desta rota na década de 1670. No início da década seguinte, o número de
navios brasileiros nas águas do golfo da Guiné e em São Tomé diminuiu
significativamente, mas tal não significa que os Portugueses estivessem arre‑
dados do comércio na região. Com efeito, o capitão Lourenço Fernandes de
Lima efectuou algumas viagens à Costa da Mina em 1676‑1677 e foi feitor
de uma feitoria aí instalada de 1679 a 1683, que movimentou ouro, armas
e outros produtos usados no resgate58. De igual modo, com o objectivo de
reforçar a posição portuguesa no trato do golfo da Guiné, D. Pedro, ainda
enquanto regente, incumbiu o governador de São Tomé, Bernardino Freire de
Andrade (1677‑1680) de, juntamente com o seu sucessor, Jacinto de Figuei‑
redo de Abreu, realizar uma expedição «a uma diligência de seu serviço»,
conforme registou discretamente o cónego negro Manuel do Rosário Pinto
na sua História de São Tomé59. A viagem teve lugar em 1680 e, para alguns
historiadores, dela resultou a fundação de uma pequena fortificação na costa,
a feitoria de Ajudá (ou Uidá), que outros consideram ter tido origem somente
em 1721, por iniciativa do capitão José de Torres. Numa perspectiva mais
ampla, a expedição dos dois governadores reiterava a aposta da Coroa no
revigoramento do comércio português no golfo da Guiné em relação com
São Tomé, mas também com o Brasil, no contexto de uma maior articulação
entre os espaços do império.
Hist-da-Expansao_4as.indd 228 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 229
Com efeito, as ilhas de São Tomé e Príncipe estavam à margem do comér‑
cio esclavagista nesse período, o que asfixiava a economia insular. As ilhas
haviam‑se transformado na «estalagem do golfo da Guiné», dando apoio à
navegação nacional e estrangeira, mas não beneficiavam do tráfico comercial,
a não ser na medida em que a chegada de navios às ilhas permitia aos seus
moradores adquirirem produtos europeus. O comércio português entre a
Costa da Mina e a Baía tinha sido enquadrado pelo diploma de 1699, que
determinara que o tráfico se deveria realizar somente com 24 navios,
que levariam da Baía tabaco – a mercadoria‑padrão no comércio de escra‑
vos – e outros produtos para o resgate de escravos60. O tráfico de escravos
na costa detinha um lugar central na economia regional e a reactivação do
trato brasileiro no golfo da Guiné que se deu nos últimos anos do século xvii
beneficiou da epidemia de varíola que grassou em Angola em 1685‑1687,
afectando os resgates locais, do crescimento da produção de tabaco e da
descoberta do ouro brasileiro na década de 1690: no período 1681‑1700
partiram da Baía em direcção à Costa da Mina 152 navios e para Angola
apenas 1661. Para negociarem na Costa da Mina, com os Holandeses ou com
os Africanos, os navios brasileiros tinham de pagar 10% de direitos sobre
o valor da mercadoria que transportavam, direito esse pago sobretudo em
ouro ou em tabaco. Caso algum navio fosse capturado pelos Holandeses com
mercadorias africanas e não tivesse pago os 10%, considerava‑se que fazia
contrabando e a respectiva carga era confiscada. No final do século xvii, os
Holandeses pareciam dispostos a afastar Portugueses e Luso‑Brasileiros da
costa africana, mas, a partir de 1707, a agressividade holandesa diminuiu e,
nos anos seguintes, o trato de navios oriundos do Brasil aumentou na Costa
da Mina, embora essa navegação não tenha contribuído para a recuperação
da economia de São Tomé.
Na região angolana, a expulsão dos Holandeses em 1648, com apoios
idos do Brasil, sublinhou ainda mais a complementaridade existente entre
ambas as margens do Atlântico Sul português. De resto, conforme afirmara
em 1643 o governador do Brasil, António Teles da Silva, em carta dirigida a
D. João IV, sem Angola não havia Brasil62. Os interesses brasileiros em Angola
traduziram‑se na organização de um grupo de pressão que actuou sobre a
monarquia durante a década de 1640 e no financiamento da expedição que
libertou São Tomé e Luanda. Entre os influentes do grupo pró‑angolano
estava o próprio comandante da expedição, Salvador Correia de Sá, que
fora nomeado governador e capitão‑general de Angola em Março de 1647.
No seguimento da recuperação de Angola, o período pós‑1648 representou
para essa conquista uma nova etapa e mereceu de Luiz Felipe de Alencastro
a feliz designação de «Angola brasílica»63. Este historiador colocou assim
em relevo a bipolaridade do sistema esclavagista e a continuidade do Brasil
Hist-da-Expansao_4as.indd 229 24/Out/2014 17:17
230 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
em Angola. De facto, não podemos perder de vista que, após a recuperação
de Luanda, além de Salvador Correia de Sá, outros homens idos do Brasil
serviram como governadores da conquista africana, como João Fernandes
Vieira (1658‑1661) e André Vidal de Negreiros (1661‑1666), alimentando
o tráfico de escravos para o Brasil e contribuindo para a identificação dos
anos que decorrem de 1648 a 1665 como o «período brasileiro» da História
de Angola.
Mas os Holandeses em Angola haviam sido apenas inimigos temporá‑
rios. Em contrapartida, desde o início da sua presença na região os Portu‑
gueses enfrentaram uma situação de guerra endémica, que perdurou até ao
século xx. No século xvii, além de dominarem algumas rebeliões, os Por‑
tugueses tiveram de enfrentar o Ngola, o reino de Matamba, os Imbangala
(Mbangala) ou «Jagas» e ainda o reino do Congo. Com o reino de Matamba,
as hostilidades iniciaram‑se em 1618 e agudizaram‑se no período da rainha
Jinga (Nzinga) (1624‑1663). As campanhas militares duraram até ao final
do século. Devemos referir que, a partir da década de 1630, a rainha Jinga
aliou‑se aos Imbangala, que os Portugueses conheciam como «Jagas». Eram
grupos político‑militares multiétnicos, inicialmente errantes e que fundaram
um Estado em Cassange cerca de 1630. Inimigos temíveis, com um modo de
vida e práticas que impressionavam Europeus e Africanos, foram também
aliados pontuais dos Portugueses, que, apesar da sua imprevisibilidade, bus‑
cavam nos Jagas um aliado poderoso contra o Ngola. Quanto ao Congo, a
Batalha de Ambuíla (Mbwila) assinalou o fim deste reino como um perigo
para os Portugueses64. Finalmente, a tomada de Pungoandongo (Pungo‑a
‑Ndongo), a abolição definitiva do título de ngola e a fundação de um pre‑
sídio no local da antiga capital do Ngola assinalaram a integração formal
do Ndongo nos territórios sob o domínio português65. Todavia, importa
reter que regiões como a Quissama (Kisama), a sul do rio Cuanza (Kwanza),
raramente estiveram submetidas, apesar das várias campanhas organizadas
e que mobilizavam, além dos brancos e da chamada «guerra preta», muitos
escravos e sobas aliados.
As décadas subsequentes à restauração de Angola foram marcadas, no
plano administrativo, por uma complexificação das estruturas político
‑administrativas. O regimento de 23 de Junho de 1651 criou a ouvidoria de
Angola e o de 9 de Abril de 1666 criou a provedoria da Fazenda, cujas atri‑
buições eram a vigilância da exploração das minas, o provimento dos sobas
e o controlo das alfândegas, quando existissem. De um modo transversal, a
década de 1670 foi marcada por iniciativas reformistas que se detectam em
partes distintas do império, do Estado da Índia ao Brasil. É neste contexto
que devemos situar o extenso e completo regimento dado ao governador de
Angola Aires de Saldanha de Meneses a 12 de Fevereiro de 1676, documento
Hist-da-Expansao_4as.indd 230 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 231
que reformulou o modelo anterior e estabeleceu o padrão de actuação e
o quadro jurisdicional de referência para os governadores de Angola até
ao reinado de D. José66. O facto de tal ter também ocorrido no Brasil com
o regimento concedido a Roque da Costa Barreto sugere que, ao nível da
Coroa, o príncipe D. Pedro e o seu círculo estavam atentos às necessidades
do império e procuravam implementar uma linha de acção coordenada. Para
além de matérias específicas da conquista de Angola, como as relações com
os sobas, o regimento de 1676, tal como pela mesma época no outro lado do
Atlântico, atribuía grande importância à exploração do interior em busca de
minério e esse objectivo fomentava as expedições ao sertão, que se vinham
conduzindo desde o início da centúria e que haviam penetrado para além
do rio Cuango. Na década de 1660, merece referência a tentativa do capitão
João da Rosa para atingir a foz do rio Cunene, em 1665. Anos depois, por
volta de 1678, o mesmo protagonista voltou a tentar atingir o seu objectivo
a partir de Massangano em direcção a Benguela67. No início da década de
1680, a fundação do presídio de Caconda e a conquista do Libolo assina‑
laram novos marcos na tentativa de dominar o sertão e de consolidar uma
difícil territorialização que, no limite, almejava unir as zonas de povoamento
português nas costas ocidental e oriental de África, um projecto que seria
concretizado somente no século xix.
As entradas e o reconhecimento do sertão não eram apenas o resultado de
expedições efectuadas à sombra da Coroa. Neste particular, os missionários
foram também protagonistas de relevo. Todavia, no Congo e em Angola,
nos séculos xvii e xviii verificou‑se uma situação distinta da do Brasil. Com
efeito, a Companhia de Jesus tornara‑se uma grande proprietária, quer de
terras, quer de escravos, participando inclusivamente no tráfico esclavagista.
Em 1658, o governador João Fernandes Vieira acusou a Casa do Colégio de
Luanda de possuir «mais de sincoenta propriedades grandes», com mais
de 10 000 escravos; de igual modo, denunciou o facto de os Jesuítas não
cumprirem a sua obrigação de organizar missões e catequizar as populações
africanas, antes optando por cuidar de suas fazendas e gados e enviando ao
sertão os seus escravos e pumbeiros. Esta denúncia constituiu, possivelmente,
a origem do conflito entre o governador e a Companhia de Jesus na década
seguinte, confronto que originou a carta régia de 9 de Dezembro de 1666,
que repreendeu os Jesuítas68.
Ao contrário dos Jesuítas, os Capuchinhos italianos, estabelecidos em
Luanda em 1649 a convite de Salvador Correia de Sá, cedo ganharam o apoio
de governadores e da câmara de Luanda. Foi um capuchinho, frei Antonio de
Gaeta, o primeiro missionário a pregar na Matamba. No final do século xvii,
António de Oliveira de Cadornega informou que eram os Capuchinhos que,
no Congo – então envolvido numa guerra civil –, obravam no serviço de Deus
Hist-da-Expansao_4as.indd 231 24/Out/2014 17:17
232 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
e, em 1693, o cabido de Luanda declarou ao rei que, enquanto os Jesuítas se
dedicavam ao ensino na cidade e suas senzalas, os Capuchinhos actuavam
no sertão «com notauel zello em fazerem o offiçio de verdadeiros operarios
da vinha de Christo nosso Redemptor»69. Mas que podiam fazer estes mis‑
sionários, produto da Cristandade latina e cujo número nunca foi muito
elevado, face ao vasto e desconhecido sertão e a um heteróclito conjunto de
sobados? Apesar do esforço dos Capuchinhos e de alguns capelães dos pre‑
sídios, o resultado ficou muito aquém do desejado, um cenário para o qual
também contribuiu a «deserção» de alguns missionários, que se recusaram
a aceitar a autoridade dos seus superiores e viviam em estreita colaboração
com os sobas locais.
Escrevendo no início da década de 1680, o citado António de Oliveira
de Cadornega tinha um conhecimento sólido acerca da realidade dos rei‑
nos angolanos70 e dos obstáculos que os Portugueses, ainda que apoiados
pelos seus aliados, enfrentavam na tentativa de avançarem e controlarem
os planaltos do interior, situados, em média, acima dos 1000 metros. A sua
História Geral das Guerras Angolanas, contemporânea da Guerra dos Bár‑
baros no Nordeste do Brasil, espelha de forma inequívoca o pano de fundo
de uma guerra endémica que caracterizou a expansão portuguesa na região
do Congo e de Angola e permite compreender o motivo pelo qual a estrutura
administrativa aí existente assentava não na organização municipal, mais
desenvolvida nas ilhas atlânticas e no Brasil, mas na organização militar dos
presídios, justificando plenamente a afirmação de Orlando Ribeiro segundo
a qual Luanda e Benguela eram «feitorias em país inimigo»71. Devido a este
quadro, para além da fundação dos presídios, alguns governadores procura‑
ram criar outras estruturas militares.
No campo da administração, tratando‑se de uma conquista com um qua‑
dro de guerra, os governadores ocupavam o cume da hierarquia política e
militar e da sua actuação dependia, em boa parte, o sucesso ou insucesso da
política portuguesa e a arrecadação de direitos para a Fazenda Real. De facto,
no que respeita ao tráfico de escravos, para que as rotas comerciais continuas‑
sem abertas, permitindo a circulação de homens e mercadorias, era preciso
manter uma situação de paz. Se as campanhas militares tinham como objec‑
tivo uma expansão do domínio português, não era seguro que o conseguissem.
Mais grave, do ponto de vista económico, perturbavam o funcionamento ou
acabavam com as feiras nas regiões afectadas pela actividade militar. Ora,
no contexto do comércio de escravos, as feiras, centros especializados do
tráfico situados no sertão, revelavam‑se essenciais. Na região situada entre
os rios Zaire, Cuango e Cuvo, os principais aglomerados populacionais eram
importantes pólos do comércio esclavagista e, à excepção de portos como
Pinda, Luanda ou, mais tarde, Benguela (a sul do Cuvo), localizavam‑se todos
Hist-da-Expansao_4as.indd 232 24/Out/2014 17:17
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700) 233
no interior do sertão. A uma actividade comercial antiga juntaram‑se as exi‑
gências do comércio atlântico, originando a introdução de novos produtos
na região e intensificando o afluxo de escravos ao litoral.
Note‑se que a fronteira da zona de obtenção de escravos não era estática e
foi avançando para o interior. Uma das consequências deste avanço foi a cria‑
ção de potentados estáveis, dominados por chefes guerreiros que forneciam
escravos aos compradores europeus. Os mercados de escravos – os pumbos
ou feiras, na linguagem das fontes portuguesas – funcionavam simultanea‑
mente como centros mercantis e financeiros, transformando os produtos
europeus e as mercadorias em escravos, através daquilo que Joseph C. Miller
considerou ser um processo de «osmose económica» que possibilitava que
as duas economias – a atlântica e a africana – mantivessem as suas carac‑
terísticas bem distintas. Quanto aos principais agentes do trato no sertão,
desde o século xvi que o termo «pumbeiro» foi utilizado para nomear quer
os mercadores sertanistas portugueses, quer sobretudo os mulatos ou negros,
criados ou escravos daqueles, que percorriam o sertão e compravam escravos
para os seus senhores.
Para além da montagem de uma rede de presídios, sobre os quais assentou
o modelo de ocupação e ordenamento territorial da conquista, uma outra
vertente da política portuguesa deve ser aqui mencionada. Desde o tempo de
Paulo Dias de Novais que os Portugueses exerciam sobre vários sobas uma
soberania por estes reconhecida, dentro dos seus interesses. Estes sobas, os
«fidalgos negros», eram designados como vassalos desde o momento em que
a Coroa decidira colocá‑los sob a sua alçada. O acto legal que assim o deter‑
minara havia sido o regimento de 26 de Março de 1607. Os vassalos deviam
pagar um tributo, espécie de reconhecimento tácito e tangível da soberania
portuguesa e do seu estatuto. Esse tributo seria recolhido pelos capitães‑mores
e destinava‑se ao pagamento dos soldados dos presídios. Em 1607, apenas
14 sobas eram vassalos; uma década mais tarde, eram já 80 os sobas com
esse estatuto, tendo sido ordenado o registo, por nome, de todos os vassalos e
do tributo que cada um devia à Coroa. Os tributos foram abolidos em 1650
pelo governador Salvador Correia de Sá, mas continuaram a ser cobrados de
forma ilegal para além do século xvii, por exemplo, sob a forma de presentes
de boas‑vindas oferecidos a todos os novos governadores. Esta situação só
terminaria quando os vassalos começaram a pagar a dízima.
Se alguns governadores se revelaram estrategicamente inaptos e puderam
mesmo ser acusados de nepotismo, outros mereceram a simpatia e o apoio
das estruturas locais de poder. Mas em Angola, como em outros domínios da
monarquia, a acção dos governadores conduziu a que entrassem em choque
com as câmaras de Luanda ou de Benguela. Instituído segundo o modelo
reinol, gozando de autonomia jurisdicional, o senado, dominado por uma
Hist-da-Expansao_4as.indd 233 24/Out/2014 17:17
234 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
elite portuguesa e luso‑africana, apesar das clivagens intestinas, unia‑se para
fazer frente aos governadores quando estes afrontavam o poder concelhio e se
intrometiam na sua jurisdição. Tal como em outras partes do império, também
em Luanda e em Benguela se registaram motins e deposições de governado‑
res ou capitães‑mores, e períodos houve em que coube à câmara de Luanda
governar de facto a conquista na ausência de governador nomeado pelo rei,
como em 1667‑1669 e 1702‑170572. Era a afirmação, sempre confirmada, de
que o corpo político da monarquia se compunha de diversos pólos de poder
e de que a Coroa precisava de negociar com as elites locais para assegurar a
sua colaboração e o controlo das populações e dos territórios, realidade que,
no império, ganhava ainda mais sentido.
Hist-da-Expansao_4as.indd 234 24/Out/2014 17:17
12
SOB O SIGNO DO OURO
(c. 1695‑1750)
Quando, perto do final do longo reinado de D. João V, D. António Caetano
de Sousa redigiu as páginas da História Genealógica da Casa Real Por‑
tuguesa dedicadas aos sucessos ocorridos durante esses anos, não hesitou em
apontar um, senão o principal, dos traços que contemporâneos e vindouros
associaram ao Magnânimo: a riqueza aurífera. Para aquele autor, o «feliz
reinado» de D. João V devia ser chamado de «o Século de Ouro», devido à
abundância de ouro que se obtinha nas Minas Gerais e em outras partes do
Brasil – Cuiabá, Goiás – e sobre o qual recaíam vários tributos1. Mas, déca‑
das antes, por ocasião do nascimento do príncipe D. João, futuro D. João V,
em 1689, vários tinham sido os textos que projectaram no herdeiro recém
‑nascido os anseios de uma restauração imperial, alimentada pela «saudade
daquella antigua gloria / Dos soberanos Reys do Luso Imperio, /». De igual
modo, em 1697, nas Cortes de Lisboa, nas quais D. João foi jurado por
príncipe sucessor do reino, alguns dos discursos pronunciados na ocasião
colocaram a tónica nos dias felizes do império que se podiam adivinhar.
No contexto deste ideário laudatório e messiânico, a descoberta de ouro no
sertão paulista na última década de Seiscentos pareceu a muitos um achado
providencial e nas palavras de D. João de Lencastre, em carta a D. Pedro II,
em 1701, prometia «riquezas e felicidades ao reino» de Portugal e permitia
pensar na refundação do reino e do império, tal como se tentara no reinado
de outro João2.
A importância do ouro e, a partir de 1729, dos diamantes acelerou o
movimento de basculação que deslocou o centro de gravidade do Império
Português para o espaço atlântico, confirmando a «ocidentalização» do
império e a importância do Atlântico Sul no contexto imperial português3.
E se após a Restauração, como vimos, no seio do Conselho Ultramarino
Hist-da-Expansao_4as.indd 235 24/Out/2014 17:17
236 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
os conselheiros ainda olhavam sobretudo para o Estado da Índia como o
palco principal do império, na primeira metade de Setecentos a centralidade
do Brasil e os problemas que aí se colocaram à monarquia tiveram atentos
observadores que ajudaram a forjar outras percepções das territorialidades
da monarquia e do império, novos discursos e práticas governativas que,
não rompendo com o passado, buscaram afirmar a soberania régia de forma
mais eficaz, embora nem sempre com sucesso, pois havia que contar com os
contextos e os interesses dos poderes locais4.
Para o Estado do Brasil, tratou‑se da etapa final de um longo processo
que, entre 1620 e 1750, consagrou uma dupla mutação, espacial e estrutural,
segundo a interpretação de Guy Martinière, que levou da «idade do açúcar»
à «idade do ouro» e ao deslocamento do centro de gravidade económico e,
mais tarde, político para sul, em torno do Rio de Janeiro, que suplantou a
Baía e se tornou a principal praça do Brasil5. De qualquer modo, importa
sublinhar que embora o ouro tenha contribuído, através do «quinto» e de
outras formas de arrecadação, para que o império retomasse o seu lugar
de destaque no conjunto das finanças da monarquia, o açúcar e o tabaco
também deram uma contribuição importante para a recuperação da Fazenda
Real e das «finanças públicas»6.
O ouro e também os diamantes marcaram de forma indelével múltiplas
dimensões da História e da sociedade portuguesas na primeira metade de
Setecentos. Foi em busca das minas que largos contingentes se dirigiram
para as áreas de mineração, o que permitiu erguer câmaras e igrejas e rasgar
novos horizontes no sertão do Brasil. Foram as riquezas oriundas do Brasil
que em muito suportaram os programas arquitectónicos e artísticos e o
mecenato cultural da monarquia barroca de D. João V. Mas o lugar central
ocupado pelo Brasil no quadro da monarquia pluricontinental portuguesa
não deve impedir que destaquemos, para o conjunto do império, outras
linhas de força que se desenharam nesses anos e que seriam consolidadas
em décadas posteriores: por um lado, a continuação de um processo de
exploração e ampliação territorial em vários domínios e conquistas; e, por
outro, como resposta a uma crise aguda, que teve o seu clímax em 1739
com a perda da Província do Norte, o início da reconfiguração e de um
reajustamento do Estado da Índia. Muitos actores históricos deste período
ocuparam posições de relevo nos palcos asiático, africano e americano,
ilustrando desse modo a dimensão multicontinental e os fluxos que caracte‑
rizavam o espaço imperial português, sobretudo ao nível das elites políticas
e mercantis.
Hist-da-Expansao_4as.indd 236 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 237
A Guerra da Sucessão de Espanha e o império
A Guerra da Sucessão de Espanha mobilizou todos os recursos militares e
diplomáticos das diversas casas soberanas e dos seus aliados. Num primeiro
momento, apesar da existência de diferentes sensibilidades na avaliação das
alternativas que se ofereciam à monarquia portuguesa, D. Pedro II reconheceu
Filipe, duque de Anjou, como o sucessor de Carlos II, enquanto Filipe V, e
aliou‑se à França e à Espanha. Todavia, face à pressão diplomática inglesa
e holandesa e à supremacia naval dos aliados, em 1703 Portugal juntou‑se
ao bloco constituído por Inglaterra, Holanda, Áustria, ducado de Sabóia
e uma grande parte dos estados alemães, formando a Grande Aliança no
apoio ao arquiduque Carlos de Áustria. Para consolidar a aliança e reforçar
a posição portuguesa no bloco aliado, D. Pedro II preparou o casamento do
seu sucessor com a filha do imperador, estreitando os laços de parentesco
existentes, pois D. Maria Ana de Áustria, a escolhida, era prima direita do
noivo. O realinhamento político da dinastia brigantina objectivou‑se nos
tratados celebrados em 1703 – entre os quais o tratado de comércio entre
Portugal e a Inglaterra, de 27 de Dezembro – e consagrou em definitivo a
opção atlântica da monarquia portuguesa7. A entrada de Portugal no conflito
aconteceu em 1704, com a declaração de guerra de Filipe V de 30 de Abril
e o início subsequente das operações militares. Tal como durante a Guerra
da Restauração, o reino português foi palco da investida de tropas inimigas.
Mas também as partes de Além‑Mar, pois as hostilidades não se confinaram
aos territórios europeus. Neste quadro, o Atlântico foi um palco privilegiado
para as actividades corsárias.
Os Franceses foram os mais activos. Logo em Junho de 1705, quatro
vasos de guerra franceses atacaram e queimaram Benguela; em 1706, foi
a vez da ilha do Príncipe ser atacada; e em 1708, sob o comando de René
Duguay‑Trouin, os Franceses fizeram uma investida contra a ilha de São Jorge,
saqueando as vilas de Velas e da Calheta e provocando grande apreensão
nas ilhas, sobretudo na Terceira, devido à proximidade de São Jorge e por se
tratar do principal porto de apoio às frotas do Brasil8. O ano seguinte trouxe
novo ataque francês, desta vez contra São Tomé e, por fim, em 1712, atacaram
Santiago, em Cabo Verde. Mas o principal alvo dos ataques franceses foi o
Rio de Janeiro. A conjuntura da guerra que se projectou no Atlântico com os
ataques espanhóis e franceses a posições portuguesas9 demonstrou que era
necessário reforçar a autoridade da Coroa no Estado do Brasil e providenciar
a ocupação e defesa do litoral, de modo a evitar, conforme escreveria mais
tarde Sebastião da Rocha Pita, os «grandes insultos e roubos de piratas nos
seus mares, tomando vários navios que saíam dos seus portos ou a eles iam,
e com maior porfia depois que se descobriram as Minas do Sul»10. Em Julho
Hist-da-Expansao_4as.indd 237 24/Out/2014 17:17
238 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de 1710, José Soares da Silva dava conta nas suas notas de que um navio
de licença chegara da Baía trazendo a notícia de que os Ingleses faziam o
seu trato na América Portuguesa enviando navios à Baía, ao Rio de Janeiro
e a Pernambuco e regressando depois à Europa com ouro, açúcar e tabaco.
Concluía o registo expondo o seu receio de que, caso um tão danoso negó‑
cio continuasse, estaria em risco a posse do Brasil, pois «com a demora se
faz irreparável, como tambem a perda deste nosso Reyno sem a utilidade
daquellas Conquistas»11.
Lidas retrospectivamente, as palavras do memorialista José Soares da Silva
parecem proféticas. Nesse ano, a cidade do Rio de Janeiro foi atacada por uma
pequena esquadra composta por cinco vasos de guerra e cerca de mil homens,
uma força armada em Brest e em Rochefort semanas antes sob o comando
de Jean‑François Duclerc. Um pescador avistara os navios a 16 de Agosto e
quando, na manhã do dia seguinte, a expedição surgiu na entrada da barra
da baía as guarnições portuguesas estavam já em estado de alerta e abriram
fogo contra os navios inimigos, que rumaram por isso em direcção à ilha
Grande, onde enfrentaram a oposição das forças locais. A frota de Duclerc
deslocou‑se então para norte, desembarcando os seus efectivos na praia de
Guaratiba a 11 de Setembro. Foi a partir daqui que, a pé, marcharam sobre
o Rio de Janeiro, alcançando a cidade oito dias mais tarde e dando início
ao ataque por terra. O governador Francisco de Castro Morais tomara as
medidas necessárias para acautelar a defesa. Deste modo, apesar de a Alfân‑
dega e a Casa dos Contos terem sido destruídas durante a invasão, devido à
explosão da Casa da Pólvora, os franceses foram derrotados e Duclerc ficou
prisioneiro com seiscentos ou setecentos homens. Todos os demais foram
mortos. A vitória foi celebrada com festa e luminárias e o governador escreveu
a D. João V, informando‑o do grande sucesso das armas portuguesas. Deste
evento, porém, o rei só teve notícia nos começos do ano seguinte.
Uma segunda investida francesa teve sorte diferente. Apesar da sua expe‑
riência no governo de Pernambuco (1703‑1707) e do sucesso obtido contra
Duclerc e os seus homens, Francisco de Castro Morais não mostrou a mesma
determinação quando, em Setembro de 1711, uma poderosa esquadra fran‑
cesa, sob o comando de René Duguay‑Trouin, entrou na baía e atacou o Rio
de Janeiro. O governador não coordenou a defesa da cidade e capitulou,
aceitando os termos da rendição que lhe foram impostos e caindo assim
em desgraça. Na noite de 21 de Setembro, moradores e defensores fugiram,
abandonando a cidade. Os Franceses assenhorearam‑se do Rio de Janeiro
durante algumas semanas, partindo somente quando uma força portuguesa
de socorro ida de Minas chegou à cidade. Perante o contra‑ataque conduzido
a partir do sertão, Duguay‑Trouin retirou‑se, levando consigo um resgate em
ouro, as caixas de açúcar que encontrou e outros bens de valor12.
Hist-da-Expansao_4as.indd 238 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 239
Os projectos estrangeiros relativos ao Brasil não se limitaram aos ata‑
ques franceses contra o Rio de Janeiro. Ainda no decurso das negociações
dos tratados que visavam estabelecer o fim da guerra, o experiente e bem
informado D. Luís da Cunha, a partir de Utrecht, escreveu em meados de
1714 para a corte de Lisboa, comunicando que José da Cunha Brochado,
em Londres, descobrira que existia um plano para o estabelecimento de uma
colónia inglesa na América do Sul e concluía que, acaso fosse na estratégica
ilha de Santa Catarina ou na dos Patos, os proveitos resultantes da explora‑
ção e arrecadação do ouro ficariam em perigo, sendo urgente impedir que
tal projecto fosse avante13. Se aquele projecto se gorou, os confrontos
que envolveram as potências europeias ao longo do século xviii e no início
do século xix demonstrariam que Franceses e Britânicos pretendiam, a todo o
custo, garantir uma posição sólida no litoral entre os rios Amazonas e Prata.
A defesa e bom governo da monarquia: povoamento e migrações
A necessidade de preservar a soberania portuguesa nas regiões sul
‑brasileiras obrigou a monarquia joanina a equacionar o povoamento das
regiões meridionais do Brasil. Para tal, D. João V recorreu a um modelo que
tinha sido implementado na região amazónica no século anterior, com a
presença de contingentes militares e a fixação de casais ilhéus, um projecto
que se começou a configurar durante o período da Guerra da Sucessão de
Espanha, antes mesmo dos ataques franceses ao Rio de Janeiro14. Com o
fim do conflito, no contexto das tramas e negociações diplomáticas que se
desenvolveram durante o período dos Congressos de Utrecht e Rastatt, de
Cambrai e dos que se lhes seguiram na década de 1720, o que designaríamos
por «política externa» das monarquias portuguesa e espanhola dependeu em
parte dos respectivos alinhamentos políticos e diplomáticos, o que equivale
a dizer que as mediações inglesa e francesa actuaram de modo a conseguir
o desfecho das negociações. O tratado de paz entre D. João V e Filipe V foi
assinado a 6 de Fevereiro de 171515. Um balanço das perdas e ganhos da Paz
de Utrecht permite uma avaliação globalmente positiva. Portugal recuperou
a Nova Colónia do Sacramento, abandonada em 1705, e a colónia foi reco‑
nhecida por Espanha como o ponto mais meridional do domínio português
nas Américas, devido também à pressão britânica e à acção do embaixador
inglês lord Lexington em Utrecht e em Madrid. De igual modo, no Norte,
a Coroa portuguesa conseguiu assegurar a margem esquerda do Orenoco.
Após a restituição da praça do Sacramento, em 1716, o Conselho Ultrama‑
rino tratou de promover a ocupação do território com o recurso a casais de
Trás‑os‑Montes e dos Açores16. No entanto, continuaram em aberto questões
Hist-da-Expansao_4as.indd 239 24/Out/2014 17:17
240 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
que tinham a sua origem nos anos iniciais da guerra e, no terreno, as demar‑
cações revelaram‑se de difícil execução, conforme atesta a correspondência
trocada entre o governo da colónia e a corte nos anos de 1718 e 171917.
Um dos problemas por resolver dizia respeito ao valor equivalente proposto
por Filipe V pela Colónia do Sacramento em virtude do que ficara acordado
na paz ajustada com Portugal em Utrecht18. Para o Consejo de Indias, exis‑
tiam grandes inconvenientes em entregar‑se a Colónia a Portugal, e muita da
acção desenvolvida pelo embaixador espanhol na corte de Lisboa nos anos
de 1716 e 1717 passou pela tentativa de evitar a devolução desse território.
A diplomacia bourbónica argumentava que a Colónia do Sacramento estava
longe dos núcleos portugueses e que o seu solo não era fértil, por ser arenoso,
constituindo apenas motivo de inquietação e gastos para o rei de Portugal19.
A conjuntura balizada pela formação da Quádrupla Aliança, em 1718,
contra as ambições de Filipe V – que, em 1720, acabaria por integrar a
mesma, renunciando ao trono francês –, e pela assinatura do Tratado de
Cambrai, a 27 de Março de 1721, confirmando a nova aliança franco
‑espanhola, revelou‑se preocupante para os interesses portugueses na Amé‑
rica do Sul20. Neste contexto, a crise sísmica e vulcânica que assolou a ilha
do Pico nos anos de 1717, 1718 e 1720 constituiu o momento oportuno
para o Conselho Ultramarino promover o povoamento português no Brasil
meridional, apoiando a súplica das populações atingidas pelos efeitos da
crise, que requeriam passar às partes do Brasil21. Para os conselheiros, em
nome da segurança e do aumento do Estado do Brasil, era urgente mandar
povoar todos os portos até aos rios de São Francisco Xavier e Rio Grande
de São Pedro e ainda a ilha de Santa Catarina, cujos moradores, em reduzido
número, viviam receosos de ataques de piratas. Entre 1720 e 1723, o Conse‑
lho Ultramarino procurou organizar, com a colaboração do corregedor dos
Açores e das câmaras islenhas, o alistamento de casais que deveriam rumar
ao Brasil meridional, iniciativa que adquiriu maior relevo após o episódio
da ocupação do sítio de Montevideu pelos Portugueses (1723‑1725). Porém,
face às dificuldades de alistamento e transporte, a Coroa suspendeu tempo‑
rariamente o projecto em 172922. É provável que as atenções de D. João V
estivessem sobretudo voltadas para o diferendo que mantinha com Roma
e para as negociações em torno do duplo enlace dos príncipes de Portugal
e de Espanha, o que pode ter contribuído para uma menor dinâmica do
processo de alistamento de casais açorianos, mas não impediu o monarca de
atender aos pedidos que, desde o Brasil, defendiam a ocupação das regiões
meridionais da América Portuguesa23. Entretanto, as notícias que davam
conta da situação no Oriente, que reclamava uma resposta enérgica, terão
igualmente pesado junto da Coroa no tocante à introdução de uma pausa
no processo de alistamento de casais.
Hist-da-Expansao_4as.indd 240 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 241
Em 1735, após uma fase de relativo adormecimento, houve um reacender
das hostilidades em torno do controlo da bacia do Prata, que duraram até
1737, período durante o qual a Colónia do Sacramento esteve cercada 24.
A Convenção de Paris de 15 de Março de 1737 permitiu declarar o fim das
hostilidades na América do Sul, embora, no mesmo ano, Portugal reforçasse
a sua presença na região sul do Brasil contra a oposição espanhola, com a
fundação do presídio do Rio Grande pelo brigadeiro e engenheiro‑militar
José da Silva Pais, responsável pelas obras de defesa do Rio de Janeiro ao Rio
da Prata. A nomeação de José da Silva Pais – tal como, uns anos antes, a de
Gomes Freire de Andrade – inscreve‑se no contexto da inflexão da política
imperial joanina na década de 1730, caracterizada pelo «envio de um novo
perfil de governadores e ministros para o ultramar»25. Foi o mesmo José
da Silva Pais quem assegurou a defesa da ilha de Santa Catarina, quando
esta, juntamente com o Rio Grande, foi separada da capitania de São Paulo,
ficando os dois territórios na dependência jurisdicional da capitania do Rio de
Janeiro, cabendo‑lhe demonstrar a real importância geoestratégica da ilha26.
Na viragem da década, a monarquia bourbónica não respondeu à inicia‑
tiva portuguesa no Brasil meridional, pois a atenção de Filipe V e dos seus
ministros estava orientada para a ameaça de nova guerra contra a potência
naval britânica. O conflito, conhecido como a Guerra da Orelha de Jenkins,
deflagrou em 1739, confundindo‑se com a Guerra de Sucessão da Áustria
(1740‑1748). Portugal, escudando‑se nos tratados de 1703, optou por manter
uma posição neutral, o que permitiu a D. João V evitar o desvio de meios
humanos e materiais para um cenário que não lhe interessava. Em 1746, a
morte de Filipe V alterou as condições em que se desenvolviam as relações
entre Portugal e Espanha. Para as duas monarquias ibéricas configurou‑se
uma fase mais favorável, mercê da subida ao trono de Fernando VI, que
casara com D. Bárbara de Bragança. A rainha, princesa do Brasil, encabe‑
çando o partido português, aliado na corte espanhola do partido fernandino27,
e contando com a colaboração do ministro José de Carvajal, de ascendência
portuguesa (Casa de Aveiro), contribuiu para o estreitamento das relações
entre Portugal e Espanha nos anos finais do reinado de D. João V, abrindo
caminho para novas negociações entre as coroas ibéricas e para a assinatura
do Tratado de Madrid, em 1750.
Ouro, impostos e revoltas
Na viragem para a centúria de Setecentos, a febre da exploração aurífera
contribuiu para o início de uma modificação na estrutura económica e popu‑
lacional do Brasil, a partir da região que veio a ser conhecida como Minas
Hist-da-Expansao_4as.indd 241 24/Out/2014 17:17
242 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Gerais. O ouro marcou, em termos quantitativos e qualitativos, a história
económica setecentista luso‑brasileira. A região aurífera por excelência era
Minas Gerais. Goiás e Mato Grosso, onde se descobriram novas jazidas como
resultado do avanço para o interior, apresentavam níveis de produção muito
abaixo dos da região mineira. A análise mais recente e completa informa que
entre 1720 e 1807 chegaram a Portugal 271 000 contos, 78% destinados
a particulares e 22% aos cofres da Fazenda Real. O auge das remessas do
ouro que se destinavam a agentes económicos privados situou‑se na década
de 1740 e o declínio iniciou‑se nos anos de 1750‑1754, antes mesmo da
quebra da produção; para a Coroa, o pico das remessas teve lugar na década
de 176028.
Uma grande parte do ouro arrecadado pela Fazenda Real, assim como o de
particulares, viajou para o reino a bordo das frotas sob a forma de barras, em
pó, amoedado ou «em obra», isto é, sob a forma de peças de ouro29. As princi‑
pais frotas eram a da Baía e, sobretudo, a do Rio de Janeiro, que transportou
cerca de 77% do ouro enviado para o reino30. O ouro e, depois, os diaman‑
tes, pelo seu valor, eram transportados em navios de guerra e a chegada dos
navios do ouro comentada nas gazetas manuscritas da época, estimando‑se as
quantidades transportadas e o que representariam para a Coroa. Em meados
do século (1746), com base num relatório consular francês, a frota do Rio de
Janeiro compunha‑se de vinte a trinta navios, comboiados por dois navios
de guerra. Partia de Lisboa em Março, durando a viagem 80 a 90 dias; os
navios ficavam no Rio de Janeiro cerca de 80 dias, para vender as mercadorias,
e regressavam no final do ano. O valor da sua carga anual era estimado em
20 milhões a 25 milhões de libras e todo este trato gerava um movimento cen‑
trípeto que fazia afluir ao porto do Rio de Janeiro embarcações provenientes
de toda a América Portuguesa, abastecendo a cidade e a frota e contribuindo
para a redistribuição das mercadorias importadas do reino, nacionais ou de
origem estrangeira31. A frota da Baía, aparentemente, não tinha data certa
para partir e regressar, nem apresentava um número fixo de navios, mas em
diversos anos contou com mais navios do que a do Rio de Janeiro. A Baía
não recebia produtos unicamente do reino, mas também do Oriente, por via
dos navios da Carreira da Índia que escalavam o seu porto, e a sua exporta‑
ção, embora variada, teve no açúcar o género dominante. Se o patamar das
12 000 caixas de açúcar era um valor que permitia afirmar ser a exportação
satisfatória, dados como os de 1748, entre as 16 000 e as 17 000 caixas,
contribuíam para afirmar a importância da capitania no contexto económico
atlântico. A frota de Pernambuco, a menos importante, equivalia a metade
da da Baía e os navios que uniam Lisboa ao Recife transportaram muito do
tabaco e do pau‑brasil que chegaram ao reino, mas também outros bens,
como aguardente ou arroz32. O sistema de frotas seria extinto pelo alvará
Hist-da-Expansao_4as.indd 242 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 243
de 10 de Setembro de 1765, que o alvará de 27 do mesmo mês e ano tornou
extensível aos arquipélagos da Madeira e dos Açores33.
Se o ouro do Brasil afluiu a Portugal, foram, no entanto, os Europeus do
Norte os grandes beneficiários desse circuito. Apesar da legislação régia, que
interditava o comércio português com estrangeiros ou a entrada de navios
estrangeiros em portos brasileiros, por via do contrabando e de circuitos de
trato que passavam pela África Ocidental ou simplesmente devido ao paga‑
mento de artigos de luxo, o ouro do Brasil fluiu para Londres e Amesterdão.
Deste modo, Virgílio Noya Pinto pôde afirmar que «a Inglaterra funcionou
no século xviii como o centro polarizador de ouro»34. Com efeito, à medida
que, no quadro das relações mercantis entre Portugal e a Grã‑Bretanha, a
balança comercial pendia cada vez mais a favor dos Britânicos, o stock de
metal precioso do Banco de Inglaterra aumentava e até à década de 1770
o ouro brasileiro e o comércio anglo‑português foram «setores em relação
direta»35.
Por força da actividade económica na região, assistiu‑se a uma migra‑
ção em massa, basicamente masculina, do Nordeste e do planalto de São
Paulo para as terras de Minas Gerais. Além deste movimento espontâneo,
houve um aumento concomitante das migrações portuguesas, sem falar do
aumento do tráfico de escravos para a região. Todo este fluxo espontâneo
de gentes, dando origem a arraiais, a que se seguiu a sua elevação a vilas, a
par da divisão da região em comarcas, contribuiu para agravar cisões entre
reinóis e luso‑brasileiros, estalando conflitos entre colonos e revoltas no
Estado do Brasil, demonstrando que era necessário reforçar a autoridade da
monarquia. Na época, D. António Caetano de Sousa falou em «alguns con‑
tratempos domesticos entre os proprios naturaes»36, mas, de facto, tratou‑se
de algo mais, que, colocando em causa o poder dos representantes do rei,
atentava contra a autoridade da própria Coroa. No planalto, a autonomia e
a mobilidade dos paulistas alimentavam os rumores sobre uma «espécie de
República» de brigões, que recusavam reconhecer a autoridade de um gover‑
nador, como se afirma no relato de François Froger, que passou pelo Brasil
em finais do século xvii, imagem que em parte sobreviveu ao longo do século
seguinte37. E Laura de Mello e Souza e Maria Fernanda Bicalho referiram‑se
aos primeiros tempos de Minas, salientando a presença de «potentados» e
«valentões» actuando sem controlo38. Como contraponto a esta imagem, em
meados de Setecentos, Pedro Taques de Almeida Pais de Leme (1714‑1777),
na sua obra Nobiliarquia Paulistana, descreveu os feitos dos Paulistas na
América e no império, identificando‑os, em oposição aos reinóis, como os
«agentes centrais da história do Brasil e do Maranhão»39.
No início do reinado de D. João V, depois da Guerra dos Emboabas
(1707‑1709), um novo motivo de cuidados para o jovem rei e o seu círculo
Hist-da-Expansao_4as.indd 243 24/Out/2014 17:17
244 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de conselheiros manifestou‑se com o conflito que deflagrou em Pernambuco
e ficou conhecido como a Guerra dos Mascates (1710‑1711), opondo os
interesses que se tipificavam nas figuras do mercador reinol, instalado nas
lojas do dinâmico Recife, e do senhor de engenho pernambucano, que tinha
na câmara de Olinda e na sua participação no poder concelhio uma marca de
diferenciação social. O pomo da discórdia tinha sido a elevação do Recife a
vila. Como em outras partes da Europa ou dos territórios imperiais, a imagem
do rei não foi posta em causa. Os amotinados gritaram vivas a D. João V,
mas pediram a morte do governador de Pernambuco, Sebastião de Castro
e Caldas, que fugiu, acabando preso por ordem de D. Lourenço de Almada
e enviado para Lisboa. Os ecos da sedição vibraram forte junto do monarca
e da corte, que tomaram conhecimento do caso no início do ano seguinte,
merecendo toda a atenção por parte do rei e do Conselho Ultramarino nos
anos imediatos. Apesar das diferentes interpretações sobre o que de facto
sucedera, a repressão da nobreza fundiária acalmou os ânimos por décadas40.
Estas não foram as únicas fontes de sedição no Brasil da primeira metade
de Setecentos. Ainda em 1711, assinalamos os «motins do Maneta», na Baía.
Mas foi nas Minas que se registaram mais distúrbios e revoltas. As primeiras
tentativas para impor a autoridade régia na confusão primicial falharam, mas
criaram‑se novas jurisdições e os arraiais foram elevados a vilas segundo o
modelo reinol. Em 1709 foi criada a capitania régia de São Paulo e Minas do
Ouro e, na década seguinte, as primeiras vilas: em 1711, Ribeirão de Nossa
Senhora do Carmo (cidade de Mariana e sede de bispado em 1745), Vila
Rica (Ouro Preto) e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará; em
1713, São João d’el‑Rei; e outras nos anos subsequentes. À cabeça das vilas,
no governo das câmaras, elites ciosas da sua autonomia. Quando a Coroa
decidiu arrecadar o quinto segundo um novo modelo, que garantisse mais
metal para os cofres da Fazenda Real, a resposta não tardou. Registemos,
em primeiro lugar, a realização de várias juntas de câmaras para a tomada
de decisões negociadas entre as elites de cada senado visando a defesa dos
seus interesses. André Alexandre da Silva Costa constatou que entre 1714 e
1725 as juntas reuniram‑se anualmente e, por vezes, mais do que uma vez
por ano. Entre 1725 e 1734, a frequência caiu, subindo de novo entre 1734 e
1736, com a aprovação da capitação. Anos mais tarde, voltariam a reunir‑se41.
Porém, outra forma de resistência teve lugar em Minas, essa mais violenta.
Os levantamentos em Minas (1717, 1720, 1736), envolvendo populares
e membros das elites locais, homens e mulheres de posição social de relevo,
e outros que tinham servido ofícios da Coroa42, foram devidos à política
fiscal da monarquia e à tentativa de imposição de novas formas de cobrança.
No quadro da carga tributária que incidia sobre os produtos da economia
brasileira, a Coroa prestou um especial cuidado em relação aos direitos
Hist-da-Expansao_4as.indd 244 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 245
régios que recaíam sobre a produção aurífera. Todavia, embora desde cedo
se procurasse cobrar o «quinto», a fiscalidade régia não foi, de início, muito
eficaz ou coerente. Neste contexto, as elites locais desempenharam um papel
de relevo no processo de instalação das instituições da monarquia e bene‑
ficiaram da riqueza gerada. Foi somente quando a Coroa procurou impor
formas de controlo da mineração mais apertadas e mecanismos de tributação
mais rigorosos, como a instalação das Casas de Fundição, onde se faria a
cobrança dos quintos, que se deparou com a resistência das câmaras e teve
de enfrentar motins antifiscais. Em 1720, durante a revolta de Vila Rica, o
palácio do governador da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, o conde
de Assumar, na vila de Ribeirão do Carmo, hoje Mariana, foi cercado por
algumas centenas de amotinados, o que é revelador da dimensão dos protes‑
tos. Mas a reacção do governador foi violenta e ficaria na memória.
Na trama desta história, o ano de 1733 merece um destaque especial. Por
um lado, por carta de 8 de Maio, Gomes Freire de Andrade foi nomeado
governador da capitania do Rio de Janeiro. Permaneceria à frente dos des‑
tinos da capitania quase três décadas, afirmando‑se como uma personagem
central em vários processos coevos, desde a cobrança de impostos nas Minas
Gerais à demarcação dos limites entre as coroas de Portugal e de Espanha
após a assinatura do Tratado de Madrid, em 175043. Ainda em 1733, na
corte joanina, Alexandre de Gusmão, natural de Santos, recuperou algum do
protagonismo que tivera em anos anteriores apresentando a D. João V o seu
projecto de capitação e maneio, após ter consultado elementos da primeira
nobreza da corte e do Conselho Ultramarino, o secretário de Estado Diogo
de Mendonça Corte Real, padres da Congregação do Oratório e dos Jesuítas.
O sistema de cobrança proposto incidia sobre toda a população, com algumas
excepções próprias de uma sociedade de privilégios, e não somente sobre os
mineiros. Os escravos estavam incluídos. A proposta, acolhida pelo rei, foi
estudada e ouviram‑se muitos pareceres que, desde logo, exprimiram opi‑
niões contrárias, como a do Conselho Ultramarino. Deste modo, entre 1733
e 1736, por entre muita negociação, foram introduzidas várias alterações na
proposta original.
Antes da implementação do novo processo de cobrança, mandava o
Regimento outorgado pelo monarca que as vilas cabeças de comarca fossem
ouvidas. Assim devia ser numa monarquia corporativa, com respeito pelas
múltiplas hierarquias de poder que, à escala local e regional, adaptavam e
incorporavam na prática quotidiana as lógicas de uma cultura política holista
e de um modelo societal estruturante. E esta auscultação era ainda mais
importante em matéria de novos impostos, conforme ficara demonstrado no
século anterior. A tarefa de garantir a aplicação do sistema de capitação foi
confiada a Martinho de Mendonça de Pina e Proença, homem da confiança
Hist-da-Expansao_4as.indd 245 24/Out/2014 17:17
246 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
régia. Uma junta reuniu‑se em Minas Gerais a 24 de Março de 1734, con‑
vocada pelo conde das Galveias, e nova reunião teve lugar a 1 de Julho de
1735. Este tipo de reuniões, semelhante ao que sucedia em outras partes da
monarquia, ocorria sempre que estava em causa uma tomada de posição
colectiva face a uma solicitação da Coroa ou a um problema que afectava
todos os concelhos. Era o que acontecia com o lançamento de novos direitos.
Apesar das críticas dos procuradores das câmaras e das divisões, a capitação
foi imposta e o desempenho de Martinho de Mendonça elogiado em Lisboa.
Mas em Minas os protestos rebentaram. Esta matéria nunca foi pacífica e
ajuda a explicar o ódio que, nos anos terminais do reinado de D. João V,
se nutria contra Alexandre de Gusmão, mormente por parte dos Jesuítas44.
No final da década de 1740, novos pareceres foram solicitados sobre a
matéria, mas a revogação do processo aconteceria somente após a morte
de D. João V, no contexto da viragem de reinado, marcado pela intriga
palaciana e pela disposição de novas peças no tabuleiro do xadrez cortesão.
O processo de avaliação da capitação culminou com a aprovação da lei de
3 de Dezembro de 1750 e a das Casas de Fundição em 175145.
Não foram aqueles os únicos levantamentos que então se registaram no
Brasil. Em 1736 e 1737, no sertão do rio de São Francisco, lavradores locais
armaram‑se para resistir ao pagamento do donativo devido pelo duplo enlace
dos príncipes portugueses e espanhóis, em 172946. De novo, motins antifiscais.
Alguns historiadores consideraram que a eclosão destes motins e revoltas é
ilustrativa de uma visão diferente do império que se começava a esboçar a
partir de Pernambuco, da Baía ou das Minas Gerais, falando inclusive de um
«laboratório de identidades»47. No entanto, é preciso sublinhar o carácter
regional destes movimentos, ou seja, o facto de não estarem articulados entre
eles e de resultarem de contextos locais, apesar da tónica antifiscal comum.
Além do mais, as elites locais não se apresentavam como um corpo homogéneo
e os grupos familiares e os indivíduos dividiam‑se em redes interpessoais de
poder de acordo com os seus interesses e estratégias. As clivagens foram visíveis
durante as revoltas, como a de 1720, uma revolta de elite, com a câmara de
São João d’el‑Rei proclamando a sua fidelidade ao monarca em contraste com
os amotinados ou a participação de diversos cobradores dos quintos reais ao
lado dos revoltosos, uns, e ao lado do conde, outros48. Se estes protestos cor‑
responderam à defesa dos interesses de comunidades e à expulsão dos agentes
que representavam o centro político, a complexa vinculação política e social
dos actores, as relações de dominação e de subordinação e a dinâmica das
redes interpessoais sugerem que as lógicas de grupos de poder e de indivíduos
se entrelaçaram para que, havendo mudanças, estas não fossem rupturas.
É preciso lembrar que foi nesta conjuntura, e ainda antes da assinatura
da paz entre D. João V e Filipe V, que, em 1714, o 2.º conde de Vila Verde
Hist-da-Expansao_4as.indd 246 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 247
tomou posse do governo do Estado do Brasil com o título de vice‑rei, o
mesmo que tivera quando servira no Oriente no final de Seiscentos. Seria
elevado ao marquesado, com o título de marquês de Angeja. Em 1720, Vasco
Fernandes César de Meneses, que servira igualmente como vice‑rei da Índia,
foi outrossim nomeado para o governo do Brasil com o título de vice‑rei e
desde então e até 1808 o título foi concedido sem interrupção. A elevação do
Estado do Brasil na hierarquia de prestígio do império, colocando‑o a par
do Estado da Índia no tocante ao estatuto jurídico dos territórios, seria
reforçada com a concessão do título de conde de Sabugosa a Vasco Fernan‑
des César de Meneses por carta régia de 19 de Setembro de 1729. Como o
exercício do vice‑reinado se prolongou até 1735, coincidiu com a presença do
irmão em terras americanas, pois Rodrigo César de Meneses foi nomeado em
1721 para o governo da capitania de São Paulo após a divisão da capitania
régia de São Paulo e Minas do Ouro em duas49.
Como consequência do avanço colonizador sertão adentro, foi aberta uma
estrada entre São Paulo e Goiás e, em 1736, o caminho terrestre ligando o
Cuiabá a Goiás. Perante o aumento populacional e o fluxo de pessoas e bens,
de modo a consolidar a presença da Coroa e da Igreja nos novos territórios de
mineração, foram criadas as novas dioceses de São Paulo e de Mariana, ambas
em 1745, além das prelazias de Goiás e do Cuiabá, reordenando‑se assim o
território e a jurisdição do bispado do Rio de Janeiro. Foi igualmente extinto
o cargo de governador de São Paulo, em 1748. Deste modo, transformada
a capitania em comarca do Rio de Janeiro, o governo militar de uma vasta
região que abarcava os territórios meridionais passou para o Rio de Janeiro.
As mudanças na arquitectura político‑administrativa do Império Português
na América iam no sentido de chamar ao centro político um maior controlo
sobre um vastíssimo espaço fragmentado em capitanias e jurisdições. Neste
contexto, o processo de integração das capitanias hereditárias na Coroa, ape‑
nas encerrado no reinado de D. José, e a acumulação de poderes por parte de
Gomes Freire de Andrade a partir de 1748 constituíram outras vertentes da
afirmação do regalismo joanino. Todas confirmavam a relevância atribuída
ao Brasil no todo da geografia imperial.
Dois homens para o império: D. Luís da Cunha e Alexandre de Gusmão
Em obra clássica sobre os antecedentes e as negociações do Tratado de
Madrid, Jaime Cortesão destacou a coincidência no tempo de dois acon‑
tecimentos marcantes que em muito influenciaram a política joanina no
que respeitava ao Brasil50. Em finais de 1720, em Paris, mais precisamente
a 27 de Novembro, o primeiro‑geógrafo do rei, Guillaume Delisle, leu
Hist-da-Expansao_4as.indd 247 24/Out/2014 17:17
248 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
perante a Academia das Ciências uma memória na qual expôs as suas reflexões
sobre a questão da longitude. Os argumentos expostos tinham consequências
para o estabelecimento dos meridianos de demarcação entre os territórios
reivindicados por Portugal, e que o Tratado de Utrecht lhe reconhecera, e os
das monarquias francesa e espanhola na América do Sul. De acordo com os
cálculos de Delisle, as terras do Cabo do Norte e a Colónia do Sacramento
ficavam para além do meridiano de Tordesilhas. D. Luís da Cunha, em Paris,
adivinhou o aproximar da turbulência e, em 1721, comunicaria à Coroa
portuguesa o teor da dissertação de Delisle.
Desconhecendo ainda o que se pronunciara em Paris e a muitos quiló‑
metros de distância, quase um mês depois, na capital portuguesa, D. João V
criava a Real Academia da História. O monarca apostou decididamente na
recuperação da memória histórica portuguesa como estratégia de afirmação
à escala internacional. A Academia da História Eclesiástica de Portugal, que
no ano seguinte se transformou na Real Academia da História, reuniu‑se
pela primeira vez a 8 de Dezembro de 1720, no Paço da Casa de Bragança,
em Lisboa, por ordem do rei. Segundo explicou então Manuel Caetano de
Sousa, o projecto régio visava a redacção de uma história eclesiástica e outra
secular do reino de Portugal e incluía a recolha de manuscritos e a formação
de um corpo de escritores. Uma das iniciativas de maior alcance tomadas pelo
monarca foi a decisão de mandar copiar de forma sistemática a documentação
dispersa por arquivos nacionais e, sobretudo, estrangeiros. Assim se copiou
em Roma a Symmicta Lusitanica e também documentos relativos à história
da Companhia de Jesus no Oriente. Quanto à cartografia, teve no engenheiro
‑mor Manuel de Azevedo Fortes um dos seus mais empenhados defensores
e o iniciador do levantamento topográfico do reino.
D. Luís da Cunha travou a mesma batalha. Cabendo‑lhe representar e
defender os interesses da Coroa portuguesa na estrangeiro, o arguto diplo‑
mata compreendera cedo qual o impacto da memória lida por Guillaume
Delisle. Homem culto e protótipo do diplomata cosmopolita e ilustrado da
primeira metade de Setecentos, constatou no ambiente dos congressos qual o
lugar da cartografia. E, convicto de que Portugal carecia de bons mapas dos
territórios onde existia um povoamento português e para os quais defendia
uma maior ocupação do espaço, para defesa e conservação das conquistas
de acordo com o princípio do uti possidetis, reclamava desde 1719 contra
essa lacuna e advogava o uso da cartografia nas negociações diplomáticas.
Residiu nesta certeza a sua aproximação na década de 1720 a Jean‑Baptiste
Bourguignon D’Anville (1697‑1782), geógrafo do rei em 1719 e primeiro
‑geógrafo do rei de França após a morte de Delisle, em 1725. Apesar de
geógrafo de gabinete, D’Anville trabalhava com base em métodos rigoro‑
sos, aliando a cartografia, a geografia histórica e a erudição a informações
Hist-da-Expansao_4as.indd 248 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 249
e medições astronómicas. Já em cartas de 1725 e 1726, D. Luís da Cunha
expunha um seu projecto relativamente às conquistas africanas, que assen‑
tava na colaboração com D’Anville51. Desta associação resultaram descrições
geográficas e um mapa impresso em 1732. O diplomata recomendou ainda
a D. João V que contratasse o geógrafo francês, o que foi feito. Mas o rei de
Portugal não se limitou a tratar com D’Anville.
Na América do Sul, a conquista do vasto interior prosseguia em múltiplas
frentes. No Estado do Maranhão, o governador João da Maia da Gama orga‑
nizou em 1722 uma expedição aos rios Madeira e Mamoré com o fito de afir‑
mar o senhorio português face à presença espanhola. No sertão descobriu‑se
café, que as notícias apresentavam como melhor do que o do Levante, e que
se exportava para Lisboa juntamente com o cacau. Todavia, o povoamento
da bacia amazónica continuava débil e muitas vilas não passavam de «bocas
do sertão» e lugares de passagem entre o Maranhão e o Pará, estivessem na
dependência do rei ou de uma capitania privada52. A comunicação entre o
Estado do Maranhão e o Estado do Brasil foi proibida pelo decreto de 27 de
Outubro de 1733, uma consequência do surto minerador. O diploma pre‑
tendeu impedir os contactos entre as regiões do Maranhão e do Pará e as do
Mato Grosso e também possíveis conflitos com as missões espanholas, mas
não evitou que os sertanistas usassem as águas dos rios Madeira, Mamoré
e Guaporé como vias de comunicação entre aqueles pólos de colonização53.
No Nordeste, continuava acesa a «Guerra dos Bárbaros». Com o alargamento
da fronteira, as nações índias começaram a empurrar‑se, a guerrear‑se entre si,
e penetraram mais para o sertão. Se uns foram «perdendo a barbaridade do
seu trato», outros fugiram para as montanhas, onde os missionários os bus‑
caram, obtendo algumas vitórias54. Mais a sul, os sertanejos e os garimpeiros
avançavam rumo a oeste. Fruto desse ímpeto, em 1718 deu‑se a descoberta
de ouro no rio Coxipó‑Mirim, no Cuiabá, obra de Pascoal Moreira Cabral,
que percorria o sertão à caça de índios, marcando esse achado o arranque
das monções, navegação fluvial em canoas ao ritmo das chuvas, por vezes
com «frotas» de comércio de largas dezenas de embarcações. E, nos campos
meridionais, índios e jesuítas espanhóis concorriam com os Portugueses na
ocupação do espaço e na criação de gado, motivo pelo qual o capitão‑mor
de Laguna, vila em 1714, financiou a expedição de João de Magalhães ao
Rio Grande, em 1725, e se abriu depois o caminho que ligava Curitiba ao
Viamão. Ao longo das trilhas e caminhos percorridos pelas tropas de gado
iriam nascer as primeiras estâncias de criação.
Como previu D. Luís da Cunha, colocavam‑se novas exigências quanto ao
conhecimento efectivo do território. Publicavam‑se itinerários, demarcavam
‑se novas geografias administrativas – pensemos na criação das capitanias
de Goiás e de Mato Grosso, áreas de mineração, em 1748 – e surgiam
Hist-da-Expansao_4as.indd 249 24/Out/2014 17:17
250 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
conflitos entre jurisdições que mostravam a necessidade de se dispor de cartas.
E caminhava‑se cada vez mais para o ocidente do meridiano de Tordesilhas,
que Delisle reposicionara. Este foi o grande palco no qual entraram dois
novos actores, contratados em Itália por ordem de D. João V. Os jesuítas João
Baptista Carbone e Domingos Capassi chegaram a Lisboa a 19 de Setembro
de 1722. Deviam seguir para o Brasil com a incumbência de preparar o Novo
Atlas da América Portuguesa, peça essencial para um melhor conhecimento
do território, com reflexos na administração e na fiscalidade, e sobretudo
para a defesa da soberania portuguesa sobre os territórios disputados pela
França e por Espanha. Todavia, os preparativos da missão foram demorados
e só em 1729 teve início a viagem. O padre Carbone ficou em Lisboa como
conselheiro de D. João V e o seu companheiro rumou ao Brasil acompa‑
nhado pelo padre Diogo Soares. A missão dos Padres Matemáticos no Brasil
decorreu entre 1730 e 1748. Capassi morreu em 1736, na capitania de São
Paulo, e Diogo Soares em 1748, em Goiás, não sem antes terem observado e
cartografado recorrendo a instrumentos de precisão. A sua produção carto‑
gráfica traduziu‑se em cerca de vinte mapas, oito plantas dos fortes do Rio
de Janeiro e uma planta da Colónia do Sacramento. Projecto incompleto,
muito criticado por Gomes Freire de Andrade, foi, porém, fundamental para
preparar as negociações do Tratado de Madrid55.
Este não foi o único projecto que germinou nesses anos. D. Luís da Cunha,
reclamando um lugar central para a cartografia e o conhecimento efectivo do
território, em 1735‑1736 imaginou e formulou a partir da Europa um projecto
global para o Império Português que, ancorado embora no Brasil, se alargava
a outras partes, integrando Atlântico e Índico56. Projecto ambicioso, sonho de
uma refundação da monarquia transmutada em restauração imperial, a visão
do diplomata português, posta por escrito, não foi porém divulgada e apenas
terá sido conhecida de uns quantos. Era, de facto, uma proposta radical, visio‑
nária, que confirmava D. Luís da Cunha como um «homem imperial», ele que
não serviu no império. Situando no centro do império o «imenso continente
do Brasil», o embaixador defendia que a corte portuguesa se devia estabelecer
no Rio de Janeiro e que o rei devia tomar para si o título de «imperador do
Ocidente». A dependência portuguesa da Europa diminuiria e as riquezas e
produções americanas e a imensa mão‑de‑obra não só permitiriam sustentar o
Brasil, mas ainda o Estado da Índia e a costa africana, que pensava articulada
com a América do Sul. Para a África não propunha uma colonização, tão
‑somente a abertura de uma via de comunicação que unisse Angola e Moçam‑
bique pelo interior do continente, potenciando a exploração do ouro, motivo
pelo qual a feitura de mapas se revelava da máxima importância. Os comércios
africano e asiático seriam entregues a uma companhia, e deste modo o trato
no Índico seria articulado com o do Atlântico.
Hist-da-Expansao_4as.indd 250 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 251
Nesta visão de conjunto, integradora, a cartografia detinha um lugar
‑chave. D. Luís da Cunha e o seu colaborador D’Anville trabalharam no
sentido de aperfeiçoar os mapas existentes, nomeadamente as cartas de
África e da América. Na carta de 1732, as dimensões do continente africano
estão mais correctas do que em mapas anteriores. Também por encomenda
de D. Luís da Cunha, D’Anville produziu um mapa em 1742, impresso em
1748, no qual projectou o mais actualizado conhecimento geográfico da Amé‑
rica Meridional, correspondendo às concepções geopolíticas do embaixador
português. Mas embora D. Luís da Cunha se tivesse empenhado para que o
mapa de D’Anville fosse enviado para Madrid e apresentado aos negociadores
espanhóis, nem aquele nem o mapa elaborado em 1746 no Rio de Janeiro
sob a direcção de Gomes Freire de Andrade tiveram lugar nas negociações.
Em contrapartida, um Mapa dos Confins do Brazil, conhecido como «Mapa
das Cortes», desenhado em Lisboa, em 1749, por ordem de Alexandre de
Gusmão, foi peça central e decisiva nos resultado obtidos e consagrados no
Tratado de Madrid. Adulterado nas longitudes, deslocava diversos núcleos
urbanos para leste e, valendo‑se do maior desconhecimento dos Espanhóis da
geografia real de partes da América do Sul, favorecia a posição portuguesa,
sugerindo que os ganhos a oeste do meridiano de Tordesilhas eram escassos.
Foi Jaime Cortesão quem relevou a figura de Alexandre de Gusmão, que
tinha uma visão divergente da de D. Luís da Cunha, apesar de ter privado
com este e da amizade existente entre ambos57. Tendo desempenhado algumas
missões nas cortes europeias, de regresso ao reino tornou‑se secretário do
rei e foi nomeado para o Conselho Ultramarino. Segundo Jaime Cortesão,
Alexandre de Gusmão tinha uma concepção geopolítica do mundo por‑
tuguês, mas, aparentemente, menos ampla do que a de D. Luís da Cunha.
De qualquer modo, como defendeu aquele historiador, o sistema de capitação
proposto por Alexandre de Gusmão fazia parte dessa concepção e constituiu
«o prólogo, dialecticamente concebido, do Tratado de Madrid»58.
Entretanto, em 1738 fora criada a capitania de Santa Catarina, na depen‑
dência da do Rio de Janeiro, e José da Silva Pais nomeado para o seu governo.
Visitou a região e constatou que o povoamento era débil, colocando, por
isso, problemas no tocante à defesa da ilha de Santa Catarina e do litoral.
Em 1742, o governador escreveu a D. João V, defendendo que a presença
de casais das ilhas em Santa Catarina era necessária para a conservação do
espaço geoestratégico sul‑brasileiro59. Também o Conselho Ultramarino, onde
tinham assento ministros conhecedores dos negócios do Brasil, se pronunciou
a favor do recrutamento de famílias das ilhas em consulta de 30 de Março de
1745, considerando que aquelas eram precisas para a defesa e povoamento
do Brasil. E, no mesmo ano em que expirava Filipe V, os moradores dos
Açores pediram ao rei que os autorizasse a passar aos sertões que se achavam
Hist-da-Expansao_4as.indd 251 24/Out/2014 17:17
252 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
desertos, articulando os argumentos da existência nas ilhas de uma «grande
multidão de povo que nelas se acha sem emprego nem meios para subsistir e
a necessidade que há de povoadores para o Brasil»60. Para as populações de
mais parcos recursos, a emigração surgia como uma forma de fuga às crises
cerealíferas e à fome; para a Coroa, que tratava de negociar com a Espanha
os limites entre os territórios sul‑americanos de ambas as monarquias, o
requerimento dos açorianos revelava‑se de grande utilidade, respondendo
aos objectivos estratégicos perseguidos.
O Conselho Ultramarino pronunciou‑se favoravelmente quanto à pro‑
posta no Verão de 1746, sublinhando os conselheiros a utilidade e importân‑
cia do transporte dos casais em matéria de defesa e de finanças; propondo
o recurso a empréstimos para garantir a deslocação de 4000 casais, à razão
de 50 000 réis por unidade familiar; e sugerindo a publicação de editais nas
ilhas, que poderiam ir acompanhados por uma recomendação da Secretaria
de Estado da Marinha e do Ultramar no sentido de se executarem as ordens
do Conselho Ultramarino, apesar de os Açores não estarem sob a jurisdição
deste órgão. Em 1746 e 1747, foram emitidas ordens para o corregedor dos
Açores contendo as disposições que deviam ser seguidas no alistamento
dos casais; o regimento que organizava o transporte foi distribuído pelas
autoridades; e o Conselho Ultramarino elaborou um «lembrete» relativo ao
modo como os casais deviam instalar‑se e procurou coordenar a actuação
entre os ministros régios nas ilhas e no Brasil.
O transporte foi arrematado a diversos homens de negócio e o primeiro
contingente de casais partiu dos Açores em Outubro de 1747, aportando
em território brasileiro no início de Janeiro do ano seguinte61. Este fluxo
migratório foi um movimento controlado pela monarquia portuguesa, que
regulamentou a saída dos ilhéus e disciplinou a sua fixação em território
brasileiro, quer na Amazónia, quer, sobretudo, na região dos actuais estados
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Partiram essencialmente casais,
mas também indivíduos solteiros de ambos os sexos, de humildes recursos,
pobres ou no limiar da pobreza. Se o total exacto de indivíduos não recolhe a
unanimidade dos autores, é certo que esta migração condicionou a evolução
demográfica de algumas ilhas nas décadas de 1760 e 1770. Porém, não será
menos verdade que contribuiu, de forma decisiva, para o povoamento do
litoral sul‑brasileiro e a defesa das pretensões portuguesas62.
Uma «república militar»: entre a pressão inimiga e a recuperação do prestígio
Em 1750, em um dos vários elogios fúnebres a D. João V, falecido a 31 de
Julho desse ano, Francisco Xavier da Silva introduziu referências obrigatórias
Hist-da-Expansao_4as.indd 252 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 253
à actuação do monarca e dos Portugueses nos espaços extra‑europeus. Men‑
cionou as relações diplomáticas com a China e a embaixada de Alexandre
Metelo de Sousa e Meneses, que partiu de Lisboa a 18 de Abril de 1725,
entrando na corte de Pequim a 18 de Maio de 1727; o martírio de três jesuítas
na corte de Tonquim a 12 de Janeiro de 1737; o Estado da Índia e a carta
de 27 de Março de 1748 dirigida ao vice‑rei da Índia, D. Pedro Miguel de
Almeida e Portugal, marquês de Alorna; e, por fim, as conquistas, tratando
de Angola e, essencialmente, de apresentar uma história militar do Estado
da Índia63. O que sobressai de forma evidente desta selecção é o lugar cen‑
tral que, num certo imaginário, detinham ainda a Ásia e o Estado da Índia,
mormente para a primeira nobreza de corte e uma elite fidalga associada ao
governo ultramarino.
Se no Atlântico a conjuntura da Guerra da Sucessão de Espanha se mate‑
rializou em vários teatros de operações, no Índico o cenário não era muito
diferente. Embora o período da regência pedrina tivesse sido marcado por
uma clara aposta na recuperação do prestígio e da influência no Oriente e
Portugal fosse ainda uma potência a ter em conta no Índico Ocidental, novos
oponentes emergiam, aliando‑se por vezes aos inimigos dos Portugueses.
Em 1680, a morte de Shivaji dera ao imperador mogol Aurangzeb a janela de
oportunidade para investir contra o Decão. Entre 1689 e 1707, ano da morte
de Aurangzeb, enquanto o Decão esteve ocupado militarmente pelos Mogóis,
as relações dos Maratas e dos Mogóis com os Portugueses tinham‑se pautado
por uma relativa estabilidade, sendo de destacar o apoio que Goa prestara
ao Grão‑Mogol contra vassalos rebeldes. De qualquer modo, se no início de
Setecentos os Maratas continuavam a ser a ameaça mais preocupante, outras
havia, que a pena mordaz de uma das fontes da época não deixou de registar:
«Na Índia é que estamos belamente porque não há bárbaro algum com quem
não tenhamos guerra, com o Arábio, com o Sevaji, e outros poucos mais, e
até com o Mogor, estivemos para isso.»64
A morte de Aurangzeb permitiu a libertação de Shahu, descendente e
sucessor de Shivaji, e criou as condições para o desenvolvimento de um
cenário de conflitualidade que acabaria por contaminar o Estado da Índia,
ainda que não a uma escala global. Neste enquadramento, os anos finais e os
posteriores ao fim da Guerra da Sucessão de Espanha foram um período em
que, devido à reconfiguração de alianças no espaço asiático e à actuação de
outros agentes diplomáticos europeus, os Portugueses apostaram igualmente
na diplomacia, buscando travar ofensivas que poderiam ameaçar as posições e
enclaves lusos ou reforçar alinhamentos que estavam em vigor, mas detinham
mais peso em palcos distantes. É neste contexto que podemos incluir a missão
do padre jesuíta João Francisco Cardoso à China (1709‑1711) a propósito
da questão dos chamados «Ritos Chineses» ou «Ritos Sínicos», espoletada
Hist-da-Expansao_4as.indd 253 24/Out/2014 17:17
254 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
pela actividade dos Jesuítas na China e que colocou Portugal e a Companhia
de Jesus em posição antagónica à de Roma e da Propaganda Fide65.
A entrada em cena da Propaganda Fide no século xvii abrira uma fissura
nas relações entre a monarquia portuguesa e o papado, ao limitar os direitos
do padroado em vários aspectos, reduzindo a sua esfera de acção e o número
de regiões subordinadas à jurisdição do arcebispo de Goa, mas também ao
introduzir uma interpretação ortodoxa do ritual e das práticas, questão que
se colocou com particular intensidade em relação à cristandade da China
e se colocaria de igual modo no tocante ao Congo e Angola. O Édito de
Tolerância, promulgado pelo imperador Kangxi, em 1692, e os eventos de
1693 em Fujian estiveram na origem da missão do legado pontifício Charles
de Tournon à China como patriarca de Antioquia in partibus, comissário e
visitador apostólico com as faculdades de legado. Sendo a China um território
prioritário para a Propaganda Fide, o objectivo da missão (1702‑1710) era
conseguir o controlo da actividade dos missionários e a instalação de um
representante apostólico permanente junto do imperador. Charles de Tour‑
non partiu de Cádis em 1703; chegou a Pequim apenas a 4 de Dezembro de
1705, teve três audiências – a segunda, na qual discorreu sobre as diferenças
entre o Cristianismo e o Confucionismo, correu muito mal – e, por ordem
das autoridades chinesas, partiu da corte imperial a 28 de Agosto de 1706.
Morreu preso em Macau a 8 de Junho de 1710, saldando‑se a sua missão por
um fracasso66. Foi neste contexto que decorreu a viagem de João Francisco
Cardoso à China. Todavia, o conflito com Roma manteve‑se e a crise vivida
pela Companhia de Jesus em 1711‑1712, na sequência de decretos papais,
não contribuiu para apaziguar as relações entre o papa e o rei de Portugal67.
Diferente nos objectivos, mas relevante no contexto do xadrez diplomático
e dos equilíbrios regionais, foi a embaixada que o vice‑rei Vasco Fernandes
César de Meneses (1712‑1717) enviou à corte mogol, confiando a responsa‑
bilidade da missão ao jesuíta José da Silva. A viagem foi atribulada devido
à disputa pela sucessão entre os Mogóis, e o embaixador, que partiu de Goa
em Novembro de 1713, teve de esperar em Surrate antes de retomar a sua
jornada até Agra e Deli, nos começos de 1714. Para além da apresentação dos
cumprimentos ao novo imperador, o padre José da Silva estava incumbido de
tentar obter uma solução para algumas matérias importantes para o Estado
da Índia e, neste particular, a embaixada foi um sucesso pois, entre outras
pretensões do vice‑rei, o enviado conseguiu obter a interdição dos portos
mogóis aos inimigos dos Portugueses, os Árabes e o corsário Angriá, assim
como a isenção de direitos a navios portugueses que ancorassem em Surrate68.
Esta era apenas uma das vertentes da política portuguesa na Ásia. A maior
preocupação de vice‑reis e governadores dizia respeito à ameaça de Omanitas
e de Maratas, face a um aumento do «isolamento continental» português69.
Hist-da-Expansao_4as.indd 254 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 255
Até ao governo de Vasco Fernandes César de Meneses, uma das prioridades
foi a luta contra Mascate e a defesa da presença portuguesa no golfo Pérsico.
Quase em simultâneo, entre 1716 e 1724, os Portugueses combateram o
samorim de Calicute. Nos anos de 1720, perante o enfraquecimento do poder
omanita, os Portugueses tentaram reconquistar Mombaça. Depois da embai‑
xada do rei de Mombaça a Goa, em 1724, uma armada de dez navios partiu
de Goa em Dezembro de 1727 e conquistou Mombaça a 13 de Março de
1728. Porém, a praça seria abandonada em 1730 após um levantamento árabe.
Os inimigos mais poderosos do Estado da Índia na primeira metade de
Setecentos eram os Maratas. Apesar da reconhecida hostilidade, Goa tentou
em diversos momentos garantir a boa correspondência com o poder marata
e o tratado de paz de 23 de Março de 1716 procurou aquietar inimigos de
longa data70. Porém, não foi este esforço diplomático que evitou o conflito.
Ao findar a segunda década do século xviii, o Estado da Índia estava sob
pressão e seria preciso esperar anos para se assistir ao retomar da ofensiva
portuguesa. Uma imagem geral de qual a sua situação e do contexto geopolí‑
tico asiático no qual se enquadrava no final do primeiro quartel de Setecentos
é dada na memória que o vice‑rei D. Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses
(1689‑1742), 5.º conde de Ericeira, elaborou em 1720 para o seu suces‑
sor71. O que a memória do conde de Ericeira cala, mas outra documentação
confirma, é que o sucesso da Expansão Portuguesa no Índico não dependia
unicamente dos recursos materiais e da correlação de forças entre o Estado
da Índia e os potentados regionais.
Num quadro de dispersão geográfica e de escassos efectivos demográfi‑
cos de origem europeia, as condições efectivas de exercício da dominação
portuguesa e a conservação política dos territórios decorriam igualmente
de adaptações a contextos locais e de soluções casuísticas. As «anomalias»
eram, afinal, acomodações a cenários concretos, uma flexibilidade que pas‑
sava muito pela cooptação ou resistência das chefaturas e das elites nativas,
pela coincidência de interesses entre os agentes imperiais in loco e o centro
político, estivesse este em Goa ou em Lisboa, e pela constituição de esferas
de influência. Um bom exemplo disso é o que se passava com as ordens reli‑
giosas, e os Dominicanos forneceram bastos exemplos dessa tensão, fosse no
vale do Zambeze ou em Timor, onde, apesar das tentativas para estabelecer
Carmelitas (1702), Capuchinhos (1708) e Jesuítas (1722), os Dominicanos
continuaram a ser os únicos religiosos até 183472. Vários são os testemunhos
que apontam os frades dominicanos como vivendo sem controlo nas periferias
imperiais e dominando as populações locais com base num poder que apelava
outrossim para as dimensões carismática e simbólica do mesmo.
Mas também no centro do Estado da Índia existiam problemas dessa
ordem e que não se confinavam ao clero regular. O quadro desenhado para
Hist-da-Expansao_4as.indd 255 24/Out/2014 17:17
256 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
os séculos xvi e xvii da situação das aldeias de Goa, do seu enquadramento
normativo, das práticas quotidianas e das resistências à conversão religiosa
e cultural, sobretudo nas margens do território goês, onde as fronteiras polí‑
ticas, culturais e religiosas eram mais porosas, parece aplicar‑se, no geral, à
primeira metade de Setecentos. A tornar o ambiente mais difícil, lembremos a
perturbação resultante das desordens provocadas por conflitos de jurisdição,
como o caso célebre relativo às freiras de Santa Mónica de Goa, que chegou
até ao rei e baixou ao Conselho Ultramarino, ou por desacatos entre mem‑
bros do clero, que ocorriam em cenário de pressão inimiga. Esta acabaria
por alimentar um clima de suspeição relativamente aos não‑cristãos e aos
recém‑convertidos, com os níveis de intolerância e as práticas de exclusão a
atingirem o seu máximo durante os anos de 1737‑174073.
Em mais de um texto desses anos se fala em «decadência», remetendo
‑se a origem da «crise» para a ordem moral. Mas não eram os pecados dos
Portugueses, como pretendia D. Inácio de Santa Teresa, arcebispo de Goa,
fazendo tabula rasa dos seus, que explicavam um quadro de maior dificuldade
na imposição da autoridade portuguesa ou o aperto financeiro74. Manter um
corpo político descontínuo, com parcelas muito autónomas, como Macau,
atravessada pelas contendas entre os moradores, ou Timor, envolvia custos
que, apesar das instruções repetidas nos regimentos, de recuperações pon‑
tuais e da inventariação de rendas75, não permitiam suportar o caudal das
despesas, entre as quais estavam as armadas e as embarcações, muitas velhas
e a necessitar de reparação ou substituição urgente.
Um dos problemas que os Portugueses enfrentavam no Índico, comum
às mais nações da Europa, era a guerra no mar. A principal ameaça vinha
da dinastia marata Angriá, pelo que, de modo a tentar travar as actividades
corsárias, foram negociados tratados, a par da organização de expedições
navais, por vezes em colaboração com a East India Company76. Mas a guerra
na Ásia era sobretudo defensiva77. E se este cenário, de um modo geral, não
permitia a governadores e vice‑reis cobrirem‑se de glória, a literatura da época
não deixou de celebrar o que seriam os feitos daqueles que, à frente do Estado
da Índia, representavam a cabeça da monarquia78. E todos se defrontaram
com ofensivas inimigas resultantes de guerras entre as potências regionais ou
de projectos de ampliação territorial. Tendo como pano de fundo a guerra
contra o samorim de Calicute, em 1723 registaram‑se ataques a posições
portuguesas, nomeadamente Baçaim; Goa esteve ameaçada no ano seguinte;
e entre 1724 e 1728 os Portugueses foram enfrentando os Maratas.
Governar à distância significava esperar por respostas e notícias, por vezes
contraditórias, que chegavam ao ritmo das frotas e das naus que entravam no
Tejo vindas da Índia e do Brasil ou que se recebiam por via de Inglaterra e da
Holanda79. Ainda que tardias, as novas chegavam e na corte não se ignoraria
Hist-da-Expansao_4as.indd 256 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 257
de todo a emergência do poderio marata. Mas, por entre audiências e des‑
pachos, visitas a igrejas e o ritmo quotidiano do espaço cortesão, a sombra
que a confederação marata lançava sobre o Estado da Índia não parece ter
merecido a devida ponderação por parte do rei e dos seus conselheiros, talvez
porque o fulcro da atenção régia se voltava para o reino e o Brasil. O reforço
das armas portuguesas na Ásia, além de irregular, era manifestamente insu‑
ficiente e, de um modo geral, a Coroa parece ter ignorado os relatórios do
vice‑rei João de Saldanha da Gama (1725‑1732), que os enviou desde finais
da década de 1720. Quando, em 1730, os Maratas invadiram a jurisdição de
Damão, a guerra espalhou‑se à Província do Norte, exposta defensivamente,
causando um rombo nas rendas da nobreza da Índia e a consternação na
corte de Lisboa. D. João V, ofendido no orgulho de príncipe cristão com o
ataque a uma parcela da monarquia portuguesa, para mais no ano em que
se procedera à sagração de Mafra, afirmou que iria restaurar o Estado da
Índia a todo o custo e terá dado início aos preparativos. Mas a nomeação do
vice‑rei demorou a sair e foi dando azo a rumores, que referiam dois ou três
nomes, entre os quais o do conde de Sandomil, que seria o eleito80.
Na Índia, a contra‑ofensiva, que esgotava os cofres e reclamava a mobili‑
zação geral, teve como resultado o início de negociações de paz em meados
de 1731, logo abandonadas, mas retomadas no final do ano, culminando no
Tratado de Bombaim de 173281. Antes da nomeação do novo vice‑rei, correra
a notícia de que seria pessoa de grande valia. Foi um grande o escolhido,
mas não parecia estar à altura do que dele se esperava. O conde de Sandomil
desembarcou em Goa, sexagenário e doente, em Outubro de 1732, levando
instruções para reformar o corpo militar, reparar e melhorar as fortificações
e atender à Província do Norte e ao seu território, rico e exposto às invasões.
No entanto, apesar de um relatório elaborado em 1733 e da execução de
um plano de defesa para a Província do Norte, para o qual se lançou uma
contribuição que incluiu seculares e eclesiásticos, as obras não estavam total‑
mente concluídas quando a espiral de tensão culminou com o desencadear
da definitiva ofensiva marata.
Na Primavera de 1737, os Maratas atacaram a Província do Norte,
entrando na ilha de Salsete, e tomaram a fortaleza de Taná, ainda por acabar.
No ano seguinte, seguiu‑se a jurisdição de Damão e, em 1739, no coração do
Estado da Índia, correram as províncias de Salsete e Bardez, sitiando Goa.
Por fim, depois de um cerco de 27 meses, a capital da Província do Norte
rendeu‑se, com os termos da capitulação assinados a 16 de Maio de 1739.
Se acrescentarmos que, em 1740, a frota portuguesa foi destroçada pelos pira‑
tas Angriás, percebemos que estes anos corresponderam ao nadir do Estado
da Índia no século xviii. É significativo que entre 1738 e 1740 as deliberações
do Conselho Ultramarino contenham apenas meia dúzia de referências ao
Hist-da-Expansao_4as.indd 257 24/Out/2014 17:17
258 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
conflito com os Maratas, o que remete para os problemas de comunicação
entre Goa e Lisboa e o maior grau de desconhecimento que existia na corte
quanto à gravidade da situação na perspectiva portuguesa, em contraste com
a leitura que se fazia em Goa82. Mas essa reduzida presença é igualmente
ilustrativa dos bloqueios do sistema polissinodal no governo do império.
Em meados da década de 1730, algo parecia mudar no sentido de
melhor responder às necessidades da governação do reino e das conquistas.
No reinado de D. João V, o Conselho de Estado declinou em importância
como consequência do modelo absolutista do rei83. E alguns «práticos»
criticaram o Conselho Ultramarino e a sua inacção, como o capitão‑de
‑mar‑e‑guerra de uma nau da Índia que ardera na Baía em Maio de 1737.
Em Lisboa, poucos meses depois, conseguiu uma audiência com o monarca,
que, sensível aos argumentos relativos a serviços prestados e à miséria actual
do capitão, deferiu as suas pretensões, dizendo‑lhe que falasse com o Conselho
Ultramarino. A resposta do capitão não podia ter sido mais clara, pois, com
humor e irreverência, disse ao rei que não sabia falar com defuntos84. Neste
contexto, não é de estranhar que, após a morte do velho Diogo de Mendonça
Corte Real, em cujos papéis reinava a confusão, a única Secretaria de Estado
tenha dado lugar, pelo alvará de 28 de Julho de 1736, à existência de três
secretarias de Estado, com domínios de acção precisos, muito por influência
do cardeal da Mota. Esta reforma, implementada apesar de alguma atribula‑
ção inicial, não contribuiu para modificar o essencial ao nível da tomada de
decisões, pois D. João V, na sua prática regalista, continuou a preferir ouvir
D. João da Mota e Silva, o cardeal da Mota. Merece ser relevada uma infor‑
mação contida nas gazetas manuscritas, segundo a qual, em finais de 1736
e inícios do ano seguinte, tendo‑se mandado consultar os lugares de vice‑rei
da Índia e do Brasil e os de governador de Angola, São Paulo, Maranhão,
Pernambuco e Paraíba, «não só têm poucos pretendentes, mas muitos que se
desviam antecipadamente»85. A que se deveu esta menor procura dos cargos e,
até, o «desvio» por parte da nobreza que costumava ocupá‑los? Consciência
de que a conjuntura era crítica nas diferentes conquistas e o receio de que
um desempenho falhado arrastaria a desonra para a Casa? Mero compasso
de espera táctico? Simples coincidência?
Certo é que a guerra de 1737‑1740 e a perda da Província do Norte,
com a conquista de Baçaim pelos Maratas, infligiram um golpe profundo no
orgulho português e nas rendas do Estado, da nobreza e clero – 36 milhões
de cruzados, segundo uma fonte coeva –, pois lá residia uma parte da prin‑
cipal nobreza e aí se situavam muitas das propriedades dos nobres e das
casas religiosas86. Por outro lado, é preciso não esquecer que estes territórios,
explorados através de um sistema de tributação da terra, contribuíam para
o abastecimento de Goa com a sua produção agrícola e que a jurisdição de
Hist-da-Expansao_4as.indd 258 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 259
Damão, rica em madeiras, apoiava a construção naval, tal como Baçaim87.
A resposta da Coroa portuguesa foi dada com a escolha do 5.º conde de Eri‑
ceira, que tinha experiência anterior do governo do Estado da Índia e recebeu
o título de marquês de Louriçal, o que revela a importância do vice‑reinado
na conjuntura crítica da guerra contra os Maratas, mas também o peso do
valimento no provimento88. Em 1740, o vice‑rei partiu de Lisboa com uma
armada de seis navios de guerra. Derrotou os Maratas em Bardez e ocupou
as fortalezas de Sanguem e de Supem, mas, falecendo em 1742, não pôde
prosseguir a missão que recebera. Coube ao seu sucessor, D. Pedro Miguel de
Almeida Portugal (1688‑1756), 3.º conde de Assumar (1733) e 1.º marquês
de Castelo Novo (1744), continuar o trabalho iniciado, recuperar algum do
prestígio perdido e ampliar o território sob domínio português, o que lhe
valeu ter o título mudado para marquês de Alorna (1748)89. As instruções
dadas por D. João V ao marquês de Castelo Novo com data de 25 de Março
de 1744 revelam o cuidado que a Coroa colocou na política a implementar.
Ao vice‑rei foi dada margem de manobra, pois devia regular‑se pelo «sistema»
que encontrasse, isto é, as circunstâncias do Estado da Índia, não recebendo
por isso «ordens mais positivas». No entanto, o próprio rei reconhecia que
não era possível restaurar a Província do Norte pela força, face ao número
muito superior dos Maratas, e que a presença portuguesa se restringia a um
«pequeno recinto» compreendendo as ilhas de Goa, as províncias de Salsete
e Bardez e as praças de Diu e Damão. Nesta conjuntura, entre as priorida‑
des apontadas por D. João V figuravam a defesa das posições portuguesas
contra os Maratas, os piratas Angriás e o Bonsuló; a preservação da boa
harmonia com as demais nações europeias, sem que tal significasse menor
vantagem para a monarquia; e a revitalização do comércio, com a adopção
de medidas proteccionistas e a recuperação do trato em Moçambique e nos
Rios de Sena, sector essencial devido ao ouro e à prata de que o Estado da
Índia tanto carecia90.
O marquês, que fora governador da capitania de São Paulo e Minas do
Ouro, chegou a Goa a 19 de Setembro de 1744 e cedo se revelou um bom
avaliador da situação do Estado da Índia. Em carta de 27 de Dezembro
de 1745 propôs soluções que, de acordo com a instrução régia, visavam
aumentar as receitas, diminuir as despesas e reformar os tribunais do Estado
da Índia, descrevendo um quadro muito distante dos tempos de uma «Goa
Dourada». A capital estava «convertida em ruinas»; Damão servia de «pezo
ao Estado», pois a perda do seu distrito implicava o abastecimento a partir
da capital; o comércio da costa africana estava diminuído e o das ilhas de
Timor e Solor abandonado; e as instituições não funcionavam, sobretudo o
Conselho de Estado. Em tom realista, reconhecia com lucidez que a perda da
Província do Norte diminuíra «o Dominio, e a lenda do Estado, mas tambem
Hist-da-Expansao_4as.indd 259 24/Out/2014 17:17
260 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
o credito, e o respeito que nos tinham os Asiaticos», pelo que «não devemos
considerar a India como foi, se não como de presente he». Preconizava, por
fim, a criação de uma companhia comercial que sustentasse a recuperação
política e económica do Estado da Índia, solução recorrente no pensamento
económico mercantilista dos séculos xvii e xviii91.
O vice‑rei sabia que não era tarefa fácil atingir os objectivos propostos e
definiu de forma exemplar o problema que se colocava aos domínios asiá‑
ticos da monarquia portuguesa em declaração de 8 de Fevereiro de 1746:
«Este Estado he huma Republica militar, e a sua conservação está unicamente
dependente das armas, e da marinha, estas duas partes absorvem a melhor
porção da Fazenda de V. Magestade.»92 Uma república militar que, como
outras no passado, precisava de uma Marinha e de um comércio activo,
mas também de bases territoriais. Embora crítico da conquista de posições
no interior, entre 1746 e 1749 conduziu campanhas contra o Bonsuló,
que se traduziram na conquista de diversas praças, permitindo a Portugal
iniciar um processo de ampliação do território dominado. Estas iniciativas
valeram‑lhe ter o título mudado para marquês de Alorna por carta régia de
9 de Novembro de 1748. Registemos, por fim, a instrução que o marquês
de Alorna deixou ao seu sucessor no governo da Índia, o 3.º marquês de
Távora. O documento, datável de 1750‑1751, apresenta a perspectiva do
vice‑rei baseada na sua experiência de governação. Referindo‑se aos poten‑
tados amigos e inimigos, às nações europeias e ao governo do Estado da
Índia, permite avaliar a evolução da visão do marquês entre 1745 e 1750 e
representa, nesta matéria, um testemunho da maior importância93. Espécie
de «testamento político», revela o pensamento de um actor que conhecia a
geografia física e humana em que se inscrevia o Estado da Índia, a geopo‑
lítica que o enquadrava e condicionava, e os meandros, vícios e problemas
da sua administração, que inventaria e comenta – um Conselho de Estado
inútil, desembargadores da Relação que actuavam segundo os respectivos
interesses, a dissimulação dos ministros, a circulação de boatos, as distân‑
cias e mais obstáculos que dificultavam os socorros e, por fim, o reduzido
número de portugueses em algumas parcelas do Estado, como Timor, ilha à
qual dedicara em tempos a sua atenção94.
A glória elevara o marquês de Alorna, que acreditou certamente que voaria
ainda mais alto. A intriga cortesã tê‑lo‑á impedido. Mas podemos pensar que
se o Tratado de Madrid orientou e balizou a política portuguesa na América
do Sul nas décadas subsequentes, a citada instrução, elaborada por alguém
que chegou a ser falado para primeiro‑ministro, embora tenha sido afastado
do paço real durante um tempo95, talvez tenha sido, de algum modo, lem‑
brada nas decisões que se tomaram para as conquistas a leste do cabo da
Boa Esperança e nas reformas que vieram a implementar‑se no reinado de
Hist-da-Expansao_4as.indd 260 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 261
D. José, definindo assim uma linha de continuidade nas práticas governativas
no Estado da Índia para além da mudança do vice‑rei e do monarca.
A costa ocidental africana, um hinterland brasileiro
Ao avaliar o papel que a costa ocidental africana detinha no quadro da
Expansão Portuguesa entre o final do século xvii e o início do século xix,
Joaquim Romero Magalhães considerou que de pouco mais servia do que
de «um reservatório de mão‑de‑obra escrava para a América». E concluiu:
«À relativa diversidade de interesses anteriores sucedeu a simplificação da
procura dos escravos. Estreita‑se e confina‑se a presença portuguesa.»96
Haveria certamente mais, mas esta definição coloca‑nos perante a dimensão
central da relação existente entre as Américas, no caso o Brasil, e a África,
em particular as regiões onde os Portugueses estavam instalados ou faziam
comércio. Tratava‑se de abastecer o mercado brasileiro com a mão‑de‑obra
africana. De resto, A. J. R. Russell‑Wood também já afirmara em relação
a São Salvador da Baía que a região do Benim fazia parte do hinterland
daquela cidade97. O mesmo se poderia dizer de Angola em relação ao Rio
de Janeiro.
Na Guiné do cabo Verde, a forte presença da navegação europeia no litoral
africano, a sua intervenção nas ilhas cabo‑verdianas – os Ingleses quiseram
comprar Santo Antão ao marquês de Gouveia e os franceses visitaram São
Vicente – e a crise que afectava o arquipélago não permitiram que a parti‑
cipação portuguesa no trato negreiro fosse de maior dimensão. Em 1713,
o Conselho Ultramarino apresentou uma proposta para que os moradores
de Santiago se organizassem em companhias e entrassem no comércio com
a costa, mas, anos depois, o governador de Cabo Verde responderia que tal
projecto era impraticável devido à falta de capital. A mesma que levava ao
abandono dos principais centros urbanos das ilhas e à ruralização. Nem a
reorganização do mapa político e administrativo pela carta régia de 27 de
Agosto de 1731 travou este processo98.
Na Costa da Mina, o trato de navios oriundos do Brasil aumentou, cul‑
minando com um pico nos anos de 1727‑1730. Devido à forte presença
holandesa no golfo da Guiné, os homens de negócio brasileiros não hesita‑
ram em recorrer à WIC como intermediária99. A Coroa tentou recuperar a
participação de São Tomé no circuito negreiro e, em 1710, uma carta régia
ordenava que todos os navios idos do Brasil para a costa da Mina escalas‑
sem São Tomé, à ida e à vinda, para aí pagarem os direitos alfandegários e
serem fiscalizados. Mas a medida não teve sucesso, pois muitos dos navios
navegavam em direitura e, além disso, o contrabando e a alteração de registos
Hist-da-Expansao_4as.indd 261 24/Out/2014 17:17
262 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
eram práticas correntes. Deste modo, o objectivo de transformar São Tomé
e Príncipe na «polícia do golfo» não terá sido atingido100.
Mas o interesse luso‑brasileiro no comércio do golfo da Guiné era notó‑
rio, assim se explicando o papel da feitoria de Ajudá e o apoio concedido à
criação da Companhia da Ilha de Corisco, uma de entre outras criadas com
o mesmo fim. Esta, autorizada por alvará de 23 de Dezembro de 1723, tinha
seis sócios, que se obrigavam a erguer no rio de Anges e ilha do Corisco, na
Costa do Gabão, uma fortaleza. Os seus termos seriam, a norte, o rio dos
Camarões e, a sul, o cabo de Lopo Gonçalves, e a finalidade era introduzir
escravos no Brasil necessários para as lavouras do açúcar e tabaco e o tra‑
balho das minas. O director, João Dansaint, seria o comandante e teria de
comissão 14% de todo o produto das vendas feitas no Brasil e na «Cidade
dos negros». Era um comércio lucrativo, bastando recordar que, em 1752, se
estimava que o lucro obtido com um escravo adquirido em Ajudá e vendido
na Baía rondava os 45%, o que permitia compensar os custos da mortalidade
dos escravos transportados a bordo dos navios negreiros.
Mas foi o sector que englobava as regiões do Congo, Angola e Benguela
que constituiu o maior centro fornecedor de escravos do mundo atlântico.
Ao longo do século xviii, o comércio brasileiro de escravos foi, na sua maior
parte, independente da Europa: não só a Baía, Pernambuco e Maranhão
estavam mais próximos do continente africano, como o regime de ventos no
Atlântico Sul favorecia as ligações Brasil‑África; por outro lado, produtos
como a aguardente, a cachaça, o tabaco e o ouro eram trocados por escravos
no Benim e em Angola. A interdependência entre as duas margens do Atlântico
ou, como lhe chamou Luiz Felipe de Alencastro, «a bipolaridade do sistema
escravista luso‑brasílico», assentou num conjunto de produtos, alguns dos
quais oriundos da América Portuguesa, como o tabaco e a mandioca. Além
de constituir um importante componente da dieta alimentar de marinheiros
e de escravos a bordo dos navios do tráfico negreiro, a farinha de mandioca
era também produto de consumo em Luanda e assim se manteve ao longo do
período do comércio de escravos, devido à insuficiente produção angolana.
Em termos da distribuição de escravos pelos principais portos brasileiros,
a carta régia de 28 de Setembro de 1703 indica‑nos como se operou essa
divisão para os escravos saídos de Angola: 1200 «cabeças» para o Rio de
Janeiro, 1300 para Pernambuco e Paraíba, e as restantes para a Baía. Esta
carta régia vigorou de 1703 até 1715, quando a carta régia de 24 de Março
autorizou que se regressasse ao regime livre anterior a 1703. Durante todo o
século xviii, as médias da exportação anual de escravos subiram regularmente
e a subida manteve‑se até à proibição do tráfico de escravos, em 1836‑1837101.
Em Angola, contrariamente ao que sucedia nos outros sectores do trato,
os escravos tinham de ser obtidos no sertão. Deste modo, a situação pouco
Hist-da-Expansao_4as.indd 262 24/Out/2014 17:17
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750) 263
se alterou no século xviii. Terra de degredo, para onde eram enviados vadios,
criminosos e ciganos, Angola era uma conquista e a guerra permaneceu
no horizonte português, quer devido à investida dos sobas inimigos, quer
à necessidade de intervir ao lado de aliados. E como Angola se manteve
enquanto grande centro abastecedor de escravos ao Brasil, a questão das
feiras permaneceu no centro da estratégia portuguesa na região. E assim,
na tensão entre alianças e confrontos e à semelhança do que se praticava na
costa oriental africana – a abertura da feira do Zumbo, em 1715, que ficou
associada à figura controversa do dominicano frei Pedro da Trindade, e a
reactivação da de Manica, por 1719, primeiro em Maxacanhe e mais tarde
em Macequece –, as autoridades de Luanda procuraram estabelecer acordos
com vista à criação de novas feiras, muitas vezes jogando com as rivalidades
entre os chefes africanos102.
Neste quadro, não é certo que só Luanda contasse. Ou Benguela. Daí a
expulsão dos ingleses que se tinham instalado em Cabinda e a importância
da rede de presídios na vigilância dos sobas e no controlo das vias de comu‑
nicação que abasteciam os portos do litoral com os escravos que os pum‑
beiros e os aviados ou funantes compravam nas feiras. E embora não tenha
sido possível replicar, ainda que a uma escala menor, a dinâmica que, pela
mesma época, caracterizava a América Portuguesa, a exploração do sertão
angolano foi sendo ensaiada. Por 1729‑1730, os Portugueses conquistaram
as terras do Bembo, do Luceque e do Caluquembe, atingindo o rio Cunene,
e terão sido obtidas localmente informações que permitiram a D’Anville ela‑
borar em começos dessa década novos mapas de África em colaboração com
D. Luís da Cunha. O aumento da distância entre as duas costas de África que
aqueles mapas mostraram não impediu o diplomata português de conceber,
com base numa geografia mais imaginada do que conhecida, um projecto
visionário no qual a ligação terrestre entre Angola e Moçambique ocupava
um lugar central. A ideia de uma comunicação entre o sertão de Angola e
os Rios de Sena, de resto, era conhecida e comentada em círculos cortesãos
mais informados103. A realização de tal projecto precisou de esperar longos
anos, mas a sua idealização demonstra que havia quem apostasse na maior
territorialização da Expansão Portuguesa.
Hist-da-Expansao_4as.indd 263 24/Out/2014 17:17
13
UM TEMPO DE RUPTURA?
(1750‑1778)
A s interpretações das dinâmicas da História de Portugal no período com‑
preendido entre 1750 e 1777, cobrindo o reinado de D. José, mas que
também podemos balizar pelos tratados de Madrid e de Santo Ildefonso,
com reflexos no redesenhar dos impérios ibéricos, têm sido em grande parte
dominadas pela personagem do secretário de Estado do rei, Sebastião José
de Carvalho e Melo, e por uma pré‑compreensão dos projectos reformistas
deste período como sendo de matriz iluminista. Não sendo esse o objecto
deste capítulo, importa sublinhar que, em palco, estavam muitos outros acto‑
res, com mundivisões e projectos por vezes antagónicos, embora a posição
inicial não fosse de oposição, como ilustra a relação de Sebastião José com a
Companhia de Jesus. As hesitações e as mudanças de política que se podem
detectar nestas décadas e nos anos iniciais do reinado de D. Maria I traduzem,
afinal, as respostas daqueles que tiveram de decidir perante uma dada situa‑
ção e sem dispor dos dados que hoje conhecemos. A questão da demarcação
de fronteiras entre as monarquias ibéricas na América do Sul, com avanços
e recuos pautados pelos tratados de Madrid (1750), do Pardo (1761), de
Santo Ildefonso (1777) e do Pardo (1778), e que tanto afectou as missões
e as populações indígenas, ilustra bem o que dissemos. A questão jesuítica e
as suas sequelas marcaram estes anos, deixando uma marca duradoura que
perdurou nos mitos e nas posições a favor ou contra o ministro de D. José I
e a Sociedade de Jesus. Seria, porém, simplista reduzir a história do período
a essa oposição. No arco cronológico aqui considerado, assistimos ainda à
criação de companhias majestáticas, ao aumento do território ocupado no
Estado da Índia com as designadas Novas Conquistas e à continuação da
exploração do sertão africano, consolidando‑se assim o movimento de sentido
land‑bound que vinha de trás. Se algumas das iniciativas que tiveram o seu
Hist-da-Expansao_4as.indd 264 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 265
começo por esses anos fracassaram, outras prolongar‑se‑iam nos decénios
seguintes, embora com graus de sucesso diferenciados.
Um percurso exemplar: Francisco Xavier de Mendonça Furtado
Em Belém do Pará, sob um calor constante e húmido que o incomodava
e contribuía para os seus incómodos e dores de cabeça, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, o irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo a quem
fora confiado o governo do Estado do Grão‑Pará e Maranhão, criado em
1751, percebeu que se enganara. Ao contrário do que haviam dito aos dois
irmãos, o clima não era sadio e as rendas que o governo poderia proporcio‑
nar à Casa familiar eram escassas. Disso daria conta ao irmão secretário de
Estado na correspondência trocada entre ambos. Francisco Xavier também
se recordaria de uma conversa tida entre fidalgos relativa à sua nomeação e
da qual não gostara. Por tudo isso, pediu para ser substituído mal chegassem
ao fim os três anos de governo, pois a ruína do Estado e a sua saúde assim o
exigiam1. Todavia, permaneceu no cargo até 1759, circulando pelo Estado;
escrevendo para o irmão, dando‑lhe uma visão pessoal da situação no terreno
e sugerindo linhas de actuação; governando com empenho e promovendo a
recuperação do território. Tornou‑se uma figura destacada do período josefino
e a historiografia fez jus à sua acção.
Servem estas linhas para ilustrar que as biografias são um processo de
construção resultante da capacidade de articular as expectativas individuais
e a agência, por um lado, e os constrangimentos das estruturas sociais, por
outro, mas também da adaptação às circunstâncias concretas e, por vezes,
inesperadas que cada indivíduo enfrenta no quotidiano. E tal como Francisco
Xavier de Mendonça Furtado não podia saber, em 1751, que ficaria vários
anos na Amazónia, Sebastião José de Carvalho e Melo, ao aceder a uma
secretaria de Estado em 1750, ignorava o poder que viria a deter, ainda que
o ambicionasse. A escolha de Sebastião José para a Secretaria de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da Guerra terá tido muito de contingente, mere‑
cendo a resistência de uns e colhendo de surpresa vários dos protagonistas
que orbitavam em torno da corte. Neste quadro, até 1755‑1756, pelo menos,
Sebastião José terá tido no secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Diogo
de Mendonça Corte Real, um forte concorrente em matéria de influência e
de decisão antes do putativo rival cair em desgraça2.
Todo este entramado de redes e de negociações merece ser recordado, pois
o reinado de D. José tem sido estudado e interpretado a partir de perspec‑
tivas que, muitas vezes, transportam uma pré‑compreensão que condiciona
a análise dos processos e as conclusões a que porventura se chega. De um
Hist-da-Expansao_4as.indd 265 24/Out/2014 17:17
266 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
modo geral, o período que vai de 1750 a 1777 tem sido avaliado mais em
termos de ruptura do que de continuidade, buscando‑se naquela as marcas da
«modernidade» do Iluminismo. Neste quadro, duas leituras que costumam
andar entrelaçadas são as que contemplam o reinado a partir da figura do
ministro, o marquês de Pombal, e concomitantemente que o consideram como
um paradigma do «despotismo esclarecido», alguém que tinha um projecto
e que procurou implementá‑lo linearmente desde a primeira hora.
Esta perspectiva é redutora e impede uma cabal compreensão do que foi
o reinado josefino e do que podem ter representado as reformas ensaiadas
naquele reinado e no seguinte, quer no reino, quer no império. De resto, como
já destacara Jorge Borges de Macedo, as políticas seguidas por Sebastião José
de Carvalho e Melo não constituíram uma ruptura com as grandes linhas
definidas no reinado de D. João V. Assim, durante o reinado de D. José foram
continuadas algumas das linhas de rumo que orientavam o governo joanino.
Não poderia ser de outro modo, se atentarmos no facto de que muitos dos
executores dos modos de governar haviam sido providos no reinado de
D. João V, estando alguns no exercício dos seus cargos havia largos anos,
sendo o caso mais notório o de Gomes Freire de Andrade. Foi ainda Jorge
Borges de Macedo quem afirmou não ser correcto pretender que o período
de 27 anos de permanência de Sebastião José de Carvalho e Melo no governo
tenha tido sempre as mesmas características ou sequer que os modelos políti‑
cos subjacentes à acção governativa estivessem configurados desde a chamada
do futuro marquês de Pombal à Secretaria de Estado dos Negócios Estran‑
geiros e da Guerra3. Deste modo, apesar do que poderá ter sido uma linha
de actuação contra o predomínio inglês e a favor dos grandes negociantes de
Lisboa ou Porto, no arco cronológico 1750‑1777 são identificáveis diversas
conjunturas, que exigiram do poder respostas adequadas à situação interna
e externa e que devem ser interpretadas de acordo com os respectivos con‑
textos e os seus intérpretes concretos4. Serão estas as questões expostas nas
páginas seguintes.
A América entre o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso
A América do Sul esteve no epicentro de algumas das linhas de força que
caracterizaram o reinado josefino. Em matéria de governação, a cabeça do
Estado do Brasil e o governo de capitanias importantes como Minas Gerais
continuaram a ser confiados a uma nobreza titulada, caso dos vice‑reis, e a
fidalgos em geral com experiência administrativa e militar, sendo de assinalar
neste período a passagem anterior de alguns vice‑reis do Brasil pelo governo
de Angola. Um dos vectores dominantes da política portuguesa na América
Hist-da-Expansao_4as.indd 266 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 267
do Sul neste período respeitou à aplicação do Tratado de Madrid e suas
sequelas, de amplas repercussões. Com o tratado assinado a 13 de Janeiro de
1750, Portugal e Espanha estabeleceram os limites meridionais entre os seus
territórios na América do Sul. D. João V e Fernando VI reconheceram que o
meridiano de Tordesilhas havia sido violado e, como demonstração de tole‑
rância, declararam estar dispostos a abolir a vigência do mesmo. De capital
importância foi a introdução do princípio do uti possidetis, ou seja, a posse
de um dado território cabia a quem efectivamente o ocupava5.
Pelo artigo 2, Portugal passaria a exercer a sua soberania sobre todo o
território ocupado no Amazonas e no distrito de Mato Grosso, ficando a
Espanha com a soberania sobre as Filipinas. Na bacia do Prata, Portugal
cedia perpetuamente a Colónia do Sacramento e o território adjacente na
margem norte do rio, recebendo os territórios dos «Sete Povos das Missões»,
na bacia dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. Foram assim estabelecidas
as linhas de demarcação que separavam os confins dos domínios ibéricos
na América do Sul e cuja disputa se prolongava desde a centúria anterior.
Porém, se já fora difícil argumentar e negociar até se atingir um acordo sob
a forma de tratado, a aplicação no terreno revelou‑se ainda mais árdua,
devido aos diversos tipos de resistência colocados em prática pelos actores
no terreno, os missionários e os índios das missões. Desde logo, diversas
dúvidas suscitadas pelos artigos foram objecto de novos acordos – 17 de
Janeiro e 17 de Abril de 1751, 24 de Janeiro e 31 de Julho de 1752 –, regu‑
lando o tratado original e procurando esclarecer as suas disposições. Por
outro lado, foi preciso defender o tratado contra os seus críticos. Aqueles
que defendiam o abandono da Colónia do Sacramento por parte de Portu‑
gal, fossem portugueses ou castelhanos, consideravam que a praça era um
pólo de fomento do contrabando; por seu lado, em Portugal, os defensores
da manutenção do Sacramento denunciavam a exposição do flanco sul dos
territórios portugueses ao avanço espanhol. É ilustrativo das contradições
que então se fizeram sentir o facto de Sebastião José de Carvalho e Melo ser
o responsável pela política externa da monarquia portuguesa e, enquanto tal,
pela implementação do acordado no Tratado de Madrid, tendo de garantir
que, nos territórios portugueses da América, no Norte e no Sul, o que fora
assinado era executado, quando o próprio considerava essencial manter a
Colónia do Sacramento6. Para a fronteira meridional, o esforço de demar‑
cação foi confiado a Gomes Freire de Andrade, que, não sendo um homem
do secretário de Estado, tinha reconhecidamente uma larga experiência
do Brasil. Governador e capitão‑general das capitanias do Rio de Janeiro,
de Minas Gerais e de São Paulo, foi ainda nomeado mestre‑de‑campo gene‑
ral para o efeito com «authoridade absoluta»7. No Estado do Grão‑Pará
e Maranhão, coube a Francisco Xavier de Mendonça Furtado assumir a
Hist-da-Expansao_4as.indd 267 24/Out/2014 17:17
268 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
direcção do processo. Ambos foram nomeados principais comissários e ple‑
nipotenciários com amplos poderes para efeito de aplicarem o disposto no
Tratado dos Limites nas respectivas áreas de jurisdição, que se configuravam
como dois palcos onde a acção decorria de um mesmo propósito: demarcar
as fronteiras e afirmar a autoridade da Coroa.
Os governadores não actuaram sós. Durante as suas ausências nos limites
dos territórios conhecidos da monarquia portuguesa, ou mesmo quando
estavam na sede dos seus governos, contaram com a colaboração de outros
actores8. Além do que era conhecido, as instruções secretas enviadas de
Lisboa lembravam a necessidade de se agir com grande segredo e muita
circunspecção, quer pela desconfiança existente quanto às reais intenções
da Coroa espanhola, quer devido às resistências que a aplicação do tratado
certamente espoletariam. É que estava em causa a deslocação de populações,
a transferência de jurisdições, processos que não agradavam aos religiosos
afectados pela nova cartografia política. Não obstante, as monarquias ibé‑
ricas prepararam o assalto aos vastos domínios da Companhia de Jesus nas
regiões que seriam sujeitas à demarcação, ataque esse que culminaria com
o fim das missões9.
Não haveria por parte de Sebastião José qualquer sentimento antijesuíta à
data da sua nomeação para a secretaria de Estado e fontes da época dão‑no
como protegido pela Companhia de Jesus, ao lado de quem estava na oposi‑
ção ao Tratado de Madrid e defendendo mesmo, nesta fase, que os padres da
Companhia deviam ter, na região dos «Sete Povos das Missões», condições
mais favoráveis para o desempenho da sua actividade. Também Francisco
Xavier de Mendonça Furtado não nutriria quaisquer preconceitos contra
os Jesuítas. Em contrapartida, desde o primeiro momento, o governador do
Grão‑Pará e Maranhão constatou in loco o «alto poder» dos religiosos e, em
particular, o da Companhia de Jesus sobre os índios e a sua capacidade para
resistirem aos projectos emanados do centro político com base no Regimento
das Missões. Propôs, por isso, um novo regimento para os índios, por consi‑
derar que o Estado estava «gemendo debaixo de uma tirania»10. Em síntese,
a situação no terreno e a oposição dos Jesuítas à plena execução do disposto
no Tratado de Madrid no Norte e no Sul e, depois, ao desenvolvimento da
Companhia Geral do Grão‑Pará e Maranhão explicam o timing da acção
pombalina a partir de 1755‑1757.
Quanto aos Ameríndios, não eram meros figurantes de um guião que em
muito os atingia. Na banda hispânica, os Guarani recorreram à escrita desde
1752 para exporem os seus pontos de vista e protestar contra a aplicação
do Tratado de Madrid. Como o processo parecia imparável, a circulação de
escritos entre os Guarani, de um lado, e os religiosos e os comissários espa‑
nhóis, do outro, mas também entre os próprios índios, aumentou, merecendo
Hist-da-Expansao_4as.indd 268 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 269
relevo a recusa guarani do tratado e a defesa expressa do seu autogoverno11.
Também na fronteira oeste se colocaram problemas aos demarcadores. Os
povos do sertão resistiam há muito ao avanço da frente colonizadora, motivo
pelo qual, sob a bandeira da «guerra justa», autoridades e colonos agiam
com violência sobre as populações indígenas. Assim, quando se colocou o
problema de fixar os marcos da demarcação da banda portuguesa, os «bár‑
baros» Paiaguás, no rio Paraguai, e Caiapós, entre os rios Paraguai e Paraná,
actuando no eixo que ligava São Paulo ao Cuiabá e a Goiás, perturbaram
aquela acção.
As questões jesuítica e indígena atravessaram a década de 1750, uni‑
das e entrelaçadas com a aplicação do clausulado do Tratado dos Limi‑
tes. No Estado do Brasil, adquiriram os contornos de um conflito bélico, a
chamada Guerra Guaranítica ou Guerra das Sete Reduções (1753‑1756),
que não se revelou fácil para os Europeus. O triunfo das armas hispano
‑portuguesas constituiu um marco na oposição entre a Companhia de Jesus
e as monarquias ibéricas, que acusaram os Jesuítas de manobrar os índios.
A derrota dos religiosos e dos índios que lutaram a seu lado assinalou o
fim de uma utopia política12. No Estado do Grão‑Pará e Maranhão, depois
de longos meses de preparação, Francisco Xavier de Mendonça Furtado
partiu de Belém a 2 de Outubro de 1754, à frente de uma frota composta
por 23 canoas grandes, transportando mais de mil pessoas. Após 88 dias de
viagem em canoa, a expedição atingiu o arraial de Mariuá (vila de Barcelos),
no rio Negro13. O objectivo da missão era o encontro com os demarcadores
da Coroa espanhola. O comissário português esperou em vão, retornando
a Belém em finais de 1756 sem nunca ter contactado com os representantes
bourbónicos. A viagem, porém, não foi totalmente infrutífera. Por um lado,
permitiu confirmar a oposição dos religiosos à actuação do governador, por
via da recusa de apoio logístico e do fornecimento de víveres à expedição,
o que vinha no seguimento de queixas contra Francisco Xavier. Por outro,
o governador pôde reconhecer o território e a relevância geoestratégica da
rede hidrográfica da bacia amazónica.
Quer no plano social, quer no cultural, a Companhia de Jesus afirmava‑se
como um corpo poderoso e influente que importava dominar ou eliminar
no quadro de uma política regalista de subordinação do poder da Igreja.
A demonização dos Jesuítas teve, entre outras materializações, a construção
do mito de uma Companhia toda‑poderosa, recusando a obediência ao
monarca e sonhando constituir um «Estado jesuítico» no continente sul
‑americano, cuja génese, em parte, pode ser encontrada na interpretação
negativa do papel desempenhado pelos Inacianos no relacionamento com
os Ameríndios.14 Neste contexto, a criação de uma nova província no Rio
de Janeiro, proposta várias vezes e em vias de concretização na década de
Hist-da-Expansao_4as.indd 269 24/Out/2014 17:17
270 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
1750, com vários colégios, residências e missões, reforçava a ideia da força
dos Jesuítas. Bem podiam contra‑argumentar os padres da Companhia que a
sua actuação em nada visava esses objectivos, apenas a conversão e civilização
dos índios. O facto de serem senhores de terras, fazendas e escravos, a que se
somava a acusação de armarem os «seus» índios, tornava os Inacianos um
alvo preferencial do regalismo.
O ano de 1755 foi de charneira nesta conjuntura. Os primeiros padres
jesuítas foram expulsos do Grão‑Pará e Maranhão, na sequência de tentativas
de fomentar a revolta contra o governador, e a capitania de São José do Rio
Negro foi instituída a 3 de Março. Em Lisboa, foi criada a Junta do Comér‑
cio e publicaram‑se o alvará de 4 de Abril, incentivando o casamento entre
brancos e índios e promovendo a mestiçagem como estratégia de colonização,
as leis de 6 e 7 de Junho relativas à liberdade dos índios, que prepararam o
terreno para o Directório, e os estatutos da Companhia Geral do Grão‑Pará
e Maranhão, legislação que, com muita probabilidade, teve na sua génese a
visão de Francisco Xavier15. Curiosamente, nesse mesmo ano foi decidida a
expulsão dos Franciscanos Capuchos do Grão‑Pará e Maranhão, também
com base nas denúncias do governador, embora os religiosos tenham partido
somente em 1759.
Regressado do rio Negro em finais de 1756, o governador convocou
uma junta e mandou aplicar a legislação entretanto publicada, de enorme
impacto nas relações entre Francisco Xavier e os religiosos e, a uma escala
maior, entre a monarquia e a Companhia de Jesus. Do corpus legislativo
produzido destacou‑se o Directório Que Se Deve Observar nas Povoaçoens
dos Indios do Pará, e Maranhão, de 1757, publicado no ano seguinte, e que
vigorou até 1798. Consubstanciava um conjunto de regras que visavam
civilizar os índios e transformá‑los em vassalos e assalariados no quadro de
uma «ocidentalização do espaço amazónico»16. Depois da «violência doce»
das missões, o poder do colonizador impunha nova adaptação às popula‑
ções nativas. O Directório aboliu a administração temporal dos religiosos,
substituída pelo autogoverno dos índios através dos seus «principais»,
cabendo‑lhes conduzir o destino dos aldeamentos agora tornados vilas, que
respeitariam o modelo reinol, com os índios servindo como juízes ordinários
e vereadores. No entanto, como o legislador e as autoridades portuguesas
assumiam que, pela sua rusticidade, os índios não estavam preparados para
abandonarem no imediato todas as suas práticas e exercerem o governo, foi
instituído o cargo de director dos Índios, um tutor nomeado pelo governa‑
dor. Pretendia‑se, em suma, separar os governos temporal e espiritual dos
índios e subtrair de vez estas populações da esfera de influência dos regu‑
lares, integrando‑as no corpo da monarquia e tornando‑as instrumentos
da colonização portuguesa.
Hist-da-Expansao_4as.indd 270 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 271
Assim se compreende que a legislação destinada inicialmente ao Estado do
Grão‑Pará e Maranhão tenha sido estendida aos demais territórios america‑
nos da Coroa portuguesa pelo alvará de 8 de Maio de 175817. De qualquer
modo, das aldeias antes sob alçada dos religiosos, nem todas se converteram
logo em vilas e nem todas as que foram criadas nesta época no Grão‑Pará
e Maranhão resultaram da metamorfose definida na legislação. Alguns dos
núcleos populacionais eram maioritariamente compostos por brancos, como
São José de Macapá, onde predominavam as gentes dos Açores, de resto
distribuídas por outras localidades por iniciativa de Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, ou Nova Mazagão, com origem nos moradores da
Mazagão original, a última praça‑forte detida em Marrocos por Portugal e
finalmente abandonada em 176918.
As ordens religiosas procuraram resistir à secularização dos territórios
onde actuavam e os Jesuítas foram os opositores mais veementes a esta
legislação. As convulsões finais do confronto tiveram lugar na viragem da
década. Após o atentado contra D. José, no dia 3 de Setembro de 1758, e o
processo que se seguiu, a ordem de expulsão dos Inacianos do reino e seus
domínios, plasmada na lei de 3 de Setembro de 1759 – simbolicamente, um
ano exacto após o atentado –, na qual eram explicitamente acusados de se
oporem ao Tratado dos Limites e de tentarem usurpar o Estado do Brasil,
precipitou a ruptura entre Lisboa e Roma e o afastamento da Companhia
de Jesus da Coroa de Portugal. No seguimento da aplicação da lei, em 1760
embarcaram nos portos do Rio de Janeiro, Baía, Recife e Belém mais de
quatrocentos padres e irmãos. Pelo Pará saíram 126, 40 do Pará e 86 do
Maranhão, levados a bordo de um navio da Companhia Geral do Grão‑Pará
e Maranhão19. O breve de supressão de 21 de Julho de 1773 fez desaparecer
os Jesuítas das monarquias europeias, com excepção da Rússia, até 1814.
Restaurada a Companhia de Jesus, os religiosos regressariam a um outro
Brasil, em 1841.
Quase em simultâneo com os acontecimentos que levaram à expulsão
dos Inacianos, os bons serviços prestados ao rei por parte dos dois princi‑
pais comissários e plenipotenciários para a aplicação do Tratado de Madrid
foram recompensados. Gomes Freire de Andrade recebeu o título de conde
de Bobadela em 1758. Por seu lado, Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
regressado ao reino, foi nomeado secretário de Estado adjunto do irmão
por carta régia de 19 de Julho de 1759 e, depois do afastamento de Tomé
Joaquim da Costa Corte Real, secretário de Estado do Ultramar, foi provido
nesta secretaria de Estado. Com a presença dos dois irmãos no gabinete, um
dos quais com experiência do império, as secretarias afirmaram‑se como os
verdadeiros centros do poder e o Conselho Ultramarino perdeu influência
no governo do ultramar20.
Hist-da-Expansao_4as.indd 271 24/Out/2014 17:17
272 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Na Europa, entretanto, deflagrara a Guerra dos Sete Anos (1756‑1763).
Em pleno conflito, o Tratado de Madrid foi anulado pelo Tratado do Pardo,
de 12 de Fevereiro de 1761, devido à oposição ao seu conteúdo por parte de
Sebastião José de Carvalho e Melo e de Carlos III, mas também às dificulda‑
des experienciadas no terreno no tocante à demarcação da fronteira entre os
territórios das coroas ibéricas. A anulação do Tratado dos Limites significou
o regresso à situação existente antes de 1750 e, entre outras consequências,
permitiu às Sete Missões continuarem sob a protecção dos regulares da pro‑
víncia do Paraguai. Mas a guerra continuava e, no seguimento do Terceiro
Pacto de Família (15 de Agosto de 1761), Portugal foi pressionado pelos
Bourbon a abandonar a sua posição de neutralidade em nome de razões de
parentesco e de amizade e dada a vizinhança de Estados existente na Europa
e na América. Face à recusa de D. José, que invocou a aliança inglesa e a
sucessão de eventos nefastos que, desde há duas décadas, marcavam o reino
português, em 1762 Portugal foi invadido por forças espanholas, no episódio
militar conhecido como «Guerra Fantástica».
No Atlântico Sul, a Colónia do Sacramento foi atacada pelos espa‑
nhóis de Buenos Aires, sob o comando do governador Pedro de Cevallos,
depois de este ter recebido avisos da Europa que davam conta da guerra
entre Espanha e Portugal. A Colónia do Sacramento e uma parte do Rio
Grande foram ocupadas por tropas espanholas e apesar do fim da guerra,
com o Tratado de Paris (1763), o Rio Grande permaneceu sob controlo
dos Espanhóis. Ainda no Outono de 1762, mas em França, esboçou‑se um
ambicioso plano para a conquista e anexação do Brasil à Coroa francesa.
Uma armada deveria partir rumo ao Atlântico Sul no final do Inverno de
1762‑1763 e tomar São Salvador da Baía, assumindo o conde d’Estaing
a qualidade de vice‑rei do Brasil. As informações obtidas pelos Franceses
faziam supor uma vitória fácil e, a partir da capitulação das autoridades
portuguesas, a rápida ocupação do litoral. Concretizada a operação, o
acesso às riquezas brasileiras estaria garantido. O projecto, tão ambicioso
quanto ingénuo, acabou por não ser executado devido ao cessar das hos‑
tilidades em 1763, mas é revelador da apetência das potências europeias
pelos tesouros ultramarinos21.
Foi neste contexto que o Rio de Janeiro se tornou a nova capital do
Estado do Brasil. A centralidade da urbe e do seu porto consolidara‑se ao
longo da primeira metade do século. Em 1751, a criação de um Tribunal da
Relação na cidade, há muito pedida, confirmara a posição cimeira que o Rio
de Janeiro vinha chamando a si. Assim, quando em Janeiro de 1763 morreu
Gomes Freire de Andrade e foi nomeado o novo vice‑rei do Brasil, o conde
da Cunha, este recebeu ordem para residir no Rio de Janeiro. Com a trans‑
ferência da capital de São Salvador da Baía para o Rio de Janeiro culminava
Hist-da-Expansao_4as.indd 272 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 273
o movimento que deslocara para a região centro‑sul o eixo político e econó‑
mico do Estado do Brasil. Esta centralidade, agora formalmente afirmada,
era também o fruto das novas circunstâncias geopolíticas no Atlântico Sul,
pois a pressão espanhola no Prata exigia que o centro do poder, articulador
da defesa, estivesse mais próximo do teatro de operações.
A recuperação da capitania de São Paulo, em 1765, enquadra‑se nesta
conjuntura do pós‑guerra e na continuidade das dinâmicas de reorganização
administrativa que se desenhavam desde meados do século. Em 1748, como
vimos, o governo militar dos territórios meridionais passara para o Rio de
Janeiro. Porém, na década de 1760, a urgência de reorganizar a defesa da
bacia platina sob jurisdição portuguesa, de estabelecer entre o Sul e Minas
Gerais um território que constituísse uma barreira a qualquer tentativa de
avanço inimigo e de atender mais facilmente à fronteira do sertão oeste levou
à restauração da capitania, cujo governo de São Paulo foi entregue a um
homem próximo de Sebastião José, o quarto morgado de Mateus, D. Luís
António de Sousa Botelho Mourão, com uma acção de relevo na guerra
de 1762. De acordo com as instruções recebidas, o novo governador devia
assegurar a ocupação e o povoamento do sertão, fundando vilas, reunindo e
civilizando os índios da capitania e estimulando a agricultura; recuperar as
terras perdidas no Sul para os Espanhóis; e perseguir os Jesuítas.
O redesenhar do mapa das capitanias inscrevia‑se numa conjuntura pre‑
cisa e obedecia a uma lógica que se pretendia mais integradora ou, no mínimo,
articuladora dos distintos espaços jurisdicionais, sobretudo em termos mili‑
tares. Esta é, aliás, a concepção que emerge das instruções dadas em 1775
ao novo governador de Minas Gerais. Afirmando‑se, logo a abrir, que em
relação aos domínios ultramarinos «a defensa, conservação e segurança de
todos e de cada um dêles» era um dos mais importantes objectivos da monar‑
quia, declarava‑se de imediato que o governo de uma capitania devia não só
defendê‑la, mas acudir a qualquer outra que fosse atacada. A conclusão era
que «nesta recíproca união de poder consiste essencialmente a maior fôrça
de um Estado, e na falta dela tôda a fraqueza dêle»22. Contudo, se este fim
foi procurado, não parece que tenha sido efectivamente alcançado, apesar
de as questões articuladas do povoamento e defesa do litoral, da ocupação
do sertão e do fomento económico terem merecido a atenção de vice‑reis e
governadores.
Não se tratava somente do facto de os agentes da monarquia não terem
todos a mesma autonomia e habilidade para os equilíbrios políticos ou a
capacidade de resposta para fazer face ao inesperado ou à crise que afectava
algumas capitanias, como a de Minas Gerais, que enfrentava a queda da
mineração23. Entre o que era arquitectado na Europa e o que se conseguia
executar nas periferias imperiais existia um fosso. O poder da monarquia
Hist-da-Expansao_4as.indd 273 24/Out/2014 17:17
274 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
e dos seus principais representantes era, por vezes, mais formal que real.
Para além da fragmentação jurisdicional das capitanias, havia que vencer
as lonjuras, a resistência das populações ou das elites locais, os conflitos de
jurisdição e, com frequência, a falta de meios, humanos e materiais. Valha
o exemplo da recuperada capitania de São Paulo e do morgado de Mateus,
zeloso a executar as ordens recebidas e actor também de motu proprio, sem‑
pre pronto a valorizar as suas iniciativas. Cedo se apercebeu de uma dificul‑
dade insuperável para o bom governo do território, o excesso das distâncias,
e, embora tenha procurado aplicar as instruções recebidas e as que lhe foram
sendo transmitidas, deparou‑se com a oposição de algumas câmaras face às
suas iniciativas e a resistência das populações ao recrutamento e disciplina
militares. Se alimentou ilusões quanto ao seu futuro pós‑imperial, fiando‑se
na intimidade com Sebastião José e a sua Casa, face aos resultados e confli‑
tos com o vice‑rei regressou ao reino sem aclamação e sem resposta às suas
pretensões a receber um título24.
Neste quadro de reorganização territorial, em matéria de geografia
político‑administrativa merece ainda referência a divisão operada no Estado
do Grão‑Pará e Maranhão em 1772 com a criação de dois governos, o
Estado do Grão‑Pará e Rio Negro e o do Maranhão e Piauí, materializada
pela provisão de 9 de Julho de 1774. A nova configuração, justificada pela
extensão e enormes distâncias, que prejudicavam os moradores do Mara‑
nhão quando estes tinham de recorrer às autoridades sedeadas em Belém,
articulou mais de perto espaços com maiores afinidades entre si mas, no
geral, não modificou o rumo da governação na região amazónica. Os suces‑
sores de Francisco Xavier de Mendonça Furtado prosseguiram a política
implementada na década de 1750, com relevo para Manuel Bernardo de
Melo e Castro. No plano económico, cresceu a produção de géneros como
o cacau, o algodão e o arroz, estimulada pela acção da Companhia Geral
do Grão‑Pará e Maranhão25.
No Sul, a disputa entre Espanhóis e Portugueses manteve‑se até 1778,
com a mobilização de efectivos portugueses para a Colónia do Sacramento,
o Rio Grande e a ilha de Santa Catarina. A defesa competia à tropa de linha,
a auxiliares e ordenanças e, de acordo com o disposto na carta régia de
22 de Março de 1766, de aplicação em todas as capitanias, o recrutamento
para estes corpos abrangeu nobres e plebeus, brancos, mulatos e negros,
fossem livres ou escravos. A recruta estendeu‑se às ilhas açorianas, pro‑
cesso que continuou ao longo do século26. Em 1774, criaram‑se as Juntas da
Fazenda de São Paulo e do Rio Grande, subordinadas à do Rio de Janeiro,
de modo a assegurar a subsistência das tropas. A necessidade de assegurar
a soberania portuguesa nos territórios do Sul levou à manutenção de uma
esquadra portuguesa, composta, em 1776, por 13 navios27. A sua existência
Hist-da-Expansao_4as.indd 274 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 275
não impediu, contudo, a ocupação de Santa Catarina pelos Espanhóis entre
Fevereiro de 1777 e Julho de 1778. O Tratado de Santo Ildefonso, de 1 de
Outubro de 1777, assinado já com D. Maria I no trono, procurou solucionar
o problema da demarcação da fronteira meridional do Brasil. Nas suas linhas
gerais, quase reproduziu o Tratado de Madrid, ratificando os acordos de 1668
e 1715 e reafirmando o conceito do uti possidetis. À Coroa espanhola caberia
o Sacramento, a bacia do rio da Prata e, agora, os territórios dos «Sete Povos
das Missões» do Paraguai, reconhecendo Madrid o direito da Coroa portu‑
guesa à ilha de Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Significativamente,
nesse mesmo ano, Carlos III criou o vice‑reinado do Rio da Prata, uma vasta
jurisdição que ia do Atlântico ao Pacífico e que constituía uma afirmação
inequívoca do interesse espanhol no controlo e na articulação da exploração
mineira e do comércio de Lima e Buenos Aires28. O epílogo do Tratado de
Santo Ildefonso teve lugar muito longe do Brasil meridional, nas ilhas do
golfo da Guiné. Valendo‑se da sua superioridade militar e da falta de apoio
britânico a Portugal – a Grã‑Bretanha estava focada na América do Norte,
onde as suas colónias tinham declarado a independência –, a Coroa espanhola
exigiu que a monarquia portuguesa lhe cedesse domínios no golfo da Guiné.
Jogada arriscada, mas que revelava a importância estratégica das ilhas equa‑
toriais e o interesse de Espanha em deter uma base na costa africana, que lhe
permitiria uma maior intervenção nos circuitos de navegação que ligavam a
África à América. Portugal cedeu e propôs a entrega de Fernando Pó e Ano
Bom, duas ilhas que não tinham o mesmo nível de ocupação que as de São
Tomé e do Príncipe. Aliás, Ano Bom vivia numa situação de independência
de facto da Coroa portuguesa e a cedência dessa parcela aliviava Portugal de
um território habitado por uma população que resistia a aceitar a soberania
que Lisboa pretendia impor.
O Tratado de Santo Ildefonso foi completado por um segundo acordo,
assinado e ratificado em Março de 1778. Mas já em Outubro do ano anterior
tinham sido enviadas instruções para o vice‑rei em Buenos Aires e, em meados
de Abril de 1778, uma pequena frota partiu de Montevideu rumo à ilha do
Príncipe e, dali, às ilhas de Fernando Pó e de Ano Bom, sob o comando
do conde de Argelejo. A expedição não teve o sucesso pretendido e a aventura
terminou em 1780 com o abandono de Fernando Pó pelos Espanhóis, o que
não significou a perda do reconhecimento da soberania sobre as duas ilhas,
apenas o seu abandono durante uns anos29.
A história do acerto e fixação das fronteiras na América do Sul não termi‑
nou com o Tratado de Santo Ildefonso, como, de resto, episódios ocorridos
já depois da independência do Brasil iriam demonstrar. Ao contrário do que
pretendiam e defendiam os soberanos das monarquias ibéricas e os seus
representantes nos domínios, as fronteiras políticas imaginadas e desenhadas
Hist-da-Expansao_4as.indd 275 24/Out/2014 17:17
276 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
em cartas eram, precisamente, um produto da imaginação de monarcas,
ministros e diplomatas europeus que nos sertões da América – mas poderia
ser em outro continente – eram de difícil, se não impossível, materialização.
No Sul, o conflito hispano‑português manteve‑se, de forma intermitente, até
ao início do século xix e os vassalos encarregaram‑se de demonstrar, pela sua
mobilidade e pela prática do contrabando, que a questão das soberanias e
das fronteiras era um embaraço30. No Norte, também a questão fronteiriça
ficou por resolver. Ali, a definição de fronteiras envolvia ainda os Franceses,
instalados na Caiena desde 1676‑1677 e com novos argumentos baseados
na leitura que Guillaume Delisle fizera na Academia Real das Ciências de
Paris, a 27 de Novembro de 1720. À margem das disputas em torno da fixa‑
ção da divisória entre os territórios de ambas as coroas, índios e escravos
fugidos penetravam na floresta e moviam‑se sem controlo por parte das
autoridades portuguesas e francesas. No final do século xviii e no início do
século xix, novas contendas dariam origem a tratados que procuraram regular
o assunto31. A questão fronteiriça entre a Caiena e o Brasil só seria encerrada
em definitivo em 1900, confirmando que a configuração territorial do Brasil
se construiu na muito longa duração.
Companhias para o Atlântico: mercantilismo tardio e tráfico de escravos
No contexto da competição imperial, dando seguimento a uma concepção
de base mercantilista defendida nos seus tempos de diplomata em Londres
e procurando responder ao protagonismo inglês na economia portuguesa32,
ao mesmo tempo que fomentava o trato intercolonial e, em particular, o dos
territórios americanos acima do Rio de Janeiro, Sebastião José de Carvalho
e Melo patrocinou a criação de duas companhias monopolistas, a Compa‑
nhia Geral do Grão‑Pará e Maranhão (1755‑1778) e a Companhia Geral de
Pernambuco e Paraíba (1759‑1779). O objectivo prioritário das companhias
era o abastecimento dos mercados sul‑americanos com mão‑de‑obra africana,
ideia que muito deve a Francisco Xavier de Mendonça Furtado no respeitante
ao Grão‑Pará e Maranhão, mas que seguia a resolução de 27 de Maio de
1750, referida nas instruções régias dadas ao governador e que tiveram a
assinatura do secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte Real. Coube,
porém, a Francisco Xavier reclamar a importância da introdução de escravos
negros, e também terá havido mão sua no que tocou à génese da Companhia
Geral de Pernambuco e Paraíba33.
Com efeito, o irmão de Sebastião José constatara directamente que o
meio mais eficaz de retirar a população indígena do controlo dos religiosos
e de, concomitantemente, vitalizar a exploração agrícola seria através da
Hist-da-Expansao_4as.indd 276 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 277
introdução de escravos africanos. É que, se a região amazónica era rica e o
comércio das «drogas do sertão» podia alimentar os cofres da Fazenda Real,
já os recursos dos locais eram escassos e, ademais, o Estado carecia de gente
que o povoasse. De novo se recorreu aos ilhéus dos Açores, mas também
da Madeira, para o povoamento das regiões de fronteira. Os ilhéus partici‑
param na colonização das vilas de Bragança e de Ourém, nas margens dos
rios Guaçu e Caeté, mas, apesar de habituados ao rigor de uma vida dura,
sofreram com a falta de meios no sertão e com o clima, pois, como resumiu
Francisco Xavier em carta ao irmão, escrita no arraial de Mariuá, «aquele
trabalho para que na nossa terra são precisos cinco homens são necessários
nesta ao menos vinte»34.
O recurso a todos os meios era essencial para garantir o povoamento
e, nesta matéria, o fiel colaborador do capitão‑general, o bispo do Pará,
mostrou‑se mais tolerante ou pragmático do que o próprio Francisco Xavier,
defendendo o envio de soldados casados com prostitutas para as vilas de
Borba e Javari, antigas aldeias missionárias no rio Negro. Assim livraria a
cidade de Belém de escândalos e contribuiria para a colonização da capita‑
nia de São José do Rio Negro. Também a nova política indigenista almejava
promover o povoamento do Estado do Grão‑Pará e Maranhão, embora se
reconhecesse que a distribuição dos índios pelo território não seria fácil e
que a sua adaptação aos ritmos de uma vida de trabalho e a participação em
funções civis e militares iriam demorar35. Ilhéus, índios e soldados não bas‑
tavam, era necessário ter acesso a força braçal barata e em quantidade. Aqui
entraram em cena as companhias reclamadas por Francisco Xavier e patro‑
cinadas por Sebastião José. Não sem protestos e resistências, pois, embora
tenham promovido a produção alimentar e uma agricultura de exportação,
vieram «reintroduzir os interesses metropolitanos nas áreas portuguesas
conquistadas pelo comércio luso‑brasileiro»36.
A Companhia Geral do Grão‑Pará e Maranhão foi fundada pelo alvará
de 7 de Junho de 1755 e extinta por decreto de 5 de Janeiro de 1778. Na
costa africana foi a principal companhia a actuar nos Rios da Guiné, graças
ao alvará secreto de 28 de Novembro de 1757, que lhe concedeu o exclusivo
do comércio das ilhas de Cabo Verde e costa da Guiné. A companhia tinha
grandes interesses nas ilhas de Cabo Verde (a urzela, os panos de algodão) e
na zona dos Rios da Guiné e instalou bases em quase todas as ilhas do arqui‑
pélago e ainda em Bissau, Cacheu, Angola e Benguela. Ao que parece, não
actuou na Costa da Mina. Em relação a Cabo Verde, a companhia beneficiou
de privilégios excepcionais. Seguindo‑se à petição de 14 de Novembro de
1757, a Junta da Administração da Companhia recebeu o governo político e
militar das ilhas por um período de vinte anos, podendo apresentar nomes que
seriam aprovados pelo rei. A companhia assumiu assim uma jurisdição régia
Hist-da-Expansao_4as.indd 277 24/Out/2014 17:17
278 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
e o descontentamento com as condições em que actuava manifestou‑se logo
em 1761, face ao aumento dos preços dos produtos vendidos e ao controlo
mais apertado da navegação estrangeira, legal ou ilícita. No contexto de uma
«economia de favores», a Companhia Geral do Grão‑Pará e Maranhão rece‑
beu amplos privilégios, mas não cumpriu as obrigações devidas pela situação
de exclusivo que deteve em Cabo Verde. A companhia explorou a urzela e o
comércio dos panos, mas não investiu nas ilhas, cuja situação económica e
social entrou em colapso, um quadro agravado pela fome de 1773‑177637.
A Companhia Geral do Grão‑Pará e Maranhão dedicou‑se essencialmente
ao tráfico esclavagista, mas exportou também outros produtos: urzela, cera,
marfim e panos de algodão. No resgate dos escravos, as mercadorias mais
utilizadas – as mais procuradas – eram barras de ferro, pólvora e armas de
fogo, espadas, missangas e aguardente. Durante os 18 anos da sua activi‑
dade, a companhia deteve 31 navios, embora tenha usado um total de 64,
e adquiriu 31 317 escravos, dos quais 71,5% (22 404) dos Rios da Guiné
e 28,5% de Angola e Benguela. No geral, a acção da Companhia Geral
do Grão‑Pará e Maranhão não contribuiu para recuperar a posição que
os Portugueses haviam detido no passado, nem para minimizar os efeitos
da crise económica e comercial em Cabo Verde. No final de Setecentos, os
estrangeiros continuavam em força na região dos Rios da Guiné, nomea‑
damente os Ingleses38.
Mais a sul, na Costa da Mina, foi a Companhia Geral de Pernambuco e
Paraíba que assegurou o fornecimento de escravos ao Brasil. Não concen‑
trando as suas actividades exclusivamente no golfo da Guiné – a companhia
actuou igualmente em Angola –, levou a cabo um tráfico de algum relevo, que
alimentou sobretudo os mercados das duas capitanias e das regiões limítrofes.
Com início de actividade em 1761, entre 1763 e 1779, a troco de tabaco e
aguardente, os agentes da companhia embarcaram na Costa da Mina, com
destino a Pernambuco, 9390 escravos adultos e 110 crias, dos quais viriam a
falecer um adulto e três crias. Em termos de médias quinquenais, registou‑se
uma queda desde os anos de 1763‑1767 até os de 1779‑1782. A diminuição
no volume do trato sugere uma secundarização da Costa da Mina face a
sectores como Angola, mas também deverá ser tido em consideração que os
ramos principais da acção da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba
assentaram na exploração agrícola do Nordeste brasileiro e na articulação
comercial entre o reino português e a sua colónia sul‑americana39.
As duas companhias também operaram em Angola. No período 1756‑1788
– entre 1778 e 1788 em regime de comércio livre –, a Companhia Geral do
Grão‑Pará e Maranhão comprou em Angola 8913 escravos, dos quais apenas
embarcou 8272; destes, faleceriam em viagem ou nos armazéns brasileiros
155540. Os escravos que a Companhia Geral do Grão‑Pará e Maranhão
Hist-da-Expansao_4as.indd 278 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 279
comprou em Angola representaram apenas 28,5% do total de escravos
adquiridos entre 1756 e 1788: o sector mais importante para a companhia
era o dos Rios da Guiné. Por seu lado, entre 1760 e 1782, a Companhia
Geral de Pernambuco e Paraíba embarcou em Luanda e Benguela um total de
45 898 escravos adultos e 480 crias. Após um decidido início de actividade,
as médias de exportação caíram para valores mais modestos, acompanhando
o fim do monopólio da companhia e traduzindo a instalação da concorrência
estrangeira na região41.
Os escravos resgatados pelas duas companhias majestáticas e transpor‑
tados para o Brasil não ficaram todos na Amazónia e no Nordeste, havendo
lugar à revenda e reexportação de peças para outros portos da América do
Sul, como o Rio de Janeiro. No entanto, os portos da Baía e do Rio de Janeiro
não caíram no raio de acção das companhias e mantiveram os respectivos
circuitos preferenciais. A praça do Rio de Janeiro, aliás, com a sua importante
comunidade de homens de negócio, era o grande porto de destino dos escra‑
vos saídos de Angola e de Benguela: no conjunto dos portos brasileiros que
serviram de destino final aos 614 navios que partiram do porto de Luanda
rumo ao Brasil entre 1725 e 1794, o Rio de Janeiro acolheu 314 (51,1%), a
Baía 168 (27,4%) e Pernambuco 109 (17,8%), números muito distantes dos
8 de Santos, 7 do Maranhão e 4 do Sacramento42.
No Norte, a legislação régia procurou obviar à escassez de mão‑de‑obra
local. Um edital de 1773 determinou que os administradores da companhia
vendessem os escravos sem lucro, ou seja, ao preço de custo apenas se soma‑
ria a despesa do transporte. Os administradores, aliás, eram obrigados a dar
preferência aos lavradores na venda dos escravos. Neste quadro, os preços dos
escravos resgatados na costa africana oscilaram entre os 20 000 e os 120 000
réis nas praças do Pará e do Maranhão43. Foi sobretudo desde 1759‑1760
que o impacto da actividade mercantil, financeira e creditícia da Companhia
Geral do Grão‑Pará e Maranhão se começou a manifestar de forma mais
evidente na economia regional amazónica. A mão‑de‑obra africana esteve na
base da superação das limitações da agricultura, sustentando o aumento da
produção de diversos géneros que dinamizaram a região amazónica e, em
particular, o sucesso dos produtos que a integraram de forma mais estreita
no giro mercantil do Atlântico, o cacau, no Pará, e o algodão, no Maranhão.
O Pará exportava mais de 90% do cacau brasileiro, a maior parte do qual
reexportada para os mercados europeus, e na década de 1770 o Maranhão
produziu cerca de 560 toneladas anuais de algodão. O efeito dinamizador
das companhias também se manifestou no Nordeste por via da actividade
da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, que estimulou a economia
açucareira: entre 1762 e 1778, a exportação anual de açúcar esteve acima
das 8000 caixas44.
Hist-da-Expansao_4as.indd 279 24/Out/2014 17:17
280 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Em contraste com o que sucedeu nas ilhas de Cabo Verde, foram evidentes
os efeitos indutores das companhias na transformação da geografia humana e
no crescimento económico do Norte e do Nordeste. Após o surto de criação
de vilas no final da década de 1750 e na de 1760, no final do reinado jose‑
fino existiam mais de 60 vilas nas capitanias do Grão‑Pará, São José do Rio
Negro, Maranhão e Piauí. Se alguns destes núcleos resultaram da iniciativa
de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, é também inegável que a com‑
panhia contribuiu para o processo de ocupação do território, promovendo
a fixação de núcleos populacionais, através da articulação entre o fomento
da agricultura e a exportação dos principais géneros da região.
Angola: escravos, feiras e fomento económico em tempos de regalismo
No reino de Angola, a primeira década do reinado de D. José não conheceu
mudanças substantivas na acção governativa45. Em meados do século xviii,
a estratégia portuguesa para Angola continuava a girar em torno do trato de
escravos para o Brasil. A questão das feiras e do comércio no sertão perma‑
necia central e, por esse motivo, assistiu‑se à criação de um conjunto de feiras
oficiais e à tentativa de regularizar o comércio no interior angolano. Tarefa
difícil na tensão sempre presente entre liberdade e controlo do comércio, para
mais em Angola, onde a legislação espelhou a coexistência de orientações
divergentes. Neste contexto, a 26 de Junho de 1762, João Álvares Ferreira,
importante negociante de Luanda, apresentou à Junta Comercial um estudo
sobre as modalidades de comércio no sertão de Angola, no qual se considerava
que as feiras eram prejudiciais ao comércio46. A opinião, contrária à política
da Coroa, traduzia o sentir daqueles que não queriam que as actividades
no sertão fossem controladas pelos agentes da monarquia. O parecer não
foi seguido a nível oficial e criaram‑se novas feiras ao tempo do governo de
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho (1764‑1772). A estratégia, orientada
contra os luso‑africanos e procurando alinhar o comércio do interior com os
objectivos de Lisboa – estabelecer preços fixos, excluir dos banzos («pacotes»
de mercadorias) os produtos que não tivessem ido do reino –, não obteve,
contudo, o sucesso desejado. Após a partida do governador, os luso‑africanos
tomaram uma série de iniciativas que contrariavam as medidas do governante,
destacando‑se a guerra iniciada contra o Mbailundu e outros fornecedores de
escravos do planalto central, feita com munições do governo, e que originou
um grande afluxo de cativos ao litoral47.
Como em todo o império, os anos centrais e finais do reinado josefino
foram em Angola um tempo de implementação de projectos e reformas
ambiciosas. Alguns dos projectos eram antigos, relacionando‑se com as vias
Hist-da-Expansao_4as.indd 280 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 281
de comunicação e a desejada ligação com Moçambique. Neste particular,
D. António Álvares da Cunha, que desembarcou em Luanda a 23 de Julho de
1753 e se revelou «hum operario incançavel» no dizer de fonte mais tardia,
terá seguido as concepções de seu tio, D. Luís da Cunha, com a realização
de uma expedição ao Cuango, em 1755‑1756, que se constituiu como um
reconhecimento de territórios ainda desconhecidos em matéria de geografia
física e humana, fauna e flora48. Os serviços do tio e o seu desempenho no
governo de Angola estiveram na origem da mercê do título de conde (1760)
e, depois, do governo do vice‑reinado do Brasil (1763‑1767). A sua trajectória
culminaria com a presidência do Conselho Ultramarino (1768).
O reino de Angola dificilmente poderia ficar à margem das transformações
que se iam introduzindo, com maior ou menor sucesso, na administração
do império e, em particular, no espaço atlântico. Dada a importância de
Angola no fornecimento de escravos ao Brasil e a outros mercados, depois
da criação das duas companhias monopolistas e no seguimento do alvará de
1758, Sebastião José de Carvalho e Melo, já conde de Oeiras, apresentou a
D. José um parecer de sua lavra no qual expôs um projecto para «restituir»
a agricultura, a navegação e o comércio de Angola. Afirmando que o reino
de Angola podia vir a ser um império, defendeu uma política de colonização
que faria daquela conquista uma colónia de povoamento. Apostando na ter‑
ritorialização da presença portuguesa em Angola e na politização do sertão,
o conde de Oeiras esperava obter uma melhor integração das conquistas
atlânticas e, por essa via, maiores dividendos para a monarquia portuguesa.
Projecto visionário ou megalómano, mas, no fundo, impraticável, devido à
vastidão de um espaço em muito desconhecido dos Europeus, às resistências
das chefaturas locais à presença branca e às debilidades demográficas e sani‑
tárias que caracterizavam a presença portuguesa49.
D. António de Vasconcelos (1758‑1764), homem da confiança de Sebastião
José, terá sido o primeiro governador «pombalino» de Angola. Porém, foi
D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho que alguns autores consideraram
ter sido «o governador pombalino por excelência de Angola»50. O governador
estava ligado a Sebastião José de Carvalho e Melo por laços de parentesco
espiritual – o conde de Oeiras era padrinho de três filhos de Francisco Ino‑
cêncio –, o que terá influenciado a nomeação do primeiro para o governo de
Angola51. Durante o seu governo, aplicou o repertório de medidas que se asso‑
ciam à visão pombalina para a conquista. A exploração geográfica conheceu
um grande impulso, tanto para leste, como para sul, sobretudo em Benguela,
apontando ao planalto da Huíla, e fundou‑se Novo Redondo (1769), como
ponto de apoio na ligação entre Angola e Benguela, e as capitanias‑mores
de Bié e do Bailundo (1770). No plano da economia, o governador organi‑
zou a exploração do sal em Benguela; projectou e montou uma fábrica de
Hist-da-Expansao_4as.indd 281 24/Out/2014 17:17
282 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
ferro em Nova Oeiras, recorrendo à mão‑de‑obra de ferreiros e fundidores
locais, empreendimento que os seus sucessores deixaram cair em desuso, e
uma outra de solas, atanados e couros em Benguela, de modo a valorizar a
pecuária da região; tentou desenvolver a agricultura, publicando um «bando»
em que ameaçava expropriar todos aqueles que tivessem terras por cultivar
e procurando incrementar a cultura da urzela e do anil; estabeleceu novas
feiras; e tentou uma exploração da riqueza mineral de Angola52. De igual
modo, foi implementado o funcionamento do Terreiro Público, criado por
carta régia de 13 de Novembro de 1761 a partir de proposta de Sebastião
José. A sua direcção cabia ao senado da câmara de Luanda e destinava‑se a
articular o hinterland angolano e a economia atlântica. A função do Terreiro
Público era dirigir e fiscalizar a distribuição e venda dos produtos agrícolas
mais importantes: farinha de mandioca, feijão e milho, base da alimentação
em Luanda e igualmente alimento dos escravos embarcados para o Brasil.
Convirá ainda referir que uma parte do soldo dos militares era paga em
farinha de mandioca, justificando o interesse da Fazenda Real em controlar
os preços dos produtos53.
De regresso ao reino, o governador fez do seu desempenho e dos trabalhos
«no serviço de Sua Magestade, e no bem dos povos, que com o governo de
Angola me forão confiados» uma auto‑avaliação muito positiva, conseguindo
«a publica armonia» graças aos dotes pessoais, à fortuna e à protecção da
corte, como escreveu em carta ao filho Rodrigo. O secretário de Estado e
já marquês de Pombal, aliás, felicitara‑o pelo «completo acerto» com que
actuara ao serviço da monarquia54. Angola viveu assim um breve período de
fomento e investimento reformista. Tal como em outras partes do império,
nesta segunda metade do século xviii estaríamos a assistir à aplicação em
Angola de um novo paradigma, norteado pela noção de «polícia» e pelo
ideal da «administração activa». Os sucessores de D. Francisco Inocêncio de
Sousa Coutinho não seguiram todas as suas linhas de actuação e, pontual‑
mente, ignoraram mesmo os projectos daquele governador, como foi o caso
de D. António de Lencastre (1772‑1779), que não se interessou pela fábrica
de ferro.
Se isso não representou o abandono total do «programa» anterior,
assinalando‑se uma continuidade entre os reinados de D. José I e de D. Maria I,
também não é menos verdade que, no essencial, a conquista de Angola, que
incluía o governo de Benguela, importava sobretudo porque a região era
a grande fornecedora de mão‑de‑obra escrava ao mundo atlântico e, em
particular, ao Brasil. Deste modo, o avanço para o interior, as campanhas de
pacificação de sobas inimigos e a colonização do sertão eram vectores estreita‑
mente relacionados com a necessidade de dinamizar o comércio intercolonial,
no caso entre Angola e o Brasil55. E nem o Drang nach Osten do reino de
Hist-da-Expansao_4as.indd 282 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 283
Angola, com as campanhas militares da década de 1850, alterou o facto de
a presença portuguesa na região ser limitada e com um governo sobretudo
militar56, com a excepção de Luanda, onde se concentrava o maior número
de brancos. Estes, todavia, eram apenas 251 em 1773. A maioria da popu‑
lação portuguesa era formada por degredados, ciganos e cristãos‑novos.
Na Luanda de Setecentos, a família dominante era a mestiça. A miscigenação
era uma necessidade e, como em outros espaços do império, um meio de
defesa do sistema imperial57.
O ressuscitar dos Rios de Sena e a autonomia de Moçambique
Na costa oriental de África, apesar de tentativas mais ou menos continua‑
das no tempo para reanimar a participação portuguesa nos circuitos mercan‑
tis do Índico, por meados do século xviii o quadro geral não era animador.
Na Zambézia, por 1722, os registos dão conta de 300 portugueses, 178 india‑
nos e 2914 africanos baptizados. Graças ao sistema dos prazos, apesar da
diversidade, aos prazeiros e às donas, a presença portuguesa mantinha‑se no
vale do Zambeze e no sertão, detendo os prazeiros uma posição‑chave nas
relações com a Coroa portuguesa. No litoral, os Portugueses instalaram‑se
em Inhambane de forma permanente a partir de 1727, um assentamento
que se afirmou enquanto pólo de poder à escala local. No entanto, ao nível
do comércio, não eram os Portugueses ou a Fazenda Real que detinham o
controlo dos circuitos na região. Em Inhambane, o comércio de marfim e
escravos era controlado pelos mercadores indianos a partir de Moçambique.
Mas desde 1723 que os agentes mercantis asiáticos, hindus e muçulmanos
se encontravam instalados na costa com autorização da Coroa portuguesa,
mero reconhecimento legal de uma situação de facto. E eram os mercadores
baneanes que financiavam a Fazenda Real e dominavam os circuitos que
ligavam Moçambique a Diu e a Damão, como revelam os direitos alfande‑
gários para 1754‑1756. Aos mercadores asiáticos tinham‑se somado, desde
a década de 1720, os europeus. Entre 1721 e 1730, os Holandeses tinham
mantido uma posição na baía de Delagoa, no local da actual Maputo. Por
outro lado, a Compagnie des Indes estava instalada na Île‑de‑France desde
1721 e os seus navios transportavam escravos de Moçambique para Mada‑
gáscar, registando‑se o primeiro grande carregamento em 1733. Nas décadas
seguintes, o comércio francês com a ilha de Moçambique foi aumentando e
contou com o apoio de autoridades portuguesas, embora sem conseguirem
o controlo da costa58.
Neste contexto, a perspectiva que em Lisboa se tinha do trato na costa
oriental africana só podia ser negativa. Em 1737, as notícias que chegavam a
Hist-da-Expansao_4as.indd 283 24/Out/2014 17:17
284 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Lisboa enviadas de Goa davam conta do mau estado em que se encontrava o
comércio dos Rios de Sena devido à má administração da Junta de Comércio
de Moçambique, instalada na capital do Estado da Índia59. Não é, pois, de
admirar que, anos volvidos, a Junta de Comércio tenha sido destituída das
suas atribuições, embora viesse a ser restabelecida em 1758. As propostas
de um marquês de Alorna não se tinham concretizado e, assim, apesar de as
relações entre Moçambique e a Índia terem alguma regularidade, os cofres
da Fazenda Real não se enchiam como Lisboa pretendia, sendo reconhecida
a necessidade de se encontrar uma solução que potenciasse o aumento do
volume do comércio e o dos ingressos. Neste jogo de interesses, entre ganhos
e perdas, colaboração e fraude, quem defendia a Coroa era também quem
contribuía para os descaminhos da Fazenda.
Com este pano de fundo, no início do reinado de D. José promoveu‑se
a autonomização do governo da região africana de Moçambique e Rios de
Sena. Sebastião José de Carvalho e Melo, em carta ao irmão, de 6 de Julho
de 1752, desculpava‑se na demora da resposta com o facto de acompanhar
o rei e de ter ficado só, pois o seu colega de gabinete, o secretário de Estado
Diogo de Mendonça Corte Real, tivera de despachar «uma expedição que
foi segurar Moçambique e cuidar em ressuscitar os rios de Sena»60. Com a
criação de uma nova administração, a Coroa esperava igualmente respon‑
der a matérias de defesa. O novo governador e capitão‑general da capitania
de Moçambique, Rios de Sena e Sofala, com sede na ilha de Moçambique,
ficava dependente de Lisboa e tinha jurisdição sobre a costa desde a baía de
Lourenço Marques até o cabo Delgado e ainda sobre o interior.
A expulsão dos Jesuítas, como nos mais domínios da monarquia portu‑
guesa, reduziu o número de agentes imperiais europeus e removeu um dos
instrumentos da colonização portuguesa numa zona onde os poucos brancos
moradores viviam na sua maioria com mulheres negras ou mulatas, conforme
atesta uma relação dos moradores de 1757. Todavia, apesar da reconhecida
importância da região para os interesses portugueses, as primeiras orientações
para o governo da capitania‑geral, estabelecidas na instrução dada ao gover‑
nador Calisto Rangel Pereira de Sá, em 1761, mandavam de forma clara que
se desenvolvesse a actividade mercantil, com a liberdade geral do comércio no
porto de Moçambique; que se elevassem a vilas os centros populacionais de
Quelimane, Sena, Tete, Zumbo, Manica, Sofala, Inhambane e Ilhas de Que‑
rimba; e que se não optasse pela conquista de terras, pois «naquelas partes
não quero alguma extensão nas terras, ou nos domínios delas»61.
Nos anos subsequentes, os núcleos afro‑portugueses foram elevados a
vilas, com senado, à imagem do modelo reinol, mas, exceptuando a ilha de
Moçambique, eram assentamentos pouco urbanizados e com recursos limi‑
tados, configurando‑se mais como sociedades africanas do que europeias62.
Hist-da-Expansao_4as.indd 284 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 285
No que respeitava ao regime jurídico dos prazos, a sua moldura legal sofreu
modificações com a nova relação de poderes, embora os efeitos da mudança
não se tenham sentido de imediato. De um modo geral, aproximou‑se o
regime da propriedade daquele que existia no Brasil, tendo como referência
as sesmarias e a legislação produzida para os territórios sul‑americanos, ten‑
dência reforçada ao longo da segunda metade do século. A clara aposta no
comércio e na concentração das populações em espaços organizados segundo
o modelo português, para melhor se promover, ainda que limitadamente, a
constituição de uma «sociedade civil», é contemporânea das directivas que
se aplicavam na América do Sul e sugere que a mão de Sebastião José ou
dos dois irmãos Carvalho esteve na concepção das instruções. Estava em
linha com o ideário conhecido do secretário de Estado, defensor do papel do
comércio e, neste, do lugar das companhias no desenvolvimento do Estado.
De qualquer modo, como o infeliz Calisto Rangel morreu durante a viagem
que o levava para Moçambique, as instruções só começaram a ser aplicadas
com o sucessor, João Pereira da Silva Barba, em 1763.
No começo do reinado de D. José, novas propostas, com velhas ideias,
surgiram para fomentar o comércio com a Ásia. A Companhia de Comér‑
cio da Ásia, de Feliciano Velho Oldemberg, foi criada com a protecção do
secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte Real e largos privilégios,
mas caiu como consequência do terramoto de 1755, morrendo pobre o seu
principal accionista. No caso de Moçambique, como o comércio da capitania
deixara de estar subordinado ao Estado da Índia, também foram formuladas
propostas com o mesmo fim. Antes mesmo da concessão aos moradores da
Ásia Portuguesa da liberdade de comércio com Moçambique, com excepção
do estanco do velório ou missanga, pelo alvará de 10 de Junho de 1755,
alargada a todos os súbditos portugueses por alvará de 7 de Maio de 1761, já
o primeiro governador, Francisco de Melo e Castro (1752‑1758), defendera
o projecto de uma companhia para o Índico e o estabelecimento de armadores
e negociantes na ilha de Moçambique. Francisco de Melo e Castro, aliás, devia
saber do que falava, pois favorecia o circuito dos navios negreiros que unia
Moçambique às ilhas francesas (Mascarenhas e Comores). Mas, à semelhança
de experiências anteriores, as companhias pensadas para o comércio asiático
falharam ou não passaram da idealização63.
Outros velhos problemas não tinham desaparecido como por milagre,
após a separação do governo de Moçambique do Estado da Índia. Os des‑
caminhos da Fazenda Real continuavam a fazer‑se sentir e, em 1762, uma
carta régia dirigida ao governador da praça de Moçambique mandava que
se tomassem todas as providências para prevenir o contrabando de tabaco,
actividade que tinha aumentado depois da abertura dos portos brasileiros.
Esta decisão foi de capital importância na dinâmica comercial do período,
Hist-da-Expansao_4as.indd 285 24/Out/2014 17:17
286 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
o que as décadas seguintes confirmariam. A liberdade de comércio para os
navios brasileiros na África Oriental, concedida por diploma de 7 de Maio de
1769, marcou o arranque da participação dos portos brasileiros no comércio
de escravos do Índico.
As ligações entre o Atlântico e o Índico portugueses eram antigas. A Baía
prestava apoio aos navios da Carreira da Índia; produtos brasileiros, como
o tabaco, entravam nos portos do Estado da Índia e, no regresso, vinham
mercadorias asiáticas que tinham compradores nas praças americanas; e
as trajectórias de inúmeros oficiais da Coroa e de militares levaram‑nos a
circular entre a América e a Ásia. Mas, face ao potencial da África Oriental
como fonte de escravos para os territórios americanos da monarquia, a
autorização para que navios idos dos portos brasileiros comercializassem
livremente na ilha de Moçambique e na terra firme constituiu mais um marco
na legislação do período em termos da articulação dos territórios ultramari‑
nos. Neste contexto, a mestiça ilha de Moçambique forneceu o exemplo de
«uma comunidade comercial brasileira sedeada no Índico»64. Não se pense,
todavia, que as redes tradicionais haviam desaparecido, pois em 1762‑1765,
das 37 lojas e armazéns que existiam na ilha de Moçambique, trinta per‑
tenciam a baneanes e sete a muçulmanos, numa demonstração de como a
dinâmica imperial se articulava com as populações locais. A vitalidade do
comércio na região conduziu à criação de uma nova companhia, de curta
existência, a Companhia do Comércio de Macuas e Mujaos (1766‑1769),
cujo insucesso não terá tido grande impacto nas tendências já consolidadas65.
Em contrapartida, as novas orientações económicas que se desenhavam na
Europa sentiram‑se nos espaços ultramarinos e, em concreto, no Índico.
Na segunda metade do século xviii, a defesa da liberdade de comércio con‑
duziu ao fim de companhias privilegiadas. Em França, o monopólio da
Compagnie des Indes foi suprimido em 1769 e, quase de imediato, em 1771
tiveram início as expedições comerciais negreiras organizadas a partir das
cidades portuárias francesas (Lorient, Nantes, Bordéus, Marselha). No último
terço do século xviii, muitas destas viagens tiveram como destino Moçambi‑
que, unindo o Atlântico francês ao Índico português ou abastecendo as ilhas
índicas francesas com escravos obtidos em Moçambique e nos portos da
costa, devido a os preços aí praticados serem mais baixos do que em outros
mercados abastecedores66.
Ao longo da segunda metade do século xviii e nas décadas iniciais do
século xix, diversos governadores portugueses fomentaram o trato esclava‑
gista, alguns com participação directa no mesmo. Contudo, não obstante o
aumento do volume do trato negreiro, que se notara durante a Guerra dos
Sete Anos e continuara no período do governo de Baltasar Manuel Pereira do
Lago (1765‑1779), o início da década de 1770 conheceu desenvolvimentos
Hist-da-Expansao_4as.indd 286 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 287
que tinham como objectivo controlar os circuitos comerciais no império e,
nomeadamente, na ligação transoceânica entre o Atlântico e o Índico. Possível
resposta, entre outras, aos anos críticos de 1768‑1771, dois alvarás de 1772
determinaram o fim da liberdade de circulação comercial entre os domínios
portugueses. O alvará de 19 de Junho proibiu o desembarque e o comércio de
géneros e fazendas transportados desde a Ásia nos portos do reino de Angola.
Referindo‑se à criação de um entreposto em Luanda para o comércio com o
Brasil, entreposto que servia para o comércio geral com a África, a América
e a Ásia, o diploma expunha lapidarmente uma interpretação centralizadora
do comércio imperial. Os princípios do «pacto colonial» eram apresentados
com clareza: como as colónias não deviam fazer comércio entre si, «sendo o
mesmo Portugal o Paiz dominante», era ao porto de Lisboa que as mercado‑
rias deviam afluir para depois serem redistribuídas pelos domínios. O alvará
teve a assinatura de Martinho de Melo e Castro, que em 1770 ocupara o
lugar de Francisco Xavier de Mendonça Furtado após o óbito do irmão de
Sebastião José, que desconfiava do novo secretário de Estado. Seguiu‑se,
meses depois, o alvará de 12 de Dezembro, que mandava que todos os navios
idos dos domínios americanos ou africanos para os do Índico no regresso
seguissem «direita viagem» até Lisboa, sem qualquer escala que não fosse
a de Luanda.
Se alguma legislação e determinados projectos permitem pensar que, no
centro político da monarquia pluricontinental portuguesa, certos actores
melhor informados teriam uma perspectiva mais abrangente e articulada do
império, como explicar as oscilações reflectidas na produção legislativa, que
não parecia ir toda no mesmo sentido? Para além das respostas a conjunturas
e das eventuais cedências a grupos de pressão, como os administradores das
companhias e as várias elites locais e mercantis, posicionadas em níveis de
status e de riqueza distintos e com interesses muito divergentes, parece ter
havido uma estratégia que se caracterizou por ser «uma mistura de comércio
livre com privilegiado, de libertação de comércio numas partes, reforço do
monopólio noutras». Contradição? Talvez somente o estabelecimento de
prioridades e de hierarquias regionais face a um império que continuava a
ser um conjunto de domínios fragmentados67.
A despeito dos condicionalismos introduzidos, os alvarás de 1772 não
quebraram as dinâmicas instaladas no Índico Ocidental. Em 1771, os mer‑
cadores baneanes receberam passaportes que lhes permitiram ter acesso aos
Rios e, apesar do fim do monopólio da Companhia dos Mazanes no comércio
com Diu em 1777, a década de 1770 constituiu a «fase final da expansão
do capital mercantil indiano»68. Em relação à vitalidade do mercado e dos
homens de negócio das praças brasileiras, o final do século confirmaria a sua
intervenção nos circuitos mercantis interoceânicos. E, quanto às relações com
Hist-da-Expansao_4as.indd 287 24/Out/2014 17:17
288 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
os Franceses, este comércio manteve o seu ritmo de crescimento, levando o
trato francês a contribuir com mais de um terço das receitas da Alfândega
de Moçambique em 179069.
O Estado da Índia: continuidade e perda de estatuto
Reduzido em extensão com a criação da capitania de Moçambique, Rios
de Sena e Sofala em 1752, o Estado da Índia conheceu um processo de reor‑
ganização territorial que, continuando a dinâmica militar iniciada no final
do reinado de D. João V, culminou com o aumento significativo da área
controlada pelos Portugueses. As Novas Conquistas beneficiaram da con‑
juntura de guerra que envolveu as potências europeias e estas contra as
asiáticas e desenvolveram‑se em paralelo com uma viragem da política da
East India Company, que, a partir de 1757, reforçou o seu domínio territorial
e estabeleceu as bases para se tornar a principal força na costa oriental do
subcontinente70.
As vitórias portuguesas e as negociações diplomáticas tiveram prolon‑
gamento até ao final do século e garantiram que o território contíguo às
províncias de Bardez, Ilhas e Salsete tenha quadruplicado, dando ao Estado
da Índia uma configuração mais terrestre do que marítima, «uma dimensão
de estado continental»71. Neste sentido, houve uma clara continuidade entre
os reinados joanino e josefino em matéria de política bélica, embora tal não
tenha sido sempre a opção defendida. Na longa duração, o Estado da Índia
garantiu a sua estabilidade. A um núcleo central, mais antigo na sua cons‑
tituição e onde residiam as famílias da elite local que serviam a monarquia,
seguia‑se uma «zona‑tampão», de maioria hindu, que colocava mais longe do
centro do poder os limites da soberania portuguesa. Em relação às comuni‑
dades de aldeia fronteiriças, registos para o período 1766‑1777 revelam um
contraste entre as Velhas Conquistas e as Novas Conquistas, demonstrando
que a vida nas zonas de contacto entre poderes e forças contrárias respeitava
lógicas diferentes da que se conhecia no Centro de Goa, que, entretanto, ia
perdendo gente com o passar dos anos e viu a capital do Estado transferida
para Pangim em 175972.
Escolhidos entre as famílias titulares do reino, os vice‑reis eram o espelho
do soberano e deviam ser os fiéis executores das instruções recebidas. Se é
detectável uma linha de grande continuidade no governo do Estado da Índia
nas duas primeiras décadas do reinado de D. José, podemos individualizar
dois vice‑reis cuja actuação ilustra, cada um a seu modo, a diversidade de
trajectórias e de práticas destes grandes, vários aparentados entre si, que
geravam críticas e animosidades. Vejamos dois casos que nos revelam, no
Hist-da-Expansao_4as.indd 288 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 289
terreno da vida vivida, os equilíbrios entre autonomia individual e contexto
político e social, tendo Goa como palco central.
Nomeado ainda em vida de um doente D. João V, o 3.º conde de Alvor e
3.º marquês de Távora, D. Francisco de Assis de Távora, embarcou em Lisboa
a 28 de Março de 1750, chegando a Goa a 22 de Setembro desse ano. A bordo
seguiu também o arcebispo D. António Taveira de Neiva Brum da Silveira,
cuja administração espiritual atravessou quase todo o reinado josefino. Facto
inédito, o marquês viajou acompanhado pela marquesa D. Leonor Tomásia,
sua esposa, que se assumiu como vice‑rainha. Instalados no Palácio da Casa
da Pólvora, os marqueses de Távora fizeram daquele a sede da sua corte
vice‑reinal, embora nos meses de Abril e Maio tenham optado por Pangim,
mais próximo da barra. O vice‑rei logo deu conta de que o Estado da Índia
apenas se podia sustentar com o auxílio do reino, mas cuidou de atender
às questões do fomento do comércio, patrocinando uma companhia, e do
governo civil e militar. Enquanto isso, a marquesa visitava casas professas e
igrejas, emulando os passos da rainha em Lisboa. Nas várias iniciativas que
demonstraram toda a sua liberalidade e magnificência, aquela que terá dei‑
xado marcas mais fundas foi a representação de uma ópera, a primeira em
Goa e no império, com o apoio de uma orquestra. Enquanto comandante,
o marquês de Távora arregimentou as tropas, apesar de problemas com os
soldos; organizou companhias; e ordenou a expedição contra a fortaleza
de Piro, do rei de Sunda, em 1752, e ataques contra Pondá e Zambaulim.
Em que medida toda a ostentação e o protagonismo dos marqueses contri‑
buíram para o seu trágico futuro? Certo é que o marquês regressou ao reino
coberto de glória, ambicionando mais, talvez o título de duque, mas não rece‑
beu honrarias, nem aplausos. Também não gostou de ver D. José envolvido
com a marquesa D. Teresa. Acabou executado, acusado de atentar contra a
vida de um rei que temia o peso dos Távora no seio da primeira nobreza73.
Aparentemente nos antípodas do marquês de Távora, o conde da Ega,
Manuel de Saldanha de Albuquerque, conhecera Sebastião José de Carvalho
e Melo em Viena, onde estivera exilado. Fora governador da ilha da Madeira
antes de ser nomeado para o vice‑reinado da Índia (1758‑1765). A sua cor‑
respondência revela um entendimento muito crítico dos seus antecessores,
sendo particularmente duro com o marquês de Alorna. De resto, as próprias
instruções dadas ao vice‑rei, de 31 de Março de 1758, afirmam a intenção de
«conservar o que existe», não havendo lugar para restauração ou conquista,
o que estava em sintonia com instruções coevas para outros espaços do
Índico. Em obediência a estas directivas, procedeu à fixação das fronteiras,
nomeadamente com o Bonsuló, o inimigo mais próximo; a levantamentos
dos territórios de Sanquelim e de Gululem; e à estabilização da fronteira a
sul. Neste quadro de conservação da paz e harmonia com os reis vizinhos,
Hist-da-Expansao_4as.indd 289 24/Out/2014 17:17
290 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
assinou tratados de paz com o rei de Sunda, em 1760, e, no ano seguinte, com
os Maratas e o Bonsuló. Em termos domésticos, coube‑lhe prender e expulsar
os Jesuítas e confiscar‑lhes os bens e documentos, tarefa que cumpriu com
o mesmo empenho que colocou na defesa dos interesses portugueses contra
as pressões inglesas ou os potentados regionais. Em cartas para a corte, afir‑
mou que tentava retirar o Estado da Índia da situação de pobreza em que
se encontrava, desenvolvendo a economia. Para tal, criou a Companhia de
Bengala unicamente com mercadores hindus, brâmanes Saraswat, aventura
que em 1760 suspendeu a actividade por ordens emanadas da Secretaria de
Estado da Marinha e Ultramar74; reabriu fábricas de panos para abastecer
o comércio imperial, algo que já fora tentado no reinado anterior75; e pediu
apoio financeiro a Lisboa para construir oito fragatas de guerra e investir em
manufacturas. O que não significa que Manuel de Saldanha tenha abdicado de
se rodear dos luxos devidos a um vice‑rei, tal como não abdicou de retorquir
às críticas e observações que lhe faziam de Lisboa e de enaltecer o quanto
se empenhava no serviço régio. Crítico do Conselho de Estado e do estado
eclesiástico, o período final do governo de Manuel de Saldanha foi marcado
pela intriga e pela luta política que lhe moveram os oponentes no governo
do Estado. Acusado de gastos excessivos e de má avaliação do contexto em
que se integrava o Estado da Índia, embarcou de regresso ao reino no Natal
de 1765, sendo preso à chegada e encarcerado dois anos. Foi libertado em
Dezembro de 1768, cego e debilitado. A trajectória do conde da Ega ilustra
como no exercício de um cargo ultramarino, e apesar das relações pessoais e
da relativa proximidade com o centro do poder, se podia passar da glória ao
purgatório76. De igual modo, a existência de distintas perspectivas quanto ao
modo como se devia conduzir a política e governar os domínios ultramari‑
nos mostra como, para lá das tentativas da Coroa para impor uma linha de
acção em determinados períodos, era preciso contar com a autonomia dos
agentes no terreno e com os contextos específicos em que estes se moviam e
que influenciavam as suas decisões.
Após a partida do conde da Ega, e falecendo o seu sucessor em viagem,
entre 1765 e 1768 o Estado da Índia teve à sua frente um conselho de governo,
que integrava D. João José de Melo, fidalgo que vivia há muito no Oriente
e foi nomeado governador em 1767, cargo que exerceu até à sua morte, em
1774. Durante o seu governo, em Timor, o governador António José Teles
de Meneses, cercado em Lifau, após uma rebelião e o ataque de Francisco
de Hornay, abandonou a localidade e instalou‑se em Díli, que se tornou a
capital (1769)77. Após o óbito de D. João José de Melo e o curto período de
exercício interino de Filipe de Valadares Sotomaior, militar natural de Tavira,
com longos anos da Índia e que se dedicava ao comércio, falecendo em 1775,
foi nomeado para o governo do Estado da Índia, por carta de 4 de Fevereiro
Hist-da-Expansao_4as.indd 290 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 291
de 1774, D. José Pedro da Câmara (1774‑1779), que levou consigo instruções
rubricadas pelo próprio marquês de Pombal para efectuar várias reformas78.
O que merece ser sublinhado é que até às vésperas da transferência da corte
portuguesa para o Brasil nunca mais foi nomeado um vice‑rei para o Estado
da Índia, que teria agora governadores recrutados entre a primeira nobreza
da corte, mas já não nascidos nas principais Casas dos grandes e sem ligações
ao Oriente79. Vice‑reinado era o Brasil. Assim se definiam as hierarquias dos
espaços ultramarinos.
As reformas no Estado da Índia e no império: em jeito de balanço
Que terá pensado D. José Pedro da Câmara ao avistar Goa pela primeira
vez, ao desembarcar e ser recebido pelos oficiais que iriam saber por si das
mudanças que na corte se haviam decidido para o Estado da Índia? É que
a transformação da arquitectura institucional do Estado da Índia iniciou
‑se com um conjunto de diplomas promulgados a partir de 15 de Janeiro
de 1774 e que foram implementados pelo novo governador. O alvará com
força de lei daquele dia, redefinindo a administração da justiça no tocante
aos governos político, civil e económico do Estado da Índia, terá sido rece‑
bido com choque e escândalo por parte de quase todos os que corporizavam
as instituições afectadas pelo diploma. E, todavia, pela carta régia de 10 de
Fevereiro, D. José fez questão de afirmar que o objectivo para o Estado da
Índia era «restaural‑o, e fundal‑o de novo»80. Uma louvável intenção, mas,
afinal, nada que outros Bragança não tivessem também perseguido. Agora,
porém, o quadro era outro.
No alvará de 15 de Janeiro, o soberano – era o rei a cabeça da monarquia –
começava por explicar e afirmar o princípio geral na base da legislação agora
apresentada: «devendo todas as Leis Politicas, Civis, e Economicas ser sempre
accommodadas, não só aos lugares, mas tambem aos tempos», tratava‑se
de uma lei «adaptada á presente situação da mesma Cidade, e Estado».
Em suma, novos tempos, nova legislação, que a vigente já não correspondia
ao que a monarquia pretendia para o governo dos povos no Oriente. Por esse
diploma, a Relação de Goa foi extinta – seria restabelecida sob D. Maria I pelo
decreto de 2 de Abril de 1778 –, cabendo ao governador e capitão‑general
do Estado da Índia assumir o cargo de regedor das Justiças e aplicar o Regi‑
mento que se publicava, assim como o da Casa da Suplicação, com apoio do
ouvidor‑geral. Também desse dia datou o alvará determinando que a câmara
de Goa continuasse usando os seus privilégios e que regulou as eleições.
Com data dos dias subsequentes, novos diplomas aboliram o antigo uso de
cartazes (16 de Janeiro) e regularam a Alfândega de Goa (20 de Janeiro).
Hist-da-Expansao_4as.indd 291 24/Out/2014 17:17
292 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
E, de forma intencional e com enorme carga simbólica, o alvará de 15 de
Janeiro estabeleceu que «a residencia, e principal habitação do Governador,
e Capitão General da India, e dos seus Successores» passaria a ser o palácio
que fora ocupado pelo agora extinto Tribunal da Inquisição81.
A conjuntura reformista que pautou o governo de D. José Pedro da
Câmara no Oriente não pode ser isolada do conjunto do reinado, do império
ou do seu contexto regional. No reinado josefino, em todas as décadas foram
ensaiadas reformas e algumas das decisões tomadas nos primeiros anos não
devem ser imediatamente atribuídas ao labor ou à influência de Sebastião
José de Carvalho e Melo, pois resultavam de dinâmicas e solicitações que
vinham do reinado anterior. Pensemos na criação do Tribunal da Relação do
Rio de Janeiro, em 1751; na autonomização do governo de Moçambique
do do Estado da Índia, em 1752; ou na mudança da capital das ilhas do golfo
da Guiné de São Tomé para a vila, logo elevada a cidade, de Santo António,
no Príncipe, em 1753, acompanhando a incorporação da ilha nos bens da
Coroa, em paralelo com o que ocorria com as capitanias brasileiras. Por
outro lado, reformas ensaiadas em fases mais avançadas do reinado e que
tiveram a mão do então conde de Oeiras não constituíram uma manifestação
do «despotismo esclarecido», sendo antes a resposta a conjunturas precisas.
Por fim, importa ainda situar as reformas ditas «pombalinas» no quadro
europeu. Basta para tal observar os territórios americanos da monarquia
bourbónica, onde se registou uma «avalanche reformista» de 1777 a 1787,
com diferenças regionais assinaláveis e resultados limitados e desapontadores.
Estes surtos de mudanças institucionais devem ser encarados como respostas
adaptativas a alterações registadas nas dinâmicas imperiais e no equilíbrio
das relações internacionais de poder82. A sua coincidência cronológica com os
tempos fortes do Iluminismo não significa que na base das reformas tenham
estado necessariamente preceitos ilustrados. O patrocínio de companhias por
Sebastião José de Carvalho e Melo e Francisco Xavier de Mendonça Furtado
ou agentes da monarquia como os vice‑reis da Índia demonstrou a aplicação
de receituários mercantilistas de matriz colbertiana. Já um discurso agrarista
de fomento da agricultura, como se encontra em D. José Pedro da Câmara,
parece ter uma ressonância fisiocrática. Não havia um corpo doutrinário
unívoco a sustentar as soluções propostas para os problemas a resolver nos
diferentes domínios.
No caso português, a «modernidade» política do reinado josefino deverá
ser encontrada, como no tempo do conde‑duque de Olivares, na prática de
um governo «activo», que procurou romper com os equilíbrios tradicionais,
nem sempre com sucesso, embora por vezes com muito ruído. Os sectores
onde o secretário de Estado e futuro marquês de Pombal actuou de modo mais
visível foram os da economia e da fiscalidade. No quadro de um pensamento
Hist-da-Expansao_4as.indd 292 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 293
influenciado pelo ideário mercantilista, defendeu‑se um desenvolvimento
económico tutelado pela Coroa e um maior controlo das finanças. Os exem‑
plos são muitos, desde o patrocínio de companhias monopolistas à criação
do Erário Régio, em 1761, e ao fim do sistema de frotas, em 1765. Para o
Índico, a primeira legislação que se pode situar nesta linha está balizada
pelos anos de 1755 e 1761 e é relativa ao comércio. Quanto ao Estado da
Índia, a tentativa de reorganização económica teve início com a criação
da Junta da Real Fazenda do Estado da Índia por carta régia de 10 de Abril de
1769. Na década seguinte, foram publicados diversos diplomas que visaram
enquadrar e regular as instituições da monarquia na Ásia, com reflexos no
corpo de oficiais e na arrecadação de impostos. No plano económico, levou
‑se a efeito uma política de desenvolvimento da agricultura, promovida por
um discurso agrarista, uma iniciativa devida mais ao governo do Estado do
que a uma imposição do gabinete e que se seguiu a uma série de maus anos
agrícolas e à subida dos preços. Em 1776, foi criada a Intendência Geral
da Agricultura e promoveu‑se a cultura de novas espécies, a valorização de
terrenos incultos e o aforamento de baldios, uma questão que suscitou a
oposição das comunidades rurais83.
No seguimento de uma política regalista, a Coroa procurou também
reformar o estado eclesiástico, acção para a qual contou com a colaboração
do arcebispo de Goa, D. António Taveira de Neiva Brum da Silveira, que
trabalhou no sentido de adaptar as Constituições do arcebispado às novas
realidades a partir das do Porto e da Baía84. E, seguindo uma lógica de maior
controlo das instituições, por carta régia de 10 de Fevereiro de 1774 foi orde‑
nado que todos os originais e traslados dos diplomas que regiam o governo
do Estado da Índia fossem enviados para Lisboa, uma ordem que o arcebispo
de Goa também recebeu. O afã legislativo do centro contemplou ainda uma
matéria sensível, o estatuto dos nascidos nas periferias imperiais. Esta era
uma questão central no contexto da monarquia pluricontinental portuguesa,
com uma importante dimensão multiétnica e multicultural, que fazia dos
mestiços e das elites nativas grupos pivotais nas dinâmicas sociopolíticas do
império. Na Índia, o tema revestia‑se de uma maior complexidade, devido ao
sistema de castas que permeava o ordenamento jurídico imperial. Nem todas
as castas beneficiaram por igual das providências régias85. A carta régia de
15 de Janeiro de 1774 mandou executar o disposto no alvará de 2 de Abril
de 1761, não publicado à data do novo diploma, e que abolia a distinção
entre «naturais» e «reinóis»86. Apesar dos objectivos perseguidos, o princí‑
pio da igualdade jurídica entre os naturais de Goa e os naturais do reino foi
difícil de aplicar e de interiorizar, motivo pelo qual sucessivos diplomas o
reafirmaram87. Acontecimentos posteriores revelariam as feridas abertas por
práticas de segregação.
Hist-da-Expansao_4as.indd 293 24/Out/2014 17:17
294 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A História, se não pode ser revivida, pode ser reescrita. Desde o reinado
de D. José que as interpretações sobre o período têm sido dominadas pela
figura de Sebastião José de Carvalho e Melo. De facto, este esteve presente,
em pessoa na corte, através de gente do seu círculo de parentes e clientes no
reino e nos domínios, mas não era omnipresente nem omnisciente. Afinal,
como resumiu a propósito de Angola o preclaro Francisco Inocêncio de Sousa
Coutinho, quando era embaixador na corte espanhola: «Não hé possivel,
que hum menistro d’Estado possa saber tudo, e muito mais de regioens tam
distantes.»88 Algo semelhante havia dito também o conde da Ega acerca do
desconhecimento da Ásia por parte do centro político.
Para bem governar é preciso conhecer. E, em matéria de reformas, para
além dos fundamentos e objectivos perseguidos, importa considerar o que de
facto foi implementado, isto é, que saiu do papel e foi colocado em execução
e por quem, e, por outro lado, por quanto tempo vigoraram as mudanças
introduzidas. Apesar do aumento das despesas com os gastos militares como
consequência dos cenários de guerra que marcaram o reinado de D. José e
da «monopolização da defesa» por parte da monarquia – o dinheiro é o
nervo da guerra –, verificou‑se um entesouramento e, por 1777, as finanças
públicas estavam de boa saúde89. No contexto de uma sociedade corporativa
e de privilégios, caracterizada por um policentrismo de poder, a experiência
governativa de Sebastião José depois do marco cronológico de 1755‑1756
desequilibrou a balança a favor do pólo monárquico e perturbou a con‑
formidade e os arranjos tradicionais que configuravam as relações entre a
monarquia e os corpos sociais dominantes. O Estado administrativo que se
pretendeu erguer recorreu a uma grande produção de leis, mas, face à rigidez
normativa e à imposição que contrastavam com a negociação e a flexibilidade
política, as reacções fizeram‑se sentir ainda em tempo do secretário de Estado
ou depois, explícitas ou em surdina.
Chegavam os oficiais régios a todos os pontos do império? Nem todos
seriam como Francisco Xavier de Mendonça Furtado ou teriam acesso a
iguais recursos. E conseguiriam sem qualquer tipo de resistência fazer exe
cutar as leis ditadas a partir de uma longínqua corte? Ou contariam com
o apoio da corte para as decisões tomadas? Quem mandava, de facto, em
Macau, no vale do Zambeze, nos presídios do sertão angolano, no Cuiabá?
Quantos homens e mulheres de todas as condições, no seu quotidiano e de
diferentes modos, construíram um império transoceânico e multiétnico des‑
conhecendo, na maioria dos casos, que existiam tantas leis que pretendiam
regular as várias dimensões das suas vidas? D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
filho de D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho e figura destacada do
Iluminismo tardio português, admirava o marquês de Pombal. Pensava, a
partir do seu lugar de estrangeirado, na massa de leis produzidas e no esforço
Hist-da-Expansao_4as.indd 294 24/Out/2014 17:17
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778) 295
despendido para melhorar a administração da monarquia e fomentar a eco‑
nomia. Mas Sebastião José não transformou tanto o Estado, a monarquia ou
o império como alguns pensaram. Nesse sentido, o reformismo pombalino
talvez tenha sido mais ruidoso do que eficaz.
Hist-da-Expansao_4as.indd 295 24/Out/2014 17:17
14
CONTINUIDADES
E PROJECTOS REFORMISTAS
(1777‑1807)
A os 24 dias do mês de Fevereiro de 1777, faleceu D. José I, sucedendo‑lhe
sua filha, D. Maria I1. O reinado de D. Maria I foi caracterizado por
algumas interpretações como tendo sido um período de regresso ao statu
quo ante, isto é, uma «restauração» das posições sociais e dos privilégios por
parte daqueles que haviam sido perseguidos ou simplesmente afastados do
poder por Sebastião José de Carvalho e Melo, que foi, também ele, banido.
Neste sentido, falou‑se da «Viradeira» como tendo sido uma «mudança de
orientação política»2, embora, por vezes, se tenha exagerado o real impacto
da mudança de soberano. Com efeito, não podemos esquecer um aspecto
central da acção governativa de D. Maria I: nunca poderia ter existido uma
inversão total no que respeita às linhas definidas no reinado de D. José em
matéria de governação, porque, caso isso acontecesse, tal facto representaria
um desrespeito pela memória do pai da rainha e uma diminuição da auto‑
ridade régia, logo também da própria majestade da nova monarca. Ora, tal
nunca poderia suceder, pois, como escreveu Caetano Beirão, D. Maria I era
«uma católica integral»3. Em 1777, não teve lugar uma crise sucessória, mas
apenas uma normal sucessão no trono. A continuidade do poder monárquico
não podia ser posta em causa por meio de uma «revisão» da história e da
prática política recentes. Deste modo, não houve um regresso ao passado e o
processo a que se chamou «Viradeira» manifestou‑se sobretudo ao nível da
primeira nobreza de corte4. Por outro lado, no período subsequente a 1777
não se registou uma resistência às mudanças ou às reabilitações operadas,
o que sugere, de forma clara, que não existia um «partido pombalino», tal
como assinalaram Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa5.
Após a longa experiência da governação de Sebastião José de Carvalho
e Melo no reinado anterior e o seu carácter excepcional, o período mariano
Hist-da-Expansao_4as.indd 296 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 297
parece ter correspondido a um retorno a uma situação de equilíbrio tradicio‑
nal do poder. Todavia, algumas linhas de força definidas durante o reinado
josefino permaneceram actuantes. As secretarias de Estado continuaram a
ser os centros de decisão política por excelência e os titulares dos postos
‑chaves exerceram o poder durante um largo número de anos, tal e qual o
fizera Sebastião José de Carvalho e Melo, de resto no seguimento de uma
tendência que se desenhara na primeira metade do século xviii. Dois dos
ministros em exercício permaneceram no seu cargo durante o reinado de
D. Maria I: Martinho de Melo e Castro, secretário de Estado da Marinha
e Ultramar desde 1770 e que serviu até à sua morte, em 1795, e Aires de
Sá e Melo, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra
desde 17756. Ambos asseguraram a transição entre os reinados de D. José
e D. Maria I e o prolongamento de alguns dos fios condutores das políticas
interna e externa da monarquia e do governo das conquistas, com destaque
para Martinho de Melo e Castro. Esta mesma ideia, de resto, foi exposta na
viragem do século em obra originalmente composta em inglês, vertida para
francês e, depois, traduzida em português e anotada pelo célebre António
de Morais Silva e editada com o patrocínio da Academia Real das Ciências.
Ao serem apresentadas as nomeações efectuadas pela rainha, refere‑se que
D. Maria procurou «preencher as vistas, e as disposições d’El‑Rei seu Pai»,
aperfeiçoar a forma do governo e elevar à perfeição «o quadro magnifico do
Imperio Lusitano [que] tinha sido deixado em esboço». Sublinhava‑se, assim,
a continuidade, por um lado, e os avanços do reinado, por outro7.
Contudo, no que ao império se refere, certo é que algumas das instituições
ou reformas mais emblemáticas do reinado josefino, que terão sido obra
ou obtido o apoio de Sebastião José, foram extintas ou revogadas quase de
imediato. No espaço atlântico, estiveram neste caso as duas companhias
majestáticas. A Companhia Geral do Grão‑Pará e Maranhão foi extinta em
1778 e a decisão saudada em Lisboa com um Te Deum; quanto à Compa‑
nhia Geral de Pernambuco e Paraíba, sobreviveu apenas uns meses mais,
sendo extinta em 1779 e os seus navios colocados ao serviço da Coroa na
navegação para a Ásia8. As companhias monopolistas criadas à sombra do
proteccionismo mercantilista não estavam de acordo com as novas ideias
que emergiam – em 1776, Adam Smith dera à estampa o seu opus magnum,
no qual criticava esta política –, não obstante ser essa uma solução que, em
Portugal, foi defendida ainda no século xix9.
Em relação ao Brasil, Nuno Gonçalo Monteiro concluiu que, no geral,
o governo do Estado não conheceu qualquer mudança digna de registo,
pelo menos nada que seja comparável às reformas globais introduzidas na
América bourbónica pelo secretário de Estado José de Gálvez10. Quanto
ao Estado da Índia, duas das mais visíveis e sonoras reformas de finais do
Hist-da-Expansao_4as.indd 297 24/Out/2014 17:17
298 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
consulado pombalino foram também anuladas. O Tribunal do Santo Ofício
em Goa, extinto em 1774 no seguimento da reforma de dois anos antes, foi
recuperado pelo decreto de 2 de Abril de 1778 com «a mesma formalidade
antiga», embora só tenha retomado a actividade em 1782 e de forma mais
condicionada e precária, pois a sua extinção demonstrara que se tratava já de
uma instituição «prescindível para o poder»11. É ainda preciso lembrar que foi
o próprio autor do Regimento de 1774 e um dos defensores da extinção do
Tribunal em Goa, o inquisidor‑geral e cardeal D. João Cosme da Cunha, quem
sugeriu o restabelecimento do Santo Ofício goês, o que, para lá da simples
análise de continuidades e rupturas, nos coloca perante os homens e as suas
circunstâncias12. Na nova geometria dos laços de poder que se configurou
após o afastamento do marquês de Pombal, o cardeal da Cunha procurou
humanamente preservar a sua quota de poder e de influência. Por outro lado,
o Tribunal da Relação de Goa, abolido também em 1774, viu‑se restabelecido
pelo decreto de 2 de Abril de 1778 e D. José Pedro da Câmara, que dera rosto
à mais visível tentativa de transformação do sistema de governo do Estado
da Índia, o qual funcionava desde o conde de Sandomil, foi acusado de ter
sido o seu governo o tempo dos sete vícios ou «espíritos»: soberba, avareza,
luxúria, ira, gula, inveja e preguiça13. Saiu de cena sem ruído. E outros exem‑
plos mais se poderiam elencar.
Uma pausa para avaliar a acção governativa de Sebastião José de Car‑
valho e Melo permite afirmar que, no balanço entre objectivos e resultados,
nem todas as reformas operadas pelo ministro de D. José se manifestaram de
imediato ou vieram a produzir, em alguns casos, os efeitos pretendidos pelo
legislador. Se existiu um «projecto pombalino» para as sociedades portugue‑
sas, a do reino e as do império, interessa saber como é que a monarquia o
procurou materializar, quem foram os seus agentes, quais as resistências que
encontrou, qual o seu alcance real. Numa avaliação do papel das instituições
na produção da mudança social, é inegável o papel central que a legislação da
monarquia detinha ao nível do ordenamento social e das relações de poder no
Antigo Regime, mas a sua eficácia seria maior no centro do que nas periferias.
Deste modo, quando consideramos o papel das instituições na produção da
mudança social, se os textos legislativos estabeleciam as coordenadas de legiti‑
midade que deviam balizar a actuação dos oficiais régios e o comportamento dos
vassalos, observamos que o resultado social se caracterizou por um amplo leque
de situações, que exigem ser estudadas em termos da «microfísica do poder»,
isto é, da interacção entre os actores institucionais e sociais e da importância
dos contextos locais e das redes interpessoais nos jogos de poder e nas práticas
de dominação concretas. Como antes, as inércias e resistências da sociedade
tradicional funcionaram como factores de bloqueio ou de resistência às refor‑
mas emanadas do centro político, que podiam abalar as bases da autoridade
Hist-da-Expansao_4as.indd 298 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 299
das elites locais ou introduzir mecanismos mais rigorosos de cobrança fiscal
ou de alistamento.
Com este pano de fundo em mente, olhando agora para o espaço imperial,
detectamos um conjunto de linhas de força que, no essencial, prolongam o
repertório de políticas e algumas dinâmicas do período anterior. De um modo
geral, podemos falar de estabilidade para todos os domínios e conquistas.
Na América do Sul e na Ásia, consolidaram‑se fronteiras e intensificou‑se o
povoamento e a exploração económica de novos territórios. A exploração dos
sertões brasileiros e africanos continuou, muito por acção de bacharéis e mili‑
tares com um ideário reformista. Destacou‑se, em termos de visão, D. Rodrigo
de Sousa Coutinho. A ausência de recursos e de uma efectiva esfera pública
pode ajudar a explicar a não‑implementação de algumas propostas ou o
seu fracasso. Este foi também um período marcado por revoltas e motins,
que acabaram sufocados, deixando, todavia, marcas perenes no imaginário
localista e em algumas historiografias. Na viragem do século, a política de
neutralidade defendida pela Coroa foi posta em causa por uma conjuntura
política e militar que abalou a Europa e cujas ondas de choque se propagaram
a outros continentes. O centro de gravidade do Império Português estava há
muito no espaço atlântico e, em particular, no Brasil e a economia portuguesa
parecia viver, no início de Oitocentos, uma nova «idade dourada». De forma
abrupta, a primeira invasão francesa encerrou este período de prosperidade
comercial e forçou uma viragem na monarquia portuguesa e na lógica impe‑
rial do «pacto colonial».
Luzes, identidades e projectos de autonomia
Depois da expulsão da Companhia e de Jesus e no âmbito de uma estraté‑
gia de formação intelectual e académica dos agentes da monarquia, a reforma
da Universidade de Coimbra configurou‑se como um momento decisivo do
reinado de D. José. A reforma da instituição trouxe uma vigilância mais aper‑
tada sobre as leituras e a circulação de livros e ideias, procurando proteger
a monarquia do vírus representado pelos pensamentos mais «revolucioná‑
rios» da época. Não existe aqui qualquer contra‑senso, na medida em que o
objectivo perseguido era montar «a escola que melhor atendesse aos fins da
política que as condições portuguesas reclamavam»14. Dadas «as limitações de
abertura da modernidade do pombalismo»15 e a desconfiança do poder face
ao fermento de ideias e a princípios defendidos por autores conotados com
o ideário iluminista, foi somente após o afastamento do marquês de Pombal
do poder e, sobretudo, depois da fundação da Academia Real das Ciências,
em Lisboa, por aviso régio de 24 de Dezembro de 1779, que se manifestou
Hist-da-Expansao_4as.indd 299 24/Out/2014 17:17
300 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
em Portugal e no império o espírito iluminista. Mas convirá não exagerar o
impacto da «modernidade» iluminista em Portugal ou a influência dos seus
agentes. Ao lado de cultores das novas correntes filosóficas e do pensamento
económico e de promotores do progresso dos povos existiam, em maior
número e espalhados pelo reino e pelas conquistas, acérrimos defensores de
uma mundivisão conservadora do mundo e de formas tradicionais de pensar e
de fazer. E, como antes, as distâncias, as inércias e as resistências da sociedade
tradicional funcionaram como factores de bloqueio às reformas emanadas do
centro político, impondo limites humanos e geográficos à circulação e apli‑
cação de novas ideias. Deste modo, em matéria de Iluminismo em Portugal,
tivemos, conforme referiu José Esteves Pereira, «as Luzes possíveis»16, que
também foram levadas ao império ou que nos domínios foram cultivadas.
A historiografia tem colocado entre os primeiros beneficiários da nova
atmosfera intelectual os alunos que, em Coimbra, frequentaram a univer‑
sidade reformada; foram alunos de distintos professores como Domingos
Vandelli ou Alexandre Rodrigues Ferreira; e escolheram, nas suas trajectórias,
vias que o secretário de Estado não teria aprovado17. Exemplo da produ‑
ção oriunda da Academia Real das Ciências é toda a literatura de carácter
estatístico e memorialista que se produziu por iniciativa da Academia Real
das Ciências e que se destinava a elaborar um diagnóstico do estado da
monarquia com vista ao seu progresso económico, social e cultural. Alguns
dos autores de memórias viajaram pela Europa ou pelo império em busca
de novas informações ou com a missão de revelar as riquezas do mundo
natural ultramarino.
Foi no âmbito das academias enquanto espaço de sociabilidade letrada
que se pensou e imaginou um novo mundo possível. As academias não eram
uma novidade em Portugal ou no Brasil. Em 1736, tinha sido fundada no
Rio de Janeiro a Academia dos Felizes e décadas mais tarde, em 1759, foi
criada a Academia Brasílica dos Renascidos, com o projecto de elaborar
uma «Historia Brazilica». No final do reinado josefino, surgiu a Academia
Científica do Rio de Janeiro (1772‑1779) e outra instituição similar, a Socie‑
dade Literária, não teve vida mais longa (1786‑1794)18. Em contrapartida,
afirmou‑se a importância dos conhecimentos de geografia e de história natural
para um melhor conhecimento das potencialidades económicas dos domí‑
nios e uma mais sistemática reforma do império, nomeadamente no plano
financeiro. Neste quadro, a botânica era um dos saberes mais importantes,
pois a identificação de novas plantas e das suas qualidades era essencial para
a agricultura, a farmacopeia e o comércio.
Desde o início da expansão europeia que a descrição gráfica, pela palavra
e pelo desenho, de espécies exóticas foi um tópico sempre presente, a par do
envio para as cortes principescas de exemplares dos mundos mineral, vegetal
Hist-da-Expansao_4as.indd 300 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 301
e animal, animais que, vivos ou mortos e conservados de algum modo, sacia‑
vam a curiosidade europeia sobre os mundos outros que se iam revelando
aos Europeus e que, transformados e incorporados em peças de joalheria,
vinham a constituir peças de status e de aparato. Em Portugal, homens ligados
à Real Academia da História e aos Teatinos, como D. Manuel Caetano de
Sousa, acumularam saber nos seus gabinetes eruditos e a corte joanina um
centro receptor de informação. Mas foi a partir de meados do século xviii,
e mais precisamente da década de 1760, que o envio de textos e de animais
para a corte ganhou nova dimensão devido ao papel da Secretaria de Estado
da Marinha e Ultramar, primeiro com Francisco Xavier de Mendonça Fur‑
tado e depois com Martinho de Melo e Castro. Coube a Domingos Vandelli
idealizar o Museu de História Natural e Jardim Botânico, projecto que se
iniciou ainda na década de 1760. Nesse sentido, o naturalista concebeu o
modo de efectuar o inventário da natureza, destinado a organizar a recolha
das amostras que viriam a constituir o espólio da instituição, e redigiu «o
mais importante guia para as viagens filosóficas», embora outros membros
da Academia Real das Ciências tenham igualmente escrito e publicado as
suas propostas para a redacção e organização das narrativas. Para além
das iniciativas associadas ao projecto de um Museu de História Natural, a
partir de 1783, os naturalistas partiram rumo aos domínios da monarquia:
Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Goa19. As viagens filosóficas eram
instrumentos ao serviço do poder, pelo que as expedições foram planeadas e
patrocinadas pelo gabinete do secretário de Estado, o qual, embora fazendo
prevalecer os interesses estatais aos interesses científicos, se afirmou como
«o principal artífice da produção do conhecimento e do envio de remessas
provenientes do mundo colonial», destinadas aos museus de História Natural
de Lisboa e de Coimbra. O apoio do poder político era fundamental para
o sucesso das expedições e, deste modo, podemos compreender os motivos
pelos quais, em 1795, com a morte do secretário de Estado e o acesso de
Alexandre Rodrigues Ferreira a um ofício na Junta do Comércio, se assistiu
a um recuo no patrocínio e financiamento das viagens filosóficas20.
Na íntima associação entre expansão imperial e ciência emergente, a
questão da soberania estava sempre presente como pano de fundo, pois, em
contexto de competição imperial por territórios e recursos, todas as tecno‑
logias – livros, relatórios, tabelas, desenhos, mapas – foram colocadas ao
serviço de uma visão utilitarista e da apropriação da geografia e do mundo
natural, primeiro pelo olhar dos naturalistas viajantes, depois pela palavra,
finalmente pelo centro político. Os letrados defenderam a articulação entre
as diferentes partes do império, mormente no caso da aclimatação e trans‑
plantação de plantas, conforme propôs o botânico Félix Avelar Brotero, que
sugeriu a criação de um jardim botânico em Goa com o objectivo de reunir
Hist-da-Expansao_4as.indd 301 24/Out/2014 17:17
302 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
plantas da Ásia destinadas a terras portuguesas e americanas21. Nesta comu‑
nhão entre ciência e império, conhecimento e administração, não foram os
naturalistas viajantes os únicos a produzir textos para o gabinete. Outros
bacharéis, desempenhando funções nas conquistas, engenheiros‑militares e
homens da Igreja, a pedido e patrocinados pela Coroa ou por sua iniciativa,
deram a conhecer a geografia e a riqueza botânica, zoológica e mineral de
diversos territórios, com relevo para o Brasil. Neste contexto, algumas ins‑
tituições, como o seminário de Olinda, desempenharam um papel de relevo
na formação intelectual dos agentes ao serviço da monarquia. Não se pense,
todavia, que todos estes homens com uma formação e uma atitude em muito
distintas das de gerações anteriores estavam totalmente despojados dos valo‑
res próprios de uma sociedade corporativa do Antigo Regime. Os bacharéis,
nomeadamente os luso‑brasileiros, que participaram nas expedições buscaram
a recompensa da monarquia para o seu esforço e a sua dedicação. A mercê
podia revestir a forma de um ofício, uma tença, um hábito. Por outro lado,
se alguns souberam ver a indignidade da exploração do trabalho escravo e
defender o trabalho livre e assalariado, houve quem continuasse a defender
o tráfico de escravos, como o bispo natural do Brasil José Joaquim da Cunha
de Azeredo Coutinho, autor de importante obra de Economia Política, mas
que, em 1798, publicou em Londres uma defesa do trato negreiro22.
No final de Setecentos, entre os mais entusiamados promotores de refor‑
mas figurou em posição de indiscutível relevo D. Rodrigo de Sousa Cou‑
tinho (1755‑1812), diplomata e secretário de Estado, espírito ilustrado,
um dos primeiros leitores portugueses de Adam Smith e sob cuja égide foi
implementado um programa reformista que visava solucionar os proble‑
mas financeiros da Coroa portuguesa e reorganizar o império, com espe‑
cial ênfase no mundo luso‑brasileiro23. Autor de textos programáticos nos
quais expôs a sua concepção de uma política colonial, D. Rodrigo de Sousa
Coutinho foi um defensor dos princípios da unidade política do império,
cujo centro estava na Europa – Portugal –, e da subordinação económica
de cada domínio ultramarino à metrópole, que devia articular as partes do
todo, combinando «os interesses do império» e promovendo a «recíproca
vantagem»24. D. Rodrigo de Sousa Coutinho integrou uma geração que
viveu e pensou o Império Português e, sobretudo, o império atlântico em
função do Brasil25. Neste quadro, foi um dos principais ideólogos e obreiros
de um sistema imperial luso‑brasileiro, arquitectando um projecto para o
império e, em particular, para o espaço luso‑brasileiro, patente no seu texto
de 1797 ou 1798, «Memória sobre o melhoramento dos domínios de Sua
Majestade na América»26.
O edifício político concebido por D. Rodrigo era um império ideal, difícil
de implementar na conjuntura finissecular. Mas o ministro teve o mérito
Hist-da-Expansao_4as.indd 302 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 303
de procurar dar coerência política ao espaço imperial. Para tal legislou e
prolongou o trabalho de recolha e sistematização de informação iniciado
décadas antes. Rodeado por homens da sua confiança e apoiado na acção
de bacharéis formados em Coimbra, muitos deles naturais das capitanias
brasileiras e que se afirmariam como referências intelectuais e políticas nas
primeiras décadas de Oitocentos, aqueles que Kenneth Maxwell designou
como a «geração de 90», D. Rodrigo de Sousa Coutinho solicitou relató‑
rios e estudos a governadores e a senados municipais, procurou fomentar
a agricultura com a introdução de novas técnicas e plantas e encomendou
pesquisas mineralógicas. Empenhou‑se na distribuição de livros, que enviava
para os territórios da América, procurando divulgar o espírito das Luzes e
das reformas, mas os mesmos acumulavam‑se nas sedes dos governos das
capitanias, pois não eram comprados. Tal como no caso do Império Espa‑
nhol, muito do conhecimento acumulado e do material recolhido não se
perdeu, mas acabou esquecido nos arquivos e armazéns das instituições da
monarquia, o que impediu que houvesse uma efectiva contribuição para a
transformação da ciência no século seguinte. Não se tratava somente de falta
de capital; era sobretudo a força da rotina, o peso da inércia, que venciam
os mais entusiamados promotores de reformas.
Os letrados naturais da América e formados em Coimbra ou em uni‑
versidades europeias, com conhecimentos de história natural e das ciências
experimentais, ocuparam um lugar central na articulação entre poder e ciên‑
cia, revelando as múltiplas geografias do império. Escreveram e publicaram
inúmeras obras e constituíram um dos mais importantes elos na linha de
continuidade intelectual e reformista que podemos detectar entre as décadas
finais de Setecentos e a década de 1820, apesar de muitas das suas propostas
não terem sido implementadas27. Não pensaram a ruptura com a monarquia
portuguesa, ao serviço da qual percorreram uma trajectória relevante, e este
facto permite‑nos estabelecer a ponte com um conjunto de eventos que, desde
a década de 1780 e apesar das reformas ensaiadas – ou, em alguns casos, por
causa das mesmas –, agitaram a monarquia portuguesa enquanto «núcleo
ordenador das legitimidades e legalidades»28, tendo constituído, segundo
algumas interpretações, um momento decisivo nos processos de politização e
de tomada de consciência da «situação colonial», como lhe chamou Georges
Balandier, uma realidade que Luís dos Santos Vilhena, representante da «ver‑
são colonial do reformismo ilustrado», traduziu na viragem do século xviii
para o século xix como «o viver em colónias»29. Não obstante a força dos
imaginários populares e das tradições historiográficas que consagraram os
protagonistas destes movimentos como uma vanguarda e alguns como már‑
tires da liberdade, devemos ganhar distância e tentar olhar para o que podem
ter sido estes acontecimentos, colocando‑os em contexto.
Hist-da-Expansao_4as.indd 303 24/Out/2014 17:17
304 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
O primeiro episódio que vamos referir é a «revolta dos Pintos», em 1787,
que teve o seu epicentro na aldeia de Aldená, em Bardez30. A 5 de Agosto
desse ano, o governador do Estado da Índia foi informado que uma conju‑
ração devia ter lugar no dia 10. Os conspiradores, julgando que nada havia
transpirado quanto às suas intenções, ainda se reuniram e jantaram em casa
do padre Vicente Álvares no dia 6, desconhecendo que estavam já na mira
das autoridades. Do total de conjurados (56), seis estavam ausentes e de
três não havia notícia; os demais 47 foram presos. Entre os implicados esta‑
vam uma vintena de padres, um minorista e um estudante, e cerca de uma
dezena de militares, oficiais e soldados. O castigo aplicado aos elementos do
corpo militar dividiu‑se pela forca – as execuções ocorreram em Dezembro
de 1788 –, o degredo e as galés de Goa. Porém, como foi já observado, o
maior protagonismo coube aos membros do clero secular, naturais e da casta
brâmane. Os cabecilhas do golpe foram os padres Caetano Francisco do
Couto e José António Gonçalves, o qual nunca foi detido. Com apoiantes nas
Novas Conquistas, o seu mentor e patriarca dos sacerdotes brâmanes era o
padre Caetano Vitorino de Faria, morador em Lisboa. Os clérigos envolvi‑
dos tiveram os seus bens sequestrados e, em 1789, 14 foram enviados para
o reino. Em 1807 ainda estavam vivos oito, que obtiveram autorização
para regressar a Goa.
Quais os motivos que estiveram na origem da conjura? Como sempre,
quando nos confrontamos com campos tão opostos, as interpretações e os
discursos produzidos, os coevos e os posteriores, contribuíram para produ‑
zir muito ruído e perturbar uma leitura serena dos acontecimentos. Desde a
época que várias fontes reflectem o que seria uma clivagem entre os «filhos
da Índia» e os «filhos de Portugal». Seria, então, neste contexto que se ins‑
creveria a acção intentada, que contaria com o apoio de goeses descontentes
com o seu lugar no ordenamento político e social do Império Português.
Entre esses estavam os Pintos de Candolim, «uns dos naturaes mais sober‑
bos, e mais oppostos a tudo que chamam Brancos», conforme escreveu o
governador em 178731. De acordo com esta leitura, a génese do complot
radicaria numa consciência identitária que opunha os naturais da Índia aos
Europeus. Terão os conjurados buscado inspiração no exemplo dos colonos
norte‑americanos? Pelo menos, um italiano implicado na conjura lembrou
o exemplo dos «Ingleses Americanos» e outro declarou que lera sobre o
assunto32. Em ambos os casos, o da Revolução Americana e o da conjuração
dos Pintos, estaria a tomada de consciência de uma «situação colonial» que
era desfavorável aos naturais.
Assim, apesar das reformas e da legislação publicada anos antes, conti‑
nuava a ser visível o problema dos direitos dos naturais, nomeadamente no
acesso a ordens religiosas – por exemplo, os Franciscanos – ou a ofícios. Esta
Hist-da-Expansao_4as.indd 304 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 305
discriminação étnica e social foi particularmente sentida durante o governo
do bispo frei Manuel de Santa Catarina (1784‑1812), que, de um modo geral,
optou por favorecer o clero de origem europeia. Uma tal política contrastava
com a crescente importância assumida pelo clero natural no contexto da
sociedade goesa nas décadas finais de Setecentos. Mais numerosos do que os
europeus e bem preparados intelectualmente, constituíam um grupo cons‑
ciente do papel que desempenhava e da força que detinha no quadro local.
Foi, aliás, a consciência dessa importância que levou o padre Caetano Vito‑
rino de Faria, brâmane, a desenvolver um projecto de ocupação de algumas
mitras orientais por elementos do clero goês. Depois de uma estadia em Roma,
fixou‑se em Lisboa e aí procurou obter o apoio dos governantes. Acabou
por falhar nesse propósito, mas afirmou o seu prestígio entre a comunidade
goesa residente na corte e apoiou a iniciativa do padre Caetano Francisco do
Couto, que, destituído do governo do bispado de Cochim pelo novo bispo,
frei Manuel de Santa Catarina, procurou insinuar‑se junto do secretário de
Estado Martinho de Melo e Castro, sem sucesso. Aquela destituição terá sido
o acto que espoletou a concepção da projectada conjura para 1787.
Não sendo claro qual o móbil dos conjurados e não situando o complot
no quadro do espartilho nacionalismo versus nativismo, demasiado redutor
das complexidades estatutárias em jogo, cremos estar perante uma situação
em que, de forma clara, a tomada de consciência de uma posição subalterna
potenciou a acção. Num dos inúmeros espaços sociais do império onde
coexistiam várias identidades étnicas e estatutárias, não obstante a mestiça‑
gem biológica e cultural, conceitos de hierarquia com base na origem e no
sangue limitavam a promoção dos naturais, tal como em todos os contextos
imperiais33. Neste quadro, as elites naturais de Goa, católicas, nobilitadas e
letradas, que procuravam há muito afirmar‑se como os interlocutores privi‑
legiados entre o centro político da monarquia e a capital do Estado da Índia,
terão recebido favoravelmente uma boa parte dos projectos reformistas de
Sebastião José de Carvalho e Melo. Contudo, os mecanismos tradicionais
da construção jurídica e política do estatuto das pessoas não desapareceram.
Deste modo, as dificuldades que os naturais continuaram a sentir em termos
de reconhecimento e do acesso a certos cargos, sobretudo por parte de cléri‑
gos e militares, aumentaram a frustração daqueles que possuíam uma forte
consciência identitária e almejavam subir na escala social e institucional, com
destaque para os brâmanes.
Em síntese, na Goa setecentista, a projectada conjura terá sido feita em
nome de uma utopia, um sonho de igualdade que se desenvolveu face aos
preconceitos étnicos e socioculturais que impediam o acesso dos naturais
aos ofícios ocupados por europeus ou descendentes de europeus, mas todos
eles brancos. O projecto dos conjurados goeses fracassou, mas os ecos do
Hist-da-Expansao_4as.indd 305 24/Out/2014 17:17
306 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
«levante na Índia» cruzaram os oceanos e chegaram ao Brasil, onde foram
escutados pelos homens que, em Minas, numa conjuntura de mudança eco‑
nómica e perante o espectro do lançamento da derrama, conspiravam contra
a autoridade e concebiam projectos e formas de acção como resposta ao
contexto de crise que vinha agravando‑se com a queda da produção aurífera
e da receita total da capitania, que caiu entre 1760 e 180034. Mas os eventos
de Minas Gerais, conhecidos como a Inconfidência Mineira, não constituíram
um acto isolado. Na conjuntura finissecular de Setecentos, o Brasil foi palco
de alguns movimentos que, para além do impacto que tiveram junto dos
coevos, suscitaram amplo debate sobre o seu significado.
No Brasil, depois dos conflitos que tiveram lugar no final da primeira
metade do século e dos motins que marcaram um período da história das
Minas setecentistas, a relação entre o centro político e as periferias imperiais,
se bem que nem sempre se tenha pautado pela facilidade da comunicação,
estabilizou num patamar que apenas veio a ser abalado por acontecimentos
tardios. Mas, ainda assim, os eventos que no final do século xviii e no início
do século xix tiveram lugar em Minas Gerais e na Baía, configurando protes‑
tos mais amplos contra a ordem política e jurídica imperial e a manifestação
de um desejo de autonomia por parte de alguns dos seus protagonistas, con‑
trastam com o cenário mais carregado e violento que caracterizou o Império
Espanhol na segunda metade de Setecentos.
Com efeito, na América Espanhola, entre 1720 e 1790 foram registados
cerca de cem levantamentos indígenas. Os momentos mais críticos e mar‑
cantes destes confrontos tiveram lugar em 1765, em Quito, e no dealbar da
década de 1780, com as revoltas de Tupac Amaru, em 1780, e dos comuneros
da Nova Granada, em 1781. No sertão do Brasil, a frente de colonização
punha em contacto europeus e ameríndios, e diversos grupos indígenas resis‑
tiram ao avanço dos colonos. Mas o quadro de tensão e conflito que opôs de
forma clara, embora não necessariamente coerente no espaço e no tempo, os
criollos aos índios não teve um equivalente no lado português. Então, onde
encontramos o rastilho para a eclosão em 1788‑1789 da chamada Inconfidên‑
cia Mineira e para os sucessos de 1798 e 1801 na Baía? Como explicar o que
se considerou ser a recusa dos referenciais políticos tradicionais e «a eclosão
de alternativas» que sugeriam um mundo novo, «a revolução desejada»35?
A crise que afectava a capitania de Minas Gerais, sobretudo desde 1763,
quando pela primeira vez não se arrecadaram as cem arrobas de ouro, mere‑
ceu a atenção quer da monarquia e dos seus representantes no terreno, quer
dos «filhos das Minas», presentes nos senados das câmaras e nos bancos da
Universidade de Coimbra. Por parte dos corpos de vereação mineiros foram
dirigidas representações para a Coroa, expondo os problemas com que gover‑
nantes e governados se deparavam. De um modo geral, até 1789 o inventário
Hist-da-Expansao_4as.indd 306 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 307
de problemas elencados pelas elites locais não divergiu muito do que era a
perspectiva do centro político. Mas as análises foram amadurecendo e os
discursos burilados. Um dos tópicos presentes nas representações dos oficiais
das câmaras era o da adequação das medidas emanadas do centro político à
realidade das Minas; outro, era o do papel dos lavradores. No entanto, apesar
das chamadas de atenção e das críticas, não se verificou uma inflexão nas
prioridades da Coroa. O secretário de Estado Martinho de Melo e Castro,
aliás, pautou a sua actuação relativamente à capitania com uma recusa dos
argumentos dos naturais e a exigência de medidas mais duras para com os
desobedientes.
Ainda assim, não podemos falar de uma fractura identitária que radicaria
na antinomia centro/periferia ou metrópole/colónia, fractura essa que, con‑
forme foi sugerido por Maria Odila Leite da Silva Dias em textos clássicos e,
mais recentemente, a partir de estudo sobre a circulação de elites na monar‑
quia brigantina, não terá sido muito profunda até 180836. Neste quadro, os
«filhos das Minas» eram portugueses como os demais vassalos da monar‑
quia e, de resto, muitos haviam sido integrados nos ofícios da monarquia
na segunda metade de Setecentos. Em relação à participação dos colonos
da América Inglesa na Guerra dos Sete Anos, conforme afirmou John Shy,
em 1763, os Americanos sentiam‑se orgulhosos da sua contribuição para o
desfecho da guerra e optimistas quanto ao futuro37. O conflito que veio a
opor os colonos à Coroa e ao governo britânicos nasceu da recusa em pagar
os impostos decretados pela metrópole sem a consulta das colónias, questão
central nas relações de poder entre o centro monárquico e as periferias, no
reino ou no império, o inglês como o português. A partir desta ideia, pode‑
mos sugerir que, tal como no passado, foi o descontentamento das elites
mineiras – ou de fracções dessas elites – com a pressão fiscal que as afastou
da cooperação com os agentes da monarquia. Por outro lado, tendo alguns
dos descontentes bem presente o exemplo das colónias norte‑americanas, a
argumentação a favor da eventual constituição de uma república indepen‑
dente em Minas Gerais, tal como surge nos autos da devassa, surgia como
um objectivo a perseguir por uns quantos.
Ora, a propósito desta questão, convirá não esquecer que, nas Minas como
na Baía ou na distante Goa, a politização destas sociedades de Antigo Regime
nos trópicos não era geral nem homogénea. Mesmo ao nível das elites, poucos
eram aqueles que possuíam uma cultura informada pela leitura de autores
europeus ou informação actualizada sobre os acontecimentos que tinham
lugar para além das fronteiras do território em que decorria o seu quoti‑
diano. Muita da informação que conformava o que se designaria mais tarde
como opinião pública era transmitida de forma difusa através de rumores e
murmurações, nas estradas, nas ruas e praças, nas tabernas. De igual modo,
Hist-da-Expansao_4as.indd 307 24/Out/2014 17:17
308 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
apesar de as elites mineiras dirigirem representações para o centro político e
de ser possível identificar um discurso mais coeso em termos das reivindica‑
ções em matéria fiscal e económica, episódios como as «inconfidências» de
Curvelo (1760‑1776), Mariana (1769) e Sabará (1775), que se caracterizaram
pela emergência de críticas e ataques ao secretário de Estado Sebastião José
de Carvalho e Melo e, facto novo, ao próprio rei, revelaram igualmente as
clivagens existentes entre bandos e facções das elites de Minas Gerais.
Os conflitos que se registaram nas décadas de 1770 e 1780 envolveram
oficiais régios, letrados e homens de negócio que orbitavam em torno dos
governadores e buscavam controlar o acesso a ofícios e benesses a partir
das redes clientelares que chocavam entre si, expondo ao mundo as fissuras
internas dos grupos dominantes38. Alguns dos protagonistas destes confron‑
tos participaram também nas movimentações associadas à inconfidência de
1789. Durante o governo de Luís da Cunha Meneses (1783‑1788), a luta
entre facções foi acesa. Quando o visconde de Barbacena assumiu o governo
da capitania de Minas e anunciou, em 1788, a intenção da monarquia de
cobrar as dívidas atrasadas relativas ao quinto, o receio generalizado quanto
ao valor da carga fiscal, que foi sobrevalorizado, e o facto de aquela afectar
principalmente os poderosos locais, por ser baseada na riqueza individual,
desencadeou críticas e rumores, o que foi apoiado pelas elites. Afinal, «a der‑
rama, antes de ser ofensiva aos pobres, colidia com os interesses materiais da
elite mineira, proprietária e patrona»39.
Constatamos assim que, embora a Inconfidência Mineira tenha sido, em
parte, interpretada como uma réplica das revoluções americana e francesa e
o seu sentido tenha sido situado por alguma historiografia numa lógica de
independência e dissolução dos vínculos imperiais, com o alferes Tiradentes
integrando o imaginário e panteão dos heróis que anunciaram a modernidade
da nação brasileira, é no contexto preciso da conjuntura económica mineira,
das relações entre a Coroa e as elites locais e das clivagens entre fracções
desses grupos, com interesses distintos, que devemos situar a génese dos
rumores e da conjuração. Se os honrados e os humildes, os ricos e os pobres
surgem associados na documentação, é porque a tributação recairia sobre
todos e os rumores sobre a derrama disseminaram‑se pela capitania e foram
escutados por pessoas de todas as condições sociais.
Outros acontecimentos igualmente complexos envolveram gente de esta‑
tuto e condição social muito diferenciados, como a sedição de 1798, na
Baía. Se em Minas deparamos com a nobreza da terra e letrados em posição
de destaque, na Baía os actores identificados pertenciam a corpos sociais
distintos, estando igualmente envolvidos escravos. Em suma, a dinâmica de
contestação baiana agrupou «homens das mais diversas esferas da sociedade
local»40. Na Baía, o processo teve início com o aparecimento em inícios e,
Hist-da-Expansao_4as.indd 308 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 309
depois, entre 12 e 16 de Agosto de 1798, de pasquins sediciosos que, rom‑
pendo os limites tradicionais da comunicação política, dirigindo‑se ao con‑
junto do corpo político, pretendiam a descida do preço da carne, criticavam
a câmara e a legitimidade do ordenamento político e social vigente, exigindo
a liberdade. Faziam‑no em nome do «Poderoso e Magnífico Povo Bahinense
Republicano» e seriam 392 os sediciosos41.
O «motim dos alfaiates», como também foi designada a tentativa de
sedição baiana, congregou um número considerável de indivíduos, mas, no
final, apenas foram condenados onze, quatro a pena capital, executada a 8 de
Novembro de 1799. Não se tratou de uma acção protagonizada unicamente
por homens pardos e de origem social humilde, apesar de constituírem a
maioria dos implicados; pelo contrário, a devassa efectuada desvendou o
apoio e a participação de elementos da elite local, senhores de engenho e letra‑
dos. No entanto, de forma a cooptar a colaboração dos grupos dominantes
à escala local e preservar as condições de governo, o governador procurou
encobrir o envolvimento dos honoratiores locais. De resto, a aplicação das
penas obedeceu a critérios de ordem social e étnica, revelando a impossibi‑
lidade de se construir uma sociedade nova.
No dealbar de Oitocentos, durante o governo do bispo José Joaquim
da Cunha de Azeredo Coutinho em Pernambuco (1798‑1802), também se
suspeitou da existência de uma conspiração. A denúncia foi feita ao juiz de
fora de Olinda no dia 21 de Maio de 1801, mas a devassa ordenada para
averiguação dos factos nada apurou contra os acusados, entre os quais figu‑
ravam os irmãos Cavalcante de Albuquerque, de uma família de senhores
de engenho. Uma vez mais, a análise do espaço social concreto, colocado no
respectivo contexto, revela‑nos um cenário atravessado por tensões e conflitos
que opunham o governo interino, integrado pelo bispo, a interesses locais42.
Se todos estes processos, aos quais se poderia ainda acrescentar a suposta
conspiração do Rio de Janeiro de 1794, espelham, de acordo com certas lei‑
turas, a crise que caracterizaria o mundo colonial luso‑brasileiro no final de
Setecentos, não é menos verdade que lhes faltou uma articulação. A despeito
das críticas que, em alguns dos casos mencionados – a Baía –, foram mais
radicais e se expressaram com o recurso a uma cultura política alternativa, de
um modo geral estamos perante acontecimentos locais, que se inscrevem nos
quadros das capitanias e nas dinâmicas próprias das sociedades regionais43.
Deste modo, parecem algo exageradas as interpretações que concedem aos
eventos referidos uma maior amplitude. O império, no seu conjunto, ultrapas‑
sou estes episódios sem sobressaltos. Os «mundos possíveis» encerrados em
potência no protesto e na acção política destes eventos ainda estavam longe.
Hist-da-Expansao_4as.indd 309 24/Out/2014 17:17
310 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
O Brasil e o império luso‑brasileiro
Dois grandes eventos marcaram a conjuntura internacional do último
quartel do século xviii e das primeiras duas décadas do xix, com implicações
directas na diplomacia e na vida política portuguesa: a Revolução Americana
e a guerra da independência (1776‑1783) e a Revolução Francesa (1789) e as
suas sequelas políticas e militares, nomeadamente as Guerras Napoleónicas e
a revolução e independência do Haiti. As ondas de choque provocadas pelos
acontecimentos em França durante os períodos revolucionário e napoleónico
produziram efeitos de grandes consequências44. No que respeita ao mundo
atlântico, pensemos nas revoltas de escravos – entre 1789 e 1832 foram
registadas diversas revoltas de escravos e mais de vinte tiveram origem no
rumor de que os escravos haviam sido libertados; na independência do Haiti,
declarada em 1804 e corolário lógico da revolta de escravos de 1791 e da
proclamação da abolição da escravatura por Victor Hugues, cujo decreto foi
aprovado pela Convenção a 4 de Fevereiro de 1794; na guerra não declarada
ou quase‑guerra entre os Estados Unidos da América e a França em 1798
‑1800; nas Guerras Napoleónicas; na transferência da corte portuguesa
para o Rio de Janeiro, em 1807‑1808, provocando uma radical alteração do
quadro político e económico do império luso‑brasileiro; e na independência
das colónias espanholas das Américas, com a excepção de Cuba, um processo
que se estendeu de 1808 a 1830.
Neste contexto, e perante a rivalidade anglo‑francesa, nos círculos do
poder em Portugal uma vez mais se constituíram dois grupos em oposição,
os designados ou supostos «partido inglês», que contava nas suas fileiras
com D. Rodrigo de Sousa Coutinho e o seu irmão, D. Domingos de Sousa
Coutinho, embaixador em Londres de 1803 a 1814, e «partido francês», que
tinha como figura de proa António Araújo de Azevedo, futuro conde da Barca.
Na viragem do século xviii para o século xix, ambas as facções desenvol‑
veram todos os esforços no sentido de fazer triunfar a respectiva «visão
imperial»45. Apesar de ser possível identificar a existência das duas correntes,
que defendiam «opções políticas e diplomáticas divergentes», não podemos
afirmar, de forma taxativa, que se estava perante uma clivagem entre «angló‑
filos» e «francófilos»46, além de que a influência da Grã‑Bretanha acabou por
se impor junto da monarquia portuguesa.
Foi com este pano de fundo que D. Rodrigo de Sousa Coutinho pensou e
apresentou o seu projecto, a «Memória sobre o melhoramento dos domínios
de Sua Majestade na América». No essencial, defendia um sistema político
que consagrava o «inviolável e sacrossanto princípio da unidade, primeira
base da monarquia», o natural «enlace dos domínios ultramarinos portu‑
gueses com a sua metrópole» e o lugar central que o Brasil devia ocupar no
Hist-da-Expansao_4as.indd 310 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 311
quadro das relações imperiais portuguesas, quer pelo que já representava,
quer pelo que poderia ser. A importância concedida aos domínios americanos
justificava ainda a «luminosa divisão e centralização dos nossos governos da
América», com a proposta de regresso ao modelo de dois governos separados
– no caso, dois vice‑reinados –, um com sede no Rio de Janeiro e outro no
Pará47. A efectiva aplicação deste plano dependia, no que à monarquia dizia
respeito, dos meios disponíveis, de toda uma rede de informações e, outros‑
sim, das negociações e equilíbrios que era preciso respeitar. Para além dos
bacharéis naturalistas, o ministro contava com a colaboração das autoridades
locais e não dispensou as sempre omnipresentes redes de parentesco, entre
as quais a própria: um dos irmãos, Francisco Maurício, foi governador do
Estado do Grão‑Pará e Rio Negro – nomeado em 1789, tomou posse em mea‑
dos de 1790 e exerceu o cargo até Setembro de 180348 – e outro, Domingos,
embaixador em Londres de 1803 a 1814, assegurou o acesso a informação
privilegiada junto da Coroa britânica.
E em finais de Setecentos e na viragem para uma nova centúria, qual era a
situação do Império Português que D. Rodrigo de Sousa Coutinho pretendia
defender e consolidar de modo tão zeloso? Com a política proteccionista
implementada durante o reinado de D. José, a dependência portuguesa rela‑
tivamente à Inglaterra diminuíra; concomitantemente, a perda das colónias
norte‑americanas contribuiu para reforçar a importância do mercado por‑
tuguês no quadro do comércio britânico. No final de Setecentos, a neutrali‑
dade portuguesa mantida durante as guerras anglo‑francesas de 1778‑1783
e 1793‑1802 foi benéfica e a economia cresceu nesses períodos. Em termos
globais, as exportações e reexportações portuguesas para o estrangeiro, que
haviam aumentado em 18% entre 1776‑1777 e 1783, cresceram mais de 30%
entre 1783 e 1789 e, no período 1789‑1806, o comércio externo português
multiplicou o seu volume por quatro49. Os registos consulares franceses deste
período indicam que a Grã‑Bretanha continuava a ser, com larga vantagem, o
principal parceiro comercial de Portugal, mas esclarecem igualmente quanto
à diversidade de países que participavam no comércio português.
Entre os factores que contribuíram para que a dependência comercial do
reino português em relação à Grã‑Bretanha diminuísse a partir do decénio
de 1770 esteve a queda da produção aurífera no Brasil, com efeitos directos
na diminuição do metal exportado para a Europa. Mas se o deficit português
com a Inglaterra se atenuou, no que respeita ao Brasil manteve‑se em níveis
elevados. As políticas de fomento agrícola iniciadas no período pombalino
contribuíram quer para um aumento da produção dos géneros tradicionais,
quer para uma diversificação das culturas50. Na capitania do Rio de Janeiro,
por exemplo, ocorreu uma «revolução da agricultura»: entre 1769 e 1778,
o número de engenhos triplicou e, entre 1778 e 1783, aumentou em 65%.
Hist-da-Expansao_4as.indd 311 24/Out/2014 17:17
312 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
No final do século, pelo porto do Rio de Janeiro, entre outros produtos,
exportavam‑se géneros tão variados como açúcar, anil, arroz, café, algodão,
cochonilha e linho‑cânhamo. Por fim, citemos o alvará de 6 de Agosto de
1776, surgido no contexto da luta pela hegemonia dos vinhos do Porto e da
protecção à Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro, que,
além de dividir o mercado brasileiro em duas zonas de consumo dos vinhos
reinóis, proibiu a entrada da aguardente insular do porto do Rio de Janeiro
para sul. Nas capitanias meridionais, além da criação de gado, destacou‑se
a produção de trigo no Rio Grande do Sul, exportado para os portos do
Brasil. O tabaco mantinha a sua importância na economia baiana, principal
centro produtor, onde se registou um aumento da produção entre 1785 e
1804. A exportação fazia‑se sobretudo para o mercado da Costa da Mina,
região fornecedora de escravos à praça baiana. Para além da Baía, o tabaco
era importante também no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais.
Mas, na viragem do século, o sector que mais destaque merece é a economia
do açúcar: entre 1790 e 1810 terão existido 1800 engenhos. Aliás, de 1760
a 1811, as exportações de açúcar representaram cerca de 35% do total de
bens exportados, o que é revelador do lugar ocupado por este produto na
economia da colónia. Por fim, na viragem do século (1798‑1807) também o
algodão e o café conheceram um aumento da produção, sendo exportados
para vários mercados europeus51.
Em contraste com a vitalidade das regiões costeiras e de povoamento
mais antigo, o sertão das capitanias continuava a ser uma fronteira aberta.
As expedições e as comissões para o estabelecimento dos limites não altera‑
ram o quadro geral herdado de décadas anteriores. O avanço da colonização
era lento e difícil e nem todas as populações ameríndias se mostravam recep‑
tivas ao contacto com os Europeus. Baltasar da Silva Lisboa defendeu uma
política de conciliação de brandura e prémios nas relações com os índios, tal
como os Ingleses praticavam no Canadá e os Franceses nas «suas Américas»,
afirmava ele com alguma ingenuidade. Só assim se conseguiria que os índios
auxiliassem a exploração através de «hum tracto mais civilizado» e seria
possível à Coroa «fazer respeitavel, e feliz a sua Monarchia, e attender ás
nossas necessidades, e ás fortunas dos povos»52. Contudo, a experiência do
Directório dos Índios era merecedora de muitas críticas, que se estendiam
aos directores e à sua desobediência, aos maus tratos infligidos aos índios
e à dificuldade de aldear grupos inimigos. Assim, não admira que muitas
populações indígenas oferecessem acesa resistência à presença dos colonos.
Não obstante, iam‑se acrescentando marcos institucionais no sertão, que
confirmavam o movimento em direcção a oeste nas regiões de Mato Grosso
e Goiás. A busca de novos veios e de mais terra traduziu‑se na criação de
novos julgados. Em Goiás, a delimitação foi feita ao tempo do governo do
Hist-da-Expansao_4as.indd 312 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 313
barão de Moçâmedes (1772‑1778), passando‑se de uns cinco julgados, em
1742, para a dezena, em 1783. Uma das zonas beneficiadas foi a das Minas
de Tocantins, no actual Estado com o mesmo nome, e espelha a dinâmica de
fixação populacional no extremo da zona de influência dos Portugueses53.
Não cabe aqui discutir o problema das trocas comerciais entre Portugal e
o Brasil no final do Antigo Regime, questão que foi amplamente examinada
por Jorge Pedreira e Valentim Alexandre. Mas não podemos deixar de referir
que um dos dados mais relevantes sobre o estado da economia portuguesa
nos finais do século xviii e inícios do século xix diz respeito precisamente
à relação entre o deficit e o superavit do reino português: «Um comércio
deficitário com o conjunto das suas colónias, nomeadamente o Brasil, e
superavitário com os países estrangeiros, tal é a situação de Portugal nas suas
trocas externas, no período de 1796 a 1807, no aviso unânime de todos os
que se têm ocupado do assunto.»54 Além de centro produtor, o Brasil era um
mercado consumidor ímpar, quer para as mercadorias europeias reexporta‑
das a partir de Lisboa, quer para os produtos asiáticos. No quadro imperial
português, apesar da recuperação do comércio asiático no final de Setecentos,
foi o Brasil que mais contribuiu para que a balança comercial no trato com
a Inglaterra fosse favorável a Portugal entre 1791 e 181055.
Nas dinâmicas atlânticas, o Brasil continuava estreitamente ligado à África
Ocidental. Aí, era em Angola e Benguela que a presença portuguesa mais se
fazia notar. Nestes anos, destaca‑se a linha de continuidade relativamente
ao período anterior. Nas décadas finais do século xviii foram criadas algu‑
mas estruturas essenciais no quadro da administração periférica da monar‑
quia, como, por exemplo, a Alfândega de Luanda, instituída por carta régia
de 16 de Fevereiro de 1784 e com regimento de 21 de Outubro de 1799.
No final de Setecentos, de acordo com os dados apresentados por Maria
Goretti Leal Soares, o governo político e civil de Angola contaria com cerca
de setenta oficiais, incluindo os oficiais concelhios da câmara de Luanda56.
No Norte de Angola, os Portugueses procuraram reforçar a sua posição em
Cabinda. Em 1782, foi decidido fundar ali um estabelecimento que cumprisse
a função de afirmar a soberania portuguesa e travar a actividade de merca‑
dores estrangeiros. Esta iniciativa, porém, foi de imediato alvo da pressão
diplomática francesa e de uma resposta militar, o que levou ao abandono do
forte de Cabinda, em 1784. A questão foi solucionada em 1786, pela Con‑
venção de Madrid, pela qual Portugal reconheceu a liberdade de comércio
a todas as nações ao norte do rio Zaire57. Na sequência do fracasso que
representara a aventura em Cabinda, o barão de Moçâmedes (1784‑1790)
reorientou a política portuguesa em Angola na direcção de Benguela.
No final do século xviii, Elias Alexandre da Silva Correia, sargento
‑mor da infantaria de milícias do Rio de Janeiro e natural do Brasil – um
Hist-da-Expansao_4as.indd 313 24/Out/2014 17:17
314 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
«Americano Português», conforme se apresentava –, afirmou que os três
géneros de exportação de Angola eram os escravos, o marfim e a cera.
No entanto, apresentava um quadro geral negativo. Entre as causas da «ruína
do comércio», no entender do autor, estavam o comportamento dos ser‑
tanejos; a actuação dos capitães‑mores dos presídios, muito autónomos
em relação ao governador residente em Luanda; a concorrência entre os
comerciantes, cujo número seria excessivo em Angola e que utilizariam
os seus criados ou intermediários negros e mulatos na perturbação do comér‑
cio alheio; o papel da jeribita nas trocas comerciais entre Europeus e Afri‑
canos; a presença de degredados; e a carestia dos produtos e a falta de
mantimentos, que geravam a especulação58.
Fora dos núcleos urbanos do litoral e dos principais eixos de penetração
rumo ao sertão, o domínio português era pouco efectivo e a proclamada
soberania portuguesa tinha de se confrontar com o poder dos sobas locais,
uns «vassalos» e aliados, outros inimigos de longa data. Para tal também
contribuiu a interrupção da actividade missionária, dada a estreita relação
existente entre a acção dos missionários enquanto agentes imperiais e o
controlo das populações locais. A ténue rede eclesiástica, que se concentrava
sobretudo nos principais centros da conquista, fora desestruturada com a
expulsão dos Jesuítas, pese embora o facto de estes serem, desde o século xvii,
alvo de duras críticas por parte do senado de Luanda e de governadores no
tocante à sua acção pastoral59.
As missões parecem ter continuado a desempenhar o seu papel até 1760,
no contexto de uma situação pouco favorável à propagação da mensagem
religiosa. Para além da oposição a missionários e clérigos levada a cabo por
alguns sobas e etnias, o comportamento dos poucos párocos locais não era
o mais adequado aos objectivos perseguidos. Conforme denunciava um
frade capuchinho, frei Miguel Ângelo Nossez: «Os clérigos que são cape‑
lães nestas terras […], ou andam fugidos por crimes da cidade, ou andam
negociando cabeças por estes matos.»60 A expulsão da Companhia de Jesus,
o encerramento do Colégio de Luanda e a interdição de missionação aos
Capuchinhos italianos alteraram o quadro global. Depois do consulado
pombalino, a rainha D. Maria I, constatando a situação das missões em
Angola na sequência das queixas apresentadas pelo bispo frei Luís da Anun‑
ciação e Azevedo (1771‑1784), procurou enviar para a conquista religiosos
que assegurassem a catequização local. Graças aos seus pedidos a bispos e
outras autoridades eclesiásticas, desembarcaram em Luanda, em Dezembro
de 1779, 26 religiosos portugueses, de variadas ordens religiosas. De igual
modo, a Propaganda Fide designou os Capuchinhos italianos, desde 26 de
Janeiro de 1778, como missionários de São Tomé e do Congo, e um pequeno
grupo destes religiosos chegou a Luanda com os portugueses. Os missionários
Hist-da-Expansao_4as.indd 314 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 315
italianos estavam divididos internamente, pelo que a sua actuação não se
revelou a mais eficiente. Quanto à missão portuguesa, cujos religiosos se
repartiram pelos diferentes conventos da cidade, decorreu entre 1780 e 1788.
Alguns regressaram ao reino por doença. A maior parte, porém, actuou no
Congo (quatro) e nos presídios do interior. Sobre os seus resultados, afirmou
o padre António Brásio que, «embora importante em número e qualidade
de missionários», «foi um fogo‑fátuo que não teve quem a mantivesse em
ardor apostólico»61.
No final do século xviii, apesar da presença dos Capuchinhos italianos
no Congo e em Angola, a situação da diocese era francamente negativa.
Em 1782, o cabido da Sé estava reduzido a três cónegos e, em 1798, o
governador informava da muita falta de eclesiásticos em Luanda e no sertão.
No seu relatório de 30 de Setembro de 1799, o bispo D. Luís Brito Homem
denunciava que numerosas paróquias estavam vagas. No ano seguinte, o
governador D. Miguel António de Melo, em relatório sobre a situação reli‑
giosa de Angola, sublinhava que, se os Capuchinhos italianos se comportavam
de forma exemplar, a diocese estava em estado deplorável: 25 paróquias sem
cura e 6 canonicatos vagos62. Ainda nos primeiros anos do século xix, seriam
os Capuchinhos italianos a garantir a missionação no Congo e a educação
dos príncipes congoleses.
Angola continuava a ser essencialmente uma conquista e um mercado
fornecedor de mão‑de‑obra. O grosso da população colonizadora, composto
por soldados e degredados, reflectia essa realidade. Se o modelo societal
que se pretendera transplantar inicialmente correspondia ao do reino, teve
de se adaptar à realidade local, tal como em Cabo Verde e em São Tomé e
Príncipe. Factores como os surtos endémicos de febres, a guerra e as crises de
escassez – os colonizadores de Angola não se interessavam pela agricultura,
como já demonstrava o Regimento de 1611 – ajudam a compreender a fraca
presença do elemento branco. Deste modo, como se viu, a miscigenação foi
uma necessidade, constituindo uma característica do modelo imperial portu‑
guês63. Os luso‑africanos, os «filhos do país», detinham uma posição‑chave
em Luanda e Benguela e nas povoações e presídios do interior, assumindo‑se
como a elite local e os principais interlocutores das autoridades instaladas
em Luanda. Refiramos, por exemplo, o caso de Ambaca e da sua elite de
luso‑africanos, que viriam a ser conhecidos como os «Ambaquistas», grupo
essencial no controlo do comércio da região e da exploração do hinterland.
Durante os governos de José de Almeida e Vasconcelos Soveral de Car‑
valho da Maia Soares de Albergaria, barão de Moçâmedes (1784‑1788), de
seu irmão D. Manuel de Almeida e Vasconcelos (1790‑1797) e de D. Miguel
António de Melo (1797‑1802) foram ensaiadas novas políticas de fomento da
economia, a par da ocupação de novas posições e da condução de campanhas
Hist-da-Expansao_4as.indd 315 24/Out/2014 17:17
316 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
militares. O comércio do sertão continuava a ser matéria sensível que requeria
a preservação de um equilíbrio entre o controlo e a liberdade de comércio, a
autoridade da Coroa e os interesses locais. Era necessário assegurar que os
escravos, na sua maior parte com origem no «império» da Lunda, afluíam a
Luanda e Benguela. Para tal, tornava‑se imperioso evitar desordens e o mau
trato dos africanos, pois sem isso, como reconhecia o secretário de Estado
Martinho de Melo e Castro em 1791, não seria possível evitar as rebeliões e
as fugas de escravos, «nem os Negros deixarão de fugir do nosso opressivo,
e dolozo Commercio, buscando o dos Estrangeiros; nem o Dominio Portu‑
gues deixará de lhes ser cada vez mais odiozo, e intoleravel»64. Neste quadro,
D. Miguel António de Melo tentou limitar a liberdade de actuação dos agentes
que frequentavam os pumbos, mas sem grande sucesso.
De igual modo, realizaram‑se várias expedições de reconhecimento do
interior, com o centro de gravidade destas iniciativas a deslocar‑se para o
sertão de Benguela. Assinalam‑se neste período as viagens de António José
da Costa, em 1785, que partiu de Caconda com o objectivo de reconhecer o
curso do rio Cunene, mas que se perdeu; a de Alexandre da Silva Teixeira ao
Lovale, em 1793; e as instruções dadas em 1799 ao governador de Benguela,
Pinheiro de Lacerda, para promover o reconhecimento do sertão até Chicova
ou Tete. Também a partir da costa oriental africana se providenciaram esfor‑
ços no sentido de, por fim, se conseguir estabelecer a ligação entre o Atlântico
e o Índico. A comprová‑lo está a expedição liderada pelo matemático Fran‑
cisco José de Lacerda e Almeida, que, obedecendo às ordens de D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, partiu dos Rios de Sena em direcção a Angola, acabando
no Cazembe, junto ao lago Moero, devido à morte do experiente, mas infeliz
bacharel, em 18 de Outubro de 1798. A tão ambicionada travessia de África
seria concretizada no sentido oeste‑leste pelos pumbeiros negros Pedro João
Baptista e Amaro José, que, em Novembro de 1804, atravessaram o rio
Cuango e, depois de várias etapas e interrupções, atingiram o Zambeze, em
Tete, em Fevereiro de 1811. Regressariam pelo mesmo itinerário, atingindo
Cassange em 1814 ou 1815.
A leste do cabo da Boa Esperança, na costa oriental africana, a concor‑
rência dos Holandeses, estabelecidos no Cabo, e a tentativa austríaca de
instalação de uma feitoria na baía de Lourenço Marques forçaram as auto‑
ridades portuguesas a olhar com mais atenção para esse território. Como
consequência da revalorização da baía, em 1782 foi ali instalado um presídio
português. Em Moçambique, o final do século assistiu primeiro ao aumento
do comércio do marfim e à centralidade do Zumbo no comércio com os Rios,
mas a instabilidade que se instalou e as secas do período 1795‑1801 deram
origem a fomes e ao fim das feiras do ouro. Em contrapartida, a vitalidade
dos mercados brasileiros e a necessidade de mão‑de‑obra africana estiveram
Hist-da-Expansao_4as.indd 316 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 317
na origem da atribuição de licenças a armadores locais ou aí instalados para
transportarem escravos para os portos do Brasil, uma dinâmica que se man‑
teve no início do século xix65.
No coração do Estado da Índia, numa relação datada do início do reinado
de D. Maria I e dirigida à rainha, o seu autor afirmava que, no contexto da
guerra em curso entre a Inglaterra e a França, diversos príncipes indianos
tinham‑se declarado contra os Ingleses, sacudindo o seu jugo, e, portanto,
a conjuntura – o «estado presente» – era favorável a Portugal. Na Índia,
competiam então entre si «tres Potencias poderozas»: os Maratas, o nababo
Aydar Aly Khan e o Nizam Ali Khan, de Hyderabad, «nababo ou mogol»,
sendo «o Maratá Nacão [sic] a mais poderoza da India he o primeiro que se
declarou contra a Jngleza». No apêndice, elencou as novas circunstâncias que
agravavam o estado crítico da Índia: a corte austríaca tentara e conseguira
estabelecer uma feitoria na Índia, junto da fortaleza do Piro, a sul de Goa, e
outra no reino de Goga, na vizinhança de Damão. O rei da Prússia enviara
também um embaixador ao nababo, com armas66.
Porém, apesar do tom alarmista desta relação e não obstante as dificulda‑
des crónicas que pautavam o governo dos domínios asiáticos, a fixação e a
consolidação das fronteiras do Estado da Índia beneficiaram de um contexto
regional que opôs os Britânicos aos Maratas (1774‑1782), aos Franceses
(1778‑1779), aos Holandeses (1780‑1784) e a Maiçur (Mysore) (1779‑1784).
Nesta conjuntura, o governo de Goa agiu no sentido de consolidar a autori‑
dade do Estado da Índia entre 1781 e 1793, com destaque para D. Frederico
Guilherme de Sousa Holstein (1778‑1786) e o seu sucessor, Francisco da
Cunha e Meneses (1786‑1794), que fora governador da capitania‑geral de
São Paulo. Durante o governo do primeiro, em 1779, os Maratas cederam
Dadrá e, entre 1779 e 1786, o governador D. Frederico Guilherme de Sousa
retomou as províncias de Bicholim e Sanquelim e as fortalezas de Alorna
(1783) e de Arabo. Os Maratas cederam também a praganã de Nagar Aveli,
anexada ao território de Damão. No período 1786‑1793, o governador
Francisco da Cunha e Meneses reconquistou a província de Perném, cedida
pelo Bonsuló pelo tratado de 29 de Janeiro de 1788, e conseguiu do rei de
Sunda a cedência da província de Pondá com os territórios anexos.
Seria, porém, incorrecto pensar que as acções ofensivas e a soberania
portuguesa não conheceram resistências. Estas manifestaram‑se com maior
intensidade nas periferias das Novas Conquistas, onde as lealdades eram mais
voláteis e a influência dos inimigos do Estado da Índia mais sentida. Na região
montanhosa dos Gates, a província de Satari (ou Saquelim), conquistada em
1746 e que se revoltara em 1755, tendo sido reconquistada em 1782, foi palco
de 14 revoltas até 1822, um quadro que se manteve nas décadas seguintes e
que atesta a contestação ao domínio imperial português por parte dos povos
Hist-da-Expansao_4as.indd 317 24/Out/2014 17:17
318 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
locais. Também a província de Perném se levantou em 1794 com o apoio do
Bonsuló e só em 1800 os Portugueses conseguiram recuperar aquele território.
Neste contexto, embora os recursos financeiros da monarquia e, em parti‑
cular, os do Estado da Índia não permitissem contrabalançar o poderio britâ‑
nico, que iniciava por então a trajectória que conduziria, no século seguinte,
ao domínio sobre o subcontinente, os conflitos que envolveram os Britânicos
e, em particular, a quarta guerra anglo‑holandesa (1780‑1784), coincidente
com o esforço militar que a Coroa britânica conduzia na América do Norte
contra as colónias rebeladas, permitiram ao comércio português recuperar
alguma margem de manobra. Em contraste com o quadro vivido por mea‑
dos do século, as décadas finais de Setecentos testemunharam a recuperação
da navegação e da actividade mercantil portuguesa no Índico. No final do
século xviii e no início do século xix, as mercadorias mais importantes nos
circuitos comerciais do Estado da Índia eram os «produtos ricos»: em pri‑
meiro lugar, o ópio, sobretudo o de Bengala, um comércio no qual os homens
de negócio de Macau enfrentavam a hegemonia inglesa; depois, os escravos,
adquiridos em Moçambique e com comércio activo em Damão e Diu, mas
também em Goa, que os recebia ainda de Surrate e de Bombaim; o marfim;
e o ouro da África Oriental. O comércio no Índico português incluía ainda
outros bens, como os têxteis; o tabaco, consumido em grande quantidade; a
madeira; as especiarias; e o salitre.
Segundo alguns autores, os anos que precederam a primeira invasão fran‑
cesa constituíram uma nova «idade dourada» para o comércio português67.
Até à transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a política de
neutralidade assumida pela monarquia, ainda que por vezes de forma difícil,
permitiu a Lisboa reassumir a sua posição de entreposto para a redistribuição
dos produtos asiáticos na Europa, em particular os tecidos indianos, o chá
chinês e as especiarias68. No Estado da Índia, Goa beneficiou também dessa
política, aumentando o número de navios que aí aportaram idos da corte.
No período de 1765 a 1835, o número de navios que chegaram de Lisboa foi
superior ao meio milhar, com um pico nos anos 1780‑1789, o qual coincidiu
com as guerras de independência norte‑americana e anglo‑holandesa. Apesar
das oscilações legislativas, que se reflectiam na maior ou menor liberdade de
acção dos agentes económicos, a recuperação económica de Goa e a «res‑
surreição» da Carreira da Índia estiveram ligadas a uma diversificação das
ligações e dos portos de destino asiáticos, ao aparecimento de novas escalas e
ao papel crescente dos privados e do Brasil neste circuito, uma dinâmica que
iria conhecer um aumento significativo depois de 1808 e da fixação da corte
portuguesa no Rio de Janeiro. Neste contexto, não é de estranhar que tenham
surgido sociedades comerciais de base familiar interessadas no comércio com
a Ásia e que um projecto comercial de integração dos circuitos mercantis no
Hist-da-Expansao_4as.indd 318 24/Out/2014 17:17
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807) 319
Índico a partir de Lisboa se tenha apresentado em 1799. Uma companhia
sedeada em Lisboa actuaria com seis navios no comércio de Moçambique,
Goa, Malabar, Choromândel, Bengala e China. A ocupação inglesa de Goa,
em 1799, e a publicação do alvará de 27 de Dezembro de 1802, que recupe‑
rava o pacto colonial, não deram espaço para a iniciativa69.
As Guerras Napoleónicas e suas consequências
Não cabe aqui analisar as ondas de choque da Revolução Francesa e dos
conflitos bélicos que dela derivaram, com destaque para as Guerras Napo‑
leónicas. Todavia, importa sublinhar que os seus efeitos não se limitaram
ao mundo atlântico. No que ao Império Português diz respeito, entre as
consequências da ameaça francesa devemos incluir a ocupação britânica
de territórios portugueses na Ásia e no Atlântico. Na década de 1790 e nos
primeiros anos de Oitocentos, Portugal viu‑se envolvido em dois conflitos
com a Espanha: a Campanha do Rossilhão (1793‑1794) e a «Guerra das
Laranjas» (1801). Ao mesmo tempo, a diplomacia lusa, que não participou
do Tratado de Basileia, em 1795, procurou assegurar a paz com a França e,
com esse objectivo, decorreram negociações em 1797 e 1798.
No Oriente, a 6 de Setembro de 1799, Wellesley (1798‑1805), governador
de Bengala e da East India Company, ordenou a ocupação de Goa, Damão e
Diu, enviando para tal fim uma força de 1200 homens. Após a assinatura do
Acordo de Amiens, a 25 de Março de 1802, pensar‑se‑ia que estavam reunidas
as condições para que as tropas britânicas abandonassem em definitivo o
território de Goa. A evacuação iniciou‑se no dia 1 de Abril de 1802. Porém,
com o recomeço das hostilidades franco‑inglesas em 1803 verificou‑se nova
invasão e ocupação de Goa, Damão e Diu, desta vez por largos anos. De igual
modo, com o pretexto da guerra e da invasão franco‑espanhola do reino de
Portugal em 1801, a direcção da East India Company ordenou a ocupação
de Macau, cuja tentativa ocorreu em 1802, com diversos incidentes. Anos
depois, em 1808, teve lugar outro ensaio de instalação de tropas inglesas no
enclave macaense, o que motivou uma ordem do imperador chinês para que
saíssem de Macau70.
Contudo, o impacto mais profundo das Guerras Napoleónicas, com uma
repercussão cujos efeitos se fariam sentir volvidas quase duas décadas, fez‑se
sentir no próprio reino. Espartilhada entre a pressão de duas potências con‑
correntes, a diplomacia portuguesa procurava encontrar espaço de manobra
para a monarquia, mas a existência de «partidos» opostos na corte não con‑
tribuía para uma tomada de decisão por parte de D. João, regente desde 1792.
No meio desse complexo jogo de equilíbrio diplomático e intrigas palacianas,
Hist-da-Expansao_4as.indd 319 24/Out/2014 17:17
320 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
D. Rodrigo de Sousa Coutinho abandonou o governo em meados de 1803.
Em 1806, Napoleão decretou o Bloqueio Continental à Grã‑Bretanha. Por‑
tugal, aliado da monarquia britânica, mas não querendo hostilizar o poder
francês, procurou negociar e obter tempo. Mas este corria contra os inte‑
resses da monarquia portuguesa. Neste quadro, a 22 de Outubro de 1807,
foi assinada a convenção secreta entre Portugal e a Grã‑Bretanha sobre a
transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Cinco dias depois,
sem que Portugueses e Ingleses o soubessem, era celebrado entre a França e
a Espanha o Tratado de Fontainebleau, um acordo secreto que autorizava
o exército francês a atravessar Espanha para invadir Portugal, dividindo‑se
o território português entre os signatários. A 17 de Novembro, teve início a
primeira invasão francesa. Como previsto e acordado, procedeu‑se à trans‑
ferência da corte portuguesa para o Brasil, viajando escoltada pela esquadra
inglesa. Com a chegada da família real ao Brasil, antes mesmo da sua instala‑
ção no Rio de Janeiro, teve início uma nova etapa da História luso‑brasileira,
que rompeu com o quadro em vigor até então.
Hist-da-Expansao_4as.indd 320 24/Out/2014 17:17
15
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA
(1808‑1822)
M irando o horizonte distante ou a linha de costa que se esfumava à
medida que os navios da frota régia se afastavam da barra do Tejo,
nenhum dos homens ou mulheres, novos ou velhos, que seguiam a bordo das
várias embarcações podia imaginar o impacto futuro da longa e desconfor‑
tável viagem que se iniciava nesse dia 29 de Novembro de 1807 e levaria a
corte portuguesa a instalar‑se no Brasil. Com efeito, após muitas hesitações,
a entrada do exército napoleónico em Portugal sob o comando de Junot
tornou inevitável a transferência da corte portuguesa para o Brasil, episódio
‑choque da História nacional. Antes mesmo da instalação de D. João e da
família real no Rio de Janeiro, a carta de 28 de Janeiro de 1808, publicada
quando o príncipe se encontrava ainda na Baía, determinou a abertura dos
portos brasileiros à navegação estrangeira, medida que alterou profunda‑
mente as condições do comércio externo português1. A ruptura ou viragem de
1807‑1808, que mereceu grande atenção da recente historiografia por ocasião
do respectivo centenário, assinalou o fim da uma certa lógica imperial e, em
simultâneo, o do que se designou como «pacto colonial». Tendo sido a aber‑
tura dos portos «o início de uma acção política que se concebe já brasileira»,
1808 constituiu, assim, «o ano zero da autonomia económica do Brasil»2.
Depois de terminada a Guerra Peninsular, o mundo atlântico luso‑brasileiro
funcionou num novo enquadramento político e económico, no seio do qual,
apesar de ser ainda possível falar de uma «comunidade de interesses» que
manteve próximos Portugal e Brasil durante várias décadas, não existiam
mais os elos que tinham sustentado a pertença à mesma comunidade política.
A grande flexibilidade do modelo político‑institucional português
mantinha‑se, assim como a autonomia de certos domínios e territórios ultra‑
marinos, a Coroa continuando a ser a «instância de legitimação política com
Hist-da-Expansao_4as.indd 321 24/Out/2014 17:17
322 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
a salvaguarda dos poderes e interesses territoriais»3, e a lealdade ao rei o
factor de unidade. Todavia, no período 1808‑1821, durante o qual D. João
permaneceu em solo americano, a inversão radical da relação secular que
existira entre Portugal e o Brasil, com o fim do exclusivo colonial com o
Brasil e a transformação dos metropolitanos em coloniais com a passagem
do reino de Portugal a «colónia de uma colónia»4, permitiu que se reunis‑
sem as condições que conduziram ao fim do império luso‑brasileiro, com a
independência do Brasil.
Ao mesmo tempo, o aprisionamento e a substituição da família real
espanhola pelo poder francês em 1808 espoletaram em Espanha e, para o
que aqui importa, na América hispânica uma dinâmica revolucionária que,
iniciada em 1810 em Caracas e em Buenos Aires, procurou ultrapassar a
crise de legitimidade resultante da abdicação dos Bourbon, nomeadamente
com a defesa de uma «solução carlotista» por parte de algumas facções
das elites do Prata hispânico. De facto, D. Carlota Joaquina, esposa do
príncipe D. João, presente no Rio de Janeiro desde 1808, era uma Bourbon
legítima e em liberdade, pelo que a opção pela princesa do Brasil pareceu
a uns quantos não só a solução mais lógica como a melhor no tocante à
continuidade da dinastia bourbónica. Esta alternativa, porém, não colheu
apoios nas juntas criadas em outros territórios da América hispânica e, na
região do Prata, alimentou a clivagem entre a junta de Buenos Aires e os
de Montevideu, fornecendo ainda argumentos para a intervenção militar
portuguesa na Banda Oriental5.
A situação revolucionária na América Espanhola prolongou‑se pelas
décadas seguintes, em paralelo com a resistência que, na Espanha ocupada
pelas tropas de Napoleão, opunha elites e populares aos Franceses e em
cujo contexto se assistiu à promulgação da Constituição de Cádis, em 1812.
Neste cenário denso e complexo, não foi somente o quadro luso‑atlântico
que mudou, mas, de facto, uma grande parte do Hemisfério Ocidental,
afectando as relações entre a Europa e as Américas, entre as velhas metró‑
poles e as novas nações que entretanto se desenhavam. E enquanto nasciam
novas formações políticas, outras configurações chegavam ao fim. Foi neste
complexo panorama do primeiro quartel de Oitocentos que o Império Por‑
tuguês conheceu «uma verdadeira implosão»6. As trajectórias e as hesitações
dos principais actores que marcaram a história destes anos espelham bem
as tensões e clivagens que atravessaram essas décadas e os desafios que se
colocavam a indivíduos e grupos, dentro e fora do espaço imperial portu‑
guês, que assistiam, sem o saber, ao começo de uma nova etapa do sistema
internacional.
Hist-da-Expansao_4as.indd 322 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 323
A corte joanina no Rio de Janeiro
A abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro representou,
para Lisboa, o lento cair do pano e o esvaziamento do lugar pivotal que a
cidade desempenhara na redistribuição dos produtos coloniais para a Europa.
É verdade que, apesar do Bloqueio Continental, que se sentiu de forma
efectiva no mar do Norte, no Báltico e no Mediterrâneo, Lisboa continuou
aberta ao comércio com a Inglaterra e a importar manufacturas inglesas, pois
em Portugal e no Atlântico, sem poder naval, o objectivo francês de impor
um Bloqueio Continental revelava‑se um desiderato vão7. De igual modo,
se o comércio português com a Ásia conheceu uma quase ruptura nos anos
1808‑1810, recuperou a partir de 1811 e manteve‑se dinâmico até 1818
‑1819, permitindo a reexportação de mercadorias asiáticas para a Europa.
No entanto, o impacto da abertura dos portos brasileiros ao comércio estran‑
geiro; o alvará de 1 de Abril de 1808, que permitiu o estabelecimento de todo
o género de manufacturas no Brasil; e os tratados de 1810, baseados nos
princípios do liberalismo económico, confirmaram a perda do exclusivo do
mercado brasileiro por parte de produtores e homens de negócio do reino8.
Embora o alvará de 28 de Abril de 1809 tenha procurado minimizar o choque
da anterior legislação e D. Rodrigo de Sousa Coutinho tenha tentado aplicar
reformas que permitissem modernizar a economia portuguesa, os resulta‑
dos não foram os pretendidos. Na prática, revela‑se difícil, se não mesmo
impossível, implementar o projecto de «uma grande monarquia americana
e comercial»9 que conseguisse, em simultâneo, equilibrar e beneficiar ambos
os pratos da balança. E esta pendia agora, de forma evidente, para o lado do
hemisfério americano, onde agora se localizava o centro político do império.
A instalação da corte joanina no Rio de Janeiro promoveu a dinâmica
urbana e o crescimento da cidade, agora elevada a sede da monarquia pluri‑
continental portuguesa, uma «nova Lisboa», com a expansão do núcleo
urbano para além dos seus antigos limites e o acentuar do contraste entre a
Cidade Velha e a Cidade Nova10. As fontes e as cifras não são coincidentes,
mas é plausível apontar para um número entre as 5 mil e as 10 mil pessoas,
por entre primeira nobreza da corte, oficiais régios e letrados, militares
e clérigos11. O aumento da população, com a presença da corte, dos grandes e
mais membros da nobreza, dos oficiais régios, militares e respectivas famílias,
obrigou a um esforço de requalificação do espaço urbano, uma «metropoli‑
zação explícita da cidade», nas palavras de Kirsten Schultz12. Todavia, neste
processo, as autoridades (governo e câmara) viram‑se confrontadas com o
problema da falta de oferta de residências adequadas ao status de um tão ele‑
vado número de fidalgos e criados da corte, cujas necessidades de alojamento
geraram alguma tensão com os moradores nos primeiros anos13. Se algumas
Hist-da-Expansao_4as.indd 323 24/Out/2014 17:17
324 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
residências mais requintadas de membros das elites política e mercantil
foram cedidas à família real e aos dignitários da corte – tratava‑se de uma
honra e de um investimento –, foi também necessário recorrer à requisição e
desocupação de casas em nome do príncipe regente (PR). Deste modo, não
espanta que, com rapidez e ironia, a população carioca tenha identificado a
sigla «PR» com a ordem «Ponha‑se na rua»14.
Em simultâneo, afluíram ao Rio de Janeiro inúmeros artesãos e agentes
ligados ao abastecimento da urbe. Paradoxalmente, atendendo ao esforço
desenvolvido pelas autoridades para «europeizar» a cidade, cresceu também
o número de escravos, cuja presença em elevado número atemorizava as
autoridades e as elites, que recordavam o «exemplo haitiano». As revoltas
(1809, 1814, 1816) e a criminalidade atribuída aos escravos aumentavam o
receio dos brancos e, em simultâneo, o reforço do controlo e da repressão15.
Em termos globais, de menos de 50 000 habitantes em 1799, o número de
habitantes do Rio de Janeiro passou para cerca de 160 000 em 182016. Para
alojar a população recém‑chegada em 1808 e metropolizar a cidade, afir‑
mando‑a como corte, tornava‑se necessário «aformosear» o espaço urbano,
proibindo as gelosias, alargando ruas e rasgando novos arruamentos, garan‑
tindo a salubridade urbana e combatendo a vadiagem e a mendicância, entre
outros objectivos. Com esse propósito, foi elaborado um plano e, em 1810, a
expansão urbana e o contraste entre a Cidade Velha e a Cidade Nova estavam
já a conformar‑se em torno do Campo de Santana ou Campo da Cidade17.
Na defesa da ordem e do bem comum e no controlo do espaço público
destacou‑se a Intendência‑Geral de Polícia da Corte e Estado do Brasil, sob
o comando do intendente Paulo Fernandes Viana, aparentado com a família
Carneiro Leão, da elite mercantil do Rio de Janeiro, e colaborador próximo
de D. João, com quem se reunia de dois em dois dias18.
Concomitantemente, a instalação do centro político do império no Brasil
assinalou o começo de um importante processo de reformas e de reorgani‑
zação administrativa, a começar pela América Portuguesa e, em particular,
pelo Rio de Janeiro, «que, assim, se transfigurava no lugar do poder por exce‑
lência»19. Entre 1808 e 1821, a centralidade da cidade‑capital da monarquia
afirmou‑se de diversos modos e a presença da corte manifestou‑se na insti‑
tuição de um ciclo de festividades anuais associadas à família real e próprias
de uma sociedade cortesã, à semelhança do que se praticara em Lisboa ou
em outras cortes europeias.
Uma das primeiras e mais evidentes manifestações das tranformações em
curso foi a instalação no Rio de Janeiro das instituições centrais da monar‑
quia, com os seus oficiais e as suas bibliotecas e arquivos, um processo que
arrancou nos dias imediatos à chegada do príncipe regente à capital do
Estado do Brasil. Afirmava‑se deste modo a continuidade do governo da
Hist-da-Expansao_4as.indd 324 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 325
coisa pública e, questão que não era despicienda, garantia‑se a ocupação e o
sustento de todo o alto oficialato e mais pessoal político que acompanhara a
família real na sua transferência para os trópicos. Assim, com marco inicial
no decreto de 11 de Março de 1808, instalaram‑se a Secretaria de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, a Secretaria de Estado dos Negócios
da Marinha e Domínios Ultramarinos e o Erário Régio, seguindo‑se depois
a criação de tribunais, conselhos e outros órgãos da monarquia que, até à
data, só existiam em Lisboa, como o Tribunal da Mesa do Desembargo do
Paço e da Consciência e Ordens, com jurisdição sobre todos os negócios que
pertencessem ao Desembargo do Paço e ao Conselho Ultramarino e que não
fossem assuntos militares, o que acarretou a extinção da Relação do Rio de
Janeiro, criada em 1751. Nesse ano e nos seguintes, foram igualmente cria‑
dos órgãos e cargos com jurisdição regional e que tiveram maior ou menor
longevidade, como, por exemplo, a Relação do Maranhão (1811), a Mesa
do Desembargo do Paço da Relação do Maranhão (1812), diversas juntas
da Real Fazenda, que substituíram as provedorias à escala das capitanias,
ou vários lugares de juiz de fora, num esforço de judicializar os territórios
da nova sede da monarquia, objectivo que, na realidade, era difícil de ope‑
racionalizar fora dos principais centros urbanos.
Neste quadro de reorganização administrativa, o Rio de Janeiro ocupou
uma posição singular. Ao contrário das outras capitanias brasileiras e dos
demais territórios do império, no tocante aos direitos e rendas reais, a cidade
e capitania do Rio de Janeiro não ficou sob o controlo de uma Junta da
Fazenda, mas sim de uma Contadoria Geral do Erário Régio. Esta diferença
da nova capital em relação ao conjunto das capitanias sul‑americanas e
das possessões ultramarinas reforçava o lugar cimeiro do Rio de Janeiro
na hierarquia urbana e política imperial. De entre as instituições que o
novo governo ergueu no Rio de Janeiro merecem referência duas outras,
pelo significado que tiveram. Logo em 1808, por decreto de 13 de Maio,
foi estabelecida a Impressão Régia, decisão resultante da constatação, por
parte dos governantes, de que a administração da monarquia exigia uma
estrutura que suportasse a publicação de legislação e mais documentação
conexa. A instituição da Impressão Régia representou o fim da proibição
da existência de tipografias no Brasil, o que contrastava com a situação há
muito conhecida na América Espanhola. Por outro lado, a partir da Impres‑
são Régia foram dadas à estampa obras muito variadas, livros destinados
aos cursos de Medicina e da Academia Real Militar e, por fim, o primeiro
periódico brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Toda esta intensa activi‑
dade tipográfica contribuiu, apesar da censura e de outras limitações, para
o aumento do comércio e do consumo de livros. Meses mais tarde, ainda
em 1808, por alvará de 12 de Outubro, foi criado o Banco do Brasil, banco
Hist-da-Expansao_4as.indd 325 24/Out/2014 17:17
326 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
público constituído por accionistas e primeira instituição portuguesa dessa
natureza. No diploma fundador declaram‑se os objectivos da criação do
banco: promover a indústria nacional e tornar mais fácil o acesso aos meios
que permitiriam suportar as despesas do Estado20.
Contudo, apesar do estabelecimento da corte e dos tribunais superiores
da monarquia, da abertura de novas ruas e de uma maior preocupação com
as questões do urbanismo, do saneamento e da preservação da ordem, para
alguns residentes europeus, como o guarda‑roupa de D. João, Pedro José
Caupers, o Rio de Janeiro estava ainda longe de ser o local adequado para
se fixar a sede da monarquia. Em 1813, este oficial da Casa Real queixava
‑se em carta a um amigo das condições «desta chamada Cortte cujo titulo
ainda não merese se não por ser a habitação da Real Familia». No entanto,
ressalvava que a cidade poderia vir a desempenhar aquela função, pois tinha
a dimensão para tal e «sem que haja falta de tudo o precizo para a vida,
e quaize [sic] tudo em preços comodos, menos Cazas»21. No entanto, se a
cidade apresentava um potencial de desenvolvimento que a poderia confirmar
como corte e sede da monarquia, existia, porém, uma barreira impossível de
eliminar: o clima, um factor que, por ocasião da instituição do Reino Unido,
levou mesmo a que se pensasse em mudar a capital para o interior, em busca
de ambientes mais amenos22.
A este respeito, na correspondência privada de Pedro José Caupers várias
são as referências negativas ao clima malsão, que por mais de uma vez clas‑
sificou como «infernal», maldizendo a humidade e considerando que, se não
regressassem em breve à Pátria, todos os europeus morreriam. A opinião do
guarda‑roupa do príncipe regente ecoava a de outros servidores do paço,
como o arquivista Luís Joaquim dos Santos Marrocos, que, nas cartas que
escreveu para o seu progenitor e para a irmã, ambos em Portugal, também
se lastimou da vida nos trópicos, maldizendo o clima da cidade e o calor do
Verão. No entanto, resignou‑se a viver no Rio de Janeiro e casou mesmo com
uma carioca, um padrão que muitos replicaram23.
Afinal, apesar das críticas, o Rio de Janeiro afirmara‑se como a sede da
monarquia pluricontinental portuguesa, de um «novo império». A centra‑
lidade económica do Brasil vira‑se reforçada com a posição política, social
e cultural que adquirira o Rio de Janeiro. A legislação joanina confirma a
percepção da existência de todo um novo quadro por parte do governo
português. Na linha da carta de 28 de Janeiro de 1808 e após os tratados de
1810, o alvará de 2 de Abril de 1811 pretendeu fazer do Brasil o entreposto
do comércio imperial português. Embora este diploma pretendesse somente
legalizar o comércio brasileiro com a Ásia, um circuito que já existia e com
intensidade, ao anular a anterior legislação que interditava o comércio directo
entre os portos brasileiros e os portos dos outros domínios portugueses, o
Hist-da-Expansao_4as.indd 326 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 327
alvará afirmava claramente o propósito de afirmar o Brasil como o «Empório
do Comércio de Entreposto entre a Europa e a Ásia»24.
A partir de 1812, os rumores acerca do retorno da família real a Portugal
foram ganhando dimensão, mas as especulações e a troca de argumentos
acerca do presuntivo regresso da corte ao território peninsular e das vantagens
de se manter a união entre as esferas europeia e americana da monarquia
portuguesa só se tornaram mais intensas após os anos de 1814‑1815, tendo
como pano de fundo a realização do Congresso de Viena e a definitiva derrota
de Napoleão Bonaparte. No contexto do debate em torno das relações entre
Portugal e o Brasil, apesar de os governadores do reino terem suplicado a
D. João que a família real retornasse a Portugal25, a criação do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves no final de 1815, por carta de lei de 16 de
Dezembro, reforça o argumento dos que defendem que «não estava nos
propósitos do príncipe regente regressar a Portugal e transferir novamente a
sede da monarquia para Lisboa»26. D. João, aclamado rei a 7 de Fevereiro de
1818, no apogeu do seu governo, acabou por regressar a Portugal em 1821,
dividido e relutante, forçado pelas circunstâncias. Por ironia da Fortuna,
cruzaria o oceano experimentando de novo a incerteza quanto ao que o
esperava na outra margem do Atlântico.
Fronteiras e guerra no Brasil joanino
As dinâmicas do «processo civilizacional» que, em geral, se associam à
presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro não se distribuíram de forma
homogénea por todas as capitanias nem beneficiaram de igual modo todos os
súbditos da monarquia. Além dos escravos de origem africana, a população
ameríndia – e sobretudo os índios considerados rebeldes, os «índios bravos» –
ficou igualmente à margem dos progressos verificados nesse período. Exemplo
do que Maria Regina Celestino de Almeida considerou ser «a ambivalência
da política indigenista da Coroa portuguesa» foi a guerra contra os Botocu‑
dos no sertão de Minas Gerais, desencadeada ainda na Primavera de 1808.
Decretada pela carta régia de 13 de Maio, a guerra alargou‑se no final do
ano aos Kaingang de São Paulo, aos Puris de Minas Gerais e a outros grupos
indígenas em Goiás, no Piauí e no Maranhão.
Esta ofensiva não representou um retomar da política de violência e
«guerra justa» que, de facto, nunca desaparecera de todo, mas apenas a legi‑
timação régia dessa mesma política, agora recoberta com roupagens novas e
enquadrada num discurso civilizador27. Na sua declaração de 10 de Abril de
1809, D. João afirmou querer civilizar os índios unicamente «por meio da
religião e civilização», recorrendo ao uso da força apenas contra «aqueles
Hist-da-Expansao_4as.indd 327 24/Out/2014 17:17
328 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
que ofendem os meus vassalos, e que resistem aos brandos meios de civiliza‑
ção que lhes mando oferecer»28. Palavras bem‑intencionadas e próprias do
«pai dos povos», mas com suficiente latitude para responder às pressões e
aos interesses das autoridades regionais e dos colonos que pretendiam con‑
tinuar a avançar sertão adentro, pacificando os índios ou exterminando‑os,
se necessário fosse.
As primeiras e infrutíferas tentativas para controlar o sertão do rio Doce
tinham‑se registado na década de 1730. Desde então, nas franjas da colo‑
nização portuguesa, europeus e ameríndios estavam em contacto e diversos
grupos indígenas resistiram ao avanço dos colonos. A legislação pombalina,
aplicada também na capitania de Minas Gerais, constituiu a moldura legal
que permitiu a tomada de decisões que afectaram as populações ameríndias
e, embora o Directório dos Índios tenha sido extinto em 1798, no final do
século xviii e no início do século xix as suas linhas gerais continuaram a ser
seguidas e adaptadas no tocante às relações entre autoridades e colonos, de
um lado, e grupos indígenas, do outro.
É certo que as margens do rio Paraíba foram sendo ocupadas pelos colo‑
nos, mas os processos de negociação e de aldeamento dos índios nem sempre
foram bem‑sucedidos. Se alguns grupos indígenas se mostravam receptivos
ao contacto com os Portugueses e aceitavam mesmo a catequização, outros
resistiam e eram, por isso, alvo de ataques de tropas e colonos, com incêndio
de terras e aldeias. Na viragem da centúria, na região das actuais fronteiras
de Minas Gerais e São Paulo, os índios Coroados e Puris, além de outros,
representavam um sério obstáculo à ocupação do chamado «sertão dos índios
bravos»; de igual modo, também no vale do rio Doce existiam «ferozes»
adversários da colonização portuguesa, os índios conhecidos genericamente
como Botocudos29. O rio Doce, cruzando Minas Gerais e Espírito Santo, era
considerado um eixo fluvial privilegiado para unir a região mineira ao mar.
Deste modo, urgia controlar a sua navegação, o que implicava dominar a
floresta e os índios, que impediam a circulação e prejudicavam o comércio
e o povoamento do sertão.
Quando o príncipe regente assinou a carta de 13 de Maio de 1808, respon‑
dendo às solicitações do governador e capitão‑general de Minas Gerais, Pedro
Maria Xavier Ataíde e Melo, alegou pretender acabar com as atrocidades
que os «antropófagos» Botocudos cometiam contra os colonos. Em outra
carta régia, datada de 2 de Dezembro do mesmo ano e endereçada ao mesmo
governador, D. João definiu as traves‑mestras de uma política indígena que
iria prevalecer até 1831 e que serviu de modelo para as demais capitanias.
A «guerra justa» contra os Botocudos e outros povos indígenas representou
uma das faces do longo processo de ocupação dos sertões brasileiros pelos
Europeus. A outra, complementar, manifestou‑se no apoio concedido, directa
Hist-da-Expansao_4as.indd 328 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 329
ou indirectamente, à colonização branca do Brasil, fosse com casais das ilhas
ou com colonos oriundos de regiões da Europa Central. Além de a coloni‑
zação branca contribuir para erguer o edifício imperial, contribuía para a
europeização da sede da monarquia. Estes movimentos, porém, orientavam‑se
para as fronteiras internas da América Portuguesa. Ora, desde a chegada da
corte ao Rio de Janeiro que, por iniciativa de D. João e dos seus ministros
ou em resposta à situação no terreno, foi prestada grande atenção à questão
das fronteiras externas, a norte e a sul.
Na bacia amazónica, onde, apesar dos tratados, continuava latente o
conflito em torno da demarcação entre territórios portugueses e franceses,
a instalação da corte no Rio de Janeiro e a declaração de guerra a Napoleão,
aprovada pelo decreto de 10 de Junho de 1808 e preparada pelo Manifesto
de 1 de Maio, no qual se expunham os agravos cometidos contra Portugal
por parte do imperador de França e se consideravam nulos e sem efeito os
tratados de 1801 e 1804, permitiram conceber uma resposta militar à ocupa‑
ção do reino português. Preparada desde Março daquele ano, uma expedição
partiu de Belém, no Pará, em Outubro e começou a ocupar o território da
Caiena desde Dezembro. As forças portuguesas em terra foram apoiadas
por uma flotilha luso‑britânica e a capitulação da Caiena registou‑se a 12 de
Janeiro de 1809.
O impacto da conquista não foi unicamente político e militar, pois na
Caiena existiam, desde há décadas, importantes equipamentos – a Habita‑
tion Royale des Épiceries, conhecida como La Gabrielle, a Habitation de
Mont‑Baduel, a Habitation Tilsit e a Fábrica de Madeiras de Nancibo – que
apoiavam a economia da colónia e constituíam um exemplo acabado da
articulação entre ciência e império, reunindo todas as espécies vegetais
da região e aclimatando espécies orientais. Não admira, pois, que, logo em
Abril de 1809, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, nomeado para o cargo de
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra após a instala‑
ção da corte no Rio de Janeiro, ordenasse ao governador do Grão‑Pará que
providenciasse o transporte para Belém e outros locais da maior quantidade
possível de «árvores de especiaria» e de jardineiros especializados e, depois,
que fossem transportadas para o Rio de Janeiro as plantas que estivessem no
Pará30. Fazendo jus à sua formação e aos projectos que idealizara anos antes,
o ministro procurava dotar a corte de meios que promovessem a ciência e
a economia.
Após a derrota de Napoleão e o início do Congresso de Viena, a questão
da Caiena foi colocada em cima da mesa. O futuro Luís XVIII já havia rei‑
vindicado a posse do jardim e estação agronómica La Gabrielle em 1813,
alegando que lhe era devida por se tratar de um investimento régio e não
da monarquia francesa. Mas La Gabrielle não foi desanexada do conjunto
Hist-da-Expansao_4as.indd 329 24/Out/2014 17:17
330 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
patrimonial da colónia e, das negociações mantidas entre 1814 e 1815, após
um tratado de paz e um ajuste provisional, resultou a convenção assinada a
11 e 12 de Maio de 1815, na qual se empenhou D. Pedro de Sousa Holstein,
futuro duque de Palmela. A convenção estipulou a devolução da Guiana à
França, que, por seu lado, aceitou a fixação das fronteiras propostas por Por‑
tugal, as mesmas que haviam sido fixadas no Tratado de Utrecht. O abandono
do território pelas forças portuguesas, no entanto, ocorreu apenas em finais
de 1817, em parte devido também à pressão internacional sobre o governo
do Rio de Janeiro.
No extremo sul do Brasil, a situação era mais explosiva e potencialmente
perigosa para a integridade do território brasileiro. A conjuntura bélica que
marcou a região platina deve ser integrada, por um lado, nas dinâmicas de
longa duração que opuseram Portugal a Espanha nessa zona de contacto e,
por outro, no processo revolucionário desencadeado em 1808 pela crise da
monarquia hispânica. A acrescer a este quadro, devemos juntar os interesses
britânicos na bacia platina. Com efeito, a Grã‑Bretanha ambicionava obter
uma porta de acesso ao mercado platino e, nesse sentido, podemos inscrever
quer um projecto luso‑britânico para a região, que contava com o apoio de
lord Canning, ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã‑Bretanha, e que
ficou consagrado na Convenção Secreta de Londres, de 1806, com a criação
de um porto franco na ilha de Santa Catarina, quer as tentativas de conquista
de Buenos Aires e Montevideu, em 1806 e 1807, que motivaram respostas
distintas por parte das autoridades e elites de cada um dos portos plati‑
nos31. Na década que se seguiu, a «Década Revolucionária» (1810‑1820), o
enredo adensou‑se e sucederam‑se eventos cujas consequências ultrapassaram,
muitas vezes, decisões anteriores dos actores, espartilhados entre projectos
concorrentes, a acção no terreno e as notícias que chegavam do outro lado
do Atlântico ou, se preferirmos, entre as dimensões americana e europeia da
política e da diplomacia.
Quando os rumores sobre a partida da família real portuguesa de Lisboa
rumo ao Rio de Janeiro chegaram ao Rio da Prata, o governador de Mon‑
tevideu informou o vice‑rei e enviou um agente para terras portuguesas em
busca de informações mais seguras. O informante, ao regressar, comunicou,
entre outras coisas, que o príncipe regente tinha chegado à Baía e que, aí, a
população saudara D. João como «imperador de toda a América do Sul».
Semanas mais tarde, já com D. João no Rio de Janeiro, a 13 de Março, o
sempre activo e ambicioso D. Rodrigo de Sousa Coutinho dirigiu um ofício
ao cabildo de Buenos Aires, oferecendo quer a protecção portuguesa contra
França, quer a intermediação da corte junto do poder britânico no sentido
de travar a ofensiva na bacia platina32. A instalação da corte portuguesa no
Brasil representou um factor de perturbação nos equilíbrios políticos na
Hist-da-Expansao_4as.indd 330 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 331
América do Sul e homens como o ministro de D. João não hesitaram em afir‑
mar rapidamente que a presença desse pólo de poder devia ser tida em conta.
Depois da breve experiência de uma junta em Montevideu em 1808
‑1809, os acontecimentos precipitaram‑se a partir da Primavera de 1810.
Uma junta liberal instalou‑se em Buenos Aires e depôs o vice‑rei do Rio da
Prata, que fugiu para Montevideu, que se constituiu em bastião realista.
A partir de então, quer por via da imprensa e da propaganda, quer por
via das armas, os campos adversários buscaram impor a sua concepção de
legitimidade na bacia platina. Perante este cenário, as posições no interior
da corte portuguesa não eram homogéneas, coexistindo diferentes inter‑
pretações acerca do significado dos eventos em curso. D. Rodrigo de Sousa
Coutinho defendia a invasão do território platino, com base em argumentos
que remetiam para a defesa das «fronteiras naturais» do Brasil, e, juntamente
com D. João, apoiava a candidatura do infante D. Pedro Carlos, sobrinho
do príncipe regente pelo lado materno e primo de D. Carlota Joaquina, ao
trono dos Bourbon; o almirante Sidney Smith, que comandara a esquadra
inglesa que escoltara a família real na sua viagem transatlântica, manifes‑
tou o seu apoio ao projecto de D. Carlota Joaquina, que pensou mesmo
em mudar‑se para Montevideu; e lord Strangford, por seu lado, colocou‑se
ao lado da independência republicana. De qualquer modo, a actuação do
governo português não podia dispensar a aprovação britânica nem evitar
informar a Junta Suprema Central de Espanha, com o recurso a negociações
onde se destacavam D. Domingos de Sousa Coutinho, o irmão do secretário
de Estado de D. João, e D. Pedro de Sousa Holstein. Ao mesmo tempo, na
Banda Oriental, o quadro político‑militar complicou‑se com a emergência
de novos chefes, entre os quais avultou o caudilho José Gervasio Artigas,
que combatia contra os realistas, que acabaram por perder o controlo da
Banda Oriental e terminaram encurralados em Montevideu33.
Neste contexto, em que se misturavam a intriga palaciana, a diplomacia
internacional e a guerra, o vice‑rei espanhol, cercado, pediu auxílio à corte
portuguesa. O exército português, composto sobretudo por tropas regulares
das capitanias do Rio Grande de São Pedro, de São Paulo e de Santa Cata‑
rina, avançou sobre o território platino em Maio de 1811 com a missão de
pacificar a região, o que desagradou a realistas e rebeldes. Na perspectiva
portuguesa, além de uma afirmação de força, o saldo da primeira invasão
da Banda Oriental traduziu‑se na distribuição de sesmarias na «fronteira do
rio Pardo» relativas aos territórios conquistados e ocupados em 1811‑1812,
a que se seguiria outra leva de dadas em 1814‑1816, com 668 sesmarias34.
Nos planos político e militar, a Convenção de Buenos Aires, assinada a
26 de Maio de 1812, teve como objectivo o restabelecimento da paz na bacia
do Prata. Mas as tréguas duraram pouco. A influência de Artigas aumentava
Hist-da-Expansao_4as.indd 331 24/Out/2014 17:17
332 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
e este rompeu com Buenos Aires em Dezembro de 1812. Nos anos seguintes,
a instabilidade e a guerra pautaram o quotidiano dos campos platinos, com
as corridas e os confrontos entre as forças de Artigas, as de Buenos Aires e os
realistas de Montevideu, que caiu nas mãos das tropas artiguistas no início de
1815. O agravamento do cenário conduziu à decisão do governo joanino de
voltar a intervir no Rio da Prata, como se defendia nas páginas do Correio
Braziliense. Em 1816, face à recusa espanhola de devolver Olivença, perdida
em 1801 durante a «Guerra das Laranjas», e à passividade colaborante das
autoridades de Buenos Aires, sede das autodenominadas e independentes
Províncias Unidas da América do Sul, um corpo expedicionário composto por
veteranos da Guerra Peninsular, sob o comando do general Carlos Frederico
Lecor, invadiu a Banda Oriental. Apesar dos protestos que se registaram na
Europa, a ocupação militar efectivou‑se enquanto as negociações se arras‑
tavam em meio de notícias contraditórias. Em 1820, o caudilho Artigas foi
derrotado e entre esse ano e o seguinte as Províncias Unidas da América do
Sul fragmentaram‑se em 13 províncias independentes entre si. Por fim, em
1821, a Banda Oriental foi integrada no Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarves, com a designação de Província Cisplatina, respondendo aos interes‑
ses dos grupos mercantis de Montevideu e dos estancieiros luso‑brasileiros.
Contudo, as clivagens entre facções não desapareceram, nem as reivindica‑
ções de soberania sobre a Banda Oriental, o que se tornou manifesto após a
proclamação da independência do Brasil. A Guerra da Cisplatina (1825‑1828)
foi uma herança transmitida ao novo Império do Brasil e a criação da Repú‑
blica Oriental do Uruguai, com a mediação da Grã‑Bretanha, a demonstração
de como os interesses da principal potência militar e naval se projectavam no
Atlântico com a montagem de um império informal que, a partir da Europa,
começava agora a erguer‑se na América do Sul. Ao longo do século xix, a
Grã‑Bretanha não hesitou em afirmar mais de uma vez a tutela que exercia
sobre o governo português.
Portugal, a Grã‑Bretanha e o império: liberalismo, comércio e trato negreiro
No século xviii, entre o fim da Guerra da Sucessão de Espanha e o começo
das Guerras Napoleónicas, salvo pequenos episódios, Portugal optou por
manter uma preciosa neutralidade durante os conflitos em que se defrontaram
as principais formações políticas europeias ou nos quais estas se envolve‑
ram. Deste modo, a Coroa portuguesa buscou salvaguardar os interesses do
comércio luso e evitar perdas e danos desnecessários para si e os seus súbditos,
no reino e nos domínios. A Revolução Francesa e a situação de guerra que
se seguiu, porém, colocaram Portugal perante um dilema. Na conjuntura
Hist-da-Expansao_4as.indd 332 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 333
geopolítica da década final de Setecentos e primeiros anos de Oitocentos, ante
a disputa pela hegemonia que opunha Grã‑Bretanha e França e sem capaci‑
dade financeira e militar própria, o governo português procurou estabelecer
compromissos que lhe permitissem preservar a neutralidade, num jogo que
durou até à invasão francesa do reino, em 1807.
Na verdade, face às mudanças registadas nas relações internacionais e ao
diferencial de poder, Portugal não tinha condições para definir e conduzir uma
política externa autónoma, dependendo em boa medida da Grã‑Bretanha e
dos interesses da potência naval. Em Londres, D. Domingos de Sousa Cou‑
tinho procurou defender a integridade do Império Português35. A sua acção,
porém, bem como a de anteriores agentes diplomáticos portugueses, não
impediu que, na Ásia, Goa continuasse ocupada pelos Ingleses (1799‑1813),
que tentaram inclusive obter a cessão do território a favor da East India
Company; que, em 1802, se registasse uma tentativa de ocupação britânica e
incidentes em Macau e que tropas inglesas aí se instalassem em 1808, saindo
após terem recebido ordem do imperador chinês; e, por fim, que a Madeira,
depois de uma primeira ocupação (1801‑1802), fosse novamente ocupada
por tropas inglesas entre Dezembro de 1807 e Outubro de 181436.
Como foi já dito, a abertura dos portos brasileiros à navegação estrangeira
pela carta de 28 de Janeiro de 1808 alterou dramaticamente as condições do
comércio externo português, ao determinar o fim do exclusivo colonial que
Portugal tinha com o Brasil, a que se seguiu a inversão da relação secular
que existira entre as duas partes37. Além da contribuição de alguns letrados,
como o baiano José da Silva Lisboa, para a referida providência38, a mesma
não deixou de ir no sentido pretendido pela Grã‑Bretanha, que pretendia
o acesso directo ao vasto mercado interno brasileiro. Além do mais, desde
1807 que, na linha de iniciativas anteriores e graças à influência de grupos
evangélicos e humanitários, a Grã‑Bretanha, pelo Abolition Act of Slavery,
decretara unilateralmente o fim do tráfico de escravos. De igual modo, a 1 de
Janeiro de 1808, os Estados Unidos colocaram em vigor uma lei de 1794,
interditando o comércio esclavagista.
Nesta conjuntura, a questão do tráfico de escravos foi central nas relações
entre Portugal e a Grã‑Bretanha, potência que pretendia erradicar aquele
comércio em todo o espaço atlântico. Instalada a corte portuguesa no Rio de
Janeiro, a pressão da diplomacia inglesa para que a administração joanina
cedesse num conjunto de matérias respeitantes ao livre comércio e ao trato
de escravos conduziu à assinatura, em 1810, de diversos tratados que, não
obstante a retórica e a manifestação pública de reciprocidade, tendo em con‑
sideração as assimetrias de poder existentes entre os signatários, bem mere‑
ceram ficar conhecidos como os «tratados desiguais». O conde de Palmela,
com acutilância, denunciou o Tratado de Comércio e Navegação, assinado
Hist-da-Expansao_4as.indd 333 24/Out/2014 17:17
334 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
a 19 de Fevereiro e que devia vigorar por um período mínimo de 15 anos,
como «o mais lesivo e o mais desigual que jamais se contraiu entre duas
nações independentes»39. Era, afinal, a confirmação da dupla subordinação
de Portugal à Grã‑Bretanha e ao Brasil e da sua posição como uma «colónia
ou quase colónia britânica»40.
Entre os tratados então firmados, um teve como objecto a abolição do
tráfico de escravos nos portos africanos a norte do equador (Bissau e Cacheu).
Desde a publicação do decreto abolicionista de 1807 que a frota inglesa se
tornara – ou procurava afirmar‑se como – o polícia dos mares. A assinatura do
tratado de 1810, porém, não afectou imediatamente o comércio de escravos
entre o Brasil e África: no lado africano, o decreto de 1807 teve pouco impacto
no golfo da Guiné e em Angola e, no Brasil, o tráfico esclavagista do Rio de
Janeiro, conduzido a sul do equador, não foi perturbado pelas iniciativas
inglesas, continuando aquele porto a ser um importante centro de importa‑
ção de escravos na centúria de Oitocentos, pelo menos até 1830. A troco de
produtos oriundos do reino, do Norte da Europa, da Ásia e da América – com
relevo para o tabaco e a aguardente de cana –, Angola fornecia ao Brasil cera,
marfim e escravos. Entre 1762 e 1799, foram exportados de Benguela para o
Brasil 232 572 escravos e 451 «crias de pé»41, na maior parte com destino ao
Rio de Janeiro. No final de Setecentos, no período 1791‑1795, a Baía recebeu
apenas 33 338 escravos, enquanto no porto do Rio de Janeiro, entre 1795 e
1811, entraram 154 489 escravos, de um total de 170 651 que haviam sido
embarcados em África. Com base na sua pesquisa e em estimativas elaboradas
para os anos que apresentam lacunas de informação, Corcino Medeiros dos
Santos estimou que, para os anos de 1736 a 1810, teriam entrado no Rio de
Janeiro 578 759 escravos, e uma síntese recente apresentou dados, no respei‑
tante à média anual de entrada de navios do trato, que atestam um aumento
de 21 navios nos anos 1796‑1808 para 51 no período 1808‑182542.
Em suma, no início do século xix o mercado atlântico de escravos estava
em fase de crescimento. Para além do crescimento do volume do tráfico,
devemos ainda assinalar que se, até ao final do século xviii, Luanda e Ben‑
guela tinham sido os principais portos exportadores, no início do século xix
Cabinda e Ambriz surgiram igualmente como locais de exportação de escra‑
vos para os portos brasileiros. Por outro lado, acompanhando a integração
da África Oriental (Moçambique, Quelimane, Lourenço Marques) no sistema
atlântico com o aumento das exportações, cresceu também a participação da
região no tráfico esclavagista para o Brasil: de 3% no período 1795‑1811
para 27% do volume total no período 1825‑183043. Face ao enorme volume
de escravos que entravam no Brasil e tendo ainda presente o «exemplo hai‑
tiano», recurso de constante mobilização por parte dos defensores do tráfico
e da escravatura, facilmente se compreende o medo de uma rebelião escrava
Hist-da-Expansao_4as.indd 334 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 335
e as suspeitas que recaíam sobre discursos republicanos e igualitários que
podiam colocar em risco as bases de uma sociedade esclavagista.
A progressiva articulação entre os circuitos do trato negreiro no Índico
e no Atlântico inscreve‑se numa tendência que vinha de décadas anterio‑
res. A recuperação económica de Goa e da Carreira da Índia, associada à
diversificação de ligações e portos de destino asiáticos e ao papel crescente
dos privados e do Brasil neste circuito, conheceu um aumento significativo
depois da fixação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, e o caso de Macau
merece ser aqui sublinhado. No final do século xviii, o comércio do porto
de Macau enfrentava grandes dificuldades. A crise do tráfico do ópio, o mais
importante ramo de comércio dos armadores e homens de negócio locais,
devido à hegemonia britânica nesse trato, contribuiu mesmo para a falência
dos moradores, em 1797, que beneficiaram de um perdão régio dois anos
mais tarde44.
Na difícil conjuntura da viragem de século, Macau lutou por preservar
os mercados tradicionais circundantes, mas procurou igualmente ampliar
o seu comércio a novos espaços. Espartilhada entre a crise do comércio e a
pressão britânica, materializada na tentativa de ocupação do enclave entre
Setembro e Dezembro de 1808, a comunidade portuguesa de Macau aco‑
lheu com satisfação as medidas promovidas pelo governo a partir do Rio de
Janeiro e destinadas a desenvolver o trato mercantil no seio do império, em
particular as que tinham como objecto as relações directas entre Macau e o
Brasil, ao mesmo tempo que, junto da corte joanina, os enviados do senado
macaense procuravam demonstrar ao príncipe e seus ministros a pertinência
das reivindicações de Macau45. O decreto de 13 de Maio de 1810 concedeu
aos moradores de Macau o privilégio de introduzirem mercadorias chine‑
sas no Brasil isentas de direitos, desde que fossem transportadas em navios
portugueses e se comprovasse serem mercadoria de propriedade nacional46.
Graças a este diploma, alguns armadores e homens de negócio do enclave
luso‑chinês agarraram a oportunidade e vieram a colher largos proventos do
trato, como sucedeu com Januário Agostinho de Almeida (1759‑1825), que
veio a ser o 1.º barão de São José de Porto Alegre. Tendo‑se fixado em Macau
na década de 1780, dedicou‑se ao tráfico do ópio, acabando por se tornar um
importante armador e um dos dois mais ricos e importantes homens de negó‑
cio daquele porto, juntamente com o seu sócio, Manuel Pereira. O armador
macaense investiu com regularidade na rota do Atlântico entre 1810 e 1820 e,
de igual modo, contribuiu com elevadas somas para a Fazenda Real. Obteve
assim dispensas régias para o tráfico que efectuava e com o apoio do genro,
o desembargador e ouvidor de Macau Miguel de Arriaga, e a protecção do
conde da Barca, conseguiu um título e uma comenda da Ordem de Cristo,
por despacho datado de 25 de Julho de 181447.
Hist-da-Expansao_4as.indd 335 24/Out/2014 17:17
336 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Este longo circuito transoceânico, requerendo um avultado empate de
capital, beneficiou alguns armadores e negociantes de Macau, aqueles que
detinham mais capital e que conseguiam angariar o apoio de oficiais régios
e ministros. No entanto, os homens de negócio portugueses, fossem eles
naturais do reino ou dos domínios, não podiam competir com a dinâmica
comercial britânica. A partir de 1810, a Grã‑Bretanha introduziu no mer‑
cado brasileiro diversas mercadorias asiáticas a preços mais baixos, entre as
quais panos indianos, os mesmos que, antes do Bloqueio Continental, eram
reexportados de Lisboa48. Embora as reexportações portuguesas tenham
conhecido uma recuperação entre 1814 e 1818, de um modo geral assistiu‑se
à desvitalização dos portos peninsulares, processo que ia a par do crescimento
económico no Centro‑Sul brasileiro, onde se destacava o Rio de Janeiro.
Revela‑se complexa a análise das consequências para Portugal da inde‑
pendência do Brasil, mas, em linhas gerais, podemos afirmar que a perda de
um mercado protegido com o fim do exclusivo colonial e do papel de Por‑
tugal como entreposto, uma função desempenhada com sucesso em décadas
anteriores, contribuiu também para o fim do império luso‑brasileiro, com o
progressivo «afastamento comercial» entre as parcelas europeia e americana
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves49. O cair do pano do império
foi tanto económico como político50. Os interesses do Brasil eram cada vez
mais brasileiros e menos portugueses.
Sedição e independência
No final do século xviii, as tentativas de conjura que configuravam reais
ou supostos movimentos autonomistas foram sufocadas pelas autoridades
portuguesas, mas não as fricções que haviam alimentado a sua génese, nem
as tensões então geradas. Instalada a corte joanina no Rio de Janeiro, que
deu novo impulso à «interiorização da metrópole» no Estado do Brasil, o
crescimento da urbe e o seu posicionamento como «receptáculo de todas as
riquezas do Império Português», em contraste com o que sucedia em outras
capitanias, não deixaram de suscitar animosidades, que permaneceram vivas
até à década de 1820. As divergências manifestaram‑se de forma clara após
a eclosão do pronunciamento liberal no Porto e em Lisboa e a fragmentação
esteve à vista quando províncias brasileiras houve que hesitaram na escolha
entre a antiga metrópole europeia e a nova metrópole americana. Com efeito,
o movimento que deslocara para a região centro‑sul o eixo político e eco‑
nómico do Estado do Brasil e conduzira à mudança da capital da Baía para
o Rio de Janeiro recebera novo impulso com a fixação da corte joanina na
urbe fluminense. Centro de gravidade político, social, cultural e económico,
Hist-da-Expansao_4as.indd 336 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 337
o Rio de Janeiro tornou‑se o «parasito do Império Português», nas palavras
ásperas de Francisco de Sierra y Mariscal, que justificou desse modo o des‑
contentamento e a rivalidade das províncias e suas elites51.
Apesar das identidades partilhadas, coexistiam muitas diferenças e assi‑
metrias no mosaico multiétnico do que viria a ser o Brasil, reforçadas pela
ausência de unidade administrativa com a divisão em capitanias e governos
autónomos, que potenciavam os «patriotismos regionais» e, no limite, a
separação territorial. Os interesses e os projectos das elites políticas e mer‑
cantis do Pará e do Recife não eram necessariamente coincidentes com os
das do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais52. É neste contexto que podemos
situar os episódios de 1817 que tiveram Pernambuco como palco principal.
Motim militar que se revestiu de características autonomistas e republicanas,
a revolta ou revolução de 1817 foi apresentada pela historiografia tradicional
como mais um passo – após os eventos de 1788‑1789 e 1798 – e mesmo
um prenúncio da independência em 1822, pois os revoltosos conseguiram
cooptar as populações de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte para a
sua causa. Teria sido até «o primeiro traço realmente significativo de desco‑
lonização acelerada e radical»53. Estas interpretações, contudo, têm vindo
a ser questionadas pela historiografia mais recente, que sublinha o facto de
nem toda a província ter aderido à revolta e ao sentimento antimonárquico.
Sendo possível identificar um ideário republicano no discurso e práticas dos
revoltosos54, além de factores endógenos, como o imaginário pernambucano
da guerra pela libertação, os autores remetem a eclosão do movimento para a
insatisfação generalizada contra a concentração de riqueza no Rio de Janeiro,
o aumento da carga fiscal e as dificuldades económicas, agravadas pela seca
de 1816. No contexto específico em que ocorreu, a «Revolução de 1817»
terá sido, na sua complexa articulação de uma cultura política de Antigo
Regime – o governo provisório composto por membros dos principais corpos
sociais – e de concepções próprias do Iluminismo tardio e do pensamento
republicano, «uma daquelas explosões de violência tão frequentes no Antigo
Regime, que constituíam, na ausência de outros mecanismos de negociação,
a única forma de protesto possível numa situação‑limite»55. Sem o apoio dos
Estados Unidos e da Grã‑Bretanha e sem meios para se oporem às forças
enviadas pela Coroa portuguesa, os revoltosos foram derrotados. Não tendo
conseguido materializar o seu projecto, o movimento adquiriu sobretudo
um significado simbólico, que penetrou na historiografia e prevaleceu nas
interpretações tradicionais.
O episódio de 1817 revestiu‑se de características que permitem situá‑lo na
complexa trama de eventos que marcaram as primeiras décadas de Oitocentos no
espaço atlântico, com a mescla de novos e velhos ideários e, no caso da Revolução
de 1817, com as hesitações costumeiras e as fissuras entre um discurso igualitário
Hist-da-Expansao_4as.indd 337 24/Out/2014 17:17
338 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
e a dificuldade de integrar o problema da escravatura nesse discurso. Além
do mais, não se pode falar de uma fractura identitária radicada na antinomia
centro/periferia ou metrópole/colónia, pois, conforme sugeriram vários auto‑
res, aquela não terá sido muito profunda até 1808, e mesmo depois56. É certo
que os acontecimentos de finais do século xviii em Minas Gerais e na Baía
fizeram aumentar a desconfiança de alguns reinóis e oficiais da Coroa quanto
à lealdade dos súbditos naturais da América. Em carta dirigida a Martinho
de Melo e Castro, datada de 4 de Março de 1790, sob a capa do pseudónimo
«Amador Patrício de Portugal», um anónimo – ou anónimos – considerava
que a Coroa estava muito mal informada no que dizia respeito à América
Portuguesa e «ao genio, comportamento, e intençoens de seus Nacionaes»,
os quais desprezavam e odiavam os Europeus. Mais grave ainda era o factor
cronológico: «o tempo corre; elles vão crescendo em numero» e, caso ocor‑
resse no Rio de Janeiro um levantamento como o de Minas, todos os «filhos
do Rio de Janeiro» abraçariam o mesmo partido57.
Porém, não obstante a suspeição que atravessa este documento e a afirma‑
ção clara de que existiria uma separação entre duas identidades colectivas,
parece ser possível afirmar que a distinção que existia na América hispânica
entre criollos e peninsulares não se manifestou de forma tão aguda no Bra‑
sil. Recordemos ainda que um grande número de letrados e oficiais que se
afirmaram como integrantes da plêiade de ilustrados luso‑brasileiros que
acompanham a viragem do século xviii para o século xix e que, de vassalos
do rei de Portugal, virão a ser cidadãos brasileiros, tinham sido formados
na reformada Universidade de Coimbra e foram promotores de projectos
reformistas em prol da monarquia e do império luso‑brasileiro. Neste quadro,
muitos aclamaram a constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algar‑
ves, como José da Silva Lisboa, que saudou a nova configuração da monarquia
como o fim do «sistema colonial» e uma oportunidade para «a renovação da
monarquia portuguesa»58. Assim, o processo de gradual autonomização do
Brasil, que culminaria em 1822, não se tratou de «uma luta brasileira nativista
da colônia in abstracto contra a metrópole»59. A desagregação do império
luso‑brasileiro sonhado por D. Rodrigo de Sousa Coutinho foi o resultado
da conjugação de múltiplos factores, numa aceleração iniciada em 1808 e
em cujo movimento as forças da tradição e da mudança se entrecruzaram.
Após o pronunciamento militar do Porto, em 1820, o ritmo da História
acelerou. Enquanto a corte joanina no Rio de Janeiro era pressionada para
reagir aos eventos que tinham lugar em Portugal, nas Cortes Constituintes
colocava‑se o problema da representação do Brasil. Valentim Alexandre
defendeu que a desagregação política do Império Português esteve no hori‑
zonte dos liberais vintistas, não obstante os decretos de 29 de Setembro e
1 de Outubro de 1821 terem constituído uma tentativa do poder liberal
Hist-da-Expansao_4as.indd 338 24/Out/2014 17:17
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822) 339
para controlar as juntas e os territórios brasileiros60. Estas e outras medidas
aprovadas pelos parlamentares vintistas em Lisboa apenas contribuíram para
fomentar reacções negativas, alimentando sentimentos antiportugueses e os
projectos de emancipação política do Brasil. No entanto, o processo que
conduziu à declaração de independência e à oficialização da separação não
foi linear. As divisões que eclodiram entre as facções constitucionalistas no
Rio de Janeiro e nas capitanias; as resistências ao projecto de independência
e contra o império de D. Pedro I registadas no Pará e no Maranhão, com uma
longa tradição de governos distintos durante largas décadas do governo do
Estado do Brasil; ou o movimento republicano que, em 1824, se ergueu de
novo em Pernambuco contra o sistema monárquico, congregando o apoio da
Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará e talvez o do Piauí e do Pará,
demonstram que não existia um sentimento de pertença comum partilhado
pelas elites e as populações dos distintos territórios do novo império brasílico,
sendo possível falar, não de um, mas de vários Brasis61. Por ironia, foi um
príncipe português da dinastia brigantina que personificou a proclamação da
independência. A historiografia romântica e nacionalista pintaria com cores
vivas os episódios mais sombrios da conturbada entrada de Portugal e do
Brasil no século xix e nos quadros do Estado‑nação62.
Hist-da-Expansao_4as.indd 339 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 340 24/Out/2014 17:17
PARTE IV
O CICLO AFRICANO
Hist-da-Expansao_4as.indd 341 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 342 24/Out/2014 17:17
N a primeira metade do século xix, o relançamento do projecto imperial
português (se assim lhe podemos chamar) esteve em boa medida sus‑
penso pelo contexto de grande adversidade em que o país vivia. Uma vez
consumada a perda do império luso‑brasileiro (1822‑1825), que arrastou
consigo graves prejuízos para as finanças do Estado e importantes sectores da
economia metropolitana, Portugal mergulhou num ciclo de violentas disputas
políticas, em que surtos revolucionários alternaram com fases de guerra civil.
Apenas em 1851, na sequência do movimento conhecido por «Regeneração»,
se abriria um período de paz civil, estabilidade política e algum crescimento
económico. Apesar do desencanto que eminentes políticos e reformadores
da primeira metade de Oitocentos exprimiram em relação a certos aspectos
da gesta imperial, esta não deixou de permanecer um marco simbólico de
enorme relevância nos discursos identitários e nas reflexões estratégicas que
desde então se foram produzindo.
No entanto, nas discussões envolvendo os destinos do império parecia
haver algo profundamente contraditório, se não mesmo irreal. Até bastante
tarde, o aparente unanimismo em torno da vocação imperial do país jamais
teria correspondência na alocação dos recursos indispensáveis à respectiva
valorização, pelo menos numa perspectiva de médio ou longo prazo. A noção
de que as colónias se deveriam pagar a si próprias funcionou durante muito
tempo como um travão a iniciativas que procuravam vencer atavismos e
lançar as bases de uma dominação imperial de características «modernas».
Esta autocomplacência, porém, teria o seu preço. Ao longo do século xix,
os Portugueses foram olhados de viés por outras potências europeias, por
alegadamente não serem capazes de levar as luzes da «civilização» aos povos
que se encontravam sob o seu domínio. Na época da «corrida à África», a
Hist-da-Expansao_4as.indd 343 24/Out/2014 17:17
344 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
combinação de tais recriminações com o espírito aquisitivo evidenciado por
vários actores, tanto estatais como privados, chegou a colocar em risco a
própria continuidade dos desígnios imperiais lusos. Ironicamente, seria no
rescaldo de mais um embate com a Inglaterra vitoriana (o célebre Ultimato de
lord Salisbury, em Janeiro de 1890), potência com a qual os atritos em torno
da «questão abolicionista» se haviam sucedido ao longo de décadas, que Por‑
tugal obteria finalmente o reconhecimento de vastíssimas áreas de influência
no continente africano, num tratado (Junho de 1891) que funcionou como
uma espécie de certidão de nascimento do «terceiro império português».
Apesar de o advento deste novo ciclo ter coincidido com uma situação
de virtual bancarrota do Estado, alguns passos seriam dados para aproxi‑
mar o país do novo paradigma imperial esboçado na Conferência de Berlim
(1884‑1885). Nas décadas seguintes, aquilo que até aí não passava de uma
soberania precária, ou teórica, em faixas costeiras, portos e enclaves disper‑
sos pela África e Ásia, foi evoluindo para uma dominação mais efectiva e
intrusiva, mesmo se exercida por delegação, ou seja, através de companhias
estrangeiras investidas de poderes «majestáticos».
O novo ciclo imperial correspondeu também a novas modalidades de
relacionamento com as populações autóctones. Se até então constrangimen‑
tos de vária ordem haviam inibido uma projecção mais assertiva do poder
português, agora os novos trunfos tecnológicos à disposição dos Europeus,
da ciência médica à tecnologia bélica, permitiram uma alteração das regras
do jogo. Em sucessivas campanhas militares, da Guiné a Timor, os Portu‑
gueses derrotaram e desarmaram povos que até então haviam retido alguma
esfera de autonomia e, tanto por via do imposto como pelo estabelecimento
de «códigos de indigenato», incorporações militares, esquemas de trabalho
compulsivo e regimes de «culturas obrigatórias», operaram a sua absorção
na nova ordem colonial.
Tal como outros poderes imperiais, Portugal procurou também legitimar
a sua autoridade através da invocação de uma «missão civilizacional», um
conceito impregnado das mesmas visões paternalistas e etnocêntricas que, em
finais de Oitocentos, estavam em alta na generalidade dos países ocidentais.
E, à semelhança das modernas mitologias imperiais, também essa bene‑
volência lusa – tantas vezes referida como «excepcional» – recobria afinal
as mesmas situações de violência e discriminação que se encontravam em
contextos coloniais alheios.
Sem dispor de recursos equiparáveis aos de outras nações europeias,
Portugal experimentou dificuldades acrescidas para realizar a transição para
sistemas de exploração mais modernos nos seus territórios ultramarinos.
Contudo, numa apreciação geral, valorizar demasiado essa circunstância
talvez não seja assim tão pertinente. Muitas das facetas que definiram a
Hist-da-Expansao_4as.indd 344 24/Out/2014 17:17
O CICLO AFRICANO 345
experiência do colonialismo contemporâneo – do imperialismo «predatório»
de finais do século xix à abordagem «desenvolvimentista» do pós‑Segunda
Guerra Mundial – estiveram igualmente presentes na trajectória imperial lusa,
conforme se procurará dar conta nos capítulos que se seguem.
Hist-da-Expansao_4as.indd 345 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 346 24/Out/2014 17:17
16
UM IMPÉRIO VACILANTE
(c. 1820‑c. 1870)
O lhando para trás, alguns dos elementos da elite liberal vintista não teriam
provavelmente dificuldade em reconhecer o quão imprudente fora a ten‑
tativa de restaurar ao Brasil o estatuto de colónia que este mantivera até 1815.
Os esforços que despenderam para alcançar esse objectivo fracassaram em
toda a linha e, pior ainda, o desgaste que daí resultou ameaçou fazer romper
os equilíbrios em que se apoiava uma estrutura multissecular, mas instável.
Quando esticaram a corda mais do que seria aconselhável, ignorando as pro‑
fundas alterações verificadas desde a fixação da família real no Rio, em 1808,
a consequência foi a derrocada de uma das partes do sistema imperial, por
sinal a única com a qual as relações comerciais directas com o reino haviam
tido uma expressão verdadeiramente significativa nos últimos séculos.1
Até então, recorde‑se, a flexibilidade fora um atributo decisivo para
a manutenção de uma união entre domínios que se encontravam dispersos
do Atlântico ao mar da China e à Insulíndia. Essa flexibilidade – ditada
pela necessidade de encontrar aliados e colaboradores e tornada possível pela
cultura política da monarquia do Antigo Regime – manifestava‑se de diversas
maneiras: pela aceitação da proeminência granjeada pelas elites crioulas, a
quem frequentemente eram adjudicados os cargos cimeiros da administração
civil, militar e eclesiástica dos territórios; pela delegação de funções e poderes
soberanos a entidades sui generis, como os detentores dos prazos da Coroa
na Zambézia; ou por via de alianças e pactos de vassalagem com chefes de
comunidades nativas que, por diversas razões, achavam vantajoso manterem
‑se ligados a um sistema político e jurisdicional de matriz portuguesa2. A fór‑
mula «vive e deixa viver» era, pois, a estratégia possível para compensar o
muito limitado grau de territorialização da autoridade portuguesa em várias
das suas «conquistas».
Hist-da-Expansao_4as.indd 347 24/Out/2014 17:17
348 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A emergência de um novo poder na metrópole, imbuído de uma concepção
de soberania mais unitária e centralizada, e sujeito a fortes pressões externas
para introduzir medidas que ameaçavam destruir esquemas de explora‑
ção económica há muito estabelecidos (sobretudo o comércio de escravos,
peça‑chave na engrenagem imperial luso‑brasileira), não podia senão gerar
desconfianças e resistências por parte de importantes segmentos dessas oli‑
garquias locais. Ao fim de algum tempo, porém, a resiliência do «Antigo
Regime colonial» impôs‑se como um dado que nenhum governo se podia dar
ao luxo de ignorar caso pretendesse conservar um simulacro de autoridade
no ultramar. De uma forma ou de outra, todos os regimes que se sucederam
em Portugal após a revolução vintista tiveram de se adaptar a essa situação.
Muita da dinâmica imperial portuguesa no século xix remete‑nos para a
tensão entre os impulsos reformistas de alguns governos metropolitanos mais
«modernizadores» e as resistências oferecidas pelos grupos locais influentes.
No decurso desse processo, houve forças que começaram a perder poder,
influência, status – em especial aquelas elites mestiças que, historicamente,
haviam funcionado como os principais aliados e mediadores dos Portugueses
nos respectivos territórios, à falta de um aparato colonial mais estruturado.
Seja como for, até cerca de 1870 (e mais além), falar de uma «hegemonia»
portuguesa – ou seja, «europeia» – nos vastos espaços que integravam o seu
império ultramarino não fará grande sentido.
A tempestade perfeita
Entre 1820 e 1822, um conjunto de circunstâncias directamente relacio‑
nadas com a alteração de regime em Portugal, em vez de abrir novas pers‑
pectivas para um fortalecimento do sistema imperial, produziu uma crise
de enormes proporções entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Aquilo que para
os revolucionários em Lisboa era uma libertação – a liquidação do sistema
despótico do Antigo Regime – não tardou a ser percebido como uma mani‑
festação de prepotência pelos antigos «vassalos americanos de Portugal».
Os papéis tinham‑se invertido. O Brasil podia não ter uma grande tradição
de instituições representativas (para além dos governos municipais), mas
a transferência da corte para aí em 1808 conferira‑lhe uma centralidade
política e um cosmopolitismo cultural inéditos3. As suas elites rapidamente
perderam o complexo de inferioridade em relação aos portugueses da Europa
e, naturalmente, passaram a ver‑se a si mesmas como a cabeça do império.
A ideia de voltarem a ser governadas a partir de instituições situadas na outra
margem do Atlântico – ainda que legitimadas pelos conceitos associados ao
constitucionalismo liberal – tornou‑se inconcebível.
Hist-da-Expansao_4as.indd 348 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 349
Para alguns dos conselheiros de D. João VI, esta situação seria deli‑
cada, mas não exactamente desesperada. Enquanto agregado de povos e
territórios cimentado pela lealdade à «Sereníssima Casa de Bragança», a
monarquia lusitana tinha todas as condições para aspirar a um destino de
prosperidade – tudo dependia de onde estivesse sedeado o seu centro, e de
como este fosse capaz de gerir equilíbrios e organizar os vastos recursos que
tinha à sua disposição. Contudo, não era assim que as coisas eram vistas a
partir da Europa.
O movimento revolucionário de 1820, no qual confluíram militares,
homens de leis, burocratas e mercadores, fora em larga medida motivado por
um sentimento de ressentimento face à longa permanência da corte no Brasil.
A linguagem patriótica dos vintistas e o seu ânimo liberal e «regenerador»
escondiam, afinal, um propósito conservador: restaurar a primazia dos inte‑
resses metropolitanos sobre o antigo domínio sul‑americano, nomeadamente
através da reposição dos exclusivos comerciais e restrições legais – o sistema
do «pacto colonial» – que «artificialmente» tinham feito a prosperidade do
reino desde o século xvii. O irrealismo deste desígnio – todo ele envolvido
numa retórica que hiperbolizava o papel «civilizador» da colonização portu‑
guesa no Brasil e agitava os fantasmas de um levantamento semelhante aos
que haviam ocorrido noutras sociedades escravocratas das Américas, como
São Domingos em 17914 – depressa se tornou evidente. As Cortes vintistas
subestimaram a insatisfação que as suas intenções suscitaram entre amplos
sectores das elites brasileiras, elas próprias expostas à influência dos movi‑
mentos independentistas na América Espanhola e às doutrinas livre‑cambistas
então em voga, e mediram mal as reacções internacionais que uma reposição
do statu quo poderia desencadear, desde logo junto dos Estados Unidos e
da Grã‑Bretanha.
Com as suas receitas em queda continuada desde 1810, em consequência
da desintegração do regime de exclusivos sobre o mercado brasileiro, o reino
de Portugal perdera o papel de «placa giratória» entre a América do Sul e
os mercados do Norte da Europa e do Mediterrâneo e deixara de ter meios
para prosseguir uma política imperial à escala pluricontinental. Vários anos
de guerras e devastações materiais haviam deixado a economia metropolitana
exangue, ao passo que a deslocalização da corte drenara o país de uma parte
significativa do seu escol político e técnico (já para não falar de acervos como
a Biblioteca Real), o qual optaria por não regressar à metrópole uma vez
alcançada a paz na Europa (o mesmo sucederia com os livros)5. De potência
europeia de segunda ordem, Portugal descera à condição de Estado semi
arruinado, com uma parte das suas funções de soberania assegurada pela
aliada inglesa, mesmo após a dissolução da ditadura militar do marechal
William Beresford em 1820.
Hist-da-Expansao_4as.indd 349 24/Out/2014 17:17
350 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Tudo somado, é até possível que outros desfechos fossem ainda viáveis
em 1820‑1822 – uma reconfiguração do sistema imperial inspirada em linhas
confederais, por exemplo, mantendo‑se a dinastia bragantina como elo de
ligação entre os portugueses de ambos os hemisférios. Mas a mão pesada
dos revolucionários liberais de Lisboa deitou tudo a perder, acelerando uma
dinâmica separatista que até aí não parecia ainda suficientemente amadu‑
recida. A sua impotência seria dramaticamente exposta em 1823, quando
a pequena armada enviada à Baía, com o propósito de esmagar a rebelião
que se fora desenvolvendo na sequência do regresso de D. João VI a Lisboa,
se viu desfeiteada por uma esquadra improvisada por D. Pedro, entretanto
já aclamado como «imperador». A necessidade de concentrar esforços na
defesa do território metropolitano, face a uma possível intervenção francesa
na Península, em nome da Santa Aliança, acabaria por comprometer as hipó‑
teses de uma nova expedição militar à antiga colónia, fracassando também
novas démarches diplomáticas patrocinadas por D. João VI, uma vez dissol‑
vidas as Cortes em Lisboa (tidas como responsáveis por aquilo que muitos
consideravam um mal‑entendido susceptível de ser corrigido). A ruptura
ficaria definitivamente selada em 1824, quando o governo britânico, para
melhor salvaguardar a sua influência política e económica na região, decidiu
avançar para o reconhecimento dos estados sul‑americanos emancipados
das coroas espanhola e portuguesa. Sintomaticamente, seria um diplomata
inglês, sir Charles Stuart, quem, na qualidade de plenipotenciário do governo
de Lisboa, tentaria negociar, com as autoridades brasileiras, as condições
desse mesmo reconhecimento por parte de Portugal – embora o fizesse em
termos bastante distintos dos pretendidos por D. João VI e seus conselheiros,
que ainda não haviam renunciado à ideia de uma união dinástica na figura
de D. Pedro, ou, pelo menos, à obtenção de um estatuto preferencial para
Portugal no tocante às futuras relações comerciais entre os dois estados6.
Embora a comunidade de interesses entre Portugal e a sua antiga colónia
americana se mantivesse muito significativa até finais do século xix7, nada
poderia iludir a severidade das perdas económicas que o país averbou na
sequência de um processo iniciado em 1808 e rematado em 1822‑1825. Essa
derrocada é sobretudo visível a partir de 1819, quando a quebra da reexpor‑
tação dos produtos coloniais brasileiros (açúcar, algodão) através de Portugal
– responsável por perto de cerca de dois terços das exportações nacionais –
atinge valores na ordem dos 90 por cento em relação aos números anteriores
à abertura dos portos da antiga colónia, em 1808. Se a isso somarmos as
penalizações sofridas pelas exportações do reino para o mercado brasileiro
(em especial as mais expostas à concorrência de outras nações europeias,
como os têxteis e outros artigos manufacturados), ficamos com uma ideia
aproximada da dimensão do desastre. Tanto mais porque, à época, a estrutura
Hist-da-Expansao_4as.indd 350 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 351
fiscal do Estado assentava em boa medida nas receitas geradas pelos direitos
alfandegários, monopólios e outros proventos gerados pelos fluxos mercantis
ultramarinos8. Sem esses recursos, como poderiam ser suportadas as suas
tradicionais funções de soberania, pelo menos no curto prazo? Como se isso
não bastasse, um novo ciclo de disputas políticas internas, a breve trecho
metamorfoseadas numa guerra civil de grande intensidade, iria agravar ainda
mais as condições para a reestruturação de um sistema imperial socavado.
Importa notar, contudo, que não ficava por aqui a possibilidade da débâ‑
cle imperial portuguesa se tornar ainda mais extensa. Muito embora isso
comportasse uma boa dose de especulação, a verdade é que entre 1822 e
1825 a secessão do reino do Brasil ameaçou também abalar os frágeis pila‑
res da soberania portuguesa noutras paragens, nomeadamente em África.
Em virtude da centralidade adquirida pela economia de plantação brasileira
em finais do século xviii (açúcar, algodão, tabaco, cacau), cujo dinamismo
assentava num uso intensivo de mão‑de‑obra escrava, as possessões africanas
eram cruciais para a operação desse sistema – como fornecedoras dessa força
de trabalho, ou como pontos de apoio logístico para o trato transatlântico
(estima‑se que entre 1790 e 1830, 700 mil africanos terão sido vendidos como
escravos no porto do Rio de Janeiro, a maioria deles oriundos de Angola)9.
No quadro do sistema imperial, possessões como Ajudá, São Tomé, e até
Luanda e Benguela, eram acima de tudo satélites do Brasil, sendo que até as
conquistas portuguesas de Moçambique, durante tanto tempo absorvidas
pelos circuitos comerciais do Índico, se haviam entretanto transformado em
bases para o fornecimento de escravos ao Brasil10. Por tudo isto, não admira
que muitos dos agentes implicados nestas permutas que uniam as duas mar‑
gens do Atlântico se interrogassem acerca da melhor maneira de defender os
seus interesses face ao novo cenário criado pela separação dos reinos.
Para alguns dos mercadores com fortunas feitas em Angola (a maior parte
deles baseados em cidades brasileiras), ou para elementos locais endividados
à Fazenda colonial11, a hipótese de trocarem a tutela de Lisboa por uma
integração no novo Estado sul‑americano apresentava várias vantagens, a
mais importante das quais seria uma maior compreensão das autoridades
brasileiras face à continuidade do trato negreiro, o «lubrificante‑chave» do
seu sistema económico. Num contexto de incerteza e de crise de autoridade
da Coroa, as dinâmicas separatistas na periferia imperial pareciam ter um
solo fértil para se desenvolverem.
Especialmente após o «grito do Ipiranga», um ambiente de intriga tomou
conta de cidades como Luanda e Benguela, espalhando alarme entre os
membros da Junta Governativa local, fiel à autoridade das Cortes. Em 1823,
elementos conotados com ideias secessionistas estiveram por detrás de
uma revolta falhada em Luanda, surgindo depois rumores a respeito de uma
Hist-da-Expansao_4as.indd 351 24/Out/2014 17:17
352 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
eventual expedição naval brasileira, saída de Pernambuco; em Benguela, a
segunda cidade da província, fervilharam boatos sobre juramentos secretos
ao imperador D. Pedro12. Em Cabo Verde, o primeiro governador nomeado
após a mudança de regime em Lisboa deparou‑se com a informação de que
alguns elementos locais estariam empenhados em constituir um «partido
brasileiro», com aspirações a uma independência associada ao Estado sul
‑americano (expectativa que aparentemente subsistirá até à década de 1840)13.
No golfo da Guiné, em São João Baptista de Ajudá, a bandeira do império
brasileiro foi posta a flutuar na fortaleza que servia as operações dos negreiros
afro‑brasileiros, muitos deles com fortes ligações à Baía14. Mesmo da costa de
Moçambique, cuja integração nas redes comerciais esclavagistas do Atlântico
fora realizada no início do século xix por uma família de mercadores do Rio,
chegavam notícias de uma preferência pela soberania brasileira15.
Seriam estes tumultos a expressão de identidades territoriais distintas, com
sólida ancoragem no tecido social local? Parece duvidoso. Na maior parte dos
enclaves costeiros africanos seria problemático falar‑se da emergência de elites
crioulas dotadas dos recursos e da vontade para protagonizarem projectos de
emancipação política comparáveis àqueles que haviam singrado no continente
americano. Na maior parte dos casos estava‑se perante dinâmicas que nada
tinham a ver com o tipo de aspirações articuladas pelos estratos «ilustrados»
de sociedades dotadas de cidades e de uma vida cultural permeável às ideias
políticas e filosóficas das Luzes. Em todos eles, o principal denominador
comum foi a preponderância das figuras que, baseando a sua prosperidade
no controlo do tráfico de escravos (com a cumplicidade do funcionalismo
colonial), se sentiam subitamente ameaçadas pela possibilidade de uma
mudança política que acelerasse a ilegalização dessa actividade, na sequên‑
cia dos acordos impostos às autoridades portuguesas pela Grã‑Bretanha. Por
razões várias, a norte do equador apenas nos territórios compreendidos entre
os rios da Guiné se virá a operar uma recomposição bem‑sucedida dos cir‑
cuitos esclavagistas, em boa medida graças à captura dos postos cimeiros
da província por traficantes luso‑africanos, que nunca perderam de vista as
vantagens da ligação a um poder europeu fraco para se precaverem contra
interferências ou ambições de potências de outra envergadura, como a França
ou a Grã‑Bretanha. Mais a sul, em Moçambique, a ameaça representada
pelo «partido brasileiro» revelar‑se‑á pouco consistente – o que todavia não
significa que a autoridade da Coroa portuguesa, confinada a um conjunto
de empórios costeiros e fluviais, estivesse consolidada, longe disso. A pressão
do «imã de Mascate» sobre Cabo Delgado e as conhecidas ambições inglesas
sobre a baía de Lourenço Marques atestavam isso mesmo.
Na realidade, apenas em Angola, onde a relativa prosperidade de uma
cidade como Luanda poderia criar as condições para que se desenvolvesse
Hist-da-Expansao_4as.indd 352 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 353
uma dinâmica contestatária equivalente à dos territórios sul‑americanos,
viriam a verificar‑se perturbações mais sérias. Aqui, a agitação ou denúncia
do espectro independentista parece ter obedecido a estratégias de grupos
locais que, ou se batiam por uma posição melhorada junto das autoridades
constituídas (sendo‑lhes relativamente indiferente se estas se encontravam em
Lisboa ou no Rio), ou procuravam tirar partido do ambiente de incerteza para
lançar suspeitas sobre grupos e clãs rivais, depreciados como «brasileiros».
As rivalidades entre os agentes de algumas casas mercantis brasileiras e as
famílias afro‑portuguesas que controlavam parte dos circuitos comerciais
entre a costa e o hinterland eram, porém, demasiado fortes, não obstante
todos eles temerem as consequências que poderiam advir de uma extensão
da legislação antiesclavagista ao sul do equador, por pressão da Inglaterra.16
Em última análise, é possível que um dos factores a fazer pender a balança
a favor da manutenção de Angola na soberania portuguesa tenha sido a fle‑
xibilidade evidenciada pelos representantes do poder metropolitano, nomea‑
damente a sua capacidade para contemporizar com algumas destas forças
locais – mesmo se isso implicasse uma interpretação muito peculiar das
instruções de Lisboa com vista ao acatamento da legislação abolicionista e
à reconversão económica da província.
Mais decisivo, porém, terá sido um factor de ordem geopolítica, ou seja, a
determinação evidenciada pela Grã‑Bretanha em impedir que a independência
brasileira pudesse arrastar consigo a absorção de outras possessões portu‑
guesas. Não apenas isso converteria o «império do Brasil» numa entidade
bem mais poderosa do que seria desejável, como tornaria mais complicada
uma erradicação do tráfico de escravos em todo o espaço atlântico, objectivo
com que as autoridades britânicas estavam comprometidas. Assim, para além
de ter exigido às autoridades brasileiras a renúncia aos domínios africanos
da Coroa portuguesa como contrapartida para o reconhecimento do novo
Estado, o governo inglês teve ainda o cuidado de celebrar um pacto de defesa
mútua com o governo de Portugal (1828), com a finalidade expressa de pre‑
venir qualquer ingerência exterior nas colónias africanas deste.17
Em paragens mais distantes, nomeadamente nos fragmentos imperiais
dispersos pelo Índico, China e arquipélago malaio, a indefinição desenca‑
deada pelas mudanças políticas em Lisboa era apenas mais uma perturbação
a somar‑se às muitas que vinham avolumando‑se desde o início do século.
Apesar dos esforços empreendidos pela corte portuguesa no Rio para incre‑
mentar as relações com as colónias da Ásia e potenciar o papel de entre‑
postos comerciais desempenhado por algumas delas (nomeadamente Goa),
a tendência geral era de retracção nas trocas intercoloniais e de perda de
posições dos seus mercadores para rivais mais poderosos. O ressurgimento
de algumas marinhas europeias no rescaldo das Guerras Napoleónicas veio
Hist-da-Expansao_4as.indd 353 24/Out/2014 17:17
354 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
privar os Portugueses das vantagens que a neutralidade transitoriamente
lhes proporcionara. Uma Inglaterra no zénite do seu poderio naval, dotada
de meios de troca imbatíveis (os panos de algodão do Lancashire e o ópio
da Índia), revelou‑se uma competidora demasiado forte para os agentes que
animavam as redes comerciais entre Moçambique, Índia e Macau e Insulíndia.
Como foi observado, essas possessões perdiam «a sua tradicional função de
entreposto marítimo, tendendo a transformar‑se em simples anexos da eco‑
nomia dos territórios em que se inseriam»18. A deterioração das condições
económicas daí resultante veio, em combinação com a distância e volatilidade
do poder metropolitano, potenciar disputas entre facções locais que até então
haviam sido geridas com relativa eficácia por vice‑reis e governadores. Até
à década de 1840, o Estado português da Índia viverá mergulhado numa
espécie de guerra civil intermitente entre as elites metropolitanas e «luso
‑descendentes» e os «canarins» (nativos goeses cristianizados), que em certos
momentos se digladiarão com o apoio dos representantes locais das facções
em luta na metrópole («liberais» e «absolutistas»)19. Em Macau, a mudança
de regime em Lisboa foi aproveitada por elementos locais para tentarem
fazer reverter a tendência mais centralizadora que prevalecera desde finais
do século xviii, levando então a cabo a eleição de um novo senado (1822),
dotado de amplas prerrogativas. Um ano mais tarde, uma intervenção orga‑
nizada pelo governo do Estado da Índia, com a aquiescência das autoridades
chinesas, levará à restauração do statu quo ante, sendo o senado macaense
reduzido à condição de simples câmara municipal20. Em suma, o império
vacilava, mas as dinâmicas centrífugas que poderiam ter forçado a sua desin‑
tegração acabaram por ser sustidas.
Um império no papel
Como tem sido amplamente referido, a persistência do «Antigo Regime
colonial» constituiu porventura a faceta mais saliente da história imperial
portuguesa até finais de Oitocentos (nalgumas possessões, esse marco poderia
ser estendido até ao início do século xx)21. Ao passo que na metrópole as
reformas saídas da pena dos legisladores liberais nas décadas de 1820 e 1830
significaram um corte decisivo com as tradições da monarquia corporativa e
as estruturas senhorialistas, nos domínios ultramarinos o impulso «moderni‑
zador» do liberalismo acabou por ter um impacto bem mais limitado. Até às
últimas décadas do século xix, instituições emblemáticas de épocas anteriores
– como os prazos da Coroa em Moçambique, as câmaras municipais, as capi‑
tanias e a escravidão – demonstraram ser capazes de impor compromissos de
vária ordem às tentativas reformistas emanadas do centro imperial. Longe
Hist-da-Expansao_4as.indd 354 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 355
da retórica assimilacionista alardeada pelos liberais, o império continuou a
ser um espaço de grande diversidade no tocante às formas de autoridade,
sistemas de justiça, figurinos e práticas político‑administrativas ou modos de
relacionamento com as autoridades «gentílicas»22.
Investigações recentes têm vindo a enfatizar a incerteza inerente à aplica‑
bilidade de muita da legislação elaborada em Lisboa às possessões ultramari‑
nas. De acordo com a Carta Constitucional de 1826 – o texto constitucional
que, com os seus actos adicionais, maior longevidade conheceu até ao fim da
monarquia em 1910 –, a representação das populações ultramarinas estaria
assegurada no parlamento nacional, mas posterior legislação eleitoral veio
introduzir todo um conjunto de nuances que tornavam essa representação
ainda mais restritiva e oligárquica do que sucedia na metrópole. Outras
qualificações ocorriam também no que respeitava à definição da cidadania
portuguesa no ultramar. Em teoria, esta seria extensível a todos os indivíduos
nascidos nos domínios ultramarinos, independentemente da respectiva cor da
pele ou religião. Simplesmente, o alcance universal dessa cidadania esbarrava,
desde logo, com a realidade da escravatura. Se todos os indígenas fossem
equiparados a cidadãos, não podiam estar sujeitos a servidões; mas se isso
acontecesse, então um outro princípio caro aos liberais – o da propriedade
privada – estaria posto em xeque. Os escravos não podiam pois ser cidadãos,
já que isso mexeria com os direitos dos seus legítimos proprietários. Mais a
mais, o progressivo enraizamento de uma concepção «romântica» de nação
na cultura política da Europa oitocentista caminhava no sentido contrário a
visões mais inclusivas em termos étnicos, culturais e religiosos, circunstância
que dificultava a homologia entre os direitos de cidadania dos portugueses do
«reino» e os do «ultramar». Se a pertença à comunidade nacional implicava
também uma partilha de certos valores «civilizacionais», então era duvi‑
doso que povos de «usos e costumes» tão exóticos estivessem habilitados a
participar no contrato fundador da nação. Embora nem sempre de forma
explícita, este princípio de exclusão não deixaria de enformar os grandes
debates políticos do liberalismo, culminando na aprovação do Código Civil de
1867, que veio a consagrar uma definição muito mais restritiva da cidadania
portuguesa (baseada no jus sanguinis) do que aquela que havia sido formu‑
lada na Carta Constitucional. A enunciação desta «alteridade» ultramarina
tinha outras consequências, sendo uma das mais relevantes a tolerância do
poder português em relação a vários sistemas de administração de justiça, que
deveriam operar com base nos «usos e costumes» das diferentes comunidades
indígenas (e que podiam incluir, por exemplo, o direito chinês em Macau,
administrado por um tribunal português)23.
Demasiado absorvidas pelas tarefas do nation‑building no pós‑guerra civil,
as elites políticas do reino tardaram em conseguir pôr‑se de acordo quanto às
Hist-da-Expansao_4as.indd 355 24/Out/2014 17:17
356 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
linhas orientadoras de um «projecto» que de alguma forma pudesse preen‑
cher o vazio gerado pela perda do Brasil. Aliás, entre figuras importantes do
liberalismo, o passado imperial suscitava sentimentos contraditórios. Toda
uma teoria acerca da decadência das nações peninsulares, que teve em Antero
de Quental o seu divulgador mais eficaz (através do seu opúsculo As Causas
da Decadência dos Povos Peninsulares, 1871), emergiu a partir das décadas
de 1830‑1840. Os seus primeiros afloramentos ocorrem ainda antes da
independência do Brasil, pela pena de figuras da intelligentsia liberal expa‑
triada em Inglaterra. Segundo alguns deles, muitos dos males que afligiram o
país radicavam, afinal, nos efeitos perniciosos das Descobertas, que haviam
roubado aos Portugueses o sentido do engenho, do espírito inventivo, bem
como o gosto pelo estudo sério e trabalho árduo. A perspectiva do enrique‑
cimento rápido, alcançável por acções de pilhagem, havia tornado os grupos
sociais envolvidos na expansão numa classe parasitária que não cuidara
sequer de rentabilizar devidamente o produto do seu saque, ao contrário do
que sucedera com as nações protestantes do Norte da Europa igualmente
empenhadas em gestas imperiais. Neste inventário, não faltavam também
as farpas lançadas ao espírito de intolerância e fanatismo fomentado pela
Inquisição e ordens religiosas como os Jesuítas – duas das instituições mais
visadas pela sanha anticlerical dos liberais24. O problema, como sentenciou
Mouzinho da Silveira, não era a expansão ultramarina (em si mesma um feito
notável, tal como a «obra» colonizadora dos Portugueses no Brasil) – era o
desperdício de oportunidades que resultara das patologias típicas do sistema
absolutista. Meditando em 1832 sobre as consequências da desagregação do
sistema imperial, o grande reformador liberal congratulava‑se com o virar
de página possibilitado pela independência do Brasil, vendo nesta separação
«um acontecimento mais fértil em consequências» do que a sua própria «des‑
coberta». Protegidas pelos exclusivos e monopólios extraídos ao poder polí‑
tico, as classes mercantis nacionais tinham‑se habituado à posição cómoda
de intermediários no comércio transatlântico com o Brasil, descurando o
investimento nas actividades produtivas no reino25.
Mouzinho e economistas de outras inclinações ideológicas, como o legi‑
timista José Acúrsio das Neves, não eram catastrofistas – e muito menos
anti‑imperialistas. Depositavam grande fé nas capacidades auto‑regenerativas
dos Portugueses, reduzindo alguns dos grandes problemas nacionais a uma
questão eminentemente moral – uma vez corrigidos os maus hábitos e costu‑
mes (e recuperadas as virtudes «republicanas» de outras eras, nomeadamente
as «antigas liberdades» que haviam encontrado um espaço de expressão no
quadro da monarquia medieval), o futuro apresentar‑se‑ia risonho26.
O mesmo se passava em relação ao império. Se os princípios e méto‑
dos de governação fossem emendados, então era possível que as colónias
Hist-da-Expansao_4as.indd 356 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 357
remanescentes ajudassem Portugal a recuperar a «grandeza» de outrora, mas
agora assente em bases mais realistas. Contudo, uma estratégia de redimen‑
sionamento do império que implicasse, por exemplo, a alienação de algumas
colónias contava, à época, com poucos adeptos. A eventualidade de o libera‑
lismo ficar associado a uma segunda derrocada imperial era uma perspectiva
pouco agradável para os seus adeptos. Nas representações identitárias culti‑
vadas pelas elites oitocentistas, e não obstante as qualificações já menciona‑
das, as façanhas associadas à expansão assumiam alguma preponderância.
Em 1840, quando a frágil posição portuguesa na Guiné pareceu estar na
iminência de ser varrida pela pressão da França na região, Alexandre Her‑
culano invocou os sacrifícios heróicos dos «antigos cavaleiros» portugueses
para manifestar a sua total oposição a qualquer desfecho que pudesse levar
ao abandono de uma possessão cuja «rentabilidade» era virtualmente nula27.
A grande questão que se colocava era a de saber se o país estaria em con‑
dições para rentabilizar devidamente as suas possessões de Além‑Mar. Mais
do que territórios bem delimitados (com as possíveis excepções do Estado
da Índia, Macau e Timor), o que Portugal possuía eram posições costeiras
e fluviais, presídios e feitorias, enclaves, e algumas esferas de influência no
hinterland de contornos instáveis. As raras obras coevas com algum suporte
estatístico dedicadas aos domínios ultramarinos28 dão‑nos um retrato impres‑
sivo da superficialidade e precariedade da presença imperial lusa, quer a
nível demográfico, quer ao nível dos instrumentos de «governamentalidade».
Tirando os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé, possessões como a Guiné,
Angola e Moçambique estavam muito longe de apresentar a área territorial
que mapas e atlas lhes viriam a atribuir no início do século xx. As fronteiras
permaneciam por fixar, o interior por explorar e mapear, as populações por
submeter. Escassas dezenas de quilómetros a leste da orla costeira, onde se
concentravam as raras cidades com mais de 500 habitantes, a influência
portuguesa dependia dos arranjos que fosse possível estabelecer com régulos,
sobas e outros poderes locais. A manutenção da segurança nas localidades
e enclaves portugueses era assegurada por uma tropa de «primeira linha»,
geralmente constituída por europeus e mestiços (raramente mais do que
algumas centenas), e uma tropa de «segunda linha», formada por elementos
indígenas, por vezes suplementada por hordas recrutadas junto dos poten‑
tados africanos (a chamada «guerra preta» em Angola).
No plano religioso, a actividade missionária quase cessara com as reformas
secularizantes de 1834, e embora houvesse uma percepção entre os gover‑
nantes liberais de que a acção colonizadora teria de se articular com uma
dimensão evangelizadora, somente no último terço do século xix é que viria
a dar‑se uma reactivação do esforço missionário em África. Em termos eco‑
nómicos, era igualmente difícil encontrar interesses portugueses significativos.
Hist-da-Expansao_4as.indd 357 24/Out/2014 17:17
358 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
O comércio com o interior estava nas mãos dos povos africanos autóctones e
em vários territórios os negociantes portugueses dependiam de intermediários
locais para estabelecer contacto com as caravanas do sertão. Isto quando não
se encontravam praticamente ausentes, em virtude da preponderância des‑
frutada por outros grupos, como os baneanes, comerciantes hindus oriundos
da Índia. Entre as décadas de 1830 e 1850, o comércio na África Portuguesa
foi em larga medida dominado pelos interesses esclavagistas – embora mais
arriscado, o tráfico de seres humanos havia‑se tornado muito mais rentável
após a sua ilegalização ter sido decretada por Portugal, em 1836. As con‑
sequências da primazia alcançada por este contrabando fizeram‑se sentir a
vários níveis, desde a hemorragia demográfica à negligência a que outras
actividades foram sendo votadas – tudo isto tolerado por uma administração
altamente permeável aos interesses das dinastias locais de negreiros.
Nas possessões da Ásia e Oceânia (se considerarmos que Timor integrava
esse continente, como era entendimento corrente em Oitocentos), a presença
portuguesa apresentava alguns traços semelhantes com a situação vivida nos
domínios africanos – a precariedade das estruturas governativas, a persistên‑
cia de modalidades «arcaizantes» de relacionamento com os poderes locais, a
irrelevância das ligações comerciais com a metrópole. Mas com uma nuance
importante. Nos distritos da Índia, no estabelecimento de Macau e nas «ilhas
de Solor e Timor», a posição portuguesa era essencialmente defensiva e, no
caso de Timor, qualquer avaliação mais racional de custos/benefícios não
poderia senão levar os governantes a questionarem‑se sobre as reais vanta‑
gens de a conservar. Sem muitas vezes gerarem sequer rendimentos suficientes
para custear o funcionalismo local, o seu valor parecia radicar sobretudo na
esfera do simbólico – eram parte integrante do «culto dos antepassados»,
da mitologia nacionalista que tinha nas façanhas da expansão marítima
uma das suas componentes essenciais29. Sobre isso havia consenso, como se
comprova pela reacção ultrajada do parlamento à decisão tomada em 1851
pelo comissário régio e governador de Timor, Lopes de Lima, de promover
uma permuta de ilhas e enclaves com a Holanda, complementada ainda por
uma compensação financeira a favor de Portugal, aparentemente para tornar
a possessão mais «compacta» e fácil de administrar – um caso praticamente
único nos anais do império na era contemporânea30. Na mesma década, a
reacção à Concordata assinada com a Santa Sé em 1857, estipulando uma
redução da jurisdição territorial do padroado português no Oriente, foi
igualmente sintomática deste estado de espírito. Embora se tivesse tornado
patente a incapacidade do Estado português para apoiar a missionação nos
vastos territórios asiáticos que lhe haviam sido adstritos, uma consequência
da ordem de expulsão dada às ordens religiosas em 1834, os reflexos «rega‑
listas» da elite liberal portuguesa falaram mais alto. Se o país aspirava a um
Hist-da-Expansao_4as.indd 358 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 359
ressurgimento futuro por via da valorização dos seus activos ultramarinos,
então, alegavam esses elementos, não fazia sentido amputar um instrumento
de prestígio e influência como era o padroado.31
Se relativamente ao «império asiático» as ilusões quanto a um novo ciclo
de prosperidade nunca foram significativas, já a imagem de uma «África
portentosa», de um novo El Dorado, nunca deixou de entusiasmar sucessivas
gerações de indivíduos activos na esfera pública do liberalismo. Em alguns
espíritos, a crença na inesgotável fertilidade dos solos africanos e na opulência
dos seus recursos minerais – até mesmo em territórios regularmente flagelados
por secas e fomes impiedosas, como Cabo Verde – parecia não ter limites.
Figuras como Sá da Bandeira, o mais visionário de todos os reformadores
coloniais do liberalismo, dedicaram boa parte das suas energias a tentar per‑
suadir os seus contemporâneos das vantagens que resultariam de uma maior
concentração de esforços nacionais no ultramar. No meio desse entusiasmo,
quase todos os domínios africanos possuíam a condição de «novos Brasis»
em potência, aguardando apenas o efeito transformador dos capitais e do
génio colonizador europeu. É claro que, na maioria dos casos, nada disto se
baseava em elementos fiáveis, obtidos a partir de um recenseamento científico
sistemático dos territórios. Este desconhecimento – de que alguns mapas da
época, com as suas imensas manchas vazias, nos oferecem um testemunho
eloquente – radicava, desde logo, na falta de continuidade das viagens reali‑
zadas entre finais do século xviii e inícios do seguinte por vários naturalistas
portugueses a Cabo Verde, Angola e Moçambique. O conhecimento de África
cingia‑se pois a relatórios de governadores e algumas narrativas de viagens
de «pumbeiros» africanos, realizadas sem suporte ou planificação científica
adequada32. A grande incógnita parecia residir na angariação dos recursos
necessários ao arranque de uma actividade colonizadora consistente, sem
prejuízo dos desafios que a modernização da metrópole colocava33.
Sob o diktat de Palmerston: Portugal e a abolição do tráfico de escravos
Até à década de 1850, porém, uma sombra pairou sobre todas as ilusões
acerca de um ressurgimento imperial. Essa sombra era a questão do tráfico
de escravos, autêntico «nó górdio» da política ultramarina de Lisboa. Basear
a actividade colonizadora na continuação desse tráfico era cada vez mais
impraticável, devido às pressões internacionais, em especial as que eram
movidas pela Grã‑Bretanha, campeã da causa abolicionista e, simultanea‑
mente, a «tutora» de Portugal na Europa pós‑napoleónica. Mas entre as
elites portuguesas prevalecia uma visão catastrofista das consequências que
poderiam advir de uma supressão abrupta do comércio negreiro. Embora
Hist-da-Expansao_4as.indd 359 24/Out/2014 17:17
360 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
isso seja impossível de medir com precisão, parecem não restar grandes
dúvidas de que os rendimentos do «infame comércio», nomeadamente sob
a forma de lucros repatriados, terão representado «uma das grandes fontes
de financiamento escondido da economia nacional»34, ao mesmo tempo que
contribuíam para cimentar a ligação pós‑colonial entre Portugal e o Brasil.
A questão tornou‑se mais espinhosa a partir do momento em que a Ingla‑
terra determinou a abolição da escravatura nos seus domínios das Índias
Ocidentais e África (1833) e, respondendo aos apelos de vários movimentos
humanitários, redobrou os seus esforços para garantir que outros estados
seguiriam as suas pisadas. Sendo as feitorias e os portos portugueses de África
os grandes fornecedores de mão‑de‑obra escrava para o Brasil e outros territó‑
rios americanos, a Grã‑Bretanha tirou o máximo partido da sua primazia na
aliança com Portugal para extrair aos seus responsáveis diversas concessões
em relação a uma gradual extinção do «odioso tráfico» no respectivo impé‑
rio. Sem grandes argumentos morais para contrapor à pressão de Londres,
Portugal foi celebrando tratados e convenções que deixavam antever essa
progressiva ilegalização. Quando se dá a independência do Brasil, e o novo
Estado aceita celebrar um tratado com Londres (1826) com vista à abolição
do tráfico no prazo de três anos, alguns governantes portugueses terão pen‑
sado que isso seria meio caminho para estancar uma actividade que ainda se
mantinha relativamente florescente na orla costeira africana não abrangida
pelos tratados luso‑britânicos de 1815‑1817, ou seja, abaixo da linha do
equador. Afinal de contas, Angola e Moçambique (e mesmo Ajudá/Daomé)
distinguiam‑se, precisamente, por se contarem entre as grandes abastecedoras
dos engenhos, plantações e minas brasileiras. Esses cálculos revelaram‑se
infundados e Portugal não saiu da mira dos governantes britânicos.
Apesar dos compromissos assumidos pelo Brasil face à Inglaterra, a escra‑
vatura enquanto instituição não foi suprimida, nem se tomaram medidas para
reconverter a engrenagem económica que dela se alimentava. Por conseguinte,
após uma quebra inicial no rescaldo da ratificação do tratado anglo‑brasileiro
em 1830, o comércio de escravos transatlântico foi retomado através de
toda a espécie de expedientes ilícitos. Com o inevitável aumento do «pré‑
mio de risco» – em virtude da vigilância e fiscalização dos navios da Royal
Navy –, as margens de lucro dos agentes envolvidos nas diversas etapas deste
contrabando aumentaram exponencialmente35. Tais proventos compravam
boas‑vontades e cumplicidades, tanto junto das autoridades brasileiras como
do pessoal consular português, repartições ministeriais em Lisboa e funciona‑
lismo de Angola e Moçambique (até ao nível do governador). A reanimação
do comércio transatlântico de escravos, impulsionada principalmente pela
procura brasileira (o boom do café a isso ajudava) e, em menor medida, pela
de Cuba e Estados Unidos, abrangia até aquelas áreas onde desde 1815‑1817
Hist-da-Expansao_4as.indd 360 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 361
a actividade estava proscrita. Cabo Verde, como já vimos, recuperou o seu
papel de entreposto, funcionando sobretudo como ponto de apoio aos negrei‑
ros espanhóis que se abasteciam de escravos embarcados na Guiné, cujo cargo
de governador Lisboa havia a dada altura confiado a um dos mais notórios
traficantes da região, o luso‑guineense Honório Pereira Barreto36.
Esta atmosfera de impunidade não tardou a irritar os Britânicos que, a
partir de 1834, com o fim da guerra civil em Portugal, voltaram a pedir contas
aos Portugueses. Praticamente todos os homens de Estado com algum sentido
das realidades sabiam que o país não estava em condições de antagonizar a
aliada – e apenas essa circunstância, aliás, poderia funcionar como elemento
de pressão para que Portugal se juntasse às nações europeias que já haviam
dado passos firmes no sentido do abolicionismo, tão débeis eram os impul‑
sos humanitários na sociedade portuguesa. Mas as divergências surgiram
quando se tratou de definir o método mais adequado para ir ao encontro
das exigências britânicas. A partir de 1836, recorde‑se, o país conhecera uma
nova reviravolta política – a «revolução de Setembro» – que conduzira ao
poder um movimento de inclinações radicais‑progressistas e forte sentido
nacionalista. Tal combinação não os tornava interlocutores fáceis para a
Inglaterra. O seu patriotismo possuía um cunho abertamente antibritânico,
o qual decorria da sua vontade em afirmar uma governação desembaraçada
das «sujeições» ditadas pelos tratados de comércio com a aliada e que, no
seu entender, constituíam uma das causas históricas do atraso económico
nacional. O governo setembrista e o seu responsável pela pasta dos Estran‑
geiros, Sá da Bandeira, tentaram um meio‑termo. Ceder na questão de fundo
– a proibição do embarque de escravos em todos os portos portugueses – sim,
mas em condições que não atentassem contra a «dignidade» do país. Isso
traduziu‑se no repúdio de algumas das exigências britânicas aceites pelo
duque de Palmela, o ministro cartista que em Outubro de 1835 negociara
um projecto de tratado para a abolição total do tráfico. Para Sá da Bandeira,
medidas como a vigência ilimitada do tratado, o direito de visita dos oficiais
da Royal Navy a navios de pavilhão luso considerados «suspeitos», o fun‑
cionamento de comissões mistas para julgar infractores, ou a promulgação
de medidas adicionais de punição dos traficantes tão severas quanto as bri‑
tânicas, representavam concessões pouco defensáveis. O ministro setembrista
preferiu uma via unilateral para a abolição, plasmada no decreto de 10 de
Dezembro de 1836, e paralelamente complementada pela apresentação
de um contraprojecto que deixava cair algumas das medidas acordadas entre
Palmela e o ministro britânico em Lisboa, Howard de Walden, e introduzia
outras que dificilmente poderiam ser bem acolhidas pelos Britânicos. Para o
governo de Palmerston, porém, este estava longe de constituir um desfecho
diplomático satisfatório37.
Hist-da-Expansao_4as.indd 361 24/Out/2014 17:17
362 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Segundo os Britânicos, as autoridades portuguesas nunca tinham com‑
batido o tráfico com verdadeira determinação. Para além da falta de zelo da
armada, os governos coloniais mostravam‑se inteiramente incapazes de dar
cumprimento às instruções recebidas por Lisboa, alegando que se o fizessem
deixariam de ter quaisquer condições para assegurar um regular funcio‑
namento da administração. Com efeito, entre 1837 e 1839 não faltaram
incidentes que punham em evidência a escassa apetência das autoridades
portuárias, governadores de Angola e Moçambique e figuras ligadas ao
serviço diplomático, para dar sequência à legislação aprovada pelo regime
setembrista. Teimando em recusar o concurso das autoridades britânicas
numa repressão mais activa do tráfico (ou sequer a equipará‑lo a um acto
de pirataria), os governantes setembristas reincidiram na atitude de 1836 e
apresentaram novas exigências em 1838. Desta feita tratava‑se de reclamar
à aliada um auxílio militar por tempo indeterminado para esmagar qualquer
possível rebelião local, bem como uma «garantia» que abrangesse a integri‑
dade dos domínios africanos da Coroa portuguesa – só assim, alegavam,
é que seria possível enfrentar com um mínimo de eficácia as forças empe‑
nhadas em minar os esforços abolicionistas nas colónias. Ainda hoje este é
um ponto controverso na historiografia da abolição do tráfico em Portugal.
Corresponderiam estas exigências de Sá da Bandeira a uma preocupação
genuína com os factos no terreno, ou deverão ser elas entendidas sobretudo
como um expediente destinado a ilibar o governo setembrista das acusações
de passividade no combate ao tráfico, por um lado, ou de uma capitulação
perante as pressões britânicas, por outro? Como quer que fosse, a verdade é
que a manobra não surtiu o efeito desejado, pelo menos junto das autoridades
britânicas, que há bastante tempo vinham desconfiando das tergiversações de
Portugal em todo o processo («subterfúgios jesuíticos», insinuavam os jor‑
nais ingleses38). Segura da sua primazia, a Inglaterra não se iria deixar tolher
pela impertinência de uma nação que, escudada em pretextos formalistas,
se mostrava relutante em cooperar numa causa que dizia respeito a toda a
Humanidade39. Para acabar com tais procrastinações, e numa altura em que
a influência do movimento abolicionista junto do governo whig atingira o
seu zénite, o parlamento de Londres aprovou, em Agosto de 1839, o famoso
bill introduzido pelo secretário dos Estrangeiros, lord Palmerston. Com essa
legislação, o governo britânico arvorava‑se do direito de apresar quaisquer
navios portugueses implicados no trato negreiro e entregá‑los à justiça bri‑
tânica, assim antecipando o moderno conceito de «ingerência humanitária».
O bill de Palmerston gerou um sobressalto inédito de indignação anti
britânica entre a imprensa e a generalidade da elite política. Na realidade, a
crise pôs uma vez mais em evidência a ambiguidade da opinião liberal em Por‑
tugal face à questão abolicionista. Como tem sido sublinhado, da sociedade
Hist-da-Expansao_4as.indd 362 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 363
civil portuguesa nunca emergiu uma sensibilidade humanitária equiparável
à que imbuía a cultura não‑conformista do protestantismo britânico. Uma
atitude de apatia ou compreensão com as realidades do escravismo foi sempre
preponderante, tanto à esquerda como à direita; quanto muito, a opinião
dominante estava preparada para aceitar a ideia de uma supressão do tráfico
segundo reformas gradualistas, que não atentassem demasiado contra inte‑
resses estabelecidos. Além do mais, para alguns a filantropia britânica estava
longe de poder ser encarada como desinteressada – era uma conspiração
que ocultava outros propósitos: a espoliação das colónias africanas, claro,
mas também a retaliação contra as tentativas empreendidas pelos governos
setembristas com o fito de protegerem o comércio e a indústria nacional. Deste
sobressalto, contudo, pouco ou nada de consequente resultou, para além de
discursos ressentidos e autovitimizadores. Não era à toa que se podia pensar
em afrontar a Grã‑Bretanha numa matéria em que esta jogava também muito
do seu prestígio internacional40.
O último governo setembrista saiu de cena em Novembro de 1839 e a
direita cartista regressou ao poder, animada com o propósito de apaziguar a
aliada. Nos meses seguintes, uma mão‑cheia de capturas de «tumbeiros» por
vasos da armada portuguesa convenceu os britânicos da mudança de atitude
em Lisboa. Foi então possível negociar um novo tratado num ambiente menos
crispado. Em 1842, um ano volvido sobre a conclusão de várias convenções
antitráfico entre a Inglaterra e outras potências europeias, o duque de Pal‑
mela colocava a sua assinatura num tratado com carácter de perpetuidade
que consagrava o essencial das pretensões britânicas: equiparação do tráfico
a um acto de pirataria; consagração do direito de visita recíproca; criação
de comissões mistas para julgar prevaricadores. Em jeito de compensação,
como que para «salvar a face» dos seus aliados, Londres aceitou revogar as
disposições do bill de Palmerston que visavam Portugal, assim que as notas
de ratificação do tratado tivessem sido trocadas. A ausência de protestos sig‑
nificativos contra o tratado não era, contudo, sinónimo de uma adesão geral
da sociedade e da classe política portuguesa ao impulso moral que animara o
abolicionismo. Na realidade, prevaleceu uma lógica de mal menor, alicerçada
na consciência de que seria impossível continuar a desafiar impunemente a
Grã‑Bretanha. Por conseguinte, até ao início da década de 1850 (data em que
o Brasil se decide finalmente a encerrar os seus portos ao tráfico de escravos)
as disposições previstas no decreto de 10 de Dezembro de 1836 ficaram lar‑
gamente por cumprir, continuando os negreiros a tentar iludir os cruzeiros
ingleses e a armada portuguesa com expedições embarcadas em pontos iso‑
lados das extensas linhas costeiras de Angola e Moçambique. Como tem sido
enfatizado, esta inércia portuguesa poderá ser explicada pela indiferença que
a opinião pública exibia em relação à dimensão moral do problema, ou até
Hist-da-Expansao_4as.indd 363 24/Out/2014 17:17
364 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
pela sua concordância com muitos dos argumentos justificadores do escra‑
vismo que continuavam a marcar presença na esfera pública portuguesa41.
Uma excepção honrosa terá de ser reservada à figura de Sá da Bandeira.
A comparação com Wilberforce, feita pelos seus admiradores, poderá ter sido
algo forçada42, mas o seu empenho na supressão do escravismo foi pertinaz
e consistente com o optimismo antropológico em que o seu pensamento se
filiava. Para o estadista radical, a adesão à causa abolicionista não se resu‑
mia apenas a uma questão de «honra» nacional – livrar o país do estigma
de pactuar com o «odioso comércio» e evitar ter de ceder às injunções de
potências estrangeiras. Aboli‑lo era, na verdade, a pré‑condição para que
em África vingassem os princípios de uma colonização «moderna», baseada
numa combinação de dirigismo estatal, proteccionismo tarifário e relações
laborais livres.
Uma vez tomadas as medidas para afastar os africanos do tráfico e das
«guerras intestinas» que este alimentava, estariam reunidas as condições para
a emergência de uma economia baseada no trabalho assalariado dos nativos
(sobretudo na agricultura), os quais passariam a constituir o embrião de um
mercado de consumidores mais exigentes e de contribuintes fiscais. Ainda sem
poder fazer um balanço dos efeitos económicos produzidos pelas medidas de
emancipação nos domínios britânicos, Sá da Bandeira acreditava firmemente
na rentabilidade superior do trabalho livre, embora pudesse admitir algum
grau de coerção se os africanos se mostrassem renitentes em integrar a nova
ordem económica. Dotada de uma nova base fiscal, a administração colonial
disporia então dos meios para levar por diante a sua própria reorganização,
financiar os melhoramentos indispensáveis à livre circulação de mercadorias
e pessoas, promover a consolidação e expansão da soberania portuguesa
na zona do Casamansa, nas linhas de costa e em pontos seleccionados no
hinterland de Angola e Moçambique, assim como na foz do rio Congo, e
impulsionar um esforço colonizador efectivo. Daqui emergiria uma espécie
de círculo virtuoso que, para além de permitir às colónias bastarem‑se a si
próprias, ajudaria o país a melhorar a sua balança comercial, por via de uma
redução das importações de artigos tropicais, da reexportação dos produtos
africanos, e de uma ampliação dos mercados para as produções metropoli‑
tanas. O carácter «lusitano» do império deveria ser acautelado através do
favorecimento a empresas de navegação nacionais que assegurassem as liga‑
ções marítimas, do estímulo à criação de companhias concessionárias e de
um forte impulso à fixação de europeus, a partir de um desvio da emigração
destinada ao Brasil43.
Apesar do voluntarismo de Sá da Bandeira no período em que esteve à
frente do Ministério do Ultramar (Março de 1838‑Abril de 1839), os resul‑
tados dos seus esforços foram magros. Alguns dos seus objectivos exigiriam,
Hist-da-Expansao_4as.indd 364 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 365
desde logo, um consenso entre a elite política que, manifestamente, não
parecia existir. Num país ainda a recuperar das devastações da guerra civil,
e a braços com uma situação financeira e económica muito debilitada, era
difícil conceber um empenhamento do Estado num projecto de semelhante
escala – e de retorno incerto, no curto prazo. A década de 1840 decorreria
sob o signo do marasmo. Tirando a criação do porto e cidade de Min‑
delo, em Cabo Verde, o arranque promissor da produção de amendoim na
Guiné, o estabelecimento de um núcleo de colonos em Moçâmedes, no Sul
de Angola, e uma tímida reanimação do volume de comércio entre Lisboa e
Luanda, nada de muito significativo haveria a assinalar. Determinantes para
o malogro do impulso colonizador terão sido as resistências oferecidas pelos
interesses locais à pedra‑de‑toque do programa de Sá da Bandeira – o fim
do comércio ilícito de escravos. Sem a perspectiva de um apoio financeiro
metropolitano (inexequível nas circunstâncias da época), ninguém percebia
exactamente como seria possível assegurar a transição para uma economia
«legítima», geradora de receitas que permitissem à administração funcionar
com um mínimo de normalidade. Em Angola e Moçambique, raros foram
os governadores que lograram resistir ao cerco montado pelos traficantes
(hegemónicos em instituições como as câmaras municipais ou conselhos de
governo), ora por sucumbirem a pressões e subornos, ora por não lograrem
mobilizar as forças militares para fazer cumprir a legislação antitráfico44.
Um funcionalismo mal remunerado, e desmoralizado pelos atrasos crónicos
nos seus vencimentos, era uma das imagens emblemáticas do aparato colonial
português; se a isso juntarmos o facto de os postos intermédios da administra‑
ção estarem nas mãos de crioulos com íntimas ligações aos traficantes locais, é
fácil perceber por que razão os cônsules britânicos em locais como Luanda se
exasperavam com os muito tímidos progressos da legislação antiesclavagista.
Um take‑off adiado
Um feixe de acontecimentos desencadeados no início da década de 1850
veio abrir novas perspectivas para aqueles que acreditavam residir no ultra‑
mar o trampolim para uma nova era de prosperidade. O estímulo, em grande
parte, vinha de fora. Dando sequência ao seu ímpeto expansionista, a Grã
‑Bretanha consolidava a sua presença comercial na Ásia (Segunda Guerra
do Ópio de 1856‑1860) e na África do Sul, avançara rapidamente na colo‑
nização da Austrália e em 1857, após a grande revolta dos sipaios, naciona‑
lizara a Companhia das Índias Orientais, de onde resultaria a conversão da
Índia numa colónia da Coroa (o Raj). Embora numa escala mais modesta, a
França de Napoleão III tentava também desenvolver o seu poderio imperial,
Hist-da-Expansao_4as.indd 365 24/Out/2014 17:17
366 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
concentrando‑se sobretudo no Mediterrâneo Oriental e, em especial, no
Norte de África, onde a Argélia, apesar do elevado custo humano das suas
campanhas de «pacificação» militar, há décadas se convertera numa espécie
de obsessão para sucessivos regimes desde Carlos X. Mais próximo da linha
do equador e abaixo dela, as expedições navais inglesas e francesas, reali‑
zadas com o intuito de erradicar os últimos focos de comércio de escravos
no Atlântico, acabariam por conduzir a um envolvimento mais profundo
de ambas as potências em zonas do Globo que até então, estavam longe de
merecer grande atenção aos estadistas em Londres e Paris. À medida que se
iam internando nos assuntos do continente negro, novos pretextos surgiam
para que a cruzada humanitária contra a escravatura se combinasse com
outras motivações, como a busca de oportunidades comerciais, a conversão
dos «gentios» ou o sentido de curiosidade face ao desconhecido45.
Para além do início de uma fase expansiva da economia europeia, que se
haveria de prolongar por mais duas décadas, a adopção pelo Brasil de um
conjunto de providências tendentes ao encerramento dos seus portos à impor‑
tação de escravos veio desferir um rude golpe nas actividades dos negreiros
que até aí se dispunham a desafiar a fiscalização mais apertada dos cruzeiros
britânicos ou portugueses. Uma vez que a comunidade mercantil brasileira
envolvida no tráfico era, em grande medida, constituída por indivíduos
que mantinham fortes ligações a Portugal, a ilegalização efectiva do tráfico
negreiro em 1850 tornou‑os malvistos aos olhos das autoridades brasileiras e
muitos optaram por transferir‑se para a Europa com as suas fortunas – alguns
fixar‑se‑iam em Lisboa, que durante um curto período voltaria a desempe‑
nhar um papel de alguma relevância nos circuitos comerciais de escravos,
nomeadamente os que abasteciam as plantações açucareiras em Cuba. Uma
tal entrada de dinheiro fresco gerou expectativas novas quanto a uma sua
possível aplicação em iniciativas ultramarinas carentes de um investimento
de capital que nem o Estado nem homens de negócio metropolitanos podiam
garantir. Em Portugal, a instabilidade endémica que prevalecia na política
nacional estava em vias de ser corrigida graças à recomposição política trazida
pela «Regeneração», a qual inaugurará um período de continuidade gover‑
namental sem precedentes desde o advento do liberalismo. A ressurreição do
Conselho Ultramarino (1851), elevado à categoria de órgão suprapartidário
incumbido de delinear as grandes directrizes da política colonial, indicava
a vontade das classes dirigentes de conferir a essa área da governação um
«carácter nacional»46.
Sem haver exactamente uma mudança de «paradigma» reformador – afi‑
nal de contas, Sá da Bandeira continuou a pontificar sobre os assuntos ultra‑
marinos, ora com o chapéu de ministro, ora com o de conselheiro –, talvez se
possa falar de uma noção mais apurada da divisão do trabalho que conviria
Hist-da-Expansao_4as.indd 366 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 367
adoptar para as matérias coloniais. A tarefa do Estado seria essencialmente
dupla. Por um lado, cabia‑lhe impulsionar com redobrado vigor a expansão
territorial, promovendo campanhas de conquista e experiências de povoa‑
mento branco; por outro, competia‑lhe remover os entraves ao crescimento
das trocas, tanto no interior dos territórios (através da construção de estra‑
das, aproveitamento de vias fluviais e, num futuro não muito distante, do
lançamento do caminho‑de‑ferro)47, como nas relações entre estes e o exterior
(ora por via da abertura dos portos africanos à navegação estrangeira, ora
pela celebração de tratados de comércio com outras potências). Este entu‑
siasmo pelo livre comércio não significou o abandono do afã dirigista dos
governantes, que permaneciam apostados em identificar os sectores mais
promissores para a economia das colónias, nomeadamente quando se tratava
de indicar os géneros a cultivar, tanto pelos produtores africanos, como pelos
proprietários das (ainda raras) grandes plantações. Também digna de nota
foi a sensibilidade revelada por Sá da Bandeira em relação à necessidade de
articular os seus planos de expansão territorial com o emprego de missio‑
nários católicos formados na metrópole, o que se traduziu na aprovação de
legislação instituindo e dando meios de subsistência ao Colégio das Missões
Ultramarinas, a funcionar em Cernache do Bonjardim48.
As expectativas depositadas no desenvolvimento agrícola colonial moti‑
varam, aliás, aquelas que terão sido algumas das medidas de maior alcance
neste período, pelo menos num plano simbólico: a criação do estatuto de
«liberto» (1854); abolição do serviço forçado de carregadores e a promulga‑
ção da lei de «liberdade de ventre» em 1856; e, dois anos mais tarde, o início
do desmantelamento da própria instituição da escravatura nas colónias, um
processo que deveria ficar concluído num prazo de vinte anos. Para além
de terem significado uma cedência às pressões continuadas dos governos
britânicos, tratava‑se, fundamentalmente, de três iniciativas que visavam
criar condições para que os africanos se integrassem numa economia agrária
orientada para o mercado e monetarizada, em vez de se refugiarem nos sertões
para escapar aos angariadores de escravos. No entanto, se atentarmos naquilo
que foram as contingências de todo o processo, falar de uma emancipação
plena torna‑se altamente problemático.
Apesar de envolvidas numa retórica humanitária afirmativa, as medidas
legislativas aprovadas nas Cortes estavam longe de exprimir uma atitude
filantrópica desinteressada. Ao contrário do que uma certa memória his‑
tórica pretendeu, o alinhamento português com as políticas abolicionistas
da maioria das nações europeias foi relutante e razoavelmente tardio. Esse
alinhamento foi atingido após um percurso bastante sinuoso, repleto de
hesitações e dilações, geralmente suportadas por complexos emaranhados
jurídico‑normativos49. Esses ziguezagues podiam ser ditados por pressões
Hist-da-Expansao_4as.indd 367 24/Out/2014 17:17
368 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
movidas pelas forças que lucravam com o tráfico ilícito, mas podiam tam‑
bém resultar da leitura que os responsáveis políticos faziam a respeito das
consequências imputáveis a um fim demasiado abrupto de uma instituição
estruturante do sistema colonial português. Como não é de mais recordar,
essa atmosfera propícia à tergiversação só seria possível tendo em conta as
opiniões dominantes na sociedade portuguesa que, não obstante algumas
gradações e nuances, manifestavam grande tolerância relativamente aos
diferentes avatares da ideologia escravista, ou aos abusos e violências de que
eram vítimas os escravos nos domínios ultramarinos50.
De acordo com o articulado do decreto feito publicar pelo Ministério da
Marinha e Ultramar em 1858, todos os africanos sujeitos à servidão ganha‑
riam a sua liberdade em vinte anos, prevendo‑se que os seus proprietários
pudessem ser indemnizados no termo desse período; no entanto, o diploma
não fazia quaisquer provisões a respeito do mecanismo de compensação que
pudesse recair sobre o Tesouro nacional (a modalidade escolhida pelo parla‑
mento inglês em 1833). Apesar dos protestos de funcionários coloniais, donos
de plantações e mercadores em relação aos prejuízos que inevitavelmente
resultariam de tal medida, a verdade é que a legislação tivera o cuidado de
transferir o ónus económico da emancipação para os africanos, vinculando‑os
à prestação de serviço obrigatório aos seus senhores, o mesmo sucedendo aos
filhos dos primeiros – os «libertos» – até completarem 20 anos de idade. Nas
colónias cuja economia dependia do uso relativamente intenso de mão‑de
‑obra servil (Angola e São Tomé), as próprias autoridades oficiais optaram por
não recorrer a africanos livres para os seus projectos, usando antes escravos
ou libertos. Socorrendo‑se de velhos estereótipos acerca da «preguiça», «boça‑
lidade» e «selvajaria» dos negros, os adversários das medidas abolicionistas
mobilizaram‑se, na imprensa e no parlamento, para revogarem a legislação
emancipalista ou a modificarem a um ponto tal que esta se tornaria inope‑
rante. Defendiam que sem instrumentos firmes para obrigar o africano ao
trabalho – indispensável para o seu processo de «civilização» e regeneração
moral – as colónias dificilmente teriam viabilidade. Apenas uma filantropia
ingénua poderia pretender que Portugal teria possibilidade de rentabilizar
esses territórios sem o recurso a uma mão‑de‑obra barata, abundante e pacata.
A experiência de territórios onde a escravatura fora suprimida décadas antes
demonstrara que a imagem de um negro disciplinado e diligente, disposto a
cumprir as suas obrigações fiscais vendendo a sua força de trabalho a donos
de plantações, não passava, afinal, de uma miragem51. Para além destas
objecções de fundo ao «utopismo abolicionista», o argumento da «neces‑
sidade» também ganhou expressão – uma vez mais, tratava‑se de reclamar
períodos de transição mais dilatados, que supostamente dessem aos agentes
económicos o tempo indispensável para se reorganizarem em «actividades
Hist-da-Expansao_4as.indd 368 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 369
legítimas». Sem isso, ressurgia novamente o espectro do colapso das receitas
fiscais que sustentavam a administração colonial, da desordem e insegurança,
e as inevitáveis ameaças à soberania.
Como se isto não bastasse, a posição de Sá da Bandeira e dos que se
identificavam com a sua abordagem tornou‑se ainda mais frágil na sequência
da posição da Grã‑Bretanha – a grande campeã abolicionista – num litígio
envolvendo Portugal e a França. Em meados de 1858, o governador de
Moçambique, numa atitude mais zelosa do que o habitual, resolvera ordenar
o apresamento de um navio francês, a barca Charles et Georges, carregada de
africanos «contratados» (na realidade, escravos recrutados em Inhambane),
com destino às plantações francesas da ilha da Reunião. O governo de Paris
reagiu mal a este gesto e, despachando dois vasos de guerra para o Tejo, exigiu
a libertação imediata da barca e um pagamento de indemnização – ultimato
que o governo português teve de acatar, ao verificar que não poderia contar
com o apoio da Grã‑Bretanha, então interessada em cultivar boas relações
com o governo de Napoleão III. As ilações do episódio pareciam claras:
entre a moralidade e a realpolitik, Londres optara pela última, e isso parecia
validar os argumentos daqueles que de há longa data vinham denunciando
a hipocrisia da cruzada abolicionista liderada pela velha aliada52.
A década de 1860 tornou‑se um período ainda mais funesto para os adep‑
tos de uma política ultramarina expansionista. Desde logo, as prioridades das
classes governantes continuaram muito mais orientadas para a metrópole e,
em especial, para a promoção dos «melhoramentos materiais» que, segundo
a visão dominante na época, constituíam a alavanca da prosperidade e o epí‑
tome do progresso. Construção de pontes e estradas, lançamento de ligações
ferroviárias e telegráficas, modernização portuária, expansão do ensino ele‑
mentar – era esta a agenda fundamental da governação económica da Rege‑
neração, muito associada à figura de Fontes Pereira de Melo. Ao contrário
do que alguns talvez esperassem, o dinheiro fresco que entrara em Portugal
vindo do Brasil após 1850 não fora afinal canalizado para investimentos
nas colónias – tidos como demasiado incertos e arriscados –, mas para os
mais seguros e rentáveis títulos de dívida pública nacional, ou para prédios
urbanos e terrenos agrícolas na metrópole.
A mentalidade rentista dos capitalistas nacionais não se impressionava
com as «visões quiméricas» e os «El Dorados» prometidos pelos entusiastas
do renascimento imperial. Vários projectos emblemáticos, como o lançamento
de uma companhia nacional de navegação a vapor destinada a assegurar car‑
reiras regulares entre a metrópole e a costa ocidental africana – a denominada
Companhia União Mercantil, formada em 1858 – , tiveram fins inglórios, não
obstante os generosos subsídios e privilégios governamentais de que chegaram
a beneficiar. O mesmo se poderia dizer em relação às tentativas de se criar
Hist-da-Expansao_4as.indd 369 24/Out/2014 17:17
370 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
companhias concessionárias dotadas de poderes majestáticos, que se pudes‑
sem substituir aos poderes públicos na dinamização do esforço colonizador53.
Quando, episodicamente, surgiram alguns interessados em apostar nestas
últimas, os receios de que isso pudesse comprometer a soberania do Estado
a longo prazo acabaram por falar mais alto. No máximo, poder‑se‑ão reter
algumas iniciativas que, aproveitando a situação financeira mais desafogada
que o país viveu até finais da década de 1860, contribuíram para dar algum
impulso a empreendimentos promissores que começavam a despontar nas
colónias. Uma delas foi a fundação, em 1864, do Banco Nacional Ultramarino
(BNU), um estabelecimento que cumpriu um papel importante na concessão
de crédito aos roceiros e fazendeiros que arrancaram com a cultura do cacau
e do café – dois produtos que então conheciam uma elevada procura nos
mercados europeus – em São Tomé e Angola. Embora ainda pouco expressivo
no cômputo geral do comércio externo português (pouco mais de 3 por cento
na década de 1860), o intercâmbio de produtos com as colónias começava
a dar os primeiros sinais encorajadores54.
Sob o ponto de vista dos planos de colonização, as coisas não correram
especialmente bem. A emigração não‑dirigida de portugueses metropolitanos
encaminhava‑se cada vez mais para o Brasil – a nossa «mais valiosa colónia»,
como lhe chamava Herculano já depois da independência –, cuja economia
de plantação, uma vez abolido o tráfico negreiro, necessitava agora de mão
‑de‑obra assalariada em grande número. O volume de remessas que essa
comunidade de emigrantes, formada por camponeses pobres do Norte de
Portugal, proporcionava era demasiado significativo para que os decisores
políticos levassem a sério qualquer tentativa de desviar o fluxo migratório
do Brasil para as possessões africanas. De facto, à medida que se ia adquirindo
na própria metrópole uma consciência mais precisa das condições sanitárias,
climatéricas e sociais da África tropical, menos realistas pareciam as espe‑
ranças depositadas numa emigração espontânea em grande escala para essas
paragens. Tirando o já referido caso da fundação da cidade de Moçâmedes
com imigrantes do Brasil, e de alguns núcleos populacionais estabelecidos
na região adjacente da Huíla, não há praticamente registo de experiências
semelhantes bem‑sucedidas. Quanto muito, poderiam patrocinar‑se alguns
esquemas de povoamento que se articulassem com os planos de expansão
militar, para garantir um grau mínimo de consolidação da presença por‑
tuguesa no hinterland. Os planaltos centrais angolanos, com o seu clima
temperado, eram zonas vistas como susceptíveis de constituírem potenciais
núcleos de irradiação europeia para as regiões do interior mais insubmissas à
penetração europeia, mas, uma vez mais, isso exigiria um apoio governamen‑
tal que teria de ir muito além das verbas reservadas para o «fundo especial
de colonização» criado em 1852 pelo Conselho Ultramarino.
Hist-da-Expansao_4as.indd 370 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 371
Por outro lado, é bom não perder de vista o alcance de uma das imagens
mais popularmente associadas a África durante boa parte do século xix:
«o sepulcro do homem branco», expressão que fazia jus às elevadíssimas
taxas de mortalidade entre os europeus que se aventuravam ou cumpriam
missões de serviço no continente negro55. Malária, febre‑amarela (sobretudo
estas duas), varíola, tétano e outras enfermidades próprias dos climas tropi‑
cais eram impiedosas para os organismos vulneráveis dos europeus, reféns
da ausência de estruturas hospitalares de apoio e da própria incapacidade da
ciência médica em dar uma resposta eficaz aos males que os afligiam nessas
paragens. Apenas na segunda metade do século xix, graças à generalização
de uma série de cuidados profilácticos e curativos (em particular o sulfato de
quinino) e medidas higiénicas preventivas sugeridas pela experiência acumu‑
lada, foi possível atenuar esta situação, não obstante a vacina contra a febre
‑amarela apenas ter surgido na década de 193056. Estes progressos, todavia,
foram mais tardios nos territórios portugueses, continuando a haver registo
de elevadíssimas taxas de mortalidade em contingentes militares enviados da
metrópole na segunda metade do século xix.
Para além desta ameaça omnipresente, o sentimento de insegurança que
os colonos experimentavam em África tinha outras razões de ser. Uma delas
era o convívio forçado com antigos presidiários da metrópole enviados para
o ultramar – os degredados. Constituindo a maioria da população branca
de diversas colónias, poucos destes condenados cumpriam o que restava
das respectivas penas em regime de cárcere; estavam em liberdade, muitos
dedicavam‑se ao comércio, outros obtinham empregos no funcionalismo,
mas uma parte significativa reincidia em actividades criminosas. À parte
alguns dissidentes políticos (de Portugal e outros estados europeus), a grande
maioria destes degredados era recrutada nas categorias de delinquentes mais
violentos da metrópole. A sua presença nas ruas de cidades como Luanda
era invariavelmente assinalada em toda a espécie de testemunhos ou relatos
de viajantes, e uma das reclamações recorrentes dos funcionários de topo
da administração e dos colonos mais influentes ia no sentido de evitar que
o ultramar continuasse a ser usado como depósito de criminosos de delito
comum. Porém, o aparente sucesso da colonização da Austrália e outros
domínios britânicos por degredados convenceu os penalistas portugueses a
dar continuidade a esta velha tradição, sem atentarem devidamente nas con‑
dições de fixação de europeus no Novo Mundo – incomparavelmente mais
favoráveis do que nas possessões portuguesas, situadas em climas quentes,
húmidos e repletos de epidemias –, ou no próprio perfil dos condenados
para aí enviados (geralmente indivíduos sem cadastros criminais graves,
e muitas vezes acompanhados das respectivas famílias). Apenas no último
terço do século xix é que se começariam a ponderar novas modalidades de
Hist-da-Expansao_4as.indd 371 24/Out/2014 17:17
372 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
enquadramento dos degredados do ultramar português, no sentido de pro‑
mover a sua fixação em colónias agrícolas penais57.
Colónias ou enclaves?
Em finais da década de 1860 continuava a ser impossível realizar um
balanço muito optimista no tocante à afirmação da soberania portuguesa
sobre as suas três «possessões» africanas continentais, ou ao atenuar da
ambição de outros poderes europeus relativamente às posições e territórios
que Portugal reclamava para a sua esfera de influência imperial.
Nos Rios da Guiné, a presença portuguesa continuava no essencial cir‑
cunscrita às suas feitorias fortificadas e ilhas, sendo impossível às autoridades
aspirar a mais do que uma gestão de pequenos conflitos e escaramuças com
as povoações autóctones que rodeavam esses empórios. Na realidade, a debi‑
lidade dos portugueses impunha‑lhes estratégias de sobrevivência talvez não
muito conformes com as imagens mais correntes do poder imperial, como o
pagamento de tributos aos povos que controlavam o fornecimento de água
e alimentos aos seus presídios. De resto, até ao último quartel do século xix,
a política portuguesa (ou luso‑guineense, para fazermos jus ao predomínio
do elemento mestiço nas estruturas governativas) parece ter consistido essen‑
cialmente num esforço de adaptação às circunstâncias locais, numa interfe‑
rência mínima nos assuntos indígenas, e numa política de alianças ad hoc58.
Como sucedia noutras paragens (em Timor, por exemplo), os inconclusivos
confrontos eram muitas vezes selados por uma cerimónia político‑religiosa,
de tipo sincrético, na qual o governador português desempenhava o seu papel
num ritual altamente elaborado, lado a lado com as autoridades indígenas,
ou os seus representantes59. Sem meios para embarcar numa estratégia de
conquista e domínio, restava às autoridades portuguesas valerem‑se do seu
principal trunfo, que era a integração dos povos autóctones nos circuitos
comerciais que iam desembocar nas suas feitorias costeiras. Quando por
algum motivo este modus vivendi se encontrava sob ameaça – como sucedeu
em 1844, com a chamada «revolta dos grumetes» em Bissau –, as feitorias
‑presídios pouco mais poderiam fazer do que emitir um pedido de socorro
às autoridades na Praia, ou esperar uma intervenção naval de uma potência
ocidental com interesses na vizinhança. Acontecia também que essas inter‑
venções estrangeiras podiam ser ocasionalmente suscitadas pela incapacidade
portuguesa em fazer cumprir as suas próprias leis, nomeadamente as que se
reportavam à erradicação do tráfico de escravos, situação muito comum na
Guiné nessa época. Em 1852, oficiais ingleses chegariam mesmo a ocupar
a ilha de Bolama e a anexá‑la, oito anos mais tarde, à Serra Leoa, com isso
Hist-da-Expansao_4as.indd 372 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 373
abrindo um contencioso com a Coroa portuguesa que só seria resolvido a
contento desta, em 1870, na sequência de uma arbitragem conduzida pelo
presidente norte‑americano Ulysses Grant60.
Em Angola, onde as ambições de Lisboa eram de outra escala e natureza,
ninguém ousaria ser muito optimista quanto à edificação de um «novo Brasil»
em finais da década de 1860. Apesar de se tratar da única colónia europeia
na África tropical «onde um branco podia avançar de oeste para leste numa
extensão de 3º em longitude (de Luanda ao Duque de Bragança) sem correr
o risco de ver a passagem obstruída pela vontade de uma autoridade afri‑
cana»61, a territorialização da autoridade portuguesa permanecia limitada e
frágil. Na realidade, em meados do século xix as suas prioridades – estabele‑
cidas em vários documentos emanados do Conselho Ultramarino – consistiam
ainda em completar a ocupação de toda faixa costeira, incluindo a foz do
Congo e o litoral adjacente, até Cabinda. A ocupação dos portos de Ambriz
e Quibala, e das minas de cobre de Bembe (concessionadas a um negreiro,
que financiaria parte das operações militares62), entre 1855 e 1856, seriam
três dos marcos mais salientes deste movimento de expansão na direcção do
Congo. Seria, contudo, uma marcha altamente acidentada, feita de avanços e
recuos, pois as tentativas portuguesas de afirmação comercial seriam sempre
combatidas pelos povos locais, incluindo alguns dos seus antigos «vassalos»
ou «aliados» do velho reino do Congo, e por uma Grã‑Bretanha atraída
pelas oportunidades comerciais do Baixo Congo. Uma expedição enviada
por Lisboa em 1860, integrada pelo duque do Porto, o futuro rei D. Luís I,
permitiu que alguns baluartes se salvassem e até que se conquistasse a cidade
de São Salvador; mas, no final da década, os Portugueses estavam novamente
na defensiva e seriam mesmo obrigados a bater em retirada de toda a região
a norte de Ambriz. Novos reveses se somaram em posições recentemente
conquistadas, como a «feira» de Cassange, assim hipotecando a estratégia
gizada pelo governador‑geral Coelho do Amaral (1854‑1870), que procurava
o «domínio da costa pela ocupação do interior»63. Em 1872, uma insurreição
na região dos Dembos, muito próxima de Luanda, reforçaria ainda mais este
sentimento de derrota. Sem grandes meios navais para enfrentar a pressão
britânica e com forças expedicionárias mal equipadas e altamente vulneráveis
à malária e outras maleitas, os Portugueses viam‑se obrigados a repensar
toda a sua política expansionista, optando por se concentrarem na zona
compreendida entre os rios Dande e Cuanza.
O que não significa, porém, que noutros aspectos o território tivesse
atravessado um período de estagnação. Com a gradual extinção do comércio
esclavagista transatlântico (os mercados norte‑americano e cubano encer‑
rariam finalmente entre 1863 e 1865), o comércio «lícito» conheceu uma
expansão apreciável, em grande medida assente em artigos como a cera, o
Hist-da-Expansao_4as.indd 373 24/Out/2014 17:17
374 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
marfim ou a borracha. Os povos africanos do interior continuaram a exercer
uma posição dominante nestes circuitos, organizando caravanas que iam ao
encontro dos sertanejos europeus e luso‑africanos ligados às casas comerciais
do litoral. Até cerca de 1870, Bacongos, Quiocos, Imbangalas e Ovimbundos,
além de equipados com armas de fogo adquiridas aos Portugueses, estavam
organizados em unidades políticas com algum grau de complexidade e sofis‑
ticação e tendiam agora a desenvolver outras actividades com um carácter
mais permanente, nomeadamente o cultivo de géneros agrícolas alvos de uma
maior procura do exterior, como certas oleaginosas ou o café64. Nas regiões
costeiras, bem servidas por linhas de navegação a vapor, europeus e crioulos
souberam ir tirando partido da procura internacional de produtos tropicais,
como a borracha, a cana‑de‑açúcar e o café, cultivados em fazendas que
empregavam trabalho servil africano em grande escala (sem contudo riva‑
lizarem com o volume de produção assegurada pelos próprios cultivadores
africanos)65.
Na outra costa de África, em Moçambique, o panorama era incompara‑
velmente menos risonho para os Portugueses. Mais isolada da Europa até à
abertura do Canal do Suez em 1869, a colónia do Índico continuava a ser um
território de fronteiras indefinidas, sem comunicações seguras, retalhada em
várias unidades e soberanias distintas, vulnerável ao «banditismo» e sujeita
a pressões exteriores de vária ordem, desde as incursões dos povos angunes
oriundos do Natal aos traficantes de escravos muçulmanos no Centro e
Norte, já para não falar do interesse de Ingleses e Bóeres na baía de Lourenço
Marques. A bom rigor, como nota Pélissier, falar de colónia é abusivo: na
realidade, estava‑se perante um conjunto de feitorias marítimas e fluviais cujo
movimento comercial, em finais da década de 1850, era responsável por qua‑
tro quintos das receitas fiscais locais. Não fora essa rede portuária, espalhada
por uma costa de 2400 quilómetros e ao longo do vale do Zambeze, seria
em vão que se tentariam encontrar outros símbolos do poder colonial em
Moçambique (ou sequer de estações missionárias em número significativo)66.
Em sectores‑chaves da economia, a preponderância de dinastias comerciantes
de origem asiática (hindus de Goa) era de tal ordem que alguns historiadores
alegam que seria mais correcto olhar para Moçambique como «uma colónia
da Índia Portuguesa do que de Portugal propriamente dito»67.
Sem recursos militares para impor aos africanos o pagamento de outro
tipo de impostos permanentes, era difícil esperar que os governadores mani‑
festassem grande empenho na erradicação dos circuitos esclavagistas, a prin‑
cipal fonte de receitas alfandegárias até inícios da década de 1860. Ainda
mais do que em Angola, a tentativa de pôr termo a essa realidade revelou‑se
uma tarefa muitíssimo complicada. Desde logo, a enorme extensão da costa
tornava a vigilância e repressão do tráfico uma tarefa difícil, não obstante as
Hist-da-Expansao_4as.indd 374 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑c. 1870) 375
acções punitivas contra negreiros empreendidas pela Royal Navy. Uma região
particularmente devastada pela seca dos anos de 1820, a Zambézia tornara
‑se o centro nevrálgico dessa actividade (e da do comércio de marfim), que
se encontrava em grande medida nas mãos de potentados afro‑portugueses
(os «muzungos») operando a partir dos antigos prazos da Coroa. Ocupando
áreas muito extensas, alguns destes domínios tinham evoluído para unida‑
des político‑territoriais autónomas, verdadeiros principados guerreiros, ora
«avassalados» à Coroa portuguesa, ora assumindo atitudes de independência
face aos seus agentes. Embora exibindo nomes portugueses (Alves da Silva,
Vaz dos Anjos, Ferrão, Sousa, Caetano Pereira, Cruz), muitos eram de ori‑
gem asiática (goesa ou siamesa); exibiam costumes e maneiras «europeias»,
mas estavam cada vez mais próximos do universo bantu em termos étnicos
e culturais. Quando o governo de Lisboa tentou limitar a sua autonomia,
substituindo o sistema dos prazos por um regime de arrendamento, em
1854, a reacção não se fez esperar. Nas décadas seguintes, toda a região
seria o palco de confrontos violentos entre as débeis companhias militares
enviadas pelos postos de Quelimane, Sena e Tete, e os poderosos exércitos
de chicundas (escravos guerreiros) de alguns dos senhores dos prazos, os
quais, entrincheirados nas suas paliçadas fortificadas (aringas) e devidamente
equipados com armas europeias, colocariam um desafio tão ou mais temível
às autoridades portuguesas do que aquele que fora protagonizado pelos
regulados africanos em épocas anteriores. Algumas figuras, como o senhor
de Massangano, António Vicente da Cruz, dito Bonga, de reputação feroz
(o seu gosto por exibir os crânios dos adversários nas estacas da sua aringa
tornar‑se‑ia lendário), infligiram derrotas humilhantes aos Portugueses. Sem
disporem de tecnologia que lhes permitisse mitigar as suas desvantagens de
partida (pior conhecimento do terreno, maior exposição a doenças), estes
esforçaram‑se por manipular rivalidades alheias e estabelecer alianças com
outros mercenários indígenas, como o afro‑goês Manuel António de Sousa,
que até finais da década de 1880 se tornará num dos mais temíveis condot‑
tieri a operar em Moçambique68. Tão eficaz se revelou esta estratégia nalguns
locais, que o abandono do sistema dos prazos foi momentaneamente posto
de lado, por forma a haver maneira de recompensar os cabos‑de‑guerra fiéis
à Coroa portuguesa69.
Tudo ponderado, e não obstante o impacto (limitado) de medidas como
a abolição do tráfico de escravos na configuração económica de alguns terri‑
tórios, a principal conclusão que se poderá retirar de um balanço ao Império
Português por volta de 1870 é a de que, em termos estruturais, nada de muito
substancial se alterara em meio século. Tirando os arquipélagos atlânticos
e as «conquistas» mais antigas na Ásia e Oceânia, as áreas territoriais sujei‑
tas a uma influência ou domínio efectivo português no continente africano
Hist-da-Expansao_4as.indd 375 24/Out/2014 17:17
376 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
permaneciam extraordinariamente modestas. O sonho de Sá da Bandeira de
criar um grande compacto lusitano na África Central‑Meridional esbarrara
com toda a espécie de dificuldades e resistências. Na metrópole, o entusiasmo
com o ultramar teimava em não passar de um registo essencialmente decla‑
matório, na maior parte dos casos destituído de qualquer propósito mais
consequente. Inclusivamente, os reveses militares das décadas de 1860‑1870
viriam a criar algum espaço para a manifestação de ideias mais iconoclastas
acerca do futuro do império, que passavam pela concentração de recursos
nalgumas colónias vistas como potencialmente rentáveis e por uma política
de «negligência benigna» (ou mesmo de alienação, como pretendiam os mais
radicais desta corrente de opinião) face àquelas que suscitavam demasiados
problemas no tocante aos planos de colonização que estavam na ordem
do dia.
Sem meios para se estabelecerem em força com administradores, soldados,
engenheiros, colonos e missionários, os Portugueses tiveram de se resignar
a manter as modalidades de governação do passado, que pressupunham
uma fusão de competências civis e militares nas zonas onde era possível
garantir uma presença armada regular, pactos com potentados mestiços e
chefes tradicionais (alegadamente «avassalados» à Coroa e muitas vezes
integrados honorificamente no Exército português) e uma cooptação das elites
crioulas «destribalizadas» para vários patamares intermédios da administra‑
ção. A este esqueleto de Estado colonial, qualquer noção de «racionalidade
legal‑burocrática» era largamente estranha, prevalecendo as velhas lógicas
clientelares e patrimoniais típicas das sociedades de Antigo Regime – situação
que se manteria ainda durante largos anos70.
Hist-da-Expansao_4as.indd 376 24/Out/2014 17:17
17
A FEBRE DA PARTILHA
(c. 1870‑1890)
N o início da década de 1870, tal como sucedera vinte anos antes, os
estímulos para que Portugal devotasse uma maior atenção aos assuntos
coloniais vieram, sobretudo, do exterior. A descoberta das minas de diamantes
em Kimberley, em 1867, e de ouro no rio Orange, em 1868 (ambas na África
do Sul), a abertura do Canal do Suez, no Egipto, em 1869, assim como a
aplicação de novas tecnologias saídas da revolução industrial a actividades
relacionadas com a expansão ultramarina, anunciavam uma nova era. A cor‑
rida ao império, e à África em particular (o scramble, na sua consagrada
expressão anglo‑saxónica), estava prestes a iniciar‑se1. A isso não foi também
alheio o novo alinhamento de forças que se desenhou no principal pólo irra‑
diador das energias imperiais – a Europa Ocidental –, uma vez concluídos
os processos de unificação italiano e alemão. À era da supremacia britânica
sucedia agora um sistema multipolar, com o novo Reich alemão, em virtude
da sua demografia e poderio industrial, a posicionar‑se para desfrutar de uma
preponderância inédita em termos europeus.
Ironicamente, no preciso momento em que o Estado‑nação atingia um dos
seus momentos de afirmação apoteóticos, não só os impérios continuavam
a dominar a paisagem geopolítica na Eurásia, como a expansão ultramarina
era crescentemente encarada como uma solução para alguns dos problemas
criados pela recessão espoletada pelo pânico financeiro de 1873.
Numa época em que as relações entre os estados pareciam assumir a
feição de concursos de virilidade, uma imprensa cada vez mais massificada,
e alimentada por uma rede globalizada de comunicações telegráficas, dava
honras de primeira página às façanhas de aventureiros e exploradores que
rivalizavam por decifrar os mistérios ocultos da «África Negra», ou exaltava
a acção humanitária de Livingstone e dos esquadrões antiesclavagistas da
Hist-da-Expansao_4as.indd 377 24/Out/2014 17:17
378 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Royal Navy. Na literatura e artes plásticas, a atracção pelo «exótico», ou pela
redescoberta das grandes civilizações milenares do Próximo Oriente e da Ásia,
já em evidência desde o século xvi, estendia‑se agora ao continente africano.
Em Portugal, estas oscilações sistémicas não passariam despercebidas e,
como veremos, serviriam de estímulo para uma mobilização de esforços e
iniciativas que visavam mostrar às restantes potências europeias o renovado
empenhamento do país na valorização dos seus activos imperiais. À seme‑
lhança do sucedido em momentos anteriores, porém, tal desiderato exigia
meios que uma potência fraca como Portugal muito dificilmente poderia
reunir. Em 1890, uma disputa aparentemente insignificante com a Inglaterra,
na África Austral, encarregar‑se‑ia de mostrar até que ponto uma atitude
demasiado voluntariosa poderia comprometer a frágil posição portuguesa
no contexto internacional do «novo imperialismo».
Brincar aos impérios torna‑se mais sério
Bem entendido, a apetência dos europeus ocidentais pela expansão ultra‑
marina estava longe de constituir um facto novo no século xix. Tratava‑se,
porém, de uma expansão de características distintas da que prevalecera até
finais do século xviii, essencialmente baseada em operações de prestígio e con‑
quista, fundação de colónias, monopólios e guerras comerciais. Forte da sua
base manufactureira, a potência naval hegemónica, a Grã‑Bretanha, encon‑
trara desde então formas economicamente mais «racionais» de assegurar as
bases da sua prosperidade. As suas políticas passaram a ser essencialmente
guiadas pela preocupação de definir condições de investimento e termos de
troca vantajosos com as regiões que iam sendo integradas numa economia
mundial em expansão, e proteger as grandes linhas de comunicações trans
oceânicas. O seu modelo de penetração económica consistia na aquisição de
enclaves, bases e empórios, que funcionavam depois como pólos de irradiação
cultural, política e comercial. Apenas quando os poderes locais se mostra‑
vam mais renitentes em cooperar com esta abordagem é que a hipótese de
uma intervenção armada, seguida da imposição de um controlo político
directo, era equacionada (e preferencialmente com um carácter «cirúrgico»
e temporário). Esta estratégia mais informal – designada por «imperialismo
do livre‑câmbio»2 – tornou‑se um artigo de fé entre as elites decisoras bri‑
tânicas até praticamente à década de 1880, sendo tanto um produto como
uma causa das transformações políticas e sociais resultantes da ascensão da
indústria, das classes médias e das reformas parlamentares. Em França, uma
modalidade de colonização mais «racional» foi defendida em De la Coloni‑
sation chez les Peuples Modernes (1874), de Paul Leroy‑Beaulieu, um tratado
Hist-da-Expansao_4as.indd 378 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 379
que enaltecia uma influência baseada na exportação de capitais, técnicas
e quadros especializados e na gradual preparação dos «povos indígenas»
para o governo autónomo3. Noutros países, a preferência por um «imperia‑
lismo barato», que não requeresse o financiamento de onerosos esquemas
de povoamento e operações militares, era igualmente preponderante4, como
muito bem o demonstra a persistente relutância das Cortes portuguesas e
outros parlamentos europeus em aprovar os créditos que suportassem esse
género de iniciativas.
O abrandamento do impulso aquisitivo dos Europeus nas décadas cen‑
trais do século xix fora igualmente forçado por obstáculos de natureza mais
física; mas a partir de 1870, sensivelmente, respostas eficazes começaram a ser
encontradas para vencer as dificuldades que a topografia, o clima, as doenças
ou a resistência das sociedades autóctones colocavam à penetração e fixação
do homem branco nas regiões tropicais. De forma empírica, médicos e milita‑
res europeus descobriram as qualidades profilácticas do quinino (uma droga
extraída de uma planta originária dos Andes), décadas antes de o vector da
malária ter sido identificado (1897). A sua produção em quantidades indus‑
triais, graças ao sistema de plantação britânico na Índia e holandês em Java
(e à expertise científica de vários jardins botânicos coloniais), proporcionou
às potências europeias uma das suas tecnologias imperiais mais notáveis.
Os seus efeitos práticos não tardaram a fazer‑se sentir, muito embora a gene‑
ralização das profilaxias antipalúdicas, e de outras abordagens encorajadas
pela biomedicina colonial, se tenham processado a um ritmo desigual entre
os poderes envolvidos na corrida à África, e com um grau de sucesso também
ele bastante diferenciado5.
O impacto das revoluções tecnológicas mais estreitamente associadas à
indústria militar terá sido, porventura, ainda mais decisivo. Das espingardas
estriadas às carabinas de carregar pela culatra e às de repetição, dos canhões
móveis em aço à moderna metralhadora, a rapidez e o poder de fogo dos
exércitos europeus deixaram de ter resposta à altura, ao ponto de tornar
quase irrelevantes as situações em que estes se encontravam numa posição
de inferioridade numérica na ordem dos 20 para 1. Em 1898, na Batalha
de Omdurman, no Sudão, este fosso tecnológico entre europeus e africanos
teria uma demonstração eloquente na desproporção de baixas: 11 000 para
as forças mahdistas, e apenas 49 para os britânicos, que na década anterior
haviam averbado uma humilhante derrota diante dos mesmos adversários6.
Comunicações fáceis – de homens, mercadorias e informações – foram
outro trunfo na manga dos Europeus. A tecnologia do vapor passou a servir
as grandes companhias de navegação que asseguravam as ligações entre as
metrópoles e os principais portos africanos e asiáticos, registando‑se uma
significativa redução dos tempos de viagem, e um concomitante aumento do
Hist-da-Expansao_4as.indd 379 24/Out/2014 17:17
380 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
volume de tráfico e tonelagem, sobretudo após a abertura do Canal do Suez.
A sua aplicação nos cursos fluviais permitiu a exploradores, missionários,
mercadores e soldados europeus penetrarem muito mais extensamente no
interior dos continentes asiático e africano, não obstante as dificuldades
logísticas que se apresentavam (para contornar cataratas ou rápidos, as
embarcações tinham por vezes de ser desmontadas e transportadas por
carregadores nativos). Embora já na década de 1840 (Primeira Guerra do
Ópio) a actuação das canhoeiras se tivesse revelado decisiva para as ambi‑
ções britânicas, seria apenas no início da década de 1860 que os primeiros
vapores da Royal Navy começaram a subir o curso de rios como o Níger,
em expedições punitivas contra os africanos que procuravam repelir a pene‑
tração comercial europeia7.
Sem meios para acompanhar a evolução das técnicas de construção naval
associadas à revolução industrial, Portugal evidenciaria grande dependência
da tecnologia importada. Depois de um ensaio falhado em 1858‑1864 (fruto
da falência da Companhia União Mercantil, estabelecida para assegurar
carreiras de vapor para as possessões africanas), o país vira‑se forçado a
subsidiar empresas britânicas para encurtar o tempo de viagem até Angola
e Moçambique. Apenas em 1880, com o lançamento da Empresa Nacional
de Navegação (também ela subsidiada), foi possível iniciar carreiras regu‑
lares de vapores portugueses para Angola, continuando as ligações com
Moçambique e as colónias do Oriente dependentes do fretamento de navios
estrangeiros8. Com vinte anos de atraso relativamente a outras potências, a
Marinha portuguesa adoptaria as primeiras canhoeiras modernas na década
de 18609, estreando‑se na navegação a vapor em Angola, no rio Cuanza, em
1870; na década seguinte, seria a vez do lago Niassa tornar‑se o palco para
as primeiras operações navais portuguesas com esse tipo de embarcações.
A mania dos comboios, a grande «bolha especulativa» da década de 1840,
teve também os seus entusiastas na esfera colonial, que viam na expansão
desse meio de transporte o mais eficaz instrumento para optimizar a explo‑
ração económica de certas regiões e levar a «civilização» às populações
primitivas. No caso do Império Português, seria o arranque da exploração
mineira no Transvaal a servir de estímulo para o estabelecimento do primeiro
troço ferroviário em Moçambique (a ligação Lourenço Marques‑Pretória,
inaugurada em 1895), tendo Angola de esperar até 1899 para que a ligação
Luanda‑Ambaca, idealizada com o objectivo de desviar o comércio da bor‑
racha do Congo, ficasse completada, após 13 acidentados anos de obras10.
Por fim, a não menos estratégica disseminação das informações em tempo
quase real, tornada possível pela operacionalização dos cabos submari‑
nos, conheceria uma assinalável aceleração a partir de 1870, ano em que
é inaugurada a primeira ligação telegráfica entre a Grã‑Bretanha e a Índia.
Hist-da-Expansao_4as.indd 380 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 381
Previsivelmente, seria através da rede global britânica de cabos submarinos
que as colónias portuguesas acederiam ao telégrafo: Moçambique em 1879
(graças às ligações estabelecidas entre Adém e o cabo da Boa Esperança),
e Angola em 188511.
Em finais da década de 1880 estavam pois reunidos todos os componentes
que viabilizariam as etapas críticas do moderno surto imperial europeu: pene‑
tração, conquista e consolidação. Eliminando obstáculos e embaratecendo
processos, as inovações tecnológicas ocidentais vieram tornar plausíveis
planos de expansão ultramarina que até aí eram muitas vezes recebidos com
cepticismo, ou mesmo desdém12.
Identificar a «faísca» que tornou as classes governantes europeias subi‑
tamente mais interessadas num engrandecimento dos seus estados através
de aquisições territoriais ultramarinas é tarefa ingrata. Durante largo tempo
desacreditados pela sua inclusão em esquemas determinísticos, os factores de
ordem económica não podem ser descartados de qualquer inquérito às causas
do «novo imperialismo», sob a pena de se cair num reducionismo de sentido
contrário13. Para uma economia capitalista em expansão, o livre acesso a
mercados e a novas fontes de matérias‑primas era uma questão vital, mesmo
se os custos associados à sua obtenção fossem muitas vezes tidos como pouco
razoáveis. Regiões anteriormente isoladas, ou onde a penetração ocidental
era resistida por elites mercantis locais, foram sendo integradas na economia
internacional, e geralmente empurradas para um padrão de especialização
que as colocava numa situação de dependência face ao centro capitalista.
A partir de certa altura, o carácter eminentemente especulativo de muitos
dos esquemas de exploração colonial arrefeceu o entusiamo dos investidores
europeus, que geralmente preferiam canalizar os seus fundos para regiões
e países onde a remuneração do capital aplicado parecia mais segura, como
a América do Sul, os Estados Unidos da América (EUA) ou a Rússia.
Ainda assim, através de uma manipulação hábil de canais informais e
mecanismos de lobbying, um número apreciável de aventureiros e grupos
de pressão foram capazes de influenciar a política dos governos em proveito
próprio. Em vários casos, isso acarretava a imposição de formas de controlo
político directo nas regiões visadas por esses interesses, fosse para eliminar
concorrentes, fosse para garantir regimes comerciais exclusivos (ou de quase
exclusividade, graças a elevadas pautas aduaneiras) ou a segurança de certos
investimentos. Como muitas das regiões do continente africano não dispu‑
nham de unidades sociopolíticas suficientemente sólidas para servirem de
intermediários fiáveis, a opção pelo «imperialismo informal» começou a ser
reequacionada; de forma por vezes contrariada, e nalguns casos quase inad‑
vertida, os protectorados deram progressivamente lugar a colónias dotadas
de um aparato administrativo formal. Cálculos estratégicos – impedir que
Hist-da-Expansao_4as.indd 381 24/Out/2014 17:17
382 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
concorrentes e rivais impusessem a sua hegemonia em certos locais, ou garan‑
tir a segurança de rotas, entrepostos ou possessões mais antigas – podiam
também constituir motivações importantes, especialmente para as potências
mais sensíveis à segurança das rotas transoceânicas, como era o caso da Grã
‑Bretanha vitoriana14.
Outro factor a ter em conta remete‑nos para aquilo que à época se tornou
conhecido em várias sociedades europeias como a «questão social», ou seja,
os desafios que o crescimento do operariado urbano colocava à estabilidade
da ordem liberal‑capitalista (mas ainda muito penetrada pelo ethos guerreiro
das elites terratenentes). A possibilidade de se exportarem para o ultramar os
excedentes demográficos das metrópoles europeias, e em especial os elemen‑
tos identificados como mais turbulentos ou socialmente problemáticos, foi
encarada como uma forma de aliviar as tensões sociais15. Incomodada com as
concessões a uma modernidade liberal e burguesa, uma parte da aristocracia
europeia tradicionalmente ligada à carreira das armas desenvolveu também
forte apetência por comissões no ultramar. Talvez por isso o francês Ernest
Renan tenha profetizado que países que não colonizassem se arriscavam a
ser campos de «guerra entre ricos e pobres»16. Em 1896, um deputado às
Cortes portuguesas dizia algo de semelhante: «É nas nossas colónias que o
espírito revolucionário do trabalhador se acalmará.»17 Contudo, no último
terço do século xix (e para além desse período, aliás), as grandes correntes
migratórias europeias procuraram sensivelmente os mesmos destinos que
os capitais – o mesmo é dizer que continuaram a preferir ou os domínios
britânicos no Novo Mundo (a que se poderia acrescentar a África do Sul,
única região do continente negro que atraía emigrantes europeus em núme‑
ros significativos), os países sul‑americanos, como o Brasil e a Argentina, ou
os EUA, com isso frustrando muitos dos desígnios de «engenharia social»
acalentados pelos ideólogos da moderna colonização. No caso português,
o inexpressivo movimento migratório para as colónias africanas no último
terço do século xix continuou a ser alimentado, sobretudo, por presidiários
de delito comum e alguns dissidentes políticos.
De certa forma, foi também a ansiedade suscitada pelo ritmo e escala
das mudanças culturais e sociais inerentes aos processos de modernização
económica que a Europa experimentou ao longo do século xix que esteve
na base do «redespertar religioso», fenómeno estreitamente associado às
dinâmicas imperiais de Oitocentos. Nos países protestantes, os movimen‑
tos evangélicos desempenharam um papel crítico no empenhamento oficial
britânico no combate aos últimos circuitos escravistas, ao passo que no
mundo católico uma cruzada antiesclavagista, animada inicialmente pelo
cardeal Charles Lavigerie, o fundador dos Padres Brancos, alcançaria um
forte impacto internacional. Esse fervor humanitário foi, em muitos aspectos,
Hist-da-Expansao_4as.indd 382 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 383
um motor da expansão imperial europeia, embora as relações entre um e
outro fenómeno nunca tivessem sido simples. Para muitos missionários,
apenas a presença administrativa e militar das potências europeias poderia
oferecer alguma segurança aos africanos vítimas das «razias» esclavagistas,
geralmente conduzidas por agentes de mercadores árabes18. Se nalguns ter‑
ritórios missionários de congregações católicas se identificavam plenamente
com as políticas nacionalistas dos estados que os patrocinavam, isso não
garantia que o organismo coordenador da política missionária da Igreja de
Roma, a sociedade Propaganda Fide, estivesse em sintonia com os respectivos
governos. Na realidade, em estados como Portugal, onde a postura regalista
da monarquia absoluta foi assumida sem hesitações pelos responsáveis do
liberalismo, a definição de uma política missionária podia tornar‑se num
assunto especialmente espinhoso, nomeadamente quando se tratou de dis‑
putar à Santa Sé o direito de decretar circunscrições eclesiásticas ou áreas
de missionação apostólica em territórios que ficavam sob a jurisdição do
padroado português em África19.
Embora as críticas que conhecidos economistas e filósofos da tradição
iluminista dirigiram às políticas coloniais mercantilistas dificilmente mere‑
cessem o epíteto de «anti‑imperialismo», não restam dúvidas que até 1830 a
legitimidade moral dos impérios estava longe de ser consensual. A partir dessa
data, porém, o tom dos debates mudou substancialmente. O sentimento de
confiança nas virtualidades do «progresso» segundo a sua acepção ocidental,
a verificação do fosso entre a modernidade europeia, construída sobre as
grandes realizações da razão, da ciência e da técnica, e a «fossilização» ou
«primitivismo» exibido por outras sociedades e culturas da África, Próximo
Oriente e Ásia, alimentaram atitudes de etnocentrismo e arrogância cultural
que serviriam para justificar a imposição de novas modalidades de domina‑
ção sobre os povos não‑europeus, crescentemente assimilados à categoria de
«bárbaros»20. Na segunda metade do século xix, a transposição das teorias
evolucionistas associadas a Darwin para o plano dos factos sociais viria
inclusivamente a conferir uma credibilidade pseudocientífica a esse género
de apreciações, que em finais de Oitocentos assumiriam um cunho mais aber‑
tamente racista. De fundo paternalista ou autoritário, servindo propósitos
humanitários genuínos, ou simplesmente dando cobertura a finalidades de
saque e pilhagem, a «missão civilizacional» tornou‑se um dos conceitos defi‑
nidores da época. Podia significar muitas coisas ao mesmo tempo: erradicar a
escravatura, promover a temperança, converter o «gentio» à fé cristã, fomen‑
tar o comércio livre e o valor «redentor» do trabalho, espalhar os benefícios
da ciência e da técnica modernas, difundir «padrões de conduta» europeus.
Os seus agentes podiam ser vários – missionários, comerciantes, médicos,
diplomatas, soldados – e no decurso do scramble muitas das expedições
Hist-da-Expansao_4as.indd 383 24/Out/2014 17:17
384 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
científicas e viagens de exploração ao interior do continente arvoravam‑se
desse propósito para oferecer a sua «protecção» às populações nativas. Com
o tempo, as realizações nestes domínios foram‑se tornando a bitola pela qual
o desempenho das potências imperiais – ou dos aspirantes a tal estatuto – era
examinado, comparado e, de alguma forma, legitimado.
Acelerar o passo, para não perder o pé
Como foi apanhado o Império Português neste vórtice? Ao contrário do
que sucedia noutros países, o «sortilégio» do continente africano – e a noção
de que eram as possessões aí situadas que lhe davam um peso internacional
distinto – não constituía propriamente uma novidade no imaginário das elites
portuguesas. Como já vimos, ele estivera sempre presente, com intensidade
variável, desde a independência do Brasil. O que talvez fosse novo na con‑
juntura pós‑1870 era a componente de ansiedade e medo que rapidamente
tomou conta das classes dirigentes a propósito de uma possível perda das
áreas de influência em África face à cobiça de interesses alheios. Como obser‑
vou Valentim Alexandre, «o mito da espoliação começava a ganhar corpo»21.
O primeiro sobressalto, como é bem sabido, ocorreria na sequência das
repercussões obtidas pelas viagens de exploração ao interior do continente
negro, incluindo as regiões reclamadas por Portugal como pertencendo à sua
esfera de influência. O contraste entre a parafernália técnica destas expedi‑
ções (patrocinadas por sociedades científicas, governos ou monarcas) e os
relatórios eruditos que eram capazes de produzir e divulgar, por um lado, e
a memória cada vez mais esbatida das travessias terrestres dos sertanejos e
pumbeiros luso‑africanos, por outro, começou a ganhar foros de uma humi‑
lhação nacional. Sintomaticamente, quando em 1876 Leopoldo II decide con‑
vocar a Conferência Geográfica de Bruxelas, da qual viria a sair a Associação
Internacional Africana (e, mais tarde, os organismos que iriam promover a
criação do famigerado «Estado Livre do Congo»), Portugal foi excluído da
lista de convidados. Mas para um país tão cioso dos seus pergaminhos histó‑
ricos, as deambulações de viajantes como Livingstone, Young e Cameron – e
as suas reivindicações de pioneirismo no mapeamento de algumas regiões –
não eram apenas vexatórias. Para além de fragilizarem um dos argumentos
legitimadores da posição colonial de Portugal (os «títulos de descoberta»),
os seus relatos punham em evidência o estado de negligência, desmazelo e
imoralidade em que se encontrariam muitos dos seus domínios africanos.
Tudo isto tinha precedentes. Mas num contexto em que a luta antiesclavagista
e a expansão da «civilização» e do comércio livre eram mobilizadas para
dar cobertura a desígnios eminentemente predatórios (como os do monarca
Hist-da-Expansao_4as.indd 384 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 385
belga), os argumentos portugueses para assegurar a sua fatia do bolo africano
pareciam pífios. As viagens e missões que se multiplicavam não se limitavam
a reconhecer a hidrografia, realizar observações meteorológicas, medir lati‑
tudes e longitudes, recolher espécies de fauna e flora ou a erguer a inevitável
«estação civilizadora»; em muitos casos, estava‑se perante expedições forte‑
mente armadas, que celebravam tratados de comércio, de «avassalamento» ou
transferência de soberania com chefes tradicionais africanos (em muitos casos
pouco familiarizados com os conceitos expressos nesse tipo de documentos)22.
Em 1876, o toque a rebate fez‑se sentir em Portugal. Com um atraso de
décadas face a outras instituições congéneres na Europa, o país assistia à
criação da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), uma associação privada
que rapidamente se impôs como o lobby colonial português por excelência, e,
quase em simultâneo, da Comissão Central Permanente de Geografia (CCPG,
adstrita ao Ministério da Marinha e do Ultramar, e «amalgamada» com a
primeira ao fim de quatro anos), por iniciativa do ministro Andrade Corvo.
Reunindo figuras conhecidas de vários quadrantes da vida nacional, a SGL
desempenhou um papel‑chave nesta conjuntura particular, «educando» a
opinião pública para os desafios e ameaças que pairavam sobre o império,
actuando como conselheira do poder (através de estudos, memorandos,
planos) e realizando diligências para que as reivindicações de Portugal às
regiões ainda mal conhecidas da África Austral fossem levadas a sério na
Europa. Um desafio ingrato, pois, não obstante comerciantes e viajantes
afro‑portugueses terem há muito um conhecimento empírico da região, as
autoridades lusas eram incapazes de apresentar mapas, roteiros ou atlas que
atestassem um conhecimento rigoroso dos territórios que reclamavam com
base em argumentos de precedência histórica. Muito mais do que qualquer
outro lobby económico, foi a SGL que actuou como a plataforma aglutina‑
dora do pequeno mas aguerrido núcleo de entusiastas do expansionismo
imperial que, entre os finais da década de 1870 e o Ultimato, deram o tom à
discussão sobre África na política portuguesa23.
Em 1877, o seu secretário, Luciano Cordeiro, um deputado regenerador,
argumentou energicamente a favor do patrocínio governamental a uma
expedição científica à África Central‑Austral com o propósito de explorar a
bacia do Zaire e identificar as relações dessa via fluvial com vários afluentes,
o Zambeze e os Grandes Lagos, objectivo que ia ao encontro das velhas aspi‑
rações daqueles que esperavam poder estabelecer itinerários de comunicação
entre Angola e Moçambique, primeiro passo para um futuro continuum
territorial lusitano, «da costa à contracosta». Essa sugestão, que surgia na
sequência de uma multiplicação de expedições internacionais à bacia do
Congo, ia no sentido contrário de uma outra, oriunda da CCPG, mais con‑
sentânea com as perspectivas limitadas que os responsáveis governativos,
Hist-da-Expansao_4as.indd 385 24/Out/2014 17:17
386 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
particularmente Andrade Corvo, tinham acerca das possibilidades coloniais
de Portugal naquela conjuntura. Devido ao carácter oficioso da expedição,
as instruções finais fornecidas aos três homens encarregados de liderá‑la, o
capitão do Exército Alexandre Serpa Pinto e os dois oficiais da Marinha,
Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo, acabariam por lhes fixar objectivos
mais restritos, que consistiam em recensear o percurso do rio Cuango, em
Angola, «nas suas relações com o Zaire e com os territórios portugueses da
costa ocidental», o que poderia abranger também as áreas onde se situavam
as nascentes do Zaire e do Zambeze24.
A viagem – a primeira de uma vaga de expedições sob patrocínio oficial
que se prolongaria até ao início da década de 1890 – iniciou‑se em Julho de
1877 e, embora não isenta de alguns acidentes de percurso (a que não foi
alheia a impetuosidade de Serpa Pinto, desde o início empenhado em ir ao
encontro dos objectivos mais ambiciosos da SGL), pode considerar‑se como
bem‑sucedida em termos políticos. Partindo de Benguela, os exploradores
percorreram extensos trajectos no interior de Angola e Moçambique, rece‑
beram conselhos e orientações do célebre sertanejo Silva Porto, no Bié, ponto
onde os seus caminhos se separaram. Capelo e Ivens seguiram mais à letra as
instruções recebidas em Lisboa, o que os levou a ficarem‑se pelo estudo do
curso superior do Cuango, nas «terras de Iaca», ao passo que Serpa Pinto
optou por rumar a sul por sua conta e risco, cruzando o Sudeste de Angola,
o reino do Barotse e o deserto do Calaári, com o propósito de terminar em
Quelimane (contingências várias obrigá‑lo‑iam a concluir a viagem em Pre‑
tória). Muitos dos objectivos científicos da expedição ficaram por alcançar,
nomeadamente o levantamento completo do Cuango até à confluência com
o Zaire, sendo que o rigor das observações de Serpa Pinto seria disputado
por vários comentadores com conhecimento das regiões por ele exploradas.
Mas, no fundo, isso talvez não fosse o mais importante. À semelhança do
que sucedera com muitas outras viagens semelhantes, o aspecto «heróico» e
«patriótico» da empresa quase eclipsou as preocupações de teor mais cientí‑
fico. E, com efeito, se algo não foi descurado na expedição foi o seu sentido
político – da publicidade conferida aos preparativos às recepções apoteóticas
oferecidas aos exploradores e posterior publicação dos seus relatos (no caso
de Serpa Pinto, com direito a edição em língua inglesa), sem esquecer os con‑
tactos que no seu decurso foram sendo estabelecidos com alguns potentados
africanos, com vista a convencê‑los das vantagens de encetarem relações
comerciais com os Portugueses (o «Muene Puto»)25.
Em síntese, com alguns anos de atraso Portugal parecia finalmente em
condições de reclamar o seu lugar no grande movimento internacional de
exploração geográfica. Cartografar o terreno era um primeiro passo para que
sobre ele fosse depois estabelecida uma jurisdição. Nos anos seguintes, novas
Hist-da-Expansao_4as.indd 386 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 387
viagens – associadas a figuras ainda hoje ubíquas na toponímia das vilas e
cidades portuguesas – acrescentariam densidade aos mapas dos territórios da
África Austral. Entre 1884 e 1887, por iniciativa de Manuel Pinheiro Chagas,
ministro do Ultramar e um dos grandes entusiastas do expansionismo impe‑
rial luso, a cadência deste movimento aumentou26. Capelo e Ivens realizaram
a muito celebrada travessia «da costa à contracosta» (1884), num trajecto
que os levou de Pinda, próximo de Porto Alexandre, no Sul de Angola, a
Quelimane, na Zambézia. Em 1885‑1886, uma expedição de Serpa Pinto
e Augusto Cardoso (a mais dispendiosa de todas, envolvendo 720 pessoas)
explorou «cientificamente» o Norte de Moçambique e a região do lago
Niassa (onde a presença de missões protestantes britânicas e da Companhia
dos Lagos Africanos era vista com crescente apreensão), mas sem descu‑
rar outros objectivos, como o «avassalamento» de alguns régulos locais;
mais a sul, António Maria Cardoso e Paiva de Andrade movimentavam‑se
entre o Alto Zambeze e o Save. Em Angola, partindo do Malanje, Henrique
Dias de Carvalho atravessou as Lundas até aos domínios do Muantiânvua
(1884‑1887), onde já haviam surgido notícias que davam conta do interesse
de belgas e alemães. Faltava dar o passo seguinte – garantir que os itinerários
agora fixados seriam acompanhados por uma presença de carácter mais per‑
manente, ora através da abertura de relações políticas e comerciais com alguns
dos potentados locais, ora através da fundação de «estações civilizadoras».
Num curto lapso de tempo, a autoconfiança dos Portugueses conheceu uma
reviravolta. Os relatos dos seus exploradores eram agora lidos e citados nas
associações científicas e nos círculos eruditos europeus. Subitamente, o velho
sonho de uma via para o coração do Baixo Congo começava a parecer um
desígnio tangível, mesmo se a região se tivesse tornado na grande arena onde
se entrechocavam as ambições de Ingleses, Franceses e Belgas.
Porque a empresa imperial carecia de uma legitimação moral, os governos
da monarquia perceberam que não poderiam negligenciar a acção missionária
como haviam feito até então e, muito menos, o relacionamento com uma
Santa Sé que dera já inúmeras indicações quanto à sua indisponibilidade
para subordinar a sua agenda pastoral às ambições e propósitos de um
Estado que continuava a mostrar‑se indeciso nas suas políticas para a mis‑
sionação – algo que em larga medida se prendia com a saliência da «questão
religiosa» nas disputas domésticas do liberalismo português27. De forma
muito simplista, o dilema dos políticos liberais poderia ser assim resumido:
por um lado, reconheciam a importância das ordens religiosas católicas como
auxiliares na acção colonizadora que pretendiam fomentar; mas, por outro
lado, estavam bem cientes dos custos políticos em que podiam incorrer se os
sectores mais secularistas decidissem identificar eventuais «concessões» ao
ultramontanismo para efeitos de chicana política. A instalação de algumas
Hist-da-Expansao_4as.indd 387 24/Out/2014 17:17
388 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
congregações estrangeiras no ultramar – destinadas a complementar os con‑
tingentes limitados de missionários formados em Cernache do Bonjardim
– foi por isso sempre autorizada de forma pontual e cautelosa e, no tocante
à sua presença na metrópole, sem um estatuto legal bem definido (situação
apenas corrigida em 1901)28.
Em finais da década de 1870, a intensificação da competição imperialista,
e em particular as notícias recentes que davam conta do estabelecimento de
missões estrangeiras (a Livingstone Inland Mission e a Sociedade Missio‑
nária Baptista) em áreas de eleição para os adeptos de uma política mais
expansionista, como o Congo, veio conferir um novo sentido de urgência à
questão missionária e aumentar a apetência das autoridades pela «funcio‑
narização» dos agentes missionários. A sua articulação com comerciantes e
com representantes do Estado deveria ser encorajada, devendo os missioná‑
rios enviados à corte do rei do Congo ser portadores de instruções políticas
bastante precisas (restabelecimento da influência portuguesa, perdida desde
os conflitos dinásticos da década de 1860)29.
O clímax deste estado de espírito ganhou expressão em 1881, num docu‑
mento tornado público pelos membros da Comissão Africana da SGL, e que
poderá talvez ser considerado como o mais elaborado plano de expansão
portuguesa na África Austral produzido até àquela data. O seu título gran‑
diloquente – «Apelo ao Povo Português em Nome da Honra, do Direito, do
Interesse e do Futuro da Pátria» – fazia jus às ambições que nele se plasma‑
vam. Apontando a África Central‑Austral como uma terra de maná, a chave
mágica para a prosperidade portuguesa, o documento propunha que o país
respondesse às movimentações de outras potências através da rápida mul‑
tiplicação de «estações civilizadoras» («nos territórios sujeitos e adjacentes
ao domínio português em África»), única forma de evitar a «expropriação
por utilidade humanitária» que em vários estados europeus se alvitrava,
atendendo ao estado de abandono a que os Portugueses haviam votado as
suas possessões. Em termos territoriais, não se pedia pouco: nada menos
que toda a margem esquerda do Zaire, sem excluir uma presença futura
no estuário do rio, por forma a reforçar a segurança da fronteira norte de
Angola (e, claro, capturar os fluxos comerciais daquela grande via fluvial).
Na outra costa, a coisa não ficava por menos: aqui o ponto nevrálgico seria
o controlo do lago Niassa, no âmbito de uma estratégia de alargamento das
zonas de influência nacionais no hinterland de Moçambique (numa primeira
fase através da abertura de corredores para o interior, a partir dos portos e
presídios do litoral), tendo em vista a formação de um grande compacto de
costa a costa susceptível de emprestar outra coesão à África Austral lusitana30.
Para além destas sugestões do «Apelo», outras ideias fervilhavam tam‑
bém nos círculos afectos à SGL. A reactivação da actividade missionária,
Hist-da-Expansao_4as.indd 388 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 389
devidamente enquadrada pelo Estado, era uma das medidas mais insis‑
tentemente reclamadas, nomeadamente através da reforma do seminário
de Cernache do Bonjardim, de onde deveriam sair elementos devidamente
preparados para responder aos novos desafios da penetração imperial (ou
seja, dominando noções de ciências naturais, medicina, agricultura, línguas
nativas), e em particular da concorrência crescente de outras sociedades
missionárias, protestantes e católicas, na África Austral31.
O efeito imediato do «Apelo», porém, foi limitado. O lançamento da subs‑
crição que deveria servir para financiar as «estações civilizadoras» saldou‑se
por um fiasco – quando os sacrifícios eram a doer, os entusiastas do império
tendiam a retrair‑se. No entanto, como teremos oportunidade de ver, as con‑
sequências deste tipo de mobilização não eram inócuas. Amplificadas pela
imprensa, elas introduziam um tom exaltado, e pouco realista, nos debates
em torno da questão colonial (muitas vezes um mero pretexto para a demar‑
cação de campos entre os partidos e facções do regime), ameaçando empurrar
os decisores para posições de difícil sustentação, atendendo ao que eram os
recursos do país e os equilíbrios de força internacionais.
Não fora esse o tom da década anterior, no que à política governamental
diz respeito. Sob a égide do liberalismo pragmático dos executivos de Fontes
Pereira de Melo, os responsáveis portugueses procuraram formas de desen‑
volver o potencial colonial do país em articulação com a Pax Britannica que,
não obstante a emergência do poderio alemão, continuava a prevalecer em
largas regiões do Globo, incluindo aquelas onde se situavam as possessões
ultramarinas lusas. «A aliança inglesa para o meu país é como a fogueira que
o viajante acende no sertão, quando quer dormir tranquilo», declarou Fontes
em 1878 na Câmara dos Deputados32. Apesar dos atritos que continuavam a
surgir entre ambos – de que foram exemplo as disputas em torno da ilha de
Bolama e da baía de Lourenço Marques (ambas resolvidas pela via arbitral,
e com sentenças favoráveis a Portugal, em 1870 e 1875, respectivamente), os
laços de dependência que prendiam Portugal à velha aliada eram demasiado
estreitos para que uma alternativa credível se apresentasse às classes dirigen‑
tes portuguesas. Da parte dos Britânicos, os dividendos estratégicos que as
«negligenciadas» possessões lusas lhes poderiam oferecer eram evidentes (já
para não falar do empenho de Londres em prosseguir com acções de policia‑
mento do tráfico esclavagista, que permanecia florescente em vários pontos
de África, e para o qual a cooperação das autoridades portuguesas não era
despicienda). No Atlântico, o arquipélago de Cabo Verde, e em particular
a ilha de São Vicente, tornou‑se uma importante estação de abastecimento
de carvão para as carreiras dos vapores britânicos que faziam a rota para o
Cabo e a Índia, bem como um ponto de amarração dos cabos submarinos
a partir da década de 186033. No Índico, o interesse britânico pela baía de
Hist-da-Expansao_4as.indd 389 24/Out/2014 17:17
390 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Lourenço Marques ganhara uma nova acuidade, em virtude do tratado de
comércio livre firmado entre Portugueses e as autoridades bóeres do Transvaal
em 1869. A descoberta das primeiras minas de ouro no rio Orange e o início
da extracção de diamantes em Kimberley fizeram disparar o valor económico
da África do Sul, dando início a um processo de transformação capitalista
sem paralelo no continente. A abertura de corredores de acesso da costa do
Índico até ao coração mineiro do Transvaal tornou‑se um imperativo estra‑
tégico – assim como o foi, de certa forma, a anexação da jovem República
Bóer em 1877, uma vez frustrada a reivindicação britânica à baía de Lourenço
Marques pela sentença arbitral do presidente MacMahon, emitida dois anos
antes. A supremacia contestada da Grã‑Bretanha – derrotada numa primeira
instância pelos Zulus em 1879, e depois pelos inconformados Bóeres em
1880 – veio jogar a favor das ambições de Portugal na região, abrindo‑lhe
a oportunidade para explorar os antagonismos locais em benefício da pros‑
peridade do Sul de Moçambique, zona onde os elementos de uma presença
mais efectiva eram ainda muito escassos.
João Andrade Corvo, a figura que entre 1871 e 1878 dominou as pastas
dos Estrangeiros e, por um período ligeiramente mais curto, a da Marinha e
Ultramar, procurou promover a conciliação dos interesses coloniais portu‑
gueses com os da secular aliada, julgando porventura que o ressentimento
antibritânico que até há pouco havia permeado a retórica da esquerda mais
radical estaria já mais controlado. Em traços muito largos, a sua abordagem
ao império poderá talvez ser descrita como uma actualização da visão de Sá
da Bandeira, mas corrigida por uma noção mais realista dos recursos limi‑
tados que um país como Portugal poderia mobilizar para consolidar a sua
soberania nos domínios ultramarinos (mesmo se a década de 1870 tivesse
sido um período de bonança económica na metrópole, e de algum desafogo
financeiro nas colónias, muito graças ao crescimento das exportações de
produtos como a borracha, o cacau e as oleaginosas).
Prestando as homenagens da praxe aos grandes tropos da retórica «civi‑
lizadora», Corvo acreditava que as novas condições internacionais não se
compadeciam mais com a atitude letárgica do país face às suas responsabili‑
dades coloniais. «Falamos muitas vezes das conquistas dos nossos antepas‑
sados», escreveu ele numa obra editada já depois da sua saída do executivo,
«mas é preciso dizer a verdade: a conquista está por fazer.»34 Acelerar o fim
da escravatura e promover modalidades de trabalho livre, por exemplo, era
uma tarefa inadiável, quer para efeitos de reputação externa, quer porque
isso seria intrinsecamente positivo para a reconversão e desenvolvimento
económico dos domínios ultramarinos. Para Corvo, acertar o passo com
formas modernas de colonização implicava também pôr fim a monopólios,
exclusivos e privilégios, fomentar comércio interno e com o exterior (através
Hist-da-Expansao_4as.indd 390 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 391
de direitos aduaneiros «moderados»), captar investimentos (se necessário
fosse, através de concessões), atrair uma emigração qualificada (nacional ou
estrangeira), promover a educação dos indígenas (em escolas profissionais)
e implementar medidas de saneamento urbano.
Como bom fontista, a preocupação com os meios de transporte, os portos
e as vias de comunicação – as alavancas do progresso – era de rigor. Mas o
avanço da civilização implicaria também novos processos administrativos
e governativos – mais descentralização de competências, nomeadamente
através da delegação de responsabilidades nas «forças vivas» locais (ou seja,
brancas ou europeizadas), e progressiva integração dos africanos na soberania
portuguesa através de uma «política de atracção», de sentido eminentemente
pacífico. O Cristianismo deveria ter nisso um papel, mas não «pelo proseli‑
tismo cego e irracional», e muito menos pela abertura das colónias à missio‑
nação das congregações religiosas. Céptico quanto às capacidades nacionais
para, em tempo útil, se promover a ocupação efectiva do hinterland das suas
posições no litoral, Corvo tinha até dúvidas de que o país fosse capaz de
consolidar a sua autoridade nas extensas faixas costeiras, razão pela qual a
concentração de esforços em alguns pontos estratégicos (na bacia do Congo
e no Sul de Moçambique), de onde depois se pudessem estabelecer vias de
acesso ao interior, deveria receber uma atenção prioritária; quanto às outras
regiões, as suas convicções liberais levavam‑no a lamentar a continuidade do
sistema dos prazos da Coroa e a desejar a sua progressiva liquidação, através
de um arrendamento e posterior venda a colonos empreendedores35, solução
que, todavia, viria a revelar‑se impossível de concretizar nesses moldes, dada
a persistência de focos de rebelião na região da Zambézia e a posterior ins‑
talação das companhias majestáticas na colónia36.
As intervenções de Corvo, como as de outros seus contemporâneos, eram
perpassadas por um sentido de urgência que resultava da consciência de
que os veneráveis «títulos históricos» de Portugal (ou «arqueológicos», na
definição mais mordaz do marquês de Salisbury) de pouco ou nada valiam
face ao espírito utilitário dominante. Escarnecer dos Portugueses e da sua
venalidade ou incompetência tinha‑se tornado uma espécie de passatempo
das elites bem‑pensantes europeias. Mas agora que exploradores e viajantes
cruzavam mais amiudadamente as áreas de influência lusas e coleccionavam
factos comprometedores para o seu registo «civilizador», tais percepções
tornavam‑se mais do que meras arrelias. Isto já para não falar da pressão que
desenvolvimentos como os ocorridos na África do Sul (a exploração de dia‑
mantes e ouro) ou a abertura do Canal do Suez haviam colocado sobre uma
colónia como Moçambique, porventura aquela onde a presença portuguesa
se apresentava como mais precária. Graças à sua longa carreira ministerial,
Corvo ainda conseguiu patrocinar uma mão‑cheia de iniciativas consistentes
Hist-da-Expansao_4as.indd 391 24/Out/2014 17:17
392 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
com a sua visão reformista, como o envio das primeiras expedições de obras
públicas a Angola e Moçambique (1877); a subsidiação de uma ligação postal
regular entre Lisboa e Moçambique (através de uma companhia britânica);
a criação de um corpo colonial permanente no Exército português (sempre
relutante em fornecer voluntários para as missões no ultramar); a publicação
de pautas mais liberais para Moçambique (1879); e a tentativa de abertura da
colónia do Índico a uma companhia concessionária (a chamada «concessão
Paiva de Andrade», em 1878), decisão fortemente contestada à época mas
bastante «profética» em relação àquilo que viria a ser o futuro modelo de
desenvolvimento da colónia37.
Foi também durante a sua gerência do Ministério do Ultramar, em
1875, que uma iniciativa legislativa de inegável alcance simbólico seria
aprovada pelas Cortes portuguesas – a lei de 29 de Abril de 1875, a qual,
ao fazer cessar o estatuto de «libertos», acabava com os últimos vestígios
legais da escravatura nas possessões portuguesas. Atendendo às sensibili‑
dades europeias nesta matéria, ao impacto dos processos abolicionistas em
países como a Rússia (1861), Holanda (1863) e Estados Unidos (1865),
e às próprias convicções de figuras como Corvo acerca do efeito econo‑
micamente salutar do trabalho livre contratado, as condições pareciam
finalmente maduras para Portugal poder acertar o passo com a marcha
do «progresso humanitário». Em 1869, recorde‑se, um decreto aprovado
por Sá da Bandeira, ao abrigo das disposições do Acto Adicional da Carta,
havia colocado formalmente termo à escravatura no direito português,
mas, na ocasião, o peso dos interesses agrários e mercantis ligados à nas‑
cente economia de plantação de São Tomé e Angola fora suficiente para
garantir a manutenção do estatuto de «liberto», e até para sancionar a
continuação de algumas práticas esclavagistas (como o «resgate», i.e.,
a compra de negros em territórios vizinhos das possessões portuguesas),
assim derrotando as hipóteses de uma transição mais célere para um sistema
económico baseado no trabalho livre (que, aliás, pouca gente defendia em
Portugal de forma incondicional). Com a aproximação da data definida
pelo decreto de 1858, a resistência oferecida por estes sectores tornou‑se
menos encarniçada e políticos como Sá da Bandeira e Corvo perceberam
que seria insensato deixar fugir a oportunidade para sinalizar um virar
de página em termos de política colonial, mesmo se isso implicasse algum
recuo face às intenções primordiais do abolicionismo português (i.e., uma
emancipação mais «à inglesa», que não transferisse o ónus económico da
libertação para os ex‑escravos)38.
Um desses compromissos foi estabelecido em torno da ideia de «tutela».
Esta noção, crescentemente popular ao nível de um certo senso comum,
operava a partir da analogia entre os ex‑escravos e as crianças, que para
Hist-da-Expansao_4as.indd 392 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 393
ascenderem à liberdade responsável careciam de uma supervisão paternal.
A melhor maneira de realizarem essa aprendizagem era através da disci‑
plina do trabalho – única maneira de não se deixarem tentar pelo «ócio»,
ou pior, pela «vadiagem». Como apregoava um deputado nas Cortes em
1865, «o negro carece de uma certa tutela enquanto não tiver contraído,
com as necessidades da civilização, os hábitos do trabalho, e, com ele, a
consciência dos deveres sociais e a responsabilidade do homem livre»39.
Donde a necessidade de, durante alguns anos, estarem sujeitos a uma tutela
pública que lhes providenciasse esse mesmo trabalho, ora no âmbito de
trabalhos públicos, ora ao serviço dos seus antigos patrões (aos quais seria
dada preferência), situação expressamente prevista no articulado da lei de
1875. Sem deslegitimar a condenação da escravatura, o balanço às primei‑
ras experiências emancipalistas em antigos territórios coloniais britânicos
fora o suficiente para converter a maioria da opinião pública às virtudes
de uma abordagem mais gradualista e supervisionada – se necessário fosse,
com o pulso firme das autoridades e enquadrada por regulamentos laborais
compulsivos40. Reconfortados com a aparente validação de algumas das
suas advertências, os antigos adeptos da servidão, tanto em Portugal como
noutros países, perceberam que um compromisso vantajoso estava ao seu
alcance. Conquanto o seu objectivo fundamental estivesse salvaguardado
– o fornecimento de contingentes abundantes de mão‑de‑obra barata e
disciplinada para empreendimentos de trabalhos intensivos –, as discussões
em torno da «humanidade» ou «bestialidade» do africano, da sua maior
ou menor propensão para a «indolência», tornavam‑se, em larga medida,
bizantinas. Com as suas provisões acerca das derradeiras obrigações dos
«libertos», a lei de 1875 deu um primeiro passo no sentido de satisfazer
essas pretensões (aliás, tidas por inevitáveis também por uma questão muito
prática: a Fazenda Pública portuguesa não tinha meios para pagar o tipo de
indemnizações que os proprietários ingleses receberam após a lei de 1833).
Quando o gongo para o fim do período transitório soou, em 1878, os res‑
ponsáveis portugueses não deixaram de aprovar um regulamento que, a
partir do conceito de «vadiagem», abria um vasto campo de possibilidades
para a arregimentação forçada de trabalhadores indígenas, tanto para fins
públicos como privados. Dentro do espírito mais liberal da época, o trabalho
obrigatório estava banido da legislação, mas, sendo a vadiagem punida por
lei, era fácil perceber a margem de discricionariedade que ficava à disposi‑
ção das autoridades locais para, como era de regra, irem ao encontro das
solicitações dos colonos e importadores de mão‑de‑obra.
Hist-da-Expansao_4as.indd 393 24/Out/2014 17:17
394 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Dos tratados falhados de Corvo à Conferência de Berlim
Se este caso é elucidativo acerca das concessões que um reformador como
Andrade Corvo poderia ser obrigado a fazer, o mesmo vale para as suas
intenções em matéria de diplomacia imperial. Aqui, a sua némesis assumiria
a forma de um fenómeno cada vez mais notório na política portuguesa – uma
mistura tóxica de nacionalismo antimonárquico (ou anti‑Casa de Bragança)
e chauvinismo imperial, com expressão tanto na arena parlamentar como
fora dela. Como já referimos, a forma como Corvo concebia a viabilidade
das possessões portuguesas era inseparável de uma estratégia diplomática.
Observador atento dos fenómenos internacionais, não tinha dúvidas em
eleger os poderes anglo‑saxónicos – EUA e Inglaterra – como os parceiros
preferenciais de Portugal em África. Mas se os primeiros não se mostravam
ainda inclinados a assumir um papel global mais activo, já os Britânicos
pareciam cada vez mais vocacionados para defender a qualquer preço a sua
primazia imperial face a potenciais challengers como a Alemanha. Sendo
ainda indefinido o interesse de outras médias e grandes potências europeias
pelas regiões onde se situavam as duas principais possessões africanas de
Portugal, a revitalização da aliança com a Inglaterra era a opção natural
para um estadista que não escondia a sua desconfiança face às então muito
em voga ideias iberistas41. Para além do mais, onde poderia ir Portugal com
mais facilidade importar os capitais, as técnicas e o know‑how indispensáveis
à «colonização moderna» se não à Inglaterra?
Nos seus últimos anos no poder, Corvo encontrou um interlocutor ideal
no então ministro britânico em Lisboa, Robert Morier, com quem acertou
as linhas para um conjunto de tratados que deveriam ajudar a materializar
a sua visão para o império. O primeiro, um acordo comercial respeitante à
Índia Portuguesa (1878), contemplava a conexão do porto de Mormugão
aos caminhos‑de‑ferro do Raj, a primeira ligação ferroviária que viria a
ser estabelecida em qualquer uma das colónias lusas, e contemplava uma
união aduaneira entre as duas colónias. O segundo, negociado um ano mais
tarde, tinha um outro alcance. Tratava‑se de um entendimento pelo qual a
Grã‑Bretanha se comprometia a financiar e construir o porto de Lourenço
Marques e o caminho‑de‑ferro que o ligaria ao Rand (ambos garantidos
pelas receitas aduaneiras da província), devendo Portugal facultar‑lhe uma
série de contrapartidas, que incluíam a liberdade de comércio e navegação
no Zambeze e os seus afluentes, e a isenção de direitos para as mercadorias
britânicas em trânsito por Lourenço Marques, bem como a livre passagem
de tropas e equipamento militar britânicos em caso de guerra. Embora as
concessões que Corvo estava preparado para fazer fossem apreciáveis, o
tratado representava um instrumento precioso para dinamizar a economia
Hist-da-Expansao_4as.indd 394 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 395
do Sul de Moçambique, ao mesmo tempo que comprometia a Grã‑Bretanha
com a integridade da colónia portuguesa. Finalmente, um terceiro acordo,
no qual o papel de Corvo foi mais o de inspirador inicial do que de nego‑
ciador, elegia a bacia do Congo como o segundo ponto nevrálgico de cola‑
boração anglo‑portuguesa – um tema que exigia ser tratado com pinças,
dada a intensa competição entre comerciantes e missionários de ambos
os países na região. Alarmados com a penetração francesa naquela zona
(especialmente após a aprovação pelo parlamento francês, em 1882, dos
tratados de Brazza com o rei Makoko), os Britânicos deixariam cair as suas
antigas objecções ao expansionismo luso no Congo, o que facilitou a cele‑
bração de um entendimento em 1884. Como era habitual, o seu texto dava
a entender que fora a parte mais fraca que se vira constrangida a fazer um
maior número de cedências: no plano territorial, Portugal obtinha o reco‑
nhecimento da sua soberania numa área compreendida entre 8º e 5º 12’ de
latitude sul, ou seja do Ambriz, em Angola, até Porto de Lenha, no Congo;
em contrapartida, aceitava conceder dez anos de isenções aduaneiras às
mercadorias britânicas, não só na zona em litígio, mas também nos seus
restantes domínio africanos42.
Tirando o acordo relativo à Índia, que não tinha implicações de monta
para os planos estratégicos imperiais portugueses, os outros tratados foram
impiedosamente castigados por várias forças políticas. Os dirigentes do
recém‑formado Partido Progressista, escaldados com o que consideravam
ser o favorecimento do rei D. Luís aos Regeneradores, não perderam o
ensejo de se arvorarem em campeões do patriotismo antibritânico, um ter‑
reno onde o igualmente jovem Partido Republicano (fundado em 1876) se
esforçava por apresentar as suas credenciais, animado pela notoriedade que
alguns dos seus líderes haviam alcançado por ocasião das Comemorações
Camonianas (1880).
Relativamente ao primeiro, o de Lourenço Marques, a falta de tacto
evidenciada pelos Britânicos em vários momentos fragilizou ainda mais o
primeiro‑ministro progressista, Anselmo Bramcaamp Freire, face às invecti‑
vas dos seus críticos, ao ponto mesmo de a contestação parlamentar então
verificada ter originado a sua demissão; em todo o caso, seria a restauração
da República do Transvaal, em 1881, que acabaria por fazer a Grã‑Bretanha
perder interesse no tratado, que nem chegaria a completar o seu processo de
ratificação. Nos anos seguintes, os governos de Lisboa tentaram levar por
diante a construção da linha de caminho‑de‑ferro entre Lourenço Marques
e o Rand, atribuindo a concessão a um capitalista privado norte‑americano,
o coronel MacMurdo – uma solução que à partida lhes permitia observar
alguma equidistância face a Bóeres e Britânicos, mas que viria a revelar‑se
bastante atribulada na sua concretização prática43.
Hist-da-Expansao_4as.indd 395 24/Out/2014 17:17
396 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
No tocante ao Tratado do Zaire, o padrão de exaltação e denúncia foi em
tudo semelhante, senão mesmo mais amplo e estridente. Comum a todos os
críticos, a ideia de que os direitos soberanos de Portugal eram inegociáveis,
embora por si mesmos insuficientes para acautelar os interesses do país na
África Austral; para tal, seria necessário uma política mais enérgica e volun‑
tariosa, e não necessariamente conduzida em cooperação com os Britânicos.
Num crescendo desde 1880, os Republicanos aproveitaram a ocasião para,
uma vez mais, fazer a sua propaganda: a dinastia e o regime rendiam‑se às
exigências estrangeiras, preparavam‑se para alienar partes do império – eram,
em suma, um corpo estranho à nação. Mas, desta feita, as forças que cons‑
piraram para fazer abortar o tratado eram mais vastas e influentes do que
na ocasião anterior, nela se incluindo a França de Jules Ferry e o ambicioso
monarca belga. Na própria Grã‑Bretanha, o acordo estava longe de ser con‑
sensual, quer pela noção de que os Portugueses não seriam parceiros fiáveis
no combate ao tráfico esclavagista que ainda florescia em vários pontos de
África, quer pela reputação proteccionista associada às suas políticas aduanei‑
ras, violentamente contestadas por várias câmaras de comércio e pelo lobby
pró‑Estado Livre do Congo. As negociações, que se arrastaram por quase
dois anos, acabariam por entrar em colapso e, para resolver o imbróglio que
entretanto se criara, Bismarck – ele próprio muito pressionado pelo lobby
pró‑colonial germânico – aceitou convocar uma conferência para Berlim,
onde toda a questão do Congo seria dirimida.
Realizado entre Novembro de 1884 e Fevereiro do ano seguinte, o
conclave tornou‑se um dos marcos da moderna História de África e do
imperialismo europeu. A sua reputação como o evento em que cínicos
estadistas europeus traçaram, de forma arbitrária, as fronteiras políticas
do continente africano tem resistido ao revisionismo de sucessivas gerações
de historiadores, à semelhança, aliás, do que sucede com a reputação de
outras cimeiras dominadas pelas grandes potências. Sucede, porém, que
evitar uma partilha arbitrária dos espaços em branco dos mapas africanos
fora exactamente o objectivo que concentrara as mentes dos diplomatas
reunidos na capital alemã. Juntando representantes de 14 países, incluindo
alguns não‑europeus, como os EUA, a conferência procurou, em primeiro
lugar, transpor para o contexto africano (Níger e bacia convencional do
Congo) o mesmo tipo de normas que, desde o Congresso de Viena, haviam
estabelecido a liberdade de navegação e comércio em algumas vias fluviais
internacionais. Em segundo lugar, tentava‑se definir alguns preceitos huma‑
nitários com impacto nas populações africanas (liberdade de culto, erradica‑
ção da escravatura, ilegalização da venda de bebidas alcoólicas), desiderato
apenas parcialmente alcançado. O ponto mais sensível, porém, tinha a ver
com a formulação dos princípios que deveriam levar a que a ocupação
Hist-da-Expansao_4as.indd 396 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 397
de posições nas costas de África pudesse ser considerada como «efectiva»
(uma proposta britânica no sentido de se alargar tal conceito às zonas do
interior seria derrotada pelas demais potências). Seria a partir daqui que,
nos próximos anos, se viria a desenvolver a célebre doutrina da «ocupação
efectiva», considerada como condição sine qua non para a demarcação das
novas áreas de influência no hinterland44.
Não surpreendentemente, o grande triunfador da indefinição que ainda
prevalecia nas chancelarias das grandes potências acabaria por ser Leopoldo II
da Bélgica, que há anos vinha amadurecendo os seus planos de expansão
colonial. Com o pretexto de se tornar o executor de uma agenda humanitá‑
ria e «civilizadora» (combater a escravatura, impulsionar a cristianização,
fomentar o comércio livre), o monarca‑empresário coleccionara admiradores
e aliados em diversos países, ao mesmo tempo que, através das expedições
lideradas pelo seu colaborador principal, Henry Morton Stanley, ia obtendo
informações bastante precisas sobre as riquezas naturais da bacia do Congo.
Um exímio manipulador das rivalidades alheias, Leopoldo percebeu duas
coisas fundamentais: que os grandes poderes da época se mostravam relu‑
tantes em comprometer os equilíbrios diplomáticos europeus por causa de
anexações territoriais em África; e que ninguém objectaria ao seu projecto
colonial se este fosse apresentado como o veículo para uma exploração
«aberta» e «partilhada» dos recursos do Congo (à qual se juntariam os ine‑
vitáveis «fins humanitários»). Uma hábil diplomacia pessoal, conduzida à
margem das reuniões plenárias da Conferência, valer‑lhe‑ia o reconhecimento
(bilateral) dos limites do seu «Estado Livre», geralmente a partir de mapas
que poucos estadistas haviam estudado com atenção. No fim, regressaria à
Bélgica com uma colónia que se distinguia tanto pela originalidade do seu
estatuto (um território cuja administração competiria à Associação Interna‑
cional do Congo [AIC], que mais não era do que uma fachada para os seus
interesses pessoais), como pela sua formidável extensão territorial e pelas
fontes de prosperidade mineral (desde logo, a região do Catanga, o futuro
grande centro mineiro da África Central).
E que saldo se poderá fazer da grande reunião de Berlim para as preten‑
sões portuguesas? Para alguns contemporâneos – os mais vinculados a uma
visão maximalista das possibilidades imperiais portuguesas –, os resultados
constituíam um inequívoco desapontamento. Sujeito a uma forte pressão
multilateral, Portugal vira‑se forçado a reconhecer a soberania territorial da
AIC (quando as suas pretensões, fundadas nos «títulos de descoberta» e na
sua «superior aptidão» para civilizar os indígenas, haviam suscitado indife‑
rença ou desdém), embora garantindo o estatuto de «nação mais favorecida».
Os sonhos de uma grande área de influência lusa no Zaire – considerada
vital para financiar a colonização do interior de Angola – esfumavam‑se face
Hist-da-Expansao_4as.indd 397 24/Out/2014 17:17
398 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
às maquinações bem‑sucedidas dos Belgas e à «deslealdade» revelada pelos
Britânicos. Apenas alguns elementos da elite diplomática teriam a noção
exacta do irrealismo destas pretensões. Atendendo à muito baixa reputação
portuguesa na Europa «civilizada», sedimentada por anos de acusações movi‑
das pelo movimento antiesclavagista britânico, os resultados alcançados em
Berlim poderiam ter sido bem piores. Afinal de contas, para um país pobre
e periférico, que ainda lutava para consolidar a sua autoridade ao longo
do litoral angolano, regressar a casa com o reconhecimento das grandes
potências da época de toda a margem esquerda do Congo, assim como dos
territórios de Cabinda e Molembo, na margem direita da sua foz, talvez não
fosse um desfecho tão insatisfatório.
Não foi assim, porém, que as coisas foram percebidas por uma parte signi‑
ficativa da opinião portuguesa, e em especial pelo muito vocal lobby colonial
que se exprimia através de vários grupos de interesse e políticos voluntariosos.
Para estes sectores, era imprescindível tirar ilações do revés sofrido e concen‑
trar esforços noutros desígnios há muito amadurecidos, mas a que faltava
o impulso político para concretizar. «Temos de actuar depressa e evitar que
outros se adiantem e tornem a nossa tarefa impossível»45, comentou na altura
o ministro Barbosa du Bocage, um estudioso da fauna tropical e antigo pre‑
sidente da SGL. O objectivo estratégico de ligar Angola e Moçambique por
um corredor territorial contínuo passava a assumir um carácter prioritário
– depois da «lição» de Berlim, mais procrastinação na África Central‑Austral
não poderia senão ser aproveitada pelos interesses britânicos que tinham os
olhos postos nos territórios acima do Limpopo. Consistente com a sua tradi‑
ção de um envolvimento mínimo em matéria de administração directa, Lon‑
dres optaria por fazer das companhias majestáticas o principal veículo para
a expansão da sua influência em África – na região do Níger, via Royal Niger
Company (1886), na outra costa, via Imperial British East Africa Company
(1888); na África Meridional, e depois da imposição de um protectorado no
actual Botswana, a expansão (sem limites definidos) a norte do Limpopo seria
adjudicada, em 1889, à British South Africa Company (BSAC), fundada por
Cecil Rhodes, magnata que fizera a sua fortuna na indústria dos diamantes
e ouro na África do Sul, futuro primeiro‑ministro da Colónia do Cabo, e o
mais pertinaz adversário dos planos expansionistas lusos.
Podemos, contudo, questionar‑nos quanto à real influência destes entu‑
siastas de um império de costa à costa no quadro geral das elites portuguesas
de finais de Oitocentos. Para além de muitas das grandes fortunas do país, e
principais sectores de actividade económica, não estarem tão directamente
implicados no império, os sinais de relutância de vários quadrantes da vida
nacional, da finança ao Exército, em se envolverem mais profundamente numa
aventura ultramarina eram abundantes e tinham advogados eloquentes46. Mas
Hist-da-Expansao_4as.indd 398 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 399
alguns factores novos tinham surgido. O aparecimento de algo semelhante
a uma masspolitik tornara‑se evidente com os «sobressaltos» e campanhas
espoletados pela discussão em torno dos tratados de Lourenço Marques e
do Zaire, já para não falar de outros desenvolvimentos mais especificamente
ligados à política doméstica (como a emergência de uma corrente republi‑
cana)47. Por outro lado, a dinâmica gerada pela «febre da partilha» tinha o
condão de criar incidentes que ricocheteavam perigosamente na agenda das
elites governamentais. Em Fevereiro de 1885, por exemplo, quando ainda
decorriam os trabalhos da Conferência de Berlim, uma tentativa de ocupação
unilateral de alguns pontos na foz do Congo por forças navais portuguesas
fora repelida por uma acção conjunta dos navios de outras potências euro‑
peias. A dada altura, foram os próprios plenipotenciários portugueses em
Berlim que acharam por bem pedir aos seus interlocutores que lavrassem
uma espécie de ultimato contra o governo de Lisboa, de maneira a que este
obtivesse um pretexto para moderar expectativas tidas como irrealistas.
No entanto, na capital portuguesa o tom geral da atmosfera não era de
resignação, mas de impaciência48.
A estrada para o Ultimato
Foi este entrosamento irresistível entre a luta política interna e os cada
vez mais emotivos assuntos imperiais africanos que colocou Portugal na
estrada que o conduziria ao embate diplomático com a Inglaterra, no início
de 1890. Como já foi amplamente notado, esse confronto está longe de poder
ser imputado a uma conduta «excêntrica» de um governo germanófilo, ani‑
mado por um sentido de revanche face à Grã‑Bretanha; foi acima de tudo
o resultado de uma política que reunia o consenso generalizado das princi‑
pais forças políticas nacionais – e daí os seus efeitos quase cataclísmicos49.
O artífice da estratégia que levaria o governo de lord Salisbury a relembrar
aos Portugueses as regras elementares da diplomacia das grandes potências,
o ministro progressista Henrique de Barros Gomes, dificilmente poderia
reclamar uma grande originalidade para a política que inspirou a sua acção
à frente dos Negócios Estrangeiros – a ideia de uma diversificação dos apoios
internacionais de Portugal começara a ser tacteada pelo anterior executivo
regenerador, mas Barros Gomes, um homem educado na Alemanha, abraçou‑
‑a com entusiasmo. Já desprovida do seu estatuto de potência hegemónica, a
Grã‑Bretanha coleccionara animosidades um pouco por todo o lado graças
à sua intervenção no Egipto (1882), sofrera um revés inesperado no Sudão
(1885), assistira ao despontar da «vocação colonial» da Alemanha e vira
os Bóeres ganharem o controlo das novas jazidas de ouro descobertas no
Hist-da-Expansao_4as.indd 399 24/Out/2014 17:17
400 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Transvaal (1886). As condições pareciam pois maduras para que Portugal
explorasse esta aparente vulnerabilidade inglesa e atacasse o desígnio que
em 1881, no já citado documento da SGL, ganhara uma expressão visual
muito concreta – a «África Meridional portuguesa», representada no depois
célebre «Mapa Cor‑de‑Rosa», velho projecto acalentado desde os tempos de
D. Rodrigo de Sousa Coutinho (ou até antes disso)50, e ao qual as expedições
geográficas patrocinadas por Pinheiro Chagas, entre 1884 e 1887, tinham
emprestado novo fôlego.
Barros Gomes moveu as suas peças em vários tabuleiros. Das conversa‑
ções mantidas com as autoridades do Transvaal, convenceu‑se das vantagens
de reactivar o tratado luso‑bóer de 1875, o que o tornou receptivo à ideia de
cancelar a concessão detida pelo americano MacMurdo para o caminho‑de
‑ferro entre Lourenço Marques e Pretória, mas cuja execução fora entretanto
entregue a uma companhia de capitais britânicos, formada em 1887. O inte‑
resse óbvio do Transvaal em subtrair essa saída para o mar ao controlo inglês
levou as autoridades de Pretória a arrastar a definição das fronteiras com a
província portuguesa, com o inevitável protelamento dos trabalhos de cons‑
trução da linha; com isso oferecia a Lisboa um pretexto para avançar com
a revogação da concessão do empresário americano, seguida da expropria‑
ção da linha e ocupação das instalações do caminho‑de‑ferro em Lourenço
Marques, decisão tomada em 1888 e que, previsivelmente, gerou aplauso
generalizado em Portugal e uma indignação ressentida na Grã‑Bretanha, onde
a irritação com vários incidentes protagonizados pelos Portugueses, mais a
norte de Moçambique, vinha num crescendo desde 188651.
Outra zona de conflito entre Britânicos e Bóeres prendia‑se com as ambi‑
ções dos primeiros em estenderem o seu controlo até regiões que abrangiam o
Império Matebele, o planalto de Manica e o Alto Zambeze, numa rivalidade
que se intensificaria entre 1887 e 1889, muito graças à energia colocada pelos
agentes de Rhodes na celebração de acordos com vários chefes africanos e
à forma como aquele procurara conquistar a opinião pública metropoli‑
tana para os seus fins, com a referência a um império «do Cabo ao Cairo».
Por muito que os responsáveis governamentais em Londres se mostrassem
desdenhosos da «megalomania» de Rhodes, o perigo que este representava
para os objectivos tanto de Bóeres como de Portugueses era evidente. Uma
das notas mais salientes da nova era imperial era, precisamente, o impacto
de dinâmicas periféricas nos centros de decisão metropolitanos, onde a sen‑
sibilidade da imprensa e da opinião pública a tudo o que pudesse afectar o
«prestígio» nacional no ultramar era cada vez maior52. No que a Portugal
dizia respeito, a resposta a Rhodes teria de ser dada no terreno, com novas
expedições que assinalassem as suas pretensões junto dos povos do interior.
O instrumento a que o governo de Lisboa recorreu para suportar os custos
Hist-da-Expansao_4as.indd 400 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 401
dessas incursões aos territórios em disputa foi em tudo análogo ao dos Bri‑
tânicos – uma companhia concessionária. A escolha recaiu na Companhia
de Moçambique, um empreendimento que tivera um arranque complicado
em 1878 mas que, dez anos mais tarde, depois de várias atribulações, se
viu relançada pelo seu fundador, Joaquim Paiva de Andrade, com capitais
franceses. Entre finais de 1886 e 1889, vários militares e agentes portugueses
(Victor Cordon, António M. Cardoso, Tenente Valadim, Paiva de Andrade,
Serpa Pinto) estiveram particularmente activos em regiões que hoje formam
o Leste do Zimbabwe, o Centro e o Norte de Moçambique, o Malawi e o
Sul de Angola. Os resultados que obtiveram foram desiguais – nas terras
dos Mashonas, Andrade e o seu aliado, o goês Manuel António de Sousa,
foram travados pela resistência dos Mtoki (1886)53, mas no Sudeste do lago
Niassa vários régulos seriam «avassalados» pelos militares portugueses. Dois
acontecimentos em 1889 vão ser especialmente ressentidos pelos Britânicos:
a fundação do distrito do Zumbo, já em território mashona; e a celebração
de um acordo entre os Portugueses e o cardeal Charles Lavigerie para a
instalação de uma missão de Padres Brancos no Alto Chire, território que
as missões anglicanas e escocesas aí radicadas estavam determinadas em
salvaguardar de concorrentes «papistas» e da influência «corruptora» das
autoridades portuguesas54.
Finalmente, o terceiro tabuleiro privilegiado por Barros Gomes seria o
europeu, onde procuraria realizar um movimento de aproximação à França
e à Alemanha, duas potências que, assim se julgava em Lisboa, estariam
dispostas a apoiar a política mais atrevida que Portugal se propunha desen‑
volver nas áreas reclamadas pelo imperialismo britânico em África. Dando
sequência a démarches já iniciadas pelo anterior governo regenerador, Bar‑
ros Gomes concluiu uma convenção com a França (18 de Maio de 1886)
em que, a troco da cedência da bacia do rio Casamansa, entre o Senegal e
a Guiné, e da renúncia ao protectorado sobre o Daomé, obtinha um vago
reconhecimento francês das suas pretensões aos territórios que separavam
Angola e Moçambique. Seguidamente (30 de Dezembro de 1886), acertou
com a Alemanha os limites sul de Angola com o Sudoeste Africano, uma das
esferas de influência que os Alemães haviam adquirido recentemente; o trecho
da convenção com a França relativo aos «direitos» portugueses nas regiões
que pretendiam vir a controlar na África Meridional era transposto para a
convenção celebrada com Bismarck. Ambos os documentos incluíam, como
anexo, o mapa em que a referida faixa territorial surgia assinalada a cor‑de
‑rosa. Um passo mais ousado, ou imprevidente, seria dado em 1888, quando
Barros Gomes tomou a iniciativa de tentar promover uma frente antibritâ‑
nica juntando o Transvaal, a Alemanha e, eventualmente, a própria França.
Como era típico da fluidez dos alinhamentos da época, essa manobra corria
Hist-da-Expansao_4as.indd 401 24/Out/2014 17:17
402 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
paralela à tentativa de obtenção de um acordo genérico com Londres para a
resolução dos litígios pendentes entre os dois países. Embora não destituída
de lógica, a política de Barros Gomes não levava em devida conta o superior
interesse dos governos britânico e alemão em liquidarem os diferendos que
mantinham entre si em África (algo que acabariam por fazer em Julho de
1890, com o acordo de Zanzibar‑Heligolândia), já para não falar do cuidado
francês em não se imiscuir para além do que seria razoável no «quintal» de
uma outra grande potência. Ainda neste tabuleiro diplomático, Portugal
tentou também somar mais alguns pontos, nomeadamente fazer valer os seus
«pergaminhos históricos» junto de uma potência de outra ordem, a Santa
Sé, reclamando a esta o reconhecimento de direitos eclesiásticos sobre os
territórios abrangidos no seu Mapa Cor‑de‑Rosa, pretensão a que a Cúria
Romana se irá, previsivelmente, esquivar55.
Até inícios de 1889, a margem para um compromisso entre Lisboa e
Londres ainda não tinha desaparecido. Apesar de protestos formais contra
as convenções com Paris e Berlim, o governo britânico hesitava em estabe‑
lecer um protectorado nas áreas onde os seus comerciantes e missionários
se desdobravam em incidentes com os Portugueses. Conversações em Lis‑
boa, em Março‑Abril desse ano, com o recém‑nomeado cônsul britânico
em Moçambique, Harry Johnston, atestavam uma disponibilidade mútua
para um acordo geral, reclamado por figuras mais pragmáticas na imprensa
portuguesa, como o deputado progressista (e futuro comissário régio em
Moçambique) António Enes, em nome da prudência que deveria assistir à
política de uma pequena potência. O que complicou tudo foi, uma vez mais,
a interferência de factores que as elites governamentais já não se podiam dar
ao luxo de ignorar. No caso britânico, essa interferência assumiu a forma
de uma formidável campanha pública, multipartidária e multiconfessional,
desenvolvida por várias entidades escocesas, contra o reconhecimento da
soberania portuguesa numa região do Niassa hoje incluída no Estado do
Malawi56, a que se juntava a progressão dos agentes da BSAC nos territórios
dos Matebeles, Mashonas e Macololos. Era por aí que também deambulavam
algumas colunas portuguesas, chefiadas por oficiais de sangue quente como
Serpa Pinto, há muito identificado com as correntes mais expansionistas da
política imperial portuguesa, ou por Paiva de Andrade e o seu aliado Manuel
António de Sousa. Embora a pretexto de concluírem a «pacificação» da
Zambézia contra a dinastia Cruz do prazo de Massangano, essas expedições
«científico‑militares» não tardaram a chamar a atenção dos Britânicos, pelo
empenho que demonstravam em «avassalar» populações de territórios situa‑
dos mais para o interior, precisamente as áreas para onde iam progredindo
os homens de Rhodes. Para vencer as derradeiras relutâncias de Salisbury,
Rhodes fez‑lhe uma proposta aliciante: se a sua companhia recebesse uma
Hist-da-Expansao_4as.indd 402 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 403
«carta régia», concedendo‑lhe direitos ilimitados de exploração mineral
na Mashonalândia, Manica e nos territórios que hoje formam a Zâmbia,
ele estaria disposto a pagar as despesas de um protectorado britânico no
Malawi por três anos. Ciente da oposição do parlamento a custear esse tipo
de encargos, Salisbury não se fez rogado57.
A partir desta altura, a janela de oportunidade para um acordo estava
praticamente fechada. Faltava apenas o casus belli, que acabaria por surgir
na região do Baixo Chire, um território habitado sobretudo por macololos,
tribo a que as autoridades britânicas tinham oferecido a sua «protecção»,
e com a qual o impetuoso Serpa Pinto, comandando uma força de mais de
3 mil homens, acabaria por entrar em confronto, no início de Dezembro.
A captura de uma Union Jack ao chefe macololo M’lauri e os disparos da
metralhadora Nordenfelt pelos homens de Serpa Pinto foram o suficiente
para incendiar os ânimos da imprensa britânica e colar aos Portugueses o
papel de «agressores»58. A publicação subsequente das trocas de mensagens
entre Lisboa e o governador de Moçambique sugere que Barros Gomes não
só ignoraria certos aspectos das «façanhas» de Serpa Pinto, como poderia
estar disposto a satisfazer algumas das exigências britânicas (embora não
nos termos incondicionais que Londres agora reclamava). Além do mais,
a morosidade das comunicações não era de molde a facilitar o papel da
diplomacia – enquanto o governo de Lisboa era encostado à parede por
sucessivos ultimatos britânicos, um decreto do governador Neves Ferreira
relativo à «anexação» do Chire era publicado no boletim oficial da colónia
a 11 de Janeiro, o exacto dia em que o ministro George Petre deixaria no
Ministério dos Negócios Estrangeiros a célebre nota em que o seu primeiro
‑ministro reduzia a pó as ilusões portuguesas na África Austral – o traumá‑
tico «ultimato inglês».
Num texto sucinto (e rasurado, conforme se pode verificar pela consulta
ao original depositado no arquivo do MNE), o governo de Londres reiterava
as exigências feitas nos últimos dias acerca da remoção da presença portu‑
guesa nos territórios habitados pelos povos que beneficiavam da protecção
britânica (Mashonas e Macololos) e anunciava a retirada do seu representante
da capital portuguesa, caso as suas pretensões não fossem atendidas, não no
espaço de dias, mas de horas. A resposta portuguesa, dada pouco depois de
uma reunião de emergência do Conselho de Estado, não se fez esperar, tra
duzindo‑se por uma cedência em quase toda a linha. Dificilmente poderia ter
sido de outro modo. O isolamento diplomático do país ficou imediatamente
patente, pois nem a França nem a Alemanha se mostraram dispostas a ter
qualquer intervenção na disputa. Por outro lado, não era já segredo para o
governo de Lisboa que a interpelação britânica havia sido precedida de uma
ampla movimentação de unidades da Royal Navy que, no espaço de poucos
Hist-da-Expansao_4as.indd 403 24/Out/2014 17:17
404 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
dias, estariam em condições de bloquear ou bombardear Lisboa, a Madeira,
São Vicente (em Cabo Verde) e o litoral de Moçambique (Quelimane ou Lou‑
renço Marques)59. Era, em suma, um exercício de «diplomacia da canhoeira»
nos seus moldes mais clássicos.
A lição estava dada. Mas a comoção que a capitulação governamental
gerou terá surpreendido os próprios Britânicos (um mês depois, na Câmara
dos Comuns, Salisbury afirmaria que o prazo de horas contido na nota visava
exactamente impedir que a crise se prolongasse para além do razoável).
Um nacionalismo ressentido, ferozmente antibritânico, alimentaria sucessivas
vagas de protesto pelos meses seguintes, impedindo que os dois países che‑
gassem a um entendimento e reparassem a sua histórica aliança. Recheada de
caricatas efusões patrióticas (lutos «simbólicos», subscrições para a compra
de vasos de guerra, devolução de condecorações, apelos a boicotes a produtos
britânicos) e de muita bravata à mistura, a agitação irrompeu numa altura
delicada para o regime monárquico, que nos últimos anos havia já somado
vários dissabores pela sua associação a iniciativas de política externa muito
contestadas60. Chegado ao trono há apenas dois meses, D. Carlos, de 27 anos
de idade, possuía ligações próximas à família real britânica, e não parecia
inspirar muita confiança sequer aos partidários mais devotos da monarquia;
a tudo isto somava‑se uma situação económico‑financeira em rápida dete‑
rioração – o esgotamento do modelo «fontista» de desenvolvimento do país
e uma derrapagem das finanças públicas, que a breve trecho desembocaria
numa situação de virtual bancarrota do Estado.
Em muitos aspectos, a crise do Ultimato espelhava bem o que era a luta
política sob a monarquia constitucional – uma actividade essencialmente
circunscrita à capital, conduzida por uma elite restrita que frequentava os
mesmos cafés, teatros e lojas maçónicas e que, de uma forma geral, conseguia
mobilizar e manipular pequenas multidões urbanas para efeitos de agitação
e pressão. Talvez não significasse muito para o chamado «país real», onde as
questões suscitadas pela nota britânica pouco ou nada diriam a um campesi‑
nato isolado e maciçamente iletrado. Mas, aparentemente, era o que bastava
para que algo aproximado a um golpe de Estado (ou, pelo menos, a um
novo «turno político» no interior do regime) pudesse ter lugar. Passadas as
primeiras reacções mais «espontâneas», entre Janeiro e Fevereiro de 1890, os
restantes picos da crise terão em larga medida sido orquestrados pelos líderes
progressistas, inconformados com o seu afastamento do poder, com a ajuda
dos seus aliados de circunstância, os Republicanos. Comentando o evoluir
da crise com o príncipe de Gales, de quem era primo, D. Carlos afirmara
‑lhe que esta se resolveria facilmente se a Inglaterra cedesse qualquer coisa,
o suficiente para dar «satisfação ao chauvinismo de muitas pessoas»61. Tal
não aconteceu e, com o passar do tempo, os próprios Britânicos começaram
Hist-da-Expansao_4as.indd 404 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 405
a denotar impaciência com a táctica portuguesa de insistir na alegada fragi‑
lidade da instituição monárquica para lhes extrair concessões. «Se a monar‑
quia portuguesa está tão desesperadamente fraca que as nossas exigências
a podem destruir, então não vale a pena salvá‑la», desabafou a dada altura
Salisbury62. Apesar de ambas as partes sentirem que estavam condenadas
a entender‑se (correr com os Portugueses da África Austral era algo que os
Britânicos não desejavam), não foi fácil alcançar uma fórmula que pudesse
ser «vendida» à opinião dos respectivos países. No caso português, a maior
dificuldade consistia em superar a irredutibilidade dos Progressistas. Assistir
aos Regeneradores emergirem da crise com o troféu da reconciliação com a
Inglaterra, e da defesa responsável dos «interesses nacionais», era um cenário,
no mínimo, desagradável. Em tais condições, a linguagem e os conceitos em
que os termos do entendimento fossem expressos seriam decisivos. E foi aqui
que as coisas se complicaram para o governo de António de Serpa, depois de
o seu ministro dos Estrangeiros, Barjona de Freitas, ter assinado em Londres
um acordo com vista à definição das esferas de influência dos dois países nas
zonas em disputa.
Apesar de negociado em circunstâncias adversas, o tratado de 20 de
Agosto de 1890 reflectia o espírito de relativa moderação com que as auto‑
ridades britânicas encararam as negociações. No quid pro quo global, as
concessões estavam bem repartidas (algo que a imprensa progressista se
recusou a aceitar, denunciando o que entendia serem as cedências inaceitáveis
de Barjona de Freitas). Embora reconhecendo a soberania britânica na região
do Chire até ao Zambeze, o acordo deixava aos Portugueses grande parte
do planalto de Manica, vastas zonas não‑ocupadas no Sudeste de Angola,
Niassa e Alto Zambeze, além de prever a existência de uma faixa territorial
comum de cerca de 20 milhas, na margem norte do Zambeze, que Portugal
poderia utilizar para manter comunicações viárias, ferroviárias e telegráficas
entre as suas duas possessões – uma espécie de vénia simbólica ao defunto
«Mapa Cor‑de‑Rosa». A liberdade de comércio e navegação no Chire e no
Zambeze era consagrada, o mesmo sucedendo em relação à liberdade de culto
(algo que foi logo interpretado como uma porta aberta para novas vagas de
missionários protestantes). Uma cláusula final, porém, acabaria por servir
de pretexto para o cerrar de fileiras patriótico contra o acordo. Tratava‑se do
compromisso que Portugal se dispunha a assumir em relação à não‑alienação
do Zumbo ou de qualquer território a sul do Zambeze sem o consentimento
prévio da Grã‑Bretanha63.
Foi quanto bastou para que protestos e distúrbios tomassem novamente
conta de várias cidades (incluindo um meeting da recém‑constituída Liga
Liberal, com a presença de 400 oficiais em uniforme64) e o parlamento fosse
palco de sessões tumultuosas. A 16 de Setembro, o governo regenerador
Hist-da-Expansao_4as.indd 405 24/Out/2014 17:17
406 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
estava demissionário. Com a capital próxima do estado de sítio, e o rei a
deparar‑se com a indisponibilidade dos dois grandes partidos para formarem
um novo executivo, era a continuidade do próprio regime que parecia posta
em causa. A suspensão das negociações por alguns meses seria entretanto
aproveitada por aqueles que, nos meios britânicos, achavam que haviam sido
as suas autoridades quem tinha cedido de mais. Sem meias‑medidas, Rhodes
tentou criar uma série de factos consumados que viessem a condicionar um
futuro entendimento – os seus agentes ocuparam parte da região de Manica
e fomentaram incidentes (incluindo uma sublevação dos Vátuas, a prisão de
Paiva de Andrade e Manuel António de Sousa, e uma incursão até à Beira)
que expunham a fraqueza dos Portugueses em Moçambique. A situação
só não evoluiu mais negativamente para Portugal porque, apesar de tudo,
ainda não era Rhodes quem determinava a política em Londres. Vários fac‑
tores acabariam por levar os Britânicos a não desistir de uma conciliação: a
necessidade de estabilizar o regime em Portugal (recentemente abalado pelo
levantamento republicano de 31 de Janeiro de 1891) e evitar um qualquer
«contágio revolucionário» a outras monarquias da Europa do Sul foi um
deles; mas mais decisivo ainda terá sido o desejo de preservar uma presença
portuguesa na África Austral, região cujo equilíbrio estratégico permanecia
instável, não obstante o acordo anglo‑germânico de Julho de 1890.
O novo compromisso luso‑britânico começaria a ser desenhado a partir
das discussões, em Paris, relativas ao controlo da Companhia de Moçambi‑
que, que figuras influentes em Londres e Lisboa tinham identificado como
o veículo ideal para acomodar algumas das pretensões britânicas, evitando
‑se assim uma ofensa mais transparente à soberania formal e aos «direitos
históricos» dos Portugueses. A 11 de Fevereiro de 1891, a nova concessão
majestática atribuída à Companhia de Moçambique (em breve dominada por
capitais britânicos) previa a obrigação de esta levar por diante a construção
de uma via‑ferroviária ligando a Beira e o vale do Pungue aos territórios da
BSAC, indo‑se assim ao encontro da pretensão de Rhodes de obter uma saída
para o mar para a sua futura colónia. Em Junho, o novo acordo era finalmente
concluído. Em termos territoriais, Portugal perdia o planalto de Manica e a
região situada entre a fronteira de Angola e a Barotselândia (na futura Zâm‑
bia), mas era compensado com uma área ao norte do Zambeze, entre Tete e
o Zumbo, sendo‑lhe ainda reconhecido o seu domínio na margem ocidental
do Niassa. Perdia, contudo, a faixa territorial que teria permitido efectuar
a ligação entre Angola e Moçambique. As cedências portuguesas relativas à
circulação de mercadorias, liberdade de navegação e de cultos mantinham‑se
(acrescentando‑se agora uma referência à «moderação» das tarifas do futuro
caminho‑de‑ferro entre a Beira e Umtali), mas desta feita os Britânicos tive‑
ram o cuidado de substituir a referência à consulta obrigatória que Portugal
Hist-da-Expansao_4as.indd 406 24/Out/2014 17:17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890) 407
lhes deveria fazer em caso de alienação de territórios por um menos ofensivo
«direito de preferência» (em tudo semelhante àquele que Leopoldo concedera
aos Franceses relativamente ao «Estado Livre do Congo»). Significativamente
menos vantajoso do que o anterior, o tratado foi no entanto recebido sem
demasiado alarido pelos círculos de opinião em Lisboa e ratificado pelas
Cortes ainda antes de ser assinado65. Em despacho para o Foreign Office, o
ministro George Petre garantia mesmo que «o estado geral do sentimento
público perante o acordo com a Inglaterra é de alívio e satisfação»66.
Esta volatilidade dos humores patrióticos não encerrava grandes mistérios.
Para além de não se ancorar em sólidos interesses materiais, o nacionalismo
imperial teria dificuldade em mobilizar mais ressentimento e protestos contra
uma solução que, pelo menos, tinha o mérito de pôr termo ao isolamento
em que o país se colocara. Tal como a política que conduzira a essa situação
assentara num amplo consenso, também a procura de um novo entendimento
com a Grã‑Bretanha veio a beneficiar de um apoio bipartidário sólido. Nin‑
guém se podia dar ao luxo de ignorar alguns factos elementares – para além
da inutilidade de prosseguir uma política de afrontamento da Inglaterra,
Portugal dependia da aliada em aspectos críticos para levar por diante as
suas aspirações imperiais, desde as ligações marítimas e telegráficas com
as colónias à importação da tecnologia indispensável às tarefas da futura
«ocupação efectiva» – e a tudo isto acrescia ainda o próprio significado
estratégico da aliança num sentido mais amplo (ou seja, incluindo dimensões
como a financeira). Em Maio de 1891, recorde‑se, a situação financeira do
país conhecera uma perigosa degradação – a economia ressentiu‑se do triplo
choque da quebra das remessas dos emigrantes num Brasil em convulsão
interna, da diminuição das exportações para os mercados europeus, e da
falência do Baring Brothers (o banco a que o Estado português recorria para
as suas operações na City londrina). A conversão das notas em circulação foi
suspensa e, em Junho, Portugal viu‑se forçado a abandonar o padrão‑ouro.
No ano seguinte, o Estado português declararia mesmo uma bancarrota par‑
cial, ao reduzir em um terço os juros dos títulos da dívida pública externa67.
Um sentimento de finis patriae tomou então conta de uma parte significativa
das elites nacionais, angustiadas com o que julgavam ser a incapacidade do
país em acertar o passo com as nações europeias mais avançadas68.
Mas foi exactamente a partir do trauma psicológico que muitos sentiram
em 1890‑1891 que uma nova abordagem às questões imperiais, simultanea‑
mente mais enérgica e reconciliada com as possibilidades do país, encontraria
espaço para se afirmar. Opções até aí estigmatizadas pela opinião mais nacio‑
nalista tiveram de ser reequacionadas e, nalguns casos, adoptadas. Apesar
das dificuldades financeiras, o instinto de preservação das elites nacionais
permitiu que campanhas militares dispendiosas fossem enviadas para as
Hist-da-Expansao_4as.indd 407 24/Out/2014 17:17
408 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
zonas mais ameaçadas pelos homens de Rhodes. Munidos das modernas
tecnologias que colocavam os europeus em vantagem face aos exércitos
nativos, os Portugueses estavam por fim em condições de vencer alguns dos
obstáculos que os haviam impedido de estabelecer uma presença mais efec‑
tiva nos sertões africanos. Nos anos seguintes, muitas das decisões tomadas
e dos arranjos estabelecidos nessa conjuntura haveriam de configurar uma
espécie de «modelo» que, durante várias décadas, sustentaria o projecto
imperial português.
Hist-da-Expansao_4as.indd 408 24/Out/2014 17:17
18
UM IMPÉRIO À MEDIDA
DAS POSSIBILIDADES
(c. 1890‑1910)
U m dos paradoxos mais notados da crise de 1891 prende‑se com o facto
de o tratado alcançado com a Grã‑Bretanha ter finalmente oferecido
um reconhecimento internacional, aparentemente inequívoco, a duas vastas
possessões (Angola e Moçambique) onde a soberania portuguesa permane‑
cia confinada a partes das respectivas faixas costeiras e escassas zonas de
hinterland. Nos anos seguintes, arbitragens internacionais e negociações
bilaterais com Britânicos, Alemães e Franceses fixariam as fronteiras exter‑
nas do império luso na África Meridional até à época da descolonização.
No início do século xx, o Império Português compreendia assim cinco pos‑
sessões em África (às quais se poderia acrescentar a fortaleza de São Baptista
de Ajudá, no Daomé): o arquipélago de Cabo Verde (oito ilhas com uma
superfície total de cerca de 4000 km2), a então chamada Senegâmbia ou
Guiné Portuguesa (36 125 km2), as ilhas de São Tomé e Príncipe (971 km2),
Angola (1 255 775 km2 e uma linha de costa de 1652 km), Moçambique
(760 000 km2 e uma extensão costeira de 2300 km2); e três na Ásia: o Estado
da Índia (compreendendo o território de Goa e os distritos de Damão e Diu,
num total de cerca de 4250 km2), o «estabelecimento» de Macau (a cidade e
as ilhas de Coloane e Taipa, num total aproximado de 10 km2), e a metade
oriental da ilha de Timor (18 989 km2), tornada distrito autónomo em 18961.
No dealbar do século, a soberania portuguesa permanecia meramente
teórica na maior parte destes territórios – em Angola, ela seria efectivamente
exercida em apenas um décimo do território, em Moçambique a autoridade
dos comissários régios era acatada na região a sul do Save e em alguns enclaves
a norte (dois terços do território seriam concessionados a companhias com
poderes majestáticos na década de 1890), ao passo que na Guiné a presença
oficial lusa cingia‑se à ilha de Bolama, onde estava então sedeado o governo,
Hist-da-Expansao_4as.indd 409 24/Out/2014 17:17
410 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
às vilas de Bissau e Cacheu, e uns poucos fortins no interior. No total, por‑
tanto, um império de aproximadamente 2 milhões de km2, circunstância
que o tornava, em termos europeus ocidentais, no quinto mais extenso em
área territorial (a seguir aos da Grã‑Bretanha, França, Alemanha e Bélgica)2.
No tocante aos efectivos populacionais, é difícil produzir um instantâneo
fiável para esta realidade – na ausência de inquéritos populacionais rigorosos,
não dispomos de mais do que estimativas grosseiras. Uma das autoridades em
matéria de geografia colonial da época, o secretário da SGL, Ernesto de Vas‑
concelos, atribuía‑lhe 8 milhões de habitantes em 1896, mas admitia que, para
algumas das possessões, como a Guiné ou Timor, essa contabilidade assen‑
tava em simples conjecturas ou suposições3. Era um número que o colocava
abaixo de outros impérios de dimensão territorial equivalente, como o belga
(11 milhões de habitantes) e o alemão (12,450 milhões), mas bem acima do
italiano (1,9 milhões) e do já então «residual» Império Espanhol (934 mil)4.
Num processo que viria a prolongar‑se até finais dos anos 1920 (e nalguns
casos até à década seguinte), a autoridade portuguesa foi sendo imposta
aos povos autóctones destes territórios (principalmente os três africanos
continentais e Timor) através de dezenas de expedições militares, sendo a
cobrança regular de um tributo o indicador mais seguro do progresso da
nova ordem colonial. O império costeiro das feitorias, presídios e portos,
essencialmente orientado para a tributação de fluxos comerciais, foi‑se trans‑
formando numa entidade mais territorializada, com novas modalidades de
exploração económica e servida por uma rede de postos administrativos,
transportes e comunicações cada vez mais densa. O desenvolvimento deste
novo aparato acarretou também uma reconfiguração das formas de relaciona‑
mento com as sociedades locais. Embora permanecendo modesta em termos
absolutos, a população branca em alguns territórios (nomeadamente Angola
e Moçambique) conheceu um acréscimo assinalável na viragem do século,
o que não deixaria de criar novos focos de tensão com a população nativa.
Como se verá, o projecto imperial português estava carregado de propósitos
e dinâmicas contraditórias, algumas das quais já se haviam manifestado em
conjunturas anteriores. Por um lado, as elites metropolitanas continuavam
imbuídas de uma retórica grandiloquente a respeito da «missão civilizadora»
de que se viam investidas, a qual se casava com uma expectativa quase salví‑
fica acerca do potencial económico das colónias. Por outro lado, havia uma
consciência aguda dos recursos limitados (em termos humanos e materiais)
que o país poderia mobilizar para realizar o aproveitamento desse potencial.
Por muito embaraçoso que isso pudesse ser, abrir as colónias ao investimento
estrangeiro impôs‑se como a única solução prática – o que não era fácil de
harmonizar com o muito apregoado desígnio da «nacionalização» do impé‑
rio. Finalmente, o sentido de urgência com que o desenvolvimento económico
Hist-da-Expansao_4as.indd 410 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 411
das colónias passou a ser encarado obrigou os governantes a repensar os
pressupostos morais da nova ordem económica imperial. Se anteriormente
alguns reformadores mais paternalistas e humanitários haviam equacionado a
elevação dos indígenas ao «grémio da civilização» como um processo gradual,
e no âmbito de um sistema económico que teria o pequeno e médio cultivador
africano como elemento‑chave, em finais de Oitocentos a ênfase estava muito
mais colocada na necessidade de mobilizar os africanos para esquemas de
trabalho organizado, se necessário fosse com o recurso a métodos coercivos,
devidamente sancionados pela nova legislação laboral aprovada em 1899.
António Enes e os seus discípulos
Críticas à falta de «visão estratégica» dos governos de Lisboa foram
uma faceta constante dos debates acerca do rumo a dar à política imperial.
Reportando‑nos ao período de 1890‑1910, não é fácil descortinar uma
orientação coerente no meio do ruído e da instabilidade que dominaram
a vida política nas últimas décadas da monarquia5. Ministros patrocina‑
vam legislação que raramente passava do papel, reformas que ainda mal
tinham sido testadas eram subitamente revogadas, governadores permane‑
ciam longos períodos sem instruções. As consequências desta gestão errática
seriam contudo mitigadas pela emergência de um corpo de doutrinadores e
publicistas – uma mistura de políticos de inclinações literárias e militares
‑administradores a quem as campanhas de «pacificação» conferiram assina‑
lável projecção nacional – que deixaria uma marca profunda nos discursos
e reformas relativas à governação do império.
Nem todos estavam em uníssono, mas algumas tendências comuns pode‑
rão ser sublinhadas. Uma das mais evidentes era o desejo de ruptura com a
alegada orientação «filantrópica» ou «humanitária» que anteriores políticos
liberais haviam prosseguido – uma crítica que estava longe de ser original para
quem possuísse alguma memória do que haviam sido as argumentações dos
adversários do abolicionismo até à década de 18706. O apelo a uma política
destituída de sentimentalismos, muito em linha com as teses do darwinismo
social triunfante nas sociedades europeias, constituiu uma das fixações destes
«realistas». Alguns dos mais contundentes, como o político e escritor Oliveira
Martins, tinham mesmo chegado a equacionar a venda ou liquidação das
colónias menos rentáveis e difíceis de administrar, como a Guiné e Moçam‑
bique7, e propostas desse teor continuaram a ser apresentadas nas Cortes ao
longo da década de 1890. Tratava‑se, porém, de vozes isoladas, não represen‑
tativas do sentimento dominante na opinião pública pós‑Ultimato, que era a
da sacralização do império e da inegociabilidade dos direitos portugueses no
Hist-da-Expansao_4as.indd 411 24/Out/2014 17:17
412 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
ultramar. A grande questão que se colocava – uma vez mais – era de saber
como conciliar o «destino manifesto» do país e as novas exigências do direito
colonial internacional (em matéria de ocupação efectiva), por um lado, com
a persistente penúria de meios do Estado, por outro.
A resposta a este dilema começou a ser dada empiricamente pelos governos
da década de 1890, quando deixaram cair as anteriores objecções a uma mais
extensa penetração do capital estrangeiro nos territórios onde uma coloniza‑
ção orientada e financiada pelo Estado se afigurava mais problemática. Essa
cedência seria depois caucionada, em termos doutrinários, por figuras como
António Enes, homem de Letras, antigo deputado progressista e ministro
do Ultramar, depois nomeado comissário régio em Moçambique8, que em
1893 publicaria uma das obras mais decisivas na fase de arranque do ter‑
ceiro império português (Moçambique)9. Nela Enes sintetizava algumas das
assunções correntes acerca das possibilidades e limites do projecto imperial
de Portugal em África. Uma tinha a ver, precisamente, com a necessidade de
se assumir que o país não dispunha de recursos para promover, em tempo
útil, o fomento de alguns territórios; estes deveriam por isso ser abertos ao
comércio, aos capitais e até mesmo à imigração oriunda de outras nações.
Na conjuntura económica depressiva que o país atravessava na época, muito
propícia ao reforço das inclinações proteccionistas que há décadas preva‑
leciam entre as elites dirigentes, tais ideias não seriam, à partida, fáceis de
vender. Mas o estado de necessidade em que o país se encontrava deu‑lhes
uma oportunidade. Como veremos mais adiante, Moçambique ganharia
uma posição única como laboratório de novas combinações entre interesses
públicos e privados, em larga medida estimuladas pela apetência especulativa
do capitalismo europeu de finais de Oitocentos.
O pragmatismo de Enes estendia‑se também à colonização europeia do
ultramar: apenas indivíduos com alguns recursos e instrução deveriam ser
estimulados a aventurar‑se em África, devendo o árduo trabalho manual
ser reservado para os indígenas. Esta posição, que era especialmente atractiva
para governos sem folga financeira (o axioma das colónias auto‑sustentáveis
continuava a ser caro a todos os políticos de sentido mais prático), viria a
requerer a promulgação de novas leis e códigos que estabelecessem, sem mar‑
gem para ambiguidades, a «obrigação moral» de trabalhar dos indivíduos
apontados como «não‑civilizados» ou «indígenas». Gozando de uma larga
aceitação no ambiente intelectual da época, a noção de que o trabalho era
o mecanismo por excelência para promover a elevação cultural dos povos
«semibárbaros» iria perpassar toda a legislação e retórica que sustentava a
«missão civilizacional» do país. O dispositivo jurídico respeitante ao trabalho
nativo que surgiu neste contexto (através da legislação de 1894, relativa ao
trabalho correccional e, muito em especial, no Código do Trabalho de 1899)
Hist-da-Expansao_4as.indd 412 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 413
permaneceria como uma das alavancas essenciais da engrenagem imperial
lusa por várias décadas – e, também, uma das facetas que mais a deixariam
à mercê das críticas oriundas de círculos humanitários internacionais.
Por fim, este período assinalaria também o início da experimentação de
um modelo de administração colonial de matriz mais descentralizadora,
geralmente associado ao sistema imperial britânico. Muitos dos reformadores
pós‑Ultimato denunciaram como «aberrantes» as disposições constitucionais
que determinavam a vigência no ultramar de normas, sistemas eleitorais ou
uma organização judiciária análogos aos da metrópole. Como tem sido obser‑
vado, tratava‑se de um «revisionismo» com uma ligação ténue à realidade.
A tradição administrativa de anteriores períodos liberais fora muito menos
assimilacionista ou igualitária do que estes críticos pretendiam. A produção
de «legislação especial», por exemplo, era uma prerrogativa reconhecida aos
governadores desde a Constituição de 183810. A noção de que as idiossin‑
crasias dos territórios recentemente incorporados na soberania portuguesa
exigiam «adaptações», ou normas excepcionais transitórias, fora um dado
adquirido até para aqueles legisladores mais facilmente identificáveis com o
espírito «abstracto» do radicalismo liberal francês, em particular nas questões
referentes ao direito privado dos indígenas, regidas segundo os «usos e costu‑
mes» das diferentes comunidades étnicas e religiosas, ou em matérias como
o regime municipal. A sensibilidade dominante dos reformadores liberais
era a de que «os Códigos se estendiam ao ultramar para regular as relações
entre europeus ou populações europeizadas ou para organizar a administra‑
ção em regiões onde a presença dessas populações o permitisse. Depois, à
medida que a “civilização” se espalhasse, o âmbito de aplicação dos códigos
“civilizados” alargar‑se‑ia»11. Justificando o novo Código Administrativo das
Províncias Ultramarinas aprovado em 1881 (mas nunca aplicado), o ministro
Júlio Vilhena diria que «os organismos especiais semibárbaros, manifestando
em todas as suas particularidades os defeitos das sociedades primitivas, irão
desaparecendo no organismo geral da administração, à medida que as raças
pertencentes a diferente comunhão religiosa se forem habituando ao exercício
das funções nos corpos sociais e reconhecerem as vantagens do novo regime.
A igualdade de condições da vida administrativa estabelecer‑se‑á gradual e
progressivamente sob a acção perseverante de uma lei civilizadora»12.
Esta crença na eficácia do «processo civilizacional» em contexto colonial
começou a ser desafiada de forma contundente em finais de Oitocentos.
Bebendo inspiração nas teorias que enjeitavam as premissas antropológi‑
cas do Iluminismo (de sentido mais universalista e inclusivo), os homens
da «geração de 1895» bater‑se‑ão pelo primado da «diferença», contra a
«quimera da igualdade absoluta»13. No tocante às populações autóctones,
não se limitavam a encarar algumas delas como «crianças grandes». Muitos
Hist-da-Expansao_4as.indd 413 24/Out/2014 17:17
414 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
deles viam‑nas como seres cultural e biologicamente inferiores, destituídos
dos atributos indispensáveis a uma assimilação da civilização moderna, pelo
menos num horizonte temporal mais próximo. Advogavam por isso uma
abordagem que consagrasse o pluralismo jurídico, mas não tanto no sentido
que lhe era conferido pelos Britânicos através do seu sistema de indirect
rule. Esse modelo, que terá tido em Frederick Lugard, o alto‑comissário
britânico na Nigéria (1899‑1906), o seu inspirador (e depois teorizador),
preconizava a adjudicação de muitas das competências administrativas e
legislativas dos territórios recém‑conquistados às autoridades «gentílicas»,
nomeadamente aquelas que tivessem apoiado ou mostrado inclinação
para colaborar com o poder colonial14. Pela sua parte, e à semelhança dos
Franceses e Belgas, os Portugueses habitualmente preferiam seleccionar eles
próprios os seus interlocutores nas comunidades africanas, se necessário
fosse designando as «chefias tradicionais» (os «regedores»)15. Estes rece‑
biam depois um salário, uma percentagem do imposto cobrado na sua área,
gozavam de isenção fiscal e colaboravam activamente na arregimentação
de indivíduos para o serviço de carregadores, trabalhos públicos ou para
o «contrato»16.
Noutros pontos, porém, o modelo britânico parecia anunciar a vaga
do futuro para os doutrinadores coloniais portugueses. Entre estes houve
quem começasse a alegar que o império só teria viabilidade se evoluísse para
uma espécie de associação solidária de territórios, unidos por uma herança
comum (cimentada pela língua, história, costumes e tradições) mas gover‑
nados segundo as leis mais apropriadas às suas circunstâncias. Em 1909,
o oficial da armada Ernesto Vilhena, um futuro ministro das Colónias de
Afonso Costa e administrador da Diamang, afirmava como inevitável a
adopção dos princípios da «descentralização administrativa e autonomia
financeira»17. As teses de inspiração federalista, tomando como modelo a
Commonwealth britânica, conquistaram então alguma audiência18. Com
efeito, em relação a Angola, Moçambique e Estado da Índia, o poder polí‑
tico metropolitano acabaria mesmo por reconhecer a necessidade de uma
abordagem que atendesse mais estreitamente às necessidades locais, o que
possibilitou a transferência de competências significativas para a autoridade
máxima desses territórios (o governador ou, nalguns deles, o comissário
régio criado pelas reformas de 1896 e 1907). A ideia autonomista foi pois
fazendo o seu caminho, muito embora a sua tradução prática jamais tenha
resultado numa capacitação dos órgãos representativos locais (câmaras
municipais, conselhos legislativos, juntas provinciais), mas antes num reforço
dos poderes atribuídos ao ramo executivo do poder (o governador). Se a
viabilidade de uma colonização branca maciça era encarada com cepticismo,
então não parecia lógico fomentar assembleias representativas eleitas por
Hist-da-Expansao_4as.indd 414 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 415
«populações indígenas, ignaras e bárbaras», conforme afirmava Eduardo
Costa num estudo de 190119.
Outro ponto sensível em matéria de administração era a questão da delimi‑
tação entre a esfera civil e a militar. Vários publicistas começaram a advogar
a ideia de fazer acompanhar a ocupação militar com a fixação de colonos
capazes de desenvolver a agricultura, o comércio e a indústria, integrados
numa malha administrativa que permitisse a articulação progressiva das
autoridades indígenas com funcionários civis que exercessem em simultâneo
funções administrativas e judiciais20. Em 1895, António Enes deu um primeiro
impulso, com a criação de novas circunscrições civis nos territórios da Coroa
no distrito de Lourenço Marques, mas o sistema só se generalizaria a outras
partes de Moçambique em 1907, e a Angola em 191121. Quanto à colonização
estimulada pela metrópole, ela deparar‑se‑ia com fortes objecções de âmbito
mais «estratégico» (relativas à política de emigração do país, como veremos
mais abaixo) e com a inevitável escassez de recursos que o Estado estava em
condições de afectar a tais fins. Até muito tarde, o Império Português seria
essencialmente gerido por pessoal e métodos militares – em parte pela duração
muito dilatada das campanhas de «pacificação» (só concluídas, em alguns
territórios, na década de 1940), mas também pelo tipo de formação ecléctica
que à época só os estabelecimentos de ensino militar estariam em condições
de ministrar. Apenas em 1906, com a instituição da Escola Colonial, sob os
auspícios da SGL, é que os primeiros passos no sentido de abrir os quadros
administrativos intermédios a pessoal civil foram finalmente dados, muito
embora não tardassem a surgir sinais de descontentamento em relação às
dificuldades que os seus diplomados encontravam para obter colocação no
funcionalismo colonial22.
Um novo impulso militar
Em termos de política colonial, um consenso iria contudo estabelecer‑se
em torno da necessidade de acelerar a ocupação do interior dos dois grandes
territórios africanos, Angola e Moçambique. Para que as colónias se pudessem
pagar a elas próprias, o fomento económico teria de acontecer, e para isso
era fundamental oferecer um quadro atractivo para investidores e colonos.
Desse quadro teria de fazer parte um ambiente de maior segurança, devendo
isso ser acompanhado da imposição de infra‑estruturas (fortes, postos admi‑
nistrativos, colónias agrícolas, missões) que sinalizassem a presença imperial
de forma inequívoca. Como veremos, as modalidades de afirmação dessa
presença seriam bastante variadas, mas, à semelhança do sucedido noutros
contextos, todas elas implicaram a transição das «modestas intrusões do
Hist-da-Expansao_4as.indd 415 24/Out/2014 17:17
416 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
império informal» para «um aparato de dominação abrangente», que exigia
às populações impostos, mão‑de‑obra, cultivos obrigatórios, terras e gado23.
De uma maneira sintética, poderíamos dizer que esse esforço militar de
imposição de uma nova ordem imperial após 1890 conheceu dois grandes
momentos: um que vai até aproximadamente 1909, tendo os seus epicen‑
tros fundamentais em Moçambique e Angola («o tempo dos centuriões», na
expressão de Pélissier); e um segundo que compreende o período da Primeira
República (1910‑1926), com especial incidência nos anos da Primeira Guerra
Mundial (o «tempo das liquidações», segundo o mesmo autor), período em
que as principais bolsas de resistência nativa daqueles dois territórios foram
eliminadas, o mesmo sucedendo na Guiné e em Timor Oriental.24
Por razões directamente relacionadas com a conjuntura do «Mapa Cor
‑de‑Rosa», Moçambique foi a primeira grande arena desta nova investida
militar. A campanha delineada inicialmente por António Enes (1895‑1897)
conduziu ao estabelecimento da primazia portuguesa nos territórios a sul do
Save, de onde seriam depois lançadas outras operações mais a norte. Com
fortes ecos na imprensa da época, as façanhas militares de figuras como Mou‑
zinho, Aires de Ornelas, Freire de Andrade, Caldas Xavier, Eduardo Costa,
Eduardo Galhardo, Paiva Couceiro e outros constituíram uma demonstração
inequívoca da determinação portuguesa em ir ao encontro dos critérios de
ocupação efectiva discutidos em Berlim. O envio de um corpo expedicionário
de 2190 europeus para a colónia do Índico – 14 por cento do total de efec‑
tivos do seu Exército metropolitano25 – dava bem a medida do esforço feito
por Portugal nesta fase crítica da sua história imperial. A escolha do reino de
Gaza como principal adversário revelou‑se uma opção acertada. Minado por
epidemias, militarmente debilitado pela emigração dos seus elementos mais
jovens para as minas sul‑africanas, o Estado vátua enfrentava ainda várias
dissensões e rebeliões internas (nomeadamente a dos povos Chope)26. A isto
acrescia ainda o facto de a submissão das populações da região estar facili‑
tada pelo facto de muitas delas se terem já habituado ao pagamento de um
imposto ou tributo a Gungunhana. Em 1895, a captura do Leão de Gaza em
Chaimite, no seu próprio kraal, pelo oficial de Cavalaria Joaquim Mouzinho
de Albuquerque, foi a estocada decisiva no potentado africano que maior
capacidade evidenciara para limitar os intentos portugueses no Sul da colónia
(bem patente no cerco montado a Lourenço Marques, por guerreiros Tonga
fiéis a Gungunhana, um ano antes). A promessa alegadamente feita por Enes
à rainha D. Amélia – de que o imperador vátua seria trazido ao reino como
prisioneiro – materializar‑se‑ia em Março de 1896, com Gungunhana a ser exi‑
bido pelas ruas de Lisboa, à maneira de um triunfo romano. As vitórias fulmi‑
nantes no Sul não foram, contudo, replicadas numa região como a Zambézia,
onde a ausência de unidades políticas de certa dimensão, uma longa tradição
Hist-da-Expansao_4as.indd 416 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 417
de resistência ao poder português e condições geográficas propícias à guerra
de guerrilha tornaram a sua «pacificação» um processo muito mais moroso e
complexo, que nesta fase teria na campanha de João Azevedo Coutinho contra
o Barué (1902) o seu ponto alto. No Norte, o estabelecimento da Companhia
do Niassa, em 1894, revelou‑se pouco favorável à desarticulação das alianças,
forjadas para efeito da manutenção das redes comerciais esclavagistas, entre
os xeques muçulmanos da costa e alguns povos do interior (Ajauas e Macuas),
as quais mantinham significativas porções da região à margem da influência
portuguesa, circunstância que adiaria a incorporação desta área no Estado
colonial até já bem entrado o período republicano27.
Em Angola, a Guerra do Bailundo (1902), na região dos planaltos
centrais, assinalou o início de um período de maior investimento bélico.
A expansão da soberania portuguesa seguirá um padrão semelhante ao
da colónia do Índico: algumas campanhas de dimensão mais substancial
(como a de Alves Roçadas contra o Cuamato entre 1904‑1907, e a de
João Almeida na região dos Dembos, em 1907‑1909), e envolvendo um
considerável poder de fogo moderno, desenrolaram‑se de par em par com
expedições mais pequenas, invariavelmente formadas por tropas auxilia‑
res negras e muitas vezes integrando indivíduos oriundos dos depósitos
de degredados, ou até colonos bóeres. A proibição da venda de armas de
fogo a africanos, decretada em 1912, constituiria um marco importante
na consolidação das zonas dadas como «pacificadas», a qual coincide em
parte com o curto, mas decisivo, mandato do governador Paiva Couceiro
(1907‑1909)28. No entanto, tal como em Moçambique, regiões onde a auto‑
ridade portuguesa parecia razoavelmente implantada continuariam a ser
palco do reacendimento de sucessivas rebeliões que só o advento da Grande
Guerra, e o ambiente de «emergência nacional» então gerado, ajudaria a
sufocar, embora, desta feita, com o emprego de métodos mais expeditos e
brutais do que em momentos anteriores29.
Territórios mais marginais foram igualmente palco de várias expedições,
umas de carácter mais punitivo, outras visando a instauração de uma ordem
administrativa de cariz «moderno». Na Guiné, todo o período que vai até
às vésperas da entrada em cena de Teixeira Pinto, em 1912‑1913, poderá ser
grosseiramente resumido a uma sucessão de revoltas de vários grupos étnicos
que puseram a nu a precariedade da presença portuguesa, confinada prati‑
camente a Cacheu e Bissau e a um ou outro posto no interior30. Na Índia, o
impulso expansionista esgotara‑se com as «Novas Conquistas» arrancadas
aos Maratas na segunda metade do século xviii. Aqui, as operações milita‑
res surgem como respostas a motins e rebeliões de certos grupos locais, que
assumem maior gravidade quando obtêm o concurso dos chefes ranes, um clã
marcial de Satari, no Nordeste de Goa. É isso que sucederá com a chamada
Hist-da-Expansao_4as.indd 417 24/Out/2014 17:17
418 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Revolta Marata de Setembro de 1895, um motim de sipaios inconformados
com a mobilização para Moçambique, o que exigiu o envio de uma expedição
liderada pelo irmão de D. Carlos, o infante Afonso Henrique, e quase dois
anos de operações de contra‑insurreição31. Em Timor Oriental, as campanhas
de Celestino da Silva (governador entre 1894 e 1908) marcam o início do
abandono de um modelo instável, mas duradouro, de entrosamento com os
estados nativos e os seus régulos, em benefício de uma estratégia de «desen‑
volvimento» do território que pressupunha uma submissão das populações
locais aos requisitos de uma economia de plantação baseada em processos
capitalistas modernos32.
Na maioria destas campanhas, o propósito que lhe estava subjacente
consistia em impressionar e garantir a colaboração dos povos autócto‑
nes33. Embora o emprego do terror jamais fosse descartado (as referências
a «razias» são uma constante nos relatórios das campanhas), prevaleceu a
preocupação de dosear a sua utilização. Nesse sentido, acções de extermínio
com um carácter genocida, como aquela que os Alemães conduziram contra
os Hereros na actual Namíbia, em 1904‑1907, ou a aplicação de punições
brutais, como a fome provocada pelo governador da África Oriental Alemã
às comunidades que haviam aderido à rebelião Maji‑Maji de 1905‑190734,
terão sido menos frequentes nos domínios portugueses. Dada a parcimónia
de meios (materiais e humanos) de que a potência imperial dispunha, era
fundamental que no fim dos recontros se alcançasse um modus vivendi com
os povos das regiões «submetidas». Apesar de, pontualmente, se terem veri‑
ficado desfechos que se poderiam designar como «decisivos», no sentido em
que conduziram à eliminação dos estados africanos militarizados, as vitórias
eram muitas vezes incertas e precárias. Como o sucesso da «pacificação»
dependia da boa cobrança do imposto e disponibilidade dos chefes locais
para colaborarem no fornecimento de trabalhadores aos agentes da Coroa
ou das companhias concessionárias, havia um equilíbrio nem sempre fácil
de manter. Isolados no mato, os postos militares portugueses estavam numa
situação eminentemente frágil caso as alianças locais se desfizessem (e com
frequência a avidez dos comerciantes ou dos engajadores de mão‑de‑obra
para isso contribuía) e os nativos decidissem que valia a pena desafiarem a
vacilante representação imperial. A exposição às doenças dos climas tropicais,
o acesso relativamente fácil dos africanos a armas de fogo comercializadas
no sertão, as debilidades do aparato logístico e das comunicações, tudo isto
eram factores que, a cada passo, condicionavam a consolidação da sobera‑
nia lusa. Como observou Ricardo Roque, a propósito da «pacificação» do
Moxico, mais do que um exercício de hegemonia, o imperialismo português,
tal como foi vivido na prática em algumas das regiões, terá sido sobretudo
uma experiência de «vulnerabilidade»35.
Hist-da-Expansao_4as.indd 418 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 419
Para isto não deixaram de contribuir as próprias idiossincrasias do corpo
de oficiais do reino, que tendeu sempre a levantar objecções a uma reforma
que facilitasse o estabelecimento de uma força militar com um carácter
permanente nas colónias. Dada a crescente relutância em admitir africanos
(mesmo que assimilados) em postos de comando, o quadro permanente de
oficiais nas colónias estava sistematicamente desfalcado. Em 1891 não havia
mais de 4 coronéis, 5 tenentes‑coronéis, 13 majores, 69 capitães e 192 oficiais
subalternos em todo o ultramar; e das 8 mil praças, apenas um batalhão de
374 era constituído por europeus36. A par da Alemanha, Portugal terá sido o
país europeu que menor número de efectivos militares empregou em África
neste período e um dos que mais sistematicamente recorreram a tropas
auxiliares africanas37. Por conseguinte, o Estado continuou a ser obrigado a
improvisar expedições militares ad hoc, com custos muito mais elevados do
que aqueles em que teria incorrido se tivesse levantado tal força localmente.
Em 1901, uma reforma introduzida pelo ministro regenerador Teixeira de
Sousa procurou corrigir esta situação, abrindo a possibilidade de cidadãos
residentes nas colónias, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos,
passarem a integrar o corpo de oficiais, ao mesmo tempo que se valorizava o
papel das companhias indígenas de Infantaria no dispositivo de defesa (por
serem consideradas mais aptas aos climas tropicais). No entanto, uma guerri‑
lha burocrática dos oficiais do reino, que não aceitavam a possibilidade de os
seus pares oriundos das fileiras coloniais poderem adquirir uma vantagem em
matéria de promoções, acabaria por desfigurar as intenções do legislador38.
Seja como for, este género de má vontade corporativa não nos deve fazer
perder de vista o essencial – o consistente empenhamento de sucessivos
governos na dilatação da soberania lusa nas colónias, e em especial nas
duas da África Austral. Em termos relativos, Portugal foi, juntamente com
a Itália, o país europeu que mais recursos financeiros e humanos afectou às
suas campanhas ultramarinas39. Entre 1895‑1896 e 1896‑1897, os anos das
campanhas de Enes em Moçambique, o Estado despendeu qualquer coisa
como 2410 e 628 contos, ou seja, o equivalente a 62 e 28 por cento de todas
as despesas coloniais, ao passo que nos anos da expedição de Alves Roçadas
contra o Cuamato, no Sul de Angola (1907‑1908), foi despendida uma verba
de 370 contos, ou seja, 11 por cento do total do orçamento das colónias40.
O acesso a equipamento mais moderno é um dado que merece ser subli‑
nhado, mas não exagerado. Tal como outras forças imperiais congéneres, o
Exército português estava em condições de colocar no terreno armamento
muito mais sofisticado e mortífero – a tecnologia da «segunda revolução
industrial» – do que os exércitos africanos, o que lhe permitia encarar com
outra confiança situações de manifesta inferioridade numérica. Como subli‑
nha Telo, munidos de uma espingarda de repetição como a Kropatschek, de
Hist-da-Expansao_4as.indd 419 24/Out/2014 17:17
420 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
metralhadoras como a Nordenfelt, ou de moderna artilharia de montanha, os
militares portugueses passaram a poder bater‑se a partir de uma inferioridade
de 1 para 20 ou mesmo 30, quando em épocas não muito remotas se temiam
desvantagens superiores às de 1 para 3. Não por acaso, na Conferência de
Haia de 1899, quando se tratou de aprovar uma convenção relativa à inter‑
dição do uso de certo tipo de tecnologia em campo de batalha (balas com
efeitos explosivos e dirigíveis para lançamento de explosivos), Portugal foi
um dos países que declinaram subscrever tal cláusula, uma vez que entendia
que «o seu uso era necessário nas guerras com os selvagens, porque só elas
tinham a força de fazer parar o primeiro impacto das suas hordas»41.
Além do mais, a melhoria global nos transportes e comunicações viera
conferir‑lhes uma outra mobilidade. As novas lanchas, corvetas e canhoeiras
movidas a vapor permitiam movimentar tropas pelas vias fluviais, ou enviar
reforços de uma colónia para outra caso o recrutamento local fosse mais
complicado. Nalguns recontros muito celebrados – como as campanhas
contra os Vátuas em 1895‑1897 ou as guerras contra os reinos timorenses
em 1911 – os Portugueses puderam tirar o máximo partido destas vantagens.
Em combates como Marracuene, a sua táctica clássica do «quadrado» sur‑
tiu pleno efeito diante das investidas dos guerreiros africanos, os quais, mal
armados (carabinas de inferior qualidade ou mosquetes de sílex), não conse‑
guiram aproveitar certos contratempos (como as metralhadoras encravadas)
para abrir uma brecha na compacta formação portuguesa. O uso de cargas
de cavalaria com arma branca, uma das iniciativas associadas a Mouzinho
de Albuquerque, e a utilização de colunas móveis foram outras inovações
operacionais que surpreenderam os exércitos vátuas e destruíram a aura de
invencibilidade de Gungunhana42.
Este tipo de campanhas, todavia, foi quase atípico. No Sul de Moçam‑
bique foi considerado importante haver uma participação mais expressiva
de militares brancos do que era habitual, para que não restassem dúvidas
acerca da supremacia reivindicada pelos Portugueses entre os povos vassa‑
los dos Vátuas. Na maioria das campanhas, contudo, as colunas lusas eram
invariavelmente integradas por uma maioria de tropas auxiliares indígenas,
enquadradas por oficiais europeus. Enquanto nos combates travados nas
«terras da Coroa», zonas propícias a um confronto em campo aberto, o
superior poder de fogo e disciplina dos portugueses fizeram a diferença, os
recontros ocorridos na Zambézia e distritos mais a norte deixaram expostos
os limites do seu poder. Aqui, os avanços da medicina não foram suficientes
para prevenir a dizimação de efectivos por via de doenças gastrointestinais,
fruto de falta de cuidados de higiene e de uma logística muito deficiente.
Na campanha contra os Namarrais, no distrito de Moçambique, iniciada
em 1897 por Albuquerque, as colunas portuguesas tiveram de lidar com um
Hist-da-Expansao_4as.indd 420 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 421
inimigo esquivo, capaz de montar emboscadas eficazes e jogar no bate‑e‑foge
da guerrilha. A campanha foi interrompida ao fim de pouco tempo e só em
1913, com a construção de uma série de alianças locais e o aval a tácticas
ferozes, é que as autoridades coloniais lograriam dar a zona por «pacificada».
Explorar as divisões dos adversários e alistar colaboradores para a sua
causa (de forma voluntária ou forçada) terá, aliás, sido um dos principais
trunfos dos Europeus nesta fase do sistema imperial – e os Portugueses não
foram excepção. Consequentemente, muitas das campanhas de conquista
continham em si dinâmicas típicas de uma guerra civil43. De resto, esse era um
método que um longo historial de contactos com diferentes povos e culturas,
e um instinto de sobrevivência próprio de quem tem um poder limitado, lhes
permitiu ir aperfeiçoando, não obstante os inúmeros erros de avaliação que
continuaram a ser cometidos. A heterogeneidade étnica e tribal de alguns
dos seus territórios facilitava este tipo de estratégia, que para funcionar com
eficácia exigia alguma contemporização com práticas guerreiras (razias e
pilhagens, retaliações contra civis, mutilações de inimigos) que tendiam a
ser banidas pelos códigos de conduta das academias militares ocidentais.
Como Pélissier gosta de notar, Angola e Moçambique conquistaram‑se a elas
próprias ao fornecerem à potência colonizadora os contingentes de soldados
que esta jamais conseguiria mobilizar a partir da metrópole44. Até às guerras
da descolonização nos anos de 1960, as expressões da resistência africana –
endémica e muitas vezes tenaz – possuíam um carácter eminentemente local,
articulando‑se em torno de desagravos que raramente davam azo a coligações
interétnicas (excepções, no entanto, existiram, como certas revoltas no Cen‑
tro e Leste de Angola em 1916‑1918, ou a Revolta do Barué de 1917, que
procurou criar um movimento panzambeziano45). Vários estudos têm, aliás,
acentuado o carácter «reaccionário» destas oposições, movidas sobretudo
pelo desejo de algumas elites (caso dos sultanatos esclavagistas do Norte de
Moçambique, por exemplo) de preservar posições que resultavam de activida‑
des opressivas para outras populações. Por outro lado, como notou Isaacman,
para algumas elites africanas, a acomodação ou colaboração com os Portu‑
gueses, para além das questões da mera sobrevivência, não deixava de ter
as suas recompensas: permitia‑lhes protegerem‑se de inimigos históricos ou,
tão simplesmente, melhorarem o seu estatuto político e económico na nova
ordem colonial em construção46. E, para outros grupos mais subalternos, essa
ordem colonial também podia significar oportunidades: muitos ex‑escravos
ingressaram nos quadros do Exército como sipaios ou funcionários menores
das companhias concessionárias, por exemplo.
Mas mesmo num âmbito mais localizado e rural, em finais de Oitocentos
eram já patentes os factores de desagregação que colocaram muitas socie‑
dades africanas numa posição vulnerável diante das imposições europeias.
Hist-da-Expansao_4as.indd 421 24/Out/2014 17:17
422 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A expansão do comércio entre o litoral e o hinterland após a ilegalização do
tráfico de escravos criara condições para a «emergência de novas forças sociais
apoiadas em iniciativas individualistas» que, segundo Jill Dias, «enfraquece‑
ram a autoridade de estruturas políticas mais antigas»47. Por outro lado, com
o desenvolvimento da economia de plantação a partir da década de 1880
reacenderam‑se as razias esclavagistas em zonas do interior, levadas a cabo por
chefes africanos ávidos de lucro, ou simplesmente pressionados pelos agentes
do poder colonial. Para além da drenagem que a arregimentação forçada repre‑
sentou, há também que considerar os efeitos desestruturantes que resultaram
do aumento do consumo de álcool entre os africanos, um fenómeno perante o
qual o poder colonial revelava atitudes ambivalentes. A penetração portuguesa
no interior teve como consequência que povos mais isolados, como os Humbes
e Ovambos, do Sul de Angola, viessem a adquirir novos e dispendiosos hábitos
de consumo, o que por sua vez os levou a adoptar atitudes predatórias em
relação a vizinhos mais frágeis (neste caso os Ganguelas), um bom exemplo
de como a difusão da «civilização» podia perturbar padrões de coexistência
e fomentar dinâmicas de violência interétnica48.
À sombra da pauta: o regresso do mercantilismo
No início da década de 1890, um pouco por toda a Europa, a era do
livre‑cambismo havia cedido passo a regimes de feição proteccionista, ou
mesmo «neomercantilista». Em vários estados europeus, coligações de inte‑
resses relativamente amplas há muito vinham reclamando por um repúdio
das políticas liberais que, tanto à esquerda como à direita, eram vistas como
nocivas para a afirmação das forças produtivas nacionais. Para alguns dos
proponentes desta viragem, o proteccionismo – pela via aduaneira, mas não
só – seria a resposta adequada às distorções causadas pela operação não
‑regulada das forças do mercado. Num momento em que as classes dirigen‑
tes europeias se mostravam mais sensíveis às pulsões do nacionalismo e do
«social‑imperialismo», o recurso a uma política que apontasse para formas
de cooperação entre as classes e atribuísse às colónias um papel‑pivot num
programa de relançamento económico baseado na agricultura e indústrias
nacionais era tentador49.
No caso português, é sabido como desde a década de 1830 preocupações
proteccionistas enformavam a legislação referente às pautas coloniais50.
A procura de uma maximização das receitas fiscais por essa via sobrepôs
‑se invariavelmente às visões de um desenvolvimento a mais longo prazo
das possessões ultramarinas. Até tarde, os rendimentos obtidos pelo tráfico
negreiro sustentavam este tipo de abordagem, mesmo se esta não pudesse
Hist-da-Expansao_4as.indd 422 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 423
ser assumida de forma aberta. No entanto, novas pautas promulgadas em
1867 procuraram, de alguma maneira, antecipar as necessidades inerentes à
reconversão económica ditada pela abolição da escravatura. Ao mesmo tempo
que se harmonizavam direitos de exportação (independentemente do destino
e pavilhão dos navios) e se desoneravam as taxas portuárias de territórios
como Angola, discriminavam‑se positivamente artigos nacionais como os
vinhos comuns e os tecidos de linho (estes apenas «acabados» em Portugal).
A novidade da pauta promulgada em 1892, por iniciativa do governo de Dias
Ferreira, residia na sua preocupação em articular o desejo de um crescimento
das receitas fiscais com o incentivo a determinados sectores económicos.
As novas tarifas incluíam um agravamento dos direitos específicos para a
maior parte dos produtos importados, confirmando uma tendência que vinha
de trás (lei cerealífera de 1889). Mas discriminavam favoravelmente as expor‑
tações metropolitanas destinadas ao império (na prática, às colónias da África
Ocidental, e mesmo aqui com qualificações), que passariam a pagar entre 10
e 20 por cento dos direitos previstos na pauta geral; os artigos estrangeiros
reexportados, 80 por cento; os que não passassem por portos portugueses
ficavam privados de qualquer abatimento. Subjacente a esta política estava
uma estratégia de substituição de importações, com o propósito de corrigir
a deficitária balança comercial do país. Os interesses que se ressentiram de
alguns aspectos do novo regime, como certas casas comerciais sedeadas na
capital, alguma indústria de bens semitrabalhados, e os negociantes das
colónias (sobretudo os de Luanda) reagiram com acrimónia – ao ponto de
um dos órgãos mais representativos de parte destes sectores, a Associação
Comercial de Lisboa, ter sido temporariamente dissolvido por ordem do
governo, na sequência de um apelo a actos de desobediência civil51. Este
ruído não deverá, porém, desviar‑nos do essencial, que foi a inclinação do
poder político para, tanto através do «diferencial de bandeira» como dos
incentivos às companhias de navegação portuguesas, incentivar a «nacio‑
nalização do comércio externo português»52. Como já foi acentuado, até
ao eclodir da Guerra de 1914‑1918, o comércio de reexportação associado ao
império africano permitiu ao porto de Lisboa recuperar o seu estatuto de
grande entreposto comercial no Atlântico, com um volume de tráfego que
nas vésperas do conflito mundial atingia os 20 milhões de toneladas (apenas
menos 8 milhões do que o de Nova Iorque, o porto mais movimentado à
escala planetária)53.
Do ponto de vista metropolitano os resultados alcançados por esta vira‑
gem «neomercantil» foram expressivos. No espaço de aproximadamente
duas décadas (1893‑1914), a quota das exportações «nacionais e naciona‑
lizadas» no comércio com as colónias passou de 3 para 15 por cento. Para
um período equivalente, as reexportações de produtos oriundos das colónias
Hist-da-Expansao_4as.indd 423 24/Out/2014 17:17
424 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
através de Lisboa alcançaram valores na ordem dos 21 por cento, superando
os números homólogos apresentados pela Grã‑Bretanha e França54. Uma vez
que a metrópole retinha as divisas estrangeiras obtidas pelas exportações
feitas a partir das colónias, estima‑se que os encaixes realizados nesse âmbito
tenham contribuído, a par das remessas de emigrantes no Brasil, para col‑
matar o défice comercial externo do país entre 1905 e 191555. Em termos de
importações, na altura da proclamação da República, o império representava
4 por cento do comércio externo português56. Como notou Jorge Pedreira,
estes valores tornavam Portugal num dos países europeus mais orientados
para o comércio com o império e, seguramente, aquele que mais transacções
realizava com o continente africano57.
Na realidade, tudo girava em torno de um conjunto restrito de produtos
– essencialmente cacau, borracha, café e algumas sementes de oleaginosas.
E, acrescente‑se, nem todos tiveram um desempenho linear ao longo deste
período. Até ao primeiro conflito mundial, o cacau foi um dos negócios mais
bem‑sucedidos, ao ponto de se ter convertido numa quase monocultura em
São Tomé e Príncipe (o que fazia dela a mais rentável de todas as colónias
portuguesas). Aqui funcionava uma economia de plantação baseada em
empreendimentos agrícolas geridos segundo processos modernos, mas que
não dispensavam o uso intensivo de mão‑de‑obra – a introdução de troços
de caminhos‑de‑ferro, navios a vapor e emprego de formas de organização
capitalistas coexistiram com modalidades mais arcaicas de recrutamento e
exploração de trabalhadores africanos (importados sobretudo de Angola).
Bem relacionados com o poder político e financeiro da época, alguns dos
grandes roceiros construíram enormes fortunas, patentes nos sumptuosos
palácios mandados erguer na capital por figuras como José Luís Constantino
Dias, feito marquês de Vale Flor pelo rei D. Carlos. O cacau era também um
caso à parte, pelo facto de se tratar de uma das poucas culturas (juntamente
com o açúcar) em que o emprego de métodos e capitais de origem europeia,
na produção e comercialização, era mais evidente58.
Nos casos da borracha e do café, oriundos principalmente de Angola, os
seus surtos foram mais efémeros. A primeira era essencialmente colhida em
estado virgem pela população nativa do interior (sobretudo os Quiocos) e
transportada até à costa através de caravanas organizadas pelos Imbangalas
e por Ovimbundos, da região do planalto central até Benguela59. O segundo
era também uma cultura «selvagem», colhido pelo campesinato africano
nas suas pequenas lavras. Ambos se ressentiram fortemente da concorrência
internacional oriunda da Malásia e Indonésia e do Brasil, que inundaram os
mercados com artigos de qualidade superior e fizeram baixar as cotações sig‑
nificativamente após 1900. Tal situação fez mergulhar a economia angolana,
baseada ainda em sistemas tradicionais, numa recessão profunda, da qual
Hist-da-Expansao_4as.indd 424 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 425
viria a demorar alguns anos a recuperar. Uma das tentativas empreendidas
para atenuar essa estagnação foi o fomento de novas culturas, como a cana
‑de‑açúcar e o algodão, segundo processos de exploração mais modernos,
mas apenas o segundo logrou alcançar alguns resultados satisfatórios nesta
conjuntura. Por fim, o desenvolvimento da indústria dos óleos e sabões na
Europa estimulou a procura das sementes oleaginosas, oriundas da Guiné,
Cabo Verde e Moçambique, que entre 1901 e 1913 se tornaram o mais
valioso artigo de exportação das possessões ultramarinas. Tudo somado,
porém, a quota das importações oriundas do império observou um cresci‑
mento modesto (de 3 para 4 por cento entre finais do século xix e o advento
da República), sendo essa lentidão explicada por alguns autores pelo triplo
efeito dos direitos aduaneiros (não obstante o desconto de 50 por cento
caso as mercadorias fossem transportadas em navios de pavilhão nacional),
das limitações do mercado interno e da concorrência estrangeira que os
produtos coloniais tinham de enfrentar60.
Na conjuntura recessiva da década de 1890, tanto os governantes como
os agentes económicos nacionais depositavam grandes esperanças na criação
de «mercados coloniais reservados», designadamente através dos diferenciais
da pauta e outro tipo de privilégios fiscais61. As atenções concentraram‑se
então em dois ramos de actividade particularmente expostos à concorrência
estrangeira: a indústria têxtil e a produção vinícola.
Em termos de exportações, a indústria têxtil nacional, sobretudo a de
fiação e tecelagem, tornou‑se quase totalmente dependente dos mercados
africanos, os quais passaram a absorver cerca de 15 por cento da produção
nacional em 190062. Neste particular, Angola era de longe o destino por
excelência, ressentindo‑se depois as manufacturas portuguesas com o slump
angolano da primeira década do século xx. Na realidade, o caso angolano
ilustrava perfeitamente os limites da manipulação pautal: não só os consu‑
midores africanos se revelaram mais exigentes do que os industriais portu‑
gueses haviam imaginado63, como o contrabando de tecidos introduzidos por
comerciantes alemães, britânicos e belgas a partir dos seus entrepostos na
bacia do Congo não tardou a assumir uma expressão significativa. Tentativas
de fomentar o cultivo de algodão em Angola, para permitir que a indústria
têxtil nacional tirasse partido das tarifas mais baixas que incidiam sobre as
importações do império, raramente surtiram o efeito desejado, ora pelos
preços muito mais competitivos do algodão produzido noutras paragens, ora
pela existência de alternativas mais rentáveis que se encontravam ao dispor
dos plantadores coloniais.
No caso dos vinhos, a mão protectora do Estado entrou em acção apenas
em 1895, como resposta ao fechamento do mercado francês e à concorrên‑
cia movida pelos vinhos de mesa espanhóis e italianos na América Latina.
Hist-da-Expansao_4as.indd 425 24/Out/2014 17:17
426 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
O poder do lobby vinhateiro (ligado sobretudo aos produtores do Ribatejo
e da Estremadura) na política nacional ficou patente na panóplia de medidas
que conseguiu fazer adoptar para, por um lado, diminuir a entrada de bebi‑
das espirituosas importadas nas colónias e, por outro, restringir a produção
de bebidas locais, como as aguardentes de cana (proibidas em 1911)64. Uma
vez que as disposições da Conferência de Bruxelas (Julho de 1890) destina‑
das a melhorar «as condições de vida morais e materiais das raças nativas»
interditavam a venda de bebidas com uma graduação superior a 23°, isso
gerava oportunidades para o vinho corrente português, mesmo com um teor
alcoólico mais elevado do que aquele que era comum na Europa. A tentativa
de fabricação de um produto que fosse ao encontro do gosto dos nativos
por bebidas mais fortes resultou no chamado «vinho para o preto», uma
mistela de 19°, altamente aditivada, que se tornou num dos poucos produtos
de exportação nacional verdadeiramente bem‑sucedidos em Moçambique,
onde foi possível aproveitar o poder de compra acrescido dos trabalhadores
do distrito de Lourenço Marques empregados nas minas do Transvaal ou
nas plantações agrícolas do Natal65.
Em bom rigor, é importante sublinhar que o comércio ultramarino direc‑
tamente beneficiado pelo novo proteccionismo abrangia apenas uma parte
das colónias, pelo que dificilmente a nova pauta poderia ser a base de uma
política de integração económica coerente à escala imperial. Na verdade,
os domínios em questão eram aqueles que estavam geograficamente mais
próximos da metrópole (e eram servidos por carreiras regulares) e se encon‑
travam sujeitos a um controlo administrativo mais apertado por parte de
Lisboa: os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe e Angola,
que absorviam três quartos das exportações «nacionais e nacionalizadas»66.
No que dizia respeito a Moçambique, a situação era mais anómala. Aqui
existiam quatro regimes alfandegários distintos: os das três companhias
majestáticas que cobriam uma grande parte da colónia; e o da zona adua‑
neira a sul do Save, que estava abrangida pelo acordo de comércio livre
com o Transvaal. Por conseguinte, foi sempre um domínio particularmente
exposto à concorrência estrangeira, tanto a que era alimentada pelo con‑
trabando de mercadorias oriundas dos territórios limítrofes (os algodões
de Manchester introduzidos pelos comerciantes da Rodésia), como a que
chegava da Índia Britânica, através de Goa, pagando baixos direitos adua‑
neiros (principalmente os tecidos lisos)67.
As deficientes comunicações marítimas, um factor que há décadas inibia
o estreitamento dos laços comerciais com as colónias, foi outra das esfe‑
ras em que interesses privados exigiram uma intervenção governamental
mais enérgica. Sem um volume de passageiros e tráfego capaz de sustentar
empreendimentos economicamente viáveis, tanto as ligações aos portos da
Hist-da-Expansao_4as.indd 426 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 427
África Ocidental como aos que se situavam para lá do cabo da Boa Esperança
só estavam em condições de operar mediante subsídios governamentais.
Na época do scramble, as preocupações com uma dimensão mais «sobe‑
ranista» tornaram o poder político receptivo àqueles que reclamavam um
patrocínio às empresas de bandeira nacional, e foi nesse contexto que vários
negociantes de Lisboa avançaram com os capitais necessários à constituição
da companhia que viria a arrematar o contrato de exploração exclusiva das
rotas da África Ocidental até Moçâmedes (com excepção dos portos da zona
de comércio livre do Congo) – a Empresa Nacional de Navegação (ENN).
Parcialmente controlada por famílias de comerciantes judaicos radicados
nos Açores (os Bensaúde), a ENN passou a desfrutar de uma situação de
monopólio das rotas imperiais a partir de 1903, altura em que o ministro
Teixeira de Sousa lhe concedeu o exclusivo da navegação para os portos
africanos orientais (os quais, no seguimento da falência da Mala Real, em
1892, vinham sendo servidos por vapores estrangeiros)68.
Um outro sector de actividade onde a fusão entre a política e os negócios
(sobretudo o grande comércio lisboeta) se fazia notar de forma expressiva era
a banca. Aqui império era sinónimo de Banco Nacional Ultramarino (BNU),
que só em 1901 perderia a posição de monopólio bancário nas colónias da
África Ocidental (mas mantendo o privilégio exclusivo de emissão de notas
nos territórios onde operava, incluindo Moçambique). Apesar da sua relu‑
tância em financiar empreendimentos com um maior componente de risco,
o que sempre lhe granjeou críticas amargas por parte daqueles que tinham
uma visão mais voluntariosa da economia colonial, o banco atravessou uma
fase complicada na década de 1890, devido a uma série de insolvências de
plantadores de Angola e Cabo Verde, valendo‑lhe na circunstância a forte
valorização de alguns activos que possuía em São Tomé e Príncipe. Embora
a concessão de crédito à agricultura e a actividades relacionadas com a
colonização tivesse sido a razão de ser da sua criação em 1864, o BNU era
acusado de praticar taxas de juro superiores às estipuladas no contrato com
o Estado, de manipular as taxas de câmbio, de ser demasiado selectivo nos
financiamentos (privilegiando as casas comerciais lisboetas que detinham
propriedades agrícolas nas colónias), e de se concentrar quase exclusivamente
em operações de curto prazo, havendo ainda suspeitas de que desviaria
avultados capitais para o estrangeiro e facilitaria esquemas de angariação de
mão‑de‑obra servil na costa ocidental africana para as roças são‑tomenses.
Em suma, de conduzir uma operação essencialmente especulativa, de costas
voltadas para os empreendedores locais e para uma visão de mais longo prazo
do desenvolvimento dos territórios coloniais69.
Hist-da-Expansao_4as.indd 427 24/Out/2014 17:17
428 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Imperialismo em outsourcing
Mais do que um problema de escassez de capitais (que também existia),
aquilo que tornava os agentes económicos privados relutantes em investir
por sua conta em África era, no fundo, o seu próprio sentido de raciona‑
lidade. Se o sistema imperial lhes oferecia oportunidades de negócio pro‑
tegidas da concorrência, ou de retorno seguro por via de um contrato ou
concessão governamental, para quê correr riscos desnecessários? Por outro
lado, o Estado não estava em condições de os substituir nesse papel. Com
45 por cento das suas receitas afectos ao pagamento do serviço da dívida70,
e o acesso vedado aos mercados de capitais na sequência da bancarrota
parcial de 1892, os decisores políticos não tiveram outra alternativa senão
recorrer ao expediente das concessões. O fenómeno não era exactamente
novo. Afinal de contas, há séculos que a Coroa portuguesa, no âmbito da
expansão, se habituara a delegar em privados competências que decorriam
das suas prerrogativas soberanas, e desde a década de 1880 que vários
países europeus estavam a ressuscitar uma instituição velha de séculos para
não sobrecarregarem os respectivos tesouros nacionais com os custos da
colonização. O aspecto mais curioso da experiência tentada em finais do
século xix prendia‑se com o facto de o seu desígnio primordial consistir na
captação de investimento estrangeiro para os domínios ultramarinos, e de
isso ter coincidido com o apogeu de um discurso patriótico hiperbolizado,
com laivos de chauvinismo. Essa opção, aliás, tinha já sido ensaiada em anos
anteriores (através de figuras como Paiva de Andrade), tendo então esbarrado
com uma reacção veemente por parte de amplos sectores da opinião pública.
O conflito com a Grã‑Bretanha, porém, abrira espaço para uma visão mais
desapaixonada das coisas.
Durante um curto período, gerou‑se mesmo uma espécie de frenesi em
torno das concessões – ao ponto de em 1894 o governo regenerador ter
sentido necessidade de fazer aprovar um «decreto‑travão», colocando sob a
alçada do parlamento a autoridade para outorgar mais concessões (medida
depois revogada em 1901). Pela sua proximidade ao enclave capitalista do
Transvaal, e pela esperança de que regiões como Manica pudessem conter
jazidas de ouro equiparáveis às daquele território, Moçambique constituía
então a colónia mais apetecível para todos os caçadores de fortuna, levando
os mais entusiastas a sonhar com uma «nova Califórnia» na África Orien‑
tal71. Era também aquela onde Portugal, por razões de ordem geográfica,
experimentaria maiores dificuldades em fazer acatar a sua soberania e
promover a ocupação «efectiva». Conquistar, administrar e desenvolver
uma área de 790 000 km2 não estava ao alcance de um Estado virtualmente
falido.
Hist-da-Expansao_4as.indd 428 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 429
Abriu‑se então o ciclo das «companhias majestáticas». A este respeito,
a Companhia de Moçambique, entretanto reorganizada como sociedade
anónima, serviu de modelo para outras experiências posteriores72. Pelo seu
contrato, celebrado em Fevereiro de 1891, estava investida da autoridade
para elaborar leis e regulamentos, contratar pessoal, emitir moeda e selos,
cobrar impostos e taxas aduaneiras, controlar movimentos populacionais
e exercer o monopólio sobre todas as actividades económicas no território
sob sua jurisdição (135 000 km2, correspondendo ao distrito de Manica e
Sofala e uma parte do Sul do Save). Por uma questão de decoro patriótico,
Portugal ainda tentou, através de várias cláusulas, preservar o seu carácter
«nacional» (sede em Lisboa, maioria de portugueses no conselho de admi‑
nistração, estatutos sujeitos a aprovação governamental), mas, ao fim de
pouco tempo, já nem era possível ter uma noção exacta da composição da
sua estrutura accionista. Procurou‑se igualmente impor‑lhe um conjunto
de obrigações com o desenvolvimento económico da colónia, a observar
no decurso de uma concessão de 25 anos (prolongada para 50 anos em
1897). Entre essas obrigações constavam a construção de vias‑férreas, estra‑
das, infra‑estruturas portuárias, escolas e hospitais, assim como o apoio à
fixação de colonos portugueses. Muitos destes compromissos ficariam por
cumprir, desde logo por causa da deficiente capitalização da companhia.
Os seus administradores não se fizeram rogados e desde cedo enveredaram
por uma política de subconcessões em sectores como a extracção mineira e
de borracha, agricultura e construção de portos e ferrovias, concentrando
‑se depois na rentabilização das suas prerrogativas soberanas (cobrança
de taxas aduaneiras e trânsito e imposto de capitação), por um lado, e na
especulação dos seus títulos em bolsa, por outro. Para além da arrecadação
fiscal, a Companhia de Moçambique limitava‑se a garantir o fornecimento
de mão‑de‑obra africana a empregadores privados, o que também lhe pro‑
porcionava algumas receitas. Esquemas montados para estimular a fixação
de colonos oriundos de Portugal resultaram mal e grande parte da produção
agrícola do território era garantida pelos cultivadores africanos. Os lucros
que foi gerando ao longo da sua existência (não muito impressivos, diga
‑se) permitiram‑lhe manter um aparato administrativo e policial elementar,
pagar dividendos pouco mais do que simbólicos ao Estado português, e
realizar um único investimento de alguma escala, a ponte ferroviária sobre
o rio Zambeze, inaugurada em 1935 (numa altura em que o transporte
automóvel começava a ganhar mais expressão). Embora mantendo boas
relações com as autoridades coloniais (em parte devido à sua política
de recrutamento de portugueses para os seus quadros), a Companhia de
Moçambique permaneceu um enclave estrangeiro na colónia, com os bri‑
tânicos a assumirem uma posição preponderante no seu capital (embora
Hist-da-Expansao_4as.indd 429 24/Out/2014 17:17
430 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
enfrentando um desafio francês em 1897) e a deixarem uma marca notória
do seu ascendente em inúmeros aspectos do quotidiano da colónia, do
curso legal da libra esterlina à condução pela esquerda, ou até ao hastear
da Union Jack em edifícios públicos.
Em termos de submissão dos povos autóctones, a sua iniciativa dependeu
grandemente dos bons serviços de condottieri como Manuel António de Sousa
e dos seus «capitães» para garantir alguma ordem em partes da Gorongosa
e vale do Zambeze. Insurreições e outras formas de resistência, como a fuga
de comunidades inteiras para territórios coloniais vizinhos, foram recorrentes
na sua história, muito devido à brutalidade com que os engajadores de mão
‑de‑obra eram autorizados a actuar e aos métodos disciplinadores empregues
por funcionários (muitos deles recrutados entre antigos criminosos), os quais
incluíam o uso rotineiro da palmatória e do chicote73.
Em bom rigor, há que notar que esta situação estava longe de ser única
em Moçambique. Nos domínios da segunda companhia majestática a ser aí
estabelecida em 1894, a Companhia do Niassa, responsável por uma área de
160 000 km2 a norte do rio Lúrio, as violências e os abusos que incidiram nas
populações nativas terão assumido proporções ainda mais graves74. Incapaz
de mobilizar os capitais indispensáveis para uma estratégia de fomento eco‑
nómico a longo prazo, os seus directores entregaram‑se a uma exploração
sem dó nem piedade do único activo que possuíam – a população africana.
Isto significou duas coisas: uma elevada pressão fiscal sobre os camponeses
macuas e macondes que praticavam uma agricultura de tipo comunitário; e
um recrutamento forçado de homens adultos africanos, enviados sob contrato
para as minas da África do Sul e do Catanga, para as plantações açucareiras
do Baixo Zambeze, quando não eram mesmo vendidos como escravos para
o golfo Pérsico, na sequência do fim do policiamento antiesclavagista da
Marinha britânica nas costas da África Oriental.
Paralelamente, subsistia ainda o velho sistema dos prazos da Coroa,
que, não obstante a proposta da sua extinção em 1892 por uma comissão
liderada por António Enes, a ocorrer num prazo de 15 anos, se revelaria
afinal muito mais resiliente. Os autores da proposta esperavam quebrar a
lógica puramente rentista dos prazos, utilizando‑os como veículo para o
estabelecimento de uma nova classe de colonos empreendedores. O leilão
que deveria ter atraído esses elementos seria contudo realizado já com
a concessão da Companhia de Moçambique em vigor, o que facilitou a
aquisição dos prazos mais atractivos (os mais populosos e situados junto
ao litoral) por investidores estrangeiros; os restantes acabariam por ser
amalgamados numa só concessão e formar a base territorial da Compa‑
nhia da Zambézia (aproximadamente 155 000 km2), de capitais franceses,
alemães e britânicos. Neste caso, porém, o seu aproveitamento não se
Hist-da-Expansao_4as.indd 430 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 431
podia afastar mais dos planos de Enes e seus colegas: muitos dos prazos
foram adjudicados a subconcessionários estrangeiros, a quem era conce‑
dido o poder de cobrar impostos como melhor entendessem. Entres estes
sobressaíram potentados como a Sena Sugar Estates, as companhias Boror
e Suabo, e a sociedade do Madal, responsáveis pela introdução de tecno‑
logia e processos de exploração modernos e pelo aumento da capacidade
exportadora da colónia em artigos como o açúcar, coco, sisal e copra75.
A maioria dos concessionários, porém, ter‑se‑á distinguido por uma atitude
predatória implacável, movida por dois objectivos precisos: a cobrança do
imposto de capitação (o chamado mussoco) e a arregimentação forçada de
trabalhadores. Em consequência disso, o ambiente de banditismo e violên‑
cia que há muito prevalecia na região pouco viria a modificar‑se nos anos
seguintes, com as famílias de antigos muzungos a liderarem a resistência
à nova ordem colonial76.
No caso de Angola, o arranque mais tardio da «pacificação», mas também
a ideia de que os seus vastos planaltos férteis poderiam funcionar como o
núcleo de uma «Nova Lusitânia», tornaram as autoridades metropolitanas
mais renitentes em conceder prerrogativas majestáticas a capitalistas estran‑
geiros. A única companhia de alvará aí estabelecida até à década de 1920, a
Companhia de Moçâmedes (1894), de capitais maioritariamente franceses,
não viu inscritas na sua concessão as funções de soberania que algumas das
suas congéneres de Moçambique haviam obtido. Mais a mais, as expecta‑
tivas de uma exploração rentável das minas de ouro de Cassinga nunca se
concretizaram, pelo que a companhia averbaria apenas ganhos limitados em
áreas como o cultivo de algodão e a criação de gado77.
Os historiadores destas instituições «feudo‑capitalistas» fazem geralmente
um balanço severo do seu desempenho e interrogam‑se se a sua instalação
nas colónias terá sido a melhor opção do Estado português. Em termos
de rentabilidade económica, poucos dividendos pagaram a Lisboa (uma
delas, a do Niassa, jamais o faria) e, como notou Newitt, o seu modelo
rentista‑predatório terá mesmo funcionado como um travão à introdução de
genuínos modos de produção capitalista em Moçambique78. No tocante aos
compromissos assumidos perante as autoridades lusas, poucas concretizaram
o investimento produtivo que delas se esperava. As infra‑estruturas erguidas
até à data em que as concessões expiraram (entre as décadas de 1920 e 1940)
foram escassas, nem sempre de boa qualidade e, no caso das vias‑férreas, o
seu traçado havia sido concebido para servir interesses exteriores à própria
colónia. Os muito apregoados benefícios «civilizacionais» – o acesso dos afri‑
canos a uma escolaridade, mesmo que rudimentar, ou à medicina moderna,
por exemplo – conheceram uma difusão mínima. Na realidade, a única
faceta da «modernidade» que as populações nativas puderam conhecer mais
Hist-da-Expansao_4as.indd 431 24/Out/2014 17:17
432 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
intimamente foi a que lhes foi trazida pelos cobradores de impostos, polícias
e engajadores de mão‑de‑obra.
Os métodos empregues para que a nova ordem colonial associada às
companhias fosse acatada combinavam um elevado grau de eficácia e cruel‑
dade (terror não será uma expressão gratuita neste contexto). O legado de
ressentimento que essas experiências deixaram não deverá ser subestimado
e ajudará a explicar a longa tradição de contestação ao domínio português
em zonas como Cabo Delgado ou a Zambézia, ou, em tempos mais recen‑
tes, a recrudescência do «banditismo social» (o fenómeno da Renamo no
Moçambique pós‑independência79), como rejeição de uma autoridade sentida
como opressiva. Tudo somado, em Moçambique apenas uns 30 por cento
da área total do território, basicamente os distritos de Lourenço Marques, da
fronteira sul‑africana ao Save, e de Moçambique, do rio Lúrio aos prazos
da Companhia da Zambézia, seriam efectivamente controlados pelos agen‑
tes da Coroa portuguesa, e mesmo a nova capital, a cidade de Lourenço Mar‑
ques (1902), integrada na densa malha comercial e ferroviária sul‑africana,
pouco mais seria do que um satélite da economia capitalista que Bóeres e
Britânicos tinham desenvolvido na África do Sul80. Tudo isto é incontroverso.
Mas, uma vez mais, é importante não perder de vista as circunstâncias em
que os poderes públicos em Portugal se viram forçados a recorrer a este
outsourcing de soberania. Para além de ser uma opção em linha com aquilo
que desde 1880 se generalizara noutros espaços coloniais81, as alternativas à
mão dos governantes portugueses para tornar o seu projecto imperial menos
declamatório eram inexistentes. Por muito insatisfatório que possa ter sido
o seu retorno, a presença do capital estrangeiro assegurou aos decisores
portugueses as condições mínimas para, no tocante a Moçambique pelo
menos, repudiarem as até então insistentes acusações de negligência e incúria.
Adicionalmente, Portugal arranjava aliados de peso para, em alguns centros
de poder europeus, dificultar ou travar quaisquer desígnios alimentados em
relação às suas colónias. Os títulos de soberania portugueses internacio‑
nalmente reconhecidos foram assim protegidos e, no final dos contratos, as
autoridades de Lisboa estavam em condições de reassumir o controlo pleno
sobre os territórios (como efectivamente fizeram)82.
Mesmo quando a presença do capital estrangeiro não assumia o figurino
das companhias de alvará, a sua influência insinuava‑se sob outras modalida‑
des. Os mais dispendiosos e complexos investimentos realizados no império
exigiam o seu concurso, tendo em conta as debilidades portuguesas, tanto
em termos financeiros, como de know‑how tecnológico. Isso foi particular
mente evidente num domínio crítico de qualquer construção imperial, o dos
transportes e comunicações. A questão, uma vez mais, é que as prioridades de
potenciais investidores nem sempre coincidiam com as ambições portuguesas
Hist-da-Expansao_4as.indd 432 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 433
a respeito da edificação das infra‑estruturas que possibilitassem a unificação
e o desenvolvimento harmónico dos territórios.
Tentativas mais voluntaristas, como a da Real Companhia do Caminho
‑de‑Ferro através da África – ou caminho‑de‑ferro Luanda‑Ambaca –, tor
naram‑se autênticos elefantes‑brancos do Estado português. Pensada para
desviar o comércio da borracha do Congo para a capital da colónia e esti‑
mular os fazendeiros de café do Cazengo, a linha de cerca de 340 km (à qual
seria depois acrescentado um troço Ambaca‑Malanje) foi sendo construída
entre 1885 e 1909 por promotores privados nacionais; algum tempo depois,
transitaria para o controlo do Estado. Pelo caminho ficaram anos de subsí‑
dios aos investidores, calculados numa base altamente vantajosa para estes.
Uma vez que algumas das regiões mais ricas em matérias‑primas da África
Central‑Austral se situavam em territórios sem acesso ao mar, não faltaram
candidatos para promover a expansão das artérias que assegurariam a liga‑
ção entre os portos portugueses e zonas como o Catanga ou as Rodésias.
Em Moçambique, a década de 1890 assistiu à conclusão da linha do caminho
‑de‑ferro (CF) de Lourenço Marques‑Pretória (1895), já mencionada no capí‑
tulo anterior, e cujas consequências, em termos de dinamização económica do
distrito de Lourenço Marques, foram apreciáveis, mas também à construção
da linha Beira‑Salisbury (1894‑1899), promovida por uma concessionária da
BSAC de Rhodes. Sem nunca apresentar as mesmas taxas de rentabilidade
da sua congénere mais a sul, o CF da Beira ligaria depois o porto moçambi‑
cano ao Catanga. A malha ferroviária da colónia viria ainda a incluir ramais
de conexão à Suazilândia e à Niassalândia83.
Em Angola, o apetite estrangeiro pelos outlets marítimos portugueses
ganharia expressão com a obtenção de uma concessão para a construção de
um caminho‑de‑ferro que ligaria o porto do Lobito às regiões mineiras da
África Central‑Austral belga e britânica. Um antigo colaborador de Rhodes,
o engenheiro inglês Robert Williams, angariou os capitais necessários, na
Bélgica e na Grã‑Bretanha, para arrancar com o empreendimento, que deveria
servir os novos complexos mineiros do Catanga e do Copperbelt. Dada a
escala e dificuldade da empreitada, Williams foi capaz de obter vários bene‑
fícios para o período de execução da mesma (direitos mineiros e fundiários
ao longo de uma extensão de 120 km nas bandas da linha, facilidades de
recrutamento de mão‑de‑obra africana), comprometendo‑se, por seu turno, a
desenvolver esforços para instalar colonos portugueses na área abrangida pela
concessão. A outorga deste género de privilégios terá de ser entendida à luz
das ansiedades das elites portuguesas nesta conjuntura – em 1898, Ingleses e
Alemães tinham‑se posto de acordo para partilhar o império luso em esferas
de influência (a pretexto de uma nova situação de bancarrota iminente do
Estado português), pelo que figuras como Williams não deixavam de ser vistas
Hist-da-Expansao_4as.indd 433 24/Out/2014 17:17
434 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
como potenciais aliados para neutralizar esse género de ameaças. Quando
ficou finalmente concluído em 1927, o Caminho‑de‑Ferro de Benguela tornar
‑se‑ia o mais importante investimento britânico em Angola e assim permane‑
ceria até à independência do país em meados da década de 197084.
Por fim, as dificuldades sentidas pelos responsáveis portugueses para
conciliarem as suas visões de um império «lusitanizado» pela via de uma
gradual colonização metropolitana com as suas necessidades financeiras
mais imediatas estavam igualmente patentes noutro domínio, o da regula‑
ção dos fluxos migratórios para territórios vizinhos. Aqui, os entendimentos
celebrados com as autoridades sul‑africanas (primeiro com o regulamento
de 1897 e depois com o modus vivendi de 1901) com vista à definição das
condições de recrutamento por agentes dos consórcios mineiros do Transvaal
em território moçambicano tornar‑se‑iam uma das mais eficazes modali‑
dades de captação de divisas do Estado imperial (por via dos pagamentos
diferidos aos trabalhadores moçambicanos e à especulação cambial que isso
permitia). Para além deste aspecto, as convenções laborais referentes a tal
fluxo migratório constituíram também um importante trunfo diplomático
de Portugal, facto que ajudará a compreender o impacto muito limitado dos
protestos formulados pelos agricultores e colonos do território a sul do Save,
insatisfeitos com as repercussões destes entendimentos na oferta e no preço
da mão‑de‑obra africana85.
A «missão civilizacional» reconfigurada
Um dos motivos que terão contribuído para suprimir a resistência a uma
abertura das colónias ao capital estrangeiro prendia‑se com a noção de que
dificilmente aquelas poderiam emular o trajecto das colónias britânicas da
África Meridional, do Canadá ou da Oceânia (os White Dominions), onde
colonos europeus haviam criado sociedades economicamente dinâmicas,
vindo por isso a desfrutar de um crescente grau de autonomia. Esse cep‑
ticismo não era, contudo, consensual. Até à década de 1930, o projecto
imperial português contou sempre com entusiastas da reedição do «modelo
brasileiro» de colonização, muito ancorado na ideia de que os Portugueses,
um povo de camponeses resilientes, tinha o «génio colonizador» a correr
nas suas veias86. A historiadora Cláudia Castelo alude à existência de dois
modelos concorrentes: um favorecendo a fixação de colonos naturais da
metrópole nas regiões mais salubres (como os planaltos angolanos, de clima
temperado), preferencialmente orientados para actividades agrárias, e com
fortes apoios estatais; outro privilegiando uma «colonização de capitais ou
de feitores, associado à ideia de exploração económica das riquezas e da
Hist-da-Expansao_4as.indd 434 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 435
mão‑de‑obra do ultramar e à recusa do investimento estatal em projectos de
povoamento dirigido»87. Entre os defensores do primeiro modelo, a ênfase
era colocada na noção de que as colónias poderiam constituir‑se como um
«prolongamento da mãe‑pátria», graças ao enraizamento de hábitos, tradi‑
ções e costumes trazidos da Europa pelos novos povoadores, que, além do
mais, poderiam contrabalançar a influência «perniciosa» de estrangeiros que
se começavam a instalar nos territórios portugueses como colonos livres.
Embora este desígnio pudesse ser considerado louvável por muita gente, não
faltava quem lhe encontrasse vários problemas. Os sempre diminutos recursos
do Estado eram um deles. Outro tinha a ver com as dúvidas relativamente
à sensatez de se desviar excedentes demográficos metropolitanos para a
África. Na opinião de vários reformadores, Portugal continuava a ser um
país fragilizado por desequilíbrios internos que importava corrigir, sendo
um deles a excessiva concentração populacional no Centro‑Norte; estimular
a colonização interna, designadamente em regiões escassamente povoadas,
como o Alentejo, era visto por alguns como um passo essencial para se poder
alcançar um desenvolvimento mais harmonioso no reino. Um outro motivo
de peso era também invocado para desaconselhar um desvio da emigração
do Brasil para as colónias de África: a perda do «cunho lusitano» da nação
sul‑americana, importante mercado para as exportações portuguesas e fonte
dos «invisíveis» que permitiam equilibrar a balança de pagamentos do país.
Olhando para os dados fornecidos pelos (muito imperfeitos) inquéritos
populacionais relativos a Angola e Moçambique nas duas primeiras décadas
do século xx, verifica‑se que os defensores do segundo modelo levaram cla‑
ramente a melhor. Entre 1900 e 1910, a população branca de Angola cresceu
de cerca de 9000 para 12 000 efectivos, sendo que em Moçambique, para
igual período, esses valores seriam de 2064 (número respeitante apenas aos
habitantes em territórios sob administração directa do Estado) e cerca de
11 000 (números que estão de alguma forma em linha com os apresentados
por outras colónias europeias recentemente estabelecidas na região, como
a Rodésia do Sul e o Quénia)88. A emigração livre continuou a demandar o
Brasil como destino privilegiado, pois era a antiga colónia que oferecia as
melhores perspectivas de melhoria de vida e mobilidade ascendente a quem a
procurasse. Entre 1891 e 1907, a emigração portuguesa para África atingiria
uma média anual de 1327 pessoas (de uma média de poucas dezenas por ano
até à década de 1880), o que representava somente 4,3 por cento do total
do fluxo migratório89.
Até ao advento da República, os raros projectos orientados de povoa‑
mento branco de Angola (o único território onde estas ideias foram levadas
à prática) acabaram por produzir resultados decepcionantes, com a possí‑
vel excepção da colonização do planalto da Huíla por algumas centenas
Hist-da-Expansao_4as.indd 435 24/Out/2014 17:17
436 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de madeirenses entre 1885 e 189090. A falta de cuidado posto na selecção
dos novos povoadores (ao nível da sua preparação e do tipo de tarefas que
poderiam vir a desempenhar) foi uma das falhas apontadas para o fracasso
de várias tentativas de colonização agrícola na década de 1890, mas depois
os governos parecem ter caído no extremo oposto, de tal forma minuciosas
se tornaram as condições para a concessão de passagens pagas pelo Estado
a potenciais povoadores91. De resto, no imaginário colectivo, a associação
das colónias africanas a terras de «morte e degredo» teimava em persistir – e
com boas razões. Para além dos riscos que uma estadia mais prolongada em
África ainda acarretava para a saúde dos europeus (dada a falta de pessoal
médico, vacinas e fármacos adequados), havia ainda a violência própria das
sociedades de fronteira, alimentada não apenas pela «insubmissão» de vários
povos nativos mas também pelo elevado número de criminosos (tanto os sen‑
tenciados por ofensas comuns como os desterrados por delitos políticos) que
continuavam ser deportados para as colónias, o qual superava largamente o
dos emigrantes livres92. As autoridades foram, no entanto, sensíveis às queixas
que a presença destes elementos suscitava, especialmente em relação àqueles
que se movimentavam em liberdade nas zonas urbanas, pelo que nas últimas
décadas do século xix foram ensaiados vários projectos de colonização penal
de tipo agrícola e militar no interior de Angola. A experiência, a fazer fé na
correspondência dos governadores de Benguela, terá ficado aquém dos efeitos
desejados, tão intensas eram a aversão dos degredados ao trabalho agrícola
e as suas atitudes predatórias contra os africanos, já para não falar do efeito
dizimador das doenças tropicais93.
Se as circunstâncias acabaram por ditar uma vitória para os defensores
de uma colonização mais pragmática, isso não quer dizer que os Portugueses
pudessem renunciar à dimensão moral que deveria ser um dos esteios do
seu projecto imperial, algo a que as potências signatárias das actas finais
das Conferências de Berlim e Bruxelas estavam vinculadas. Governantes,
diplomatas e intelectuais continuaram a insistir que o objectivo último
da missão imperial lusa era a «civilização» dos indígenas, ou seja, a sua
transformação em trabalhadores diligentes, exibindo maneiras europeizadas
e conquistados para a única fé verdadeira (o Cristianismo, de preferência
na variante católica romana). Para além da sua vinculação a convenções e
tratados que instituíam a liberdade da acção prosélita nos territórios africa‑
nos, o «senso comum» imperial de finais de Oitocentos em Portugal estava
muito mais sensível à ideia de readmitir as ordens religiosas no espaço nacio‑
nal para efeitos de serviço missionário, embora numa óptica claramente
instrumental: o missionário deveria ser um agente activo da colonização,
preferencialmente católico e formado em estabelecimentos missionários
tutelados pelo Estado. Em 1892, um parecer da Comissão Africana da SGL
Hist-da-Expansao_4as.indd 436 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 437
definia de forma lapidar a relevância desse serviço: «A missão católica é o
meio mais nobre, mais eficaz e mais económico de conquistar, de civilizar
e de assimilar o indígena.»94
No entanto, ao passo que em conjunturas anteriores vários reformadores
liberais haviam considerado que esse processo de aculturação dos nativos era
algo que se processaria por etapas (embora sempre com a ênfase na inculca‑
ção de noções como o dever de trabalhar ou os direitos de propriedade), os
defensores de uma abordagem «social‑darwinista», indissociável da impo‑
sição de regimes de trabalho forçado, conquistaram um notório ascendente
na última década do século xix. Num ambiente de restrições financeiras,
não lhes foi difícil argumentar que seria imperioso encaminhar os indígenas
para o trabalho sempre que estes cedessem à tentação da «preguiça» ou da
«vadiagem». Apesar de existirem nuances na interpretação da relutância dos
negros em procurarem trabalho assalariado95, a grande maioria dos teóricos
da «ciência da colonização» estava de acordo quanto à necessidade de se
«actuar» sobre a sua atitude apática ou esquiva, por forma a que impostos
fossem arrecadados e novos empreendimentos dispusessem de uma mão‑de
‑obra abundante e barata.
Com arranque na década de 1890, todo um aparato normativo foi sendo
erguido para facilitar esses fins, ao mesmo tempo que uma apologética do
trabalho redentor era forjada pelos teóricos e propagandistas do terceiro
império português. Num desenvolvimento paralelo ao das doutrinas nacio‑
nalistas românticas, novas abordagens científicas vinham afirmar a ideia
de uma diversidade irredutível da espécie humana (as teses poligenistas),
passível de ser aferida através de uma análise da conexão entre dados bio‑
lógicos e padrões de comportamento humano96. As conclusões dos estudos
produzidos pela fisionomia, frenologia e antropometria eram citadas com
regularidade por boa parte da intelligentsia finissecular para demonstrar
as capacidades limitadas dos povos africanos, muitos deles descritos como
pertencendo a um estádio intermédio da evolução humana, algures entre a
bestialidade e a humanidade. Segundo visões mais extremistas (alinhadas com
as teorias da eugenia), essa condição seria algo de inultrapassável em alguns
grupos humanos, cujo extermínio a longo prazo deveria ser inclusivamente
equacionado. Outros, porém, reconheciam a possibilidade de as raças tidas
como «atrasadas» ou «semibárbaras» superarem as condições de natureza
ambiental (físicas e culturais) que haviam retardado o seu desenvolvimento
face aos Europeus. Tributária de uma posição etnocêntrica, esta era uma
visão mais compatível com as teorias do «trabalho redentor» que estavam
no âmago da «missão civilizadora» apregoada por muitos responsáveis por‑
tugueses, tanto de meios políticos, como militares e eclesiásticos. Em suma,
para que os benefícios da «civilização» chegassem às colónias, o crescimento
Hist-da-Expansao_4as.indd 437 24/Out/2014 17:17
438 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
económico era uma pré‑condição; e para que este se tornasse uma realidade,
o contributo dos africanos era imprescindível, nomeadamente sob a forma do
trabalho voluntário ou compelido. Este, sim, era um dos pontos inegociáveis
da mundividência imperial de finais de Oitocentos97.
Apesar das disposições do Código Laboral de 1878 darem cobertura à
arregimentação da força de trabalho africana, os legisladores da viragem do
século perceberam que a intensificação da exploração económica de alguns
territórios exigia que se eliminassem as últimas ambiguidades herdadas
do «momento abolicionista». A tarefa de redefinir o enquadramento legal do
trabalho africano recaiu numa comissão presidida, uma vez mais, por António
Enes. A linguagem utilizada no seu relatório (1893) é instrutiva acerca do
tipo de cambiantes que a cultura política do liberalismo finissecular podia
adquirir quando transposta para o contexto das relações imperiais. Segundo o
relatório, o Estado não deveria sentir‑se inibido de «obrigar, e sendo preciso,
de forçar» (ênfase no original) os indígenas ao trabalho, «a adquirirem pelo
trabalho meios de existência mais feliz, a civilizarem‑se trabalhando, esses
rudes negros de África, esses ignaros párias da Ásia, esses meios selvagens da
Oceânia, a que o mesmo Estado impõe também, até com pena de extermínio,
tantas outras obrigações que lhes aproveitam bem menos e nem sempre são
legitimadas pelos interesses da civilização»98.
Promulgado em Novembro de 1899 (e mantido em vigor até 1928 depois
de uma revisão em 1911), o «Regulamento do Trabalho dos Indígenas» con‑
sagrava a «obrigação moral e legal» do trabalho para todos os africanos logo
no seu primeiro artigo. Essa obrigação seria dada como cumprida se uma das
seguintes condições se verificasse: os visados mostravam ter meios para se
bastarem a si mesmos; exerciam uma actividade profissional comercial; culti‑
vavam um lote de terra ou produziam bens para exportação; ou trabalhavam
durante alguns meses como assalariados (tudo isto segundo critérios definidos
e aprovados pelas autoridades). Estavam isentos desta situação os homens
com idade superior a 60 anos (numa altura em que a esperança média de vida
estaria muito abaixo dessa idade), rapazes com menos de 14 anos, doentes e
inválidos, indivíduos empregues nas forças policiais e de segurança, mulheres
(a partir da revisão à legislação em 1911), assim como sobas e régulos. Estes
últimos, porém, passariam a estar implicados na mobilização para o trabalho
dos africanos que se encontravam sob a sua influência, ao ser‑lhes prevista a
atribuição de uma recompensa monetária por cada nativo que entregassem
às autoridades. Finalmente, existia ainda a hipótese do trabalho correccio‑
nal, reservado para aqueles que as autoridades haviam condenado por um
delito, o qual poderia incluir a categoria de «vadiagem», ou seja, indivíduos
que se tinham recusado a trabalhar sob contrato ou falhado o pagamento
do imposto, podendo a pena ser cumprida tanto em tarefas públicas como
Hist-da-Expansao_4as.indd 438 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 439
ao serviço de empregadores privados (e com uma remuneração inferior à
auferida em regime de trabalho voluntário). Algumas disposições exprimiam
a preocupação do legislador prevenir abusos por parte dos patrões (retenção
de salários ou obrigatoriedade de consumo em lojas privativas), e a vontade
de impor‑lhes algumas obrigações de teor «paternal», mas tais ressalvas
parecem ter tido um alcance muito limitado.
Muito embora seja impossível falar de um impacto uniforme do novo
código, é praticamente consensual entre a historiografia que as condições
laborais nas colónias africanas de Porrtugal foram, até ao início da década
de 1960, marcadas pela continuidade de modalidades várias de trabalho
forçado, que pressupunham também a instituição de controlos ao movimento
das populações e mecanismos disciplinares de grande dureza99. Ao nível
governamental poderíamos citar o uso sistemático, e em grande escala, de
carregadores, a forma de transporte de mercadorias mais comum até à maior
difusão dos caminhos‑de‑ferro e do sistema rodoviário a partir da década
de 1920, ou o emprego não‑remunerado em obras públicas. Na economia
privada, a referência a novas modalidades de escravatura não será descabida
se nos reportarmos às situações vividas em plantações e explorações que um
pouco por todo o império, da Guiné a Timor, dependeram da mão‑de‑obra
servil ou escrava (a distinção em muitos casos era quase irrelevante) até já bem
entrado o século xx. Apenas nas cidades costeiras com um tecido económico
mais diversificado é que as condições laborais terão sido menos adversas aos
trabalhadores africanos, em especial aos que possuíam algumas qualificações
e estavam em melhor posição para tirar partido da pressão exercida pelas
colónias vizinhas sobre o mercado de trabalho de Angola e Moçambique100.
A ordem colonial e os seus descontentes
Um domínio onde a nova tendência para a «racialização» se fez sentir
de forma mais expressiva foi o das relações entre o poder colonial e alguns
dos grupos que tinham funcionado como um dos esteios da influência por‑
tuguesa no ultramar. Embora não estando em condições para dispensar a
colaboração desses elementos locais, várias circunstâncias se conjugaram para
que as autoridades metropolitanas se mostrassem crescentemente relutantes
em reconhecer‑lhes o estatuto de que haviam desfrutado até há não muito
tempo. A nova situação criada pelo reforço do investimento militar português
em África tinha uma dimensão mais exclusivista e discriminatória, muito
moldada pelo zeitgeist europeu desse período. É certo que, em vários terri‑
tórios, grupos miscigenados, por vezes definidos como «nativos» ou «filhos
do país»101, assim como os elementos mais abastados de minorias étnicas e
Hist-da-Expansao_4as.indd 439 24/Out/2014 17:17
440 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
religiosas, como os comerciantes muçulmanos e hindus, os «macaístas», ou
as elites nativas cristianizadas de Goa, continuaram a desempenhar um papel
relevante como intermediários do poder colonial luso. Em finais de Oitocen‑
tos, e para grande exasperação de uma figura como o comissário régio de
Moçambique, Mouzinho de Albuquerque, era ainda comum encontrá‑los em
posições proeminentes nas Forças Armadas, na burocracia e na magistratura.
Em territórios como a Guiné, cabo‑verdianos educados preenchiam também
funções equiparáveis e em breve seriam requisitados para papéis semelhantes
em Angola. De uma forma geral, porém, a posição dos indivíduos oriundos
destes estratos começava a tornar‑se mais desconfortável, conforme se podia
constatar pelo tom xenófobo dos comentários feitos nas Cortes em Lisboa,
pela retórica das autoridades e colonos, bem como pelo conteúdo de alguma
legislação aprovada.
Em Angola, os assimilados à cultura portuguesa (descendentes de africanos
ou mestiços livres, mas também negros letrados, como os famosos «amba‑
quistas»102) mantiveram uma relação nem sempre fácil com o poder colonial,
em especial quando a inflexão racialista de muitas normas e regulamentos
se tornou mais pronunciada, em parte também pela pressão dos colonos
brancos que começaram a instalar‑se no território no início do século xx e
a competir por toda a sorte de cargos e empregos, bem como pelas melho‑
res terras. Até então, uma proporção significativa dos postos menores ou
intermédios da administração, tribunais, serviços públicos, bem como nas
carreiras eclesiástica e militar, havia sido monopolizada por esta aristocra‑
cia crioula, em boa parte composta por membros do grupo etnolinguístico
quimbundo103. A retracção do comércio esclavagista transatlântico, primeiro,
e algumas experiências menos bem‑sucedidas enquanto proprietários agrí‑
colas nos sectores do açúcar e café, depois, tinham‑lhes desferido um duro
golpe entre 1850 e 1880, razão pela qual o acesso àquele género de posições
no aparato administrativo se tornara ainda mais relevante – não tanto pela
remuneração salarial, mas pelo capital de influência e prestígio associado ao
exercício de funções públicas. Mas esse acesso estava a tornar‑se cada vez
mais complicado, em virtude da introdução de novos critérios de admissão
na burocracia colonial que os discriminavam face a concorrentes europeus
(através da exigência de certas habilitações literárias que, à época, não podiam
ainda ser adquiridas em Angola, onde o único estabelecimento acima das
escolas primárias era o Seminário Diocesano de Luanda104).
O facto de vários discursos e diplomas legais enfatizarem a distinção entre
cidadãos e não‑cidadãos em função de critérios biológicos e culturais gerou
uma apreensão compreensível entre os elementos mais ocidentalizados das
oligarquias crioulas, cujo estatuto até aí se mantivera impermeável a tais
considerações. Da frustração e do ressentimento deste núcleo irá emergir um
Hist-da-Expansao_4as.indd 440 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 441
primeiro surto de ideias protonacionalistas, assentes na construção de uma
identidade cultural afro‑portuguesa. Num desenvolvimento paralelo àquele
que estava a ter lugar na Europa, elementos da intelligentsia nativista ango‑
lana empenharam‑se então, por vezes com o auxílio de missionários estran‑
geiros, na valorização do idioma quimbundo através da recolha de vocábulos,
provérbios, mitos e folclore105. Esta operação, contudo, não correspondeu
nem a uma ruptura com as categorias e valores da potência colonial, nem à
evolução para «uma consciência territorial mais ampla»106.
As elites crioulas faziam questão em exprimir‑se em português nos jornais
e panfletos que animavam a esfera pública angolana para denunciar a nova
obsessão portuguesa com as distinções raciais, as quais, todavia, não eram
incompatíveis com uma atitude de inequívoca sobranceria relativamente
às populações do interior ainda vinculadas aos seus códigos e estruturas
tribais107. A chegada intermitente de agitadores republicanos da metrópole
veio também injectar um tom mais radical no jornalismo local e estimular a
expansão da maçonaria, uma instituição que na viragem do século se estava
a constituir como um dos organismos preferenciais para a socialização polí‑
tica das elites urbanas em Angola. Mas a ambição máxima destes sectores, um
pouco por todo o espaço imperial português, não seria tanto a de constituí‑
rem uma comunidade política separada; o que a maioria parecia almejar era
a conquista de uma posição mais vantajosa no quadro do sistema colonial,
tanto por razões de interesse material, como por uma questão de identificação
com os valores e a mundividência dos colonizadores (incluindo a noção de
que seria imprescindível inculcar hábitos de disciplina e trabalho aos «pretos
boçais»). Se as autoridades portuguesas lhes suscitavam críticas ou repro‑
vação, era por não estarem a desempenhar de forma esclarecida e eficiente
o seu papel «civilizador»108. Embora alguns polemistas tivessem adoptado
um registo crítico impiedoso relativamente a Portugal, a maioria parece ter
preferido observar um silêncio cauteloso face às atitudes crescentemente
preconceituosas das autoridades e dos colonos brancos.
Em Moçambique, a tendência para uma discriminação com base em cri‑
térios culturais e somáticos ganhou também terreno na viragem do século.
Isso mesmo era visível numa cidade como Lourenço Marques, cidade onde
a presença do Estado colonial e de uma população europeia era mais notó‑
ria. Embora de população reduzida (9 849 habitantes em 1904; 26 079 em
1912), era, no entanto, um núcleo urbano com um perfil multiétnico assinalá‑
vel109. No dealbar do novo século, esse era um aspecto pouco estimado pelas
autoridades europeias. Ao absorver a influência das novas hierarquizações
raciais, os responsáveis pelo desenvolvimento urbano fomentaram lógicas
de separação e segregação: a população africana e certas minorias étnicas
e religiosas foram sendo afastadas das zonas mais salubres (a «cidade alta»)
Hist-da-Expansao_4as.indd 441 24/Out/2014 17:17
442 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
e confinadas a bairros suburbanos e guetos; espaços de convívio multiétnico
(cantinas e prostíbulos) eram empurrados para os arredores; disposições
regulamentares definiam quem se podia sentar e ficar de pé nos transportes
públicos ou frequentar as praias citadinas; na administração, certos cargos
estavam reservados para europeus, e nas tabelas salariais praticadas no sector
privado os mecanismos de discriminação racial eram flagrantes110. Na nova
capital de Moçambique, o mal‑estar dos estratos assimilados da população
face a estas tendências foi articulado por descendentes de famílias afro
‑portuguesas, como os irmãos Albasini, num jornal (O Africano) fundado
pelos próprios em 1908.
Composto em língua portuguesa e ronga, o jornal exprimia a ambição
dos seus mentores em serem lidos por várias audiências. No entanto, à
semelhança do que sucedia com os assimilados angolanos, esta intelligentsia
mestiça não estava também isenta das suas ambivalências. Em 1913‑1915,
o referido jornal distinguiu‑se pela assunção de posições francamente hostis
à comunidade asiática de Lourenço Marques, a quem censurava a falta de
apetência para se «nacionalizarem» (i.e., adoptarem os costumes e língua
portugueses e a religião católica) e o hábito de repatriarem rendimentos
para os países de origem111. Desfrutando ainda de alguma influência social,
recorreram a um vocabulário republicano e igualitário para denunciar as
inconsistências e contradições da «missão civilizadora» portuguesa (a traição
da promessa assimilacionista pelas novas tendências racialistas era um dos
seus temas de eleição), mais do que para formular uma qualquer alternativa
ao sistema imperial luso112.
Embora significativas, estas expressões de descontentamento articuladas
por grupos intermediários urbanos estão longe de esgotar o repertório de
manifestações de protesto e resistência à nova ordem colonial. A respeito
das causas, parecem não restar dúvidas de que a mais universal e recorrente
terá sido a oposição à cobrança de impostos, especialmente encarniçada na
fase inicial da sua imposição. Estreitamente ligadas a este mal‑estar estavam
as rebeliões geradas contra a exigência de prestação de trabalho, ora para
empregadores privados ora para o Estado, ou ainda contra outro tipo de
abusos praticados por agentes do poder colonial. A ambição ou avidez dos
comerciantes e seus «aviados» no sertão é outro factor a assinalar, tendo
estado no cerne de algumas das grandes revoltas em Angola no início de
Novecentos, como a rebelião de Mutu‑ya‑Kevela, no Bailundo (1902), já na
fase final do boom da borracha. Dada a fraquíssima expressão da colonização
branca neste período (ainda muito concentrada nas cidades costeiras), os
conflitos gerados pela apropriação de terras terão sido mais reduzidos do que
noutros contextos imperiais, como o Quénia ou a África do Sul. Em contra‑
partida, medidas administrativas ditadas por imperativos sanitários, como a
Hist-da-Expansao_4as.indd 442 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 443
requisição de gado para vacinação ou abate, podiam conduzir à sublevação
de regiões inteiras (caso dos Humbes em 1897‑1898).
Para além da sua expressão militar, formas de resistência violenta quoti‑
diana, envolvendo acções como a destruição de linhas telegráficas ou incêndio
de armazéns, são também destacadas por vários historiadores. A par disso,
importa sublinhar modalidades de protesto mais difusas, como a fuga indi‑
vidual ou os êxodos de grupos e comunidades para territórios vizinhos, onde
a pressão fiscal e laboral das autoridades seria menor, o emprego de tácticas
como a «camuflagem» de habitações para escapar ao imposto da palhota,
ou, até, num registo mais simbólico, a satirização dos agentes opressores em
canções, anedotas e alcunhas113.
Muitos destes actos de resistência não seriam ainda compagináveis com
uma consciência colectiva mais ampla, ou uma lealdade orientada para con‑
ceitos abstractos de «pátria» ou «nação». Na maior parte dos casos estava‑se
perante jacqueries camponesas ou rebeliões localizadas, cuja supressão era
muitas vezes apenas temporária, até que um outro incidente ou crise provo‑
casse o seu reacendimento. Chefes tradicionais, médiuns ou figuras proféticas
asseguravam a sua liderança destas insurreições «primitivas» e seria difícil
descortinar aqui um elo de continuidade entre as suas motivações e as aspi‑
rações articuladas pelos modernos movimentos nacionalistas. No entanto,
parece plausível que, em vários casos, esta «tradição de resistência» tenha
proporcionado um repertório de memórias e exemplos que, em territórios
como a Guiné, Angola e Moçambique, não deixariam de servir de inspiração
para as várias populações que aderiram às lutas anticoloniais das décadas
de 1960 e 1970114.
A realpolitik do imperialismo
Apesar das bravatas militares, é possível que os Portugueses não tivessem
conseguido manter os seus activos coloniais intactos se isso não fosse do
interesse de alguns dos grandes poderes internacionais, a começar pela Grã
‑Bretanha. Isso mesmo ficou evidente em 1898, quando esta arranjou forma
de se libertar de um compromisso que poderia ter significado o fim do império
africano de Portugal. O episódio, que diz muito acerca das maquinações da
diplomacia europeia do final do século, juntava várias dimensões da política
internacional britânica. Em finais da década de 1890, o governo de Londres
tinha‑se decidido a resolver, de uma vez por todas, o «problema bóer».
No entanto, atendendo aos acenos encorajadores que o kaiser Guilherme II
havia já feito ao presidente Kruger, os Britânicos estavam cientes da importân‑
cia de manter a Alemanha afastada do embate com os africânderes. Embora a
Hist-da-Expansao_4as.indd 443 24/Out/2014 17:17
444 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
grande ambição alemã numa barganha com Londres passasse pela obtenção
de novas bases navais, os responsáveis britânicos estavam já conscientes da
ameaça que o recém‑lançado programa naval alemão representaria para a
sua supremacia marítima global. Nesse sentido, procuraram explorar outras
maneiras de comprar a neutralidade de Berlim num possível conflito com os
Bóeres (e também com os franceses, no Sudão).
Cientes da forte apetência de vários sectores da sociedade alemã pela
expansão colonial, vão mostrar abertura a um cenário que diplomatas
alemães começam a ventilar: a partilha do Império Português em esferas
de influência, a distribuir entre ambos. O negócio tornou‑se subitamente
plausível devido à fragilidade financeira de Portugal, que estava já a fazer
contas à mais do que provável exigência de uma avultada compensação
financeira pela expropriação do CF de Lourenço Marques, um encargo
incomportável com a satisfação de outras obrigações internacionais, como o
pagamento de juros a credores externos115. Britânicos e Alemães combinaram
então abordar o governo de D. Carlos para propor‑lhe a concessão de um
empréstimo conjunto; caso Portugal incorresse num novo default financeiro,
então os rendimentos das suas alfândegas coloniais serviriam de «colateral».
Na divisão dos despojos, a Inglaterra ficaria com a tutela sobre uma faixa
central de Angola (entre Luanda e o Centro e Sul de Moçambique, abaixo
do Zambeze); à Alemanha caberia o Norte e o Sul de Angola (do Lobito até
à fronteira com o Sudoeste Africano), os distritos norte de Moçambique e
Timor Oriental.
Celebrado em Agosto de 1898, o convénio não fez, contudo, o pleno dos
círculos de decisão britânicos. Com o seu consumado pragmatismo, os Bri‑
tânicos exploraram então uma outra via para tentarem obter o melhor dos
dois mundos. Através do ministro português em Londres, Luís de Soveral,
fizeram saber a Lisboa da sua não‑oposição à negociação de um empréstimo
em Paris, sendo, no entanto, desejável que este não envolvesse os rendimen‑
tos das alfândegas coloniais como garantias. Os responsáveis portugueses
tomaram boa nota da indicação e depressa encetaram negociações nos meios
financeiros franceses com vista à reestruturação da sua dívida externa e à
obtenção de um crédito mais imediato, para o qual apenas dariam como
garantia as alfândegas do continente (as das «ilhas adjacentes» ficavam
excluídas, dado o receio britânico de isso poder conduzir a um ascendente
francês sobre os Açores)116.
O segundo episódio que conduziu ao cimentar dos laços luso‑britânicos
tendo o império como referência estava também ligado à preparação do
conflito anglo‑bóer. Para o sucesso da sua manobra estratégica, os Britânicos
tinham por essencial a negação de passagem de armamento e munições às
repúblicas africânderes através do porto e do CF de Lourenço Marques (algo
Hist-da-Expansao_4as.indd 444 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910) 445
com que os Portugueses se haviam comprometido através do tratado com o
Transvaal em 1875). Através de notas secretas negociadas à margem do tra‑
tado de 1891, Londres tinha assegurado para si esse tipo de facilidades, mas
agora precisava de certificar‑se que Portugal as negaria ao governo de Kruger,
embora sem declarar uma neutralidade que fecharia o território português ao
movimento de tropas e material de guerra. Esse objectivo foi alcançado em 14 de
Outubro de 1899, na sequência de conversações muito encorajadas pelo
rei D. Carlos. Os dois governos chegaram a um entendimento – a chamada
«Declaração de Windsor» – que satisfazia as pretensões britânicas e renovava
o vínculo da Inglaterra à defesa das possessões ultramarinas portuguesas,
conforme o estipulado nos tratados do século xvii117.
O acordo devolveu alguma confiança às elites portuguesas no relaciona‑
mento com a potência tutelar, mas isso não significou que pudessem ficar
inteiramente tranquilas no que à segurança do império dizia respeito. Se em
1898 a sua periclitante situação financeira fornecera um álibi para um plano
de expropriação, alguns anos depois seriam as críticas à «imoralidade» da
sua governação imperial que dariam pretexto para uma nova crise de ansie‑
dade das elites portuguesas. Numa época de globalização das comunicações,
jornalistas e críticos humanitários dispunham de canais e veículos ainda
mais eficazes para fazer as suas denúncias e sensibilizar a opinião pública
atenta a situações de injustiça e abusos nos espaços coloniais. O emprego
maciço de trabalhadores africanos ao abrigo dos novos códigos laborais
pós‑abolicionistas gerara fenómenos de neo‑esclavagismo que se tornaram
o fulcro de vários sobressaltos humanitários. Entre finais de Oitocentos e
as vésperas da Primeira Guerra Mundial, grupos de cidadãos, alguns deles
gozando de grande notoriedade e prestígio internacional, expuseram as
iniquidades da exploração da mão‑de‑obra africana no «Estado Livre do
Congo» do rei Leopoldo, ao passo que em Inglaterra, no rescaldo do conflito
anglo‑bóer, Liberais e Trabalhistas promoveram uma campanha de repúdio
à importação de coolies asiáticos para as minas sul‑africanas.
Entre 1904 e 1912, aproximadamente, Portugal ficaria também debaixo
do escrutínio da opinião pública internacional, num caso que ganharia forte
notoriedade em parte devido ao envolvimento de uma firma chocolateira de
renome. Denunciada a partir de uma reportagem na revista nova‑iorquina
Harper’s, a utilização de «serviçais» angolanos e do Congo Belga nas roças
de cacau são‑tomenses suscitou um forte clamor em Inglaterra, a qual serviu
de pretexto para um inquérito patrocinado pela família Cadbury, empresários
quaker que haviam construído uma vasta fortuna ligada à comercialização de
produtos derivados do cacau118. A investigação conduzida pelos agentes da
Cadbury – ela própria envolvida numa série de práticas comerciais em toda
a África Ocidental que contemporizavam com a exploração de mão‑de‑obra
Hist-da-Expansao_4as.indd 445 24/Out/2014 17:17
446 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
servil – veio revelar até que ponto era falaciosa a transição do sistema escla‑
vagista para as modalidades de trabalho livre nas colónias portuguesas. Após
1878, engajadores de mão‑de‑obra, portugueses e africanos, continuaram a
palmilhar os sertões da África Central em busca de trabalhadores para plan‑
tações que os empregavam em grande quantidade, nomeadamente em São
Tomé e Príncipe. Em teoria, os agora chamados «serviçais» eram despachados
para as ilhas ao abrigo de um «contrato», mas na esmagadora maioria dos
casos estava‑se perante um mero pro forma. Os trabalhadores eram forne‑
cidos por sobas sob coacção, ou voluntariamente, contra a oferta de armas,
munições e outros artigos de consumo. Uma vez nas roças, eram sujeitos a
uma disciplina laboral severa, ficavam impossibilitados de enviar os salários
que auferiam para as suas comunidades e, atendendo à baixa esperança de
vida, raramente eram repatriados. Confrontadas com estas embaraçosas reve‑
lações, as autoridades portuguesas começaram por refutá‑las e só bastante
tarde é que aceitaram aprovar legislação e medidas susceptíveis de corrigir
as situações mais flagrantes de abuso. Valeu‑lhes na circunstância a atitude
benevolente ou, melhor dizendo, ambígua das instâncias governamentais bri‑
tânicas, indisponíveis para alienar um aliado que as estava a ajudar a resolver
uma crise de mão‑de‑obra no Transvaal, através do modus vivendi de 1901,
que assegurava o fornecimento de importantes contingentes de trabalhadores
moçambicanos às explorações mineiras da região (perto de 45 por cento das
necessidades de mão‑de‑obra desse sector). Perante esta demonstração de
solidariedade interimperial, os danos causados a Portugal pelo sobressalto
humanitário acabaram por assumir uma gravidade relativamente limitada119.
Hist-da-Expansao_4as.indd 446 24/Out/2014 17:17
19
UM RENASCIMENTO COLONIAL
FALHADO? A REPÚBLICA E O IMPÉRIO
(1910‑1926)
A crise que conduziu à queda da Casa de Bragança, em Outubro de 1910,
dificilmente poderá ser imputada a uma perturbação relacionada com os
destinos do império. Mas não forçaremos a nota se dissermos que a «ques‑
tão colonial» era, precisamente, um dos domínios onde os Republicanos
procuravam fazer a diferença em relação ao regime monárquico. Apesar dos
sucessos obtidos pelos homens da «geração de 1895» na primeira década de
Novecentos (incluindo a campanha de Alves Roçadas contra os Cuamatos e
a de João Almeida nos Dembos, ambas em 1907, ou a conquista do Angoche
por Massano de Amorim, em Agosto de 1910), um sentimento de cepticismo
e frustração em relação àquilo que as colónias poderiam proporcionar a
Portugal parecia ter‑se instalado.
Sob o ponto de vista financeiro, os orçamentos ultramarinos continua‑
vam, com uma única excepção, a apresentar saldos negativos de forma
regular (Teixeira de Sousa, o último primeiro‑ministro de D. Manuel II,
estimava‑os em défices anuais de 2000 contos, que não incluíam as des‑
pesas com expedições militares extraordinárias e encargos fixos de vária
ordem1), situação a que não terá sido estranho o carácter rígido e «arcaico»
da estrutura fiscal dos territórios coloniais, ainda muito dependente das
receitas geradas pelas taxas aduaneiras ou sobre determinados produtos
(como o álcool, responsável por 41 por cento da receita fiscal da Guiné em
1912, mas cujo consumo as autoridades pretendiam limitar). A flutuação das
cotações de determinados artigos de exportação (caso da borracha e café em
Angola), por um lado, e a dificuldade das autoridades em generalizarem a
cobrança do imposto às populações indígenas, por outro, faziam do império
um «fardo financeiro» para o Tesouro metropolitano. Curiosamente, a mais
próspera das colónias, a única que consistentemente se apresentava como
Hist-da-Expansao_4as.indd 447 24/Out/2014 17:17
448 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
um contribuinte líquido para as finanças do Reino, o arquipélago de São
Tomé e Príncipe, encontrar‑se‑ia no centro de uma grave controvérsia inter‑
nacional – o escândalo do «cacau escravo», como vimos. Muito embora a
aliança com a Inglaterra continuasse a ser invocada pelos governantes como
imprescindível para a integridade do império, a verdade é que a atmosfera
volátil das relações internacionais da época alimentava toda a espécie de
especulações acerca de uma eventual expropriação do património colonial
luso, tópico que os críticos republicanos raramente desbaratavam quando
se tratava de assestar baterias contra os governos monárquicos (e que mais
tarde se voltaria contra eles próprios).
Enquanto força de oposição ao regime, o PRP nunca apresentara um
programa de reformas coloniais coerente e detalhado. No entanto, desde a
década de 1880, pelo menos, que os seus líderes haviam estado na primeira
linha do movimento de opinião que estabelecia um nexo muito estreito entre
a soberania e a identidade nacionais, por um lado, e a salvaguarda do império
ultramarino, por outro2. Ao regime monárquico os Republicanos censuravam
a incapacidade de converter esse património num autêntico activo que permi‑
tisse ao país ombrear com outras nações europeias de dimensão aproximada
e igualmente detentoras de impérios ultramarinos. Enquanto partido das
classes médias urbanas, desconfiavam das concessões feitas pela monarquia
aos elementos da oligarquia que beneficiavam de monopólios, exclusivos e
regimes especiais para os negócios que tinham com as colónias, e opunham‑se
aos efeitos «desnacionalizadores» que resultavam da posição adquirida pelas
companhias majestáticas em territórios como Moçambique. A sua preferência
ia claramente para modalidades de desenvolvimento colonial dinamizadas
por indivíduos empreendedores, enquadrados por um Estado que deveria dar
prioridade ao estabelecimento das infra‑estruturas de apoio à colonização.
Encorajados pelos avanços da ciência médica, nomeadamente as profilaxias
antipalúdicas que prometiam revolucionar as condições de adaptação dos
europeus nas zonas tropicais, vários entusiastas recuperaram a ideia da
viabilidade da experiência colonizadora do Brasil em África. Figuras como
Henrique de Paiva Couceiro em Angola tinham, aliás, procurado dar um
impulso enérgico a esse tipo de desígnios. Ironicamente, na mesma altura em
que a República se batia contra as incursões que este e os seus correligionários
realizavam a partir da fronteira espanhola (1912), o novo governador de
Angola, Norton de Matos, procurava pôr em marcha um conjunto de medidas
que estavam perfeitamente em linha com aquilo que Couceiro tentara realizar
poucos anos antes – a criação de uma «grande província portuguesa, falando
a nossa língua, seguindo os nossos usos, mantendo as nossas tradições»3.
Para além disso, os Republicanos, de forma sincera ou cínica, olhavam
igualmente para o império com um sentido de «missão», um imperativo moral
Hist-da-Expansao_4as.indd 448 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 449
a que o país não se podia negar. A este respeito, os governos monárquicos
eram criticados por duas razões fundamentais: por um lado, por se terem
concentrado quase exclusivamente na dimensão mais violenta da empresa
colonial, dando inteira prioridade às acções militares de conquista; por outro,
por terem feito vista grossa às situações de exploração maciça da força de
trabalho africana, descurando por completo as suas responsabilidades «civi‑
lizacionais» com os nativos. Escrevendo de São Tomé em 1896, onde se esta‑
belecera como médico, António José de Almeida faria eco de uma opinião
corrente ao afirmar que «a nossa civilização em África» se traduzia «nestes
dois factos benemerentes: – Dar cabo do espinhaço do negro a chicotadas; –
dar‑lhe cabo do cérebro com álcool»4.
A promessa de um império descentralizado
O programa do Partido Republicano aprovado em Janeiro de 1891, e em
vigor aquando do 5 de Outubro, preconizava uma reorganização das provín‑
cias ultramarinas no sentido da descentralização da sua administração civil5.
Essa proposta estava até certo ponto relacionada com as concepções federa‑
listas que na viragem do século contavam com a adesão de figuras cimeiras
da intelligentsia republicana, muitas delas próximas dos ideais iberistas.
Embora tal modelo estivesse longe de colher a simpatia de outros teóricos
coloniais, ele ia, contudo, ao encontro de uma das tendências fortes do início
do século, que apontava para as vantagens em se operar uma transferência
de poderes para os órgãos políticos das colónias. José de Macedo, um inte‑
lectual republicano radicado em Angola, distinguiu‑se como o expoente mais
arrojado dessa abordagem. O seu livro de 1910, A Autonomia de Angola,
vinha propor a criação de um modelo confederal (aplicável inclusivamente à
própria província), unindo a metrópole aos estados autónomos que, progres‑
sivamente, viessem a constituir‑se no âmbito do império, exactamente para
prevenir o surgimento de dinâmicas separatistas6. Macedo sabia bem do que
falava, pois as correntes autonomistas angolanas, alimentadas sobretudo por
alguns assimilados e indivíduos ligados às lojas maçónicas e associações de
interesses locais, desde 1906 vinham reclamando de forma persistente direitos
de representação política para a população «civilizada», no quadro de um
regime administrativo que aproximasse a província do modelo prevalecente
nas províncias britânicas da África do Sul. Essa transferência, porém, teria
de processar‑se com muitas cautelas.
As possessões africanas de Portugal estavam muito longe de apresentar o
tipo de perfil demográfico das colónias de povoamento branco do Império
Britânico que haviam entretanto alcançado o estatuto de «domínios», dotados
Hist-da-Expansao_4as.indd 449 24/Out/2014 17:17
450 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de instituições representativas e órgãos de governo próprio. Nalgumas delas,
os europeus estavam muito longe de constituir a maioria da população
(caso da União Sul‑Africana, onde as populações brancas sempre foram
uma minoria), mas formavam núcleos substanciais que possuíam a «massa
crítica» suficiente para reivindicarem esse tipo de autonomia. Como já tem
sido notado, aquilo que movia estes colonos era, acima de tudo, o propósito
firme de capturarem os comandos do Estado colonial para se protegerem de
interferências indesejáveis da metrópole7.
Os debates da assembleia constituinte republicana e a publicação dos
programas dos partidos formados a partir das cisões do PRP (os Democra‑
tas, Evolucionistas e Unionistas) nos anos seguintes foram um momento de
clarificação dos propósitos reformadores do novo regime. De uma forma
geral, todos subscreviam a ideia de que era urgente deitar mão a medidas
de fomento económico, completar a ocupação militar e a «submissão»
das comunidades indígenas, desenvolver portos e vias de comunicação,
estimular a colonização europeia, qualificar e modernizar o aparato admi‑
nistrativo.
Embora as veleidades federalistas tivessem sido abandonadas em bene‑
fício de uma concepção unitária do Estado (uma «República Democrá‑
tica»), as elites republicanas continuavam a subscrever a necessidade de
contrariar o «centralismo uniformizador» que imputavam à monarquia,
para eles a condição prévia de qualquer renascimento colonial8. Isso mesmo
ficaria consagrado no artigo 67.º da Constituição, onde se estipulava que
«na administração das províncias ultramarinas predominará o regime da
descentralização, com leis especiais adequadas ao estado de civilização de
cada uma delas». À primeira assembleia legislativa da República competiria
depois elaborar as primeiras leis orgânicas de cada território – uma tarefa
que se revelou mais morosa e acidentada do que muitos esperariam, levando
um dos ministros das Colónias, o democrata Almeida Ribeiro, a propor
a aprovação no Congresso Republicano de uma «Lei Orgânica Civil das
Províncias Ultramarinas» (Lei 277, de 15 de Agosto de 1914), que definiria
princípios gerais de administração e deixaria depois ao executivo, uma vez
ouvidas as colónias, a competência para decretar os diplomas orgânicos de
cada uma delas. Feita a leitura do diploma, salta à vista que a autonomia
a que aí se aludia era uma autonomia rigorosamente tutelada e vigiada.
A metrópole retinha o essencial do poder legislativo (exercido através do
congresso ou do executivo) e, em cada território, o governador retinha os
poderes nevrálgicos, tanto civis como militares. O sentido «autonomista»
da nova lei resumia‑se, então, às faculdades legislativas que eram concedi‑
das ao governador (regulamentação de decretos emanados da metrópole e
aprovação de leis, estatutos e disposições respeitantes à vida da colónia),
Hist-da-Expansao_4as.indd 450 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 451
no que seria assistido por um Conselho de Governo onde teriam assento
funcionários e outros elementos, ora seleccionados por um sufrágio restrito,
ora cooptados a partir das «forças vivas» da colónia.
No entanto, a possibilidade de este último órgão actuar como um limite
ou contrapeso à acção do governador era meramente teórica, uma vez que,
através de um simples decreto, o executivo metropolitano poderia dissolver
a sua parte eleita. Talvez por isso, alguns intervenientes nos debates coloniais
sublinharam que, concebida nestes termos, a descentralização pouco mais
significava do que «desconcentração»9. No tocante aos outros patamares da
administração, vigoraria o modelo da divisão por distritos (naquelas onde esse
figurino se justificasse), cada um com o seu governador e conselho distrital.
A seguir vinham os concelhos (implantados em zonas onde brancos e assimi‑
lados marcassem presença significativa), as circunscrições (estabelecidas nas
áreas onde a autoridade portuguesa tivesse já sido acatada pelos indígenas)
e, por fim, as capitanias‑mores ou comandos militares, que abrangeriam as
regiões onde a autoridade portuguesa era ainda recente e precária. A malha
administrativa tornava‑se ainda mais apertada com os chefes de delegação,
divisão ou posto, e os administradores de bairros, aldeias, freguesias e loca‑
lidades. Nalguns casos, admitia‑se a criação de instituições municipais, mas
tal estaria dependente do grau de «civilização» que os respectivos habitantes
apresentassem10.
Este modelo piramidal, fortemente hierarquizado, contemplava também
um envolvimento das autoridades indígenas, a quem eram delegadas certas
funções administrativas, um caminho de que Norton de Matos se fez precur‑
sor em Angola, com o seu Regulamento das Circunscrições Administrativas
de 1913. Nas suas grandes linhas, a lei de Almeida Ribeiro procurava fazer
uma síntese de várias orientações e princípios patentes em reformas e textos
doutrinários de finais da monarquia: uma maior latitude de actuação para
os governadores; a harmonização dos estatutos legais com os «costumes e
estado de civilização» dos territórios; a gradual separação entre uma admi‑
nistração civil e militar; a integração das autoridades indígenas no aparato
administrativo colonial11.
A aprovação das cartas orgânicas das diferentes colónias teria de esperar
ainda alguns anos: apenas em 1917 foi possível promulgar as referentes a
todas as províncias (com excepção da de Moçambique), mas o efeito foi
praticamente nulo, já que no ano seguinte o governo sidonista procederia à
sua anulação, escudando‑se em motivos pouco claros, mas denotando uma
inequívoca vontade de devolver ao Terreiro do Paço as competências admi‑
nistrativas nevrálgicas.
Condicionantes externas, porém, estariam na base de uma segunda vaga
de reformas de grande impacto. No decurso da Conferência de Paz de Paris,
Hist-da-Expansao_4as.indd 451 24/Out/2014 17:17
452 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
em 1919, os responsáveis britânicos aconselharam os seus congéneres por‑
tugueses a adoptar um modelo de governação que pudesse facilitar uma
intensificação do fomento dos seus territórios ultramarinos, algo só possível
através de uma ampliação dos poderes dos governos coloniais12.
O acatamento dessa sugestão conduziu à adopção do sistema dos altos
‑comissários (Lei Constitucional 1005, de 7 de Agosto de 1920), pensado
essencialmente para as duas maiores (e economicamente mais promissoras)
colónias africanas, Angola e Moçambique, cujo atraso era frequentemente
imputado à morosidade da engrenagem governamental em Lisboa. Funcio‑
nando como uma espécie de ministros residentes (ou seja, acumulando pode‑
res executivos e legislativos), estes novos procônsules em Luanda e Lourenço
Marques detinham, no seu novo repertório de competências, a faculdade
de elaborar os próprios orçamentos e contrair empréstimos no estrangeiro
(autorizados e avalizados pelo Congresso da República) para financiar um
programa modernizador tido por inadiável. Eram assistidos por conselhos de
governo, mas a independência destes órgãos estava à partida comprometida
pelo facto de a nomeação dos seus membros ser uma prerrogativa do próprio
alto‑comissário. De uma forma geral, o novo regime correspondeu a um for‑
talecimento do representante máximo da República nas colónias, reduzindo
os únicos órgãos representativos (os conselhos legislativos) a meras caixas
de ressonância dos colonos. De forma previsível, algumas das associações
animadas por esse sector da população, e nomeadamente as de Angola (e
dentro desta província, as de Benguela), não tardaram a insurgir‑se contra
um sistema que, no seu entender, se limitava a substituir um centralismo por
outro, ou seja, o do Terreiro do Paço pelo do alto‑comissário13.
No âmbito das reformas administrativas, a República deixou também
uma marca significativa no capítulo da chamada «política indígena». Mais
uma vez, esta foi uma área onde as linhas de continuidade com as tendências
da fase final da monarquia, por um lado, e o paralelismo com outras situa‑
ções imperiais, por outro, são perceptíveis. A criação de um código geral do
indigenato, dentro do espírito daquele que a França introduzira na Argélia
em 1881, aconteceria apenas no decurso da Ditadura Militar, mas o seu apa‑
recimento no contexto normativo português pode ser remontado à década
de 1890, no quadro da legislação relativa ao trabalho correccional a aplicar
aos nativos africanos14. Embora reclamando‑se da herança universalista das
Luzes, os legisladores republicanos não se posicionavam fora do consenso
tardo‑oitocentista que legitimava a negação de direitos de cidadania aos
habitantes dos domínios coloniais, nomeadamente aqueles cujos costumes e
modos de vida eram vistos como estando ainda próximos de um estado de
«primitivismo» ou «selvajaria». Se o critério racial não estava explicitamente
inscrito na legislação comum às várias colónias europeias, a verdade é que a
Hist-da-Expansao_4as.indd 452 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 453
generalidade dos regulamentos e estatutos tendia a convergir na promulga‑
ção de «leis de excepção» para os nativos, excluindo‑os «do direito comum,
privando‑os de certas faculdades e submetendo‑os a coerções específicas»15.
Entre as figuras que mais se destacaram na elaboração de discursos e
normas respeitantes a esta questão poderíamos encontrar um largo espectro
de opiniões, desde indivíduos sintonizados com concepções abertamente
racistas e eugenistas até outros mais próximos de uma matriz paternalista/
humanitária de inspiração liberal. No entanto, com nuances mais ou menos
relevantes, todos estavam de acordo em relação a alguns pontos essenciais.
Portugal tinha de convergir com aquelas potências coloniais que haviam já
renunciado à «nefasta política de assimilação»16 que mais não fizera do que
criar ilusões e equívocos a respeito do tipo de relacionamento que se deveria
procurar com as populações nativas no quadro da nova ordem imperial. Tal
relacionamento pressupunha que estes aceitassem, por tempo mais ou menos
indeterminado, participar num processo que lhes impunha mais deveres do
que direitos. Era o preço a pagar pelo «progresso» que, teoricamente, a todos
deveria beneficiar a médio ou longo prazo.
Nesse sentido, os critérios a definir para a concessão da cidadania aos
naturais não‑europeus tornaram‑se complexos e exigentes (nomeadamente
os que se relacionavam com a fiscalidade) e não propriamente atraentes para
aqueles que as autoridades certificavam como «evoluídos» ou «assimilados».
Assim, a Lei Orgânica de 1914 consagrava a ideia de uma «legislação espe‑
cial» para os indígenas, muito embora a sua regulamentação num «estatuto
político, civil e criminal» devesse ficar a cargo dos conselhos de governo de
cada uma das colónias (precisamente para se evitar os alegados nivelamentos
artificiais induzidos pelas doutrinas «assimilacionistas» do passado). De uma
forma geral, uma mesma tendência foi observada: a do confinamento dos
«indígenas» (indivíduos que não falavam português e estranhos aos hábitos
e costumes europeus) à categoria de «súbditos», cuja cultura e modos de
vida deveriam ser «paternalmente» protegidos pelo poder colonial (nalguns
casos, através de «curadorias»)17.
Um estatuto geral só viria a ser aprovado em 1929, já em plena Ditadura
Militar, mas a criação do indigenato, como já foi assinalado, deve ser vista
acima de tudo como um «processo», um somatório de experiências e iniciati‑
vas ensaiadas em várias colónias com vista à resolução de um problema básico:
como conciliar as promessas características da «missão civilizadora» de que os
impérios se diziam investidos, por um lado, com as exigências de um sistema
que não podia dispensar o contributo maciço da mão‑de‑obra africana (tanto
as grandes plantações, como os pequenos e médios proprietários, ou o próprio
Estado), por outro? Por conseguinte, vários autores têm sublinhado o signi‑
ficado de uma portaria aprovada em Moçambique (9 de Janeiro de 1917),
Hist-da-Expansao_4as.indd 453 24/Out/2014 17:17
454 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
na qual se admitia a possibilidade de um indivíduo requerer a isenção do
chibalo (trabalho forçado em obras públicas ou privadas) e, se bem‑sucedido
nessa démarche, receber um «alvará de assimilação» – diploma que conhece‑
ria uma fortíssima contestação por parte dos círculos nativistas letrados de
Moçambique, chocados com uma medida que ameaçava restringir ainda mais
o universo de africanos susceptíveis de reclamar um estatuto de cidadania18.
Laicismo e «missão civilizadora»
Como não podia deixar de ser, a orientação secularista e laicizante da
República, com fortes laivos anticlericais, assomou também na sua abor‑
dagem às questões coloniais, ou não fosse o império um dos terrenos de
eleição para a actividade missionária moderna, e uma arena de conflito
entre o nacionalismo português e os seus demónios (a Propaganda Fide e a
«ameaça protestante»)19. Na fase mais convulsiva dos antagonismos político
‑religiosos, ou seja, no período que vai até um pouco depois da aprovação
da Lei da Separação do Estado das Igrejas (Abril de 1911), as autoridades
encerraram os centros de preparação dos missionários, decretaram a expulsão
dos Jesuítas e dos Salesianos de várias colónias, e ordenaram a dissolução de
todas as ordens religiosas na metrópole, medida que comprometia grande‑
mente o recrutamento de pessoal para aquelas congregações que haviam sido
autorizadas a permanecer em algumas colónias (como os Espiritanos e os
Franciscanos em Angola). Dito isto, há que assinalar que uma certa medida
de realismo prático não tardou a assomar.
Vinculados a compromissos internacionais que não pretendiam denunciar,
os governantes republicanos sabiam que se erradicassem, de um momento
para o outro, a presença dos missionários católicos nas colónias portuguesas
estariam a criar um vazio que congregações religiosas e sociedades missio‑
nárias ligadas a outras potências não deixariam de aproveitar. Para evitar
este perigo, e sendo o aparelho colonial uma estrutura ainda pouco mais
do que esquelética, um compromisso impunha‑se. Ao mesmo tempo que
se afirmava pretender reduzir o apoio ao culto religioso ao «estritamente
indispensável», tomaram‑se medidas que permitiam a continuidade da acção
missionária ultramarina. Assim, em vez de evangelização, passou a falar‑se
de «propaganda civilizadora»; esta seria incumbida a padres seculares trei‑
nados em estabelecimentos estatais, contemplando‑se ainda, em legislação
aprovada em 1913 (Decreto 233, de 22 de Novembro), uma outra figura,
a do «missionário laico», cuja preparação seria realizada em Cernache do
Bonjardim (designado de Instituto de Missões Coloniais num decreto que
em 1917 regularia a preparação destes agentes)20.
Hist-da-Expansao_4as.indd 454 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 455
No diploma de 1913, onde o ânimo secularizante do regime era patente,
anunciava‑se o fim dos subsídios ao culto público e ensino religioso nas coló‑
nias africanas e Timor, mas tal não implicaria o fim da actividade missionária
– quanto muito, poderíamos dizer que se tratava de uma «nacionalização».
A admissão de novas missões religiosas nos domínios imperiais ficava sujeita
à aprovação do governador e a sua agenda pedagógica e civilizadora teria
de ser validada pelas autoridades; as restantes tinham de demonstrar a sua
aceitação destes novos princípios para poderem continuar a beneficiar de
algum apoio público (como efectivamente viria a suceder em várias coló‑
nias)21. Muitas das medidas contempladas na legislação que continuaria a ser
aprovada nos anos seguintes jamais sairiam do papel, mas elas são reveladoras
de como a elite republicana imaginava a «laicização» da missão civilizadora
e a combinava com um nacionalismo ferrenho. Em 1919, por exemplo,
um decreto do ministro João Lopes Soares estipulava a obrigatoriedade de
a chefia de quaisquer futuras missões ser confiada a portugueses, devendo
a maioria do seu pessoal ser também de nacionalidade portuguesa, a quem
competiria depois ministrar o ensino da história e língua portuguesas.
No entanto, circunstâncias externas terão acabado por moderar estes ímpe‑
tos mais chauvinistas. Ao subscrever as convenções de St.‑Germain‑en‑Laye
(1919), no âmbito da Conferência de Paz de Paris, as quais actualizavam
os preceitos das Conferências de Berlim e de Bruxelas relativos à liberdade
de consciência e exercício do culto religioso nos espaços coloniais, Portugal
estava impedido de introduzir restrições à actividade missionária nos seus
territórios, situação acautelada no Decreto 6322, de 24 de Dezembro de
1919, que previa igualmente a concessão de subvenções estatais às missões
religiosas, «quando dedicadas à acção civilizadora»22.
Outro ponto sensível da política religiosa era a velha questão do padroado,
instituição relativamente à qual os Republicanos evidenciavam sentimen‑
tos, no mínimo, ambivalentes. Como já vimos em capítulos anteriores, esta
era uma questão que estivera no centro de acesas disputas nas Cortes da
monarquia, motivadas pelas negociações de sucessivas concordatas com a
Santa Sé que visavam, precisamente, tratar da delimitação das prerrogativas
eclesiásticas confiadas ao Estado português. Nessas ocasiões, os instintos
anticlericais de uma parte das elites liberais não se mostraram incompatíveis,
bem pelo contrário, com a defesa de posições marcadamente regalistas. Uma
parte significativa do pessoal político e dos administradores coloniais da
República assumiria postura idêntica, batendo‑se pela manutenção de direitos
que proporcionavam a Portugal uma excepcional capacidade de irradiação de
influência. O assunto foi objecto de um importante debate após a aprovação
da Lei da Separação, que, de forma algo contraditória, anunciava, por um
lado, a redução drástica das despesas do Estado relativamente ao culto, e,
Hist-da-Expansao_4as.indd 455 24/Out/2014 17:17
456 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
por outro, reafirmava os seus direitos de soberania a respeito do padroado
do Oriente23. Apesar de o ministro Almeida Ribeiro ter em 1913 apresentado
uma proposta de lei visando a extinção unilateral deste último, várias vozes
insurgiram‑se contra tal medida e o assunto morreu por aí. Ainda assim, os
elementos mais secularistas obteriam ganho de causa no tocante a outras
dimensões do padroado, já que um decreto de 22 de Novembro de 1913 viria
consagrar a aplicação das disposições da Lei da Separação que estabeleciam
a cessação de apoios estatais ao culto e ensino religioso, o que, na prática,
significava a extinção daquela instituição nas colónias africanas e em Timor.
Nos anos seguintes, e uma vez atenuado o espírito mais confrontacional que
prevaleceu aquando da afirmação da República, as posições tornaram‑se
menos extremadas e vários governos procuraram um ajustamento de posições
com a Santa Sé, que, atenta aos novos sinais dos tempos – a ascensão das
aspirações nacionalistas nos espaços controlados pelos impérios europeus –,
passou a fomentar uma estratégia de apaziguamento dessas forças (muito
orientada para a promoção do clero nativo), facto que a tornava menos
receptiva à sobrevivência dos privilégios que a instituição padroeira conferia
às potências europeias24.
Melhorar a organização dos «saberes coloniais» e aperfeiçoar os ins‑
trumentos que permitissem a Portugal realizar de forma mais eficaz a sua
«missão civilizadora» foi outra das apostas da República, muito embora a
consistência de tais propósitos se tenha naturalmente ressentido do ambiente
de sobressalto que prevaleceu durante boa parte da sua vigência.
Cada vez mais, a legitimidade da soberania colonial era aferida pela
capacidade das potências assentarem numa base científica as suas políticas e
iniciativas. O status imperial de um país media‑se pela qualidade dos saberes
que os seus cientistas e funcionários fossem capazes de construir a partir
do conhecimento dos territórios e das suas gentes. Esses saberes deveriam
depois ser partilhados em jardins botânicos e zoológicos, museus, arquivos,
conferências, publicações e exposições internacionais. Por outro lado, a
consciência de que essa «dimensão epistémica» seria determinante para o
sucesso da empresa imperial era algo que gozava de um amplo consenso.
Sem «ocupação científica» dificilmente poderia haver uma «ocupação efec‑
tiva» bem‑sucedida. Mapear, recensear, classificar, inventariar, ordenar eram
démarches fundamentais em qualquer moderno projecto de desenvolvimento
colonial, além de que, para muitos homens de ciência nas metrópoles, as
possessões ultramarinas e os seus súbditos tinham o aliciante de funcionar
como verdadeiros laboratórios de observação e experimentação onde, em
muitos casos, restrições de carácter deontológico podiam ser ignoradas (e
não poucas vezes com implicações sinistras: veja‑se o caso célebre das expe‑
riências realizadas com nativos do Sudoeste Africano por médicos alemães
Hist-da-Expansao_4as.indd 456 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 457
que, anos mais tarde, viriam a exercer grande influência nos programas de
eugenia dos nazis)25.
Claro está que este paradigma de «imperialismo científico» havia já
feito o seu caminho desde finais de Oitocentos. A criação da SGL em 1885
fora uma das respostas da «sociedade civil» (com forte amparo estatal) aos
reptos que chegavam de fora, mas outras iniciativas demonstram que os
governos monárquicos estavam longe de descurar o assunto. A fundação
da Escola de Medicina Tropical e do Hospital Colonial de Lisboa em 1902
(com poucos anos de atraso em relação a instituições europeias congéneres)26
foi vista como um passo indispensável para que um dos principais obstá‑
culos à fixação dos Europeus na África Subsaariana pudesse ser superado
e, gradualmente, permitiu a Portugal alcançar uma posição de relevo junto
de vários círculos científicos europeus – e, assim, fazer a demonstração de
que se podia relacionar com outras potências europeias numa área em que
a partilha de conhecimentos e experiências era singularmente valorizada.
Embora debatendo‑se com as proverbiais limitações das instituições sub‑
financiadas, a Escola de Medicina Tropical (transformada em Instituto em
1935) foi capaz de realizar um número ainda significativo de missões a
vários territórios ultramarinos, assumindo particular relevo aquelas que se
dedicaram ao estudo da doença do sono (transmitida pela mosca tsé‑tsé),
patologia que por volta de 1914 seria erradicada do arquipélago de São
Tomé e Príncipe27. Uns anos antes, no âmbito da reorganização dos serviços
agrícolas coloniais do Ministério da Marinha e Ultramar (1906), seria tam‑
bém criado um jardim botânico colonial, ao qual deveriam ficar associados
um museu e um laboratório.
Concomitantemente, disciplinas associadas à temática colonial (Direito,
História, Geografia, Antropologia, Economia) passaram a figurar nos curri‑
cula de cursos universitários e de institutos militares. As cadeiras que lida‑
vam mais de perto com os aspectos institucionais da governança imperial
constituíam o núcleo duro da chamada «ciência da administração colonial»
e alguns dos seus titulares (os professores de Direito Marnoco e Sousa, Ruy
Ulrich, Rocha Saraiva) tornaram‑se figuras de primeiro plano na produção
da «doutrina» que servia de referência aos legisladores28. Em 1906, como já
vimos, deu‑se igualmente a criação de uma instituição vocacionada para a
formação de futuros quadros coloniais, a Escola Colonial (elevada a Supe‑
rior em 1927), o sinal de que o poder político interiorizara a necessidade de
operar a transição para uma outra fase da governação do império, na qual
os militares deixariam de ser os principais agentes da soberania portuguesa.
As primeiras décadas do seu funcionamento, porém, seriam decepcionantes,
com uma fraca procura por parte de estudantes, baixíssimas taxas de con‑
clusão de licenciaturas e uma notória incapacidade em dotar a instituição
Hist-da-Expansao_4as.indd 457 24/Out/2014 17:17
458 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de um verdadeiro escol de cientistas ou especialistas em línguas nativas (os
saberes em maior destaque nos curricula da Escola)29.
Um sinal da importância que o novo regime pretendia conferir ao «renas‑
cimento imperial» foi, precisamente, a criação de um Ministério das Coló‑
nias em 1911, a primeira vez que o império passou a ter um departamento
autónomo por onde corriam os seus assuntos, separado da pasta da Marinha
(os Franceses tinham criado o seu em 1894, os Alemães em 1907)30. Entre
1914 e 1923, cresceria de 24 para 39 direcções‑gerais, o que correspondeu a
uma especialização de funções e a uma expansão do número de funcionários
(ainda assim, em 1920 estes não eram mais de 202), aos quais eram exigidas
mais qualificações do que no passado, assim como «períodos de treino» nas
colónias (objectivo nunca concretizado, porém). Paralelamente, substituía‑se a
Junta Consultiva do Ultramar pelo Conselho Colonial, ao qual eram atribuí‑
das funções consultivas em matérias jurídicas e administrativas, assim como
a função de tribunal contencioso. No entanto, saber se desta reestruturação
resultaram ganhos significativos em matéria de planificação, coordenação
das políticas e eficiência administrativa já é algo mais difícil de avaliar31.
Episódios como o envio dos corpos expedicionários a Moçambique durante
a Grande Guerra, por exemplo, revelaram uma desastrosa capacidade de pla‑
neamento e organização, ao passo que nos últimos anos do regime a situação
financeira de alguns territórios se tornou mais caótica do que alguma vez
havia sido. A isto acresciam ainda os indícios que apontavam para uma per‑
sistência universal do fenómeno da corrupção e venalidade entre a burocracia
ultramarina. Da criação do novo departamento não terá também resultado
um impulso assinalável ao nível da mobilização de cientistas e técnicos para
missões de estudo aos domínios ultramarinos ou a criação, segundo um
plano consistente, de um complexo de serviços especializados (estatística,
medicina, veterinária, botânica, engenharias, urbanismo, entre outros) que
facilitassem uma exploração mais racional e metódica dos territórios e dos
seus recursos físicos e humanos – a excepção terá sido a administração de
Angola, dotada de um conjunto apreciável de valências no último mandato
de Norton de Matos32.
No início dos anos 1930, os governantes do Estado Novo queixavam‑se
de que se Portugal tinha um império, faltava‑lhe ainda uma «mentalidade
imperial». Essa observação poderia ser interpretada como um remoque à
incapacidade dos dirigentes republicanos de criarem um sentimento par‑
tilhado de entusiasmo colonial, ou aos seus preconceitos em reconhecer
sem ambiguidades o vínculo que existiria entre império, expansão da fé e
identidade nacional. E com efeito, em comparação com os meios mobiliza‑
dos pela propaganda salazarista, a República foi relativamente modesta na
promoção de grandes eventos e rituais colectivos que tornassem possível uma
Hist-da-Expansao_4as.indd 458 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 459
«imaginação» do império em maior escala. As suas iniciativas mais emble‑
máticas foram sobretudo dirigidas a um público restrito, as classes letradas
dos meios urbanos, que consumiam jornais e se deslocavam às palestras
promovidas pela Academia das Ciências ou pela SGL33.
Acontecimentos como a participação de Portugal na Grande Guerra
– justificada pelos «perigos» que rondavam os domínios ultramarinos – ou
o centenário da independência do Brasil (a que se associaria a travessia aérea
transatlântica de Gago Coutinho e Sacadura Cabral) em 1922 serviram de
pretexto para se acentuar o sentido de continuidade histórica com os feitos
dos navegadores e a tenacidade dos colonizadores dos sertões americanos
e africanos (celebrada numa obra colectiva luso‑brasileira, a História da
Colonização Portuguesa do Brasil, dirigida pelo escritor monárquico C arlos
Malheiro Dias). Foi ainda no final da República que, num ambiente de
ansiedade colectiva a respeito do futuro das colónias, se criaria a Agência
Geral das Colónias (AGC) (1924), organismo de informação e «propaganda»
de temas ultramarinos34. Se divergências havia em relação a políticas e
modelos de governação imperial, não é menos certo que algo próximo de
um «consenso nacional» em torno da «intangibilidade» das colónias voltou
a ganhar saliência na vida política metropolitana, funcionando inclusiva‑
mente como um catalisador para a cooperação de indivíduos oriundos de
distintos quadrantes ideológicos: veja‑se, a este respeito, o número especial
que em 1926 a recém‑fundada Seara Nova dedicará à questão colonial,
apontada por vários colaboradores como a chave para qualquer projecto
de «regeneração» do país, ou a criação, dois anos antes, do «Movimento
para a Defesa das Colónias», plataforma que unia indivíduos de quase todo
o espectro político35.
Seja como for, medir com rigor a relevância do império na consciência
colectiva do país nas primeiras décadas do século xx, para lá do universo
das elites, não é fácil. Uma certa unanimidade parecia indiscutivelmente
existir quanto à «intangibilidade» do património ultramarino – mas, numa
era de comunicações ainda precárias e fraca emigração da metrópole para o
ultramar, a realidade concreta do império parecia distante do dia‑a‑dia dos
Portugueses, situação apenas modificada aquando do estalar de uma revolta
de maiores dimensões, do despacho de uma expedição militar, ou da eclosão
de escândalos político‑financeiros de alguma envergadura, como o da burla
que envolveu Alves Reis e o Banco Angola e Metrópole, em meados dos
anos 192036.
Hist-da-Expansao_4as.indd 459 24/Out/2014 17:17
460 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Luva de veludo, punho de ferro
Um pouco por todo o império onde existissem estratos sociais que pode‑
ríamos associar a uma pequena burguesia letrada – branca ou «assimilada» –,
ou até mesmo a grupos de colonos europeus mais abastados, as notícias da
proclamação da República foram acolhidas com assinalável expectativa, se
não mesmo entusiasmo, atmosfera que as sucessivas levas de deportados
republicanos para as colónias haviam ajudado a criar.
Para uns, o fim da monarquia era equacionado como uma oportunidade
para se corrigir os antagonismos raciais que se tinham vindo a acentuar nas
últimas décadas, se erradicar as modalidades mais cruéis de exploração labo‑
ral e se impulsionar os valores da democracia, igualdade civil e progresso eco‑
nómico e cultural. Clubes, grémios, ligas, associações, centros republicanos,
comissões municipais ou até mesmo partidos políticos – muitas vezes com a
sua imprensa própria – seriam animados por estes elementos nos primeiros
anos de vida da República (tanto na metrópole, onde muitos estudavam, como
em capitais coloniais como Bissau, Luanda ou Lourenço Marques), numa
altura em que o governo de Lisboa ainda não definira as grandes linhas do
novo modelo imperial. Através de várias modalidades de intervenção cívica
e política (imprensa, petições, representações ao governo, manifestações,
mas também manobras de bastidores e intrigas), tentariam bater‑se pela
introdução de reformas que conduzissem a uma modernização das colónias
segundo critérios mais humanos e esclarecidos. A sua luta fundamental era
pela busca de uma melhor posição no sistema imperial, não pela destruição
deste. Estavam sobretudo focados na abolição das discriminações que lhes
dificultavam o acesso a cargos e posições no Exército ou no funcionalismo,
razão pela qual a questão da educação (ou seja, a abertura de estabelecimen‑
tos de ensino nas colónias para que os «filhos do país» pudessem concorrer
em pé de igualdade com os imigrantes da metrópole) assumia uma particular
relevância na sua agenda37.
Para os colonos europeus, e sem subestimar a adesão de muitos deles
a valores‑chaves do republicanismo, a mudança de regime parece ter sido
encarada, acima de tudo, como uma oportunidade para fazer aprovar uma
descentralização que mais facilmente serviria os seus interesses, mesmo se tal
colidisse com princípios de que a República se pretendia campeã. Por conse‑
guinte, a sua oposição à angariação de «serviçais» ou outros trabalhadores
por engajadores estrangeiros em territórios como Angola, por exemplo, não
deverá ser confundida com qualquer preocupação humanitária, na medida em
que foi desses sectores que partiram algumas das mais veementes críticas às
medidas tendentes à abolição de práticas esclavagistas, à «regulamentação»
dos castigos corporais e à generalização do princípio da livre contratação.
Hist-da-Expansao_4as.indd 460 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 461
Para esta classe de proprietários, industriais e comerciantes, a obtenção de
um regime de autonomia política e financeira que lhes confiasse as alavancas
do Estado colonial era a suprema motivação; alguns deles (as associações de
colonos de Benguela ou de Lourenço Marques, por exemplo) sonhavam com
a evolução no sentido de um sistema imperial federalizado, o qual se poderia
começar a aplicar à própria colónia38. Apesar de uma parte deles não perfilhar
uma retórica tão abertamente racista como anteriores políticos e comissários
da monarquia, eram adeptos da introdução de critérios legais que definissem
quais os africanos elegíveis para o estatuto de «assimilados» e quais os que,
dele ficando excluídos, se encontrariam sujeitos a modalidades de trabalho
compulsivo e «civilizador».
A lua‑de‑mel entre a República e estes grupos, se assim lhe podemos
chamar, durou pouco. Por um lado, depressa se tornou evidente que fenóme‑
nos como o caciquismo e a corrupção eleitoral estavam para lavar e durar,
havendo inclusive uma tendência para se restringir ainda mais os critérios
de participação política39. Para além de a maioria dos cargos dos órgãos
legislativos ou de consulta serem preenchidos por indivíduos de confiança
do governo, as eleições dos deputados locais ao parlamento metropolitano
continuaram a desenrolar‑se em moldes muito semelhantes aos da monar‑
quia, ao passo que as poucas câmaras municipais que ganharam vida exibiam
um perfil fortemente oligárquico na sua composição. Por outro lado, um
primeiro foco de atritos com os colonos mais abastados surgiu em torno
das disposições legais aprovadas por Lisboa visando eliminar ou suavizar
algumas das práticas mais cruéis relativas ao recrutamento e tratamento
dos trabalhadores africanos. Embora alinhados com os argumentos que
estabeleciam um nexo entre a «missão civilizadora» e o poder redentor do
trabalho manual, os responsáveis republicanos estavam sob forte pressão
para «humanizar» os regulamentos e práticas neste domínio concreto, ou
não estivesse o governo provisório a debater‑se com sérios problemas para
garantir o reconhecimento internacional do novo regime por potências
onde questões como a dos «serviçais» angolanos haviam conhecido alguma
repercussão na opinião pública40.
Não menos importante, alguns dos nomes que haveriam de exercer uma
influência preponderante na governação de territórios como Angola ou
Moçambique estavam, apesar de tudo, mais próximos de uma tradição de
reformismo liberal‑paternalista do que das posições mais abertamente racistas
que haviam conquistado terreno nas últimas décadas.
Desses administradores reformadores, José Norton de Matos (1867‑1955),
duas vezes governador de Angola (a segunda na capacidade de alto‑comissário),
impôs‑se como a figura mais visionária e controversa41. Um oficial do Exército
que aderiu tarde aos ideais republicanos, servira vários anos na Índia, onde
Hist-da-Expansao_4as.indd 461 24/Out/2014 17:17
462 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
teve oportunidade de estudar de perto os métodos de administração do Raj
britânico. Os balanços à sua passagem por Angola suscitaram apreciações
polarizadas, com ecos que perduram até à mais recente historiografia. Terá
sido Norton o agente de uma tentativa de «modernização capitalista» na
colónia, em linha com aquilo que outros reformadores haviam preconizado
no passado42? Poderá o seu voluntarismo ser considerado como algo total‑
mente irrealista, atendendo ao que eram os recursos da potência colonizadora,
assim como os atavismos e as relações de poder na colónia? Como deverá ser
entendida a sua relação conflituosa com certos grupos da sociedade ango‑
lana, nomeadamente as elites assimiladas, alvo de medidas persecutórias que
antecipariam muitos dos rigores do Estado Novo? E, não menos intrigante,
como conciliava ele os seus compromissos humanitários com os africanos
com a introdução de medidas de «desenvolvimento racial separado» que
apresentavam fortes afinidades com a legislação segregacionista em vigor
na União Sul‑Africana?
Alguns destes paradoxos só poderão causar estranheza se, por absurdo,
pensarmos que os republicanos estariam divorciados dos principais mitos
do nacionalismo imperial português, o que não era o caso. Tendo atingido a
maioridade em plena época da «corrida à África», Norton era um naciona‑
lista inveterado para quem a «grandeza» do país estava estreitamente ligada
às glórias, passadas e futuras, do império, já para não falar da sua crença na
benevolência da hegemonia portuguesa sobre os povos ultramarinos. A sua
ambição máxima era, exactamente como no caso de Couceiro, a criação de
um «Portugal Maior» em África (se quisermos, uma variação do «Novo Bra‑
sil»), segundo um modelo que em larga medida incorporava as idealizações
da cultura patriótica do republicanismo43.
Norton imaginava uma colónia próspera no âmbito de um império onde
as diferentes partes se relacionariam de forma solidária e complementar (a
«Nação Una»), governada de forma autónoma e povoada por pequenos pro‑
prietários rurais oriundos da metrópole, auto‑suficientes e aptos a participar
na vida cívica do território, lado a lado com africanos que, não podendo
ainda na sua maioria aspirar à cidadania, seriam orientados para actividades
produtivas e processos de aculturação que um dia, ainda longínquo, fariam
deles portugueses de pleno direito. Para que esta visão se materializasse,
alguns obstáculos teriam de ser superados. A questão da unidade e segu‑
rança do território era, desde logo, fundamental. A sua grande obsessão a
este respeito terão sido os desígnios dos Alemães em relação a Angola, que
se manifestariam num encorajamento a actos de rebelião dos povos ovambo
junto à Dameralândia (Cuamatos e Cuanhamas) e em pressões e manobras
visando desobstruir o caminho à penetração de capitais e mercadorias ger‑
mânicas na colónia (os decretos da «porta aberta» de 1912, que o governo
Hist-da-Expansao_4as.indd 462 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 463
de Lisboa não pôde deixar de aprovar, mas que Norton tentaria manipular44).
No entanto, embora durante o seu primeiro mandato alguns recontros com
vários povos sublevados e os alemães tenham de facto acontecido em finais
de 1914, os conflitos mais desgastantes neste domínio terão sido de natureza
«burocrática», designadamente a má‑vontade que figuras dos meios milita‑
res demonstraram perante a sua estratégia de «pacificação». Através dela,
Norton pretendia que a autoridade portuguesa se apresentasse com uma face
mais justa e humana (e predominantemente civil) perante os indígenas e pro
curasse a colaboração destes para tarefas de manutenção da paz e da ordem.
Enquanto não fosse possível expandir a malha administrativa portuguesa a
todo o território (sistema das circunscrições), as autoridades nativas (sobas
e outros chefes indígenas) deveriam ser incorporadas na administração e as
suas leis e costumes respeitados, conquanto não ferissem certos valores morais
e o direito português45. Para que esta «política de atracção» se revestisse de
alguma credibilidade, moralizar a administração e corrigir os mais egrégios
abusos cometidos contra os africanos era fundamental (no seu juramento
de iniciação maçónica, Norton havia‑se comprometido a empregar os seus
melhor esforços para abolir «efectivamente» a escravatura46). Uma das suas
prioridades ao instalar‑se em Luanda consistiu em aprovar um conjunto de
providências que visavam transformar este estado de coisas. Vários decretos
e circulares seus procuraram banir os castigos corporais, instituir a obriga‑
toriedade dos contratos remunerados (com o respeito pelas tabelas salariais
e folgas semanais), disciplinar a acção dos engajadores de mão‑de‑obra e
limitar ao máximo o envio de «serviçais» para fora do território, ao mesmo
tempo que era criada uma «curadoria de indígenas» incumbida de zelar pelo
seu bem‑estar e protecção, à luz das concepções paternalistas que perfilhava.
Embora obedecendo a imperativos éticos e humanitários, esta preocupa‑
ção de Norton relativamente às condições de vida dos africanos não estava
desligada de uma dimensão mais utilitária. À semelhança de anteriores refor‑
madores coloniais, entendia que a chave para o desenvolvimento de Angola
residiria na emergência de uma vasta classe de agricultores e artesãos nati‑
vos independentes, lado a lado com uma classe de trabalhadores manuais
empregados em empresas agrícolas, mineiras ou industriais47. Com salários
pagos em moeda e devidamente tributados, seriam eles, juntamente com os
cultivadores europeus (a quem estava vedada a contratação de indígenas para
os trabalhos agrícolas48), as grandes molas do desenvolvimento económico
angolano. Numa época em que, na metrópole, a República experimentava
grandes dificuldades em lidar com um operariado urbano mais reivindicativo,
uma sociedade com estas características parecia oferecer alguma garantia em
termos de harmonia social. Impedia a «proletarização» dos africanos e evitava
que os colonos desenvolvessem hábitos e atitudes «parasitárias». Tal não
Hist-da-Expansao_4as.indd 463 24/Out/2014 17:17
464 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
implicaria, contudo, o fim imediato de modalidades de trabalho «obrigató‑
rio» (i.e., compelido), pois a urgência em construir ou modernizar algumas
infra‑estruturas básicas e as disponibilidades financeiras limitadas do governo
da colónia concorreram para que a mão‑de‑obra africana continuasse a ser
empregue em grande escala neste tipo de empreendimentos. O paternalismo
republicano apresentava ainda uma outra faceta que rapidamente alienou
muitos africanos – a exigência de documentos (passes, cadernetas, bilhetes
de identidade) que, a pretexto de prevenir os abusos de patrões menos escru‑
pulosos, acabaria por envolvê‑los numa apertada engrenagem de vigilância
e controlo de movimentos49.
De resto, embora a sua visão de longo prazo pudesse ser considerada menos
severa com os africanos quando comparada com as opiniões de outros ideólo‑
gos recentes ou coevos, ela concebia a «elevação cultural» dos nativos como
um fenómeno de muito longa maturação – o máximo a que estes poderiam
aspirar, no imediato, seria à frequência de um ensino «rudimentar», em esco‑
las oficinais, que lhes desenvolveria as aptidões certas para operarem numa
economia assente na divisão e especialização do trabalho. Neste esquema
idealizado, Norton não encontrava lugar para um segmento minoritário, mas
ainda influente, da sociedade angolana: os nativos instruídos, que reclama‑
vam um estatuto de cidadania de parte inteira. Para eles, reservava palavras
esclarecedoras: «É este o tipo de indígena semieducado, semicivilizado (…)
um dos piores elementos, felizmente em diminuto número, da população de
Angola, que é mister extirpar por completo do meio social, não tornando
possível o aparecimento de novos produtos desta espécie.»50 Nesse sentido,
tomou medidas concretas para evitar o convívio multiétnico (ao nível do
planeamento urbano, com a construção de «bairros indígenas», e da restrição
de movimentos dos africanos) e encorajar um desenvolvimento separado das
«raças» (sempre em nome da «protecção» dos africanos)51.
Sem surpresa, algumas das facetas «modernizantes» do projecto de Norton
foram combatidas ou sabotadas pelos proprietários ou industriais brancos,
pela simples razão de que, se zelosamente aplicadas, elas implicariam uma
reconversão drástica de muitos dos arranjos em que assentava o sistema
colonial em Angola. Embora partes do seu programa de fomento económico
fossem bem recebidas, a abordagem ao problema da mão‑de‑obra africana foi
considerada irrealista e perigosa (incluindo as interdições à venda de álcool),
o mesmo acontecendo às suas intenções de criar um campesinato africano
próspero a partir da distribuição de lotes de terra cultivável. Contando com
cumplicidades de toda a espécie na burocracia colonial, e dispondo de porta
‑vozes influentes na imprensa local, não foi difícil aos patrões iludirem as
novas leis e regulamentos e construírem um discurso de vitimização que não
tardou a salpicar a reputação de Norton na metrópole.
Hist-da-Expansao_4as.indd 464 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 465
A sua posição talvez pudesse ter sido melhor acautelada se tivesse forjado
alianças com elementos da burguesia mestiça ou assimilada que depositara
grandes expectativas no advento da República e aproveitara o clima inicial
de alguma abertura para agitar a sua agenda. Sucede, porém, que este sector
estava longe de merecer a sua simpatia – pelo contrário, como vimos, Norton
nutria um desprezo profundo por eles, ou por não os conseguir encaixar na
estrutura social que idealizara para Angola, ou por não lhe agradar a ideia de
ter de lidar com uma classe mais consciente e questionadora da autoridade
colonial52. Assim, embora os choques com os assimilados só viessem a assumir
contornos de maior gravidade após 1920, os primeiros anos da República em
Angola seriam já marcados pela desconfiança com que tanto as autoridades
como os colonos encaravam as suas aspirações. No ambiente de ansiedade
gerado pela eclosão do conflito mundial, várias das figuras e organizações que
falavam em nome dos «filhos do país» foram acusadas de instigar algumas
revoltas tribais entre 1914 e 1918, e sujeitas a toda a espécie de retaliações
(das quais nem escaparia a bem‑comportada Liga Angolana, apodada de
«Associação de Mata‑Brancos» por colonos tomados pelo pânico aquando
da revolta «gentia» de Seles‑Amboim)53.
Em Abril de 1921, na sequência da sua designação como alto‑comissário
da República, Norton regressaria a Angola para um segundo mandato. Como
já observámos, os seus poderes conheceram um acréscimo significativo, dis‑
pondo agora de instrumentos de governação que lhe davam uma capacidade
de iniciativa muito maior, nomeadamente no plano financeiro. Durante três
anos pôde, finalmente, imprimir um ritmo mais intenso ao tipo de moder
nização que tinha em mente, muito baseada em iniciativas de fomento eco‑
nómico lançadas ou facilitadas pelo governo. Em termos concretos, isto
significaria a expansão da rede viária e ferroviária (ligação dos planaltos
centrais à costa), das ligações telefónicas e de radiotelegrafia, a melhoria
dos serviços de navegação, novos incentivos à colonização branca, maiores
facilidades no acesso ao crédito e uma política de atracção de investimentos
estrangeiros, particularmente para aqueles sectores mais capital‑intensivos,
como as indústrias extractivas. Nos centros urbanos em desenvolvimento,
haveria que introduzir toda a espécie de melhoramentos, desde a iluminação
pública à abertura de enfermarias, hospitais e outros serviços.
Os seus arreigados sentimentos nacionalistas não o impediram de celebrar
um contrato para a instalação de uma companhia dedicada à extracção de
diamantes na região das Lundas (uma área de cerca de 52 000 km2), a empresa
Diamang, originalmente constituída em 1917 por capitais portugueses (ban‑
cos Burnay e Nacional Ultramarino), belgas, franceses e norte‑americanos,
concessão que tinha a grande vantagem de proporcionar às depauperadas
finanças da colónia uma entrada de receitas regular e segura54. Em Angola
Hist-da-Expansao_4as.indd 465 24/Out/2014 17:17
466 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
seria a que mais se aproximaria do modelo das grandes companhias majestáti‑
cas de Moçambique (havia quem lhe chamasse a «nona colónia do império»),
dotada de amplos privilégios e prerrogativas para realizar a colonização
do distrito da Lunda (isenção de taxas aduaneiras, exclusivo da actividade
comercial na área concessionada, direitos especiais no recrutamento de mão
‑de‑obra africana)55.
Apesar da generalização do trabalho livre figurar entre as suas priori‑
dades, o tipo de reacções suscitadas pelas medidas que aprovara com esse
fim na sua primeira passagem pela colónia ter‑lhe‑á incutido uma visão
mais sóbria daquilo que poderia ser alcançado neste domínio, pelo que
poucos progressos assinaláveis se verificaram ao nível da erradicação do
trabalho compulsivo. Em parte isto explicará a relação menos crispada que
foi capaz de manter com importantes segmentos das «forças vivas» locais,
especialmente os ligados às companhias de plantação em crescimento. O seu
segundo mandato revestiu‑se igualmente de um carácter mais autoritário e
nacionalista. Colonos e missionários estrangeiros estabelecidos em vários
pontos do território foram visados, ora através de decretos de restrição no
acesso à propriedade fundiária, ora através da proibição do uso de línguas
estrangeiras e africanas nas actividades de ensino nas missões. Por seu turno,
a imprensa e as organizações de africanos educados, ou até a Associação dos
Funcionários Públicos, enfrentaram a hostilidade aberta do alto‑comissário,
que não hesitou em recorrer à censura e a medidas ainda mais draconianas
para calar as suas críticas.
Embora uma parte significativa da burguesia angolana branca lhe tenha
ficado reconhecida pelas medidas de fomento económico, Norton acabaria
por coleccionar um número apreciável de detractores e inimigos na metrópole
(especialmente junto dos círculos financeiros com pouca apetência para o tipo
de investimentos a longo prazo de que as colónias careciam, mas também em
certos sectores industriais protegidos), o que se revelaria fatal para as suas
aspirações. Os empréstimos contraídos junto de instituições como BNU,
para financiar o seu programa de obras públicas e megalómanos projectos
de colonização (um deles prevendo a instalação de 20 mil famílias em mil
núcleos diferentes, a um custo de 10 milhões de libras)56, porque vincula‑
dos à emissão de moeda privativa na colónia sem limite definido, viriam a
estimular um surto inflacionário e uma assinalável fuga de capitais, circuns‑
tância que determinou depois a inconvertibilidade do escudo angolano e a
adopção de novas restrições ao crédito. A partir do momento em que o BNU
deixou de cumprir algumas das suas obrigações contratuais, nomeadamente
ao nível das transferências de numerário, a situação de muitos comerciantes
angolanos tornou‑se desesperada. Norton tentaria contornar esta questão
incorrendo em défices significativos ou procurando empréstimos no exterior
Hist-da-Expansao_4as.indd 466 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 467
(com a assistência de entidades como a Diamang), que depois o governo da
República seria era chamado a avalizar.
Em 1924, a colónia entrava numa situação de bancarrota técnica. Enfren‑
tando uma contestação sem tréguas na capital (liderada por Cunha Leal,
autor do célebre opúsculo Calígula em Angola) e tendo alienado uma parte
significativa dos seus apoiantes na colónia (os comerciantes e empresários
que se identificavam com alguns aspectos da sua estratégia modernizadora),
não teve outra alternativa senão resignar ao cargo. A situação de aperto
financeiro que a metrópole então atravessava, agravada por uma situação
económica internacional muito adversa, derrotou a estratégia de crescimento
pelo défice ensaiada por Norton. E, de caminho, foram preparando o ter‑
reno para as teses daqueles que na metrópole passaram a advogar o fim da
autonomia colonial e a reimposição de um modelo de governação imperial
mais centralizado.
Na outra colónia onde o regime dos altos‑comissários foi experimentado,
Moçambique, as veleidades reformistas dos Republicanos estavam à partida
limitadas pelo poder e influência dos interesses estrangeiros aí radicados, ou
pelas pressões que as autoridades sul‑africanas estavam em condições de
exercer, designadamente em matérias respeitantes às suas relações económi‑
cas externas (acesso à praça financeira londrina). Como já foi observado em
capítulo anterior, as concessões das companhias majestáticas ou comerciais
cobriam uma área correspondente a mais de dois terços da colónia a norte
do rio Save, com o exercício das correspondentes funções de soberania e a
supervisão dos aspectos mais relevantes da vida económica e social. O Estado
português era chamado a intervir quando questões de segurança o exigiam,
mas em tudo o mais o seu impacto na governação dessas regiões era reduzido.
Mesmo no distrito de Moçambique, uma das três únicas áreas que Portugal
administrava directamente, a cobrança regular do imposto de palhota só
pôde começar a ser realizada depois de conquistado o sultanato de Ango‑
che (1910) e derrotados os Namarrais (1912‑1913). As zonas geridas pelas
companhias e os distritos sob jurisdição portuguesa tinham, porém, algo
em comum: a sua fraca apetência por uma estratégia de desenvolvimento
orientada para o mais longo prazo e menos vinculada a lógicas puramente
rentistas ou especulativas. Com uma ou outra excepção (caso da Sena Sugar
Estates, geralmente apontada como uma das raras experiências de capitalismo
moderno a singrar no território57), tanto os potentados económicos como o
Estado colonial desenvolveram uma atitude extorsionista ou predatória em
relação à população africana, quer ao nível da fiscalidade, quer ao nível da
exploração da força de trabalho (designadamente através do chibalo, uma
forma de trabalho obrigatório que as autoridades poderiam decretar para
obras de «interesse público» ou fins correccionais)58.
Hist-da-Expansao_4as.indd 467 24/Out/2014 17:17
468 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Tal como noutros contextos históricos, a «acumulação primitiva» resul‑
tante destes processos foi conseguida através de doses assinaláveis de
violência. Relatórios consulares estrangeiros mencionam casos em que
aldeias inteiras eram feitas reféns por auxiliares da administração na altura
de cobrar o imposto, havendo também descrições de atrocidades (raptos,
violações, mutilações, destruição de habitações e de gado) cometidas em
jeito de intimidação ou punição59. Outros comentadores referem situações
análogas protagonizadas por chefes de posto e sipaios, ora no âmbito da
colecta fiscal, ora como engajadores de mão‑de‑obra. No território da com‑
panhia com pior reputação, a do Niassa, a prática de adjudicar concessões
(como a da borracha) a aventureiros sem escrúpulos gerou episódios de
terror que não ficavam muito atrás das atrocidades praticadas no Congo
do rei Leopoldo60. Entre 1921 e 1930, por exemplo, estima‑se que cerca de
100 mil ajauas e macuas terão abandonado o Norte de Moçambique para
procurar refúgio no Tanganhica Britânico61. Nas páginas da imprensa nati‑
vista de Lourenço Marques eram comuns as denúncias das intermináveis
jornadas de trabalho, alimentação degradante, maustratos, falsificações
de contratos, ou até mesmo de tomada de reféns de familiares de traba‑
lhadores fugitivos62.
Embora as autoridades e os administradores procurassem demarcar‑se
destes métodos, a verdade é que tais violências eram rotineiras e praticadas
com total impunidade, encorajando as populações a deslocarem‑se para
regiões (muitas vezes em colónias vizinhas) onde a reputação dos poderes
locais fosse menos intimidadora63. Não por acaso, as primeiras estatísticas
demográficas (de rigor sempre questionável nessa época) registam um decrés‑
cimo da população «indígena» de Moçambique entre 1917 e 1926, a qual
conhece uma quebra de 3 652 008 para 3 523 61164.
No tocante ao período republicano, a investigação sobre estas realidades
sugere uma continuidade essencial relativamente à época precedente. Regime
fraco e instável, a República dificilmente teria força e motivação para pro‑
vocar uma mudança das atitudes e práticas dos agentes que recorriam ao
trabalho de homens, mulheres e crianças para satisfazer as suas necessidades
de mão‑de‑obra. No rescaldo das críticas que se abateram sobre as condições
laborais no Império Português, antes e após a Primeira Guerra Mundial65,
também em Moçambique se procurou introduzir algumas reformas neste
domínio. Estabeleceram‑se limites ao trabalho correccional, estipularam‑se
regimes de protecção e assistência aos trabalhadores, mas, na prática, as
mudanças qualitativas terão sido escassas. Os regulamentos que definiam
penas de tipo correccional foram apenas retocados, ao passo que a prática
de torturas e castigos físicos permaneceu legal em certas circunstâncias.
Tal como em Angola, os empregadores privados rapidamente se organizaram
Hist-da-Expansao_4as.indd 468 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 469
para acertar com comissários de polícia e funcionários dos negócios indígenas
esquemas de angariação regular de trabalhadores: as disposições relativas
à «vadiagem» e a outro tipo de transgressões, desde atentados ao pudor e
moral pública à embriaguez e outros delitos menores, davam ampla cobertura
legal a tais estratagemas66.
De resto, fornecimentos de contingentes de mão‑de‑obra, recrutada
compulsivamente, às minas do Rand ou do Catanga, às plantações da
Rodésia e das ilhas do Índico e do Atlântico, continuaram a ser permitidos
pelos concessionários de prazos e companhias majestáticas, muitas vezes
em articulação com engajadores estrangeiros. Apenas na década de 1920
é que os administradores da Companhia de Moçambique se começaram a
convencer de que dar alguma liberdade aos pequenos cultivadores africa‑
nos independentes poderia constituir uma estratégia economicamente mais
racional do que os expedientes extorsionistas seguidos até então67. Por seu
turno, as convenções laborais com a África do Sul, regulando o fluxo de
trabalhadores moçambicanos que se dirigiam às minas do Rand (algumas
fontes estimam entre 64 mil e 111 mil o número de homens moçambica‑
nos aí empregados no período de 1902‑1932)68, resistiram às tentativas de
governadores no sentido de as modificar ou revogar. Apesar de contestadas
por empresários que se ressentiam da hemorragia de braços e do efeito
inflacionário nos salários daqueles que permaneciam no território, era
difícil ao poder colonial encontrar uma fonte de receitas alternativa aos
benefícios que os acordos firmados com as autoridades sul‑africanas lhe
proporcionavam – situação que se manteria inalterada até ao fim do período
colonial em Moçambique.
No imediato pós‑guerra, a atmosfera no território começou a inquietar
Lisboa. As atrocidades cometidas no âmbito da repressão da revolta do Barué
(1917‑1918), a mortandade causada pelo recurso maciço a carregadores nas
operações contra a Alemanha e outros incidentes esporádicos despertaram
a atenção de vários observadores estrangeiros e foram usados pelos Britâ‑
nicos como arma de pressão sobre os Portugueses na Conferência de Paz
de Paris69. Na capital francesa, as manobras de bastidores movidas por Jan
Smuts e os delegados sul‑africanos, no sentido de o directório aliado incluir
Moçambique na lista de futuros mandatos da Sociedade das Nações (SDN),
causaram apreensão e terão sido um dos factores que levaram Afonso Costa
a recomendar a Lisboa que aceitasse a sugestão britânica de adopção de um
modelo de governação colonial mais descentralizado e ágil. Por outro lado,
sinais de impaciência e descontentamento entre os colonos brancos com maior
capacidade de intervenção na vida política da colónia tornaram‑se notórios70.
Apesar de atravessado por várias clivagens, este bloco clamava por uma
governação que limitasse a influência excessiva dos interesses estrangeiros,
Hist-da-Expansao_4as.indd 469 24/Out/2014 17:17
470 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
promovesse uma diversificação da economia, concedesse maiores facilidades
de crédito, e mostrasse uma atitude mais cooperante em matéria de angaria‑
ção de mão‑de‑obra. Por seu turno, os sectores directamente ligados a algumas
das companhias estrangeiras não deixaram também de fazer ouvir as suas
aspirações, muito relacionadas com a questão do desvio de trabalhadores
para territórios vizinhos e a quase total ausência de investimentos estatais
acima do Save. Finalmente, figuras proeminentes da elite assimilada de cidades
como Lourenço Marques tinham ganho maior confiança para denunciar o
desfasamento entre os ideais e a práxis governativa da República (a ponto
de o Brado Africano, o órgão por excelência dos intelectuais nativistas, ter
ameaçado levar os seus agravos contra a chamada «portaria do assimilado»
ao conhecimento do presidente Wilson em Paris)71.
A nomeação de Manuel Brito Camacho (1862‑1934), médico‑militar, jor‑
nalista e destacada figura da direita republicana, para o recém‑criado cargo de
alto‑comissário de Moçambique parecia sugerir que Lisboa estava ciente da
necessidade de dar uma resposta aos sinais de mal‑estar. Na verdade, a braços
com uma dívida galopante (em parte contraída para suportar os custos da
participação na Grande Guerra e uma acentuada desvalorização monetária),
o governo da República estava de mãos atadas para investir em África, ao
passo que os agentes económicos que haviam feito algum dinheiro com os
negócios de guerra preferiam aplicar os seus capitais no Brasil e outros países
europeus. Tal quadro ditava constrangimentos que Camacho, um político
realista e experimentado, não podia ignorar. Tendo chegado com a intenção de
fomentar o desenvolvimento agrário no Sul e atrair gente da metrópole para
esquemas de colonização, rapidamente se apercebeu de que teria de estabelecer
entendimentos com as forças que estavam em condições de lhe proporcionar os
recursos financeiros para executar as suas políticas, mesmo se isso lhe trouxesse
acusações de parcialismo. O mais significativo desses acordos foi o contrato
firmado com J. P. Hornung, o grande «barão» do açúcar moçambicano, dono
da Sena Sugar Estates, baseado num trade‑off simples: em troca de um com‑
promisso visando o aumento de 15 mil toneladas na produção anual de açúcar,
o governo fornecer‑lhe‑ia 3 mil trabalhadores africanos72.
Talvez para contrabalançar o que seria inevitavelmente denunciado como
uma capitulação aos «plutocratas» estrangeiros, Camacho compraria quase em
simultâneo duas guerras com duas entidades muito pouco queridas aos colonos
brancos do Sul: o BNU e o governo de Pretória. Os dois confrontos correram
‑lhe mal. Por um lado, os seus decretos visando obrigar o banco emissor das
colónias a restaurar a convertibilidade da moeda moçambicana não produziram
qualquer efeito, continuando esta a sofrer uma fortíssima depreciação face à
libra; por outro, a sua estratégia de fazer esticar a corda nas negociações para
a renovação da convenção laboral com a África do Sul de 1909 não surtiu o
Hist-da-Expansao_4as.indd 470 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 471
desejado efeito, tendo a mesma expirado sem que fosse possível melhorar a posi‑
ção dos interesses que desejava proteger (os proprietários a sul do Save). Com
uma diminuição do volume de tráfico sul‑africano pelo corredor de Lourenço
Marques (motivada também por várias greves e paralisações dos operários
ferro‑portuários), a situação financeira da colónia deteriorou‑se rapidamente
e Camacho viu‑se destituído do cargo em finais de 1922. Quatro anos mais
tarde, as dívidas acumuladas pela colónia perfaziam meio milhão de libras
esterlinas – um quadro menos grave do que o que se verificava em Angola (cuja
dívida ascendia a 6 milhões de libras), mas, ainda assim, suficiente para forçar
as autoridades a reverem o braço‑de‑ferro que vinham mantendo com Pretória.
Em 1928 nova convenção seria finalmente assinada, mantendo o essencial dos
termos de acordos anteriores, mas deixando os Portugueses mais tranquilos em
relação às antigas pretensões sul‑africanas relativamente à administração dos
portos e caminhos‑de‑ferro em Moçambique. Seria, até ao fim da soberania
portuguesa, uma das pedras‑de‑toque da administração da colónia do Índico e
um pilar da relação de vizinhança menos desconfiada que a partir de então foi
possível ir construindo com os governos da União Sul‑Africana73.
Tudo somado, o regime de autonomia revelou‑se incapaz de cumprir as
expectativas que os adeptos de um desenvolvimento enérgico e orientado
para a impressão de uma marca mais «portuguesa» em Moçambique nele
depositavam. O território permaneceu tão fragmentado como estava em
1910, a posição dos interesses estrangeiros não foi beliscada e, com a SDN
a servir de grande câmara de ressonância do escrutínio aos últimos vestígios
do trabalho não‑livre em África, também Moçambique voltaria a atrair as
atenções de certos críticos humanitários.
Mesmo junto dos grupos que em 1910 haviam celebrado a sua mensagem
emancipatória, a República desbaratara o seu capital político, em grande
medida por ter defraudado as expectativas que nela haviam sido depositadas
relativamente à contenção das aspirações hegemónicas da comunidade branca.
Em 1926, figuras destacadas dos meios nativistas estavam inclusivamente
dispostas a saudar o movimento militar que derrubara o regime republicano
na metrópole, por esperarem que uma governação mais centralizada os reco‑
nhecesse como cidadãos de parte inteira e os protegesse das prepotências que
sucessivos governadores se tinham abstido de enfrentar desde 191074.
Um balanço contrastado
O afundamento da República numa conjuntura de colapso financeiro
e caos político e social, na qual a situação precária das colónias jogou um
papel não despiciendo, dificultou durante muito tempo um balanço mais
Hist-da-Expansao_4as.indd 471 24/Out/2014 17:17
472 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
desapaixonado ao seu legado colonial. Como alguns autores têm salientado
recentemente, essa apreciação assenta porventura numa visão demasiado
parcial (porque muito centrada em indicadores como as balanças comerciais
ou o investimento de capital metropolitano) e tende a esquecer que as bases
de uma dominação colonial mais estável e duradoura foram, em boa medida,
lançadas ou estabelecidas no período republicano75.
Em termos militares, foi durante a década e meia da República que se regis‑
tou um avanço decisivo em termos de ocupação territorial e correspondente
implementação dos marcos tradicionais da soberania (postos administrativos,
generalização da cobrança do imposto indígena, integração das autoridades
nativas no aparelho colonial). Apesar do afastamento de alguns africanistas
notórios em 1910, um número assinalável de militares com experiência em
teatros coloniais desempenharia um papel‑chave nas últimas expedições
que, entre 1910 e 1926 (com excepção de uns focos na Guiné na década de
1930 e em Angola na década seguinte), puseram termo às derradeiras bolsas
de resistência autóctone – Dembos no Centro e Ovambos no Sul de Angola;
as populações zambezianas do Barué no Centro de Moçambique; Balantas,
Manjacos e Papéis na Guiné, e alguns dos reinos de Timor. Cada um destes
confrontos teria as suas causas e circunstâncias específicas, mas um deno‑
minador comum a muitos deles (sobretudo os de Angola e Moçambique)
foi a mobilização de meios humanos e materiais quase sem precedentes por
parte da potência metropolitana, em parte tornada possível pela eclosão do
primeiro conflito mundial.
Ironicamente, depois de anos a denunciarem a feição quase exclusiva‑
mente bélica do projecto imperial, os Republicanos acabariam eles próprios
por não resistir a reclamar os dividendos das façanhas militares nos sertões
e desertos africanos, muitas vezes obtidas à custa de um terror maciço.
Uma dessas campanhas, a comandada pelo general Pereira d’Eça contra os
Cuanhamas, no Sul de Angola (1915), reuniu o maior contingente português
enviado para a colónia até 1961 (265 oficiais e 7489 sargentos e praças) e
revestiu‑se de particular brutalidade, a ponto de alguns dos actos mais cruéis
dos auxiliares africanos (sancionados pelos oficiais brancos) terem sido
objecto de várias interpelações ao governo no Congresso da República em
191776. Em Moçambique, a supressão da revolta panzambeziana no Barué
foi feita com o emprego de mercenários angunes e implicou uma aceitação
de regras marciais (decapitações, capturas de gado, mulheres e crianças) que
muito dificilmente se compaginariam com a tradicional retórica republicana.
Em palcos mais periféricos, como a Guiné, onde os recursos disponíveis para
expedições militares primavam pela modéstia, um oficial europeu nascido
em Angola, João Teixeira Pinto (1876‑1917), pôs em prática uma velha
tradição das campanhas guineenses: a procura de alianças com as etnias
Hist-da-Expansao_4as.indd 472 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 473
muçulmanas (fulas e mandingas, sobretudo) para tentar submeter as popu‑
lações, predominantemente animistas, que teimavam em não reconhecer
a autoridade portuguesa, simbolizada pelo pagamento do sempre odiado
imposto77. Na remota ilha de Timor, Filomeno da Câmara enfrentaria com
êxito a chamada Revolta de Manufai (1912‑1913), liderada pelo «liurai»
D. Boaventura da Costa de Souto Maior, antigo aluno do Seminário de Díli,
empregando os mesmos métodos impiedosos que haviam distinguido o gover‑
nador Celestino da Silva (uma vez mais, na ausência de uma preocupação
portuguesa em contabilizar as baixas dos adversários, dispomos apenas de
estimativas, com alguns autores a avançarem números entre 15 mil e 25 mil
mortos, o equivalente a 5 ou 6 por cento da população nativa da colónia78).
Num e outro caso, um mesmo propósito parecia animar o poder colonial:
desarmar e taxar as sociedades indígenas e, no caso de Timor, submeter as
respectivas populações a esquemas de trabalho compulsivo, centrados em
determinadas culturas de exportação (café).
Seja como for, em consequência destas campanhas, a soberania portuguesa,
que por volta de 1910 se encontrava ainda longe de se exercer em pouco mais
do que um décimo da superfície total de territórios como a Guiné, Angola e
Timor (Moçambique era uma situação à parte, pela posição das companhias
concessionárias), estava já largamente consolidada em finais da década de 1920.
Vencidos os últimos potentados, foram raros os reacendimentos de novas rebe‑
liões nas décadas seguintes (com a excepção de focos pontuais em Guiné e
Angola). Os povos mais aguerridos foram desarmados, e a proibição de venda
de armas e pólvora aos indígenas foi observada. A arrecadação do imposto
(de capitação ou de «palhota»), o principal símbolo do acatamento da autori‑
dade portuguesa, passou a ser feita com crescente eficácia e regularidade (em
Angola, por exemplo, entre 1909‑1910 e 1922‑1923 cresceu de 143 250$00
para 7 500 000$00; em Moçambique, a receita arrecadada por essa via passou
de 5 750 000 francos‑ouro em 1908‑1909 para 17 000 000 em 1928‑1929)79.
Tendo feito a demonstração da sua superioridade militar, os Portugueses
não se sentiram especialmente atraídos pelos métodos de adjudicação de res‑
ponsabilidades às chefias nativas, à maneira do indirect rule britânico. Regra
geral, preferiam o sistema da integração das autoridades tradicionais africanas
no aparelho administrativo colonial (as regedorias), que assim cumpriam
uma importante função de intermediação80. Frequentemente designados
pelos Portugueses, os régulos e sobas das regedorias estavam incumbidos de
desempenhar funções especialmente ressentidas nas suas comunidades, como
o fornecimento de homens para o «contrato», a arrecadação de impostos,
ou o sustento ocasional de sipaios e carregadores, responsabilidades que os
obrigavam a um delicado jogo de equilíbrios, se quisessem preservar alguma
da sua legitimidade.
Hist-da-Expansao_4as.indd 473 24/Out/2014 17:17
474 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
A consolidação do «domínio efectivo» coincidiu com profundas mudan‑
ças nas relações internacionais e na esfera dos impérios. Aqui, com resul‑
tados ambivalentes para Portugal. Com a sua derrota na Grande Guerra, a
Alemanha foi riscada do clube das potências coloniais europeias, e os seus
territórios na África, Ásia e Oceânia distribuídos à laia de despojos por
algumas das potências aliadas. Para grande frustração de um Afonso Costa
impaciente por mostrar que os sacrifícios realizados na frente ocidental não
tinham sido em vão, Portugal não lograria obter uma parte da «pele do urso»
em Versalhes (uma das colónias alemãs, o Ruanda‑Burundi, chegou a fazer
parte dos seus planos, mas acabaria por ser entregue à Bélgica, sob a forma de
um mandato da SDN)81. Mas a saída de cena da Alemanha eliminava aquilo
que durante anos foi visto como uma das principais ameaças à integridade
das fronteiras coloniais portuguesas, não obstante os receios que o «revisio‑
nismo» colonial alemão continuaria a inspirar no período de entre‑guerras.
De igual modo, a sua participação na coligação aliada foi suficiente para que
as ambições sul‑africanas em relação ao Sul de Moçambique esbarrassem
na oposição dos responsáveis britânicos. No entanto, como veremos mais
adiante, a emergência de um novo direito público colonial (muito ligado
à filosofia da trusteeship, teorizada no âmbito do Império Britânico) e da
Liga das Nações como grande órgão de escrutínio das políticas dos impérios
(nomeadamente em áreas sensíveis, como a do bem‑estar das populações
nativas, ou as questões relacionadas com certos tráficos ilícitos, como o do
ópio e estupefacientes, que implicavam um território como Macau) colocou
a Portugal um conjunto de desafios complicados de gerir, nomeadamente
quando extravasavam do âmbito reservado das chancelarias para a arena
emotiva da opinião pública82.
Embora em muitos aspectos os territórios ultramarinos se possam ter
ressentido da errática política republicana, e da constante valsa dos gover‑
nadores, algumas infra‑estruturas de colonização (transportes e sistemas
de comunicação, aparato administrativo), um certo número de actividades
económicas (dos sectores agrícola e extractivo‑mineiro), assim como a emi‑
gração branca, conheceram um incremento significativo entre 1910 e 1930.
Com os investimentos em abertura de estradas e picadas, os serviços de
camionagem fizeram a sua aparição em várias colónias, poupando progressi‑
vamente as populações africanas às requisições para o desumano serviço de
carregadores, ao mesmo tempo que se abriam outras perspectivas ao escoa‑
mento mais rápido e fácil das matérias‑primas e produções agrícolas, sobre‑
tudo em Angola. Em 1928, a conclusão do Caminho‑de‑Ferro de Benguela
(o trajecto mais curto para as minas do Alto Catanga), e a que se somava a
ligação ferroviária de Moçâmedes ao Lubango estabelecida em 1923, refor‑
çou esse optimismo, fazendo muita gente sonhar com uma colonização mais
Hist-da-Expansao_4as.indd 474 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 475
intensiva dos planaltos centrais (onde mais tarde sobressairia a cidade do
Huambo, pensada por Norton como futura capital da colónia)83.
A eficiência administrativa aumentou com a expansão assinalável das
redes de telegrafia e telefone e dos serviços postais – mesmo se verdadeiros
desastres humanitários, como a fome que em 1921 assolou o arquipélago
de Cabo Verde, causando a morte a 25 mil pessoas (16 por cento da popu‑
lação), continuassem a ocorrer perante a passividade do poder colonial84.
Na década de 1920 fizeram‑se as primeiras experiências com a aviação e
tanto a navegação por cabotagem, como as viagens marítimas de longo curso,
se tornaram mais frequentes graças ao aparecimento de novos operadores,
como a Companhia Colonial de Navegação. Sempre com o seu enfoque
orientado para o bem‑estar da comunidade branca, houve uma expansão da
rede de assistência médica (hospitais e enfermarias) e abriram‑se os primei‑
ros liceus públicos em Angola (Liceu Central de Luanda e Liceu Diogo Cão,
no Lubango) e Moçambique (Liceu 5 de Outubro, em Lourenço Marques).
A instrução dos indígenas, até aí confiada às missões católicas e protestantes,
sofreu inevitavelmente com os efeitos da aplicação da Lei da Separação às
colónias africanas e a Timor, mas, como já foi mencionado, vários governa‑
dores trataram de mitigar os impactos das orientações mais laicizantes de
Lisboa, no sentido de preservar o papel das missões em planos de educação
elementar e rudimentar das populações nativas85. Sob os governos da Dita‑
dura Militar, toda a organização do ensino passaria a ser subsidiária de noções
mais estritas de diferenciação e hierarquização racial, mas, como em tudo o
que dizia respeito à «política indígena», essa orientação há muito que estava
a ser implementada de forma ad hoc em várias colónias.
Em termos económicos, e não obstante as vicissitudes da gestão orça‑
mental metropolitana, da instabilidade monetária e de um endividamento
menos prudente, o período republicano não foi um marasmo. A aposta de
autoridades governamentais ou da administração das companhias conces‑
sionárias na produção do campesinato africano independente foi, em muitos
casos, amplamente recompensada (veja‑se o peso crescente que o milho vai
adquirir no cômputo das exportações coloniais, passando de uma quota de
1,4 para 8,3 por cento entre 1910 e 192686), dando razão àqueles que há
muito advogavam ser essa a estratégia mais acertada para a valorização eco‑
nómica das colónias. Por outro lado, e pese embora o fracasso associado às
tentativas de imposição de algumas culturas obrigatórias (como o algodão,
que nunca conseguiu satisfazer as necessidades da indústria metropolitana) e
as flutuações das cotações dos produtos primários nos mercados internacio‑
nais, exportações coloniais como as oleaginosas, o açúcar, o café e o cacau
mantiveram um desempenho interessante até meados da década de 1920.
Conceda‑se, porém, alguma razão a Clarence‑Smith quando este destaca o
Hist-da-Expansao_4as.indd 475 24/Out/2014 17:17
476 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
afrouxamento dos laços económicos entre a metrópole e os territórios ultra‑
marinos, questão que haveria de alvoroçar todo um conjunto de interesses
que, em meados da década de 1920, estariam no centro da «fronda social»
que operou o derrube da República. Políticas pautais inconsistentes, medidas
proteccionistas pouco avisadas e as vicissitudes da economia internacional são
geralmente apontadas como os factores que mais contribuíram para a dimi‑
nuição do volume médio do comércio metrópole‑ultramar, com a quota dos
mercados coloniais nas exportações portuguesas a apresentar uma queda de
15,5 por cento para 10,5 por cento entre 1910 e 1926 (muitos dos produtos
que as novas economias coloniais necessitavam, como veículos automóveis
ou combustíveis, não eram sequer produzidos por Portugal87). As importa‑
ções dos territórios ultramarinos apresentam igualmente uma diminuição no
mesmo período, caindo de 19,4 para 11,2 por cento, situação que se poderá
explicar pela extrema relutância da República em abrir mão da dimensão
essencialmente fiscal da política pautal portuguesa. Angola e São Tomé e
Príncipe mantinham‑se como as colónias que mais dividendos traziam à
metrópole pela via da reexportação dos produtos coloniais, mas este tipo de
comércio também sofreria uma queda acentuada. Angola emergiu, de facto,
como a «jóia» imperial portuguesa neste período numa série de indicadores,
mas esse brilho não chegava para fazer esquecer o socorro financeiro que
o governo de Lisboa teve de mobilizar entre 1924 e 1926, nem a perda de
quotas para sectores exportadores metropolitanos menos competitivos, mas
política e socialmente influentes (produtores vinícolas, industriais e têxteis).
Um contexto de maior segurança e estabilidade, melhores comunicações
e novas perspectivas de desenvolvimento (aqui se incluindo a expansão
da administração colonial) terá estimulado alguma emigração espontânea
ou livre para as colónias, sobretudo para Angola, a ponto de, em meados
da década de 1920, com a crise económica, as colónias portuguesas terem
começado a ter os seus problemas com os poor whites. Entre 1913 e 1927,
o número de brancos em Angola passou, segundo várias estimativas, de
13 800 para 42 843 (numa população total que terá diminuído de cerca
de 4,52 milhões para cerca de 2,9 milhões)88. Em Moçambique, para onde
as estatísticas são ainda menos fiáveis, o aumento, entre 1910 e 1928, terá
sido de cerca de 11 000 para 17 842 (dos quais 14 162 portugueses, num
universo total estimado em 3 514 612)89.
Grande parte desta nova comunidade branca distribuía‑se pela administra‑
ção, serviços e comércio. Muito poucos se sentiram atraídos pelas ocupações e
modos de vida que os doutrinadores coloniais idealizavam para eles, ou seja,
a de pequenos lavradores independentes, que nas zonas mais salubres do hin‑
terland angolano ou moçambicano funcionariam como os agentes da cultura
e valores «lusitanos». Face a esta crise de vocações, as autoridades poderiam
Hist-da-Expansao_4as.indd 476 24/Out/2014 17:17
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO? (1910‑1926) 477
ter aberto a porta a estrangeiros empreendedores, mas aqui as desconfianças
chauvinistas sobrepuseram‑se a outras considerações. Em 1912‑1913, esses
reflexos haviam abortado um plano que previa a fixação de um número sig‑
nificativo de colonos judeus nos planaltos centrais angolanos, apresentado a
várias personalidades em Lisboa por representantes de uma entidade sionista
dissidente, a Organização Territorial Judaica90. No pós‑guerra, Norton de
Matos, que na maneira de encarar estas sugestões soava quase paranóico,
enjeitou a hipótese de instalação de alemães em Angola e fez a vida difí‑
cil aos cerca de dois mil agricultores bóeres radicados na região da Huíla
(muitos deles descendentes dos que aí se haviam fixado na década de 1880,
prosperando como criadores de gado e pouco dados a se misturarem com os
portugueses), que em 1928 tomariam a decisão de abandonar o território91.
Uma República perdida no labirinto colonial
Em meados da década de 1920, a República atravessava uma crise não
muito diferente daquela que a monarquia vivera no início do século. Um sis‑
tema político‑eleitoral baseado num conjunto de regras contestadas impediu
que o regime fosse percebido como legítimo por um amplo conjunto de for‑
ças sociais, dos militares aos sectores católicos, dos meios operários às elites
patronais. A agravar tudo isto, somava‑se uma crise económica e social como
não havia memória, na qual as componentes relacionadas com a inflação e o
peso de uma dívida externa asfixiante foram determinantes.
Neste contexto de crise, vale a pena não perder de vista o papel da questão
colonial. Por um lado, o já mencionado afrouxamento dos laços comerciais
entre a metrópole e o império tornou‑se uma situação que determinados
sectores económicos não estavam dispostos a tolerar por muito mais tempo.
Industriais do têxtil, produtores de vinho (sobretudo estes dois grupos) e
comerciantes ligados à reexportação reclamavam um retorno da aborda‑
gem mais proteccionista que em finais de Oitocentos lhes havia resolvido
alguns problemas. Essa rectificação teria de ser realizada à custa de um
reajustamento dos termos da relação entre a metrópole e as colónias, num
sentido mais condizente com a filosofia do velho «pacto colonial». Para isso,
necessitavam de esvaziar, ou mesmo suprimir, o regime de autonomia que,
no caso de Angola, dera uma outra margem de iniciativa aos segmentos mais
empreendedores da burguesia local. A «renacionalização» do império passou
a estar na ordem do dia, conquistando adeptos tanto na esquerda como na
direita das elites republicanas. Esse cerrar de fileiras em torno do patrimó‑
nio colonial, em certos aspectos reminiscente da atmosfera de 1890‑1891,
seria estimulado pela percepção geral de uma ameaça iminente à soberania
Hist-da-Expansao_4as.indd 477 24/Out/2014 17:17
478 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
portuguesa em África. Essa ameaça assumia várias expressões. Em Moçam‑
bique eram as cobiças, ainda não inteiramente dissipadas, da África do Sul
sobre Lourenço Marques. Em Angola seriam as potências «revisionistas»
(Alemanha e Itália) que espreitavam a hipótese de poder explorar a seu favor
qualquer escândalo internacional que pudesse colocar Portugal numa posição
vulnerável perante a SDN. Ora, em 1924‑1925, a ampla divulgação obtida
por um relatório submetido à Comissão Temporária da Escravatura da Liga
gerara um sobressalto formidável entre os sectores da opinião portuguesa
mais sensíveis à temática colonial. Esse relatório havia sido elaborado por um
sociólogo norte‑americano, Edward Ross, ligado a um movimento reformista
mal compreendido em Portugal (o social gospel). Baseado num inquérito
conduzido in loco, o relatório de Ross podia apresentar inconsistências,
mas a massa de informação por ele coligida era suficientemente credível
para produzir impacto. Com referências precisas, Ross documentava todo
o sistema de abusos e arbitrariedades que estava associado ao recrutamento
e emprego de trabalhadores manuais em Angola e Moçambique, deixando
poucas dúvidas de que as alterações legislativas e burocráticas adoptadas por
Portugal desde o escândalo do «cacau escravo» do início do século haviam
sido, em larga medida, um expediente «para inglês ver». Definindo a situação
prevalecente nos territórios visados como «uma espécie de servidão ao serviço
do Estado»92, o relatório colocava o país numa situação que só não era mais
melindrosa porque na SDN o clube das potências coloniais tendia a actuar
com algum sentido de entreajuda sempre que tais acusações eram formuladas.
Seja como for, episódios como este serviam para recordar o impasse em que
se encontrava o projecto imperial de Portugal – uma situação que, no fundo,
resultava de velhos problemas para os quais a República não fora capaz
de encontrar uma resposta satisfatória. Como realizar a mise en valeur de
um império sobredimensionado para as possibilidades de um pequeno país
empobrecido? Como arbitrar as aspirações, muitas vezes conflituantes, das
comunidades brancas que se iam enraizando nas colónias com os desígnios
do capital metropolitano e internacional? E como conciliar os ditames do
«projecto civilizador» com as disposições que encurralavam os indígenas nas
várias modalidades de trabalho compulsivo, ou que estabeleciam critérios
impossivelmente exigentes para a atribuição do estatuto de cidadania na
maioria das colónias africanas? As respostas que foram sendo desenhadas
para enfrentar esta encruzilhada serão abordadas no capítulo seguinte.
Hist-da-Expansao_4as.indd 478 24/Out/2014 17:17
20
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO?
(1926‑1961)
A instauração da matriz da governação colonial que haveria de prevale‑
cer até praticamente à deposição do Estado Novo começou a ganhar
forma ainda antes de Salazar se afirmar como a figura‑chave do regime
saído do golpe militar de Maio de 1926. Foi um processo que esteve longe
de ser linear, antes envolvendo confrontos, impasses e alguns compromissos
(uma lenta decantação, como observou Valentim Alexandre), embora sem o
mesmo grau de intensidade que, na mesma época, caracterizou as lutas entre
facções na política metropolitana. Em boa medida, isso aconteceu devido
ao relativo consenso que se foi estabelecendo, dentro e fora da «situação»,
relativamente às medidas de fundo que urgia adoptar para dar resposta aos
dilemas e desafios da governação imperial, por um lado, e à menor capacidade
de resistência e negociação que algumas das forças mais atingidas por essas
medidas evidenciaram, por outro.
Como se procurou assinalar no capítulo precedente, em finais da década
de 1920 a avaliação às políticas coloniais da República, e em especial aos
efeitos do regime de autonomia administrativa, era geralmente severa. Esse
descontentamento encontrava expressão em vários estratos das elites metro‑
politanas e coloniais, mas nem o diagnóstico nem as medidas concretas para
dar resposta à crise eram coincidentes. Entre os primeiros (que estavam
longe de formar um bloco propriamente homogéneo) prevalecia a ideia de
que as «querelas partidárias» e os interesses de «facção» haviam privado o
país de uma estratégia de desenvolvimento imperial consistente – ao nível
das políticas de povoamento, da repartição dos custos do financiamento do
aparato colonial entre o centro e periferia, ou da obtenção de um equilíbrio
mais satisfatório entre as aspirações do capital metropolitano, das elites
coloniais e dos interesses capitalistas estrangeiros. Embora algumas figuras
Hist-da-Expansao_4as.indd 479 24/Out/2014 17:17
480 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
ligadas ao modelo imperial descentralizado epitomizado na experiência dos
altos‑comissários ainda assomassem no espaço público, os ventos dominan‑
tes sopravam claramente noutra direcção. A hora era daqueles que haviam
apostado a sério no derrube do parlamentarismo republicano e preconizavam
uma governação mais centralizada e musculada. Para a grande coligação de
interesses que preparou, financiou e apoiou a mudança política na metró‑
pole em 1926, as colónias eram encaradas como uma peça‑chave no plano
de «ressurgimento nacional» que a ditadura deveria empreender.
Acerto de agulhas
No entanto, se a «renacionalização» do império era um desígnio que
todos podiam subscrever em teoria, o mesmo já não acontecia em relação
às políticas que a deveriam concretizar. Nos territórios ultramarinos, havia
diferentes entendimentos acerca da sua expressão concreta. Para os estratos
que poderíamos identificar como a «burguesia colonial» (que em várias coló‑
nias era ela própria atravessada por clivagens e contradições1), a mudança
desejada significava não um retorno ao espírito do «pacto colonial» ou a
um modelo centralizador, mas sim medidas favoráveis à sua agenda. Com a
sua imprensa, a sua dinâmica associativa e os seus canais de influência sub‑
terrâneos, os colonos insatisfeitos pareciam estar em condições de emular
os seus congéneres na África Meridional (nomeadamente a Rodésia, dotada
de governo próprio em 1923). Na realidade, nem mesmo nos momentos de
maior fragilidade do centro imperial esse cenário terá tido condições para se
materializar. O sentido de uma identidade separada, «euro‑africana», não
estaria ainda suficientemente enraizado entre os colonos brancos, nem estes
possuíam o ascendente sobre o aparelho de Estado colonial que lhes permi‑
tisse equacionar, com um mínimo de verosimilhança, um cenário independen‑
tista. A sua luta foi acima de tudo orientada para a apropriação gradual do
controlo sobre os órgãos de poder desse mesmo aparato, mantendo contudo
os vínculos fundamentais da ligação à «mãe‑pátria», desejavelmente num
modelo parafederal2.
Entre os estratos assimilados da sociedade colonial, desiludidos e aliena‑
dos pelo que entendiam ser as promessas traídas da governação republicana,
uma reorientação centralizadora poderia não ser necessariamente negativa, se
daí resultasse um travão às pressões e abusos protagonizados pelos colonos
europeus. Foi uma ilusão que durou pouco tempo. As políticas e iniciativas
patrocinadas pelos governos da Ditadura não atenderam a todas as reivin‑
dicações dos colonos brancos e, com a imposição da estratégia de estabili‑
zação financeira de Salazar, o sonho de um império baseado em princípios
Hist-da-Expansao_4as.indd 480 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 481
de parceria/associação, ou até confederação, foi remetido para o cemitério
das fantasias. Mas desde cedo se tornou claro que as visões dos militares,
ideólogos e administradores que passaram a controlar as áreas nevrálgicas da
política colonial não poderiam ser mais adversas às pretensões dos assimila‑
dos quanto a recuperarem o papel de intermediários (e não meros auxiliares)
do poder português em África.
O primeiro sinal de que acertos significativos no paradigma colonial esta‑
vam em gestação foi dado por um conjunto de medidas legislativas aprovadas
entre 1926 e 1928, no âmbito de vários ministérios dominados por militares.
Dessas reformas sobressaíram as patrocinadas por João Belo (1878‑1928),
um oficial de Marinha que se distinguira nas campanhas de Mouzinho em
Moçambique. A sua marca fez‑se sentir sobretudo em três áreas: a adminis‑
tração, a política missionária e os «assuntos indígenas»3.
Reclamando‑se de um «nacionalismo rígido»4, Belo arrepiou caminho
para uma reconfiguração dos princípios estruturantes do sistema colonial
num sentido mais centralizador e verticalizado: sujeição da autonomia admi‑
nistrativa e financeira a uma vigilância apertada da metrópole; extinção do
regime municipal nas regiões onde este não lograra «criar raízes»; fusão dos
conselhos legislativo e executivo num único «conselho de governo», presidido
pelo alto‑comissário; e possibilidade de uma «adaptação» do sistema dos
altos‑comissários a «novas circunstâncias»5.
No tocante ao papel das missões religiosas, o seu chauvinismo impelia‑o
claramente na busca de uma «funcionalização» destas instituições, sobre‑
levando eventuais objecções do laicismo republicano. A 13 de Outubro de
1926, fez promulgar um novo «Estatuto Orgânico das Missões Católicas
Portuguesas da África e Timor», que retinha o princípio da separação entre
o Estado e as igrejas, mas concedia uma série de apoios e privilégios às mis‑
sões religiosas (da concessão de terrenos e pagamento de salários às isenções
fiscais), convidando‑as a desempenhar as seguintes tarefas: «sustentar os
interesses do Império Colonial Português e promover o seu progresso moral,
intelectual e material, por meio da instrução e educação, abandono das
superstições, uso exclusivo da língua portuguesa e nativa, ensino agrícola,
pecuário e profissional, assistência sanitária, observações meteorológicas e
publicações geográficas, históricas e económicas»6. Igualmente sintomática
era a aprovação de um «Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas
de Angola e Moçambique», de 30 de Outubro de 1926, diploma que vinha
consagrar aquilo que a «reserva mental» dos legisladores republicanos os
inibira de fazer: a instituição sem ambiguidades de um regime de «indige‑
nato», baseado numa clara distinção entre os cidadãos/civilizados, sujeitos do
direito europeu, e os indígenas, definidos como «os indivíduos de raça negra
ou dela descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distingam
Hist-da-Expansao_4as.indd 481 24/Out/2014 17:17
482 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
do comum daquela raça». Sem grandes contemplações, estes eram descritos
como criaturas dotadas de uma «mentalidade primitiva», portadores de
uma «civilização rudimentar», logo necessitando de uma tutela esclarecida
mas firme, que as autoridades portuguesas exerceriam com um duplo pro‑
pósito: assegurar‑lhes os seus «direitos naturais e incondicionais» (a serem
compilados e codificados), por um lado, e garantir que cumpririam os seus
«deveres morais e legais de trabalho, de educação e de aperfeiçoamento»,
por outro. Era, de certa forma, uma resposta à capacidade de mobilização
e protesto que grupos nativistas haviam evidenciado no final da República,
mas também a proclamação de uma espécie de «esfera reservada» da missão
imperial portuguesa. Portugal não seria totalmente insensível às «responsabi‑
lidades» inerentes à tutela que exercia sobre os seus súbditos coloniais, mas
não admitia ingerências daqueles que a partir do «estrangeiro» pretendiam
pôr em xeque a legitimidade do seu domínio ultramarino. E, sobretudo, os
legisladores da Ditadura certificavam‑se de que esse mesmo Estado estaria
munido de todos os requisitos legais para reproduzir o sistema de exploração
laboral da população nativa, ou viabilizar a experimentação de esquemas
que lhe garantissem uma base fiscal mais estável.
Com uma carreira de quase 30 anos de serviço em Moçambique, Belo
era alguém sensível às reivindicações e interesses da burguesia colonial – cir‑
cunstância que o distinguirá dos seus sucessores no cargo. Isso queria dizer
que nele o nacionalismo não era concebido meramente como a afirmação
da supremacia da metrópole; na realidade, estava ainda sintonizado com
algumas das doutrinas caras à «geração de 1895», designadamente a ideia
de que uma boa e eficaz administração não podia ficar refém da morosidade
burocrática de Lisboa, ou do parasitismo dos sectores favorecidos pelo pro‑
teccionismo pautal. Ao contrário de outras figuras da escola «realista» de
Oitocentos, porém, aparentava uma atitude menos resignada em relação à
primazia dos interesses estrangeiros em territórios como Moçambique e ao
padrão de dependência que essa situação impusera à província, por entender
que tal situação não poderia senão inibir uma expansão económica dinami‑
zada pelos colonos portugueses. No seu consulado, uma das mais impopulares
companhias majestáticas, a do Niassa (desde 1919 sob o controlo de lord
Kylsant, um poderoso magnata britânico)7, foi notificada da não‑renovação
da sua concessão, uma decisão que faria escola. A renegociação do modus
vivendi relativo às condições de funcionamento do porto e caminho‑de‑ferro
de Lourenço Marques e ao fornecimento de trabalhadores moçambicanos às
minas do Rand em 1927 foi outro dos cavalos‑de‑batalha de Belo, tendo este
chegado a denunciar o statu quo precário que permitia a vigência da conven‑
ção original de 1901. No entanto, conhecedores da situação eminentemente
frágil das finanças portuguesas, os sul‑africanos optaram por expor o seu
Hist-da-Expansao_4as.indd 482 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 483
bluff, não tendo o governo português outra alternativa se não a de retomar
as negociações, as quais viriam a ser concluídas com êxito em Maio de 1928,
conforme já assinalado em capítulo anterior.
A morte de Belo, em Janeiro desse ano, tornar‑se‑ia um dado importante
na equação imperial, na medida em que o desaparecimento de uma perso‑
nalidade com o seu carisma terá fechado a porta a uma certa maneira de
repensar a organização do sistema imperial português. A matriz que Belo
favorecia teria um acento mais centralizador e autoritário do que as políti‑
cas republicanas, sobre isso não restam dúvidas, mas, como já foi notado,
ela não rompia por completo com um modelo de governação imperial que
estaria disposto a reservar alguma iniciativa às periferias8. A opção por um
modelo alternativo foi fruto da intensa luta de facções em curso no seio da
Ditadura. Essa nova relação de forças, que ganharia expressão entre 1928
e 1932, favoreceu as prioridades definidas pelo todo‑poderoso ministro das
Finanças, Oliveira Salazar, o qual não podia deixar de atender às preferências
dos grupos de pressão que sustentavam a sua ascendência governativa.
Dois anos depois de assumir a pasta das Finanças, com poderes de veto
sobre praticamente todas as áreas da governação, Salazar acabaria por descor‑
tinar no avolumar das tensões em torno da «questão colonial» uma oportuni‑
dade para consolidar a sua autoridade no seio do governo, mas também para
fazer aprovar um conjunto de orientações que fixavam uma nova doutrina
para o império, um território especialmente fértil em termos de imaginário
nacionalista. Para mais, numa fase em que as clivagens e antagonismos nas
Forças Armadas faziam do futuro da Ditadura uma imensa incógnita, a hipó‑
tese de uma perturbação nas colónias se repercutir em Lisboa parecia bem
real, como ficou patente em Março de 1930, aquando da revolta estalada
em Luanda contra o alto‑comissário Filomeno da Câmara. Castigados pelo
agravamento das dificuldades financeiras com que se vinham debatendo (uma
primeira incidência da turbulência económica global), elementos da burguesia
colonial angolana assumiram a liderança de um levantamento que juntou
também muitos dos oficiais republicanos deportados para Angola. Em termos
da sua relação com a metrópole, terá sido porventura a crise político‑militar
mais séria que a colónia viveu desde a independência do Brasil. Os insurrec‑
tos, porém, estariam sobretudo interessados em limitar abusos e prepotências
que assacavam ao alto‑comissário e melhorar a sua posição perante o centro
imperial, pelo que a perturbação se resolveu de forma relativamente rápida
graças a uma mediação do vigário‑geral de Luanda. O facto de em Lisboa o
governador do Banco de Angola, e antigo chefe de governo republicano,
Cunha Leal, ter tentado aproveitar a crise para questionar a actuação finan‑
ceira de Salazar forneceu a este o ensejo para protagonizar uma intervenção
curta, mas decisiva. O dado mais marcante dessa intervenção, feita a coberto
Hist-da-Expansao_4as.indd 483 24/Out/2014 17:17
484 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de uma gerência interina da pasta das Colónias, foi a promulgação do Acto
Colonial, em 8 de Julho de 1930, decreto governamental que deveria substituir
um dos títulos da Constituição republicana entretanto suspensa. Apostando
numa linguagem messiânica/providencialista, o documento parecia querer
renovar as bases doutrinárias do pensamento colonial, embora as linhas de
continuidade com o passado fossem evidentes. A sua passagem mais emble‑
mática estava inscrita no artigo 2.º, onde se estabelecia ser «(…) da essência
orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e
colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que
nelas se compreendem, exercendo também a influência moral que lhe é ads‑
trita pelo Padroado do Oriente». A expressão «Império Colonial Português»
era retomada, vincando‑se a ideia da integridade e inalienabilidade das suas
componentes. Definido como um complexo de agregados diferenciados (em
termos étnicos, administrativos e económicos), esse império estaria, contudo,
vinculado ao princípio da «unidade nacional».
O compromisso com a «renacionalização» das colónias era, aliás, feito
em várias passagens, ou não fosse essa uma das reivindicações transversais
a todo o espectro político português daquela altura (direitos adquiridos
e contratos de concessão, porém, eram expressamente salvaguardados).
Doravante a delegação de prerrogativas de soberania a privados não mais
seria permitida, devendo as concessões a capitalistas estrangeiros ser subor‑
dinadas a uma visão mais integrada e «patriótica» do desenvolvimento das
colónias. A filosofia do indigenato tinha plena consagração no diploma,
sendo reconhecida a vários órgãos políticos a competência de produzir
legislação «especial» para os diferentes territórios. Em consonância com os
compromissos internacionais do Estado, a liberdade de culto era reconhe‑
cida, mas às missões católicas era garantida uma protecção em homenagem
ao seu duplo papel «civilizador» e «nacionalizador». Num plano mais
prático e imediato, a grande novidade do novo decreto residia no golpe
que desferia no regime de autonomia: substituíam‑se os altos‑comissários
por governadores, estes passavam a ter uma latitude de actuação muito
mais restrita, os conselhos de governo eram reduzidos a uma função mera‑
mente consultiva e a metrópole era definida como «o árbitro supremo dos
interesses mútuos»9.
Beneficiando das circunstâncias impostas pela censura e intimidação das
oposições (e até da adesão ou acomodamento de várias figuras republicanas
à nova situação), a aprovação do Acto Colonial decorreu sem sobressaltos de
maior10. A forte tónica nacionalista das suas disposições satisfazia as aspira‑
ções dos grupos e movimentos de «defesa colonial» que haviam despontado
na fase crepuscular da Primeira República, juntando entusiastas pró‑império
de vários quadrantes ideológicos e partidários. Algumas das orientações nele
Hist-da-Expansao_4as.indd 484 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 485
apontadas apenas seriam concretizadas nos anos seguintes, mas os rigores da
política de saneamento financeiro prosseguida por Salazar, esses repercutiram
‑se muito rapidamente.
A sua «terapia de choque» envolveu medidas extraordinariamente res‑
tritivas no tocante à gestão orçamental, política cambial e transferências de
capitais e, como tal, não deixou de semear frustração e despertar reacções
enérgicas entre os grupos mais atingidos pelos seus efeitos. A mais contro‑
versa delas todas terá sido o Decreto 19 773, conhecido como a «Lei das
Transferências», introduzida para corrigir os desequilíbrios financeiros de
Angola mas, na realidade, pensada para atribuir ao governo central todos
os instrumentos necessários ao controlo de domínios‑chaves da economia
angolana, dos movimentos cambiais às regras de concessão do crédito,
do comércio externo aos investimentos11. Através do estabelecimento de
uma central de controlo cambial, e de uma acção no domínio pautal e
alfandegário, o poder metropolitano ficava em posição de privilegiar deter‑
minados sectores de actividade económica. Na prática, e como veremos
mais adiante, isto traduziu‑se num brinde proteccionista aos industriais e
exportadores de produtos primários transformados da metrópole, que há
muito vinham reclamando por uma intervenção do Estado nesse sentido.
Para os comerciantes do import‑export e «industriais» angolanos, o diploma
foi visto como uma punição, sendo por isso veementemente contestado
pelas associações económicas da colónia. Não obstante o incómodo que
estas manifestações traziam, a verdade é que em 1931 a situação parecia
finalmente madura para que Lisboa arriscasse a promulgação de medidas
com essa dureza. A severidade da Grande Depressão, o esmagamento de
mais um surto de revoltas reviralhistas no início desse ano, bem como a
preocupação dos governantes da Ditadura em não antagonizarem os inte‑
resses capitalistas estrangeiros no império, combinaram‑se para facilitar a
instauração da nova ordem.
Em termos político‑administrativos, as disposições do Acto Colonial
seriam depois sistematizadas e aprofundadas nas décadas de 1930 e 1940,
um período de invulgar estabilidade ao nível dos próprios titulares da pasta
das Colónias. Em 1933, um ano‑chave na edificação do sistema autoritário
e corporativo na metrópole, o novo ordenamento imperial receberia um dos
seus impulsos determinantes através da aprovação simultânea da «Carta
Orgânica do Império Colonial Português» e da «Reforma Administrativa
Ultramarina» (15 de Novembro de 1933). O primeiro consagrava a plena
concentração da política colonial no Terreiro do Paço. Doravante, competiria
ao governo, e ao ministro das Colónias em particular, a «orientação, su-
perintendência e fiscalização» da administração de todo e qualquer território
ultramarino, da nomeação do governador‑geral até à mais anódina portaria
Hist-da-Expansao_4as.indd 485 24/Out/2014 17:17
486 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
provincial. Em teoria, estes últimos seriam mais fiéis executores das instru‑
ções de Lisboa do que agentes dotados de alguma capacidade de iniciativa,
sendo assessorados por conselhos de governo que dificilmente poderiam ser
considerados representativos das «forças vivas» locais (vogais‑natos oficiais
e de nomeação estavam sempre em maioria)12. Esta tendência centralizadora
seria ligeiramente mitigada na arquitectura administrativa desenhada para
os diferentes territórios, onde o princípio da «desconcentração» era con‑
sagrado – uma preocupação ditada pela necessidade de tornar mais densa
e operativa a malha do Estado colonial em locais ainda deficientemente
servidos por sistemas de transportes e redes de comunicação, mas onde já
seria viável estabelecer um aparato administrativo civil. Assim, e em compa‑
ração com épocas anteriores, os quadros intermédios da burocracia imperial
(governadores de província ou intendentes de distrito, administradores de
concelho e de circunscrição, chefes de posto) ganharam uma mais ampla
lista de atribuições e competências. Embora contemplado, o regime munici‑
pal estava seriamente condicionado: apenas municípios com mais de 2000
habitantes (uma raridade) teriam direito a um governo camarário próprio,
sendo os restantes governados por comissões municipais e juntas locais.
Em todos os casos, o presidente era nomeado pelo governador‑geral, o
mesmo sucedendo à maioria dos vogais não‑eleitos (sempre em maioria),
devendo os restantes ser escolhidos em consonância com o princípio da
representação orgânica – ou seja, eram designados a partir das associações
económicas e profissionais do concelho (e, na falta destes, pelos vinte maiores
contribuintes). Em linha com o repúdio das concepções «assimilacionistas»
que há muito se tinha tornado dominante na doutrina colonial lusa, as
reformas do Estado Novo fixavam um regime administrativo especial para
as regiões onde a maioria da população não fosse dada como adaptada
«à civilização ou cultura portuguesas». Na prática, isto significava que
princípios como o da separação de poderes não se aplicavam nessas áreas,
os administradores de circunscrição concentravam em si um vasto leque de
atribuições (judiciais, administrativas, económicas), que depois poderiam
delegar às «autoridades tradicionais»13.
Muito embora as ambiguidades típicas das situações coloniais (o aca‑
tamento selectivo das directrizes emanadas do centro) nos devam incutir
alguma prudência na avaliação do impacto concreto destas reformas, parece
indiscutível que uma mudança qualitativa se terá operado com o advento
do Estado Novo. O progressivo fortalecimento e a autoconfiança do poder
salazarista permitiram‑lhe ser mais exigente na forma como se relacionava
com os poderes locais, e ganhar balanço para encontrar novas modalidades
de penetração e controlo relativamente às sociedades coloniais. A prática
de castigar opositores e dissidentes com deportações para as colónias (ou de
Hist-da-Expansao_4as.indd 486 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 487
uma colónia para outra) manteve‑se, mas a abertura de campos de concen‑
tração como o do Tarrafal (1936), no arquipélago de Cabo Verde, eliminou
o perigo de estes se misturarem com o resto da população e se tornarem
elementos «perturbadores» da vida política local. Outras práticas comuns
do autoritarismo salazarista, como a censura ou a politização do sistema
judicial, operavam em pleno nos territórios ultramarinos, onde os «crimes
sociais» ou contra a «segurança do Estado» eram julgados em tribunais espe‑
ciais, em audiências secretas. Na década de 1950, com o avolumar de sinais
de inquietude e revolta em vários pontos do continente africano, o regime
decidiu criar um quadro de funcionários para as colónias (Guiné, Angola e
Moçambique) no âmbito da reorganização da PIDE, para depois promover
a abertura de delegações permanentes em 195714.
Regra geral, o império não foi um terreno fértil para o estabelecimento
daquelas instituições que se tornaram emblemáticas da fase mais «fasci‑
zante» do salazarismo, designadamente as de pendor corporativo (sindi‑
catos, grémios). A circunstância de mais de 95 por cento da população
se encontrar privada do estatuto de cidadania limitava severamente o
alcance dessa transposição normativa, mas os poucos sindicatos nacionais
estabelecidos desde finais dos anos 1930 terão ajudado a gratificar uma
classe operária branca pouco qualificada (através de esquemas de protecção
social e assistência médica), ao mesmo tempo que a punham a salvo de uma
concorrência da mão‑de‑obra africana (em Moçambique, a «carteira profis‑
sional» que dava acesso a ofícios ou ocupações qualificadas era privilégio
dos operários brancos, ao passo que os empregadores da colónia estavam
obrigados a reservar 70 por cento dos postos de trabalho a «nacionais
portugueses»)15.
Embora o assunto careça de investigação mais aprofundada, são escassas
as evidências que apontam para uma adesão expressiva da população branca
de Angola e Moçambique a instituições como a União Nacional ou a Moci‑
dade Portuguesa, o que terá privado as autoridades de instrumentos mais ou
menos fiáveis para auscultar tendências de opinião. Apesar da legislação que
bania as sociedades secretas (1935) ter atingido também as lojas maçónicas
no ultramar, os estratos europeizados que nelas militavam continuariam a
desenvolver alguma actividade à margem do regime, ora de forma clandes‑
tina, ora por via de associações económicas e agremiações sociais, culturais
e recreativas.
Este enquadramento político‑administrativo manteve‑se razoavelmente
estável até finais da Segunda Guerra Mundial, altura em que teria lugar
um primeiro questionamento à viabilidade do modelo instituído pelo Acto
Colonial. A derrota dos projectos imperiais das potências fascistas e mili‑
taristas e a emergência de um novo quadro normativo internacional com
Hist-da-Expansao_4as.indd 487 24/Out/2014 17:17
488 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
implicações para a perenidade do colonialismo europeu persuadiram várias
eminências do regime a encararem a necessidade de se introduzir mudanças
nos quadros organizativos do império. Uma alteração ao nível da semântica
(abandono dos termos «império» e «colónia»), descentralização administra‑
tiva, afrouxamento das restrições impostas à abertura de certas actividades
(nomeadamente as indústrias) e uma maior liberdade comercial para as
colónias foram alguns dos caminhos apontados no 2.° Congresso da União
Nacional, em 1944. Num primeiro momento, as reformas foram pouco
mais do que cosméticas: a revisão constitucional do ano seguinte limitou
‑se a retocar aspectos menores do Acto Colonial, ao passo que a revisão da
Carta Orgânica do Império (1946) implementou, apenas moderadamente,
alguns princípios de descentralização. Em 1951, haveria uma alteração com
um significado mais amplo – e, até certo ponto, ambíguo. No âmbito da
revisão constitucional desse ano, as expressões «ultramar» e «províncias
ultramarinas», com algum lastro «liberal», destronaram a nomenclatura
da «mística imperial».
Aparentemente, Portugal reconciliava‑se com a orientação «assimilacio‑
nista» que muitos alegavam ser, afinal de contas, a pedra‑de‑toque da sua
tradição imperial, pelo menos desde o início de Oitocentos. Essa linguagem
estava igualmente mais em linha com o léxico favorecido pelas potências colo‑
niais europeias, que se haviam travestido com termos como «Comunidade
Britânica» ou «União Francesa». No entanto, tal metamorfose não deixaria
de suscitar algum desconforto e perplexidade. Embora bem recebida nal‑
guns meios oposicionistas (Norton de Matos há muito que vinha falando da
«Nação Una» que resultaria do processo de assimilação dos povos e culturas
das colónias à matriz lusitana), a «viragem» ultramarina vinha consagrar um
modelo integracionista e uniformizador que poderia dificultar a adopção de
uma estratégia mais pragmática e flexível, que algumas figuras do próprio
regime entendiam ser útil manter em reserva, atendendo às novas circuns‑
tâncias internacionais16. Num plano mais imediato, a inversão doutrinária
parecia oferecer algumas vantagens. Através de um acto de alquimia jurídica,
o governo negava a natureza imperial do padrão de relações entre a metrópole
e o ultramar, com isso esperando ganhar um álibi para enfrentar o escrutínio
crítico que aguardaria Portugal assim que fosse possível concretizar a sua
admissão na ONU (situação verificada em 1955).
No entanto, tratava‑se de um passo que poderia expor as contradições da
nova narrativa imperial ou «ultramarina». Se a «assimilação» e a ausência de
categorias diferenciadas para os povos do ultramar eram, em teoria, duas faces
da mesma moeda, então passava a ser difícil defender a congruência entre a
nova estrutura constitucional e a manutenção das leis do indigenato. O que
alguns dos críticos da nova doutrina vinham sublinhar é que, em meados do
Hist-da-Expansao_4as.indd 488 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 489
século xx, as condições de vida das populações do império constituíam um
desmentido inequívoco da retórica que envolvia a «missão civilizacional»
portuguesa. Nos anos seguintes, algumas reformas viriam a demonstrar que,
efectivamente, os proponentes da via assimilacionista não estavam preparados
para ser consistentes com a sua própria lógica. Em 1953, a nova Lei Orgânica
do Ultramar Português deixou praticamente inalterada a configuração admi‑
nistrativa do edifício imperial, limitando‑se a recriar uns conselhos legislativos
nas províncias de «governo‑geral», que, tanto pelo método de eleição dos seus
vogais (um sufrágio altamente restritivo), como pelo âmbito muito limitado
das suas competências, estavam muito longe de poder ser equiparados aos
seus congéneres do Império Britânico, tanto naqueles onde as elites nativas
iniciavam a sua aprendizagem do «modelo Westminster» (as colónias da
África Ocidental), como naqueles onde a hegemonia branca estava firmemente
instalada, a partir de um sufrágio discriminatório da maioria não‑europeia
(algumas das colónias da África Central e Meridional). Se quando comparado
com o modelo britânico o Ultramar português aparecia como uma entidade
fortemente centralizada e verticalizada, face ao seu congénere francês (ele pró‑
prio objecto de uma remodelação por muitos tida como cosmética no rescaldo
do segundo conflito mundial) as diferenças foram‑se tornando relevantes a
partir do momento em que Paris universalizou o sufrágio e pôs termo aos
colégios eleitorais «duais» que estabeleciam uma representação assimétrica
para «colonos» e «nativos» nas assembleias ultramarinas17. Até meados da
década de 1950, a obsessão portuguesa com a ordem e a estabilidade era
vista com alguma tolerância, ou até mesmo ciúme, por parte de alguns dos
seus parceiros coloniais18. Mas com a aceleração das dinâmicas de mudança
imposta pela ascensão do nacionalismo afro‑asiático, a partir de 1955‑1956,
a racionalidade estratégica dessa postura passou a ser alvo de um questiona‑
mento crescente, tanto no âmbito das chancelarias ocidentais, como nos palcos
onde os partidários da descolonização tinham a sua tribuna.
A «nacionalização» das colónias e os seus limites
Entre 1930 e 1960, grosso modo, a subordinação da estratégia imperial aos
imperativos da política metropolitana, ao jogo de equilíbrios que Salazar teve
de promover para garantir a solidez da sua base de sustentação, foi evidente.
No plano da política económica, essa demonstração é relativamente fácil de
fazer. A «comunidade e solidariedade natural» que a legislação e os discursos
oficiais afirmavam ser a pedra angular do relacionamento económico entre a
metrópole e os territórios ultramarinos converteram‑se num eufemismo para
uma reactualização de um regime clássico de «pacto colonial». Vários factores
Hist-da-Expansao_4as.indd 489 24/Out/2014 17:17
490 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
se conjugaram para que as coisas se passassem assim. As regras rígidas do
equilíbrio orçamental adoptadas por Salazar tornavam‑se o alfa e o ómega
de governação económica do império. Por lei, os seus orçamentos teriam
de estar equilibrados, e vários mecanismos visando a poupança ou angariação
de divisas foram implementados. Através de medidas severas de contenção do
crédito, redução do investimento e controlo da despesa com a administração,
a estabilização financeira foi alcançada ao fim de poucos anos19. Nas vésperas
da Segunda Guerra Mundial, colónias como Angola conseguiam já apresentar
excedentes orçamentais na casa dos 40 mil contos por ano20.
Como já se assinalou atrás, alguns dos decretos de saneamento financeiro
prepararam o terreno para uma ampla intervenção do governo que, em
última análise, visava promover uma mais profunda integração económica
do espaço imperial – em linha, aliás, com aquilo que estava a ser feito por
outras grandes potências coloniais europeias. «Autarcia» poderá ser um
termo excessivo para definir as políticas económicas estado‑novistas, mas o
ânimo dos seus governantes era decididamente nacionalista, no sentido de
aproveitar a conjuntura da crise dos anos 1930 para conquistar uma posição
mais vantajosa para os interesses económicos metropolitanos. Em muitos
casos, isto obrigava os consumidores coloniais a terem de adquirir artigos
a preços acima dos praticados no mercado mundial e, não poucas vezes, de
qualidade inferior. Mas o sistema podia também funcionar no sentido inverso.
Ou seja, tanto os produtores como os importadores metropolitanos seriam
obrigados a abastecer‑se de matérias‑primas e artigos coloniais que, mais
tarde, se veria a verificar que poderiam ser adquiridos em condições mais
vantajosas noutros mercados. Por razões fiscais, o governo de Lisboa não
estava em condições de suprimir as taxas aduaneiras no comércio intraim‑
perial, mas uma combinação de controlos cambiais e de preços, quotas,
benefícios pautais e medidas proteccionistas cirúrgicas (e uma boa dose de
propaganda pelo meio) produziu uma animação assinalável nas trocas entre
a metrópole e as colónias.
Em termos de exportações metropolitanas, o jackpot saiu essencialmente
aos têxteis de algodão e ao vinho corrente. Só depois do segundo conflito
mundial é que este padrão se diversificaria ligeiramente, mercê do próprio
desenvolvimento industrial metropolitano, do aumento da população branca,
da gradual urbanização africana e do impulso modernizante que os territórios
ultramarinos iriam conhecer através dos planos de fomento. No tocante às
importações das colónias, a lógica de auto‑suficiência imperial que o regime
desejava estimular levou a que matérias‑primas como o algodão, objecto
de campanhas que visaram torná‑lo uma cultura obrigatória para muitos
camponeses africanos, registassem uma forte progressão, ao ponto de 95 por
cento das necessidades da indústria portuguesa, em 1950, serem satisfeitos
Hist-da-Expansao_4as.indd 490 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 491
por importações oriundas de África21. O caso deste artigo tornou‑se para‑
digmático de muitas das idiossincrasias de um sistema onde critérios de
«racionalidade» económica estavam frequentemente subordinados a visões
ideológicas ou pressões de lobbies. Para tornar o preço do algodão colonial
minimamente atraente face à oferta estrangeira, o governo foi forçado a
adoptar uma política de subsídio de preços aos produtores, remunerando‑os
muito acima das cotações mundiais. Toda a operação era gerida por um fundo
de fomento do algodão, a que estavam igualmente incumbidas várias tarefas
de natureza técnica22. A auto‑suficiência foi conseguida, dentro de um quadro
de estabilidade, mas as queixas dos industriais metropolitanos em relação à
má qualidade do algodão colonial e a frustração por estarem vinculados ao
abastecimento em Angola ou Moçambique tornaram‑se recorrentes. Como
contrapartida, porém, dispunham de um mercado protegido em África (onde
a instalação de fábricas de fiação e tecelagem de algodão estava proibida)
e, a partir de finais da década de 1950, tinham garantido o reembolso da
diferença entre os preços dos mercados colonial e internacional23.
Se Salazar se revelou sensível às agendas dos patrões da têxtil algodoeira
e dos grandes viticultores, a sua postura face a outros sectores implicados na
exporação económica do império (através da navegação, seguros, banca, agri‑
cultura ou minas) não foi menos benévola. No período de entre‑guerras houve
medidas desenhadas para proteger os exportadores coloniais de artigos como
o açúcar, o café, o chá, as oleaginosas, o arroz, e promover – muitas vezes com
carácter compulsório – o respectivo consumo em hospitais, prisões, escolas e
repartições públicas. A política de conceder subsídios especiais a companhias de
navegação foi mantida e, a seguir à Segunda Guerra Mundial, o governo, com
uma posição financeira mais desafogada, envolveu‑se num amplo programa
de renovação da marinha mercante portuguesa, que permitiu a substituição
das embarcações a vapor por novos navios movidos a fuelóleo. No rescaldo da
crise dos anos 1930, esta abordagem orientada para a supremacia dos interesses
metropolitanos terá sido preciosa para a consolidação de alguns dos grupos
que, mais tarde, viriam a dominar a paisagem empresarial do pós‑guerra (CUF,
Champalimaud, Espírito Santo, BPA/Cupertino Miranda), todos eles detentores
de investimentos diversificados no âmbito da economia imperial.24
Este viés nacionalista não era, contudo, incompatível com a procura de
um modus vivendi com o capital estrangeiro. Embora alguns empresários
(sobretudo britânicos) se queixassem das atitudes chauvinistas de um ou
outro governante, isso não nos deve fazer perder de vista o essencial: mesmo
quando na metrópole se aprovaram diplomas relativos à «nacionalização
de capitais» (1943), a situação especial dos investimentos estrangeiros no
império foi sempre atendida25. Algumas das companhias privilegiadas que
melhor simbolizavam o período de «soberania diminuída» de Portugal (as do
Hist-da-Expansao_4as.indd 491 24/Out/2014 17:17
492 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Niassa, Zambézia e Moçambique) não viram a sua concessão renovada
(a última expirou em 1941), mas outras, geralmente apontadas como modelos
de uma exploração capitalista moderna, geradoras de receitas importantes
para o Estado (sob a forma de dividendos, taxas e divisas), quando não
suas credoras, permaneceram de pedra e cal até ao fim do sistema colonial.
Não era segredo para ninguém que sem esse capital, tecnologia e know‑how
vindos do exterior dificilmente os territórios ultramarinos poderiam, em
sectores estratégicos (indústria mineira e, mais tarde, petrolífera), aspirar a
alguma medida de progresso. Assim, para além das facilidades concedidas à
repatriação de lucros, as autoridades portuguesas isentaram as companhias
estrangeiras dos controlos cambiais, mantiveram uma postura assaz coope‑
rante em relação ao fornecimento de mão‑de‑obra e estabeleceram regimes
de culturas obrigatórias para satisfazer as necessidades de algumas firmas
(caso do algodão e da Cotonang em Angola)26.
Por razões eminentemente políticas, os capitais britânicos continuaram
a desfrutar de uma posição cimeira no quadro dos grandes investimentos
estrangeiros no império, pelo menos até finais da Segunda Guerra Mundial.
Através de consórcios como a Diamang, americanos e sul‑africanos tornaram
‑se também parceiros relevantes, ainda antes da atitude de maior abertura ao
investimento estrangeiro ditada pelas guerras coloniais. Mas Salazar desde
sempre evidenciou alguma preocupação em contrabalançar este predomínio
«anglo‑saxónico» facilitando a penetração financeira belga, que entre os anos
1930 e o início da década de 1960 possuiu uma forte expressão em Angola,
nomeadamente na indústria mineira, na produção e refinação de petróleo,
e nas plantações de café e algodão.
Por outro lado, as convenções laborais celebradas com a África do Sul e a
Rodésia em finais dos anos 1920 mantiveram‑se em pleno vigor durante toda
a vigência do Estado Novo, o que reflectia bem a preocupação de Salazar em
não comprar conflitos desestabilizadores com potências estrangeiras, por um
lado, e o seu interesse em poder contar com uma fonte de divisas preciosa
para os equilíbrios financeiros do país, por outro.
Este caso é apenas um de vários que nos ajudam a perceber quais os seg‑
mentos do «bloco colonial» que menos gozaram dos favores do Terreiro do
Paço. De uma maneira geral, os colonos brancos sentiram que a metrópole
lhes foi particularmente madrasta durante as décadas iniciais do Estado Novo.
Os investimentos públicos praticamente cessaram, com isso interrompendo os
grandes planos de infra‑estruturação iniciados sob a República. Em segundo
lugar, as medidas pautais introduzidas em nome da «comunidade e solida‑
riedade de interesses» significaram que algumas exportações das colónias
para a metrópole eram vendidas abaixo dos preços de mercado (ou sujeitas a
restrições quantitativas), ao passo que a rarefacção extrema do crédito tornou
Hist-da-Expansao_4as.indd 492 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 493
a vida impossível a muitos empresários, os quais, na melhor das hipóteses,
conseguiam evitar situações de insolvência apenas graças à entrada de capi‑
tais estrangeiros nas suas companhias. Os que aguentaram o duplo efeito da
depressão mundial e da austeridade extrema de Salazar conseguiriam depois
adquirir um novo fôlego com o boom dos produtos coloniais gerado pela
conjuntura da guerra. Mas essa bonança não os reconciliou com a mãe‑pátria,
pois, apesar de aligeirada, a aplicação da legislação do condicionamento indus‑
trial às colónias continuava a impedi‑los de reinvestir localmente os seus lucros.
A circunspecção de Salazar em relação ao império fez‑se igualmente notar
em matéria de estímulos à fixação de cidadãos metropolitanos em África,
mesmo numa conjuntura em que as portas dos tradicionais destinos da emi‑
gração portuguesa se começaram a fechar. Entre 1933 e 1937, por exemplo,
o saldo de entradas e saídas entre a metrópole e Angola foi sistematicamente
negativo27. Com a sua obsessão pela estabilidade, o ditador não estava interes‑
sado em «exportar» eventuais problemas sociais para as colónias. O império
vivia um compasso de espera, e os modelos de governação e «desenvolvi‑
mento» económico considerados adequados para aquelas circunstâncias impli‑
cavam que os colonos fossem seleccionados de forma mais criteriosa. O ideal
seria que para África seguissem apenas indivíduos com qualificações superiores
e alguns recursos próprios, a fim de se prevenir a formação de uma classe de
destituídos («brancos pobres») nos centros urbanos, vista como uma fonte
de potenciais atritos sociais e raciais. Foi posto termo ao envio de degredados
(1934‑1936), acabaram‑se com os apoios ou incentivos à emigração «livre»
(aliás, «cartas de chamada» passaram a ser exigidas a todos os aspirantes a
colonos desde essa altura) e, até à década de 1950, o Estado pouco ou nada
fez em termos de programas de colonização «organizada» (a única experiên‑
cia desse género foi tentada nas terras concessionadas ao CF de Benguela, na
segunda metade dos anos 1930). Até cerca de 1940, as correntes migratórias
com origem na metrópole continuaram a preferir o Brasil à África e aqueles
que optavam por se fixar no ultramar tendiam, na maioria dos casos, a fugir
dos modos de vida agrários e a procurar ocupações no comércio, nos serviços
e na administração dos principais centros urbanos, trocando assim as voltas
às visões mais ruralizantes da colonização ultramarina.
Fantasia lusitana
Em suma, uma vez neutralizados os principais focos de contestação à sua
autoridade, Salazar preferiu manter o império submetido às apertadas regras
de equilíbrio financeiro que se tinham tornado o emblema da sua governa‑
ção, respeitar escrupulosamente os contratos, tratados e concessões com os
Hist-da-Expansao_4as.indd 493 24/Out/2014 17:17
494 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
investidores e governos estrangeiros, e reservar aos mercados e economias
coloniais um papel fundamentalmente supletivo em relação ao capitalismo
metropolitano. As visões grandiosas dos paladinos da colonização branca
foram adiadas para melhores dias. A existência da censura terá impedido
que o desfasamento entre a retórica e a realidade se tornasse ainda mais
embaraçoso. Mas o regime dispunha ainda de outro trunfo de peso: a pro‑
paganda, domínio em que o Estado Novo se revelou particularmente exímio
na década de 1930, graças à mobilização de um grupo de políticos e intelec‑
tuais particularmente sensíveis ao seu poder. Em vários aspectos, o império
tornar‑se‑ia mesmo um espaço onde ideólogos de vários matizes (incluindo
um certo número de republicanos anti‑salazaristas) projectavam as suas visões
de uma identidade portuguesa cujos traços mais marcantes eram tributários
das tradições e virtudes do mundo rural, do legado da monarquia medieval
e do proselitismo que impelira a nação para a expansão ultramarina28.
Animada por subsídios governamentais ou impulsionada por organismos
como a Agência Geral das Colónias, o Secretariado de Propaganda Nacional,
a Mocidade Portuguesa e a incontornável SGL, uma pequena indústria edito‑
rial dedicada às questões imperiais floresceu nesse período, produzindo toda
a espécie de formatos (desde brochuras sobre os «heróis das campanhas de
ocupação» à banda desenhada para público infanto‑juvenil, ou poemas
de inspiração sebastiânica, como A Mensagem [1934], de Fernando Pessoa,
re‑publicada pela AGC em 1941)29. Ora de pendor mais erudito, ora de
recorte mais popular, um amplo leque de iniciativas alusivas à temática impe‑
rial (conferências, exposições, concursos literários, cortejos, cruzeiros às coló‑
nias, emissões filatélicas) procuraria incutir uma nova «consciência colonial»
nos sectores escolarizados da sociedade metropolitana30. O Ministério da
Educação Nacional foi também convocado para este esforço, ora semeando
referências ao império em selectas e manuais escolares, ora dinamizando
«semanas das colónias» e eventos afins. A um nível mais administrativo,
operou‑se um esforço sistemático para inscrever na toponímia metropolitana
e ultramarina o nome de figuras e episódios históricos evocativos da gesta
imperial (sobretudo navegadores e militares), alguns deles também consa‑
grados na estatuária de vilas e cidades31.
Sem descurar a projecção internacional do império (através de representa‑
ções em feiras, exposições e congressos), o regime pôs de pé dois eventos cuja
repercussão acabaria por transcender o seu carácter efémero – a Exposição
Colonial do Porto (1934) e a Exposição do Mundo Português (1940).
Comissariada por Henrique Galvão, a primeira respondeu a uma solici‑
tação de dirigentes patronais nortenhos (Movimento Pró‑Colónias) e cor‑
respondeu a uma tentativa de levar a cabo uma mise‑en‑scène do império
no coração comercial do país. Realizada nos jardins do Palácio de Cristal,
Hist-da-Expansao_4as.indd 494 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 495
foi apresentada como «uma lição de colonialismo para o povo português»,
na qual se combinava a exibição de representantes das «raças e culturas» do
império (segundo o figurino dos «zoos humanos» que há muito se tornara
uma das atracções clássicas de eventos semelhantes realizados em metrópoles
europeias) com a evocação das «glórias passadas» e das facetas mais emble‑
máticas da moderna acção colonizadora. Uma vasta operação de mobilização
popular foi empreendida pelo Ministério das Colónias, que terá conseguido
que o certame recebesse a visita de 1 milhão e 300 mil pessoas (de acordo
com as estatísticas oficiosas)32.
O segundo evento, concebido com outra escala e ambição, inscrevia‑se
no programa das celebrações do «Duplo Centenário» (da «nacionalidade»
e da «restauração da independência») e tornou‑se um dos momentos‑chaves
na encenação da narrativa nacionalista do Estado Novo, fortemente impreg‑
nada de um imaginário historicista33. Com 3 milhões de visitantes (números
oficiosos), a exposição perdurou na memória de muitos portugueses graças
ao aparato dos seus pavilhões e monumentos e aos cortejos alegóricos coreo‑
grafados por Leitão de Barros. A zona de Belém viu reforçado o seu estatuo
de local icónico por excelência das representações identitárias associadas
ao império, e monumentos perecíveis, como o Padrão dos Descobrimentos,
erguido em gesso, seriam mais tarde reconstruídos em pedra (designada‑
mente em 1959‑1960, para assinalar o quinto centenário da morte do infante
D. Henrique). Na cidade de Coimbra, por iniciativa do médico Bissaya Bar‑
reto, um republicano convertido ao salazarismo, seria também inaugurado
em 1940 um parque «lúdico‑pedagógico» – o Portugal dos Pequenitos – onde
as representações do império possuíam um largo destaque.
Medir a penetração social deste esforço propagandístico é mais proble‑
mático. Se podemos aceitar a ideia de que todas estas iniciativas poderão ter
consolidado entre os estratos mais elitistas o vínculo entre império e identi‑
dade nacional, já a sua aceitação por parte de outras camadas da população
pode suscitar mais dúvidas. Longas‑metragens que procuravam explorar
essa dimensão, invariavelmente com subsídios públicos, como o Feitiço do
Império (1940), Camões (1950) ou Chaimite (1953), alcançaram resultados
de bilheteira modestos (e daí os esforços envidados por organismos do regime
com vista à sua exibição em circuitos não‑comerciais)34, ao passo que na
literatura o imaginário colonial parecia apenas alcançar alguma expressão
significativa em obras infanto‑juvenis e relatos de viagens, em muitos casos
induzidos ou pagos por instâncias oficiais. Nos anos 1950, responsáveis
governamentais continuavam a queixar‑se da fraca ou nula atenção que os
principais jornais metropolitanos dispensavam às colónias, queixa que podia
ser igualmente extensiva aos órgãos de rádio e, mais tarde, à televisão estatal
(inaugurada em 1957). Sem turismo ou emigração de massas para as colónias,
Hist-da-Expansao_4as.indd 495 24/Out/2014 17:17
496 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
uma presença limitada dos artigos coloniais nos hábitos de consumo metro‑
politanos, e um recrutamento militar ainda muito orientado para a defesa
das fronteiras europeias (situação apenas alterada nos anos 1950, em virtude
da necessidade de reforçar o dispositivo de defesa do Estado da Índia), o que
significaria afinal o império para grande parte da população portuguesa?
Uma «assimilação selectiva»?
Afirmando‑se como uma alternativa ao legado «desacreditado» do libe‑
ralismo, um regime autoritário e corporativo como o Estado Novo estava à
partida mais vocacionado para acentuar a vertente hierárquica e discriminató‑
ria da legislação referente ao estatuto das populações ultramarinas, afastando
os últimos escrúpulos humanitários que ainda assomavam na governação
republicana. A ideia de uma assimilação progressiva não era posta de parte
(esse era, afinal, um dos mitos úteis da cultura colonial lusa), mas a fronteira
entre a «política indígena» portuguesa e as práticas segregacionistas de outras
sociedades coloniais tornava‑se mais ténue. Como já vimos, da fase inicial da
Ditadura Militar Salazar herdou a promulgação do Estatuto do Indigenato
para Angola e Moçambique (1926), depois extensível à Guiné e aos territórios
das companhias privilegiadas em 1929, e o Código do Trabalho Indígena
(1928). A legislação era omissa quanto às restantes colónias, até que em
1946 se deu uma clarificação: Cabo Verde, Estado da Índia e Macau eram
declarados isentos do indigenato, mas este era formalmente consagrado em
São Tomé e Príncipe e Timor (retiradas da lista em 1954).
Juntamente com outras disposições jurídicas contidas no Acto Colonial
e em diplomas como a Carta Orgânica do Império ou a Reforma Adminis‑
trativa Ultramarina, os pilares fundamentais do sistema de política indígena
foram estabelecidos na «fase imperial» da política colonial estado‑novista e,
tirando alguns retoques em 1954, altura em que as normas relativas à aqui‑
sição da cidadania portuguesa foram uniformizadas (e não necessariamente
num sentido mais liberal), eles permaneceriam de pé até 1961. O historiador
Douglas Wheeler refere o princípio da «assimilação selectiva» como o con‑
ceito estruturante desse sistema. No essencial isso significava tratar o indígena
como «um elemento juridicamente diferenciado da população»35 e pôr de
lado a ideia de que a sua elevação ao «grémio da civilização» pudesse ser
uma etapa percorrida ao fim de poucos anos. Consolidava‑se assim o sistema
de «cidadania dual» que sucessivas leis e códigos jurídicos haviam ajudado a
institucionalizar desde finais do século xix, e para o qual os critérios raciais e
culturais eram determinantes. Até à década de 1960, o indigenato continuou
a ser sinónimo de sujeição a modalidades de trabalho compulsivo, sempre
Hist-da-Expansao_4as.indd 496 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 497
apontado como um imperativo moral irrecusável das populações «atrasadas».
Dentro do respeito pelos seus «usos e costumes», assumia‑se o compromisso
com a compilação de um direito consuetudinário nativo (desde que não ferisse
«princípios humanitários elementares»), que depois lhes seria ministrado
através de tribunais próprios (presididos por magistrados ou administradores
portugueses, mas assessorados por «juízes auxiliares» nativos). A prática,
porém, esteve longe de reflectir estas disposições. Por intenção deliberada, ou
simples inércia, o poder colonial nunca patrocinou um programa sistemático
de codificação de «usos e costumes» das populações autóctones, nem se pode
dizer que se tenha esforçado para fazer do bem‑estar destas o desígnio efectivo
da sua acção colonizadora36.
Testemunhos de vária ordem continuaram a atestar o transporte regular
de «serviçais» angolanos para as roças e plantações de São Tomé e Príncipe
(até aos anos 1940, pelo menos), a manutenção de modalidades de trabalho
compulsivo, expropriações de terras, e tolerância com situações de abusos
e maus tratos (incluindo castigos corporais). Funcionários das companhias
concessionárias e da administração colonial, bons conhecedores das ini‑
quidades dos processos de recrutamento de mão‑de‑obra e dos seus efeitos
desestruturantes nas comunidades africanas, pregavam frequentemente uma
abordagem mais benevolente, apelando ao interesse próprio das autoridades,
mas as suas sugestões só começariam a ser levadas mais a sério na década
de 1950, quando os riscos de um escândalo internacional envolvendo essas
condições começaram a tornar‑se reais37.
Proceder à identificação concreta dos «indígenas» era uma incumbência
dos agentes da administração colonial, os quais deveriam também supervi‑
sionar as passagens à condição de «assimilado». Nos anos 1930, em Angola,
este estatuto podia ser adquirido quando um africano satisfazia as seguintes
condições: «1.ª ter abandonado inteiramente os usos e costumes da sua raça;
2.ª falar, ler e escrever correctamente a língua portuguesa; 3.ª adoptar a mono‑
gamia; e 4.ª exercer profissão, arte ou ofício compatível com a civilização
europeia ou ter rendimentos obtidos por meios lícitos que sejam suficientes
para prover aos seus alimentos, compreendendo sustento, habitação, vestuá‑
rio para si e sua família»38.
Esta «política da diferença» inscrevia‑se, em termos de inspiração, na visão
etnocêntrica radical que desde finais do século xix se tornara o «senso comum
imperial». Mas até à Segunda Guerra Mundial, com o racismo biológico e as
ideias eugenistas a gozarem de uma ampla audiência nos círculos políticos,
universitários e científicos do Ocidente, a apologia de uma visão mais «filan‑
trópica» da aculturação dos africanos experimentou grandes dificuldades em
se afirmar. Sendo a escolarização uma das vias admitidas para promover essa
aculturação, as autoridades coloniais fizeram uma interpretação minimalista
Hist-da-Expansao_4as.indd 497 24/Out/2014 17:17
498 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
do seu «mandato civilizacional», preferindo apostar noutras modalidades
para resgatar os indígenas do seu atraso, como o trabalho compulsório ou
o pagamento do imposto. A educação reservada para os nativos vinculados
ainda a quadros comunitários «primitivos» consistiria num ensino sumário
destinado a levá‑los a abandonar hábitos de «ociosidade» e «indolência» e
a facultar‑lhes as competências necessárias à sua transformação em artífices
diligentes ou disciplinados trabalhadores rurais39.
Até bastante tarde, essa tarefa esteve largamente adjudicada às missões
católicas, subsidiadas pelo Estado, que geriam uma rede de escolas‑oficinas
onde o primeiro contacto com os conceitos elementares da «civilização» se
combinava com uma sensibilização para a mensagem cristã, podendo tam‑
bém muitas delas ministrar um «ensino primário rudimentar». Este consistia
numa versão simplificada dos conteúdos comuns a esse nível de escolaridade
(língua portuguesa, operações de aritmética elementares, noções de história e
geografia) à qual não estava alheia uma forte ênfase numa preparação prática
(trabalhos manuais, noções de higiene) e doutrinária (apologia do patriotismo
e do Catolicismo)40. A situação privilegiada de que o ensino católico desfru‑
tava – consagrada pelo Acordo Missionário (1940), celebrado praticamente
em simultâneo com a Concordata com a Santa Sé – não era, todavia, incom‑
patível com uma realidade escolar mais multifacetada em algumas colónias,
onde escolas corânicas e protestantes, e outros estabelecimentos de ensino
laico, também tinham o seu lugar – em muitos casos, produzindo um impacto
muito significativo na criação de novas elites assimiladas (como os Ovim‑
bundos dos planaltos centrais angolanos, muito assistidos por sociedades
missionárias norte‑americanas)41.
No entanto, e se as sempre falíveis estatísticas coloniais nos podem dar
pelo menos uma ordem de grandeza, forçoso é concluir‑se que, em finais dos
anos 1950, o panorama era muito pouco lisonjeiro para as pretensões portu‑
guesas, quando comparado com indicadores congéneres de outros impérios
coloniais. Em 1956, por exemplo, apenas 1 por cento da população africana
de Angola em idade escolar frequentava um qualquer estabelecimento de
ensino, em contraste com os 11 por cento da Rodésia do Norte (actual
Zâmbia), uma colónia onde as autoridades britânicas não tinham qualquer
intenção de «assimilar» a população indígena42.
Mais a mais, a posse de habilitações literárias não era suficiente para
carimbar o passaporte para a cidadania. A exigência relativa ao exercício
de uma profissão e à capacidade de sustentar a família revelava‑se, em vir‑
tude de uma série de práticas discriminatórias, um obstáculo frequentemente
intransponível para os «destribalizados» considerados elegíveis para transita‑
rem para um novo estatuto. Se a isto somarmos o facto de a aquisição da cida‑
dania poder implicar obrigações fiscais mais pesadas (um «imposto europeu»
Hist-da-Expansao_4as.indd 498 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 499
mais oneroso do que uma «taxa pessoal anual»), então é fácil perceber por
que eram raros os candidatos à assimilação nas colónias portuguesas43.
Para além da persistência de certos atavismos ideológicos, um factor muito
tangível encorajava o extremo «gradualismo» desta política de assimilação
selectiva. Tal como noutros contextos imperiais, o sistema de exploração
colonial português continuava a não prescindir do emprego em grande escala
da mão‑de‑obra africana barata, se não mesmo gratuita. Muito embora o
Código Laboral de 1928 possa ser visto como uma resposta às pressões
emanadas de vários meios internacionais (sobretudo os ligados à Organi‑
zação Internacional do Trabalho, OIT), tendo para esse efeito suprimido a
«obrigatoriedade legal» do trabalho para os indígenas para fins privados,
a verdade é que dificilmente ele poderá ser equacionado como um marco no
sentido da «humanização» das condições de vida das populações subme‑
tidas ao indigenato. Como já havia sucedido noutras circunstâncias, tudo
não terá passado de uma mudança semântica. Ao manter uma referência à
«obrigatoriedade moral» de os indígenas procurarem trabalho para cumpri‑
rem os seus deveres fiscais, a lei abria a porta para toda a espécie de novas
servidões. Através de uma rede razoavelmente densa de sipaios e chefes
colaboradores, de instrumentos como a «caderneta indígena» (um registo
das obrigações fiscais e laborais de qualquer adulto africano) e daquilo que
James Duffy designou de um «aparato informal de terror»44, o trabalho
compelido continuava ser um dos esteios dos modos de produção coloniais
e, como alguns autores têm notado, um travão à emergência de uma classe
assalariada proletarizada que pudesse comprometer os «modos de produ‑
ção domésticos» (associados à produção agrícola camponesa), vitais para
a capacidade exportadora de várias colónias45. Isto não obstante a sangria
demográfica que essa pressão acabava por causar, ora por via do encurta‑
mento da esperança de vida dos africanos, ora por via da emigração clan‑
destina para territórios vizinhos – problemas amplamente sublinhados em
relatórios produzidos por funcionários coloniais, como aquele que estaria na
base da cisão de Henrique Galvão com o regime, em finais dos anos 194046.
Aparentemente, nem mesmo a recessão mundial na década de 1930 terá
proporcionado alguma folga aos potenciais recrutas, a fazer fé nalgumas
pesquisas mais recentes47. Durante o segundo conflito mundial, o boom das
cotações de vários artigos coloniais fez com que os engajadores de mão‑de
‑obra batessem de forma sistemática as zonas mais densamente povoadas
de alguns territórios (ao ponto de, em 1942, circulares dos governadores de
Angola e Moçambique terem reintroduzido o trabalho legal obrigatório nas
respectivas colónias)48. Por outro lado, o empenho dos governantes do Estado
Novo em proporcionar matérias‑primas baratas a alguma indústria metro‑
politana, ou a sua fixação em metas de auto‑suficiência alimentar, abriram
Hist-da-Expansao_4as.indd 499 24/Out/2014 17:17
500 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
caminho à generalização das «culturas obrigatórias» (algodão, arroz), política
umbilicalmente ligada às práticas de trabalho forçado.
Em territórios como Moçambique, estes projectos chegaram a vincular
800 mil camponeses na Segunda Guerra Mundial à cultura do algodão e
100 mil à do arroz na década de 195049, que se viam forçados a comercializar
as suas colheitas de acordo com os preços baixos fixados pelos organismos
governamentais. Geralmente detestadas pelos africanos, as campanhas agrí‑
colas levadas a cabo nas «zonas de influência» das grandes concessionárias
eram também experiências de modernização agrária, com uma forte dimensão
de «engenharia social»50. Este tipo de concentrações forçadas de popula‑
ções reflectia igualmente a clássica preocupação salazarista em controlar o
mais possível as perturbações inerentes à modernização de uma sociedade
agrária tradicional. Mais imaginados do que concretizados, será sobretudo
a partir da década de 1950 que um conjunto de emblemáticos projectos de
colonização agrária dirigida arrancaria em regiões como o vale do Limpopo,
em Moçambique, e na Huíla e Cunene, em Angola, nos quais camponeses
africanos e colonos europeus (nunca em pé de igualdade em termos de dis‑
tribuição de terras ou acesso a outras amenidades e serviços) beneficiavam
do aconselhamento de peritos agrários, assim como da assistência religiosa,
médica e educativa proporcionada pelas autoridades51.
A expansão e crescente sofisticação dos mecanismos de vigilância e con‑
trolo do Estado colonial (e de algumas companhias privilegiadas ainda em
operação), a neutralização dos últimos focos de resistência nativa (a última
campanha de pacificação contra as populações pastoris do Sul de Angola
teria lugar em 1941) e algumas concessões pontuais às antigas associações
de assimilados (como a Liga Nacional Africana ou a Associação Africana
de Moçambique) criaram uma falsa ilusão de paz e estabilidade em África
e noutras partes do império. Manifestamente, não parece que a retórica
paternalista da administração colonial, a sua ênfase numa colonização guiada
por métodos mais «científicos» e a arregimentação da Igreja Católica para
uma obra de «renacionalização» imperial tenham conquistado a gratidão
da maioria dos súbditos coloniais em relação à tutela europeia. Para muitos
deles, o poder colonial era fundamentalmente sinónimo de impostos elevados,
engajadores de mão‑de‑obra impiedosos, funcionários venais, chefes corrup‑
tos e comerciantes desonestos. O êxodo contínuo de centenas de milhares de
camponeses africanos da Guiné, Angola e Moçambique para colónias vizinhas
durante os anos 1940, ou a adesão expressiva a movimentos de teor profético
e messiânico (como o tocoísmo no Norte de Angola), atestavam um mal‑estar
surdo. Ao nível dos estratos «assimilados» (e também de um número signi‑
ficativo de brancos nascidos nas colónias), as limitadas oportunidades que o
sistema imperial lhes reservava, tanto a nível educativo como profissional e
Hist-da-Expansao_4as.indd 500 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 501
até empresarial, acentuaram um sentimento de alienação que remontava em
muitos casos a finais de Oitocentos. Significativamente, em 1952 um grupo de
mais de 500 angolanos negros fez chegar uma mensagem às Nações Unidas na
qual repudiavam a soberania portuguesa e reivindicavam o estabelecimento
de um protectorado temporário dos EUA sobre Angola52.
Aqueles que conseguiram reunir os meios para completar a sua educa‑
ção na metrópole (a abertura de universidades nas colónias foi adiada até
meados dos anos 1960, por se temer que isso pudesse encorajar «tendências
separatistas») encontraram em instituições como a Casa dos Estudantes do
Império (fundada em 1944‑1945, sob os auspícios da Mocidade Portuguesa),
e depois o Centro de Estudos Africanos (constituído em 1954 e integrado
sobretudo por mestiços e negros), ou o Clube Marítimo (uma associação
de marinheiros africanos que funcionava como célula do PCP), plataformas
de socialização política e cultural que o regime nunca conseguiu controlar.
Vários acabariam por ingressar nas fileiras de uma oposição anti‑salazarista
reanimada pela derrota dos fascismos em 1945, e daí à ruptura com o velho
paradigma «assimilado» (melhorar a posição dos africanos no âmbito do
sistema colonial) foi um pequeno passo. Outros, como os moçambicanos
Marcelino dos Santos e Eduardo Mondlane, seguiram um percurso mais
cosmopolita, efectuando os seus estudos em França, África do Sul e Estados
Unidos. De acordo com Patrick Chabal, para estas elites ideologicamente
«progressistas» a emancipação começava a ser sinónimo de um divórcio
com a potência colonizadora, desejavelmente seguido pela construção de um
Estado‑nação moderno, segundo um modelo europeu de matriz ocidental ou
socialista53. A contestação politicamente organizada ao regime colonial, porém,
não seria apenas apanágio destes movimentos. Ela foi igualmente articulada
por grupos que, na esteira da tipologia do mesmo autor, se poderão designar
de «tradicionalistas» – gente mais ligada ao mundo rural, às estruturas de
poder tradicionais (clãs, linhagens) e suas autoridades, menos tocada pelas
vicissitudes da «modernização», ou com uma menor exposição ao sistema de
valores promovido pelo poder colonial e seus agentes54. Nos anos 1940 e 1950,
a intensificação das pressões sobre a mão‑de‑obra africana, particularmente
em certas zonas de Angola, multiplicaria os focos de tensão entre estas elites
mais tradicionalistas e as autoridades coloniais portuguesas, preparando o
terreno para a explosão de violência do início da década seguinte.
Estratégias de adaptação
Seja como for, e por comparação com o sucedido noutros espaços impe‑
riais, o impacto político da segunda guerra foi menos evidente nas colónias
Hist-da-Expansao_4as.indd 501 24/Out/2014 17:17
502 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
portuguesas. Ao contrário do sucedido em locais como a Argélia, Senegal,
Madagáscar, a Indochina, a Malásia ou as Índias Orientais Holandesas, as
autoridades salazaristas em África foram poupadas a greves ou protestos
de massas ou insurreições armadas55. Na Ásia, porém, o grande sobressalto
político que atravessava várias regiões desferiu um primeiro abalo na atitude
complacente dos Portugueses. Em Junho de 1946, a cidade de Margão, em
Goa, seria palco de um comício animado por figuras ligadas ao Partido do
Congresso Indiano e nacionalistas goeses partidários da fusão dos territórios
portugueses com o Estado que viesse a emergir da dissolução do Raj britânico.
Era o início de uma longa e atribulada confrontação política entre o Estado
português e as forças nacionalistas indianas, que em pouco mais de uma
década culminaria na deposição violenta da soberania lusa no subcontinente56.
Perante as injunções da União Indiana, Salazar enveredou por uma argu‑
mentação que em breve se tornaria clássica. O governo português não tinha
nada a negociar porque a sua Constituição proibia expressamente quaisquer
alienações de parcelas da «mãe‑pátria» (argumento reforçado com a revisão
constitucional de sentido integracionista de 1951); Goa e os restantes terri‑
tórios veriam a sua identidade cultural e religiosa hipotecada se quebrassem
os laços com Portugal; e os interesses do «Ocidente» dificilmente ficariam
salvaguardados mediante um apaziguamento do nacionalismo anticolonial.
Num plano mais táctico, qualquer concessão política realizada aos contesta‑
tários seria também indesejável, pois isso não poderia senão ser interpretado
como um sinal de hesitação e fraqueza. Para além do contra‑senso que seria
um regime autoritário pensar em reformar o império através de concessões
à autodeterminação, Salazar parecia acreditar que quaisquer medidas desse
género apenas poderiam, na melhor das hipóteses, fazer a potência colonial
ganhar algum tempo; na pior, desencadeariam uma escalada reivindicativa
que colocaria graves riscos à soberania portuguesa noutras paragens. No caso
concreto de Goa, o aprofundamento da via integracionista tornou ainda
mais improváveis eventuais cenários de «saída honrosa», equivalentes, por
exemplo, aos negociados pela República francesa em relação a Pondicherry
e outros enclaves seus na União Indiana. Em 1956, depois de um périplo
pelo Estado Português da Índia, o geógrafo Orlando Ribeiro, à época ainda
um crente nas virtualidades de um projecto imperial reformado, enviou a
Salazar um relatório que não deixava grandes ilusões acerca do grau de
enraizamento da língua e cultura portuguesas em Goa (o que tornaria ainda
menos apelativo qualquer cenário de um potencial plebiscito)57. De forma
muito tardia, o governo procurou intensificar programas de obras públicas,
elevar os índices de bem‑estar da população e tirar mais partido de algu‑
mas matérias‑primas locais. Porém, nada disto foi acompanhado por uma
reforma política que permitisse, pelo menos, delegar mais responsabilidades
Hist-da-Expansao_4as.indd 502 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 503
aos estratos locais que tradicionalmente se mantinham próximos do Estado
colonial e das instituições e cultura da potência imperial (o governador, por
exemplo, permaneceu sempre um militar designado por Lisboa).
Em 1954, o ano da débâcle francesa na Indochina, militantes satyagraha
romperam o dispositivo de segurança das autoridades portuguesas e ocuparam
os enclaves de Dadrá e Nagar Aveli. O episódio pôs a nu a vulnerabilidade do
império de várias maneiras. Por um lado, deixou bem claro que um território
como o «Estado da Índia» era totalmente indefensável sob o ponto de vista
militar. Por outro, demonstrou que, mesmo bem inserido no sistema de alianças
ocidental forjado no início da Guerra Fria, Portugal muito dificilmente poderia
contar com a solidariedade e apoio dos seus principais aliados. Nesse ano,
ao sondar o apoio de Londres para uma eventual assistência (diplomática ou
logístico‑militar) para enfrentar um ataque que se supunha iminente a Goa e
aos restantes territórios, Salazar tomou conhecimento de que as autoridades
britânicas consideravam a aliança com Portugal inaplicável naquele contexto:
para o governo de Sua Majestade estava fora de questão tomar partido numa
disputa na qual um membro da Commonwealth se encontrava directamente
implicado58. Esta reacção deve ter convencido Salazar de que quaisquer ten‑
tativas de organizar uma defesa efectiva de Goa seriam inúteis e perigosas.
Em finais dos anos 1950, com a situação em África já a inspirar algum cui‑
dado, os planos militares do território foram revistos e os meios que passaram
a estar afectados à guarnição local proporcionariam, quanto muito, uma
defesa simbólica. No fundo, tratava‑se de montar uma espécie de charada: o
governo fazia o mínimo para ser visto a defender Goa e, num cenário mais
optimista, esperava que Nehru continuasse a adiar uma prova de força para
não hipotecar as suas credenciais de estadista campeão da não‑violência. Era
um cálculo que, na melhor das hipóteses, salvaria algumas aparências, mas
arriscava abrir um foco de tensões entre o poder político e as Forças Armadas,
caso os seus pressupostos viessem a ser desmentidos pela realidade.
As restrições ideológicas a uma atitude acomodatícia face à emergência
de um nacionalismo mais militante na Ásia fizeram‑se igualmente notar em
finais da década de 1940, aquando da vitória das forças de Mao Zedong
na guerra civil chinesa. Contrariamente à postura britânica, que optou por
reconhecer o governo da República Popular da China, na esperança de
poder iniciar um diálogo com o regime maoista e, dessa forma, controlar
os danos resultantes de uma mudança tida por irreversível no «Império do
Meio», Salazar preferiu seguir a linha norte‑americana e evitou juntar‑se
àqueles países que optaram por encetar relações com o novo poder chinês59.
O empenhamento norte‑americano na defesa de uma série de posições e
regimes pró‑ocidentais na Ásia Oriental e, pouco depois, a eclosão da Guerra
da Coreia vieram de alguma forma salvar enclaves coloniais como Macau
Hist-da-Expansao_4as.indd 503 24/Out/2014 17:17
504 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
e Hong Kong. Em consequência, a gestão da vizinhança do estabelecimento
português no rio das Pérolas com as autoridades comunistas chinesas tornou
‑se um assunto imensamente delicado e complexo.
As relações com estas eram conduzidas através de intermediários recruta‑
dos entre homens de negócios com ligações privilegiadas com Pequim. A partir
do momento em que a China Vermelha se viu sujeita a um embargo estraté‑
gico formalizado pelos Norte‑americanos, a colónia portuguesa encontrava
um novo, e paradoxal, papel – o de servir de veículo para um contrabando
tolerado de produtos que figuravam na lista de um embargo teoricamente
subscrito por Portugal. Durante décadas, foi esta situação semicaricata que
constituiu a chave da longevidade da soberania portuguesa em Macau. Atra‑
vés do território português (e de Hong Kong), uma China empobrecida e, a
partir do início de 1960, em rota de colisão com a URSS acedia a um conjunto
de matérias‑primas, tecnologia e serviços financeiros, o que lhe permitia ate‑
nuar os efeitos do cerco montado pelos EUA. Em troca, Portugal mantinha
a ficção da soberania pluricontinental inegociável.
Este modus vivendi, claro está, não estava imune a sobressaltos. Em momen‑
tos de maior tensão (particularmente durante a Guerra da Coreia), os Norte
‑americanos impacientaram‑se com a vista grossa feita pelos Portugueses ao
tráfico ilícito de mercadorias para a província de Cantão e colocaram Lisboa
sob forte pressão. Pela sua parte, os comunistas chineses não se podiam
dar ao luxo de parecerem indiferentes às críticas que de vários quadrantes
chegavam à sua contemporização com um «poder colonial fascista» como
o português. A situação tendia a agravar‑se quando governadores menos
cientes das subtilezas que a precária posição portuguesa exigia empreendiam
iniciativas ofensivas para o amor‑próprio chinês, como a mal‑sucedida ten‑
tativa de comemoração dos 400 anos da fundação da «colónia», em 1955,
precisamente o ano da Conferência Afro‑Asiática de Bandung. Para além dos
potenciais equívocos que a falta de canais de comunicação directa propiciava,
os Portugueses tinham também de lidar com pinças com os seus interlocutores
com a China comunista, os quais desfrutavam de uma posição preponde‑
rante na economia do território, particularmente nos seus monopólios mais
apetecíveis ligados ao jogo. Vistas bem as coisas, a ditadura tradicionalista
católica de Salazar não terá destoado assim tanto dos seus predecessores na
maneira como procurou gerir os arranjos e equilíbrios que viabilizavam a
presença portuguesa em Macau, uma caminhada no fio da navalha entre o
exercício da autoridade colonial e os compromissos que os poderes fácticos
do território frequentemente lhe exigiam.
Como já assinalámos, a noção de que as transformações sistémicas, tanto
no plano estratégico como numa vertente mais normativa e ideológica, propi‑
ciadas pelo desfecho da Segunda Guerra Mundial se iriam de alguma forma
Hist-da-Expansao_4as.indd 504 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 505
repercutir no Império Português não escapou às classes dirigentes do Estado
Novo. Em bom rigor, muitas das iniciativas que se desenvolveram entre 1945
e 1960 estavam em linha com as estratégias de revitalização e modernização
imperial empreendidas por outras potências europeias, muito embora com
nuances significativas no caso português. Apesar das independências ocorri‑
das na Ásia se terem revestido de um poderoso simbolismo, a generalidade
dos governos metropolitanos não contemplava proceder à liquidação dos res‑
pectivos aparatos coloniais num horizonte temporal curto. Economicamente
debilitadas (e financeiramente arruinadas), as potências europeias encaravam
essa fragilidade como um estímulo não para se livrarem de um «fardo», mas
para «redimensionarem» e optimizarem os seus impérios60.
Em Londres, Paris, Bruxelas e Haia, muitos dos territórios ultramarinos
foram encarados como potenciais geradores de divisas fortes, através do incre‑
mento da sua capacidade exportadora, e fontes de matérias‑primas baratas
para sectores industriais‑chaves. A hora da «segunda ocupação colonial»
tinha chegado. Na Grã‑Bretanha, o ministro trabalhista dos Estrangeiros,
o antigo líder sindical Ernest Bevin, equacionou a hipótese de o seu país
liderar uma espécie de «terceira força» no palco internacional, uma coliga‑
ção de potências europeias com os seus apêndices imperiais (os formais e
os informais), que mudaria o figurino da paisagem geopolítica da nascente
Guerra Fria (esse desígnio seria abandonado em finais dos anos 1940, devido
à situação de pré‑bancarrota britânica, mas Salazar continuou convencido
dos méritos da ideia, pelo menos até à débâcle do Suez em 1956).
Para Franceses, Belgas e Holandeses, a rendibilidade económica do império
era importante, mas este estava investido de um propósito adicional: contri‑
buir para a reabilitação de um prestígio nacional abalado pelas humilhações
da guerra, que em vários casos haviam atingido com especial dureza as Forças
Armadas e outros sectores da administração61. De notar, porém, que este
novo élan imperial dificilmente teria condições para singrar se entretanto não
tivessem surgido condições estratégicas auspiciosas. O colapso da «Grande
Aliança» e o endurecimento do clima de desconfiança entre Americanos
e Soviéticos entre 1945 e 1947 levou Washington a abandonar o ânimo
anticolonial que distinguira a postura do presidente Roosevelt e a aceitar a
ideia de que as independências teriam de ser preparadas de forma cautelosa,
para evitar que os candidatos nacionalistas à sucessão nos estados coloniais
fossem suplantados por forças de inspiração comunista (por essa razão, a
Holanda encontrar‑se‑ia sob forte pressão para chegar a um compromisso
com Sukarno, encarado como o melhor antídoto contra a penetração comu‑
nista no território).
Pela sua parte, a URSS estava longe de pretender fazer do mundo colonial
uma área de intervenção prioritária: as preocupações de Estaline estavam
Hist-da-Expansao_4as.indd 505 24/Out/2014 17:17
506 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
fundamentalmente concentradas na consolidação da esfera de influência
soviética na Europa Central e de Leste, e não em partes tidas como ainda
pouco relevantes, em termos de «potencial revolucionário», como eram as
colónias africanas e algumas asiáticas. Dispondo de uma maioria confortá‑
vel na recém‑constituída Organização das Nações Unidas (ONU), as velhas
potências coloniais sentiam‑se suficientemente confiantes para enfrentar o
questionamento moral à sua hegemonia.
A sua resposta assumiu duas facetas principais. Uma foi a ênfase no
«desenvolvimento» e no «bem‑estar» das populações coloniais, o que cor‑
respondia à aceitação de que essa seria, porventura, a principal bitola para
avaliar a legitimidade da empresa imperial (em linha com o clássico conceito
de trusteeship). Através de programas de fomento rural e melhoramentos
materiais, elaborados com o concurso de vastas equipas de peritos, técnicos
e administradores, procurava‑se promover uma modernização acelerada dos
territórios mais negligenciados pelo investimento metropolitano, desempe‑
nhando aqui um papel de relevo os apoios e financiamentos norte‑americanos.
O «capital humano» também não foi esquecido, não obstante o enviesamento
que muitos planos de investimento evidenciavam no sentido de incrementar
sobretudo os sectores económicos mais orientados para a exportação (nomea‑
damente as matérias‑primas classificadas de estratégicas para o esforço militar
do Ocidente). Ao cabo de poucos anos, porém, o balanço que era possível
fazer deste afã do Estado colonial tardio era ambivalente. Algumas realiza‑
ções eram impressivas e sem dúvida que os índices de «qualidade de vida» de
largos estratos das populações nativas melhoraram significativamente, mas
muitos projectos de desenvolvimento mexeram com equilíbrios ecológicos e
práticas camponesas ancestrais. Em vários casos, o crescimento urbano desor‑
denado, com as suas extensas periferias de habitações precárias e insalubres,
produziu novas formas de alienação e segregação social62.
A outra faceta deste reformismo imperial era mais política. Tratava‑se
de encontrar novos «colaboradores» ou «parceiros» para o poder colonial.
As autoridades «tradicionais» (chefes, sobas, magnates, emires, príncipes,
marajás) já não podiam desempenhar esse papel, pelo menos em exclusivo.
Era preciso encontrar novos interlocutores entre os novos grupos e movimen‑
tos sociais que estavam a emergir no contexto das sociedades coloniais em
transformação – mais urbanizadas, escolarizadas e conectadas com o resto do
Mundo. Essas lideranças encontravam‑se, preferencialmente, entre os estratos
mais educados da pequena burguesia urbana que evidenciavam maior capa‑
cidade para articular reivindicações através da imprensa, sindicatos e outras
organizações da «sociedade civil». Seriam estes elementos que poderiam ser
capacitados e treinados para, gradualmente, irem assumindo responsabilida‑
des no aparato administrativo colonial – pelo menos, nos territórios onde o
Hist-da-Expansao_4as.indd 506 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 507
elemento europeu fosse residual. Naqueles onde núcleos de colonos brancos
eram expressivos, ou onde movimentos armados suscitavam o espectro de
uma influência comunista, este processo planeado de transferência de pode‑
res revelou‑se muito mais complexo e acidentado, geralmente com guerras
coloniais ou de «contra‑insurreição» que se arrastaram por vários anos e
deixaram sequelas profundas (Argélia, Malásia, Quénia, Rodésia). Apesar
de nos centros de decisão ocidentais prevalecer ainda a ideia de uma tutoria
prolongada de uma boa parte dos territórios coloniais (sobretudo dos afri‑
canos), até estarem reunidas as condições para a independência, a partir de
finais dos anos 1950, muitos responsáveis estavam já a imaginar um desfecho
alternativo. Melhor «sair com honra», ainda que «prematuramente», do que
deixar acumular ressentimentos entre os sectores mais bem posicionados para
um futuro pós‑colonial. Nesse sentido, os calendários das independências
poderiam ser encurtados e os termos da relação pós‑imperial acertados de
forma vantajosa para os interesses das antigas metrópoles e do Ocidente –
«partir pour mieux rester» tornou‑se uma das fórmulas emblemáticas desta
nova abordagem, muito encorajada pela superpotência americana63.
A preocupação com o «desenvolvimento colonial» também figurou na
agenda dos políticos e reformadores portugueses. Ainda na década de 1940,
durante a passagem de Marcelo Caetano pela pasta das Colónias (1944
‑1947), surgiu a ideia de transformar a Guiné numa espécie de laboratório
de experimentação de novos métodos e abordagens em matéria de política
colonial, mais orientados para um aproveitamento científico e racional dos
territórios e para uma elevação dos padrões de «bem‑estar» dos nativos.
Sarmento Rodrigues, um oficial da armada que nas décadas seguintes per‑
correria importantes cargos imperiais (incluindo o de ministro das Colónias),
foi o governador incumbido de dar corpo a essa «nova escola de política
ultramarina», desígnio que não deixaria de render alguns frutos, a avaliar
pelos discípulos que na sua relativamente curta estadia conseguiu criar64.
A preocupação com o incremento de uma «massa crítica» de cientistas,
técnicos e peritos vocacionados para um estudo aplicado das realidades
ultramarinas ficou patente com a remodelação da Junta de Investigações
Coloniais em 1945 e pela muito assinalável expansão dos seus quadros,
missões e interfaces académicos e político‑institucionais.
Nas décadas seguintes, um conjunto importante de cientistas de várias
áreas do conhecimento seria mobilizado para os grandes desafios da moder‑
nização colonial, segundo uma agenda que até bastante tarde deu primazia
às necessidades de uma maximização dos ganhos económicos que o ultra‑
mar poderia proporcionar. Um dos instrumentos cruciais desse impulso
modernizante foram os Planos de Fomento relativos ao ultramar, lançados
em 1953, com um claro predomínio dos investimentos canalizados para as
Hist-da-Expansao_4as.indd 507 24/Out/2014 17:17
508 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
infra‑estruturas (transportes e comunicações), aproveitamento de recursos
naturais e iniciativas de apoio ao povoamento branco (esta última uma aposta
em contraciclo face ao «desenvolvimentismo imperial» de outras potências
europeias)65.
Alguns dos cientistas e técnicos implicados neste esforço tentariam ins‑
crever preocupações de ordem mais social e até humanitária na agenda
modernizadora do regime, única forma de renovar o sentido de legitimidade
do projecto imperial face às pressões descolonizadoras. Juntamente com
outros elementos mais ligados à política e administração, constituíram uma
sensibilidade reformista crescentemente influente a partir da década de 1950,
à qual não seria estranha a sua rodagem por vários fóruns onde a reconfigura‑
ção dos impérios e das suas «missões» estava em discussão. Na sua maioria,
procuravam colocar‑se numa posição de críticos construtivos das políticas,
processos e métodos de actuação, sem equacionarem ainda uma ruptura com
alguns dos dogmas do nacionalismo imperial estado‑novista66.
Neste contexto, assumiu particular relevo a apropriação pelas instâncias
oficiais portuguesas de algumas das ideias do sociólogo brasileiro Gilberto
Freyre, depois vertidas para uma espécie de vulgata, cuja influência em dife‑
rentes estratos da sociedade (e até em termos internacionais) não deverá
ser subestimada, pelo menos a avaliar pela ressonância de muitos dos seus
tópicos, várias décadas volvidas sobre o fim do império67. A partir de uma
série de observações ou leituras históricas parcelares, Freyre construiu toda
uma teoria (o «luso‑tropicalismo») acerca de uma «excepcionalidade» por‑
tuguesa na maneira de interagir com outros povos, culturas e religiões no
decurso da sua epopeia ultramarina. Essa singularidade manifestar‑se‑ia por
uma predisposição para a miscigenação biológica (em alegado contraste com
a arrogância racista dos europeus de matriz protestante) e a interpenetração
cultural, das quais teriam resultado espaços coloniais caracterizados por uma
muito maior hibridez cultural e tolerância racial. De forma pragmática, figu‑
ras que nos anos 1930 se tinham distinguido como apologistas ferrenhas das
doutrinas sociais‑darwinistas e racistas, como o antropólogo Mendes Correia,
protagonizaram um rápido processo de reciclagem ideológica que os conduziu
ao enaltecimento da «interculturalidade». E, do ensino à propaganda e ao
turismo, passando pela diplomacia, todo o aparato estadual (e paraestadual)
foi instruído para se adaptar, e promover, a vulgata freyreana (algumas ins‑
tituições pretenderam mesmo fomentar programas de investigação e ensino
baseados numa ciência da «luso‑tropicologia»).
No entanto, este ersatz ideológico comportava os seus riscos. Para os
críticos do sistema colonial português tornou‑se tentador denunciar o desfa‑
samento entre os ideais luso‑tropicalistas e a realidade da discriminação racial
e segregação social que prevalecia nas províncias portuguesas, onde, aliás, as
Hist-da-Expansao_4as.indd 508 24/Out/2014 17:17
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961) 509
percentagens de mestiços contabilizados nos censos permaneciam teimosa‑
mente residuais. Portugal foi também incapaz de desenvolver uma abordagem
política que pudesse, de algum modo, conferir alguma credibilidade à ideia
de «parceria multirracial». Os lugares de topo da administração ultramarina,
ou de instituições como a Igreja Católica e as Forças Armadas, estavam reser‑
vados a europeus, sendo que a configuração dos pouco influentes conselhos
legislativos locais não estava desenhada para acomodar representantes das
associações nativas, por exemplo – uma das vias que o regime poderia ter
explorado para iniciar um processo de gradual capacitação e delegação de
poderes para representantes «de confiança» dos estratos nativos68. Com a
aceleração registada nos calendários de transição para a independência e o
desmoronar das últimas tentativas para revitalizar, por vezes pela fórmula
federativa, alguns impérios (caso do francês), a noção de que os territórios
portugueses poderiam ser impermeabilizados relativamente às influências
exteriores era cada vez mais irrealista. No entanto, as previsões de uma
debandada portuguesa equivalente àquela que os Belgas protagonizaram em
1960, no Congo, acabariam por não se verificar – pelo menos a curto prazo.
O deflagrar da guerra em Angola no ano seguinte revestir‑se‑ia de um
significado ambivalente. Por um lado, conferiu um impulso tremendo à
expansão do aparato colonial, ao investimento público (e depois privado),
ao crescimento e diversificação económica e ao povoamento branco; mas,
por outro, esteve na origem de um conflito militar de atrito e erosão que
dividiu profundamente a sociedade portuguesa e abriu brechas perigosas na
própria coligação que sustentava o regime salazarista. A resiliência portuguesa
surpreendeu muitos observadores, mas, como veremos no próximo capítulo,
ela esteve longe de depender apenas do esforço de militares e colonos. Como
sucedeu noutras circunstâncias, as divisões e conflitos entre os seus adver‑
sários, bem como apoios internacionais inesperados, ofereceram um novo
sopro de vida ao Império Português e suspenderam o obituário que muitos
lhe haviam já redigido, na sequência das primeiras revoltas armadas.
Hist-da-Expansao_4as.indd 509 24/Out/2014 17:17
21
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS
(1961‑1975)
N a segunda metade da década de 1950, os focos de desestabilização das
soberanias coloniais propagaram‑se muito rapidamente. Aquela que
pode hoje ser vista como a derradeira etapa da dissolução dos principais
impérios europeus revestiu‑se de combinações complexas, geradas por múlti‑
plas causas. No entanto, se os desfechos e calendários variaram de caso para
caso, o impulso que lhes esteve na origem foi, em muitos casos, idêntico1.
Cada qual à sua maneira, os governos europeus foram chegando à con‑
clusão de que a manutenção dos velhos modos de dominação dificilmente
seria sustentável, tanto por razões políticas, como morais. Nesse sentido, a
«descolonização» pode ser vista como uma estratégia que começou a ser
amadurecida em algumas capitais desde a Segunda Guerra Mundial (no caso
britânico, até antes disso). Devido a factores endógenos, e ao impacto mais
profundo da expansão militar do Japão nas estruturas imperiais, o processo
de retirada foi mais precoce na Ásia. Por volta de 1957, com a independência
da Malásia, a presença colonial a leste do Suez tornar‑se‑ia quase residual ou
simbólica, ao passo que a fracassada tentativa franco‑britânica de derrubar
o regime de Nasser (1956) e restaurar a sua preponderância informal no
Egipto deixara claro que intervenções desse pendor eram inviáveis à luz das
novas coordenadas internacionais.
Na era pós‑Bandung, Washington e Moscovo não podiam mais ficar indi‑
ferentes às sensibilidades da opinião do agora chamado «Terceiro Mundo»,
em particular a sua intensa rejeição do colonialismo europeu. Nesse sentido,
Norte‑americanos e Soviéticos começaram a reequacionar a sua relativa
indiferença face às aspirações nacionalistas nos últimos redutos imperiais
formais. No caso dos Americanos, a linha seguida em relação aos países colo‑
nialistas que integravam a NATO foi, geralmente, a da persuasão amigável,
Hist-da-Expansao_4as.indd 510 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 511
exortando‑os a aceitar o inevitável e a preparar o relacionamento pós‑colonial
nos melhores termos possíveis. Em Washington, os mentores da «teoria da
modernização» alertavam os governantes para os riscos que uma procrasti‑
nação dos aliados europeus poderia acarretar, sendo urgente evitar que uma
situação de «vazio», criada por uma retirada precipitada ou acrimoniosa,
pudesse ser explorada pela URSS, mais interventiva nesta matéria a partir de
19612. Na principal arena diplomática mundial, a ONU, as potências colo‑
niais ver‑se‑ão gradualmente privadas dos apoios com que até então contavam
para suster as investidas do bloco afro‑asiático e socialista. Uma revolução
normativa estava iminente. No ano seguinte, e não obstante o ranger de
dentes de vários líderes ocidentais pela linguagem usada, a Assembleia Geral
aprovaria uma série de resoluções que fixariam a doutrina das Nações Unidas
em matéria de descolonização3. Um dos seus principais argumentos, note‑se,
era o de que a alegada «impreparação» cultural ou educativa das populações
colonizadas não poderia ser invocada como álibi para adiar indefinidamente
processos de autodeterminação e independência.
Uma crise anunciada
Ciente das suas fragilidades, o regime português manteve‑se atento a este
tipo de oscilações internacionais. Alguns dos seus colaboradores tinham a
exacta noção de que certas adaptações teriam de ser realizadas para prevenir,
ou limitar, as repercussões destas mudanças de fundo. Em termos diplomáti‑
cos, porém, a orientação que subjazia às iniciativas empreendidas por Lisboa
ia mais no sentido de comprar tempo e baralhar adversários do que de pre‑
parar as condições para uma retirada que, noutros centros imperiais, muitos
tinham já por inevitável, pelo menos a médio prazo. Na ONU, governantes e
diplomatas empenharam‑se na construção de um argumentário que colocava
a tónica em razões fundamentalmente jurídico‑constitucionais para afastar a
ideia de uma qualquer supervisão internacional aos territórios ultramarinos
de Portugal; a sua eficácia persuasiva foi certamente questionável, mas o
regime explorou ao máximo o seu impacto interno, usando‑a para alimentar
a «mística» da honra imperial durante anos a fio. Junto de países aliados,
governantes e diplomatas enalteciam as virtualidades da política portuguesa
de «assimilação» e integração racial e, num registo mais cabalístico, insistiam
que fazer concessões aos nacionalistas era meio caminho andado para que
as forças do «comunismo internacional» subtraíssem ao Ocidente zonas de
influência estratégicas. Na melhor das hipóteses, esta linha de argumentação
era recebida com uma simpatia moderada pois, a partir da década de 1950,
a percepção de que a influência europeia teria de ser exercida em parceria
Hist-da-Expansao_4as.indd 511 24/Out/2014 17:17
512 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
com elites nacionalistas «fiáveis» tinha‑se tornado quase consensual em
Washington, Londres, Bruxelas e Paris4.
Para enfrentar este quadro mais adverso, tomaram‑se algumas providên‑
cias. No âmbito do Ministério do Ultramar procedeu‑se à criação de um Gabi‑
nete dos Negócios Políticos (1959), organismo que deveria produzir análises
às mais variadas esferas da política ultramarina e coordenar a circulação das
informações produzidas por outros departamentos governamentais; e após
o início das guerras coloniais, o aparato português de intelligence conheceu
uma expansão significativa por via do estabelecimento de Serviços de Cen‑
tralização e Coordenação de Informações (SCCI) nas diferentes províncias,
dos Serviços de Informação Militares e ainda de outras agências civis mais
discretas5. No âmbito da política de defesa, acontecimentos como a Guerra
da Argélia (1954‑1962), a caótica retirada belga do Congo (1959‑1960) e
o acesso à independência de países contíguos a várias colónias africanas de
Portugal (Guiné‑Conacri, Senegal, Tanzânia) fizeram também soar as cam‑
painhas de alarme em Lisboa.
No rescaldo da remodelação governamental de 1958, uma nova equipa de
responsáveis, liderada pelo ministro da Defesa, general Júlio Botelho Moniz,
empreenderia uma extensa vistoria aos dispositivos militares dos vários
territórios ultramarinos. A situação que encontraram deixou‑os inquietos.
Na grande maioria dos casos, os territórios em questão estariam altamente
vulneráveis à irrupção de focos de contestação armada, tão esquelética era
a presença militar portuguesa, bem como as infra‑estruturas necessárias à
organização de um dispositivo de defesa eficaz. Face à deslocação do epicen‑
tro da Guerra Fria para várias zonas do Terceiro Mundo, tornava‑se óbvio
que Portugal teria de proceder a um ajustamento rápido e profundo do seu
«conceito estratégico», no pressuposto de que a sua soberania imperial era
para ser defendida. Este ponto, porém, não era inteiramente pacífico. Para o
ministro da Defesa e a sua entourage, a questão começava, aparentemente, a
colocar‑se mais no plano da manutenção da influência portuguesa do que na
preservação de um domínio territorial clássico. Conhecedores da preferência
norte‑americana por estratégias de sentido «neocolonial», iriam preconizar um
reforço do dispositivo de segurança ultramarino com o intuito de garantir uma
posição de força a Portugal, mas, ao que tudo indica, para que isso o colocasse
numa posição vantajosa num eventual processo de transição negociada6.
No papel, pelo menos, muitas das suas sugestões foram atendidas. Entre
1958 e 1960, o governo aprovou uma série de decretos que iam ao encontro
de potenciais ameaças colocadas por uma guerra de tipo «subversivo»: a orga‑
nização militar das províncias ultramarinas foi revista (criação de comandos
territoriais em Angola e Moçambique); procedeu‑se a uma ampla reorganiza‑
ção do Exército com vista à unificação da sua componente metropolitana e
Hist-da-Expansao_4as.indd 512 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 513
ultramarina (abandonando‑se a ideia de que os efectivos do exército colonial
pudessem ser deslocados para a Europa, o mesmo sucedendo à noção de que
territórios como Macau, o Estado da Índia ou Timor seriam «defensáveis»); e
contemplou‑se um reforço das capacidades das Forças Armadas em matéria
de recolha de informações. As reformas e directivas aprovadas nesse período
previam também que o país reduzisse ao estritamente indispensável os seus
compromissos na NATO, estabelecesse um Centro de Instrução de Operações
Especiais (visando a preparação para uma «guerra contra‑revolucionária»), e
criasse depósitos de material nas dependências ultramarinas7. Por outro lado,
as implicações políticas desta reorganização (concentração de meios numas
Forças Armadas imbuídas de um pensamento mais reformista) não escaparam
a Salazar. Entre Agosto de 1959, data de apresentação das reformas de Bote‑
lho Moniz no Conselho Superior de Defesa Nacional, e os primeiros meses
de 1961, o Ministério das Finanças irá regatear ao máximo a afectação das
verbas consideradas necessárias para a concretização de muitas das medidas
já acordadas (dos 5 milhões de contos requeridos pelas chefias, Salazar só
terá autorizado a disponibilização, até 1961, de 900 mil contos)8.
Em Angola, onde os níveis de ansiedade dos colonos tinham aumentado
compreensivelmente a seguir à independência do Congo, o governador‑geral
desesperava com o atraso no envio de unidades para reforçar um contingente
que contava com pouco mais de 2000 homens. Entre as cúpulas militares, a
sensação de que o apego obstinado de Salazar aos seus princípios ortodoxos
de gestão financeira estava a criar as condições para um possível desastre
foi‑se adensando, abrindo caminho para uma intervenção de tipo palaciano.
Apesar do registo autoritário e repressivo do Estado Novo, existem boas
razões para supor que, por volta de 1960 – e depois ainda ao longo de toda a
década seguinte –, alguns africanos estariam disponíveis para encarar formas
de cooperação com o poder português, caso isto fosse uma opção levada a
sério em Lisboa. Afinal de contas, o prémio para uma solução de compro‑
misso era atraente: a captura do aparelho de Estado colonial, à semelhança
do que estava a suceder em muitos dos territórios da África tropical francesa
e britânica, onde parte das elites locais (líderes de partidos políticos, sindica‑
tos, homens de negócios, chefes tradicionais) surgiria como interlocutora em
processos de transição negociados9. Este tipo de tentação poderá também ter
estado presente no contexto imperial português ainda antes da eclosão das
guerras, não obstante a fraca apetência até então demonstrada pelas autori‑
dades metropolitanas por essa promoção de elites locais. É plausível pensar‑se
que entre alguns sectores nativos se pudessem encontrar candidatos para esses
papéis. Na Guiné, em 1957, os «civilizados» autóctones que estiveram na
origem do Movimento da Libertação da Guiné propuseram, em alternativa
à independência, uma ligação a Portugal no âmbito de um Estado federado10.
Hist-da-Expansao_4as.indd 513 24/Out/2014 17:17
514 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Em Angola, organismos como a Liga Nacional Africana, onde pontificavam
assimilados e mestiços detentores de algum prestígio social, poderiam ter
fornecido esse tipo de interlocutores, facto que terá causado apreensão entre
os sectores mais militantes do nacionalismo angolano11. Em Moçambique,
alguns dos elementos que em 1962 convergiriam na fundação da Frelimo
perfilhavam, até dois anos antes, perspectivas relativamente moderadas em
relação à forma como poderiam concretizar as suas aspirações de mudança
– uma atitude que terá levado os responsáveis portugueses a tentar aliciar
Eduardo Mondlane com propostas de uma carreira universitária em 1960.
No entanto, os sinais de que Portugal se poderia abrir a um processo político
com base no reconhecimento do direito à autodeterminação, mesmo que
muito dilatado no tempo, eram pouco promissores, se não mesmo inexis‑
tentes. Nas vésperas da explosão de violência em Angola, o máximo que se
poderia discernir nos centros de decisão portugueses era uma predisposição
para modernizar o paradigma colonial, sem contudo alterar os seus pressu‑
postos políticos. Algumas dessas preocupações serão absorvidas por figuras
do establishment militar e ultramarino, mas isso não foi o suficiente para
conferir um ímpeto mais vigoroso a abordagens liberalizantes, pelo menos
a tempo de se evitar os choques que precederam as insurreições armadas.
Sintomaticamente, as versões «oficiosas» de dois episódios centrais nas
narrativas nacionalistas na Guiné e Moçambique, os massacres do cais de
Pindjiguiti, em Bissau (3 de Agosto de 1959) e Mueda (16 de Junho de 1960),
em Cabo Delgado, estão pejadas de equívocos reveladores. O primeiro,
reivindicado como uma acção de massas instigada pelo núcleo nacionalista
que iria estar na origem do PAIGC, foi, na realidade, um protesto de carácter
laboral de marinheiros e estivadores manjacos do porto de Bissau, a que a
PSP respondeu de forma desastrada, causando um número indeterminado de
mortos12. No segundo, as mesmas expressões de ineptidão seriam notórias,
nomeadamente da parte de um governador de distrito que, no decurso de uma
banja participada por cerca de 5000 macondes, deu ordem de prisão a dois
líderes associativos que se haviam deslocado do Tanganhica, não para reivin‑
dicar uma independência para a «nação maconde», mas, tão simplesmente,
para tentar negociar as condições do retorno a Cabo Delgado de uma parte
dos membros daquela etnia radicados na ex‑colónia britânica. Dos tumultos
que se seguiram terão resultado qualquer coisa como entre 9 e 36 mortos,
longe, portanto, dos 600 referidos nas versões oficiais da Frelimo13.
No caso do Norte de Angola, nos distritos produtores de café e algodão,
muito embora a memória deixada pelas campanhas de «pacificação», a
persistência de modalidades particularmente cruas de exploração do campe‑
sinato africano e o «efeito de contágio» dos acontecimentos no Congo Belga
criassem um ambiente fértil para o surgimento de actos de rebelião, é também
Hist-da-Expansao_4as.indd 514 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 515
possível encontrar exemplos de decisões que exacerbaram o antagonismo
latente entre as autoridades coloniais e a população africana (em especial a
de etnia baconga). A atitude mais liberal preconizada por alguns adminis‑
tradores foi vista por outros sectores como perigosamente «apaziguadora»
e, às primeiras manifestações de descontentamento, ocorridas na Baixa do
Cassange, em Janeiro de 1961, o governador em Luanda deu luz verde a
uma abordagem mais repressiva (bombardeamentos aéreos, com o recurso
a napalm, deslocações forçadas de populações, execuções sumárias), no sen‑
tido de se cortarem as veleidades dos «agitadores» e «profetas» que faziam
incitamentos à revolta em várias regiões14.
Este padrão de respostas brutais, fundado numa cultura política autori‑
tária (e ainda impregnada de uma sobranceria racista, não obstante alguma
«autocensura» ditada pela vulgata luso‑tropicalista), estava bem presente
na mente dos estratos mais urbanizados e educados da população africana,
que sentiam de forma mais aguda o desfasamento entre a retórica oficial e
as realidades da discriminação de todos os dias, a qual tendia a acentuar‑se
numa colónia como Angola, em virtude do crescimento de uma população
branca pouco qualificada, que disputava muitas das ocupações até então
desempenhadas por africanos.
Ao longo da década de 1950, serão destas fileiras que emergirão muitos
dos líderes das organizações que procurarão afirmar‑se numa perspectiva de
ruptura radical com o domínio português. Como já referimos atrás, essas
organizações apresentavam um perfil sociológico diferenciado, perfilhavam,
em teoria, um modelo de Estado‑nação racialmente inclusivo, mas, nalguns
casos, a sua identificação com determinados agrupamentos étnicos ou regiões
era notória. No entanto, tenha‑se presente que este género de arrumações não
faz inteira justiça às inúmeras complexidades dos nacionalismos da África
lusófona, onde num mesmo movimento podiam coexistir tendências «moder‑
nistas» e «tradicionalistas», por vezes num equilíbrio difícil de gerir – foi o
caso, por exemplo, da Frelimo, que em finais da década de 1960, na sequência
do assassínio do seu primeiro presidente, Eduardo Mondlane, se viu dilace‑
rada por disputas entre uma liderança «sulista» portadora de uma agenda de
contornos socialistas «modernizantes» e as aspirações de sentido mais tribal
articuladas por figuras como Lázaro Kavandame, um líder maconde, para
quem uma acomodação com o poder colonial seria uma solução razoável15.
No caso do PAIGC, cuja elite dirigente era predominantemente composta por
indivíduos de ascendência cabo‑verdiana, muitos deles educados em escolas
ou universidades portuguesas, os esforços conduzidos por Amílcar Cabral,
um engenheiro agrónomo licenciado em Lisboa, para forjar uma estratégia
de luta que transcendesse as categorias étnicas ou as lealdades tribais foram
impressivos16. Mas isso não impediu que tais clivagens estivessem sempre
Hist-da-Expansao_4as.indd 515 24/Out/2014 17:17
516 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
latentes no seio do movimento, tendo a sua primeira expressão trágica em
1973, com o assassínio do próprio Cabral, por elementos ressentidos com a
preponderância cabo‑verdiana na liderança do partido17.
No tocante a Angola, onde diferentes grupos de assimilados tinham
seguido trajectórias de afirmação identitária autónomas, de alguma forma
(mas não exclusivamente) ligadas à influência das principais igrejas e socie‑
dades protestantes implantadas no território (Baptistas entre os bacongos;
Metodistas entre o núcleo quimbundo; Congregacionistas nas regiões de
maioria ovimbundo), as visões conflituantes do que deveria constituir o «des‑
tino nacional» angolano alimentaram também intermináveis cisões, disputas
e dissidências no interior dos dois principais movimentos independentistas
surgidos na segunda metade dos anos 1950 (UPA/FNLA e MPLA)18. A esta
constelação nacionalista deverão ainda acrescentar‑se as organizações ani‑
madas por alguns brancos anti‑salazaristas, os quais tentariam revindicar o
direito a serem envolvidos na construção do Estado que viesse a sair de uma
descolonização em Angola19.
Em termos programático‑ideológicos, este conjunto de forças era assaz
heterogéneo. De uma forma ou outra, quase todos acusavam a influência dos
ideais pan‑africanistas em voga até à década de 1960, muitos afirmavam‑se
comprometidos com ideais socialistas/igualitários e todos diziam repudiar o
colonialismo nas suas diferentes roupagens. Os três movimentos que na Guiné,
Angola e Moçambique transportavam uma marca mais «modernizante», no
tocante à socialização das suas elites e ao tipo de agenda que perfilhavam
(PAIGC, MPLA e Frelimo), procuraram, sempre que possível, diversificar as
proveniências dos seus apoios. Ao contrário do que pretendiam as autoridades
salazaristas, Moscovo estava longe de ser o seu único, ou sequer principal,
patrono internacional. Partidos, sindicatos, fundações, ONG, igrejas e socie‑
dades missionárias de vários países ocidentais proporcionaram‑lhes um apoio
crítico na sua fase formativa e, depois, durante os anos de exílio. A solidarie‑
dade de alguns estados do Terceiro Mundo foi igualmente crítica, tanto para a
aquisição de competências em matéria de guerra de guerrilha, como em termos
logísticos e diplomáticos. Por seu turno, a UPA, um movimento com um imagi‑
nário difuso, em que apelos à restauração da glória do antigo reino do Congo
se misturavam com uma simpatia por formas de organização capitalistas, foi
capaz de, através das suas ligações a meios missionários protestantes, cativar
apoios nos EUA. Isto ao mesmo tempo que o seu líder, Holden Roberto, há
muito estabelecido em Leopoldville, surgia como o homem em quem vários
governantes africanos, ou intelectuais de renome no firmamento anticolonial,
como Frantz Fanon, apostavam para afugentar os Portugueses.
No início de 1961, a expectativa de alguns destes activistas, particular‑
mente os da UPA em Angola, era a de que Portugal, à semelhança de outras
Hist-da-Expansao_4as.indd 516 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 517
potências europeias, ou por calculismo ou por pânico, renunciaria aos seus
territórios africanos ao cabo da primeira demonstração de força20. Entre
Janeiro e Abril, o regime e o império foram abalados até aos seus alicerces
por uma série de acontecimentos dramáticos, que pareciam anunciar o fim
político de um ditador envelhecido e desorientado. Em Janeiro, e à medida
que a jacquerie da Baixa do Cassange se desenrolava de forma praticamente
incógnita para a generalidade dos portugueses, um dissidente do regime,
Henrique Galvão, sequestrava, com activistas antifranquistas, o paquete
Santa Maria, no mar das Caraíbas. O desvio do navio conferiu uma noto‑
riedade sem precedentes à oposição portuguesa e, nos perfis de Galvão que
inundaram a imprensa internacional, as suas denúncias de 1947 dos abusos
associados ao trabalho indígena em Angola foram amplamente destacadas21.
Em inícios de Fevereiro, alguns dos repórteres que se haviam deslocado a
Luanda para fazer a cobertura de uma possível entrada de Galvão na colónia
puderam testemunhar os assaltos (falhados) de alguns activistas angolanos
às prisões, postos de polícia e estação de rádio local, e ainda tomar nota
das razias punitivas que brancos exaltados conduziram nos musseques da
cidade. O levantamento de 4 de Fevereiro, cuja autoria ainda hoje é dispu‑
tada, falhou em toda a linha22. Mas as represálias constituíram, em termos
de relações públicas, um fiasco completo para os Portugueses, que desde há
anos se esforçavam por projectar uma imagem de harmonia racial nos seus
domínios ultramarinos.
Mas o pior estava ainda para vir. Em 15 de Março, coincidindo com uma
votação hostil a Portugal no Conselho de Segurança, seguidores da UPA,
armados de catanas e machetes, levaram a cabo uma série de ataques simul‑
tâneos a fazendas no Noroeste de Angola. Destes assaltos terá resultado a
morte de 200 a 300 europeus, e um número indeterminado de baixas entre
os trabalhadores mestiços e negros identificados pelos atacantes como «cola‑
boradores» dos Portugueses. As imagens horríficas de corpos mutilados de
crianças e mulheres foram avidamente exploradas pelas autoridades salaza‑
ristas, numa lógica de vitimização para consumo doméstico e internacional.
O regime procurou também ocultar o mais possível o reverso da medalha:
as operações de retaliação desencadeadas por agentes de segurança e milícias
improvisadas de colonos contra as populações suspeitas de cumplicidade com
os «terroristas», as quais terão, segundo estimativas variáveis, causado entre
8 mil e 50 mil mortos (neste número incluindo‑se não apenas os mortos em
operações militares, mas também as vítimas de doenças e fomes resultantes
da situação de emergência que se viveu até finais do ano)23.
O agudizar da situação em Angola acelerou a determinação do ministro
da Defesa em operar o afastamento de Salazar. Essa medida deveria revestir
a forma de um pronunciamento clássico, conduzido por altas patentes, para
Hist-da-Expansao_4as.indd 517 24/Out/2014 17:17
518 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
se confinarem as alterações a um acerto de políticas e algumas mudanças
na cúpula do Estado. O embaixador dos EUA em Lisboa foi previamente
sondado, pois, para Botelho Moniz, a caução dos Norte‑americanos seria
indispensável para o tipo de solução política que teria em vista. Apesar dos
seus contornos imprecisos, tudo indica que os protagonistas da «Abrilada»
pretenderiam ganhar algum espaço de manobra para uma abordagem colo‑
nial diferente. Essa inflexão dificilmente implicaria uma retirada «à belga»,
pois o impacto emocional da revolta em Angola, e a sua própria cultura
nacionalista, não os inclinava para aí. Saber como iriam conciliar uma polí‑
tica colonial assente numa vénia ao princípio da autodeterminação com a
vontade de perpetuar a influência portuguesa no ultramar permanece um
enigma. É possível que tivessem tentado uma transição gradual, em moldes
parecidos com os que a administração Kennedy achava recomendáveis (tran‑
sições a dez anos, programas de formação acelerada de quadros africanos,
reformas económicas)24.
Tendo subestimado a capacidade de reacção de Salazar, acabariam por
ser politicamente cilindrados por este, graças a uma contramobilização
‑relâmpago, seguida de uma extensa remodelação ministerial. Ironicamente,
o governante que havia arrastado os pés aos pedidos de reforço dos meios
de defesa ultramarinos acabaria por surgir nos ecrãs de televisão com um ar
decisivo, aludindo à situação em Angola para explicar as mudanças operadas.
Ao longo do ano, diferentes bodes expiatórios (EUA, Britânicos, comunismo
internacional) seriam convocados e agitados em manifestações de rua patro‑
cinadas pelo regime para justificar alguns dos reveses que se iam sucedendo,
de Angola à perda da fortaleza de São João Baptista de Ajudá (ocupada pelo
Daomé em Agosto), terminando com a invasão de Goa pelas forças da União
Indiana, em Dezembro.
Embora com muita orquestração à mistura, o sobressalto que percorreu
o país não poderá ser reduzido a uma mera fabricação de um governo acos‑
sado. Velhas figuras republicanas (Cunha Leal, Armando Cortesão, Hernâni
Cidade, Ramada Curto, entre outros) caucionaram, em artigos de jornal e aos
microfones da Emissora Nacional, a resposta política de Salazar, deixando
numa posição desconfortável os dirigentes de uma geração oposicionista mais
jovem, por agora resignados a exigir apenas reformas de sentido autonomista.
Apenas alguns elementos mais radicalizados, muitos deles no exílio, e um
PCP convertido à ideia da autodeterminação e independência das colónias
desde 1957 denunciariam com mais vigor a resposta governamental, mas
a repercussão dos seus apelos acabaria por se revelar, num plano imediato,
muito limitada.
Hist-da-Expansao_4as.indd 518 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 519
Reformas e impasses
Apesar do choque e pânico em que durante alguns meses a população
europeia de Angola viveu mergulhada, as medidas de socorro militar impro‑
visadas pelo governo começaram a fazer surtir o seu efeito e, em Outubro de
1961, o novo governador do território, o general Venâncio Deslandes, sentia
‑se suficientemente confiante para anunciar a «eliminação» do terrorismo25.
Era, claro está, um veredicto imprudente, atendendo à persistência dos
motivos que haviam estado na origem da explosão de violência, bem como
à capacidade dos independentistas para prosseguirem uma luta furtiva, de
guerrilha, baseada em emboscadas e ciladas. Um dos principais desafios dos
Portugueses era a vastidão territorial de Angola, uma província de baixa
densidade populacional, com núcleos urbanos isolados, mal servida de vias de
comunicação e uma escassa presença de forças militares e policiais. As carac‑
terísticas clássicas de um conflito de contra‑insurreição colocavam dilemas
sérios a um regime como o Estado Novo. Como conquistar a adesão de popu‑
lações que, inevitavelmente, acabavam por ser vítimas dos «efeitos colaterais»
das medidas de securitização e das operações militares? Como conciliar as
ansiedades e pretensões dos colonos com o bem‑estar dos nativos? Como
dissipar a ideia de imobilismo político sem introduzir reformas que pudessem
ser apontadas como cedências às pressões do exterior?
Estes dilemas estabeleceram limites estreitos a uma política colonial mais
liberal, mas não fecharam completamente as portas a tendências reformistas.
A promoção do secretário de Estado da Administração Ultramarina, Adriano
Moreira, a ministro do Ultramar, em Abril de 1961, testemunhou o desejo de
Salazar de dar uma oportunidade àqueles quadros que, no interior do regime,
vinham acalentando propósitos reformadores. O seu curto consulado político
(19 meses) tornar‑se‑ia paradigmático dos obstáculos que qualquer tentativa
de modernização estava destinada a enfrentar no quadro de um regime como
o do Estado Novo. Um conhecedor profundo dos seus meandros, Moreira
teve o cuidado de, no início da guerra em Angola, tomar as dores das «vítimas
do terrorismo» e afirmar a sua devoção aos grandes axiomas do nacionalismo
imperial (uma cautela indispensável antes de poder apresentar a sua agenda
política). A sua abordagem tinha uma feição claramente modernizante, sem
que daí se possa inferir a existência de uma estratégia descolonizadora velada,
segundo linhas próximas de outras experiências europeias.
Uma das suas prioridades era a aceleração do fim das últimas modalidades
de trabalho não‑livre nas colónias, assunto que voltara a merecer um escru‑
tínio cerrado por parte de algumas instâncias internacionais (ONU e OIT), e
que ameaçava tornar‑se ainda mais melindroso pela mão da atitude militante
dos novos estados africanos presentes naquelas organizações26. Submetido
Hist-da-Expansao_4as.indd 519 24/Out/2014 17:17
520 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
a uma pressão continuada nos primeiros meses de 1961 por alguns aliados
ocidentais, como os EUA e o Reino Unido27, o governo português foi pro
curando corrigir as dimensões mais controversas da sua dominação colonial.
A 2 de Maio de 1961, no âmbito de várias providências adoptadas como
reacção imediata às revoltas camponesas, um decreto pôs termo à cultura
obrigatória do algodão. Depois, a 6 de Setembro, uma fornada de diplomas
sinalizaria um processo de reformas mais ambicioso. Entre essas medidas
destacavam‑se o decreto que revogava o Estatuto dos Indígenas nas províncias
onde este ainda vigorava (Guiné, Angola e Moçambique) e estendia formal‑
mente a cidadania a todos os naturais do ultramar português (sem contudo
suprimir o tradicional princípio da diferenciação jurídica, nomeadamente
quando previa a vigência dos «usos e costumes» dos antigos indígenas, agora
transformados em «vizinhos de regedoria»).
Porventura ainda mais decisiva neste domínio terá sido a introdução de
um novo Código de Trabalho Rural (27 de Abril de 1961), o qual, do ponto
de vista jurídico pelo menos, poderá ser considerado como a machadada
final no elaborado edifício de leis e regulamentos que, desde a abolição legal
da escravatura, davam cobertura legal a toda a espécie de arbitrariedades e
servidões que incidiam sobre a população africana28. O Código consagrava
os princípios da liberdade de trabalho ou de escolha do seu empregador (ou
até o direito ao ócio caso dispusessem de meios para satisfazer as suas obri‑
gações fiscais), bem como a norma do «salário igual para trabalho igual».
Paralelamente, foram criados institutos do trabalho, previdência e acção
social com vista a assegurar o cumprimento da nova legislação.
Embora se deva reconhecer o progresso trazido por estas reformas para a
dignidade e o bem‑estar das populações autóctones, uma nota de prudência
é indispensável. A concessão da cidadania, por exemplo, era feita no âmbito
de um regime de cariz policial e autoritário que fazia tábua rasa das mais
elementares liberdades civis e democráticas, ao passo que resquícios do ante‑
rior sistema, como as cadernetas e passes, ainda demoraram algum tempo a
ser suprimidos. Por outro lado, a revogação das normas que fixavam formas
de discriminação cultural (e, na prática, racial) teria de ser acompanhada de
avanços notórios em áreas como a educação para que uma genuína igualdade
de oportunidades se pudesse começar a afirmar (o que nunca aconteceu).
E como já foi notado, o alcance de um certo número de disposições terá
sido potencialmente mitigado pela ausência de uma fiscalização eficaz e pela
persistência de uma burocracia mal paga e, como tal, vulnerável ao assédio
de empregadores inconformados com as mudanças29.
Olhadas com suspeição por alguns sectores mais retrógrados do regime,
estas reformas foram também recebidas de forma céptica pela generali‑
dade dos meios de opinião internacionais e governos ocidentais (sobretudo
Hist-da-Expansao_4as.indd 520 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 521
americanos e ingleses). Comparativamente com outras abordagens coevas,
foram vistas como tímidas, falhando, nomeadamente, em responder ao pro‑
blema do direito à autodeterminação, o busílis da questão para a generalidade
dos observadores30. Na realidade, a estes não passou despercebido o facto de
o programa legislativo de Moreira incluir muitas outras medidas que estavam
longe de prefigurar uma estratégia de retirada em moldes «neocoloniais».
Essas reformas apontavam, isso sim, para um entrincheiramento da presença
portuguesa numa África Austral onde outros poderes brancos (rodesianos
e sul‑africanos) tinham também sinalizado a sua determinação em resistir
aos «ventos de mudança» anunciados pelo primeiro‑ministro britânico,
Harold Macmillan, em 1960. Uma delas foi a criação das Juntas Provinciais
de Povoamento (também a 6 de Setembro de 1961), com o propósito, entre
outros, de incrementar a fixação de mais portugueses oriundos da metrópole
em África, ora como agricultores livres, ora inseridos em núcleos de povoa‑
mento em zonas rurais (alguns seriam encaminhados para colonatos mistos,
que deveriam funcionar como mostruários das políticas de integração racial
fomentadas pelo Estado, mas a experiência, em muitos casos, saldou‑se por
um fracasso).
A este propósito, é importante não esquecer que já no II Plano de Fomento
(1959‑1964) se havia verificado uma preocupação assinalável em reservar ver‑
bas destinadas a apoiar colonatos com portugueses oriundos da metrópole31.
Mais tarde (8 de Novembro de 1961), um decreto estabeleceria a liberdade
de circulação e residência de cidadãos portugueses em qualquer parcela do
território nacional. De resto, e ainda antes de se equacionarem medidas que
instituíssem um modelo mais desconcentrado ou descentralizado, deram‑se
passos, isso sim, no sentido de aprofundar a integração económica imperial,
embora num contexto internacional onde as ideias de livre comércio e inter‑
dependência tinham voltado a conquistar terreno32.
A expressão mais visível deste esforço de ajustamento foi o «Espaço
Económico Português» (EEP) (8 de Novembro de 1961), que estabelecia
como meta a abolição, no prazo de dez anos, de todos os entraves à livre
circulação de mercadorias, serviços e capitais (um expediente que tornava
igualmente possível a adesão de Portugal ao GATT, que impedia a manu‑
tenção das preferências imperiais). O desfecho mais longínquo do processo
seria o estabelecimento de uma união aduaneira e de um sistema monetário
baseado no escudo. Até que isso fosse possível de concretizar (uma supressão
súbita das barreiras alfandegárias levaria à perda de importantes receitas),
estabeleceu‑se um fundo monetário de reserva e tomaram‑se providências
para a coordenação das actividades produtivas nas províncias através dos
mecanismos do condicionamento industrial (reformulados em 1965, mas
não plenamente revogados)33. Na prática, isto significou que algumas delas
Hist-da-Expansao_4as.indd 521 24/Out/2014 17:17
522 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
puderam beneficiar de alguns incentivos ao investimento e à criação de novas
indústrias, embora sem nunca se perder de vista a preponderância de certos
interesses metropolitanos. Como já foi notado, o EEP poderá ser visto como
parte integrante de uma estratégia mais ampla de reorganização do capital
industrial metropolitano, agora mais orientado para as chamadas indústrias
novas ou de base (siderurgia, metalurgia, químicos, petróleo), ou para a
exportação para mercados mais competitivos e, portanto, disponível para
promover alguma deslocalização industrial para a periferia ultramarina34.
Nalguns territórios, como Angola, a indústria ligeira passou a fornecer um
contributo importante para o respectivo PIB até às vésperas da indepen‑
dência, mas o desenvolvimento muito assimétrico entre as diferentes partes
constitutivas do EEP jamais foi superado, nem a filosofia subjacente ao pacto
colonial seria inteiramente revertida, circunstância que tenderia a agravar
o sentimento de «alteridade» das elites económicas da periferia imperial.
Mais relevante ainda, o esquema foi incapaz de travar a tendência para uma
maior integração regional das economias ultramarinas, pelo que o desígnio
da complementaridade metrópole‑ultramar ficou por cumprir.
Para as «forças vivas» das províncias, designadamente as de Angola, a
atmosfera criada pelo início da guerra deu‑lhes o ensejo para reivindicarem
uma maior autonomia na gestão dos seus destinos. Politicamente, não eram
um bloco homogéneo. Alguns pequenos e médios empresários brancos (e
mestiços), de inclinações democráticas e republicanas, situados sobretudo
no Centro‑Sul de Angola, criaram, em 1961, um movimento (Frente Unida
Angolana, FUA) com o propósito de preparar uma transição pacífica para
a independência, mas as autoridades salazaristas encararam tais apelos com
completa hostilidade e perseguiram os seus mentores35.
Os membros mais proeminentes, e abastados, da comunidade branca
enveredaram por outra postura. Contrariamente à FUA, descartavam por
completo a hipótese de um diálogo com líderes nacionalistas africanos mais
radicais, não estavam dispostos a renunciar aos privilégios que possuíam e
olhavam com admiração para o tipo de sociedades construídas pelas comu‑
nidades brancas da Rodésia e África do Sul. No entanto, apesar das suas
proclamações de «portuguesismo», estavam descontentes com a governação
centralista da metrópole e com a recusa de Salazar em rever os privilégios
dos interesses económicos estranhos ao território. Até finais de 1962, estes
estratos angolanos gozaram de alguma audiência junto do ministro do Ultra‑
mar e tiveram no governador Deslandes um importante aliado. Conseguiram
obter algumas concessões que iam ao encontro da sua vontade de autonomia
(maior número de vogais no Conselho Legislativo; aumento do número de
deputados da província à Assembleia Nacional; transferência para Angola
de alguns organismos de coordenação económica; aprovação de um ambicioso
Hist-da-Expansao_4as.indd 522 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 523
programa de modernização económica e social pelo governo‑geral; promessa
de criação de universidades locais), mas puseram Salazar de sobreaviso
quando Deslandes tomou a decisão de tributar alguns dos monopólios estran‑
geiros radicados no território, nomeadamente a toda‑poderosa Diamang36.
Entretanto, com a situação militar mais estabilizada, a preocupação de
Salazar de «apaziguar» os colonos angolanos diminuíra significativamente.
O centro imperial voltava a sentir‑se confiante para reafirmar a sua suprema‑
cia. O acerto de agulhas revestiu‑se de aspectos desconcertantes. Moreira, que
até certa medida era sensível às aspirações autonómicas das elites angolanas,
viu‑se envolvido num conflito de competências com Deslandes (Abril de
1962), precisamente em torno da questão da criação de novas universidades
ultramarinas, que acabaria por conduzir à demissão deste último. Mas, ao
fim de pouco tempo, tornou‑se claro que o problema era mais vasto e tocava
todo o programa de reformas que o ministro do Ultramar teria na forja, o qual
começava a ser visto como demasiado arriscado por sectores mais tementes
de uma alteração brusca ao statu quo.
Num acto pleno de simbolismo, Moreira decidiu convocar uma reunião
extraordinária do Conselho Ultramarino, em Outubro de 1962, para promo‑
ver uma discussão de fundo sobre a revisão da Lei Orgânica do Ultramar37.
Para estimular intervenções, o ex‑ministro, e agora governador de Moçam‑
bique, Sarmento Rodrigues, apresentara uma proposta de fundo onde se
preconizava a criação de um vice‑presidente do conselho com funções de
coordenação superior para os assuntos ultramarinos, o que parecia sugerir
uma evolução político‑administrativa inspirada nas mudanças constitucionais
que a França havia promovido após 194538. As reacções ao plenário, que
se desdobraria em duas sessões participadas por antigos ministros, grandes
figuras do regime e vários representantes das províncias, espelharam bem
as divergências que se debatiam no interior do Estado Novo – muitas vezes
numa espécie de langue de bois equivalente à dos sistemas comunistas. Para
lá de um quase «herético» memorial de Marcelo Caetano defendendo uma
transformação da fórmula do Estado unitário em Estado federal tripartido
(Portugal, Angola e Guiné, com Cabo Verde elevado à condição de «Ilha
Adjacente»)39, outras figuras de peso fizeram igualmente a apologia do «fede‑
ralismo ultramarino», o que desde logo intimidou muitos dos participantes.
O acórdão final, elaborado por um discípulo de Caetano, e futuro ministro
do Ultramar, Silva Cunha, procurou traçar o consenso possível ao rejeitar
tanto a via «federalista», como a da «integração administrativa». Incapazes
de se unirem em torno de um programa mínimo (e muito menos de um chefe),
os reformistas ultramarinos acabariam por perder um round decisivo contra
os grupos de interesse que temiam as consequências de uma reorganização
do sistema imperial susceptível de comprometer as bases da sua influência.
Hist-da-Expansao_4as.indd 523 24/Out/2014 17:17
524 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Com a saída de Adriano Moreira do governo, e o auto‑afastamento de per‑
sonalidades como Caetano, evaporavam‑se também quaisquer expectativas
que pudessem existir relativamente a uma abordagem mais heterodoxa ao
futuro do ultramar.
A nova Lei Orgânica do Ultramar (Abril de 1963) sinalizou uma vitória
dos «integracionistas», ao passar por cima de algumas das vias apontadas
no acórdão do Conselho Ultramarino. Descontando concessões pontuais
(de alguma relevância, porém, como autonomia para a elaboração dos orça‑
mentos), a matriz centralizadora manteve‑se mais ou menos intacta, pois os
órgãos de governo das províncias permaneciam subordinados, numa ampla
gama de competências, ao Ministério do Ultramar, os conselhos legislativos
pouco mais possuíam do que funções consultivas e, finalmente, os interesses
monopolistas não eram beliscados40.
Apesar de o ano de 1963 ter sido assinalado pela irrupção de mais um
foco de insurgência nacionalista, com as acções armadas do PAIGC na Guiné,
o regime parecia agora mais seguro quanto à possibilidade de estabilizar a
situação nas colónias. A insurreição da UPA, mal dirigida e com apoios escas‑
sos, não produzira um efeito de «contágio» em relação a outros povos de
Angola e rapidamente se percebeu que as divergências entre as organizações
independentistas ofereciam ao poder português um amplo campo de manobra
para a clássica estratégia de «dividir para reinar». Em termos domésticos, as
expressões de mal‑estar em relação ao problema colonial não se manifestavam
ainda de forma muito aguda na sociedade portuguesa. A defesa do ultramar
foi útil a Salazar para, de alguma forma, operar uma certa recomposição da
sua frente de apoio tradicional, que desde finais dos anos 1950 evidenciava
fracturas preocupantes. A potência dos mitos do nacionalismo imperial
ficou comprovada pela ausência de manifestações de dissidência nas Forças
Armadas durante vários anos, mal‑grado a quebra de candidatos à frequência
dos cursos da Academia Militar a partir da segunda metade da década de
1960. A Igreja Católica, apesar da abertura da Cúria Romana à dinâmica
descolonizadora, prestou‑se também a dar ampla caução ao esforço militar
em África, onde a sua presença estava largamente dependente dos apoios
estatais proporcionados ao abrigo do Acordo Missionário41. No âmbito deste
«consenso» reconstruído, houve até espaço para acolher alguns elementos
mais radicais (monárquicos integristas e neofascistas), que viram no frémito
ideológico suscitado pela reacção aos acontecimentos de Angola uma opor‑
tunidade para levar as autoridades salazaristas a assumirem uma postura
mais combativa relativamente às oposições de esquerda, designadamente nos
meios culturais, educativos e universitários42.
Um acontecimento revelador desta aparente recomposição da «frente
nacional» salazarista terá sido a megamanifestação de Agosto de 1963, que
Hist-da-Expansao_4as.indd 524 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 525
poderá ter reunido qualquer coisa como meio milhão de pessoas nas ruas da
Baixa de Lisboa e no Terreiro do Paço. A sua realização fora precedida por
rumores de que o presidente do Conselho estaria a ponderar a hipótese de
promover um «plebiscito» (em condições nunca esclarecidas) à continuidade
da sua política ultramarina. Face à mobilização atingida, Salazar decidiu dar
a nação por «consultada» e, algumas semanas volvidas, colocou um ponto
final nas dúvidas que ainda pudessem subsistir quanto à prossecução do
rumo definido desde 196143.
Jogar com a Guerra Fria
Nesta conjuntura, só mesmo uma pressão vinda do exterior poderia indu‑
zir mudanças no centro imperial. Essa pressão, contudo, embora existindo e
produzindo alguns efeitos mais indirectos, nunca foi suficiente para provocar
um sobressalto decisivo. É certo que alguns episódios não foram fáceis de
digerir, tendo alguns deles deixado feridas difíceis de cicatrizar, nomeada‑
mente na sempre sensível esfera dos contactos civis‑militares.
O mais sério terá sido o que envolveu o assalto da União Indiana aos
territórios do «Estado da Índia», em Dezembro de 1961. Subestimando o
tipo de pressões a que Nehru estava ele próprio sujeito, quer da parte dos
«falcões» do seu governo, quer da parte de franjas mais identificadas com o
compromisso anti‑imperialista da Índia, Salazar terá continuado a pensar que
o apego à reputação «pacifista» do estadista indiano poderia evitar o embate
violento. Na verdade, aquilo que o terá preocupado verdadeiramente era a
gestão de danos que se poderia fazer a partir de uma situação que reunia
todos os elementos para conhecer um desenlace violento.
Desde a ocupação dos enclaves de Dadrá e Nagar Aveli, em 1954, que
as únicas iniciativas empreendidas no território tinham passado por um
incremento do fomento económico local, ignorando‑se as expectativas refor‑
mistas alimentadas por segmentos das elites goesas mais ligadas a Portugal.
Do ponto de vista militar, as últimas veleidades em relação a um apetrecha‑
mento mínimo do dispositivo de defesa foram abandonadas. Mesmo uma
«resistência simbólica» dificilmente se poderia considerar viável. Em finais de
1961, a margem de procrastinação de Nehru tinha desaparecido. Os aspectos
mais brutais da resposta portuguesa à revolta angolana obtiveram um eco
fortíssimo nos círculos mais militantes do mundo afro‑asiático e não deixa‑
ram os meios políticos indianos, à esquerda e à direita, indiferentes.
A 18 de Dezembro de 1961, a União Indiana mostrou o seu músculo
militar: uma força de 45 mil homens, apoiados por meios aéreos e navais,
resolveu em menos de 36 horas a tímida oposição esboçada pelo contingente
Hist-da-Expansao_4as.indd 525 24/Out/2014 17:17
526 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
português (3500 homens, deficientemente apetrechados). O governador, e
comandante‑chefe, general Vassalo e Silva, decidira ignorar um telegrama
de Salazar exortando‑o à imolação dos marinheiros e soldados portugueses.
O assalto militar indiano, conduzido com sentido de contenção e proporcio‑
nalidade, deu azo a editoriais de censura a Nehru na imprensa ocidental, e a
discursos condenatórios no Conselho de Segurança da ONU pelo recurso à
força como forma de resolução do litígio, mas era difícil evitar a impressão
que tais declarações se limitavam a cumprir uma formalidade. Em poucas
semanas o assunto desapareceu da agenda internacional44.
Do ponto de vista das aparências, a crise deixou sequelas, mas, no plano
imediato, não causou danos de maior a Salazar. Graças à censura e aos instru‑
mentos de propaganda, foi possível disfarçar a real extensão da débâcle militar.
Perante uma opinião pública que estava longe de conhecer as ramificações e
complexidades do contencioso com a União Indiana, a lógica da vitimização
terá surtido algum efeito, pelo menos a aferir pela dimensão das manifestações
de luto e desagravo promovidas pelo regime ou pela Igreja. A punição infligida a
Vassalo e Silva e alguns dos membros do seu Estado‑Maior, todavia, não passou
despercebida nos meios castrenses: mais tarde, noutros contextos igualmente
adversos, o «fantasma de Goa» regressaria para ensombrar as relações entre
poder político e militares. No entanto, tanto Goa, como as outras duas relíquias
imperiais da Ásia Oriental, Macau e Timor, possuíam, de algum modo, um
estatuto especial. O governo tinha de ser visto a empregar todos os esforços
para salvar a «honra» portuguesa nesses locais, mas, atendendo à despro‑
porção de meios entre as potências que poderiam representar uma ameaça à
soberania lusa – a República Popular da China (RPC) e a Indonésia –, parecia
haver um entendimento não explicitado quanto à sua «indefensibilidade».
Em homenagem à ortodoxia ultramarina, porém, nenhuma cedência voluntária
era tida por aceitável – e de resto, a linguagem do diálogo e do compromisso
não fazia parte dos costumes do regime liderado por Salazar.
Por vezes, esta postura poderia dar origem a situações embaraçosas, até
sob o ponto de vista de um certo conceito de «dignidade» do poder. Entre
finais de 1966 e inícios de 1967, em plena «Revolução Cultural Proletária»
chinesa, a autoridade portuguesa em Macau sofreu verdadeiros tratos de
polé às mãos dos guardas vermelhos que fizeram a sua aparição no territó‑
rio. Depois de um conjunto de incidentes e motins, aos quais as forças de
segurança responderam de forma desajeitada, elementos sintonizados com a
guinada radical conferida por Mao Zedong ao curso da política chinesa infli‑
giram sucessivas humilhações aos representantes do poder português. A crise,
com antecedentes complexos que remetiam para determinadas escolhas das
autoridades portuguesas em matéria de concessões de monopólios dos jogos
de fortuna e azar, desenrolou‑se em várias etapas, mas só aparentemente se
Hist-da-Expansao_4as.indd 526 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 527
terá revestido de iniciativas «espontâneas». Tudo parece ter sido devidamente
calibrado para recordar aos Portugueses a noção precisa dos limites do seu
poder e reconfirmar o ascendente dos empresários capitalistas chineses que
desde 1949 se haviam tornado nos intermediários entre Lisboa e Pequim.
No auge do «transe revolucionário», a entrega do poder à RPC e a completa
evacuação da comunidade portuguesa (7 mil indivíduos, incluindo mil mili‑
tares) para Hong Kong chegariam mesmo a ser ponderadas pelo governador
Nobre de Carvalho, mas o envio de uma delegação de negociadores por Lis‑
boa ajudou a sanar o incidente. Mantendo um rigoroso blackout noticioso,
o regime logrou ocultar os aspectos mais melindrosos da «prostração» a que
o governador foi sujeito (incluindo um pedido de desculpas à comunidade
chinesa local e a aceitação de várias exigências de Pequim, como a ilegalização
do Kuomintang em Macau)45.
O incidente, que uns meses mais tarde teria uma sequela, na sequência
das intimidações exercidas pelos maoistas locais contra o cônsul britânico,
demonstrou, de forma cristalina, que a administração portuguesa em Macau
era viável apenas enquanto satisfizesse os superiores interesses da China
continental (o que continuava a suceder, em virtude da manutenção do
embargo estratégico liderado pelos EUA), pelo que vários autores vêem nele
o verdadeiro início do período pós‑colonial no território46.
Embora graves, os reveses da fortuna na Ásia acabariam por não se reves‑
tir de implicações estratégicas de monta. O foco do império era africano e
era aí que se jogavam os destinos do regime político que, de forma aparen‑
temente inexorável, a ele ligara a sua sobrevivência. Durante muito tempo,
a resistência salazarista à autodeterminação foi equacionada em termos de
«isolamento internacional». Esta ideia tem um fundo de verdade, mas precisa
de ser qualificada. Ao longo da década de 1960, é verdade que em areópagos
internacionais, como a ONU, a diplomacia portuguesa travou combates
difíceis, sem nunca receber muitas manifestações de apoio incondicional
(as excepções seriam a Espanha – mas só até certo ponto – e a República da
África do Sul, um Estado que um número significativo de países tratava como
um pária internacional). Em diversas ocasiões, tornou‑se mesmo difícil aos
seus principais aliados no Conselho de Segurança exercerem o seu direito
de veto em relação a certas resoluções hostis a Portugal, sobretudo se redi‑
gidas numa linguagem mais contida. O governo português, contudo, logrou
sempre evitar males maiores, ou seja, a possibilidade de ser alvo de sanções
económicas ou de um qualquer embargo multilateral. A solidariedade das
potências da NATO, nos momentos decisivos, tendeu a funcionar, e só na fase
final da guerra de África é que alguma vacilação começou a ser perceptível,
designadamente nas chancelarias de países onde governos de orientação mais
social‑democrata estavam no poder47.
Hist-da-Expansao_4as.indd 527 24/Out/2014 17:17
528 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Vistas bem as coisas, o regime português nunca recebeu um ultimato
digno desse nome por parte do único poder internacional – os EUA – que
estaria em condições de aplicar uma pressão desestabilizadora sobre a sua
posição. Foi apenas por um muito curto período que Washington se revelou
disposta a colocar o seu relacionamento com Lisboa sob tensão, com vista
a provocar uma inflexão nas políticas de Salazar. Mas os elementos que
preconizavam uma política mais sintonizada com as aspirações do naciona‑
lismo africano, e do Terceiro Mundo em geral, depressa perderam terreno
em favor daqueles que privilegiavam os deveres de lealdade dos EUA com
os seus aliados na NATO. Com as crises de Berlim e de Cuba em pano de
fundo ao longo de 1961‑1962, Salazar pôde explorar o seu trunfo estraté‑
gico número um: as facilidades militares oferecidas aos Norte‑americanos
(e Britânicos) no arquipélago dos Açores. Durante quase uma década, essas
facilidades seriam reguladas por um arranjo mais precário do que um tratado
de defesa bilateral, o compromisso possível tendo em conta o desacordo
insuperável entre as duas capitais em relação a certos princípios e o res‑
sentimento a cumulado por Salazar a respeito de atitudes da administração
Kennedy que interpretou como hostis48.
No entanto, apesar de resignados a viver com a obstinação de Lisboa,
as administrações democratas da década de 1960 não desistiriam de tentar
explorar as aberturas possíveis para sinalizar o seu apoio «construtivo» a
qualquer abordagem mais flexível dos Portugueses. Em finais de Agosto
de 1963, coincidindo com a conjuntura criada pelos rumores relativos ao
eventual «plebiscito» à política ultramarina, um emissário de Kennedy, o
subsecretário de Estado George Ball, tentaria persuadir Salazar a aceitar
a assistência financeira americana (na ordem dos 500 milhões de dólares)
para um plano de descolonização relativo à África Portuguesa, a realizar por
etapas, num horizonte temporal de dez anos. O cerne do plano seria aquilo
que os americanos designavam de «programa de desenvolvimento socioló‑
gico» (envolvendo uma escolarização acelerada da população africana, uma
formação também rápida de quadros e operários especializados e semiespe‑
cializados), que se articularia com algumas medidas de alcance mais político,
destinadas a preparar os territórios para a autodeterminação (alargamento do
corpo eleitoral, reforço da autoridade de órgãos como os conselhos legisla‑
tivos)49. O plano teria ainda uma segunda versão, apresentada em 1964, por
uma personalidade de menor relevo (o almirante Anderson, embaixador dos
EUA em Lisboa), mas em ambos os casos deparar‑se‑ia com a recusa liminar
de Salazar50. Seja como for, a verdade é que até ao termo da administração
Johnson (1963‑1968), e depois ainda mais no mandato de Richard Nixon
(1969‑1974), Portugal beneficiaria de uma atitude geralmente complacente
dos EUA no tocante à sua política ultramarina, circunstância explicável pela
Hist-da-Expansao_4as.indd 528 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 529
menor relevância estratégica do continente africano face a outros contextos
geopolíticos (Médio Oriente, Sudeste Asiático) nesta fase da Guerra Fria51.
Numa irónica sintonia com algumas das análises da esquerda radical ao
fenómeno do imperialismo, Salazar confidenciaria depois a colaboradores
mais próximos que não acreditava que Portugal pudesse aspirar a exercer
alguma influência «informal» ou «neocolonial» em África, uma vez quebra‑
dos os vínculos de controlo político directo52 – justificação que talvez não dê
conta de todas as motivações que o levavam a agarrar‑se tenazmente à causa
ultramarina, porventura o último álibi de que dispunha para preservar o país
dos «malefícios» e «tentações» que decorriam do progressivo estreitamento
dos laços entre Portugal e os países democráticos da Europa Ocidental.
Durante este período, as relações com a outra potência marítima com
a qual Portugal mantinha ainda um vínculo de algum significado, a Grã
‑Bretanha, conheceram também as suas oscilações: em parte devido à atitude
equidistante adoptada pelos Britânicos face à disputa com a União Indiana,
em parte pelo seu alinhamento com o embargo norte‑americano ao equipa‑
mento militar vendido a Portugal, mas, sobretudo, pelo bloqueio ao porto
da Beira que Londres decidira instituir em 1966, para impedir que Moçam‑
bique se tornasse a grande porta de entrada de artigos de contrabando para
a colónia rebelde da Rodésia53. No entanto, tal como sucedia com os EUA, o
interesse britânico em conservar Portugal na esfera da NATO tendeu sempre
a sobrepor‑se a quaisquer outras considerações.
Duas outras grandes potências, França e Alemanha, tiveram, até finais dos
anos 1960, senão até mais tarde, uma postura mais do que acomodatícia em
relação a Portugal. Sempre atenta a qualquer oportunidade para ganhar ter‑
reno face aos «anglo‑saxões», a França gaullista colaborou activamente nos
planos de modernização das Forças Armadas portuguesas e, em troca, pôde
contar com o acesso a facilidades na ilha das Flores para o desenvolvimento
do seu programa nuclear autónomo. Por seu turno, os Alemães Ocidentais
não se fizeram rogados quando se tratou de prestar esse tipo de assistência
a Portugal e puderam, também eles, contar com facilidades em território
português (base militar de Beja)54. Empresas de ambos os países seriam, aliás,
recompensadas na transição do salazarismo para o marcelismo com a adjudi‑
cação a um consórcio que integravam (juntamente com os Sul‑africanos) da
empreitada relativa à construção da barragem de Cahora Bassa, na garganta
do rio Zambeze, um investimento cujo sentido estratégico transcendia os
cálculos económicos de sentido mais imediato55.
Este reajustamento das alianças externas ficaria completo por volta de
1970, quando a intensa cooperação entre Portugal e os outros dois bastiões
brancos da África Austral, a Rodésia e a África do Sul, se viu formalizada
no chamado «exercício» ou «aliança» Alcora (1970), um pacto secreto de
Hist-da-Expansao_4as.indd 529 24/Out/2014 17:17
530 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
segurança mútua sedimentado pela orientação anticomunista dos três esta‑
dos e pelo seu desejo comum de conter a ascensão do nacionalismo negro
na região. Apesar dos riscos que uma aproximação a estes dois «párias»
internacionais comportava, não deixa de ser sintomático que Caetano tenha
dado o seu aval a um entendimento desta natureza que, sabe‑se agora, num
estádio mais avançado previa inclusivamente planos elaborados para uma
integração económica regional56.
À consolidação deste reduto branco não foram alheios outros factores. Por
volta de 1970, a euforia que uma década antes acompanhara a grande vaga
das independências africanas dera lugar ao desapontamento pela trajectória
percorrida por muitos dos novos países. Golpes militares, conflitos secessio‑
nistas, massacres interétnicos e situações de colapso económico enformavam
agora muitas das percepções relativas ao continente nos países ocidentais.
Na URSS pós‑Khrushchev as dúvidas quanto à viabilidade de uma política
mais interventiva no Terceiro Mundo estavam firmemente instaladas. A gestão
estratégica da détente com os EUA, em particular, retiraria a África da lista
de prioridades imediatas de Moscovo, pelo menos até meados da década
seguinte. A cisão sino‑soviética não deixara de estimular alguma competição
entre as duas potências comunistas pelo Mundo fora, mas essa dimensão
não deve ser exagerada – os apoios aos movimentos de libertação em África
assumiram sempre uma escala relativamente modesta, dificilmente susceptível
de alterar a relação de forças no terreno. Não menos importante, a avaliação
que os EUA (e outras potências ocidentais) faziam dos custos e benefícios
de uma mudança no statu quo por volta de 1970 deve ser tida em conta.
A concessão da exploração petrolífera em Cabinda a uma multinacional
norte‑americana (Gulf Oil), o acesso a minerais estratégicos na Namíbia
(urânio), Rodésia (crómio) e África do Sul (ouro), as facilidades militares
oferecidas por Pretória, e o volume dos investimentos e trocas comerciais
com alguns destes países (sobretudo a África do Sul) estiveram na base da
reapreciação conduzida pela administração Nixon em 1969. Num estudo
pedido pelo presidente (National Security Study Memorandum – 39), os
estrategas da Casa Branca defendiam os benefícios de um desenvolvimento
económico na África do Sul estimulado pelo investimento estrangeiro e
depositavam também algumas esperanças na liberalização em Portugal, uma
vez consumada a passagem de testemunho de Salazar para Caetano. Embora
não indo ao ponto de advogar um levantamento dos embargos e sanções que
recaíam sobre os três regimes brancos, o documento mostrava bem até que
ponto uma abordagem mais talhada segundo a lógica da realpolitik havia
triunfado em Washington57.
Hist-da-Expansao_4as.indd 530 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 531
Corrida contra o tempo
Significaria isto que o tempo corria a favor de Portugal? Manifestamente,
não foi esse o sentimento que acompanhou Marcelo Caetano no decurso dos
seus seis anos na Presidência do Conselho (1968‑1974), um mandato que,
na sua fase inicial, esteve rodeado de fortes expectativas no tocante a uma
eventual liberalização do regime. Com uma auréola de «modernizador», o
sucessor de Salazar revelaria, contudo, grande relutância em construir pontes
com figuras do regime mais abertas à mudança das políticas ultramarinas,
as quais lhe poderiam ter dado outra confiança para enfrentar os grupos de
pressão que tinham no presidente da República, o almirante Américo Thomaz,
o seu principal cúmplice e esteio.
Em bom rigor, a sua própria visão acerca do impasse ultramarino – que
entretanto havia evoluído para uma confrontação desdobrada em três teatros
de operações (a Guiné desde 1964 e Moçambique desde 1965), fixando um dis‑
pendioso contingente de cerca de 117 684 militares em África em 196858 – era
quase inescrutável. Depois de uma longa carreira ao serviço do Estado Novo,
incluindo um período de três anos como ministro das Colónias (1944‑1947),
as suas posições relativamente ao futuro do ultramar tinham, em diversos
momentos, divergido das tendências «integracionistas» mais dogmáticas que
se haviam imposto como doutrina oficial. Em 1962, já o vimos, Caetano pre‑
conizara uma «ousada» reconfiguração federalista do império, a qual poderia
abrir caminho para vários cenários de descolonização. No entanto, ao aceitar
as restritivas condições de investidura impostas por Thomaz (a «intocabili‑
dade» da política de defesa do ultramar definida por Salazar), viu‑se privado
de margem de manobra para empreender uma verdadeira mudança de para‑
digma nesse domínio. Slogans como a «autonomia progressiva e participada»
ainda chegaram a alimentar algumas ilusões quanto a uma possível viragem
reformista mas, na hora da verdade, os guardiães do statu quo levariam a
melhor. Em 1972, uma nova Lei Orgânica do Ultramar rendia homenagem à
ideia autonomista ao atribuir, simbolicamente, o título de «Estados» a Angola
e Moçambique, dotados de assembleias com iniciativa legislativa (e eleitas por
sufrágio directo, a partir de um corpo eleitoral três vezes maior) e tribunais
próprios até ao nível da Relação – mas, num contexto não‑democrático, era
legítimo perguntar‑se qual o verdadeiro alcance de tais medidas. Em última aná‑
lise, as alavancas do sistema continuavam em Lisboa, que retinha a faculdade
de nomear o governador‑geral (perante o qual todos os outros órgãos estavam
subordinados) e conservava todo um conjunto de poderes de reserva e meios
de fiscalização sobre assuntos vitais para a vida económica dos territórios59.
Até certo ponto, o recuo de Caetano era compreensível. O quadro geral
do período tardo‑colonial português é eminentemente complexo e repleto
Hist-da-Expansao_4as.indd 531 24/Out/2014 17:17
532 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de facetas paradoxais, quase fazendo lembrar a análise de Tocqueville à
crise terminal da monarquia absolutista em França. Esse período apresentou
características que o distinguiam de fases precedentes, com a sua ênfase na
«planificação», «investimento público», «desenvolvimento económico»,
«bem‑estar social», políticas públicas desenhadas por «especialistas» e um
compromisso (muitas vezes mais retórico do que real) com o convívio mul‑
tirracial e o respeito pelas identidades culturais dos povos que compunham o
«Portugal ultramarino». Era, uma vez mais, a tentativa de ajustar a «missão
civilizadora» à linguagem e às noções de legitimidade da época (embora já
com algum desfasamento). Como já referimos, é possível que os balanços
negativos de muitas transições pós‑coloniais tivessem inicialmente incutido
em Caetano a ilusão de que o tempo ainda corria a favor de uma transição
mais distendida, sem calendários de saída pré‑definidos. Por outro lado, a sua
prudência no relacionamento com alguns generais mais carismáticos, e deten‑
tores de agendas políticas próprias (Spínola na Guiné e Kaúlza de Arriaga
em Moçambique), tornou‑o refém das suas estratégias de escalada militar,
que, como é sabido, acabariam por não produzir os resultados esperados60.
Até bastante tarde, os responsáveis portugueses parecem ter acreditado
que o seu «génio específico» de construtores de impérios talvez os poupasse
aos desaires de outras potências apanhadas em situações semelhantes. Con‑
tra todas as previsões, tinham conseguido aguentar mais de uma década de
guerra em três frentes, sem sinais de ruptura à vista, e sem comprometer a
trajectória de crescimento económico que o país conhecera desde a década
de 1950. A evolução do conflito nos três teatros não foi linear e, na fase
final do marcelismo, apresentava facetas muito contrastantes: na Guiné, a
combinação de uma abordagem de «punho de ferro e luva de veludo», com
incursões aos santuários do PAIGC em países vizinhos, não fora suficiente
para quebrar os laços entre guerrilha e alguns dos grupos étnicos mais hostis
ao poder português61. Em Moçambique, a grande operação visando atingir
a Frelimo no seu bastião maconde («Nó Górdio», Julho‑Agosto de 1970)
falhara os seus principais objectivos e, inadvertidamente, acabaria por faci‑
litar uma dispersão da guerrilha a zonas que até aí haviam sido poupadas
ao impacto da guerra62. Mas em Angola – o eterno El Dorado do imaginário
imperial português – a situação tornou‑se confortável a partir de 1971‑1972,
data a partir da qual as guerrilhas independentistas praticamente deixaram
de realizar acções com impacto significativo na segurança do território63.
Por que foi preciso esperar 13 anos até que vários elementos das Forças
Armadas se interrogassem a sério sobre a sustentabilidade de uma política
avessa a qualquer compromisso negociado, que nenhuma das outras potên‑
cias europeias, mais ricas e poderosas, achara possível levar por diante?
Há várias explicações possíveis. Ao contrário de outras potências ocidentais
Hist-da-Expansao_4as.indd 532 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 533
que até certa altura também procuraram soluções militares para o desafio das
forças anticoloniais, os governos portugueses estavam poupados ao escrutínio
de uma opinião pública livre e informada, de um parlamento democrático
ou de uma magistratura independente. Mas mesmo um regime repressivo e
autoritário como o Estado Novo não podia alhear‑se do desgaste que, ine‑
vitavelmente, resultaria do esforço de recrutamento e dos elevados custos
associados à manutenção de substanciais contingentes militares em África.
Nesse sentido, procurou‑se, na maior parte do tempo, seguir uma estratégia
de baixa intensidade, com uma gestão apertada dos recursos disponíveis e
alguma partilha do fardo com as colónias64. Embora a partir de 1968 se
começasse a verificar um esgotamento do potencial humano metropolitano
para as Forças Armadas, foi possível mitigar esse problema através de um
incremento do recrutamento local (entre 1968 e 1973, o número de tropas
recrutadas localmente nos três teatros operacionais passou de 37 861 para
61 816, o que correspondeu a um aumento percentual de quase 10 por cento
em relação ao seu contributo para o esforço global)65. A circunstância de o
ciclo de conflitos no ultramar português ter tido lugar imediatamente após
as guerras de descolonização de Franceses e Britânicos forneceu também ao
Exército português um repertório de ensinamentos que seria depois vertido
numa doutrina de contra‑insurreição aplicada de forma consistente. Essa
doutrina privilegiava o emprego de unidades de Infantaria ligeiras, uma
ocupação tão densa quanto possível das regiões mais expostas à «subversão»
(o sistema da quadrícula), a conquista da confiança das populações (através
da prestação de vários serviços sociais e da «acção psicológica»), bem como
o seu eventual reassentamento e concentração em aldeamentos fortificados
protegidos por milícias de autodefesa66. Grande ênfase foi igualmente colo‑
cada no entrosamento entre Forças Armadas e os serviços de informações,
bem como na constituição de unidades de forças especiais (muitas vezes
usando «arrependidos» dos movimentos de libertação), ou até no emprego
de dissidentes de países africanos vizinhos (Catangueses e Zambianos em
Angola, por exemplo)67.
Evitar que a mensagem dos insurgentes pudesse encontrar eco entre
as populações era geralmente visto como a chave para o êxito neste tipo
de conflitos – pelo menos, era essa a lição da Malásia, onde os Britânicos
conduziram uma longa (e em muitos aspectos impiedosa) campanha para
isolar e neutralizar as guerrilhas comunistas locais. Neste capítulo, apenas
parcialmente os Portugueses terão sido bem‑sucedidos, pois nem sempre
foi possível aos militares e civis mais implicados nos programas de contra
‑insurgência convencer os colonos a aceitar certas iniciativas orientadas para
o bem‑estar do campesinato africano68. Por outro lado, embora as Forças
Armadas e outros técnicos se tivessem empenhado seriamente na prestação
Hist-da-Expansao_4as.indd 533 24/Out/2014 17:17
534 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
de vários serviços (assistência médica, educação, melhoramentos agrários e
materiais) às populações transferidas para aldeamentos, estas com frequência
ressentiam‑se da desestabilização que isso trazia aos seus hábitos e modos de
vida tradicionais. Embora em Angola tivesse sido possível desenvolver esta
«engenharia social» em grande escala e com alguma eficácia (no início dos
anos 1970 haveria perto de um milhão de angolanos nestas condições), em
Moçambique a resistência do campesinato parece ter sido maior, algo que
se pode aferir pela sucessão de recontros violentos e atrocidades envolvendo
forças portuguesas em zonas povoadas por populações seminómadas, sus‑
peitas de prestar assistência aos guerrilheiros da Frelimo69.
Outra faceta ambivalente deste período prende‑se com a forma como a
guerra veio, simultaneamente, criar perspectivas de progresso económico,
proporcionar ao Estado meios inéditos de penetração social e, por fim, pro‑
vocar um aumento das tensões entre o poder metropolitano e os colonos.
Como seria de esperar, o aumento da população europeia (em Angola o
seu número cresceria de cerca de 172 mil em 1960 para cerca de 280 mil em
1970; em Moçambique, a variação é de cerca de 97 mil para cerca de 162 mil
no mesmo período)70 e a permanência de um corpo expedicionário nos três
teatros que oscilou entre os cerca de 40 mil (1961) e os cerca de 88 mil homens
(1973)71, acompanhados em muitos casos das respectivas famílias, foram um
estímulo à expansão dos mercados coloniais, tanto ao nível dos bens de con‑
sumo, como dos produtos industriais intermédios. Com um sector extractivo
significativo (diamantes, petróleo, minério de ferro), Angola registou taxas
de crescimento anuais superiores a 7 por cento entre 1961 e 1973, sendo o
13.º país africano com maior rendimento por habitante72; sem chegar perto
destes indicadores, Moçambique continuou a gerar um volume apreciável
de divisas graças aos seus portos, caminhos‑de‑ferro, turismo e remessas de
emigrantes nas minas da África do Sul, ao mesmo tempo que arrancava com
um programa de industrialização de substituição de importações. O estado de
hostilidades serviu também de pretexto para a realização de investimentos em
infra‑estruturas (estradas alcatroadas, pontes, aeródromos, telecomunicações,
escolas, clínicas) há muito reclamados nos territórios, investimentos esses que
terão permitido ao Estado colonial afirmar, finalmente, uma presença efectiva
em zonas mais isoladas de Angola e Moçambique73. Paralelamente, vários
organismos metropolitanos continuaram a fomentar esquemas de povoamento
dirigido, nalguns casos com uma maior ênfase na promoção do convívio mul‑
tirracial, que pudessem servir de tampão à progressão da guerrilha.
Este dinamismo económico, porém, tinha o seu reverso. Para satisfazerem
o aumento da procura interna e aplicarem certos programas de fomento
económico, as províncias esgotaram muito rapidamente os seus créditos
no sistema de pagamentos da zona escudo, acumulando saldos negativos
Hist-da-Expansao_4as.indd 534 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 535
permanentes na balança comercial e nas operações de invisíveis74. Era o
velho problema dos «atrasados», que em 1971 levaria mesmo à suspensão
dos mecanismos aprovados no âmbito do EEP e, na prática, ao abandono
desse projecto. O governo procurou resolver a situação através de restrições
às importações oriundas da metrópole, de controlos cambiais mais rígidos,
e da introdução de um plano escalonado para o pagamento das dívidas acu‑
muladas. Esperava‑se que, através de uma industrialização orientada para a
substituição de importações, as colónias pudessem restaurar algum equilíbrio
às suas contas, mas, como seria de esperar, tais restrições causaram mal‑estar
entre as elites empresariais ultramarinas. Nas vésperas do 25 de Abril, a ten‑
tação de uma «via rodesiana» para a emancipação de Angola (independência
sob a hegemonia dos colonos brancos) parecia estar a ganhar um número
crescente de adeptos75.
As medidas de saneamento financeiro adoptadas em 1971 induziram
igualmente um afrouxamento dos laços comerciais entre o centro e as peri‑
ferias imperiais, tendência que, de resto, vinha acentuando‑se desde 1962.
De acordo com Ennes Ferreira, entre essa data e 1973 a quota das cinco
províncias africanas no destino das exportações portuguesas caiu de 22,2
para 14,6 por cento; quanto às importações oriundas do ultramar, o recuo
foi de 12,5 para 9,6 por cento76. No tocante ao investimento metropolitano
em África, a tendência foi igualmente regressiva: de um peso relativo de
34,8 por cento em 1971 para 16,6 por cento em 197377. A evolução de outros
indicadores é também reveladora deste «deslaçamento». Assim, o contributo
das colónias para a balança de pagamentos portuguesa (através de ganhos
de divisas e outras receitas), um factor muito valorizado até inícios da década
de 1960, deixou de ser decisivo a partir do decénio seguinte, muito por causa
do incremento das remessas enviadas pelos emigrantes estabelecidos em países
europeus e das receitas geradas por um sector do turismo em expansão78.
Esta tendência seguia paralela a uma outra, também de significado pro‑
fundo: a crescente intensidade das conexões entre Portugal e a Europa Oci‑
dental (países da CEE e EFTA), do comércio aos investimentos, da emigração
à circulação e socialização das elites. Entre 1960 e 1973, as importações oriun‑
das dos nove países que a partir do último ano passaram a constituir a CEE
cresceram de 39 para 45 por cento, e as exportações de 21 para 48 por cento79.
Sectores que em anteriores conjunturas de crise haviam encarado as colónias
como tábuas de salvação, como a indústria têxtil nortenha, passaram a olhar
para o império como um colete‑de‑forças que os inibia de tirar maior partido
das oportunidades oferecidas pelos mercados europeus, ao mesmo tempo
que os expunha à concorrência asiática por via de Macau80. O mesmo seria
válido, até certo ponto, para os mais modernos oligopólios do Estado Novo,
os quais, não obstante possuírem ainda significativos interesses em África,
Hist-da-Expansao_4as.indd 535 24/Out/2014 17:17
536 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
cada vez mais apostavam em diversificar as suas operações e investimentos.
Alguns deles, como o grupo de António Champalimaud, chegariam mesmo a
dar sinais de poder apoiar soluções alternativas (de inspiração «neocolonial»)
à ortodoxia ultramarina vigente81.
A ausência de uma estratégia de descolonização e de democratização
inviabilizava uma candidatura à CEE, organização que em finais de 1969
iniciara um processo negocial com vista ao seu alargamento, algo que também
inquietava as elites tecnocráticas pró‑europeístas que até aí haviam deposi‑
tado alguma esperança no ímpeto modernizante do marcelismo. Sem poder
acompanhar o Reino Unido e outros membros da EFTA, Portugal teria de
se contentar com um acordo comercial com Bruxelas (1972) que, aos olhos
de alguns, se limitava a mitigar as consequências mais gravosas de uma mar‑
ginalização do país face ao aprofundamento das modalidades de integração
económica e cooperação política em desenvolvimento na CEE – as quais,
de resto, até previam mecanismos específicos para encorajar a manutenção de
ligações comerciais e económicas às antigas colónias africanas (convenções
de Yaoundé)82.
O receio, a indecisão ou a falta de imaginação política de Caetano – total‑
mente refém da direita ultramontana após a recondução de Américo Thomaz
na Presidência da República, em Julho de 1972 – abriram pois espaço para
que no interior das Forças Armadas se começasse a equacionar cenários alter‑
nativos para o impasse ultramarino. Nem todos estavam dispostos a admitir
um corte demasiado brusco com o statu quo. Para militares como Spínola
(que em 1972 tentara abrir um diálogo com o PAIGC, através do presidente
do Senegal, mas que Caetano acabaria por vetar), a fórmula mais tentadora
era aquela que os Franceses haviam tentado pôr de pé em finais dos anos
1950: a outorga da autodeterminação aos seus territórios africanos, mas
com a reserva de importantes competências para o antigo centro imperial.
A visão do ex‑governador da Guiné viria a ser apresentada de forma mais
elaborada em Fevereiro de 1974, num livro (Portugal e o Futuro) cuja simples
publicação deixava antever a ruptura iminente entre as Forças Armadas e
o regime. Na realidade, como já foi observado, em muitos aspectos a obra
até se aproximava do pensamento de Caetano em 196283. Impregnado de
muitos dos lugares‑comuns do «luso‑tropicalismo», Spínola não admitia
sequer a hipótese de as populações ultramarinas poderem repudiar os seus
vínculos políticos com Portugal e, com alguma candura, parecia acreditar que
o Brasil estaria disposto a caucionar os desígnios pós‑imperiais de Portugal,
tornando‑se parte de uma «Comunidade Luso‑Afro‑Brasileira». Porventura
com mais realismo, o empresário e político Jorge Jardim tentou explorar,
com o apoio discreto do presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, o cenário
de uma independência «multirracial» em Moçambique, onde os colonos
Hist-da-Expansao_4as.indd 536 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 537
brancos retivessem alguma influência, mas onde políticos africanos figurassem
em posições de destaque, solução que deveria envolver a abertura à Frelimo,
eventualmente a partir de potenciais trânsfugas84.
Tanto Spínola como Jardim, dois salazaristas ortodoxos quando as guer‑
ras deflagraram, deixaram de acreditar na sustentabilidade das políticas de
Caetano, por estarem bem familiarizados com os dois teatros onde, a partir
de 1972‑1973, os desafios que se colocavam às autoridades portuguesas
começaram a revestir‑se de especial delicadeza.
Na Guiné, e não obstante as suas disputas internas (a clivagem cabo
‑verdianos/guinéus), o PAIGC provara ser uma organização resiliente e eficaz,
e com acesso a equipamento cada vez mais sofisticado, como os mísseis terra
‑ar que praticamente anularam a capacidade aérea portuguesa a partir do
Verão de 1973. Em finais desse ano, culminando uma bem urdida estratégia
política, o movimento foi capaz de organizar uma proclamação de indepen‑
dência em Madina do Boé, uma das regiões evacuadas pelos Portugueses
na sua lógica de «concentração» de meios em posições mais defensáveis.
Seguir‑se‑ia depois uma não menos bem‑sucedida manobra diplomática nas
Nações Unidas, que granjearia ao novo «Estado» o reconhecimento de mais
de 50 estados‑membros no decurso da Assembleia Geral de 1973‑1974 – um
desafio à noção de soberania «pluricontinental» sobre a qual assentava boa
parte da mística imperial lusitana85.
Em Moçambique, dois acontecimentos sinalizaram de forma eloquente
as dificuldades crescentes dos Portugueses. O primeiro foi o escândalo inter‑
nacional desencadeado pela revelação em Inglaterra, em manchete no The
Times, de um brutal massacre de aldeões no distrito de Tete por elementos de
uma companhia de comandos portugueses. O episódio trouxe de volta para
a ribalta internacional um conflito que nos últimos anos resvalara para uma
semiobscuridade e, de uma penada, desfez anos de esforços propagandísticos
que visavam apresentar a uma luz mais favorável os alegados sucessos de
Portugal na conquista dos africanos para o seu projecto de «multirracialismo
progressivo»86.
Incomodados com as circunstâncias em que o poder político procedeu à
destituição do comandante da Zona Operacional de Tete, no termo de um
inquérito oficioso aos acontecimentos, os militares voltaram a experimentar
a sensação que já haviam tido aquando da queda da Índia – um regime que
nas questões da «honra» e do patriotismo imperial se preocupava, acima
de tudo, em não perder a face teria sempre a tentação de os converter em
bodes expiatórios de eventuais desaires. Spínola pudera senti‑lo em 1972,
quando Caetano, ao justificar a proibição do prosseguimento de contactos
com o PAIGC, lhe confidenciara que dos exércitos se esperava que, mais do
que vencer, se batessem bem. Em Moçambique, um segundo episódio nos
Hist-da-Expansao_4as.indd 537 24/Out/2014 17:17
538 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
primeiros meses de 1974 – as manifestações de hostilidade dos colonos face
à alegada «passividade» dos oficiais em comissão perante a crescente acti‑
vidade operacional da Frelimo em Manica e Sofala – adensou ainda mais a
preocupação dos militares do quadro permanente. Estes desenvolvimentos
corriam paralelos à contestação de contornos corporativos, iniciada por mili‑
tares de patente intermédia (o «movimento dos capitães»), contra medidas
governamentais destinadas a resolver o problema da renovação das comissões
dos oficiais com funções de comando operacional (através da integração de
milicianos com experiência no quadro permanente das Forças Armadas, após
frequência encurtada de cursos na Academia Militar).
Como observou Pulido Valente, mais do que qualquer «contaminação
ideológica», aquilo que levou a conspiração a ganhar um ímpeto decisivo
terá sido a convicção de que apenas o fim da guerra poderia evitar a repeti‑
ção de tais problemas e, a seu tempo, criar as condições para a restauração
do prestígio de um corpo de oficiais esgotado e desmotivado87. Desse modo,
aqueles que haviam sido os principais sustentáculos do «terceiro império
português» – e do regime político que a ele se ligara de forma visceral nos
últimos anos – tornar‑se‑iam os seus inesperados coveiros.
Requiem imperial
A rapidez com que a liquidação do projecto imperial foi realizada – ano
e meio volvido sobre o 25 de Abril de 1974 todas as cinco colónias africanas
tinham alcançado a independência e mais de meio milhão de portugueses
foram repatriados para a metrópole – não se deveu apenas à convicção de que
essa seria a forma mais eficaz de Portugal cortar as amarras com o passado
autoritário e encontrar novas formas de se posicionar na arena internacional;
a pressa em liquidar o «passivo colonial» era um desígnio que parecia reunir
amplos apoios na sociedade portuguesa e que certamente conquistara mais
adeptos assim que os efeitos da recessão desencadeada pela crise energética
de 1973 se começaram a fazer sentir de forma mais notória.
Em apenas três meses, ou seja, entre a apresentação do programa do Movi‑
mento das Forças Armadas (MFA) pelo presidente da Junta de Salvação Nacio‑
nal, general António de Spínola, no dia 26 de Abril de 1974, e a promulgação,
pelo mesmo, da Lei 7/74, de 27 de Julho, reconhecendo, sem ambiguidades, o
direito das populações ultramarinas à autodeterminação e à independência,
as decisões críticas em relação ao futuro do ultramar foram tomadas.
Nesse intervalo, goraram‑se os esforços de Spínola para promover consultas
de tipo plebiscitário nos vários territórios, a fim de permitir que alguma espécie
de vínculo político com Portugal pudesse ser salvaguardado. Tal desiderato
Hist-da-Expansao_4as.indd 538 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 539
deparou‑se com a resistência imediata das franjas mais militantes da esquerda
metropolitana, mas também, de forma mais ou menos velada, com a oposi‑
ção dos membros da Comissão Coordenadora do Programa do MFA, que
não tardou a adquirir um ascendente decisivo sobre a maioria dos oficiais de
patente intermédia, sargentos e praças nos três territórios ainda em guerra.
Além‑fronteiras, os planos de Spínola foram denunciados como uma
cabala «neocolonial» pelos movimentos de libertação e os seus apoiantes e
recebidos com um misto de indiferença e cepticismo pela generalidade das
chancelarias ocidentais. A ideia de que Portugal deveria entender‑se com aque‑
les que a ONU e a Organização da Unidade Africana (OUA) haviam reco‑
nhecido como os «interlocutores legítimos» de um qualquer compromisso
para a independência foi‑se impondo nas primeiras semanas após o golpe
de Estado. Por entre boicotes ao embarque de tropas em Lisboa, ultimatos
emitidos por plenários do MFA na Guiné, Angola e Moçambique, e notícias
que davam conta de confraternizações «espontâneas» entre militares portu‑
gueses e guerrilheiros (ou, inversamente, do recrudescimento de combates e
emboscadas), a estratégia do antigo governador da Guiné foi perdendo gás88.
Para os políticos civis, nomeadamente os mais bem relacionados em termos
internacionais, como o socialista Mário Soares, a insistência de Spínola na ideia
de consultas era vista como irrealista e, em última análise, perigosa. Um pro‑
grama de descolonização naqueles moldes jamais convenceria os partidos
armados a chegar a um cessar‑fogo com Portugal e, na metrópole, era certo e
seguro que se depararia com uma oposição encarniçada por parte dos sectores
com maior capacidade de mobilização – ou seja, para ser levado por diante,
teria de se apoiar em instituições repressivas próprias de uma ditadura. Ora,
no contexto político da época, isso pura e simplesmente deixara de ser viável,
como o próprio Spínola acabaria por reconhecer, em finais de Julho de 197489.
Uma vez clarificado este ponto, as negociações relativas aos dois territórios
onde Portugal se defrontava apenas com um movimento de guerrilha, ou um
«movimento de libertação» que lograra alcançar um reconhecimento interna‑
cional por via da ONU ou OUA, avançaram depressa. Em Agosto e Setembro
de 1974, em Argel e Lusaca, foram concluídos os dois primeiros acordos de
independência – o primeiro com o PAIGC (26 de Agosto), o segundo com
a Frelimo (7 de Setembro). Poucos meses depois, seria a vez de São Tomé e
Príncipe (17 de Dezembro) e de Cabo Verde (19 de Dezembro). Angola, desde
cedo identificada como um caso especial, pela circunstância de os nacionalistas
angolanos se encontrarem divididos em três movimentos rivais, teria o seu
acordo assinado a 15 de Janeiro de 1975, na vila do Alvor.
À parte algumas nuances formais, o resultado prático de todos os proces‑
sos de transição para a independência foi o mesmo – o advento de regimes
de partido único e uma retirada em massa da população de origem europeia.
Hist-da-Expansao_4as.indd 539 24/Out/2014 17:17
540 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
No caso da Guiné, a força local de uma comissão do MFA totalmente sin‑
tonizada com as exigências do PAIGC e os êxitos somados por este na arena
diplomática transformaram o acordo num simples reconhecimento de jure
da República da Guiné‑Bissau, deixando‑se às Forças Armadas portuguesas
dois meses para se retirarem do território. O acordo relativo a Moçambique
reconhecia igualmente que Portugal tinha apenas um interlocutor legítimo
para fixar os arranjos para a independência, pelo que a transferência de
poderes se faria para um governo da Frelimo, numa cerimónia simbolica‑
mente agendada para o aniversário da sua fundação (25 de Junho). Até lá,
funcionaria um governo de transição cuja composição seria determinada
pelas duas partes, sendo a respectiva liderança entregue a um alto‑comissário
indicado por Lisboa.
Na sequência do compromisso assumido no acordo com o PAIGC, os
decisores portugueses comprometeram‑se com a reafirmação do direito à
autodeterminação e independência do arquipélago de Cabo Verde, mas as
condições da sua realização seriam reguladas numa negociação à parte. Nesse
âmbito, e uma vez que no arquipélago o mesmo partido não podia reivindicar
uma legitimidade derivada da condução de acções armadas contra o regime
colonial, ficaram previstas eleições para uma assembleia constituinte, basea‑
das no sufrágio directo e universal, a qual deveria determinar a organização
do futuro sistema político do país. A mesma lógica prevalecia no acordo
relativo a São Tomé e Príncipe, onde o Movimento de Libertação de São Tomé
e Príncipe (MLSTP) era reconhecido como «interlocutor único e legítimo»
da população das ilhas, mas depois vinculado à realização (em moldes não
definidos) de uma eleição para uma assembleia representativa com poderes
constituintes. Em ambos os casos, porém, e com a assistência activa de alguns
militares do MFA, os dois partidos obtiveram a totalidade dos mandatos em
eleições que, na prática, se limitaram a confirmar a hegemonia conquistada
no período subsequente à assinatura dos acordos90. A violência nem sempre
esteve ausente destas passagens de testemunho. Em Cabo Verde e São Tomé,
algumas organizações que tentaram desempenhar um papel no processo
eleitoral foram intimidadas e perseguidas, por vezes com a conivência dos
militares portugueses (alguns elementos seriam mesmo internados no campo
de concentração do Tarrafal, que havia sido reaberto em 1961 para acolher
militantes nacionalistas africanos)91.
Em Moçambique, no rescaldo imediato da assinatura do Acordo de
Lusaca, Lourenço Marques assistiria a uma tentativa desesperada por parte
de uma frente de descontentes (rivais africanos da Frelimo, antigos elementos
da Acção Nacional Popular, ex‑militares com raízes no território) com aquilo
que interpretaram como uma capitulação ao movimento liderado por Samora
Machel. O levantamento de 7 de Setembro de 1974 seria neutralizado, a
Hist-da-Expansao_4as.indd 540 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 541
algum custo, na sequência de uma diligência de Spínola, e depois de uma
intervenção de pára‑quedistas chamados de Nampula, mas a extrema fero‑
cidade das confrontações não augurava nada de bom para o futuro do con‑
vívio político e racial em Moçambique. Para além do ajuste de contas que a
Frelimo viria a realizar posteriormente com os políticos africanos implicados
no golpe, o episódio adensou os receios de Machel em relação à lealdade dos
ex‑colonos e fê‑lo enveredar por uma retórica chauvinista que, até à data da
independência, estimulou a debandada da população de origem europeia e
de outras comunidades mais conotadas com o antigo poder colonial, como
a ismaelita e a chinesa92.
Nada disto, porém, se compara com o final cataclísmico do domínio por‑
tuguês em Angola, o território cujos arranjos para a independência Spínola
ainda julgou ser possível influenciar até a crise do 28 de Setembro de 1974
ter forçado a sua saída de cena. Já não com a veleidade de prevenir uma inde‑
pendência, mas tão‑somente com o intuito de garantir alguma participação da
população branca, e de outras forças políticas entretanto criadas, na transição
política que se avizinhava93. Uma vez mais, a relação de forças na metrópole e
na colónia e a ausência de apoios internacionais significativos inviabilizaram
tal hipótese. No processo que desembocaria no Acordo do Alvor, porém, os
responsáveis portugueses experimentaram enormes dificuldades em serem
percebidos como mediadores isentos. O presidente da Junta Governativa
de Angola, Rosa Coutinho, ganhou o cognome de «almirante vermelho»
por aquilo que foi geralmente considerado como uma actuação enviesada a
favor do MPLA, a pretexto de que esse apoio era imprescindível para evitar
a desagregação desse movimento, à altura dilacerado por graves disputas
internas94. No período que se seguiu ao acordo de independência, assente no
pressuposto de que os três movimentos aceitariam cooperar com vista à for‑
mação de um exército nacional e à realização de eleições para uma assembleia
constituinte, as autoridades portuguesas foram totalmente impotentes para
travar a escalada de violência que sobreveio em Luanda e noutras cidades,
naquela que poderá ser vista como mais uma etapa de uma guerra civil entre
os nacionalistas angolanos que se começara a desenhar logo em 1961. Com
várias potências interessadas em conquistar um ascendente no território, ou
a intervir para evitar que outros o conseguissem, Angola tornou‑se um dos
palcos dos conflitos «por procuração» em que a Guerra Fria foi pródiga no
Terceiro Mundo. As derradeiras tentativas portuguesas de mediação falharam
em toda a linha, Lisboa deu o acordo por suspenso em Agosto de 1975, mas
o passo lógico, o adiamento da data da independência, era algo que estava já
para além das capacidades da antiga potência metropolitana95.
Uma ponte aérea improvisada em tempo‑recorde, com o auxílio de vários
países, permitiu a evacuação de mais de 300 mil indivíduos que podiam
Hist-da-Expansao_4as.indd 541 24/Out/2014 17:17
542 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
apresentar documentos de identificação portugueses (90 por cento do total da
população europeia de Angola), naquela que terá sido uma das debandadas
mais caóticas e desesperadas da história das descolonizações. Em poucos
meses, uma metrópole consumida pelos conflitos do seu próprio processo
revolucionário viu‑se obrigada a acolher e apoiar cerca de 550 mil refugiados
das suas colónias africanas – um número que, em termos relativos, ultrapassa
o de todos os outros retornos imperiais europeus do pós‑Segunda Guerra
Mundial96. Para trás ficavam alguns dos problemas e dramas humanos carac‑
terísticos destas retiradas. Nalguns países, elementos que haviam colaborado
com o poder colonial português foram alvo de perseguições (caso de cabo
‑verdianos em Angola), ou até mesmo de execuções extrajudiciais (os antigos
combatentes guineenses das Forças Armadas portuguesas, encarados pelo
PAIGC como uma potencial ameaça à «segurança do Estado»)97.
Contenciosos de ordem jurídica e económica arrastaram‑se anos a fio e
constituíram um factor de irritação permanente nas relações com os cha‑
mados PALOP (Países de Língua Oficial Portuguesa), cuja normalização se
revelaria muito mais morosa e exigente do que aquilo que a esquerda por‑
tuguesa mais romântica e terceiro‑mundista (ela própria muito influenciada
por alguns dos mitos do luso‑tropicalismo) estava disposta a acreditar.
Uma vez arriada a bandeira verde‑rubra dos quartéis, fortalezas e palácios
de governo, apenas a presença de alguns cooperantes, religiosos, diplomatas
e empresários terá evitado que a influência portuguesa se esvaísse ainda
mais em certas partes do seu antigo império africano. Até ao início dos anos
1990, os cinco estados lusófonos em África viveriam sob regimes monopar‑
tidários, ideologicamente comprometidos com projectos de «modernização»
que viriam a produzir resultados decepcionantes, se não mesmo desastrosos.
Dois deles, Moçambique e Angola, sofreriam os efeitos de devastadoras
guerras civis (até 1992 e 2002, respectivamente), o que também ajudará a
compreender o recuo do intercâmbio económico e comercial entre Portugal
e as suas antigas colónias africanas para níveis irrisórios nas duas décadas
que se seguiram às transferências de poder98. As memórias afectivas de mui‑
tos portugueses que nasceram ou viveram parte das suas vidas em África,
a crença de que o peso internacional do país depende, em boa medida, de
um repertório de ligações herdadas da expansão ultramarina e, mais recen‑
temente, a demanda de oportunidades de trabalho e negócio motivada pela
estagnação económica no rectângulo europeu são, no entanto, factores que
asseguram a perenidade do «sortilégio africano» no imaginário do Portugal
democrático e pós‑imperial.
De resto, por muito poderoso que o chamamento europeu tenha sido após
1974, o dossier da descolonização não pôde ser completamente encerrado
de uma só vez. Os últimos territórios que haviam restado do ciclo asiático
Hist-da-Expansao_4as.indd 542 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 543
da expansão portuguesa – Macau e Timor – forneceriam dois epílogos
interessantes à odisseia imperial portuguesa. No caso do primeiro, é muito
duvidoso que se pudesse sequer falar ainda de uma situação de domínio
colonial. Como já referimos, alguns estudiosos preferem situar em 1967 o
início do período pós‑colonial de Macau, que, na sequência das prostrações
infligidas às autoridades portuguesas nesse ano, passou a viver num regime
de «dupla soberania», tutelada pela RPC através de uma empresa que funcio‑
nava como uma espécie de «governo‑sombra» no território99. Esta situação
ambígua não foi inicialmente compreendida pelos responsáveis políticos e
militares do pós‑25 de Abril, que se precipitariam a declarar a sua intenção
de proceder à transferência da administração de Macau para Pequim. Essa
disposição parecia ignorar as circunstâncias que historicamente haviam
viabilizado a presença portuguesa no delta do rio das Pérolas, as quais, no
essencial, entroncavam no interesse de vários poderes chineses (sobretudo
os comerciantes da província de Cantão) em dispor de uma porta para o
exterior que os pusesse a salvo das circunstâncias que, em vários momentos,
ditaram o isolamento da República Popular da China100. Coincidindo com
um período sensível da política chinesa – os últimos anos de vida de um
Mao já muito debilitado –, o desejo expresso pelas autoridades portuguesas
tinha um timing errado. Nesse sentido, e porque nos anos seguintes a China
iria experimentar profundas transformações internas sob a égide de Deng
Xiaoping, o destino de Macau ficaria suspenso da evolução do processo de
transição de administração na colónia britânica de Hong Kong, acertado em
1984 e concluído em 1997. Beneficiando de um conjunto de circunstâncias
muito favoráveis (o crescimento económico de Cantão após as reformas
económicas de 1978), o território conheceria, nos últimos anos da admi‑
nistração portuguesa, um impressionante boom impulsionado por negócios
de imobiliário, grandes obras públicas e actividades ligadas ao turismo e
lazer. Investido de um estatuto especial de autonomia (por 50 anos), Macau
transitou formalmente para a administração chinesa em 1999, tendo desde
então sido encarado pelas autoridades de Pequim como um veículo para
a afirmação dos seus interesses no espaço da lusofonia – e, possivelmente,
apenas dessa maneira se poderá esperar que os vestígios do «encontro sino
‑português» possam resistir à pressão homogeneizadora da modernidade
capitalista chinesa no novo milénio101.
Quanto à metade portuguesa da ilha de Timor, o seu destino pós‑imperial
revestir‑se‑ia de vicissitudes trágicas, com alguns paralelos com a situação
vivida em Angola. Três partidos locais emergiram após a deposição do regime
colonial: um defendendo a fusão com a Indonésia (Associação Popular Demo‑
crática Timorense); outro, um estatuto de autonomia com ligação a Portugal
(União Democrática de Timor); e um terceiro advogando a independência
Hist-da-Expansao_4as.indd 543 24/Out/2014 17:17
544 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
(Frente Revolucionária de Timor‑Leste Independente). Tal como em Angola,
militares afectos ao MPLA deram algum apoio àqueles que exibiam as cre‑
denciais mais «progressistas», ou seja, os jovens radicais da Fretilin. Face às
divisões que a sociedade timorense apresentava, Portugal tentou patrocinar
uma consulta à população, para que esta escolhesse uma das três opções de
futuro defendidas pelos três partidos. Em privado, os responsáveis portugue‑
ses não escondiam a sua falta de entusiasmo pela possibilidade de o cenário da
continuidade de um vínculo à metrópole ser a primeira opção dos timorenses.
Alguns manifestavam igualmente dúvidas quanto à viabilidade de um Estado
timorense independente, tendo em vista a ausência de elites qualificadas, a
exiguidade dos recursos económicos (não obstante a existência de jazidas
petrolíferas offshore) ou a debilidade das estruturas administrativas e dos
serviços públicos legados pelo regime colonial. Uma absorção bem negociada
na Indonésia, prevendo um estatuto de autonomia, terá sido encarada como
um desfecho satisfatório (a analogia com a situação de Goa, aparentemente
bem integrada na União Indiana, era um precedente que vários responsá‑
veis portugueses tinham em mente)102. No entanto, a eclosão de confrontos
violentos entre as três facções no Verão de 1975, e depois a proclamação
unilateral de independência pela Fretilin, acabariam por proporcionar às
autoridades indonésias, nervosas com a débâcle americana no Vietname e
desconfiadas da orientação maoista dos jovens revolucionários timorenses, o
pretexto de que necessitavam para invadir o território. Refugiado na ilha de
Ataúro com alguns militares assim que os timorenses se começaram a guerrear
mutuamente, o governador português assistiria impotente ao assalto militar
indonésio em Dezembro de 1975, desencadeado com luz verde do presidente
norte‑americano, Gerald Ford103.
Nos anos seguintes, porém, a analogia com o caso goês revelar‑se‑ia pro‑
fundamente equívoca. A Indonésia de Suharto, uma ditadura militar com
pretensões «desenvolvimentistas», instituiu um regime de ocupação brutal
que acabou por alienar a maior parte da população timorense. Contando
apenas com os seus recursos diplomáticos, Portugal travou durante décadas
uma luta, que em muitos momentos pareceu quixotesca, pelo reconhecimento
do direito dos Timorenses à autodeterminação104. Em finais dos anos 1990,
a queda de Suharto abriria finalmente caminho para um processo negocial
onde Portugal, na condição de «potência administrante» de um território
por descolonizar, pôde desempenhar um papel importante na definição da
fórmula conducente à realização de um referendo de autodeterminação em
Timor‑Leste, organizado pelas Nações Unidas. Levada a cabo numa atmos‑
fera marcada pela tensão e violência, a consulta (Agosto de 1999) confirmou,
por uma larga maioria, o empenho dos Timorenses em construírem o seu
próprio Estado independente. Em 2002, uma administração transitória das
Hist-da-Expansao_4as.indd 544 24/Out/2014 17:17
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975) 545
Nações Unidas passaria o testemunho aos responsáveis eleitos do novo país,
cuja Constituição, elaborada com a assistência de Portugal, designaria a
língua portuguesa (a par do tétum) como um dos seus idiomas oficiais. Foi
um desfecho que, de certo modo, permitiu pacificar algumas das memórias
mais traumáticas da dissolução do império no seio da sociedade portuguesa.
Hist-da-Expansao_4as.indd 545 24/Out/2014 17:17
CONCLUSÃO
P aís pequeno e periférico no contexto europeu, Portugal encontrou no mar
o espaço propício para obter a sua configuração definitiva e para se pro‑
jectar pelo Mundo, buscando fora o que lhe faltava no território peninsular
e criando as condições para se eximir aos conflitos europeus ou para dispor
de trunfos especiais sempre que foi obrigado a participar nas grandes alianças
que se forjaram ciclicamente na Europa a partir do século xvii.
O mar foi um factor identitário de Portugal desde os primeiros anos da sua
existência como reino independente, e esse carácter acentuou‑se com o passar
do tempo. Forjado no ambiente da guerra santa, o ataque aos mouros, sob
o pretexto da dilatação da Cristandade, congregava o apoio de importantes
estratos sociais, pelo que os portos africanos foram naturalmente os primeiros
alvos deste movimento expansionista. Mas o avanço para África tornou o mar
oceano mais familiar e a velha guerra de cruzada logo foi complementada
pela novidade dos Descobrimentos.
Periférico numa perspectiva territorial, central no contexto das ligações
marítimas europeias de longa distância, Portugal foi, assim, o primeiro a
avançar para o mar desconhecido. O oceano, que tolhia os navegadores pelo
medo, foi vencido e a História do Mundo alterou‑se irreversivelmente, pelo feito
singular da tripulação de Gil Eanes, sob a pressão insistente do infante D. Hen‑
rique. Começou então a história da globalização.
Nos primeiros séculos, Portugal rasgou o horizonte dos Europeus e uniu
outros povos a um destino comum, tantas vezes trágico, e sempre transfor‑
mador, gerando novos negócios, criando novas paisagens, possibilitando
a circulação de gentes, objectos, animais, plantas, conhecimentos e ideias.
No início do século xvi, as vitórias militares obtidas em territórios remotos,
jamais alcançadas por outros exércitos europeus, envolvidas nos cheiros e
Hist-da-Expansao_4as.indd 546 24/Out/2014 17:17
CONCLUSÃO 547
nos sabores das especiarias asiáticas, tiveram tamanho impacto no espírito
dos Portugueses que tudo o mais que fizeram depois sempre lhes pareceu
pouco. Beneficiando da apatia inicial dos outros europeus, sendo capaz de
partilhar o Mundo com o seu primeiro rival, a Coroa lusa teve tempo para
criar raízes em vários pontos do Mundo que, depois, foram capazes de resistir
às ofensivas e à ambição das grandes potências europeias.
Durante dois séculos preponderou uma lógica de imperialismo marítimo,
mas ao fim de um século já germinava um novo paradigma que se ia mani‑
festando na América e na Ásia, e que ganhou definitivamente preponderân‑
cia por meados do século xvii; a partir de então adquiriu uma progressiva
territorialidade, que beneficiava do apoio de uma grande potência marítima,
a Inglaterra, o velho aliado desde o século xiv. E nesses anos do meio de
Seiscentos, o império criado por Portugal, que aceitara a realeza da Casa
de Áustria em consonância com a escolha das Cortes de Tomar de 1581,
manifestou de novo a sua vontade de se manter unido a Portugal e ligou‑se
integralmente à nova dinastia dos Bragança, com a excepção de Ceuta, e foi
capaz de se reordenar, de recuperar territórios momentaneamente perdidos
e de financiar a guerra peninsular de 28 anos que permitiu a Restauração.
A História do reino e do seu império eram uma só e o país assimilava uma
noção de si próprio que abarcava todas as áreas da diáspora.
Sempre controverso, sempre marcado pela suspeição sobre os agentes
imperiais, sempre apreensivo e receoso pela sua fragilidade, mas sempre
capaz de negociar com os povos nativos, aliando‑se a uns contra os outros
e promovendo muitas vezes a mestiçagem, e capaz de sobreviver na maior
parte das regiões onde se instalara pela sua flexibilidade, o império cresceu
sistematicamente em área dominada, embora preferisse olhar com nostalgia
para os tempos heróicos do início do século xvi e raramente soubesse valo‑
rizar a sua capacidade para continuar a ser uma entidade multicontinental,
apesar da ambição e do poderio das outras grandes potências europeias, que
o pressionavam e atacavam. E na América, o império foi capaz de juntar
territórios diferentes e dispersos numa grande colónia; com a descoberta do
ouro, Portugal enriqueceu, mas, sobretudo, deu corpo ao Brasil, atraindo
centenas de milhares de colonos, rasgando caminhos e estradas, alargando
a fronteira, criando cidades, educando a sua elite na Europa; e o Brasil foi,
uma vez mais, o esteio da sobrevivência do reino quando se agudizaram os
conflitos no Velho Continente, no início do século xix. Portugal foi o único
país europeu que teve a sua família real instalada na colónia, e esta acabou
por ser elevada a reino, para logo depois seguir o seu destino.
Perdido o Brasil, o império lambeu as feridas e buscou em África uma
nova oportunidade e logrou, uma vez mais, ganhar espaço face às (muito
mais) poderosas potências europeias e reconstituiu‑se no final do século xix.
Hist-da-Expansao_4as.indd 547 24/Out/2014 17:17
548 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Aumentou então o número de colonos brancos em África e o fim da escra‑
vatura deu lugar a novos tipos de violências e discriminações. Mas o país,
que nunca deixou de ser pobre, demonstrou sempre dificuldade em reunir
os meios que lhe permitissem realizar uma colonização à altura dos padrões
definidos pelos modernos imperialismos. O unanimismo suscitado pelo impé‑
rio foi pois um fenómeno de cariz fundamentalmente identitário, partilhado
por sucessivos regimes e forças políticas, não obstante os benefícios que a
sua exploração proporcionou a vários interesses organizados.
Quando os ventos da História mudaram de direcção, após a Segunda
Guerra Mundial, Portugal demonstrou maiores dificuldades do que os seus
congéneres europeus em adaptar‑se às novas regras do jogo. Governada
por um regime fechado e autoritário, a sociedade portuguesa estava menos
exposta ao impacto de factores que, noutros contextos, aceleraram o fim
do colonialismo. Na era da autodeterminação, Portugal não foi capaz de
encontrar uma fórmula que lhe permitisse acomodar as aspirações de inde‑
pendência dos seus súbditos ultramarinos e acertar com eles os termos de
um relacionamento mutuamente vantajoso. A consequência mais grave dessa
inflexibilidade seria o arrastamento, por 13 anos, de uma guerra em três fren‑
tes, viável apenas devido às divisões dos nacionalistas africanos e à condução
do esforço militar segundo parâmetros de alguma contenção. Mas por muito
notável que tenha sido a capacidade das Forças Armadas portuguesas para
gerirem o impasse, a ausência de perspectivas para uma solução política do
conflito revelou‑se desmoralizante e, em última análise, jogou a favor da
guerrilha. Temendo virem a ser apontados como os bodes expiatórios de uma
débâcle semelhante à da Índia, seriam os próprios militares que acabariam
por tomar a iniciativa de desencadear o processo que abriu caminho para
a retirada imperial, realizada num curto intervalo de tempo e em condições
particularmente conturbadas e dramáticas.
Terminada a era imperial, devemos perguntar qual foi o legado de um pro‑
cesso tão longo e tão intenso. Do ponto de vista internacional, a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), estabelecida em 1996, é o testemu‑
nho de que a memória não se esvaiu e de que há laços que Portugal e as suas
antigas colónias querem manter apertados. Como testemunho da diáspora dos
Portugueses, a sua língua é a sexta mais falada do Mundo, a terceira de origem
europeia, e a mais falada no Hemisfério Sul. Mas o seu trajecto de mais de
vinte anos é bem ilustrativo da dificuldade em lhe conferir relevância por via
apenas do cimento da cultura partilhada e da língua, pelo que interesses de
uma outra ordem têm vindo a mobilizar‑se para reconfigurar a organização
em função de critérios mais pragmáticos – mas que poderão não ser fáceis de
conciliar com o acervo de valores e normas a que um Estado como Portugal
se encontra vinculado, na sua qualidade de membro da União Europeia.
Hist-da-Expansao_4as.indd 548 24/Out/2014 17:17
CONCLUSÃO 549
Seja como for, a memória do império continua a ser cultivada internamente
como forma de nos compreendermos a nós próprios e como forma de nos
relacionarmos com o Mundo. Com efeito, os Portugueses são um elemento
importante, e incontornável, na História de muitos países, como Marrocos,
o Japão, a Turquia, a China, a Índia, a Tailândia, o Uruguai ou o Sri Lanka.
E esta memória, apesar de ser marcada por algumas controvérsias, continua
a ser um factor identitário de grande significado, como se comprovou pela
aceitação quase unânime com que partidos, imprensa e opinião pública
acompanharam os trabalhos da Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses, entre 1987 e 2002. O país celebrou este
passado estruturante em parceria com os herdeiros dos povos outrora envol‑
vidos na História do império e com pessoas de todos os quadrantes políticos
e ideológicos; e desse modo permitiu o debate e promoveu a crítica, num
olhar descomprometido para o passado.
Nestes tempos difíceis, o mar continua a ser um elemento decisivo para a
afirmação do país, como se percebe pela discussão que prossegue acerca da
zona marítima exclusiva. O futuro de Portugal passa decerto pela capacidade
de manter a orientação geoestratégica que possibilitou a sua independência
séculos a fio – um pequeno país europeu virado para o mundo.
E é este mundo que entra em Portugal, mudando o rosto humano do país.
Grande parte das migrações contemporâneas faz‑se no quadro das antigas
formações imperiais. Portugal não escapa a este fenómeno, sendo um país
cada vez mais multiétnico e multicultural por via das dinâmicas migratórias,
construídas sobre vínculos seculares.
Hist-da-Expansao_4as.indd 549 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 550 24/Out/2014 17:17
MAPAS
Hist-da-Expansao_4as.indd 551 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 552 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 553 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 554 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 555 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 556 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 557 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 558 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 559 24/Out/2014 17:17
África em 1900
Hist-da-Expansao_4as.indd 560 24/Out/2014 17:17
NOTAS
Hist-da-Expansao_4as.indd 561 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 562 24/Out/2014 17:17
PARTE I
OS PRIMÓRDIOS
1. Cf. Luís Filipe Thomaz, 1994, pp. 43‑147.
2. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2009.
3. Cf. Randles, 1961.
4. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2007 e 2013; Anthony Disney, 2009.
5. Cf. Randles, 1990.
6. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2007, p. 258.
1
UM PAÍS PERIFÉRICO, CRISTÃO, MARÍTIMO
1. Como texto de enquadramento seguimos basicamente A. H. de Oliveira Marques e
Joel Serrão (coord.), Nova História de Portugal, vols. iii e iv; Rui Ramos (coord.), 2009,
pp. 17‑133.
2. Cf. José Mattoso, 2007, pp. 157‑166.
3. Seguimos aqui, principalmente, Luís de Albuquerque, s/d.
4. Cf. Kenneth McPherson, 1993.
5. Cf. Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, p. 82.
6. Jaime Cortesão, 1994, p. 186.
7. Neste ponto, temos por leitura de referência Pedro Soares Martinez, 1992, pp. 23‑55.
8. Cf. Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Tomada de Ceuta, cap. vi.
9. Descobrimentos Portugueses, vol. i, p. 40.
10. Cf. Luís Filipe Thomaz, 1994, p. 47.
11. Seguimos basicamente Luís Filipe Thomaz, 1994, pp. 43‑147; João Paulo Oliveira
e Costa, 2009, pp. 82‑87.
12. Cf. Bernardo de Vasconcelos e Sousa, 2009, pp. 271‑300.
Hist-da-Expansao_4as.indd 563 24/Out/2014 17:17
564 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
13. Descobrimentos Portugueses, vol. i, pp. 88‑90.
14. Vitorino Magalhães Godinho, 2008, p. 106.
15. Cf. Bernardo de Vasconcelos e Sousa, 2009, p. 220.
16. Cf. Jorge Borges de Macedo, 2006, pp. 63‑66.
2
CEUTA, A CHAVE DO MEDITERRÂNEO (1415-1443)
1. Neste capítulo baseamo‑nos, essencialmente, em João Paulo Oliveira e Costa,
2009, pp. 82‑109.
2. Cf. Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Tomada de Ceuta, cap. vi.
3. Cf. Maria Helena Coelho, 2008, pp. 245‑247.
4. Cf. Maria Helena Coelho, 2008, pp. 323‑325.
5. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2009, pp. 43‑45.
6. Gomes Eanes de Zurara, Crónica do Conde Dom Pedro de Meneses, livro i,
cap. xlvi.
7. Para este ponto, além das obras de João Paulo Costa (2009) e de Maria Helena
Coelho (2008), que temos vindo a seguir, seguimos também Luís Miguel Duarte in História
Militar de Portugal, vol. 1, pp. 392‑441.
8. Para este ponto seguimos também particularmente Luís Filipe Thomaz, 1994,
pp. 43‑147.
9. Cf. Vitorino Magalhães Godinho, 2008, p. 174.
10. Para o início do povoamento da ilha da Madeira vide Luís de Albuquerque e
Alberto Vieira, 1989. Para a História geral das ilhas atlânticas, a melhor síntese é Artur
Teodoro de Matos (coord.), 2005.
11. Para o início da ocupação dos Açores vide Artur Teodoro de Matos, Avelino Freitas
de Meneses e José Guilherme Reis Leite (coord.), 2008, pp. 50‑140.
12. Além da obra de João Paulo Oliveira e Costa, 2009, seguimos também Luís Miguel
Duarte, 2007, pp. 303‑342.
13. Cf. Monumenta Henricina, vol. vi, p. 94.
14. Monumenta Henricina, vol. vi, p. 35.
15. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2009, p. 214.
16. Cf. Monumenta Henricina, vol. vii, pp. 150‑151.
3
A POSSE DO MAR OCEANO (1422-1460)
1. Para este capítulo baseamo‑nos principalmente em João Paulo Oliveira e Costa,
2009, pp. 268‑311, e em Damião Peres, 1983, pp. 79‑168.
2. Dentre as inúmeras obras de referência sobre o Renascimento, veja‑se, por todas,
Jean Delumeau, 1984, e Roger Chaix, 2002.
3. Ásia, I, I, 4.
4. Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Guiné, cap. vii.
Hist-da-Expansao_4as.indd 564 24/Out/2014 17:17
NOTAS 565
5. Veja‑se, por todos, Vitorino Magalhães Godinho, 2008.
6. Cf. Humberto Baquero Moreno, 1979‑1980, pp. 321‑400.
7. Cf. Monumenta Henricina, vol. viii, p. 107.
8. Cf. Monumenta Henricina, vol. ix, p. 282.
9. Seguimos aqui também Francisco Contente Domingues in Francisco Bethencourt
e Kirti Chaudhuri (coord.), 1998, vol. 1, pp. 62‑87.
10. Cf. Jacques Paviot, 1995, pp. 67‑72.
11. Cf. Luís Filipe Oliveira, 1985.
12. Cf. Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Guiné, cap. xxxv.
13. Cf. Monumenta Henricina, vol. viii, p. 1.
14. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2009, pp. 249‑274.
15. Cf. Hugh Thomas, 1999; para o comércio de escravos no Império Português,
veja‑se Arlindo Caldeira, 2013.
16. Cf. Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Guiné, cap. xcvi.
17. Vide Vitorino Magalhães Godinho, 1956, vol. iii, pp. 106‑227.
18. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 1999b, p. 122.
19. Cf. Angelo Cattaneo, 2009.
20. Para a ocupação do arquipélago de Cabo Verde, seguimos especialmente Luís de
Albuquerque e Maria Emília Madeira Santos (coord.), 1991.
21. Cf. Luís de Albuquerque, 1972, e Armando Cortesão, 1969‑1970.
22. Sobre D. Afonso V e a Expansão seguimos João Paulo Oliveira e Costa, 2013,
pp. 25‑68.
23. Cf. Jacques Paviot, 1995, p. 82.
24. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2007, pp. 53‑57.
25. Cf. Monumenta Henricina, vol. xii, p. 72.
26. Cf. Charles Martial de Witte, 1953‑1958.
4
A AFIRMAÇÃO DE UMA POTÊNCIA MARÍTIMA (1455-1494)
1. Neste capítulo seguimos especialmente João Paulo Oliveira e Costa, 2013,
pp. 25‑144.
2. Cf. Rui de Pina, Crónica do Senhor Rei D. Afonso V, caps. xlix‑l.
3. Para esta crise política veja‑se Humberto Baquero Moreno, 1979‑1980, pp. 241‑512;
Saul António Gomes, 2009, pp. 57‑101; João Paulo Oliveira e Costa, 2009, pp. 313‑323.
4. Ver especialmente João Paulo Oliveira e Costa, 2013, pp. 93‑125.
5. Cf. Ásia, I, II, 1.
6. Cf. Rui de Pina, Crónica do Senhor Rei D. Afonso V, cap. cxliv; Duarte Pacheco
Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, pp. 110‑129.
7. Cf. Portugaliae Monumenta Africana, vol. 1, pp. 193‑194.
8. Cf. Portugaliae Monumenta Africana, vol. 1, pp. 161‑162.
9. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2009, pp. 368‑369.
10. Cf. J. Bato’ora Ballong‑wen Mewuda, 1993.
Hist-da-Expansao_4as.indd 565 24/Out/2014 17:17
566 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
11. Além da bibliografia sobre os arquipélagos insulares, veja‑se João Paulo Oliveira
e Costa, 2007, pp. 60‑70.
12. Cf. Portugaliae Monumenta Africana, vol. 1, pp. 243‑247.
13. Sobre este assunto seguimos também Luís Filipe Thomaz, 1994, pp. 149‑168.
14. Cf. Luís Filipe Thomaz, 1994, p. 161.
15. Cf. Consuelo Varela, 1992.
16. Cf. Rui de Pina, Crónica d’el‑rei D. João II, cap. vii.
5
A PERCEPÇÃO DO IMPÉRIO (1481-1502)
1. Neste capítulo seguimos basicamente Luís Adão da Fonseca, 2007; João Paulo
Oliveira e Costa, 2007.
2. Para a dimensão religiosa da Expansão Portuguesa, seguimos João Paulo Oliveira
e Costa, 2000.
3. Ásia, I, III, 12.
4. Cf. Ásia, I, III, 7‑8.
5. Cf. Ásia, I, III, 9.
6. Cf. António Brásio, 1973.
7. Cf. António Marques de Almeida, 1993, pp. 99‑120.
8. Sobre Vasco da Gama vide Luís Adão da Fonseca, 1998; Sanjay Subrahmanyam,
1998; Geneviève Bouchon, 1998.
9. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2013, pp. 145‑163.
10. Citado em José Manuel Garcia, 1983, p. 186.
11. Além da bibliografia básica citada, seguimos Luís Filipe Thomaz, 1990.
12. Sobre a armada de 1500, sua composição, protagonistas e incidências da viagem
veja‑se João Paulo Oliveira e Costa (coord.), 2000a.
13. Para a História do Estado Português da Índia nos séculos XVI e XVII, seguimos
Sanjay Subrahmanyam, 1996.
14. Cf. Sanjay Subrahmanyam, 2007.
15. Cf. Carmen Radulet e Luís Filipe Thomaz, 2002.
16. Cf. Geneviève Bouchon, 1999, pp. 95‑132.
17. Sobre este tema vide Alexandra Pelúcia, 2010.
18. Cf. Jurgen Pohle (no prelo).
19. Sobre o sigilo em torno da descoberta do Brasil veja‑se também Jorge Couto,
1995, pp. 160‑182.
20. Cf. Ivone Correia Alves, Jorge Custódio e Margarida Marques, 2012.
21. Cf. Francisco Contente Domingues, 2011.
22. Sobre os primórdios da presença portuguesa no Brasil, além da obra citada de
Jorge Couto seguimos Harold Johnson e Maria Beatriz Nizza da Silva (coord.), 1992 –
vol. vi da Nova História da Expansão Portuguesa.
23. Sobre a propagação das notícias dos Descobrimentos pela Europa veja‑se António
Alberto Banha de Andrade, 1972, e Randles, 2000. Os principais mapas produzidos pelos
Portugueses neste período estão compilados nos Portugaliae Monumenta Cartographica.
Hist-da-Expansao_4as.indd 566 24/Out/2014 17:17
NOTAS 567
24. Cf. Randles, 2000, n.º xvi; João Paulo Oliveira e Costa, 2007, pp. 309‑317.
25. Cf. José Manuel Garcia, 1983, p. 130.
26. Cf. Joaquim Oliveira Caetano, 2014.
27. Cf. Peter Mark, 2007.
28. Cf. Cristina Brito, 2009.
29. Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, p. 82.
30. Cf. Annemarie Jordan Geschwend, 1996; idem e Almudena Pérez de Tudela, 2003.
31. Cf. Abel Fontoura da Costa, 1937.
32. Citado in Jaime Cortesão, 1994, p. 181.
33. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2007, pp. 287‑295; Hans Belting, 2002.
PARTE II
O IMPÉRIO MARÍTIMO
6
O DESLUMBRAMENTO MANUELINO (1495-1521)
1. Este capítulo baseia‑se genericamente em João Paulo Oliveira e Costa, 2007.
2. Sobre este tema, é fundamental Luís Filipe Thomaz, 1990.
3. Cf. Vítor Luís Gaspar Rodrigues, 1998.
4. Cf. C. S. Knighton e D. M. Loades, 2000.
5. Sobre os sucessos desta armada veja‑se Jean Aubin, 1996‑2000, vol. i, pp. 49‑110.
6. Sobre os sucessos desta expedição veja‑se Geneviève Bouchon, 1999, pp. 133‑158.
7. Cf. André Murteira, in João Paulo Oliveira e Costa (coord.), 2000a, pp. 299‑329.
8. Cf. António Alberto Banha de Andrade, 1974.
9. Sobre a construção das naus da Índia, vide Leonor Freire Costa, 1997.
10. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2013, pp. 341‑377.
11. Cf. Teresa Lacerda, in João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues
(coord.), 2004, pp. 75‑100.
12. Cf. Alexandra Pelúcia, in João Paulo Oliveira e Costa (coord.), 2000a, pp. 278
‑297.
13. Cf. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, 2010.
14. Cf. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, 2012.
15. Cf. Dejanirah Couto e Rui Loureiro, 2007.
16. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 1996. Sobre os primórdios das relações luso
‑chinesas seguimos também Rui Loureiro, 2000.
17. Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, p. 18.
18. Cf. Randles, 1990.
19. Cf. Paulo Lopes, 2013, pp. 177‑207.
20. Documentos referentes a las relaciones com Portugal durante el reinado de los
Reyes Catolicos, vol. iii, pp. 82‑83.
21. Cf. André Teixeira, in João Paulo Oliveira e Costa (coord.), 2000b, pp. 159‑206.
22. Cf. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, 2007.
23. Cf. Luís Filipe Thomaz, 1994, pp. 207‑243.
Hist-da-Expansao_4as.indd 567 24/Out/2014 17:17
568 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
24. Cf. Artur Teodoro de Matos, 1983.
25. Cf. Rute Gregório, 2001.
26. Cf. Artur Teodoro de Matos, 1985.
27. Cf. Andreia Martins de Carvalho e Pedro Pinto, 2012.
28. Sobre o início da venda de escravos africanos às Índias de Castela, vide Maria
Manuel Torrão, 2000.
29. Sobre o Império Otomano, seguimos Robert Mantran (dir.), 1998.
30. Sobre os comandos da Carreira da Índia no reinado de D. Manuel I, veja‑se Teresa
Lacerda, 2006.
31. Sobre os primórdios da acção da Igreja na Índia, veja‑se Ângela Barreto Xavier,
2004.
32. Cf. Armando Cortesão e Henry Thomas, 1938.
33. Cf. Damião de Góis, Crónica do Felícissimo Rei Dom Manuel I, livro iv, cap. lxxxi.
34. Cf. Francisco Paulo Mendes da Luz, 1992.
35. Cf. João Paulo Oliveira e Costa (coord.), 2000a.
36. Para Lopo Soares de Albergaria (1515‑1518) e Martim Afonso de Sousa (1542
‑1545), vide Alexandra Pelúcia, in João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Rodrigues (2004)
e Alexandra Pelúcia, 2009. Para D. Duarte de Meneses (1521‑1524) e D. Henrique de
Meneses (1525‑1526), vide João Paulo Oliveira e Costa, 2013, pp. 379‑416. Para Nuno
da Cunha (1529‑1538), vide Andreia Martins de Carvalho, 2007.
37. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2013, pp. 93‑125.
38. Cf. Portugaliae Monumenta Africana, vol. 1, p. 228.
39. Cf. Roger Lee de Jesus, 2013.
40. Cf. Tiago Machado de Castro, 2011.
41. Cf. André Teixeira, 2008.
42. Cf. Maria Emília Madeira Santos, in Portugal no Mundo, vol. 2, pp. 125‑136.
43. Cf. Alexandra Pelúcia, 2010.
44. Cf. Luís Filipe Thomaz e Geneviève Bouchon, 1989.
45. Sobre a Lisboa manuelina vide Hélder Carita, 1999, e Nuno Senos, 2002.
46. Cf. Leonor Freire Costa, 1997.
7
O REALISMO JOANINO (1521-1557)
1. Neste capítulo seguimos basicamente João Paulo Oliveira e Costa, 2013,
pp. 165‑208. Para a biografia de D. João III seguimos Ana Isabel Buescu, 2008.
2. Cf. Maria Manuel Torrão, in Luís de Albuquerque e Maria Emília Madeira Santos
(coord.), 1991.
3. Cf. Jurgen Pohle (no prelo).
4. Sobre Goa no século xvi, o estudo fundamental é de Catarina Madeira Santos,
1999.
5. Cf. Jorge Flores, 1998.
6. Cf. Olof Lidin, 2002.
7. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 1995.
Hist-da-Expansao_4as.indd 568 24/Out/2014 17:17
NOTAS 569
8. Cf. Charles Boxer, 1963; Luís Filipe Barreto, 2006.
9. Cf. Manuel Nunes Dias, 1963; Luís Filipe Thomaz, 1995a.
10. Cf. Charles Boxer, 1993; João Paulo Oliveira e Costa, 1993.
11. Sobre os sucessos da Carreira da Índia vide Paulo Guinote, Eduardo Frutuoso e
Paulo Lopes, 1998.
12. Sanjay Subrahmanyam, 1988.
13. Sobre a relação da Companhia de Jesus com o Império Português, a obra funda‑
mental é Dauril Alden, 1996.
14. Cf. Léon Bourdon, 1993.
15. Cf. Alexandra Curvelo, 2001; Helena Barros Rodrigues, 2006; Cristina Castelo
Branco e Margarida Paes, 2009.
16. Cf. Jorge Santos Alves, 1999.
17. Cf. Maria Augusta Lima Cruz, 2009.
18. Cf. Ana Maria Ferreira, 1995.
8
AS CONTRADIÇÕES DE UM IMPÉRIO
PLURICONTINENTAL PUJANTE (1549-1580)
1. Cf. Maria Augusta Lima Cruz, 2009, pp. 110‑112.
2. Cf. Filipe Carvalho, in Harold Johnson e Maria Beatriz Nizza da Silva (coord.),
1992, pp. 137‑190.
3. Cf. Frédéric Mauro, 1983.
4. Cf. Ana Cristina Roque, 2012; Eugénia Rodrigues, 2013.
5. Cf. Derek Massarella, 1990, pp. 49‑58.
6. Cf. Luís Filipe Thomaz, 1995.
7. Cf. Nuno Vila Santa, 2014.
8. Cf. Artur Teodoro de Matos, 1994, pp. 61‑107.
9. Cf. Zoltan Biedermann, 2006.
10. Cf. Artur Teodoro de Matos, 1974.
11. Cf. Paulo Pinto, 1997.
12. Cf. Luís Filipe Barreto, 2006.
13. Cf. Charles Boxer, 1963.
14. Cf. Vítor Luís Gaspar Rodrigues, 1998.
15. Cf. Francisco Bethencourt in Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri (dir.), 1998,
vol. 1, pp. 353‑368. Para a propagação das Misericórdias pelo império veja‑se Isabel dos
Guimarães Sá, 1997.
16. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2002.
17. Cf. Geoffrey Parker, 1988, pp. 140‑143.
18. Cf. Peregrinação, caps. cxxxiii-cxxxv.
19. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 1998.
20. Cf. José Pedro Paiva, 2006.
21. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 1999b, pp. 189‑290.
22. Cf. Maria de Jesus dos Mártires Lopes, 1996; Rowena Robinson, 1998.
Hist-da-Expansao_4as.indd 569 24/Out/2014 17:17
570 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
23. Cf. Alexandra Curvelo, 2008.
24. Cf. Catarina Simões, 2012.
25. Cf. John Russell‑Wood, 1998.
26. Cf. Jessica Hallett (coord.), no prelo.
27. Cf. João Paulo Oliveira e Costa e Teresa Lacerda, 2007.
28. Cf. João Fragoso, 2002.
29. ARSI (Arquivo Romano da Companhia de Jesus), Brasil, 10, fls. 1‑3v.
30. Cf. José Ramos Tinhorão, 1997; Jorge Fonseca, 2010.
31. Esta problemática foi bem demonstrada para o caso da África Oriental nos sécu‑
los xvii e xviii em Luís Frederico Antunes, 2002.
32. Cf. Susana Munch Miranda, 2007.
33. Cf. Maria Emília Madeira Santos e Manuel Lobato (coord.), 2006.
34. Seguimos basicamente Maria Augusta Lima Cruz, 2009.
35. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 2007, pp. 21‑24 e 382.
36. Cf. Pedro Soares Martinez, 1992, pp. 107‑109.
37. Cf. Fernand Braudel, 1983-1984.
9
CRISE E RECONFIGURAÇÃO (1580-1640)
1. Cf. Fernando Bouza, 2008.
2. Cf. Graça Almeida Borges, 2014.
3. Cf. Filipe Carvalho in Harold Johnson e Maria Beatriz Nizza da Silva, 1992, p. 181.
4. Sobre os Jesuítas na China vide Jean‑Pierre Duteil, 1994.
5. Cf. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, 1992.
6. Cf. Rui Loureiro (coord.), 2011; Graça Almeida Borges, 2014.
7. Cf. Artur Teodoro de Matos, 1994.
8. Cf. Maria Emília Madeira Santos e Luís Albuquerque (dir.), 1991-1995.
9. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 1998, pp. 195‑246.
10. Cf. António Oliveira, 1991.
11. Cf. André Murteira, 2012.
12. Cf. Leonor Freire Costa, 1997.
13. Cf. Pieter Emmer, 2003.
14. Cf. Jorge Flores, 2004.
15. Cf. João Ferreira, 2011.
16. Cf. Anthony Disney, 1981.
17. Cf. Oka Mihoko, 2001.
18. Sobre os espanhóis no Japão, vide Juan Gil, 1991.
19. Para os primórdios das relações desta comunidade com os Portugueses, vide João
Paulo Oliveira e Costa, 1994.
20. Cf. A. Matias Mundadan, 1984; João Teles e Cunha, 2004.
21. Cf. Nuno Silva Gonçalves, 1996.
22. Cf. Carlene Recheado, 2010.
23. Cf. Eugénia Rodrigues, 2013.
Hist-da-Expansao_4as.indd 570 24/Out/2014 17:17
NOTAS 571
24. Cf. Maria Luísa Esteves, 1988.
25. Cf. Filipe Carvalho, in Harold Johnson e Maria Beatriz Nizza da Silva, 1992,
pp. 172‑198.
26. Cf. João Fragoso, 2002.
27. Cf. Frédéric Mauro, 1988, pp. 219, 278‑281.
28. Cf. Stuart Schwartz, 1991.
29. Cf. Bruno Romero Ferreira Miranda, 2011.
30. Cf. António Oliveira, 1991.
10
A FIDELIDADE À COROA PORTUGUESA (1640-1668)
1. Cf. Mafalda Soares da Cunha e Leonor Freire Costa, 2008.
2. Cf. José Ferreira, 2011.
3. Cf. Pedro Soares Martinez, 1992, pp. 145‑148.
4. Sobre os primórdios do Conselho Ultramarino veja‑se Edval de Sousa Barros, 2008.
5. Cf. Leonor Freire Costa, 2002.
6. Cf. Bruno Romero Ferreira Miranda, 2011.
7. Cf. Pedro Cardim e Ângela Barreto Xavier, 2008.
8. Cf. Maria de Jesus dos Mártires Lopes, 2006.
9. Cf. João Ferreira, 2011.
10. Cf. Glenn Joseph Ames, 2000.
11. Cf. Pedro Nobre, 2008.
12. Cf. Ana Cristina Roque, 2012.
13. Cf. Artur Teodoro de Matos, 1974.
14. Cf. Luís Filipe Barreto, 2006.
15. Cf. Ibidem.
16. Cf. Isabel Pina, 2011.
17. Cf. João Paulo Oliveira e Costa, 1989.
PARTE III
O IMPÉRIO TERRITORIAL
1. Jane Burbank e Frederick Cooper, 2010, 157.
11
EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO (c. 1650‑c. 1700)
1. Amândio Jorge Morais Barros, 2011, pp. 109‑110; Sanjay Subrahmanyam, 1995,
pp. 333‑335.
2. António Filipe Pereira Caetano, 2003, 2009.
Hist-da-Expansao_4as.indd 571 24/Out/2014 17:17
572 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
3. Leonor Freire Costa, Pedro Lains e Susana Münch Miranda, pp. 151‑160.
4. Eduardo Brazão, 1979, pp. 46‑51, 99‑109 e 131‑132.
5. José Damião Rodrigues, 1994, p. 116; Charles Ralph Boxer, 1965, p. 114; Letícia
dos Santos Ferreira, 2010.
6. Philip J. Stern, 2011, pp. 22‑23 e 38.
7. Evaldo Cabral de Mello, 2001.
8. Padre Manuel Godinho, 1974, pp. 17 e 23; padre António Vieira, 1997, tomo ii,
pp. 102‑104, maxime p. 104.
9. British Library (BL), Manuscripts (MS), Additional (Add.) 20 903‑20 905, livros
de correspondência trocada entre D. Pedro II e o conde de Vila Verde, vice‑rei da Índia,
maxime Add. MS 20 903, fl. 26.
10. Paula Marçal Lourenço, 2007, pp. 242‑248.
11. João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, 2010.
12. Edval de Souza Barros, 2008.
13. Sanjay Subrahmanyam, 1995; Glenn Joseph Ames, 2000; e Ernestina Carreira,
2006, pp. 17‑122.
14. Alexandre Lobato, 1965; Manuel Lobato, 2004.
15. Vida, e Acçõens do Famoso, e Felicissimo Sevagy, da India Oriental. Escrita por
Cosme da Guarda, Natural de Murmugaõ, Dedicada ao Excellentissimo Senhor Duque
Estribeiro Mor, 1730.
16. Sanjay Subrahmanyam, 1995, p. 298; Maria da Conceição Flores, 2002; Stefan
Halikowski‑Smith, 2006.
17. Sanjay Subrahmanyam, 1995, pp. 316‑320.
18. BL, Add. MS 20 903, fls. 24 (Lisboa, 18 de Março de 1693) e 25 (2 de Novembro
de 1694) e Add. MS 20 904, fls. 139 (Lisboa, 16 de Março de 1695) e 140 (Goa, 12 de
Dezembro de 1695).
19. Vitorino Magalhães Godinho, 1980, pp. 369‑370.
20. Glenn Joseph Ames, 2000, pp. 97‑100; Jorge M. Pedreira, 2010, pp. 68‑69.
21. Luís Frederico Dias Antunes, 2001, pp. 82‑107; BL, Add. MS 20 903‑20 905, passim.
22. Artur Teodoro de Matos, 2010.
23. Malyn Newitt, 1973, 1997; Luís Frederico Dias Antunes, 2006.
24. Alexandre Lobato, 1962; Allen Isaacman, 1972; Eugénia Rodrigues, 2013.
25. BL, Add. MS 20 903, fls. 45 (Lisboa, 24 de Março de 1694), 46 (Goa, 28 de
Outubro de 1694) e 231 (Goa, 19 de Novembro de 1694).
26. BL, Add. MS 20 903, fls. 91 (Lisboa, 10 de Novembro de 1693), 92 (Goa, 19
de Outubro de 1694), fl. 207 (Goa, 3 de Novembro de 1694); Add. MS 20 904, fls. 123
(Lisboa, 26 de Janeiro de 1695), 124‑129 (Macau, 9 de Dezembro de 1692, manifesto
que o senado da câmara da cidade de Macau fez para ser apresentado ao rei pelo seu
secretário da Puridade); Add. MS 20 905, fl. 58 (Lisboa, 1 de Março de 1698).
27. Sanjay Subrahmanyam, 1995, p. 299; Maria da Conceição Flores, 2002, p. 358,
nota 10.
28. Charles Ralph Boxer, 1965, pp. 42‑71.
29. Artur Teodoro de Matos, 1974, pp. 83‑84 e 113‑115; Leonard Y. Andaya, 2010,
p. 613; Romain Bertrand, 2007, p. 88.
30. Radhika Seshan, 2012, pp. 77‑78.
Hist-da-Expansao_4as.indd 572 24/Out/2014 17:17
NOTAS 573
31. Jean‑Frédéric Schaub, 2012, p. 296.
32. Jaime Cortesão, 1971, p. 22.
33. Guy Martinière, 1991.
34. Padre António Vieira, 1997, tomo i, p. 406.
35. Frédéric Mauro, 1963, p. 191.
36. Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Conselho Ultramarino (CU), Brasil
‑Maranhão, cx. 5, doc. 590, carta de 25 de Julho de 1674 e consulta de 16 de Outubro de 1674.
37. Rafael Chambouleyron, 2010, pp. 101‑114.
38. Charles Ralph Boxer, 1981.
39. Maria Adelina Amorim, 2005.
40. BL, Add. MS 20 903, fl. 98, carta de D. Pedro II ao vice‑rei da Índia sobre os
Dominicanos em Solor e Timor, de Lisboa, 21 de Março de 1694.
41. Diogo Ramada Curto, 2010, pp. 343‑349.
42. Pedro Puntoni, 2002.
43. Lígio José de Oliveira Maia, 2010, pp. 83‑86.
44. Carl A. Hanson, 1986, pp. 254‑256, 263‑266 e 276‑281; Gustavo Acioli Lopes,
2008, pp. 124‑132.
45. Padre António Vieira, 1997, tomo iii, pp. 543‑544.
46. Maria de Fátima Silva Gouvêa, Gabriel Almeida Frazão e Marília Nogueira dos
Santos, 2004; Marília Nogueira dos Santos, 2007, p. 150.
47. Marília Nogueira dos Santos, 2007, pp. 56‑60; Francisco Carlos Cardoso Cosen‑
tino, 2009, pp. 253‑269 e 328‑332.
48. Vitorino Magalhães Godinho, 1978.
49. Antonio Carlos Jucá de Sampaio, 2003, pp. 114 e 140‑148.
50. Carl A. Hanson, 1986, pp. 243‑246.
51. Mafalda P. Zemella, 1990, p. 122.
52. António Carreira, 1983b, 1983c; Carlos Agostinho das Neves, 1989.
53. António Correia e Silva, 2002; Ilídio Baleno, 2002, pp. 175‑190.
54. Maria Teresa Avelino Pires Cordeiro Neves, 2009, passim; Manuel do Rosário
Pinto, 2006, passim.
55. Christiano José de Senna Barcelos, 1905, p. 50; Carlos Agostinho das Neves,
1989, pp. 45‑50; Cristina Maria Seuanes Serafim, 2000, pp. 275‑297.
56. Maria da Graça Garcia Nolasco da Silva, 1970; Jean Boulègue, 1989; Peter Mark
e José da Silva Horta, 2011.
57. P. E. H. Hair, Adam Jones e Robin Law, 1992, vol. i, pp. 161 e 319.
58. Artur Teodoro de Matos, 2011.
59. Manuel do Rosário Pinto, 2006, pp. 135‑136.
60. Carlos Agostinho das Neves, 1989, pp. 91‑92 e 104.
61. Cristina Maria Seuanes Serafim, 2000, pp. 219‑221 e 225‑227; Stuart B. Schwartz,
1987, p. 102.
62. Luiz Felipe de Alencastro, 2000, p. 222.
63. Luiz Felipe de Alencastro, 2000, pp. 247‑325; 2010, pp. 129‑130.
64. António de Oliveira de Cadornega, 1972, tomo ii, pp. 207 e 208‑216.
65. John Kelly Thornton, 1979; Joseph C. Miller, 1988; Adriano Parreira, 1990,
pp. 155‑159 e 193; Beatrix Heintze, 2000, pp. 135‑142.
Hist-da-Expansao_4as.indd 573 24/Out/2014 17:17
574 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
66. Arquivos de Angola, Luanda, 1.ª série, vol. i, n.º 5, Março de 1936, sem nume‑
ração de páginas.
67. Maria Emília Madeira Santos, 1988.
68. António Brásio, 1981, pp. 179‑180 e 278‑279.
69. António de Oliveira de Cadornega, 1972, tomo iii, p. 303; padre António Brásio,
1985, p. 305.
70. António de Oliveira de Cadornega era natural de Vila Viçosa e chegara a Angola
em 1639, lá vivendo até morrer. Serviu como praça e capitão em Massangano e foi depois
oficial da câmara local, antes de se mudar para Luanda, tendo também integrado o elenco
camarário da cidade.
71. Orlando Ribeiro, 1981, p. 325.
72. Charles Ralph Boxer, 1965, pp. 114‑118; Maria de Fátima Silva Gouvêa, 2005.
12
SOB O SIGNO DO OURO (c. 1695‑1750)
1. D. António Caetano de Sousa, 1951, p. 111.
2. José Damião Rodrigues, 2007, pp. 57‑58; Ângela Barreto Xavier, 2008, pp. 37‑80.
3. Joaquim Romero Magalhães, 2005, pp. 300‑308 para o Brasil.
4. Edval de Souza Barros, 2008; Maria Fernanda Bicalho, 2007.
5. Guy Martinière, 1991, pp. 93‑102; Antonio Carlos Jucá de Sampaio, 2003, pp. 148
‑175.
6. Jorge M. Pedreira, 2010, pp. 70‑73.
7. AA. VV., 2003.
8. Ralph Delgado, s. d., pp. 213‑218; Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra
do Heroísmo (BPARAH), Arquivo da Câmara de Angra do Heroísmo (ACAH), Acórdãos,
livro 16 (1706‑1714), fls. 100 v‑102, consulta de 22 de Setembro de 1708; padre Manuel
de Azevedo da Cunha, 1981, i, pp. 463‑479; João Gabriel Ávila, 1992, pp. 69‑85.
9. Charles Ralph Boxer, 1995, pp. 84‑105; Laura de Mello e Souza e Maria Fernanda
Baptista Bicalho, 2000, pp. 41‑61; Maria Fernanda Bicalho, 2003, pp. 268‑279.
10. Sebastião da Rocha Pita, 1976, pp. 257.
11. Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Fundo Geral, cod. 512, fl. 162.
12. Relation de ce qui s’est passé pendant la campagne de Rio Janeiro. Faite par l’es‑
cadre des vaisseaux du roy, commandée par le Siuer du Guay‑Trouïn, A Paris, [s. impr.],
le 22. février 1712; Memórias do Senhor Duguay‑Trouin, Tenente‑General das Forças
Navais da França e Comandante da Ordem Real e Militar de São Luís, 2003, pp. 142
‑164; Maria Fernanda Bicalho, 2003, pp. 53, 186 e 268‑279.
13. Júnia Ferreira Furtado, 2007, p. 79.
14. José Damião Rodrigues, 2007.
15. José Ferreira Borges de Castro, 1856, pp. 262‑272.
16. Jonathas da Costa Rego Monteiro, 1937, t. 2, p. 61; Joaquim Romero Magalhães,
1998a, p. 10; Maria Beatriz Nizza da Silva, 2006, p. 210.
17. Maria Beatriz Nizza da Silva, 2006, pp. 210‑211.
Hist-da-Expansao_4as.indd 574 24/Out/2014 17:17
NOTAS 575
18. Archivo Historico Nacional (AHN), Madrid, Sección de Estado, leg. 1773, n.º 5,
com despacho de 18 de Janeiro de 1717.
19. Idem, leg. 1791, n.º 11, de Madrid, 8 de Agosto de 1716; n.º 23, de Madrid, 6 de
Outubro de 1716; n.º 50, de Madrid, 22 de Dezembro de 1716; n.º 53, do Retiro, 28 de
Agosto e 1 de Setembro de 1716.
20. André Ferrand de Almeida, 2001, pp. 66‑72.
21. Arquivo dos Açores, 2.ª série, vol. ii, 2001, doc. 31, pp. 184‑186.
22. Arquivo dos Açores, 2.ª série, vol. ii, 2001, pp. 184‑223 e 254‑258; Avelino de
Freitas de Meneses, 1997, p. 1999.
23. Jaime Cortesão, 2006, tomo i, pp. 303‑308.
24. Jaime Cortesão, 2006, tomo ii, pp. 27‑81; Luís Ferrand de Almeida, 1990,
pp. 17‑25; Antonio de Béthencourt Massieu, 1998, pp. 377‑398.
25. Maria Fernanda Bicalho, 2007, pp. 54‑55.
26. Artur Cezar Ferreira Reis, 1981; Guy Martinière, 1991, pp. 162‑163; Marlon
Salomon, 2004, pp. 79‑92.
27. John Lynch, 1993, p. 92; Juan Marchena Fernández, 2009, pp. 62‑64.
28. Leonor Freire Costa, Maria Manuela Rocha e Rita Martins de Sousa, 2013.
29. Rita Martins de Sousa, 2006.
30. Eulalia Maria Lahmeyer Lobo, 1967; Michel Morineau, 1985, pp. 199‑214 e
200‑206; Leonor Freire Costa, Maria Manuela Rocha e Rita Martins de Sousa, 2013,
pp. 60‑62.
31. Antonio Carlos Jucá de Sampaio, 2003, pp. 155‑159.
32. Gustavo Acioli Lopes, 2008.
33. António Delgado da Silva, 1829, pp. 221‑222 e 222‑223.
34. Virgílio Noya Pinto, 1979, pp. 297‑315.
35. Idem, pp. 312‑313; François M. Crouzet, 1990.
36. D. António Caetano de Sousa, 1951, p. 70.
37. François Froger, 1698, pp. 80‑82; Laura de Mello e Souza, 2006, pp. 109‑147.
38. Laura de Mello e Souza e Maria Fernanda Baptista Bicalho, 2000, p. 32.
39. Diogo Ramada Curto, 2010, pp. 349‑353.
40. Evaldo Cabral de Mello, 1995; George F. Cabral de Souza, 2012.
41. André Alexandre da Silva Costa, 2013.
42. Gefferson Ramos Rodrigues, 2009; Alexandre Rodrigues de Souza, 2011.
43. Mónica da Silva Ribeiro, 2010.
44. Nuno Gonçalo Monteiro, 2006, pp. 43‑44 e 51‑55.
45. Maria Beatriz Nizza da Silva, 2007; Joaquim Romero Magalhães, 2009; Gefferson
Ramos Rodrigues, 2009, pp. 111‑173.
46. João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2011, pp. 218
‑219.
47. Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, 2000; Stuart Schwartz, 2010, p. 39.
48. Carlos Leonardo Kelmer Mathias, 2007; Simone Cristina de Faria, 2010.
49. Laura de Mello e Souza, 2006, pp. 284‑326; Nauk Maria de Jesus, 2009.
50. Jaime Cortesão 2006, tomo i, pp. 234‑236 e 273‑291.
51. Isabel Cluny, 1999, p. 125. Sobre a relação entre D. Luís da Cunha e D’Anville,
ver Júnia Ferreira Furtado, 2012.
Hist-da-Expansao_4as.indd 575 24/Out/2014 17:17
576 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
52. Gazeta de Lisboa Occidental, n.º 4, quinta‑feira, 25 de Janeiro de 1731, p. 32;
João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2011, p. 357; Rafael
Chambouleyron, 2008.
53. Charles Ralph Boxer, 1995, p. 270.
54. José Freire de Monterroyo Mascarenhas, 1716; Manuel Lopes de Almeida, 1961,
pp. 5‑6.
55. André Ferrand de Almeida, 2001.
56. Joaquim Romero Magalhães, 1998c, p. 60, 2004a, 2005, pp. 311‑312; Júnia
Ferreira Furtado, 2007, 2011.
57. Mário Clemente Ferreira, 2001.
58. Jaime Cortesão, 2006, tomo i, p. 404.
59. Maria Beatriz Nizza da Silva, 2006, p. 213.
60. Arquivo dos Açores, 2.ª série, vol. iii, 2005, pp. 23‑34.
61. Walter F. Piazza, 1999; Avelino de Freitas de Meneses, 1997; José Damião Rodri‑
gues, 2007.
62. Manuel de Paiva Boléo, 1945, p. 8; Oswaldo R. Cabral, 1950; Walter F. Piazza,
1999; Walter F. Piazza e Vilson Francisco de Farias, 1993; Artur Boavida Madeira, 1999.
63. Francisco Xavier da Silva, Elogio Funebre, e Historico do muito Alto, Poderoso,
Augusto, Pio, e Fidelissimo Rey de Portugal, e Senhor D. Joaõ V. Em que se referem as
acçoens da sua Religiaõ, Piedade, Clemencia, Justiça, Liberalidade; as fundações tanto
Sagradas, como Civis; os successos do tempo da guerra, e da paz; as victorias, que as Armas
Lusitanas alcançaraõ no Estado da India no seu reynado; com huma relaçaõ da enfermi‑
dade, morte, e mais actos, que precederaõ até o deposito do seu Real Cadaver. Dedicado
à sempre Augusta Magestade Fidelissima de D. Joseph I. Nosso Senhor, por […]., Lisboa,
na Régia Oficina Silviana, e da Academia Real, 1750, pp. 111‑114, 115‑116 e 179‑221.
64. BNP, Fundo Geral, cod. 512, fl. 168 v.
65. João Paulo Oliveira e Costa, 1999b; António Vasconcelos de Saldanha, 2002.
66. António Vasconcelos de Saldanha, 2002, vol. i, pp. 70‑102 e 194.
67. Idem, vol. i, pp. 178‑194.
68. Zélia Maria Cordeiro Silvestre Sampaio, 2004.
69. Ernestina Carreira, 2006; Teddy Sim, Y. H., 2011.
70. Alexandre Lobato, 1965, pp. 54‑55.
71. BNP, Fundo Geral, cod. 6698, com data final de 22 de Outubro de 1720.
72. Luís Filipe F. R. Thomaz, 2006, p. 429.
73. João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2011, pp. 182
e 310‑311; Maria de Jesus dos Mártires Lopes, 1996, p. 140; Ângela Barreto Xavier, 2008;
A. R. Disney, 2009, pp. 317‑319.
74. Diogo Ramada Curto, 2007.
75. André Teixeira e Silvana Pires, 2007.
76. João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2011, p. 203;
Alexandre Lobato, 1965, pp. 58‑72; Charles Ralph Boxer, 1981, p. 143; Derek L. Elliott,
2010, pp. 23‑32; Philip J. Stern, 2011, pp. 187‑191.
77. Joaquim Romero Magalhães, 1998b, pp. 43‑44.
78. Filipe do Carmo Francisco, 2010, pp. 140‑156.
Hist-da-Expansao_4as.indd 576 24/Out/2014 17:17
NOTAS 577
79. Gazeta de Lisboa Occidental, n.º 30, quinta‑feira, 29 de Julho de 1723, p. 258
para notícias da Índia.
80. João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2002, pp. 164
‑165, 167, 173 e 188; 2005, pp. 52, 75, 77 e 80.
81. Alexandre Lobato, 1965, pp. 100‑126.
82. Teddy Sim, Y. H., 2011, pp. 101‑104.
83. Nuno Gonçalo Monteiro, 2001; 2003, p. 107.
84. João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2011, pp. 269
e 353.
85. Eduardo Brazão, 1976; José Subtil, 1998, pp. 416‑417; Nuno Gonçalo Monteiro,
2006, pp. 35‑36; João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival,
2011, p. 223.
86. Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada (BPARPD), Livraria José
do Canto (LJC), JC/A Misc. 628/3 RES, Relaçaõ do Lamentavel sucesso, e decadencia do
Dominio Portuguez no Estado Da India, Sendo Vice‑Rey D. Pedro Mascarenhas Conde
de Sandomil […], 1741, mss. A relação tem a data de 31 de Dezembro de 1739 (fl. 15)
e um «Suplemento».
87. Cf. Patrícia Catarina Sanches de Carvalho, 2008.
88. Nuno Gonçalo Monteiro, 1998, pp. 537‑539.
89. Teddy Sim, Y. H., 2011, pp. 165‑174.
90. Júlio Firmino Júdice Biker, 1885, pp. 243‑262.
91. Arquivo das Colónias, Lisboa, vol. v, n.º 28, Fevereiro de 1930, pp. 10‑21.
92. Filipe do Carmo Francisco, 2010, pp. 96 e 98.
93. Júlio Firmino Júdice Biker, 1885, pp. 298‑347; Diogo Ramada Curto, 2010,
pp. 353‑357.
94. Ivo Carneiro de Sousa, 1997.
95. Nuno Gonçalo Monteiro, 2006, pp. 46, 113 e 184.
96. Joaquim Romero Magalhães, 1998c, p. 60.
97. A. J. R. Russell‑Wood, 1992, p. 189.
98. António Correia e Silva, 2002; Ilídio Baleno, 2002.
99. Johannes Postma e Stuart B. Schwartz, 1995.
100. Carlos Agostinho das Neves, 1989, pp. 112 e 203.
101. Luiz Felipe de Alencastro, 2000, pp. 187 e 251; Ralph Delgado, s. d., pp. 264‑265;
António Carreira, 1983c, pp. 49 e 99‑100.
102. José Carlos Venâncio, 1996, pp. 159‑160.
103. João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2002, p. 65.
13
UM TEMPO DE RUPTURA? (1750‑1778)
1. Marcos Carneiro de Mendonça, s. d., 1.º tomo, pp. 128‑130 e 341‑342.
2. Nuno Gonçalo Monteiro, 2006, pp. 51‑56, 72‑76 e 90‑91.
3. Jorge Borges de Macedo, 1981, 1982.
4. José Damião Rodrigues, 2006.
Hist-da-Expansao_4as.indd 577 24/Out/2014 17:17
578 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
5. José Francisco da Rocha Pombo, s. d., pp. 457‑492; Jaime Cortesão, 2006; Luís
Ferrand de Almeida, 1990; Maria Helena Carvalho dos Santos, 1997; Joaquim Romero
Magalhães, 1998a, pp. 10‑14 e 29‑34. Para consulta do texto do tratado, ver Tratado de
Limites das Conquistas entre Os muito Altos, e Poderosos Senhores D. Joaõ V. Rey de
Portugal, e D. Fernando VI. Rey de Espanha, Pelo qual Abolida a demarcaçaõ da Linha
Meridiana, ajustada no Tratado de Tordesillas de 7. de Junho de 1494., se determina
individualmente a Raya dos Dominios de huma e outra Corôa na America Meridional.
[…], Lisboa, na Oficina de José da Costa Coimbra, 1750.
6. Nuno Gonçalo Monteiro e Pedro Cardim, 2013.
7. Manuel Tavares de Sequeira e Sá, Jubilos da America, Na Gloriosa Exaltaçaõ,
e Promoçaõ do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Gomes Freire de Andrada, […],
Lisboa, na Oficina do Dr. Manuel Álvares Solano, 1754, p. 87.
8. Fabiano Vilaça dos Santos, 2008; Mónica da Silva Ribeiro 2010.
9. Visconde de Carnaxide, 1979, pp. 105‑124; Wilhelm Kratz, S. I., 1954.
10. Marcos Carneiro de Mendonça, s. d., 1.º tomo, pp. 143‑148; Joaquim Romero
Magalhães, 2004b, pp. 190 e 197; Nuno Gonçalo Monteiro, 2006, p. 72.
11. José Eduardo Franco, 2000; Kenneth Maxwell, 2003.
12. Eduardo Neumann, 2004.
13. Arno Alvarez Kern, 1982; William S. Maltby, 2011, pp. 206‑207.
14. Marcos Carneiro de Mendonça, s. d., 2.º tomo, pp. 615‑631.
15. Joaquim Romero Magalhães, 2004b, p. 196.
16. Ângela Domingues, 2000, pp. 66 e 67‑76 para o Directório.
17. Fabricio Lyrio Santos, 2007; Elisa Frühauf Garcia, 2009.
18. Marcos Carneiro de Mendonça, s. d., 1.º tomo, pp. 413‑414; Laurent Vidal, 2005.
19. João Lúcio de Azevedo, 1893, p. 142.
20. Joaquim Romero Magalhães, 2004b, p. 209; Nuno Gonçalo Monteiro, 2006,
pp. 35‑36, 140‑141 e 147‑148.
21. Estevão de Rezende Martins, 1999.
22. Marcos Carneiro de Mendonça, 1963, pp. 54‑55.
23. Izabela Gomes Gonçalves, 2010; visconde de Carnaxide, 1979; Laura de Mello
e Souza, 2006, pp. 327‑402; Jorge M. Pedreira, 2010, pp. 74‑75.
24. Heloísa Liberalli Bellotto, 2007; Maria Fernanda Derntl, 2010, pp. 71, 94, 119
‑133 e 148‑150; Francismar Alex Lopes de Carvalho, 2012, vol. 1, pp. 52 e 126, e vol. 2,
pp. 435 e 486‑488.
25. Fabiano Vilaça dos Santos, 2008, pp. 91‑311; Stuart Schwartz, 1998, pp. 93‑94.
26. Luiz Geraldo Silva, Fernando Prestes de Souza e Leandro Francisco de Paula,
2009; José Damião Rodrigues e Artur Boavida Madeira, 2001.
27. AHU, CU, Brasil‑Rio de Janeiro, cx. 110, doc. 54, de 27 de Novembro de 1776.
28. Guillermo Céspedes del Castillo, 2009, pp. 374‑375; William S. Maltby, 2011,
p. 212.
29. BL, Add. 20 896, «Copia das Cartas, Provizoens e Alvaras. […]», fls. 113‑119;
Arlindo Manuel Caldeira, 2010.
30. Joaquim Romero Magalhães, 1998a, pp. 34‑35; Tiago Gil, 2007.
31. Luciano de Castro, 1940.
32. José Luís Cardoso, 2005, p. 359; Francisco José Calazans Falcon, 2005.
Hist-da-Expansao_4as.indd 578 24/Out/2014 17:17
NOTAS 579
33. Marcos Carneiro de Mendonça, s. d., 1.º tomo, pp. 26‑38, maxime p. 29; Joa‑
quim Romero Magalhães, 2004b, pp. 189, 196 e 209; Nuno Gonçalo Monteiro, 2006,
p. 78. Sobre estas companhias, Manuel Nunes Dias, 1970; António Carreira, 1983a,
1983d.
34. Marcos Carneiro de Mendonça, s. d., 3.º tomo, p. 872.
35. Fabiano Vilaça dos Santos, 2008, pp. 64‑66 e 331‑332.
36. Luiz Felipe de Alencastro, 2010, p. 136.
37. António Carreira, 1983a, pp. 43‑45, 252‑271 e 272‑277; Ilídio Baleno, 2002.
38. António Carreira, 1983a, pp. 52‑56, 1983c, 64; Fernando Amaro Monteiro
e Teresa Vázquez Rocha, 2004 [2005], pp. 104‑105.
39. António Carreira, 1983d, pp. 72‑74, 77 e 85.
40. António Carreira, 1983a, pp. 86‑87, 222‑224 e 281‑302.
41. António Carreira, 1983d, pp. 71, 74 e 83.
42. José Carlos Venâncio, 1996, pp. 172‑173.
43. Manuel Nunes Dias, 1965, pp. 52‑54.
44. Idem, pp. 57‑74; Stuart Schwartz, 1998, pp. 93‑94.
45. Elias Alexandre da Silva Correia, 1937, vol. ii, pp. 7‑44.
46. Carlos Couto, 1972, pp. 310‑317.
47. Joseph C. Miller, 1988, p. 596.
48. Elias Alexandre da Silva Correia, 1937, vol. ii, p. 9; Catarina Madeira Santos,
2005, pp. 77‑81.
49. Catarina Madeira Santos, 2005, pp. 44‑66 e 135‑183.
50. António da Silva Rego, 1970, pp. 163.
51. Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2002, vol. i, p. 33.
52. Ralph Delgado, 1960, 1961, 1962; Jaime Cortesão, 1971, pp. 291‑299.
53. José Carlos Venâncio, 1996, pp. 63‑67.
54. Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2002, vol. i, pp. 35 e 316‑317.
55. Catarina Madeira Santos, 2005, pp. 24‑43 e 67‑77; Joaquim Romero Magalhães,
2005, pp. 310.
56. René Pélissier, 1977, p. 85.
57. José Carlos Venâncio, 1984.
58. Malyn Newitt, 1997, pp. 153‑155, 211‑212 e 228‑229; Luís Frederico Dias
Antunes, 2001, pp. 123‑130; José Capela, 2002, pp. 31‑48.
59. João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, 2011, p. 272.
60. Marcos Carneiro de Mendonça, s. d., 1.º tomo, p. 241.
61. Anais. Estudos de História da Geografia da Expansão Portuguesa, vol. ix, tomo i,
1954, pp. 151‑170; Ana Paula Wagner, 2009a, pp. 24, 27, 91 e 96‑97; Ana Paula Wagner,
2009b, p. 407, nota 5.
62. Malyn Newitt, 1997, pp. 122‑139; A. R. Disney, 2009, p. 357.
63. António Delgado da Silva, 1830, pp. 394‑395 e 797‑798; José Capela,
2002, pp. 37‑40 e 138‑140; Tiago C. P. dos Reis Miranda, 2007; A. R. Disney, 2009,
p. 308.
64. Anthony John R. Russell‑Wood, 2001, pp. 24‑26.
65. Luís Frederico Dias Antunes, 2001, pp. 141‑142.
66. Paul Butel, 1996, pp. 24 e 39‑44.
Hist-da-Expansao_4as.indd 579 24/Out/2014 17:17
580 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
67. António Delgado da Silva, 1829, pp. 601‑602; José Roberto Monteiro de Campos
Coelho e Sousa, 1783, pp. 131‑132; Jorge Borges de Macedo, 1989, pp. 103‑105 e 122
‑123; José Capela, 2002, pp. 66‑69, 73‑74 e 166‑168.
68. Luís Frederico Dias Antunes, 2001, pp. 142‑151.
69. José Capela, 2002, p. 47.
70. Philip J. Stern, 2011, pp. 205‑207.
71. Ernestina Carreira, 2006, p. 91.
72. Maria de Jesus dos Mártires Lopes, 1996, pp. 28‑39 e 76‑134; Ernestina Carreira,
2006, pp. 91‑100; A. R. Disney, 2009, pp. 320‑322; Paul Axelrod, 2008.
73. BNP, Cartografia, D. 167 R, Planta Ignographica e scenographica de huma parte
das terrras do rey Sunda […] feito no dia 4 de Fevereyro de 1753; Francisco Raimundo de
Morais Pereira, Annal Indico‑Lusitano dos Successos Mais Memoraveis, e das acçoens mais
particulares do primeiro anno do felicissimo Governo do Illustrissimo, e Excellentissimo
Senhor Francisco de Assis de Tavora, […], Lisboa, na Oficina de Francisco Luís Ameno,
1753; Nuno Gonçalo Monteiro, 2006, pp. 108‑116.
74. Celsa Pinto, 1994, p. 54.
75. João Manuel Teles da Cunha, 2006, pp. 318‑319.
76. António Vasconcelos de Saldanha, 1989; Maria de Jesus dos Mártires Lopes,
1996, pp. 30‑31, 49, 56‑58, 61‑62, 122‑123 e 127‑128.
77. Artur Teodoro de Matos, 1974, pp. 98‑99 e 128.
78. Cláudio Lagrange Monteiro de Barbuda, 1903.
79. Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro, 2001, pp. 108‑109 e 115.
80. Cláudio Lagrange Monteiro de Barbuda, 1903, p. 3.
81. António Delgado da Silva, 1844, pp. 313‑329 (alvará com força de lei de 15 de
Janeiro de 1774), 329‑330 (alvará de 16 de Janeiro de 1774), 331‑380 (Regimento da
Alfândega de Goa de 20 de Janeiro de 1774) e 381‑382; Cláudio Lagrange Monteiro de
Barbuda, 1903, terceira parte, pp. 13‑15.
82. Josep M. Delgado Ribas, 2007, pp. 21‑22, 32 e 36‑37; Nuno Gonçalo Monteiro,
2012.
83. Artur Teodoro de Matos, 2006, pp. 127‑131; Eugénia Rodrigues, 2006, pp. 479
‑495.
84. Maria de Jesus dos Mártires Lopes, 1996, pp. 177‑182.
85. Idem, pp. 161‑162.
86. António Delgado da Silva, 1829, pp. 749‑750.
87. Maria de Jesus dos Mártires Lopes, 1996, pp. 39‑42.
88. Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2002, vol. i, p. 364.
89. Leonor Freire Costa, Pedro Lains e Susana Münch Miranda, 2011, pp. 276‑278.
14
CONTINUIDADES E PROJECTOS REFORMISTAS (1777‑1807)
1. Caetano Beirão, 1934; Luís de Oliveira Ramos, 2006; Jorge Pedreira e Fernando
Dores Costa, 2006.
2. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, p. 30.
Hist-da-Expansao_4as.indd 580 24/Out/2014 17:17
NOTAS 581
3. Caetano Beirão, 1934, p. 38 (itálicos no original).
4. Nuno Gonçalo Monteiro, 2004.
5. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, p. 31.
6. Caetano Beirão, 1934, pp. 86‑89.
7. Historia de Portugal composta em Inglez por huma Sociedade de Litteratos, tras‑
ladada em vulgar com as addições da versão franceza, e notas do traductor Portuguez,
Antonio de Moraes Silva, Natural do Rio de Janeiro. E agora novamente emendada, e
accrescentada com varias Notas, e com o resumo do Reinado da Rainha N. S. até o anno
de 1800, Lisboa, na Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, tomo iv, 1802,
pp. 82‑83.
8. Caetano Beirão, 1934, pp. 130‑131.
9. João Manuel Teles da Cunha, 2006a, p. 337; 2006b, p. 415.
10. Nuno Gonçalo Monteiro, 2009.
11. António Delgado da Silva, 1828, p. 164; Francisco Bethencourt, 2000, pp. 107
‑108 e 131.
12. José de Castro, 1943, pp. 269‑296; José Pedro Paiva, 2001; Ricardo Pessa de
Oliveira, 2007.
13. Biblioteca da Ajuda (BA), Ms. Av., 54‑X‑20, n.º 48, «Relação do Estado prezente
de toda Jndia», escrita na corte de Lisboa (fl. 10 v) e dirigida a D. Maria I (fl. 11).
14. Laerte Ramos de Carvalho, 1978, p. 116.
15. José Esteves Pereira, 2004, p. 135.
16. Idem, p. 139.
17. António Manuel Hespanha, 1998, p. 167; José Luís Cardoso, 2005, p. 362.
18. Caetano Beirão, 1934, pp. 243‑244; Kirsten Schultz, 2008, p. 225; Péricles Pedrosa
Lima, 2009.
19. Alexandre Rodrigues Ferreira, Viagem Filosófica às Capitanias do Grão‑Pará, Rio
Negro, Mato Grosso e Cuiabá, São Paulo, Gráficos Brunner, vol. i, 1970; Magnus Roberto
de Mello Pereira e Rosângela Maria Ferreira dos Santos, 2012; Ronald Raminelli, 2008;
Ângela Domingues, 2012.
20. Ronald Raminelli, 2008, pp. 68‑69, 131‑133, 138‑139 e 229‑231.
21. Idem, pp. 264‑265.
22. Kirsten Schultz, 2012.
23. Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2002‑2006; José Luís Cardoso (coord.), 2001; José
Luís Cardoso, 2001.
24. José Luís Cardoso, 2001, pp. 79‑82.
25. Ana Rosa Cloclet da Silva, 2004.
26. D. Rodrigo de Souza Coutinho, «Memória sobre o melhoramento dos domínios
de Sua Majestade na América (1797 ou 1798)», in D. Rodrigo de Souza Coutinho, Tex‑
tos Políticos, Económicos e Financeiros (1783‑1811), Lisboa, Banco de Portugal, 1993,
tomo ii, pp. 47‑66; Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2006, vol. ii, pp. 63‑72.
27. Maria Odila Leite da Silva Dias, 2005, pp. 7‑37 e 39‑126, esp. 94‑100; Maria
Beatriz Nizza da Silva, 2013.
28. István Jancsó, 1997, p. 388.
29. Carlos Guilherme Mota, 1996, pp. 21‑22, 82‑83 e 126‑127.
Hist-da-Expansao_4as.indd 581 24/Out/2014 17:17
582 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
30. Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, 1875; Maria de Jesus dos Mártires Lopes,
1996, pp. 293‑308.
31. Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, 1875, p. 18.
32. Maria de Jesus dos Mártires Lopes, 1996, p. 306.
33. Jean‑Paul Zuniga, 2007, pp. 66‑68.
34. Carlos Guilherme Mota, 1996, p. 38.
35. Kenneth Maxwell e Maria Beatriz Nizza da Silva, 1986, pp. 342‑359; István
Jancsó, 1997, p. 389; Kenneth Maxwell, 1998; Roberta Giannubilo Stumpf, 2010, p. 20.
36. José Murilo de Carvalho, 2008; Nuno Gonçalo Monteiro, 2009.
37. John Shy, 1998, p. 308.
38. Tarcísio de Souza Gaspar, 2008.
39. Idem, p. 417.
40. István Jancsó, 1996; 1997, pp. 428 e 431‑432.
41. István Jancsó, 1996, pp. 157‑201.
42. Guilherme Pereira das Neves, 1999.
43. István Jancsó, 1996, p. 211.
44. Jacques Godechot, 1965, p. 145.
45. Ana Rosa Cloclet da Silva, 2004, pp. 106‑119; Jorge Pedreira e Fernando Dores
Costa, 2006, pp. 71‑74.
46. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, p. 72.
47. D. Rodrigo de Souza Coutinho, «Memória sobre o melhoramento dos domínios
de Sua Majestade na América (1797 ou 1798)», in D. Rodrigo de Souza Coutinho, Textos
Políticos, Económicos e Financeiros (1783‑1811), tomo ii, pp. 47‑66; Guilherme Pereira
das Neves, 1995; Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2006, vol. ii, p. 67.
48. Ângela Domingues, 2012, pp. 77‑90.
49. Richard Bonney, 1995, p. 340; Jorge Miguel Viana Pedreira, 1994, pp. 266‑269;
Jorge Borges de Macedo, 1982, p. 235.
50. Visconde de Carnaxide, 1979, pp. 213‑273, esp. 256‑264. Este documento é o
relatório do vice‑rei do Brasil, marquês de Lavradio, para o seu sucessor, datado de 19 de
Junho de 1779.
51. José Jobson de Andrade Arruda, 1986; Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 1987, pp. 277
‑335; Stuart Schwartz, 1998, pp. 96‑97.
52. Baltasar da Silva Lisboa, Discurso Historico, Politico, e Economico dos progressos,
e estado actual da Filozofia Natural Portugueza, acompanhado de algumas reflexoens
sobre o estado do Brazil. Offerecido a Sua Alteza Real o Serenissimo Principe Nosso
Senhor Pelo seu muito humilde vassallo Balthezar da Silva Lisboa Doutor em Leis pela
Universidade de Coimbra, e Oppozitor aos lugares de Letras, Lisboa, na Officina de
António Gomes, 1786, pp. 67‑68.
53. Joaquim Romero Magalhães, 2012, pp. 63‑67 e 71.
54. Valentim Alexandre, 1993, p. 62.
55. Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 1987, pp. 333‑335; António Alves Caetano, 2008,
pp. 11‑47 e 51‑87.
56. Maria Goretti Leal Soares, 2004, pp. 483‑484.
57. Caetano Beirão, 1934, pp. 335‑340.
58. Elias Alexandre da Silva Correia, 1937, vol. i, pp. 17‑18, 27‑32 e 33‑57.
Hist-da-Expansao_4as.indd 582 24/Out/2014 17:17
NOTAS 583
59. Catarina Madeira Santos, 2005, pp. 226‑245.
60. Ralph Delgado, s. d., p. 263.
61. Padre António Brásio, 1978, p. 363.
62. «Angola no fim do século xviii. Documentos», Boletim da Sociedade de Geogra‑
phia de Lisboa, 6.ª série, n.º 5, 1886, i, pp. 275.
63. José Carlos Venâncio, 1984.
64. Arquivo das Colónias, Lisboa, vol. v, n.º 25, Abril‑Junho de 1922, p. 31.
65. Malyn Newitt, 1997, pp. 188‑193 e 200; José Capela, 2002, pp. 77‑85; Joaquim
Romero Magalhães, 2005, pp. 314‑315.
66. BA, Ms. Av., 54‑X‑20, n.º 48, «Relação do Estado prezente de toda Jndia», escrita
na corte de Lisboa (fl. 10 v).
67. Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 1987, p. 279.
68. António Alves Caetano, 2008, pp. 55‑61.
69. Celsa Pinto, 1994, pp. 117‑123; Celsa Pinto, 2006, pp. 344‑354; João Manuel
Teles e Cunha, 2006b.
70. Ângela Guimarães, 1996, pp. 78‑84 e 91‑108; Francisco Bethencourt, 1998.
15
A MONARQUIA LUSO‑BRASILEIRA (1808‑1822)
1. Valentim Alexandre, 1993, pp. 167‑285 e 767‑792; Jorge Miguel Viana Pedreira,
1994, pp. 317‑340; Luís Valente de Oliveira e Rubens Ricupero (org.), 2007; Jorge Couto
(dir.), 2010; Leonor Freire Costa, Pedro Lains e Susana Münch Miranda, 2011, pp. 290
‑300. Para uma síntese do período, Andréa Slemian e João Paulo G. Pimenta, 2008.
2. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, p. 165; José Luís Cardoso, 2010,
p. 119.
3. Valentim Alexandre, 1998, p. 46.
4. Isabel Nobre Vargues, 1993, p. 57; Patrick Wilcken, 2005, p. 260.
5. João Paulo G. Pimenta, 2002.
6. Valentim Alexandre, 1998, p. 60.
7. Jorge Borges de Macedo, 1990, pp. 111‑112; Leonor Freire Costa, Pedro Lains e
Susana Münch Miranda, 2011, pp. 292.
8. Valentim Alexandre, 1993; Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, pp. 179
‑185; Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2006, vol. ii, pp. 286‑301.
9. Rui Ramos, 2009, p. 449.
10. Ilmar R. de Mattos, 2008; Sérgio Barra, 2008, pp. 120‑135; Maria Beatriz Nizza
da Silva, 2008, pp. 65‑71.
11. Maria Beatriz Nizza da Silva, 2010, pp. 245‑247; Jorge Pedreira e Fernando
Dores Costa, 2006, pp. 149.
12. Kirsten Schultz, 2008, p. 7.
13. Paulo de Assunção, 2008, pp. 95‑96 e 106‑107.
14. Vera Lúcia Bottrel Tostes, 2010, p. 236.
15. Gabriel B. Paquette, 2013, p. 104.
16. Kirsten Schultz, 2008, pp. 15‑16; Maria Beatriz Nizza da Silva, 2010, p. 247.
Hist-da-Expansao_4as.indd 583 24/Out/2014 17:17
584 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
17. Maria Beatriz Nizza da Silva, 2010, pp. 249‑255; José Manuel Fernandes, 2010.
18. Andréa Slemian, 2006, pp. 51‑77. Sobre Paulo Fernandes Viana, ver Nathalia
Gama Lemos, 2008, 2012.
19. Ângela Domingues, 2007, p. 126.
20. Dilma Cabral (org.) e Angélica Ricci Camargo, 2010.
21. Universidade dos Açores (UAc), Serviços de Documentação (SD), Arquivo Raposo
do Amaral (ARA), Avulsos, «Caupers, Pedro José», 7102, Rio de Janeiro, 12 de Abril de
1813. Sobre Pedro José Caupers, ver José Damião Rodrigues, 2012.
22. Gabriel B. Paquette, 2013, p. 100.
23. Luís Joaquim dos Santos Marrocos, 2008, passim; Manoel de Oliveira Lima,
2006, passim; Patrick Wilcken, 2005, pp. 171‑183; Paulo de Assunção, 2008, pp. 120
‑121, 124‑127 e 134‑137.
24. Valentim Alexandre, 1998, p. 16.
25. Luís Joaquim dos Santos Marrocos, 2008, pp. 257‑259 e 260‑263.
26. Ângelo Pereira, 1956, pp. 221‑229; Paulo de Assunção, 2008, pp. 133‑134 e 137
‑151; Maria Beatriz Nizza da Silva, 2008, pp. 71‑73; Jorge Pedreira e Fernando Dores
Costa, 2006, pp. 237‑239 e 262‑263.
27. John Hemming, 1987, pp. 93 e 112‑113; Hal Langfur, 2002; Maria Regina Celes‑
tino de Almeida, 2008; Ângela Domingues, 2010, pp. 255‑260.
28. Manuela Carneiro da Cunha, 1992, p. 152.
29. Francieli Aparecida Marinato, 2007.
30. Nelson Rodrigues Sanjad, 2001; Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006,
pp. 171‑175.
31. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, pp. 185‑208 e 232‑237; João Paulo
G. Pimenta e Adriana Salay Leme, 2008; Fabrício Prado, 2010; Francisca Nogueira de
Azevedo, 2010; Jorge Couto, 2010.
32. João Paulo G. Pimenta e Adriana Salay Leme, 2008, pp. 36‑37 e 39.
33. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, pp. 186‑204.
34. Helen Osório, 2010, pp. 325‑326.
35. Débora Cristina Alexandre Bastos e Monteiro de Carvalho, 2012.
36. A. da Silva Rego, 1965; Ângela Guimarães, 1996, pp. 78‑84 e 91‑108; Jorge
Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, pp. 128, 135‑136 e 159.
37. Leonor Freire Costa, Pedro Lains e Susana Münch Miranda, 2011, pp. 290‑300.
38. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, pp. 163‑166.
39. Manoel de Oliveira Lima, 2006, p. 249.
40. Valentim Alexandre, 2000, p. 15.
41. Na terminologia utilizada no comércio de escravos para designar as diferentes
peças, a expressão «crias de pé» designava as crianças que já conseguiam andar pelo seu
pé, distinguindo‑as assim das «crias de peito», as que ainda mamavam. António Carreira,
1983a, p. 90.
42. Corcino Medeiros dos Santos, 1993, pp. 154‑169 e 208‑212; Jorge Caldeira,
2011, p. 167.
43. Herbert S. Klein, 1973.
44. Ângela Guimarães, 2000, p. 20.
45. Jorge dos Santos Alves, 1998; Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2008.
Hist-da-Expansao_4as.indd 584 24/Out/2014 17:17
NOTAS 585
46. Andrée Mansuy‑Diniz Silva, 2006, vol. ii, p. 245.
47. Ernestina Carreira, 2005.
48. Jorge Miguel Viana Pedreira, 1994, p. 342; António Alves Caetano, 2008,
pp. 51‑87.
49. Valentim Alexandre, 1993, pp. 767‑792; Jorge Miguel Viana Pedreira, 1994,
pp. 341 e 355.
50. Leonor Freire Costa, Pedro Lains e Susana Münch Miranda, 2011, p. 300.
51. Francisco de Sierra y Mariscal, «Ideias gerais sobre a Revolução do Brasil e suas
consequências», apud Lúcia Bastos Pereira das Neves, 2011, pp. 82‑83.
52. Ana Rosa Cloclet da Silva, 2005.
53. Carlos Guilherme Mota, 1972, p. 2.
54. Marcelo Dias Lyra Júnior, 2012.
55. Guilherme Pereira das Neves, 1994, 2008; Gabriel B. Paquette, 2013, pp. 105‑107.
56. José Murilo de Carvalho, 2008; Nuno Gonçalo Monteiro, 2009; Tomás Pérez
Vejo, 2010.
57. AHU, CU, Brasil‑Rio de Janeiro, cx. 145, doc. 28, fls. 1 e 2v para as referências.
Este documento foi já amplamente citado pela historiografia.
58. Tereza Cristina Kirschner, 2009, pp. 190 e 191.
59. Maria Odila Leite da Silva Dias, 2005, pp. 12‑13.
60. Valentim Alexandre, 2000; Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, 2006, pp. 265
‑289 e 293‑301.
61. Andréa Slemian e Clément Thibaud, 2013.
62. Lúcia Bastos Pereira das Neves, 2011, pp. 88‑111.
PARTE IV
O CICLO AFRICANO
16
UM IMPÉRIO VACILANTE (c. 1820‑1870)
1. Sobre este processo, veja‑se o capítulo anterior e a bibliografia aí citada, e também
as sínteses recentes em Jorge M. Pedreira e Nuno Gonçalo Monteiro, 2013.
2. Sobre as configurações do poder imperial português em épocas anteriores ao
século xix, veja‑se, entre outros, Malyn Newitt, 2000 e Francisco Bethencourt, 2007.
3. Stuart B. Schwartz, 2003, capítulo 6.
4. Cf. Rui Ramos, 2009, pp. 470‑471, e Valentim Alexandre, 1998c, p. 35.
5. Sobre a transferência da Biblioteca Real, cf. Lilia Moritz Schwarcz, 2007.
6. Sobre todo este processo, cf. Valentim Alexandre, 1993c e 1998c. Para um enqua‑
dramento ao tratado luso‑brasileiro de 29 de Agosto de 1825, pelo qual D. João VI
transferia a soberania do império do Brasil para o seu filho D. Pedro, cf. Zília Osório de
Castro, 2006.
7. Ver em especial Gabriel Paquette, 2013, capítulo 5.
8. Sobre a dimensão económica da derrocada, cf. Valentim Alexandre, 1993c e Jorge
M. Pedreira, 2013, capítulo «O processo económico».
Hist-da-Expansao_4as.indd 585 24/Out/2014 17:17
586 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
9. Gabriel Paquette, 2013, pp. 323‑324.
10. Jorge M. Pedreira, 1998b.
11. Jill Dias, 1981, p. 273.
12. Sobre estas incidências em Angola, cf. Valentim Alexandre, 1998c e Jill Dias, 1981.
13. João Estêvão, 1998, p. 183.
14. Gabriell Paquette, 2013, p. 362.
15. Luiz Felipe de Alencastro, 2004, p. 107.
16. Jill Dias, 1981.
17. Luiz Felipe de Alencastro, 2004, p. 104 e Valentim Alexandre, 1998d, pp. 26‑27.
18. Valentim Alexandre, 1998b, p. 49.
19. Ernestina Carreira, 1998, pp. 659‑671.
20. Valentim Alexandre, 1998a, p. 50. Ver também José Vicente Serrão, 1998, pp. 659
‑671.
21. Veja‑se Valentim Alexandre, 1998e.
22. Veja‑se reflexão de Cristina Nogueira da Silva, 2009a e Ricardo Roque, 2010.
23. Neste parágrafo seguimos de perto Cristina Nogueira, 2009a.
24. Veja‑se Rui Ramos, 1997.
25. Valentim Alexandre, 1989, p. 145.
26. Ver Rui Ramos, 1997 e José Acúrsio das Neves, 1981.
27. Valentim Alexandre, 1998d, p. 44.
28. Ver, por exemplo, Sebastião Xavier Botelho, 1835 e José Joaquim Lopes de Lima,
1844, p. 62.
29. Cf. Ricardo Roque, 2010.
30. Maria da Graça Bretes, 1998, pp. 800‑801.
31. Sobre estas discussões, veja‑se Célia Reis, 2007, capítulo 1.
32. Veja‑se Maria Emília Madeira Santos, 1988 e Isabel de Castro Henriques, 1997.
33. Cf. Valentim Alexandre, 1998d.
34. António José Telo e Hipólito de la Torre Gómez, 2000, p. 41.
35. Sobre toda esta problemática, cf. João Pedro Marques, 1999.
36. Valentim Alexandre, 1991, p. 298.
37. Sobre isto veja‑se Valentim Alexandre, 1991 e, numa óptica diferente, João Pedro
Marques, 1999 e 2008.
38. João Pedro Marques, 1999, p. 243.
39. Cf. Seymour Drescher, 2010, pp. 201‑226.
40. João Pedro Marques, 1999, em especial capítulo 4.
41. Valentim Alexandre, 1998d, p. 59. Cf. também João Pedro Marques, 1999 e
Arlindo Manuel Caldeira, 2013.
42. João Pedro Marques, 1999 é muito enfático neste ponto, maxime pp. 203‑214.
43. Cf. Valentim Alexandre, 1998f, pp. 68‑82 e W. Gervase Clarence‑Smith, 1990,
pp. 65‑66.
44. Valentim Alexandre, 1998f e Gabriel Paquette, 2013, pp. 365‑366.
45. Para uma visão geral, cf. Henri L. Wesseling, 2004, maxime pp. 150‑233. Para este
período da História imperial britânica, veja‑se John Darwin, 2009, parte 1; relativamente
à França, cf. David Todd, 2011.
Hist-da-Expansao_4as.indd 586 24/Out/2014 17:17
NOTAS 587
46. Valentim Alexandre, 1998d, p. 67. Cf. também a síntese geral do mesmo autor
em Valentim Alexandre, 2004.
47. Valentim Alexandre, 1998a, p. 95.
48. Nuno da Silva Gonçalves, 2000, p. 361.
49. Cf. João Pedro Marques, 2008, p. 78, e Arlindo Manuel Caldeira, 2013, pp. 229
‑249.
50. João Pedro Marques, 2008, pp. 82‑84.
51. Cf. Seymour Drescher, 2009, pp. 277‑283 e João Pedro Marques, 2008, pp. 87‑94.
52. Cf. João Pedro Marques, 1999, pp. 347‑355, e René Pélissier, 2000, pp. 60‑63.
53. Cf. João Pedro Marques, 1999, capítulo 6.
54. Sobre esta conjuntura, cf. Jorge M. Pedreira, 1998a, pp. 243‑266.
55. Cf. Philip Curtin, 1961.
56. Bouda Etemad, 2007, pp. 31‑36.
57. Cf. Gerald J. Bender, 2004 e Anabela Nascimento Cunha, 2004.
58. Cf. René Pélissier, 1989.
59. René Pélissier, 2006, p. 105 e Ricardo Roque, 2011, pp. 91‑110.
60. Joel Frederico Silveira, 1998, pp. 250‑253.
61. René Pélissier, 1997, p. 52.
62. Valentim Alexandre, 1998e, p. 161.
63. Douglas Wheeler e René Pélissier, 2009, p. 95.
64. Cf. Jill Dias, 1998, pp. 379‑471.
65. Alan K. Smith e W. Gervase Clarence‑Smith, 1985, pp. 497‑498.
66. René Pélissier, 2000, pp. 43‑54.
67. Malyn Newitt, 1998, p. 636.
68. Veja‑se síntese em René Pélissier, 2006, p. 69.
69. Cf. Allen F. Isaacman, 1972.
70. Valentim Alexandre, 1998e, p. 161.
17
A FEBRE DA PARTILHA (c. 1870‑1890)
1. Cf. Valentim Alexandre, 1998d e Henri L. Wesseling, 2004, pp. 235‑279.
2. Cf. John Gallagher e Ronald Robinson, 1953.
3. Henri Brunschwig, 1971, pp. 33‑34.
4. Robert Aldrich, 1991, p. 91.
5. Bouda Etemad, 2007, p. 35.
6. Cf. John Parker e Richard Rathbone, 2007, p. 97 e Henri L. Wesseling, 1996,
pp. 53‑65.
7. Daniel R. Headrick, 1981, p. 74.
8. António José Telo, 1994, pp. 159 e 165‑166 e 174.
9. António José Telo, 1994, p. 165.
10. António José Telo, 1994, pp. 212‑217.
11. Maria Emília Madeira Santos, 1988, p. 295.
12. Daniel R. Headrick, 1981.
Hist-da-Expansao_4as.indd 587 24/Out/2014 17:17
588 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
13. Para uma discussão desta problemática, cf. Eric J. Hobsbawm, 1990, pp. 77‑111
e Andrew Porter, 2011.
14. Uma tese cara a Ronald Robinson e John Gallagher, 1961.
15. Hipótese formulada originalmente por Joseph Schumpeter no seu ensaio The
Sociology of Imperialism (1918).
16. Citado por Henri L. Wesseling, 2004, p. 242.
17. Carneiro de Moura, na Câmara dos Deputados, cit. em Rui Ramos, 2000, p. 143.
18. Crawford Young, 1994, p. 85.
19. Veja‑se Miguel Bandeira Jerónimo, 2012b.
20. Cf. Jennifer Pitts, 2005.
21. Valentim Alexandre, 1998d, p. 112.
22. Para exemplos destes tratados, cf. João Freire, 2011, pp. 23‑42.
23. Malyn Newitt, 1981, p. 28.
24. Valentim Alexandre, 1998a, p. 115.
25. Charles E. Nowell, 1982, pp. 19‑31 e 33‑53.
26. Sobre a sua passagem pela pasta do Ultramar, cf. António Pedro Barbas Homem,
2008, pp. 63‑67.
27. Cf. Miguel Bandeira Jerónimo, 2012b.
28. Cf. Nuno da Silva Gonçalves, 2000, pp. 360‑364 e Luís Filipe Thomaz, 2000,
pp. 217‑218.
29. Miguel Bandeira Jerónimo e Hugo Gonçalves Dores, 2012c, pp. 140‑143.
30. Ângela Guimarães, 1984, pp. 36‑42.
31. Luciano Cordeiro, (s. d.), pp. 47‑49. O apelo ao apoio estatal à reactivação da
actividade missionária é formulado numa «Representação» ao governo pela SGL (10 de
Julho de 1880).
32. Valentim Alexandre, 2008, p. 144.
33. Malyn Newitt, 2009, pp. 175‑178.
34. João Andrade Corvo, 1883, vol. 2, p. 125.
35. João Andrade Corvo, 1883, vol. 2, p. 245.
36. Cf. Giuseppe Papagno, 1980.
37. Cf. Valentim Alexandre, 1998d e Richard J. Hammond, 1966, p. 80.
38. Sobre todo este processo, cf. João Pedro Marques, 2008.
39. João Crisóstomo, in Diário da Câmara dos Deputados, sessão de 5 de Maio de
1865, cit. por João Pedro Marques, 2008, pp. 108‑109.
40. Cf. Suzanne Miers e Richard Roberts (eds.), pp. 10‑15.
41. Cf. João Andrade Corvo, 1870.
42. Cf. Valentim Alexandre, 1998a e Eric Axelson, 1967.
43. Cf. António José Telo, 1991.
44. Sobre a Conferência de Berlim, cf., entre outros, Henri Brunschwig, 1971 e Henri
L. Wesseling, 1996.
45. Richard J. Hammond, 1966, p. 102.
46. Veja‑se João Pedro Marques, 1999, capítulo 6.
47. Cf. Maria de Fátima Bonifácio, 2010, pp. 89‑111. Para o reinado de D. Luís,
cf. Luís Espinha da Silveira e Paulo Jorge Fernandes, 2009, capítulo 4. Para o reinado de
D. Carlos, cf. Rui Ramos, 2008.
Hist-da-Expansao_4as.indd 588 24/Out/2014 17:17
NOTAS 589
48. De notar que a ambição portuguesa de não perder o pé na competição imperia‑
lista global não se circunscrevia apenas ao continente africano. Em 1887, beneficiando
da posição enfraquecida da China, Lisboa logrou finalmente celebrar um tratado com
representantes de Pequim que reconhecia o exercício da soberania portuguesa sobre Macau
e confirmava a «ocupação perpétua» do território sob administração portuguesa. Sobre
isto, cf. António Vasconcelos Saldanha, 2007.
49. Rui Ramos, 2001, pp. 116‑120.
50. Charles E. Nowell, 1982, pp. 1‑11.
51. António José Telo, 1991, maxime pp. 83‑88.
52. Cf. John Mackenzie (ed.), 2011.
53. Malyn Newitt, 1981, p. 29.
54. Charles E. Nowell, 1982, pp. 154‑155.
55. Miguel Bandeira Jerónimo e Hugo Gonçalves Dores, 2012c, pp. 119‑124.
56. Andrew C. Ross, 2009, p. 14.
57. Andrew C. Ross, 2009, p. 15.
58. António José Telo, 1991, p. 108.
59. José Calvet de Magalhães, 1990, pp. 200‑201.
60. Nuno Severiano Teixeira, 1990. Cf. também Rui Ramos, 2001, pp. 116‑121.
61. Rui Ramos, 2008, p. 82.
62. Rui Ramos, 2008, p. 84.
63. Para as reacções ao tratado de 20 de Agosto, cf. Eric Axelson, 1967, pp. 259‑263.
64. Rui Ramos, 2008, p. 98.
65. Charles E. Nowell, 1992, pp. 223‑224 e Eric Axelson, 1967, pp. 289‑297.
66. Citado em Paulo Lowndes Marques, 2010, p. 94.
67. Sobre esta crise cf. Pedro Lains, 2008, pp. 485‑506.
68. Rui Ramos, 2009, pp. 549 e 554‑556.
18
UM IMPÉRIO À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES (c. 1890‑1910)
1. Áreas retiradas de Ernesto Júlio de Carvalho e Vasconcelos, 1921 e, para o Estado
da Índia, de Ernestina Carreira, 1998, p. 659.
2. Cf. Roger A. Butlin, 2008, p. 50. Para uma visão comparativa destas ordens de
grandeza, cf. Bouda Etemad, 2007, pp. 165‑187.
3. Cf. Ernesto Júlio de Carvalho e Vasconcelos, 1896, p. 7.
4. Dados em Bouda Etemad, 2007, pp. 174 e 178, que toma como referência o ano
de 1913.
5. Pedro Tavares de Almeida e Paulo Silveira e Sousa, 2006, p. 26.
6. Sobre essas argumentações, ver, por todos, João Pedro Marques, 1999.
7. Oliveira Martins, 1978.
8. Sobre a acção de Enes em Moçambique, e não obstante o tom panegírico, veja‑se
Marcello Caetano, 1948.
9. António Enes, 1893.
10. Cf. Cristina Nogueira da Silva, 2009a, pp. 405‑423.
Hist-da-Expansao_4as.indd 589 24/Out/2014 17:17
590 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
11. Cristina Nogueira da Silva, 2009b, p. 28.
12. Júlio Vilhena em 1881, citado por Joaquim da Silva Cunha, 1953, pp. 117‑118.
13. A expressão é de Manuel Trindade Coelho, 1908, p. 46.
14. Sobre Lugard e o desenvolvimento dos «contornos do Estado colonial», cf. Jeffrey
Herbst, 2000, pp. 81‑89.
15. Malyn Newitt, 1981, pp. 104‑105.
16. Aida Freudenthal, 2001, p. 300.
17. Citado por João Freire, 2011, p. 370.
18. Hermínio Martins, 1998, maxime pp. 13‑19.
19. Eduardo Costa, 1946, p. 82.
20. Malyn Newitt, 1981, pp. 104‑105.
21. James Duffy, 1959, p. 242.
22. Veja‑se João Carlos Paulo, 2001, pp. 41‑48.
23. Crawford Young, 1994, p. 96.
24. René Pélissier, 2006.
25. Bruce Vandervort, 1998, p. 151.
26. Sobre a captura de Gungunhana e as campanhas deste período em Moçambique,
cf. António José Telo, 2004 e Paulo Jorge Fernandes, 2010. Para a figura de Gungunhana,
cf. Maria da Conceição Vilhena, 1996.
27. Cf. Malyn Newitt, 1997, pp. 352‑355 e René Pélissier, 2000, pp. 27‑400.
28. Aida Freudenthal, 2001, pp. 270‑271.
29. A descrição mais exaustiva destas campanhas encontra‑se em René Pélissier, 1997.
30. Para a Guiné, cf. René Pélissier, 1989.
31. Para uma análise a esta revolta, em várias das suas dimensões, cf. Ricardo Roque,
2001.
32. Cf. René Pélisser, 2007. Veja‑se também Ricardo Roque, 2010.
33. António José Telo, 1994, p. 221.
34. Sobre o genocídio dos Hereros e o esmagamento da revolta Maji‑Maji, cf. Jeremy
Sarkin, 2011 e Thomas Pakenham, 1992, pp. 616‑621.
35. Ricardo Roque, 2004.
36. Maria Carrilho, 1985, pp. 109‑110.
37. Bruce Vandervort, 1998, p. 38.
38. Cf. Ferreira Martins, 1945, p. 425 e Maria Carrilho, 1985, p. 112.
39. René Pélissier, 2000, vol. 2, p. 446.
40. Maria Eugénia Mata, 1993, p. 96.
41. Conde de Penha Garcia em 1901, citado por José Medeiros Ferreira, 1992, p. 32.
42. Para a campanha de Gaza, cf. Paulo Jorge Fernandes, 2010, pp. 281‑301.
43. Malyn Newitt, 1981, p. 53.
44. René Pélissier, 2000, vol. 2, p. 447.
45. Allen F. Isaacman, 1979, p. 319.
46. Allen F. Isaacman, 1979, p. 306.
47. Jill Dias, 2000b, p. 89.
48. Jill Dias, 2000b, pp. 91‑92.
49. Para este tema, cf., em perspectivas diferentes, Eric J. Hobsbawm, 1990 e Norman
Stone, 1999.
Hist-da-Expansao_4as.indd 590 24/Out/2014 17:17
NOTAS 591
50. Cf. Adelino Torres, 1991, pp. 63‑78.
51. Cf. Luís Aguiar Santos, 2004.
52. Adelino Torres, 1991, p. 67.
53. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 100.
54. Pedro Lains, 2003, p. 224.
55. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 90.
56. António José Telo, 1994, p. 208.
57. Jorge M. Pedreira, 1998c, p. 282.
58. Para estes aspectos da História de São Tomé e Príncipe, cf. Augusto Nascimento,
2001, pp. 202‑223 e W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, pp. 109‑111.
59. Jorge M. Pedreira, 1998c, p. 279.
60. Jorge M. Pedreira, 1998c, p. 278.
61. Cf. Sacuntala de Miranda, 1991, capítulos 1 e 2.
62. Jorge M. Pedreira, 1998c, pp. 283‑284.
63. Jorge M. Pedreira, 1998c, p. 293.
64. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, pp. 97‑99.
65. Cf. José Capela, 2009.
66. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 94.
67. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 95.
68. Cf. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, pp. 99‑102, e Ernesto Vasconcelos, 1921,
pp. 625‑627.
69. Para uma análise à actuação do BNU, designadamente em Angola, cf. Adelino
Torres, 1991, pp. 91‑106 e W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, pp. 102‑103.
70. Eric Allina, 2012, p. 25.
71. Eric Allina, 2012, p. 30.
72. Sobre a Companhia de Moçambique, cf. Leroy Vail, 1976, Eric Allina, 2012
e Bárbara Direito, 2012.
73. Eric Allina, 2012, pp. 69‑71.
74. Barry Neil‑Tomlinson, 1977. Cf. também Malyn Newitt, 1997, pp. 332‑334
e 352‑358.
75. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, pp. 107‑108.
76. Cf. Giuseppe Papagno, 1980, pp. 128‑137 e Malyn Newitt, 1997, pp. 327‑330.
77. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 109.
78. Malyn Newitt, 1981, p. 76.
79. Malyn Newitt, 1997, p. 330.
80. Malyn Newitt, 1997, p. 340.
81. Cf. Ruy Ennes Ulrich, 1909, pp. 232‑312.
82. Barry Neil‑Tomlinson, 1977, p. 127.
83. Cf. Simon E. Katzenellenbogen, 1982.
84. Cf. Simon E. Katzenellenbogen, 1973.
85. Cf. Malyn Newitt, 1997, pp. 425‑430.
86. Rui Ramos, 2000.
87. Cláudia Castelo, 2007, p. 49.
88. Cláudia Castelo, 2007, pp. 26 e 59.
89. Robert Rowland, 1998, pp. 321‑322.
Hist-da-Expansao_4as.indd 591 24/Out/2014 17:17
592 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
90. Sobre estes fiascos, cf. Orlando Ribeiro, 1981.
91. Cláudia Castelo, 2007, pp. 56‑57.
92. Gerald J. Bender, 2004, p. 87.
93. Gerald J. Bender, 2004, pp. 74‑94.
94. Nuno da Silva Gonçalves, 2000, p. 367.
95. Sampayo e Mello citado por Miguel Bandeira Jerónimo, 2010, p. 154.
96. Patrícia Ferraz de Matos, 2006, p. 32.
97. Cf. Miguel Bandeira Jerónimo, 2010.
98. António Enes, 1946, p. 27.
99. Cf. síntese de Miguel Bandeira Jerónimo, 2012a.
100. Malyn Newitt, 1981, pp. 107‑109.
101. Jill Dias, 1984, p. 63.
102. Sobre este grupo cf. Jill Dias, 2000a, e Beatrix Heintze, 2005, maxime capítulo 3.
103. Cf. Douglas Wheeler e René Pélissier, 2009, pp. 147‑154.
104. Aida Freudenthal, 2001, p. 421.
105. Jill Dias, 1984, p. 77.
106. Jill Dias, 1984, p. 79.
107. Sobre esta imprensa, cf. em especial Douglas Wheeler, 2007, pp. 73‑93.
108. Douglas Wheeler, 2007, pp. 73‑91.
109. Eduardo Medeiros, 1985.
110. Cf. Valdemir Zamparoni, 2000, pp. 191‑222.
111. Valdemir Zamparoni, 2000, p. 218.
112. Jeanne Marie Penvenne, 1996.
113. Eric Allina, 2012, pp. 15‑16 e 92.
114. Allen F. Isaacman, 1979, pp. 321‑323.
115. Cf. António José Telo, 1991, pp. 155‑168.
116. Cf. António José Telo, 1993, pp. 28‑42.
117. Cf. Fernando Costa, 1998.
118. Cf. James Duffy, 1967, maxime capítulo 7.
119. Kevin Grant, 2005, pp. 109‑134.
19
UM RENASCIMENTO COLONIAL FALHADO?
A REPÚBLICA E O IMPÉRIO (1910‑1926)
1. António Teixeira de Sousa, 1912, pp. 257‑258.
2. Veja‑se Luís Reis Torgal, 2012.
3. Citado em Rui Ramos, 2000, p. 144.
4. Citado por Luís Reis Torgal, 2005, p. 67.
5. Cf. «Manifesto‑Programa do Partido Republicano Português» em Ernesto Castro
Leal, 2008, pp. 143‑149.
6. Cf. José de Macedo, 1910.
7. Sobre estas aspirações, cf. Fernando Tavares Pimenta, 2005, capítulo 1.
8. Cf. Maria Cândida Proença, 2009.
Hist-da-Expansao_4as.indd 592 24/Out/2014 17:17
NOTAS 593
9. Cristina Nogueira da Silva, 2010, p. 98.
10. Cristina Nogueira da Silva, 2010, pp. 100‑101.
11. Cristina Nogueira da Silva, 2010, pp. 94‑98.
12. Cf. Duarte Ivo Cruz, 2009, pp. 207‑209 e 266‑268.
13. Cf. Fernando Tavares Pimenta, 2008, que, no entanto, nota que as principais
razões de descontentamento dos colonos nesse período foram as iniciativas de Norton
em prol do trabalho assalariado livre, p. 109.
14. Sobre essa matriz francesa, cf. Gregory Mann, 2009.
15. Valentim Alexandre, 2000a, p. 261.
16. Ferreira Diniz citado em Maria da Conceição Neto, 2010, p. 215.
17. Cf. Miguel Bandeira Jerónimo, 2012a.
18. Cf. Douglas Wheeler, 2000, p. 148 e Aurélio Rocha, 2006, pp. 129‑132.
19. Cf. Helena Pinto Janeiro, 2013. Sobre a missionação no espaço colonial português
neste período, cf. António Matos Ferreira, 2010.
20. Nuno da Silva Gonçalves, 2000, p. 371.
21. Maria da Conceição Neto, 2010, pp. 207‑208.
22. Célia Reis, 2007, p. 85.
23. Célia Reis, 2007, maxime capítulo 6.
24. Cf. Bruno Cardoso Reis, 2001.
25. Cf. Sebastian Conrad, 2012, p. 131.
26. Isabel Amaral, 2008, p. 306.
27. Pedro Lau Ribeiro, 2012.
28. Cristina Nogueira da Silva, 2010, pp. 91‑93.
29. Cf. Luís F. Dias Antunes e Victor L. Gaspar Rodrigues, 2011, p. 49.
30. Maria Cândida Proença, 2013.
31. Pedro Tavares de Almeida e Paulo Silveira e Sousa, 2006, pp. 15 e 22‑23.
32. Cf. Rui M. Pereira, 1986, pp. 200‑206.
33. Sobre esta temática, cf. Maria Isabel João, 2002, pp. 72‑90.
34. João Carlos Paulo, 2001, pp. 70‑71.
35. Cláudia Castelo, 2010, pp. 38‑39.
36. Cf. Francisco Teixeira da Mota, 1997. A questão do impacto do império na
«consciência metropolitana» tem sido objecto de um aceso debate noutros contextos
historiográficos, nomeadamente no britânico, tendo ganho uma nova acuidade após a
publicação de Bernard Porter, 2004.
37. Aurélio Rocha, 2006, pp. 129‑132.
38. Sobre as aspirações autonomistas dos colonos de Benguela, cf. Fernando Tava‑
res Pimenta, 2008, pp. 83‑93; sobre os de Lourenço Marques, cf. Aurélio Rocha, 2006,
pp. 80‑81.
39. Sobre a implantação da República na Guiné, cf. Julião Soares Sousa, 2012 e Philip
J. Havik, 1995‑1999, pp. 120‑125.
40. Miguel Jerónimo, 2010, pp. 127‑139, e Jeremy R. Ball, 2011.
41. Sobre Norton de Matos existem várias biografias, de qualidade desigual. Para
uma introdução geral à sua vida, veja‑se José Norton, 2002 e, numa abordagem de teor
académico, Sérgio Neto, 2013.
42. Cf. Adelino Torres, 1990.
Hist-da-Expansao_4as.indd 593 24/Out/2014 17:17
594 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
43. Rui Ramos, 2000.
44. Norton de Matos, 1944, vol. 3, pp. 13‑22.
45. De notar que no final da monarquia uma política de «atracção pacífica» para
Angola, baseada em negociações com os sobas, havia já sido preconizada por Teixeira
de Sousa, responsável pela pasta do Ultramar entre 1900 e 1903. Cf. António Teixeira de
Sousa, 1912, p. 230.
46. José Norton, 2002, p. 185.
47. Douglas Wheeler, 2000, p. 146.
48. Maria Alexandre Dáskalos, 2008, p. 66.
49. Douglas Wheeler e René Pélissier, 2009, p. 170.
50. Norton de Matos, 1926, p. 250.
51. Cláudia Castelo, 2007, pp. 65‑70.
52. Douglas Wheeler e René Pélissier, 2009, p. 187.
53. Aida Freudenthal, 2001, pp. 442.
54. Cf. Douglas Wheeler, 2000.
55. Não existe ainda uma monografia que abarque toda a história da Diamang, mas
alguns aspectos da sua actividade, desde a museologia à medicina e às condições laborais,
têm sido examinados em trabalhos académicos recentes: Jorge Varandas, 2007, Todd
Cleveland, 2008 e Nuno Porto, 2009.
56. Cláudia Castelo, 2007, p. 68.
57. Cf. Leroy Vail e Landeg White, 1980.
58. Malyn Newitt, 1997, pp. 358‑359 e 363 e Valdemir Zamparoni, 2004, pp. 302
‑303.
59. Alan K. Smith, 1991, pp. 510‑511.
60. Leroy Vail, 1976, pp. 401‑402.
61. Andrew D. Roberts, 1986, p. 515.
62. Valdemir Zamparoni, 2004, p. 310.
63. Barry Neil‑Tomlinson, 1977, p. 109.
64. Malyn Newitt, 1997, p. 377.
65. Cf. António Manuel Hespanha, 2010.
66. Valdemir Zamparoni, 2004, pp. 304‑306.
67. Cf. Eric Allina, 2012 e Bárbara Direito, 2012.
68. Números referidos em Aurélio Rocha, 2006, p. 75.
69. Cf. Duarte Ivo Cruz, 2009.
70. Alan K. Smith, 1991, pp. 513‑514.
71. Aurélio Rocha, 2006, p. 150.
72. Cf. Leroy Vail e Landeg White, 1980, maxime capítulo 5 e Malyn Newitt, 1997,
pp. 374‑377.
73. Simon E. Katzenellenbogen, 1982, pp. 144‑157, e Newitt, 1997, pp. 429‑430.
74. Aurélio Rocha, 2006, p. 185.
75. Cf. Douglas Wheeler, 2000.
76. Ana Mira, 2002.
77. Cf. em especial René Pélissier, 1989, pp. 142‑178 e, para a importância do emprego
de mercenários neste teatro, Joye L. Bowman, 1986.
78. René Pélissier, 2006, p. 328.
Hist-da-Expansao_4as.indd 594 24/Out/2014 17:17
NOTAS 595
79. Aida Freudenthal, 2001, p. 358, citando Norton de Matos; e Olga Iglésias, 2001,
p. 553.
80. Cf. Philip J. Havik, 2010.
81. Sobre a actuação de Afonso Costa, cf. Duarte Ivo Cruz, 2009 e Filipe Ribeiro
de Meneses, 2010. Sobre o scramble em 1919, cf. William Roger Louis, 2006, maxime
pp. 205‑224.
82. Cf. Pedro Aires Oliveira, 2011.
83. Cf. Cláudia Castelo, 2007, pp. 80‑84.
84. Cormac Ó Gráda, 2009, p. 22.
85. Helena Pinto Janeiro, 2013.
86. Manuel Ennes Ferreira, 2010, p. 125.
87. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 128.
88. Aida Freudenthal, 2001, p. 309.
89. Números a partir de Castelo, 2007, pp. 59 e 97 e Anuário Estatístico de Moçam‑
bique de 1928.
90. Cf. João Medina e Joel Barromi, 1987‑1988.
91. Douglas Wheeler, 2000, p. 152.
92. Miguel Bandeira Jerónimo, 2010, p. 223.
20
UM IMPÉRIO PARA ENCHER O OLHO? (1926‑1961)
1. Fernando Tavares Pimenta, 2008, p. 131.
2. Fernando Tavares Pimenta, 2008, capítulo 3.
3. Para a acção de Belo, cf. Rui Ferreira da Silva, 1990, pp. 355‑359.
4. Cf. Valentim Alexandre, 1993b, p. 1127.
5. Cf. Bases Orgânicas da Administração Colonial, de 2 de Outubro de 1926.
6. Nuno da Silva Gonçalves, 2000, p. 373.
7. Barry Neil‑Tomlinson, 1977, p. 121.
8. Cf. Valentim Alexandre, 1993b, p. 1129.
9. Cf. A. E. Duarte Silva, 1989, pp. 107‑131.
10. Cf. A. E. Duarte Silva, 1989 e Valentim Alexandre, 1993b.
11. Cf. Pedro Aires Oliveira, 2000, pp. 84‑88.
12. Cf. Pedro Aires Oliveira, 2000, pp. 81‑83.
13. Valentim Alexandre, 1999, p. 48.
14. Dalila Cabrita Mateus, 2004, pp. 23‑25.
15. Michel Cahen, 2008, pp. 99‑101.
16. Sobre os debates no interior do regime a propósito da revisão constitucional de
1951, cf. A. E. Duarte Silva, 1989, pp. 146‑152, e Marcelo Caetano, 1977, pp. 353‑360.
17. Sobre a evolução da política francesa no pós‑Segunda Guerra Mundial, cf. Robert
Aldrich, 1991, pp. 280‑284 e John D. Hargreaves, 1996, capítulo 5.
18. Cf. Alexander Keese, 2007.
19. Para a evolução das despesas coloniais do Estado português no século xx, cf. Lúcia
Ferreira e Cristina Pedra, 1988, pp. 89‑103.
Hist-da-Expansao_4as.indd 595 24/Out/2014 17:17
596 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
20. Malyn Newitt, 1981, p. 189.
21. Malyn Newitt, 1981, p. 191.
22. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, pp. 157‑158.
23. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 158.
24. Cf. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, capítulo 6.
25. Luís Salgado de Matos, 1996.
26. Sobre a política do algodão do Estado Novo, cf. M. Anne Pitcher, 1993.
27. Cláudia Castelo, 2007, p. 90.
28. Rui Ramos, 2000.
29. Cf. Rui Ferreira da Silva, 1990, pp. 370‑372.
30. Para a acção junto das camadas mais jovens da população, cf. Maria Cândida
Proença, Luís Vidigal e Fernando Costa, 2000, pp. 133‑202.
31. José Luís Lima Garcia, 1992, p. 418.
32. Pedro Aires Oliveira, 2000, pp. 121‑123 e Luis Ángel Sánchez‑Gómez, 2009,
pp. 673‑679.
33. Cf. David Corkhill e João Carlos Pina de Almeida, 2009.
34. Cf. João Bénard da Costa, 1991, pp. 90‑94 e 105. Para o Feitiço do Império, e
o cinema de temática imperial/ultramarina produzido durante o Estado Novo, cf. Jorge
Seabra, 2011a e Jorge Seabra, 2011b.
35. Douglas Wheeler e René Pélissier, 2009, p. 194.
36. Sobre algumas dessas tentativas, nomeadamente em Moçambique, na década de
1940, cf. Rui M. Pereira, 2001.
37. Cf. Alexander Keese, 2003 e Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro,
2014.
38. Patrícia Ferraz de Matos, 2006, pp. 66‑67.
39. Veja‑se João Carlos Paulo, 1998.
40. James Duffy, 1959, p. 312.
41. Cf. Linda M. Heywood, 2000.
42. John Marcum, 1969, vol. 1, p. 5.
43. Michel Cahen, 2008, pp. 103‑105.
44. James Duffy, 1959, p. 304.
45. Cf. Michel Cahen, 2012.
46. Douglas Wheeler, 2008.
47. Douglas Wheeler, 2006.
48. Fernando Rosas, 1990, p. 262.
49. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 196.
50. Malyn Newitt, 1981, p. 123.
51. James Duffy, 1959, pp. 307‑310 e 337‑339. Sobre estes esquemas, veja‑se também
Orlando Ribeiro, 1981 e Cláudia Castelo, 2007.
52. Douglas Wheeler, 2011.
53. Patrick Chabal, 2002, p. 5.
54. Patrick Chabal, 2002, p. 6.
55. Para esta conjuntura, cf. Martin Thomas, Bob Moore e L. J. Butler, 2008.
56. Sobre esta disputa, cf. Maria Manuel Stocker, 2011.
57. Orlando Ribeiro, 1999.
Hist-da-Expansao_4as.indd 596 24/Out/2014 17:17
NOTAS 597
58. Cf. Pedro Aires Oliveira, 2007, capítulo 2.
59. Sobre estas questões, cf. Moisés Silva Fernandes, 2006.
60. Frederick Cooper, 2011 e Nicholas J. White, 2011.
61. Sobre a resistência à descolonização em alguns destes países, cf. Hendrik Spruyt, 2005.
62. Sobre este período, cf. Frederick Cooper, 2002, capítulos 2 e 3.
63. Sobre estes cálculos, cf., entre outros, Martin Shipway, 2008 e Tony Chaffer, 2002.
64. A. E. Duarte Silva, 2010, pp. 35‑46.
65. Victor Pereira, 2012.
66. Sobre esta problemática, cf. Cláudia Castelo, 2012.
67. Cláudia Castelo, 1998. Para situar a figura de Freyre no contexto das ciências
sociais do seu tempo, cf. Peter Burke e Maria Lúcia Pallares‑Burke, 2008.
68. Cf. reflexão de Alexander Keese, 2012.
21
UMA DESCOLONIZAÇÃO FORA DE HORAS (1961‑1975)
1. Cf. Dietmar Rothermund, 2006.
2. Sobre esta conexão entre a Guerra Fria e a descolonização, cf. Odd Arne Westad,
2005 e Jost Dülfer e Marc Frey (eds.), 2011.
3. Cf. José Calvet de Magalhães, 1996, Aurora Almada Santos, 2014 e Bruno Cardoso
Reis, 2014.
4. Para o posicionamento de Salazar relativamente ao fenómeno da descolonização,
veja-se Filipe Romero de Meneses, 2010b, maxime capítulos 9 e 10.
5. Cf. Carlos Baptista Silva, 2008. Sobre a actuação dos SCCI em Moçambique, veja‑se
Abdoolkarim Vakil, Fernando Amaro Monteiro e Mário Machaqueiro, 2011.
6. Este é um aspecto ainda mal esclarecido, pelo que tudo o que podemos fazer é
arriscar uma conjectura informada. Sobre os antecedentes da «Abrilada», veja‑se Luís
Nuno Rodrigues, 2013.
7. António José Telo, 1997‑1998, pp. 26‑27.
8. Luís Nuno Rodrigues, 2008, p. 50.
9. Para a forma como estes processos se desenrolaram nos contextos britânico e
francês cf., respectivamente, Ronald Hyam, 2007 e Tony Chaffer, 2002.
10. A. E. Duarte Silva, 2010, p. 96.
11. Alexander Keese, 2007, p. 105.
12. Sobre este episódio, A. E. Duarte Silva, 2010, pp. 101‑110.
13. Cf. Michel Cahen, 1999.
14. Cf. Aida Freudenthal, 1995‑1999 e Alexander Keese, 2004.
15. Sobre esta crise da Frelimo, cf. Walter C. Oppelo, 1975 e José Manuel Duarte
Jesus, 2010.
16. Cf. Patrick Chabal, 1981, maxime capítulo 3.
17. Cf. José Pedro Castanheira, 1995.
18. Para a emergência do nacionalismo angolano e a sua ancoragem social, veja‑se
Christine Messiant, 2006.
Hist-da-Expansao_4as.indd 597 24/Out/2014 17:17
598 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
19. Fernando Tavares Pimenta, 2008, capítulo 4. Para uma abordagem problema‑
tizante à questão dos nacionalismos na África lusófona colonial (e pós‑colonial), cf. os
ensaios reunidos em Eric Morier‑Genoud (ed.), 2012.
20. Douglas Wheeler e René Pélissier, 2009, pp. 249‑260.
21. Pedro Aires Oliveira, 2007, pp. 220‑226.
22. Cf. Fernando Andresen Guimarães, 2001, pp. 42‑43, e Álvaro Mateus e Dalila
Cabrita Mateus, 2011, capítulo 2.
23. Douglas Wheeler e René Pélissier, 2009, p. 273.
24. Para além de Luís Nuno Rodrigues, 2013, cf. ainda José Freire Antunes, 1991 e
Luís Nuno Rodrigues, 2002.
25. José Freire Antunes, 1995, vol. 1, p. 26.
26. Cf. Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro, 2014, pp. 35‑47.
27. Cf. Pedro Aires Oliveira e Luís Nuno Rodrigues, 2001.
28. Várias investigações têm chamado a atenção para a persistência de situações de
trabalho coercivo para lá de 1962, sendo o caso dos africanos empregues pela Diamang,
segundo o velho regime do «contrato», um dos apontados. Cf. Todd Cleveland, 2008,
pp. 229‑232.
29. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, p. 226.
30. Para as reações dos Britânicos e Norte‑americanos, cf. Pedro Aires Oliveira e Luís
Nuno Rodrigues, 2001.
31. Cláudia Castelo, 2007, p. 84.
32. Cf. Joana Pereira Leite, 1999.
33. Manuel Ennes Ferreira, 1996, p. 314.
34. Joana Pereira Leite, 1999, p. 358.
35. Fernando Tavares Pimenta, 2008, pp. 239‑241.
36. Fernando Tavares Pimenta, 2008, capítulo 5.
37. Sobre o plenário, veja‑se A. E. Duarte Silva, 2010, capítulo 2, e a versão do próprio
Moreira em Adriano Moreira, 1996, pp. 28‑74.
38. A. E. Duarte Silva, 2010, p. 57.
39. Memorial reproduzido em João Paulo Guerra, 1994, p. 333.
40. Fernando Tavares Pimenta, 2008, p. 302.
41. Cf. Duncan Simpson, 2014, maxime pp. 97‑103 e capítulo 5.
42. Cf. Riccardo Marchi, 2009.
43. Cf. Fernando Martins, 2010.
44. Cf. Maria Manuel Stocker, 2011.
45. Sobre todo o episódio, cf. Moisés Silva Fernandes, 2006 e José Pedro Castanheira,
1999.
46. Cf. João de Pina Cabral, 2000, p. 403.
47. Para uma visão geral desta evolução, cf. António Costa Pinto, 2001 e os artigos
reunidos em Miguel Bandeira Jerónimo e António Costa Pinto, 2014.
48. Luís Nuno Rodrigues, 2002.
49. Cf. Memorial de George Ball em Diogo Freitas do Amaral, 1994, pp. 69‑83.
50. Luís Nuno Rodrigues, 2004.
51. Cf. José Freire Antunes, 1992 e Witney W. Schneidmann, 2004, capítulos 2 e 3.
52. Cf. Franco Nogueira, 1988, pp. 74‑77.
Hist-da-Expansao_4as.indd 598 24/Out/2014 17:17
NOTAS 599
53. Pedro Aires Oliveira, 2007, pp. 324‑347.
54. Ana Mónica Fonseca e Daniel Marcos, 2014.
55. Cf. Keith Middlemas, 1975.
56. Cf. Luís Barroso, 2012 e Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, 2013.
57. John D. Hargreaves, 1996, pp. 227‑228.
58. Norrie MacQueen, 2004, p. 265.
59. Vasco Pulido Valente, 2009, pp. 246‑247.
60. Norrie MacQueen, 2004.
61. Cf. Mustafah Dhada, 1993.
62. Cf. Carlos de Matos Gomes, 2002.
63. Cf. Stephen L. Weigert, 2011, capítulo 3.
64. John P. Cann, 1998, pp. 28‑32.
65. João Paulo Borges Coelho, 2002, p. 136.
66. John P. Cann, 1998.
67. Para o uso destas tropas, cf. João Paulo Borges Coelho, 2002 e John P. Cann, 2011.
68. Gerald J. Bender, 2004 e Cláudia Castelo, 2007.
69. Cf. Bruno Cardoso Reis e Pedro Aires Oliveira, 2012.
70. Cláudia Castelo, 2007, p. 216.
71. João Paulo Borges Coelho, 2002, p. 136.
72. Luís Salgado de Matos, 1996‑1997, p. 241.
73. Ricardo Soares de Oliveira, 2011, p. 170.
74. Cf. Nicolau Andresen Leitão, 2008.
75. Fernando Tavares Pimenta, 2008, pp. 332‑343.
76. Manuel Ennes Ferreira, 2008, p. 350.
77. Manuel Ennes Ferreira, 2008, p. 353.
78. Pedro Lains, 2003, pp. 234‑245 e Nicolau Andresen Leitão, 2008, p. 230.
79. António José Telo, 2008, vol. 1, p. 261.
80. W. Gervase Clarence‑Smith, 1990, pp. 212‑213.
81. Algo que se poderá inferir a partir da sua ligação a figuras como Jorge Jardim,
que desde 1973 trabalhava na preparação de um programa de transição em Moçambi‑
que, envolvendo nacionalistas africanos. Cf. José Freire Antunes, 1996, capítulos 16‑18.
82. Cf. José Manuel Tavares Castilho, 2000.
83. Cf. Norrie MacQueen, 1999.
84. José Freire Antunes, 1996.
85. Norrie MacQueen, 2006.
86. Norrie MacQueen e Pedro Aires Oliveira, 2010.
87. Vasco Pulido Valente, 2009, pp. 253‑258.
88. Cf. Luís Nuno Rodrigues, 2010, capítulo 6.
89. Para uma boa introdução às questões em jogo neste período, e ao curioso ersatz
da «consciência colonial» dos Portugueses, veja‑se os lúcidos ensaios de Eduardo Lou‑
renço, 2014.
90. Para as negociações destes arranjos, cf. José Medeiros Ferreira, 1994, Norrie
MacQueen, 1997, e António Costa Pinto, 2001.
91. Cf. José Vicente Lopes, 2013, pp. 369‑374.
Hist-da-Expansao_4as.indd 599 24/Out/2014 17:17
600 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
92. Cf. António Rita‑Ferreira, 1988 e Omar Ribeiro Thomaz e Sebastião Nascimento,
2012.
93. Sobre estas intenções de Spínola, cf. Fernando Tavares Pimenta, 2008, capítulo 6
e Luís Nuno Rodrigues, 2010, capítulo 6.
94. Sobre a crise do MPLA em 1974, cf. Jean‑Michel Mabeko Tali, 2001. Para uma
visão mais benigna da acção de Rosa Coutinho, cf. Pedro Pezarat Correia, 1991, capítulo 4.
95. Maria Inácia Rezola, 2012, pp. 386‑410.
96. Rui Pena Pires, 1998, p. 182.
97. Cf. João Paulo Borges Coelho, 2002 e Fátima da Cruz Rodrigues, 2013.
98. Manuel Ennes Ferreira, 2008, pp. 354‑368.
99. João de Pina Cabral, 2000, pp. 402‑403.
100. João de Pina Cabral, 1998, p. 276.
101. Sobre a transição de Macau, cf. Fernando Lima, 1999, Kenneth Maxwell, 1999
‑2000 e Francisco Gonçalves Pereira, 2013.
102. Cf. Pedro Aires Oliveira, 2007, pp. 466‑468.
103. Cf. Brad Simpson, 2005.
104. Cf. Fernando Lima, 2002, capítulos 9 e 10.
Hist-da-Expansao_4as.indd 600 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA
Hist-da-Expansao_4as.indd 601 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 602 24/Out/2014 17:17
Fontes impressas
ALBUQUERQUE, Luís e SANTOS, Maria Emília Madeira (1993‑2002), Portugaliae Monu‑
menta Africana, Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda.
ALMEIDA, Manuel Lopes de (1961), Notícias Históricas de Portugal e Brasil (1715‑1750),
Coimbra, Imprensa da Universidade.
Anais. Estudos de História da Geografia da Expansão Portuguesa, vol. IX, tomo I, 1954,
«Fontes para a História, Geografia e Comércio de Moçambique (Séc. XVIII)», prefa‑
ciadas e coligidas por Luís Fernando de Carvalho Dias.
«Angola no fim do século XVIII. Documentos», Boletim da Sociedade de Geographia de
Lisboa, 6.ª série, n.º 5, 1886, I.
ANTONIL, André João (2001), Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas,
introdução e comentário crítico por Andrée Mansuy Diniz Silva, Lisboa, CNCDP.
Arquivo das Colónias, Lisboa, vol. V, n.º 25, Abril‑Junho de 1922; n.º 28, Fevereiro de 1930.
Arquivo dos Açores (2001‑2005), 2.ª série, Ponta Delgada, Universidade dos Açores,
vols. II e III.
Arquivos de Angola, Luanda, 1.ª série, vols. I, 1936; III, 1937.
BARBUDA, Cláudio Lagrange Monteiro de (1903), Instrucções com que El‑Rei D. José I
mandou passar ao Estado da India O Governador, e Capitão General, e o Arcebispo
Primaz do Oriente no anno de 1774 publicadas e annotadas por […], 2.ª ed., Nova
Goa, Imprensa Nacional.
BARROS, Amândio Jorge Morais (2011), Cartas da Índia. Correspondência Privada de
Jorge de Amaral e Vasconcelos (1649‑1656), Porto, CITCEM‑Edições Afrontamento.
BARROS, João de, e COUTO, Diogo do (1973‑1975), Da Ásia, 24 vols., Lisboa, Livraria
Sam Carlos.
BELLOTTO, Heloísa Liberalli (2007), Nem o Tempo Nem a Distância. Correspondência
entre o 4.º Morgado de Mateus e sua mulher, D. Leonor de Portugal (1757‑1798),
Lisboa, Alêtheia Editores.
Hist-da-Expansao_4as.indd 603 24/Out/2014 17:17
604 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
BIKER , Júlio Firmino Júdice (1885), Collecção de Tratados e concertos de pazes que
o Estado da India Portugueza fez com os Reis e Senhores com quem teve relações
nas partes da Asia e Africa Oriental desde o principio da conquista até ao fim do
seculo XVIII, Lisboa, Imprensa Nacional, tomo VI.
BRÁSIO, António (padre) (ed.), Monumenta Missionaria Africana, 1.ª série, Lisboa, Aca‑
demia Portuguesa da História, vol. XII, 1981; vol. XIV, 1985.
CADORNEGA, António de Oliveira de (1972), História Geral das Guerras Angolanas 1680,
anotado e corrigido por José Matias Delgado, Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
3 tomos.
Cartas e outras Obras Selectas do Marquez de Pombal Ministro e Secretario d’Estado
d’El‑Rei D. Joze I […], Lisboa, na Typ. de Desiderio Marques Leão, 1822, tomo II.
CASTANHEDA, Fernão Lopes de (1979), História do Descobrimento e da Conquista da
Índia pelos Portugueses, 2 vols., Porto, Lello & Irmão.
CASTRO, José Ferreira Borges de (1856), Collecção dos Tratados, Convenções, Contra‑
tos e Actos Publicos celebrados entre a Coroa de Portugal e as mais Potencias desde
1640 até ao presente, compilados, coordenados e annotados por…, Lisboa, Imprensa
Nacional, tomo II.
CORREIA, Elias Alexandre da Silva (1937), Historia de Angola, Lisboa, Editorial Ática,
1937, vol. II.
CORREIA, Gaspar (1975), Lendas da Índia, 4 vols., Porto Lello & Irmão.
CORTESÃO , Armando e MOTA , Avelino Teixeira da (1960), Portugaliae Monumenta
Cartographica, 5 vols., Lisboa, Comissão para as Comemorações do 5.º Centenário
da morte do Infante D. Henrique.
COUTINHO, Rodrigo de Souza (D.) (1993), Textos Políticos, Económicos e Financeiros
(1783‑1811), 2 tomos, Lisboa, Banco de Portugal.
DINIS, António Joaquim Dias (dir.) (1960‑1974), Monumenta Henricina, 15 vols., Coim‑
bra, Atlântida.
FERREIRA, Alexandre Rodrigues (1970), Viagem Filosófica às Capitanias do Grão‑Pará,
Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, São Paulo, Gráficos Brunner, vol. I.
FROGER, François (1698), Relation d’un Voyage Fait en 1695. 1696. & 1697. aux Côtes
d’Afrique, Détroit de Magellan, Brezil, Cayenne & Isles Antilles, par une Escadre des
Vaisseaux du Roy, commandée par M. de Gennes. Faite par le Sieur Froger Ingenieur
Volontaire sur le Vaisseau le Faucon Anglois. Enrichie de grand nombre de Figures
dessinées sur les lieux. Imprimée par les soins & aux frais du sieur de Fer, Geographe de
Monseigneur le Dauphin., A Paris, Dans l’Isle du Palais, sur le Quay de l’Horloge, à la
Sphere Royale et Chez Michel Brunet, dans la grande Salle du Palais, au Mercure galant.
GARCIA, José Manuel (1983), Viagens dos Descobrimentos, Lisboa, Presença.
Gazeta de Lisboa Occidental, n.º 15, quinta‑feira, 15 de Abril de 1723; n.º 30, quinta
‑feira, 29 de Julho de 1723.
Gazeta de Lisboa Occidental, n.º 4, quinta‑feira, 25 de Janeiro de 1731.
GODINHO, Manuel (padre) (1974), Relação do Novo Caminho Que Fez por Terra e Mar
Vindo da Índia para Portugal no Ano de 1663, Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da
Moeda.
GODINHO, Vitorino Magalhães (ed.) (1956), Documentos sobre a Expansão Portuguesa,
3 vols., Lisboa, Cosmos.
Hist-da-Expansao_4as.indd 604 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 605
GÓIS, Damião de (1949‑1955), Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, 4 vols., Coimbra,
Imprensa da Universidade.
HAIR, P. E. H.; Jones, Adam; Law, Robin (eds.) (1992), Barbot on Guinea. The Writings
of Jean Barbot on West Africa 1678‑1712, London, The Hakluyt Society, vol. I.
Historia de Portugal composta em Inglez por huma Sociedade de Litteratos, trasladada em
vulgar com as addições da versão franceza, e notas do traductor Portuguez, Antonio
de Moraes Silva, Natural do Rio de Janeiro. E agora novamente emendada, e accres‑
centada com varias Notas, e com o resumo do Reinado da Rainha N. S. até o anno de
1800., Lisboa, na Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, tomo IV, 1802.
KNIGHTON, C. S e LOADES, D. M. (ed.) (2000), The Anthony roll of Henry VIII’s Navy,
Aldershot, Ashgate.
LISBOA, Baltasar da Silva (1786), Discurso Historico, Politico, e Economico Dos progres‑
sos, e estado actual da Filozofia Natural Portugueza, acompanhado de algumas refle‑
xoens sobre o estado do Brazil. Offerecido a Sua Alteza Real o Serenissimo Principe
Nosso Senhor Pelo seu muito humilde vassallo Balthezar da Silva Lisboa Doutor em
Leis pela Universidade de Coimbra, e Oppozitor aos lugares de Letras, Lisboa, na
Officina de António Gomes.
LISBOA, João Luís; Miranda, Tiago C. P. dos Reis; Olival, Fernanda (2002‑2011), Gazetas
manuscritas da Biblioteca Pública de Évora, vol. 1 (1729‑1731), vol. 2 (1732‑1734),
vol. 3 (1735‑1737), Lisboa, Edições Colibri‑CIDEHUS‑CHC.
LUZ , Francisco Mendes da (1992), Regimento da Casa da Índia, Lisboa, Instituto de
Cultura e Língua Portuguesa.
MARQUES , João Martins da Silva (ed.) (1988), Descobrimentos Portugueses, 3 vols.,
Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda.
MARROCOS , Luís Joaquim dos Santos (2008), Cartas do Rio de Janeiro 1811‑1821,
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal.
MASCARENHAS, José Freire de Monterroyo (1716), Os Orizes Conquistados, ou Noticia
da Conversam dos indomitos Orizes Procazes, povos barbaros, & guerreyros do Cer‑
taõ do Brasil, novamente reduzidos á Santa‑Fé Catholica, & á obediencia da Coroa
Portugueza. Com a qual se descreve tambem a aspereza do sitio da sua habitaçaõ,
a cegueyra da sua idolatria, & barbaridade dos seus ritos., Lisboa, na Officina de
António Pedroso Galram.
Memórias do Senhor Duguay‑Trouin, Tenente‑General das Forças Navais da França e
Comandante da Ordem Real e Militar de São Luís, apresentação de Francisco Car‑
los Teixeira da Silva e Alexandre Martins Vianna, Rio de Janeiro‑Brasília, Arquivo
Nacional‑Ed. Universidade de Brasília, 2003.
MENDONÇA, Marcos Carneiro de (s. d.), A Amazônia na Era Pombalina. Correspon‑
dência Inédita do governador e capitão‑general do Estado do Grão Pará e Maranhão
Francisco Xavier de Mendonça Furtado 1751‑1759, 3 tomos, s. l., Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, s. d..
PEREIRA, Duarte Pacheco (1975), Esmeraldo de Sitv Orbis, Lisboa, Sociedade de Geografia.
PEREIRA, Francisco Raimundo de Morais (1753), Annal Indico‑Lusitano Dos Successos
Mais Memoraveis, e das acçoens mais particulares do primeiro anno do felicissimo
Governo do Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Francisco de Assis de Tavora, […],
Lisboa, na Oficina de Francisco Luís Ameno.
Hist-da-Expansao_4as.indd 605 24/Out/2014 17:17
606 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
PEREIRA, Magnus Roberto de Mello; Santos, Rosângela Maria Ferreira dos (2012), João
da Silva Feijó: Um homem de ciência no Antigo Regime português, Curitiba, Editora
UFPR.
PINA, Rui de (1977), Crónicas, Porto, Lello & Irmãos.
PINTO, Fernão Mendes, Peregrinação, Lisboa, 1614 – edição dirigida por Jorge Santos
Alves, Fernão Mendes Pinto and the Peregrinação. Studies, restored Portuguese text,
notes and indexes, 4 vols., Lisboa, Fundação Oriente, 2010.
PINTO , Manuel do Rosário (2006), Relação do descobrimento da ilha de São Tomé,
fixação do texto, introdução e notas de Arlindo Manuel Caldeira, Lisboa, CHAM.
PITA, Sebastião da Rocha (1976), História da América Portuguesa, apresentação de Mário
Guimarães Ferri, introdução e notas de Pedro Calmon, Belo Horizonte, Editora Itatiaia.
RADULET, Carmen e THOMAZ, Luís Filipe (eds.) (2002), Viagens Portuguesas à Índia
(1497‑1513). Fontes Italianas para a sua História, Lisboa, Comissão Nacional para
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
Relation de ce qui s’est passé pendant la campagne de Rio Janeiro. Faite par l’escadre
des vaisseaux du roy, commandée par le Siuer du Guay‑Trouïn, A Paris, [s. impr.], le
22. fevrier 1712.
SÁ, Manuel Tavares de Sequeira e (1754), Jubilos da America, Na Gloriosa Exaltaçaõ, e
Promoçaõ do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Gomes Freire de Andrada, […],
Lisboa, na Oficina do Dr. Manuel Álvares Solano.
SILVA, António Delgado da (1828), Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima
Compilação das Ordenações, redegida pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva.
Legislação de 1775 a 1790., Lisboa, na Typografia Maigrense.
SILVA, António Delgado da (1829), Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima
Compilação das Ordenações, redegida pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva.
Legislação de 1763 a 1774., Lisboa, na Typographia Maigrense.
SILVA, António Delgado da (1830), Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima
Compilação das Ordenações, redegida pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva.
Legislação de 1750 a 1762., Lisboa, na Typografia Maigrense.
SILVA, António Delgado da (1844), Supplemento á Collecção da Legislação Portugueza
do Desembargador Antonio Delgado da Silva. Pelo Mesmo. Anno de 1763 a 1790.,
Lisboa, na Typ. de Luís Correia da Cunha.
SILVA, Francisco Xavier da (1750), Elogio Funebre, e Historico Do muito Alto, Poderoso,
Augusto, Pio, e Fidelissimo Rey de Portugal, e Senhor D. Joaõ V. Em que se referem as
acçoens da sua Religiaõ, Piedade, Clemencia, Justiça, Liberalidade; as fundações tanto
Sagradas, como Civis; os successos do tempo da guerra, e da paz; as victorias, que as
Armas Lusitanas alcançaraõ no Estado da India no seu reynado; com huma relaçaõ da
enfermidade, morte, e mais actos, que precederaõ até o deposito do seu Real Cadaver.
Dedicado à sempre Augusta Magestade Fidelissima de D. Joseph I. Nosso Senhor, por
[…]., Lisboa, na Régia Oficina Silviana, e da Academia Real.
SOARES, Joaquim Pedro Celestino (1853), Documentos Comprovativos do Bosquejo das
Possessões Portuguezas no Oriente, Lisboa, Imprensa Nacional, Tomo III.
SOUSA, António Caetano de (D.) (1951), História Genealógica da Casa Real Portuguesa,
nova edição revista por M. Lopes de Almeida e César Pegado, Coimbra, Atlântida –
Livraria Editora, tomo VIII.
Hist-da-Expansao_4as.indd 606 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 607
SOUSA, José Roberto Monteiro de Campos Coelho e (comp.) (1783), Systema, ou Collec‑
çaõ dos Regimentos Reaes., Lisboa, na Oficina de Francisco Borges de Sousa, tomo II.
TORRE, Antonio de la, e FERNANDEZ, Luis Suárez (1958‑1963), Documentos referentes
a las relaciones com Portugal durante el reinado de los Reyes Catolicos, 3 vols., Valla‑
dolid, Consejo Superior de Investigacion Cientifica.
Tratado de Limites das Conquistas entre Os muito Altos, e Poderosos Senhores D. João V.
Rey de Portugal, e D. Fernando VI. Rey de Espanha, Pelo qual Abolida a demarcaçaõ
da Linha Meridiana, ajustada no Tratado de Tordesillas de 7. de Junho de 1494., se
determina individualmente a Raya dos Dominios de huma e outra Corôa na America
Meridional. […], Lisboa, na Oficina de José da Costa Coimbra, 1750.
Vida, e Acçõens do Famoso, e Felicissimo Sevagy, da India Oriental. Escrita por Cosme da
Guarda, Natural de Murmugaõ, Dedicada ao Excellentissimo Senhor Duque Estribeiro
Mor., Lisboa Ocidental, na Oficina da Música, 1730.
VIEIRA, António (padre) (1997), Cartas, coordenadas e anotadas por J. Lúcio de Azevedo,
3 tomos, Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, reimpressão da edição de 1970.
ZURARA, Gomes Eanes de (1915), Crónica da Tomada de Ceuta por El‑rei D. João I
(ed. Francisco Maria Esteves Pereira), Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa.
ZURARA, Gomes Eanes de (1978‑1981), Crónica dos Feitos Notáveis que se Passaram na
Conquista da Guiné por Mandado do Infante D. Henrique (ed. Torquato de Sousa
Soares), 2 vols., Lisboa, Academia Portuguesa da História.
ZURARA, Gomes Eanes de (1988), Crónica do Conde Dom Pedro de Menezes (ed. de
José Adriano Freitas de Carvalho), Porto (reprodução da edição da Academia das
Ciências de Lisboa de 1792).
Estudos
AFONSO , Aniceto e GOMES, Carlos Matos (2013), ALCORA: O Acordo Secreto do
Colonialismo, Lisboa, Divina Comédia.
ALBUQUERQUE, Luís de (1972), Curso de História da Náutica, Coimbra, Livraria Alme‑
dina.
ALBUQUERQUE, Luís de (dir.) (1989), Portugal no Mundo, 6 vols., Lisboa, Alfa.
ALBUQUERQUE, Luís de (s. d.), Introdução à História dos Descobrimentos, 3.ª ed., revista,
Lisboa, Europa‑América.
ALBUQUERQUE, Luís de, e SANTOS, Maria Emília Madeira (coord.) (1991‑1995), História
Geral de Cabo Verde, vols. I e II, Lisboa e Praia, Instituto de Investigação Científica
Tropical e Direcção‑Geral do Património de Cabo Verde.
ALBUQUERQUE , Luís de, e VIEIRA , Alberto (1989), O Arquipélago da Madeira no
Século XV, Funchal, Região Autónoma da Madeira.
ALDEN, Dauril (1996), The making of an enterprise: the Society of Jesus in Portugal, its
empire and beyond, 1540‑1750, Stanford, Stanford University Press.
ALDRICH, Robert (1991), Greater France. A History of French Overseas Expansion, New
York, St. Martin’s Press.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de (2000), O Trato dos Viventes: Formação do Brasil no Atlân‑
tico Sul, Rio de Janeiro, Companhia das Letras.
Hist-da-Expansao_4as.indd 607 24/Out/2014 17:17
608 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
ALENCASTRO, Luiz Felipe de (2004), «Continental drift. The Independence of Brazil (1822),
Portugal and Africa», in Pétré‑Grenoilleau, Olivier (ed.), From Slave Trade to Empire.
European Colonization of Black Africa 1780s‑1880s, London, Routledge, pp. 99‑109.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de (2010), «A rede económica do Mundo Atlântico Português»,
in bethencourt, Francisco e CURTO, Diogo Ramada (eds.), A Expansão Marítima
Portuguesa, 1400‑1800, Lisboa, Edições 70, pp. 115‑144.
ALEXANDRE, Valentim (1989), «Mouzinho da Silveira e as relações económicas exter‑
nas», in PEREIRA, Miriam Halpern (ed.), Obras de Mouzinho da Silveira. Estudos e
Manuscritos, Lisboa, Gulbenkian, 1.º volume, pp. 121‑204.
ALEXANDRE, Valentim (1991), «Portugal e a abolição do tráfico de escravos (1834
‑1851)», Análise Social, vol. 26, n.º 111, pp. 293‑333.
ALEXANDRE, Valentim (1993a), «A desagregação do império: Portugal e o reconhecimento
do Estado brasileiro (1824‑1826)», Análise Social, vol. 28, n.º 121, pp. 309-341.
ALEXANDRE, Valentim (1993b), «Ideologia, economia e política: a questão colonial na
implantação do Estado Novo», Análise Social, vol. 28, n.º 123‑124, pp. 1117‑1136.
ALEXANDRE, Valentim (1993c), Os Sentidos do Império. Questão Nacional e Questão
Colonial na Crise do Antigo Regime Português, Porto, Edições Afrontamento.
ALEXANDRE , Valentim (1998a), «Nação e Império», in BETHENCOURT , Francisco e
HAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. IV: Do Brasil para
C
África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 90‑142.
ALEXANDRE, Valentim (1998b), «As periferias e a implosão do império», in BETHEN‑
COURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa,
vol. IV: Do Brasil para África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 46‑60.
ALEXANDRE, Valentim (1998c), «O processo de independência do Brasil», in BETHEN‑
COURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa,
vol. IV: Do Brasil para África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 10‑45.
ALEXANDRE , Valentim (1998d), «A Questão Colonial no Portugal Oitocentista», in
ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.), O Império Africano 1825‑1890, vol. x.
Nova História da Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira
Marques, Lisboa, Editorial Estampa, pp. 23‑132.
ALEXANDRE, Valentim (1998e), «Situações coloniais I – A lenta erosão do Antigo Regime
(1851‑1890)», in BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da
Expansão Portuguesa, vol. IV: Do Brasil para África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de
Leitores, pp. 143‑161.
ALEXANDRE, Valentim (1998f), «A viragem para África», in BETHENCOURT, Francisco
e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. IV: Do Brasil para
África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 61‑85.
ALEXANDRE , Valentim (1999), «Administração Colonial», in BARRETO , António e
MÓNICA, Maria Filomena (coords.), Dicionário de História de Portugal, Porto, Figuei‑
rinhas, vol. 7, pp. 45‑49.
ALEXANDRE , Valentim (2000a), «Regime de Indigenato», in BARRETO , António e
MÓNICA, Maria Filomena (coords.), Dicionário de História de Portugal, Porto, Figuei‑
rinhas, vol. 8, pp. 261‑262.
ALEXANDRE , Valentim (2000b), Velho Brasil, Novas Áfricas – Portugal e o Império
(1808‑1975), Porto, Edições Afrontamento.
Hist-da-Expansao_4as.indd 608 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 609
ALEXANDRE, Valentim (2004), «O império português (1825‑1890): ideologia e econo‑
mia», Análise Social, vol. 38, n.º 169, pp. 959‑979.
ALEXANDRE, Valentim (2008), A Questão Colonial no Parlamento 1821‑1910, vol. I,
Lisboa, Dom Quixote/Assembleia da República.
ALLINA, Eric (2012), Slavery by Any Other Name. African Life under Company Rule in
Colonial Mozambique, Charlottesville, University of Virginia Press.
ALMEIDA, André Ferrand de (2001), A Formação do Espaço Brasileiro e o Projecto do
Novo Atlas da América Portuguesa (1713‑1748), Lisboa, CNCDP.
ALMEIDA, António Marques de, «A estrutura financeira do Estado português na Época
Moderna», in História de Portugal dos Tempos Pré‑históricos aos Nossos Dias
(dir. João Medina), 15 vols., Amadora, Ediclube, vol. IV, pp. 99‑120.
ALMEIDA, Luís Ferrand de (1990), Alexandre de Gusmão, o Brasil e o Tratado de Madrid
(1735‑1750), Coimbra, INIC, Centro de História da Sociedade e da Cultura, Univer‑
sidade de Coimbra.
ALMEIDA , Maria Regina Celestino de (2008), «Reflexões sobre política indigenista e
cultura política indígena no Rio de Janeiro oitocentista», Revista USP, São Paulo,
n.º 79, pp. 94‑105.
ALMEIDA, Pedro Tavares de e SOUSA, Paulo Silveira e (2006), «Ruling the Empire: the
Portuguese Colonial Office (1820s‑1926)», Revista de História das Ideias, vol. 27,
pp. 1‑33.
ALVES, Ivone Correia, CUSTÓDIO, Jorge e MARQUES, Margarida (2012), D. Diogo da
Gama. Subsídios para uma Biografia.
ALVES , Jorge dos Santos (1998), «O triângulo Madeira/Achém/Macau. Um projecto
transoceânico de comércio de ópio (1808‑1816)», Archipel, Paris, vol. 56, pp. 43‑70.
ALVES, Jorge Manuel dos (1999), Um Porto entre Dois Impérios: Estudos sobre Macau
e as Relações Luso‑chinesas, Macau, Instituto Português do Oriente.
AMARAL, Diogo Freitas do (1994), A Tentativa Falhada de um Acordo Portugal‑EUA
sobre o Futuro do Ultramar Português 1963, Coimbra, Coimbra Editora.
AMARAL, Isabel (2008), «The emergence of tropical medicine in Portugal: the School
of Tropical Medicine and the Colonial Hospital of Lisbon (1902‑1935)», Dynamis,
n.º 28, p. 306.
AMES, Glenn Joseph (2000), Renascent Empire? The House of Braganza and the quest
of stability in Portuguese monsoon Asia, c. 1640‑1663, Amsterdam, Amsterdam
University Press.
AMORIM, Maria Adelina (2005), Os Franciscanos no Maranhão e Grão‑Pará. Missão e
Cultura na Primeira Metade de Seiscentos, Lisboa, CLEPUL/Universidade de Lisboa
‑CEHR/ Universidade Católica Portuguesa.
ANDAYA, Leonard Y. (2010), «The Edges of Empire: Indigenization and Localization of
the “Black Portuguese” in seventeenth and eighteenth century Eastern Indonesia»,
in COSTA, João Paulo Oliveira e RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (eds.), O Estado
da Índia e os Desafios Europeus, Actas do XII Seminário Internacional de História
Indo‑Portuguesa, Lisboa, CHAM‑CEPCEP, pp. 593‑614.
ANDRADE, António Alberto Banha de (1972), Mundos Novos do Mundo, 2 vols., Lisboa,
Junta de Investigações do Ultramar.
Hist-da-Expansao_4as.indd 609 24/Out/2014 17:17
610 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
ANDRADE, António Alberto Banha de (1974), História de um Fidalgo Quinhentista Por‑
tuguês. Tristão da Cunha, Lisboa, Instituto Histórico Infante D. Henrique.
ANTUNES, José Freire (1991), Kennedy e Salazar. O Leão e a Raposa, Lisboa, Difusão
Cultural.
ANTUNES, José Freire (1992), Nixon e Caetano: Promessas e Abandono, Lisboa, Difusão
Cultural.
ANTUNES, José Freire (1995), A Guerra de África (1961‑1974), Lisboa, Círculo de Lei‑
tores, 2 vols.
ANTUNES, José Freire (1996), Jorge Jardim. Agente Secreto, Venda Nova, Bertrand.
ANTUNES, Luís F. Dias (2001), O bazar e a fortaleza em Moçambique. A comunidade
baneane do Guzerate e a transformação do comércio afro‑asiático (1686‑1810),
dissertação de Doutoramento em História, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
ANTUNES, Luís F. Dias (2006), «Moçambique», in LOPES, Maria de Jesus dos Mártires
(coord.), O Império Oriental (1660‑1820), Nova História da Expansão Portuguesa,
Lisboa, Editorial Estampa, vol. V, tomo 2, pp. 265‑332.
ANTUNES, Luís F. Dias e RODRIGUES, Victor L. Gaspar (2011), «A Escola Colonial e a
formação de uma “elite dirigente” do ex‑Ultramar Português (1906‑1930)», Africana
Studia, n.º 17, pp. 41‑49.
ARRUDA, José Jobson de Andrade (1986), «A produção económica», in SILVA, Maria
Beatriz Nizza da (coord.), O Império Luso‑Brasileiro (1750‑1822), Nova História da
Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. VIII, pp. 85‑153.
ARRUDA , José Jobson de Andrade (1996), «Colonies as Mercantile Investments: The
Luso‑Brazilian Empire, 1500‑1800», in SOCOLOW, Susan (ed.), The Atlantic Staple
Trade, vol. I: Commerce and Politics, «An Expanding World, 9», Aldershot, Variorum,
pp. 21‑81.
ASSUNÇÃO, Paulo de (2008), Ritmos da Vida: Momentos Efusivos da Família Real Por‑
tuguesa nos Trópicos, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional.
AUBIN, Jean (1996‑2000), Le latin et l’astrolabe. Recherches sur le Portugal de la Renais‑
sance, son expansion en Asie et les relations internationales, 2 vols., Paris, Centre
Culturel Portugais.
ÁVILA, João Gabriel (1992), «René Duguay‑Trouin e a invasão de Velas, em 29 de Setem‑
bro de 1708», in Dom Frei Bartolomeu do Pilar, Bispo do Grão‑Pará e Maranhão e
Outras Crónicas, Ponta Delgada, Signo, pp. 69‑85.
AXELROD , Paul (2008), «Living on the edge: The village and the state on the Goa
‑Maratha frontier», Indian Economic and Social History Review, vol. 45, n.º 4,
pp. 553–580.
AXELSON, Edward (1967), Portugal and the Scramble for Africa, Johannesburg, Witwa‑
tersrand University Press.
AZEVEDO, Francisca Nogueira de (2010), «Política lusitana no Rio da Prata: correspon‑
dência do conde de Linhares (1808)», in MARTINS, Ismênia e MOTTA, Márcia (orgs.),
1808 – A Corte no Brasil, Niterói, Editora da UFF, pp. 299‑315.
AZEVEDO, João Lúcio de (1893), «Os Jesuitas expulsos», in Estudos de Historia Paraense,
Pará, Typ. de Tavares Cardoso & C.ª, pp. 111‑151.
Hist-da-Expansao_4as.indd 610 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 611
BALENO, Ilídio (2002), «Reconversão do comércio externo em tempo de crise e o impacto
da companhia do Grão‑Pará e Maranhão», in SANTOS, Maria Emília Madeira (coord.),
História Geral de Cabo Verde, vol. III, Lisboa‑Praia, IICT‑IIPC, pp. 157‑233.
BALL , Jeremy R. (2011), «Alma Negra (Black Soul): the Campaign for Free Labour
in Angola and São Tomé, 1909‑1916», Portuguese Studies Review, vol. 18, n.º 2,
pp. 51‑72.
BARATA, Manuel Themudo e TEIXEIRA, Nuno Severiano (2003), Nova História Militar
de Portugal, 3 vols., Lisboa, Círculo de Leitores.
BARCELOS, Christiano José de Senna (1905), Subsidios para a Historia de Cabo Verde e
Guiné, Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa, parte iii.
BARENDSE, R. T. (2000), «Trade and State in the Arabian Seas: A Survey from the Fifteenth
to the Eighteenth Century», Journal of World History, vol. 11, n.º 2, pp. 173‑225.
BARRA, Sérgio (2008), Entre a Corte e a Cidade: O Rio de Janeiro no Tempo do Rei
(1808‑1821), Rio de Janeiro, José Olympio Editora.
BARRETO, Luís Filipe (2006), Macau: Poder e Saber. Séculos XVI e XVII, Lisboa, Presença.
BARROS, Edval de Sousa (2008), Negócios de Tanta Importância. O Conselho Ultramarino
e a Disputa pela Condução da Guerra no Atlântico e no Índico (1643‑1661), Lisboa,
Centro de História de Além‑Mar.
BARROSO , Luís (2012), Salazar, Caetano e o Reduto Branco: A Manobra Político
‑Diplomática de Portugal na África Austral (1951‑1974), Lisboa, Esfera do Caos.
BEIRÃO, Caetano (1934), D. Maria I (1777‑1792). Subsídios para a Revisão da História
do seu Reinado, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade.
BELTING, Hans (2002), Hieronymus Bosch. Garden of Earthly delights, London‑New
York, Prestel.
BENDER, Gerald J. (2004), Angola and the Portuguese. The Myth and the Reality, 2.ª ed.,
Trenton NJ, Africa World Press [edição original: 1976].
BERTRAND , Romain (2007), «Rencontres impériales. L’histoire connectée et les relations
euro‑asiatiques», Revue d’histoire moderne et contemporaine, tomo 54, n.º 4bis,
Supplément: Bulletin de la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine: His‑
toire globale, histoires connectées: un changement d’échelle historiographique?,
pp. 69‑89.
BÉTHENCOURT Massieu, Antonio de (1998), Relaciones de España bajo Felipe V. Del
Tratado de Sevilla a la Guerra con Inglaterra (1729‑1739), Valladolid‑La Laguna
‑Las Palmas, Universidad de Valladolid‑Universidad de La Laguna‑Universidad de
Las Palmas.
BETHENCOURT, Francisco (1998), «O Estado da Índia», in BETHENCOURT, Francisco
e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. III: O Brasil na
Balança do Império (1697‑1808), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 250‑269.
BETHENCOURT, Francisco (2000), «A Inquisição», in AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.),
História Religiosa de Portugal, vol. 2: Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de
Leitores, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portu‑
guesa, pp. 95‑131.
BETHENCOURT, Francisco (2007), «Political configurations and local powers», in bethen‑
court, Francisco e CURTO, Diogo Ramada (eds.), Portuguese Oceanic Expansion,
1400‑1800, New York, Cambridge University Press, pp. 197‑254.
Hist-da-Expansao_4as.indd 611 24/Out/2014 17:17
612 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
BICALHO, Maria Fernanda (2003), A Cidade e o Império: O Rio de Janeiro no Século XVIII,
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
BICALHO , Maria Fernanda (2007), «Inflexões na política imperial no reinado de
D. João V», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa, vol. VIII, pp. 37‑56.
BIEDERMANN, Zoltan (2006), A aprendizagem de Ceilão. A presença portuguesa em Sri
Lanka, entre estratégia talassocrática e planos de conquista territorial (1506‑1598),
Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
dissertação de doutoramento (texto policopiado).
BOLÉO, Manuel de Paiva (1945), Filologia e História. A Emigração Açoriana para o Brasil
(Com documentos inéditos), Coimbra, Edição da Casa do Castelo, Editora.
BONIFÁCIO, Maria de Fátima (2010), A Monarquia Constitucional 1807‑1910, Lisboa,
Texto Editores.
BONNEY, Richard (1995), «The Eighteenth Century. II. The Struggle for Great Power Status
and the End of the Old Fiscal Regime», in BONNEY, Richard (ed.), Economic Systems
and State Finance, Oxford, European Science Foundation, Clarendon Press, pp. 315‑390.
BORGES, Graça Almeida (2014), Um império ibérico integrado? A União Ibérica, o golfo
Pérsico e o império ultramarino português, 1600‑1625, Florença, Instituto Universi‑
tário Europeu, dissertação de doutoramento (texto policopiado).
BOTELHO, Sebastião Xavier (1835), Estatística sobre os Domínios Portugueses na África
Oriental, Lisboa, Tipografia de José Baptista Morando.
BOUCHON, Geneviève (1998), Vasco da Gama, Lisboa, Terramar.
BOUCHON, Geneviève (1999), Inde découverte, Inde retrouvée, 1498‑1630. Études d’his‑
toire indo‑portugaise, Lisboa‑Paris, Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, Centre Culturel Calouste Gulbenkian.
BOULÈGNE, Jean (1989), Les luso‑africains de Sénégambie, XVIè‑XIXè siècles, Lisboa,
Instituto de Investigação Científica Tropical‑Université Paris I.
BOURDON, Léon (1993), La Compagnie de Jésus et le Japon: la fondation de la mission
japonaise par François Xavier, 1549‑1551 et les premiers résultats de la prédication
chrétienne sous le supériorat de Cosme de Torres, 1551‑1570, Paris‑Lisboa, Centre
Culturel Calouste Gulbenkian e Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses.
BOUZA, Fernando (2008), D. Filipe I, Lisboa, Temas e Debates.
BOWMAN, Joye L. (1986), «Abdul Njai: Ally and Enemy of the Portuguese in Guinea
‑Bissau, 1895‑1919», Journal of African History, vol. 27, n.º 3, pp. 463‑479.
BOXER, Charles Ralph (1963), The great ship from Amacon. Annals of Macao and the
old Japan trade, 1555‑1640, Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos.
BOXER, Charles Ralph (1965), Portuguese Society in the Tropics. The Municipal Coun‑
cils of Goa, Macao, Bahia, and Luanda, 1510‑1800, Madison and Milwaukee, The
University of Wisconsin Press.
BOXER , Charles Ralph (1981a), A Igreja e a Expansão Ibérica (1440‑1770), Lisboa,
Edições 70 [edição original: 1978].
BOXER , Charles Ralph (1981b), O Império Colonial Português (1415‑1825), 2.ª ed.,
Lisboa, Edições 70 [edição original: 1969].
BOXER, Charles Ralph (1993), The Christian Century in Japan, 1549‑1650, Manchester,
Carcanet [edição original: 1951].
Hist-da-Expansao_4as.indd 612 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 613
BOXER, Charles Ralph (1995), The Golden Age of Brazil: Growing Pains of a Colonial
Society 1695‑1750, Manchester, Carcanet [edição original: 1962].
BRÁSIO, António (1973), História e Missiologia. Inéditos e Esparsos, Luanda, Instituto
de Investigação Científica de Angola.
BRÁSIO, António (1978), «A Missão de 1779», Revista Portuguesa de História, Coimbra,
tomo xvi, pp. 349‑393.
BRAUDEL, Fernand (1983‑1984), O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de
Filipe II, 2 vols., Lisboa, Dom Quixote.
BRAZÃO, Eduardo (1976), «A Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, criação
de D. João V», Revista Portuguesa de História, Coimbra, tomo XVI, Homenagem ao
Doutor Torquato de Sousa Soares, i, pp. 51‑61.
BRAZÃO, Eduardo (1979), A Diplomacia Portuguesa nos Séculos XVII e XVIII, Lisboa,
Editorial Resistência, vol. I (1640‑1700).
BRETES, Maria da Graça (1998), «Timor», in ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.),
O Império Africano 1825‑1890, vol. x. Nova História da Expansão Portuguesa,
direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Estampa,
pp. 767‑803.
BRITO, Cristina (2009), Os mamíferos marinhos nas viagens marítimas pelo Atlântico
entre os séculos XIV e XVII: a evolução da ciência e do conhecimento, dissertação de
doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, policopiado.
BRUNSCHWIG, Henri (1971), Le Partage de l’Afrique Noire, Paris, Flammarion.
BUCHET, Christian (1994), «Des routes maritimes Europe‑Antilles et de leurs incidences
sur la rivalité franco‑britannique», Histoire, Économie et Société, 1994/4, pp. 563‑582.
BUESCU, Ana Isabel (2008), D. João III, Lisboa, Temas e Debates.
BURBANK, Jane e COOPER, Frederick (2010), Empires in World History: power and the
politics of difference, Princeton, Princeton University Press.
BURKE, Peter e PALLARES‑BURKE, Maria Lúcia (2008), Gilberto Freyre. Social Theory in
the Tropics, Oxford, Peter Lang.
BUTEL, Paul (1996), Les négociants bordelais: l’Europe et les Iles au XVIIIe siècle, 2.ª ed.,
Paris, Aubier [edição original: 1974].
BUTLIN , Roger A. (2008), Geographies of Empire. European Empires and Colonies
c. 1880‑1960, Cambridge, Cambridge University Press.
CABRAL, Dilma (org.) e Angélica Ricci Camargo (2010), Estado e Administração. A Corte
Joanina no Brasil, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional.
CABRAL, João de Pina (1998), «A composição social de Macau», in BETHENCOURT,
Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. V: Último
Império e Recentramento (1930‑1998), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 275‑298.
CABRAL, João de Pina (2000), in BARRETO, António e MÓNICA, Maria Filomena (coords.),
Dicionário de História de Portugal, Porto, Figueirinhas, vol. 8, pp. 401‑404.
CABRAL, Oswaldo R. (1950), «Os Açorianos», in Anais do Primeiro Congresso de História
Catarinense, Florianópolis, Imprensa Oficial, vol. II, pp. 503‑608.
CAETANO, António Alves (2008a), «O comércio da Ásia e as Invasões Francesas (Encontros
e desencontros com o Brasil: 1803‑1821)», in A Economia Portuguesa no Tempo de
Napoleão. Constantes e Linhas de Força, Lisboa, Tribuna da História, 2008, pp. 51‑87.
Hist-da-Expansao_4as.indd 613 24/Out/2014 17:17
614 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
CAETANO, António Alves (2008b), «A Guerra Peninsular e a Economia Portuguesa»,
in A Economia Portuguesa no Tempo de Napoleão. Constantes e Linhas de Força,
Lisboa, Tribuna da História, 2008, pp. 11‑47.
CAETANO, Antonio Filipe Pereira (2003), Entre a sombra e o sol – A revolta da cachaça,
a freguesia de São Gonçalo de Amarante e a crise política fluminense (Rio de
Janeiro, 1640‑1667), dissertação de mestrado, Niterói, Universidade Federal Flumi‑
nense, policopiado.
CAETANO, Antonio Filipe Pereira (2009), Entre Drogas e Cachaça: A Política Colonial e
as Tensões na América Portuguesa (1640‑1710), Maceió, Edufal.
CAETANO, Joaquim Oliveira (2014), Jorge Afonso – uma interrogação essencial na pintura
primitiva portuguesa, Lisboa, Universidade de Évora, dissertação de Doutoramento
em História de Arte, policopiado.
CAETANO, Marcello (1948), «António Enes e a sua acção colonial», Boletim da Sociedade
de Geografia de Lisboa, Novembro‑Dezembro, n.º 11‑12, pp. 573‑590.
CAETANO, Marcello (1977), Minhas Memórias de Salazar, Lisboa, Verbo.
CAHEN, Michel (1999), «The Mueda case and Maconde political ethnicity: some notes
on a work in progress», Africana Studia, n.º 2, pp. 29‑46.
CAHEN, Michel (2008), «Salazarisme, fascisme et colonialisme. Problèmes d’interprétation
en sciences sociales ou le sébastianisme de l’exception», Portuguese Studies Review,
vol. 15, n.º 1, pp. 87‑113.
CAHEN, Michel (2012), «Indigenato Before Race? Some Proposals on Portuguese Forced
Labour Law in Mozambique and the African Empire (1926‑62), in BETHENCOURT,
Francisco e PEARCE, Andrew (eds.), Racism and Ethnic Relations in the Portuguese
‑Speaking World, Oxford, Oxford University Press, pp. 149‑171.
CALDEIRA, Arlindo Manuel (2010), «As ilhas do golfo da Guiné, a rivalidade colonial
europeia e o tratado luso‑espanhol de 1778», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa,
vol. XI, pp. 177‑212.
CALDEIRA , Arlindo Manuel (2013), Escravos e Traficantes no Império Português.
O Comércio Negreiro Português no Atlântico durante os Séculos XV a XIX, Lisboa,
A Esfera dos Livros.
CALDEIRA, Jorge (2011), «O processo económico», in SCHWARCZ, Lilia Moritz (dir.),
História do Brasil Nação: 1808‑2010, vol. 1: Crise colonial e independência: 1808
‑1830, coordenação de Alberto da Costa e Silva, Rio de Janeiro, Fundación Mapfre
‑Objetiva, pp. 161‑203.
CANN, John P. (1998), Contra‑Insurreição em África 1961‑1974. O Modo Português de
Fazer a Guerra, Lisboa, Atena.
CANN , John P. (2011), «The artful use of national power: Portuguese Angola (1961
‑1974)», Small Wars and Insurgencies, vol. 22, n.º 1, pp. 196‑225.
CAPELA , José (2002), O Tráfico de Escravos nos Portos de Moçambique, 1733‑1904,
Porto, Edições Afrontamento.
CAPELA, José (2009), O Vinho para o Preto. Notas e Textos sobre a Exportação de Vinho
para África, 2.ª ed., Porto, CEAUP [edição original: 1973].
CARDOSO, José Luís (2005), «Política económica», in LAINS, Pedro e SILVA, Álvaro Fer‑
reira (orgs.), História Económica de Portugal (1700‑2000), vol. i: O Século XVIII,
Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, pp. 345‑367.
Hist-da-Expansao_4as.indd 614 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 615
CARDOSO, José Luís (2010), «1808: o ano zero da autonomia económica do Brasil»,
in COUTO, Jorge (dir.), Rio de Janeiro, Capital do Império Português (1808‑1821),
Parede, Tribuna da História, pp. 117‑125.
CARDOSO , José Luís (coord.) (2001), A Economia Política e os Dilemas do Império
Luso‑brasileiro (1790‑1822), Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses.
CARDOSO, José Luís et al. (2003), O Tratado de Methuen (1703): Diplomacia, Guerra,
Política e Economia, Lisboa, Livros Horizonte.
CARITA, Hélder (1999), Lisboa Manuelina e a Formação de Modelos Urbanísticos na
Época Moderna (1495‑1521), Lisboa, Livros Horizonte.
CARNAXIDE , visconde de (1979), O Brasil na Administração Pombalina (Economia e
Política Externa), 2.ª ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional‑Ministério da
Educação e Cultura [edição original: 1940].
CARREIRA, António (1983a), Cabo Verde. Formação e Extinção de uma Sociedade Escra‑
vocrata (1460‑1878), 2.ª ed., [s. l.], Instituto Cabo‑Verdiano do Livro.
CARREIRA, António (1983b), As Companhias Pombalinas de Grão‑Pará e Maranhão e
Pernambuco e Paraíba, Lisboa, Editorial Presença [edição original: 1969].
CARREIRA, António (1983c), «A Companhia de Pernambuco e Paraíba. Alguns subsídios
para o estudo da sua acção», Revista de História Económica e Social, Lisboa, n.º 11,
pp. 55‑88.
CARREIRA, António (1983d), Notas sobre o Tráfico Português de Escravos, 2.ª ed. rev.,
Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
[edição original: 1978].
CARREIRA, Ernestina (1998), «Índia», in ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.),
O Império Africano 1825‑1890, Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. x. pp. 657‑717.
CARREIRA, Ernestina (2005), «Navegação comercial entre o Brasil e a Ásia Portuguesa
durante a estadia da corte no Brasil 1808‑1821», comunicação apresentada ao Con‑
gresso Internacional O Espaço Atlântico de Antigo Regime: Poderes e Sociedades,
organizado pelo Centro de História de Além‑Mar da Universidade Nova de Lisboa
e pelo Departamento de Ciências Humanas do Instituto de Investigação Científica
Tropical, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
Lisboa, 2 a 5 de Novembro de 2005.
CARREIRA, Ernestina (2006), «O Estado Português do Oriente. Aspectos políticos», in
LOPES, Maria de Jesus dos Mártires (coord.), O Império Oriental (1660‑1820), Nova
História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, vol. V, tomo I, pp. 17‑122.
CARRILHO, Maria (1985), Forças Armadas e Mudança Política em Portugal no Século XX,
Lisboa, IN‑CM.
CARVALHO, Andreia Martins de (2007), Redes de parentesco: a nobreza no contexto do
governo da Índia de Nuno da Cunha, dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
CARVALHO, Andreia Martins de, e PINTO , Pedro (2012), «Da caça de Mondragón à
guarda do estreito de Gibraltar (1508‑1513): os guardiões da memória de Duarte
Pacheco Pereira e a economia da mercê nos séculos XVI‑XVII», Anais de História de
Além‑Mar, vol. XIII, pp. 221‑332.
Hist-da-Expansao_4as.indd 615 24/Out/2014 17:17
616 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
CARVALHO , Débora Cristina Alexandre Bastos e Monteiro de (2012), D. Domingos
António de Sousa Coutinho: Um diplomata português na corte de Londres (1807
‑1810), dissertação de mestrado, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora,
policopiado.
CARVALHO, Francismar Alex Lopes de (2012), Lealdades negociadas: Povos indígenas
e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda
metade do século XVIII), tese de doutoramento, São Paulo, Universidade de São Paulo,
2 vols., policopiado.
CARVALHO, José Murilo de (2008), «D. João e as histórias dos Brasis», Revista Brasileira
de História, São Paulo, vol. 28, n.º 56, pp. 551‑572.
CARVALHO, Laerte Ramos de (1978), As Reformas Pombalinas da Instrução Pública,
São Paulo, Saraiva/Edusp.
CARVALHO, Patrícia Catarina Sanches de (2008), Os estaleiros na Índia Portuguesa (1595
‑1630), dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
CASTANHEIRA , José Pedro (1995), Quem Mandou Matar Amílcar Cabral?, Lisboa,
Relógio d’Água.
CASTANHEIRA , José Pedro (1999), Os 58 Dias que Abalaram Macau, Lisboa, Dom
Quixote.
CASTEL‑BRANCO, Cristina e PAES, Margarida (2009), «Fusion urban planning in the 16th
century Japanese and Portuguese founding Nagasaki», Bulletin of Portuguese Japanese
Studies, vol. 18/19, pp. 67‑103.
CASTELO, Cláudia (1998), «O Modo Português de Estar no Mundo». O Luso‑tropicalismo
e a Ideologia Colonial Portuguesa (1933‑1961), Porto, Afrontamento.
CASTELO, Cláudia (2007), Passagens para África. O Povoamento de Angola e Moçambique
com Naturais da Metrópole 1920‑1974, Porto, Afrontamento.
CASTELO, Cláudia (2010), «O nacionalismo imperial no pensamento republicano», in
SARDICA, José Miguel (org.), A Primeira República e as Colónias Portuguesas, Lisboa,
CEPCEP/EPAL, pp. 28‑47.
CASTELO, Cláudia (2012), «Ciência, Estado e desenvolvimento no colonialismo português
tardio», in JERÓNIMO, Miguel Bandeira (coord.), O Império Colonial em Questão,
Lisboa, Edições 70, pp. 349‑385.
CASTILHO, José Manuel Tavares (2000), A Ideia de Europa no Marcelismo (1968‑1974),
Porto, Afrontamento.
CASTRO, José de (1943), O Cardial Nacional, Lisboa, Agência Geral das Colónias.
CASTRO, Luciano de (1940), «A questão do Amazonas através dos Tratados (Paris, 10 de
Agosto de 1797‑Badajós e Madrid, 1801)», in Congresso do Mundo Português.
Publicações, Memórias e comunicações apresentadas ao Congresso Luso‑Brasileiro de
História (VII Congresso), Tomo 2.º, II Secção, Lisboa, Secção de Congressos, vol. X,
pp. 559‑566.
CASTRO, Tiago Machado de (2011), Bombardeiros na Índia. Os homens e as artes da
artilharia portuguesa (1498‑1557), dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, policopiado.
CASTRO, Zília Osório de (2006), «A “Varanda da Europa” e o “Cais do Lado de Lá”.
Tratado de Paz e Aliança entre D. João VI e D. Pedro (29.08.1825)», in CASTRO, Zília
Hist-da-Expansao_4as.indd 616 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 617
Osório; SILVA, Júlio Rodrigues da, e SARMENTO, Cristina Montalvão (eds.), Tratados
do Atlântico Sul. Portugal‑Brasil 1825‑2000, Lisboa, Instituto Diplomático, pp. 23‑52.
CATTANEO, Angelo (2009), «Orb and Sceptre: Cosmography and World Cartography»,
in Archives Internationales d’Histoire des Sciences, vol. 59.
CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo (2009), América Hispánica (1492‑1898), Madrid,
Marcial Pons [edição original: 1983].
CHABAL, Patrick (1981), Amilcar Cabral. Revolutionary Leadership and People’s War,
London, C. Hurst & Co.
CHABAL, Patrick (ed.) (2002), A History of Postcolonial Lusophone Africa, London,
C. Hurst & Co.
CHAFFER, Tony (2002), The End of Empire in French West Africa: France’s successful
decolonization?, New York, Berg.
CHAIX, Gérald (coord.) (2002), L’Europe de la Renaissance, 1470‑1560, Nantes, Éditions
du Temps.
CHAMBOULEYRON, Rafael (2008), «As capitanias privadas no Estado do Maranhão e
Pará durante os séculos XVII e XVIII», in Anais do VII Encontro Humanístico, São
Luís, Edufma, pp. 257‑264.
CHAMBOULEYRON, Rafael (2010), Povoamento, Ocupação e Agricultura na Amazónia
Colonial (1640‑1706), Belém, Editora Açaí.
CLARENCE‑SMITH, W. Gervase (1990), O Terceiro Império Português 1825‑1975, Lisboa,
Teorema.
CLEVELAND, Todd (2008), Rock Solid: African laborers on the diamond mines of the
Companhia de Diamantes de Angola (DIAMANG) 1917‑1975, tese de doutoramento,
Minnesota, University of Minnesota, policopiado.
CLUNY, Isabel (1999), D. Luís da Cunha e a Ideia de Diplomacia em Portugal, Lisboa,
Livros Horizonte.
COELHO, João Paulo Borges (2002), «African Troops in the Portuguese Colonial Army,
1961‑1974: Angola, Guinea‑Bissau and Mozambique», Portuguese Studies Review,
vol. 10, n.º 1, pp. 129‑150.
COELHO, Manuel Trindade (1908), Manual Político do Cidadão Português, 2.ª ed., Porto,
Empresa Literária e Tipográfica.
COELHO, Maria Helena (2008), D. João I, o de Boa Memória, Lisboa, Temas e Debates.
CONRAD, Sebastian (2012), German Colonialism. A Short History, Cambridge, Cambri‑
dge University Press.
COOPER, Frederick (2002), Africa since 1940. The Past of the present, Cambridge, Cam‑
bridge University Press.
COOPER, Frederick (2011), «Reconstructing Empire in British and French Africa», in
MAZOWER, Mark, REINISCH, Jessica e FELDMAN, David (eds.), Post‑War Reconstruc‑
tion in Europe. International Perspectives. Past and Present Supplement, 6, pp. 196‑210.
CORDEIRO, Luciano (s.d.), Questões Coloniais, Lisboa, Vega.
CORKHILL, David e ALMEIDA, João Carlos Pina de (2009), «Commemoration and Pro‑
paganda in Salazar’s Portugal: the Mundo Português Exposition of 1940», Journal
of Contemporary History, vol. 44, n.º 3, pp. 381‑399.
CORREIA, Pedro Pezarat (1991), Descolonização de Angola. A Jóia da Coroa do Império
Português, Mem Martins, Editorial Inquérito.
Hist-da-Expansao_4as.indd 617 24/Out/2014 17:17
618 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
CORTESÃO, Armando (1969‑1970), História da Cartografia Portuguesa, Coimbra, Junta
de Investigações do Ultramar.
CORTESÃO, Armando e THOMAS, Henry (1938), Carta das Novas que Vieram a El‑rei
Nosso Senhor do Descobrimento do Preste João (Lisboa, 1521), Lisboa, Bertrand.
CORTESÃO, Jaime (1971), O Ultramar Português depois da Restauração, Lisboa, Portu‑
gália Editora.
CORTESÃO, Jaime (1994), A Expedição de Pedro Álvares Cabral e a Descoberta do Brasil,
Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda [edição original: 1922].
CORTESÃO, Jaime (2006), Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, Brasília‑São
Paulo, FUNAG‑Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2 tomos [edição original:
1950‑1963].
CORVO, João Andrade (1870), Perigos, Lisboa, Tipografia Universal.
CORVO , João Andrade (1883), As Províncias Ultramarinas II, Lisboa, Tipografia da
Academia Real das Ciências.
COSENTINO, Francisco Carlos Cardoso (2009), Governadores‑Gerais do Estado do Brasil
(Séculos XVI‑XVII): Ofício, regimentos, governação e trajetórias, São Paulo‑Belo
Horizonte, Annablume‑Fapemig.
COSTA, Abel Fontoura da (1937), Les déambulations du rhinocéros de Madafar, roi de
Cambaie de 1514 à 1516, Lisboa, Agência Geral das Colónias.
COSTA, André Alexandre da Silva (2013), Sistemas fiscais no império: o caso do ouro do
Brasil, 1725‑1777, tese de doutoramento, Lisboa, Instituto Superior de Economia e
Gestão, Universidade Técnica de Lisboa, policopiado.
COSTA , Eduardo (1946), «Princípios de Administração Colonial», in Ministério das
Colónias, Antologia Colonial Portuguesa, vol. 1. Política e Administração, Lisboa,
Agência Geral das Colónias, pp. 81‑96.
COSTA, Fernando (1998), Portugal e a Guerra Anglo‑Bóer. Política Externa e Opinião
Pública (1899‑1902), Lisboa, Cosmos.
COSTA, João Bénard da (1991), Histórias do Cinema, Lisboa, IN/CM.
COSTA, João Paulo Oliveira e (1989), «O Império e os diplomatas da Restauração», Stvdia,
Lisboa, n.º 48, 1989, pp. 307‑336.
COSTA, João Paulo Oliveira e (1993), Portugal e o Japão. O Século Namban, Lisboa,
Imprensa Nacional‑Casa da Moeda.
COSTA , João Paulo Oliveira e (1994), «Os Portugueses e a cristandade siro‑malabar
(1498‑1530)», Stvdia, n.º 52, pp. 121‑178.
COSTA, João Paulo Oliveira e (1995), A Descoberta da Civilização Japonesa pelos Por‑
tugueses, Lisboa‑Macau, Instituto de História de Além‑Mar e Instituto Cultural de
Macau.
COSTA , João Paulo Oliveira e (1996), «A Coroa portuguesa e a China (1508‑1531).
Do sonho manuelino ao realismo joanino», in Estudos de História do Relaciona‑
mento Luso‑chinês. Séculos XVI‑XIX (org. e coord. de António Vasconcelos de
Saldanha e Jorge Manuel dos Santos Alves), Macau, Instituto Português do Oriente,
pp. 11‑84.
COSTA, João Paulo Oliveira e (1998), O Cristianismo no Japão e o episcopado de D. Luís
Cerqueira, dissertação de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
Hist-da-Expansao_4as.indd 618 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 619
COSTA, João Paulo Oliveira e (1999a), «O fim da hegemonia do Padroado português do
Oriente no século XVII», in Vasco da Gama e a Índia: História Religiosa, Cultural e
Artística / Vasco da Gama et l’Inde: histoire religieuse, culturelle et artistique / Vasco
da Gama and India: religious, cultural and art history, Conferência internacional,
Paris, 11‑13 Maio, 1998, org. Teotónio R. de Souza e José Manuel Garcia, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, vol. 3, pp. 43‑57.
COSTA, João Paulo Oliveira e (1999b), O Japão e o Cristianismo no Século XVI. Ensaios
de História Luso‑nipónica, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
COSTA, João Paulo Oliveira e (2000), «A diáspora missionária», in AZEVEDO, Carlos
Moreira (dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2: Humanismos e Reformas, Lisboa,
Círculo de Leitores‑Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa, pp. 255‑311.
COSTA , João Paulo Oliveira e (2002), «The misericordias among Japanese Christian
communities in the 16th and 17th centuries», Bulletin of Portuguese Japanese Studies,
vol. 8, pp. 67‑79.
COSTA, João Paulo Oliveira e (2007), D. Manuel I, um Príncipe do Renascimento, Lisboa,
Temas e Debates [edição original: 2005].
COSTA, João Paulo Oliveira e (2009), Henrique, o Infante, Lisboa, A Esfera dos Livros.
COSTA, João Paulo Oliveira e (2013), Mare Nostrum. Em Busca de Honra e Riqueza,
Lisboa, Temas e Debates.
COSTA, João Paulo Oliveira e (dir.) (2000a), Os Descobridores do Brasil. Exploradores
do Atlântico e Construtores do Estado da Índia, Lisboa, Sociedade Histórica da
Independência de Portugal.
COSTA, João Paulo Oliveira e (dir.) (2000b), A Nobreza e a Expansão. Estudos Biográficos,
Cascais, Patrimonia Historica.
COSTA, João Paulo Oliveira e, e RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (eds.) (2010), O Estado
da Índia e os Desafios Europeus, Actas do XII Seminário Internacional de História
Indo‑Portuguesa, Lisboa, CHAM‑CEPCEP.
COSTA, João Paulo Oliveira e, e LACERDA, Teresa (2007), A Interculturalidade na Expan‑
são Portuguesa, Lisboa, Alto Comissariado para a Emigração e as Minorias Étnicas.
COSTA, João Paulo Oliveira, e RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (1992), Portugal y Oriente:
el proyecto indiano del rey Juan, Madrid, Editorial Mapfre.
COSTA, João Paulo Oliveira e, e RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (2007), A Batalha dos
Alcaides, 1514. No Apogeu da Presença Portuguesa em Marrocos, Lisboa, Tribuna
da História.
COSTA, João Paulo Oliveira e, e RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (2008), Conquista de Goa,
1510‑1512. Campanhas de Afonso de Albuquerque, vol. I, Lisboa, Tribuna da História.
COSTA, João Paulo Oliveira e, e RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (2012), Conquista de Malaca,
1511. Campanhas de Afonso de Albuquerque, vol. II, Parede, Tribuna da História.
COSTA , João Paulo Oliveira e, e RODRIGUES , Vítor Luís Gaspar (coord.) (2004), A Alta
Nobreza e a Fundação do Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional, Lis‑
boa, Centro de História d’Além‑Mar e Centro de Estudos de História e Cartografia
Antiga.
COSTA, Leonor Freire (1997), Naus e Galeões na Ribeira de Lisboa. A Construção Naval
no Século XVI para a Rota do Cabo, Cascais, Patrimonia Historica.
Hist-da-Expansao_4as.indd 619 24/Out/2014 17:17
620 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
COSTA, Leonor Freire (2002), O Transporte no Atlântico e a Companhia Geral do Comér‑
cio do Brasil (1580‑1663), 2 vols., Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses.
COSTA, Leonor Freire, LAINS, Pedro e MIRANDA, Susana Münch (2011), História Eco‑
nómica de Portugal 1143‑2010, Lisboa, A Esfera dos Livros.
COSTA, Leonor Freire, ROCHA, Maria Manuela e SOUSA, Rita Martins de (2013), O Ouro
do Brasil, Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda.
COUTO , Carlos (1972), Os Capitães‑Mores em Angola no Século XVIII (Subsídio
para o estudo da sua actuação), Luanda, Instituto de Investigação Científica de
Angola.
COUTO, Dejanirah e LOUREIRO, Rui Manuel (2007), Ormuz, 1507 e 1622. Conquista e
Perda, Lisboa, Tribuna da História.
COUTO, Jorge (1995), A Construção do Brasil, Lisboa, Cosmos.
COUTO, Jorge (2010a), «Fronteiras do Brasil no Governo Joanino», in COUTO, Jorge
(dir.), Rio de Janeiro, Capital do Império Português (1808‑1821), Parede, Tribuna da
História, pp. 169‑193.
COUTO, Jorge (dir.) (2010b), Rio de Janeiro, Capital do Império Português (1808‑1821),
Parede, Tribuna da História.
CROUZET, François M. (1990), «Angleterre‑Brésil, 1697‑1850: un siècle et demi d’échan‑
ges commerciaux», Histoire, Économie et Société, 1990/2, pp. 287‑317.
CRUZ , Duarte Ivo (2009), Estratégia Portuguesa na Conferência de Paz. As Actas da
Delegação Portuguesa, Lisboa, FLAD.
CRUZ, Maria Augusta Lima (2009), D. Sebastião, Lisboa, Temas e Debates.
CUNHA, Anabela Nascimento (2004), O degredo para Angola na segunda metade do
século XIX. Os degredados e a colonização penal, Lisboa, Faculdade de Letras (poli‑
copiado).
CUNHA, João Manuel Teles e (2006a), «Economia e finanças. A rede económica do Estado
da Índia (1660‑1750)», in LOPES, Maria de Jesus dos Mártires (coord.), O Império
Oriental (1660‑1820), Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial
Estampa, vol. V, tomo I, pp. 162‑338.
CUNHA, João Manuel Teles e (2006b), «A Carreira da Índia e Goa – apogeu e declínio
crepusculares (1760‑1835)», in LOPES, Maria de Jesus dos Mártires (coord.), O Impé‑
rio Oriental (1660‑1820), Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial
Estampa, vol. V, tomo I, pp. 380‑449.
CUNHA, João Teles e (2004), «De Diamper a Mattanchery: caminhos e encruzilhadas
da Igreja malabar e católica na Índia. Os primeiros tempos (1599‑1624)», Anais de
História de Além‑Mar, vol. v, pp. 283‑368.
CUNHA , Joaquim da Silva (1953), Sistema Português de Política Indígena, Coimbra,
Coimbra Editora.
CUNHA, Mafalda Soares da, e MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2001), «Vice‑reis, gover‑
nadores e conselheiros de governo do Estado da Índia (1505‑1834). Recrutamento
e caracterização social», Penélope. Revista de História e Ciências Sociais, Lisboa,
n.º 25, pp. 91‑120.
CUNHA, Mafalda Soares da, e COSTA, Leonor Freire, D. João IV, Lisboa, Temas e Deba‑
tes, 2008.
Hist-da-Expansao_4as.indd 620 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 621
CUNHA, Manuel de Azevedo da (1981), Notas Históricas, I: Estudos sobre o concelho
da Calheta (S. Jorge), recolha, introdução e notas de Artur Teodoro de Matos, Ponta
Delgada, Universidade dos Açores.
CUNHA, Manuela Carneiro da (1992), «Política indigenista no século xix», in CUNHA,
Manuela Carneiro da (coord.), História dos Índios no Brasil, São Paulo, Companhia
das Letras.
CURTIN, Philip (1961), «The White Man’s Grave»: image and reality 1780‑1950, London,
University of London/Institute of Commonwealth Studies.
CURTO, Diogo Ramada (2007), «O Estado do Presente Estado da Índia (1725) de Fr. Iná‑
cio de Santa Teresa», in BORGES, Charles J. e PEARSON, M. N. (coords.), Metahistory:
History questioning History / Metahistória: História Questionando História, Lisboa,
Nova Vega, pp. 155‑160.
CURTO, Diogo Ramada (2010), «A cultura imperial e colonial portuguesa», in BETHEN‑
COURT, Francisco e CURTO, Diogo Ramada (eds.), A Expansão Marítima Portuguesa,
1400‑1800, Lisboa, Edições 70, pp. 327‑370.
CURVELO , Alexandra (2001), «Nagasaki, an European artistic city in Early Modern
Japan», Bulletin of Portuguese Japanese Studies, vol. 2, pp. 23‑35.
CURVELO, Alexandra (2007), Nuvens douradas e paisagens habitadas. A arte namban e
a sua circulação entre a Ásia e a América: Japão, China e Nova Espanha (c. 1550 –
c. 1700), dissertação de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Huma‑
nas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
DARWIN, John (2009), The Empire Project. The Rise and Fall of the British World‑System
1830‑1970, Cambridge, Cambridge University Press.
DÁSKALOS , Maria Alexandre (2008), A Política de Norton de Matos para Angola
1912‑1915, Coimbra, Minerva.
DELGADO RIBAS, Josep M. (2007), Dinámicas imperiales (1650‑1796). España, América
y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español, Barcelona, Edicions
Bellaterra.
DELGADO, Ralph (1960‑1962), «O Governo de Sousa Coutinho em Angola», Stvdia,
Lisboa, n.º 6, pp. 19‑56, n.º 7, pp. 49‑86, e n.º 10, pp. 7‑47.
DELGADO, Ralph (s. d.), História de Angola, Terceiro Período, de 1648 a 1836, Luanda,
Banco de Angola, vol. 4.
DELUMEAU, Jean (1984), A Civilização do Renascimento, 2 vols., Lisboa, Estampa [edição
original: 1964].
DEMTL, Maria Fernanda (2010), Método e arte: criação urbana e organização territorial
na capitania de São Paulo, 1765‑1811, tese de doutoramento, São Paulo, Universidade
de São Paulo, policopiado.
DHADA, Mustafah (1993), Warriors at Work. How Guinea was really set free, Bolder CO,
University of Colorado Press.
DIAS, Jill (1981), «A sociedade colonial de Angola e o liberalismo português (c. 1820‑1850)»,
in PEREIRA, Miriam Halpern, SÁ, Maria de Fátima e SERRA, João B. (coords.), O Libera‑
lismo na Península Ibérica na Primeira Metade do Século XX, Lisboa, Sá da Costa Editora.
DIAS, Jill (1984), «Uma questão de identidade. Respostas intelectuais às transformações
económicas no seio da elite crioula da Angola portuguesa entre 1870 e 1930», Revista
Internacional de Estudos Africanos, n.º 1, p. 63.
Hist-da-Expansao_4as.indd 621 24/Out/2014 17:17
622 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
DIAS, Jill (1998), «Angola», in ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.), O Império
Africano 1825‑1890, Lisboa, Editorial Estampa, vol. x. Nova História da Expansão
Portuguesa, pp. 379‑471.
DIAS, Jill (2000a), «Estereótipos e realidades sociais: quem eram os ambaquistas?», in
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Cons‑
truindo o Passado Angolano: As Fontes e a sua Interpretação – Actas do II Seminário
Internacional sobre a História de Angola, Lisboa, CNCDP, pp. 597‑624.
DIAS , Jill (2000b), «Relações portuguesas com as sociedades africanas de Angola no
século XIX», in ALEXANDRE, Valentim, O Império Africano. Séculos XIX e XX,
Lisboa, Colibri.
DIAS, Manuel Nunes (1964), Capitalismo Monárquico Português: 1415‑1549. Contribui‑
ção para o estudo das origens do capitalismo moderno, 2 vols., Coimbra, Instituto de
Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos.
DIAS, Manuel Nunes (1965), «Fomento e mercantilismo: Política económica portuguesa
na Baixada Maranhense (1755‑1778)», Stvdia, Lisboa, n.º 16, pp. 7‑110.
DIAS, Manuel Nunes (1970), Fomento e Mercantilismo: A Companhia Geral do Grão‑Pará
e Maranhão (1755‑1778), 2 vols., Belém, Universidade Federal do Pará.
DIAS, Maria Odila Leite da Silva (2005), A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos,
São Paulo, Alameda.
DIREITO, Bárbara (2012), Políticas coloniais de terras em Moçambique: o caso de Manica
e Sofala sob a Companhia de Moçambique 1892‑1942, tese de doutoramento, Lisboa,
ICS‑UL, policopiado.
DISNEY, Anthony (1981), A Decadência do Império da Pimenta: Comércio Português na
Índia no Início do Século XVII, Lisboa, Edições 70.
DISNEY, A. R. (2009), A History of Portugal and the Portuguese Empire, vol. 2: The
Portuguese Empire, New York, Cambridge University Press.
DOMINGUES, Ângela (2000), Quando os Índios Eram Vassalos. Colonização e Relações
de Poder no Norte do Brasil na Segunda Metade do Século XVIII, Lisboa, CNCDP.
DOMINGUES, Ângela (2007), «Dom João, príncipe esclarecido e pai dos povos, e a fun‑
dação das colónias sueca de Sorocaba e suíça de Nova Friburgo», in OLIVEIRA, Luís
Valente de, e RICUPERO, Rubens (orgs.), A Abertura dos Portos, São Paulo, Editora
Senac São Paulo, pp. 120‑147.
DOMINGUES, Ângela (2010), «“Porque ao mundo veio para castigo hum dilúvio de
Diccionários e de Jornaes”: a imprensa ilustrada e a avaliação da missão de D. João,
príncipe do Brasil», in COUTO, Jorge (dir.), Rio de Janeiro, Capital do Império Por‑
tuguês (1808‑1821), Parede, Tribuna da História, pp. 243‑260.
DOMINGUES, Ângela (2012), «Um governador ilustrado: Francisco de Sousa Coutinho,
governador do Estado do Grão‑Pará», in idem, Monarcas, Ministros e Cientistas.
Mecanismos de Poder, Governação e Informação no Brasil Colonial, Lisboa, CHAM,
pp. 77‑90.
DOMINGUES, Ângela (2012), Monarcas, Ministros e Cientistas. Mecanismos de Poder,
Governação e Informação no Brasil Colonial, Lisboa, CHAM.
DOMINGUES, Francisco Contente (1998), «A prática de navegar», in BETHENCOURT,
Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol. I, Lisboa,
Círculo de Leitores, pp. 62‑87.
Hist-da-Expansao_4as.indd 622 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 623
DOMINGUES, Francisco Contente (2011), A Travessia do Mar Oceano. A Viagem ao Brasil
de Duarte Pacheco Pereira, Parede, Tribuna da História.
DRESCHER, Seymour (2009), Abolition. A History of Slavery and Antislavery, New York,
Cambridge University Press.
DRESCHER , Seymour (2010), «Portuguese Abolition in British Perspective», Africana
Studia, n.º 14, pp. 201‑226.
DUARTE, Luís Miguel (2007), D. Duarte, Requiem por um Rei Triste, Lisboa, Temas e
Debates.
DUFFY, James (1959), Portuguese Africa, Cambridge Mass., Harvard University Press.
DUFFY, James (1967), A Question of Slavery. Labour Policies in Portuguese Africa and
the British Protest, 1850‑1920, Cambridge Mass., Harvard University Press.
DÜLFER, Jost e FREY, Marc (eds.) (2011), Elites and Decolonization in the Twentieth
Century, London, Palgrave.
DUTEIL , Jean‑Pierre (1994), Le mandat du Ciel, le rôle des Jésuites en Chine, Paris,
Arguments.
ELLIOTT, Derek L. (2010), Pirates, Polities and Companies: Global Politics on the Konkan
Littoral, c. 1690‑1756, «Working Papers N.º 136/10», London, Department of Eco‑
nomic History, London School of Economics.
EMMER, Peter (2003), «The first global war; the Dutch versus Iberia in Asia, Africa and
the New World, 1590‑1609», e‑Journal of Portuguese History, vol. 1, n.º 1.
ENES, António (1893), Moçambique. Relatório Apresentado ao Governo de Sua Majes‑
tade, Lisboa, Imprensa Nacional.
ENNES, António (1946), «A colonização europeia de Moçambique», in Agência Geral
das Colónias, Antologia Colonial Portuguesa, vol. 1. Política e Administração, Lisboa,
Agência Geral das Colónias, pp. 7‑27.
ESTêVÃO, João (1998), «Cabo Verde», in ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.),
O Império Africano 1825‑1890, Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. x, pp. 167‑261.
ESTEVES, Maria Luísa (1988), Gonçalo de Gamboa de Aiala, Capitão‑mor de Cacheu, e
o Comércio Negreiro Espanhol, 1640‑1650, Lisboa, Centro de Estudos de História
e Cartografia Antiga.
ETEMAD, Bouda (2007), Possessing the World. Taking the Measurements of Colonisation
from the 18th to the 20th Century, New York, Berghahn Books.
FALCON, Francisco José Calazans (2005), «O império luso‑brasileiro e a questão da depen‑
dência inglesa – um estudo de caso: a política mercantilista durante a Época Pombalina e
a sombra do Tratado de Methuen», Nova Economia, Belo Horizonte, 15 (2), pp. 11‑34.
FARIA, Simone Cristina de (2010), Os «homens do ouro»: perfil, atuação e redes dos
cobradores dos quintos reais em Mariana setecentista, dissertação de mestrado, Rio
de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, policopiado.
FERNANDES, José Manuel (2010), «Rio de Janeiro (1808‑1821). Transformações urbanís‑
ticas como sede da Corte Portuguesa», in COUTO, Jorge (dir.), Rio de Janeiro, Capital
do Império Português (1808‑1821), Parede, Tribuna da História, pp. 219‑230.
FERNANDES, Letícia dos Santos (2010), Amor, sacrifício e lealdade. O donativo para o
casamento de Catarina de Bragança e para a paz de Holanda (Bahia, 1661‑1725),
dissertação de doutoramento, Niterói, Universidade Federal Fluminense, policopiado.
Hist-da-Expansao_4as.indd 623 24/Out/2014 17:17
624 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
FERNANDES, Mário Clemente (2001), O Tratado de Madrid e o Brasil Meridional, Lis‑
boa, CNCDP.
FERNANDES, Moisés Silva (2006), Macau na Política Externa Chinesa 1949‑1979, Lisboa,
Imprensa de Ciências Sociais.
FERNANDES, Paulo Jorge (2010), Mouzinho de Albuquerque. Um Soldado ao Serviço do
Império, Lisboa, A Esfera dos Livros.
FERREIRA, Ana Maria (1995), Problemas Marítimos entre Portugal e a França na Primeira
Metade do Século XVI, Redondo, Patrimonia Historica.
FERREIRA, António Matos (2010), «A missionação como dinamismo social nas sociedades
coloniais durante a Primeira República», in SARDICA, José Miguel (coord.), A Primeira
República e as Colónias Portuguesas, Lisboa, CEPCEP/EPAL, pp. 129‑145.
FERREIRA, João (2011), Entre duas margens. Os Portugueses no golfo Pérsico (1623
‑1653), dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
FERREIRA, José (2011), A Restauração de 1640 e o Estado da Índia. Agentes, espaços e
dinâmicas, dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
FERREIRA , José Medeiros (1992), O Comportamento Político dos Militares: Forças
Armadas e Regimes Políticos em Portugal no Século XX, Lisboa, Editorial Estampa.
FERREIRA, José Medeiros (1994), Portugal em Transe, Lisboa, Círculo de Leitores.
FERREIRA, Lúcia e PEDRA, Cristina (1988), «Despesas coloniais do Estado português
1913‑1980», Revista de História Económica e Social, n.º 24, pp. 89‑103.
FERREIRA, Manuel Ennes (1996), «Espaço Económico Português/Mercado Único Portu‑
guês», in ROSAS, Fernando e BRITO, J. M. Brandão de (dirs.), Dicionário de História
do Estado Novo. Vol. I. A‑E, Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 312‑315.
FERREIRA , Manuel Ennes (2008), «O império e as relações económicas com África»,
in LAINS, Pedro e SILVA, Álvaro Ferreira da (orgs.), História Económica de Portugal
1700‑2000. O Século XX, vol. 3, 3.ª ed., pp. 343‑371.
FERREIRA, Manuel Ennes (2010), «Economia e império: o comércio colonial durante
a Primeira República», in SARDICA, José Miguel (org.), A Primeira República e as
Colónias Portuguesas, Lisboa, CEPCEP/EPAL, pp. 108‑127.
FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida (2000), «Além de súditos: notas sobre revoltas e
identidade colonial na América Portuguesa», Tempo, Niterói, vol. 5, n.º 10, pp. 81‑95.
FLORES, Jorge Manuel (1998), Os Portugueses e o Mar de Ceilão. Trato, Diplomacia e
Guerra (1498‑1543), Lisboa, Cosmos.
FLORES, Jorge Manuel (2004), Firangistan e Hindustan. O Estado da Índia e os confins
meridionais do Império Mogol (1572‑1636), dissertação de doutoramento, Lisboa,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, polico‑
piado.
FLORES, Maria da Conceição (2002), «A embaixada de Pedro Vaz de Siqueira ao Sião em
1684», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa, vol. III, pp. 353‑375.
FONSECA, Ana Mónica e MARCOS, Daniel (2014), «Portugal, a RFA e a França. O apoio
internacional e a questão colonial portuguesa», in JERÓNIMO, Miguel Bandeira e
PINTO, António Costa (orgs.), Portugal e o Fim do Colonialismo. Dimensões Inter‑
nacionais, Lisboa, Edições 70, pp. 111‑133.
Hist-da-Expansao_4as.indd 624 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 625
FONSECA, Jorge (2010), Escravos e Senhores na Lisboa Quinhentista, Lisboa, Edições
Colibri.
FONSECA, Luís Adão da (1998), Vasco da Gama, o Homem, a Viagem, a Época, Lisboa,
Expo 98.
FONSECA, Luís Adão da (2007), D. João II, Lisboa, Temas e Debates.
FRAGOSO, João (2012) «Knights, “Archer Indians” and the Atlantic World: Rio de Janeiro,
in the 17th Century», Imperial (Re)vision: Brazil and the Portuguese Seabourne Empire
– Conference in Memory of Charles Boxer, Yale University.
FRANCISCO, Filipe do Carmo (2010), O Primeiro Marquês de Alorna, Restaurador do
Estado Português da Índia (1744‑1750), Parede, Tribuna da História.
FRANCO, José Eduardo (2000), «A construção do mito dos jesuítas no Brasil e nas ilhas
atlânticas (Madeira e Açores) durante o governo do marquês de Pombal», in As Ilhas
e o Brasil, Funchal, CEHA, pp. 261‑309.
FREIRE, João (2011), Olhares Europeus sobre Angola. Ocupação do Território, Operações
Militares, Conhecimento dos Povos, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, pp. 23‑42.
FREUDENTHAL, Aida (1995‑1999), «A Baixa de Cassange. Algodão e revolta», Revista
Internacional de Estudos Africanos, n.º 18‑22, pp. 245‑283.
FREUDENTHAL, Aida (2001), «Angola», in MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.), O Impé‑
rio Africano 1890‑1930, Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial
Estampa, vol. xi, pp. 259‑467.
FREY, James W. (2009), «The Indian Saltpeter Trade, the Military Revolution, and the
Rise of Britain as a Global Superpower», The Historian, vol. 71, issue 3, pp. 507‑554.
FURTADO, Júnia Ferreira (2007), «Dom Luís da Cunha e a centralidade das minas auríferas
brasileiras», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa, vol. VIII, pp. 69‑88.
FURTADO, Júnia Ferreira (2011), «Guerra, diplomacia e mapas: a Guerra da Sucessão
Espanhola, o Tratado de Utrecht e a América Portuguesa na cartografia de D’Anville»,
Topoi, Rio de Janeiro, vol. 12, n.º 23, pp. 66‑83.
FURTADO, Júnia Ferreira (2012), Oráculos da Geografia Iluminista: Dom Luís da Cunha
e Jean‑Baptiste Bourguignon D’Anville na Construção da Cartografia do Brasil, Belo
Horizonte, Editora UFMG.
GALLAGHER, John e ROBINSON, Ronald (1953), «The imperialism of free trade», Eco‑
nomic History Review, vol. 6, n.º 1, pp. 1‑15.
GARCIA, Elisa Frühauf (2009), As Diversas Formas de Ser Índio: Políticas Indígenas e
Políticas Indigenistas no Extremo Sul da América Portuguesa, Rio de Janeiro, Arquivo
Nacional.
GARCIA, José Luís Lima (1992), «A ideia de império na propaganda do Estado Novo»,
Revista de História das Ideias, vol. 14, pp. 411‑425.
GASPAR, Tarcísio de Souza (2008), Palavras no chão. Murmurações e vozes em Minas
Gerais no século XVIII, dissertação de mestrado, Niterói, Universidade Federal Flu‑
minense, policopiado.
GESCHWEND, Annemarie Jordan (1996), «As maravilhas do Oriente: colecção de curio‑
sidades renascentistas em Portugal», in A Herança de Rauluchatim. Ourivesaria e
Objectos Preciosos da Índia nos Séculos XVI‑XVII (coord. Nuno Vassallo e Silva),
Lisboa, Museu de São Roque e Comissão Nacional para as Comemorações dos Des‑
cobrimentos Portugueses, pp. 81‑127.
Hist-da-Expansao_4as.indd 625 24/Out/2014 17:17
626 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
GESCHWEND, Annemarie Jordan e PÉREZ DE TUDELA, Almudena (2003), «Exotica Habs‑
burbica. La Casa de Austria y las colecciones exóticas en el Renascimiento Temprano»,
in Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las coleciones reales españolas, Madrid,
Madñolas, pp. 27‑44.
GIL, Juan (1991), Hidalgos y samurais. España y Japón en los siglos XVI y XVII, Madrid,
Alianza Universidad.
GIL, Tiago (2007), Infiéis Transgressores: Elites e Contrabandistas nas Fronteiras do Rio
Grande e do Rio Pardo, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional.
GODECHOT, Jacques (1965), France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Cen‑
tury, 1770‑1799, New York‑London, The Free Press‑Collier‑Macmillan Limited [edição
original: 1963].
GODINHO, Vitorino Magalhães (1978), «Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro
(1670‑1770)», in Ensaios II: Sobre História de Portugal, 2.ª ed., Lisboa, Livraria Sá
da Costa Editora [edição original: 1968], pp. 423‑448.
GODINHO, Vitorino Magalhães (1980), «Portugal y su Imperio (1680‑1720)», in Historia
del Mundo Moderno, edição espanhola de The New Cambridge Modern History,
VI: El Auge de Gran Bretaña y Rusia (1688‑1725), direcção de S. Bromley, Barcelona,
Editorial Ramón Sopena [edição original: 1970], pp. 369‑390.
GODINHO, Vitorino Magalhães (2008), A Expansão Quatrocentista Portuguesa, Lisboa,
Dom Quixote.
GOMES , Carlos de Matos (2002), Moçambique 1970. Operação Nó Górdio, Lisboa,
Prefácio.
GOMES, Saul António (2009), D. Afonso V, o Africano, Lisboa, Temas e Debates.
GONÇALVES, Izabela Gomes (2010), A sombra e a penumbra: o vice‑reinado do conde
da Cunha e as relações entre centro e periferia no Império Português (1763‑1767),
dissertação de mestrado, Niterói, Universidade Federal Fluminense, policopiado.
GONÇALVES, Nuno da Silva (1996), Os Jesuítas e a Missão de Cabo Verde (1609‑1642),
Lisboa, Brotéria.
GONÇALVES, Nuno da Silva (2000), «A dimensão missionária do catolicismo português»,
in AZEVEDO, Carlos M. (dir.), História Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo de
Leitores, pp. 353‑397.
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (2005), «Conexões imperiais: oficiais régios no Bra‑
sil e Angola (c. 1680‑1730)», in BICALHO, Maria Fernanda e FERLINI, Vera Lúcia
Amaral (orgs.), Modos de Governar: Ideias e Práticas Políticas no Império Português
Séculos XVI‑XIX, São Paulo, Alameda, pp. 179‑197.
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva, FRAZÃO, Gabriel Almeida e SANTOS, Marília Nogueira
dos (2004), «Redes de poder e conhecimento na governação do Império Português,
1688‑1735», Topoi, Rio de Janeiro, vol. 5, n.º 8, pp. 96‑137.
GRÁDA, Cormac Ó (2009), Famine: a Short History, Princeton NJ, Princeton University
Press.
GRANT, Kevin (2005), A Civilized Savagery. Britain and the New Slaveries in Africa,
1884‑1926, New York, Routledge.
GREGÓRIO, Rute (2001), Pero Anes do Canto: Um Homem e um Património: 1473‑1556,
Angra do Heroísmo, Instituto Cultural.
GUERRA, João Paulo (1994), Memória das Guerras Coloniais, Porto, Afrontamento.
Hist-da-Expansao_4as.indd 626 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 627
GUIMARÃES, Ângela (1984), Uma Corrente do Colonialismo Português: a Sociedade de
Geografia de Lisboa, Lisboa, Livros Horizonte.
GUIMARÃES, Ângela (1996), Uma Relação Especial: Macau e as Relações Luso‑chinesas
(1780‑1844), Lisboa, CIES, ISCTE.
GUIMARÃES , Ângela (2000), «A conjuntura política: antes de Hong Kong», in MAR‑
QUES , A. H. de Oliveira (dir.), História dos Portugueses no Extremo Oriente, vol. 3:
Macau e Timor. Do Antigo Regime à República, s. l. [Lisboa], Fundação Oriente,
pp. 11‑33.
GUIMARÃES, Fernando Andresen (2001), The Origins of the Angolan Civil War. Foreign
Intervention and Domestic Political Conflict, London, MacMillan.
GUIMERÁ RAVINA, Agustín e VIEIRA, Alberto (1997), «El sistema portuario‑mercantil de
las islas del Atlántico ibérico», in VIEIRA, Alberto (coord.), História das Ilhas Atlânticas
(Arte, Comércio, Demografia, Literatura), Funchal, Centro de Estudos de História do
Atlântico, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, vol. I, pp. 205‑232.
GUINOTE , Paulo, FRUTUOSO , Eduardo e LOPES , António (1998), Naufrágios e Outras
Perdas da «Carreira da Índia». Séculos XVI e XVII, Lisboa, Grupo de Trabalho
do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portu‑
gueses.
HALIKOWSKI‑SMITH, Stefan (2006), «“The Friendship of Kings was in the Ambassadors”:
Portuguese Diplomatic Embassies in Asia and Africa during the Sixteenth and Seven‑
teenth Centuries», Portuguese Studies, vol. 22, n.º 1, pp. 101‑134.
HALLETT, Jessica (no prelo), De Todas as Partes do Mundo, 2 vols., Lisboa, Centro de
História de Além‑Mar e Fundação Casa de Bragança.
HAMMOND, Richard J. (1966), Portugal and Africa: a Study in Uneconomic imperialism.
1815‑1910, Stanford CA, Stanford University Press.
HANSON , Carl A. (1986), Economia e Sociedade no Portugal Barroco (1668‑1703),
Lisboa, Publicações Dom Quixote.
HARGREAVES, John D. (1996), Decolonization in Africa, 2.ª ed., London, Longman.
HAVIK , Philip J. (1995‑1999), «Mundasson i Kambansa: espaço social e movimentos
políticos na Guiné‑Bissau (1910‑1994)», Revista Internacional de Estudos Africanos,
n.º 18‑22, pp. 115‑167.
HAVIK, Philip J. (2010), «“Direct” or “Indirect” rule? Reconsidering the roles of appoin‑
ted chiefs and native employees in Portuguese West Africa», Africana Studia, n.º 15,
pp. 29‑56.
HEADRICK, Daniel R. (1981), The Tools of Empire. Technology and European Imperialism
in the Nineteenth Century, New York, Oxford University Press.
HEINTZE, Beatrix (2000), «L’Arrivée des Portugais a‑t‑elle Sonné le Glas du Royaume du
Ndongo? La marge de manœuvre du ngola 1575‑1671», Stvdia, Lisboa, n.º 56/57,
pp. 117‑146.
HEINTZE, Beatrix (2005), Pioneiros Africanos. Caravanas de Carregadores na África
Centro‑Ocidental (entre 1850 e 1890), Lisboa, Caminho.
HEMMING, John (1987), Amazon Frontier: The Defeat of the Brazilian Indians, Cambri‑
dge, Mass., Harvard University Press.
HENRIQUES, Isabel de Castro (1997), Percursos da Modernidade em Angola: Dinâmicas
Comerciais e Transformações Sociais no Século XIX, Lisboa, IICT.
Hist-da-Expansao_4as.indd 627 24/Out/2014 17:17
628 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
HERBST, Jeffrey (2000), States and Power in Africa. Comparative Lessons in Authority
and Control, Princeton NJ, Princeton University Press.
HESPANHA, António Manuel (1998), Panorama Histórico da Cultura Jurídica Europeia,
2.ª edição, Mem Martins, Publicações Europa‑América [edição original: 1997].
HESPANHA , António Manuel (2010), «Um relatório inédito sobre as violências por‑
tuguesas na frente moçambicana da I Grande Guerra», Africana Studia, n.º 14,
pp. 163‑197.
HEYWOOD, Linda M. (2000), Contested Power in Angola. 1840s to the Present, New
York, University of Rochester Press.
HOBSBAWM, Eric J., 1990 (1987), A Era do Império 1875‑1914, Lisboa, Editorial Presença.
HOMEM , António Pedro Barbas (2008), Manuel Pinheiro Chagas. Uma Biografia
(1842‑1895), Lisboa, Assembleia da República.
HYAM , Ronald (2007), Britain’s Declining Empire. The Road to Decolonisation
1918‑1968, Cambridge, Cambridge University Press.
IGLÉSIAS, Olga (2001), «Moçambique», in MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.), O Impé‑
rio Africano 1890‑1930, Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial
Estampa, vol. xi, pp. 469‑584.
ISAACMAN, Allen F. (1972), Mozambique: the africanization of a European Institution.
The Zambezi Prazos. 1750‑1902, Madison, The University of Wisconsin Press.
ISAACMAN, Allen F. (1979), A Tradição de Resistência em Moçambique. O Vale do Zam‑
beze, 1850‑1921, Porto, Afrontamento.
JANCSÓ, István (1996), Na Bahia, contra o Império. História do Ensaio de Sedição de
1798, São Paulo‑Salvador, HUCITEC‑EDUFBA.
JANCSÓ, István (1997), «A sedução da liberdade: cotidiano e contestação política no
final do século XVIII», in SOUZA, Laura de Mello e (org.), História da Vida Privada
no Brasil: Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa, São Paulo, Companhia
das Letras, pp. 387‑437 e 470‑472 (notas).
JANEIRO, Helena Pinto (2013), «La Primera República Portuguesa y las Misiones Católicas
y Laicas en Angola: Financiación y Poder», Historia y Política, n.º 29, Janeiro‑Junho,
pp. 161‑191.
JERÓNIMO , Miguel Bandeira (2010), Livros Brancos, Almas Negras. A «Missão Civi‑
lizadora» do Colonialismo Português, c. 1870‑1930, Lisboa, Imprensa de Ciências
Sociais.
JERÓNIMO, Miguel Bandeira (2012a), «The “Civilisation Guild”: Race and Labour in
the Third Portuguese Empire, c. 1870‑1930», in BETHENCOURT, Francisco e PEARCE,
Andrew (eds.), Racism and Ethnic Relations in the Portuguese‑Speaking World,
Oxford, Oxford University Press/British Academy, pp. 173‑199.
JERÓNIMO, Miguel Bandeira (2012b), A Diplomacia do Império. Política e Religião na
Partilha de África 1820‑1890, Lisboa, Edições 70.
JERÓNIMO, Miguel Bandeira e DORES, Hugo Gonçalves (2012c), «As missões do império.
Política e religião no império colonial português», in JERÓNIMO, Miguel Bandeira
(coord.), O Império Colonial em Questão. Poderes, Saberes e Instituições, Lisboa,
Edições 70, pp. 119‑156.
JERÓNIMO, Miguel Bandeira e MONTEIRO, José Pedro (2014), «O império do trabalho.
Portugal, as dinâmicas do internacionalismo e os mundos coloniais», in JERÓNIMO,
Hist-da-Expansao_4as.indd 628 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 629
Miguel Bandeira e PINTO, António Costa (orgs.), Portugal e o Fim do Colonialismo.
Dimensões Internacionais, Lisboa, Edições 70, pp. 15‑54.
JESUS, José Manuel Duarte (2010), Eduardo Mondlane – Um Homem a Abater, Coimbra,
Almedina.
JESUS, Nauk Maria de (2009), «A câmara municipal de Vila Real do Senhor Bom Jesus do
Cuiabá e o seu período de «regência»», in DORÉ, Andréa e SANTOS, Antonio Cezar de
Almeida (orgs.), Temas Setecentistas: Governos e Populações no Império Português,
Curitiba, UFPR/SCHLA‑Fundação Araucária, pp. 199‑208.
JESUS, Roger Lee de (2013), «Afonso de Albuquerque e a primeira expedição portuguesa
ao mar Vermelho (1513)», Fragmenta. Revista do Centro de Estudos Históricos da
Universidade Nova de Lisboa, n.º 1, pp. 122‑141.
JOÃO, Maria Isabel (2002), Memória e Império. Comemorações em Portugal (1880‑1960),
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
JOHNSON, Harold e SILVA, Maria Beatriz Nizza da (coords.) (1992), O Império Luso
‑brasileiro, 1500‑1620, Nova História da Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão
e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Estampa, vol. VI.
JÚNIOR, Marcelo Dias Lyra (2012), «Arranjar a memória, que ofereço por defesa»: cul‑
tura política e jurídica nos discursos de defesa dos rebeldes pernambucanos de 1817,
dissertação de mestrado, Niterói, Universidade Federal Fluminense, policopiado.
KATZENELLENBOGEN, Simon E. (1973), Railways and the Copper Mines of Katanga,
Oxford, Clarendon Press.
KATZENELLENBOGEN, Simon E. (1982), South Africa and Southern Mozambique. Labour,
Railways and Trade in the Making of a Relationship, Manchester, Manchester Uni‑
versity Press.
KEESE , Alexander (2003), «Proteger os pretos: havia uma mentalidade reformista na
administração portuguesa na África tropical?», Africana Studia, n.º 6, pp. 97‑125.
KEESE, Alexander (2004), «Dos abusos às revoltas? Trabalho forçado, reformas portu‑
guesas, política “tradicional” e religião na Baixa de Cassange e no distrito do Congo
(Angola), 1957‑1961», Africana Studia, n.º 7, pp. 247‑276.
KEESE, Alexander (2007), Living with Ambiguity. Integrating an African Elite in French
and Portuguese Africa, Stuttgart, Franz Steiner.
KEESE, Alexander (2012), «Bloqueios no sistema: elites africanas, o fenómeno do trabalho
forçado e os limites da integração no Estado colonial português», in JERÓNIMO, Miguel
Bandeira (coord.), O Império Colonial em Questão, Lisboa, Edições 70, pp. 223‑249.
KEM, Arno Alvarez (1982), Missões: Uma Utopia Política, Porto Alegre, Mercado Aberto.
KIRSCHNER, Tereza Cristina (2009), José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu: Itinerários
de um Ilustrado Luso‑brasileiro, São Paulo‑Belo Horizonte, Alameda‑PUC‑Minas.
KLEIN, Herbert S. (1973), «O tráfico de escravos africanos para o porto do Rio de Janeiro,
1825‑1830», Anais de História, Assis, Ano V, pp. 85‑101.
KRATZ, Wilhelm, S. I. (1954), El Tratado Hispano‑Portugues de limites de 1750 y sus
consecuencias. Estudio sobre la abolición de la Compañia de Jesús, Roma, Institutum
Historicum S. I.
LACERDA, Teresa (2006), Os capitães da Carreira da Índia no reinado de D. Manuel I,
dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni‑
versidade Nova de Lisboa, policopiado.
Hist-da-Expansao_4as.indd 629 24/Out/2014 17:17
630 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
LAINS, Pedro (2003), Os Progressos do Atraso. Uma Nova História Económica de Por‑
tugal, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
LAINS, Pedro (2008), «The power of peripheral governments: coping with the 1891 finan‑
cial crisis in Portugal», Historical Research, vol. 81, n.º 213, pp. 485‑506.
LANGFUR, Hal (2002), «Uncertain Refuge: Frontier Formation and the Origins of the
Botocudo War in Late Colonial Brazil», Hispanic American Historical Review, vol. 82,
n.º 2, pp. 215‑256.
LEAL, Ernesto Castro (2008), Partidos e Programas. O Campo Partidário Republicano
Português 1910‑1926, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra.
LEITÃO , Nicolau Andresen (2008), Estado Novo, Europa e Democracia 1947‑1986,
Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
LEITE, Joana Pereira (1999), «Política colonial», in BARRETO, António e MÓNICA, Maria
Filomena (coords.), Dicionário de História de Portugal, Porto, Figueirinhas, vol. 7,
pp. 352‑361.
LEMOS, Nathalia Gama (2008), «Paulo Fernandes Viana, o intendente‑geral de Polícia na
corte joanina (1808‑1821)», Revista Eletrónica Cadernos de História, ano 3, vol. VI,
n.º 2, pp. 16‑26.
LEMOS, Nathalia Gama (2012), Um império nos trópicos: A atuação do intendente‑geral
de Polícia, Paulo Fernandes Viana, no Império Luso‑Brasileiro (1808‑1821), disserta‑
ção de mestrado, Niterói, Universidade Federal Fluminense, policopiado.
LIDIN , Olof (2002), Tanegashima. The arrival of Europe in Japan, Copenhaga, NIAS
Press.
LIMA, Fernando (1999), Macau. As Duas Transições, Macau, Fundação Macau, 2 volumes.
LIMA, Fernando (2002), Timor. Da Guerra do Pacífico à Desanexação, Macau, Instituto
Internacional de Macau.
LIMA, José Joaquim Lopes de (1844‑1862), Ensaio sobre a statistica das possessões por‑
tuguezas na Africa Occidental e Oriental; na Asia Occidental; na China e na Oceania,
Lisboa, Imprensa Nacional.
LIMA, Manoel de Oliveira (2006), D. João VI no Brasil, 4.ª ed., Rio de Janeiro, Topbooks
[edição original: 1908].
LIMA, Péricles Pedrosa (2009), Homens de ciência a serviço da coroa: os intelectuais do
Brasil na Academia Real de Ciências de Lisboa (1779‑1822), dissertação de mestrado,
Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, policopiado.
LOBATO, Alexandre (1962), Colonização Senhorial da Zambézia e Outros Estudos, Lis‑
boa, Junta de Investigações do Ultramar.
LOBATO, Alexandre (1965), Relações Luso‑Maratas 1658‑1737, Lisboa, Centro de Estudos
Históricos Ultramarinos.
LOBATO, Manuel (2004), «A guerra dos Maratas», in BARATA, Manuel Themudo e TEI‑
XEIRA, Nuno Severiano (dirs.), Nova História Militar de Portugal, vol. 2, coordenação
de António Manuel Hespanha, Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 317‑329.
LOBO , Eulalia Maria Lahmeyer (1967), «As frotas do Brasil», Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas / Anuário de História de América Latina, Köln, vol. 4, pp. 465
‑488.
LOPES, Gustavo Acioli (2008), Negócio da Costa da Mina e comércio atlântico. Tabaco,
açúcar, ouro e tráfico de escravos: Pernambuco (1654‑1760), tese de doutoramento,
Hist-da-Expansao_4as.indd 630 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 631
São Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, policopiado.
LOPES, José Vicente (2013), Cabo Verde. Os Bastidores da Independência, 3.ª ed., Cidade
da Praia, Spleen [edição original: 1996].
LOPES, Maria de Jesus dos Mártires (1996), Goa Setecentista: Tradição e Modernidade
(1750‑1800), Lisboa, Universidade Católica Portuguesa.
LOPES, Maria de Jesus dos Mártires (coord.) (2006), O Império Oriental, 1660‑1820,
2 tomos, Nova História da Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão e A. H. de
Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Estampa, vol. V.
LOPES, Paulo (2013), Um Agente Português na Roma do Renascimento, Lisboa, Círculo
de Leitores e Temas e Debates.
LOUIS, William Roger (2006), Ends of British Imperialism. The Scramble for Empire, Suez
and Decolonization, London, I. B. Tauris.
LOUREIRO , Rui (2000), Fidalgos, Missionários e Mandarins. Portugal e a China no
Século XVI, Lisboa, Fundação Oriente.
LOUREIRO, Rui (ed.) (2011), Don García de Silva y Figueroa. Comentarios de la emba‑
xada al rey Xa Abbas de Persia (1614‑1624), 4 vols., Lisboa, Centro de História de
Além‑Mar.
LOURENÇO, Eduardo (2014), Do Colonialismo como Nosso Impensado, Lisboa, Gradiva.
LOURENÇO, Paula Marçal (2007), D. Pedro II, Lisboa, Círculo de Leitores.
LYNCH , John (1993), Bourbon Spain, 1700‑1808, Oxford‑Cambridge, Mass., Basil
Blackwell [edição original: 1989].
MACEDO, Jorge Borges de (1981), «Pombal, marquês de (1699‑1782)», in SERRÃO, Joel
(dir.), Dicionário de História de Portugal, s. ed., Porto, Livraria Figueirinhas, vol. V,
pp. 113‑121.
MACEDO, Jorge Borges de (1982a), O Marquês de Pombal (1699‑1782), Lisboa, Biblio‑
teca Nacional.
MACEDO, Jorge Borges de (1982b), Problemas de História da Indústria Portuguesa no
Século XVIII, 2.ª ed., Lisboa, Querco [edição original: 1963].
MACEDO, Jorge Borges de (1989), A Situação Económica no Tempo de Pombal – Alguns
Aspectos, 3.ª ed., Lisboa, Gradiva [edição original: 1951].
MACEDO, Jorge Borges de (1990), O Bloqueio Continental. Economia e Guerra Peninsular,
2.ª ed. revista, Lisboa, Gradiva [edição original: 1962].
MACEDO, Jorge Borges de (2006), História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas
de Força, [2.ª ed.; original: 1986], Lisboa, Tribuna da História.
MACEDO , José de (1910), Autonomia de Angola. Estudo de Administração Colonial,
Lisboa, edição do autor/Tipografia Leiria.
MACKENZIE, John (ed.) (2011), European Empires and the People. Popular responses to
imperialism in France, Britain, the Netherlands, Belgium, Germany and Italy, Man‑
chester, Manchester University Press.
MACQUEEN , Norrie (1997), The Decolonization of Portuguese Africa. Metropolitan
Revolution and the Dissolution of Empire, London, Longman.
MACQUEEN, Norrie (1999), «Portugal’s First Domino: “Pluricontinentalism” and the
Colonial War in Guiné‑Bissau», Contemporary European History, vol. 8, n.º 2,
pp. 209‑230.
Hist-da-Expansao_4as.indd 631 24/Out/2014 17:17
632 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
MACQUEEN, Norrie (2004), «As guerras coloniais», in ROSAS, Fernando e OLIVEIRA,
Pedro Aires (coords.), A Transição Falhada. O Marcelismo e o Fim do Estado Novo
(1968‑1974), Lisboa, Editorial Notícias, pp. 265‑300.
MACQUEEN, Norrie (2006), «Belated Decolonization and UN Politics against the Back‑
drop of the Cold War. Portugal, Britain and Guinea Bissau’s Proclamation of Inde‑
pendence», Journal of Cold War Studies, vol. 8, n.º 4, pp. 29‑56.
MACQUEEN, Norrie e OLIVEIRA, Pedro Aires (2010), «“Grocer meets Butcher”: Marcello
Caetano’s London visit of 1973 and the last days of Portugal’s Estado Novo», Cold
War History, vol. 10, n.º 1, pp. 29‑50.
MADEIRA , Artur Boavida (1999), População e Emigração nos Açores – 1766‑1820,
Cascais, Patrimonia.
MAGALHÃES, Joaquim Romero (1998a), «As novas fronteiras do Brasil», in BETHEN‑
COURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa,
vol. III: O Brasil na Balança do Império (1697‑1808), Lisboa, Círculo de Leitores,
pp. 10‑42.
MAGALHÃES , Joaquim Romero (1998b), «As tentativas de recuperação asiática», in
BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Por‑
tuguesa, vol. III: O Brasil na Balança do Império (1697‑1808), Lisboa, Círculo de
Leitores, pp. 43‑59.
MAGALHÃES , Joaquim Romero (1998c), «Os territórios africanos», in BETHEN‑
COURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa,
vol. III: O Brasil na Balança do Império (1697‑1808), Lisboa, Círculo de Leitores,
pp. 60‑80.
MAGALHÃES, Joaquim Romero (2004a), «O projecto de D. Luís da Cunha para o impé‑
rio português», in SILVA, Francisco Ribeiro da et al. (org.), Estudos em Homenagem
a Luís António de Oliveira Ramos, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, vol. 2, pp. 653‑659.
MAGALHÃES, Joaquim Romero (2004b), «Um novo método de governo: Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, governador e capitão‑general do Grão‑Pará e Maranhão
(1751‑1759)», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro,
ano 165, n.º 424, pp. 183‑209.
MAGALHÃES, Joaquim Romero (2005), «O império», in LAINS, Pedro e SILVA, Álvaro Fer‑
reira da (orgs.), História Económica de Portugal (1700‑2000), vol. I: O Século XVIII,
Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, pp. 299‑321.
MAGALHÃES, Joaquim Romero (2009), «A cobrança do ouro do rei nas Minas Gerais: o
fim da capitação – 1741‑1750», Tempo, Niterói, vol. 14, n.º 27, pp. 135‑149.
MAGALHÃES, Joaquim Romero (2012), «Os municípios e a justiça na colonização por‑
tuguesa do Brasil – na primeira metade do século XVIII», in ALMEIDA, Suely Creusa
Cordeiro de, SILVA, Gian Carlo de Melo, SILVA, Kalina Vanderlei e SOUZA, George
Felix Cabral de (orgs.), Políticas e Estratégias Administrativas no Mundo Atlântico,
Recife, Editora Universitária UFPE, pp. 49‑79.
MAGALHÃES , José Calvet de (1990), Breve História Diplomática de Portugal, Mem
Martins, Europa‑América.
MAGALHÃES, José Calvet de (1996), Portugal e as Nações Unidas. A Questão Colonial,
Lisboa, IEEI.
Hist-da-Expansao_4as.indd 632 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 633
MAIA, Lígio José de Oliveira (2010), Serras de Ibiapaba. De aldeia à vila de índios: Vas‑
salagem e identidade no Ceará colonial, século XVIII, dissertação de doutoramento,
Niterói, Universidade Federal Fluminense, policopiado.
MALTBY, William S. (2011), Auge y Caída del Imperio Español, Madrid, Marcial Pons
[edição original: 2009].
MANN, Gregory (2009), «What was the Indigénat? The “Empire of Law” in French West
Africa», Journal of African History, vol. 50, n.º 3, pp. 331‑353.
MANTRAN, Robert (dir.) (1998), Histoire de l’empire ottoman, Paris, Fayard.
MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan (2009), «“De Espanha nem bom vento nem bom casa‑
mento”. La guerra como determinante de las difíciles relaciones entre las dos coronas
ibéricas en la Península y en América. 1640‑1808», Anais de História de Além‑Mar,
Lisboa, vol. X, pp. 29‑111.
MARCHI, Riccardo (2009), Império, Nação, Revolução. As Direitas Radicais Portuguesas
no Fim do Estado Novo 1959‑1974, Lisboa, Texto Editores.
MARCUM, John (1969), The Angolan Revolution. The anatomy of an explosion 1950
‑1962, vol. i, Cambridge, Mass., MIT Press.
MARINATO , Francieli Aparecida (2007), Índios imperiais: os Botocudos, os militares e
a colonização do Rio Doce (Espírito Santo, 1824‑1845), dissertação de mestrado,
Universidade Federal do Espírito Santo, policopiado.
MARK, Peter (2007), «Towards a reassessment of the dating and the Geographical origins
of the Luso‑african ivories, fifteenth to seventeenth centuries», History of Africa, 34,
pp. 189‑211.
MARK, Peter e HORTA, José da Silva (2011), The Forgotten Diaspora. Jewish Commu‑
nities in West Africa and the Making of the Atlantic World, Cambridge, Cambridge
University Press.
MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.) (1998‑2003), História dos Portugueses no Extremo
Oriente, 4 vols., Lisboa, Fundação Oriente.
MARQUES, João Pedro (1999), Os Sons do Silêncio. O Portugal de Oitocentos e a Abolição
do Tráfico de Escravos, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
MARQUES, João Pedro (2008), Sá da Bandeira e o Fim da Escravidão. Vitória da Moral,
Desforra do Interesse, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
MARQUES, Paulo Lowndes (2010), Marquês de Soveral, Lisboa, Texto Editores.
MARTINEZ, Pedro Soares (1992), História Diplomática de Portugal, Lisboa, Editorial
Verbo.
MARTINIÈRE , Guy (1991), «A implantação das estruturas de Portugal na América
(1620‑1750)», in MAURO, Frédéric (coord.), O Império Luso‑Brasileiro (1620‑1750),
Nova História da Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira
Marques, Lisboa, Editorial Estampa, vol. VII, pp. 91‑261.
MARTINS , Estevão de Rezende (1999), «1762, Le Brésil pour la France: un objet de
convoitise?», in Le Brésil, l’Europe et les équilibres internationaux XVIe‑XXe siècles,
sob a direcção de Katia de Queirós Mattoso, Idelette Muzart‑Fonseca dos Santos e
Denis Rolland, Paris, Presses de l’Université de Paris‑Sorbonne, Centre d’études sur
le Brésil, pp. 149‑160.
MARTINS, Fernando (2010), «E pur si muove. Oliveira Salazar e a questão da autode‑
terminação das províncias ultramarinas (1962‑1963)», in OLIVEIRA, Pedro Aires e
Hist-da-Expansao_4as.indd 633 24/Out/2014 17:17
634 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
REZOLA, Maria Inácia (coords.), O Longo Curso. Estudos em Homenagem a José
Medeiros Ferreira, Lisboa, Tinta da China, pp. 411‑459.
MARTINS, Ferreira (1945), História do Exército Português, Lisboa, Editorial Inquérito.
MARTINS, Hermínio (1998), «Federal Portugal: a Historical Perspective», Portuguese
Studies Review, vol. 7, n.º 1, 1998, pp. 13‑32.
MARTINS, Oliveira (1978), O Brasil e as Colónias Portuguesas, Lisboa, Guimarães & Ca.
Editores [edição original: 1880].
MASSARELLA, Derek (1990), A world elsewhere. Europe’s encounter with Japan in the
Sixteenth and Seventeenth centuries, New Haven e Londres, Yale University Press.
MATA, Maria Eugénia (1993), As Finanças Públicas Portuguesas da Regeneração à Pri‑
meira Guerra Mundial, Lisboa, Banco de Portugal.
MATEUS, Álvaro e MATEUS, Dalila Cabrita (2011), Angola 1961. Guerra Colonial: Causas
e Consequências. O 4 de Fevereiro e o 15 de Março, Lisboa, Texto Editores.
MATEUS, Dalila Cabrita (2004), A PIDE/DGS na Guerra Colonial, Lisboa, Terramar.
MATHIAS, Carlos Leonardo Kelmer (2007), «No exercício de atividades comerciais, na
busca da governabilidade: D. Pedro de Almeida e sua rede de potentados nas minas
do ouro durante as duas primeiras décadas do século XVIII», in FRAGOSO, João
Luís Ribeiro, ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de, e SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá
de (orgs.), Conquistadores e Negociantes. História de Elites no Antigo Regime nos
Trópicos. América Lusa, Séculos XVI a XVIII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
pp. 195‑222.
MATOS, Artur Teodoro de (1974), Timor Português 1515‑1769. Contribuição para a sua
História, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Instituto Histórico
Infante Dom Henrique.
MATOS, Artur Teodoro de (1983), «Os Açores e a Carreira das Índias no século XVI»,
in Estudos de História de Portugal (Homenagem a A. H. Oliveira Marques), Lisboa,
Estampa, vol. II, pp. 93‑117.
MATOS, Artur Teodoro de (1985), «A provedoria das armadas da ilha Terceira e a Carreira
da Índia no século XVI», in II Seminário Internacional de História Indo‑Portuguesa –
Actas, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, pp. 63‑72.
MATOS, Artur Teodoro de (1994), Na Rota da Índia. Estudos de História da Expansão
Portuguesa, Macau, Instituto Cultural de Macau.
MATOS, Artur Teodoro de (2006), «O Estado Português do Oriente. Administração»,
in LOPES, Maria de Jesus dos Mártires (coord.), O Império Oriental (1660‑1820),
Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, vol. V, tomo I,
pp. 123‑161.
MATOS , Artur Teodoro de (2010), «Poder e finanças no Estado Português da Índia:
c. 1687‑1820. Elementos para a sua compreensão», in COSTA, João Paulo Oliveira e,
e RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (eds.), O Estado da Índia e os Desafios Europeus,
Actas do XII Seminário Internacional de História Indo‑Portuguesa, Lisboa, CHAM
‑CEPCEP, pp. 187‑214.
MATOS, Artur Teodoro de (2011), «O comércio na costa da Guiné dois séculos depois
do Infante. As viagens de Lourenço Fernandes de Lima», in MATOS, Artur Teodoro
de, e COSTA, João Paulo Oliveira e (coords.), A Herança do Infante, Lisboa, Câmara
Municipal de Lagos‑CEPCEP‑CHAM, pp. 267‑304.
Hist-da-Expansao_4as.indd 634 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 635
MATOS, Artur Teodoro de (coord.) (2005), A Colonização Atlântica, 2 tomos, Nova His‑
tória da Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques,
Lisboa, Editorial Estampa, vol. III.
MATOS, Artur Teodoro, MENESES, Avelino de Freitas de, e LEITE, José Guilherme Reis
(dirs.) (2008), História dos Açores. Do Descobrimento ao Século XX, 2 vols., Angra
do Heroísmo, Instituto Açoriano de Cultura.
MATOS, Luís Salgado de (1996‑1997), «Economia», in AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos
Matos (coords.), Guerra Colonial. Angola – Guiné – Moçambique, Lisboa, Diário de
Notícias, pp. 238‑247.
MATOS, Luís Salgado de (1996), «Investimento estrangeiro», in ROSAS, Fernando e BRITO,
J. M. Brandão de (dirs.), Dicionário de História do Estado Novo. Vol. I. A‑E, Lisboa,
Círculo de Leitores, pp. 491‑495.
MATOS, Norton de (1926), A Província de Angola, Porto, Marânus.
MATOS , Norton de (1944), Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Porto, Editora
Marítimo‑Colonial.
MATOS , Patrícia Ferraz de (2006), As Cores do Império. Representações Raciais no
Império Colonial Português, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
MATTOS, Ilmar R. de (2008), «Rio de Janeiro», in VAINFAS, Ronaldo e NEVES, Lúcia
Bastos Pereira das (orgs.), Dicionário do Brasil Joanino (1808‑1821), Rio de Janeiro,
Objetiva, pp. 393‑397.
MATTOSO, José (2007), D. Afonso Henriques, Lisboa, Temas e Debates.
MAURO, Frédéric (1963), Le Brésil au XVIIe siècle. Documents inédits relatifs à l’Atlantique
Portugais, separata de Brasília, vol. XI, Coimbra.
MAURO, Frédéric (1983), Le Portugal, le Brésil et l’Atlantique au XVIIe Siècle, 1570 – 1670.
Étude Économique, 2.ª ed., Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Centre Culturel
Portugais [edição original: 1960].
MAURO , Frédéric (1991), O Império Luso‑brasileiro, 1620‑1750, Nova História da
Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. VII.
MAXWELL, Kenneth (1998), «Motins», in BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti
(dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. III: O Brasil na Balança do Império
(1697‑1808), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 398‑409.
MAXWELL, Kenneth (1999‑2000), «Macau: The Shadow Land», World Policy Journal,
vol. 16, n.º 4, pp. 73‑95.
MAXWELL, Kenneth (2003), «The Spark: The Amazon and the Suppression of the Jesuits»,
in Naked Tropics: Essays on Empire and Other Rogues, New York‑London, Rout‑
ledge, pp. 91‑107.
MAXWELL, Kenneth e SILVA, Maria Beatriz Nizza da (1986), «A Política», in SILVA, Maria
Beatriz Nizza da (coord.), O Império Luso‑Brasileiro (1750‑1822), Nova História da
Expansão Portuguesa, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. VIII, pp. 333‑441.
McPHERSON, Kenneth (1993), The Indian Ocean. A History of people and the Sea, Oxford,
Oxford University Press.
Hist-da-Expansao_4as.indd 635 24/Out/2014 17:17
636 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
MEDEIROS, Eduardo (1985), «A evolução demográfica da cidade de Lourenço Marques
(1894‑1975): estudo bibliográfico», Revista Internacional de Estudos Africanos, n.º 3,
pp. 231‑239.
MEDINA, João e BARROMI, Joel (1987‑1988), «O projecto de colonização judaica em
Angola. O debate em Portugal da proposta da I.T.O (Organização Territorial Judaica)
– 1912‑1913», Clio, vol. 6, pp. 79‑139.
MELLO, Evaldo Cabral de (1995), A Fronda dos Mazombos. Nobres contra Mascates:
Pernambuco 1666‑1715, São Paulo, Companhia das Letras.
MELLO, Evaldo Cabral de (2001), O Negócio do Brasil. Portugal, os Países Baixos e o
Nordeste (1641‑1669), Lisboa, CNCDP.
MENDONÇA, Marcos Carneiro de (1963), «O pensamento da metrópole portuguesa
em relação ao Brasil», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de
Janeiro, n.º 257, pp. 43‑61.
MENESES , Avelino de Freitas de (1995), Os Açores nas Encruzilhadas de Setecentos
(1740‑1770), Ponta Delgada, Universidade dos Açores, vol. II: Economia.
MENESES, Avelino de Freitas de (1997), Gentes dos Açores: o número e a mobilidade em
meados do século XVIII, trabalho elaborado no âmbito da prestação de provas de
agregação, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, policopiado.
MENESES, Avelino de Freitas de (1999), «Os ilhéus na colonização do Brasil: O caso das
gentes do Pico na década de 1720», Arquipélago‑história, Ponta Delgada, 2.ª série,
vol. III, pp. 251‑264.
MENESES, Filipe Ribeiro de (2010a), Afonso Costa, Lisboa, Texto Editores.
MENESES, Filipe Ribeiro de (2010b), Salazar, Biografia Política, Lisboa, Dom Quixote.
MESSIENT, Christine (2006), L’Angola colonial, histoire et societé, Bâle, P. Schlettwein.
MEWUDA, J. Bato’ora Wen (1993), São Jorge da Mina, 1482‑1637. La vie d’un comptoir
portugais en Afrique Occidental, Lisboa‑Paris, Comissão Nacional para as Comemo‑
rações dos Descobrimentos Portugueses – Centre Culturel Portugais.
MIDDLEMAS, Keith (1975), Cahora Bassa. Engineering and Politics in Southern Africa,
London, Weidenfeld & Nicolson.
MIERS, Suzanne e ROBERTS, Richard (eds.) (1988), The End of Slavery in Africa, Wiscon‑
sin, The University of Wisconsin Press.
MILLER, Joseph C. (1988), Way of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave
Trade 1730‑1830, London, James Currey.
MIRA, Ana (2002), Actas das Sessões Secretas da Câmara dos Deputados e do Senado da
República sobre a Participação de Portugal na I Grande Guerra, Lisboa, Afrontamento/
/Assembleia da República.
MIRANDA, Bruno Romero Ferreira (2011), Gente de guerra: origem, cotidiano e resistência
dos soldados do exército da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil (1630‑1654),
dissertação de doutoramento, Universidade de Leiden, policopiado.
MIRANDA, Sacuntala de (1991), Portugal: o Círculo Vicioso da Dependência 1890‑1930,
Lisboa, Teorema.
MIRANDA, Susana Munch (2007), A administração da Fazenda Real no Estado da Índia
(1517‑1640), dissertação de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
Hist-da-Expansao_4as.indd 636 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 637
MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis (2007), «A “Companhia de Comércio da Ásia” de Feliciano
Velho Oldemberg (1753‑1760)», in ARAÚJO, Ana Cristina et al. (org.), O Terramoto
de 1755: Impactos Históricos, Lisboa, Livros Horizonte, pp. 199‑208.
MONTEIRO , Fernando Amaro e ROCHA , Teresa Vázquez (2004 [2005]), A Guiné do
Século XVII ao Século XIX: O Testemunho dos Manuscritos, Lisboa, Prefácio.
MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego (1937), A Colónia do Sacramento, 1680‑1777,
Porto Alegre, Globo, t. 2.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo (1998), O Crepúsculo dos Grandes. A Casa e o Património
da Aristocracia em Portugal (1750‑1832), Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2001), «Identificação da política setecentista. Notas sobre
Portugal no início do período joanino», Análise Social, Lisboa, vol. XXXV (157),
pp. 961‑987.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2004), «Pombal e a aristocracia», Camões. Revista de Letras
e Culturas Lusófonas, Lisboa, n.º 15‑16, pp. 34‑41.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2006), D. José, Lisboa, Círculo de Leitores.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2009a), «A circulação das elites no império dos Bragança
(1640‑1808): algumas notas», Tempo, Niterói, vol. 14, n.º 27, Dossiê: política e
governabilidade: diálogos com a obra de Maria de Fátima Silva Gouvêa, pp. 65‑81.
MONTEIRO , Nuno Gonçalo (2009b), «Pombal’s Government: Between Seventeenth
‑Century Valido and Enlightened Models», in PAQUETTE, Gabriel (ed.), Enlightened
Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, c. 1750‑1830, «Empires and
the Making of the Modern World, 1650‑2000», Farnham‑Burlington, VT., pp. 321
‑338.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2012), «Reformas pombalinas e reformas bourbónicas nas
Américas: Esboço de uma análise comparada», in GARRIDO, Álvaro, COSTA, Leonor
Freire e DUARTE, Luís Miguel (orgs.), Estudos em Homenagem a Joaquim Romero
Magalhães. Economia, Instituições e Império, Coimbra, Almedina, pp. 373‑390.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo e CARDIM, Pedro (2013), «A centralidade da periferia. Prata,
contrabando, diplomacia e guerra na região platina (1680‑1806)», História, Histórias,
Brasília, vol. 1, n.º 1, pp. 3‑22.
MOREIRA, Adriano (1996), Notas do Tempo Perdido, Matosinhos, Contemporânea.
MORENO, Humberto Baquero (1979‑1980), A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e
Significado Histórico, 2 vols., Coimbra, Imprensa da Universidade.
MORIER‑GENOUD, Eric (ed.) (2012), Sure Road? Nationalisms in Angola, Guinea‑Bissau
and Mozambique, Leiden, Brill.
MORINEAU , Michel (1985), «Or brésilien et gazettes hollandaises (1699‑1806)», in
Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains d’après
les gazettes hollandaises (XVIe‑XVIIIe siècles), Paris‑London‑New York, Éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme‑Cambridge University Press, pp. 120‑217.
MOTA, Carlos Guilherme (1972), Nordeste 1817. Estruturas e Argumentos, São Paulo,
Perspectiva, Editora da Universidade de São Paulo.
MOTA, Carlos Guilherme (1996), Ideia de Revolução no Brasil (1789‑1801). Estudo das
Formas de Pensamento, 4.ª ed., São Paulo, Editora Ática.
MOTA, Francisco Teixeira (1997), Alves Reis. Uma História Portuguesa, Lisboa, Oficina
do Livro.
Hist-da-Expansao_4as.indd 637 24/Out/2014 17:17
638 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
MURTEIRA, André (2012), A Guerra da Índia e o Corso Neerlandês, 1595‑1625, Parede,
Tribuna da História.
NASCIMENTO, Augusto (2001), «São Tomé e Príncipe», in MARQUES, A. H. de Oliveira
(coord.), O Império Africano 1890‑1930, vol. xi. Nova História da Expansão Portu‑
guesa, Lisboa, Editorial Estampa, pp. 201‑257.
NEIL‑TOMLINSON, Barry (1977), «The Nyassa Chartered Company: 1891‑1929», Journal
of African History, vol. 17, n.º 1, pp. 109‑128.
NETO, Maria da Conceição (2010), «A República no seu estado colonial: combater a
escravatura, estabelecer o “indigenato”», Ler História, Lisboa, n.º 59, pp. 205‑225.
NETO, Sérgio (2013), Do Minho ao Mandovi. Um estudo sobre o pensamento colonial de
Norton de Matos, tese de doutoramento, Coimbra, Universidade de Coimbra, policopiado.
NEUMANN, Eduardo (2004), «“Mientras volaban correos por los pueblos”: autogoverno
e práticas letradas nas missões guarani – século XVII», Horizontes Antropológicos,
Porto Alegre, vol. 10, n.º 22, pp. 93‑119.
NEVES , Carlos Agostinho das (1989), São Tomé e Príncipe na Segunda Metade do
Século XVIII, Funchal‑Lisboa, Secretaria Regional do Turismo, Cultura e Emigração
‑Instituto de História de Além‑Mar.
NEVES, Guilherme Pereira das (1994), «Revolta de 1817», in SILVA, Maria Beatriz Nizza
da (coord.), Dicionário de História da Colonização Portuguesa no Brasil, Lisboa‑São
Paulo, Verbo, pp. 702‑703.
NEVES, Guilherme Pereira das (1995), «Do império luso‑brasileiro ao império do Brasil
(1789‑1822)», Ler História, Lisboa, n.º 27‑28, pp. 75‑102.
NEVES, Guilherme Pereira das (1999), «A suposta conspiração de 1801 em Pernambuco:
ideias ilustradas ou conflitos tradicionais?», Revista Portuguesa de História, Coimbra,
tomo XXXIII, pp. 439‑481.
NEVES, Guilherme Pereira das (2008), «Revolução de 1817», in VAINFAS, Ronaldo e
NEVES, Lúcia Bastos Pereira das (orgs.), Dicionário do Brasil Joanino (1808‑1821),
Rio de Janeiro, Objetiva, pp. 389‑391.
NEVES, José Acúrsio das (1981), «Considerações políticas e comerciais sobre os Descobri‑
mentos e possessões dos Portugueses na África e na Ásia (1830)», in Obras Completas
de José Acúrsio das Neves, Porto, Afrontamento, vol. 4.
NEVES, Lúcia Bastos Pereira das (2011), «A vida política», in SCHWARCZ, Lilia Moritz
(dir.), História do Brasil Nação: 1808‑2010, vol. 1: Crise colonial e independência:
1808‑1830, coordenação de Alberto da Costa e Silva, Rio de Janeiro, Fundación
Mapfre‑Objetiva, pp. 75‑113.
NEVES, Maria Teresa Avelino Pires Cordeiro (2009), O Município nas Ilhas de Cabo Verde
(Séculos XV a XVIII), dissertação de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
NEWITT, Malyn (1973), Portuguese settlement on the Zambesi, Harlow, Longman.
NEWITT, Malyn (1981), Portugal in Africa: the last hundred years, London, C. Hurst & Co.
NEWITT, Malyn (1997), História de Moçambique, Mem Martins, Publicações Europa
‑América [edição original: 1995].
NEWITT, Malyn (1998), «Moçambique», in ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.),
O Império Africano 1825‑1890, Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. x, pp. 557‑655.
Hist-da-Expansao_4as.indd 638 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 639
NEWITT , Malyn (2000), «Formal and Informal Empire in the History of Portuguese
Expansion», Portuguese Studies, vol. 17, pp. 1‑21.
NEWITT, Malyn (2009), Portugal in European and World History, London, Reaktion
Books.
NOBRE, Pedro (2008), A entrega de Bombaim à Grã‑Bretanha e as suas consequências polí‑
ticas e sociais no Estado da Índia (1661‑1668). A relação do novo poder com Baçaim
e a permanência da comunidade portuguesa, dissertação de mestrado, Lisboa, Facul‑
dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
NOGUEIRA, Franco (1988), Um Político Confessa‑se (Diário: 1960‑1968), Porto, Civili‑
zação, 3.ª ed. [edição original: 1986].
NORTON, José (2002), Norton de Matos, Venda Nova, Bertrand.
NOWELL , Charles E. (1982), The Rose‑Colored Map. Portugal’s attempt to build an
African empire from the Atlantic to the Indian Ocean, Lisboa, Junta de Investigações
Científicas do Ultramar.
OKA, Mihoko (2001), «A great merchant in Nagasaki in 17th century. Setsugo Heizo II and
the system of respondência», Bulletin of Portuguese Japanese Studies, vol. 2, pp. 17‑56.
OLIVEIRA, António de (1991), Poder e Oposição Política em Portugal no Período Filipino
(1580‑1640), Lisboa, Difel.
OLIVEIRA, Luís Filipe (1985), «A expansão portuguesa: um processo de recomposição
social da nobreza», in Jornadas de História Medieval, 1383/1385 e a Crise Geral dos
Séculos XIV/XV, Actas, Lisboa, História & Crítica.
OLIVEIRA, Luís Valente de, e RICUPERO, Rubens (orgs.) (2007), A Abertura dos Portos,
São Paulo, Editora Senac São Paulo.
OLIVEIRA, Pedro Aires (2000), Armindo Monteiro. Uma Biografia Política 1896‑1955,
Venda Nova, Bertrand.
OLIVEIRA, Pedro Aires (2007), Os Despojos da Aliança. A Grã‑Bretanha e a Questão
Colonial Portuguesa 1945‑1975, Lisboa, Tinta da China.
OLIVEIRA, Pedro Aires (2011), «O factor colonial na política externa da Primeira Repú‑
blica», in MENESES, Filipe Ribeiro de, e OLIVEIRA, Pedro Aires (coords.), A 1.ª Repú‑
blica Portuguesa. Diplomacia, Guerra e Império, Lisboa, Tinta da China, pp. 299‑332.
OLIVEIRA, Pedro Aires e RODRIGUES, Luís Nuno (2001), «Os Estados Unidos e a Grã
‑Bretanha perante a crise do Estado Novo em 1961. Documentos diplomáticos»,
Política Internacional, n.º 23, Primavera‑Verão, pp. 268‑282.
OLIVEIRA , Ricardo Pessa de (2007), Uma vida no Santo Ofício: O inquisidor‑geral
D. João Cosme da Cunha, dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, policopiado.
OLIVEIRA, Ricardo Soares de (2011), «“O Governo está aqui”: post‑war state‑making in
the Angolan periphery», Politique Africaine, n.º 130, pp. 165‑187.
OPPELO, Walter C. (1975), «Pluralism and elite conflict in an independence movement:
FRELIMO in the 1960s», Journal of Southern African Studies, vol. 2, n.º 1, pp. 66‑82.
OSÓRIO, Helen (2010), «Território, administração e expansão da fronteira meridional:
o Rio Grande de São Pedro», in MARTINS, Ismênia e MOTTA, Márcia (orgs.), 1808 –
A Corte no Brasil, Niterói, Editora da UFF, pp. 317‑330.
PAIVA, José Pedro (2001), «Os novos prelados diocesanos nomeados no consulado pom‑
balino», Penélope. Revista de História e Ciências Sociais, Lisboa, n.º 25, pp. 41‑63.
Hist-da-Expansao_4as.indd 639 24/Out/2014 17:17
640 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
PAIVA, José Pedro (2006), Os Bispos de Portugal e do Império: 1495‑1777, Coimbra,
Imprensa da Universidade.
PAKENHAM, Thomas (1992), The Scramble for Africa: White Man’s Conquest of the Dark
Continent from 1876 to 1912, London, HarperCollins.
PAPAGNO, Giuseppe (1980), Colonialismo e Feudalismo. A Questão dos Prazos da Coroa
em Moçambique no Fim do Século XIX, Lisboa, Regra do Jogo.
PAQUETTE, Gabriel B. (2013), Imperial Portugal in the age of Atlantic revolutions: the
Luso‑Brazilian world, c. 1770‑1850, Cambridge, Cambridge University Press.
PARKER, John e RATHBONE, Richard (2007), African History. A Very Short Introduction,
Oxford, Oxford University Press.
PARKER, Geoffrey (1988), The Military Revolution. Military innovation and the rise of
the West, 1500‑1800, Cambridge, Cambridge University Press.
PARREIRA, Adriano (1990), Economia e Sociedade em Angola na Época da Rainha Jinga
(Século XVII), Lisboa, Editorial Estampa.
PAULO, João Carlos (1998), «Da “educação colonial portuguesa” ao ensino no ultramar»,
in BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão
Portuguesa, vol. v: Último Império e Recentramento (1930‑1998), Lisboa, Círculo
de Leitores, pp. 303‑333.
PAULO, João Carlos (2001), «Cultura e ideologia colonial», in MARQUES, A. H. de Oliveira
(coord.), O Império Africano 1890‑1930, Nova História da Expansão Portuguesa,
direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Estampa,
vol. xi, pp. 30‑94.
PAVIOT, Jacques (1995), Portugal et Bourgogne au XVe siècle, Lisboa‑Paris, Centre Culturel
Calouste Gulbenkian e Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimen‑
tos Portugueses.
PEDREIRA , Jorge M. (1998a), «Comércio ultramarino e integração económica», in
BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Por‑
tuguesa, vol. IV: Do Brasil para África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores,
pp. 243‑266.
PEDREIRA, Jorge M. (1998b), «O fim do império luso‑brasileiro», in BETHENCOURT,
Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. IV: Do
Brasil para África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 215‑227.
PEDREIRA, Jorge M. (1998c), «Imperialismo e Economia», in BETHENCOURT, Francisco
e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. IV: Do Brasil para
África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 268‑299.
PEDREIRA, Jorge M. (2010), «Custos e tendências financeiras no Império Português, 1415
‑1822», in BETHENCOURT, Francisco e CURTO, Diogo Ramada (eds.), A Expansão
Marítima Portuguesa, 1400‑1800, Lisboa, Edições 70, pp. 53‑91.
PEDREIRA, Jorge M. e COSTA, Fernando Dores (2006), D. João VI, Lisboa, Círculo de
Leitores.
PEDREIRA, Jorge M. e MONTEIRO, Nuno Gonçalo (coords.) (2013), O Colapso do Império
e a Revolução Liberal 1808‑1834, Lisboa, Fundación Mapfre/Objetiva.
PEDREIRA, Jorge Miguel Viana (1994), Estrutura Industrial e Mercado Colonial: Portugal
e Brasil (1780‑1830), Lisboa, Difel.
Hist-da-Expansao_4as.indd 640 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 641
PÉLISSIER, René (1977), Les Guerres Grises. Résistance et révoltes en Angola (1845‑1941),
Orgeval, Pélissier.
PÉLISSIER , René (1989), História da Guiné. Portugueses e Africanos na Senegâmbia
1841‑1936, 2 vols., Lisboa, Estampa.
PÉLISSIER , René (1997), História das Campanhas de Angola. Resistências e Revoltas
1845‑1941, 2 vols., Lisboa, Estampa [edição original: 1978].
PÉLISSIER, René (2000), História de Moçambique. Formação e Oposição, vol. 1, 3.ª ed.,
Lisboa, Estampa [edição original: 1984].
PÉLISSIER, René (2006), As Campanhas Coloniais de Portugal 1844‑1941, Lisboa, Edi‑
torial Estampa [edição original: 2004].
PÉLISSIER, René (2007), Timor em Guerra. A Conquista Portuguesa 1847‑1913, Lisboa,
Estampa [edição original: 1996].
PELÚCIA, Alexandra (2009), Martim Afonso de Sousa e a sua Linhagem. Trajectórias de
uma Elite no Império de D. João III e de D. Sebastião, Lisboa, Centro de História
de Além‑Mar.
PELÚCIA, Alexandra (2010), Corsários e Piratas Portugueses: Aventureiros nos Mares da
Ásia, Lisboa, A Esfera dos Livros.
PENVENNE, Jeanne Marie (1996), «João dos Santos Albasini (1876‑1922): the contradic‑
tions of politics and identity in colonial Mozambique», Journal of African History,
vol. 37, n.º 3, pp. 419‑464.
PEREIRA, Ângelo (1956), D. João VI Príncipe e Rei, vol. III: A Independência do Brasil,
Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade.
PEREIRA, Francisco Gonçalves (2013), Accomodating Diversity. The People’s Republic
of China and the «Question of Macau» (1949‑1999), Lisboa, Centro Cultural e
Científico de Macau.
PEREIRA, José Esteves (2004), «Poder e saber. Alcance e limitações do projecto pom‑
balino», in Percursos de História das Ideias, Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da
Moeda, pp. 133‑140.
PEREIRA, Rui M. (1986), «Antropologia Aplicada na política colonial portuguesa do
Estado Novo», Revista Internacional de Estudos Africanos, n.º 4‑5, Janeiro‑Dezembro,
pp. 191‑195, 200‑206.
PEREIRA, Rui M. (2001), «A “Missão Etognósica de Moçambique”. A codificação dos
“usos e costumes indígenas” no direito colonial português. Notas de investigação»,
Cadernos de Estudos Africanos, n.º 1, Dezembro, pp. 125‑177.
PEREIRA, Victor (2012), «A Economia do Império e os Planos de Fomento», in JERÓNIMO,
Miguel Bandeira (coord.), O Império Colonial em Questão, Lisboa, Edições 70,
pp. 251‑285.
PÉREZ VEJO, Tomás (2010), «Criollos contra peninsulares: la bella leyenda», Amérique
Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 19 [on line], colocado on line a
31 de Dezembro de 2010 [URL: <http://alhim.revues.org/3431>], consultado a 23 de
Julho de 2013.
PIAZZA, Walter F. (1999), A Epopeia Açórico‑madeirense, 1748‑1756, 2.ª ed. revista,
Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico, Secretaria Regional do Turismo
e Cultura [edição original: 1992].
Hist-da-Expansao_4as.indd 641 24/Out/2014 17:17
642 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
PIAZZA , Walter F. e FARIAS, Vilson Francisco de (1993), «O contributo açoriano ao
povoamento do Brasil», in Actas da III Semana de Estudos da Cultura Açoriana e
Catarinense, Ponta Delgada, 30 de Outubro‑4 de Novembro de 1989, Ponta Delgada,
Universidade dos Açores, pp. 191‑220.
PIMENTA , Fernando Tavares (2005), Brancos de Angola. Autonomia e Nacionalismo
(1900‑1961), Coimbra, Minerva.
PIMENTA, Fernando Tavares (2008), Angola, os Brancos e a Independência, Porto, Afron‑
tamento.
PIMENTA, João Paulo G. (2002), Estado e Nação no Fim dos Impérios Ibéricos no Prata
(1808‑1828), São Paulo, Hucitec‑Fapesp.
PIMENTA, João Paulo G. e LEME, Adriana Salay (2008), «D. João no Brasil e o Rio da
Prata», Revista USP, São Paulo, n.º 79, pp. 34‑43.
PINA, Isabel (2011), Jesuítas Chineses e Mestiços da Missão da China, 1589‑1689, Lisboa,
Centro Científico e Cultural de Macau.
PINTO , António Costa (2001), O Fim do Império Português. A Cena Internacional,
a Guerra Colonial e a Descolonização 1961‑1975, Lisboa, Livros Horizonte.
PINTO, Celsa (1994), Trade and Finance in Portuguese India: A Study of the Portuguese
Country Trade, 1770‑1840, New Delhi, Concept Publishing Company.
PINTO, Celsa (2006), «Rede económica do Estado da Índia (1750‑1830)», in LOPES, Maria
de Jesus dos Mártires (coord.), O Império Oriental (1660‑1820), Nova História da
Expansão Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, vol. V, tomo I, pp. 339‑361.
PINTO, Paulo Jorge Sousa (1997), Portugueses e Malaios: Malaca e os Sultanatos de Johor
e Achém, 1575‑1619, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
PINTO, Virgílio Noya (1979), O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo‑português (Uma
contribuição aos estudos da economia atlântica no século XVIII), 2.ª ed., São Paulo,
Companhia Editora Nacional [edição original: 1972].
PIRES , Rui Pena (1998), «O regresso das colónias», in BETHENCOURT , Francisco e
CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa, vol. V: Último Império
e Recentramento (1930‑1998), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 182‑196.
PITCHER, M. Anne (1993), Politics in the Portuguese Empire. The State, Industry and
Cotton 1926‑1974, Oxford, Clarendon Press.
PITTS, Jennifer (2005), A Turn to Empire. The rise of imperial liberalism in Britain and
France, Princeton NJ, Princeton University Press.
POHLE, Jurgen (no prelo), Os Mercadores Alemães e a Expansão Portuguesa no Reinado
de D. Manuel I, Lisboa, Centro de História de Além‑Mar.
POMBO, José Francisco da Rocha (s.d.), Historia do Brazil (Illustrada), Rio de Janeiro,
Benjamin de Aguile‑Editor, vol. VI.
PORTER, Andrew (2011), O Imperialismo Europeu 1860‑1914, Lisboa, Edições 70 [edição
original: 1994].
PORTER, Bernard (2004), The Absent‑Minded‑Imperialists. Empire, Society and Culture
in Britain, Oxford, Oxford University Press.
PORTO, Nuno (2009), Modos de Objectificação da Dominação Colonial: o Caso do Museu
do Dundo, 1940‑1970, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
POSTMA, Johannes e SCHWARTZ , Stuart B. (1995), «Brazil and Holland as commercial
partners on the West African coast during the eighteenth century», Arquivos do Centro
Hist-da-Expansao_4as.indd 642 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 643
Cultural Calouste Gulbenkian, Paris, vol. XXXIV: Mélanges offerts à Frédéric Mauro,
pp. 399‑427.
PRADO, Fabrício (2010), «A presença luso‑brasileira no Rio da Prata e o período cispla‑
tino», in NEUMANN, Eduardo Santos e GRIJÓ, Luiz Alberto (orgs.), O Continente em
Armas: Uma História da Guerra no Sul do Brasil, Rio de Janeiro, Apicuri, pp. 69‑96.
PROENÇA, Maria Cândida (2009), «A questão colonial», in ROSAS, Fernando e ROLLO,
Maria Fernanda (coords.), História da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Tinta
da China, pp. 205‑228.
PROENÇA, Maria Cândida (2013), «Ministério das Colónias», in ROLLO, Maria Fernanda
(coord. geral), Dicionário de História da I República e do Republicanismo, vol. I: A‑E,
Lisboa, Assembleia da República, pp. 899‑905.
PROENÇA, Maria Cândida, VIDIGAL, Luís e COSTA, Fernando (2000), Os Descobrimentos
no Imaginário Juvenil 1850‑1950, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses.
PUNTONI, Pedro (2002), A Guerra dos Bárbaros: Povos Indígenas e a Colonização do
Sertão Nordeste do Brasil, 1650‑1720, São Paulo, Fapesp‑Editora Hucitec‑EDUSP.
RAMINELLI , Ronald (2008), Viagens Ultramarinas: Monarcas, Vassalos e Governo a
Distância, São Paulo, Alameda.
RAMOS, Luís António de Oliveira (1988), Sob o Signo das «Luzes», Lisboa, Imprensa
Nacional‑Casa da Moeda.
RAMOS, Luís de Oliveira (2006), D. Maria I, Lisboa, Círculo de Leitores.
RAMOS, Rui (1997), «As origens ideológicas da condenação das descobertas e conquistas
em Herculano e Oliveira Martins», Análise Social, Lisboa, vol. 32, n.º 140, pp. 113
‑141.
RAMOS, Rui (2000), «“Um novo Brasil de um novo Portugal”. A história do Brasil e a
ideia de colonização em Portugal nos séculos XIX e XX», Penélope, Lisboa, n.º 23,
pp. 129‑152.
RAMOS , Rui (2001), A Segunda Fundação 1890‑1926, 2.ª ed. rev., Lisboa, Editorial
Estampa [edição original: 1994].
RAMOS, Rui (2008), Dom Carlos 1863‑1908, Lisboa, Temas e Debates.
RAMOS, Rui (coord.), MONTEIRO, Nuno e SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (2009), His‑
tória de Portugal, Lisboa, A Esfera dos Livros.
RANDLES, W. G. (1961), «La signification cosmographique du passage du cap Bojador»,
Stvdia, n.º 8, pp. 221‑256.
RANDLES , W. G. (1990), Da Terra Plana ao Globo Terrestre: Uma Rápida Mutação
Epistemológica, 1480‑1520, Lisboa, Gradiva.
RANDLES, W. G. (2000), Geography, cartography and Nautical Science in the Rennais‑
sance, Aldershot, Ashgate.
RECHEADO, Carlene (2010), As missões franciscanas na Guiné (século XVII), dissertação
de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa, policopiado.
REGO, A. da Silva (1965), «Os Ingleses em Goa, 1799‑1813», Estudos Políticos e Sociais,
vol. III, n.º 1, pp. 23‑48.
REGO, António da Silva (1970), O Ultramar Português no Século XVIII, Lisboa, Agência
Geral do Ultramar.
Hist-da-Expansao_4as.indd 643 24/Out/2014 17:17
644 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
REIS, Artur Cezar Ferreira (1981), «Pais, José da Silva (século XVIII)», in SERRÃO, Joel
(dir.), Dicionário de História de Portugal, s. ed., Porto, Livraria Figueirinhas, vol. IV,
pp. 516‑517.
REIS, Bruno Cardoso (2001), «Portugal e a Santa Sé no sistema internacional ( 1910‑1970)»,
Análise Social, Lisboa, vol. 36, n.º 161, pp. 1019‑1059.
REIS , Bruno Cardoso (2014), «As primeiras décadas de Portugal nas Nações Unidas:
um Estado pária contra a norma da descolonização (1956‑1974)», in JERÓNIMO,
Miguel Bandeira e PINTO, António Costa (orgs.), Portugal e o Fim do Colonialismo.
Dimensões Internacionais, Lisboa, Edições 70, pp. 179‑215.
REIS, Bruno Cardoso e OLIVEIRA, Pedro Aires (2012), «Cutting Heads or Winning Hearts:
Late Colonial Portuguese Counterinsurgency and the Wiriyamu Massacre of 1972»,
Civil Wars, n.º 14, pp. 80‑103.
REIS, Célia (2007), O Padroado Português no Extremo Oriente na Primeira República,
Lisboa, Livros Horizonte.
REZOLA, Maria Inácia (2012), Melo Antunes. Uma Biografia Política, Lisboa, Âncora
Editora.
RIBEIRO, Mónica da Silva (2010), «Se faz preciso misturar o agro com o doce»: a admi‑
nistração de Gomes Freire de Andrada, Rio de Janeiro e Centro‑Sul da América
Portuguesa (1748‑1763), dissertação de doutoramento, Niterói, Universidade Federal
Fluminense, policopiado.
RIBEIRO, Orlando (1981), A Colonização de Angola e o seu Fracasso, Lisboa, Imprensa
Nacional‑Casa da Moeda.
RIBEIRO, Orlando (1999), Goa em 1956. Relatório ao Governo, Lisboa, Comissão Nacio‑
nal para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
RIBEIRO, Pedro Lau (2012), «As missões médicas nas colónias portuguesas: expectativas e
repercussões na medicina tropical», in DIOGO, Maria Paula e AMARAL, Isabel Maria
(coords.), A Outra Face do Império. Ciência, Tecnologia e Medicina (Sécs. XIX‑XX),
Lisboa, Colibri, pp. 129‑162.
RITA‑FERREIRA, António (1988), «Moçambique post‑25 de Abril. Causas do êxodo da
população de origem europeia e asiática», in Moçambique: Cultura e História de um
País, Coimbra, Instituto de Antropologia.
RIVARA, Joaquim Heliodoro da Cunha (1875), A Conjuração de 1787 em Goa, e varias
cousas desse tempo. Memoria Historica, Nova Goa, Imprensa Nacional.
ROBERTS, Andrew D. (1986), «Portuguese Africa», in ROBERTS, Andrew D. (ed.), The
Cambridge History of Africa, vol. 7. From c. 1905 to 1940, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 494‑543.
ROBINSON, Ronald e GALLAGHER, John (1961), Africa and the Victorians. The Official
Mind of Imperialism, London, MacMillan.
ROBINSON, Rowena (1998), Conversion, continuity and change. Lived Christianity in
Southern Goa, Mumbai, Sage Publications.
ROCHA , Aurélio (2006), Associativismo e Nativismo em Moçambique. Contribuição
para o Estudo das Origens do Nacionalismo Moçambicano, Maputo, Texto Editores.
RODRIGUES, Eugénia (2006), «Economia e finanças. A agricultura: entre as comunidades
de aldeia e os empreendimentos estatais», in LOPES, Maria de Jesus dos Mártires
Hist-da-Expansao_4as.indd 644 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 645
(coord.), O Império Oriental (1660‑1820), Nova História da Expansão Portuguesa,
Lisboa, Editorial Estampa, vol. V, tomo I, pp. 449‑510.
RODRIGUES, Eugénia (2013), Portugueses e Africanos nos Rios de Sena. Os Prazos da
Coroa em Moçambique nos Séculos XVII e XVIII, Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa
da Moeda.
RODRIGUES, Fátima da Cruz (2013), «A desmobilização dos combatentes africanos das
Forças Armadas Portuguesas da Guerra Colonial (1961‑1974)», Ler História, Lisboa,
n.º 65, pp. 113‑128.
RODRIGUES, Gefferson Ramos (2009), No sertão, a revolta: Grupos sociais e formas de
contestação na América Portuguesa, Minas Gerais – 1736, dissertação de mestrado,
Niterói, Universidade Federal Fluminense, policopiado.
RODRIGUES, Helena Barros (2006), Nagasaki nanban. Das origens à expulsão dos Por‑
tugueses, dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
RODRIGUES, José Damião (1994), Poder Municipal e Oligarquias Urbanas: Ponta Delgada
no Século XVII, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada.
RODRIGUES, José Damião (2006), «“Para o socego e tranquilidade publica das Ilhas”:
fundamentos, ambição e limites das reformas pombalinas nos Açores», Tempo, Niterói,
vol. 11, n.º 21: Dossiê Ensino de História, pp. 157‑183.
RODRIGUES, José Damião (2007), «Das ilhas ao Atlântico Sul: a política ultramarina e
a emigração açoriana para o Brasil no reinado de D. João V», Anais de História de
Além‑Mar, Lisboa, vol. VIII, pp. 57‑68.
RODRIGUES, José Damião (2012), «Um europeu nos trópicos: sociedade e política no Rio
joanino na correspondência de Pedro José Caupers», in RODRIGUES, José Damião
(coord.), O Atlântico Revolucionário: Circulação de Ideias e de Elites no Final do
Antigo Regime, Ponta Delgada, CHAM, pp. 193‑213.
RODRIGUES, José Damião e MADEIRA, Artur Boavida (2001), «A emigração para o Brasil:
As levas de soldados no século XVIII», in Portos, Escalas e Ilhéus no Relacionamento
entre o Ocidente e o Oriente. Actas do Congresso Internacional Comemorativo do
Regresso de Vasco da Gama a Portugal, Lisboa, Universidade dos Açores‑Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2.º vol., pp. 109‑130.
RODRIGUES, Luís Nuno (2002), Salazar‑Kennedy. A Crise de uma Aliança, Lisboa, Edi‑
torial Notícias.
RODRIGUES , Luís Nuno (2004), «Missão Impossível: o Plano Anderson e a Questão
Colonial Portuguesa em 1965», Relações Internacionais, n.º 2, pp. 99‑112.
RODRIGUES, Luís Nuno (2008), Marechal Costa Gomes – No Centro da Tempestade,
Lisboa, A Esfera dos Livros.
RODRIGUES, Luís Nuno (2010), Spínola. Biografia, Lisboa, A Esfera dos Livros.
RODRIGUES, Luís Nuno (2013), «Militares e política: a Abrilada de 1961 e a resistência
ao salazarismo», Ler História, Lisboa, n.º 65, pp. 39‑55.
RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (1998), A evolução da arte da guerra dos Portugueses no
Oriente (1498‑1622), Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, dissertação
apresentada em provas científicas de acesso à categoria de investigador auxiliar texto
policopiado.
Hist-da-Expansao_4as.indd 645 24/Out/2014 17:17
646 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
ROQUE, Ana Cristina (2012), Terras de Sofala: Persistências e Mudança. Contribuições
para a História Sul‑oriental de África nos Séculos XVI‑XVIII, Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e Tecnologia.
ROQUE, Ricardo (2001), Antropologia e Império: Fonseca Cardoso e a Expedição à Índia
em 1895, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
ROQUE, Ricardo (2004), «O fio da navalha: vulnerabilidade imperial na ocupação do
Moxico, Angola», in CARVALHO, Clara e CABRAL, João Pina, A Persistência da His‑
tória. Passado e Contemporaneidade em África, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais,
pp. 61‑89.
ROQUE , Ricardo (2010), «The Unruly Island: Colonialism’s Predicament in Late
Nineteenth‑Century East Timor», Portuguese Literary and Cultural Studies, n.º 17/18,
pp. 303‑330.
ROQUE, Ricardo (2011), «Os Portugueses e os reinos de Timor no século XIX», Oriente,
n.º 20, pp. 91‑110.
ROSAS, Fernando (1990), Portugal entre a Paz e a Guerra (1939‑1945), Lisboa, Editorial
Estampa.
ROSS, Andrew C. (2009), Colonialism to Cabinet Crisis. A Political History of Malawi,
Zomba, Kachere Series.
ROTHERMUND, Dietmar (2006), The Routledge Companion to Decolonization, London,
Routledge.
ROWLAND, Robert (1998), «O problema da emigração: dinâmicas e modelos» in BETHEN‑
COURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão Portuguesa,
vol. IV: Do Brasil para África (1808‑1930), Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 304‑323.
RUSSELL‑WOOD, Anthony John R. (1992), «Ports of Colonial Brazil», in KARRAS, Alan L.
e MCNEILL, J. R. (eds.), Atlantic American Societies. From Columbus through abolition
1492‑1888, London‑New York, Routledge, pp. 174‑211.
RUSSELL‑WOOD, A. J. R (1998), Um Mundo em Movimento. Os Portugueses na África,
Ásia e América (1415‑1808), Algés, Difel.
RUSSELL‑WOOD, Anthony John R. (2001), «A dinâmica da presença brasileira no Índico
e no Oriente. Séculos xvi‑xix», Topoi, Rio de Janeiro, vol. 2, n.º 3, pp. 9‑40.
SÁ, Isabel dos Guimarães (1997), Quando o Rico se Faz Pobre: Misericórdias, Caridade e
Poder no Império Português 1500‑1800, Lisboa, Comissão Nacional para as Come‑
morações dos Descobrimentos Portugueses.
SALDANHA, António Vasconcelos de (1989), A Índia Portuguesa e a Política do Oriente
de Setecentos, Lisboa, Publicações Alfa.
SALDANHA, António Vasconcelos de (2002), De Kangxi para o Papa, pela Via de Portugal.
Memória e Documentos Relativos à Intervenção de Portugal e da Companhia de Jesus
na Questão dos Ritos Chineses e nas Relações entre o Imperador Kangxi e a Santa
Sé, 3 vols., s. l. [Macau], Instituto Português do Oriente.
SALDANHA, António Vasconcelos de (2007), O Tratado Impossível. Um Exercício de
Diplomacia Luso‑chinesa num Contexto Internacional em Mudança 1842‑1887,
Lisboa, Instituto Diplomático.
SALOMON, Marlon (2004), «O exílio da desordem e a segurança da ilha de Santa Catarina
no século XVIII», in BRANCHER, Ana e AREND, Silvia Maria Fávero (orgs.), História
de Santa Catarina: Séculos XVI a XIX, Florianópolis, Editora da UFSC, pp. 79‑92.
Hist-da-Expansao_4as.indd 646 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 647
SAMPAIO , Antonio Carlos Jucá de (2003), Na Encruzilhada do Império: Hierarquias
Sociais e Conjunturas Económicas no Rio de Janeiro (c. 1650‑c. 1750), Rio de Janeiro,
Arquivo Nacional.
SAMPAIO, Zélia Maria Cordeiro Silvestre (2004), Política, diplomacia e mentalidade na
Ásia Portuguesa de Setecentos: a governação do vice‑rei Vasco Fernandes César de
Meneses no Estado da Índia (1712‑1717), dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, policopiado.
SÁNCHEZ‑GÓMEZ, Luis Ángel (2009), «Imperial Faith and catholic missions in the grand
exhibitions of the Estado Novo», Análise Social, Lisboa, vol. 44, n.º 193, pp. 671‑692.
SANJAD , Nelson Rodrigues (2001), Nos Jardins de São José: uma história do Jardim
Botânico do Grão‑Pará, 1796‑1873, dissertação de mestrado, Campinas, São Paulo,
policopiado.
SANTOS, Aurora Almada (2014), A Organização das Nações Unidas e a questão colonial
portuguesa, tese de doutoramento, Lisboa, FCSH, policopiado.
SANTOS, Catarina Madeira (1999), «Goa É a Chave de Toda a Índia»: Perfil Político da
Capital do Estado da Índia (1505‑1570), Lisboa, Comissão Nacional para as Come‑
morações dos Descobrimentos Portugueses.
SANTOS , Catarina Madeira (2005), Um governo «polido» para Angola. Reconfigurar
dispositivos de domínio (1750‑c. 1800), dissertação de doutoramento, Lisboa,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, poli‑
copiado.
SANTOS, Corcino Medeiros dos (1993), O Rio de Janeiro e a Conjuntura Atlântica, Rio
de Janeiro, Expressão e Cultura.
SANTOS, Fabiano Vilaça dos (2008), O governo das conquistas do Norte: trajetórias admi‑
nistrativas no Estado do Grão‑Pará e Maranhão (1751‑1780), tese de doutoramento,
São Paulo, Universidade de São Paulo, policopiado.
SANTOS , Fabricio Lyrio (2007), «Aldeamentos jesuítas e política colonial na Bahia,
século XVIII», Revista de História, São Paulo, n.º 156, pp. 107‑128.
SANTOS, Luís Aguiar (2004), Comércio e Política na Crise do Liberalismo. A Associação
Comercial de Lisboa e o Reajustamento do Regime Proteccionista Português 1884
‑1895, Lisboa, Colibri.
SANTOS, Maria Emília e LOBATO, Manuel (coord.) (2006), O Domínio da Distância:
Comunicação e Cartografia, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical.
SANTOS, Maria Emília Madeira (1988), Viagens de Exploração Terrestre dos Portugueses
em África, 2.ª ed., Lisboa, IICT.
SANTOS, Maria Helena Carvalho dos (coord.) (1997), Do Tratado de Tordesilhas (1494)
ao Tratado de Madrid (1750), Comunicações apresentadas no XI Congresso Inter‑
nacional, Lisboa, 14 a 20 de Novembro de 1994, Lisboa, Sociedade Portuguesa de
Estudos do Século XVIII.
SANTOS, Marília Nogueira dos (2007), Escrevendo cartas, governando o império: A cor‑
respondência de António Luís Gonçalves da Câmara Coutinho no governo‑geral do
Brasil (1691‑1693), dissertação de mestrado, Niterói, Universidade Federal Flumi‑
nense, policopiado.
SARKIN, Jeremy, (2011), Germany’s genocide of the Herero: Kaiser Wilhelm II, His Gene‑
ral, His Settlers, His Soldiers, Cape Town, James Currey.
Hist-da-Expansao_4as.indd 647 24/Out/2014 17:17
648 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
SCHAUB, Jean‑Frédéric (2012), «Le monde comme interprétation: quand l’historien se
fait traducteur», Critique, Paris, n.º 779, 2012/4, pp. 292‑302.
SCHNEIDMANN, Witney W. (2004), Engaging Africa: Washington and the Fall of Portugal’s
Colonial Empire, Laham, MD, University Press of America, 2004.
SCHULTZ, Kirsten (2008a), «Perfeita civilização: a transferência da corte, a escravidão e
o desejo de metropolizar uma capital colonial. Rio de Janeiro, 1808‑1821», Tempo,
Niterói, vol. 12, n.º 24: Dossiê Trajetórias e Sociabilidades no Brasil da Corte Joanina,
pp. 5‑27.
SCHULTZ , Kirsten (2008b), «Sol oriens in occiduo: Representations of Empire and
the City in Early Eighteenth‑Century Brazil», in BROCKEY , Liam Matthew (ed.),
Portuguese Colonial Cities in the Early Modern World, Basingstoke, Ashgate,
pp. 223‑248.
SCHULTZ, Kirsten (2012), «Slavery, Empire and Civilization: A Luso‑Brazilian Defense of
the Slave Trade in the Age of Revolutions», Slavery & Abolition: A Journal of Slave
and Post‑Slave Studies, pp. 1‑20.
SCHWARCZ, Lilia Moritz (2007), A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. Do Terramoto
de Lisboa à Independência do Brasil, Lisboa, Assírio & Alvim.
SCHWARTZ, Stuart (1987), «Plantations and peripheries, c. 1580 – c. 1750», in BETHEL,
Leslie (ed.), Colonial Brazil, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 67‑144.
SCHWARTZ, Stuart (1991), «The voyage of the vassals: royal power, noble obligations
and merchant capital before the Portuguese restoration of Independence, 1624‑1640»,
The American Historical Review, vol. 96, n.º 1, pp. 735‑762.
SCHWARTZ, Stuart (1998), «De ouro a algodão: a economia brasileira no século XVIII»,
in BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti (dirs.), História da Expansão
Portuguesa, vol. III: O Brasil na Balança do Império (1697‑1808), Lisboa, Círculo de
Leitores, pp. 86‑103.
SCHWARTZ, Stuart (2003), Da América Portuguesa ao Brasil. Estudos Históricos, Lisboa,
Difel.
SCHWARTZ, Stuart (2010), «A Economia do Império Português», in bethencourt, Fran‑
cisco e CURTO, Diogo Ramada (eds.), A Expansão Marítima Portuguesa, 1400‑1800,
Lisboa, Edições 70, pp. 21‑51.
SEABRA, Jorge (2011a), África Nossa. O Império Colonial na Ficção Cinematográfica
Portuguesa 1945‑1974, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra.
SEABRA, Jorge (2011b), «Imagens do império. O caso Chaimite, de Jorge Brun do Canto»,
in TORGAL, Luís Reis (coord.), O Cinema sob o Olhar de Salazar, 2.ª ed., Lisboa,
Temas e Debates, pp. 235‑273.
SENOS, Nuno, O Paço da Ribeira (1501‑1581), Lisboa, Editorial Notícias.
SERAFIM, Cristina Maria Seuanes (2000), As Ilhas de São Tomé no Século XVII, Lisboa,
Centro de História de Além‑Mar, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL.
SERRÃO, José Vicente (1998), «Macau», in ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.),
O Império Africano 1825‑1890, vol. x. Nova História da Expansão Portuguesa,
direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Estampa,
pp. 719‑765.
SESHAN, Radhika (2012), Trade and Politics on the Coromandel Coast. Seventeenth and
Early Eighteenth Centuries, Delhi, Primus Books.
Hist-da-Expansao_4as.indd 648 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 649
SHIPWAY, Martin (2008), Decolonization and its impact. A comparative approach to the
end of the colonial empires, Oxford, Blackwell.
SHY , John (1998), «The American Colonies in War and Revolution, 1748‑1783», in
MARSHALL, P. J. (ed.), The Eighteenth Century, «The Oxford History of the British
Empire», ii, Oxford and New York, Oxford University Press, pp. 300‑324.
SILVA, A. E. Duarte (1989), «Salazar e a política colonial do Estado Novo: o Acto Colo‑
nial (1930‑1951)», in SILVA, A. E. Duarte et al., Salazar e o Salazarismo, Lisboa, Dom
Quixote, pp. 101‑152.
SILVA , A. E. Duarte (2010), Invenção e Construção da Guiné‑Bissau. Administração
Colonial – Nacionalismo – Constitucionalismo, Coimbra, Almedina.
SILVA, Ana Rosa Cloclet da (2004), «Uma monarquia nos Trópicos. A visão imperial sub‑
jacente à migração da Corte portuguesa: 1777‑1808», Cultura – Revista de História
das Ideias, 2.ª série, vol. XVIII, pp. 91‑119.
SILVA, Ana Rosa Cloclet da (2005), «Identidades em construção. O processo de politização
das identidades coletivas em Minas Gerais, de 1792 a 1831» Almanack Braziliense,
São Paulo, n.º 1, pp. 103‑113.
SILVA, Andrée Mansuy‑Diniz (1987), «Imperial re‑organization, 1750‑1808», in BETHEL,
Leslie (ed.), Colonial Brazil, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 244‑283.
SILVA , Andrée Mansuy‑Diniz (2002‑2006), Portrait d’un homme d’État: D. Rodrigo
de Souza Coutinho, Comte de Linhares 1755‑1812, vol. I: Les années de forma‑
tion 1755‑1796, vol. II: L’homme d’État 1796‑1812, Lisboa‑Paris, Centre Culturel
Calouste Gulbenkian‑Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses.
SILVA, Andrée Mansuy‑Diniz (2008), «Macau et le Brésil à l’heure du nouvel empire luso
‑brésilien (1802‑1812)», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa, vol. IX, pp. 175‑205.
SILVA , António Correia e (2002), «Dinâmicas de decomposição e recomposição dos
espaços e sociedades», in SANTOS, Maria Emília Madeira (coord.), História Geral de
Cabo Verde, vol. III, Lisboa‑Praia, IICT‑IIPC, pp. 32‑66.
SILVA, Carlos Baptista (2008), Administrando o Império. O Ministério das Colónias/
Ultramar (1930‑1974), tese de mestrado, Lisboa, FCSH, policopiado.
SILVA, Cristina Nogueira da (2009a), Constitucionalismo e Império. A Cidadania no
Ultramar Português, Coimbra, Almedina.
SILVA, Cristina Nogueira da (2009b), «“Modelos coloniais” no século XIX (França, Espa‑
nha, Portugal)», e‑Legal History Review, n.º 7, p. 28. Consultado em http://governo‑
dosoutros.files.wordpress.com/2010/09/modeloscoloniais‑franc3a7a‑portugal.pdf, 28.
SILVA, Cristina Nogueira da (2010), «As “normas científicas da colonização moderna”
e a administração civil das colónias», in SARDICA, José Miguel (org.), A Primeira
República e as Colónias Portuguesas, Lisboa, CEPCEP/EPAL, pp. 86‑107.
SILVA, Luiz Geraldo, SOUZA, Fernando Prestes de, e PAULA, Leandro Francisco de (2009),
«A guerra luso‑castelhana e o recrutamento de pardos e pretos: uma análise compara‑
tiva (Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, 1775‑1777)», in DORÉ, Andréa e SAN‑
TOS, Antonio Cesar de Almeida (orgs.), Temas Setecentistas: Governos e Populações
no Império Português, UFPR/SCHLA‑Fundação Araucária, pp. 67‑83.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da (2006), D. João V, Lisboa, Círculo de Leitores.
Hist-da-Expansao_4as.indd 649 24/Out/2014 17:17
650 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
SILVA, Maria Beatriz Nizza da (2007), «Ouro e diamantes: as dificuldades da cobrança
dos direitos reais», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa, vol. VIII, pp. 89‑101.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da (2008), D. João. Príncipe e Rei no Brasil, Lisboa, Livros
Horizonte.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da (2010), «“Embelecer e enobrecer” a sede da Corte», in
MARTINS, Ismênia e MOTTA, Márcia (org.), 1808 – A Corte no Brasil, Niterói, Editora
da UFF, pp. 245‑267.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da (2013), Pernambuco e a Cultura da Ilustração, Recife,
Editora Universitária UFPE.
SILVA, Maria da Graça Garcia Nolasco da (1970), «Subsídios para o estudo dos “lançados”
na Guiné», Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, vol. XXV, n.º 97‑100.
SILVA, Rui Ferreira da (1990), «Sob o signo do Império», in ROSAS, Fernando (coord.),
Portugal e o Estado Novo 1930‑1960, Nova História de Portugal, Lisboa, Editorial
Estampa, vol. xii, pp. 355‑387.
SILVEIRA, Joel Frederico (1998), «Guiné», in ALEXANDRE, Valentim e DIAS, Jill (coords.),
O Império Africano 1825‑1890, Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. x, pp. 261‑267.
SILVEIRA, Luís Espinha da e FERNANDES, Paulo Jorge (2009), D. Luís, Lisboa, Temas e
Debates.
SIM, Teddy, Y. H. (2011), Portuguese Enterprise in the East. Survival in the Years 1707‑1757,
Leiden‑Boston, Brill.
SIMÕES, Catarina (2012), Para uma análise do conceito de «exótico». O interesse japo‑
nês na cultura europeia (1549‑1598), dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiado.
SIMPSON, Brad (2005), «“Illegally and beautifully”: the United States and the Indonesian
invasion of East Timor and the international community, 1974‑76», Cold War History,
vol. 5, n.º 3, pp. 281‑315.
SIMPSON, Duncan (2014), A Igreja Católica e o Estado Novo Salazarista, Lisboa, Edi‑
ções 70.
SLEMIAN, Andréa (2006), Vida Política em Tempo de Crise: Rio de Janeiro (1808‑1824),
São Paulo, Hucitec.
SLEMIAN, Andréa e PIMENTA, João Paulo G. (2008), A Corte e o Mundo: uma História
do Ano em que a Família Real Portuguesa Chegou ao Brasil, São Paulo, Alameda.
SLEMIAN, Andréa e THIBAUD, Clément (2013), «Indépendance du Brésil ou des Brésils?
Unité et diversité dans la construction d’un Empire en Amérique au début du XIXe
siècle», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [on line], Debates, colocado on line a 9 de
Fevereiro de 2013 [URL: <http://nuevomundo.revues.org/64747>], consultado a
23 de Julho de 2013.
SMITH, Alan K. (1991), «The Idea of Mozambique and its Enemies c. 1890‑1930», Journal
of Modern African Studies, vol. 17, n.º 3, pp. 496‑523.
SMITH, Alan K. e CLARENCE‑SMITH , W. Gervase (1985), «Angola and Mozambique,
1870‑1905», in OLIVIER, Roland e SANDERSON, G. N. (eds.), The Cambridge His‑
tory of Africa, vol. 6. From 1870 to 1905, Cambridge, Cambridge University Press,
pp. 493‑521.
Hist-da-Expansao_4as.indd 650 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 651
SOARES, Maria Goretti Leal (2004), «Governadores e magistrados letrados no governo de
Angola durante o século XVIII», Anais de História de Além‑Mar, vol. V, pp. 481‑506.
SOUSA, António Teixeira de (1912), Para a História da Revolução I, Coimbra, Livraria
Editora.
SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (2009), D. Afonso IV, Lisboa, Temas e Debates.
SOUSA , Ivo Carneiro de (1997), «Mercantilismo, reformas e sociedade em Timor no
século XVIII (O regimento do capitão das ilhas de Solor e Timor de 1718)», Revista
da Faculdade de Letras – História, Porto, série ii, vol. 14, pp. 389‑412.
SOUSA, Julião Soares (2012), «As associações protonacionalistas guineenses durante a
1.ª República: o caso da Liga Guineense e do Centro Escolar Republicano de Bissau»,
in PIMENTA, Fernando Tavares (coord.), República e Colonialismo na África Portu‑
guesa. Elementos para uma Reflexão, Porto, Afrontamento, pp. 53‑78.
SOUSA , Rita Martins de (2006), Moeda e Metais Preciosos no Portugal Setecentista
(1688‑1797), Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda.
SOUZA, Alexandre Rodrigues de (2011), A «Dona» do sertão: mulher, rebelião e discurso
político em Minas Gerais no século XVIII, dissertação de mestrado, Niterói, Univer‑
sidade Federal Fluminense, policopiado.
SOUZA, George F. Cabral de (2012), Tratos e Mofatras. O Grupo Mercantil do Recife
Colonial (c. 1654 – c. 1759), Recife, Editora Universitária UFPE.
SOUZA, Laura de Mello e (2006), O Sol e a Sombra. Política e Administração na América
Portuguesa do Século XVIII, São Paulo, Companhia das Letras.
SOUZA , Laura de Mello e, e BICALHO , Maria Fernanda Baptista (2000), 1680‑1720:
o Império deste Mundo, São Paulo, Companhia das Letras.
SPRUYT, Hendrik (2005), Ending Empire. Contested Sovereignty and Territorial Partition,
Ithaca NY, Cornell University Press.
STERN, Philip J. (2011), The Company‑State: Corporate Sovereignty and the Early Modern
Foundations of the British Empire in India, Oxford‑New York, Oxford University
Press.
STOCKER, Maria Manuel (2011), Xeque‑Mate a Goa. O Princípio do Fim do Império
Português, Lisboa, Texto Editores [edição original: 2005].
STONE, Norman (1999), Europe Transformed 1878‑1919, Oxford, Blackwell.
STUMPF, Roberta Giannubilo (2010), Filhos das Minas, Americanos e Portugueses: Iden‑
tidades Coletivas na Capitania das Minas Gerais (1763‑1792), São Paulo, Hucitec
‑Fapesp [edição original: 1983].
SUBRAHMANYAM, Sanjay (1988), «The tail wags the dog or some aspects of the exter‑
nal relations of the Estado da India, 1570‑1600», in Moyen Orient at Ocean Indien,
vol. 5, pp. 131‑160.
SUBRAHMANYAM, Sanjay (1994), «A cauda abana o cão: o subimperialismo e o Estado
da Índia, 1570‑1600», in Comércio e Conflito. A Presença Portuguesa no Golfo de
Bengala, 1500‑1700, Lisboa, Edições 70, pp. 151‑173.
SUBRAHMANYAM, Sanjay (1995), O Império Asiático Português, 1500‑1700. Uma His‑
tória Política e Económica, Lisboa, Difel [edição original: 1993].
SUBRAHMANYAM, Sanjay (1998), A Carreira e a Lenda de Vasco da Gama, Lisboa,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
Hist-da-Expansao_4as.indd 651 24/Out/2014 17:17
652 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
SUBRAHMANYAM , Sanjay (2007), «The birth‑pangs of Portuguese Asia: revisiting the
fateful “long decade” 1498–1509», Journal of Global History, vol. 2, n.º 1, pp. 261
‑280.
SUBTIL , José (1998), «No crepúsculo do corporativismo. Do reinado de D. José I às
invasões francesas», in CARDIM, Pedro, MONTEIRO, Nuno Gonçalo e SUBTIL, José,
«O Processo Político (1621‑1807)», in António Manuel Hespanha (coord.), O Antigo
Regime (1620‑1807), vol. 4 da História de Portugal, direcção de José Mattoso, edição
académica, Lisboa, Editorial Estampa, pp. 401‑429.
TALI, Jean‑Michel Mabeko (2001), Dissidências e Poder de Estado. O MPLA perante si
próprio (1962‑1977). Ensaio de História Política, 2.º vol., Luanda, Editorial Nzila.
TEIXEIRA, André (2008), Fortalezas. Estado Português da Índia. Arquitectura Militar na
Construção do Império de D. Manuel I, Lisboa, Tribuna da História.
TEIXEIRA , André Pinto de Sousa Dias (2010), Baçaim e o seu território (1534‑1661):
política e economia, dissertação de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2 vols., policopiado.
TEIXEIRA, André Pinto de Sousa Dias e PIRES, Silvana (2007), «O Tombo de Baçaim de
1727‑1730», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa, vol. VIII, pp. 325‑363.
TEIXEIRA, Nuno Severiano (1990), O Ultimato Inglês. Política Externa e Política Interna
no Portugal de 1890, Lisboa, Publicações Alfa.
TELO, António José (1991), Lourenço Marques na Política Externa Portuguesa 1875
‑1900, Lisboa, Cosmos.
TELO, António José (1993), Os Açores e o Controlo do Atlântico, Porto, Asa.
TELO, António José (1994), Economia e Império no Portugal Contemporâneo, Lisboa,
Cosmos.
TELO, António José (1997‑1998), «1959», in AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos Matos
(coords.), Guerra Colonial. Angola – Guiné – Moçambique, Lisboa, Diário de Notí‑
cias, pp. 26‑27.
TELO, António José (2004), Moçambique 1895. A Campanha de Todos os Heróis, Lisboa,
Tribuna da História.
TELO , António José (2008), História Contemporânea de Portugal. Do 25 de Abril à
Actualidade, vol. 1, Lisboa, Presença.
TELO, António José e TORRE GÓMEZ , Hipólito de la (2000), Portugal e Espanha nos
Sistemas Internacionais Contemporâneos, Lisboa, Cosmos.
THOMAS, Hugh (1999), The slave trade. The story of the Atlantic slave trade, 1440‑1870,
New York, Simon & Schuster.
THOMAS, Martin, MOORE, Bob e BUTLER, L. J. (2008), Crisis of Empire. Decolonization
and Europe’s Imperial States, 1918‑1975, London, Hodder Education.
THOMAZ, Luís Filipe (1990), «L’idée impériale manueline», in La Découverte, le Portugal
et l’Europe. Actes du Colloque, Paris, Centre Culturel Portugais.
THOMAZ, Luís Filipe (1994), De Ceuta a Timor, Carnaxide, Difel.
THOMAZ, Luís Filipe (1995), «A crise de 1565‑1575 na História do Estado da Índia»,
Mare Liberum, n.º 9, pp. 481‑520.
THOMAZ, Luís Filipe (2000), «Missões», in AZEVEDO, Carlos M. de (dir.), Dicionário
de História Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, vol. III, pp. 205‑221.
Hist-da-Expansao_4as.indd 652 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 653
THOMAZ, Luís Filipe (2006), «Timor», in LOPES, Maria de Jesus dos Mártires (coord.),
O Império Oriental (1660‑1820), Nova História da Expansão Portuguesa, Lisboa,
Editorial Estampa, vol. V, tomo 2, pp. 392‑430.
THOMAZ, Luís Filipe e BOUCHON, Geneviève (1989), Voyage dans les deltas du Ganges
et de l’Irraouaddy, 1521, Paris, Centre Culturel Portugais.
THOMAZ, Omar Ribeiro e NASCIMENTO, Sebastião (2012), «Nem Rodésia, nem Congo:
Moçambique e os dias do fim das Comunidades Asiática e Europeia», in CASTELO,
Cláudia et al. (org.), Os Outros da Descolonização. Ensaios sobre o Colonialismo
Tardio em Moçambique, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, pp. 315‑339.
THORNTON, John Kelly (1979), The Kingdom of Kongo in the Era of the Civil Wars
1641‑1718, Ph. Thesis, UMI.
TODD, David (2011), «A French Imperial Meridian 1814‑1870», Past and Present, n.º 210,
Fevereiro, pp. 155‑186.
TORGAL, Luís Reis (2005), António José de Almeida e a República, Lisboa, Temas e
Debates.
TORGAL , Luís Reis (2012), «República e republicanismo: a experiência africana de
António José de Almeida», in PIMENTA, Fernando Tavares (coord.), República e
Colonialismo na África Portuguesa. Elementos para uma Reflexão, Porto, Afronta‑
mento, pp. 11‑36.
TORRÃO, Maria Manuel (2000), Tráfico de escravos entre a costa da Guiné e a América
Espanhola. Articulação dos impérios ibéricos no espaço atlântico (1466‑1595), disser‑
tação apresentada em provas científicas de acesso à categoria de investigador auxiliar,
2 vols., Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, policopiado.
TORRES, Adelino (1990), «As contradições do paradigma colonial», in REIS, António (dir.),
Portugal Contemporâneo, Lisboa, Publicações Alfa, vol. 3, pp. 101‑120.
TORRES, Adelino (1991), O Império Português entre o Real e o Imaginário, Lisboa, Escher.
TOSTES, Vera Lúcia Bottrel (2010), «O Rio de Janeiro no tempo de D. João VI», in COUTO,
Jorge (dir.), Rio de Janeiro, Capital do Império Português (1808‑1821), Parede, Tribuna
da História, pp. 231‑242.
ULRICH, Ruy Ennes (1909), Política Colonial, Coimbra, Imprensa da Universidade.
VAIL , Leroy (1976), «Mozambique’s Chartered Companies: the Rule of the Feeble»,
Journal of African History, vol. 17, n.º 3, pp. 389‑416.
VAIL , Leroy e WHITE , Landeg (1980), Capitalism and Colonialism in Mozambique.
A study of Quelimane district, London, Heinemann.
VAKIL, Abdoolkarim, MONTEIRO, Fernando Amaro e MACHAQUEIRO, Mário (2011),
Moçambique, Memória Falada do Islão e da Guerra, Lisboa, Almedina.
VALENTE, Vasco Pulido (2009), Portugal. Ensaios de História Política, Lisboa, Alêtheia.
VANDERVORT, Bruce (1998), Wars of Imperial Conquest in Africa 1830‑1914, London,
UCL Press.
VARANDAS, Jorge (2007), “A Bem da Nação”. Medical Science in a diamond company in
Twentieth century Angola, Londres , tese de doutoramento, UCL policopiado.
VARELA , Consuelo (1992), Cristobal Colon. Retrato de un hombre, Madrid, Alianza
Editorial.
VARGUES, Isabel Nobre (1993), «O processo de formação do primeiro movimento libe‑
ral: a Revolução de 1820», in MATTOSO, José (dir.), História de Portugal, vol. V:
Hist-da-Expansao_4as.indd 653 24/Out/2014 17:17
654 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
O Liberalismo (1807‑1890), coordenadores Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque,
Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 45‑63.
VASCONCELOS, Ernesto Júlio de Carvalho e (1896), As Colónias Portuguesas. Geografia
Física, Política e Económica, Lisboa, Tipografia da Companhia Nacional Editora.
VASCONCELOS, Ernesto Júlio de Carvalho e (1921), As Colónias Portuguesas. Geografia
Física, Económica e Política, 3.ª ed., Lisboa, Livraria Clássica.
VENÂNCIO , José Carlos (1984), «Espaço e dinâmica populacional em Luanda no
século XVIII», Revista de História Económica e Social, Lisboa, n.º 14, pp. 67‑89.
VENÂNCIO, José Carlos (1996), A Economia de Luanda e Hinterland no Século XVIII.
Um Estudo de Sociologia Histórica, Lisboa, Editorial Estampa.
VERÍSSIMO, Nelson (2000), Relações de Poder na Sociedade Madeirense do Século XVII,
Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos
Culturais.
VIDAL, Laurent (2005), Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique: du Maroc a l’Amazonie
(1769‑1783), Paris, Aubier.
VILA‑SANTA, Nuno (2014), A Casa de Atouguia, os últimos Avis e o Império. Dinâmicas
entrecruzadas na carreira de D. Luís de Ataíde (1516‑1581), dissertação de doutora‑
mento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, policopiado.
VILHENA (1996), Maria da Conceição, Gungunhana. Grandeza e Decadência de um
Império Africano, Lisboa, Colibri.
WAGNER, Ana Paula (2009a), População no Império Português: recenseamentos na África
Oriental Portuguesa na segunda metade do século XVIII, tese de doutoramento,
Curitiba, Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós‑Graduação em História,
policopiado.
WAGNER, Ana Paula (2009b), «Política e população no Império Português: Moçambique
no último quartel do século XVIII», in DORÉ, Andréa e SANTOS, Antonio Cesar de
Almeida (orgs.), Temas Setecentistas: Governos e Populações no Império Português,
UFPR/SCHLA‑Fundação Araucária, pp. 399‑411.
WEIGERT, Stephen L. (2011), Angola: a modern military history, 1961‑2002, Palgrave
MacMillan.
WESSELING, Henri L. (1996), Divide and Rule. The Partition of Africa 1880‑1914, West
port CT, Praeger.
WESSELING, Henri L. (2004), Les empires coloniaux européens 1815‑1919, Paris, Galli‑
mard.
WESTAD, Odd Arne (2005), The Global Cold War, Cambridge, Cambridge University Press.
WHEELER, Douglas (2000), «“Mais Leis do que Mosquitos”: A Primeira República Por‑
tuguesa e o Império Ultramarino (1910‑1926)», in PINTO, António Costa e TEIXEIRA,
Nuno Severiano (coords.), A Primeira República Portuguesa. Entre o Liberalismo e o
Autoritarismo, Lisboa, Colibri, pp. 133‑167.
WHEELER, Douglas (2006), «The forced labor “system” in Angola, 1903‑1947: reassessing
origins and persistence in the context of colonial consolidation, economic growth and
reform failures», in Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (coord.),
Trabalho Forçado Africano – Experiências Coloniais Comparadas, Porto, Campo das
Letras, pp. 367‑393.
Hist-da-Expansao_4as.indd 654 24/Out/2014 17:17
BIBLIOGRAFIA 655
WHEELER, Douglas (2007), «As raízes do nacionalismo angolano: publicações de protesto
dos assimilados, 1870‑1940», in VIDAL, Nuno e ANDRADE, Justino Pinto de (coords.),
O Processo de Transição para o Multipartidarismo em Angola, Lisboa, Firmamento,
pp. 73‑93.
WHEELER, Douglas (2008), «The Galvão Report on Forced Labor (1947) in Historical
Context and Perspective: the Trouble‑Shooter Who Was Trouble», Portuguese Studies
Review, vol. 16, n.º 1, pp. 115‑152.
WHEELER, Douglas (2011), «May God Help Us. Angola’s First declaration of indepen‑
dence: the 1951 Petition/Message to the United Nations and USA», Portuguese Studies
Review, vol. 19, n.os 1‑2, pp. 271‑291.
WHEELER, Douglas W. e PÉLISSIER, René (2009), História de Angola, Lisboa, Tinta da
China [edição original: 1971].
WHITE, Nicholas J. (2011), «Reconstructing Europe through Rejuvenating Empire: the
British, French and Dutch Experiences Compared», in MAZOWER, Mark, REINISCH,
Jessica e FELDMAN, David (eds.), Post‑War Reconstruction in Europe. International
Perspectives. Past and Present Supplement, 6, pp. 211‑236.
WILCKEN, Patrick (2005a), «“A Colony of a Colony”. The Portuguese Royal Court in
Brazil», Common Knowledge, vol. 11, n.º 2: Symposium: Imperial Trauma, Part 1,
pp. 249‑263.
WILCKEN, Patrick (2005b), Império à Deriva: a Corte Portuguesa no Rio de Janeiro
(1808‑1821), 2.ª ed., Porto, Civilização Editora [edição original: 2004].
WITTE, Charles Martial de (1953‑1958), «Les bulles pontificales et l’expansion portu‑
gaise au XVe siècle», Revue d’Histoire Ecclésiastique, Lovaina, vol. XLVIII (1953),
pp. 683‑718; vol. LI (1956), pp. 809‑836; vol. LIII (1958), pp. 5‑46, pp. 443‑471.
XAVIER, Ângela Barreto (2004), «A organização religiosa do primeiro Estado da Índia.
Notas para uma investigação», Anais de História de Além‑Mar, Lisboa, vol. V, pp. 27‑60.
XAVIER, Ângela Barreto (2008), A Invenção de Goa. Poder Imperial e Conversões Culturais
nos Séculos XVI e XVII, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
XAVIER, Ângela Barreto e CARDIM, Pedro, D. Afonso VI, Lisboa, Temas e Debates, 2008.
YOUNG, Crawford (1994), The African Colonial State in Comparative Perspective, New
Haven, Yale University Press.
ZAMPARONI, Valdemir (2000), «Monhés, Baneanes, Chinas e Afro‑maometanos. Colo‑
nialismo e racismo em Lourenço Marques, Moçambique, 1890‑1940», Lusotopie,
pp. 191‑222.
ZAMPARONI, Valdemir (2004), «Da escravatura ao trabalho forçado: teorias e práticas»,
Africana Studia, n.º 7, pp. 299‑325.
ZEMELLA , Mafalda P. (1990), O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no
Século XVIII, 2.ª ed., São Paulo, HUCITEC‑EDUSP [edição original: 1951].
ZUÑIGA, Jean‑Paul (2007), «L’Histoire impériale à l’heure de l’“histoire globale”. Une
perspective atlantique», Revue d’histoire moderne et contemporaine, n.º 54‑4bis,
2007/5, pp. 54‑68.
Hist-da-Expansao_4as.indd 655 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 656 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE ONOMÁSTICO
Abbas I, Xá da Pérsia (r. 1587‑1625) Agostinho, Santo 21
176 Aguiar, Jorge de 110
Abdelmeleque, Mulei, sultão do reino Akbar, Grão‑Mogol (r. 1556‑1605) 176
de Fez (r. 1576‑1578) 165, 166 Albergaria, José de Almeida e Vasconcelos
Abreu, Jacinto de Figueiredo de 228 Soveral de Carvalho da Maia Soares
Afonso Henriques, D., rei de Portugal de, barão de Moçâmedes, governador
(r. 1143‑1185) 19, 23, 28, 30 de Angola 315
Afonso II, D., rei de Portugal (r. 1211 Albergaria, Lopo Soares de, governador
‑1223) 23, 24, 28 da Índia 109, 112, 119, 121
Afonso III, D., rei de Portugal (r. 1248 Albuquerque, Afonso de, governador da
‑1279) 24, 26, 28 Índia 109, 110, 111, 112, 117, 119,
Afonso IV, D., rei de Portugal (r. 1325 121, 127, 143, 148, 163, 175
‑1357) 23, 26, 27, 29 Albuquerque, Brás de 144, 145, 148
Afonso V, D., rei de Portugal (r. 1438 Albuquerque, Joaquim Mouzinho de 416,
‑1481) 18, 45, 51, 57, 61, 62, 63, 64, 420, 440
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Albuquerque, Luís de Mendonça Furtado
75, 83, 84, 86, 87, 93, 112, 125, 157, e, ver, Lavradio, 1.º conde do, e vice
164 ‑rei da Índia
Afonso V, rei de Aragão (r. 1416‑1458) Albuquerque, Manuel de Saldanha de,
64 conde da Ega, vice‑rei da Índia 289,
Afonso IX, rei de Leão (r. 1188‑1230) 23 290, 294
Afonso X, rei de Castela (r. 1252‑1284) Albuquerque, D. Pedro António de
27 Noronha de, 2.º conde de Vila Verde,
Afonso, D., príncipe (1475‑1491) 76, 87 vice‑rei da Índia 213
Afonso, D., 1.º duque de Bragança, conde Alexandre VI, Papa (1492‑1503) 80
de Neiva e conde de Barcelos 34 Alexandre Magno 106, 112
Afonso, D., conde de Ourém 63 Almada, D. Lourenço de, governador
Afonso, Jorge, pintor 96 ‑geral do Brasil 244
Hist-da-Expansao_4as.indd 657 24/Out/2014 17:17
658 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Almeida, António José de, presidente da Áustria, D. Maria Ana de, rainha de
República (1919‑1923) 449 Portugal (1683‑1754) 237
Almeida, D. Francisco de, vice‑rei da Aydar Aly Khan, nababo 317
Índia 107, 108, 110, 137 Azambuja, Diogo de 82, 83
Almeida, Francisco José de Lacerda e Azevedo, António Araújo de, conde da
316 Barca 310
Almeida, Januário Agostinho de 335 Azevedo, Frei Luís da Anunciação e 314
Almeida, João 417, 447
Almeida, D. Lourenço de 108 Baeza, Padre Juan Batista 179
Alorna, marquês de, D. Pedro Miguel de Ball, George 528
Almeida e Portugal, vice‑rei da Índia Bandeira, (marquês, depois visconde) Sá
253, 259 da 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367,
Álvares, Padre Vicente 304 369, 376, 390, 392
Alvor, 3.º conde de, ver Távora, 3.º Baptista, Pedro João 316
marquês de 213, 289 Barba, João Pereira da Silva, governador
Amaral, José Rodrigues Coelho do 373 de Moçambique 285
Amorim, Pedro Massano de 447 Barbacena, visconde de, Luís António
Andrade, Padre António de 178 Furtado de Castro do Rio de
Andrade, Bernardino Freire de 228 Mendonça e Faro, governador de
Andrade, Gomes Freire de, governador e Minas Gerais 308
capitão‑general das capitanias do Rio Barbosa, Duarte 114
de Janeiro, de Minas Gerais e de São Barbot, Jean 227
Paulo 241, 245, 247, 250, 251, 266, Barca, conde da, António Araújo de
267, 271, 272 Azevedo 310 (ver Azevedo, António
Andrade, Joaquim Paiva de 387, 392, Araújo de)
401, 402, 406, 428 Baring Brothers 407
Andrade, Simão de 109 Barreto, Fernando Bissaya 495
Angeja, marquês de, D. Pedro António de Barreto, Honório Pereira 361
Noronha de Albuquerque, vice‑rei do Barreto, D. João Nunes, Patriarca da
Brasil (ver Vila Verde, 2.º conde de) Etiópia 155
247 Barreto, Roque da Costa, governador
Anjou, René d’157 ‑geral do Brasil 224, 231
António, D., Prior do Crato 110, 169, Barros, João de 48, 69, 84, 85, 143
171 Beatriz, infanta D. (1429‑1506) 71
Argelejo, conde de 275 Belo, João, ministro das Colónias 481
Arriaga, Miguel de, presidente da Bemoim, D. João de 85
República (1911‑1915) 335 Bento XII, Papa (1334‑1342) 27
Artigas, José Gervásio 331, 332 Berengária, infanta D., rainha da
Assumar, conde de, governador da Dinamarca (c. 1190‑1221) 24
capitania de São Paulo e Minas do Beresford, William 349
Ouro 245, 259 Bismarck, Otto von 396, 401
Ataíde, D. Luís de, vice‑rei da Índia 150 Bobadela, conde de, Gomes Freire de
Ataíde, Nuno Fernandes de 116, 119 Andrade 271
Aurangzeb, imperador mogol (r. 1658 Bocage, José Vicente Barbosa du,
‑1707) 210, 211, 253 primeiro‑ministro 398
Hist-da-Expansao_4as.indd 658 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE ONOMÁSTICO 659
Bosch, Jerónimo 97 Capassi, padre Domingos 250
Bracciolini, Poggio 60 Capelo, Hermenegildo 386
Branca, rainha de França (1188‑1250) Carbone, padre João Baptista, SI
28 250
Bragança, Bárbara de, D., infanta de Cardoso, António Maria 387
Portugal e rainha de Espanha (1711 Cardoso, Augusto 387
‑1758) 241 Cardoso, padre João Francisco, SI 253,
Bragança, Catarina de, D., infanta de 254
Portugal e rainha de Inglaterra (1638 Carlos de Áustria, arquiduque 237
‑1705) 195, 207 Carlos I, D., rei de Portugal (r. 1889
Bragança, D. Constantino de, vice‑rei da ‑1908) 404, 424, 444, 445
Índia 150 Carlos II, rei de Espanha (r. 1665‑1700)
Brazza, Pierre Savorgnan de 395 237
Brochado, José da Cunha 239 Carlos II, rei de Inglaterra (r. 1660‑1685)
Brotero, Felix Avelar 301 195, 207
Bruges, Jácome de 58 Carlos III, rei de Espanha (r. 1759‑1788)
272, 275
Caboto, João 88 Carlos V, imperador (r. 1519‑1556) 121,
Cabral, Amílcar 515 122, 130, 133, 134
Cabral, Artur Sacadura 459 Carlos VIII, rei de França (r. 1483‑1498)
Cabral, Pascoal Moreira 249 22
Cabral, Pedro Álvares 90, 91, 93, 94, 97, Carlos X, rei de França (r. 1824‑1830)
115, 124 366
Cadamosto, Alvisse 56, 84, 95, 157 Carlota Joaquina, D., rainha de Portugal
Cadaval, duque de, D. Nuno Álvares (1775‑1830) 322, 331
Pereira de Melo 222, 223 Carneiro Leão, família 324
Cadbury 445 Carneiro, D. Melchior, bispo em Macau
Cadornega, António de Oliveira de 231, 155
232 Carvajal, José de 241
Caetano, Marcelo, primeiro‑ministro 507, Carvalho, Henrique Dias de 387
523, 531 Carvalho, José Manuel Nobre de 527
Caldas, Sebastião de Castro e, governador Castanheda, Fernão Lopes de 26, 143
de Pernambuco 244 Castelo Novo, 1.º marquês de, ver
Camacho, Manuel Brito 470, 471 Alorna, marquês de 259
Câmara, D. José Pedro da, governador da Castro, Caetano de Melo de, vice‑rei da
Índia 291, 292, 298 Índia 213
Câmara, Filomeno da 473, 483 Castro, D. Fernando de 45
Cameron, Verney Lovett 384 Castro, Francisco de Melo e, governador
Caminha, Pero Vaz de 97 de Moçambique 285
Camões, Luís Vaz de 112, 132, 144 Castro, D. João de, governador e vice‑rei
Canning, Lord, ministro dos Negócios da Índia 135, 137, 163
Estrangeiros da Grã‑Bretanha Castro, Manuel Bernardo de Melo e,
330 governador e capitão‑general do
Cano, Sebastião del 133 Estado do Grão‑Pará e Maranhão
Cão, Diogo 75, 82, 124 274
Hist-da-Expansao_4as.indd 659 24/Out/2014 17:17
660 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Castro, Martinho de Melo e, secretário Coutinho, D. Domingos de Sousa,
de Estado 287, 297, 301, 307, 316, embaixador 310, 311, 331
338 Coutinho, D. Fernando, marechal 110
Catarina, D., rainha de Portugal (1507 Coutinho, Francisco Inocêncio de Sousa,
‑1578) 146, 157, 164 governador de Angola 280, 281, 282,
Caupers, Pedro José 326 294
Cavalcante de Albuquerque, irmãos 309 Coutinho, Francisco Maurício de Sousa,
Cerqueira, D. Luís, bispo do Japão 154 governador do Estado do Grão‑Pará
Cerveira, Afonso de 49 e Rio Negro 311
Cevallos, Pedro de 272 Coutinho, João Azevedo 417
Chagas, Manuel Pinheiro 387, 400 Coutinho, José Joaquim da Cunha de
Cidade, Hernâni 518 Azeredo 302, 309
Changamira Dombo 215 Coutinho, Martim Afonso de Melo
Clemente VI, Papa (1342‑1352) 27 125
Coelho, Duarte 159 Coutinho, D. Rodrigo de Sousa,
Colombo, Cristóvão 78, 79 secretário de Estado 282, 294, 299,
Cordeiro, Luciano 385 302, 303, 310, 311, 316, 320, 323,
Cordon, Victor 401 329, 330, 331, 338, 400
Correia, António Mendes 508 Coutinho, D. Vasco 116
Correia, Elias Alexandre da Silva 313 Couto, Diogo do 116
Corte‑Real, irmãos 93 Couto, Padre Caetano Francisco do 304,
Corte Real, Diogo de Mendonça (pai), 305
secretário de Estado 258 Covilhã, Pero da 76
Corte Real, Diogo de Mendonça (filho), Cruz, António Vicente da 375
secretário de Estado 245, 265, 276, Cromwell, Oliver 208
284, 285 Curto, Amílcar Ramada 518
Corte Real, Tomé Joaquim da Costa, Cunha, D. António Álvares da,
secretário de Estado 271 governador de Angola e vice‑rei do
Cortesão, Armando 518 Brasil 281
Cortez, Hernán 133 Cunha, conde da, ver Cunha, D. António
Corvo, João Andrade, ministro do Álvares da
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros Cunha, D. João Cosme da 298
390 Cunha, D. Luís da 239, 247, 248, 249,
Costa, Afonso, primeiro‑ministro 414, 250, 251, 263, 281, 308
469, 474 Cunha, Nuno da, governador da Índia
Costa, Domingos da 217 134
Costa, Eduardo 415, 416 Cunha, Tristão da 113
Costa, família (Timor) 217
Couceiro, Henrique Paiva 416, 417, 448 D’Anville, Jean‑Baptiste Bourguignon
Couros, Padre Mateus de 180 248, 249, 251, 263
Coutinho, António Luís Gonçalves da d’Estaing, conde 272
Câmara, governador‑geral do Brasil Dansaint, João 262
223, 224 Darwin, Charles 383
Coutinho, António Rosa 541 Delisle, Guillaume, primeiro geógrafo
Coutinho, Carlos Viegas de Gago 459 do rei 247, 248, 250, 276
Hist-da-Expansao_4as.indd 660 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE ONOMÁSTICO 661
D’Eça, António Pereira 472 Fernando, D., infante (1433‑1470) 59,
Deslandes, Venâncio 519, 522, 523 63, 66, 68
Dias, Bartolomeu 75, 76, 90 Fernando, D., rei de Portugal (r. 1367
Dias, José Luís Constantino (marquês ‑1383) 26, 27, 28, 30, 33
de Vale Flor) 424 Fernando I, rei de Aragão (r. 1412‑1416)
Dinis, D., rei de Portugal (r. 1279‑1325) 32
25, 26, 29, 30 Fernando II, rei de Leão (r.1157‑1188)
Diogo, D., príncipe (1575‑1582) 23
169 Fernando II, o Católico, rei de Aragão
Diogo, D., 4.º duque de Viseu 71 (r. 1479‑1516) 22
Duarte, D., rei de Portugal (r. 1433‑1438) Fernando VI, rei de Espanha (r. 1746
34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 53, ‑1759) 241, 267
62, 86 Ferreira, Alexandre Rodrigues 300, 301
Duarte, D., infante (1515‑1540) 142 Ferreira, João Álvares 280
Duarte, D., duque de Guimarães (1541 Ferreira, José Dias, primeiro‑ministro
‑1576) 141, 142, 167 423
Duclerc, Jean‑François 238 Ferreira, Padre Cristóvão 180
Dulce, D., rainha de Portugal (1160 Ferroles, marquês de, governador da
‑1198) 23 Caiena 220
Duguay Trouin, René 237, 238 Ferry, Jules 396
Dürer, Alberto 97 Filipa de Lencastre, D., rainha de
Portugal (c. 1360‑1415) 29, 36
Eanes, Gil 48, 50, 51, 70, 80, 546 Filipe da Alsácia, conde da Flandres 23
Eduardo, príncipe de Gales (1330‑1376) Filipe, o Belo, duque da Borgonha
29 (r. 1482‑1506) 115
Eduardo III, rei de Inglaterra (r. 1327 Filipe I, D., rei de Portugal (r. 1581‑1598)
‑1377) 29 (ou Filipe II, rei de Espanha) 102,
Ega, conde da, Manuel de Saldanha de 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172,
Albuquerque, vice‑rei da Índia 289, 183
290 Filipe II, D., rei de Portugal (r. 1598
Enes, António 402, 411, 412, 415, 416, ‑1621) 183
430, 438 Filipe III, rei de Portugal (r. 1621‑1640)
Ericeira, 5.º conde de e marquês de 184
Louriçal, D. Luís Carlos Inácio Xavier Filipe V, rei de Espanha (r. 1700‑1746)
de Meneses, 255 237, 239, 240, 241, 246, 251
Eugénio IV, Papa (1431‑1447) 42, 53 Filipe Augusto, rei de França (r. 1180
‑1223) 28
Falcão, Francisco da Mota 220 Ford, Gerald, presidente dos EUA (1974
Fanon, Frantz 516 ‑1977) 544
Faria, Padre Caetano Vitorino de 304, Fortes, Manuel de Azevedo, engenheiro
305 ‑mor 248
Fernandes, Valentim 95 Francisco I, rei de França (r. 1515‑1547)
Fernando, D., infante (1188‑1233) 24 133
Fernando, D., infante (1402‑1443) 32, Freire, Anselmo Braamcamp, primeiro
41, 43, 44, 45 ‑ministro 395
Hist-da-Expansao_4as.indd 661 24/Out/2014 17:17
662 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Freyre, Gilberto 508 Guilherme II, imperador alemão (r. 1888
Freitas, Augusto César Barjona de, ‑1918) 443
ministro dos Negócios Estrangeiros Gungunhana (Ngungunhane), imperador
405 de Gaza 416, 420
Froger, François 243 Gusmão, Alexandre de 245, 246, 247,
Furtado, Francisco Xavier de Mendonça, 251
governador e capitão‑general do
Estado do Grão‑Pará e Maranhão, Henrique, D., cardeal, rei de Portugal
secretário de Estado 265, 267, 268, (r. 1578‑1580) 141, 164, 167
269, 271, 274, 276, 280, 287, 292, Henrique II, rei de Castela (r. 1369‑1379)
294 29
Henrique III, rei de Castela (r. 1390
Gaeta, frei António de 231 ‑1405) 32
Galhardo, Eduardo 416 Henrique IV, rei de Inglaterra (r. 1399
Galvão, Henrique 494, 499, 517 ‑1413) 22
Galveias, conde das, André de Melo Henrique IV, rei de Castela (r. 1454
e Castro, governador de Minas ‑1474) 61, 71
Gerais, vice‑rei do Brasil Henrique VII, rei de Inglaterra (r. 1485
246 ‑1509) 79, 148
Gálvez, José de 297 Henrique VIII, rei de Inglaterra (r. 1509
Gama, D. Cristóvão da 154 ‑1547) 130, 172
Gama, D. Estevão da, governador da Henrique, D., infante (1394‑1460) 17, 34,
Índia 126 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48,
Gama, D. Francisco da, 2.º conde da 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60,
Vidigueira 126 63, 66, 69, 75, 77, 78, 80, 95, 122,
Gama, João de Saldanha da, vice‑rei da 125, 157, 495
Índia 257 Henrique, infante D. Afonso
Gama, D. Vasco da, vice‑rei da Índia, (duque do Porto) 418
1.º conde da Vidigueira 76, 83, 88, Herculano, Alexandre 357
89, 91, 92, 93, 126, 130, 134, 137, Holstein, D. Frederico Guilherme de
154, 176 Sousa, governador da Índia 317
Gant, João de 29 Holstein, D. Pedro de Sousa, duque de
Godinho, padre Manuel 208 Palmela, primeiro‑ministro 330,
Góis, Bento de 178 331
Góis, Damião de 114, 164 Homem, D. Luís Brito 315
Gomes, Fernão 69, 73 Hornay, António de 217
Gomes, Henrique de Barros, ministro dos Hornay, família (Timor) 217
Negócios Estrangeiros 399 Hornay, Francisco de 217, 290
Gonçalves, padre José António 304 Hornay, Gonçalo de 217
Gouveia, 2.º marquês de, D. João da Silva Hornay, Jan de 217
209 Hornung, John Peter 470
Gouveia, 3.º marquês de, D. Martinho Hugues, Victor 310
de Mascarenhas 261
Grant, Ulysses S., presidente dos EUA Isabel, D., rainha de Portugal (1432
(1868‑1876) 373 ‑1455) 63
Hist-da-Expansao_4as.indd 662 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE ONOMÁSTICO 663
Isabel I, a Católica, rainha de Castela (r. João XXII, Papa (1316‑1334) 25
1475‑1504) 71, 72, 73, 79, 115 João II, rei de Castela (r. 1406‑1454) 72
Isabel I, rainha de Inglaterra (r. 1558 João Sem Terra, rei de Inglaterra (r. 1199
‑1603) 148, 172 ‑1216) 24
Isabel, D., infanta, duquesa da Borgonha João, infante D. (1400‑1442) 44, 45
(1397‑1471) 50 João, príncipe D. (1539‑1554) 129, 141
Isabel, D., infanta, imperatriz (1504 João, D., 3.º duque de Viseu 71
‑1539) 122 João, Preste 47, 50, 55, 75, 76, 77, 84, 88,
Isasaga, Ochoa 115 114, 121, 122, 123
Ivens, Roberto 386 Johnson, Lyndon B., presidente dos EUA
(1963‑1968) 528
Jaime II, rei de Aragão (r. 1291‑1327) 25 Johnston, Harry 402
Jaime, D., 4.º duque de Bragança 109, Jorge, D., duque de Coimbra 87
117 José I, D., rei de Portugal (r. 1750‑1777)
Jardim, Jorge 536 227, 231, 247, 261, 264, 265, 266,
Jinga (Nzinga), rainha de Matamba 271, 272, 280, 281, 282, 284, 285,
(r. 1624‑1663) 230 288, 289, 291, 294, 296, 297, 298,
Joana, D., infanta, rainha de Castela 299, 311
(1439‑1475) 61 José, Amaro 316
Joana, a Beltraneja, princesa de Castela Júlio III, Papa (1550‑1555) 180
(1462‑1530) 71, 72, 78 Junot, Jean‑Andoche 321
Joana, a Louca, rainha de Castela
(r. 1504‑1555) 115, 129 Kangxi (K’ang‑hsi), imperador da China
João I, D., rei de Portugal (r. 1385‑1433) (r. 1662‑1722) 197, 254
11, 21, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Kaunda, Kenneth, presidente da Zâmbia
37, 38, 40, 41, 47, 83, 126 (1964‑1991) 536
João II, D., rei de Portugal (r. 1481‑1495) Kavandame, Lázaro 515
18, 32, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 74, Kennedy, John F., presidente dos EUA
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, (1960‑1963) 518, 528
85, 86, 87, 96, 105, 108, 112, 122, Kruger, Paul 443, 445
124, 125, 126, 130, 157 Khruschchev, Nikita 530
João III, D., rei de Portugal (r. 1521‑1557) Kylsant, Lord (Owen Cosby Phillips) 483
94, 123, 127, 129, 130, 132, 134, 135,
136, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 149, Lacerda, Filipe Xavier Pinheiro de,
153, 154, 157, 164, 172 governador de Benguela 316
João IV, D., rei de Portugal (r. 1640‑1656) Lago, Baltasar Manuel Pereira do,
187, 188, 189, 190, 191, 219, 229 governador de Moçambique 286
João V, D., rei de Portugal (r. 1706‑1750) Lançarote da Franca 27
235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, Lavigerie, cardeal Charles Martial 382,
244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 401
252, 257, 258, 259, 266, 267, 288, Lavradio, 1.º conde de, D. Luís de
289 Mendonça Furtado e Albuquerque,
João VI, D., rei de Portugal (r. 1816 vice‑rei da Índia 205, 210, 212
‑1826) 321, 322, 324, 326, 327, 328, Lecor, Carlos Frederico 332
329, 330, 331, 349, 350 Lemos, Duarte de 110
Hist-da-Expansao_4as.indd 663 24/Out/2014 17:17
664 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Lemos, Gaspar de 94 Manuel I, D., rei de Portugal (r. 1495
Lencastre, D. António de, governador de ‑1521) 18, 21, 22, 70, 76, 82, 83, 86,
Angola 286 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 102,
Lencastre, D. João de 235 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113,
Leonor, D., rainha de Portugal (?‑1445) 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
45 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129,
Leonor, D., rainha de Portugal e rainha de 130, 131, 132, 138, 142, 154, 157,
França (1498‑1558) 129 164, 167, 168, 170, 185
Leonor, D., infanta (1328‑1348) 29 Manuel II, D., rei de Portugal (r. 1908
Leopoldo II, rei da Bélgica (r. 1865‑1909) ‑1910) 447
384, 397, 407, 445, 468 Maria I, D., rainha de Portugal (1777
Leroy‑Beaulieu, Paul 378 ‑1816) 264, 275, 282, 291, 296, 314,
Lexington, Lord, embaixador inglês 239 317
Lima, José Joaquim Lopes de 358 Maria, D., rainha de Portugal (1482
Lima, Lourenço Fernandes de 228 ‑1517) 121
Livingstone, David 377, 384, 388 Maria, infanta D., (1521‑1577) 142,
Livingstone Inland Mission 388 164
Lisboa, Baltasar da Silva 312 Marrocos, Luís Joaquim dos Santos 326
Lisboa, José da Silva 333 Martinho I, rei de Aragão (r. 1396‑1410)
Lopes, Fernão 26, 143 32
Louriçal, marquês de e 5.º conde de Mascarenhas, Pero de, governador da
Ericeira, ver Ericeira, 5.º conde de Índia 134
259 Matos, José Norton 448, 451, 458, 461,
Lugard, Lord (Frederick) 414 462, 477, 488
Luís, infante D. (1507‑1554) 167 Mauro, Fra 57, 60, 69, 90, 94
Luís I, D., rei de Portugal (r. 1861‑1889) Maximiliano I, imperador (r. 1493‑1519)
373, 395 129
Luís VIII, rei de França (r. 1223‑1226) 28 Melo, Aires de Sá e, secretário de Estado
Luís IX, rei de França (r. 1226‑1270) 28 297
Luís XII, rei de França (r. 1498‑1515) 22 Melo, António Maria Fontes Pereira de,
Luís XVIII, rei de França (r. 1814‑1824) primeiro‑ministro 369, 389
329 Melo, D. João José de, governador da
Luna, Álvaro de 63 Índia 290
Melo, D. Miguel António de, governador
Macedo, Duarte Ribeiro de 199, 219 de Angola 315, 316
Macedo, José de 449 Melo, Pedro Maria Xavier Ataíde e,
MacMahon, Patrice 390 governador e capitão‑general de
MacMurdo, Edward B. 395, 400 Minas Gerais 328
MacMillan, Harold 521 Mela, Pompónio 21
Magalhães, Fernão de 133 Melo, Sebastião José de Carvalho e,
Magalhães, João de 249 secretário de Estado, ver Pombal,
Mahamet, Mulei, sultão do reino de Fez marquês de 264, 265, 266, 267, 268,
165 272, 273, 274, 276, 277, 281, 282,
Maior, D. Boaventura de Souto 473 284, 285, 287, 289, 292, 294, 295,
Manuel, D. Jerónimo 211 296, 297, 298, 305, 308
Hist-da-Expansao_4as.indd 664 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE ONOMÁSTICO 665
Meneses, Aires de Saldanha de, Montalbodo, Francescano de 113
governador de Angola 230 Morais, Francisco de Castro, governador
Meneses, D. Aleixo de 109, 155 do Rio de Janeiro 238
Meneses, D. Fr. Aleixo de, arcebispo Moreira, Adriano, ministro do Ultramar
de Goa 155, 180 519, 524
Meneses, Alexandre Metelo de Sousa Moreno, Lourenço 109, 110
e 253 Morier, Robert 394
Meneses, António José Teles de, Mota, cardeal da, D. João da Mota
governador de Timor 290 e Silva, secretário de Estado 258
Meneses, D. Duarte de, conde de Viana Mourão, D. Luís António de Sousa
65 Botelho, 4.º morgado de Mateus,
Meneses, D. Duarte de, governador governador de São Paulo 273
da Índia 123, 130 Munzer, Jerónimo 157
Meneses, Francisco da Cunha e, Mutu‑ya‑Kevela 442
governador da Índia 317
Meneses, D. Henrique de, governador Napoleão Bonaparte 327
da Índia 134 Napoleão III, presidente (1848‑1852)
Meneses, D. João de, 1.º conde de e imperador da França (1852‑1870)
Tarouca 110 365, 369
Meneses, D. Luís Carlos Inácio Xavier Nassau, Maurício 184
de, 5.º conde de Ericeira e marquês Nasser, Gamal Abdel, presidente do
de Louriçal, vice‑rei da Índia 255 Egipto (1954‑1970) 510
Meneses, Luís da Cunha, governador Negreiros, André Vidal de, governador
e capitão‑general de Minas Gerais de ngola 230
308 Neves, José Acúrsio das 356
Meneses, D. Pedro de 37, 38 Nicolau V, Papa (1447‑1455) 60, 61
Meneses, Rodrigo César de, governador Nizam Ali Khan, nababo 317
de São Paulo 247 Nixon, Richard, presidente dos EUA
Meneses, D. Vasco Fernandes César de, (1969‑1974) 528
vice‑rei da Índia, vice‑rei do Brasil Nóbrega, padre Manuel da 146
247, 254, 255 Noronha, D. Garcia de, vice‑rei da Índia
Miguel da Paz, D. , príncipe (1498‑1500) 137
109, 168 Noronha, D. António de 117, 127
Minas, 2.º marquês de, D. António Luís Nossez, frei Miguel Ângelo das 314
de Sousa 223 Nova, João da 91
Miranda, conde de, D. Henrique de Sousa Novais, Paulo Dias de 233
Tavares, embaixador 208 Nunes, Paulo da Silva 219
Moçâmedes, barão de, José de Almeida
e Vasconcelos Soveral de Carvalho Oda Nobunaga 153, 157, 179
da Maia Soares de Albergaria, Oldemberg, Feliciano Velho 285
governador de Angola 313, 315 Oliveira, Gonçalves de 228
Mondlane, Eduardo 501, 514, 515 Orleães, D. Amélia de, rainha de Portugal
Moniz, Filipa 78 (1865‑1951) 416
Moniz, Júlio Botelho, ministro da Defesa Ornelas, Aires de 416
512 Osório, Paulo 21
Hist-da-Expansao_4as.indd 665 24/Out/2014 17:17
666 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Oviedo, D. André, patriarca da Etiópia 155 Proença, Martinho de Mendonça de Pina
e 245
Pais, Fernão Dias 225
Pais, Garcia Rodrigues 226 Quental, Antero de 356
Pais, José da Silva, brigadeiro e
engenheiro‑militar, governador de Rebelo, Padre Amador 145
Santa Catarina 241, 251 Reis, Artur Virgílio Alves 459
Paiva, Afonso de 76 Renan, Ernest 382
Palmerston, visconde de 359, 361, 362, Rhodes, Cecil 398
363 Ribeiro, Artur de Almeida, ministro das
Pedro, D., infante (1392‑1449) 34, 39, Colónias 450, 451, 456
41, 44, 45, 49, 50, 60 Ricci, padre Mateus 170
Pedro II, D., rei de Portugal (r. 1683 Roberto, Holden 516
‑1706) 209, 212, 213, 223, 235, 237 Roçadas, José Augusto Alves 417, 419,
Pedro IV, D., rei de Portugal (r. 1826) e 447
Pedro I, imperador do Brasil (r. 1822 Rodrigues, Manuel Sarmento 507,
‑1831) 339, 350, 352 523
Pedro I, rei de Castela (r. 1350‑1369) 29 Rodrigues, padre Simão 140
Pedro IV, rei de Aragão (r. 1336‑1387) 32 Rosa, João da 231
Pereira, Duarte Pacheco 21, 69, 96, 107, Ross, Edward Alsworth 478
112, 130 Roupinho, D. Fuas 28
Pereira, Manuel 335
Pereira, D. Nuno Álvares, condestável Sá, Calisto Rangel Pereira de, governador
34, 63 de Moçambique 284, 285
Perestrelo, Bartolomeu 78 Sá, Mem de, governador do Brasil 146,
Pessanha, Manuel 25 147
Pessoa, Fernando 494 Sá e Benevides, Salvador Correia de,
Petre, Sir George 403, 407 governador e capitão‑general da
Pina, Rui de 43, 69 Repartição Sul, governador de Angola
Pinto, Alexandre Serpa 386, 387, 401, 192, 207
402, 403 Sabugosa, conde de, Vasco Fernandes
Pinto, Fernão Mendes 139, 153 César de Meneses, vice‑rei da Índia,
Pinto, João Teixeira 417, 472 vice‑rei do Brasil 247, 254, 255
Pinto, Manuel do Rosário 228 Salazar, António de Oliveira, primeiro
Pintos, família (Candolim) 304 ‑ministro 479, 480, 483, 485, 489,
Pio II, Papa (1458‑1464) 67 490, 491, 492, 493, 496, 502, 503,
Pita, Sebastião da Rocha 237 504, 505, 513, 517, 518, 519, 522,
Pires, Tomé 114 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530,
Polo, Marco 21, 78, 89, 95 531
Pombal, marquês de (ver Melo, Sebastião Salisbury, 3.º marquês de (Robert
José de Carvalho e) 266, 282, 291, Gascoyne‑Cecil) 344, 391, 399, 402,
292, 294, 298, 299 403, 404, 405
Portugal, D. Pedro Miguel de Almeida e, Salvador, frei Vicente do 204
marquês de Alorna, vice‑rei da Índia Sampaio, Lopo Vaz de, governador da
253, 259, 260, 284, 289 Índia 134
Hist-da-Expansao_4as.indd 666 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE ONOMÁSTICO 667
Sancho I, D., rei de Portugal (r. 1185 Soares, Mário, ministro dos Negócios
‑1211) 23 Estrangeiros 539
Sancho II, D., rei de Portugal (r. 1223 Soleimão, o Magnífico, sultão do Império
‑1248) 24, 28 Otomano (r. 1520‑1566) 165
Sancho IV, rei de Castela (r. 1284‑1295) Solis, Duarte Gomes 219
25 Somashker Nayaka, rei de Ikkeri (r. 1660
Sande, António Paes de, governador da ‑1671) 212
Índia 212 Sotomaior, Filipe de Valadares,
Sandomil, conde de, D. Pedro governador interino da Índia 290
Mascarenhas, vice‑rei da Índia 257, Sousa, D. António Caetano de 235, 243
298 Sousa, D. António Luís de, 2.º marquês de
Santa Catarina, frei Manuel de 305 Minas 223
Santa Teresa, D. Inácio de 256 Sousa, António Teixeira de, primeiro
Santos, Marcelino dos 501 ‑ministro 419
São José de Porto Alegre, 1.º barão de Sousa, José Marnoco e 457
335 Sousa, Leonel de 151
Saraiva, Alberto Rocha 457 Sousa, Manuel António de 375, 401, 402,
Sebastião, D., rei de Portugal (r. 1557 406, 430
‑1578) 141, 142, 145, 149, 155, 160, Sousa, D. Manuel Caetano de 248, 301
162, 163, 164, 165, 166, 169 Sousa, Martim Afonso de, governador da
Sequeira, Diogo Lopes de, governador da Índia 135, 140
Índia 109, 121, 130 Sousa, Tomé de, governador do Brasil
Serpa, António de, primeiro‑ministro 136, 146
405 Spínola, António de, presidente da
Shahu, rei marata (r. 1708‑1749) 253 República (1974) 532, 536, 537, 538,
Shivaji, rei marata (r. 1674‑1680) 210 539, 541
Sierra y Mariscal, Francisco de 337 Strangford, Lord 331
Silva, António Teles da, governador‑geral Stanley, Henry Morton 397
do Brasil 229 Stuart, Sir Charles 350
Silva, Francisco Xavier da 252
Silva, D. João da Mota e, cardeal da Távora, 3.º marquês de, D. Francisco de
Mota, secretário de Estado 258 Assis de Távora, vice‑rei da Índia 289
Silva, José Celestino da 418, 473 Távora, D. Leonor Tomásia de, marquesa
Silva, padre José da 254 de Távora 289
Silva, José Soares da 238 Távora, D. Teresa 289
Silva, Manuel António Vassalo e 526 Teixeira, Alexandre da Silva 316
Silveira, D. António Taveira de Neiva Telo, D. João da Silva, vice‑rei da Índia
Brum da 289, 293 190
Silveira, José Xavier Mouzinho da 356 Teodósio, príncipe D. (1634‑1653) 189
Smith, Adam 297, 302 Teodósio, D., 5.º duque de Bragança 150,
Smith, Sidney 331 158
Smuts, Jan Christiaan 469 Teodósio, D., 7.º duque de Bragança,
Soares, padre Diogo 250 príncipe 189
Soares, João Lopes, ministro das Colónias Teresa, infanta D., condessa da Flandres
455 23
Hist-da-Expansao_4as.indd 667 24/Out/2014 17:17
668 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Teresa, infanta D., rainha de Leão (1176 Velho, Álvaro 89
‑1250) 23 Vespúcio, Américo 113
Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier) Viana, Paulo Fernandes, intendente 324
308 Vieira, padre António 199, 209, 219, 223
Thomaz, Américo, presidente da Vieira, João Fernandes, governador de
República (1958‑1974) 531, 536 Angola 230, 231
Tokugawa Ieyasu 153, 176, 178, 179 Vila Verde, 2.º conde de, D. Pedro
Torres, José de 228 António de Noronha de Albuquerque,
Toyotomi Hideyoshi 153, 179 vice‑rei da Índia 212, 213
Tournon, Charles de 254 Vilhena, Ernesto de, ministro das
Trindade, padre Pedro da 263 Colónias 414
Tupac Amaru 306 Vilhena, Luís dos Santos 303
Villegagnon, Nicolas Durand de 146, 159
Ulrich, Ruy Enes 457 Vivaldi, irmãos 22
Urgel, conde de 32
Urraca, infanta D., rainha de Leão (1148 Walden, Howard de 361
‑1211) 23 Wellesley, Richard 319
Urraca, D., rainha de Portugal (1186 Wilberforce, William 364
‑1220) 28 Williams, Robert 433
Wilson, Woodrow 470
Valadim, Eduardo António Prieto 401
Valarte 59 Xavier, Alfredo Augusto Caldas 416
Valdemar III, rei da Dinamarca (r. 1215 Xavier, padre Francisco 270
‑1231) 24
Vandelli, Domingos 300, 301 Young, Edward D. 384
Vasconcelos, D. António de, governador
de Angola 281 Zarco, João Gonçalves 41
Vasconcelos, D. Manuel de Almeida e, Zedong, Mao 503
governador de Angola 315 Zurara, Gomes Eanes de 24, 33, 34, 35,
Vaz, Bibiana (ou Viviana) 228 48, 49, 55, 56, 95, 157
Hist-da-Expansao_4as.indd 668 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE TEMÁTICO
Acção Nacional Popular 540 Banco Fonsecas & Burnay 465
Açúcar 58, 59, 71, 87, 88, 114, 119, 133, Banco Nacional Ultramarino (BNU) 370,
138, 142, 147, 169, 183, 185, 191, 427, 466, 470
192, 193, 198, 213, 222, 223, 224, Batalha de Alcácer‑Quibir 144, 145, 161,
226, 236, 238, 242, 262, 279, 312, 163, 164, 166, 167
350, 351, 366, 374, 424, 425, 430, Batalha de Ambuíla (Mbwila) 230
431, 440, 470, 475, 491 Batalha dos Alcaides 117
Agência Geral das Colónias 459, 494 Batalha de Guararapes 192
Aguardente 147, 192, 242, 262, 278, 312, Batalha de Ourique 19, 23
334, 426 Batalha do Salado 23, 26, 30
ALCORA, aliança 529 Batalha de Toro 72, 74
Algodão 68, 107, 185, 226, 274, 277, Bloqueio Continental 320, 323, 336
278, 279, 312, 350, 351, 354, 425, Borracha 374, 390, 424, 429, 433, 442,
431, 475, 490, 492, 500, 514, 520 447, 468
Aliança Luso‑Britânica 360, 448 British East Africa Company 398
Aljubarrota, Batalha de 29, 32, 34 British South Africa Company 398, 402,
Arroz 242, 274, 312, 491, 500 406, 433
Associação Africana de Moçambique 500
Associação Comercial de Lisboa 423 Café 249, 312, 360, 370, 374, 404, 424,
Associação Internacional Africana 384 433, 440, 447, 473, 475, 491, 492,
Associação Internacional do Congo 397 514
Associação Popular Democrática Caminho‑de‑ferro 367, 394, 395, 400,
Timorense 543 406, 424, 433, 434, 439, 471, 474,
482, 534
Banco Angola‑Metrópole 459 Campanha do Rossilhão (1793‑1794)
Banco de Inglaterra 243 319
Banco de Angola 483 Canela 74, 108, 175, 185, 199, 206, 216,
Banco do Brasil 325 219
Hist-da-Expansao_4as.indd 669 24/Out/2014 17:17
670 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Carta Constitucional 355, 392 East India Company/Companhia das
Carta Orgânica do Império 488, 496 Índias Orientais 174, 207, 210, 256,
Cavalos 54, 68, 111, 149, 157 288, 319, 333, 365
Chá 185, 216, 318, 491 Empresa Nacional de Navegação 380,
Cinema 495 427
Cobre 139, 373 Engenhos 138, 185, 222, 224, 311, 312,
Colégio das Missões Ultramarinas 367 360
Comissão Permanente de Geografia 385 Escola Colonial/Escola Superior Colonial
Compagnie des Indes 283, 286 415, 457
Comunidade Económica Europeia (CEE) Escola de Medicina Tropical 457
535, 536 Escravos 54, 55, 56, 77, 86, 88, 107, 114,
Conferência de Bandung 504, 510 119, 120, 133, 138, 139, 147, 162,
Conferência Geográfica de Bruxelas de 183, 185, 218, 221, 222, 225, 227,
1876 384 229, 230, 231, 232, 233, 243, 245,
Conferência de Berlim de 1884‑85 344, 261, 262, 263, 270, 274, 276, 277,
394, 396, 399, 436, 455 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286,
Conferência de Bruxelas de 1890 426, 455 302, 308, 310, 312, 314, 316, 317,
Conferência de Paz de Paris de 1919‑20 318, 324, 327, 333, 334, 348, 349,
455 351, 352, 353, 355, 359, 360, 361,
Congresso de Rastatt 239 363, 365, 366, 367, 368, 369, 372,
Congresso de Utrecht 239 374, 375, 392, 421, 422, 430
Congresso de Cambrai 239 Espaço Económico Português (EEP)
Consejo de Indias 240 521
Conselho da Índia 171 Especiarias 57, 62, 69, 70, 74, 75, 77, 79,
Conselho Superior de Defesa Nacional 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
513 102, 105, 106, 107, 114, 119, 120,
Conselho Ultramarino 190, 210, 211, 123, 125, 131, 138, 140, 172, 185,
216, 219, 224, 235, 240, 244, 245, 193, 197, 198, 199, 318, 547
251, 252, 256, 257, 258, 261, 271, European Free Trade Agreement (EFTA)
281, 325, 366, 370, 373, 523, 524 535, 536
Convenção de Buenos Aires de 26 de Exposição Colonial do Porto de 1934
Maio de 1812 331 494
Convenção de Madrid de 1786 313 Exposição do Mundo Português de 1940
Convenção secreta de 22 de Outubro de 494, 495
1807 320
Cortes Constituintes 338 Fábrica de Madeiras de Nancibo 329
Couros 68, 224, 226, 282 Frente de Libertação de Moçambique
Cravo 213 (FRELIMO) 514, 515, 516, 532, 534,
537, 538, 539, 540, 541
Darwinismo, darwinista 411, 437, 508 Frente Nacional de Libertação de Angola
DIAMANG (Companhia dos Diamantes (FNLA) 516
de Angola) 414, 465, 467, 492, 523 Frente Revolucionária de Timor Leste
Diamantes 235, 236, 377, 390, 398, 465, Independente (FRETILIN) 544
534 Frente Unida Angolana (FUA) 522
Hist-da-Expansao_4as.indd 670 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE TEMÁTICO 671
Gado 128, 222, 225, 231, 249, 312, 416, Ministério dos Negócios Estrangeiros
431, 443, 468, 472, 477 403
General Agreement on Tariffs and Trade Misericórdia(s) 212
(GATT) 521 Mocidade Portuguesa 494, 501
Gengibre 199, 219, 226 Movimento das Forças Armadas (MFA)
Grupo BPA/Cupertino de Miranda 491 538, 539, 540
Grupo Espírito Santo 491 Movimento de Libertação da Guiné 513
Guerra do Emboabas 243 Movimento de Libertação de São Tomé
Guerra dos Mascates 244 e Príncipe 540
Gulf Oil 530 Movimento para a Defesa das Colónias
Hospital Colonial de Lisboa 457 459
Museu de História Natural e Jardim
Inquisição 142, 156, 292, 356 Botânico 301
Instituto de Missões Coloniais 454
North Atlantic Treaty Organization
Junta Consultiva do Ultramar 458 (NATO) 510, 513, 527, 528, 529
Junta da Administração da Companhia Noz‑moscada 219
Geral do Grão‑Pará e Maranhão 277
Junta da Administração do Tabaco 222 Ópio 197, 318, 335, 354, 365, 380, 474
Junta da Real Fazenda do Estado da Orange, casa de 209
Índia 293 Organização Internacional do Trabalho
Junta de Comércio de Moçambique 284 (OIT) 499, 519
Junta de Comércio na Índia 223 Organização das Nações Unidas (ONU)
Junta do Comércio 215, 284, 301 506, 511, 519, 526, 527, 539
Junta Suprema Central de Espanha 331 Organização Territorial Judaica 477
Junta(s) das Missões 221 Otomanos 46, 64, 120, 121, 123, 131,
juntas Provinciais de Povoamento 521 136, 149, 154, 165, 166, 170
Juntas de governo (América espanhola) Ouro 21, 38, 50, 52, 54, 55, 62, 70, 72,
331 74, 77, 78, 82, 87, 88, 102, 107, 111,
juntas da Real Fazenda 293, 325 114, 120, 125, 133, 138, 142, 143,
160, 169, 205, 215, 225, 228, 229,
Kuomintang 527 235, 236, 238, 241, 242, 243, 249,
250, 259, 262, 306, 316, 318, 377,
Laca 139 390, 391, 398, 399, 407, 431, 530,
Liga Nacional Africana 500, 514 547
Mandioca 262, 282 Padres Brancos 382, 401
Mantas 54 Padroado 67, 180, 254, 358, 359, 383,
Marfim 96, 107, 215, 278, 283, 314, 316, 455, 456, 484
318, 334, 374, 375 Panos 25, 108, 226, 277, 278, 290, 336,
Mesa da Consciência e Ordens 224, 325 354
Milho 214, 282, 475 Partido Africano para a Independência de
Ministério das Finanças 513 Guiné e de Cabo Verde (PAIGC) 514,
Ministério das Colónias/do Ultramar 515, 516, 524, 532, 536, 537, 539,
364, 458, 512, 524 540, 542
Hist-da-Expansao_4as.indd 671 24/Out/2014 17:17
672 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Partido Comunista Português (PCP) 501, Tratado de Fontainebleau 320
518 Tratado de Saragoça (1529) 133
Partido Progressista 395 Tratado de Tordesilhas (1494) 79, 80, 82,
Partido Regenerador 395 93, 110, 133
Partido Republicano Português (PRP) 395 Tratado de Lourenço Marques (1878)
Pau‑brasil 69, 94, 135 395, 399
Petróleo 492, 522, 534 Tratado Luso‑Bóer de 1875 400
Pimenta 74, 91, 106, 107, 120, 131, 139, Tratado Luso‑Brasileiro de 1825 351
175, 185, 198, 199, 213, 216, 219 Tratado Luso‑Chinês de 1887 589, n. 48
Polícia Internacional de Defesa do Estado Tratado do Zaire (1884) 396
(PIDE) 487 Tratado de Madrid (1750) 245, 247, 250,
Porcelana 89, 139 251, 260, 264, 266, 267, 268, 272,
Prata 102, 133, 136, 139, 178, 197, 259 275
Propaganda Fide 254, 314, 383, 454 Tratado de Vestefália (1648) 191
Tratado de Santo Ildefonso (1777) 264,
Quinquilharia 54, 107 266, 275
Tratado de Westminster (1373) 29
Raj britânico 365, 394, 462, 502 Tratado de Windsor (1386) 29
Royal Navy 360, 361, 375, 378, 380, 403 Tratados de Utrecht e Rastatt (1713
Royal Niger Company 398 ‑1715) 220, 239, 240, 248, 330
Tratados do Pardo (1761, 1778) 264
Sândalo 151, 175, 196 Tratados Luso‑Britânicos 207, 237, 239,
Secretariado de Propaganda Nacional 494 256, 333, 350, 360, 394
Seda 136, 139, 178, 216 Trigo 35, 58, 71, 116, 312
Sena Sugar Estates 431, 467, 470
Sesmarias 222, 285, 331 União Democrática de Timor (UDT)
Sociedade das Nações 469 543
Sociedade de Geografia de Lisboa 385 União das Populações de Angola (UPA)
Sociedade Missionária Baptista 388 516, 517
Sociedade Suabo 431 Universidade de Coimbra 299, 306, 338
Sociedade do Madal 431
Vinho 26, 208, 312, 423, 425, 426, 477,
Tabaco 147, 192, 213, 222, 223, 224, 490
229, 236, 238, 242, 262, 278, 285, VOC (Vereenigde Oostindische
286, 312, 318, 334, 351 Compagnie) 174, 178, 182, 185, 191,
Têxteis 318, 350, 476, 490 193, 194, 197, 199, 206, 207, 208,
Tratado de Almeirim (1432) 40 212, 215
Tratado Anglo‑Brasileiro de 1826 360
Tratado das Alcáçovas‑Toledo (1479 WIC (West Indische Compagnie) 184,
‑1480) 73, 77 185, 189, 191, 192, 193, 208, 261
Hist-da-Expansao_4as.indd 672 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE TOPONÍMICO
Açores 40, 41, 46, 57, 58, 59, 67, 71, 80, 474475, 476, 477, 478, 481, 483,
86, 87, 90, 118, 124, 138, 142, 173, 485, 487, 490, 491, 492, 493, 496,
188, 189, 208, 219, 239, 240, 243, 497, 498, 499, 500, 501, 509, 512,
251, 252, 271, 277, 427, 444, 528 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,
Adém 112, 126 520, 522, 523, 524, 531, 532, 533,
África do Sul 390, 442, 450, 462, 471 534, 535, 539, 541, 542, 543, 544
Alcácer‑Ceguer 51, 64, 65, 116, 132 Angra (Ilha Terceira) 93, 118, 154, 155,
Alemanha 126, 394, 399, 401, 403, 410, 189
419, 443, 444, 469, 474, 478, 529 Arábia 83, 89, 91, 110, 120, 149
Alexandria 92 Aragão 22, 23, 25, 26, 32, 45, 64, 72, 78,
Amazonas, rio 146, 183, 184, 219, 220, 109, 115, 129, 168
239, 267 Arguim 67, 81, 82, 184, 186
Ambaca 315, 380, 433 Arzila 65, 75, 85, 116, 125, 126, 127,
Angola 102, 147, 181, 192, 204, 205, 132, 165
229, 230, 231, 232, 233, 250, 253, Austrália 134, 365, 371
254, 258, 261, 262, 263, 266, 277, Azamor 75, 115, 117, 132
278, 279, 280, 281, 282, 283, 287,
294, 301, 313, 314, 315, 316, 334, Baçaim 135, 194, 206, 214, 256, 258,
351, 352, 353, 357, 359, 360, 362, 259
363, 364, 365, 368, 370, 373, 374, Baía 186, 189, 209, 213, 219, 221, 222,
380, 381, 385, 386, 387, 388, 392, 223, 224, 229, 236, 238, 242, 244,
395, 397, 398, 401, 405, 406, 409, 246, 258, 261, 262, 271, 272, 279,
410, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 286, 293, 306, 307, 308, 309, 312,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 431, 321, 330, 334, 336, 338, 350, 352
433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, Barcelor 150, 212
442, 443, 444, 447, 448, 449, 451, Bardez 135, 210, 257, 259, 288, 304
452, 454, 458, 459, 460, 461, 462, Bardez 135, 210, 257, 259, 288, 304
463, 464, 465, 468, 471, 472, 473, Beira 406, 433, 529
Hist-da-Expansao_4as.indd 673 24/Out/2014 17:17
674 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Belém do Pará 183, 221, 265, 269, 271, 384, 407, 424, 435, 448, 459, 462,
274, 277, 329, 495 470, 483, 493, 536, 547
Benguela 182, 231, 232, 233, 234, 237, Buenos Aires 190, 225, 272, 275, 322,
262, 263, 277, 278, 279, 281, 282, 330, 331, 332
313, 315, 316, 334, 351, 352, 386,
424, 434, 436, 452, 461, 474, 493, Cabinda 263, 313, 334, 373, 398, 530
Benguela 182, 231, 232, 233, 234, 237, Cabo Verde 41, 57, 67, 68, 69, 72, 80, 86,
262, 263, 277, 278, 279, 281, 282, 87, 90, 119, 124, 138, 154, 159, 173,
313, 315, 316, 334, 351, 352, 386, 181, 185, 188, 205, 226, 227, 237,
424, 434, 436, 452, 461, 474, 261, 277, 278, 280, 301, 315, 352,
493 357, 359, 361, 365, 389, 404, 409,
Bijapur 211 425, 426, 427, 475, 487, 496, 523,
Bissau 227, 277, 334, 372, 410, 417, 460, 539, 540
514, 540 Cacheu 182, 190, 227, 277, 334, 410,
Bissau 227, 277, 334, 410, 417, 460 417
Boa Esperança, Cabo da 75, 79, 80, 110, Caconda 231, 316
154, 176, 189, 206, 260, 316, 381, Calicute 88, 90, 91, 92, 106, 107, 110,
427 124, 150, 176, 255, 256
Bojador, Cabo 18, 22, 48, 52, 55, 57, 59, Camboja 180, 196
60, 67, 72, 81, 84 Cananor 90, 91, 92, 108, 194, 209
Bolama 372, 384, 409 Castela 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36,
Bombaim 195, 207, 211, 218, 257, 318 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 53,
Bombaim 195, 207, 211, 218, 257, 318 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79,
Bonsuló 259, 260, 289, 290, 317, 318 80, 92, 94, 102, 109, 115, 119, 122,
Borgonha 29, 50, 58, 129 129, 133, 134, 138, 140, 146, 153,
Brasil 11, 12, 13, 69, 80, 87, 94, 97, 101, 154, 159, 168, 169, 171, 185, 190,
102, 118, 120, 130, 133, 134, 135, 206
136, 137, 138, 141, 146, 147, 150, Ceará 183, 184, 192, 221, 222, 339
154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, Ceilão 108, 135, 136, 150, 163, 169, 176,
169, 171, 178, 182, 183, 184, 185, 177, 180, 182, 193, 194, 206, 216,
186, 189, 191, 192, 199, 203, 204, 218
205, 206, 208, 218, 223, 224, 225, Ceuta 11, 17, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 35,
229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
238, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 46, 58, 59, 64, 65, 83, 116, 117, 119,
247, 249, 250, 251, 252, 256, 257, 124, 124, 126, 127, 132, 138, 145,
258, 261, 262, 263, 266, 267, 272, 165, 169, 188, 189, 547
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, Chaul 108, 212
282, 285, 287, 291, 297, 299, 300, China 11, 20, 111, 112, 118, 122, 123,
301, 302, 306, 310, 311, 312, 313, 125, 127, 135, 136, 139, 140, 150,
317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 151, 154, 158, 162, 169, 171, 177,
325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 178, 179, 180, 197, 198, 211, 215,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 216, 253, 254, 319, 347, 353, 503,
347, 348, 349, 351, 353, 356, 360, 504, 526, 527, 543, 549
363, 364, 366, 369, 370, 373, 382, Chipre 165
Hist-da-Expansao_4as.indd 674 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE TOPONÍMICO 675
Cochim 90, 91, 92, 107, 108, 111, 121, Estado do Brasil 205, 218, 224, 236, 237,
154, 155, 194, 208, 209, 305 240, 243, 247, 249, 266, 269, 271,
Colombo 75, 78, 79, 80, 88, 89, 150, 272, 273, 324, 336, 339
206 Estado do Grão‑Pará e Maranhão 265,
Congo 85, 86, 96, 122, 181, 230, 231, 267, 268, 269, 271, 274, 276, 277,
232, 254, 262, 314, 315, 373, 380, 297
384, 385, 387, 388, 391, 395, 396, Estado do Grão‑Pará e Rio Negro 274,
397, 398, 399, 407, 425, 427, 433, 311
445, 468, 509, 512, 513, 514, 516 Estado do Maranhão 183, 218, 219,
Coromandel, Costa do 217, 319 249
Corvo, Ilha do 114 Estado do Maranhão e Piauí 274
Coulão 108, 194 Estado Livre do Congo 384, 396, 397,
Cuango, rio 231, 232, 281, 316, 386 407, 445
Cuanza, rio 102, 147, 159, 182, 192, Estados Gerais das Províncias Unidas
230 206, 208, 209
Cuiabá 235, 247, 249, 269, 294
Cunene, rio 231, 263, 316, 500 Faial, ilha do 58, 208, 219
Fez, reino de 17, 25, 27, 35, 36, 38, 42,
Damão 135, 150, 257, 259, 283, 317, 43, 45, 46, 64, 65, 74, 77, 83, 86, 88,
318, 319, 409 114, 115, 119, 131, 132, 165
Diu 108, 132, 135, 149, 194, 211, 213, Flores, Ilha das 114, 196, 529
259, 283, 287, 318, 319, 409 Fogo, Ilha do 226
França 22, 28, 29, 78, 92, 133, 146, 147,
Egipto 76, 91, 119, 120, 131, 377, 399, 148, 165, 188, 206, 219, 237, 248,
510 250, 272, 286, 310, 317, 319, 320,
Espanha 165, 171, 188, 190, 191, 192, 329, 330, 333, 352, 357, 365, 369,
193, 198, 203, 209, 220, 223, 237, 378, 396, 401, 403, 410, 424, 452,
239, 240, 241, 245, 250, 252, 253, 501, 523, 529, 532
267, 272, 275, 319, 320, 322, 330, Funchal 41, 121, 148, 153, 155, 188
331, 332, 527
Estado da Índia 76, 107, 108, 109, 110, Gâmbia, rio 227
111, 112, 114, 117, 118, 119, 121, Goa 109, 111, 112, 126, 134, 135, 139,
123, 125, 126, 127, 130, 131, 133, 140, 141, 149, 150, 152, 154, 155,
134, 135, 137, 140, 143, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 170,
151, 152, 154, 156, 163, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182,
174, 175, 176, 177, 178, 182, 184, 189, 194, 195, 196, 206, 207, 210,
186, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
199, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 284, 288, 289, 291, 293, 298, 301,
218, 224, 230, 236, 247, 250, 253, 304, 305, 307, 317, 318, 319, 333,
254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 335, 353, 374, 409, 417, 426, 440,
264, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 502, 503, 518, 526, 544
291, 292, 293, 297, 298, 304, 305, Goiás 235, 242, 247, 249, 250, 269, 312,
317, 318, 354, 357, 414, 496, 502, 327
503, 513, 525 Golconda 194, 211
Hist-da-Expansao_4as.indd 675 24/Out/2014 17:17
676 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Guiné 21, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 404, 405, 407, 409, 410, 424, 428,
60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 433, 443, 444, 445, 448, 505, 529,
73, 74, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 537, 547
101, 119, 125, 126, 127, 132, 133, Inhambane 283, 284, 369
148, 157, 171, 181, 182, 185, 189,
226, 227, 228, 229, 261, 262, 275, Japão 11, 20, 78, 136, 139, 140, 151,
277, 277, 278, 279, 292, 334, 344, 152, 153, 154, 156, 157, 163, 169,
352, 357, 361, 365, 372, 401, 409, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179,
410, 411, 416, 417, 425, 439, 440, 180, 190, 193, 196, 197, 218, 510,
443, 447, 472, 473, 487, 496, 500, 549
507, 512, 513, 514, 516, 520, 523, Jerusalém 21, 78, 91, 105, 107, 108, 109,
524, 531, 532, 536, 537, 539, 540 114
Hirado 178, 179 Kagoshima 140
Holanda (ver Províncias Unidas) 185,
188, 190, 191, 192, 193, 194, 237, Larache 66, 85
256, 358, 392, 505 Leopoldville 516
Lisboa 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
Índia 11, 57, 62, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 36, 38, 39, 44, 45, 59, 67, 74, 77, 88,
77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 110,
89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 105, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 123,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 128, 130, 133, 142, 155, 156, 157,
114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 158, 168, 169, 171, 172, 173, 174,
124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 183, 184, 187, 188, 189, 213, 215,
135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 217, 222, 223, 235, 239, 240, 242,
148, 149, 152, 154, 155, 156, 159, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 253,
160, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 255, 257, 258, 259, 266, 268, 270,
171, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 271, 275, 280, 283, 284, 287, 289,
182, 189, 195, 197, 198, 204, 209, 290, 293, 297, 299, 301, 304, 305,
210, 213, 215, 222, 223, 242, 253, 312, 313, 318, 319, 323, 324, 325,
256, 257, 258, 260, 284, 286, 289, 327, 330, 333, 336, 338, 339, 348,
290, 292, 293, 304, 312, 317, 318, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 359,
335, 354, 358, 365, 374, 379, 380, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 373,
389, 394, 395, 417, 426, 461, 525, 375, 385, 386, 392, 394, 395, 399,
537, 548, 549 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407,
Indonésia 424, 526, 543, 544 411, 416, 423, 424, 426, 427, 429,
Inglaterra/Grã‑Bretanha 22, 24, 28, 29, 431, 432, 440, 444, 452, 457, 460,
78, 79, 88, 92, 130, 146, 148, 165, 461, 463, 469, 470, 475, 476, 477,
172, 174, 177, 188, 192, 195, 203, 482, 483, 485, 486, 490, 503, 504,
207, 208, 223, 237, 243, 256, 275, 511, 512, 513, 515, 518, 525, 527,
310, 311, 313, 317, 320, 323, 330, 528, 531, 539, 540, 541
332, 333, 334, 336, 337, 344, 349, Londres 123, 239, 243, 276, 302, 310,
352, 353, 354, 356, 359, 360, 361, 311, 330, 333, 360, 362, 363, 366,
362, 363, 365, 369, 373, 378, 380, 369, 389, 400, 402, 403, 405, 406,
382, 390, 394, 395, 396, 399, 400, 443, 444, 445, 503, 505, 512, 529
Hist-da-Expansao_4as.indd 676 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE TOPONÍMICO 677
Lourenço Marques 215, 284, 316, 334, Manica 215, 263, 284, 400, 403, 405,
352, 374, 380, 389,390, 394, 395, 406, 428, 429, 538
399, 400, 404, 415, 416, 426, 432, Maranhão 183, 184, 186, 192, 219, 220,
433, 441, 442, 444, 452, 460, 461, 221, 222, 243, 249, 258, 262, 265,
468, 470, 471, 475, 478, 482, 279, 280, 327, 339
540 Mariana 244, 245, 247, 308
Luanda 147, 152, 182, 184, 185, 186, Marraquexe 116, 117, 132
189, 193, 229, 230, 231, 232, 233, Mascate 177, 194, 211, 215, 244, 255,
234, 262, 263, 279, 280, 281, 282, 352
283, 287, 313, 314, 315, 316, 334, Massangano 192, 231, 375, 402
351, 352, 365, 371, 373, 380, 423, Mato Grosso 242, 249, 267, 312
433, 440, 444, 452, 460, 463, 475, Mazagão 125, 132, 145, 188, 271
483, 515, 517, 541 Meca 91, 92, 121, 127, 152, 212
Luanda 147, 152, 182, 184, 185, 186, Meliapor 194
189, 193, 229, 230, 231, 232, 233, Melinde 90, 107
234, 262, 263, 279, 280, 281, 282, Mina, São Jorge da 82, 83, 132
283, 287, 313, 314, 315, 316, 334, Minas Gerais 226, 235, 242, 243, 245,
351, 352, 365, 371, 373, 380, 423, 246, 266, 267, 273, 306, 307, 308,
433, 440, 444, 452, 460, 463, 475, 312, 327, 328, 337, 338
483, 515, 517, 541 Moçambique 90, 107, 108, 147, 163,
Lusaca 539, 540 182, 189, 195, 204, 211, 213, 215,
250, 259, 263, 281, 283, 284, 285,
Macau 137, 139, 141, 151, 152, 154, 286, 288, 292, 301, 316, 318, 319,
155, 159, 175, 176, 177, 179, 180, 334, 351, 352, 354, 357, 359, 360,
189, 190, 195, 196, 197, 198, 211, 362, 363, 364, 365, 369, 374, 375,
213, 215, 216, 254, 256, 294, 318, 380, 381, 385, 386, 387, 388, 390,
319, 333, 335, 336, 354, 355, 357, 391, 392, 395, 398, 400, 401, 402,
358, 409, 474, 496, 503, 504, 513, 403, 404, 406, 409, 410, 411, 412,
526, 527, 535, 543 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
Madagáscar 123, 215, 502 421, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
Madeira 28, 29, 39, 41, 46, 47, 57, 58, 431, 432, 433, 435, 439, 440, 441,
59, 67, 71, 86, 87, 88, 114, 119, 138, 442, 443, 444, 448, 451, 452, 453,
165, 188, 208, 219, 220, 221, 243, 454, 458, 461, 466, 467, 468, 469,
249, 277, 289, 333, 404 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
Malabar 91, 111, 175, 180, 194, 208, 478, 481, 482, 487, 491, 492, 496,
218, 319 499, 500, 512, 514, 516, 520, 523,
Malaca 89, 110, 111, 113, 122, 126, 134, 529, 531, 532, 534, 536, 537, 539,
135, 140, 149, 150, 151, 154, 155, 540, 541, 542
163, 175, 178, 186, 190, 196, 216, Moçambique, Ilha de 107, 182, 189, 195,
218 283, 284, 285, 286
Malásia 112, 113, 175, 424, 502, 507, Moçâmedes 313, 315, 365, 370, 427,
510, 533 431, 474
Malawi 401, 402, 403 Mombaça 211, 255
Mamora 118, 119, 127, 166
Mangalor 150, 212 Nagasaki 141, 151, 152, 153, 179, 180
Hist-da-Expansao_4as.indd 677 24/Out/2014 17:17
678 HISTÓRIA DA EXPANSÃO E DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Natal 192, 374, 426 Ribeira Grande 227
Negro, rio 220, 221, 269, 270, 277 Rio de Janeiro 146, 152, 159, 161, 163,
Niassalândia 433 174, 189, 190, 205, 207, 224, 225,
226, 236, 237, 238, 239, 241, 242,
Olinda 184, 244, 302, 309 245, 247, 250, 251, 261, 262, 267,
Onor 150, 212 369, 271, 272, 273, 274, 276, 279,
Ormuz 109, 110, 111, 112, 117, 123, 292, 300, 309, 310, 311, 312, 313,
131, 135, 149, 163, 177, 193, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
211 326, 327, 329, 330, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 348, 351
Paleacte 151 Rio Grande de São Pedro 240, 331
Pangim 288, 289 Rio Grande do Norte 337, 339
Pará 183, 219, 220, 221, 222, 249, 265, Rios de Sena 148, 259, 263, 283, 284,
268, 269, 270, 271, 274, 276, 277, 288, 316
279, 280, 311, 329, 337, 339 Rodes, Ilha de 121
Paraíba 11, 183, 258, 262, 276, 278, 279, Rodésia 426, 433, 435, 469, 480, 492,
297, 328, 337, 339
498, 507, 522, 529, 530
Paris 241, 247, 248, 272, 276, 366, 369,
402, 406, 444, 451, 455, 469, 470,
Safim 75, 116, 119, 132
489, 505, 512
Salsete 135, 210, 257, 259, 288
Pequim 170, 197, 253, 254, 504, 527,
Salvador da Baía 189, 222, 261, 272
543
Santa Catarina 239, 240, 241, 251, 252,
Pernambuco 136, 159, 169, 184, 185,
274, 275, 330
191, 221, 222, 223, 224, 238, 242,
Santa Cruz do Cabo de Guê 132
244, 246, 258, 262, 276, 278, 279,
Santa Helena, Ilha de 90, 173
297, 309, 337, 339, 352
Santa Maria, Ilha de 219
Pérsia 83, 89, 176, 181, 212
Santiago, Ilha de 68, 72, 93, 133, 188,
Pico, Ilha do 58, 240
Porto Santo 41, 58, 78, 188 226, 227, 237, 261
Prata, rio da 225, 239, 241, 267, 273, S. João Baptista de Ajudá 352, 518
275, 322, 330, 331, 332 São Jorge da Mina 82, 83, 132
Prazo de Massangano 402 São Jorge, Ilha 82, 93, 208, 237
Príncipe, Ilha do 70, 229, 237, 262, 275, São Luís do Maranhão 183, 221
292, 409, 446, 457, 539, 540 São Miguel, Ilha de 57, 124, 189, 208,
Província do Norte 102, 135, 150, 180, 219
182, 195, 204, 236, 257, 258, 259, São Paulo 138, 146, 152, 183, 189, 225,
Províncias Unidas (ver Holanda) 203, 226, 241, 243, 244, 245, 247, 250,
206, 207, 208, 209, 332 258, 259, 267, 269, 273, 274, 312,
317, 327, 328, 331
Quelimane 214, 284, 334, 375, 386, São Tomé, Ilha de 70, 86, 124, 138, 154,
387 159, 173, 184, 192, 226, 227, 229,
Quíloa 92, 108, 117, 211 237, 261, 262, 275, 292, 409, 446,
457, 539, 540
Recife 174, 184, 189, 192, 193, 223, 242, Senegâmbia 227, 409
244, 271, 377 Sião 180, 211
Hist-da-Expansao_4as.indd 678 24/Out/2014 17:17
ÍNDICE TOPONÍMICO 679
Sofala 21, 102, 107, 108, 147, 195, 215, Ugolim 151
284, 288, 429, 538 União Indiana 502, 518, 525, 526, 529,
Solor 216, 259, 358 544
Suazilândia 433
Vietname 180, 544
Tânger 43, 44, 50, 64, 65, 116, 123, 126,
127, 130, 132, 145, 164, 165, 188, Washington 505, 510, 511, 512, 528,
189, 195, 207 530
Tanzânia 512
Terceira, Ilha 58, 118, 169, 208, 237 Zaire, rio 232, 313, 385, 386, 388
Tete 214, 284, 316, 375, 406, 537 Zambeze, rio 102, 135, 148, 159, 169,
Tetuão 36, 66, 116 182, 214, 215, 255, 283, 294, 316,
Timor 151, 175, 195, 196, 197, 216, 217, 374, 385, 386, 387, 394, 400, 405,
221, 255, 256, 259, 260, 290, 344, 406, 429, 430, 444, 529
357, 358, 372, 409, 410, 416, 418, Zâmbia 403, 498, 536
439, 444, 455, 456, 472, 473, 475, Zimbabwe 401
481, 496, 513, 526, 543, 544 Zumbo 263, 284, 316, 401, 405, 406
Hist-da-Expansao_4as.indd 679 24/Out/2014 17:17
Hist-da-Expansao_4as.indd 680 24/Out/2014 17:17
Você também pode gostar
- História Da Inquisicao Portuguesa Marcocci e PaivaDocumento580 páginasHistória Da Inquisicao Portuguesa Marcocci e PaivaRenan BrantesAinda não há avaliações
- A Escola de Minas de Ouro PretoDocumento103 páginasA Escola de Minas de Ouro PretoSPUTNIKAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Econômico E Cultural Do Brasil ImpérioNo EverandO Desenvolvimento Econômico E Cultural Do Brasil ImpérioAinda não há avaliações
- Catalogo de Monedas en BrasilDocumento256 páginasCatalogo de Monedas en BrasilRichardison Da CostaAinda não há avaliações
- Aham Xii (2011)Documento432 páginasAham Xii (2011)Caio VilanovaAinda não há avaliações
- Universidade de Sao Paulo Escola PolitecDocumento253 páginasUniversidade de Sao Paulo Escola PolitecBruno Do CarmoAinda não há avaliações
- 9789724426228 (1)Documento3 páginas9789724426228 (1)oucontraditorioAinda não há avaliações
- AtasICongressoHistoriaMovimentoOperarioMovimentosSociaisPortugal Vol1 PDFDocumento399 páginasAtasICongressoHistoriaMovimentoOperarioMovimentosSociaisPortugal Vol1 PDFMono AmelioAinda não há avaliações
- Primeira Guerra Mundial (Martin Gilbert) - by Edivan PDFDocumento47 páginasPrimeira Guerra Mundial (Martin Gilbert) - by Edivan PDFJuliano Santos67% (3)
- Os Azulejos Da Sé Do PortoDocumento113 páginasOs Azulejos Da Sé Do Portovirtuesandvices100% (1)
- Formação Historica Do Brasil - Nelson Werneck Sodré PDFDocumento422 páginasFormação Historica Do Brasil - Nelson Werneck Sodré PDFRaphael Pedro100% (1)
- PROSPERI, Adriano. Tribunais Da Consciencia.Documento673 páginasPROSPERI, Adriano. Tribunais Da Consciencia.Marcus Vinícius ReisAinda não há avaliações
- A música e a boemia em Porto AlegreDocumento248 páginasA música e a boemia em Porto AlegreMarcio AlvesAinda não há avaliações
- Armindo de Sousa O Parlamento Medieval PDocumento11 páginasArmindo de Sousa O Parlamento Medieval PÁlvaro GalrinhoAinda não há avaliações
- Hist Bras Velhos Mapas Tomo IIDocumento13 páginasHist Bras Velhos Mapas Tomo IIpedrinhopimenta100% (1)
- OEstadoNovo e o Volframio (2010) .PreviewDocumento48 páginasOEstadoNovo e o Volframio (2010) .PreviewLucas CorreiaAinda não há avaliações
- Vegécio (2009) PDFDocumento535 páginasVegécio (2009) PDFMario Schutz100% (1)
- A estruturação do território ibérico da raia duriense e as vias de transporte: êxitos e fracassosDocumento966 páginasA estruturação do território ibérico da raia duriense e as vias de transporte: êxitos e fracassosCarla MarcelinoAinda não há avaliações
- Catalogo Monedas de BrasilDocumento256 páginasCatalogo Monedas de Brasilag5050100% (1)
- Conflito Brasil-Argentina: A Construção Jornalística Do "Caso de Santo Tomé"Documento201 páginasConflito Brasil-Argentina: A Construção Jornalística Do "Caso de Santo Tomé"Letícia Castro100% (1)
- A Arte Da Guerra em PortugalDocumento621 páginasA Arte Da Guerra em PortugalGuinevir XavierAinda não há avaliações
- Toponímia Moçárabe No Antigo Condado Conimbricense, TeseDocumento707 páginasToponímia Moçárabe No Antigo Condado Conimbricense, TeseTeresa SilvaAinda não há avaliações
- História pré-colonial de MoçambiqueDocumento320 páginasHistória pré-colonial de MoçambiqueMwenemutapa Fernando100% (1)
- Os Lusíadas, Os Lusitos, Camões E O Estado NovoNo EverandOs Lusíadas, Os Lusitos, Camões E O Estado NovoAinda não há avaliações
- Apostila ESA - HistóriaDocumento95 páginasApostila ESA - Históriaja dakk almsoAinda não há avaliações
- 1993 RicardoAbidCastilloDocumento161 páginas1993 RicardoAbidCastilloandre.busatoAinda não há avaliações
- Hervé Salgado Rodrigues - Campos, Na Taba Dos GoytacazesDocumento175 páginasHervé Salgado Rodrigues - Campos, Na Taba Dos GoytacazeslmachadocAinda não há avaliações
- Bens de Hereges. Inquisicao e Cultura MaDocumento430 páginasBens de Hereges. Inquisicao e Cultura MaThaísAinda não há avaliações
- Daee Chuvas 2013Documento283 páginasDaee Chuvas 2013Anderson MarinhoAinda não há avaliações
- Cancoes Completas Jose Henrique Lins 1 1Documento49 páginasCancoes Completas Jose Henrique Lins 1 1Maria Clara Estanislau do Amaral100% (1)
- Incendio Do Chiado PDFDocumento209 páginasIncendio Do Chiado PDFGuy DebordAinda não há avaliações
- 1945a - BARBOSA - Revista Do Serviço PublicoDocumento130 páginas1945a - BARBOSA - Revista Do Serviço PublicomonicainfantesouzaAinda não há avaliações
- 1.REGENCIA CORAL Principios BásicosDocumento223 páginas1.REGENCIA CORAL Principios BásicosMateus RochaAinda não há avaliações
- LE GOFF - Documento - MonumentoDocumento9 páginasLE GOFF - Documento - Monumentofernanda fehAinda não há avaliações
- Gramática Histórica Lingua PortuguesaDocumento200 páginasGramática Histórica Lingua PortuguesaBode PretoAinda não há avaliações
- História Brasil Velhos Mapas Tomo IDocumento13 páginasHistória Brasil Velhos Mapas Tomo IRodrigo QueirozAinda não há avaliações
- XVN A XIX: Fluxo E Refluxo DO Tráfico de Escravos Entre O Golfo Do Benin E A Bahia de Todos Os SantosDocumento9 páginasXVN A XIX: Fluxo E Refluxo DO Tráfico de Escravos Entre O Golfo Do Benin E A Bahia de Todos Os SantosLEOBNO BNOAinda não há avaliações
- Globalização, regionalização e soberaniaDocumento32 páginasGlobalização, regionalização e soberaniaSarahF.B.deMeloAinda não há avaliações
- Gil Vicente Compendio - PreviewDocumento48 páginasGil Vicente Compendio - PreviewTalula Montiel TrindadeAinda não há avaliações
- MENESES, Filipe Ribeiro de - Salazar - Biografia DefinitivaDocumento828 páginasMENESES, Filipe Ribeiro de - Salazar - Biografia DefinitivaCarlos Dos S. Menezes100% (7)
- Aham I - 2000Documento509 páginasAham I - 2000TEKService ValenciaAinda não há avaliações
- 0.624985001299183160 Edicao Dom 692 11Documento190 páginas0.624985001299183160 Edicao Dom 692 11ketelinvendausenAinda não há avaliações
- II Congresso Porto Romântico atasDocumento468 páginasII Congresso Porto Romântico atasAna CancelaAinda não há avaliações
- Educação, História e Historiografia - Alan Ricardo Duarte PereiraDocumento142 páginasEducação, História e Historiografia - Alan Ricardo Duarte PereiraAlexandre El Hage100% (1)
- Qdoc - Tips Palavras Dos Monges CartuxosDocumento206 páginasQdoc - Tips Palavras Dos Monges CartuxosPe-Jhony NeryAinda não há avaliações
- Olisipo (Lisboa), o Grande Porto Da Fachada Atlántica: Economía e Comercio.Documento642 páginasOlisipo (Lisboa), o Grande Porto Da Fachada Atlántica: Economía e Comercio.David AbellaAinda não há avaliações
- Santos e Demonios No Portugal Medieval PDFDocumento234 páginasSantos e Demonios No Portugal Medieval PDFbagdadAinda não há avaliações
- WOLFF, Philipp. Outono Da Idade Média Ou Primavera Dos Tempos Modernos PDFDocumento288 páginasWOLFF, Philipp. Outono Da Idade Média Ou Primavera Dos Tempos Modernos PDFNathalia Laurindo75% (4)
- Livreto Cep-04agosto2014 PDFDocumento28 páginasLivreto Cep-04agosto2014 PDFOsvaldo CruzAinda não há avaliações
- A Cidade Islamica de FaroDocumento110 páginasA Cidade Islamica de FaroHerberto SalvadorAinda não há avaliações
- Bruno Feitler - A Fé Dos Juízes - Inquisidores e Processos Por Heresia em Portugal (1536-1774) - Imprensa Da Universidade de Coimbra (2022)Documento340 páginasBruno Feitler - A Fé Dos Juízes - Inquisidores e Processos Por Heresia em Portugal (1536-1774) - Imprensa Da Universidade de Coimbra (2022)Adriana CamposAinda não há avaliações
- Aa PDFDocumento344 páginasAa PDFManuel CertalAinda não há avaliações
- DELUMEAU Jean Nascimento e Afirmacao Da ReformaDocumento393 páginasDELUMEAU Jean Nascimento e Afirmacao Da ReformaDaniele Ferreira100% (1)
- Os Prazos Da Coroa. AtualizadoDocumento8 páginasOs Prazos Da Coroa. AtualizadoJorge JuniorAinda não há avaliações
- História Da Indústria Das Sedas em Trás-os-Montes Volume 2Documento380 páginasHistória Da Indústria Das Sedas em Trás-os-Montes Volume 2João Alfredo Santos FerreiraAinda não há avaliações
- DEPENDÊNCIA FILOSOFIA - Kauã Francisco Dos ReisDocumento11 páginasDEPENDÊNCIA FILOSOFIA - Kauã Francisco Dos ReisKyuraKingAinda não há avaliações
- Formação HumanaDocumento1 páginaFormação HumanaMargareth MacielAinda não há avaliações
- ATRIBUTOSDocumento7 páginasATRIBUTOSItalo NascimentoAinda não há avaliações
- Modelo de plano de aula para estágio supervisionadoDocumento16 páginasModelo de plano de aula para estágio supervisionadoCarol Santiago0% (1)
- Ativ GEO 3ano 03 05Documento5 páginasAtiv GEO 3ano 03 05Amanda MattosAinda não há avaliações
- Exercicios NematelmintosDocumento3 páginasExercicios NematelmintosHellen Vitória NazaroAinda não há avaliações
- Como Nova Iorque reduziu os crimes violentosDocumento26 páginasComo Nova Iorque reduziu os crimes violentoscarlisonAinda não há avaliações
- Conceitos em EcologiaDocumento4 páginasConceitos em EcologiaRobertAinda não há avaliações
- A morte de Plínio Salgado e o fim de uma era para o integralismo brasileiroDocumento19 páginasA morte de Plínio Salgado e o fim de uma era para o integralismo brasileiroMarcus FerreiraAinda não há avaliações
- Senso ComumDocumento6 páginasSenso ComumDaiane NascimentoAinda não há avaliações
- Homens Sapos - Tormenta RPGDocumento6 páginasHomens Sapos - Tormenta RPGJackson Gotz0% (1)
- Espanhol Basico 18 29Documento12 páginasEspanhol Basico 18 29estela machadoAinda não há avaliações
- O Eterno Solitário (V-F)Documento5 páginasO Eterno Solitário (V-F)Helena CoutinhoAinda não há avaliações
- A geografia da solidariedade e os desafios dos lugares na contemporaneidadeDocumento8 páginasA geografia da solidariedade e os desafios dos lugares na contemporaneidadeSantiago VasconcelosAinda não há avaliações
- Cervical Unitau 2018Documento117 páginasCervical Unitau 2018Larissa G. O'FarrilAinda não há avaliações
- Manual Iex70Documento4 páginasManual Iex70Roberto Aluizio100% (1)
- Forma integral e diferencial das leis fundamentaisDocumento21 páginasForma integral e diferencial das leis fundamentaisBarbara Mylena AlmeidaAinda não há avaliações
- Professor Suplemento Valter ValenteDocumento4 páginasProfessor Suplemento Valter ValenteSimoneAinda não há avaliações
- Auditoria Interna EvidenciasDocumento47 páginasAuditoria Interna Evidenciasniltonsamaral100% (1)
- Exercícios de fixação sobre carga elétricaDocumento5 páginasExercícios de fixação sobre carga elétricaYasmim BarbosaAinda não há avaliações
- Adequação de torno à NR12Documento17 páginasAdequação de torno à NR12GEOVANI CESAR BERTOLLO0% (1)
- Lista de Porções AlimentaresDocumento5 páginasLista de Porções AlimentaresLuis Felipe CamargosAinda não há avaliações
- Apresentação Natal EvangelísticoDocumento16 páginasApresentação Natal EvangelísticoMaurilia AraújoAinda não há avaliações
- Universidade Federal Da Bahia Final TotalDocumento90 páginasUniversidade Federal Da Bahia Final TotalTales Pinheiro VasconcelosAinda não há avaliações
- ISECENSA - Resistência de MateriaisDocumento14 páginasISECENSA - Resistência de MateriaisSilvio EduardoAinda não há avaliações
- Músicas sertanejas e forróDocumento7 páginasMúsicas sertanejas e forróSamuka 20190% (1)
- Manual - Servico - DAFRA RIVA 150Documento135 páginasManual - Servico - DAFRA RIVA 150Flávio Franco100% (2)
- Exercícios de Materiais - Deformação, Tensão e ResistênciaDocumento4 páginasExercícios de Materiais - Deformação, Tensão e ResistênciaMarcos Vinicios Lima dos Santos0% (1)
- Crianças na NaturezaDocumento20 páginasCrianças na NaturezaCarolina CasariAinda não há avaliações
- Dilla Time A Vida e Pós Vida de J-Dilla o Produtor Hip-Hop Que Reinventou o RitmoDocumento472 páginasDilla Time A Vida e Pós Vida de J-Dilla o Produtor Hip-Hop Que Reinventou o RitmoJessé Martins100% (1)