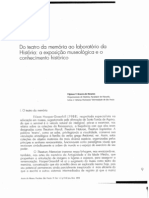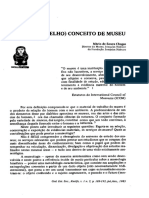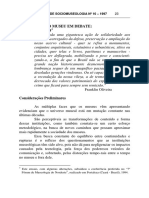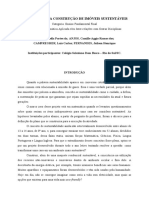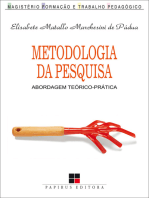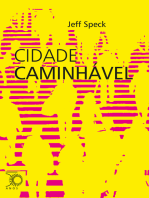Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 4 - A Comunicação em Museus Heloísa Barbuy
Enviado por
Lígia PolianaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aula 4 - A Comunicação em Museus Heloísa Barbuy
Enviado por
Lígia PolianaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A comunicação em museus e exposições em
perspectiva histórica
Heloísa Barbuy*
Introdução
Vamos enunciar algumas questões que se mostram muito presentes na atualidade,
que se colocam aos profissionais de museus neste momento e ocupam boa parte de nos-
sas discussões, de modo organizado ou informal. Seja por ainda não haver um distan-
ciamento em relação a essas questões — são questões do tempo presente —, seja porque
não há e provavelmente nem haverá respostas únicas ou precisas a que se possa chegar,
entendemos que o melhor que se pode almejar é contribuir para que tenhamos absoluta
clareza sobre quais são essas questões e quais tendências elas podem polarizar; sobre
haver, portanto, escolhas a fazer, e consequências que delas decorrerão; sobre haver
escolhas que podem mudar saudavelmente a cada projetoje^exposição que se inicia,
conforme seus propósitos e preocupações, e outras, de consequências temíveis, quando
se trata de políticas culturais públicas que pretendem uma homogeneização dos museus,
geralmente vinculadas a propostas ideológicas hegemónicas.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
113
HELOÍSA BARBUY
I. As questões
l. USO DE NOVAS TECNOLOGIAS: QUESTÃO DE CONTEMPORANEIDADE DA LINGUAGEM?
A exposição se realiza por meio de uma operacionalidade social ligadaàlinfiuagem1 r
e este, me parece, é o conceito-base deste seminário2. E a linguagem é sempre uma forma
de comunicação ligada a um tempo e lugar; aos grupos sociais que se relacionam por
meio dela ou com ela. Isto é: a linguagem é vinculada ao seu contexto histórico e social.
Seguindo esta lógica, presume-se que, ao conceber uma exposição, seus curadores
utilizarão a linguagem pertinente aojgujmSprio contento histórico e social, seja cons-
ciente ou inconscientemente, isto é, seja porque refletiram realmente sobre qual a me-
lhor maneira de se comunicar com os públicos que querem atingir, seja simplesmente
por pertencerem a seu próprio contexto e por isso utilizarem espontaneamente as lin- \
guagens que estão ali em vigor (pensamos aqui nos museus grandes e pequenos, nos
curadores profissionais mas também naqueles muitos responsáveis pouco profissional^
zados espalhados por museus de todos os tipos e condições).
Quererá isto dizer que, nos dias de hoje, em que a comunicação é eminentemente
intermediada por recursos tecnológicos, as exposições deverão, necessariamente, se uti-
lizar desta forma de linguagem? Ou será que as exposições de museus têm uma linguagem
própria, em função dos objetos e obras plásticas que normalmente expõem? Mas, se for
assim, se os museus tiverem uma linguagem própria, isto significa que estão apartados
dos contextos históricos e sociais a que pertencem? Sabemos que isto nem seria possível,
a não ser ao preço de um total anacronismo, que certamente acabaria por provocar o
desinteresse dos visitantes. o" T * /-~-^ •
Como, então, — e por que — os muitos museus que continuam a se comunicar de for-
ma dita tradicional - com objetos, obras plásticas e textos — continuam a atrair milhares
de visitantes? Uma razão possível é o fato de que a "linguagem das coisas" continua atual
1 DAVALLON, J. (dir.). Claquemurerpour ainsi dire tout 1'univers. La mise en exposition. Paris: Centre Georges
Pompidou, 1988. p.269.
2 Não por outra razão, certamente, a conferência de abertura deste evento foi solicitada a Jean Davallon.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
114
A COMUNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
porque a necessidade de contato com a realidade material, tridimensional, é inerente
ao ser humano, ao menos este ser humano que conhecemos até o momento3. Mesmo
"acoplado" a uma infinidade de dispositivos eletrônicos,4 este ser vive e transita espa-
cialmente em um corpo.5
Ao que parece, então, o museu não apenas tem uma linguagem própria como se des-
tina, em muitos momentos, a ser o espaço privilegiado para o reencontro com a comu-
nicação não intermediada por recursos tecnológicos, para a preservação não apenas de
objetos, mas da própria relação entre o homem e o objeto6 e da sensibilização e reflexão
'
sobre esta relação.
A partir dessa ideia, surge, então, uma outra pergunta: isto invalidaria ou ao menos
faria desmerecer o nome de museu àqueles que se utilizam massivamente de recursos
eletrônicos e audiovisuais? Creio que a resposta é: como princípio, não. As questões que
tornam válidas ou inválidas diferentes experiências museológicas não devem residir na
linguagem em si, nas formas de comunicação por si mesmas, mas na associação entre
essas formas e o objeto da comunicação, o tema, o conteúdo, a mensagem.
Podemos evocar aqui algumas formas de museus de ciências destinadas especial-
mente a jovens e crianças para a compreensão de princípios científicos por meio da expe-
riência concreta, que não podem prescindir de dispositivos tecnológicos. Esses dispositi-
vos são muitas vezes objetos em exposição - engenhos, máquinas -, mas esses engenhos
3 Até mesmo o ET dos filmes de ficção científica do cineasta Steven Spielberg, com sua enorme cabeça, com nova
conformação corporal decorrente do uso crescente do cérebro em detrimento de outras funções orgânicas e que pode
ser visto como uma prefiguração do ser humano futuro, até mesmo esse ET conserva a necessidade de tocar coisas e
pessoas, até mesmo ele mantém uma relação com o mundo material não intermediado. l^"
4 A ideia de que a relação física entre objetos e sujeitos pressupõe ação, performance e realiza cultura, é o ponto
central do pensamento antropológico de Jean-Pierre Warnier e seus seguidores a respeito do que seja cultura material
(cf. JULIEN, M. P.; K.OSSELIN, C. La Culture matérielle. Paris: La Découverte, 2Q05.passim).
5 A inerência da condição física ao ser humano e o museu como instrumento para ampliar a pouca consciência que
se constata a esse respeito tem sido reiterada por Ulpiano. T. Bezerra de MENESES. Ver, entre outros: MENESES,
U. T. B. "Para que serve um museu histórico?". In: MENESES, U.T.B.. (dir.) Como explorar um museu histórico. São
Paulo: Museu Paulista, 1992. p.3.
6 RÚSSIO, W. Museological Working Papers, 1980; definição revista pela autora em Cadernos museo/o'gicos, IBPC,
Rio de Janeiro, 1990, p.7: o fato museal caracteriza-se como "a relação profunda entre o Homem, sujeito que conhece,
e o objeto, parte da realidade à qual o ser humano também pertence e sobre a qual tem poder de agir, relação esta que
se processa em um cenário institucionalizado e ideal: o museu". (Agradeço a Marilucia Bottallo pela indicação desta
última referência).
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
115
HELOÍSA BARBUY
não são o objeto central; são mecanismos por meio dos quais é possível experimentar a
ocorrência de fenómenos físicos que são, estes sim, o objeto central do museu. Por exem-
plo, equipamentos que, ao desencadear correntes elétricas, fazem os cabelos de quem
os aciona subirem, demonstrando assim um fenómeno que é físico, material portanto,
mas que é em si mesmo invisível a olho nu. Mesmo no caso de haver objetos originais
expostos, todo o aparato expográfico é cuidadosamente elaborado, normalmente, nos
museus de ciências, a fim de tornar claras e didáticas ideias complexas desenvolvidas no
âmbito da Ciência7.
Lembramos também dois casos de museus criados recentemente em São Paulo e
que têm recebido um grande público e gerado certa polémica no meio profissional: o
Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol. No primeiro caso, o objeto central
do museu é a língua portuguesa, algo que não é visível, que só é apreensível por meio de
sons ou de sinais escritos (sejaa_escrita apreensível pela visão, seja pelo tato). No segun-
do caso, o objeto central é o futebol, algo que é essencialmente movimento e, pensando
nas torcidas, algo que é, centralmente, emoção coletiva. Nestes casos, então, parece-me
que o uso de recursos eletrônicos é muito indicado. Seria muito empobrecedor tratar a
língua apenas com seus suportes tradicionais (como os livros) ou tratar o futebol apenas
com aqueles suportes que são, na verdade, acessórios de sua realização: camisas, chutei-
ras, bolas, taças e assim por diante. Que interesse despertariam? U—'
É claro que existe também uma questão de dosagem no uso dos recursos tecnológi-
cos. E que podem ser assumidos apenas como recursos acessórios, usados, de preferên-
cia, em recintos separados das exposições principais8, quando isto é possível. Entretanto,
um grande problema se coloca quando o uso da tecnologia se torna apenas uma estraté-
gia para atração de públicos e chegamos aí a uma segunda questão.
7 Sobre comunicação em museus de ciências, ver, entre outros, CHELINI, M. J. E. Exposições em museus de ci-
ências: reflexões e critérios para análise. Anais do Museu Paulista, São Paulo, N. Ser., v. 16, n.2, p.205-238, jul.-dez.
2008.
8 G. H. Riviere já chamava a atenção para o fato de que "a emissão visual e sonora dos aparelhos traz o risco, toda-
via, de prejudicar o ambiente dos objetos e modelos, os componentes mais importantes da exposição. Daí a necessida-
de de se realizar um isolamento acústico ou óptico dos campos a serem cobertos pelas emissões" (RIVIERE, G.H.. Lê
role du musée d'art et du musée de sciences humaines et sociales. Paris, Museum, v.25, n. 1/2, p.29, 1973).
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
116
A COMUNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
2. ESPETACULARIZAÇÂO VERSUS CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA?
Uma das críticas mais frequentes que se faz aos museus que usam massivamente a
linguagem que se considera a mais atual, intermediada por recursos tecnológicos, é a
transformação dos museus ernjn^ip^ecomunicação de massas, que, como tal, tornam-
se, na verdade, poderosos adestradores ou, no mínimo, idiotizantes, em sentido total-
mente contrário àquele que aprendemos ser o papel social dos museus como instrumen-
tos para a conscientização e a aquisição da cidadania.
Neste sentido, a espetacularização da cultura pode jogar o museu na vala comum
das diversões de massas que são um grande sucesso de público com pouco, porém, a di-
zer, destinadas apenas ao escape, à evasão. As exposições espetacularizadas, muitas vezes
por meio de recursos eletrônicos, podem igualar os museus aos parques temáticos, aos
filmes de ficção, aos megashows, aos jogos eletrônicos e assim por diante. Podem se tor-
nar, assim, passatempos vazios com bilheterias rentáveis e muito pouco resultado no que
diz respeito ao desenvolvimento social. Ou, pior, podem criar falsas ideias, por exemplo,
sobre a História ou sobre identidades culturais ou nacionais.
Entretanto, as diversões de massas são normalmente democráticas, no sentido de que
são acessíveis à imensa maioria. São acessíveis, entre outros aspectos, no que diz respeito
justamente à linguagem. Então, pergunta-se: talvez os museus espetacularizados possam
ter, afinal, um papel social? Ao tratarem, por exemplo, da História, poderão, minimamen-
te, promover uma conscientização a respeito do tempo, da ocorrência de mudanças e de
permanências ao longo do tempo, de diferenças culturais, simplesmente da existência de
processos históricos para pessoas que nunca pensaram sobre isso? Poderão ser, talvez, para
muitos, uma porta de entrada, um descortinar de dimensões novas e enriquecedoras?
Vemos aí que a linguagem que atrai as massas pode ser entendida como um instru-
C mento que promove seu adestramento ou sua alienação ou, em sentido oposto, como
S uma operação bem-sucedida de comunicação que consegue estabelecer diálogo com a
toaioria. E aí se pode perguntar se, para se conseguir uma comunicação eficiente, será
preciso simplificar o conteúdo das mensagens; se as exposições são, de fato, meios de
comunicação destinados a mensagens mais simples.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
117
HELOÍSA BARBUY
3. POPULAR VERSUS ERUDITO? MUSEUS DEMOCRÁTICOS VERSUS MUSEUS PARA AS ELITES?
Chegamos então a uma outra questão que se mantém atual, relativa a uma persistente
separação entre os universos das exposições populares e das exposições eruditas (quan-
do falamos no plano intelectual); ou entre museus democráticos e museus para as elites
(no plano sócio-econômico). E esta polarização se traduz, frequentemente, no campo da
tipologia de museus, colocando-se os museus de Arte, especialmente os de Arte Contempo-
rânea, como museus de elite enquanto os outros museus, de História, Arqueologia, Antro-
pologia ou Ciências, como museus que se destinam a públicos mais populares.
A existência de diferentes grupos e classes sociais é um fato inegável e as diferenças
se traduzem, entre outras coisas, na existência de diferentes maneiras de ver, perceber o
mundo. Um outro fato é que as elites, sejam financeiras e/ou intelectuais, tendem a que-
rer manter as diferenças que a caracterizam como classe e isto tem implicações, inclusive,
em seus gostos e seus códigos visuais. Daí a realização de exposições que supostamente só
essas elites poderão compreender; que somente elas serão atraídas a visitar, a ver.
O próprio financiamento de exposições se submete, muitas vezes, a esta lógica: as
verbas são dadas para projetos ao "gosto das elites" ou para a "educação das massas".
É como se houvesse um abismo entre o gosto educado e o gosto popular. Entre o
indivíduo preparado para compreender e criar exposições altamente refinadas, que exi-
gem conhecimentos prévios, ou exposições de vanguarda, "antenadas" nos novos rumos
e tendências, que poucos têm capacidade de perceber (e isto se associa, muito frequen-
temente, às vanguardas artísticas), e um outro universo, que é o universo da maioria, do
cidadão comum, para quem as exposições de museus são oportunidades democráticas
de acesso a todo um mundo de temas e acervos, sentidos como tesouros ou como chaves
para uma riqueza cultural imensa da qual se consegue, ali, como que capturar alguns
fragmentos. Porque são visíveis. Apreensíveis.
É para esses públicos de cidadãos comuns que se organizam, então, as exposições
mais acessíveis, que usam formas de representação mais realistas, como as reconstitui-
ções de ambientes ou as narrativas cronológicas que criam um panorama lógico e enca-
deado deste ou daquele tema, de História, de Ciências, de movimentos artísticos.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
118
A COMUNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
São formas eficientes de comunicação, mas cria-se aí um desafio que tem sido difícil
de vencer, que é o de se conseguir tratar temas complexos com linguagens compreensíveis
e oferecer elementos que possam servir de conexões com os universos conhecidos dos visi-
tantes9, sem contudo cair em simplismos excessivos ou em falseamentos inaceitáveis.
4. RECORRÊNCIAS VERSUS EXCEPCIONALIDADE?
Há museus que escolhem coletar e expor exatamente aqueles objetos que são os
mais recorrentes, isto é, os que foram mais usados e são, portanto, mais representativos
das culturas de que se quer tratar. São museus que poderíamos chamar, em sentido am-
plo, de antropológicos.
Outros museus têm como critério de coleta justamente a excepcionalidade, seja por
qualidade artística, seja por raridade das obras ou objetos que pretendem preservar e
expor.
Estas tendências seriam opostas entre si? Para uns, a chamada "peça de museu" não
pode e não deve ser algo banal. Para outros, os critérios antropológicos, que são critérios
culturais, são os mais indicados paramelhor contextualizar desde o objeto banal até o
objeto excepcional.
5. MERGULHO OU DISTANCIAMENTO?
Normalmente, os curadores de exposições desejamjpgrar uma conexão com o pú-
blico visitante. Pretendem que suas exposições atraiam pessoas e sejam por elas compre-
endidas ou apreciadas. Podem priorizar o sucesso de público ou o sucesso junto a seus
colegas e à crítica especializada mas, de um modo ou de outro, esperam que suas exposi-
ções sejam bem-sucedidas no sentido de atingir um público.
Seja como estratégia para se chegar a este objetivo, seja pela própria maneira como
emitem suas mensagens, muitas vezes optam por atingir o público oferecendo um mer-
9 Sobre a interação com os visitantes, ver CURY, M. X. Comunicação museológica: umaperspeciva teórica e metodo-
lógica de recepção. São Paulo, 2005. Tese de Doutorado — EGA. p.75ss. epassim.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
119
HELOÍSA BARBUY
gulho no universo apresentado, tocar a sensibilidade mais que o intelecto, propiciando
a apreensão da exposição por meio de uma vivência próxima das coisas que são mostra-
das ou dadas a sentir. Isto pode ou não conter apelos emocionais, mas a questão central
não é a emotividade e sim a sensorialidade e a capacidade de apreensão da realidade,
,> não apenas intelectualmente. Outras vezes, a mensagem é prioritariamente intelectual,
oferecendo-se contextualizações, explicações, elementos explicativos.
As divergências, aqui, giram em torno de algo que poderíamos chamar de "ética de
curadoria", isto é: seria lícito envolver o visitante atingindo sua sensibilidade irracional,
aproveitando sua pré-disposição positiva para transportar-se ou emocionar-se, para criar
nele uma empatia com a realidade exposta, sem, contudo, propiciar uma postura críti-
ca e reflexiva, que, esta sim, teria um papel conscientizador? Em outras palavras, seria
moral levar o visitante a uma imersão por vezes acachapante, sem lhe oferecer reais pos-
sibilidades de indagações ou dúvidas, fazendo dele mais objeto que sujeito? Por outro
lado, não são também a sensibilidade e a sensorialidade meios humanos de conhecer a
realidade? Aqueles tipos de conhecimentos que não são intelectuais, também não pode-
riam ser, porventura, meios para questionamentos, dúvidas e conscientizações até mais
profundas do que aquelas processadas apenas racionalmente?
II. Perspectiva histórica
Em perspectiva histórica — por ver na História uma poderosa ferramenta para o es-
clarecimento - propomos uma viagem exploratória por uma história das exposições, no
sentido de buscar subsídios para uma melhor compreensão dos museus hoje.
A plataforma de embarque serão os gabinetes de curiosidades dos séculos XVI ao
XVIII, que são microcosmos (no sentido de resumos do mundo10) constituídos em ra-
zão do fascínio e do interesse intelectual pelo mundo material, visível, que instiga seus
mentores naquele período histórico. O gabinete de curiosidades é, então, um espaço em
que coisas selecionadas são reunidas para se tornarem, também individualmente mas
10 Entre outros, SCHNAPPER, A. Lê Géant, Ia licorne, Ia tulipe: collectionsfrançaises au XVIIe siècle. Paris: Flam-
marion, 1988. p.9.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
120
A COMUNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
sobretudo em seu conjunto (que compõe um sistema), objeto de experimentação, de ob-
servação, de estudo. É aquele espaço que Adalgisa Lugli (autora-chave para nós) situou
entre os que, ao longo do tempo, "formaram a base daquilo que constitui, atualmente,
uma experiência, que nos é tão familiar, de um espaço vivido coletivamente e carregado
de significados simbólicos: o museu"11. E o museu, então, nesta perspectiva, é um lugar
ondj^ejexDÕem coisas, dejmodo sistémico. Um lugar que, ao ser experimentado, "age
profundamente não só sobre nosso imaginário figurativo, como é natural, como tam-
bém sobre nossa relação com o próprio espaço"12.
Autores como Adalgisa Lugli e Antoine Schnapper mostram-nos que os gabinetes
nãqeram de um só tipo. Embora estes autores busquem e alcancem formular aqueles tra-
ços constantes e reiterados que permitem sua categorização genérica como "gabinetes
de curiosidades", apresentam nuances importantes que fazem diferenciar os gabinetes
científicos das câmaras de maravilhas, dos tesouros de igrejas e assim por diante.
Lugli diferencia, ainda, os gabinetes das galerias, diferenças estas que se expressam
em suas conformações espaciais. Os gabinetes são espaços individuais, que têm o cole-
cionador ao centro. Neles há a ideia de que existe um conjunto unificado, sem recortes
ou especializações, cujas características serão decifradas aos poucos. São uma forma ex-
perimental de coleção que mobiliza as energias intelectuais para o conhecimento apro-
fundado dos objetos. Já as galerias são espaços sociais que pressupõem um percurso e
uma conversação que fazem parte da apreciação das coisas expostas. Os objetos são ex-
postos em ordem progressiva e hierárquica. Expressam um gosto pelo belo, o prazer de
colecionar, o orgulho de exibir.
Talvez aqui possamos identificar questões de interesse que possam tornar aquilo a
que chamamos, hoje, "tipologia de museus", não somente uma classificação organiza-
cional definida por tipos de acervo e sim uma classificação conceituai da qual possamos
extrair mais do que apenas o estabelecimento de rotinas específicas de curadoria, para
melhor compreendermos a natureza das instituições a que estamos nos referindo.
11 LUGLI, A. Naturalia et Mirabilia: lês cabinets de curíosilés en Europe. Paris: Adam Biro, 1998. p.31. (Publicado
originalmente em italiano, por Gabielle Mazzotta, em Milão, em 1983).
12 Id. Ibid. p.33-34.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
121
HELOÍSA BARBUY
A maior parte desses autores, porém, nos fala de gabinetes de curiosidades eruditos,
constituídos por professores, cientistas, clérigos, reis e nobres, que tinham, essencial-
mente, objetivos de estudo ou de deleite refinado. Mas em 1904, David Murray13, um dos
precursores no estudo dos gabinetes, já nos falava da existência também de gabinetes
de curiosidades instalados em cafés e outros ambientes populares de Londres no século
XVIII, assunto que décadas depois foi iluminado por Altick14, num estudo sobre cultura
popular urbana no qual fez ricas conexões entre temas como história do gosto popular
(preferências para diversão), interação cultural entre diferentes classes e o binómio ins-
trução-diversão (vulgarização), do século XVII ao XIX. Entre as diversões populares que
ele recupera estão esses cafés de Londres que, no século XVIII, apresentavam exposições
de curiosidades para atrair e agradar a clientela. \^~
Essas formas de exibição de coisas, sem caráter erudito, em diferentes ambientes
abertos ao público, expressa^uma_cultura da curiosidade, em âmbito popular e urbano,
que é também uma cultura visual de exposições, em sentido amplo, que Altick identifica
como uma "forma popular de baconianismo": as coisas acima das palavras, proporcio-
nando "diversão e instrução", apreendidas por um "senso popular de maravilha" e de
um "senso estético rudimentar".
Estamos, então, diante de outra das questões sobre as quais precisamos ou pode-
mos refletir atualmente: a permanência de uma separação entre exposições eruditas e
exposições populares.
Há todo um universo de transição, entre a cultura medieval e o Renascimento, no
qual os fenómenos naturais que antes eram tomados como mensagens divinas, vão pas-
sando, então, a ser conceituados como "curiosidades" e "maravilhas", isto é, caminham,
sutilmente, para a laicidade15. Nesse contexto, o desenvolvimento dos gabinetes de His-
tória Natural foi o que melhor correspondeu aos caminhos que viriam a separar, em
direções diferentes, a religião e a ciência.
13 MURRAY, D. Museums, their history ans their use. London: Routledge/Thoemmes, 1996. v.l, p.!71ss. (l.ed.
Glasgow: J. MacLehose and sons, 1904).
14 ALTICK, R. The shows of London. Cambridge-Massachusetts: The Belknap of Harvard University Press, 1978.
p.17-21.
15 LUGLI, A. Op. cit. P.52ss.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
122
A COMUNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
Mesmo um autor religioso como Francis Bacon (1521-1626), afirmou que havia
dois grandes livros: o Livro das Escrituras, revelador da vontade divina, que indica o que
Deus quer que os homens façam, e o Livro da Natureza (ou Livro da Criação), que expri-
me o poder de Deus, ao mostrar o que Ele fez. Para ler as Escrituras, seria mobilizada a
fé, mas para interpretar o Livro da Natureza, deveriam ser usadas apenas as ferramentas
da objetividade: observação, comparação, raciocínio lógico16.
Assim foi que a História Natural, desenvolvida nesses princípios, que são os da ra-
cionalidade científica, esteve na base de novos tipos de exposições. A experimentação
exigia coleções organizadas de modo apropriado para se realizar, isto é, precisava de um
museu-escola-laboratório no qual se pudessem ensinar os novos modos de entender o
mundo, de interpretar o Livro da Natureza, a partir da observação das coisas.
O próprio Bacon prega (ou prevê) os museus modernos em À Nova ÀfMn f ida, única
obra sua em forma de utopia, género literário em voga nos séculos XVI e XVII. Foi conce-
bida por Bacon, de acordo com as palavras de um seu discípulo (W. Rawley):
(...) a fim de poder nela apresentar um modelo ou uma descrição de um
colégio que seria fundado visando-se a interpretação da natureza e da pro-
dução de grandes e maravilhosas obras para o bem de toda a humanida-
de.17
Narra uma viagem como metáfora para os caminhos de descobertas da ciência,
como processo aberto voltado para as coisas a conhecer, o desconhecido a descobrir,
leis da natureza a explorar progressivamente. Fala da reconstituição de um saber perdi-
do, de um laboratório, de um projeto de mundo. Descreve detalhadamente esse mundo
utópico e nessa descrição destacamos algumas passagens, nas quais podemos ver ideias
de exposições e museus:
as Casas de óptica, onde se procede à apresentação de todas as luzes, todas
16 BACON, F. The Proficience and' Advancement ofLearning Divine andHumane, 1605.
17 Para uma análise aprofundada da obra de Bacon, ver as introduções de LÊ DOEUFF, M., às edições francesas das
obras aqui citadas: Du progrès et de Ia promotion du savoir (Paris: Gallimard, 1991) e La Nouvelle Atlantide (Paris:
Flammarion, 2000).
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
123
HELOÍSA BARBUY
as colorações das luzes, todas as ilusões que podem enganar a vista quanto à
figura, o tamanho, o movimento e a cor;
as Casas dedicadas aos erros dos sentidos: enganos, aparições enganosas,
fantasmas;
duas Galerias, muito longas e belas. Numa delas, expõem-se todos os tipos de
modelos e amostras, de invenções raras e importantes. Na outra, expõem-se
estátuas dos mais insignes inventores;
Na Atlântida utópica de Bacon, o conhecimento se constrói em progressão e
por isso pressupõe a preservação de tudo o que foi produzido anteriormen-
te. Ensina ser preciso que uma instituição possa atravessar os séculos para
garantir a continuidade dessa preservação, que embasa o trabalho e o conhe-
cimento de diferentes gerações.
Estavam dadas as chaves para a constituição daquele que é considerado o pri-
meiro museu moderno, um centro baconiano em Oxford, o Ashmolean Museum18.
A direção estava dada e com seu desenvolvimento ulterior, podemos dizer que o
século XVIII foi o século da História Natural, com intenso desenvolvimento dos
estudos sistemáticos da natureza. Tais estudos vinculam-se, intrinsecamente, às
classificações de espécimes, que passam a ser fisicamente organizados de acordo
com os princípios classificatórios em vigor. Daí resulta a prática das exposições
como organizações visuais correspondentes a um pensamento lógico, explicativo
da própria Natureza e assim do mundo. Tais organizações expositivas, exatamente
pela clareza lógica que a visualidade proporciona, tornam-se didáticas por exce-
lência. O ensino se dá por uma apreensão pela visão. Roland Schaer19 nos fala de
uma "experiência sensível" e João Brigola de um "pensamento visual" e de uma
"aprendizagem sensível"20. É assim que o museu se institucionaliza como centro
18 A situação do Ashmolean Museum como centro baconiano e a importância de Bacon para a história dos museus
foi apontada por Roland SCHAER. Uinvention dês musées. Paris: Gallimard, 1993.
19 SCHAER, R. Dês encyclopédies superposés. In: Chamai GEORGEL. Lajeunesse dês musées: lês muse'es de France
auXDÍe siècle. Paris: Réunion dês musées nationaux, 1994. p.38-51.
20 BRIGOLA, J. C. P. Colecções, gabinetes e museus em Portugal no século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2003.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
124
A COMUNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
científico com papel pedagógico.
Chegamos ao^século XIX numa confluência entre o empirismo
do pelajlistória Natural e a nrganigação rarirmal rln fpmpn P dos movimentos corporais
disciplinados pelamáquina e os sistemas fabris. O início do século XIX é um momento
de uma ruptura, de uma revolução na visualidade, que estabelece um novo tipo de ob-
servador21. A percepção das novas realidades - centros urbanos maiores, a produção in-
dustrial, os deslocamentos inusitados promovidos pelas viagens de trem, pelo telégrafo
e os fluxos de informações tipográficas e visuais, fazem surgir esse novo observador, que
é o "homemJmpderno", atento a todas as novidades e, ao mesmo tempo, adestrado para
elas, talvez mais objeto que sujeito.
É neste contexto que o museu floresce, se expande e atua, no dizer de Chantal Ge-
orgel, como "uma metáfora do século XIX", inserido nas forças modernas desse tempo:
no campo das revoluções políticas e sociais, o museu corresponde ao estabelecimento
das noções de um património cultural público, de um direito do povo a possuir aquilo
que é propriedade universal do género humano, bem como às ideias de preservação e
legados para a posteridade. Como instituição potencializada pela sociedade industrial,
o museu participa de sua lógica e constitui, com suas exposições de coleções, espetáculos
de acumulação inscritos no espaço urbano22.
Neste sentido, está ao lado das galerias comerciais e das grandes lojas, estabelecen-
do comunicação na linguagem de seu tempo23. O que o distingue, porém, é sua função
didática. Diz Roland Schaer que
(...) conduzido pelo crédito que se confere à experiência sensível na elabo-
ração e transmissão do saber e do saber-fazer, o museu ocupa seu lugar nos
dispositivos da difusão das Luzes, depois da Instrução: é o lugar para uma
enciclopédia material de vocação didática.24
21 Esta é a tese central de Jonathan CRARY. Techniques ofthe observer on vision and modernity in the nineteenth
century. Massachusetts/London: October Books, 1990.
22 GEORGEL, C. La jeunesse dês musées: lês musées de France au XIXe siècle. Paris: Réunion dês musées
nationaux, 1994.
23 BARBUY, H. A Cidade-Exposição: comercio e cosmopolitismo em São Paulo, 1860-1914. São Paulo: EDUSP, 2006.
p.70-87; 227-230.
24 SCHAER., R. Dês encyclope'dies superposés, p.44.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
125
HELOÍSA BARBUY
Organizam-se, também, exposições industriajs_que, na segunda metade do século
XIX, ganharão contornos muito mais amplos nas exposições universais. Estas, como ob-
jeto de estudos, são campo infinito de interesse. Apontaremos aqui apenas alguns desses
interesses.
Nas exposições universais, há uma correspondência entre estruturas expositivas e
visões de mundo jxróprias da sociedade industrial das quais emanam. A Exposição de
1867 em Paris atinge a perfeição neste aspecto com seu grande Palácio elíptico, que se
organiza por um grande eixo sobre o comprimento, um Jardim Central, 16 aleias trans-
versais (vias radiais) e, entre as vias radiais, os Setores. Vias concêntricas atravessam as
radiais. Nos Setores se distribuem os produtos e matérias-primas expostos, por ramo de
produção e por país, o que organiza o mundo de acordo com os papéis que se atribui a
cada país ou região do globo.
Algumas práticas, estratégias e conformações expositivas que estão presentes nesses
eventos revelam-nos valores e formas de comunicação didática que lhes correspondem,
em vigor na sociedade industrial25:
Profusão — a exibição de artigos industrializados em grande quantidade e variedade
é recorrente nos recintos das exposições universais: destina-se ao impacto visual e a dei-
^ xar uma impressão residual no visitante, pretendendo-se provocar sua admiração pelo
poder da indústria e seduzi-lo para o consumo.
Vitrines — passam a integrar corriqueiramente os recintos expositivos e indicam a
necessidade de proteção de objetos de algum modo preciosos, que precisam ser vistos,
realçados, mas não podem ser tocados.
Demonstrações — são formas didáticas de explicar os processos de fabricação, o uso
de máquinas ou as novas invenções. Podem ocorrer em forma de dioramas, panoramas
e outros dispositivos destinados à criação de imagens realistas, que dêem a impressão de
tridimensionalidade; de espetáculos feéricos, normalmente também à base de efeitos
luminosos e ilusões de óptica; de aparelhos científicos que permitem perceber universos
desconhecidos ou ver, de outro modo, aquilo que é cristalizadamente conhecido. Entre
25 BARBUY, H. A Exposição Universal de 1889 em Paris: visão e representação na sociedade industrial. São Paulo:
História Social USP/Loyola, 1999.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
126
A COMUNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
outros, apontemos aqui, na Exposição Universal de 1900, em Paris, a existência de um
/
Palácio de Óptica, com uma enorme luneta de 60 metros de comprimento e 1,50 metros
de diâmetro, e de um Palácio de Ilusões, onde espetáculos à base de jogos de luzes e
espelhos mostravam a relatividade do real. Algumas das demonstrações de máquinas e
inventos podiam trazer experiências que chamaríamos, hoje, de interativas. Foi o caso,
por exemplo, do fonógrafo de Edison que, recém-inventado, foi apresentado na Exposi-
ção de 1889, de modo que o visitante podia colocar fones de ouvido para escutar os sons
ali gravados e emitidos.
Retrospectivas — eram recorrentes as exposições retrospectivas sobre diferentes te-
mas, que traziam uma visão evolucionista da História e tornavam o passado uma etapa
percorrida para se chegar à excelência do tempo presente. , /
No Brasil, é no século XIX que se inauguram os primeiros grandes museus públicos
do país: o Museu Real, depois Nacional (1918), o Museu Goeldi (187126), o Museu Pa-
ranaense (1876) e o Museu Paulista (189527). São, naquele momento, esforços civiliza-
tórios, isto é, criados na esteira de toda a tradição ocidental de museus e exposições que
procuramos sintetizar aqui. Há algo de transplante nessas operações, isto é, planta-se em
solo brasileiro um tipo de instituição que vem da Europa e que, por muito tempo, busca-
rá aqui sua própria identidade como instituição nacional.
No século XIX, o país faz um grande esforço para se inserir nos sistemas internacio-
nais e por isso adere também ao sistema das exposições internacionais, sendo um de seus
mais assíduos participantes. No início do século XX, organiza, no Rio de Janeiro, duas
grandes exposições, em 1908 e em 1922.
Na segunda metade do século XX, os valores e práticas difundidos pelo ICOM des-
de a sua criação, após a II Guerra Mundial, que foram depois articulados e nuançados
nos diferentes movimentos que foram reunidos sob a denominação genérica de "Nova
Museologja^com destaque para os ecpmuseus, tiveram alta adesão no Brasil e fizeram
ressaltar a função social do museu.
26 Data de abertura ao público definida por CRISPINO, L. C. B.; BASTOS, V. B.; TOLEDO, P. M. (org.). As origens
do Museu Paraense Emílio Goeldi: aspectos históricos e iconográficos (1860-1921). Belém: Paha-Tatu, 2006. p.51.
27 A criação jurídica do Museu Paulista data de 1893.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
127
HELOÍSA BARBUY
Quanto aos acervos, promoveram a inserção, nos museus, de novos tipos de objetos.
Nos museus de história, estes movimentos, associados à difusão também intensa da Nova
História, dentro e fora dos meios académicos, fizeram com que qualquer objeto do co-
tidiano mais banal passasse a ser uma peça de museu em potencial. É verdade que hoje,
lutamos com os problemas conceituais de seleção de acervos e da preservação de uma
imensa gama de objetos que veio a integrar os acervos dos museus, mas os ganhos foram
imensos.
p. Nas exposições, ganharam terreno as preocupações com as temáticas de interesse
7
, j coletivo e popular e com a comunicação e participação das comunidades envolvidas ou
Qfe^ dos visitantes (que se ensaiou chamar de usuários).
, (~ Houve e há muitas experiências com este sentido. Lembramos aqui o Museu da
Cidade de Salto (Estado de São Paulo), inaugurado em 1991 como "museu-percurso",
constituído na filosofia dos ecomuseus, concebido com a participação de representan-
tes da sociedade organizada local, sob coordenação do museólogo Júlio Abe Wakahara.
Era formado por uma sede, dois núcleos externos organizados em torno de património
histórico e ambiental existente em dois grandes parques municipais e dez pontos de re-
ferencia no espaço urbano. Foi uma experiência bem-sucedida, para os nossos padrões,
inclusive por se manter até os dias de hoje e com uma boa visitação, apesar de se resumir,
atualmente, àquela que era originalmente apenas a sua sede.
Nesta sede, por se tratar de uma cidade fabril, objetos e fotografias foram sistema-
tizados para falar da história de Salto, tendo como eixo a estreita relação entre a emer-
gência e desenvolvimento da cidade e suas fábricas; e o trabalho como atividade central
da vida cotidiana28.
Na experiência do Museu Paulista, observa-se grande interesse do público por expo-
sições que trazem objetos de uso cotidiano, que permitem estabelecer relações com os
universos pessoais de cada um, tais como ferros de passar e louça doméstica comum.
Todos esses movimentos voltados para as funções sociais dos museus representaram
um desenvolvimento muito positivo mas, em muitos casos, custaram também o preço de
28 Sobre a implantação do Museu da Cidade de Salto, ver ROSSI, A. Z.; BARBUY, H. Museu da Cidade de Salto:
projeto e implantação. Campinas, Boletim do Centro de Memória UNICAMP, v.4, n.7/8, p.53-64, jan.-dez. 1992.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
128
jNICAÇÃO EM MUSEUS E EXPOSIÇÕES EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
or aquela longa tradição dos museus como centros de produção
jrno de acervos. Nota-se hoje, por exemplo, em políticas oficiais
,us, uma clara preferência pelas ações mais externas dos museus,
AS para o público - as exposições e os programas educativos - esque-
vezes, que, no museu, não há sentido em realizar tais ações sem todo um
pesquisa e curadoria de acervos. Os acervos nãojjpderiam ser apenas
^pretextos de fundo para ações quaisquer, mas sim os documentos centrais das
exposições ações educativas que se implementam.
Como dito inicialmente, não pretendemos aqui apresentar respostas. Nossa inten-
ção foi formular questões e trazer algum subsídio, em perspectiva histórica, para sua
discussão.
* Heloísa Barbuy é Vice-diretora e Professora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP).
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
129
Presidente da República Livros do Museu Histórico Nacional
Luís Inácio Lula da Silva Editor: Vera Lúcia Bottrel Tostes
Ministro da Cultura MUSEUS E COMUNICAÇÃO
João Luiz Silva Ferreira Exposições como objeto de estudo
Instituto Brasileiro de Museus Organização
Presidente José do Nascimento Júnior Sarah Fassa Benchetrit
Rafael Zamorano Bezerra
Museu Histórico Nacional Aline Montenegro Magalhães
Diretora Vera Lúcia Bottrel Tostes
Tradução
Liliana Pereira Marinas
Revisão
Oswaldo Vasconcelos
Projeto Gráfico Diagramação
Mareia Neves
Produção Editorial
Ygá-Mirim Comunicação Total Ltda
Ilustração da capa
Detalhe do painel Colonização e Dependência.
Clécio Penedo, 1987
M986 Museus e comunicação: exposição como objeto de estudo / organização:
Sarah Fassa Benchetrit, Rafael Zamorano Bezerra, Aline Montenegro
Magalhães. - Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2010.
400 p.: il.; 22,5 cm. - (Livros do Museu Histórico Nacional)
Livro baseado no Seminário Internacional: Museus e comunicação:
exposição como objeto de estudo, realizado no Museu Histórico Nacional,
de 05 a 08 de outubro de 2009.
ISBN: 978-85-85822-13-2
1. Exposição. 2. Comunicação. 3. Museus. 4. Museologia.
5. Museu Histórico Nacional (Brasil). I. Título. II. Benchetrit,
Sarah Fassa. III. Bezerra, Rafael Zamorano. W. Magalhães, Aline
Montenegro. V. Série.
CDD 069
As opiniões e conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade de seus autores,
não refletindo necessariamente o pensamento do Museu Histórico Nacional.
Epermitida a reprodução, desde que citada afonte e parafins não comerciais.
Você também pode gostar
- Ulpiano 2Documento35 páginasUlpiano 2Mirian PeresAinda não há avaliações
- Do Teatro Da Memória...Documento35 páginasDo Teatro Da Memória...polianamsjAinda não há avaliações
- Julião, Letícia - Pesquisa Histórica No MuseuDocumento14 páginasJulião, Letícia - Pesquisa Histórica No MuseuAna paivaAinda não há avaliações
- Tecituras das Cidades - História, Memória, Arquivos e MuseusNo EverandTecituras das Cidades - História, Memória, Arquivos e MuseusAinda não há avaliações
- Museu histórico e produção do conhecimentoDocumento33 páginasMuseu histórico e produção do conhecimentoCarlo_RedAinda não há avaliações
- Cópia de MENSCH P O Objeto de Estudo Da MuseologiaDocumento14 páginasCópia de MENSCH P O Objeto de Estudo Da MuseologiaFabioAdrianoHeringAinda não há avaliações
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- Cidade, Patrimônio e MusealizaçãoDocumento14 páginasCidade, Patrimônio e MusealizaçãoAntonio F SAinda não há avaliações
- Hugues de Varine PTDocumento8 páginasHugues de Varine PTMarina C.Ainda não há avaliações
- Museus como espelho do homem e da sociedadeDocumento10 páginasMuseus como espelho do homem e da sociedadeRenata FerrettiAinda não há avaliações
- Reflexões sobre museus virtuaisDocumento25 páginasReflexões sobre museus virtuaiszumbidomalAinda não há avaliações
- Joao Pedro Frois As Ideias Nascem Do Real Museus de ArteDocumento8 páginasJoao Pedro Frois As Ideias Nascem Do Real Museus de ArteFernando Manuel BarataAinda não há avaliações
- Construção do conhecimento na MuseologiaDocumento35 páginasConstrução do conhecimento na MuseologiaAndre FabriccioAinda não há avaliações
- SANTOS, M. C. T. M. Documentação Museológica, Educação e Cidadania - Cadernos de Museologia N 3, 1994Documento14 páginasSANTOS, M. C. T. M. Documentação Museológica, Educação e Cidadania - Cadernos de Museologia N 3, 1994Caio Ghirardello100% (1)
- A Narrativa Na Exposição MuseológicaDocumento9 páginasA Narrativa Na Exposição MuseológicaLorenna GonçalvesAinda não há avaliações
- 316 1022 1 PBDocumento19 páginas316 1022 1 PBAltino MayrinkAinda não há avaliações
- Musealização de ciência através de fragmentos e modelosDocumento13 páginasMusealização de ciência através de fragmentos e modelosJorge Sant'AnnaAinda não há avaliações
- A Museologia como disciplina científicaDocumento86 páginasA Museologia como disciplina científicaAnna Sofia MeyerAinda não há avaliações
- Llwnlawnglnt,,.ef MGLDocumento12 páginasLlwnlawnglnt,,.ef MGLrayssaAinda não há avaliações
- Ensino de história no museu e desafios da sociedade de consumoDocumento22 páginasEnsino de história no museu e desafios da sociedade de consumoLeila VelezAinda não há avaliações
- Organização disciplinar da MuseologiaDocumento113 páginasOrganização disciplinar da MuseologiaAmanda MarquesAinda não há avaliações
- Musealização e processo de valorização do patrimônioDocumento5 páginasMusealização e processo de valorização do patrimônioNathália Lardosa75% (4)
- 1 SMDocumento10 páginas1 SMKarina SmithAinda não há avaliações
- Objetos e Narrativas - Diálogos em ProcessoDocumento12 páginasObjetos e Narrativas - Diálogos em ProcessoElizabethPougyAinda não há avaliações
- Museu Lugar AprenderDocumento7 páginasMuseu Lugar AprenderGeísa GuterresAinda não há avaliações
- Museu Como Espaço de Investigação: Da Pesquisa A Formação: The Museum As Investigation Space: The Research and FormationDocumento22 páginasMuseu Como Espaço de Investigação: Da Pesquisa A Formação: The Museum As Investigation Space: The Research and FormationHugoAinda não há avaliações
- Museologia UNIRIO: definições e comparação de museus-casasDocumento6 páginasMuseologia UNIRIO: definições e comparação de museus-casasRapha SobralAinda não há avaliações
- MOTTA - Museus Históricos No Mundo DigitalDocumento25 páginasMOTTA - Museus Históricos No Mundo DigitalMarianaAinda não há avaliações
- O Papel Da Musealidade Ivo MaroevicDocumento6 páginasO Papel Da Musealidade Ivo MaroevicPa OlaAinda não há avaliações
- O LIMIAR DOS MUSEUS DE CIÊNCIA COMO INSTITUIÇÕESDocumento11 páginasO LIMIAR DOS MUSEUS DE CIÊNCIA COMO INSTITUIÇÕESleonardo ryonAinda não há avaliações
- Funções do museu em debate: a preservaçãoDocumento12 páginasFunções do museu em debate: a preservaçãoinectAinda não há avaliações
- Museus No Brasil A Nova Museologia e Os BenefíciosDocumento9 páginasMuseus No Brasil A Nova Museologia e Os BenefíciosacervoeavparquelageAinda não há avaliações
- A exposição como poderosa ferramenta de comunicação e aprendizadoDocumento5 páginasA exposição como poderosa ferramenta de comunicação e aprendizadoRaiza Gusmão100% (1)
- Fichamento BarbuyDocumento3 páginasFichamento BarbuyJoice SantanaAinda não há avaliações
- Cadernos de Sociomuseologia #12 - 1998Documento23 páginasCadernos de Sociomuseologia #12 - 1998Tiago RaugustAinda não há avaliações
- Resenha Text 2 Estagio PDFDocumento4 páginasResenha Text 2 Estagio PDFRodrigo MortariAinda não há avaliações
- BITTENCOURT, José Neves. Sobre Uma Política de Aquisição para o Futuro. in Cadernos Museológicos n.3, Secretaria de Cultura - IBPC, Out.,1990.29-37 PDFDocumento8 páginasBITTENCOURT, José Neves. Sobre Uma Política de Aquisição para o Futuro. in Cadernos Museológicos n.3, Secretaria de Cultura - IBPC, Out.,1990.29-37 PDFTiago MartinsAinda não há avaliações
- Museologia e Museus: Como Implantar As Novas TendênciasDocumento5 páginasMuseologia e Museus: Como Implantar As Novas TendênciasGiovanna VeigaAinda não há avaliações
- Comunicação Museológica-As Raízes Do Distanciamento Entre Museu e Sociedade - RIBEIRO BRAHM TAVARESDocumento16 páginasComunicação Museológica-As Raízes Do Distanciamento Entre Museu e Sociedade - RIBEIRO BRAHM TAVARESBarbara Yanara da SilvaAinda não há avaliações
- O Museu como processo e fenômenoDocumento18 páginasO Museu como processo e fenômenoAndre FabriccioAinda não há avaliações
- O papel educativo dos museusDocumento10 páginasO papel educativo dos museusSamaraMarquesAinda não há avaliações
- Informação museológica: uma proposição teóricaDocumento25 páginasInformação museológica: uma proposição teóricaBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- A Curadoria de Processos EducativosDocumento8 páginasA Curadoria de Processos EducativosAnonymous psXcC1IAinda não há avaliações
- 254-Texto Do Artigo-774-1-10-20090613Documento20 páginas254-Texto Do Artigo-774-1-10-20090613Bianca FurquiniAinda não há avaliações
- Política de aquisição para museus brasileirosDocumento8 páginasPolítica de aquisição para museus brasileirosSaruba BaienAinda não há avaliações
- PACHECO de OLIVEIRA, João SANTOS, RIta (Org) de Acervos Coloniais Aos Museus IndígenasDocumento13 páginasPACHECO de OLIVEIRA, João SANTOS, RIta (Org) de Acervos Coloniais Aos Museus Indígenasmariana0703silvaAinda não há avaliações
- Repensando o conceito do Museu IntegralDocumento16 páginasRepensando o conceito do Museu IntegralSabrina CastroAinda não há avaliações
- Entendendo o Ecomuseu Uma Nova Forma de Pensar ADocumento24 páginasEntendendo o Ecomuseu Uma Nova Forma de Pensar ABertrand Pereira MartinsAinda não há avaliações
- Módulo 2 - Aula 3 - Ação Cultural e Letramento InformacionalDocumento5 páginasMódulo 2 - Aula 3 - Ação Cultural e Letramento InformacionalarmazenamentobiblioAinda não há avaliações
- CAPÍTULO 5. Rodolfo Eduardo ScachettiDocumento23 páginasCAPÍTULO 5. Rodolfo Eduardo ScachettiRodolfo Eduardo ScachettiAinda não há avaliações
- O museu e o problema do conhecimento segundo Ulpiano BezerraDocumento17 páginasO museu e o problema do conhecimento segundo Ulpiano Bezerram.platini100% (1)
- Patrimônio CulturalDocumento317 páginasPatrimônio CulturalPatrícia CruzAinda não há avaliações
- Texto Provocativo - Jorge WagensbergDocumento19 páginasTexto Provocativo - Jorge WagensbergMariana DiasAinda não há avaliações
- Alice Duarte, Nova MuseologiaDocumento9 páginasAlice Duarte, Nova MuseologiaMilena AvilaAinda não há avaliações
- O planejamento de visitas educativas aos museusDocumento19 páginasO planejamento de visitas educativas aos museusMarxlovecraftAinda não há avaliações
- O museu comunitário é heréticoDocumento11 páginasO museu comunitário é heréticoHilda Bárbara Maia Cezário100% (1)
- Prompt Book - Act AsDocumento62 páginasPrompt Book - Act Ascassiano.ricardo.francaAinda não há avaliações
- Lista de exercícios de cálculo com limites e funções do 1o e 2o grauDocumento11 páginasLista de exercícios de cálculo com limites e funções do 1o e 2o grauDuff BassAinda não há avaliações
- 39 - Operação e Condução de Caminhão de HidrossemeaduraDocumento8 páginas39 - Operação e Condução de Caminhão de HidrossemeaduraGustavo Benegas100% (3)
- Aula 3 - Eletrodinâmica, Corrente Elétrica e Leis de OhmDocumento13 páginasAula 3 - Eletrodinâmica, Corrente Elétrica e Leis de OhmAnisio ManhiçaAinda não há avaliações
- Física I - Lançamentos e MovimentosDocumento2 páginasFísica I - Lançamentos e MovimentosJosé MalateAinda não há avaliações
- Peça Punk RockDocumento173 páginasPeça Punk RockRaquel MendesAinda não há avaliações
- PIT - Plano de Inspeção e TestesDocumento63 páginasPIT - Plano de Inspeção e TestesLuccas Tadeu100% (3)
- A Matematica Na Construcao de Imoveis SustentaveisDocumento6 páginasA Matematica Na Construcao de Imoveis SustentaveisPablo AlbinoAinda não há avaliações
- Campos magnéticos produzidos por correntes elétricasDocumento9 páginasCampos magnéticos produzidos por correntes elétricasalessandroAinda não há avaliações
- TrigonometriaDocumento7 páginasTrigonometriaRosana GonelliAinda não há avaliações
- 2019 - Nvel 01 - ProvaDocumento2 páginas2019 - Nvel 01 - ProvaparquedalagoafaunaAinda não há avaliações
- AR-PST Área de Lazer e Lanchonete 22.06.2022 Thermoset SECPV - Rev.02Documento20 páginasAR-PST Área de Lazer e Lanchonete 22.06.2022 Thermoset SECPV - Rev.02leonardo guerraAinda não há avaliações
- Eletricidade conceitos mediçõesDocumento93 páginasEletricidade conceitos mediçõesrafaelrvAinda não há avaliações
- Novas raças para Tormenta 20: Dracos, Orcs e DampiroDocumento2 páginasNovas raças para Tormenta 20: Dracos, Orcs e Dampiromiqueias brigantiAinda não há avaliações
- Rotoverter experimento 2 tarefas e medidasDocumento13 páginasRotoverter experimento 2 tarefas e medidasJair DillemburgAinda não há avaliações
- Moagem e PeneiramentoDocumento10 páginasMoagem e Peneiramentooliveira.camilaAinda não há avaliações
- Siboost Smart WiloDocumento48 páginasSiboost Smart Wilojbenzo87Ainda não há avaliações
- MSA - Análise de Sistemas de MediçãoDocumento57 páginasMSA - Análise de Sistemas de MediçãoDIEGO GUILHERME GOMESAinda não há avaliações
- Volume Do CilindroDocumento4 páginasVolume Do CilindroClaudemir FerreiraAinda não há avaliações
- 3º Aula OS ASTROSDocumento30 páginas3º Aula OS ASTROSjefferson lemosAinda não há avaliações
- Relatório Cilindro HermasaDocumento4 páginasRelatório Cilindro HermasaLucas NevesAinda não há avaliações
- Sistema de Irrigação Pivô CentralDocumento41 páginasSistema de Irrigação Pivô CentralYago MendesAinda não há avaliações
- Encarte NR10-Básico Unid01Documento51 páginasEncarte NR10-Básico Unid01Guilherme SousaAinda não há avaliações
- Rotina Espiritual BanimentosDocumento7 páginasRotina Espiritual BanimentosSheila FerreiraAinda não há avaliações
- O Que É A Filosofia Da TecnologiaDocumento13 páginasO Que É A Filosofia Da TecnologiaAlbert PellegriniAinda não há avaliações
- Cálculo de Parafusos de PotênciaDocumento2 páginasCálculo de Parafusos de PotênciaRodrigo MachadoAinda não há avaliações
- 1 Aula Do Cap11 RolamentoDocumento13 páginas1 Aula Do Cap11 RolamentoLarissa GalvãoAinda não há avaliações
- Prova 3 T2 GABARITODocumento6 páginasProva 3 T2 GABARITOPabloSanttoOsAinda não há avaliações
- Conversão eletromecânica de energiaDocumento118 páginasConversão eletromecânica de energiaSergio Antônio DinizAinda não há avaliações
- Lista - 17 PDFDocumento2 páginasLista - 17 PDFSamuel Corazza JungesAinda não há avaliações
- Jogo e civilização: História, cultura e educaçãoNo EverandJogo e civilização: História, cultura e educaçãoAinda não há avaliações
- Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNo EverandMetodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNo EverandAnálise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)
- Gatilhos mentais: O guia completo com estratégias de negócios e comunicações provadas para você aplicarNo EverandGatilhos mentais: O guia completo com estratégias de negócios e comunicações provadas para você aplicarNota: 4 de 5 estrelas4/5 (107)
- Coaching Communication: Aprenda a falar em público e assuma o palestrante que há em vocêNo EverandCoaching Communication: Aprenda a falar em público e assuma o palestrante que há em vocêNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (8)
- Neurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNo EverandNeurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Conformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4No EverandConformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Teleios - O homem completo: O projeto de Deus para a vida masculinaNo EverandTeleios - O homem completo: O projeto de Deus para a vida masculinaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Inglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1): 12 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantesNo EverandInglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1): 12 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantesNota: 4 de 5 estrelas4/5 (107)
- Fé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorNo EverandFé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorJoel Portella AmadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Leitura e Escrita: A Subjetividade na Abordagem da Prática nos Anos Iniciais da Educação BásicaNo EverandLeitura e Escrita: A Subjetividade na Abordagem da Prática nos Anos Iniciais da Educação BásicaAinda não há avaliações
- Email marketing eficaz: Como conquistar e fidelizar clientes com uma newsletterNo EverandEmail marketing eficaz: Como conquistar e fidelizar clientes com uma newsletterNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Conexão mente corpo espírito: para o seu bem-estar - Uma cientista ousada avaliza a medicina alternativaNo EverandConexão mente corpo espírito: para o seu bem-estar - Uma cientista ousada avaliza a medicina alternativaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Gramática fácil: Para falar e escrever bemNo EverandGramática fácil: Para falar e escrever bemNota: 4 de 5 estrelas4/5 (18)
- Do átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNo EverandDo átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- Elementos de Semiótica da Comunicação: 3ª ediçãoNo EverandElementos de Semiótica da Comunicação: 3ª ediçãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2)
- Inglês ( Inglês Para Todos ) 400 Palavras Frequentes (4 Livros em 1 Super Pack): 400 palavras em Inglês explicadas em Português com Texto BilingueNo EverandInglês ( Inglês Para Todos ) 400 Palavras Frequentes (4 Livros em 1 Super Pack): 400 palavras em Inglês explicadas em Português com Texto BilingueNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Comunicação organizacional estratégica: Aportes conceituais e aplicadosNo EverandComunicação organizacional estratégica: Aportes conceituais e aplicadosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Detectando Emoções: Descubra os poderes da linguagem corporalNo EverandDetectando Emoções: Descubra os poderes da linguagem corporalNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3)