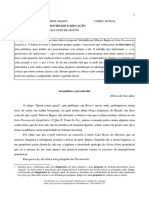Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Arte Publica Na Primeira Republica
Enviado por
Jose Cirillo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações8 páginasTítulo original
Arte Publica na primeira republica
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações8 páginasArte Publica Na Primeira Republica
Enviado por
Jose CirilloDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
Arte Pública na Primeira República, por José Guilherme Abreu
A noção de arte pública define-se, hoje, problematicamente, como um conceito aberto e
instável. Antoni Remesar, um dos principais especialistas, teóricos e pedagogos desta área
de intervenção e estudo, define-a como se segue: “Quando falo de Arte Pública utilizo o conceito
de uma forma muito geral, entendendo-a como o conjunto de “artefactos” de características eminentemente
estéticas que mobilam o espaço público” (Remesar, 2000: 67).
A noção é pois definida em estreita correlação com a de espaço público, de utilidade
pública e de ornamentação, sob cuja égide as artes se integram não somente como presença
sinalizadora de valor estético, mas também como actividade catalisadora de sentido identi-
tário, como o mesmo autor de seguida esclarece, acrescentando: “Esta acepção do conceito supõe
conceber a Arte Pública como um “agente de co-produção” do sentido do lugar e não exclusivamente como
uma manifestação “artística” localizada no espaço público. Como co-produtora na geração de sentido do
lugar, a Arte Pública seria um dos elementos chave para a colocação em marcha dos processos sociais de
apropriação do espaço, através da sua capacidade simbolizadora e geradora de “identidade”. Assim quando
falo de Arte Pública refiro-me a coisas tão díspares como o desenho do espaço público, o paisagismo, a
escultura, as performances, etc. (Remesar, 2000: 67).
Também Malcolm Miles, um dos pioneiros do estudo da Arte Pública a nível universitário,
logo em 1989, fazendo o cômputo dos seus benefícios, enumera quatro argumentos a seu
favor: “confere um sentido de lugar; envolve as pessoas que usam o local; dá um exemplo de trabalho
imaginativo; auxilia na regeneração urbana” (Miles, 1989: 8). Logo de seguida, porém, adverte:
“Conferir identidade requer um entendimento da natureza do lugar. Isso envolve três aspectos fundamentais:
a localização, a população que usa o espaço, e a história local que pode sugerir um tema, ou explicar por
que razão um lugar se torna […] um veículo para o envolvimento comunitário.” (Miles, 1989: 8)
Mais determinantes do que as análises dos teóricos e especialistas, são as próprias práticas
artísticas contemporâneas que denotam o redireccionamento das artes para o domínio pú-
blico, onde buscam um novo campo de intervenção e de disseminação capaz de superar as
condicionantes do discurso expositivo, a partir do qual se estrutura a apresentação das artes
nos espaços institucionais (museus, centros culturais e galerias de arte), propiciando novas
interacções e mediações com a realidade social e cultural.
É o que sucede, por exemplo, com a arte pública de novo género – New Genre Public Art –
de Suzanne Lacy, cuja actividade se configura a partir do envolvimento e compromisso
comunitário, reformulando, assim, radicalmente, o papel e a função do próprio artista, que
de criador da obra ou da intervenção artística, passa comportar-se como mediador de uma
criação colectiva, na qual os principais agentes são membros do público ou da comunidade,
que se integram na intervenção, precisamente, e só, porque são parte constituinte dessa
mesma comunidade ou público.
O entendimento modernista do artista como criador de objectos cujo valor artístico se
reduz ao valor estético, é denegado por Siah Armajani, artista cuja produção plástica e
teórica caminham par a par, sendo autor do Manifesto Escultura Pública no contexto da
Democracia Norte-americana (1995): um dos documentos que melhor explicitam o ideário da
Arte Pública, documento cujo enunciado defende o primado da utilidade da obra de arte
sobre o primado da sua universalidade, identificando a arte pública com a função de
“preencher o fosso que se forma entre a arte e o público, para fazer com que a arte seja pública e os artistas
sejam de novo cidadãos” (Armajani, 1995: p. 36).
Este preâmbulo, serve para mostrar que a arte pública abarca hoje uma gama bastante
heterogénea de produções que visam o contacto directo com o público, compreendendo
obras permanentes de escultura, de pintura ou mosaico parietal, de painéis cerâmicos
verticais e horizontais, de mobiliário urbano de autor, de desenho de espaço público, de
jardins e de integração paisagística, a par de intervenções efémeras, como instalações,
performances e envolvimentos, sempre com o propósito de melhorar a estética e dotar de
identidade e funcionalidade os lugares onde decorre a “vida activa”, e favorecer a formação
e o reforço da “esfera pública”.
Definido o conceito de arte pública da forma precedente, numa primeira análise pode
parecer precipitado, senão extemporâneo, falar-se de Arte Pública, em Portugal, durante a
1ª República. Sucede que a investigação recente (Abreu, 2007: 2-3) mostra que o movimen-
to em prol da arte pública remonta a finais do século XIX, tendo conhecido duas origens
praticamente simultâneas, embora distintas e diferenciadas nos seus enunciados e práticas:
Uma ligeiramente mais antiga, na Bélgica, que se forma com a criação, em 1893, de uma
sociedade de artes decorativas intitulada L'Œuvre de l'art appliqué à la rue et aux objets d'utilité
publique. Outra, mais recente, nos Estados Unidos, que se forma, em 1896, com a fundação
da Public Art League of the United States, como se refere em A short History and facts, on the Park
Commission Plans, redigido pelo Committee of One Hundred on the Development of Washington.
É o primeiro núcleo que mais nos interessa considerar, visto ter sido aí que se iniciou o
movimento que deu origem àquele em que Portugal viria a incluir-se, aproximando-se do
movimento internacional lançado pelo pintor belga Eugène Broerman, ao qual viriam a
juntar-se arquitectos como Victor Horta e Edmond de Vigne, pintores como Alfred
Cuysenaar e Walter Crane, como o escultor Jef Lambeaux, entre outros.
A partir de Abril de 1894, a sociedade L'Œuvre de l'art appliqué à la rue et aux objets d'utilité
publique seria presidida pelo arquitecto e urbanista Charles Buls, que era também o burgo-
mestre da cidade de Bruxelas, e que havia impulsionado a sua criação, derivando a utili-
zação da designação Art Public, da simplificação da primeira designação, que rapidamente
passaria a intitular-se L'Œuvre de l’Art Public.
Esta nova concepção irrompia, como consequência da adaptação do ideário do movimento
Arts and Crafs, ao contexto político-económico da sociedade belga, sendo a recepção do
livro “News from Nowhere”, de William Morris, em 1874, contemporânea do surgimento, na
Bélgica, daquele movimento, como demonstrou o professor Lieske Tibbe (Tibbe, 2001: p.
233), movimento esse que, a partir da década seguinte, tinha já como principal porta-voz
Henry van de Velde que, com entusiasmo e fervor, clamava por uma estética ornamental e
utilitária, produzida sob a égide das Artes Aplicadas, como sucedia em Déblaiement d’Art1: um
“texto-manifesto”, escrito em 1894, onde o autor advertia que “Aquilo que não lucra senão a uma
única pessoa está bem perto de se tornar inútil, pois na próxima sociedade só será considerado o que es útil e lucrativo
para todos. E quando os artistas sonham em produzir uma obra útil, coisa que não os desconsidera em nada, isso
significa o fim da tela e da estátua, que são gastos imorais.” (Van de Velde, 1979: p. 20).
É neste clima de entusiástica mobilização em torno de uma redefinição do lugar da arte na
sociedade emergente da 2ª Revolução Industrial, que se realizou, em 1898, em Bruxelas, o I
Congrès International de l’Art Public, organizado pela Œuvre Nationale Belge de l’Art Public, sob o
alto patrocínio do rei Leopoldo II, integrando-se no âmbito das actividades da Exposição
Universal de 1898.
Documentado por um extenso e detalhado catálogo com 186 páginas, a definição de Arte
Pública nele apresentada explicita-se como “a sublimidade do útil na via pública” (Broerman,
1898: 18), sendo que a análise das teses e resoluções do referido Congresso permite aduzir
que “os termos utilizados para defender a arte pública, nomeadamente no que se refere à promoção dos
objectivos sociais da arte, a denúncia da mediocridade da arte oficial, a defesa da utilidade pública da arte,
mantêm hoje a mesma pertinência e actualidade, podendo por isso considerar-se o movimento que então se
formava como um verdadeiro precursor das concepções actuais de arte pública” (Abreu, 2007: p. 3).
De resto, a sociedade Œuvre Nationale Belge de l’Art Public esteve representada no pavilhão
belga da Exposição, e pela análise da fotografia que documenta essa presença, verifica-se
que o conceito de Arte Pública já então praticado, transcendia os géneros convencionais da
estatuária e da pintura mural, estendendo-se à panóplia de adereços e equipamentos,
destinados a melhorar a estética e a funcionalidade do espaço público. (fig. 1)
Estes factos permitem-nos afirmar que a formação do conceito moderno de Arte Pública
se define, na Europa, nos finais do século XIX, coincidindo, grosso modo, com a crono-
logia do desenvolvimento do Republicanismo em Portugal, desenvolvimento esse que se
processa ao longo do séc. XIX, intensificando-se na 2ª metade (Serrão, 1985: 285-293).
Não cabe neste artigo aprofundar este paralelismo, mas se confrontarmos a cronologia,
verificamos que os mais importantes momentos de afirmação do ideal republicano coinci-
dem com momentos de afirmação do movimento Arts and Crafts, desde a criação, em
Setembro de 1848, da Fraternidade Prè-Raefelita, fundada em Setembro, da empresa Morris,
Marshall, Faulkner & Co, em 1861, a criação da Art Workers Guild, em 1884, e a fundação da
Arts and Crafts Exhibition Society, em 1887, a qual terá como seu presidente fundador o
pintor Walter Crane, a quem sucederia William Morris, até 1896, data do seu falecimento.
O desenvolvimento do Republicanismo em Portugal ocorre, portanto, em paralelo com o
desenvolvimento do movimento Arts and Crafts, e sob a égide de uma mutação do conceito
de arte, em prol da democratização do seu âmbito e da sua função, apresentando-se assim
como correlato da democratização visada pelo projecto político republicano.
É certo que o estado da investigação realizada sobre este assunto, não permite estabelecer
com segurança este lance, mas como se exporá a seguir existem argumentos que permitem
sustentá-la como tese, podendo mesmo aventar-se a hipótese de que o projecto de redefinir
o lugar da Arte no contexto da democratização da sociedade portuguesa visada pelo Repu-
blicanismo português, se manifesta, de forma descontínua, mas constante, por intermédio
das comemorações dos centenários, juntando-se ao de Camões (1880) e ao de Pombal
(1882), os do Infante D. Henrique (1894), da viagem de Vasco da Gama (1898), da de
Pedro Álvares Cabral (1900), para finalizar com as Guerras Peninsulares (1909) que “põem
ponto final a uma estatuária pública tradicional” (França, 1966: 330), festejos esses que se cons-
tituem como autênticas realizações de Arte Pública, e não como meros eventos cívicos.
A promoção republicana da Arte Pública não se inicia, portanto, em 1911, em torno de um
programa de edificação de estatuária monumental, embora se tenham verificado tentativas
nesse sentido, mas antes em torno de uma política de protecção do legado monumental
arquitectónico e arqueológico, pois “entre os defensores do novo regime encontravam-se indivíduos que
já se tinham mostrado interessados pelo problema do património nacional. Com a implantação da Repú-
blica, é desencadeada uma importante acção legislativa que pretende assegurar a integridade e a conservação
das obras de arte existentes no país, e estabelecer as bases do serviço de belas-artes e arqueologia, assim como
do ensino artístico” (Moreira, 1989: 62), coisa que repercute a noção alargada de Arte Pública
veiculada pelo Institut International de l’Art Public, fundado após o Congresso de Liège, em
1905, cujo órgão de difusão era a revista trimestral l’Art Public (fig. 2), que viria a publicar
cerca de uma vintena de números, a partir de 1907, até ser extinta em 1912.
Para lá destas considerações gerais, importa adiantar que o envolvimento do Republica-
nismo português, senão na definição, pelo menos na aplicação, de uma política de Arte
Pública, radica no facto de Portugal ter enviado um representante, ao I Congresso Interna-
cional de Arte Pública, realizado, como já referimos, no ano de 1898, em Bruxelas.
Esse representante foi o arquitecto da Casa Real, Luís Caetano Pedro d’Ávila (c.1832-
1904), que participou no Congresso na qualidade de “Membre Protecteur de L’Œuvre et du Con-
grès” (Broerman, 1898: p. 5), como “Architecte honoraire du Roi”, et “Architecte du Governement
du Portugal, à Lisbonne” (Broerman, 1898: p. 6). Embora não figure na transcrição das ses-
sões do Congresso nenhuma intervenção ou discurso de Pedro d’Ávila2, o propósito da sua
participação não terá sido o de intervir na discussão de casos, mas mais provavelmente
visava recolher dados e estabelecer contactos com o movimento que então ali se constituía,
ficando assim provado que o movimento internacional a favor da Arte Pública era conhe-
cido em Portugal, e que esse conhecimento não se esgotava no testemunho de Pedro
d’Ávila, pois perdurava através de dois catálogos dos quatro congressos internacionais de
Arte Pública que se realizaram, respectivamente em Bruxelas (1898), Paris (1900), Liège
(1905) e Ghent (1910)3, existentes na Biblioteca da Universidade de Coimbra.
Repercutindo essa noção expandida, a Arte Pública manifestou-se em Portugal durante a
formação e implantação da República, a partir de quatro linhas diferenciadas de expressão:
1. Linha da mobilização cívica, englobando festejos, homenagens e celebrações
2. Linha da monumentalização histórica, englobando estatuária, pintura mural e azulejo
3. Linha da ornamentação plástica, englobando escultura, pintura mural e azulejo
4. Linha da apropriação cidadã, englobando adereços e mobiliário urbano
Acompanhando o processo histórico de difusão do Republicanismo, o movimento inicia-se
pela organização de eventos visando a mobilização cívica. No parágrafo anterior, aludimos
ao impacto das comemorações do tri-centenário de Camões, pois apesar das celebrações
terem sido promovidas por uma comissão da imprensa que agregou personalidades de
diversas sensibilidades políticas e partidárias, o facto é que os republicanos se envolveram e
empenharam nos festejos, demonstrando grande capacidade de mobilização cívica, para a
qual contribuiu, justamente, a sábia utilização do poder de congregação da Arte Pública.
A celebração do tri-centenário de Camões durou três dias em Lisboa, e combinou ilumi-
nações, música e foguetes com conferências, exposições e espectáculos nos teatros, tendo
constituído o seu ponto mais alto o cortejo cívico que percorreu as ruas da Capital, para
terminar numa concentração, junto do monumento ao Poeta, de cuja dimensão a gravura
publicada na revista Occidente nos dá uma ideia clara.
Esses festejos são já, por si só, Arte Pública. Arte Pública, desde logo, porque os mesmos
se revestem de um inequívoco carácter performativo, porque são dirigidos a todos os cida-
dãos, sendo promovidos pelos próprios cidadãos, organizados em Comissões Executivas.
Um bom exemplo, é descrito por Richard Sennett. Logo no ano seguinte ao da Revolução
de 1789, as ruas de Paris passaram a ser palco de masquerades: paradas satíricas durante as
quais “grupos de pessoas vestidos de padres e aristocratas, usando roupas roubadas, desfilavam montados
sobre jumentos e faziam troça dos seus anteriores amos” (Sennett, 1994: 304). Enquanto que parale-
lamente às masquerades, cedo começou a ser promovido também o culto a Marianne: o ícone
da revolução, figurando a imagem da pátria como uma mãe, ao mesmo tempo enérgica e
guerreira, mas também pacífica, protectora e afável, imagem essa que deu azo à formação
da iconografia que viria a ser adoptada, mais tarde, para representar a República nas artes.
Verifica-se, pois, uma circularidade entre celebração→monumento→celebração, impor-
tando, em relação aos três centenários mais importantes – Camões, Pombal e Infante – re-
ferir que, no primeiro caso, o monumento já existia, tendo servido de suporte à celebração;
que, no segundo caso, o monumento não existia, tendo os festejos servido para lançar a sua
construção, e que, no terceiro caso, celebração e construção andaram de par a par.
Daí, em relação à rememoração monumental, o caso do monumento ao Infante D. Henri-
que reflectir bem o modelo celebração→monumento→celebração, tendo a sua iniciativa
“sido avançada […] pelo cidadão de ascendência alemã, Eduard von Hafe, numa proposta datada de 4 de
Março de 1882 e apresentada perante o Conselho Científico da Sociedade de Instrucção do Porto” (Abreu,
2005a: 44), a que viria depois a juntar-se Joaquim de Vasconcelos, bradando, “Lisboa teve
Camões: deixem-nos o infante.” (Pereira, 1894: 15).
Decidida a implantação portuense, nomeada a Comissão Executiva destinada a lançar a su-
bscrição pública pela qual seriam angariados os fundos necessários à organização do
concurso público e à construção do monumento, agendado o lançamento da 1ª pedra para
4 de Março de 1894, dia do V Centenário do nascimento do Infante, o “programa das
festas” desdobrou-se em múltiplas iniciativas, começando, logo em 3 de Abril de 1889,
com um Sarau realizado no Theatro Gil Vicente (Palácio de Cristal), marcado por um pun-
gente discurso do conselheiro António Cândido, onde este reconhecia que “os monumentos
publicos tem alma e voz, falam, ensinam, educam”, mas desabafando dizia que são também “a
consolação de muitos espiritos, que refujam do mal presente para a amoravel contemplação d'um passado
que foi bello” (Pereira, 1894: 27), pressentindo-se assim, no seu desalento, “o avizinhar da tal
monarquia sem monárquicos, como mais tarde diria D. Carlos” (Abreu, 2005a: 45).
Entretanto, o programa para o lançamento da 1ª pedra, compreendia as seguintes activida-
des: “a) Um concurso litterario e scientifico ácerca do valor historico, acções, feitos, e importancia das nave-
gações que o infante D. Henrique iniciou; b) Uma exposição industrial e colonial; c) Um cortejo civico; d)
Uma festa fluvial, em que poderiam entrar embarcações do typo das que foram empregadas nas nossas
primeiras navegações de descoberta; e) Lançamento da primeira pedra para o monumento ao infante D.
Henrique; f) Conferencias sobre assumptos historicos, coloniaes e industriais, mais directamente relacionados
com a natureza da commemoração; g) E todos os elementos que seja possivel congregar e que possam
contribuir para que esta cidade seja concorrida por grande numero de visitantes e que a solemnidade desperte
o interesse patriotico que se deve ter em vista.” (Pereira, 1894: 37)
Em 24 de Agosto de 1893, no rescaldo do Ultimatum e da intentona do 31 de Janeiro, fi-
xava-se, em Edital, o programa do concurso, para “projecto d'uma estatua pedestre, em bronze, re-
presentando o Infante D. Henrique, sendo o pedestal de marmore portuguez, e o todo de grandeza proporci-
onada ás dimensões da praça do Infante D. Henrique, cujas plantas podem ser vistas e examinadas na Ca-
mara municipal do Porto”, acrescentando que “quando haja algum quadro de relevo, com que o artista
julgue a proposito ornamentar o pedestal do seu projecto, deverá preferir a alegoria” (Pereira, 1894: 56).
No dia 10 de Novembro de 1893, o governo autorizava a emissão de formulas de franquia
(postais e estampilhas) destinadas, em paralelo com a subscrição pública, a financiar a
construção do monumento, encarregando-se do seu desenho Veloso Salgado.
O projecto vencedor seria escolhido, no dia 10 de Janeiro, por um júri “presidido pelo Conde
de Samodães, Inspector da Academia Portuense de Belas Artes e dele fazendo parte, como vogais, João
Marques de Oliveira, professor da Academia Portuense de Belas Artes, Victorino Teixeira Larangeira,
professor de construção da Academia Politécnica, João Carlos d'Almeida Machado, engenheiro da Câmara
Municipal do Porto e Joel da Silva Pereira, arquitecto da Associação Comercial” (Abreu, 2005a: 48),
cabendo o 1º prémio ao projecto “Invicta”, de Tomás Costa, o qual na versão inicial, era
formado por uma estátua do Infante vestido de cavaleiro, com uma dalmácia colocada so-
bre a armadura, sem espada e sem o chapeirão habitual, arrancando com a mão direita o
véu que cobria o globo terrestre e, com a esquerda, apontando a direcção da costa africana,
erguido sobre um torreão medieval estilizado, onde figurava na parte frontal da base uma
alegoria à Navegação Portuguesa, composta por uma Glória, que avançava “triumphante sobre
o castello da proa d'um navio, puxado sobre as ondas do mar avassalado por dois cavallos marinhos, um
d'elles guiado por um Tritão o outro por uma Nereide”, segurando na mão direita a bandeira de
Portugal e na esquerda uma coroa “com que premeia os navegadores.” Na parte de trás do mo-
numento, também junto à base, figurava uma alegoria da religião cristã, “representada por uma
virgem de aspecto sereno e grave, tendo na mão direita a cruz que encosta ao peito” (Pereira, 1894: 65).
A descrição do projecto dá conta do pesado dispositivo retórico e simbólico da monumen-
talidade oitocentista, pensada para glorificar a memória dos grandes homens e das grandes
façanhas, tomando como componente principal o alto pedestal historiado que eleva o
homenageado aos píncaros da glorificação, rodeando-o do vocabulário convencional das
alegorias, em composições simetricamente estruturadas e hierarquizadas, que denotam a
influência da Escola de Belas-Artes de Paris, onde Tomás Costa ingressara, em 1885, como
bolseiro do Estado, vindo a ter como professores Alexandre Falguière (1831-1900),
Antonin Mercié (1845-1916) e Laurent-Honoré Marqueste (1848-1920).
Importa observar que a iconografia da figura do Infante proposta por Tomás Costa, deno-
tava alguma consonância com a iconografia de Cristóvão Colombo, com quem a figura do
Infante de Sagres rivalizava, sendo que o gesto de desvelar o globo terrestre, repetia a
solução usada por Charles Cordier (1827-1905) para o monumento a Cristóvão Colombo,
de 1877, que ainda hoje se ergue na Cidade do México.
Não seria essa, porém, a solução adoptada, visto o júri, usando as pregorrativas que lhe
conferiam o programa, ter aprovado o projecto de Tomás Costa mediante a condição de
nele serem introduzidas várias alterações, que enumera: “a orientação que deverá ser alterada vol-
tando-se de poente para o Sul; a altura que talvez precise de ser acrescentada; o escudo que não esta con-
forme o que a História nos diz ter sido o do Infante D. Henrique; a mudança das esferas armilares para a
Cruz de Cristo como a usava o infante, por isso que foi [com] rendimentos d'esta Ordem que elle emprehen-
deu as suas dilatadas navegações; a menor saliencia dos rostos; a substituição do ornato da cornija por outro
mais acommodado ao carácter do monumento e finalmente um estudo consciencioso e quanto possível em
harmonia com [o] que os escriptores nos deixaram dito sobre este príncipe, não só quanto á cabeça, mas
quanto á estatua e ao vestuário.” (Pereira, 1894: 58).
Este aspecto das alterações propostas pelo júri, ilustra bem os condicionalismos exteriores
à criação de autor, a que o regime de “produção alogerada” sujeita a Arte Pública (Remesar,
1997: 206), diferenciando-se, também por isso, como um segmento específico das artes.
Aceites as alterações propostas, o passo seguinte seria a cerimónia de lançamento da 1ª
pedra, agendada para o dia do centenário, inserindo-se no programa estabelecido, como já
vimos, destacando-se um aparatoso “cortejo cívico” que a fotografia de Emilio Biel regis-
tou (Biel, 1894), para culminar na cerimónia de lançamente do pedra fundmental do monu-
mento, que começou com a chegada dos augustos personagens a quem foram levantados vivas,
correspondidos pelas “massas choraes que desempenhavam o Grande Hymno do Infante, escripto por
Alfredo Keil”, sendo que em seguida, “SS. MM. e AA., ministros e comitiva tomaram lugar n'um
elegante pavilhão que para esse fim fôra erguido na praça”. Logo de seguida, chegava o cortejo que
acompanhava a pedra arrancada às falésias de Sagres, que iria servir de base ao monumen-
to, iniciando-se a cerimónia propriamente dita, pela benção da pedra.
Mediante aquele acto solene, encenava-se a o espectáculo público da “ordem, e sob a égide da
monarquia e com a benção da Igreja, reafirmavam-se os papéis e retomava-se o costume, como se num frente-
a-frente com a memória, se retemperasse a História, do funesto terramoto do Ultimato e dos revolucionários
vivas à República” (Abreu, 2005a: 52). Era a tal “monarquia sem monárquicos”, que num
último esforço procurava manter-se, e perdurar…
Extrapolando para outros programas de implantação monumental, podemos dizer que as
linhas de mobilização cívica e rememoração monumental acompanharam e marcaram a
agenda da difusão e enraizamento social do Positivismo a partir do qual se fundava Repu-
blicanismo português, veiculando a Crença no Progresso Contínuo da Humanidade, em direcção
ao advento do Estado Positivo que haveria de conduzir à realização plena do Homem, culmi-
nando mesmo na apologia de uma Religião da Humanidade. (Comte, 1852: 2).
Após a implantação da República, assiste-se a um retrocesso abrupto da implantação de
estatuária rememorativa, durante a sua vigência, tendo abortado o projecto de erigir um
monumento à República4, no Porto (fig. 3), assim como “abortaram monumentos de ideologia
republicana a Joaquim António de Aguiar,[…] a António José da Silva, o Judeu, e aos Mártires de
1817 […] a Vasco da Gama” (França, 1966: 330-331) e também a António Granjo.
Constituíram por isso uma excepção, os monumentos à 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul
que foram erguidos nalgumas cidades do País, como Cascais, Guimarães e Vila Nova de
Gaia, destacando-se do conjunto “o monumento da Régua, aflitiva coluna manuelina, terminada
pelas inevitáveis esfera armilar e águia”, (Saial, 1991: 106), ao que se deve acrescentar um outro
de mais acentuada monumentalidade, erguido, em 1922, na cidade do Mindelo, Cabo
Verde, que reproduz, grosso modo, a maqueta que Henrique Moreira e João Queirós
haviam produzido para ser erguida na Rotunda do Castelo do Queijo, no Porto, projecto
esse que viria também a ser abortado (fig. 4).
Na verdade, não se trata de um fenómeno estritamente português. Também em Espanha, a
idade do ouro do monumento estatuário público viria a extinguir-se em 1914, como refere
Carlos Reyero no seu estudo sobre escultura comemorativa em Espanha (Reyero, 1999),
sendo que em Portugal ficaria como marca da paisagem monumental republicana, os
Monumentos aos Mortos da Grande Guerra, implantados em todas as sedes de Concelho
do País, e inaugurados, a contra-gosto, fora do período da 1ª República, pelo Estado Novo,
os quais devido à sua corência temática merecem estudo separado.
Por isso, a linha de expressão predominante da arte pública republicana é a escultura
decorativa: uma escultura fundada na simplificação plástica da representação da figura
humana, que formalmente se traduziu pela depuração da “dispendiosa aparelhagem simbólica e
retórica das alegorias” (Abreu, 2005a: 33), em sintonia com “classicismo mediterrânico” de carácter
sensualista e inspiração mailolliana, que o “novecentismo catalão”, definido por Eugenio d’Ors,
praticou, e que Henrique Moreira adoptou, nos seus mais felizes momentos, como sucede
com a estátua Juventude, inaugurada durante a Ditadura Militar, em 1929, na placa central da
Avenida dos Aliados, representando um sorridente nu feminino, sentado com sensual
elegância, sobre o esteio de uma fonte Art-déco, desenhada por Manoel Marques.
Importa referir que, em Barcelona, no ano anterior, havia sido inaugurada na Praça da
Catalunha, uma estátua da autoria de Josep Clarà, que se intitulava Joventut, representando
também um nu feminino, esculpido com mais densa, mas também eficaz, sensualidade.
Será na estatuária do Porto que se manifestará, com Henrique Moreira5, a escultura que
melhor interpreta, plasticamente, a ingrata condição da escultura pública republicana: a
circunstância de se situar, incomodamente, “entre dois paradigmas de monumentalidade” (Abreu,
2005b: 129-160) que foram o da monumentalidade oitocentista, de feição positivista – que
o Republicanismo usou para enraizar socialmente a sua mensagem política – e a monumen-
talidade estadonovense, de feição nacional-historicista (Portela, 1982: 71), que viria a preteri-la.
A última linha de expressão da Arte Pública republicana é a que se ocupará da produção de
objectos funcionais, como fontanários, chafarizes, luminárias (a gás e eléctricas) e mo-
biliário urbano6, em grande parte produzidos em ferro fundido, compreendendo esta última
categoria uma grande variedade de objectos, como bebedouros, reclames e inclusive
construções, como quiosques, mictórios, cabines telefónicas e, sobretudo, coretos.
Tirando partido da produção em série, esta linha de expressão centrou-se na encomenda,
da produção das fundições de arte francesas, como a Val d’Osne (ASPM, 1990), caso da
colecção existente nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, circunscrevendo-se a
produção portuguesa a peças utilitárias que dialogam com coerência com a arquitectura de
ferro, e que aqui e ali ainda se mantêm – como sucede na frente marítima da Foz do Douro
– ou por outro lado que vêm sendo recuperadas, como sucedeu com o projecto
requalificação da Avenida dos Aliados, que recuperou os belíssimos candeeiros em forma
de tridente, produzidos pela fundição de Massarelos, havendo outras, como as do Bolhão e
do Bom Sucesso, entre muitas mais, ainda sem estudo sistemático e exaustivo.7
Em suma, pode dizer-se que o movimento de Arte Pública era conhecido e praticado em
Portugal, e que durante a difusão e implantação do Republicanismo, ele teve forte impacto,
verificando-se a existência de um nexo recíproco entre o desenvolvimento da Arte Pública
e o da República, nexo esse responsável pelo reforço, também recíproco, dos desígnios que
ambos os movimentos perseguiam, se é que não se tratava, no fim, de um só e mesmo
desígnio: o desígnio da Arte Pública se conceber como a política cultural da República.
Desígnio esse que não viria a cumprir-se, nem em Portugal, nem nos restantes países euro-
peus, por força dos condicionalismos históricos que conduziram ao desencadear dos na-
cionalismos, com os quais o movimento internacional da Arte Pública era incompatível.
Por cumprir e esquecido, esse desígnio soçobrou, apagando-se da memória colectiva o seu
enunciado, e paralisando-se o movimento que o sustentava.
A hipótese que, no fim, avançamos, terá de ficar, portanto, em aberto. Não obstante, não
pode deixar de se observar que a formação do movimento em prol da Arte Pública foi na
sua génese impulsionada por figuras ligadas a círculos maçónicos, como sucedia com Char-
les Buls, pertencente à loja “Les Amis Philantropiques”, de Bruxelas (Smets, 1995: 79), e Da-
niel Burnham, autor do Masonic Temple (1892) de Chicago, e ele também franco-maçon, o
que, por outro lado, vem reforçar a tese de um nexo recíproco entre a Arte Pública e a
República, pelo que se durante a sua vigência a República não foi capaz de “salvar” a Arte
Pública, fica agora a expectativa da Arte Pública poder ajudar a realizar a República.
Bibliografia:
AA.VV., Ier Congrès International de l’Art Public tenu a Bruxelles du 24 au 29 septembre 1898, s/l, s/d ;
AA.VV., IIe Congrès International de l’Art Public tenu à Liège 12-21 Septembre 1905, s/l., s/d ;
AA.VV., IIIe Congrès International de l’Art Public tenu à Ghent, 17-22 Septembre 1910, s/l., s/d ;
ABREU, José Guilherme R. P. de, A Escultura no Espaço Público do Porto. Inventário História e Perspectivas de
Interpretação, Tese de Mestrado, FLUP, 1999, Edición e-Polis, Barcelona, 2005a
ABREU, José Guilherme, A Escultura Novecentista entre dois paradigmas de monumentalidade, In, AA.VV., Encontros
de Escultura, FBAUP, Porto, 2005b
ABREU, José Guilherme R. P. de, Escultura Pública e Monumentalidade em Portugal (1948-1998). Estudo
transdisciplinar de História da Arte e Fenomenologia Genética, Tese de Doutoramento, FCSH-UNL, Lisboa, 2007.
ABREU, José Guilherme, El Concepto de Arte Público. Sus Orígenes y significado actual, In, Arte Público Hoy. Nuevas
Vías de Consideración Crítica. Congreso Internacional de Críticos del Arte, AECA y ACILCA, Valladolid, 2010.
ARMAJANI, Siah, Manifesto Public Sculpture in the Context of American Democracy, In, AA.VV, Reading Spaces,
MACBA, Barcelona, 1995
BRAGA, Pedro Bebiano, Mobiliário urbano de Lisboa: 1838-1938, Tese de Mestrado, FCSH-UNL, Lisboa, 1995.
BRANDÃO, Pedro e REMESAR, Antoni, O Espaço Público e a Interdisciplinaridade, CPD, Lisboa, 2000
COMTE, Auguste, Catéchisme Positive, Carillian Gœury, Paris 1852
FRANÇA, José-Augusto, A Arte em Portugal no Séc. XIX, 2º Vol., Bertrand, Lisboa, 1966
MILES, Malcolm, Art For Public Places, Winchester School of Art Press, Winchester, 1989
MOREIRA, Isabel Martins, Museus e Monumentos em Portugal. 1772-1974, Universidade Aberta, Lisboa, 1989;
NUNES, Maria Helena Souto, O Engenheiro-Militar e Arquitecto Luís Caetano Pedro d’Ávila (183[2?]-1904). A
condição profissional e as práticas do ‘métier’. Lisboa: [s.n.], 2006, 2 vols. Tese de Doutoramento em Ciências da
Arte apresentada à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
OLIVEIRA CAETANO, Joaquim e CRUZ SILVA, Jorge, Chafarizes de Lisboa, Distri Ed., Lisboa, 1991.
PEREIRA, Firmino, O Centenário do Infante, Magalhães & Moniz Editores, Porto, 1894
PORTELA, Artur, Salazarismo e Artes Plásticas, Biblioteca Breve, Lisboa, 1982
REMESAR, Antoni, Para una Teoría del Arte Público. Memória para el Concurso de Cátedra, Facultat de Belles Artes.
Universitat de Barcelona, Bracelona, 1997.
REYERO, Carlos, La Escultura Conmemorativa en España. La Edad de Oro del Monumento Público, Cátedra, 1999,
Madrid
SAIAL, Joaquim, Estatuária Portuguesa dos Anos 30, Bertrand, Lisboa, 1991
SENNETT, Richard, Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization, Norton & Company, New
York-London, 1994
SMETS, Marcel, Charles Buls. Les Principes de l’Art Urbain, Architecture + Recherches, Bruxelles, 1995
SERRÃO, Joel, Dicionário de História de Portugal, Livraria Figueirinhas, Porto, 1985
TIBBE, Lieske, ‘Art and the Beauty of the Earth’: The reception of News from Nowhere in the Low Countries – English
version of: ‘Nieuws uit Nergensoord. Natuursymboliek en de receptie van William Morris in Nederland en België’, In, De
Negentiende Eeuw, 25 (2001), pp. 233-251
VAN DE VELDE, Henry, Déblaiement d'art, Archives d’Architecture Moderne, Bruxelles, 1979, (1894)
Notas:
1 Déblaiement, remete-nos para o sentido de depuração, desobstrução, limpeza (do terreno)
2 Autor de uma extensa obra arquitectónica, Pedro d’Ávila foi bolseiro do Estado em Paris, e protegido do
Visconde de Paiva. Cf, NUNES, Maria Helena Souto, O Engenheiro-Militar e Arquitecto Luís Caetano Pedro
d’Ávila (183[2?]-1904). A condição profissional e as práticas do ‘métier’. Lisboa: [s.n.], 2006, 2 vols. Tese de
Doutoramento em Ciências da Arte apresentada à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
3 Uma segunda presença portuguesa viria a ter lugar no III Congresso de 1905, em Liège, tendo a repre-
sentação ficado a cargo do Prof. Joaquim Mendes dos Remédios (1867-1932), director da Biblioteca da
Universidade de Coimbra e do médico Xavier da Cunha (1840-1920) Director da Biblioteca Nacional de
Lisboa, a partir de 1902 e até 1910.
4 A celebração do Centenário da República implantou monumentos no Porto e em Lisboa, sendo o do Porto
uma figuração da República, implantada no local, onde, em 1911, devia erguer-se o primeiro, em betão.
5 O autor deste artigo encontra-se a ultimar uma monografia sobre este escultor, que se será publicada com o
título “Henrique Moreira. O escultor público, ou o ofício como cânone”.
6 Cf, BRAGA, Pedro Bebiano, Mobiliário urbano de Lisboa: 1838-1938, Tese de Mestrado, FCSH-UNL, Lisboa,
1995.
7 Um estudo sobre “A fundição de ferro em Portugal, 1790-1890” está ser realizado no âmbito da activiade do
CEPESE. A lista das fundições referenciadas está disponível em http://www.queirozportela.com/ferro.htm
Você também pode gostar
- Percurso A DoisDocumento1 páginaPercurso A DoisBeatriz PereiraAinda não há avaliações
- 9 Lido 2019 JoséRegataoDocumento11 páginas9 Lido 2019 JoséRegataoGiovana MiglioAinda não há avaliações
- O que temem da arte contemporâneaDocumento3 páginasO que temem da arte contemporâneaLucas RibasAinda não há avaliações
- Desmaterialização e Campo Expandido: dois conceitos para o desenho contemporâneoDocumento10 páginasDesmaterialização e Campo Expandido: dois conceitos para o desenho contemporâneoAdonis Pantazopoulos100% (1)
- Design e Arte: A relação histórica entre os conceitosDocumento6 páginasDesign e Arte: A relação histórica entre os conceitosHELIDA GABRIELLY DA SILVA MELOAinda não há avaliações
- O Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezNo EverandO Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezAinda não há avaliações
- Portinari e A Arte Social - Annateresa FabrisDocumento24 páginasPortinari e A Arte Social - Annateresa Fabrisgiovanna cruzAinda não há avaliações
- Teorias e realizações do urbanismo na história da organização das cidadesDocumento16 páginasTeorias e realizações do urbanismo na história da organização das cidadesMarcosAinda não há avaliações
- Arte Pública, Muralismo e Questões PolíticasDocumento6 páginasArte Pública, Muralismo e Questões PolíticasMarcela BeloAinda não há avaliações
- BREFE, Ana Cláudia Fonseca - Os Primórdios Do Museu - Da Elaboração Conceitual À Instituição Pública - FichamentoDocumento5 páginasBREFE, Ana Cláudia Fonseca - Os Primórdios Do Museu - Da Elaboração Conceitual À Instituição Pública - Fichamentom.platiniAinda não há avaliações
- Formação Da Sensibilidade Cultural e A Transfiguração Da ExperiênciaDocumento5 páginasFormação Da Sensibilidade Cultural e A Transfiguração Da ExperiênciaAna Claudia Chagas50% (2)
- Estetica e Historia Da Arte C. AV2Documento3 páginasEstetica e Historia Da Arte C. AV2Anthony GoldiereAinda não há avaliações
- 53779-Texto Do Artigo-211752-1-10-20230403Documento8 páginas53779-Texto Do Artigo-211752-1-10-20230403isaquifreitas35Ainda não há avaliações
- As vanguardas artísticas européias do século XXDocumento87 páginasAs vanguardas artísticas européias do século XXJoão Paulo CorsiAinda não há avaliações
- Museologia e Arte Ocidental DiscussõesDocumento9 páginasMuseologia e Arte Ocidental DiscussõesAna Paula Rocha de OliveiraAinda não há avaliações
- Mediação Artística - Humboldt PDFDocumento76 páginasMediação Artística - Humboldt PDFvicalemosAinda não há avaliações
- Escultura ModernaDocumento71 páginasEscultura ModernaClediane LourençoAinda não há avaliações
- A Cadeira de Madeira Torneada: objeto de desejo doméstico e produção moderna presente na obra "O Importuno", de Almeida JúniorNo EverandA Cadeira de Madeira Torneada: objeto de desejo doméstico e produção moderna presente na obra "O Importuno", de Almeida JúniorAinda não há avaliações
- Construtivismo arte vanguarda RússiaDocumento6 páginasConstrutivismo arte vanguarda RússiaSandro Alves SilveiraAinda não há avaliações
- Comunicação Congresso Brasileiro Sociologia 2019Documento10 páginasComunicação Congresso Brasileiro Sociologia 2019Nayra SousaAinda não há avaliações
- 2110 6365 1 PBDocumento5 páginas2110 6365 1 PBBarbara HochAinda não há avaliações
- Crítica situacionista ao urbanismo funcionalDocumento4 páginasCrítica situacionista ao urbanismo funcionalAlejandra BruschiAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade I (Historia)Documento37 páginasSlides de Aula - Unidade I (Historia)isabelaAinda não há avaliações
- O Espaço Da Arte Contemporânea - Fernando CocchiaraleDocumento10 páginasO Espaço Da Arte Contemporânea - Fernando Cocchiaralecorponaarte86% (7)
- Arte Contemporânea como Novo ParadigmaDocumento18 páginasArte Contemporânea como Novo ParadigmaJoão Paulo CamposAinda não há avaliações
- XXX Colóquio CBHA 2010: Arte, Política e RealidadeDocumento8 páginasXXX Colóquio CBHA 2010: Arte, Política e RealidadeJanayna AraujoAinda não há avaliações
- Espaço Público - Arte Urbana e Inclusão SocialDocumento15 páginasEspaço Público - Arte Urbana e Inclusão SocialtorresgalinsAinda não há avaliações
- A Cidade e o Patrimônio Como MercadoriasDocumento20 páginasA Cidade e o Patrimônio Como MercadoriasStephania AlmeidaAinda não há avaliações
- Arte Contemporânea - Resumo e Questões para RevisãoDocumento17 páginasArte Contemporânea - Resumo e Questões para RevisãoKiaria AlvesAinda não há avaliações
- Política da arte e o conceito de estéticaDocumento11 páginasPolítica da arte e o conceito de estéticaThays SalvaAinda não há avaliações
- A Interface Entre A Experiência Histórica e A Produção Artística de Gustave CourbetDocumento13 páginasA Interface Entre A Experiência Histórica e A Produção Artística de Gustave CourbetVinicius Giglio UzêdaAinda não há avaliações
- historiaa da arte -aula 6Documento21 páginashistoriaa da arte -aula 6Aquila GilAinda não há avaliações
- Características da Arte ContemporâneaDocumento1 páginaCaracterísticas da Arte ContemporâneaSirley TristaoAinda não há avaliações
- IntroducaoDocumento9 páginasIntroducaocarlosmusashiAinda não há avaliações
- Os Museus de Arte e A Educação Discursos e Práticas ContemporâneasDocumento14 páginasOs Museus de Arte e A Educação Discursos e Práticas Contemporâneasbrunicio82Ainda não há avaliações
- Estética e Princípios Da História Da ArteDocumento74 páginasEstética e Princípios Da História Da ArteJoão Paulo CorsiAinda não há avaliações
- O lugar da arte e o desprestígio do objeto artísticoDocumento13 páginasO lugar da arte e o desprestígio do objeto artísticoLorena TavaresAinda não há avaliações
- Arte Contemporanea e Comunicacao de MassaDocumento12 páginasArte Contemporanea e Comunicacao de MassaPriscila SarangiAinda não há avaliações
- PORTO FILHO, Gentil. SINGULARIZAÇÕESDocumento8 páginasPORTO FILHO, Gentil. SINGULARIZAÇÕEScarina castroAinda não há avaliações
- A Exposição de Arte: Conceituação e EstratégiasDocumento32 páginasA Exposição de Arte: Conceituação e EstratégiasGiovanna VeigaAinda não há avaliações
- Arte contemporânea e capitalismoDocumento8 páginasArte contemporânea e capitalismoZé Luiz CavalcantiAinda não há avaliações
- História da Arte EssencialDocumento21 páginasHistória da Arte EssencialMatheus100% (2)
- Da Prática Crítica Da Arte UrbanaDocumento6 páginasDa Prática Crítica Da Arte UrbanaMário CaeiroAinda não há avaliações
- Novo Urbanismo EuropeuDocumento14 páginasNovo Urbanismo EuropeuJuliana CarvalhoAinda não há avaliações
- O que é ArteDocumento3 páginasO que é ArteDeise P A MuciloAinda não há avaliações
- As Artes Liberais e As Artes MecânicasDocumento5 páginasAs Artes Liberais e As Artes MecânicasCaio Klein100% (1)
- Artigo - Arte para Além Da Estética - Arte Contemporânea e o Discurso Dos ArtistasDocumento13 páginasArtigo - Arte para Além Da Estética - Arte Contemporânea e o Discurso Dos ArtistasFip Nanook FipAinda não há avaliações
- Artes Visuais Historia e Sociedade Aula 6Documento21 páginasArtes Visuais Historia e Sociedade Aula 6Ana Amabile BordaAinda não há avaliações
- Jacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFDocumento14 páginasJacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFcamaralrs9299100% (1)
- O Contemporâneo do contemporâneo arte publicaDocumento12 páginasO Contemporâneo do contemporâneo arte publicacatiuscia dottoAinda não há avaliações
- Modernismo e Pos ModernismoDocumento34 páginasModernismo e Pos ModernismobeckangelaAinda não há avaliações
- As Transformações Sociais e Culturais Do Terceiro Quartel Do Século XXDocumento15 páginasAs Transformações Sociais e Culturais Do Terceiro Quartel Do Século XXjulianaferreirasoare100% (2)
- Arte Urbana Enquanto Património Das CidadesDocumento8 páginasArte Urbana Enquanto Património Das CidadesStéphanie Bessa R. SantosAinda não há avaliações
- Análise da arte do século XX segundo Giulio Carlo ArganDocumento4 páginasAnálise da arte do século XX segundo Giulio Carlo ArganBruno FerreiraAinda não há avaliações
- 271-Texto do artigo-509-1-10-20191113Documento14 páginas271-Texto do artigo-509-1-10-20191113CAMISETAinda não há avaliações
- Ebook Poeticas TexteisDocumento173 páginasEbook Poeticas TexteisJose CirilloAinda não há avaliações
- Jeronimo Monteiro 1Documento340 páginasJeronimo Monteiro 1Erica CortesiniAinda não há avaliações
- TCC IsisDocumento56 páginasTCC IsisJose CirilloAinda não há avaliações
- Relatório Final - SECULTDocumento52 páginasRelatório Final - SECULTJose CirilloAinda não há avaliações
- SlidesDocumento40 páginasSlidesJose CirilloAinda não há avaliações
- Crítica à proposta de Marcos Bagno sobre norma cultaDocumento3 páginasCrítica à proposta de Marcos Bagno sobre norma cultaBruno Faria Carvalho100% (1)
- Meditações Sobre o Arcano Maior - 1Documento14 páginasMeditações Sobre o Arcano Maior - 1Roberto Santos100% (1)
- Tabela de Preço ProdutosDocumento108 páginasTabela de Preço ProdutosAnonymous DPfbU09eeQAinda não há avaliações
- Conto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti - Análise e InterpretaçãoDocumento3 páginasConto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti - Análise e InterpretaçãorarulkAinda não há avaliações
- Aula de ArtesDocumento11 páginasAula de Artesmatelego12345Ainda não há avaliações
- Como Montar Uma Revista ImpressaDocumento8 páginasComo Montar Uma Revista ImpressaPaulo SouzaAinda não há avaliações
- Construção civil: etapas de uma obra e exercícios sobre concretagemDocumento28 páginasConstrução civil: etapas de uma obra e exercícios sobre concretagemIglesius Roberto AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Semanário Maternal 1 06-07 A 10-07Documento4 páginasSemanário Maternal 1 06-07 A 10-07Thalita Biedermann de jesusAinda não há avaliações
- Rumos Jornalismo CulturalDocumento6 páginasRumos Jornalismo CulturalHelena JacobAinda não há avaliações
- Padronização de elementos gráficos e representação em projetos de arquiteturaDocumento39 páginasPadronização de elementos gráficos e representação em projetos de arquiteturaJosivaldo Silva OliveiraAinda não há avaliações
- Catálogo de Peças de Reposição para Operador de Portas Wittur ECO DRIVEDocumento12 páginasCatálogo de Peças de Reposição para Operador de Portas Wittur ECO DRIVEJULIOAinda não há avaliações
- 03 Codificação de Suporte de Torneamento ExternoDocumento7 páginas03 Codificação de Suporte de Torneamento ExternoANTOHAKIAinda não há avaliações
- O Romantismo em Portugal: sentimentalismo e subjetivismoDocumento10 páginasO Romantismo em Portugal: sentimentalismo e subjetivismoSoraia AntãoAinda não há avaliações
- Arte e cultura no AcreDocumento2 páginasArte e cultura no AcreJhow Silva100% (3)
- Freud sobre a brincadeira das criançasDocumento3 páginasFreud sobre a brincadeira das criançasTiago LimaAinda não há avaliações
- Metodologia de Munari aplicada ao design de superfície têxtilDocumento14 páginasMetodologia de Munari aplicada ao design de superfície têxtilValdemir de SouzaAinda não há avaliações
- TITAS - Enquanto Houver Sol SATBDocumento8 páginasTITAS - Enquanto Houver Sol SATBElise BrandenburgAinda não há avaliações
- Português - UELDocumento8 páginasPortuguês - UELfffff1941Ainda não há avaliações
- Matriz Teste de AvaliaçãoDocumento2 páginasMatriz Teste de Avaliaçãotatssantos14Ainda não há avaliações
- Dar-Registrador GraficoDocumento69 páginasDar-Registrador GraficoOsvaldo de Souza Brito JuniorAinda não há avaliações
- Gira Discos: Amor Electro É Uma Banda Portuguesa Constituida Por Quatro Elementos emDocumento6 páginasGira Discos: Amor Electro É Uma Banda Portuguesa Constituida Por Quatro Elementos empatimalmeidaAinda não há avaliações
- A Evolução Do Vestuário Na HistóriaDocumento2 páginasA Evolução Do Vestuário Na Históriafabricio2809Ainda não há avaliações
- Cronograma 2018 de Literatura Brasileira REDPOWER - 39 Semanas PDFDocumento2 páginasCronograma 2018 de Literatura Brasileira REDPOWER - 39 Semanas PDFVítor FurkelAinda não há avaliações
- AvaliaçãoDocumento7 páginasAvaliaçãoAlisson OliveiraAinda não há avaliações
- Aula 08 - Quantitativo - WeeblyDocumento9 páginasAula 08 - Quantitativo - WeeblyRivaldoJúnior100% (1)
- Guia TurísticoDocumento6 páginasGuia TurísticoLara FornaciariAinda não há avaliações
- Romantismo x Realismo: principais características e compositoresDocumento11 páginasRomantismo x Realismo: principais características e compositores8gaga9Ainda não há avaliações
- CP 086820Documento361 páginasCP 086820Haroldo MatosAinda não há avaliações
- Leopoldino - Porto - CalfaDocumento48 páginasLeopoldino - Porto - CalfaadyAinda não há avaliações
- Transcrição de Mario de AndradeDocumento8 páginasTranscrição de Mario de AndradeLucio MartinsAinda não há avaliações